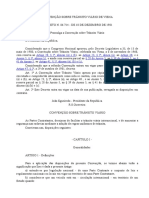Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
ÉTICA E AUDITORIA MÉDICAPaulo Jardim Pires
Caricato da
Juliana Jorge AguiarCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
ÉTICA E AUDITORIA MÉDICAPaulo Jardim Pires
Caricato da
Juliana Jorge AguiarCopyright:
Formati disponibili
UNIVERSIDADE GAMA FILHO DO RIO DE JANEIRO Curso de Especializao Lato Sensu em Auditoria em Sade
TICA E AUDITORIA MDICA
Paulo Antonio Jardim Pires
Rio de Janeiro 2003
Paulo Antonio Jardim Pires
TICA E AUDITORIA MDICA
Trabalho apresentado em cumprimento s exigncias para concluso do Curso de Especializao Lato Sensu em Auditoria em Sade, da Universidade Gama Filho RJ em parceria com a Universidade UNIMED-MG. Orientadora: Profa. Silvia Maria de Contaldo
Rio de Janeiro 2003
Paulo Antonio Jardim Pires tica e Auditoria Mdica
Trabalho apresentado em cumprimento s exigncias para concluso do curso de Especializao Lato Sensu em Auditoria em Sade, da Universidade Gama Filho RJ em parceria com a Universidade UNIMED-MG.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Avaliao final:
A meus pais.
Agradeo: orientadora, Profa. Silvia Maria de Contaldo, pelo constante estmulo. Cooperativa UNIMED-Porto Alegre, por me proporcionar este curso.
Um homem que cultiva seu jardim, como queria Voltaire. O que agradece que na terra haja msica. O que descobre com prazer uma etimologia. Dois funcionrios que num caf do Sul jogam um silencioso [xadrez. O ceramista que premedita uma cor e uma forma. Um tipgrafo que compe bem esta pgina, que talvez no lhe [agrade. Uma mulher e um homem que lem os tercetos finais de [certo canto. O que acaricia um animal adormecido. O que justifica ou quer justificar o mal que lhe fizeram. O que agradece que na terra haja Stevenson. O que prefere que os outros tenham razo. Essas pessoas, que se ignoram, esto salvando o mundo. (J. L. Borges, Os justos)
RESUMO
Este trabalho objetivou fundamentalmente demonstrar a relao entre a tica em geral, como estudo da conduta humana, e a auditoria em sade, com base em raciocnios morais no religiosos, sem ocupar-se com os cdigos de tica. A pesquisa foi embasada em livros, artigos e entrevistas, e o mtodo utilizado foi o reflexivo. Analisou-se o estgio atual da tica, seu histrico, conceitos, princpios e as diversas correntes da filosofia moral na atualidade. Buscou-se conhecer o homem moderno, sua sociedade e a influncia da modernidade sobre a tica em geral e sobre a auditoria em sade. Procurou-se evidenciar o poderoso vnculo tico entre as cooperativas de servios mdicos e seus auditores para revelar a simultnea coresponsabilidade social de ambos. E, finalmente, destacou-se a funo pedaggica do auditor e sugeriram-se debates, bem como a necessidade de novos caminhos para a tica nessa rea.
ABSTRACT
Essentially the subject of this work was to demonstrate the connection between general ethics as the study of the human behavior and Medical Audit based on non-religious moral reasoning, not concerning to code of ethics. Applied materials were books, articles and interviews. The reflective method was applied. State of the art for ethics, its history, concepts, principles and the various trends in current moral philosophy were analyzed. The modern man, his society and its influence on general ethics and Medical Audit were studied. The powerful ethic link between Medical Service Cooperatives and their auditors was showed in order to reveal the coincidental social responsibility of both. Finally auditors pedagogical action was emphasized and debates were suggested in order to stand out the necessity of new ways for ethics in this area.
SUMRIO
1 INTRODUO.................................................................................................................. 10 2 MATERIAL E MTODOS............................................................................................... 15 3 TICA, CONCEITOS E RESUMO HISTRICO......................................................... 16 3.1 Utilitarismo........................................................................................................................ 33 3.2 A tica consequencialista ................................................................................................. 38 3.3 Bom e mau......................................................................................................................... 40 3.4 Conscincia moral............................................................................................................. 41 3.5 Universalizabilidade da tica............................................................................................. 44 3.6 A tica e a razo................................................................................................................ 45 3.7 O sentido da vida............................................................................................................... 49 3.8 A tica e a vida boa........................................................................................................... 57 3.9 possvel viver em sociedade e ser tico?........................................................................ 61 3.10 Interesse pessoal na tica................................................................................................. 65 3.11 A discrdia na sociedade................................................................................................. 68 3.12 A questo da verdade....................................................................................................... 69 3.13 As decises majoritrias.................................................................................................. 76 3.14 A razo............................................................................................................................ 80 3.15 Os nveis de raciocnio moral.......................................................................................... 82 3.16 Altrusmo......................................................................................................................... 82 3.17 A questo da liberdade.................................................................................................... 89 3.18 Cincia, Filosofia e Tcnica........................................................................................... 96 3.19 O processo de valorao.................................................................................................104 3.20 A questo do tempo........................................................................................................ 109 3.21 Poltica e tica.................................................................................................................111 3.22 Os especialistas em moral.............................................................................................. 117 4 A MODERNIDADE.......................................................................................................... 122 4.1 O hedonismo.....................................................................................................................123 4.2 A permissividade.............................................................................................................. 123 4.3 O consumismo.................................................................................................................. 124 4.4 O cepticismo e o ideal assptico.......................................................................................125 4.5 A arte e a cultura ps-moderna.........................................................................................132 4.6 A perda do assombro........................................................................................................ 136 4.7 O discurso da felicidade................................................................................................... 138 4.8 O fim de uma era.............................................................................................................. 139 4.9 A esperana de uma nova era........................................................................................... 142
5 UTOPIA..............................................................................................................................145 5.1 Cooperao e cooperativismo...........................................................................................147 5.2 Cooperativismo: um processo social e histrico.............................................................. 151 6 DISCUSSO...................................................................................................................... 160 7 CONCLUSES..................................................................................................................175 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS............................................................................... 177
10
1 INTRODUO
Se um homem pudesse escrever um livro sobre tica, que fosse verdadeiramente um livro sobre tica, esse livro, como uma exploso, aniquilaria todos os outros livros do mundo.
(Wittgenstein)
Esta monografia no se destina propriamente anlise da auditoria em sade, mas aos fundamentos das relaes entre a tica e essa auditoria Pressupe, portanto, que o leitor, de alguma forma, tenha conhecimento prvio dos conceitos bsicos e das aes em auditoria na sade, bem como de seu resumo histrico, j que este trabalho se destina a um curso de especializao cujo ttulo exatamente esse. Em segundo lugar, porque a bibliografia sobre auditoria em sade suficientemente rica, o oposto do que ocorre quando se pesquisam as profundas ligaes entre tica e auditoria mdica. Este assunto ainda indito. Da seu ttulo: tica e Auditoria Mdica. Porque no tica para Mdicos Auditores? Por uma razo muito simples: quando considerada orientadora da conduta dos seres humanos a tica nica em seus princpios, sejam quais forem as profisses em foco. No existem ticas diversas para profisses diversas; os princpios so sempre os mesmos. Quando aplicados s profisses, o que varia so seus cdigos. O que pode ser particularizado a tica normativa, isto , os cdigos especficos, resultados dos costumes e imersos no espao e na temporalidade, dirigidos a ofcios diversos. Os cdigos so o produto de grupos humanos singulares, mas sofrem alteraes e evoluem ao lado dos avanos da sociedade humana tida como um todo.
11
A tica, seja ela uma tica dos meios e fins, ou uma tica dos mveis, sempre uma cincia do comportamento do ser humano, e no das profisses. Esta monografia no tem por objetivo o estudo das normas de comportamento, mas sim a reflexo sobre o porqu de considerarmos vlidos esses cdigos e condutas. A tica no foi uma criao consciente da humanidade, mas um produto da vida social humana, nico e, como tal, propriedade caracterstica da espcie, no de cada profisso. Outro motivo para que no exista uma tica para cada grupo de atividade humana, o fato de ela ter como um de seus princpios bsicos a procura da universalidade, ou pelo menos a universalizabilidade. As condutas humanas variam, mas a bssola que guia a humanidade at as condutas corretas tem sempre o mesmo nome: tica. o que pretendemos ressaltar. Deve ficar claro tambm que a tica ser enfocada com base em raciocnios morais no religiosos . Porque foram includos captulos sobre cooperao e cooperativismo? Ora, o cooperativismo tem fundamentos essencialmente ticos, o que gera vnculos muito fortes com a auditoria em sade, tambm ainda pouco estudados. Por outro lado, um grande nmero de auditores em sade exerce suas atividades numa Cooperativa de Servios Mdico (UNIMED), e a maioria dos alunos especializao freqentam a Universidade UNIMED. Alm disso, no atual contexto da poltica nacional de sade as cooperativas mdicas assumem importncia indiscutvel. fundamental que se tente encontrar uma resposta para a atual crise pela qual elas passam, sob pena de ver ainda mais onerado o sistema pblico nacional de sade, com todas as trgicas conseqncias que da surgiro. desse curso de
12
O que se pretende aqui evidenciar que a tica deve preceder ao, isto , ela deve antecipar-se, como planejamento, a qualquer tentativa de atender s questes econmicas, sociais ou polticas das cooperativas. Enquanto o principal foco ficar resumidamente centrado apenas nestas trs questes, no ser possvel encontrar um rumo, um caminho, que norteie as aes. Sfocles, em dipo Rei diz que, o que nos torna responsveis no o que projetamos fazer, nem o que efetivamente fazemos, e sim a reflexo a posteriori do que fizemos. Para que essa reflexo no leve ao sentimento de culpa, para que aceitemos com prazer a responsabilidade do ato preciso que ele tenha sido tico. O que pode ou deve ser feito, como deve ser feito, por quem deve ser feito, so algumas das perguntas s quais a tica necessariamente ter de oferecer sugestes, anteriores execuo das aes. nesse palco que o auditor em sade, principalmente o auditor das cooperativas, vai atuar com importncia crtica para o pas. Pela sua ao pedaggica, fundamentada na tica, ele antecipa resultados, constri e reconstri as relaes entre o auditor e os auditados. Esses vnculos entre o auditor e os mdicos cooperados ou no, pacientes, a prpria cooperativa ou seguradoras privadas, o Poder Judicirio, o poder pblico em geral, hospitais, corpos clnicos, empresas prestadoras de servios, Conselhos Regionais de Medicina, Conselhos de tica dos hospitais e Comisses Tcnico-Disciplinares das cooperativas - e tantas outras constituem relaes extremamente complexas e imbricadas, cruzadas e interdependentes, geradoras de conflitos e ansiedade em todos e entre todos - os componentes dessa malha. Isso exige do mdico auditor uma viso sistmica e, ao mesmo tempo muito especfica e tcnica, mas tambm e antes de tudo uma viso ampla, slida e confivel daquilo que se queira chamar de tica.
13
Porque aprofundar as questes ticas se no cotidiano o que mais utilizamos nossa intuio? Na tica no h anlises superficiais e singelas. Ela trata da correta conduta humana, isto , da liberdade, que complexa. A base, o fundamento oculto de nossas convices, tem de ser slida para suportar o choque da evoluo, da contestao, da reforma necessria, da eterna procura da verdade. Porm, essa tica no deveria ser compromisso apenas do auditor, mas atributo da cooperativa, do hospital, do paciente e seus familiares, bem como de todos os demais personagens envolvidos, incluindo a mdia. A est a ao pedaggica do auditor. J foi dito que se sabe muito pouco, quase nada, sobre a relao tica - auditoria em sade, por ser essa uma especialidade muito recente. Trata-se de dar um primeiro passo para o estudo desse assunto, evidenciar suas implicaes e destacar a urgncia do seu desenvolvimento, para que as aes futuras no estejam sujeitas ao fracasso e ao desespero. A discreta contribuio que este trabalho tem a pretenso de trazer exatamente esta: inaugurar um caminho, estimular a pesquisa, desafiar organizaes, oferecer alternativas nos conflitos, questionar normas escritas, em suma, promover a inquietude, para que, a partir de uma nova viso da tica, possa nascer um tempo mais benigno e promissor para a Auditoria Mdica. A preocupao na qual vive atualmente uma boa parte dos auditores poderia ser o prprio impulso para alavancar solues. A relevncia social da questo explcita, uma vez que, em sade, lucro deveria ser um meio, nunca um fim. Hoje (lembrando Oscar Wilde) sabe-se o preo de todas as coisas... e o valor de nenhuma.
14
Uma nova prtica tica, abrangente e ao mesmo tempo mais especfica realizvel? Parece certa a possibilidade de conseguir modificaes no mbito da realidade abarcada por esse tema, desde que se tome a tica como orientadora das condutas tanto individuais como coletivas. Tem-se esperana de que esta monografia consiga alguma produo de conhecimento. Se assim for, ela dever beneficiar a todos os que de alguma forma estejam envolvidos no processo de Auditoria em sade. Pode parecer utpico tentar despertar, dentro da sociedade mercantilista, a ateno para a prioridade da tica nessas relaes. Muito ambicioso, ento, querer desvendar novos rumos? Certamente. Chamamos em nossa defesa Antonio Machado, poeta espanhol, em Provrbios y Cantares: ... caminante, no hay camino se hace camino al andar. Seria isso viver na incerteza? Creio que sim. Mas como diria Fernando Savater (2001, p. 208-209): Quem no for capaz de viver na incerteza, far bem em nunca se por a pensar".
15
2 MATERIAL E MTODOS
Os materiais utilizados foram livros, artigos e entrevistas, com datas no inferiores ao ano 2000, para que pudesse ser feita uma avaliao do estado atual da tica atravs de autores modernos. Algumas citaes nas notas de rodap referem-se a trabalhos publicados em datas anteriores, mas apenas como exemplos ou observaes complementares. O mtodo utilizado foi o da reflexo, procurando sempre raciocinar do geral em direo ao particular. As concluses obviamente so resultado do processo reflexivo e, quando devido complexidade do assunto no so possveis resultados definitivos, nos limitamos a levantar a questo e apresentar sugestes para debate. A pesquisa bibliogrfica revelou a ausncia de trabalhos nesta rea sob a perspectiva inicialmente proposta pela monografia.
16
3 TICA, CONCEITOS E RESUMO HISTRICO
Filosofar no deveria ser sair de dvidas, mas entrar nelas. (Fernando Savater)
Segundo Kant, conceito o que permite identificar inequivocamente alguma coisa e, alm disso, fornece uma regra prtica para constru-la ou julg-la (SAVATER, 2001, p. 172). Quem sabe uma das tarefas mais difceis da filosofia seja dizer o que a tica . Os filsofos vm tentando faz-lo, com relativo insucesso. Talvez porque definir quer dizer por fines, limites, atributo que a tica no tem. Se assim fosse, a conduta humana, ou seja, a liberdade estaria limitada. Possivelmente seja mais fcil dizer o que a tica no . De incio, preciso deixar bem claro que h uma diferena entre tica e deontologia. Segundo Houais (2001, p. 2922) a deontologia pode ter trs acepes: 1) Deontologia a teoria moral criada pelo filsofo e jurisconsulto ingls Jeremy Bentham (17481832) que, rejeitando a importncia de qualquer apelo ao dever e conscincia, compreende na tendncia humana de perseguir o prazer e fugir da dor o fundamento da ao eticamente correta. 2) Deontologia o conjunto de deveres profissionais do mdico, estabelecidos em um cdigo especfico. Por extenso, seria o conjunto de deveres profissionais de qualquer categoria profissional, minuciados em um cdigo especfico. 3) Deontologia mdica, ou tica mdica, o conjunto de regras internas do exerccio da medicina, como por exemplo, as contidas no juramento de Hipcrates. Para Abbagnano (2000) deontologia um termo criado por Bentham para designar uma cincia do conveniente, ou seja, uma moral fundada na tendncia a perseguir o prazer e fugir da dor e que no lana mo de apelos conscincia e ao dever. Muito diferente desse
17
uso o proposto por Antonio Rosmini (17971855) que entendeu por deontolgicas as cincias normativas, ou seja, as que indagam como deve ser o ente para ser perfeito. O pice das cincias deontolgicas seria a tica (doutrina da justia). Esta monografia no tem por objeto a deontologia, mas a tica na sua acepo mais geral, como cincia da conduta. Ainda conforme Abbagnano (2000), h duas concepes fundamentais da tica: 1) A tica uma cincia do fim e dos meios, isto , orienta a conduta dos homens e tambm procura os meios para atingir tal fim, deduzindo, tanto o fim quanto os meios, da natureza do homem. 2) A tica a cincia do mvel, isto , das causas da conduta humana, e procura determinar tal mvel com vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta. Essas concepes se mesclaram, tanto na Antiguidade quanto no mundo moderno. Na primeira concepo a tica trata do ideal para o qual o homem se dirige devido sua natureza, isto , trata da natureza ou substncia do homem. Na segunda concepo a tica trata dos motivos ou causas da conduta humana, isto , das foras que determinam a conduta humana, atendo-se apenas ao conhecimento dos fatos. Essas duas concepes so profundamente diferentes. A confuso entre elas deve-se ao fato de que ambas costumam apresentar-se com definies aparentemente idnticas do Bem. Mas a prpria noo de Bem ambgua. Na teoria metafsica o Bem a realidade, mais precisamente a realidade perfeita, ou suprema, e desejado como tal. Na teoria subjetivista o Bem aquilo que desejado, ou o que agrada, e tal s nesse aspecto (ABBAGNANO, 2000).
18
Portanto, Bem pode significar aquilo que (pelo fato de que ) ou aquilo que objeto de desejo ou de aspirao. Esses dois significados correspondem exatamente s duas concepes de tica. Note-se que, na primeira concepo de tica, a noo de bem", como realidade perfeita (ou perfeio real), uma caracterstica, enquanto que, na segunda concepo, encontra-se a noo de Bem como objeto de apetio. Por isso, quando se afirma que o Bem a felicidade, a palavra Bem tem um significado completamente diferente daquele que se encontra na afirmao o Bem o prazer. O significado da primeira assero se faz no sentido de que a felicidade a finalidade da conduta humana, e isso se deduz da natureza racional do homem. J na segunda assero, o significado que o prazer a causa habitual e constante da conduta humana. Sempre se deve ter presente, nas discusses sobre tica, a distino entre tica do fim e tica do mvel. Essa distino divide a histria da tica e permite ver como foram irrelevantes muitas discusses sobre tica, j que a causa exatamente a confuso entre esses dois sentidos. J a segunda concepo fundamental da tica aquela que constitui uma doutrina do mvel, isto , um princpio da conduta, ou seja, a doutrina que procura uma causa para a conduta do ser humano. Aqui o Bem no definido com base na sua realidade ou perfeio. O Bem o objeto da vontade humana, ou o objeto das regras que dirigem a vontade humana. Na primeira concepo as normas derivam de um ideal que se pressupe seja prprio do homem. Segundo Aristteles (384 a.C. 322 a.C.), seria a vida racional; segundo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), o Estado; segundo Henri Bergson (1859-1941), a sociedade aberta ou fechada; e assim por diante.1
1
Citados por Abbagnano (2000).
19
Na segunda concepo procura-se, antes de tudo, determinar a norma qual ele obedece de fato. Aqui o Bem aquilo a que o ser humano tem propenso, isto , aquilo a que se tende em virtude desse mvel (princpio, causa). Dito de outra forma, o Bem aquilo que for adequado norma na qual ele se expressa. Aguns exemplos. Prdico formulava sua moral em proposies condicionais, ou imperativos hipotticos. Com isso estava criando uma das primeiras ticas do mvel. Ele dizia: Se quiseres que os deuses te sejam benvolos, deves venerar os deuses. Aqui a norma : deves venerar os deuses. O mvel, isto , a causa para que se faa isso : porque desejas que os deuses te sejam benvolos. Outro exemplo, com o mesmo efeito: Se quiseres ser amado pelos amigos, deves beneficiar os amigos. Ou ento: Se aspiras ser admirado por toda a Grcia, deves esforar-te por fazer bem Grcia.2 Protgoras tambm aspira a uma tica do mvel quando afirma que o respeito mtuo e a justia so as condies para a sobrevivncia do homem". O mito de Prometeu tem o mesmo sentido. H uma obra conhecida pelo nome de Annimo de Jmblico que tem esse mesmo ponto de vista. Diz ela:
Mesmo que houvesse (mas no h) um homem invulnervel, insensvel, com corpo e alma de ao, ele s poderia ser salvo aliando-se s leis e ao direito, fortalecendo-os, e utilizando sua fora por eles, e em favor deles, pois de outro modo no poderia resistir.3
Nessas exposies o que se evidencia o mecanismo dos mveis (motivos) que geram as normas do direito e da moral. Para sobreviver o homem conforma-se s regras e no pode
2 3
Xenof., Memor...II, I, 28 Ann. Jmbl., 6, 3.
20
agir de outro modo. Nessas formulaes o motivo da conduta humana o desejo, ou a vontade, de sobreviver. Em outras formulaes, do mesmo gnero, o motivo (mvel) pode ser o prazer. Em funo dessas duas concepes pode-se esboar um resumo muito breve da histria da tica, fundamentado no texto de Abbagnano (2000) no verbete tica do seu Dicionrio de Filosofia. Entre os seguidores da primeira concepo da tica aquela fundamentada na natureza do ser humano pode-se encontrar Plato (427 a.C. /347 a.C.), os esticos, os neoplatnicos, Plotino (203/205 a.C. 270 a.C.) e outros, que prolongam esse esquema atravs de toda a tica medieval. Duns Scot e outros escolsticos do sculo XIV que iniciam uma crtica a essa formulao. Na filosofia moderna, os neoplatnicos de Cambridge retomam a concepo estica de ordem do universo. Quando surge a filosofia romntica, essa concepo tica assume uma forma mais radical. Com Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) e com Hegel o objetivo da conduta humana passa a ser o Estado. No sculo XIX Rosmini volta a conformar-se com a tica tradicional: o Bem se identifica com o ser. J na filosofia contempornea surge Thomas Hill Green (1836-1882), para quem querer o Bem significa querer a conscincia absoluta, isto , Deus. Do mesmo modo, para Groce (Filosofia della Pratica, 1909), a atividade tica a volio universal. Todas essas formulaes, como a de Fichte, Hegel ou Green, no se distinguem da tica tradicional que, como a de Plato, Aristteles, S. Toms de Aquino (1227-1274) e Rosmini recorrem Realidade ou ao Ser.
21
Com Bergson cria-se uma forma mais complexa e moderna da tica do fim: a moral aberta e a moral fechada. Quando, na filosofia contempornea, a noo de valor comeou a substituir a noo de Bem, a antiga alternativa entre tica do fim e tica da motivao comeou a assumir nova forma. As doutrinas da tica passam, ento, a reconhecer com Max Scheler (1874-1928) e com Karl Hartmann (1842-1906) a necessidade do valor ou a problemtica do valor (estreitamente aparentadas com as doutrinas ticas da motivao). O relativismo axiolgico de Frierich Nietzsche (1844-1941) tambm se baseia numa hierarquia absoluta de valores. Tem a mesma estrutura formal da tica de Hartmann (Ethik, 1926) e, de uma maneira geral, da tica tradicional do fim. A estrutura da doutrina de Niezsche no diferente da estrutura de muitas outras que, utilizando o mesmo processo, tendem a conservar e justificar as tbuas de valores tradicionais, deduzindo-as a partir da natureza do homem ou da estrutura do ser. Entre os seguidores da segunda concepo da tica a tica do mvel (causa, motivo) pode-se encontrar Aristipo de Cirene (435 a.C. 366 a.C.) e Epicuro de Samo (341 a.C. 270 a.C.), filsofos gregos da era helenstica. Durante toda a Idade Mdia esta segunda concepo esteve ausente e s retomada no Renascimento: Lorenzo Valla, nascido em Roma (14051457 d.C.), foi o primeiro a reapresent-la. Posteriormente, Bernardino Telesio (1508-1588) apresentou uma alternativa dessa mesma concepo. Thomas Hobbes (15881679) viu nesse princpio o fundamento da moral e do direito, enquanto Baruch Spinoza (16321677), no mesmo sculo, viu a ao humana necessitando da substncia divina. John Locke (16321704) e Gottfried Wilhelm Leibnitz (16461716) concordavam quanto ao fundamento da tica.
22
Para Locke, Deus estabeleceu um lao entre a virtude e a felicidade pblica, enquanto para Leibnitz adotar a alegria e evitar a tristeza era o fundamento da moral, ou seja, ambos viam, tambm, princpios ou mveis para conceituar a tica. A tica dos sculos XVII e XVIII, tem alto grau de uniformidade. Ela uma doutrina do mvel, mas tambm apresenta como base da moral uma oscilao entre tendncia conservao e tendncia ao prazer. Essa oscilao no implica numa diferena radical, uma vez que o prprio prazer no deixa de ser um indicador emocional daquelas situaes que so favorveis conservao. A filosofia moral inglesa do sculo XVIII tem importncia particular na histria da tica. Acentua-se a discusso entre a tica do mvel e a tica do fim. David Hume (17111776) apresenta muito bem essa discusso, e afirma que o primeiro a perceber essa distino foi Anthony Ashley Cooper, Lord de Shaftesbury (1671 1713), que falava de um instinto natural, ou divino, que corresponde, no homem, ao princpio de harmonia que regula o universo. Hutchinson interpretou o sentido moral como tendncia a realizar a maior felicidade possvel do maior nmero possvel de homens (Indagao sobre as idias de beleza e de virtude, 1725). Mais tarde o italiano Cesare Beccaria (17381794) e o ingls Jeremy Bentham adotariam essa mesma forma. Foi Hume que cunhou a palavra que exprimia essa nova tendncia: o fundamento da moral era, ento, a utilidade, expresso que mais tarde veio a designar a tica utilitarista. Aqui razo e sentimento constituem igualmente a moral. O filsofo e economista escocs Adam Smith (17231790), mais tarde, passa a chamar de simpatia ao sentimento do espectador imparcial que olha e julga a sua prpria conduta, e a dos outros.
23
Nessa mesma tradio deve-se inserir Immanuel Kant (17241804), j que sua concepo moral corresponde s caractersticas bsicas da doutrina do mvel. Ele transferiu o mvel (causa) da conduta humana: o sentimento deixava de ser a causa, para ceder lugar razo. Mas a tica de Kant, sem dvida, compartilha, tambm, da primeira concepo da tica, isto , preocupa-se basicamente em ancorar a norma de conduta na substncia racional do homem. A partir de Johann Fichte, a filosofia moral de Kant sofreu um desdobramento que teve, freqentemente, como ponto de partida, seu arsenal dogmtico e absolutista, e no suas colocaes fundamentais, nem a substncia de seus ensinamentos morais. Tanto esses ensinamentos, quanto a postura de que dependem, esto de acordo com a tica setecentista, com a diretriz moral do Iluminismo. Mas a contraposio estabelecida por Kant entre o mundo moral e o mundo natural, isto , entre a tica e a cincia da Natureza, j no compatvel com essa tica de 1700. Essa oposio transformou a tica kantiana na menina dos olhos dos metafsicos moralistas do sculo XIX. Ainda hoje, tanto amigos quanto adversrios de Kant vem sua tica exclusivamente sob dois aspectos: os amigos, para exalt-la como ancoradouro seguro de todas as certezas da vida moral; os adversrios para conden-la como baluarte das iluses metafsicas no campo moral. No contexto de 1700, poca de clima positivista, a tica do mvel tinha a pretenso de valer como cincia exata da conduta. O francs Claude Adrien Helvetius (17151771) acreditava que se devesse tratar a moral como todas as outras cincias e fazer uma moral como se faz uma fsica experimental. Essa pretenso caracteriza bem o utilitarismo de Bentham no sculo XIX, segundo o qual, os prazeres e as dores so os nicos fatos de que se pode partir no domnio da moral. Na
24
verdade sua obra inspirou a reforma do liberalismo ingls, e ainda hoje seus princpios esto incorporados doutrina do liberalismo poltico. O utilitarismo do escocs James Mill (17731836) e o do londrino John Stuart Mill (18061873) no passam de uma defesa e ilustrao da teses fundamentais de Bentham. O positivismo tambm se inspirou nesse ponto de vista, isto , a realizao da moral do altrusmo. Seu arauto foi o francs Auguste Comte (17981857), cujo princpio : viver para os outros. A tica biolgica do britnico Herbert Spencer (1820 903) adota essas mesmas teses. Para ele a moral a adaptao progressiva do homem s suas condies de vida. Ainda segundo Abbagnano (2000, p. 107), a chamada tica do evolucionismo apenas uma expresso da tica fundada no princpio da autoconservao, que Telsio e Hobes reintroduziram no mundo moderno. No deixa de ser surpreendente que na filosofia contempornea essa concepo da tica no tenha sofrido nenhuma mudanas nem progressos substanciais. Bertrand Russel (18721970) limitou-se a propor novamente essa concepo, na forma mais simples e grosseira, afirmando: a tica no contm afirmaes verdadeiras ou falsas, mas consiste em desejos de certa espcie geral.4 Para ele, afirmar que alguma coisa um bem, ou um valor positivo, outro modo de afirmar agrada-me, e dizer que algo mau significa exprimir, igualmente, uma atitude pessoal subjetiva. Entretanto, Russel acha possvel influir nos prprios desejos, reforando alguns, reprimindo ou destruindo outros e acha que isto deve ser feito por quem almejar a felicidade ou o equilbrio da vida. claro que essa posio contraditria: se a tica nada tem a ver com desejos, faltaro motivos ou critrios para que alguns desejos prevaleam sobre outros. Na tica de Russel perdeu-se um dos aspectos fundamentais da tica inglesa tradicional, isto , a disciplina na escolha dos desejos, ou seja, das alternativas possveis de conduta.
4
Religion and Science, 1936
25
Porm, a concepo de tica que predomina no positivismo lgico filiou-se justamente a esse ponto de vista to mutilado, segundo a qual os juzos ticos expressam, to somente, os sentimentos de quem fala, sendo impossvel encontrar um critrio para determinar a sua validade5. Obviamente, este tambm o ponto de vista de Russel, para quem a tica trata de desejos, e no de asseres verdadeiras ou falsas. um ponto de vista que marca a renncia compreenso dos fenmenos morais, e no um avano em sua compreenso. Com o americano Jonh Dewey (18591952) surge um ponto de vista mais frutfero. Sua tica se vincula noo de valor. Ele acredita que os valores no so somente objetivos, mas so, tambm, simples6 e, portanto, indefinveis, mas no absolutos ou necessrios. Os valores so qualidades imediatas, sobre as quais nada h a dizer. S em virtude de um procedimento crtico e reflexivo que podem ser preferidos ou preteridos.7 Mas os valores so fugazes e precrios, negativos e positivos, e infinitamente diferentes em suas qualidades. Da a importncia da filosofia que, como crtica das crticas, tem o objetivo de interpretar acontecimentos e transform-los em instrumentos e meios de realizao dos valores e, em segundo lugar, tem o objetivo de renovar o significado dos valores. 8 Essa tarefa da Filosofia condicionada pela renncia crena na realidade necessria e no valor absoluto. Dewey afirma que abandonar a busca da realidade e do valor absoluto e imutvel pode parecer um sacrifcio. Mas essa renncia a condio para uma vocao mais vital. A filosofia no encontrar rivais na busca de valores que podem ser garantidos e compartilhados por todos, j que so valores vinculados aos fundamentos da vida social, mas poder encontrar coadjutores nos homens de boa vontade.9
5 6
Ayer, Language, Truth and Logic, p. 108 cf. Stevenson, Ethics and Language, p. 20. Simples aqui tem o significado de aquilo que carece de variedade ou de composio, isto , o que existe de um nico modo ou destitudo de partes (ABBAGNANO, 2000, p. 902). 7 Theory of Valuation, 1939, p. 13 8 Experience and Nature, p.394 e segs. 9 The quest for Certainty, p. 295
26
Segundo Abbagnano (2000, p. 387), essas consideraes de Dewey mostram o quadro em que a tica contempornea deve mover-se, mas no oferecem instrumentos eficazes, isto , ainda falta na tica contempornea uma Teoria Geral da Moral, que corresponda Teoria Geral do Direito, isto , uma teoria que considere a moral como tcnica de conduta e se dedique a considerar as caractersticas dessa tcnica e as modalidades com que ela se realiza em grupos sociais diferentes. Uma tal Teoria Geral da Moral no deveria partir de um compromisso prvio com uma determinada tbua de valores. Seu compromisso seria, simplesmente, considerar a constituio dessas tbuas que se oferecem ao estudo histrico e sociolgico da vida moral, com a descoberta se possvel das condies formais, ou gerais, de tal constituio. Mas essa teoria poderia, e deveria, usar amplamente a tica do sculo XVIII e, em geral, a tica da motivao, apresentando-se como a continuao dessa concepo. Quanto s relaes entre moral e direito, Abbagnano afirma que elas podem ser configuradas de vrias maneiras, mas no so relaes heterogneas, nem reciprocamente interdependentes. Para ele, a tica, como tcnica de conduta, primeira vista, parece mais ampla que o direito como tcnica de coexistncia. Porm, se considerarmos que toda forma de conduta uma forma de coexistncia, ou vice-versa, ver-se- que a distino entre os dois campos apenas circunstancial, e tem por objetivo delimitar problemas particulares, grupos de problemas, ou campos especficos de considerao e estudo. At aqui se viu um curto e rpido resumo da histria da tica e da evoluo do seu conceito, fundamentados na obra de Abbagnano. Havia-se dito que conceituar tica uma das tarefas mais difceis da filosofia e que, talvez, fosse mais fcil dizer o que a tica no . Uma abordagem mais especfica e menos complexa, mas nem por isto menos cientfica, poderia trazer mais compreenso para o tema.
27
o que se pretende. Para comear apresenta-se o pensamento de Fernando Savater (2002, p. 31, 52, 55). Segundo esse autor, como humanos pode-se, em parte, escolher e inventar nossa forma de vida, pois somos livres. Pode-se optar pelo que parece bom (conveniente), ou mau (inconveniente). evidente que erros podem ser cometidos. Durante a vida tenta-se adquirir um certo saber viver, uma certa arte de viver: a isto que se chama de tica. Ento, a tica ocupa-se precisamente com a liberdade. Ora, liberdade decidir sem se deixar levar. Ningum pode decidir "por mim", isto , sou obrigado a escolher e procurar "por mim" mesmo. A moral ou a tica nada mais do que empregar bem a liberdade de cada um. Logo, nada tem a ver com prmios ou castigos. H uma diferena tcnica entre tica e moral. Para Savater moral o conjunto de normas e comportamentos que as pessoas costumam aceitar como vlidos. tica a reflexo sobre porque se consideram vlidos estes comportamentos e normas. Tambm se pode dizer que a tica permite comparar as morais, isto , os comportamentos e normas de pessoas diferentes. Segundo Lichtemberg apud (SAVATER, 2000), a moral tem quatro princpios: 1) O princpio filosfico: faa o bem pelo prprio bem, pelo respeito lei; 2) O princpio religioso: "faa-o porque a vontade de Deus, por amor a Deus"; 3) O princpio humano: faa-o porque seu bem estar o requer, por amor prprio; 4) O princpio poltico: faa-o porque a sociedade, da qual voc faz parte, o requer, por amor sociedade e por considerao a voc mesmo.
28
A palavra moral vem de mores, do latim = costumes, e a maioria dos preceitos morais soa como ordens: faa isto, no faa aquilo. E, no entanto, h ordens e costumes imorais, porque so maus, isto , inconvenientes. As atitudes morais continuam at hoje sendo polmicas: aborto, homossexualidade, pornografia, eutansia, suicdio e sexo fora do casamento. Apesar disso, em geral, ponto pacfico o princpio de que todos os seres humanos so iguais. Mas os seres humanos no so todos iguais. John Rawls (apud SINGER, 1998, p. 27-28) diz que as caractersticas naturais dos seres humanos que sustentariam essa base so de dois tipos: 1) Propriedades de mbito. 2) Propriedades de personalidade moral. Imaginem-se pontos no interior de um crculo.Todos os pontos no interior desse crculo tm uma propriedade em comum: esto dentro do crculo. Todos tm igualmente essa propriedade, chamada de propriedade de mbito. Alguns podem ser mais perifricos, outros mais centrais, mas todos so pontos no interior de um crculo. A propriedade de personalidade moral diferente. Moral aqui utilizada como oposto de amoral Para Rawls uma pessoa moral a que tem senso de justia. A essa pessoa se pode fazer uma invocao moral com alguma perspectiva de que a invocao ser levada em conta. Esta uma propriedade que, virtualmente, todos os seres humanos possuem de forma igual. Rawls tem uma abordagem contratual da justia. Por isso afirma que a personalidade moral a base da igualdade humana. A tradio do contrato v a tica como uma espcie de acordo mutuamente benfica: no me agrida para no ser agredido. S esto dentro dessa esfera tica aqueles que: 1) compreendem que no esto sendo agredidos;
29
2) refreiam sua prpria agressividade. Ora, a personalidade moral uma questo de grau, mas exige um mnimo indispensvel para que algum possa situar-se na esfera do princpio da igualdade. Onde se traaria a linha que delimita esse mnimo? Se existem graus de status moral, devem existir direitos e deveres correspondentes aos graus de refinamento do senso de justia de cada pessoa. Alm disso, os seres humanos no so todos pessoas morais. Bebs, crianas, doentes mentais, no tm senso de justia. Rawls oferece, ento, um argumento ad hoc, isto , um argumento formulado com o nico propsito de legitimar ou defender uma teoria, e no em decorrncia de uma compreenso isenta e objetiva da realidade: passa a chamar as pessoas anteriormente citadas de pessoas morais em potencial. Em vista disso, no provvel que exista qualquer propriedade moralmente significativa que todos seres humanos possuam por igual. Isso no significa, porm, que os interesses de cada pessoa no devam ser igualmente respeitados. Quando os interesses de diferentes partes entram em conflito, devemos dar uma igual considerao a todos os interesses. Este o chamado Princpio de Igual Considerao de Interesses. Isso significa que os interesses mais prementes, ou fundamentais, deveriam ter precedncia sobre os menos fundamentais (SINGER, 1998, p. 270). Em vista do que foi exposto at aqui, como se poderia ento defender o Princpio de Igualdade entre os seres humanos? 1) Os seres humanos diferem entre si como indivduos (fato). 2) No h diferenas moralmente significativas entre seres humanos como, por exemplo, sexo e raa (fato). 3) Logo, as pessoas so moralmente (eticamente) iguais
30
Isso constituiria uma base factual para defender o princpio da igualdade. A crtica que se pode fazer a essa exposio de fatos a seguinte (SINGER, 1998, P. 29-33): As diferenas reais entre as pessoas (por exemplo, a inteligncia) so responsveis pela hierarquizao da sociedade. Essa sociedade no pode ser rejeitada atravs dessa base factual, pois tal sociedade se estrutura exatamente sobre essas diferenas. A reivindicao da igualdade no pode se basear na posse da inteligncia, ou da personalidade moral, da racionalidade ou de outras semelhantes. No existe nenhuma razo lgica e imperiosa que nos force a pressupor que uma diferena de capacidade entre duas pessoas justifique uma diferena na considerao que atribumos aos seus interesses. A igualdade um princpio tico, no uma assertiva factual. Este princpio est fundamentado no aspecto universal dos juzos ticos (universalizabilidade). A essncia do Princpio da Igual Considerao de Interesses est em atribuirmos o mesmo peso a interesses semelhantes de todos os que so atingidos por nossos atos. O princpio atua como uma balana: favorece o lado em que o interesse mais forte, ou o lado no qual vrios interesses se combinam para exceder em peso um nmero menor de interesses semelhantes, mas no levam em considerao quais interesses esto pesando. Um outro princpio, bem conhecido dos economistas, o chamado Princpio da Diminuio da Utilidade Marginal (SINGER, 1998, p. 33-35), intimamente relacionado ao princpio anterior. Diz ele: certa quantidade de alguma coisa mais til para quem a possui em pequena quantidade do que para quem a possui em grande quantidade.
31
Por exemplo: para quem tem apenas 200 gramas de arroz por dia, receber mais 50 gramas por dia mais til do que fornecer esses 50 gramas a quem j conta com 1 quilograma de arroz por dia. A utilidade chamada de marginal porque est no extremo, no limite, isto , s margens do mnimo. Para a primeira pessoa do exemplo, os 50 gramas de arroz tm uma utilidade marginal, que no deveria existir. A Igual Considerao de Interesses um princpio mnimo de igualdade, que no impe um tratamento igual, levando assim a um resultado no igualitrio. Entretanto, esse tratamento desigual uma tentativa de chegar a um resultado mais igualitrio (por exemplo, ajudando mais a quem precisa mais, ou igual distribuio de renda). H circunstncias em que o Princpio da Diminuio da Utilidade Marginal no funciona. Tome-se o seguinte exemplo: Diga-se que h duas vtimas, uma mais gravemente ferida do que a outra. A mais gravemente ferida (A) perdeu uma perna e est correndo risco de perder um dedo do p da perna que lhe restou. A vtima menos gravemente ferida (B) tem um ferimento na perna, mas o membro pode ser salvo. H recursos mdicos para uma s pessoa. Se for atendida a vtima A, o mximo que se conseguir fazer ser salvar o seu dedo do p. Se for atendida a vtima B, pode-se salvar-lhe a perna. Em outras palavras: sem tratamento mdico: A perde uma perna e um dedo do p, enquanto B s perde uma perna; aplicando tratamento em A: A perde uma perna e B perde uma perna; aplicando tratamento em B: A perde uma perna e um dedo, enquanto B no perde nada.
32
Admitindo que perder uma perna pior do que perder um dedo, mesmo quando esse dedo fica no nico p que restou, o Princpio de Diminuio da Utilidade Marginal no basta para fornecer a resposta certa para essa situao. Para seguir esse princpio, ter-se- de considerar imparcialmente os interesses das vtimas. Logo, seguindo o raciocnio anterior, seria necessrio usar os limitados recursos para tratar a vtima menos gravemente ferida (B), o que no a resposta certa. Em casos especiais a Igual Considerao de Interesses, em vez de diminuir, pode aumentar a diferena entre duas pessoas em nveis distintos de bem-estar. Por isso, esse princpio um princpio mnimo de igualdade, e no um princpio igualitrio perfeito e consumado. Mesmo assim, uma forma mais consumada de igualitarismo seria difcil de justificar, tanto em termos gerais quanto em sua aplicao a casos especiais, como o descrito.
3.1 Utilitarismo
Para a tica utilitarista (HOUAIS, 2001), boa ao ou boa regra de conduta toda aquela ao que pode ser caracterizada pela utilidade e pelo prazer que podem proporcionar a um indivduo e, em extenso, coletividade, na suposio de uma complementaridade entre a satisfao pessoal e coletiva. Em outras palavras: bom tudo aquilo que provoca prazer e til sociedade. Julgam-se as aes por sua tendncia a intensificar o prazer ou a felicidade e a mitigar a dor ou a infelicidade. Palavras como prazer e felicidade no tm preciso, mas evidente que se referem a algo que se vivencia ou se sente, isto , a estados de conscincia. No entanto, indispensvel precisar melhor o termo prazer. Para Savater (2001, p. 171) existem trs tipos de prazer. 1) A sensao fisicamente grata. Exige um sistema nervoso.
33
2) A clara sensao de aprovao, produzida por qualquer coisa: comportamento, produto ou pessoa. este apreo pelo bom, prprio dos seres dotados de razo, que proporciona a sensao gratificante. O exemplo mais claro a satisfao que causa uma ao generosa, ou valiosa, executada por um ou por outro ser. Est relacionada com a tica. 3) A sensao de prazer diante do belo diferente dos outros dois tipos de prazer, pois no se pode desfrutar o belo sem os sentidos e a razo. Mas os prazeres da beleza so os menos zoolgicos de todos, nem algo que se assemelhe ao respeito moral. difcil dizer porque a beleza interessa: esta funo da esttica. Na verdade, Savater (2001, p. 169) diz que:
prazer e dor so os dois mestres inteligentes da vida. A pedagogia desses dois inevitvel. Ensinam-nos a viver e sobreviver. Aquilo que faz os humanos sofrerem ou gozarem, na sua maior parte, comum a todos. Logo, a dor e o prazer so fortes braadeiras da irmandade universal. Porm, ningum padece nem desfruta exatamente da mesma maneira, nem sofre os mesmo estmulos ao longo da vida. Logo, os prazeres tambm nos conferem uma individualidade, uma biografia irrepetvel. Assim, prazer e dor nos ensinam que somos iguais quanto ao geral, mas ao mesmo tempo diferentes quanto ao particular. Portanto, comprova-se, novamente, que aquilo que nos une - nossos interesses , tambm , o que nos separa, nos personaliza e, mais cedo ou mais tarde, talvez, nos ope.
Quanto ao sofrimento, segundo Freud (O mal estar da civilizao), ele tem trs fontes: 1) A supremacia da Natureza; 2) A caducidade do nosso corpo; 3) Nossa incapacidade para regular as relaes humanas na famlia, no Estado e na sociedade. Para Savater (2001, p. 165-166), o pior que pode acontecer ser ameaado com a perda do amor, pois somos seres que necessitam do olhar compreensivo e confirmador do outro para conseguirmos ser ns mesmos. Nada nos deixa mais inermes, mais desvalidos, mais ameaados do que a perda do amor, em todos os sentidos: No sentido mais literal: amor entre pais e filhos, ou amor ertico;
34
No sentido mais geral: aquilo que os gregos chamavam de filia, isto , a amizade entre os que se escolhem mutuamente como complementares, ou seja, a simpatia civil corts e vagamente impessoal, mas relevantemente solidria que os concidados tm de mostrar cotidianamente uns pelos outros para que a vida em sociedade seja gratificante.
Sem amor nem filia a humanidade se atrofia e ficamos nas mos de uma inspita lei da selva. Goeth10 dizia que saber-se amado d mais fora do que se saber forte. Retomando o tema, o Utilitarismo contempla trs pontos de vista (SINGER, 1998, p. 112-113): 1) Ponto de vista da existncia prvia 2) Ponto de vista total 3) Ponto de vista preferencial Existem duas maneiras de aumentar o prazer existente no mundo: ou se aumenta o prazer dos que atualmente j existem, ou se aumenta o nmero de pessoas que levaro vidas agradveis. O ponto de vista da existncia prvia nega que haja valor na segunda alternativa e s leva em conta os seres que j existem antes da deciso que estamos tomando, ou que, pelo menos, vo existir independentemente dessa deciso. Do ponto de vista total o que se pretende aumentar a quantidade de prazer e reduzir a quantidade total de sofrimento, sendo indiferente se isso vai ser feito atravs do aumento de prazer dos seres existentes ou do aumento do nmero dos seres que j existem. J do ponto de vista preferencial (SINGER, 1998, p. 104) julgam-se as aes, no por sua tendncia a maximizar o prazer, ou a diminuir o sofrimento, mas verificando at que ponto essas aes correspondem s preferncias de quaisquer seres que sejam afetados pela ao ou por suas conseqncias.
10
Citado por Savater (2000).
35
Quando universalizamos os interesses, chega-se ao Utilitarismo Preferencial. A condio indispensvel aqui que se conceitue os interesses de uma pessoa como sendo aquilo que uma pessoa prefere. De acordo com esse tipo de Utilitarismo, qualquer ao contra a preferncia de qualquer ser errada, a menos que esta preferncia seja superada, em termos de seu valor, pelas preferncias contrrias. A tica Utilitarista foi desenvolvida na filosofia liberal inglesa, no sculo XIX, principalmente por Jeremy Bentham, seu criador, Stuart Mill, e Henry Sidgwick . Tem, classicamente, duas verses ou enfoques: 1) Utilitarismo direto, ou dos atos: a verso do utilitarismo que leva em considerao, prioritariamente, as escolhas individuais, quando se julga a respeito do caminho eticamente desejvel para atingir o mximo de felicidade. 2) Utilitarismo indireto: a verso do utilitarismo que considera difcil precisar qual a ao individual que levar, de fato, intensificao mxima da felicidade e, por isso, prioriza a escolha moral de regras preestabelecidas de conduta, para instituies, deveres coletivos e outros, com a finalidade de gerar uma satisfao segura, no submetida s incertezas do destino. Num estgio pr-tico do pensamento, dentro de um vazio tico absoluto, somente os prprios interesses de algum (no caso, os meus) poderiam ser relevantes numa tomada de deciso. Singer (1998) cita um exemplo: Devo comer, sozinho, todas as frutas que colhi, ou compartilh-las? Quando se inicia a pensar eticamente, comea-se a achar que os interesses alheios so tambm nossos prprios interesses, j que se deve escolher o curso de ao que tem as melhores conseqncias para todos os afetados pela deciso. Ento, nossos interesses passam a no contar mais que os interesses alheios.
36
Alm disso, ser preciso levar em conta se o efeito de uma prtica geral (universalizao) de compartilhar frutas colhidas vai beneficiar todos os afetados pela questo. Haver uma distribuio mais eqitativa ou ser reduzida a quantidade de alimento colhido? Quando todos ficarem sabendo que tero o suficiente, porque uma parte da colheita alheia ser sua, talvez alguns deixaro de colher o que quer que seja. Este modo de pensar chamado de utilitarista, no clssico, mas conseqencialista (ver adiante), porque no algo que simplesmente aumenta o prazer e diminui o sofrimento, mas porque examina todas as alternativas e escolhe aquela que favorece os interesses de todos os afetados. O utilitarismo no pode ser inferido do aspecto universal da tica. Existem outros ideais ticos que so universais num certo sentido (por exemplo, direitos individuais,
justia, pureza) e, no entanto, em algumas verses so incompatveis com o utilitarismo. Quando se tomam decises com base no interesse prprio e, a partir da, tenta-se universalizar estas decises, se est criando uma base inicial para assumir uma posio mnima na escala tica, que a postura utilitria. Esse passo inicial indispensvel para superar o utilitarismo e aceitar princpios ou ideais morais. At que surjam boas razes para essa extrapolao Peter Singer acredita que se tem alguns motivos para continuarmos utilitaristas. Mas o utilitarismo no a nica posio tica digna de ser levada em considerao. O fato que cada um deve chegar s suas prprias concluses sobre abordagens utilitrias e no utilitrias e, tambm, sobre a questo do papel que a razo e o argumento desempenham na tica.
37
3.2 A tica consequencialista
A conscincia limpa e tranqila um sintoma primordial de animalidade. (Wistlawa Szyborsha, Paisagem com Gro de Areia.)
Conforme a doutrina dos atos e das omisses h uma importante distino moral entre praticar um ato, que tem determinadas conseqncias por exemplo, matar uma criana gravemente deficiente e deixar de fazer algo que ter as mesmas conseqncias. Peter Singer (1998, p. 216) analisa esta doutrina e a tica consequencialista da seguinte maneira. Se a doutrina certa, o mdico que aplica uma injeo letal na criana do exemplo acima comete um erro. Porm, deixar de ministrar antibitico a essa criana, sabendo muito bem que ela morrer sem o medicamento, no implicaria em nenhum erro. Poucos defendem essa doutrina pelos seus prprios mritos, como um primeiro e importante princpio tico. H uma concepo da tica que admite que, enquanto no se violar preceitos morais especficos que impem certas obrigaes morais, faremos tudo que a moralidade exige de ns. Esses preceitos so similares aos que ficaram conhecidos atravs dos Dez Mandamentos e outros cdigos semelhantes: No matar, No mentir, No roubar , entre outros. Tais princpios so formulados na negativa. Ento, a obedincia a eles s necessria para nos abstermos dos atos que eles condenam. Assim a obedincia pode ser exigida a todos na comunidade. Foi a partir dessa concepo da tica que se inferiu a doutrina dos atos e das omisses. Se interpretarmos o preceito No matar do mesmo modo como tem sido interpretado em toda a tradio ocidental, isto , apenas como uma proibio de se tirar a vida de um ser
38
humano inocente, fica relativamente fcil evitar a prtica de atos explcitos de violao desse preceito, visto que, entre ns, poucos so assassinos. J no to fcil impedir que seres inocentes morram por falta de alimentao ou de recursos mdicos. Se pudermos ajudar algumas pessoas, mas no o fizermos, estaremos permitindo que morram. Porm, se o preceito contra tirar a vida tambm fosse aplicado s omisses, os que cumprissem esse preceito teriam a marca do herosmo moral, ou da santidade, e isso deixaria de ser o mnimo exigido a toda pessoa moralmente decente. Uma tica que avalia os atos em funo de eles violarem, ou no, preceitos morais especficos, faz, necessariamente uma distino de importncia moral entre atos e omisses. Ao contrrio, uma tica que avalia os atos por suas conseqncias, isto , uma tica conseqencialista, no far essa distino porque, em todos os aspectos significativos, as diferenas entre as conseqncias de um ato e as conseqncias de uma omisso sero, quase sempre, imperceptveis. Porque matar errado, e deixar morrer no ? Os defensores da distino respondem que existe um preceito moral contra tirar a vida de seres humanos inocentes, e nenhum contra o fato de se permitir que eles morram. Essa resposta trata um preceito moral, convencionalmente aceito, como se ele estivesse acima dos questionamentos, e no pergunta se deveramos ter, tambm, um preceito moral contra o fato de permitir que algum morra. Singer ainda ressalta que no existe nenhuma importncia intrnseca na distino entre atos e omisses, mas do ponto de vista da motivao e da atribuio de culpa, a maior parte dos casos em que no se impede o erro (por exemplo, que algum morra) no equivalente a um assassinato.
39
Tambm no se pode atribuir sociedade uma culpa, nem responsabiliz-la como a um indivduo, porque ela no uma pessoa, nem um agente moral. Alm disso, qualquer tica conseqencialista deve levar em considerao a probabilidade dos resultados. Entre uma deciso que sem dvida produzir algum benefcio e outra que possa levar a um benefcio ligeiramente maior, mas incerto, isto , com iguais chances de resultar em nada, devemos preferir a primeira. S deveramos optar pelo benefcio incerto quando a magnitude desse benefcio for maior que a sua incerteza. Exemplificando: melhor poder contar com um benefcio X do que ter 10% chances de obter um benefcio 3X; mas melhor ter 50% de chances de obter um benefcio 3X do que ter uma s chance certa de obter X. O mesmo princpio se aplica quando se est tentando evitar que coisas ms ou erradas aconteam.
3.3 Bom e mau
Escutemos novamente Savater (2002, p. 57-62). Bom e mau no so termos aplicados exclusivamente a pessoas ou a comportamentos morais. A dificuldade maior est em definir o que necessrio para ser um homem bom, j que no sabemos ou sabemos pouco para que servem os seres humanos. Freqentemente nos encontramos em situaes ambguas. De ns, s vezes, se exige resignao, noutras rebeldia, iniciativa e obedincia, generosidade e previdncia. No h um regulamento nico, nem somos um instrumento. Quando julgamos comportamentos preciso considerar as circunstncias de cada caso e at as intenes.
40
De fora no nada fcil determinar quem bom quem mau. Ordens, costumes, caprichos, regulamentos no podem nos guiar quanto tica. Savater (2002, p. 57-62) pode parecer pouco estimulante, mas nem por isso menos honrado, quando afirma que na porta da tica bem entendida est escrita esta frase: Faa o que quiser. A esta questo ser tratada mais adiante. Segundo o autor:
O bom se impe a ns porque nossa razo no tem outro remdio seno aceitar que a vida humana mais digna de ser vivida quando qualquer um de ns faz o que devido e reconhece o outro como semelhante, no como mero instrumento manipulvel.
Para Peter Singer (1998, p. 341) a tica no foi uma criao consciente, mas um produto da vida social. Sua funo promover, entre os membros da sociedade humana, valores que lhes sejam comuns. Quando incentivamos ou louvamos aquelas aes que esto em acordo com esses valores, estamos emitindo juzos ticos. Esses juzos ticos no dizem respeito ao em si, isto , substncia da ao, mas aos motivos da ao (a chamada tica do mvel). O motivo uma boa indicao das tendncias dessa ao para promover o bem ou o mal. Fundamentados nesses motivos que podemos louvar ou reprovar as aes. assim que nos tornamos eficientes para alterar a tendncia das aes de uma pessoa.
3.4 A conscincia moral
Na Natureza, isto , no mundo natural, nunca encontramos valores, ou seja, a no existem o Bem e o Mal como manifestaes indiscutveis. Savater (2001) diz que na Natureza podemos admitir a existncia de coisas naturalmente boas ou naturalmente ms, de acordo com a forma de ser de cada um dos
41
elementos que existem. Por exemplo, para o fogo a gua algo muito mau, porque ela o apaga, mas uma coisa muito boa para as plantas, porque as faz crescer. Os antibiticos so muito bons para os homens, porque matam micrbios, embora sejam muito maus para os micrbios, porque os eliminam. O leo muito mau para os animais que caa, pois os devora, mas o animal caado que se esfora por correr muito mau para o leo, pois ele morreria de fome se no caasse, e assim por diante. Spinoza e outros filsofos j afirmaram que aquilo que chamamos de naturalmente bom para cada coisa o que lhe permite continuar sendo o que , e o mau aquilo que cria impedimentos sua forma de ser, ou a destri. Como na Natureza existe um nmero infinito de coisas diversas, cada uma com interesses ligados ao que ela por natureza, inevitvel que no haja um bem, nem um mal, vlidos para todo o real, mas sim uma pluralidade de bons e de maus, to numerosos quanto as coisas diferentes que h na realidade. A Natureza regida pela mais estrita neutralidade e indiferena. Ela no tem preferncias entre os seres, destri e engendra com perfeita imparcialidade e no mostra nenhum respeito pelas suas prprias obras. J no mundo dos homens, em contraposio direta ao mundo natural, encontramos valores. Valorar justamente estabelecer diferenas entre umas coisas e outras, preferir isso quilo, escolher o que deve ser conservado porque tem mais interesse do que o demais. Valorar o empenho humano por excelncia, a base de qualquer cultura humana. Se na Natureza reina a indiferena, na cultura reina a diferenciao e os valores Como diz Savater, valorar a dimenso menos natural... de nossa prpria natureza. Por isso, no mundo dos humanos foi possvel o surgimento da conscincia moral.
42
Na opinio de Singer (1998, p. 341) todas as sociedades humanas tm alguns valores que so aceitos pela maioria de seus membros. a isso que chamamos de valores de uma sociedade Agir com o objetivo de fazer o que certo muito til do ponto de vista da comunidade. o que chamamos de conscincia moral. Se as pessoas dotadas de conscincia moral aceitarem os valores de sua sociedade, elas tendero sempre a promover aquilo que a sociedade valoriza. Mesmo que no tenham nenhuma tendncia generosidade, ou solidariedade, o que faro, se acharem que isso faz parte de seus deveres. Em outras palavras, a conscincia moral funciona, s vezes, como uma espcie de tapa buracos, de mltiplas funes, estimulando as pessoas a fazer tudo aquilo que a sociedade valoriza, mesmo quando as virtudes naturais, como a generosidade, solidariedade, honestidade, tolerncia, humildade, estejam ausentes. Mas a conscincia moral , s vezes, um pobre substituto da coisa real. Por exemplo: uma me com conscincia moral prov a subsistncia dos seus filhos tanto quanto uma me que os ame, mas no se poderia dizer que ela os ama porque a coisa certa a fazer. Ento, sob este especfico ponto de vista da tica, o que realmente importa so os resultados, e no os motivos, isto , a conscincia moral teria valor devido s suas conseqncias. Contudo, a conscincia moral s pode ser incentivada e desenvolvida se a entendemos como uma coisa boa pelas suas prprias qualidades, isto , pelos seu prprios mritos, e no pelas suas conseqncias. Por exemplo, se apelarmos para a solidariedade, ou para o interesse pessoal, como uma razo para fazermos o nosso dever, no estaremos incentivando as pessoas a que faam o seu dever pelos prprios mritos desse dever. A nfase nos motivos e no valor moral de fazer o que certo pelos mritos da coisa em si est arraigada profundamente em nossa noo de tica.
43
Da que, dar razes de interesse pessoal para fazer o que certo equivale a esvaziar a ao de seu contedo moral. Segundo Savater (2002, p. 101), o oposto da conscincia moral a imbecilidade moral. Para ele a conscincia moral consiste em saber que nem tudo d na mesma, uma vez que o que realmente queremos viver humanamente bem. Ter conscincia moral saber que aquilo que estamos fazendo corresponde de fato ao que queremos, ou no queremos; desenvolver o bom gosto moral, at que certas coisas espontaneamente nos repugnem como, por exemplo, a mentira. Ter conscincia moral no esconder que somos livres e responsveis pelas conseqncias de nossos atos. Logo, o motivo para preferir a conscincia moral imbecilidade nada mais do que o proveito prprio.
3.5 Universalizabilidade da tica
O fato de a moral ser universalizvel, em seu princpio, no prova que ela seja universalizvel em seu sucesso. (Andr Comte-Sponville)
Ainda, segundo Singer, um trao distintivo da tica est em que os juzos ticos so universalizveis, ou seja, a tica exige que extrapolemos o nosso ponto de vista pessoal e que nos voltemos para um ponto de vista semelhante ao do espectador imparcial, que adota um ponto de vista universal. Desde a Antigidade, filsofos e moralistas defendem que a conduta tica aceitvel aquela que for pelo menos de certa forma universal. O preceito ureo amar o prximo como a si mesmo, ou fazer aos outros aquilo que gostaramos que eles nos fizessem, pressupe que podemos atribuir aos interesses alheios o mesmo peso que atribumos aos
44
nossos (Princpio da Igualdade de Interesses). Da esses princpios poderem ser universalizados. Os esticos afirmavam que a tica provinha de uma lei natural universal. Foi Kant quem, no sculo XVII, desenvolveu essa idia na sua clebre frmula aja somente segundo a mxima atravs da qual voc possa, ao mesmo tempo, desejar que ela se transforme numa lei universal.
3.6 A tica e a razo
H uma antiga corrente de pensamento filosfico que tenta demonstrar que agir racionalmente o mesmo que agir eticamente. Hoje o argumento associado a Kant, mas remonta aos esticos. Segundo Singer (1998, p 341) a estrutura desse pensamento, mais comumente encontrada, a seguinte: 1) Os fundamentos da tica so a imparcialidade e a propriedade de poderem ser universalizados (universalizabilidade); 2) A razo universal, isto , objetivamente vlida, porque qualquer inferncia (silogismo) tem valor universal como, por exemplo, este: - todos seres humanos so mortais; - Scrates humano; - logo Scrates mortal. 3) A razo atende aos itens exigidos em (1). Logo, para que um juzo seja tico ele dever ser racional, em conformidade com (2). Da segue que, a partir de um ponto de vista universal posso prescrever meu juzo tico. Mas, tanto a tica quanto a razo exigem que nos ergamos acima do nosso ponto de vista particular, isto , acima da nossa prpria identidade pessoal, que deixa de ser importante.
45
Concluso: a razo exige que nossa ao se baseie em juzos universalizveis, se que desejamos ser ticos. Re-examinando os trs itens, Peter Singer (1998, p.. 341) faz a seguinte crtica a esse pensamento kantiano: 1 - A tica implica em universalizabilidade: aceito. 2 - A razo deve ser universal: aceito. 3 - A concluso parece seguir-se diretamente das premissas, mas esse movimento envolve um resvalo de um sentido limitado (SAVATER, 2001, p. 210) para um sentido mais forte (SAVATER, 2001, p. 208-209). A diferena pode ser percebida quando consideramos um imperativo puramente egosta, no universalizvel como, por exemplo, este: que todos faam o que for do meu interesse. Este imperativo contm uma referncia no eliminvel a uma pessoa especfica (eu). No poderia ser um imperativo tico porque lhe falta ser universalizvel (SAVATER, 2001, p. 208-209). Entretanto, no lhe faltaria a possibilidade de ser racionalmente justificvel se o egosmo puro fosse racionalmente adotado por todos (SAVATER, 2001, p. 210). Ento, o argumento teria a universalizabilidade exigida (SAVATER, 2001, p. 208-209) para que fosse tico. Assim, a ao de egosmo puro teria base racional. Como evidente, o egosmo puro no pode ser tico, o que mostra o sentido limitado de 2. Dito de outra maneira pode-se afirmar que se uma ao vai beneficiar a mim, em vez de beneficiar a outra pessoa, posso ter uma razo vlida (racional) para pratic-la, sem ter uma razo tica, ou seja, o que racional nem sempre tico. Os juzos racionais e os juzos ticos no tm a mesma fora: os juzos ticos tm um sentido mais forte. aqui que, segundo Singer, se encontra a falha do argumento de Kant.
46
Uma das conseqncias dessa concluso que uma hipottica pessoa A poderia tentar impedir, racionalmente, que outra pessoa B fizesse algo que a prpria pessoa A admite ser racionalmente justificado que B o faa. Peter Singer diz que, infelizmente, no h paradoxo algum nisso. Se dois vendedores disputam uma venda importante, vo aceitar a conduta do seu adversrio como racional, ainda que cada um tente impedir o sucesso do concorrente (o que pode no ser tico, porque os juzos ticos tm sentido mais forte). O mesmo se pode dizer de dois soldados que se defrontam no campo de batalha, ou de dois jogadores que disputam uma partida de futebol. Assim, para Singer essa tentativa de demonstrar uma ligao entre razo e tica no sustentvel. O psicanalista Gregrio Klimovsky e outros dois autores tambm argentinos (um psicanalista e um filsofo lgico e epistemologista) apresentaram um trabalho no 38 Congresso Internacional de Psicanlise.11 uma tentativa bem elaborada que, de certa forma, aproxima-se daquela feita por Kant, quando procurava, exaustivamente, aplicar um critrio lgico (a razo) sua tica. Ningum tentou mais intensamente do que Kant mostrar que a conscincia moral s pode ter um valor moral quando praticamos um dever em nome de seu prprio mrito. o que chamaramos de ao autojustificada. Este o conceito Kantiano da tica: uma ao somente tica quando praticada porque correta. Kant percebeu que esta concepo comum da tica, sem uma justificao racional no poderia ser aceita. Procurou, como j vimos, justificar a racionalidade da tica, tentando conservar seu prprio conceito kantiano. Peter Singer (1998, p. 341) faz nova crtica nesse ponto. Admitindo-se que: 1) s tica (tem valor moral) aquela ao que for praticada porque correta;
11
Ethical and Unethical Conduct in Psychoanalysis. Correlations between Logic, Ethics and Science), Amsterd, julho de 1993, trabalho publicado no Int. J. Psycho-Na, 1995, n. 76, p. 977.
47
2) a tica no tem justificativa racional; 3) ento a ao correta no tem justificativa racional. Segundo Peter Singer, este pensamento kantiano cria um sistema fechado, que no pode ser questionado, porque a primeira premissa est excluda pela segunda. Nessa perspectiva, a tica no seria mais racional do que qualquer prtica autojustificada, como a etiqueta ou a f religiosa, que exigem antecipadamente que se ponha de lado todo o ceticismo. Singer (1998, p. 343) conclui que a noo kantiana da tica, na concepo do seu conjunto, deve ser rejeitada. Mais tarde a teoria de Kant foi modificada e desenvolvida por R. M. Hare, (1981) que v a universalizabilidade como uma caracterstica lgica dos juzos morais. Hume, Adam Smith e Hutcheson tambm invocaram um espectador imparcial, imaginrio, como critrio de avaliao de um juzo moral. A verso moderna dessa teoria a Teoria do observador ideal. Os utilitaristas, desde Jeremy Bentham at J. J. Smart consideram um axioma na deciso de questes morais que cada qual (deciso) valha por uma, e nenhuma por mais de uma. Ainda segundo Singer (1998, p. 343), at mesmo filsofos existencialistas, como Sartre, ou um terico crtico como Jrgen Habermas concordam que, num certo sentido a tica universal. Singer chega concluso de que a tica se fundamenta num ponto de vista universal, o que no significa que um juzo tico particular deva ser universalmente aplicvel. As circunstncias alteram as causas. Deduzir do aspecto universal da tica uma teoria tica o que os filsofos tm tentado, sem xito, desde os esticos at hoje.
48
3.7 O sentido da vida
A voz do intelecto suave, mas no descansa at ter ganho um ouvinte. Em ltima anlise, aps inumerveis derrotas ela vence. Este um dos poucos pontos em relao aos quais podemos ser otimistas no tocante ao futuro da humanidade. (Sigmund Freud , in The Future of an Illusion.)
Sem querer desmerecer a genialidade de Kant, h uma linha alternativa de reflexo ao seu pensamento que procura dar um sentido vida. Talvez a maioria dos filsofos importantes e posteriores a Kant tenha adotado essa linha, assim exposta por Fernando Savater (2001, p. 214-216). De maneira concisa a reflexo a seguinte: 1) Ser tico, lutar pela justia e pela solidariedade no livra ningum da morte; 2) Nem acaba com a violncia, ou com os enganos; 3) Ento o projeto moral suprfluo e sem sentido, a no ser que algo sobrenatural o garanta, at mesmo aps a morte. Sobre essa questo Savater diz o seguinte:
Mas o homem reto e sensato no quer ser imortal. Quer viver melhor. Sabe que sempre existir aquilo que mau, mas justamente por isso tenta fazer o que bom, para defender uma coisa que frgil e preciosa: fazer o bem. No por querer ganhar prmios ou retribuies que ele se conduz eticamente. Para ele tica aquela maneira de agir que o recompensa atravs da sua prpria atividade. Fazendo o que bom ele se sabe mais humano e livre. Ele no vive para a morte, nem para a eternidade, mas para alcanar a plenitude da vida na brevidade do tempo. Esta seria a resposta que Spinoza talvez tivesse dado a Kant.
Mas Savater tem uma outra maneira de dizer a mesma coisa, com este raciocnio: 1) o homem sabe que mortal; 2) esse destino o faz pensar; 3) se no conseguir negar a morte, nem aceitar a existncia no alm, surge uma reao de angustiado desespero;
49
4) nasce o medo de tudo o que possa apressar o seu fim (medo das privaes, da hostilidade, da doena); 5) passa a querer acumular tudo que representar resguardo da morte (riqueza, segurana, fama etc); 6) aqueles que quiserem disputar ou compartilhar com ele esses bens, geram nele o dio. Ora, quem teme o nada tem necessidade de tudo. Logo, medo, avidez, dio, so caractersticas de quem vive no desespero. Essas pessoas do um jeito de introduzir o mal-estar da morte em cada momento da vida, inclusive em seus maiores prazeres. Qual seria a alternativa? Eis o pensamento de Savater: 1) to certo quanto a morte o fato de agora estar vivo; 2) a morte no ser, nem estar, de nenhum modo, em nenhum lugar; 3) ento j derrotamos a morte pelo menos uma vez - e na vez decisiva - nascendo; 4) nunca haver morte eterna para ns, uma vez que j estamos vivos, ainda vivos. Savater prossegue:
A certeza gloriosa de nossa vida no poder ser apagada, nem obscurecida, pela certeza da morte. Por que para ns deveria contar mais a morte em que no somos, do que a vida em que somos?
Como se verificou no histrico da tica, uma das maiores dificuldades dos filsofos tem sido conceitu-la, tornando aceito um modo de viver que, se no puder ser universal, pelo menos oferea um sentido para a vida entre humanos. Mas o que seria exatamente dar um sentido vida? As coisas podem ter sentido? Eis a opinio de Savater (2001, p. 211-212) sobre este assunto. Uma coisa tem sentido quando ela quer significar algo por meio de outra coisa.
50
Dito de outra forma: tem sentido uma coisa quando ela foi concebida com determinado fim. Por exemplo, o sentido de uma palavra ou de uma frase o seu significado, o que ela quer dizer. O sentido de um sinal o que ele quer avisar ou indicar (direo, hierarquia). O sentido de um objeto aquilo para o que ele serve. O sentido de uma obra de arte aquilo que seu autor quis expressar (a representao do real, a insatisfao frente ao real). O sentido de uma conduta, ou de uma instituio aquilo que se quer conseguir por meio dela (amor, segurana, ordem, justia). Em todos esses casos, o que determina o sentido de alguma coisa a inteno que anima esta coisa. Os smbolos, obras, condutas, instituies humanas, esto carregados dos sentidos que nossas intenes lhes conferem. Os comportamentos dos animais, e at os tropismos das plantas ou dos ciliados tambm tm um sentido, isto , uma inteno. A inteno est, assim, ligada vida, conservando a vida, reproduzindo-a, diversificando-a. Onde no h vida, tambm deixa de haver inteno e, portanto, no h sentido. Podemos explicar as causas de uma inundao, de um amanhecer, mas no seu sentido. Ora, se as intenes vitais so a nica resposta inteligvel pergunta pelo sentido, como poderia a prpria vida ter sentido? Se todas as intenes remetem vida como ltima referncia, que inteno poderia ter a prpria vida em seu conjunto? Vimos que prprio do sentido de alguma coisa remeter intencionalmente a outra coisa que no a si mesma mas aos propsitos do sujeito, seus instintos; em ltima instncia autoconservao, auto-regulao e propagao... da vida!
51
Se pudssemos perguntar o que a vida quer? A nica resposta possvel seria viver, viver mais, o que nos leva de volta prpria vida, sobre a qual estamos perguntando. Ento, para encontrar o sentido da vida deveramos buscar outra coisa, algo que no seja a vida, e nem esteja vivo, isto , algo alm da vida (metafsico). Suponhamos a seguinte resposta: o sentido da vida orgnica o perptuo desdobramento do universo inorgnico, do qual brotou. Conceder intenes ao inorgnico bastante enganoso, mas vamos admiti-lo, para efeito de discusso. Qual seria o sentido do universo inorgnico? Seria preciso responder de modo no auto-referente. Por exemplo, a inteno do universo continuar sendo universo cada vez mais uma resposta auto-referente. Seria necessrio fazer meno a algo que no faa parte do prprio universo, ou seja, no faa parte da natureza, algo sobrenatural, isto , apelar para o desconhecido, j que ningum sabe como seria algo sobrenatural. Witgenstein no seu Tractatus logicophilosophicus diz que o sentido do mundo deve encontrar-se fora do mundo, e nisto tem razo. Mas, o mundo tem um fora? O sentido do mundo termina onde termina o mundo, ou pode-se ir mais alm? Surge aqui e agora uma nova questo, fundamental para a tica como orientadora da conduta humana. Como a vida no tem sentido, devemos concluir que a vida absurda? Savater diz que, certamente, no. Absurdo seria uma coisa estar obrigada a ter sentido e, ainda assim, no t-lo. Aquilo que est fora do mbito das intenes no deve mesmo ter sentido. Por exemplo, podemos dizer que um homem ou um animal cego j que, pela sua condio natural, deveriam ver. Mas no podemos dizer que uma pedra cega a no ser metaforicamente porque a viso no faz parte do que poderamos pedir a uma pedra.
52
No absurdo que a vida em seu conjunto no tenha sentido, uma vez que no conhecemos intenes fora das intenes vitais, isto , fora do que esteja vivo. Mais ainda, fora do intencional a pergunta pelo sentido... no faz sentido. O absurdo no a vida carecer de sentido, mas nos empenharmos em que ela deva telo. Na verdade, a busca de um sentido para a vida no se refere a qualquer forma de vida em geral, nem ao mundo num sentido abstrato, mas vida humana, e ao mundo no qual habitamos e sofremos. Ao perguntarmos se a vida tem sentido, o que queremos realmente saber se nossos esforos morais sero recompensados, se vale a pena trabalhar honradamente e respeitar o prximo, ou se daria na mesma entregar-se a vcios criminosos, em suma, se nos espera algo alm e fora da vida. No final da sua Crtica do Juzo Kant fala do homem reto que tem convico de que no h Deus, nem existe vida futura. Cita como exemplo Spinoza. Como este homem se arranja para justificar seu compromisso moral? Ele e todos os demais homens justos sero tratados pela natureza com total imparcialidade, isto , do mesmo modo que os maus. Estaro submetidos a todos os males da misria e das doenas, exatamente como os demais animais da terra, at afundar no abismo do caos informe da matria, de onde foram tirados (retos ou no, d no mesmo). Para Kant, a nica defesa que resta pessoa decente para salvaguardar sua retido e no a considerar intil aceitar a existncia de um Deus criador moral do mundo, garantindo assim um sentido ultramundano e feliz para a boa vontade to tristemente retribuda aqui em baixo. O ponto de vista de Savater (2001, p. 212) sobre esta questo o seguinte: J se viu que o sentido do mundo deve estar fora do mundo (Wittgenstein), isto , mais alm de onde termina o mundo. Poderamos dizer que a onde est Deus, que o
53
sentido da vida e do mundo, ou seja, a primeira inteno do universo. Esta uma perspectiva religiosa, que se ope diretamente mentalidade puramente filosfica. Mas o que caracteriza a mentalidade religiosa no responder que Deus o sentido ou a inteno do universo. O que propriamente religioso crer que, dada esta resposta, j est justificado deixar de perguntar. As coisas, ento, graas a Deus12, tm sentido, mas seria impiedoso perguntar, que sentido tem Deus? Do ponto de vista estritamente filosfico, perguntar pelo sentido de Deus to razovel e urgente quanto perguntar pelo sentido do mundo ou da vida. Alguns diriam que esta pergunta no pode ser feita; outros diriam que suportvel no lhe responder, porque Deus o sentido e alm Dele a pequenez humana nada pode saber. Mas ento, teria dado no mesmo nos conformarmos muito antes. Aceitar que Deus seja o Sentido Supremo13, o que d Sentido a todos os Sentidos, do ponto de vista filosfico um pacto ainda mais conformista com a escurido do que responder que o sentido de todos os sentidos a intencionalidade vital, isto , a inteno humana. Na perspectiva estritamente filosfica h razes para no ampliar para alm da vida a pergunta sobre o sentido, isto , para alm do uso habitual da palavra inteno. Mas, se transpusermos esta barreira, no h porque se deter, nem se contentar, nunca. Portanto, o carter religioso no est tanto em querer ir alm, mas em crer que depois seja justificado frear. Em funo do que foi visto at aqui, poderamos perguntar: vale a pena viver? Novamente Savater (2002, p. 173) quem responde, citando Samuel Butler, escritor ingls: Esta uma pergunta para um embrio, no para um homem.
12
Com esta expresso Savater quis, certamente, referir-se ao fato de que, admitindo-se a existncia de Deus, as coisas passam a ter sentido. 13 As letras maisculas so de autoria de Savater.
54
Savater justifica este pensamento. Qualquer critrio que se utilize para responder a esta pergunta dever ser extrado da prpria vida, na qual voc est mergulhado. Mesmo ao rejeitar a vida, voc o far em nome de valores vitais, de ideais ou iluses (que no conseguiu realizar). Esses valores foram apreendidos durante o ofcio de viver. O que vale a vida, inclusive para quem chega concluso de que no vale a pena viver. Mais razovel seria perguntar se a morte vale a pena, uma vez que todo nosso saber e tudo aquilo que tem algum valor para ns provm da vida. Toda tica digna desse nome parte da vida e se prope a refor-la, a torn-la mais rica. Talvez somente seja bom aquele que sente uma antipatia ativa pela morte. Antipatia, no medo. Um ponto marcante na tica de Savater (2001, p. 14) o momento em que afirma:
Quando o ser humano constata sua presena na vida ele se exalta. Essa constatao exaltada o que chamamos de alegria. A alegria afirma e assume a vida em face da morte e do desespero; celebra a prpria vida, no seus contedos concretos; no a morte, no no, mas sim; tudo em face do nada; no puro xtase, atividade, luta contra o mal-estar desesperado da morte que nos infecta de medo, avidez e dio. A alegria nunca poder triunfar completamente sobre o desespero, pois dentro de ns coexistem o desespero e a alegria. Mas a alegria tambm no se render ao desespero. O desespero s conhece o nada que ameaa cada um, mas a alegria busca apoio e estende sua simpatia ativa a nossos semelhantes, os mortais vivos. A sociedade o lao formado por milhares de cumplicidades, que une aqueles que sabem que vo morrer para juntos afirmar a presena da vida.
Eis a opinio de Savater (2002, p. 174-175) sobre a morte:
Desconfio de tudo o que se deva obter graas morte, aceitando-a, utilizando-a, afagando-lhe as mos. O que me interessa no se h vida depois da morte, mas que haja vida antes da morte, e que essa vida seja boa14, no simples sobrevivncia, ou medo constante de morrer. A pergunta
14
Savater aqui se refere a uma vida eticamente boa. Este assunto ser abordado logo adiante.
55
realmente importante , pois, como viver melhor? A resposta preciso procur-la pessoalmente, porque muito difcil, seno impossvel, encontrar um professor competente.
Viver no uma cincia exata, uma arte. O que se pode ensinar bem recebido por quem tem condies, mas para o surdo de nascena so coisas que o aborrecem ou o deixam mais confuso do que j est. A vida boa s se faz sob medida. Cada um a inventa gradualmente, conforme sua individualidade nica, irrepetvel e frgil. A sabedoria ou o exemplo dos outros podem nos ajudar, mas no nos substituir.
3.8 A tica e a vida boa.
El ojo que ves no es ojo porque t lo veas; es ojo porque te ve. (Antonio Machado)
A primeira e indispensvel condio tica estar decidido a no viver de qualquer modo. Nem tudo d na mesma. Talvez a verdadeira chave esteja em tentar compreender porque certos comportamentos nos convm, e outros no, para que serve a vida, o que pode torn-la boa para ns, seres humanos (SAVATER, 2002, p. 92). Segundo Savater (2002, p. 71-73), a tica no mais que a tentativa racional de averiguar como viver melhor. s vezes queremos coisas contraditrias porque no sabemos o que queremos de verdade. Ento, preciso estabelecer uma hierarquia entre a vontade imediata e a vontade em longo prazo, isto , estabelecer prioridades. Porque a vontade em longo prazo pode ser mais importante? A vida feita de tempo. Nosso presente cheio de recordaes e esperanas.Abrir mo do ontem e do amanh para viver somente os prazeres imediatos abrir mo da vida.
56
Surge ento a sombra da morte, o desnimo produzido pela brevidade da vida, e passamos a acreditar que a vida no vale a pena, tudo d na mesma. Mas o que faz com que tudo d na mesma no a vida, a morte, que passa a nos hipnotizar. Vale a pena interessar-se pela tica porque gostamos da vida boa. Talvez o homem seja mau por esperar morrer durante toda a vida. Assim, morre mil vezes na morte dos outros, e das coisas.15 Um homem livre em nada pensa menos do que na morte, e sua sabedoria no uma meditao sobre a morte, mas sobre a vida" (Spinoza, tica). Vimos, anteriormente, que aquilo que a tica pretende, em ltima anlise, uma vida boa, fundamentada na liberdade. Uma regra do tipo faa o que quiser, como pode ser justificada? Savater (2002, p. 69-62) quem explica. Faa o que quiser, como lema fundamental da tica, significa ignorar tudo que, vindo de fora, queira nos dirigir. Significa considerar (respeitar) o foro ntimo de nossa vontade, significa interrogar a prpria liberdade. A contradio desse lema apenas um reflexo do problema essencial da liberdade, isto , no temos liberdade para escolhermos no sermos livres. Estamos, como diria Sartre, condenados liberdade. Faa o que quiser uma forma de dizer leve a srio o problema de sua liberdade. Ser humano , principalmente ter relaes com outros seres humanos. No podemos querer as coisas s custas das relaes com as pessoas, pois muito poucas coisas mantm sua graa na solido. A vida boa humana vida boa entre seres humanos. Caso contrrio, poder at ser vida, mas no ser boa, nem humana.
15
Tony Duvert, Abecedrio malvolo, citado por Savater.
57
Da querermos ser tratados como humanos, pois a humanidade depende bastante do que fazemos uns aos outros. O homem no apenas uma realidade biolgica, natural, mas tambm uma realidade cultural. No h humanidade sem aprendizagem cultural. A base de qualquer cultura a linguagem. pela linguagem que captamos os significado daquilo que nos cerca. Aprendemos sozinhos a comer ou urinar, mas ningum aprende sozinho a falar. A linguagem no uma funo natural e biolgica do homem; uma criao cultural que herdamos e aprendemos de outros homens. um valor em si16. Por isso, falar com algum e escut-lo trat-lo como pessoa. Portanto, a humanizao um processo recproco. Para que outros possam fazer-me humano, tenho de os fazer humano. Se para mim todas as pessoas so como coisas, ou animais, eu tambm no serei mais do que uma coisa ou animal. Dar-se uma vida boa no pode ser muito diferente de dar uma vida boa. Noutra obra Savater (2002, p. 84) relaciona a vida boa com a justia e a dignidade. Um princpio bsico da vida boa, diz ele, tratar as pessoas como pessoas, isto , colocar-se no lugar do outro e relativizar nossos interesses para harmoniz-los com os interesses do outro. Dito de outra maneira trata-se de considerar os interesses dos outros como se fossem nossos, e vice-versa (Princpio da Igual Considerao de Interesses). Essa virtude se chama justia. condio que permite exigir que cada um seja tratado como semelhante, independentemente do sexo, cor, idias etc, chamamos de dignidade. Dignidade uma condio que todos temos em comum, mas o que serve para reconhecer cada um como nico e irrepetvel.
16
Mais adiante ser tratada a questo dos valores.
58
Coisas podem ser trocadas umas pelas outras, ou substitudas. Coisas tm preo. Algumas so to vinculadas existncia humana que passam a ser insubstituveis, como certas obras de arte, ou certos aspectos da natureza, mas todo ser humano tem dignidade e no tem preo, isto , no pode ser substitudo por outra personalidade, nem pode ser mal tratado, mesmo quando inimigo poltico, ou castigado pela lei. A guerra representa o maior fracasso da inteno da vida boa em comum. Ela representa, na verdade, um crime organizado, pois mesmo na guerra existem comportamentos que supem um crime maior que a prpria guerra porque afetam a dignidade humana, j que cada um nico e no intercambivel, com os mesmos direitos ao reconhecimento social. Segundo Savater (2001, p. 147):
Ningum chega a se tornar humano se est sozinho. Ns nos fazemos humanos uns com os outros. Fomos contagiados por nossas palavras. A humanidade nos foi passada boca a boca, pela palavra, mas bem antes ainda, pelo olhar. Lemos nossa humanidade no olhar de nossos pais. um olhar que contm amor, preocupao, censura ou zombaria, isto , significados que nos tiram de nossa insignificncia natural para tornar-nos humanamente significativos.
Um autor contemporneo (Tzvetan Todorov apud SAVATER, 2001) expressa-se assim:
A criana procura captar o olhar de sua me, no s para ser alimentada ou reconfortada... mas para confirmar sua existncia [...]. O pai (ou a me) e o filho podem olhar-se nos olhos longamente. Isso seria uma completa exceo entre adultos. Um olhar mtuo de mais de dez segundos no pode significar mais do que duas coisas: que as duas pessoas vo brigar ou vo fazer amor.
Mas esta convivncia tem, tambm, o seu lado problemtico. Sobre isso Savater (2001, p. 148-149) nos diz que a convivncia social sempre dolorosa. No seramos o que somos sem os outros, mas custa-nos ser com os outros. (grifei) Talvez a convivncia seja importante demais. Esperamos demais dela, temos medo demais dela, incomoda-nos precisar tanto dela.
59
Temos de assumir que os seres de quem tanto dependemos tm sua prpria vontade, que nem sempre obedece nossa (vontade). Um dia choramos, e a me demora a vir. Isso nos prepara, fora, para um dia mais distante, em que choraremos e a me no vir mais. Por isso Sartre, em seu drama Huisclos (Entre Quatro Paredes) cunhou uma sentena clebre: O inferno so os outros. O paraso seria a solido, ou o isolamento (que no so a mesma coisa17). Nas sociedades tradicionais do passado havia uma comunidade de sentido que o individualismo moderno destruiu. Assim, a incomunicao transformou-se num tema das mais diversas obras modernas, como uma queixa dessa perda (do sentido comum da vida). Outras vezes a queixa vem do prprio individualismo, que se considera incompreendido pelos outros, no que tem de nico e especial. Outros se rebelam contra as limitaes que a convivncia impe nossa liberdade pessoal. Nunca somos o que realmente queremos ser, mas o que os outros exigem que sejamos. Da as estratgias para que o coletivo no devore totalmente nossa intimidade: colaboremos com a sociedade enquanto nos for vantajoso, e saibamos nos dissociar dela quando nos for oportuno.
3.9 possvel viver em sociedade e ser tico?
O homem parece ser o nico animal que pode ficar descontente consigo mesmo. (Fernando Savater)
17
O comentrio entre parnteses de Savater.
60
Sartre teria razo quando afirma que os outros so o inferno? A nossa liberdade tolhida pelos outros? Pelas instituies? Savater (2001, p. 151) diz que no. Mas tem sentido falar em liberdade sem referncia responsabilidade, isto , nossa relao com os outros? E com relao s instituies, no so justamente elas que nos revelam que somos livres para obedecer-lhes ou desafi-las, ou para estabelec-las, ou revog-las? Portanto, todos os protestos contra as formas efetivas de qualquer sociedade atual no anulam o fato de que somos humanamente configurados para e por nossos semelhantes. nosso destino de seres lingsticos, isto , simblicos. Ao nascermos somos capazes de humanidade, mas s atualizamos esta capacidade quando gozamos ou sofremos a relao com os demais, que por certo nunca so demais, isto , suprfluos ou meros impedimentos, pois nossa individualidade s se afirma entre eles. Por pior que seja a nossa relao com os outros, nunca ser to aniquiladora quanto a ausncia total de relao. O psiclogo William James18 esclarece ainda mais:
O eu social do homem o reconhecimento que ele obtm de seus semelhantes. Alm de animais gregrios (gostamos da proximidade de nossos companheiros), temos uma tendncia inata a nos fazer conhecer, com aprovao, pelos de nossa espcie. Nenhum castigo seria mais diablico, se fosse fisicamente possvel, do que nos ver na sociedade totalmente despercebidos por todos os membros que a compem.
Na mesma obra, Savater diz que:
Por no entender esses fatos, a filosofia e a literatura contemporneas esto cheias de lamentos sobre a carga que nos impe viver em sociedade, as frustraes que a nossa condio social nos acarreta e os preservativos que podemos usar para padec-las o menos possvel.
Noutro trabalho Savater (2002, p. 84) esse autor mostra, de maneira indireta, como possvel viver em sociedade e ser tico:
Todos os quereres ligados a um nico aspecto da realidade (por exemplo, dinheiro) no tm perspectiva de conjunto. So, por assim dizer, quereres simples. A morte uma grande simplificadora. Perto dela, poucas coisas
18
Citado por Savater (2002).
61
importam. Entretanto, a vida sempre complexidade. Evitar todas as complicaes e buscar a grande simplicidade no viver mais e melhor, querer morrer de uma vez. A maior complexidade da vida justamente o fato de as pessoas no serem coisas. As coisas que temos tambm nos tm. O que possumos, nos possui. Os seres humanos necessitam de coisas que as coisas no tm, isto , amizade, respeito, amor; em suma, a cumplicidade fundamental, que s se d entre iguais. As pessoas no nos possuem, como as coisas. Elas podem nos devolver o que s uma pessoa pode dar outra: afeto sincero, carinho espontneo, ou simples companhia inteligente.
Numa alegoria muito interessante, na mesma obra Savater (2002) mostra claramente porque algumas pessoas tornam possvel viver em sociedade e ser tico, enquanto outras fazem exatamente o contrrio. Quem nasceu para rato e quem nasceu para leo? As perguntas que cada um faz e as diferenas. Rato: O que acontecer comigo?. Leo: O que farei?. Rato: Quer obrigar os outros a gostarem dele para ser capaz de gostar de si mesmo. Leo: Gosta de si mesmo e, por isto, capaz de gostar dos outros. Rato: Faz qualquer coisa contra os outros para prevenir o que os outros possam fazer contra ele. Leo: Faz, a favor de si mesmo, tudo o que faz a favor dos outros. Concluso: para o leo est muito claro que, ao tentar prejudicar meu semelhante, o primeiro prejudicado serei justamente eu mesmo. Para algumas pessoas impossvel viver em sociedade e ser tico, porque preciso lutar para sobreviver e, pelas leis da evoluo, sobrevive o mais forte. Savater comenta, a propsito, que alguns hereges do Darwinismo (SAVATER, 2001, p. 134-135), como Francis Galton um primo de Darwin que inventou a eugenia, posta em prtica pelos nazistas e Herbert Spencer, filsofo social, ultra-individualista radical, defendem a idia de que a sociedade humana deveria deixar que cada um demonstrasse o que vale, sem levantar os cados nem subvencionar os torpes.
62
Entretanto Darwin, em A ascendncia do homem,19 sustenta algo muito diferente. Segundo ele, foi a prpria seleo natural que favoreceu o desenvolvimento dos instintos sociais, em especial a simpatia e a compaixo entre os semelhantes, nos quais se baseia a civilizao humana, ou seja, o xito vital de nossa espcie. Para Darwin, a prpria seleo natural que desemboca na seleo de uma forma de convivncia (grifei) que, aparentemente contradiz a funo da luta pela vida em outras espcies, mas que apresenta vantagens de ordem j no meramente biolgica, mas social. Para Savater o que nos faz naturalmente mais fortes, como conjunto humano, a tendncia instintiva a proteger os indivduos fracos, ou circunstancialmente desfavorecidos, em face dos biologicamente mais potentes. E continua:
A sociedade e suas leis artificiais so o verdadeiro resultado natural da evoluo da nossa espcie. Antinatural seria recair na luta pela vida nua e crua, na qual prevalece a simples fora biolgica ou seus equivalentes modernos como, por exemplo, a habilidade para acumular recursos econmicos e polticos, que deveriam estar distribudos de modo socialmente mais equilibrado.
, sim, possvel viver em sociedade e ser tico, porque algumas manifestaes humanas so muito caractersticas de nossa espcie. Savater (2001, p. 166-167) est se referindo a coisas que fazemos pensando nos outros, isto , ao ato de compartilhar. Quando outros no esto presentes, ns at os chamamos por meio de nossas aes. Por exemplo: rir. O humor um aceno em busca de companheiros vitais que possam compartilhar conosco o surgimento prazeroso e, s vezes, demolidor das coisas sem sentido dentro da ordem rotineira dos significados j estabelecidos. Nada to socivel, nem une tanto, como o senso de humor. Quando as pessoas esto se divertindo, esto reconhecendo-se uns aos outros. At quem ri sozinho est espera das almas gmeas que podem unir-se a ele para rir.
19
Citado por Savater (2001).
63
Muitas amizades, e no poucos amores, comeam quando duas pessoas entendem uma piada que escapa aos outros (cumplicidade). Outro exemplo: a criao esttica e seus prazeres no podem ser entendidos adequadamente se no forem compartilhados. Quando descobrimos algo bonito, a primeira coisa que fazemos procurar algum que possa desfrut-la conosco. As crianas pequenas passam a vida puxando os adultos pela manga para lhes mostrar as pequenas maravilhas que os grandes, s vezes, so estpidos demais para apreciar o quanto valem. Mas vamos admitir, para efeito de debate, que realmente no fosse possvel viver eticamente em sociedade porque s vezes tratamos os outros como pessoas e s recebemos coices, traies e abusos. Mesmo assim, diz Savater (2002, p. 89) "pelo menos contamos com o respeito de uma pessoa: ns mesmos. No transformando os outros em coisas, defendemos nosso direito de no ser coisa para os outros. Tentamos fazer possvel o mundo das pessoas".
3.10 Interesse pessoal na tica
... pois seria uma alma muito grosseira a que se considerasse perfeitamente feliz por desfrutar de segurana e tranqilidade. (Stendhal)
Seria possvel justificar a tica em termos do interesse pessoal? F. H. Bradley apud Singer (1998, p. 340), diz que Sempre que recomendamos a tica em nome de seus prazeres, aos que no a amam por si mesma, estamos abandonando um ponto de vista moral e prostituindo a virtude. Singer (1998, p. 340) explica que:
em outras palavras, no podemos levar as pessoas a agir moralmente em funo de interesses pessoais, simplesmente porque no estaro agindo moralmente, mas por interesses pessoais. Isto significaria entender mal tudo aquilo de que trata a tica.
64
Mas Singer (1998, p. 343) no exclui a possibilidade de que o interesse pessoal seja um motivo para ser tico:
Nas situaes cotidianas simplesmente posso assumir que fazer o que certo faz parte dos meus interesses. Assim, se tiver decidido o que certo, vou seguir em frente sem perguntar por novas razes que me levem a faz-lo. Se, em cada caso, perguntar-me sobre as razes fundamentais para fazer o que certo, estarei complicando minha vida de uma maneira impossvel. Alm disso, posso estar influenciado momentaneamente por desejos e inclinaes muito fortes e posso vir, mais tarde, a arrepender-me. Uma justificao da tica em termos do interesse pessoal deveria funcionar assim, sem destruir o seu prprio objetivo.
Savater (2002, p. 131-133) concorda com este ponto de vista e o expe assim:
Interesse vem do latim: inter esse, aquilo que est entre vrios, aquilo que coloca vrios em relao. Relativizar seu interesse significa que esse interesse no algo exclusivamente seu, mas algo que coloca voc em contato com outras realidades, to de verdade quanto voc mesmo. Todos seus interesses so relativos, exceto um, que absoluto: o interesse de ser humano entre os humanos, de dar e receber o tratamento de humanidade, sem o qual no pode haver vida boa. Ento, nada pode ser to interessante quanto a capacidade de colocar-se em lugar daqueles com quem seu interesse est relacionado, pois alm de atender s razes deles, podemos, de algum modo, participar de suas paixes e sentimentos, de suas dores, anseios e prazeres. Simpatia vem do grego sumptheia20, participao no sofrimento do outro, aquilo que se experimenta junto (paixes da alma ou doenas). Compaixo vem do latim, compassio, onis, sofrimento comum, opinies comuns, sentimentos comuns. Isso no significa sempre dar razo ao outro, nem se comportar de maneira idntica, e muito menos afastar o outro para ocupar seu lugar. O primeiro dos direitos humanos o direto a no sermos fotocpias, mas a sermos excepcionais.
Esses argumentos seriam suficientes para conseguir uma conscincia moral? Savater (2002, p. 100) acha que no.
Certas pessoas, desde pequenas, tm um ouvido tico melhor que outras, um bom gosto moral espontneo, que pode se afirmar e desenvolver com a prtica. Outros so absolutamente desprovidos disto. Para se chegar a ter uma conscincia moral so necessrias algumas qualidades inatas, mas tambm certos requisitos sociais e econmicos. Nem todos tm a mesma facilidade para entender a questo da vida boa se no foram tratados humanamente. Concedido um mnimo de condies, o resto depende da ateno e do esforo de cada um.
20
Sn = juntamente + pthos = doena
65
Para o mesmo autor (2002, p. 102-106) a palavra egosmo tem m reputao porque est associada imbecilidade moral.21 Chamamos de egosta a quem s pensa em si mesmo. Entretanto, possvel ser egosta sem ser um imbecil moral. Basta querer o melhor para si mesmo, e o melhor uma vida humanamente boa. Quem trata as pessoas como coisas perde as compensaes humanas mais desejveis da vida, como o carinho sincero dos outros, ou sua amizade desinteressada. O imbecil moral pensa que viver rodeado de pnico e crueldade melhor do que amor e gratido porque no tem conscincia, isto , no pensa em si mesmo. Se o fizesse, perceberia que para viver bem necessitamos de algo que s outros seres humanos podem nos dar (quando ganhamos esse algo). impossvel roubar esse algo (respeito, amizade, amor) atravs da fora ou de enganos. O egosta conseqente aquele que sabe, de verdade, o que lhe convm para viver bem. O egosta que se farta de tudo o que no lhe convm, no fundo, gostaria de ser egosta, mas no sabe, pois no ama a si mesmo, e acaba sendo o seu prprio pior inimigo, num sofrimento constante para seu amor prprio. Perde o nico amor que julga seguro: o seu prprio. Savater, ento, pergunta: Podemos chamar de egosta quem fere tanto a si mesmo?.
3.11 A discrdia na sociedade
No, no so abundantes os lobos ferozes, e os que h no representam o maior risco para a concrdia humana; o verdadeiro perigo provm, em geral, das ovelhas raivosas... (Fernando Savater)
21
A imbecilidade moral ser discutida mais adiante.
66
Apesar da nossa natureza humana exigir tanto a companhia de outro ser humano, a discrdia social um fato concreto. Seria fruto de nossa irracionalidade? Savater (2001, p. 155-157) acredita que no. A discrdia no existe porque somos irracionais ou violentos por natureza. Ao contrrio, por sermos racionais que somos capazes de calcular nosso benefcio e decidimos no aceitar nenhum pacto do qual no saiamos claramente ganhadores. Por sermos racionais nos aproveitamos dos outros e desconfiamos do prximo, supondo que ele se comportar da mesma forma. Mas a razo tambm pode ser usada para nos mostrar que nada nos traria tanto benefcio quanto conviver com pessoas leais e solidrias diante da desgraa alheia. O problema que sempre perguntamos: e se os outros no se deram conta disso? Eles que comecem; eu me comprometo a pagar-lhes na mesma moeda. Vivemos num mundo tremendamente racional, mas muito pouco razovel. No somos espontaneamente violentos ou anti-sociais; pelo menos no tanto quanto seria de se esperar. queles a quem o resto da sociedade trata como animais, surpreendentemente, se empenham em continuar sociveis, at aqueles que menos proveito tiram da sociedade. Na verdade os grandes enfrentamentos no so protagonizados por indivduos pessoalmente violentos, mas por grupos de indivduos disciplinados e obedientes. No so violentos por razes anti-sociais, mas por excesso de sociabilidade. Tm tanto anseio de normalidade, de se parecer o mais possvel com o grupo, de conservar a identidade com o grupo, a qualquer custo, que ficam dispostos a exterminar os diferentes, os forasteiros, os de crena ou hbitos estranhos, todos os que ameaam os interesses legtimos, ou abusivos, do prprio rebanho. Ento, porque h discrdia?
67
As mesmas razes que nos aproxima podem tornar-nos inimigos.Somos muito parecidos uns com os outros e, em geral, queremos todos, aproximadamente, as mesmas coisas essenciais: reconhecimento, companhia, proteo, abundncia, diverso, segurana... Somos to parecidos que muitas vezes desejamos as mesmas coisas, materiais ou simblicas, ao mesmo tempo, e passamos a disput-las entre ns. A tal ponto somos gregrios e conformistas22, que desejamos certos bens s porque vemos que outros tambm o desejam. A mesma coisa que nos une, tambm nos ope. Vimos que interesse vem do latim inter esse, o que est no meio, entre duas pessoas ou grupos. Mas o que est no meio pode unir ou separar. s vezes aproxima os distantes (s junto de voc posso obter o que busco); outras, coloca os diferentes em oposio (quero o que voc quer e, se for para voc, no poder ser para mim). A sociabilidade dos interesses humanos faz que tenhamos necessidade de viver em sociedade, mas tambm, muitas vezes, que a concrdia social seja impossvel.
3.12 A questo da verdade
A verdade grande, mas maior ainda, do ponto de vista prtico, o silncio sobre a verdade. (Aldous Huxley; prefcio para Admirvel Mundo Novo)
Hoje em dia considera-se correto que cada um tenha direito s suas prprias opinies. Buscar a verdade no a minha verdade, nem a sua - considerado uma pretenso dogmtica, quase totalitria. Em outras palavras, foi estabelecida uma relao entre a igualdade democrtica e a capacidade de argumentar. Esta relao correta? Savater (2001, p. 43-44) argumenta assim.
22
Savater usou o termo conformista com o significado de aquele que se conforma com os usos, costumes, idias e tradies da maioria do grupo em que vive.
68
Para a democracia no h homens que nascem para mandar e outros para obedecer.Todos nascem com capacidade de pensar, isto , com direito poltico de intervir na gesto da comunidade. Mas para que sejamos politicamente iguais imprescindvel que nem todas as opinies sejam iguais. preciso que exista algum meio de hierarquizar as idias numa sociedade no hierrquica, potencializando as idias mais adequadas e descartando as errneas ou daninhas, isto , buscando a Verdade23. essa justamente, a misso da razo. Antigamente quem estabelecia as verdades sociais eram os deuses, a tradio, os soberanos. Mas, na sociedade democrtica, a opinio de cada um no uma fortaleza ou um castelo para nos encerrarmos, como forma de auto-afirmao pessoal. Ter uma opinio no ter uma propriedade que ningum tem o direito de nos arrebatar. Oferecemos nossa opinio aos outros para que a debatam e a aceitem, ou refutem, no para que fiquem sabendo onde estamos ou quem somos. claro que nem todas as opinies so igualmente vlidas, mas se no quisermos que sejam os deuses, ou homens privilegiados que usurpem a autoridade social, isto , que decidam qual a Verdade que convm comunidade, s nos resta submeter-nos autoridade da razo. Mesmo assim, a razo no um rbitro semidivino, acima de ns, para resolver nossas disputas. Ela funciona dentro de ns e entre ns. Alm disso, no basta exercer a razo. preciso desenvolver a capacidade de sermos convencidos pelas melhores razes.
23
Savater utiliza a palavra verdade com letras minsculas. Utilizo Verdade com maiscula para diferen-la, neste texto, da verdade de cada um.
69
Quem considera humilhante ser persuadido por razes opostas no est acatando a autoridade democrtica da razo. Em outras palavras: no basta ser racional; no menos imprescindvel ser razovel. A partir da perspectiva racionalista, a Verdade que se busca sempre um resultado, no um ponto de partida. Essa busca inclui conversao entre iguais, polmica, debate, controvrsia, no como afirmao da prpria subjetividade, mas como caminho para alcanar uma Verdade objetiva, atravs das mltiplas subjetividades. Quando sabemos argumentar, mas no sabemos nos deixar persuadir, preciso um chefe, um deus, um grande especialista que decida o que verdadeiro para todos. Para Savater (2001, p. 40-42) os partidrios da Revelao, ou da Viso imediata, acreditam que a Verdade Absoluta se revela a ns atravs de mestres sobre-humanos: deuses, ancestrais inspirados, ou sob alguma forma privilegiada de viso, ou por meio de intuies no racionais, sentimentos, ou paixes. No entanto, esse acesso Verdade como que um privilgio de alguns. Essa Verdade deve ser aceita em bloco, inquestionada, no submetida s dvidas e objees da razo. A revelao escolhe alguns. A razo pode ser escolhida por qualquer um. Pode-se fingir uma revelao. No se pode fingir o exerccio racional. A razo um servio intelectual pblico: um nibus. A revelao um veculo particular, muito veloz, mas que talvez no saia de onde est. Qualquer um pode repetir o exerccio racional conosco, ou em nosso lugar. No h concluso racional se outro no puder seguir pelo menos nosso raciocnio e compartilh-lo, ou apontar seus erros. A razo tem relevantes conseqncias polticas, ou seja, todo raciocnio social, porque reproduz o procedimento de perguntas e respostas que empregamos para o debate com os outros.
70
Ento, com nossos toscos meios sensoriais e intelectuais, como poderemos alcanar o que verdadeiramente a realidade, isto , como poderemos refletir a realidade?24. Esta pergunta milenar, e a filosofia vem tentando respond-la por todo o sempre. Na mesma obra Savater (2001, p. 37) faz esta pergunta: Como um simples mamfero pode ter uma chave para interpretar o universo? A resposta de Savater uma citao de Einstein: O mais incompreensvel na natureza que ns possamos compreend-la, pelo menos em parte. Somos capazes de compreend-la porque fazemos parte dela; somos constitudos por princpios semelhantes. Nossos sentidos e nossa mente so reais e assim conseguem, bem ou mal, refletir o resto da realidade. J Kant afirma que no podemos conhecer a realidade pura, mas apenas o real como ele para ns25. Na Crtica da Razo pura, Kant afirma que "o conhecimento uma combinao entre aquilo que a realidade traz sob as formas da nossa sensibilidade e as categorias de nosso entendimento". Em outras palavras: no podemos captar as coisas em si mesmas, mas apenas como as descobrimos atravs dos sentidos (formas). A inteligncia, ento, ordena em categorias os dados fornecidos. Nosso conhecimento verdadeiro, mas incompleto, j que no vai alm do que nossas faculdades permitem. Savater (2001) diz que, daquilo que os sentidos no nos informam no podemos saber realmente nada e, quando a razo especula no vazio, sobre absolutos, como Deus, a alma, o universo, ela se atrapalha em contradies insuperveis. O pensamento abstrato, isto , ele se origina de snteses sucessivas a partir de nossos dados sensoriais, agrupando as caractersticas intelectualmente relevantes daquilo que diverso.
24
A palavra reflexo est usada no sentido de mostrar, deixar ver, revelar, exprimir, como por exemplo, em os olhos da moa refletiam sua decepo, ou esta verso no reflete a realidade dos fatos. Houais, Antnio. Dicionrio Houais da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 25 Citado por Savater, na obra mencionada.
71
Por exemplo: sintetizamos todas as cidades que conhecemos para obter o conceito cidade; das mil formas de sofrimento conhecidas sintetizamos o conceito de dor, e assim por diante. Pensar ir da sntese aos dados concretos particulares (at aos casos individuais) e vice-versa, sem nunca perder o contato com o experimentado. Essa a Verdade que conseguimos captar, na viso de Savater. Ele afirma que esta explicao j est, de algum modo, presente em Aristteles e, sobretudo, em Locke, mas o notvel do genial esforo de Kant ele tentar salvar ao mesmo tempo os receios do cepticismo e a realidade efetiva de nossos conhecimentos, tal como se manifestam na cincia moderna. Segundo Enrique Rojas (2000, p. 25, 27, 2), a idia de Verdade tem trs conceitos histricos: 1) conceito grego: aletheia significa aquilo que est desvelado (descoberto) e se manifesta com clareza. Refere-se especialmente ao presente. 2) conceito latino: veritas significa o que exato e rigoroso. Procede de verum, isto , o que fiel e sem omisses. Fala mais do passado. 3) conceito hebraico: emunah, deriva da raiz amem, isto , assentir com confiana. Expressa, sobretudo, o futuro. E para que serviria a Verdade? Rojas responde que a Verdade permite o conhecimento da realidade pessoal e perifrica. Como o oposto ao saber ignorar, preciso averiguar, isto , verificar, que vem do latim, verum facere, ou seja, tornar verdadeiro, achar a verdade que necessitamos para ns mesmos. Verdade e realidade so estreitamente ligadas, mas Rojas afirma que existe uma realidade patente (em menor proporo) e uma realidade latente (escondida, camuflada),
72
com a qual no se costuma contar, e da qual emergem segmentos, pedaos, que nos mostram a verdade. A Verdade seria, ento, o objetivo do mtodo racional, isto , a finalidade ltima da razo, ou em outras palavras, a maior concordncia possvel entre o que acreditamos e o que de fato ocorre na realidade da qual fazemos parte. Razo e Verdade compartilham a mesma vocao universalista, o mesmo propsito de validez. Buscar a verdade pelo exame racional de nossos conhecimentos tentar nos aproximar o mximo que pudermos do real. Rojas (2000, p. 25) hierarquiza e classifica a verdade em vrias verses. Segundo este autor, nossas idias, crenas e opinies esto fixadas num subsolo, que nada mais do que a hierarquia das verdades, isto , a organizao, por classes, dessas verdades. Os humanos necessitam dessa hierarquia. Ela fundamentada na autoridade, nas opinies contrastadas que vamos recebendo, naquela sabedoria especial e profunda que chamamos de experincia de vida. Entre essas verdades criam-se relaes recprocas, complexas, difceis de pesquisar. Mas, talvez o mais importante, estas conexes so reguladas pelo que tem sido (passado) e pelo que (presente) a nossa vida concreta. Isto o nosso sistema de convices, o qual nos remete a uma certeza radical, da qual emergem todas as certezas do conjunto de certezas, e sobre a qual se assentam todas as demais certezas. Firmado nisso, Rojas estabelece algumas verses da Verdade. 1) a verdade da gente: uma articulao entre o passado e o presente.. Com esta verdade podemos, apoiados nos dados de que dispomos, projetar o que ser o futuro.
73
2) a verdade das coisas: uma expresso da realidade exterior. a verdade dos fatos, dos objetos, da realidade com que nos deparamos. 3) a verdade das circunstncias: aquela que nos mostra a complexidade de cada situao e o meio em que o indivduo, ou essa realidade, est imerso. 4) a verdade como coerncia: aquela que nos prope uma existncia com o menor nmero possvel de contradies. Ela vem do idealismo do sculo XIX. vida como harmonia, equilbrio entre teoria e prtica. Assim, para Rojas, a filosofia ocupa-se da Verdade, e se expressa por silogismos. A cincia procura a certeza do conhecimento, e se expressa pela linguagem matemtica. Mas nem todas as verdades so do mesmo gnero. A realidade possui dimenses diferentes. Savater (2001, p. 33-34) encara esta questo da seguinte maneira: Os diversos campos da verdade so delimitados pela razo. O sol pode ser considerado como uma estrela, ou um deus, ou como o rei do firmamento.Cada afirmao corresponde a um diferente campo da Verdade. Nem por isso cada afirmao deixa de ser racionalmente verdadeira em seu campo prprio (astronomia, mitologia, poesia). O erro seria misturar os campos, ou no distingui-los. Assim, para julgar a veracidade de um fato preciso considerar que ela varia conforme o campo de realidade que se quer conhecer, isto , cada campo exige uma veracidade diversa. Por exemplo, no campo da realidade matemtica o tipo de veracidade exigida a exatido; no campo da realidade tica, ou poltica, exige-se o rigor nos raciocnios; na poesia, a expressividade emocional, na Histria, a verossimilhana. Alm disso, existem verdades que chamaramos de convencionais. Por exemplo, fogo pode ser chamado feu, ou fire, ou feuer.
74
Outras verdades podem ter origem nos sentidos. Por exemplo, o fogo queima. O importante que se saiba que a confiabilidade necessria e suficiente em um determinado campo s vezes impossvel e at intelectualmente prejudicial em outro. A vida comporta inmeras formas de realidade. Portanto, quando desejamos passar, convenientemente, de uma forma de realidade para outra, a razo que deve nos guiar.
3.13 As decises majoritrias
Sempre enfezei ser eu mesmo. Mau, mas eu. (Oswald de Andrade, Ponta de Lana.)
O argumento democrtico a favor da obedincia tem um postulado filosfico subjacente, que exatamente esse pressuposto: devemos acatar as decises majoritrias. Singer (1998, p. 316) diz que a ascendncia da maioria no deve ser vista com exagero. O fato de a maioria apoiar, ou no, um certo ponto de vista no vai determinar se este ponto de vista , ou no, moralmente correto. Nenhum democrata correto e sensato afirmaria que a maioria est sempre correta. Se 49% de uma populao pode estar errada, o mesmo pode acontecer com os restantes 51%. Se a maioria estivesse sempre certa, ao submetermos uma questo moral a uma votao (ou eleio) seria tambm obrigatrio acreditar que o maior nmero de votos sempre aprova aquilo que certo. O errado receberia menor nmero de votos. Esta uma aposta que perderamos com muita freqncia. A Histria est cheia de exemplos. Andr Comte-Sponville (2000, p. 71-77) diz que a justia tem duas conotaes: como conformidade ao direito (jus em latim) e como igualdade, ou proporo.
75
No justo, diz a criana que tem menos que as outras, ou menos do que julga caber-lhe. Os adultos julgam injustas as diferenas demasiado gritantes das riquezas (por isso se fala de justia social), mas tambm julgam injustas as transgresses da lei. A transgresso da lei ter de ser julgada pela justia como instituio. O justo ser aquele que no viola a lei nem os interesses legtimos de outrem, isto , nem o direito em geral, nem os direitos particulares. Aristteles na sua tica a Nicmano diz que o justo aquele que s fica com a sua parte dos bens e com toda a sua parte dos males. A justia situa-se por inteiro nesse duplo respeito legalidade (na Cidade) e igualdade entre indivduos. Como legalidade a justia existe de fato. Nesse sentido e somente nesse sentido todas as aes prescritas pela lei so justas (Aristteles, ib.). Pascal26diz que a justia o que estabelecido; assim, todas as nossas leis estabelecidas sero necessariamente consideradas justas, sem serem examinadas, pois so estabelecidas. Hobbes27 afirma que Auctoritas, non veritas facit legem.28 Isso, segundo Comte-Sponville governa tambm nossas democracias. Os mais numerosos, no os mais justos ou os mais inteligentes prevalecem e fazem a lei. Nada garante que a vontade geral seja sempre justa, a no ser que se defina a justia como vontade geral, o que esvaziaria a justia de qualquer valor e de qualquer contedo. Logo, o que nos remete ao segundo significado da justia, como valor, como igualdade, como eqidade, uma virtude e no um fato (a legalidade). Assim, a justia s existe e s um valor quando h justos para defend-la.
26 27
Pascal, Oeuvres complte. Lafuma; Senil, col. Lintegrale, 1963. Lviathan, II, cap. 26. 28 a autoridade, no a verdade, que faz a lei.
76
Talvez o mais difcil, porm, definir um justo. No h acordo quanto a isso. Mas so exatamente esses desacordos entre os justos que so essenciais justia... porque assinalam sua ausncia. A justia, como valor, no deste mundo, nem de nenhum outro. Aristteles diz que no a justia que faz os justos; so os justos que fazem a justia. Essa segunda concepo da justia concerne moral. Comte-Sponville (2000, p. 71-77) diz que quando a lei injusta, justo combat-la e pode ser justo, s vezes, viol-la. a justia dos justos contra a justia dos juristas. Respeitar as leis sim, mas no custa da justia, no custa da vida de um inocente. A moral vem antes, a justia vem antes, pelo menos quando se trata do essencial, isto , a liberdade de todos, a dignidade de cada um e os direitos do outro em primeiro lugar. Mas esse posicionamento remete a outra questo: a desobedincia civil. De acordo com Singer (1998, p. 323) no existe um preceito moral nico que nos permita determinar quando a desobedincia justificvel, ou no. Para isso seria necessrio entrar na questo dos erros e acertos dos objetivos dessa desobedincia. preciso, tambm, comparar a magnitude do mal que estamos tentando evitar, com a possibilidade de nossas aes levar a um drstico declnio do respeito pela lei e pela democracia. Em outras palavras, a desobedincia civil pode fracassar e gerar uma reao que impede o xito por outros meios. Alm disso, o rompimento da autoridade tradicional cria a necessidade de concesses polticas mtuas (por exemplo, a autoridade feudal).(SINGER, 1998, p. 318). Entre as concesses possveis, a nica aceitvel por todos aquela que consiste em dar a cada um o direito ao voto. Conforme Singer, a obrigao de obedecer a uma verdadeira deciso majoritria no absoluta.
77
No demonstramos nosso respeito por este princpio atravs da cega obedincia maioria, mas por considerarmos justificada a desobedincia somente em circunstncias extremas. A maioria no pode ser juiz de seus prprios atos. Quanto mais profundamente arraigado est o hbito de obedincia s regras democrticas, tanto mais fcil se torna a desobedincia.
78
3.14 A razo
De todos os animais, o homem aquele que possui o maior crebro em relao a seu tamanho. (Aristteles)
Vamos tentar conceituar razo da maneira mais prtica possvel, tentando tambm mostrar alguns de seus atributos fundamentais. , novamente, Savater (2001, p. 31-32) o autor em que nos apoiaremos. H coisas que acreditamos saber. Quando procuramos entend-las melhor, comparando-as com outros conhecimentos (meus), criticando-as, ou debatendo com outras pessoas, estamos buscando argumentos para assumi-las ou refut-las. Esse exerccio de buscar e ponderar argumentos costuma-se chamar de utilizar a razo. A razo um conjunto de hbitos de deduo, sondagens e cautelas, baseados na experincia e na lgica. Savater (2001, p. 31), baseando-se no conceito de Leibnitz (no sculo XVII) define a razo da seguinte maneira:
Razo uma faculdade capaz de, pelo menos em parte, estabelecer ou captar as relaes que fazem com que as coisas dependam umas das outras e sejam constitudas de uma determinada forma, e no de outra.
Freqentemente necessitamos estabelecer racionalmente - o que mais provvel.Tambm precisamos admitir que, em outros campos do conhecimento, aquilo que hoje verossmil, ou provvel, sempre pode sofrer uma reviso. A razo , necessariamente, um procedimento intelectual crtico para organizar as informaes, os estudos, ou as experincias, aceitando algumas coisas e descartando outras, pelo menos provisoriamente, espera de novos argumentos, tentando sempre vincular minhas crenas entre si com uma certa harmonia.
79
Mas a razo tem outros atributos fundamentais. Um deles o fato de que todo raciocnio social (SAVATER, 2001, p. 42-43), porque reproduz o debate com os outros, atravs de um processo de perguntas e respostas. Essa a origem da razo. O carter oral da discusso essencial para a razo. Uma discusso escrita descreve uma emulao, isto , uma disputa, pensada por um s homem. impossvel aprender a raciocinar em solido. Raciocinar algo que inventamos ao nos comunicarmos e nos confrontarmos com os semelhantes. Toda razo ,
fundamentalmente, conversao. S se conversa (e, principalmente, s se discute) entre iguais. Isso tem implicaes polticas, pois ningum pode conversar abertamente se existirem castas sociais inamovveis. Como a razo humanamente universal, no possvel excluir ningum de um dilogo em que haja argumentao. A disposio de filosofar consiste em decidir-se a tratar os outros como se tambm fossem filsofos. essa a reflexo de Savater. Mas a razo tem ainda um atributo essencial: a sua universalidade. Qual a origem e quais so as conseqncias disso? Segundo Savater (2001, p. 31):
A razo sempre tenta harmonizar meu ponto de vista com um outro (ponto de vista), que seja mais objetivo que o meu. Chamaremos a este outro ponto de vista de intersubjetivo, pois a partir dele qualquer um pode considerar a realidade. Ora, meus argumentos no podem ser racionais s para mim. A razo nunca exclusivamente a minha razo.Da se origina a universalidade essencial da razo. Todos os homens a possuem. A fora de convico dos raciocnios tem de ser compreensvel para qualquer um. isso que permite razo servir de rbitro para resolver muitas disputas. Nossa humanidade compartilhada se baseia exatamente sobre a razo, pois o que todos temos em comum. Conseqentemente, detestar a razo , necessariamente, detestar a humanidade.
80
3.15 Os nveis de raciocnio moral
Singer (1998, p. 102) cita R. M. Hare para sugerir dois nveis de raciocnio moral: o nvel intuitivo e o nvel crtico. No nvel crtico pressupe-se um raciocnio filosfico, ou ento uma autocrtica, ou uma reflexo, em fim, raciocinar no plano crtico.Isso pode ser til e interessante para a nossa compreenso da teoria tica em casos mais raros, ou quando levantamos hipteses. Mas, no dia-a-dia, o raciocnio moral deve ser mais intuitivo. No prtico tentar calcular com antecedncia todas as conseqncias de qualquer opo que se faa. Ser melhor adotarmos alguns princpios amplos, e no nos desviarmos deles. A se inserem muitos dos princpios morais clssicos, como dizer a verdade, cumprir promessas e no fazer mal a ningum. Estes princpios morais funcionam como se fosse um guia. Talvez o pensamento intuitivo de Hare pudesse ser resumido assim: Vou fazer o que me parece certo simplesmente porque me parece certo, sem outras razes que justifiquem meus atos. Os preconceitos kantianos, segundo Singer, no deveriam impedir esse tipo de pensamento intuitivo, no dia-a-dia, pois as razes de interesse pessoal, como j vimos, no significam, necessariamente, que uma vida no seja pautada pela tica. Quando me afasto do pensamento intuitivo, em direo ao pensamento crtico, devo faz-lo para procurar razes mais amplas para justificar minhas aes, isto , para assumir o ponto de vista tico como uma linha de ao definida, ou seja, como modo de viver.
3.16 Altruismo
No es el yo fundamental eso que busca el poeta, sino el t esencial. (Antonio Machado)
81
David Hume29 afirmou que, no mbito das aes humanas, a razo s se aplica aos meios, no aos fins. a chamada Razo prtica de Hume. Com isto Hume quis dizer que os meios que utilizamos para atingir nossos objetivos podem servir-se da razo, mas o objetivo prprio de uma ao - isto , sua finalidade ltima determinado por nossa vontade e nossos desejos. Hume apresentou de maneira implacvel as conseqncias desse ponto de vista30:
No contrrio razo preferir a destruio do mundo inteiro a um arranho no meu dedo. No contrrio razo, para mim, optar pela minha runa total a fim de impedir a menor inquietao de um hindu, ou de uma pessoa que me seja totalmente desconhecida. igualmente pouco contrrio razo preferir, inclusive, um bem que reconheo menor a um bem maior,e ter uma afeio mais intensa pelo primeiro do que pelo segundo.
A afirmao central dessa concepo est em que, no raciocnio prtico, sempre partimos de alguma coisa desejada. Ora, se pretendemos demonstrar que racional agir de modo tico, independentemente do que queiramos, ou desejamos, preciso refutar essa concepo. Para contestar essa opinio, Singer (1998, p. 338-339) prope o seguinte paradoxo: 1) o desejo (vontade) a base de qualquer raciocnio (segundo Hume); 2) agir moralmente racional; 3) logo, agir moralmente tentar obter o que queremos. Ainda para refutar a razo prtica de Hume, Singer (1998, p. 339) apresenta o argumento de Thomas Nagel na sua obra The possibility of Altruism (A possibilidade do altrusmo)31. Esse argumento chamado de Racionalidade da Prudncia. Nagel afirma que, nessa questo, indispensvel levarmos em considerao nossos desejos futuros. Mesmo que agora - neste momento - estejamos ou no querendo a satisfao desses desejos futuros, preciso refletir sobre eles. Se no fizermos isso, estaremos
29 30
Em A Treatise of Human Nature, livro I, parte III, seo 3. Citado por Singer na obra mencionada 31 Citado por Singer na obra mencionada.
82
evidenciando uma incapacidade de ver a ns mesmos como pessoas existentes no tempo, e o presente passa a ser apenas um tempo entre outros. O que torna racional levar em considerao os meus interesses em longo prazo a concepo que tenho de mim mesmo como pessoa. Mesmo que eu tenha uma afeio mais intensa por alguma coisa que no est, de fato, dentro do meu campo de interesses, esse argumento continua sendo verdadeiro. Segundo Singer e Nagel32, h um outro argumento, que tambm pode ser usado em favor de uma forma de altrusmo.Esse argumento leva em considerao os desejos dos outros. A afirmao o presente nada mais que um tempo entre outros pode ser trocada por uma outra declarao: eu sou nada mais que uma pessoa entre outras. Mas no s a Razo prtica de Hume que obstrui as tentativas de mostrar que agir racionalmente o mesmo que agir eticamente. Singer cita Henry Sidgwick que, fundamentado no senso comum, estabelece uma distino entre mim e os outros:
Seria contrrio ao senso comum negar que a distino entre qualquer indivduo e um outro qualquer real e fundamental.Da que eu estou preocupado com a qualidade da minha existncia enquanto indivduo.Neste sentido que fundamentalmente importante no estou preocupado com a qualidade da existncia de outros indivduos. Esta distino tem de ser considerada fundamental para que se conhea a finalidade ltima de uma ao racional para qualquer indivduo.
Singer reconhece que este um obstculo de peso, mas prope a Sidgwick o seguinte dilema: 1) racional agir em nome de nossos interesses em longo prazo (admitindo-se a Racionalidade da Prudncia, de Nagel); 2)o fim ltimo de qualquer ao racional o MEU interesse (postulado de Sidgwick); 3) mas meu interesse, em longo prazo, agir como em 1; 4) logo racional agir eticamente.
32
Obras citadas.
83
Na mesma obra Singer reconhece que a distino de senso comum de Sidgwick e a Razo prtica de Hume, em conjunto, constituem um obstculo desconhecer uma maneira de super-las. Mas o tema do altrusmo torna-se ainda mais complexo quando consideramos os direitos de propriedade. Na opinio de Singer (1998, p. 245) as pessoas tm direito propriedade privada. Teriam, tambm, a obrigao de dar uma parte de sua riqueza aos que vivem em pobreza absoluta? Algumas teorias dos direitos, de concepo individualista como, por exemplo, a de Robert Nozick 33 - afirmam que, se algum adquiriu a sua propriedade de maneira justa, ter assegurado o seu direito a uma riqueza enorme, enquanto outros morrem de fome. Essa concepo individualista choca-se frontalmente com outras, como a doutrina crist de Santo Toms de Aquino, onde tudo que um homem possua em superabundncia ser devido, por direito natural, ao sustento dos pobres. Um socialista tambm veria a riqueza como pertence da sociedade, no do indivduo. Os utilitaristas, socialistas ou no, estariam propensos a suprimir os direitos de propriedade para, com isso, impedir a existncia de males ainda maiores. Mas no somos obrigados, segundo Singer, a adotar qualquer uma dessas doutrinas para defender a obrigao de ajudar os outros. Mesmo Nozick, que rejeita o uso de meios compulsrios (como, por exemplo, a tributao) para a redistribuio de renda, sugere que, por meios voluntrios, podemos alcanar os objetivos moralmente desejveis. Portanto, Nozick rejeitaria a afirmao de que os ricos tm obrigao de dar aos pobres, mas poderia aceitar que dar algo que devemos fazer, e que deixar de dar, ainda que dentro de nossos direitos, um erro. Para que se tenha uma vida tica preciso mais que o respeito pelos direitos dos outros. importante e confessa
33
Robert Nozik, Anarchy, State and Utopia (Nova York, 1974)
84
Talvez a mais sria objeo ao argumento de que devemos ajudar seja a de que essa prtica estabelece um padro to alto que somente um santo poderia atingi-lo. Existem trs verses dessa objeo: 1) sendo o que , a natureza humana no permite atingir um padro to alto. Ora, absurdo exigir que se faa aquilo que no temos condies de fazer. Ento, preciso rejeitar a afirmao de que devemos dar tanto; 2) mesmo que consegussemos um padro to alto, isto teria inmeros inconvenientes 3) um padro to alto seria percebido como difcil demais e desestimularia muitos de at mesmo tentar atingi-lo. Singer analisa cada um desses argumentos. 1) Do ponto de vista evolutivo, aqueles com um alto grau de preocupao por seus prprios interesses deixaro mais descendentes, que acabaro substituindo totalmente os que so inteiramente altrustas. Garret Hardin34 afirma que o altrusmo s pode existir em pequena escala, em curto prazo, e no interior de grupos pequenos e ntimos. Richard Dawkins35, em seu livro O gene egosta, afirma que:
Por mais que nos agradasse acreditar no contrrio, o amor universal e o bemestar das espcies, como um todo, so conceitos que simplesmente no tm sentido do ponto de vista evolutivo.
inegvel a forte tendncia parcialidade que existe nos seres humanos, mas seria muito pouco apropriado condenar todos aqueles que no conseguem atingir aquele alto padro. Contudo, para Singer, no impossvel agir imparcialmente. H uma afirmao muito citada de que dever pressupe poder. Em outras palavras, aquilo que eu devo fazer pressupe que eu possa faz-lo, caso contrrio cessa minha obrigao. Esta uma boa razo para rejeitarmos juzos morais do tipo voc deveria ter salvado todas as vtimas do naufrgio, pois, se voc tivesse colocado mais uma pessoa no
34 35
Citado por Singer na obra mencionada. Citado por Singer na obra mencionada.
85
barco salva-vidas, talvez ele teria afundado e todos teriam morrido. Mas, quando temos dinheiro para gastar com luxo, enquanto outros esto morrendo de fome, fica evidente que podemos dar muito mais do que damos. Podemos todos chegar mais perto do padro imparcial proposto acima. No tem fundamento a afirmao de que o padro imparcial equivocado porque dever implica poder, e no podemos ser imparciais. 2) Na dcada passada vrios filsofos, dentre os quais Susan Wolf36, argumentaram que, se todos assumssemos a postura moral imparcial de ajudar o prximo, teramos de abrir mo de inmeras coisas interessantes, como a pera, a boa cozinha, as roupas caras, os esportes profissionais, e muito mais. O tipo de vida que, ento, de ns se exigiria, seria uma busca exclusiva do bem geral. A isso, porm, Singer responde que errado pressupor que a mesma vida continue sendo boa num mundo em que adquirir coisas luxuosas significa aceitar como inevitvel o sofrimento dos outros, e toma como exemplo um mdico que se veja diante de centenas de pessoas gravemente feridas devido a um acidente de trem. Ele (e todos ns) dificilmente acharia defensvel a idia de tratar cinqenta delas e depois ir para a pera, apoiando-se no raciocnio de que a pera faz parte de uma vida bem vivida. A prioridade, diz Singer, deve ficar com as necessidades de vida ou morte dos outros. Talvez sejamos todos como o mdico do exemplo, no sentido de que vivemos em uma poca em que temos a oportunidade de ajudar e mitigar as conseqncias de um desastre. Mas h uma outra verso dessa segunda objeo moral imparcial. a de que a tica imparcial tornaria impossvel manter relaes pessoais srias, fundamentadas no amor e na amizade, j que, por sua prpria natureza, essas relaes so parciais. Colocamos os interesses dos que amamos, de nossa famlia e nossos amigos, acima dos interesses dos estranhos. Se no o fizssemos, essas relaes no teriam como subsistir.
36
Num artigo intitulado Moral Saints; citada por Singer na obra mencionada.
86
Singer responde que existe espao, dentro de uma estrutura moral imparcialmente fundamentada, para se admitir um certo grau de parcialidade nas relaes de famlia e parentesco, ou outras relaes pessoais mais ntimas. Essas relaes pessoais so necessrias para que uma vida seja digna de ser vivida e desistir delas seria o mesmo que sacrificar algo de grande importncia moral. Singer afirma que o princpio por ele defendido no exige que ningum faa semelhante sacrifcio. 3) A terceira verso de objeo ao padro tico elevado prope uma pergunta. No seria contraproducente exigir que as pessoas doem tanto? J que no posso fazer aquilo que me moralmente exigido, vou ignorar por inteiro a obrigao de dar alguma coisa 37 a quem dela necessite. Singer responde a esta questo da seguinte maneira: Se estabelecssemos um padro mais realista, as pessoas talvez fizessem um esforo concreto para atingi-lo. Um padro mais baixo poderia ser mais til. Em outras palavras: somos obrigados a dar at o ponto em que, dando mais, sacrificamos alguma coisa de importncia moral comparvel. Porm, o que acaba de ser dito suportaria uma defesa pblica? Deveramos defender um padro de doao mais baixo do que ele j ? Isto no seria desejvel. Seria considerado inconveniente. Todavia, aqueles que aceitam o argumento original, com seu padro tico mais alto, sabem que devemos fazer mais do que propomos publicamente. No h aqui nenhuma incoerncia, tanto em nosso comportamento pblico quanto privado, porque estamos tentando fazer o mximo para diminuir a pobreza absoluta. Do ponto de vista da tica consequencialista este conflito aparente entre tica pblica e tica privada no constitui, em si, uma indicao de que o princpio subjacente est errado. As
37
Aqui o termo doao pode ser estendido ao seu sentido mais geral, como dinheiro, trabalho, tempo, ateno, dedicao, afeto ou qualquer outra necessidade de pessoas de nossas relaes ou da sociedade onde vivemos.
87
conseqncias de um princpio e as conseqncias de defend-lo publicamente so coisas totalmente diferentes. Uma variante dessa idia j reconhecida pela distino entre os nveis crtico e intuitivo de moralidade, como vimos anteriormente. Se os princpios de moralidade intuitiva podem ser comumente defendidos, so exatamente esses princpios que, quando defendidos, daro origem s melhores conseqncias. Os padres ticos exigidos seriam realmente to altos, a ponto de serem contraproducentes? Talvez sim. Mas, o padro convencionalmente aceito - o da esmola - obviamente baixo demais. Ento, que nvel deveramos defender? Peter Singer quem responde. Qualquer nmero ser arbitrrio, mas certamente dever ser mais do que uma ninharia, e nem to alto que s esteja ao alcance dos santos.
3.17 A questo da liberdade
No h na alma vontade que seja absoluta ou livre; mas a alma determinada a querer isso ou aquilo por uma causa que tambm determinada por outra, e essa outra, por sua vez, o por outra, e assim ao infinito. (Spinoza, tica)
Este um tema da filosofia extremamente complexo e polmico, intimamente ligado tica. Comecemos com a opinio de Savater (2001, p. 109-111). O termo liberdade pode ter trs usos ou significados diferentes: 1) Disponibilidade para atuar de acordo com os prprios desejos, ou projetos. Este o sentido mais comumente usado.Significa no ter impedimentos fsicos ou legais para agir como queremos.Implica no s em poder tentar,mas tambm certa possibilidade de conseguilo. Diante do impossvel ningum realmente livre.
88
2) A liberdade de poder querer o que quero, isto , no s de fazer, ou tentar fazer o que quero. um nvel mais sutil e menos bvio do conceito de liberdade.Em outras palavras: ningum pode me impedir de querer fazer algo. A espontaneidade do meu querer livre. Os sbios esticos insistiram orgulhosamente nessa liberdade invulnervel da vontade humana. O curso dos acontecimentos pode no estar em minhas mos, mas a retido da minha inteno (ou mesmo a sua perversidade) desafia as leis da fsica e do Estado. 3) A liberdade de querer o que no queremos (ou de no querer o que de fato queremos). Ns humanos sentimos no s desejos, mas, tambm, desejos sobre os desejos. No s temos intenes, mas tambm gostaramos de ter certas intenes. Savater d um exemplo interessante dessa liberdade. Suponha, por exemplo, que eu passe por uma casa em chamas e oua uma criana chorar l dentro. No quero entrar para tentar salv-la, porque me d medo, muito perigoso; para isso existem os bombeiros. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de querer entrar para salv-la, porque me agradaria no ter tanto medo do perigo e viver em um mundo em que os adultos ajudassem as crianas em caso de incndio. Em outras palavras: sou o que quero, mas gostaria de ser de outra maneira, de querer outras coisas, de querer melhor. O que eu quero fazer agora no idntico ao que eu quero ser. Quando me perguntam o que eu quero fazer, expresso meu querer imediato, mas quando me perguntam o que quero ser (ou como quero ser), respondo expressando o que gostaria de querer, aquilo que acredito me conviria querer. Isso me faria, no s querer livremente, mas, tambm, ser livremente. Essa contradio entre formas de querer foi expressa por Ovdio em um verso: Vdeo meliora proboque, deteriora sequor, isto , Vejo o que melhor e o aprovo, mas continuo fazendo o pior".
89
Em outras palavras, continuo querendo o que eu gostaria de no querer. Esse tipo de liberdade nos aproxima de uma vertigem infinita. Onde estabelecer a ltima fronteira do querer, isto , da minha vontade livre como sujeito? Neste ponto caberia perguntar: liberdade tem causa? Savater (2001, p. 109) diz que o ato livre no um milagre que interrompe a cadeia dos efeitos e suas causas. Conforme a expresso de Spinoza38, isso seria um novo imprio dentro do imprio geral do mundo. A liberdade pressupe, sim, um tipo de causa. Falar de liberdade no implica em renunciar causao, mas em ampli-la e aprofund-la. A ao livre livre porque sua causa um sujeito capaz de querer, de escolher, e de pr projetos em prtica, isto , capaz de realizar intenes. Por sua vez, esses desejos e projetos tambm tm suas prprias causas antecedentes, que so os apetites, os motivos ou razes. Quando dizemos fiz livremente esta ao, no significa que esta ao no efeito de nenhuma causa, mas, sim a causa desta ao sou eu, como sujeito. Como j vimos, a liberdade um termo de vrias acepes, isto , liberdade uma palavra que tem uma ampla gama de aplicaes tericas. Podemos aceit-la com um determinado sentido e rejeit-la com outro. Mas, em qualquer forma de interpretao, ser livre orientar nossa atividade de acordo com intenes, atravs de aes concatenadas. Por outro lado, os humanos tm apetites instintivos que nos impelem a atuar, mas no somos simplesmente arrastados pelos objetos de nosso instinto. Permanecemos em ns mesmos, somos agentes.
38
Citado por Savater na obra mencionada
90
Podemos dar um estilo satisfao dos instintos, de acordo com diferentes projetos de vida. Embora alguns de nossos objetivos sejam irremediveis e no escolhidos como, por exemplo, a nutrio, o sexo, a autoconservao etc, tentamos atingi-los de modos no irremediveis, isto , optativos. Alm de apetites, temos tambm motivos e razes, ou seja, consideraes que compartilhamos com os semelhantes. Seria impossvel compreender a ao humana sem considerar os motivos racionais. Os instintos e as demais foras da natureza podem explicar a ao humana, mas no podem dar a compreenso total da atitude humana, pois isto exige uma perspectiva interna ao sujeito (agente), perspectiva esta que mostra as conexes entre o pensar e o fazer, isto , entre o nosso universo simblico e nosso desempenho no mundo fsico. No poderamos falar em liberdade sem citar dois filsofos que se destacaram neste tema: um por ser partidrio da chamada liberdade radical, outro por negar a liberdade em um de seus significados. Trata-se de Sartre e Schopenhauer. Savater (2001, p. 111-114) comenta esses dois autores. Como j vimos, a liberdade pode ter trs usos ou significados diferentes. Schopenhauer negou a existncia da liberdade na sua terceira acepo, isto , aquela liberdade de querer o que no queremos, ou de no querer o que de fato queremos. Para ele, ns humanos somos formados basicamente de vontade, de querer. Somos o que queremos mas no de acordo com nossos desejos - mas sim no sentido de sermos intimamente constitudos por nossos desejos. Temos, ento, liberdade na segunda acepo do termo: nada pode impedir-me de querer o que quero, ou de ser o que sou, uma vez que sou precisamente o que quero. No sou o objetivo resultante de meus desejos, mas o prprio conjunto de tais desejos.
91
No entanto, no posso realmente querer ou deixar de querer o que quero. Esta liberdade eu no tenho. Em outras palavras, sou o que quero, mas inevitavelmente tambm quero o que sou, quero os quereres que me fazem ser. No possvel escolher minha prpria vontade, nem modific-la conforme meu arbtrio. No posso optar sobre o que me permite querer. Segundo Schopenhauer, a mais radical das liberdades (sou o que quero ser) compatvel com o mais estrito determinismo (no tenho outro remdio a no ser o que sou). Temos iluses sobre o que gostaramos de ser, at o dia em que um motivo irresistvel nos demonstra o que realmente somos e o que realmente queremos. por isso, diz Schopenhauer, que rezamos no nos deixeis cair em tentao, isto , no permitas que eu conhea o pior do que livremente quero fazer, no me reveles como eu sou. A propsito do querer, justifica-se aqui estabelecer o contraponto com a imbecilidade moral (SAVATER, 2002, p. 97-99). Imbecil vem do latim baculus, que significa basto, bengala. Imbecil aquele que precisa de uma bengala para caminhar. No manco dos ps, mas do pensamento. Para Savater (ibidem) h vrios modelos de imbecis: 1) O que acredita que no quer nada. Tudo d na mesma. 2) O que acredita que quer tudo; a primeira coisa que aparece, e seu contrrio tambm: andar e parar, danar e ficar sentado, mastigar alho e dar beijos sublimes. 3) O que no sabe o que quer; segue a opinio da maioria. conformista sem reflexo, ou rebelde sem causa. 4) O que sabe que quer e sabe, mais ou menos, porque o quer, mas quer frouxamente. Acaba fazendo o que no quer e deixando para amanh o que quer.
92
5) O que quer com fora e ferocidade, mas enganou-se sobre o que a realidade e acaba confundindo a vida boa com aquilo que o excita. Todos eles necessitam de bengala, precisam apoiar-se em coisas de fora, alheias, abandonando a liberdade e a reflexo. Acabam prejudicando a si mesmos. Todos ns temos sintomas de imbecilidade, que no deve ser confundida com a ignorncia. Algum pode ser um imbecil em matemtica, mas no ser um imbecil em moralidade, isto , em vida boa no sentido tico. O contrrio de ser um imbecil ter conscincia moral. Retornando questo da liberdade, no sculo XX Jean Paul Sartre formulou uma metafsica radical da liberdade: o existencialismo. Resumindo a opinio de Savater (1998, p. 245), ele expe assim o pensamento de Sartre: O homem existe e deve inventar a si mesmo, sem predeterminao de nenhuma essncia ou carter imutvel. No somos algo programado. Temos a capacidade de desmentir o que fomos antes. O homem no nada seno a disposio permanente para escolher e revogar o que quer chegar a ser. Nada pode nos determinar a ser isto ou aquilo, nem de fora nem de dentro de ns mesmos. Sempre estamos abertos para nos transformarmos. Se no mudamos, porque queremos ser desta ou daquela maneira, e no de outra, e no porque temos de escolher do jeito que escolhemos, e ser o que somos. As determinaes da situao histrica, da classe social, das condies fsicas e psquicas, os obstculos que a realidade ope aos nossos projetos, nada disso impede o exerccio da liberdade, porque sempre somos livres dentro de um estado de coisas, e diante desse estado de coisas.
93
Para Sartre a liberdade a vocao de negar tudo o que nos rodeia na realidade e projetar outra realidade, a partir de nossos desejos e paixes livremente assumidos. De fato, sempre nos chocamos contra o real, sempre fracassamos o homem uma paixo intil mas no podemos deixar de tent-lo, nem renunciar a tal empenho, pretextando a necessidade invencvel das coisas. A nica coisa que ns humanos no podemos escolher entre ser e no ser livres: estamos condenados liberdade. Savater (2001, p. 188) conta que, em certa ocasio, perguntaram a Manuel Azaa, presidente da efmera Segunda Repblica espanhola, esmagada pelo golpe militar de Franco: Dom Manuel, o senhor acredita mesmo que a liberdade torna os homens mais felizes?. E Azaa respondeu: Francamente, no sei; s tenho certeza de que os torna mais homens.
3.18 Cincia, filosofia e tcnica
Dom Quixote d prova de coragem contra seus moinhos, ao passo que a cincia, embora muitas vezes tranqilize, nunca deu coragem a ningum. (Comte-Sponville, Andr, 2000) Para me condenar por meu desprezo pela autoridade, o destino me fez de mim mesmo uma autoridade. (Einstein)
A compreenso (SAVATER, 2001, p. 6) tem trs nveis diferentes: 1) Informao: refere-se aos fatos e mecanismos do que acontece na realidade. 2) Conhecimento: a reflexo sobre a informao; hierarquiza a importncia dessa informao; procura orden-la, buscando princpios gerais. 3) Sabedoria: o que vincula o conhecimento a valores, tentando estabelecer como viver melhor com o que sabemos.
94
A cincia se move entre a informao e o conhecimento. A filosofia opera entre o conhecimento e a sabedoria. Logo, a informao e o conhecimento no so suficientes para a tica, que est mais prxima do saber, isto , da prtica, da experincia, do trabalho, do amadurecimento. No h informao propriamente filosfica, mas pode haver conhecimento filosfico. desejvel que exista o saber filosfico. Savater (2001) quem pergunta: possvel ensinar um saber filosfico? Quando se contempla cincia e filosofia, a primeira coisa que salta aos olhos no o que as distingue, mas o que as aproxima. Ambas tentam responder a perguntas suscitadas pela realidade. Em suas origens, cincia e filosofia eram unidas. Savater faz algumas comparaes (2001, p. 7-12). Cincia: tenta explicar como as coisas so constitudas e como funcionam. Filosofia: procura mostrar o que as coisas significam para ns. Cincia: adota um ponto de vista impessoal. Filosofia: o conhecimento tem necessariamente um sujeito, um protagonista humano. Cincia: quer conhecer o que existe e o que acontece. Filosofia: reflete sobre a importncia para ns do que sabemos que acontece, e do que existe. Cincia: fragmenta e especializa o saber. Filosofia: tenta relacionar o saber com tudo o mais, a partir dessa aventura unitria que pensar, isto , ser humano. Cincia: desmonta a aparncia do real em elementos tericos invisveis. Filosofia: resgata do aparente sua realidade humanamente vital. Cincia: busca saberes e no meras suposies.
95
Filosofia: procura o conjunto de nossos saberes; pergunta sobre questes que os cientistas j do como claras ou evidentes. Cincia: d solues s questes, anulando-as e dissolvendo-as. Filosofia: no d solues; d respostas que no anulam as perguntas, mas nos permitem viver racionalmente com elas, embora continuemos a formul-las, sempre de novo. As respostas filosficas no solucionam as perguntas do real, antes cultivam a pergunta, a convivncia perptua com a interrogao, pois o que o homem seno o animal que pergunta? No h oposio irredutvel entre cincia e filosofia. Nunca deixar de haver perguntas para a cincia e a filosofia tentarem responder. H uma diferena, no quanto aos resultados, mas aos modos de chegar a eles: Cincia: pode utilizar solues encontradas por cientistas anteriores. Filosofia: quando algum quer filosofar no pode contentar-se em aceitar respostas de outros filsofos. Ter de percorrer, por si mesmo, o caminho traado por seus antecessores, ou tentar outro novo, apoiado neles. O itinerrio filosfico tem que ser pensado. As conquistas da cincia esto disposio de quem queira consult-las, mas as conquistas da filosofia s servem a quem decida medit-las por si mesmo. Cincia: os avanos cientficos melhoram nosso conhecimento coletivo da realidade. Filosofia: filosofar transforma e amplia a viso pessoal da realidade Cincia: uma pessoa pode investigar cientificamente por outra. Filosofia: uma pessoa no pode filosofar por outra. Cincia: as descobertas da cincia facilitam as tarefas dos cientistas posteriores. Filosofia: as contribuies dos filsofos tornam cada vez mais complexo o trabalho de quem se pe a pensar depois deles.
96
No se pode ensinar filosofia, mas apenas a filosofar, porque no se trata de transmitir um saber j concludo, mas de um mtodo, um caminho para o pensamento. A filosofia permite, pelo menos, encontrar argumentos para no me fiar no que comumente se chama saber. Limitar-se a repetir o que comumente se admite como sabido no a mesma coisa que saber de fato. A filosofia, antes de propor teorias que resolvam nossas perplexidades, deve ficar perplexa. Antes de respostas verdadeiras, deve deixar claro que as respostas falsas no a convencem. Filosofar defender-se dos que acreditam saber. Mais importante do que estabelecer conhecimentos criticar o que conhecemos mal, ou no conhecemos. O filsofo deve saber porque duvida. Essa funo negativa, crtica, defensiva, j tem um valor em si mesma, mesmo que no se v alm disso. No mundo dos que acreditam que sabem, o filsofo talvez seja o nico que aceita no saber, mas pelo menos conhece sua ignorncia. H alguma dimenso mais necessariamente humana do que a inquietao que, h sculos, leva a filosofar? No sculo XXI, ensinar a filosofar, quando todos parecem querer solues imediatas e pr-fabricadas, quando as perguntas se arriscam a ficar sem soluo e so to incmodas s pode ser um convite para que cada um filosofe por si mesmo. Savater (2001, p. 208-209) continua dizendo que a cincia e a filosofia no so, de modo algum, dois mundos totalmente alheios e, muito menos, opostos. So risveis, segundo ele, os metafsicos que desprezam com arrogncia os cientistas por seu apego emprico ao meramente positivo, invocando a defesa da educao humanstica,
97
como se o humanismo consistisse em saber Ccero de cor, e ignorar meticulosamente a fsica quntica. A filosofia uma atividade intelectual que vem depois da informao positiva nos diversos campos do saber humano, no antes. O filsofo no tem uma cincia infusa que lhe permita falar do homem em geral sem recorrer antropologia, psicologia, lingstica, ou falar sobre esttica sem visitar museus, ler romances, ou ler filmes. Sem isso a filosofia se transforma em verbosidade obscurantista. A tarefa da filosofia refletir sobre a cultura em que vivemos. Nem todas as pessoas cultas so filsofos, mas no h filsofos declaradamente incultos... e as cincias so parte imprescindvel da cultura. Filosofar no deveria ser sair das dvidas, mas entrar nelas. Ainda quanto filosofia, Savater (2001, p. 2) afirma que ela no pode ser apenas um catlogo de opinies prestigiosas e cita (ibidem) Ortega Y Gasset: A filosofia , idealmente, o contrrio da informao, da erudio. A filosofia um estudo, no um punhado de idias de tertlia; requer aprendizado e preparo. Mas, pensar filosoficamente no repetir pensamentos alheios. A filosofia no a revelao, feita ao ignorante, por quem sabe tudo, mas o dilogo entre iguais, que se fazem cmplices em sua mtua submisso fora da razo, e no razo da fora. Mais adiante esse autor afirma:
definir um pouco melhor qualquer noo, que para ns se tenha transformado em problemtica, ser sempre o primeiro passo de qualquer anlise filosfica que no queira deslumbrar ou surpreender, mas entender, ou seja, da filosofia honrada (SAVATER, 2001, p. 2). A beleza a que o filsofo aspira a alegria que produz em ns a realidade quando a compreendemos com preciso matemtica, depois de nos termos purificado de nossos desejos, e no o estremecimento doentio que embala nossas paixes (SAVATER, 2001, p. 109).
98
De maneira muito didtica, Savater (2001, p. 209-210) explica o que um professor de filosofia jamais deveria esconder dos alunos: 1) No existe a filosofia, e sim as filosofias e, sobretudo, o filosofar.Em face das perspectivas cientfica e artstica, existe uma perspectiva filosfica, que, felizmente multifacetada. 2) O empenho em filosofar muito mais importante do que qualquer das pessoas que, bem ou mal, se dedicam a ele. 3) At os melhores filsofos disseram absurdos notrios, e cometeram erros graves. 4) Em determinadas questes extremamente gerais, aprender a perguntar bem tambm aprender a desconfiar das respostas demasiado taxativas. Filosofamos partindo do que sabemos para o que no sabemos, ou para, o que parece, nunca poderemos saber totalmente. Filosofamos contra o que sabemos, isto , repensando e questionando o que acreditvamos j saber. Pelo menos conseguimos orientar melhor o alcance de nossas dvidas e convices. Quem no for capaz de viver na incerteza far bem em nunca se por a pensar. Tambm necessrio fazer a distino entre tcnica e cincia. Savater (2001, p. 140-141) afirma que ao lado da linguagem simblica, a tcnica a capacidade ativa mais distintiva da nossa espcie. A relao entre o homem e a natureza se faz pela tcnica. Alguns insetos e primatas podem manejar instrumentos, mas o homem pode criar instrumentos, por meio dos quais se possam fazer outros instrumentos. Tcnica qualquer procedimento necessrio para fazer alguma coisa. Nunca um procedimento ocasional, nico, mas um conjunto de modos e regras que se podem transmitir, aprender e reproduzir, isto , a tcnica uma certa tradio eficaz. diferente da cincia.
99
Esta pode ser meramente contemplativa ou desinteressada. A tcnica est ligada ao, aos interesses vitais do homem, a seus anseios por produzir, conseguir, acumular, conservar, controlar, resguardar, ou agredir. A tcnica o anseio construtivo (ou destrutivo) de domnio. A tcnica produziu, por um lado, entusiasmo, e por outro temor e hostilidade. Talvez o homem moderno tenha sua vida cada vez mais condicionada ao mero consumo de novidades, que o cega para o conhecimento sossegado de si mesmo. Ainda conforme Savater (2001, p. 141), a viso mais feroz e depredadora da tcnica coube a Oswald Spengler. Ele tem uma viso da tcnica como guerra contra a natureza. A viso clssica renascentista da tcnica afirmava que s possvel dominar a natureza obedecendo a ela, isto , prolongando sabiamente seus prprios procedimentos. Mas ele insiste em que, uma vez iniciado o caminho da tcnica, nunca mais poderemos nos deter, pois cada inveno contm a possibilidade e a necessidade de novas invenes. Para Spengler a tcnica nasceria como uma ttica vital do feroz depredador que h dentro de cada ser humano. Martin Heidegger, um dos pensadores mais controvertidos de nosso sculo, tem uma viso da tcnica que se apia claramente na de Spengler. Para ele o que nos espera o desespero de esquecer numa sociedade massificada e consumista as perguntas essenciais da vida. Diz ele:
Quando o mais longnquo rinco do globo tiver sido tecnicamente conquistado, e economicamente explorado quando o tempo for apenas rapidez, instantaneidade e simultaneidade, ao passo que o temporal, como acontecer histrico, tiver desaparecido da existncia de todos os povos, quando as massas triunfarem em assemblias populares, ento, justamente ento, voltaro a atravessar toda essa festa das bruxas, como fantasmas, as questes: para qu? para onde? e depois?.
Savater (2001) (refere-se citao da p. 101; Savater, As perguntas da vida, p. 140141) faz uma crtica a Heidegger chamando-o de elitista e at desptico, pois mistura o
100
protesto dessas assemblias populares multitudinrias (a democracia) com o imprio vazio da tcnica, isto , ele refuta a tcnica junto com a democracia. como se o aristocrata do esprito possusse o sentido artesanal do que realmente importante enquanto a massa se alimenta das aparncias vulgarizadoras da sabedoria proporcionadas pelos meios tecnicamente ultradesenvolvidos de comunicao. Mas ser mesmo, pergunta Savater, que a tcnica obrigatoriamente insacivel porque provm de nossa ndole de animais ferozes, em luta contra o natural, ou ao contrrio, porque responde a uma organizao industrial sem nenhuma meta mais elevada do que o lucro privado dos investidores? Ser impossvel imaginar tcnicas de reconciliao com a natureza, da qual todos dependemos, que no sejam baseadas exclusivamente em seu saque ilimitado? Mais adiante Savater d um outro enfoque questo da tcnica (ibidem). Ele afirma que em nosso tempo h uma mescla de desdm e adorao pelas mquinas. comum ouvir que as mquinas so inumanas. As mquinas podem ser boas ou ms, menos justamente inumanas. Elas so completamente humanas, pois so fabricadas de acordo com nossos projetos e nossos desejos. O que distingue a casa construda por um arquiteto da colmia feita pelas abelhas que o arquiteto tem um projeto prvio da casa; a abelha no tem outro remdio seno fazer colmias (Carl Marx no Primeiro Livro de O Capital). Nossas obras so at mais humanas que ns mesmos, pois cada um de ns depende de um programa biolgico no inventado pela mente humana. As mquinas so humanas, demasiado humanas, porque provm apenas do clculo humano, ao passo que ns somos tambm filhos do acaso, ou do irremedivel, ou seja, daquilo que escapa a qualquer clculo. Por isso, so eticamente questionveis certos projetos de manipulao gentica, ou as formas de reproduo humana por clonagem, que privariam o
101
novo ser humano de uma parte de sua dotao gentica casual, transformando-o em manufatura de seus semelhantes. O que nos decepciona e irrita nos produtos tcnicos que sabemos tudo o que eles so e, portanto, no acreditamos que possam voltar-se contra ns. O que nos fascina, assusta e d esperana quanto aos humanos que ningum nem eles mesmos pode saber, inteiramente, o que , nem o que h de ser. Justamente por isso, entre todas as tcnicas, h uma que a mais essencial, aquela da qual todas as outras dependem, e sem a qual nada se poderia fabricar: nossa sociedade, o artefato que todos juntos formamos vivendo em comum, de acordo com determinadas normas... e em freqente desacordo com elas.
3.19 O processo de valorao
Pobre poca, que acima dos poetas s sabe por os mdicos. (Andr Comte-Sponville)
Valor um termo utilizado com muita freqncia em filosofia. Analisemos, inicialmente, a expresso valor intrnseco. Segundo Singer (1998, p. 298) uma coisa tem valor intrnseco se for boa ou desejvel em si mesma. O contraste se faz com o valor instrumental, que um valor em forma de meio para a obteno de algum outro fim ou objetivo. Exemplos: A felicidade tem valor intrnseco, pois a desejamos em si e por si. A felicidade to importante numa ilha deserta quanto em qualquer parte do mundo. O dinheiro s tem valor instrumental, isto , algo que desejamos pelas coisas que nos permite comprar. No tem utilidade numa ilha deserta.
102
Segundo Abbagnano (2000) os valores intrnsecos tambm so chamados de valores finais ou valores inerentes, sendo que os valores instrumentais tambm podem ser chamados de valores extrnsecos. Analisemos a expresso valorar, iniciando pela valorao da Natureza. Atualmente a grande maioria das pessoas concordaria em que temos certas obrigaes para com os elementos naturais. Para fundamentar essas obrigaes precisamos apresentar critrios de valorao. H trs modelos para esses critrios (SAVATER, 2001, p. 137-139): 1) o valor intrnseco de certas coisas naturais; 2) a utilidade dos elementos naturais; 3) o valor esttico da beleza natural. Do ponto de vista da Natureza o valor intrnseco o mais difcil de se fundamentar, a no ser que se adote uma perspectiva religiosa: tudo o que existe sagrado e est a servio do homem. Na verdade, o sagrado consiste em apontar certos lugares, ou certas coisas, como mais valiosas. Se todo natural puramente natural, nada tem valor prprio. Se h algo de sobrenatural no natural, seu valor deve provir desse acrscimo divino, e no dele mesmo. S haveria uma relativa exceo: a obrigao de respeitar a vida, por ser uma condio que ns compartilhamos. Teramos a obrigao de respeitar todos os seres vivos, pois so nossos irmos vitais. Ora, a caridade bem entendida comea por ns mesmos. Ento, para respeitar a nossa vida, obrigamo-nos, inevitavelmente, a sacrificar outras. O valor utilitrio de certas coisas naturais o mais fcil de argumentar. valioso na Natureza tudo o que nos imprescindvel ou benfico.
103
O valor esttico convincente e muito complexo, pois os sentimentos estticos nem sempre so compartilhados universalmente. Os pastores apreciam os lobos menos que os ecologistas e os pescadores no vm o mar esteticamente como ns. Talvez a forma correta de entender o sentido de nossas obrigaes para com a Natureza seja atravs do Imperativo Ecolgico de Hans Jonas39, filsofo contemporneo, em O princpio de responsabilidade: Age de tal modo que os efeitos de tua ao sejam compatveis com a permanncia de uma autntica vida humana sobre a terra. Savater (2001) diz que nem assim acabamos com as dvidas, pois o que uma autntica vida humana? Natural e natureza humana tm aspectos fortemente culturais. Parecem at um contrapeso cultura e, ao mesmo tempo, servem de parmetro para avaliar a cultura e, talvez, orient-la. Rousseau citado por Savater (2001, p. 130-132), em seu Discurso Sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, afirma que precisamos do natural, ou do estado de natureza, para valorar adequadamente a atual situao (social ou moral) em que vivemos (por comparao com o estado natural), mesmo que esse estado natural nunca tenha existido e nunca venha a existir. Temos de comparar este ideal chamado Natureza com a realidade humana atual. Para Rousseau nossa sociedade est se distanciando do ideal da Natureza. No se trata de chorar a inocncia perdida, mas de reconstruir algumas de suas melhores realizaes igualitrias 40, por meio de um novo contrato social. Quando se toma como medida, isto , como padro, um certo ideal chamado Natureza, a fim de valorar a realidade humana, estamos considerando como Natureza aquele estado
39 40
Citado por Savater na obra mencionada. A cooperao entre membros de um mesmo grupo de animais um exemplo.
104
original em que todas as coisas ainda eram, espontaneamente, ou por desgnios divinos de seu Criador, como deveriam e devem ser. Depois, os homens inventaram artifcios no previstos no plano natural, ou seja, pecaram, o que os condenou a uma forma de vida antinatural e m, que acabou contrariando seu prprio meio natural. Savater (2001), ento, pergunta: de onde saiu a idia de que a Natureza o ideal do que deve ser? Se a Natureza o conjunto das propriedades e formas de ser de todas as coisas existentes, ento a Natureza tem a ver apenas com o que as coisas so, nunca com o que deveriam ser, a no ser que decidamos que as coisas devem ser o que so, o que acaba com qualquer valorao imaginvel. Justamente o que nunca encontramos no mundo natural so valores, ou seja, o bem e o mal, como j vimos no item 5 deste captulo. Se pretendermos estabelecer um ideal natural para julgar a conduta e o devir humanos, teremos de determinar no o que os homens so agora, nem o que j foram antes, mas o que so por natureza, isto , o que foram, so, ou sero quando cumprirem sua forma de ser prpria, ou seja, quando foram, forem, ou chegarem a ser como deve ser. Para isso, deveramos separar claramente o que natural daquilo que cultural, ou seja, fazer a distino entre o plano da natureza e os projetos culturais realizados pelo homem consigo mesmo, o que no nada fcil, como o prprio Rousseau reconheceu. Embora na Natureza no haja valores propriamente ditos pode ser justo
considerarmos valiosas determinadas realidades (SAVATER, 2001, p. 136-137). Segundo Rojas (2000, p. 120), certos valores especficos so eternos. So aqueles que no passam com os sculos: a paz, a harmonia com os demais, o encontro profundo com o outro, a educao para a liberdade e a convivncia, a busca da transcendncia, o amor autntico.
105
Todavia, nem sempre o processo de valorao suficiente para permitir uma opo adequada. Em certas ocasies surge a necessidade de uma Poltica de Triagem. Garret Hardin (1974) apud Singer (1998, p. 247-248) criou a seguinte metfora. Os ocupantes de um barco salva-vidas, abarrotado, que vaga a esmo por um oceano cheio de pessoas se afogando, enfrentam o seguinte problema: se tentarem salv-los, trazendo-os para dentro do barco, este ficar de tal forma sobrecarregado que todos morrero afogados. Deix-los morrer investe contra o valor mais alto para os seres humanos: a vida humana. Como melhor que alguns sobrevivam, em vez de nenhum, deveramos deixar que os outros se afogassem. A expresso Triagem Poltica vem de programas mdicos em tempo de guerra, quando os feridos so divididos em grupos para receber, ou no, assistncia mdica (SINGER, 1998, P. 250). Grupo 1: feridos que provavelmente sobreviveriam sem assistncia mdica. Grupo 2: feridos que provavelmente morreriam sem assistncia mdica. Grupo 3: feridos que provavelmente morreriam, mesmo com toda assistncia mdica. Na Poltica de Triagem somente o segundo grupo receberia assistncia mdica. Esta poltica utiliza uma tica consequencialista. Se quisermos rejeit-la, a crtica deve ser interna, isto , de dentro para fora, no prprio terreno da tica consequencialista. A ela vulnervel. A tica consequencialista deve levar em considerao a probabilidade dos resultados, ou seja, o grau do benefcio e a probabilidade de o benefcio ocorrer ou no. Esquematizando: Grau do benefcio * Pequeno Pouco maior Probabilidade de o benefcio ocorrer Alta Baixa Probabilidade de o benefcio no ocorrer Baixa Alta
106
Uma deciso que, sem dvida, produzir algum benefcio (*) deve ser preferida a uma deciso alternativa que pode levar a um benefcio ligeiramente maior, mas que tem, tambm, igual probabilidade de no resultar em benefcio algum. Numa outra situao de Poltica de Triagem poderamos considerar: Grau de benefcio *1 unidade 5 unidades *3 unidades 1 unidade Probabilidade de o benefcio ocorrer 90% 10% 50% 100% Probabilidade de o benefcio no ocorrer 10% 90% 50% 0%
Na primeira situao, melhor optar por 1 unidade (*) do que por 5, e na segunda situao melhor optar por 3 unidades (*) do que por 1. Em outras palavras, devemos optar pelos benefcios incertos quando a sua maior magnitude superar a sua incerteza.
3.20 A questo do tempo
Ano, uma rodela cortada do tempo, e o tempo continua inteiro. (Jules Renard)
Presente, passado e futuro so aspectos da realidade que tm inquietado o homem durante toda sua existncia. No poderamos deixar de abordar este tema, pois qualquer que seja o ponto de vista sob o qual o considerarmos, ele exercer forte influncia na nossa conduta pessoal, logo, na tica. Savater (2001) trata desse assunto da seguinte maneira: O termo agora, que responde pergunta quando?, pode ser registrado em qualquer uma das trs grandes zonas que dividem nossa compreenso do tempo: passado, presente e futuro.
107
Dessas trs zonas, duas o passado e o futuro tm uma realidade de certa maneira apenas virtual. A vida sempre ocorre no presente e, fora do presente nada inteiramente real, nada tem efeitos diretos: por exemplo, nenhuma bala disparada na segunda guerra mundial pode me ferir, nem posso me bronzear ao sol do vero de 2005. Deveramos, ento, nos desinteressar do passado e do futuro para nos concentrarmos exclusivamente no presente? Fazemos mal em enchermos nosso presente com as sombras do passado e as promessas do futuro? Pascal (carta a Koannez, 1656) acha que sim, quando afirma:
O passado no nos deve preocupar, porque dele s podemos lamentar nossas faltas. Mas o porvir deve nos afetar ainda menos, porque nada tem a ver conosco, e talvez nunca cheguemos at ele. O presente o nico tempo verdadeiramente nosso... O mundo to inquieto que no se pensa, quase nunca, no presente, mas no que viveremos... Sempre estamos empenhados em viver no vindouro e nunca em viver agora.
Mas, se o passado e o futuro oprimem de tal modo nosso presente, talvez devamos pensar que no so to passado e futuro como parecem. Ora, o presente tambm zona temporal em que o passado e o futuro so reais, ou seja, a zona temporal onde podem ter alguns tipos de efeitos sobre a realidade. Quem aborda o assunto de maneira mais competente Santo Agostinho (354-430).
Dever-se-ia dizer, mais propriamente, que h trs tempos: um presente das coisas passadas, um presente das coisas presentes e um presente das coisas futuras. Essas trs coisas existem, de algum modo, na alma, mas no vejo que existam fora dela. O presente das coisas idas a memria; o das coisas presentes a percepo ou a viso; e o presente das coisas futuras a espera. Tanto o passado como o futuro tem efeitos presentes, porque esto presentes em nosso presente. Mutilar o presente da lembrana do passado e da expectativa do futuro deix-lo sem densidade, sem substncia.
No ser o tempo nada mais nada menos que a nossa dimenso essencial? Novamente o lcido Santo Agostinho:
108
Parece-me que o tempo no outra coisa seno uma certa extenso. Mas no sei de que coisa. Pergunto-me se no ser da prpria alma. No medimos o tempo, medimos a ns mesmos no tempo. A no ser que seja o tempo que nos mea.
3.21 Poltica e tica
Os homens so insociavelmente sociveis. (Immanuel Kant)
Como as cooperativas mdicas so instituies que se ocupam dos interesses de muitos (cooperados) e so dirigidas por um (presidente), ou por alguns poucos (conselhos deliberativos), a poltica nessas organizaes ocupa um papel de destaque. Existe alguma relao entre tica e poltica? Se a resposta for positiva, a tica do mdico auditor fica intimamente vinculada poltica. Vimos que a tica a arte de viver bem e escolher o que mais nos convm como indivduo. A poltica a arte de viver bem, organizando a convivncia social para que cada um possa escolher o que lhe convm (SAVATER, 2001, p. 156-160). tica e poltica esto intimamente relacionadas: ningum pode ter uma vida boa omitindo-se olimpicamente da poltica. Savater (2001) estabelece as seguintes diferenas entre tica e poltica: A tica se ocupa com o que cada um faz com a sua liberdade. A poltica se ocupa com o que muitos fazem com suas liberdades. Na tica o importante querer bem. Cada um faz o que faz porque quer. Na poltica o que importa so os resultados das aes, isto , funcionar. Um exemplo disso: respeito aos sinais de trnsito. Para a tica o que importa querer respeitar os sinais; para a poltica o que importa que todos respeitem os sinais.
109
Para a poltica, todos os que respeitam os sinais de trnsito so igualmente bons, quer o faam por medo, ou por rotina, ou por convico racional.
Para a tica, s quem respeita os sinais de trnsito por convico racional merece apreo, porque so os que melhor entendem o uso da liberdade.
Resumindo, independentemente do que os outros faam, h uma diferena entre a pergunta tica que fao a mim mesmo (como quero ser?) e a preocupao poltica com que a maioria funcione harmonicamente. Uma ocupa-se do querer, a outra do funcionar (resultado das aes). Mas h um outro enfoque da funo da poltica (SAVATER, 2001, p. 38-39). Kant deu a entender que nossa forma de viver em sociedade no apenas obedecer e repetir, mas, tambm, nos rebelar e inventar. No nos rebelamos contra a sociedade, mas sim contra uma sociedade determinada. No somos simplesmente associais ou anti-sociais. Os grupos animais s vezes mudam suas pautas de conduta de acordo com as exigncias da evoluo biolgica para assegurar a conservao da espcie. J as sociedades humanas se transformam historicamente de acordo com critrios muito mais complexos. To complexos, que no sabemos mais quais so. Ora, em todas as sociedades humanas h razes para a obedincia e para a rebelio. Por isso Savater (SAVATER, 2001, p.. 38-39) diz que ... a poltica no mais que o conjunto das razes para obedecer e das razes para desobedecer. O homem tem medo de sua liberdade, das opes e tentaes que se abre diante dele, dos erros que pode cometer e das barbaridades que poder vir a fazer, se quiser. Erich Fromm (1900-1980) mostrou isso em seu livro O medo da Liberdade. Savater (2001, p. 172-173) diz que o homem flutua num mar de dvidas, sem pontos fixos de referncia, tendo de escolher pessoalmente seus valores, submetido ao esforo de
110
examinar, por si mesmo, o que preciso fazer sem que a tradio, ou os deuses, ou a sabedoria dos chefes possa aliviar muito sua tarefa. Mas, acima de tudo, tem medo da liberdade dos outros. Sentimos a liberdade dos outros como uma ameaa porque gostaramos que fossem perfeitamente previsveis. Muitas pessoas renunciariam, com prazer, sua liberdade, contanto que os outros tambm no a desfrutassem. Minha liberdade perigosa porque posso us-la mal e prejudicar a mim mesmo. A dos outros, nem falar, porque podem empreg-la para me prejudicar. Nem sempre so os governantes que querem acabar com as liberdades. Em muitas ocasies os cidados que lhes pedem essa represso, cansados de serem livres, ou temerosos da liberdade. No raras vezes cidados livres utilizaram sua liberdade para acabar com as liberdades e empregarem a maioria democrtica para abolir a democracia. Porque os membros de uma sociedade, que so muitos obedecem a um rei, um tirano, um ditador, um presidente ou um chefe? Porque renunciar a uma parte da liberdade pessoal e obedecer a um outro? Labotie (1530-1563) em seu Discurso da Servido Voluntria (96) responde a essa pergunta de maneira muito semelhante a Savater (2001, p. 57-62). Trata-se de aproveitar ao mximo as vantagens de viver juntos. Thomas Hobbes41, filsofo ingls do sculo XVII diz que os homens elegeram chefes por medo de si mesmos. Cada um prefere renunciar a seus impulsos violentos contra os demais e submeteremse todos a um nico monopolizador da violncia: o governante. Mais vale temer a um do que a todos, diz Hobbes.
41
Citado por Savater na obra mencionada.
111
Savater (2001) observa que at um Calgula menos ruim do que deixar soltos os mil calgulas que todos trazemos dentro de ns. O hbito de todos ns obedecermos a um, devemos t-lo adquirido s custas de muito sangue e tremendas presses coletivas. Por isso, uma espcie de santo temor rodeia todo aquele que ocupa uma chefia. Por essa razo os chefes foram, s vezes, considerados deuses terrenos. prefervel considerar o chefe um pouco mais que homem e assim obedecer sem se sentir humilhado. Nossos pais so os primeiros chefes: so como deuses: so mais fortes, sabem mais coisas. Assim, tambm, cada grupo, cada conjunto social, tem algo de infantil. A unio de muitos indivduos sempre um pouco mais elementar do que um indivduo isolado: mais ingnua, mais impulsiva, menos madura, mais ansiosa, mais instvel. Em alguns aspectos a coletividade aumenta as capacidades individuais; em outros as diminui. Quando no havia escrita, ou quando a maior parte das pessoas ainda no sabia ler, os ancios tinham enorme importncia, pois representavam o tesouro da memria: guardavam os achados do grupo. Quando os grupos se tornaram maiores em nmero, e com ocupaes mais diferenciadas, as questes polticas ficaram mais complexas. O melhor chefe deixou de ser aquele que ganhava mais guerras e passou a ser o mais capaz de conseguir uma paz proveitosa (para poder comerciar com os vizinhos). Por mais paradoxal que parea, o comrcio foi o primeiro substituto da guerra. Como os homens se movem por interesses, eles nunca abandonam uma prtica que produz benefcios como, por exemplo, a guerra a no ser substituindo-a por algo que interesse mais, e nunca pregando contra ou pedindo o arrependimento dos beneficiados. Aristteles disse que somos animais cidados, seres de natureza poltica.
112
Estamos sempre inventando coisas novas, gestos inditos, contra as abominadas cerimnias fnebres da morte (SAVATER, 2001, p. 31-32). Por isso os homens acabam morrendo contentes em defesa e benefcio das sociedades em que vivem; porque ento a morte j no um acidente sem sentido, e sim a maneira que o indivduo tem de apostar voluntariamente naquilo que no morre, naquilo que representa coletivamente a negao da morte. Pela mesma razo os homens percebem que, quando suas comunidades so aniquiladas, consuma-se o triunfo de um tipo de morte mais grave e mais terrvel do que qualquer morte individual. Se a morte o natural, ento a sociedade humana , de certa forma, sobrenatural. Assim, somos seres de natureza um pouco sobrenatural, pois somos polticos. Ora, Kant chamou nossa sociabilidade de insocivel. Como poderamos, ento, organizar uma tal sociedade? Somente atravs da poltica (SAVATER, 2001, p. 156-157). Os filsofos, de Plato em diante, sempre trataram a poltica como um conflito indesejvel, que preciso corrigir. Eles no a consideraram uma expresso da liberdade criadora, que deva ser corrigida e canalizada. A filosofia poltica parece supor que s ter xito autntico quando a poltica for suprimida e a maioria dos filsofos sonha com uma soluo que nos permita viver sem poltica, logo sem histria. Por isso tantos grandes filsofos foram adversrios declarados da democracia. Essa averso pela democracia um paradoxo, pois a filosofia nasce com a democracia e, em certo sentido essencial, inseparvel dela. Na viso de Savater (2001), quando h democracia e quando h filosofia? H democracia quando assumimos que nossas leis e projetos polticos no provm dos deuses ou da tradio, mas da autonomia de cada cidado, harmonizada
113
polmica e transitoriamente com a autonomia dos outros, que tm iguais direitos de opinar e decidir. H filosofia quando assumimos que devemos pensar por ns mesmos, sem dogmas, suportando a crtica e o debate. Em outras palavras, o projeto da democracia, no plano scio-poltico, o equivalente do projeto filosfico no plano intelectual. Assim como a filosofia implica que sempre haver pensamento (isto , dvida e disputa sobre as coisas mais essenciais), a democracia implica que sempre haver poltica (no sentido de discordncia e conflito). Quanto a dvidas e conflitos sobre o essencial, os filsofos costumam se entender mais ou menos a contragosto, mas quanto aos fundamentos da poltica, todos querem resolvlos de uma vez por todas. Ora, acabar com o pensamento autnomo seria uma desgraa, mesmo para o pensador mais arrogante, mas cancelar de uma vez por todas a autonomia social discordante de cada indivduo seria um triunfo desejvel por muitos grandes tericos da sociedade. Talvez venha da o gosto de tantos filsofos da poltica pelas utopias.
114
3.22 Os especialistas em moral
possvel a existncia de especialistas em moral? Peter Singer escreveu um artigo intitulado Especialistas em Moral.42 Nesse estudo ele responde quela pergunta, e defende seu ponto de vista da seguinte forma:
Um pensamento bastante difundido tem exercido forte influncia sobre a filosofia moral: No existe o que se chama especialidade em moral, ou ento, Os filsofos morais no so especialistas em moral. Essa posio geralmente defendida por argumentos do seguinte tipo: uma tolice, e tambm uma presuno, um filsofo, seja qual for o seu tipo, fazer pose de campeo da justia....muitas pessoas consideram a filosofia moral como um assunto insatisfatrio, pois elas se voltam equivocadamente para o filsofo moral em busca de orientao.43
Ou ento:
... na qualidade de filsofos morais eles no dispem, quanto ao certo e ao errado, de nenhuma informao especial que no esteja ao alcance do grande pblico; tampouco trazem a vocao para assumir aquelas funes exortatrias realizadas de forma to adequada pelos clrigos, polticos, escritores lderes...44
Para alguns, como C. D. Broad45, os pregadores fazem seu trabalho de forma muito adequada, o que os diferencia do filsofo moral. Esquecem que, na mente do pblico moralidade passou a significar apenas um sistema de proibies contra certas formas de fruio sexual, exatamente por causa do mau desempenho dessas pessoas consideradas pelo pblico como lderes morais da comunidade. Outro argumento seria a noo de que os juzos morais so puramente emocionais: a razo no teria nenhum papel na formao desses juzos. Ora, se os pontos de vista morais de qualquer pessoa fossem to bons quanto os pontos de vista dos demais, realmente no poderia haver especialistas em moral.
42
43
Publicado pela primeira vez em Analysis, v. 32, 1972, p. 115-117, reproduzido posteriormente em Vida tica. The Analysis of Moral Judgements, de A. J. Ayer, em Philosophical Essays, (Londres, Macmillan, 1954). 44 Ethics and the History of Philosophy, de C.D. Broad (Londres, Routledge & Kegan Paul, 1952) in Philosophical Essays, (Londres, Macmillan, 1954). 45 Ethics and the History of Philosophy, de C.D. Broad (Londres, Routledge & Kegan Paul, 1952).
115
Essa uma verso muito grosseira do termo emocionalismo, o que enfraquece bastante esse argumento. Parece claro que as concepes morais de qualquer pessoa no podem ser to boas quanto as concepes de todos os demais. Ryle46 apresenta um argumento um pouco melhor. Ele diz que a diferena entre o certo e o errado no comporta um conhecimento genuno. Trata-se, antes, de uma preocupao com esta questo. Segundo Ryle, no podemos esquecer a diferena entre o certo e o errado, mas podemos deixar de nos preocupar com isso. O homem honesto no , de forma alguma, especialista, seja l no que for. Mas, para Singer, um homem honesto tem um significado diverso de um homem moralmente bom, pois este ltimo sabe como resolver conflitos de valores. Tomemos o seguinte exemplo: uma pessoa rica me paga a mais. Devo avis-lo ou doar o dinheiro para aliviar a fome? Aqui surge o conflito entre a honestidade e a caridade, o que nos obriga reflexo e argumentao. A preocupao em fazer o que correto essencial, mas no suficiente.A Histria est cheia de exemplos de homens bem intencionados, porm mal orientados. Se o cdigo moral de nossa sociedade fosse perfeito, poderamos, simplesmente, viver de acordo com o cdigo, sem necessidade de reflexo. Mas h motivos para crer que a sociedade em que vivemos no tem normas perfeitas. Uma grande variedade de questes ainda no tem normas consensuais. Assim, um homem moralmente bom ter de tentar elaborar, por si mesmo, cada questo relacionada com aquilo que lhe compete fazer. Essa elaborao no fcil porque requer:
46
On forgetting the Difference between Right and Wrong, de Ryle, em Essays on Moral Philosphy, A. Melden (Seatle, University of Washington Press, 1958), Washington.
116
1. Obter informaes. 2. Avaliar as informaes. 3. Agregar tais informaes s nossas convices morais. 4. Definir um mtodo de raciocnio. 5. Adotar uma conduta frente questo, e segui-la. 6. Ser imparcial. Vamos tomar um exemplo: posso ter dvidas sobre saber se correto comer carne. Preciso de informaes: Os animais tm capacidade de sofrer? Quais so os mtodos de criao e abate em vigor? Ou ento, tenho dvidas sobre os efeitos da dieta vegetariana sobre a sade humana. Qual a escassez de alimentos no mundo? Ao suspender a produo de carne, seriam produzidas quantidades maiores ou menores de alimentos? O passo seguinte seria avaliar essas informaes, isto , atribuir-lhes valores e, depois, agreg-las s nossas crenas morais. Conforme o mtodo de raciocnio moral que utilizarmos, a conduta subseqente poder: Produzir mais felicidade, ou menos sofrimento. Gerar empatia de nossa parte. Induzir-nos a pesar o conflito entre interesses e deveres.
Seja qual for o mtodo, meu prprio desejo pode tornar parcial minha deciso, e preciso ter conscincia disso. A coleta de informaes, a seleo da informao mais relevante, a combinao de ambas as coisas numa postura moral bsica, ser imparcial, nada disso fcil.
117
Ora, algum habituado a conceitos morais e argumentao moral,que disponha de tempo para reunir tais informaes e refletir sobre elas, ter mais chances de chegar, com maior freqncia, a uma concluso solidamente fundamentada, do que algum pouco acostumado a conceitos e argumentos morais e sem muito tempo disponvel. Nesses termos a especialidade em moral parece perfeitamente possvel. O problema no saber a diferena entre o certo e o errado, mas decidir o que certo e o que errado. Para um homem comum no to provvel que se torne um especialista em questes morais quanto o para um filsofo moral. A formao geral, como filsofo, torna-o muito mais competente para argumentar e identificar inferncias vlidas. Sem uma experincia especfica em filosofia moral, sem conhecimento de conceitos morais e de lgica de argumentao moral, pode surgir uma sria confuso se nos envolvermos com esses temas. Isso no precisa de demonstrao, pois j foi demonstrado na filosofia moral recente. A clareza no um fim em si, mas um auxiliar da argumentao slida. O filsofo moral pode, se quiser, pensar em tempo integral sobre questes morais. A maioria das pessoas tem outras ocupaes. Se vamos emitir juzos morais usando alguma base que no seja, simplesmente, nossas intuies irrefletidas, necessitaremos de tempo para reunir fatos e refletir sobre eles. Singer conclui dizendo que:
Seria de espantar que os filsofos morais no fossem, em geral, mais aptos que os no-filsofos para chegar a concluses morais mais corretas e bem fundamentadas, pois esto prontos a lidar com questes normativas e a examinar fatos relevantes.
o ofcio deles.
118
4 A MODERNIDADE
Oh, maravilha! Que adorveis criaturas aqui esto! Oh, admirvel mundo novo que possui gente assim. (William Shakespeare)
As comunidades antigas eram menos reguladas, menos populosas e mais homogneas que as atuais. As relaes humanas eram mais clidas. As sociedades modernas, de massa, como diz Savater (2001, p. 149), despersonalizaram as relaes humanas, tornando essas relaes muito frias. O controle governamental ou simplesmente social - sobre as condutas individuais no consegue impedir que muitas pessoas padeam misria e abandono e conheam poucas vantagens da vida. Porm, a nossa sociabilidade no apenas um fardo externo nossa vontade, e que se impe nossa autonomia: uma exigncia da nossa condio humana. Em outras palavras, as sociedades no so apenas um acordo provisrio e mais ou menos conveniente entre indivduos racionais e autnomos. Ao contrrio, indivduos racionais e autnomos so o excelente resultado da evoluo histrica das sociedades. Esses mesmos indivduos contribuiro, depois, para a transformao dessas sociedades, num verdadeiro e constante processo de realimentao. Enrique Rojas (2000), mdico psiquiatra, pensador e escritor espanhol, dedicou um de seus livros anlise do Homem Moderno. Para Rojas (2000, p. 120), o homem moderno, ou light tem por bandeira uma tetralogia nihilista: o hedonismo, a permissividade, o consumismo e o relativismo ideolgico, tudo isso costurado pelo materialismo.
119
4.1 O hedonismo
O hedonismo tem suas razes no Imprio Romano (ROJAS, 2000, p. 19) e nos estados modernos dos sculos XVII e XVIII. Sua lei mxima : o prazer acima de tudo, e o seu cdigo a permissividade. A vida tem de ser contemplada como um gozo ilimitado e preciso buscar avidamente o prazer, sem nenhum outro questionamento, viver bem a qualquer custo, procurar sempre sensaes novas e excitantes. a diverso sem restries, que indica a morte dos ideais. A permissividade, para Rojas, a chegada a uma etapa decisiva da histria. Aqui no h proibies nem limites. uma revoluo sem finalidade, nem projetos, sem vencedores nem vencidos. Tudo se envolve em cepticismo e individualismo fatais. Nada surpreende nem escandaliza.. H um desmantelamento axiolgico47 que produz vidas vazias, mas sem grandes dramas, nem vertigens angustiantes ou tragdias. Aqui no acontece nada. a metafsica do nada, porque morreram os ideais, e o resto abundante. As existncias no tm aspiraes, nem denncias: tudo relativo.
4.2 A permissividade
Na permissividade no h territrios vedados, ou impedimentos, exceto as leis cnicas, muito gerais (ROJAS, 2000, p.120). A permissividade evolui assim: pequenos grupos, com interesses miniaturizados provocam uma surpresa inicial.
47
Axiolgico: aquilo que constitui um valor ou a ele diz respeito (Houais, Antnio. Dicionrio Houais da Lngua Portuguesa: Rio de Janeiro: Objetiva, 2001).
120
Mais tarde a sociedade assume uma indiferena relaxada, uma mistura de insensibilidade fria, desapaixonada e cruel. Surge, ento, um homem sem referenciais, que se movimenta para todos os lados, mas no sabe aonde vai: um homem que em vez de ser bssola vela (ROJAS, 2000, p. 19). Da surge uma forma especial de tristeza: a paixo pelo nada e o desejo de uma nova experincia: arrasar tudo para ver o que sai da ruptura dessas diretrizes. Tudo isso ocorre sem dramas, nem catstrofes, nem vertigens. Hoje no existem debates. O exemplo claro disto a televiso. Tudo convida a viver sem compromisso. Talvez o exemplo mais claro da ausncia de compromisso seja a moderna vida conjugal, pois s quem livre capaz de se comprometer. J no existem inquietudes culturais, nem denncias, nem grandes aspiraes sociais.
4.3 O consumismo
O consumismo filho do hedonismo (ROJAS, 2000, p. 20) e passa a ser a frmula ps-moderna da liberdade. O ideal de consumo da sociedade capitalista a multiplicao - ou a contnua substituio de objetos por outros cada vez melhores. A origem disso tem fortes razes na propaganda de massa. Aquilino Polaino Lorente em La agonia Del Hombre Libertrio48 estabelece uma seqncia do que ocorre no consumismo:
Fazer para ter; ter para consumir mais; consumir mais para apresentar uma imagem melhor; dispor de uma imagem melhor para fazer mais.
48
Madri, U. Piura, 1987.
121
Essa a chamada sndrome da cebola, pois como a cebola, o homem mistura-se a outros ingredientes, ou seja, s coisas de sua propriedade, identificando-se, por fim, com sua prpria roupa, sendo impossvel distinguir um do outro. O materialismo faz com que as pessoas obtenham reconhecimento social pelo dinheiro que possam ganhar.
4.4 O relativismo filosfico e o ideolgico
O relativismo ideolgico talvez seja o ponto crucial da questo da modernidade. A pretenso verdade absoluta deve ser descartada? Comecemos com a opinio de Savater (2001, p. 38-40) sobre o relativismo filosfico. Para que uma argumentao possa ser dita racional preciso que ela concilie o subjetivo (isto , o pessoal) com o objetivo (isto , o universal). Segundo os relativistas isso impossvel, pois nossos condicionamentos subjetivos sempre acabam por se impor. Em outras palavras, para os relativistas, cada um raciocina segundo sua etnia, seu sexo, sua classe social, seus interesses econmicos ou polticos, ou seu carter. Cada cultura tem sua lgica, e cada pessoa seu pensar idiossincrtico e intransfervel. Isso significa que haveria tantas verdades quanto culturas, caracteres, ou sexos. possvel que nossos condicionamentos scio-culturais, ou psicolgicos, invalidem totalmente o alcance universal de certas verdades obtidas a partir deles, e apesar deles? Se respondermos que sim, isto equivaleria a dizer que no existem, ou no podem ser alcanadas, as verdades universais racionalmente objetivas. Savater, ento, pergunta: mas esta prpria afirmao j no uma verdade racional universal e objetiva? Para desconfiar dos critrios universais de razo e de verdade, necessitamos de algo, como uma razo e uma verdade, que sirvam de critrio universal.
122
O peso dos condicionamentos subjetivos varia muito conforme o campo da verdade considerado49. Mesmo assim, o relativismo faz uma contribuio valiosa quando sublinha que impossvel estabelecer uma fonte ltima e absoluta, da qual provenha todo o conhecimento verdadeiro50. Isso no ocorre acidentalmente, por incapacidade da nossa sabedoria, mas pela natureza de nossa capacidade de conhecer. Um importante terico do sculo passado, o austraco Karl R. Popper (1902-1994)51 diz que no existe nenhum critrio para estabelecer se alcanamos a verdade. A nica coisa que est ao nosso alcance descobrir os sucessivos erros das nossas opinies. A tarefa da razo seria, assim, antes negativa (apontar equvocos, ou inconsistncias do saber) do que afirmativa (estabelecer a autoridade definitiva da qual provm toda a verdade). Ento, dizer que algo verdade significa apenas que mais verdadeiro do que outras afirmaes concorrentes sobre o mesmo tema, mesmo que no seja a verdade absoluta. George Santayana (1863-1952), um grande filsofo espanhol 52, dizia no ser por acaso que a posse da verdade absoluta se encontra alm das mentes particulares. Segundo o autor, essa posse incompatvel com o estar vivo, porque exclui toda situao, rgo, interesse, ou data de investigao, de carter particular: a verdade absoluta no se pode descobrir justamente porque ser uma perspectiva. Savater conclui com uma assertiva fundamental:
O fato de toda verdade que alcanamos pela razo responder a uma certa perspectiva no a invalida como verdade: s a identifica como humana.
Ento, a pretenso verdade absoluta deve ser descartada: o relativismo filosfico.
49 50
Veja campos da verdade no final do subitem 3.12, p. 69. Isso no se refere a Deus, pois estaramos tratando de outro campo da realidade. 51 Citado por Savater na obra mencionada. 52 Citado por Savater na obra mencionada.
123
Porm, isso no significa que se deva absolutizar" o relativo. o que fez o homem moderno atravs do relativismo ideolgico (ROJAS, 2000). O relativismo ideolgico cria regras determinadas pela subjetividade, isto , o homem moderno procura o absoluto a seu modo: converte-o em relativo. Esse relativismo nada tem a ver com o relativismo filosfico, pois filho da permissividade. No passa de um mecanismo de defesa, j estudado por Freud. Os juzos ficam suspensos e sem consistncia: cria-se um novo cdigo de tica. Tudo depende. Qualquer anlise pode ser positiva ou negativa. No h nada absoluto, nada totalmente bom, nem totalmente mau. Tudo positivo e negativo, bom e mau, ou ento, nada bom, nem mau. Tudo depende do que pensamos, de nossas opinies. Os novos valores so os dos triunfadores e desta tolerncia interminvel nasce a indiferena pura. Assim, j no h debate de idias, pois no mais existe necessidade disso. Em conseqncia, surge um cinismo prtico, a decepo plena. Tudo negocivel. No que o cnico negue a realidade: ele a comprova e reconhece, mas acha que no vale a pena alcanar a verdade. Ele vive instalado na torre do cinismo. Ficou pragmtico: pensa uma coisa e faz outra completamente diferente (ROJAS, 2000, p. 138-39). Esta a moral do pragmatismo, a mstica do nada, o culto da novidade, em que a espiritualidade chega a ser o novo, apenas como necessidade do final de um sculo em decadncia. No se fique pensando, entretanto, que o homem moderno seja religioso, nem ateu. Ele constri uma espiritualidade totalmente particular, segundo sua prpria perspectiva: ele, somente ele, quem decide o que est bem e o que est mal. Seu sonho de infinito comea por uma satisfao materialista dinheiro, poder, prazeres, honrarias e termina praticando uma tica sua medida.
124
Enquanto isso, ele trata os demais como objetos, instrumentalizando as relaes. Numa nova poca, porm, no seria apropriado o surgimento de um homem novo? Savater (2002, p. 173) diz que alguns utopistas e quase todos os polticos totalitrios precisam de um homem novo que sirva de matria prima para seus projetos. E continua: para ser novo precisaria deixar de ser propriamente humano, o que nunca acontecer, pois a sua prpria substncia simblica composta de uma tradio de conhecimentos adquiridos, experincias histricas, conquistas sociais, memrias e lendas. As pessoas nunca podero ser lousas apagadas, nas quais se escreva, arbitrariamente, a nova lei social. Tambm impossvel limpar os homens do apego racional que tm a seus prprios interesses, para submet-los a um interesse global ou bem comum por determinao de uma sabedoria acima de suas cabeas. Se desejarmos uma poltica de concrdia, ela tem de ser forjada a partir de seres humanos reais, com suas razes e paixes, com suas discrdias e egosmo depredador e, tambm, com sua necessidade de ser reconhecido pela simpatia social dos outros. Para Savater essa concrdia ser sempre frgil, segregar seus prprios venenos, s vezes a partir de suas melhores conquistas. Para Rojas (2000), com o relativismo ideolgico as opinies e os juzos particulares atingem suas apoteoses, e passamos a aceitar o que dizia Protgoras (490 a.C.- 420 a.C.): O homem a medida de todas as coisas. Ou, em outras palavras: a mente de cada pessoa a sua viso da realidade. As diversas formas de vivncia que marcaram a vida de cada pessoa moldaro, cada uma, um tipo de verdade. Como afirma Rojas (2000): O novo absoluto : tudo relativo". O relativismo ideolgico do homem moderno acaba por gerar e impor uma tica dos fins, isto , uma tica das finalidades, ou uma tica da situao, mas que no deixa de ser,
125
tambm, uma tica do consenso, que se aproxima muito daquela deciso majoritria, que se verificou no subitem 3.13, p.76. Agora a regra : se h consenso, a questo vlida. Aqui, o mundo - com suas realidades mais profundas - submetido a um plebiscito, para que seja decidido se uma determinada questo se constitui em algo positivo ou negativo para a sociedade, pois o importante o que decide a maioria (ROJAS, 2000, p. 21), ou, o que a maioria disser a verdade. Temos, ento, a idia de consenso como juiz ltimo. bvio que, enquanto resposta de uma parcela da populao em relao a um determinado tema, o consenso - como juiz ltimo - um erro (ROJAS, 2000, p. 41), pois as coisas no so boas nem ruins porque assim opina a maioria, mas sim porque so positivas ou negativas. A ideologia do homem moderno passou a ser o pragmatismo; sua norma de conduta o que est na moda; sua moral neutra e subjetiva. Rojas diz que o homem moderno tem uma melancolia new look. Vive como objeto manipulado, tiranizado por estmulos deslumbrantes, mas que no o gratificam. de uma frieza impassvel, de neutralidade sem compromisso e, ao mesmo tempo, de curiosidade e tolerncia ilimitadas. No se preocupa com a justia, nem com os velhos temas dos existencialistas, nem com os grandes temas do pensamento, como a liberdade, a verdade, o sofrimento. Para Cristopher Lasch53: o homem moderno preocupa-se com a sade, com livrar-se dos complexos, esperar as frias, viver sem ideal e sem objetivos transcendentes. A vida j no tem heris no passado. O lance da moda surpreender, aproveitar a vida: ginstica, vrios seguros de vida, dietas ligth, sauna, incultura, muitos jornais, muitas revistas, muita informao sem capacidade para sintetizar, nem tempo para amadurecer.
53
Em A Cultura do Narcisismo (1989), citado por Rojas, na obra mencionada.
126
4.4 O cepticismo e o ideal assptico
Non so pi cosa son, cosa faccio. (Mozart , Fgaro)54
O cepticismo tambm uma caracterstica do homem moderno, diz Rojas (2000, p. 42). Para o cptico, a fome do absoluto impossvel. O homem moderno, cptico, tem uma existncia deriva. Os grandes temas, como a dor, o sofrimento, a morte, de onde viemos, para onde vamos, no so entendidos plenamente. Logo surge a melancolia, que no leva a lugar nenhum. Os cpticos negam a crena na prpria razo e na verdade. O que crena? Savater (2001, p. 34-45), diz que foi o filsofo espanhol Ortega y Gasset (1883-1955) quem distinguiu idias de crenas. Idias so nossas construes intelectuais como, por exemplo, a teoria da relatividade. Crenas so nossas certezas como, por exemplo: ao sair de casa chegarei a uma rua conhecida. Podemos dizer que temos uma idia, mas somos obrigados a dizer que estamos numa crena. Talvez a tarefa da filosofia seja questionar, de vez em quando, nossas crenas (da o incmodo das perguntas filosficas) e substitu-las por idias apoiadas por argumentos. Por isso Aristteles disse que o comeo da filosofia o assombro (porque abala as crenas). Mais adiante veremos que o homem moderno perdeu a capacidade de assombrar-se. No entanto, para viver o dia-a-dia, at os filsofos precisam apoiar-se em crenas teis, de senso comum.
54
No sei o que sou, nem o que fao.
127
A razo serve para examinarmos nossos supostos conhecimentos, recuperar a parcela que tenham de verdade e, a partir dessa base, buscar novas verdades. Savater quem declara: Passamos de crenas tradicionais, meio inadvertidas, para outras, racionalmente comprovadas. E porque os cpticos negam a crena na razo e na verdade? Eles sustentam que a razo humana fracassaria ao tentar captar e reproduzir a realidade Que resposta poderamos dar aos cpticos? Savater (2001, p. 34-35) em Perguntas da Vida, argumenta da seguinte maneira: O cptico considera segura sua crena no cepticismo? Mas, se nada verdade, no verdade que nada verdade? Sendo possvel dar bons argumentos contra a possibilidade de conhecimento racional, no necessitamos da razo para argumentar? O cptico tem de raciocinar para nos convencer - e a si mesmo de que raciocinar no serve para nada. Cada crena nossa falvel. Ora, se erramos, preciso, tambm, aceitar que teria sido possvel acertar, pois se no houvesse a possibilidade de acertar tambm no haveria a possibilidade de erro. O pior do cepticismo no nos impedir de afirmar algo verdadeiro, mas nos impedir de mostrar o que falso. Ironicamente, Savater conclui: Quem no cr em nenhuma verdade de nossas crenas pode sentar-se na linha do trem. Para Rojas (2000, p. 15-17) o homem moderno tem um ideal vazio, assptico: no h entusiasmos desmedidos, nem herosmos. No h rebelies porque sua moral um conjunto de regras de urbanidade, ou uma mera atitude esttica.
128
Ele cool, light, porque no acredita em quase nada, muda rapidamente de opinio e abandonou os valores transcendentes. Com isso fica vulnervel: mais fcil manipul-lo. Na era do plstico, o pragmatismo do descartvel faz surgir um novo heri: o triunfador, que passa por cima de tudo para obter fama, poder, bom nvel de vida. O objetivo despertar inveja, ou admirao, ou as duas coisas. A rivalidade vem com matizes de hostilidade. No h mais referenciais nem vnculos. Por isso no tem uma vida conjugal estvel, nem qualquer compromisso srio. uma nova imaturidade, de crescimento lento, mas ntido.
4.5 A arte e a cultura ps-modernas
- Aqui no temos aplicaes para coisas velhas. - Mesmo quando so belas? - Especialmente quando so belas. A beleza atrai, e no queremos que as pessoas sejam atradas por coisas velhas. Queremos que apreciem as novas. (Aldous Huxley , Admirvel Mundo Novo, 1932.)
Quando fala da cultura moderna, Rojas adulterada: consumista, fcil e materialista.
(2000, p. 82-83) assegura que ela est
uma pseudocultura rosa, repleta de intrigas sentimentais e dramas humanos, como nas novelas, cheia de relaes afetivas inusitadas, uma enorme pornografia sentimental que desemboca em sentimentos pobres e falta de amadurecimento coletivo.
E continua: hoje a vida afetiva tem de brotar de alguma coisa obrigatria, isto , as relaes so fomentadas de tal maneira que os planos racionais e os critrios lgico-racionais fiquem marginalizados. H uma irresponsabilidade no terreno afetivo que acaba fazendo escola: drama, violncia, hiper-realismo, trivialidade. Esta forma de apresentar os temas afetivos e emocionais, alm de superficial, tende a ser contagiosa.
129
H uma tendncia para a morbosidade que Jean Baudrillard55 chamou de desordem ps-moderna: tudo esttico, tudo poltico, tudo sexual. Na arte desaparecem as regras e os critrios. Todas as tendncias andam juntas: nasce a antiarte. Todo objeto belo, pois nada belo. Tudo relativo, tudo depende de muitas coisas, que so variveis. Por isso melhor navegar em todas as linhas, e em nenhuma ao mesmo tempo. Para Baudrillard (ibidem) em As Perguntas da Vida (2001, p. 2) o fundo do problema de natureza moral. Ele prega a reduo do pensamento filosfico56, o que est de acordo com o pensamento de Rojas: preciso mudar de rota e nos orientarmos com base nos valores humanos. A cultura ps-moderna individualista (ROJAS, 2000, p. 64-66): ela ope o indivduo famlia, o eu ao grupo, o prazer ao amor autntico, o consumismo sobriedade, pem o stress no lugar da harmonia, as revistas de fofocas no lugar dos livros. o triunfo do consumismo psicolgico. Cultiva-se o narcisismo, os horscopos, a quiromancia, a opinio do psiquiatra ou do psicanalista57. Rojas continua: h uma nova bulimia: yoga, meditao, zen, terapias de grupo, expresso corporal, tudo como reafirmao de posturas e satisfao pessoal. a chamada terapia psi, geralmente acompanhada de filosofias orientais. Na ps-modernidade h um excesso de informaes e, em conseqncia, surge o tdio. A informao atual no formativa, nem construtiva, nem busca o bem do homem (ROJAS, 2000, p. 31-32).
55 56
Lchange symbolique et la mort, Paris, Gallimard,, 1976. Reduo: capacidade de transformar um enunciado em outro eqipolente (de mesmo valor ou significado), mais simples ou mais preciso, capaz de revelar a verdade ou a falsidade do enunciado original (Dicionrio de Filosofia; Nicola Abbagnano. So Paulo, 2000, p. 836). 57 Esta opinio do prprio psiquiatra Dr. Rojas (2000, p. 64-66).
130
H um rio de dados e notcias, muitas negativas, desgraas coletivas e pessoais. Diante de tantas informaes o ser humano torna-se insensvel, no sintetiza o que recebe, e passa a acreditar na vitria do consenso. Rojas (2000, p. 31-32) desenha bem esse quadro quando diz que: "O homem moderno tem uma curiosidade incessante, mas sem bssola; quer saber tudo, e d um salto em direo a lugar nenhum". O culto ao desejo imediato e a ausncia de inquietudes culturais causa a perda do centro de gravidade das hierarquias humanas. Da, tanto faz o que se v na televiso porque, no fim, o tdio vem de qualquer maneira, no por falta de contedos, mas, como diz Rojas, por uma overdose antitica de quase tudo. Quem far a sntese de tantas informaes? E para qu, se no fim o que vale o que as pessoas querem? Ningum precisa submeter-se a nenhuma disciplina. Na mente desse homem existe sempre uma pergunta subliminar: porque no?. Ele tenta ir mais longe, experimenta tudo, sente tudo. como uma vertigem de sensaes diferentes, caleidoscpicas (ROJAS, 2000, p. 42). Essas experincias no buscam nada profundo: s querem fazer com que o homem se distraia, aproveite o momento, no se aborrea. o que a televiso faz hoje. Ela no pretende elevar o nvel de inquietao e, quando h muita concorrncia, preciso ganhar audincia de qualquer maneira: sexo, concursos vulgares, telenovelas. O que caracteriza a TV hoje : conflitos elementares, contedos amorais, situaes raramente edificantes. Fica, ento, estabelecido o que Rojas chamou de relativismo visual (ROJAS, 2000, p. 67). A obsesso, por no renunciar a nada, que leva ao fenmeno do zapping.58 uma espcie de medo de perder alguma coisa interessante ou atual. Na verdade no se busca nada em especial.
58
Percorrer todos os canais de televiso com o controle remoto, sem fixar-se em nenhum.
131
O jogo que se faz no renunciar a nada: a liberdade de ver tudo, mas escapando fugazmente de qualquer vnculo. uma sntese entre a disperso e a evaso de si prprio. No relativismo visual tudo criticvel, nada vale a pena, ou tudo vale a pena. a entronizao do individualismo mais atroz. O homem se converte num absoluto para si prprio. Assim, absolve-se de qualquer censura moral. um sonho, uma quimera, sem argumentos, sem texto, vazia, um castelo de fogos de artifcios que brilha com esplendor para logo se apagar e cair novamente na penumbra, diz Rojas (2000). A literatura tornou-se de consumo rpido, para leitores fceis (ROJAS, 2000, p. 7678), sem quase nada denso que merea ateno e que, no mximo, serve para combater o tdio. preciso ler o que l a maioria das pessoas, pois as conversas giram em torno do que est na moda. Procura-se a coisa leve, suave, porque no h tempo e, muito menos, inquietudes. A publicidade recomenda livros feitos para homens sem cultura, sem critrios definidos e que vive de olho na televiso. O importante que o livro venda. Com isso, ficamos impedidos de assumir o legado cultural imponente que temos ao alcance de nossas mos.
4.6 A perda do assombro
Muitas coisas existem e, contudo, nada mais assombroso do que o homem. (Sfocles)
132
As transformaes sofridas pela sociedade nos ltimos anos foram contempladas, no incio, com surpresa, depois com progressiva indiferena e, finalmente, como necessidade de aceitar o inevitvel(ROJAS, 2000, p. 15). Para usar uma expresso da moda: faz parte. Drogas, marginalizao dos jovens, greves, crises e rupturas conjugais, segundo Rojas, se admitem como sendo algo que est aqui e contra o qual no se pode fazer nada. Savater (2001, p. 66-67) conta que Sfocles em sua obra Antgona (430 a.C.) descreve o assombro de seu coro diante das faanhas do ser humano e da capacidade de utilizar bem ou mal suas destrezas. E diz, tambm, que talvez o mais humano de toda a obra seja exatamente esse assombro do coro diante dessa mescla de admirao, orgulho, responsabilidade e temor que essas faanhas despertam nos homens.
Nosso principal destino, como humanos, parece ser nos assombrarmos bem ou mal uns dos outros.
Numa posio bem oposta de Sfocles, Pico della Mirandola, florentino do sculo XV, escreveu uma obra chamada Oratio pro hominis dignitate,59 considerado por alguns como o manifesto humanista do renascimento. Para Picco della Mirandola o assombro reside no fato de sermos algo menos que os demais seres, e no algo mais que o resto do mundo, como pensava Sfocles. Todos os seres tm seu lugar pr-fixado por Deus na ordem do universo, e que devem ocupar sempre. s coisas do mundo s resta serem o que so, exceto para o homem. Para Picco, o assombroso no homem que se mantenha aberto e indeterminado, num universo em que tudo tem seu lugar.
59
Orao sobre a dignidade do homem. Traduzido a partir do texto citado por Savater: De la dignidad humana, Editora Nacional, Madri.
133
Deus deixou o homem criado pela metade, para que conclusse ele mesmo, e em si mesmo, a obra divina, criando a si mesmo, de modo que o homem fosse tambm um pouco Deus, pois tem a faculdade de criar, pelo menos aplicada a si mesmo. Pode descer at o vegetal, ou o ptreo, ou elevar-se at o anglico, at a imortalidade. Para Sfocles, o admirvel no homem (que tambm se pode ler como estremecedor, terrvel) o que o homem pode chegar a fazer com o mundo, pela tcnica, pela astcia, ou pela linguagem. Para Picco, o assombroso est no que o homem pode fazer consigo mesmo. Para ele a dignidade do homem vem do fato de que ele o ser mais ditoso ou afortunado da criao, algo que Sfocles jamais se atreveria a afirmar. Savater conclui esta exposio dizendo:
Parece que sempre se tentou definir o humano por contraposio, ou por comparao, com os animais. humano quem no animal, nem Deus. bastante evidente que deuses ns no somos, mas h srias dvidas quanto a no sermos animais.
Nada mais nos assombra.
4.7 O discurso da felicidade
.... somente quem ama no precisa mais agir como se amasse.
(Andr Comte-Sponville)
Em seu livro O Homem Moderno, Enrique Rojas faz um interessante discurso sobre a felicidade (ROJAS, 2000, p. 32). Inicia dizendo que o homem moderno no tem por perto a felicidade, nem a alegria: tem bem-estar e prazer. Para Rojas felicidade consiste em ter um projeto, que por sua vez se compe de metas: amor, trabalho, cultura, realizao pessoal, isto , fazer com a prpria vida alguma coisa que valha a pena.
134
O bem-estar, agora, a frmula moderna da felicidade: bom nvel de vida, ausncia de doenas ou problemas importantes. Numa palavra: sentir-se bem, ter segurana. Porm, a alegria no pode ser confundida com prazer. O homem moderno tem prazer sem alegria, porque do seu projeto se esvaziou a autntica alegria. Esse projeto ficou oco, sem consistncia. J a felicidade viver de acordo com o que planejamos, a satisfao de ter cumprido os objetivos mais importantes. Da que a felicidade um resultado, no algo pronto, que se acha. Os sintomas da verdadeira felicidade so: a paz interior, o prazer, a serenidade, a harmonia interior, o equilbrio, a coerncia interior, progredir ao mximo em nvel pessoal. Para Rojas a felicidade consiste em encontrar a si prprio, viver de amor, dar um sentido ao trabalho, ter a cultura como base de apoio, ter um projeto pelo qual lutar. O ser humano animal amororum. O amor ajuda a mover os projetos pessoais. A aspirao fundamental da cultura a liberdade. Ela serve para apreender a realidade, para fazer a vida mais humana e conciliar progresso tcnico com humanidade (ROJAS, 2000, p. 118). Rojas conclui assim:
A felicidade um resultado, mas no supe encontrar algo no final da existncia, e sim no seu percurso. mais uma forma de viajar do que um estado definitivo, pois a felicidade absoluta no existe. uma coisa espordica, que s vezes inexplicavelmente se apresenta, e perece de uma forma rpida. A felicidade uma mistura de alegrias e tristezas, de luzes e de sombras, mas dotada de amor.
4. 8 O fim de uma era
As noites esto grvidas e ningum sabe o dia que nascer. (Provrbio turco.)
135
Enrique Rojas (2000, p. 72-73) tem uma viso no muito otimista (ou realista?) da ps-modernidade. Segundo o autor, hoje se vive, em boa medida, de costas para a morte, como se ela no existisse. O tabu da morte est ao lado da exaltao do ertico e do sexual. Estamos na era da indiferena, isto , se a vida atrapalha, vamos tir-la do caminho. Como no podemos fazer o mesmo com a morte, vamos borr-la psicologicamente de nossa pauta de assuntos. Se, por exemplo, num jantar, surgir um tema srio, muito comum algum logo banalizar a conversa usando algum dissolvente irnico que desvia a ateno geral e leva todo mundo a falar de coisas incuas. O que paira aqui, diz Rojas,
... no a autodestruio; a doena da maioria, ou seja, a banalizao da existncia e o tdio do ser humano, que oscilam entre a teatralidade dos meios de comunicao e uma apatia generalizada, por um comportamento sem fibra, pelo cepticismo e pela ambigidade.
Como no h uma projeo pessoal coerente, o homem torna-se demasiadamente vulnervel, e no forte o suficiente para ir em direo ao seu futuro. Da que as atividades habituais - como educar os filhos, manter um casamento, transmitir ordens ou conservar a disciplina ficam cada vez mais difceis, pois atravessamos um deserto sem nenhum apoio transcendente. Rojas acredita que estamos no fim de uma civilizao, semelhante ao fim do imprio romano (ROJAS, 2000, p. 19). Alvin Toffler60em seus trabalhos fala de trs verses complementares do poder no mundo atual: o poder da violncia, o poder do dinheiro e o poder da informao. O messianismo desapareceu, e os mitos de realizao revolucionria tambm. Contudo, Rojas deixa uma ponta de otimismo, quando afirma que ainda existe a solidariedade.
60
La troisime vague (A terceira onda), Paris, Denoel, 1980.
136
Fernando Savater (2002, p. 110), entretanto, tem uma viso mais otimista, e cita Jorge Luis Borges, que escreveu a seguinte frase no incio de um de seus contos: Couberam a ele, como a todos os homens, maus tempos para viver. Savater diz que ningum nunca viveu tempos favorveis. Sempre houve violncia, roubo, covardia, imbecilidade moral (e da outra). Nunca se viveu no paraso. A opinio de Savater adquire mais nfase quando se l este texto (BOCCACCIO, 1981, p. 50), que poderia hoje figurar adequadamente na primeira pgina de qualquer jornal:
Atualmente, o que mais estimado se faz, o mais honrado pelos senhores grosseiros e mal-educados, o que engrandecido com prmios de alto valor, exatamente aquele que diz mais palavras abominveis, ou que pratica os atos mais vergonhosos. Isto a grande, e digna de lstima, vergonha de nosso tempo; e constitui prova bastante convincente de que as virtudes, ao sumirem da terra em que habitamos, abandonaram os mseros mortais na lama dos vcios61.
Para Savater, a deciso de viver bem cada um deve tomar a respeito de si mesmo, dia aps dia. Numa entrevista a Edmond Blattchen, no seu programa chamado Nomes de deuses, gravada em 14 de abril de 1992 e transmitida em 5 de maio do mesmo ano pela Rdio Televiso Belga, Edgar Morin (2002, p. 30-33) comenta o fim da era moderna. Essa entrevista foi posteriormente traduzida e editada pela Universidade do Estado do Par. Diz ele:
Tenta-se sair do que chamo idade de ferro planetria. Vive-se numa poca agnica ... Recentemente descobrimos que no s o sol no estava no centro do universo, mas que o universo no tinha centro! [...] A nova Idade Mdia planetria o fato de estarmos numa poca em que todos os elementos esto prontos para civilizar o planeta. Mas, ao mesmo tempo, estamos longe de uma civilizao civilizada.... Estamos, portanto, numa poca em que temos duas barbries associadas: a velha barbrie dos incios dos tempos: o fanatismo, o dogmatismo, o dio, o desprezo; e depois a nova barbrie annima da tecnocincia, da burocracia [...] entramos num perodo intermedirio [...] no sentido em que haver alguma outra coisa, convulses e caos.
61
Giovanni Boccaccio, Decamerone, Oitava Novela, escrito entre 1348 e 1353.
137
... Idade Mdia, preciso tomar a palavra em seu sentido literal. [...] H algo que quer nascer e algo que se acha bloqueado.
Mais adiante, Edgar Morin (20002, p. 64-67) afirma:
O mundo moderno morre. O que morre, especialmente, a idia de um progresso certo, definido. Porque aqueles que acreditavam que o progresso era dado pelas leis da histria, ou por uma espcie de movimento ascensional, irreversvel, podiam dizer: Sim, h talvez obstculos, mas vamos sempre para o melhor. Hoje sabemos que tudo ambivalente [...] a cincia pode produzir benefcios extraordinrios e, ao mesmo tempo, foras de destruio e de manipulao, que jamais existiram antes. Sabemos que a racionalidade [...] pode bloquear-se e tornar-se racionalizao, ou seja, um sistema lgico, coerente, mas que ignora as coisas concretas. ... A palavra agonia em seu sentido originrio quer dizer essa luta interior, da qual no se sabe se o nascimento ou a morte que vir. Estamos numa poca agnica. [...] Um planeta, uma humanidade quer nascer e no consegue [...] Ela perdeu seu futuro programado. O que resta? Para alguns resta um presente consumvel. Para outros [...] h a volta ao passado. ... Entramos na noite do sculo.
4.9 A esperana de uma nova era
- Vocs precisam - continuou o selvagem de alguma coisa que traga lgrimas. Nada aqui custa muito. (Aldous Huxley, Admirvel Mundo Novo.)
Qual seria, ento, a soluo para o homem moderno? Rojas diz que o sofrimento a forma suprema do aprendizado. Muitos vo precisar passar por um sofrimento e outros tero de fazer um balano pessoal e iniciar um novo caminho (ROJAS, 2000, p. 17). Em outras palavras: a dor ou a reflexo so as nicas sadas. Esse vazio moral (tico) pode ser superado com humanismo e transcendncia (originado de trs = atravessar + scando = subir), quer dizer, atravessar subindo, cruzar a
138
vida, elevando a dignidade do homem, sem perder de vista que no existe autntico progresso se este no se desenvolve com base na tica (ROJAS, 2000, p. 22). O relativismo, para Rojas, s pode ser contido pela existncia de algo absoluto: alguma coisa que seja objetiva e ponto de encontro da condio humana. Este absoluto no pode ser uma opo pessoal, nem coletiva, nem ser submetido a um estudo estatstico, do qual a verdade emerge porque assim diz a maioria: esta seria uma verdade moda da casa. preciso buscar (grifei) a verdade universal, acima das idias pessoais ou das preferncias (ROJAS, 2000, p. 22). O absoluto, a que Rojas se refere, gira em torno e se compe de valores milenares e invariveis, ou seja, h necessidade de um retorno ao humanismo (ROJAS, 2000, p. 68). preciso recuperar o sentido do amor verdade e a paixo pela liberdade autntica (ROJAS, 2000, p. 73). Vivemos numa sociedade triste, sem sonhos. Para sair dela ser necessria muita garra, idias claras, projetar e ensaiar um novo esquema. Rojas diz que, se esse sofrimento no for aceito de modo adequado, o indivduo em vez de amadurecer pode ficar neurtico. Em outras palavras, nessa situao especfica o conformismo poderia gerar algo positivo. Esta a dialtica entre o homem moderno e o seu contrrio. Teramos de procurar um processo "desmassificador", buscar a transcendncia e criar bases para a verdadeira cultura. Nisso, o sofrimento pessoal seria decisivo. Rojas tambm afirma que o sofrimento oculto a melhor via de aprendizado, porque o homem s se voltar para os demais homens depois de passar por experincias negativas singulares, das quais no poder fugir (ROJAS, 2000, p. 81).
139
A sada para deixar de ser uma pessoa moderna estaria na transio da imanncia para a transcendncia, isto , abandonar o individualismo e o materialismo, ligando-nos s virtudes e aos modos de conduta inspirados no melhor do passado e no mais enriquecedor do presente. Seria necessrio um modelo de identidade, um esquema referencial atraente, sugestivo, com fora para nos arrastar nessa direo (ROJAS, 2000, p. 194-98). Edgar Morin, na entrevista j referida (MORIN, 2002, p. 67-69) mostra um pouco mais de esperana :
Certo, nem tudo est perdido. O pior no certo. Creio no improvvel. Em 1940-1941, sob a ocupao alem [...] era altamente improvvel que essa potncia fosse destruda! E ela o foi! No momento do stalinismo triunfante, no momento em que os soviticos entraram, como em manteiga, no Afeganisto, quando eles tinham a metade do mundo rabe e do Terceiro Mundo, quem teria pensado que eles iam desmoronar? Quem podia pensar, h dois milnios, que o enorme exrcito persa que atacou a pequena Atenas por duas vezes iria ser rechaado? Que aquela cidadezinha miservel, uma vez salva, iria instituir a democracia e a filosofia, a herana sobre a qual vivemos hoje? ... Mas o improvvel pode acontecer. Porque ele pode acontecer? Tenho um segundo princpio de esperana, o princpio de Hlderlin:62 L onde cresce o perigo, cresce tambm o que salva. O perigo crescente leva a uma tomada de conscincia que provoca um sobressalto. [...] ainda no tivemos sobressalto no que concerne, por exemplo, nossa civilizao que se desumaniza cada vez mais, cada vez mais abstrata, cronomtrica. Mas esse sobressalto poder vir. ... E o terceiro princpio de esperana o que Hegel chamava a velha toupeira. Nas profundezas da humanidade, no inconsciente, as foras de regenerao trabalham, as foras que querem salvar. No se vem essas foras, mas um dia elas germinam. ... Enquanto isso h essa Idade Mdia planetria, na qual entramos.
62
Friedrich Hlderlin (1770-1843), um dos maiores poetas de lngua alem.
140
5 UTOPIA
Se as coisas so inatingveis, ora... No motivo para no quer-las. Que tristes caminhos se no fora a mgica presena das estrelas. (Mrio Quintana) Mas tambm pode tornar-se fora de transformao da realidade, assumindo corpo e consistncia suficientes para transformar-se em autntica vontade inovadora e encontrar os meios de inovao. (Nicola Abbagnano, Dicionrio de Filosofia, verbete Utopia)
Fernando Savater (2001, p. 194-98) nos conta que quando perguntam a Leszek Kolakowski, um filsofo polons de nossos dias, onde ele gostaria de viver, costuma responder com bom humor:
... no meio de uma floresta virgem de alta montanha, margem de um lago, situado na esquina da Madison Avenue de Manhatan com os ChampsElyses de Paris, numa pequena e tranqila cidade de provncia.
Isso uma utopia: um lugar que no existe. No porque no tenhamos sido suficientemente generosos e audazes para invent-lo, mas porque foi formado com peas incompatveis. Assim tambm no terreno poltico todos os costumes considerados vantagens tm seu preo, ou seja, as desvantagens, conseqncias que julgamos indesejveis. Savater cita os seguintes exemplos: a liberdade dificulta a igualdade; a justia aumenta o controle e a coao; a propriedade industrial deteriora o meio ambiente; as garantias jurdicas permitem que certos delinqentes criminosos escapem do seu castigo; a educao geral e obrigatria pode facilitar a propaganda ideolgica estatal, e assim por diante. Costuma-se, tambm, chamar de utopia uma ordem poltica em que predominaria, ao mximo, alguns de nossos ideais: justia, igualdade, liberdade, harmonia com a natureza etc, mas sem nenhuma desvantagem.
141
Savater diz que isso como projeto uma bobagem e, quando imposio, pior ainda, pois o totalitarismo o sonho de alguns poucos transformado em pesadelo para todos os outros. Nesse sentido essas utopias fecham a cabea; os ideais polticos abrem a inteligncia; esses tipos de utopias levam inao ou ao desespero destrutivo (porque nada to bom como deveria ser); os ideais estimulam o desejo de intervir, e nos conservam ativos. Os ideais polticos no tentam melhorar a condio humana, mas sim a sociedade humana, isto , no o que os homens so, mas as instituies da comunidade de onde vieram. Essas utopias se propem, deliberadamente, a construir um novo homem, enquanto os ideais polticos querem contribuir para que o homem antigo seja mais suportvel, mais responsvel e menos bruto. Todos os ideais polticos so progressivos: estvamos pior antes; precisamente por isso agora podemos querer mais. Os ideais polticos so decididamente racionais, e levam em considerao a experincia histrica, os avanos cientficos, as revolues contra o que achvamos ser sagrado e imutvel. Albert Camus (1913-1960) resumiu isso assim63: Em poltica, os meios que justificam o fim, nunca o fim os meios. Utopia pode significar absurdo, irrealizvel, mas para outros ela o mpeto de transformar o mundo e acabar com as injustias. Savater (2001, p. 157-60) nos ensina que u-topia significa lugar que no est em lugar nenhum, isto , um no lugar, mas que tem um som parecido com eu-topia (lugar bom, o lugar do bem). As utopias tm, pois, aspectos positivos e negativos. Nos seus aspectos positivos as utopias propem uma alternativa global que modificaria o inevitvel modo rotineiro de ver a sociedade, com tudo o que for vigente de
63
Citado por Savater na obra mencionada.
142
fato. Propem, tambm, uma harmonia social baseada na renncia cobia e aos abusos do interesse econmico privado. Nos seus aspectos negativos as utopias podem: gerar, como j vimos, o autoritarismo claustrofbico; transformar os ideais humanos abertos - como a liberdade, a justia, a igualdade, a segurana - em regulamentos asfixiantes, isto , criar o regulamentacionismo que atinge profundamente a privacidade; eliminar a espontaneidade e a inovao. As utopias so proposta para o futuro, mas nenhuma delas admite o futuro desconhecido (depois da instalao delas) como um prolongamento de si mesmas. Segundo Savater (2001), aqueles projetos que pareciam claramente utpicos na poca em que surgiram, e que conseguiram realizao efetiva, acabaram deixando-nos mais receosos quanto s suas capacidades de nos servirem como guias de organizao poltica.64 Por isso a fico cientfica contempornea est repleta de distopias, isto , utopias detestveis, modelos a no serem seguidos, como no Admirvel Mundo Novo, de Huxley, ou Ns, de Zamiatin. A respeito dessas distopias, Savater afirma: As concrdias pr-fabricadas, sonhos de alguns, acabam sendo o pesadelo de outros.
5.1 Cooperao e cooperativismo
- Ainda ontem eles eram macacos. D-lhes tempo. - Uma vez macaco, sempre macaco... - No, eles sero diferentes [...]. Volte aqui mais ou menos dentro de uma era e voc ver ... (Os deuses discutindo a respeito da Terra, na verso cinematogrfica da obra de H. G. Wells O Homem que Podia Fazer Milagres",1936)
64
Savater cita como exemplos a URSS, EUA, Israel e at o III Reich (obra mencionada).
143
A cooperao entre humanos e o cooperativismo tambm - tem suas razes mais profundas na zoologia. Em 1982 os antroplogos Richard E. Leakey e Roger Lewin afirmam que a
transformao de uma criatura social como um antropide - num animal cultural que vive numa sociedade altamente estruturada e organizada somente se tornou possvel quando, entre eles, iniciou o partilhar de trabalhos e de alimentos, isto , a cooperao (LEAKEY, 1982, p. 223-24). Mais adiante esses autores mostram que ao longo de nossa histria evolucionria recente com o incio do modo de caa e coleta - ocorreram presses seletivas extremamente fortes em favor de nossa aptido para cooperar em grupo. Caa e coleta de alimentos - de forma organizada - s sero bem sucedidas se cada membro do bando souber sua tarefa, e se cada um aderir atividade de seus companheiros. essencial, tambm, uma grande dose de conteno de impulsos naturais durante a espreita e captura da presa. O grau de presso seletiva para a cooperao, conscincia grupal e identificao foi to forte, e to extenso o perodo em que essa presso atuou (pelo menos trs milhes de anos, ou mais) que provavelmente foi inserida, at certo ponto, em nossa constituio gentica. Esses autores no sugerem que o animal humano seja um autmato cooperativo, grupalmente orientado. Isso seria negar aquilo que o apogeu da herana evolucionria dos humanos, ou seja, sua capacidade de adquirir cultura por meio da educao e do aprendizado. Eles dizem que somos animais essencialmente culturais, com aptido para formular muitos tipos de estruturas sociais. Entretanto, um impulso com razes biolgica para a cooperao e para o trabalho em grupo proporciona um suporte bsico para aquelas estruturas. O comportamento cooperativo, nascido da nossa herana de caa e coleta, combina-se com a natureza social dos primatas, h longo tempo estabelecida, para dar vida e energia s unidades sociais, com uma extraordinria habilidade para superar os desafios ambientais.
144
Para Leakey (1982), sem dvida, essa a razo pela qual fomos to bem sucedidos como espcie em evoluo. Mas ele lembra que o dom evolucionrio da cooperao grupal tambm pode ser explorado por lderes poderosos para motivar as pessoas, s centenas de milhares, a encontrarem a morte nos campos de batalha desse mundo. Fernando Savater (2001, p. 73-75) tem opinio semelhante mesmo quando afirma que os humanos tm caractersticas zoolgicas que os diferenciam dos animais: 1. humanos adultos durante toda a vida conservam laos afetivos com os parentes mais prximos. Outros primatas s ficam ligados aos consangneos enquanto fazem parte do mesmo grupo; 2. primatas vivem como casais isolados, ou em bandos (as fmeas pertencem ao chefe do bando). S os humanos conseguem fazer a monogamia ser compatvel com a vida em grupo, provavelmente porque convivem com seus filhos de ambos os sexos, mesmo depois da maturidade; 3. humanos estabelecem relaes de cooperao entre grupos diferentes para busca de alimentos e defesa, o que desconhecido entre outros primatas; 4. a caracterstica talvez mais importante: s humanos conservam relaes significativas, mesmo na ausncia daqueles com quem se relacionam, isto , alm dos limites efetivos do grupo ou tribo, ou seja, so capazes de lembrar-se socialmente dos outros, mesmo que no vivam com eles; 5. os primatas vivem fundidos com o meio que lhes prprio. No so capazes de se distanciar dos que os rodeiam, nem daquilo que faa parte das necessidades de sua espcie, isto , formam um contnuo com o que necessitam e querem, inclusive com aquilo de que fogem. No podem ver nada objetivamente, isto , no conseguem desligar-se dos anseios prprios de sua espcie. J os humanos podem se distanciar das coisas, descolar biologicamente delas, e v-las como objetos que
145
possuem qualidades prprias. Por isso alguns filsofos distinguem o meio (em que habitam os animais) do mundo (em que vivem os humanos). Peter Singer tambm se refere s atividades cooperativas entre animais com dois relatos muito interessantes (SINGER, 1998, p. 124-25). Durante muitos anos, Frans de Waal65 e seus colegas observaram chimpanzs que viviam em condies seminaturais em pouco mais de oito mil metros quadrados de floresta no Zoolgico de Amsterd. Tiveram, muitas vezes a oportunidade de observar atividades cooperativas que exigem planejamento. Eis um exemplo.
Os chimpanzs gostam de subir nas rvores e quebrar os galhos para comer as folhas. Para impedir a rpida destruio da pequena floresta, os guardas do zoolgico colocaram cercas eltricas ao redor dos troncos das rvores. Os chimpanzs superaram esse obstculo quebrando grandes galhos de rvores mortas (que no tm as cercas em volta) e arrastando-os at a base de uma rvore viva. Um chimpanz ento segura o galho seco, enquanto outro sobe por ele, passa por cima da cerca e chega rvore. Uma vez ali, colhe as folhas que vai dividir com o chimpanz que ficou segurando o galho.
Na mesma obra, Singer cita o caso de Jane Goodall66, cientista que descreve um incidente que indica a existncia de planejamento futuro da parte de Figan, um jovem chimpanz selvagem da regio de Gombe, na Tanznia. Para trazer os animais para mais perto de seu posto de observao, Goodall escondeu algumas bananas numa rvore:
Um dia, algum tempo depois de o grupo ter sido alimentado, Figan descobriu uma banana que tinha passado despercebida s que Golias, um macho adulto, acima de Figan na hierarquia do grupo, estava descansando exatamente debaixo dela. Depois de uma rpida olhadela, da fruta para Golias, Figan afastou-se e foi sentar do outro lado da tenda, de modo que no mais visse a fruta. Quinze minutos depois, quando Golias levantou-se e afastou-se, Figan, sem um momento de hesitao, dirigiu-se at a banana e pegou-a. evidente que ele tinha avaliado toda a situao: se tivesse subido antes atrs da fruta, Golias sem dvida a teria agarrado primeiro; se tivesse permanecido perto da banana, provavelmente ficaria olhando para ela de vez em quando. Os chimpanzs so muito rpidos para perceber e interpretar os movimentos dos olhos de seus companheiros e, desse modo, bem possvel que Golias acabasse vendo a fruta. Assim, Figan no s se tinha privado da
65 66
Frans de Waal, Chimpanzee Politics (Nova York, 1983) Jane Goodall, Chimpanzees of Gombe , p. 31.
146
satisfao imediata de um desejo, mas tambm se afastado de modo a no entregar o jogo, ao ficar olhando para a banana.
Assim, Singer confirma os pontos de vista de Leakey e Savater, mostrando que nossa atividade cooperativa tem uma matriz zoolgica. Sem essa matriz muito provavelmente no teria sido possvel, milhes de anos mais tarde, o surgimento do cooperativismo como resultado do movimento de idias e do movimento operrio.
5.2 Cooperativismo: um processo social e histrico
Os mineiros voltaram-se, procurando assentos com os olhos. Alguns arriscaram-se a sentar nas cadeiras, enquanto outros, temerosos de estragar as sedas bordadas, preferiram ficar em p. (mile Zola, Germinal; 1881, Quarta Parte; cap. II. - Encontro da direo com os mineiros).
Na apresentao do Compndio de Cooperativismo Unimed (MAY, 1998, p. 10-11) o Coordenador Dr. Nilson Luiz May afirma que o cooperativismo em geral um meio vivel de aprimoramento humano em qualquer sistema scio-poltico. Mais adiante diz que O compndio no esconde sua aspirao a constituir-se numa espcie de verso autorizada e sria do seu iderio, das normas e das condutas usuais ou recomendveis em seu exerccio. (grifei) Desta postura podemos concluir que os autores provavelmente apreciariam ver o Compndio ser considerado pelo menos de certa forma como um subsdio na procura permanente de uma tica do cooperativismo. Isso tem fundamento, pois o que a tica tambm busca no deixa de ser o aprimoramento humano num dos seus nveis mais elevado, ou seja, o nvel moral. Quando afirma que o cooperativismo vivel em qualquer sistema, novamente encontra-se com um dos princpios bsicos da tica: a universalizabilidade.
147
Aqui j se observa que cooperativismo e tica so homlogos, almas gmeas, no podendo o primeiro, em nenhum momento, prescindir da segunda, pois perderia sua identidade. Essa perspectiva reforada mais adiante (MAY, 1998, p. 15-17) pelo Presidente da Unimed do Brasil, na poca o Dr. Edmundo Castilho, quando afirma:
Eis, pois, o compndio, sem culto personalidade67, com os indispensveis registros das balizas doutrinais e histricas, sobretudo em seus aspectos sociais, polticos e econmicos, mas tambm ticos ...
No poderamos falar em tica nas cooperativas sem antes apresentar um breve resumo da histria do cooperativismo. Doutor Jos Odelso Schneider, professor de Doutrina Cooperativista no Cescope (UnisinosRS) apresenta um histrico bastante extenso do cooperativismo (MAY, 1998, p. 22-34), que tentaremos resumir. Diz ele: A cooperao no sentido mais amplo, como processo social, sempre existiu ao longo da histria humana. Na Pr-histria a sobrevivncia dos grupos humanos dependeu muito da cooperao entre os integrantes das tribos, tanto para explorar um territrio comum, como para a constituio primitiva da famlia. Na Antiguidade, com a escravido, a cooperao era muito simples (por exemplo, empurrar juntos uma pedra). No Egito e na Mesopotmia havia alguma cooperao entre agricultores livres ou escravos, ou entre artesos. No imprio Babilnico, comrcio e indstria tinham j algumas formas de carter cooperativo. Na Grcia, cidados, escravos ou estrangeiros uniam-se para garantir a si mesmos as despesas fnebres.
67
Portanto, cultuando outro atributo da tica, a imparcialidade. (N.A.). Os grifos so nossos.
148
Em Roma havia as sociedades de enterro e de seguro, compostas por pequenos artesos, na base da ajuda mtua. Eram as chamadas collegia. Dela participavam carpinteiros, serralheiros e outros. A podiam ingressar escravos alforriados ou no, alm de estrangeiros. Havia tambm as Societas e os Sodalicia, que j tinham foros de pessoas jurdicas. Em geral tinham carter social e religioso. J no ano 65 a.C. os collegia foram dissolvidos porque constituam uma ameaa aos interesses do patriciado romano. Na Palestina o povo hebreu criou a seita dos Essnios, que tinham vida em comum e cultivavam a terra para auto-sustento. Entre os Germnicos toda atividade agrria era constituda em bases associativas, como por exemplo, para explorar florestas ou criar barragens para irrigao . Havia campos comuns para pastagem o sistema Allmende, onde as aldeias e vilas criavam seu gado. Na Sua, Frana e Itlia os camponeses agrupavam-se para produzir derivados do leite. Na Espanha, no sculo II a.C. distribuam-se terras para cultivos em comum. Na Rssia, o Artel era formado por grupos de pescadores, lenhadores e outros. O Mir era uma comunidade de camponeses que pagava uma contribuio coletiva a um senhor feudal, dono da terra. Na Armnia, visando poupar combustvel, as mulheres levavam sucessivamente sua produo leiteira casa de uma delas para produzir queijos e outros produtos. Os islmicos costumavam levar parte de suas provises para silos de reserva, que eram, tambm, instituies de crdito. Nas cidades da Idade Mdia ocidental aparecem as Corporaes de Ofcios, as Guildas. As culturas nativas da Amrica, desde suas origens sustentaram formas scioeconmicas na base da cooperao, algumas bem avanadas.
149
Nos sculos XVI e XVII surgem na Europa filsofos e pensadores sociais que so crticos em relao ordem econmica e social ento vigentes. Propem modelos sociais e comunitrios alternativos, bem como conceitos originais sobre governo, propriedade privada, trabalho, famlia e educao. So seguidores de Plato. Entre eles vamos encontrar Thomas Morus, com sua Utopia, Tomaso Campanella com A Cidade do Sol e Francis Bacon com A Nova Atlntida. Esses autores influenciaram de alguma forma as idias de vrios precursores do cooperativismo no sculo XIX, como Robert Owen, Charles Fourier, Philippe Buchez e outros. Pouco depois, muitas colnias de vida coletiva surgiram na Europa e Estados Unidos, vrias na Europa Central. Dessas comunidades, muitas tiveram vida curta, outras duraram dcadas e sobreviveram at hoje. Muitas dessas iniciativas foram uma opo pessoal de vida e, por isso, seu alcance poltico foi limitado: no irradiavam suas experincias para outras comunidades. Assim mesmo influenciaram alguns socialistas do sculo XIX e precursores do cooperativismo. Robert Owen foi conhecer pessoalmente essas experincias do cooperativismo, tendo colaborado na formao da colnia cooperativa de New Harmony. Na Amrica espanhola alguns governantes tentaram, sem sucesso, conservar algumas caractersticas da organizao econmica dos indgenas. Mas foi nas redues do Paraguai que se praticou uma original experincia comunitria, estimulada pelos jesutas, com os guaranis, durante os sculos XVII e XVIII. Combinou-se a propriedade familiar (Abamba) com a propriedade comunal (Tupamba). Na pecuria recorria-se s vacarias, comuns a cada reduo. Assim, a cooperao considerada como forma de ajuda mtua esteve presente ao longo de toda a
150
histria da humanidade: na Antigidade mais remota, no Imprio Romano, na Idade Mdia e nos incios da Idade Moderna. No mundo ocidental capitalista a forma de cooperao sistemtica e consistente nasce com as cooperativas modernas, inaugurando uma tradio que perdura at nossos dias, e que recebeu uma configurao ideolgica e doutrinal especfica. Elas surgiram no momento em que o esprito de solidariedade havia desaparecido quase por completo, isto , na fase mais voraz e selvagem dos incios do capitalismo industrial. As cooperativas surgiram como uma reao do mundo operrio e campons grave situao de explorao dessas classes durante a primeira fase da Revoluo Industrial. O liberalismo era contrrio a qualquer forma de associao profissional que visasse a defesa dos interesses de classe, como, por exemplo, a lei Chapelier, na Frana de 1791. O trabalhador era submetido a jornadas de 14 a 16 horas dirias, inclusive mulheres e crianas, que eram aproveitadas em minas de carvo. No havia legislao trabalhista, nem previdenciria, nem sindicatos. No interior os camponeses eram enxotados para dar lugar s pastagens de ovelhas, cuja l era enviada s indstrias de fiao e tecelagem. Os trabalhadores rurais amontoavam-se nos plos industriais, nas vilas operrias, quase sem nenhuma infra-estrutura urbana. Analfabetos, eram explorados pelos comerciantes, que os roubavam nos pesos, nas medidas, ou na qualidade das mercadorias. Surgia a questo Social, ou a Questo Operria, que passou a despertar a conscincia dos pensadores da poca. Operrios e camponeses tinham que optar entre: militar em movimentos polticos (vrios deles reprimidos com muita violncia), ou migrar para os Estados Unidos, ou
151
retornar ao campo para fundar colnias agrcolas comunitrias, ou fundar cooperativas de consumo, de servios, ou de produo industrial.
George Lassrre68 conta que:
Aps haverem buscado em vo um remdio para sua situao em vrias direes agarrando-se a velhos regulamentos das corporaes, aderindo a elas, ou deixando-se levar pelo desespero do motim os trabalhadores compreenderam paulatinamente que era necessria uma profunda mudana da ordem social, e que sua nica arma j que no possuam capital, nem cultura, nem legalidade, pois tudo isso estava do outro lado residia na associao, graas qual seu nmero podia transformar a debilidade em fora.
Foi Robert Owen, um socialista utpico, quem mais exerceu influncia sobre o cooperativismo. Suas contribuies foram inmeras: melhoria das condies de trabalho, legislao trabalhista e previdenciria, reduo da jornada de trabalho de 15 para 10 horas, criao de colnias autnomas e intercmbio de trabalho sob a forma de bolsas de trabalho. Algumas dcadas mais tarde foi criada a Aliana Cooperativa Internacional. Owen e seus discpulos passaram a difundir os Crculos Owenistas, que se reuniam semanalmente para ler, refletir e debater temas de educao e formao do novo homem. Certamente essa iniciativa muito influiu sobre os Pioneiros de Rochdale a cooperativa matriz da Idade Moderna - para que situassem a educao como importante princpio cooperativista. William King, o mdico dos pobres fundou em 1826 as cooperativas de consumo. Foi ele quem afirmou a transcendncia dessas cooperativas como possvel base de transformao da sociedade, enfatizando a influncia espiritual do cooperativismo, aconselhando a formao de escolas cooperativas e destacando o carter voluntrio do cooperativismo.
68
Citado pelo Dr. Schneider na obra mencionada.
152
Nos finais da dcada de 30 do sculo XIX surgiu um movimento na Inglaterra que, atravs de mobilizao popular e de abaixo assinados desejava encaminhar ao Parlamento a Carta do Povo, pedindo o voto universal e direto de todos os ingleses maiores de 21 anos. Foi chamado de Movimento Cartista e constituiu-se numa terceira influncia sobre os Pioneiros de Rochdale; teve acirrada oposio da classe dirigente inglesa, que perseguiu seus lderes e extinguiu o movimento nos incios da dcada de 40. H uma quarta vertente que pode ter exercido influncia sobre a cooperativa matriz (Rochdale). Foram trs cooperativas vizinhas a Rochdale, fundadas em 1816, 1827 e 1832 respectivamente, onde a filiao era aberta, o juro limitado ao capital, havia uma forma eqitativa de operar negcios e empenho pela educao. Enquanto isso, na Frana do sculo XIX, Charles Fourier, Michel Derrion e Philippe Buchez com suas idias desencadeavam novas iniciativas cooperativistas. importante salientar que todos os precursores do cooperativismo concordavam em destacar a idia de associao, a ao emancipacionista da classe trabalhadora, organizandose por meio de auto-ajuda e nunca a partir do poder, isto , desencadeando sempre iniciativas de baixo para cima. Todos exigiam tambm: a subordinao do capital ao trabalho; a eliminao do lucro, considerado como objetivo ltimo da economia; a transformao do lucro em excedente que, como meio no fim indispensvel a qualquer atividade econmica; que toda economia passasse a ser organizada cooperativamente, isto , baseada na democracia, na eqidade e na solidariedade. Se considerarmos isoladamente cada princpio do cooperativismo, os Pioneiros de Rochdale no foram inovadores em vrios deles.
153
Por exemplo, o princpio da democracia j estava presente em outras cooperativas, bem como o da distribuio das sobras na proporo das compras, ou das operaes. O grande mrito dos Pioneiros de Rochdale foi que aproveitaram princpios bsicos isolados, de vrias experincias anteriores para criar uma sntese original, dando-lhes expresso definitiva. Tiveram xito e, com isso geraram grande desenvolvimento da cooperao na GrBretanha. Eles vm sendo citados, desde 1844 como um smbolo de cooperao (HOLYHOAKE, 2000, p. 96). A tradio diz que surgiu deles o impulso decisivo das cooperativas no mundo. Queremos encerrar este captulo com as seguintes palavras de Spinoza em sua tica (1667):
E assim, nada mais til ao homem do que o homem; quero dizer que os homens nada podem desejar que seja melhor para a conservao de seu ser do que concordarem todos em todas as coisas, de sorte que as almas de todos formem como que uma s alma, e seus corpos como que um s corpo, esforando-se todos ao mesmo tempo, o quanto possam, para conservar seu ser, e buscando todos juntos a utilidade comum, donde se segue que os homens que se orientam pela razo, ou seja, os homens que buscam sua utilidade sob a orientao da razo, nada desejam para si que no desejem para os outros homens e, por isso, so justos, dignos de confiana e honestos.
154
6 DISCUSSO
No creio que a tica sirva para solucionar nenhum debate, embora seu ofcio seja colaborar para iniciar todos eles. (Fernando Savater )
A exposio feita at aqui teve, entre outras, a finalidade de demonstrar o objetivo principal da tica: viver bem a vida humana, a vida que transcorre entre humanos (captulo 3 item 3.8). Como diria Savater, se no soubermos como nos arranjar para sobreviver entre os perigos naturais perderemos a vida, mas se no tivermos nem idia de tica perderemos ou prejudicaremos o humano de nossas vidas. Ora, em ordem crescente de valores no somos antes seres humanos, depois mdicos e finalmente auditores? Somos mdicos auditores ou auditores mdicos? Isto apenas uma questo semntica? No essa a ordem cronolgica em que ocorre toda nossa existncia? Essa ordem, por conter um valor intrnseco, no deveria ser preservada ao longo da ao do auditor? Considerando a poltica como a arte de organizar a convivncia social, parece claro que, pelo menos num determinado sentido, a auditoria uma atividade essencialmente poltica dentro do ambiente onde se exercita. Pois bem: nesta exposio, do que foi colhido at aqui, a tica no pode esperar a poltica, ou em outras palavras, a tica antecede ao. Por ao aqui entendemos um ato voluntrio, logo carregado de suas conseqncias, isto , de responsabilidade. O que eu decido o meu objetivo, o fim (finalidade) da minha ao, mas talvez no a prpria ao. No se entenda como ao um simples movimento corporal.
155
Estar andando e sair para dar um passeio no so a mesma coisa. Como j vimos, sempre se disse que o mundo politicamente invivel, que est pior do que nunca. A esse respeito podemos fazer nossas as palavras de Savater (2002, p. 160-66):
Em todas as pocas houve pessoas capazes de viver bem, ou empenhadas nisso. Pelo menos no pioravam a sociedade na qual viviam; lutaram para que as relaes politicamente estabelecidas fossem mais humanas, sem esperar que tudo fosse perfeito. Nenhuma ordem poltica to ruim a ponto de que ningum possa ser pelo menos meio bom. Por mais que o mal ande solta, sempre haver bem para quem quiser o bem, e o mal sempre estar ao alcance de quem quiser o mal.
Savater diz que quem deseja vida boa para si mesmo, de acordo com o projeto tico, deve desejar que a comunidade poltica dos homens se baseie na liberdade, na justia e na assistncia comunitria. Ora, o que uma cooperativa de servios mdicos seno uma assistncia comunitria, organizada politicamente? Ento, se a tica antecede poltica, o que a cooperativa deseja obter uma vida boa para seus cooperados, conforme o plano tico, isto , uma vida boa humana entre humanos. A vitria dos 28 teceles de Rochdale deve-se ao fato de que sabiam profundamente o que queriam, ou seja, o fundamento tico daquela cooperativa pioneira foi a causa de seu xito. O auditor da cooperativa tambm no escapa desse objetivo tico inexorvel. No fora mdico, mas apenas auditor, o objetivo seria o mesmo. No fora auditor, mas apenas cooperado, ainda assim seu objetivo, por coerncia, seria obter uma vida boa humana para todos os cooperados. Mesmo no cooperado, apenas homem, estaria condenado a percorrer seu destino tico: ser livre e humanamente feliz.
156
Esta monografia uma exposio muito concisa do progresso da tica at os dias de hoje, um resumo do estado da arte, que procura estabelecer um vnculo entre a auditoria mdica, a cooperativa e a tica. Tendo em vista o que foi exposto, por tratar-se de relaes extremamente complexas e assunto praticamente indito, no h propostas definitivas. O objetivo inaugurar um caminho, despertar questes novas, erguer pontos de reflexo e pesquisa, em suma, gerar a inquietude e o debate. Pode-se listar alguns pontos para essa reflexo. Observe-se que no h nenhuma inteno de que cada quesito contenha sua prpria reposta. Como o assunto pesquisado indito, procuramos saber se cada proposta pertinente, isto , se relevante para o exerccio da auditoria. 1. Considerando-se a tica do fim e a tica do mvel, h alguma relevncia prtica dessa distino na ao do mdico auditor? Em qual delas deve se fundamentar a tica normativa? 2. Os juzos ticos contidos nos pareceres dos mdicos auditores devem expressar apenas os sentimentos pessoais do auditor, seguindo os princpios do positivismo lgico? 3. Admitindo-se que na tica contempornea ainda nos falte uma Teoria Geral da Moral, esta privao interfere na tica da auditoria mdica? 4. Se a tica for um mtodo de reflexo pelo qual consideramos vlidos nossos comportamentos e normas, esta reflexo rotina entre mdicos auditores? Promovemos entre eles algum mtodo de treinamento para evitar a precipitao nos juzos, a imprudncia e a impulsividade na conduta? 5. Os princpios de Igual Considerao de Interesses e Princpio da Diminuio da Utilidade Marginal parecem ter destaque numa escala comparativa de valores
157
ticos. Esses princpios so levados em conta pelas cooperativas, pelas empresas, pelos auditores, pelos prestadores de servio? 6. A tica utilitarista apresenta vantagens e desvantagens.Conhecemos esta tica? Seria necessrio discuti-la? 7. A tica ocidental, quando fundamentada na doutrina dos atos e omisses, no contempla o que deve ser feito, mas sim o que no deve ser feito, favorecendo muitas vezes a omisso. Nosso cdigo de tica envolve esse aspecto?. 8. Fazendo uma releitura do exposto no captulo sobre tica consequencialista agora sob o ponto de vista do cooperativismo, como encarar esta tica? Qual a sua utilidade, ou esterilidade, na auditoria mdica? 9. A tica foi uma criao consciente? Qual a relao disso com a auditoria? 10. Nosso conceito de valor bem ntido? Custo e valor so sinnimos? Que importncia tem isso para a auditoria? 11. convincente que a coisa tica sempre racional, e vice-versa? Que inferncia se faz disso sobre a ao de auditoria? A auditoria verdadeiramente tica pode ser estritamente racional? 12. Seria vlido repetir a tentativa de Klimovski , procurando estabelecer uma relao lgica (a razo) entre tica e auditoria mdica? 13. O auditor,como qualquer mdico, est em freqente contato com os fenmenos do nascimento e da morte. Que sentido ele d sua prpria vida e a seu trabalho? Isso influencia suas decises? 14. Uma vida tica realmente uma vida boa? H outras razes para ser tico? 15. Conversar com os personagens envolvido no processo de auditoria (colega, paciente, prestador de servio e outros), isto , escut-lo com imparcialidade e ateno, a praxe? Existe atualmente algum treinamento para desenvolver essa habilidade?
158
16. O auditor livre nas suas decises? Ele , de alguma forma, responsvel pelas conseqncias de suas decises? 17. Seria tico contestar ou tentar revogar cdigos de tica? 18. Tendo em vista suas funes, o auditor pode conviver com seus colegas e ser tico? 19. No seu dia-a-dia, o auditor deve fazer uma reflexo filosfica profunda para decidir o que correto? 20. Auditor necessita de ouvido tico? 21. Se o auditor vive sem discrdia no seu ambiente de trabalho, isto significa no defender os interesses da empresa? 22. Quando h dvidas, deve prevalecer sempre a opinio do auditor? O auditor pode ou deve ser razovel nesses casos? 23. O auditor tem acesso verdade absoluta ?. 24. Um sistema de convices, discutido e discutvel, periodicamente reavaliado e atualizado teria alguma utilidade para a auditoria? 25. A opinio da maioria sempre serve ao auditor para apontar o que correto? 26. A razo deve ser sempre a ferramenta principal da auditoria, mesmo contrariando interesses? 27. Todo raciocnio social? 28. No contato com o colega, o carter oral mais importante que o escrito? 29. No dia-a-dia o raciocnio moral pode ser intuitivo? 30. O auditor livre para atuar conforme seus prprios desejos? Existe a liberdade completa e absoluta? 31. Informao e conhecimento, per se, so suficientes para ser tico? Auditoria uma cincia ou um saber? Como conquistar o saber em auditoria? 32. Repetir o que j se admite como sabido na auditoria, o mesmo que saber de fato?
159
33. Nos padres anteriormente definidos, auditoria em sade pode ser considerada uma tcnica? 34. Os avanos tecnolgicos (clonagem, inseminao artificial, produtos transgnicos) tm alguma relao com a tica em auditoria em sade? 35. O mdico auditor deve priorizar o valor intrnseco ou experimental? 36. Poltica de triagem e tica consequencialista tem utilidade em auditoria? 37. Passado e futuro tambm so preocupaes da auditoria, ou s nos interessa o presente? 38. A tica do auditor pode dissociar-se completamente da poltica? 39. O mdico auditor deve apenas obedecer e repetir regras? 40. O cdigo de tica mdica exime o mdico auditor da reflexo? 41. Filsofos morais poderiam ajudar de alguma forma a auditoria em sade? 42. O contexto da modernidade pode ser ignorado na tica da auditoria? 43. possvel ser tico sem possuir a verdade absoluta? 44. Consenso sempre um bom critrio para tomar de decises? 45. possvel ser tico tendo crenas? 46. A capacidade de assombrar-se tem alguma relao com a tica? 47. Dar sentido ao seu trabalho e ser feliz ser tico? 48. Os problemas da modernidade tm soluo? O que isso tem a ver com auditoria em sade? 49. Em auditoria podemos contar com o improvvel? 50. Auditoria em sade, com tica uma utopia? 51. Numa cooperativa, os fins justificam os meios? 52. Um impulso de raiz biolgica para a cooperao e trabalho em grupo parece ser um suporte bsico para alguns tipos de estruturas sociais. Qual a relao disso com a tica e as cooperativas?
160
53. Reunies para leitura, reflexes, debates e estudo, tm alguma importncia na tica da auditoria em sade? 54. A educao teria deixado de ser um princpio cooperativista? No desenvolvimento deste trabalho encontramos bons indcios de que a questo mais emblemtica o fato de o auditor em sade estar mergulhado na ps-modernidade. Ele luta contra si mesmo, pois carrega suas contradies pessoais, isto , sua
construo ps-moderna, num conflito interno que enfraquece suas energias para se opor ao antitico. Est superada a poca em que o auditor glosava as contas simplesmente porque as considerava caras demais. Seria oportuno aqui repetir as palavras de Savater (2001, p. 160-66):
Desconfie de quem acha que temos obrigao de repreender moralmente as pessoas em geral, ou o ser humano como espcie. A tica no uma arma, nem munio para atingir a auto-estima, como se os seres humanos fossem feitos em srie. A tica serve para tentarmos melhorar a ns mesmos. Somos todos feitos artesanalmente, um a um, com amorosa diferena. Portanto, nunca deveramos dizer todos os polticos, todos os capitalistas, todos os negros so imorais e no tm um pingo de tica.
O medo no deve ser, nunca, a arma do auditor, pois no medo sempre h um incio de respeito e bastante submisso. Auditoria vem do latim, audire, que significa ouvir. Portanto, auditor aquele que tem capacidade de ouvir o colega, o paciente, o hospital, os prestadores de servio e qualquer outro envolvido no processo. Vimos que assim como algumas pessoas nascem com um ouvido musical, tambm existe um certo ouvido tico. Apesar disso, alguns insistem em fazer auditoria apenas com os olhos, lendo ordens, normas, cdigos, leis, contratos, protocolos, faturas, pronturios e estatsticas. Assim como h surdos para a msica, tambm os h para a tica.
161
Foi ouvindo que a humanidade aprendeu a falar, construiu toda nossa vida de relao e estruturou-se como sociedade dos homens. Por outro lado, talvez nem caiba ao auditor elogiar ou censurar, pois como diria Peter Singer (1998, p. 239):
...as pessoas que esto acima de um padro (tico) mnimo de conduta aceitvel tm mais chances de receber elogios do que censuras. Se o elogio adequado ou no, se a censura adequada ou no, uma questo que no depende do acerto ou do erro das aes, pois o elogio avalia o agente e a censura avalia a ao.
Em algumas ocasies os auditores parecem querer tratar as pessoas como inimigos, principalmente se forem pessoas ms. Isso seria tico? Neste trecho de Savater (2002, p. 126-28), fica bem claro que no:
bem provvel que a maioria das pessoas ms sintam medo ou solido, ou carecem de coisas necessrias, e por isso so ms; ou so tratados pela maioria sem amor nem respeito. Ningum mau por ser feliz, ou martiriza o prximo em sinal de alegria. Mas h pessoas que para estarem contentes precisam no tomar conhecimento dos sofrimentos que abundam sua volta, de alguns dos quais so cmplices. Mas a ignorncia, ainda que esteja satisfeita consigo mesma, tambm uma forma de infelicidade. Quanto mais feliz e alegre, menos vontade de ser mau.Logo, fomentar a felicidade dos outros diminui o nmero dos maus. Colaborar para a infelicidade alheia busc-la para si mesmo. No vantajoso tratar os semelhantes como inimigos. A maior vantagem obter a cumplicidade e o afeto de seres mais livres, ou seja, a ampliao e o reforo da minha humanidade.
E para que serve isso? o mesmo autor quem responde: S os servos servem. Estamos falando de homens livres. A liberdade no serve e no gosta de ser servida, mas tenta se contagiar. Tambm podemos fazer uma reflexo altamente sugestiva sobre o vnculo entre a ao e a responsabilidade do mdico auditor por meio de uma parfrase. Savater (2001, p. 118-21) relata que no Mahabharata, a grande epopia hindu, encontra-se um grande poema dialogado, provavelmente composto no sculo III a.C., chamado Bhagavad Gita, a Cano do Senhor. 69
69
As palavras entre parnteses constituem a parfrase.
162
O heri Arjuna avana contra as tropas inimigas, mas entre os adversrios que deve matar encontram-se vrios parentes e amigos. uma guerra civil, fratricida. Isso o angustia tanto que pensa seriamente em abandonar o combate. Ento o deus Krishna, at ento disfarado em condutor de seu carro de combate, identifica-se e lhe faz uma preleo sobre seu dever. Segundo Krishna, o escrpulo de Arjuna infundado porque os sbios no se compadecem nem dos vivos nem dos mortos. A cada um cabe atuar como o que . No caso de Arjuna, trata-se de um guerreiro (mdico auditor) lutando no campo de batalha (um hospital). Mas a sabedoria consiste em no ter nenhum apego aos frutos ou conseqncias da ao (isto , no se sentir culpado). Na ao est teu empenho, no em seus frutos (conseqncias), jamais. No tenhas como fim os frutos da ao, nem tenhas apego inao. Segundo o poeta, somos todos obrigados a atuar pelas circunstncias naturais em que transcorrem nossas vidas. Por isso ningum, nem por um momento, jamais est sem agir; levado ao, mal grado seu, pelos fios nascidos da Natureza. Portanto, o segredo est em agir (o auditor) como se no agisse; est em realizar as aes (de auditoria) que nos cabem sem deixar que nosso nimo se perturbe pelo desejo, pela ira, pelo temor ou pela esperana. Por isso faze sempre a ao, que se h de fazer, sem apego. O homem, se realiza a ao sem apego, alcana o mais alto. A idia de nos resignarmos ao (de auditoria) como parte da ordem da natureza (faz parte da profisso), mas nos entregando a ela com pleno desinteresse pelo que promete
163
(suas conseqncias) contrrio a tudo o que significa projeto, inteno, assim como ao xito ou ao fracasso do que empreendido. Mas o peso da responsabilidade da ao que no mero projeto ocidental, pois o prprio Arjuna o experimenta quando estava prestes a matar seus parentes (colegas) aliviase com o chocante raciocnio de que preciso perpetrar o evitvel como se fosse inevitvel. Savater tece os seguintes comentrios sobre essa esse poema (ib.):
difcil para nossas mentalidades crists, por mais que nos consideremos leigos ou ateus, entender esse deus que tranqilamente recomenda ao homem que pratique a matana como se no estivesse fazendo nada. No fundo, atuar conscientemente nada mais do que compreender de que modo todos ns somos atuados pelo aparente, e reconhecer nossa identidade como o que sempre , mas nunca faz. No pensamento ocidental procuramos entender melhor a ao considerando objetivamente a rede de causas dentro da qual atuamos, mas nunca nos desinteressando dela, isto , dos seus objetivos e da suas conseqncias.
O mexicano Octavio Paz (1914-1998), segundo Savater um grande admirador da sabedoria hindu, em seu livro Vislumbres de la ndia, critica essa doutrina do Bahgavad Gita.
O desprendimento de Arjuna um ato ntimo, uma renncia a si mesmo e a seus apetites, um ato de herosmo espiritual e que, no entanto, no revela amor ao prximo. Arjuna no salva ningum, exceto a si mesmo...O mnimo que se pode dizer que Krishna prega um desinteresse sem filantropia.
Savater conclui dizendo que:
...ser livre responder por nossos atos. Sempre se responde diante dos outros, com os outros como vtimas, como testemunhas e como juzes. Todos parecemos buscar algo que nos alivie a pesada carga da liberdade. Somos livres por natureza, irremediavelmente livres. Os outros seres da natureza tm uma condio irremedivel, mas no tm sentimento de culpa.
Figuradamente poderamos assumir que o mdico auditor tambm seria um guerreiro (pois combate a injustia) que deve matar (glosar) seus parentes (colegas), pois no tem alternativa: a cada um cabe atuar como . Poderia haver tica sem amor ao prximo?
164
Pelo que vimos, parece haver pelo menos uma possibilidade de que a resposta seja no. possvel amor ao prximo com justia, isto , sem revelar covardia? Eis a novos pontos para debate. Porm, - entre tantos outros argumentos - devido ao valor intrnseco que cada ser humano tem, a auditoria precisa ser no mnimo, e antes de tudo, pedaggica. Ademais, h outras razes, agora de ordem lgica, racional, para optar pela educao . Em tica para meu filho, Savater (2002, p. 125) diz que uma das principais caractersticas dos seres humanos nossa capacidade de imitao:
A maior parte do nosso comportamento e gostos copiada dos outros. Por isso somos to educveis e aprendemos as conquistas do passado e de outros pases. O que chamamos de cultura ou civilizao tem um pouco de criao e muito de imitao. Por isso o bom exemplo to importante: os outros nos trataro como so tratados. Mas sempre h maus exemplos para imitar. Ento, no prudente aumentar o nmero j to grande dos maus e desanimar a minoria dos melhores. mais lgico semear o que voc tem inteno de colher. Em vez de comportar-se como tantos loucos soltos por a, mais lgico defender e mostrar as vantagens do juzo.
Mesmo para o personagem Arjuna, a responsabilidade no poderia estar desligada do interesse (amor?) pelo prximo. Talvez a dor e /ou a reflexo sejam as formas mais freqentes de evoluir. A ento a pedagogia assume um papel fundamental na evoluo da sociedade humana, j que nem todos entendem ou aceitam a dor como crescimento. Por outro lado, o apelo inteligncia parece ser um caminho mais adequado para que, com reflexo compreendamos o pleno significado da tica: ter uma vida boa entre humanos. A esperana de uma nova era est no s na ao tica de cada indivduo, mas principalmente na vontade de querer educar, na atividade pedaggica que quer modificar no uma sociedade em particular, uma nao, um povo, mas a humanidade no seu todo. Esse projeto arrojado, complexo e positivamente utpico.
165
Ora, o auditor em sade por excelncia um educador, pois ouve, reflete e depois orienta com a fora multiplicadora de um formador de opinio. Logo, como ser humano e como auditor no deveria eximir-se do seu compromisso em educar, e com isso aprender. Pode parecer pouco cientfico responder de maneira to inconsistente s perguntas anteriores. que estamos falando dos fenmenos da vida. A isso, certamente Savater ponderaria:
A vida nos dada sem receita e sem bula. A tica no pode suprimir totalmente essa deficincia, pois apenas a crnica dos esforos feitos pelos seres humanos para remedi-la. Podemos ter nossas opinies sobre qualquer tema, mas no somos a tica. A nica coisa que a tica pode lhe dizer que voc busque e pense por si mesmo, em liberdade, sem ardis, responsavelmente. Uma vez que se trata de escolher, procure uma opo que lhe permita, depois, o maior nmero possvel de outras opes. No faa uma escolha que o deixe encurralado. Escolha aquilo que o abra. Evite o que o feche e enterre. O que a tica pretende infundir-lhe confiana.
Mas, como diz Savater (2002, p. 160), to antigo quanto filosofia o costume de rir dos filsofos:
s vezes o sorriso s custas dos filsofos tem um tom de irnica simpatia, ou pelo menos de comiserao. Porque to freqentemente os filsofos so risveis at para quem gosta deles? H neles uma mistura caracterstica de ambio terica desmedida e resultados prticos escassos. Quase todas as respostas que do so to inquietantes quanto as perguntas e, em geral, essas respostas no servem para fazer nada eficaz a partir do que afirmam. Os filsofos com freqncia se chocam contra as tendncias do senso comum, ou contra as respeitveis tradies que as pessoas decentes nunca criticam. Em geral eles usam um jargo incompreensvel, com abundncia de termos obsoletos ou estrangeiros, ou diretamente inventados para a circunstncia e no aceitam discutir com as pessoas que argumentam em linguagem coloquial. Eles podem eventualmente ser modestos (s sei que nada sei), mas por baixo da tnica aparece a arrogncia disparatada. Eles se do muito mal uns com os outros e desacreditam seus colegas com autntico dio. Jean Franois Revel escreveu Pourquois des philosophes? (Filsofos para qu?), onde ele salienta a sacralizao da linguagem especializada na filosofia e a recusa em discutir com quem no a domine, como se s fosse possvel questionar a realidade em alemo ou grego. A linguagem tcnica pode tornar os debates mais precisos. Certos termos nos permitem pensar a partir do j pensado, e no comear do zero a cada momento, mas o que realmente conta justamente o real, e no as palavras com que tentamos entend-lo. Kirkergaard aconselha a desconfiar de qualquer pensamento que
166
s se pode dizer de uma maneira determinada: uma idia no o mesmo que uma frmula verbal.
Alguma semelhana entre mdicos e filsofos? Mais adiante continua Savater (2002, p. 160-66):
A religio promete salvar a alma e ressuscitar o corpo. A filosofia nem salva, nem ressuscita. Pretende apenas levar, at onde for possvel, a aventura que entender o sentido do humano, explorar os significados. No rechaa a realidade da morte (como o mito faz), nem se deixa impregnar desesperadamente pelo medo e pelo dio que brotam desta realidade. A filosofia tenta pensar os contedos da vida e seus limites... como se a prpria vida consistisse nisso.
Mas afinal, que informao podemos receber da filosofia? Nenhuma. Savater (2001, p. 205-208) comenta assim esta questo:
Somos informados pelos cientistas, pelos tcnicos, pelos jornais. No existe informao filosfica. Conforme Ortega a filosofia incompatvel com as notcias, e a informao feita de notcias. Saber o que significa a informao, interpret-la e relacion-la com outras informaes, em que implica tudo isso na considerao geral da realidade em que vivemos, como nos comportarmos nessa situao, estas so as perguntas das quais se ocupa a filosofia.
Ora, algum poderia protestar. Quem governa o deus mercado. Tudo isso no passa de poesia, ingenuidade, imaginao frtil sem lgica e sem razo. Isso no faz lembrar Shakespeare em Sonhos de uma Noite de Vero?
Os amantes e os loucos tm mentes to febris Tantas fantasias to vvidas que compreendem Mais do que a razo fria jamais compreender. O luntico, o amante, e o poeta Esto todos repletos de imaginao...
Mas, se at aqui tudo o que foi dito sobre a tica no basta, considere-se este arrazoado de Savater (2001, p. 217):
O abismo catico da morte est oculto em todos os nossos significados como o avesso desse abismo, como sua densidade. Vivemos sobre esse abismo, e consciente dele. Por isso a razo humana no uma simples fbrica de
167
instrumentos, nem se contenta em encontrar solues a perguntas ainda no definitivas. Por isso a filosofia no s razo, mas imaginao criadora.
George Steiner (1929), em Errata, afirma:
Foi a mediao do imaginrio, do inverificvel (isto , do potico), foram as possibilidades da fico (isto , das mentiras) e os saltos sintticos para amanhs sem fim que transformaram homens e mulheres, mulheres e homens, em charlates, em murmuradores, em poetas, em metafsicos, em planejadores, em profetas e em rebeldes em face da morte.
Poderamos acrescentar: o contrrio disso seria a aceitao da morte, coisa que no tem lgica nem razo. No ltimo captulo de seu livro As perguntas da Vida, Fernando Savater confronta a sociedade humana com a morte. uma verdadeira mensagem de esperana e confiana na tica, que tambm pode ser dirigida aos auditores em sade e suas cooperativas. Por ser uma prosa quase verso, no seria justo resumir esse trecho, pois perderia sua beleza e seu poder de sntese. Talvez este pudesse ser o resumo da anlise e discusso dos nossos resultados.
Se a morte esquecimento, a sociedade ser comemorao;se a morte igualao definitiva, a sociedade estabelecer as diferenas; se a morte silncio e ausncia de significado, o eixo da sociedade ser a linguagem que transforma tudo em significativo; se a morte debilidade completa, a sociedade buscar a fora e a energia; se a morte insensibilidade, a sociedade inventar e potenciar todas as sensaes, o esbanjamento sensacional; como a morte o isolamento final, a sociedade instituir a companhia do afeto e a ajuda mtua na desventura; se a morte imobilidade, a sociedade humana premiar as viagens e a velocidade que nada consegue deter; se a morte repetio do mesmo, a sociedade tentar o novo e amar como algo sempre novo os velhos gestos da vida, os novos seres como ns, a prognie indomvel dos mortais; contra a putrefao informe cultivar a beleza, o jogo em que se pode morrer e ressuscitar vrias vezes, as metamorfoses do significado. Cada sociedade uma prtese de imortalidade para mortais, os que conhecem a morte mas desacatam suas lies desesperadamente aniquiladoras.Certo, todas as empreitadas sociais dos humanos tambm so marcadas pelo medo, pela avidez e pelo dio do desespero. No entanto, no o desespero que cria, mas a alegria. Lembrar isso constitui a nica lio da tica. Por isso Spinoza chamou o homem reto de alegre. E sbio.
168
Desta monografia nunca se poderia esperar uma lio de tica. Primeiro, por no ser o autor especialista nessa rea, depois, por ser impossvel ensinar tica. Por isso, como me ensinou uma pessoa muito cara, o mximo que dela posso pretender, se algum mrito houver, que ela tenha sido escrita para o mundo e, se for possvel, que siga seu caminho no mundo dos humanos.
169
CONCLUSES
Sob a perspectiva aqui apresentada, no h referncias bibliogrficas sobre a relao entre a tica, como estudo do comportamento humano e a Auditoria em sade. Existe todo um campo aberto pesquisa nesta rea. Como a tica antecede a ao tambm no plano da Auditoria em sade, isso significa que as aes de rotina devem ser planejadas e cuidadosamente examinadas sob a luz da tica, antes de serem implementadas, ou seja, a tica tem prioridade em relao economia. Em outras palavras, o princpio de igual considerao de interesses deve prevalecer. Alm disso, o auditor em sade deve ter funo essencialmente pedaggica. Ele distinto do revisor e do supervisor. Um programa de educao continuada em filosofia moral (tica) para os auditores parece ser indispensvel, em virtude dos avanos da tecnologia e das biocincias (cirurgias de alta complexidade, rteses e prteses sofisticadas, procedimentos de manuteno da vida, gentica, clonagem, transplantes). Assim, a participao de profissionais da rea de filosofia moral nas comisses de tica, conselhos, comisses tcnico-disciplinares e outras apenas uma questo de tempo. Observamos tambm que a ps-modernidade um fator de complicao do exerccio da tica em todas as reas. Logo, para o correto exerccio da auditoria em sade preciso que o auditor seja tambm um agente de transformao social, isto , que esteja inserido na proposta de recuperao dos valores humansticos, pois em caso contrrio em nada ajudar sua cooperativa. H um nmero imenso de questes ticas no resolvidas na rea de auditoria em sade e, permanentemente surgem novos temas. Sugere-se que esses pontos sejam periodicamente relacionados e debatidos em grupos.
170
Projetos ticos podem ser apresentados comunidade de auditores e, posteriormente, ao Conselho Federal de Medicina para estudo e discusso.
171
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de filosofia. 4. ed. So Paulo: Martins Fontes, 2000. BOCCACCIO, Giovanni. Decamero. So Paulo:Victor Civita, 1981. v. 1. COMTE-SPONVILLE, Andr. Pequeno tratado das grandes virtudes. So Paulo: Martins Fontes, 2000. DE LA BOTIE, Etienne. Discurso da servido voluntria. So Paulo: Brasiliense, 1999. HOLYHOAKE, G. J. Os 28 teceles de Rochdale. Porto Alegre: WS, 2000. HOUAIS, Antnio. Dicionrio Houais da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. LEAKEY, Richard; Levin, Roger. Origens. So Paulo: Melhoramentos, 1982. MAY, Nilson Luiz et al. (coord.). Compndio de cooperativismo UNIMED Porto Alegre Porto Alegre: WS, 1998. MORIN, Edgar. Ningum sabe o dia que nascer. So Paulo: Fundao da UNESP, 2002. ROJAS, Enrique.O homem moderno. So Paulo: Mandarim, 2000. SAVATER, Fernando. As perguntas da vida. So Paulo: Martins Fontes, 2001a. SAVATER, Fernando. Poltica para meu filho. So Paulo: Martins Fontes, 2001b. SAVATER, Fernando. tica para meu filho. So Paulo: Martins Fontes, 2002. SINGER, Peter. tica prtica. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1998. SINGER, Peter. Vida tica. Rio de Janeiro: Ediouro Public, 2002.
Potrebbero piacerti anche
- Direito Eleitoral L Mapa Mental 39° Exame Da OABDocumento9 pagineDireito Eleitoral L Mapa Mental 39° Exame Da OABmisamisafanfictionNessuna valutazione finora
- Atividades Primeira RepublicaDocumento2 pagineAtividades Primeira RepublicaCópias EEPEA100% (1)
- Recomendação Do ComitÊ População em Situação de RuaDocumento43 pagineRecomendação Do ComitÊ População em Situação de RuaTainara OliveiraNessuna valutazione finora
- Direito Do TrabalhoDocumento18 pagineDireito Do Trabalhopaulf100% (4)
- Universidade Independente de Angola Faculdade de Direito: Docente: Adelino YangeDocumento22 pagineUniversidade Independente de Angola Faculdade de Direito: Docente: Adelino Yangefernando alemaoNessuna valutazione finora
- Hillesum e Mechanicus OCRDocumento22 pagineHillesum e Mechanicus OCRSolange Alves de AlmeidaNessuna valutazione finora
- Modelo Contrato Associacao Advogado SociedadeDocumento5 pagineModelo Contrato Associacao Advogado SociedaderaulchavesNessuna valutazione finora
- O Serviço Social Na Trajetória Do Atendimento À Infância e JuventudeDocumento41 pagineO Serviço Social Na Trajetória Do Atendimento À Infância e JuventudePaula AtaídeNessuna valutazione finora
- Amadeo Bordiga - Os Fundamentos Do Comunismo RevolucionarioDocumento50 pagineAmadeo Bordiga - Os Fundamentos Do Comunismo Revolucionariofelipe joao carlos eduardo dos santosNessuna valutazione finora
- ALMEIDA, Silvio Racismo Estrutural. São Paulo Pólen, 2017.Documento6 pagineALMEIDA, Silvio Racismo Estrutural. São Paulo Pólen, 2017.Rick EgameNessuna valutazione finora
- Gestà o e Comunicaã à o Intercultural-2Documento86 pagineGestà o e Comunicaã à o Intercultural-2Daniela MenezesNessuna valutazione finora
- PSICO JURxDICADocumento16 paginePSICO JURxDICACleidiane Cardoso'Nessuna valutazione finora
- Colleccao Leis 1882 Parte3Documento553 pagineColleccao Leis 1882 Parte3Dan D DelNessuna valutazione finora
- Resumo Adam SmithDocumento6 pagineResumo Adam SmithLouise VieiraNessuna valutazione finora
- 2022 Xxix Congresso Cds Mocao Estrategia Global Recomecar Pelas Bases TemDocumento16 pagine2022 Xxix Congresso Cds Mocao Estrategia Global Recomecar Pelas Bases TemmariocreisNessuna valutazione finora
- Aula 3 - Posse - Aquisição - Conservação e Perda Da PosseDocumento19 pagineAula 3 - Posse - Aquisição - Conservação e Perda Da Possetaynara camoesNessuna valutazione finora
- Sequência Didática Sobre Raça E Discriminação Racial Disciplina: SociologiaDocumento7 pagineSequência Didática Sobre Raça E Discriminação Racial Disciplina: SociologiaSonnyFreakNessuna valutazione finora
- Convençao Sobre Trânsito Viário de VienaDocumento48 pagineConvençao Sobre Trânsito Viário de VienaAnderson De Nadai MarianoNessuna valutazione finora
- 5° ANO 1 Quinzena A GostoDocumento16 pagine5° ANO 1 Quinzena A GostoVanuza CavalcanteNessuna valutazione finora
- Detonado Metroid Other MDocumento15 pagineDetonado Metroid Other MWellingtonrcNessuna valutazione finora
- Feminicidio No BrasilDocumento5 pagineFeminicidio No BrasilStudio8Nessuna valutazione finora
- Democracia e DesconfiançaDocumento23 pagineDemocracia e DesconfiançadanpiovanelliNessuna valutazione finora
- VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto Do Idoso ComentadoDocumento8 pagineVILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto Do Idoso ComentadoSantanaNessuna valutazione finora
- SOUSA, Edmar J. X. O Sector Informal Da Economia Nacional. Luanda. CCIAH. Parecer, 2020Documento3 pagineSOUSA, Edmar J. X. O Sector Informal Da Economia Nacional. Luanda. CCIAH. Parecer, 2020Edmar de SousaNessuna valutazione finora
- De Missangas e Catanas: A Construção Social Do Sujeito Feminino em Poemas Angolanos, Cabo-Verdianos, Moçambicanos e São-TomensesDocumento271 pagineDe Missangas e Catanas: A Construção Social Do Sujeito Feminino em Poemas Angolanos, Cabo-Verdianos, Moçambicanos e São-TomensesDaniela Nascimento100% (2)
- Unidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisDocumento28 pagineUnidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisBraspav UsinaNessuna valutazione finora
- Enq - Lista Provisória Dos Alunos Inscritos No Exame Nacional de Qualificação 2023.1Documento14 pagineEnq - Lista Provisória Dos Alunos Inscritos No Exame Nacional de Qualificação 2023.1Leticia Mattos dos AnjosNessuna valutazione finora
- Bol PM #0002 de 03 de Janeiro de 2013Documento31 pagineBol PM #0002 de 03 de Janeiro de 2013JosyssNessuna valutazione finora
- A Crucificação de São PedroDocumento9 pagineA Crucificação de São PedroFausto ZamboniNessuna valutazione finora
- 5 Markus BroseDocumento54 pagine5 Markus BroseMarlos BezerraNessuna valutazione finora