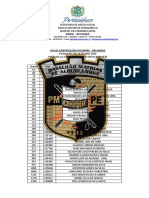Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Mito e Razao No Direito Penal PDF
Caricato da
Anderson AlencarTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Mito e Razao No Direito Penal PDF
Caricato da
Anderson AlencarCopyright:
Formati disponibili
Mito e Razão
no Direito Penal
pedro dourados.indd 1 16/10/2012 12:14:23
www.lumenjuris.com.br
Editores
João de Almeida
João Luiz da Silva Almeida
Conselho Editorial
Adriano Pilatti Helena Elias Pinto Marcellus Polastri Lima
Alexandre Morais da Rosa Jean Carlos Fernandes Marco Aurélio Bezerra de Melo
Cezar Roberto Bitencourt João Carlos Souto Marcos Chut
Diego Araujo Campos João Marcelo de Lima Assafim Nilo Batista
Emerson Garcia Lúcio Antônio Chamon Junior Ricardo Lodi Ribeiro
Firly Nascimento Filho Luigi Bonizzato Rodrigo Klippel
Frederico Price Grechi Luis Carlos Alcoforado Salo de Carvalho
Geraldo L. M. Prado Manoel Messias Peixinho Sérgio André Rocha
Gustavo Sénéchal de Goffredo Sidney Guerra
Conselheiro benemérito: Marcos Juruena Villela Souto (in memoriam)
Conselho Consultivo
Andreya Mendes de Almeida Scherer Navarro
Antonio Carlos Martins Soares
Artur de Brito Gueiros Souza
Caio de Oliveira Lima
Francisco de Assis M. Tavares
Gisele Cittadino
João Theotonio Mendes de Almeida Jr.
Ricardo Máximo Gomes Ferraz
Filiais
Rio de Janeiro Rio Grande do Sul (Divulgação)
Centro – Rua da Assembléia, Rodrigo de Castro
10 Loja G/H rodrigo@lumenjuris.com.br
cep 20011-000 – Centro Porto Alegre - RS
Tel. (51) 8140-3721
São Paulo (Distribuidor)
Rua Correia Vasques, 48 – CEP: 04038-010 Curitiba (Divulgação)
Vila Clementino - São Paulo - SP Marco Antonio S. Silva
Telefax (11) 5908-0240 marcoantonio@lumenjuris.com.br
Curitiba - PR
Minas Gerais (Divulgação) (41) 9655-9297
Sergio Ricardo de Souza
sergio@lumenjuris.com.br Florianópolis (Divulgação)
Belo Horizonte - MG Cristiano Alfama Mabilia
Tel. (31) 9296-1764 cristiano@lumenjuris.com.br
Florianópolis - SC
(48) 9981-9353
pedro dourados.indd 2 16/10/2012 12:14:24
Pedro Dourados
Mito e Razão
no Direito Penal
Editora Lumen Juris
Rio de Janeiro
2012
pedro dourados.indd 3 16/10/2012 12:14:24
Copyright © 2012 by Pedro Dourados
Produção Editorial
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.
A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pela originalidade desta obra
nem pelas opiniões nela manifestadas por seu Autor.
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo,
inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.
A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art. 184
e §§, e Lei no 6.895, de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão
e indenizações diversas (Lei no 9.610/98).
Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.
Impresso no Brasil
Printed in Brazil
pedro dourados.indd 4 16/10/2012 12:14:24
Quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou o braço do Senhor?
Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca;
não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele,
não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.
Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
e experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam
o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos
por aflito, ferido de Deus, e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava
pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca;
como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores,
assim ele não abriu a sua boca.
Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida?
Porquanto foi cortado da terra dos viventes; pela transgressão
do meu povo ele foi atingido.
E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte;
ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar;
quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer
do Senhor prosperará na sua mão.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito;
com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos;
porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá
ele o despojo; porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado
com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos,
e intercedeu pelos transgressores.
Isaías 53
pedro dourados.indd 5 16/10/2012 12:14:24
pedro dourados.indd 6 16/10/2012 12:14:24
Agradecimentos
Em primeiro lugar a Deus, pelo Amor, pelo Sustento,
pela Salvação. Três vezes, obrigado.
Em segundo, à família, e nesta, em especial, à minha mãe,
pelas horas de conversa sobre os mais diversos temas que direta
ou indiretamente se refletem nesta Iniciação – afinal, o que seria de nós sem
Bakhtin? A meu pai pelo exemplo e estímulo e a meu irmão,
pela compreensão.
Aos avós, por sempre orarem pelo neto perdido em São Paulo, amo vocês.
À Helena Lobo, pois, sem ela, isso não seria.
Ser humano maravilhoso, obrigado.
À Dalva, do DPM, pois sem ela, jamais teria chegado à Helena,
e não teria dado algumas boas risadas – com a Marcela, um abraço.
À São Francisco e à FAPESP pelo apoio institucional imprescindível,
e que me fez pensar sobre o próprio conceito de instituição –
e de burocracia.
Ao SEI, nas pessoas da Tia Ezhir e da Tia Cidinha, ao Porto União,
nas pessoas das sôras Melissa e Silvia Helena, et aussi à la Cité Scolaire
Internationale, à la personne de M. Cornella.
Vous me manquez, grenoblois.
Agradeço especialmente aos professores do DPM e do DFD,
que me incentivaram a pesquisar, a questionar, a ler.
Agradeço aos colegas de Facvldade, em especial, à 23 da 183,
que sempre mantiveram em mente as potencialidades
de Axé em Hans Kelsen.
Aos colegas de estágio, no CAZ e no D.J. XI de Agosto – em especial,
a Guilherme Lobo, com quem compartilho algumas
ideias desvairadas (Jung faz você brilhar).
De modo muito especial, ao Projeto 73 e às amizades que acompanharam
este pequeno sonho de filosofia nas Arcadas – Peter Barna,
André Menegatti e Pedro Chambô, vocês são amigos
de que não me esquecerei.
Ao Matheus Gomide Gavassoni, pela amizade e pela maravilhosa ideia
de arte que gerou a capa.
pedro dourados.indd 7 16/10/2012 12:14:24
Ao NEB e aos amigos da IBVM.
Ao Pastor Abner e ao Pastor Darcy, pelos muitos conselhos,
e pela sabedoria inesgotável. Ao André Muceniecks, à Michelle Lima
e a Evandro Kent e Lucas Slobo. A Daniel Candia
por algumas divagações especiais.
A Christine Park, Felipe Alves, Viktor, Naty Massuia
e outros que oraram por mim – e aos que sorriram pra mim, também.
À Enya, Sade, Mahalia e Michael Jackson, além de Von Liszt,
que vivos ou mortos fizeram a trilha sonora deste trabalho.
À Marcela Rama, pela inexplicável sintonia.
Ao Bruno Bracco, pelas leituras e pelos cafés abolicionistas.
Enfim, por último, mas não menos importante, aos Ratos do largo
de Ana Rosa, que ao não me deixarem dormir me fizeram estudar –
e porque desde Sartre os roedores têm sido ignorados.
pedro dourados.indd 8 16/10/2012 12:14:24
Sumário
Apresentação ............................................................................................. XIII
Introdução .................................................................................................. XV
O Mito ............................................................................................................. 1
1.a A cultura .................................................................................................. 1
1.a.1 Entre positivismo e naturalismo ......................................................... 3
1.a.2 A cultura como linguagem ................................................................. 4
1.a.3 A cultura a partir do Mito ................................................................. 5
1.b Campbell e a visão do mito ...................................................................... 6
1.c Mito como medium cultural ..................................................................... 8
1.d Mito, símbolo e cultura .......................................................................... 11
1.e Mito e transcendência ........................................................................... 12
1.f Conclusão ............................................................................................... 14
A Razão ......................................................................................................... 17
2.a A Cultura racional ................................................................................. 17
2.b Hegel e a Razão ...................................................................................... 17
2.c Da Crítica da Razão ............................................................................... 19
2.c.1 Razão antes da crítica – a dominação racional ................................ 19
2.c.2 A crítica de Kant .............................................................................. 21
2.c.3. Schopenhauer crítico de Kant ........................................................ 23
2.c.4. Marx e a crítica da razão: a verdade econômica ............................. 24
2.d Conclusão ............................................................................................... 26
A racionalidade dos sistemas sociais ......................................................... 29
3.a A racionalização do direito penal:
sistematização da teoria do delito ................................................................ 31
3.a.1 Hans Welzel e a doutrina da ação finalista ...................................... 32
a) Ação final e tipicidade ......................................................................... 34
b) Ação final e antijuridicidade ................................................................ 34
c) Ação final e culpabilidade .................................................................... 35
3.a.2 Claus Roxin e a ação personalista .................................................... 36
a) Ação como “manifestação da personalidade” ........................................ 37
b) O enlace pelo conceito de ação pessoal ................................................. 37
pedro dourados.indd 9 16/10/2012 12:14:24
3.a.3 Günther Jakobs e o crime enquanto imputação .............................. 38
3.b Conclusão .............................................................................................. 39
Mito e Razão juntos: a Dialética do Esclarecimento ............................. 41
4.a A Teoria Crítica e a Escola de Frankfurt ................................................ 41
4.a.1 O início da Crítica ........................................................................... 41
4.b A Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos .......................... 42
4.b.1 O entrelaçamento “Mito”- “Razão” ................................................. 43
4.b.1.a A dominação esclarecida da natureza e o Mito ......................... 44
4.b.1.b A Lógica do Sacrifício e o paradoxo da autoconservação ......... 47
4.b.1.c A Crise da ratio e o estabelecimento
da igualdade: Razão = Dominação ....................................................... 51
4.b.1.d A razão e o mito co-dependentes: a auto-reflexão da razão
dominadora na Indústria Cultural ......................................................... 54
4.c A “dialética do esclarecimento” como instrumento de crítica ao Direito
Penal – considerações metodológicas .......................................................... 58
Hans Welzel: o Kant do Direito Penal .................................................... 65
5.a A (mini)revolução copernicana na teoria da Ação ............................... 65
5.b A Ontologia de Welzel: resquícios do neokantismo,
amizade com a Fenomenologia .................................................................... 66
5.c A Racionalização pela teoria da ação: o delito tripartido ...................... 67
5.d O Sistema e o Direito Penal Cibernético ............................................... 70
5.e Crítica Dialética ..................................................................................... 71
5.e.1 Direito Penal para além da ação ...................................................... 72
5.e.2 O Tempo da Ação ............................................................................ 74
5.e.3 Ação despersonalizada ..................................................................... 74
5.e.4 O esvaziamento dos valores ............................................................. 76
5.f Conclusão ............................................................................................... 77
Günther Jakobs:comunicação instrumental, organização
do comportamento e Direito Penal do inimigo ......................................... 79
6.a Direito Penal como comunicação: instrumentalidade funcional
neutra e o conceito de pessoa ...................................................................... 81
6.c Resumo: crime como ação em Jakobs .................................................... 84
6.d. Crítica Dialética .................................................................................... 84
6.d.1 A instrumentalização da pessoa (ponto 1) ...................................... 85
6.d.2 Organização do comportamento e norma (ponto 2) ....................... 86
pedro dourados.indd 10 16/10/2012 12:14:24
6.d.3 O Sistema vivo: a pena como resposta comunicacional
do Sistema (pontos 3 a 6) ......................................................................... 87
Claus Roxin e o conceito pessoal de ação ................................................ 91
7.a A ação e seu papel intra-sistêmico ......................................................... 91
7.b Ação enquanto “manifestação da personalidade” ................................. 92
7.b.1 Ação e imputação ............................................................................ 92
7.b.2 A capacidade unificadora ............................................................... 93
7.b.3 Delimitações pelo conceito de ação ................................................ 93
7.c Crítica Dialética ..................................................................................... 94
7.c.1 O problemático conceito de “Manifestação” ................................... 95
7.c.2 A manifestação do Inimigo .............................................................. 96
7.c.3 O problema da personalidade .......................................................... 97
7.d Conclusão ............................................................................................... 99
Teoria da Ação e o aspecto mítico da Sociedade ................................... 101
8.a Mito e Ação: elementos de proximidade ............................................. 102
8.a.1.a O tempo cotidiano ................................................................... 102
8.a.1.b O outro tempo ......................................................................... 104
8.a.1.c O tempo do Direito – a magia dos Autos ................................ 105
8.a.2. A ação do agente .......................................................................... 106
8.a.2. A Ação do Herói e a Infra-ação do Anti-heroi ......................... 108
8.b O paradigma do mito e o paradigma da ação ...................................... 111
8.b.1. O mito e a mentira, uma mentira sobre o mito ............................ 111
8.b.1. Luhmann e o problema da compreensão comunicacional ........... 114
Teoria da Ação ........................................................................................... 123
9.a Discurso: entre o enunciado concreto e gênero discursivo ................. 123
9.a.1 Ação como enunciado concreto .................................................... 125
9.a.1.a Teoria Comunicacional do Direito e Ação .............................. 125
9.a.1.b A teoria da Ação em Tavares ................................................... 126
9.a.2 O Enunciado Concreto – no contexto do dialogismo ................... 127
9.a.3 Ação como texto, ação como enunciado ....................................... 133
9.b O Gênero “Crime” – o Discurso do Direito Penal ............................... 136
9.b.1 Os dois tempos da ação .................................................................. 138
A Dogmática Penal .................................................................................... 141
10.a “Reflexos dogmáticos” da teoria da ação dialógica ............................ 141
10.b Além da querelle des ancies et des modernes ......................................... 142
10.c A Irretroatividade da lei penal ........................................................... 144
pedro dourados.indd 11 16/10/2012 12:14:25
10.d. Omissão e causalidade ...................................................................... 145
10.d Pessoas Jurídicas criminosas ............................................................... 148
10.e Culpabilidade como ponto de gravidade ........................................... 152
Adendo Teológico ...................................................................................... 157
Conclusão ................................................................................................... 163
Bibliografia ................................................................................................. 167
pedro dourados.indd 12 16/10/2012 12:14:25
Apresentação
A obra que ora se apresenta é resultado – com algumas modificações – de
trabalho de Iniciação Científica desenvolvido por Pedro Augusto Simões da Con-
ceição, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob minha orien-
tação e com financiamento da FAPESP. Assim, além do interesse acadêmico que
nutro pelo tema e sua abordagem, não posso deixar de expressar meu orgulho de
ver esta primeira monografia acadêmica produzida por Pedro poder ser difundida
ao público, após ter sido elogiosamente aprovada pela FAPESP.
Reexaminar e rediscutir o conceito de conduta no direito penal revela-se uma
empreitada extremamente relevante para a dogmática atual, que por vezes tem
se deparado com situações às quais as atuais teorias sobre a conduta nem sempre
fornecem respostas adequadas. As lentes utilizadas por Pedro para esse reexame,
entretanto, não foram estritamente aquelas da dogmática jurídico-penal. A dog-
mática, mais do que instrumental de análise, acaba por se transformar, ela própria,
em objeto de seu estudo, sob o olhar da filosofia, especialmente da crítica da razão.
Nos três primeiros capítulos do livro, Pedro expõe os pressupostos do traba-
lho, esclarecendo a concepção de mito adotada, traçando um rápido panorama
sobre a crítica da razão e, a seguir, sobre a racionalidade dos sistemas sociais.
Na sequência, o trabalho examina a visão de Adorno e Horkheimer, bus-
cando, na Dialética do Esclarecimento, ferramentas críticas para a análise das
três teorias da conduta escolhidas para estudo: as desenvolvidas por Hans Welzel,
Claus Roxin e Günther Jakobs.
As três teorias mencionadas são expostas e, a seguir, submetidas à denomi-
nada crítica dialética, identificando-se problemas, falhas e, também, que o con-
ceito de ação, por vezes, se vê sobrecarregado. Mas a principal conclusão extraída
pelo autor é que as concepções de ação – responsáveis por um alto grau de racio-
nalização e especialização da ciência penal – acabam por também aportar uma
carga mítica ao direito penal, tema que é pormenorizado em capítulo próprio.
O estudo não abandona, todavia, o paradigma da ação, mas insiste para que se
tenha presente sua carga mítica. E, a partir desse pressuposto, busca remodelar o con-
ceito, a partir de elementos da filosofia da linguagem de Bakhtin. O autor ainda en-
frenta, ao final do trabalho, questões penais específicas, sob o olhar de sua proposta.
Esse brevíssimo voo panorâmico sobre a obra já revela ao leitor quão apaixo-
nantes são os temas e, especialmente, a abordagem escolhida pela obra. A grande
contribuição do trabalho de Pedro consiste em efetuar o exame do conceito jurí-
dico-penal de conduta sob o prisma da filosofia, sem receios dos possíveis ruídos
que possam advir do diálogo entre linguagens e metodologias distintas. Com isso,
XIII
pedro dourados.indd 13 16/10/2012 12:14:25
a obra traz o espanto filosófico para o direito penal, permitindo ao leitor desen-
volver uma reflexão detida sobre o tema e questionar o que está subjacente aos
modelos teóricos contemporâneos.
Helena Regina Lobo da Costa
Professora Doutora da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo
XIV
pedro dourados.indd 14 16/10/2012 12:14:26
Introdução
Batatas.
Esta parece uma palavra bastante inadequada para a abertura de um estudo
– pretensamente científico – em matéria jurídico penal, correto?
Talvez fosse melhor começar por “Estado Democrático de Direito”.
É muito mais profundo, muito mais jurídico, muito mais adequado. Não
há, contudo, um grande teórico da sociedade o qual alegou que uma crise na
produção de batatas motivou uma das maiores revoluções responsáveis – di-
reta e indiretamente – pela construção daquilo que hoje se compreende por
Estado Democrático de Direito?
Está, pois, justificada a presença da palavra “batatas”. A palavra batatas
pode ser uma palavra científica, jurídico-penalmente relevante para a construção
de uma análise crítica do conceito de ação tal qual utilizado pela doutrina – como
tentamos realizar aqui.
A palavra continua, contudo, com ares de inadequada para o assunto. Es-
tranho é que a própria palavra “adequada” teve também de se adequar ao jogo da
ciência jurídico-penal. Não há, mesmo, nada de errado em pensar que um crime
pode ser socialmente adequado? E esta é, não obstante, uma das maiores constru-
ções doutrinárias do século XX: não a adequação social em si, mas a adequação da
própria palavra adequado para que a teoria da adequação social se tornasse acei-
tável, juridicamente relevante, enfim, aplicável e adequada.
Talvez seja da natureza linguística do vernáculo afirmar que um crime é
algo socialmente inadequado – não por menos é um crime. Mas, após eficientes
construções doutrinárias, não mais. Uma ação que tem tudo para entrar nas ca-
tegorias de um crime pode muito bem ser adequada.
Não se trata de pensar em uma mentira sobre o crime ou sobre o conceito
de adequação, mas se trata, isso sim, de construir o novo a partir de conceitos já
dados, a partir de vocabulários já sedimentados que passam por transformações
semânticas radicais.
O mesmo ocorreu – e este processo ainda não se encerrou – com o vocábulo
ação. De algo que era necessariamente pensado como físico-biológico, oposto à omis-
são, passamos a teorias mais sutis, que demandam grande elaboração conceitual e te-
órica para aliar as noções de finalidade, personalidade, comunicação ou sentido à “ação”.
As batalhas acadêmicas travadas na definição do conceito de ação são, pre-
cisamente, acadêmicas; mas, nem por isso, deixam de ser reais. O que se retarda
– e isso é inegável – é o tempo para que tais formulações influenciem a prática
forense, o cotidiano jurídico penal, o tempo até que se torne algo natural afirmar
XV
pedro dourados.indd 15 16/10/2012 12:14:26
que uma pessoa cometeu uma ação criminosa enquanto que ela não fez nada – mas
somente deveria ter feito.
Os mistérios que envolvem uma formação conceitual deste tipo preten-
dem ser abarcados aqui. Não de maneira tradicional, talvez. Exigir que a ação
resolva todos os problemas postos pela dogmática pode abrir as portas para que
o conceito se esvazie, e corrobore uma lógica de transformação do complexo em
óbvio, do funcional em inútil.
Pode parecer que a racionalidade conceitual da categoria ação depende –
exatamente – da sua capacidade de refletir todas as demais categorias, mas, não
podemos esquecer que aquilo que reflete tudo o que se coloca em sua frente
pode ser algo tão fútil como um espelho, cuja complexidade própria se resume
a uma lâmina refletora.
O conceito de ação, para continuar tendo sua independência dentro de
uma doutrina garantista e que prime pelo Estado Democrático de Direito, deve
sempre ter consciência de sua própria complexidade, para, depois, analisarem-se
as demais categorias e até que ponto elas estão relacionadas à ação.
Este trabalho propõe, portanto, uma reconceituação de ação.
Para que isto se tornasse possível, outras reconceituações foram necessárias.
Isso porque a ação não se revela para o jurista como um objeto puro, como um
dado solto no ar – tal qual é comum lermos em alguns manuais – mas como um
elemento dentro de uma mais complexa teoria da sociedade. Por isso é preciso
re-pensar o que significa a ação no contexto de uma possibilidade social, e não
somente de uma teoria da sociedade, mas de uma compreensão de o que seja o
social, de o que sejam os ramos da cultura social.
A palavra “ramos”, por sua vez, somente pode ser aqui utilizada porque já
passou por uma metaforização, por uma atribuição de pertinência duvidável, por
uma re-conceituação. Se pensarmos na palavra ramo com sua conotação bioló-
gica, afirmar que o Direito é um ramo nos leva à pergunta pelo tronco e pelas
raízes, enfim, pela “árvore como um todo”.
O que nos permite pensar, porém, que conhecer o ramo nos levará ao co-
nhecimento da “árvore como um todo”?
Em que conhecer a ação – seiva? fruto? semente? flor? – nos leva a conhecer
a árvore que é a Cultura ? – tida aqui em seu sentido mais banal possível.
O que permite olharmos a sociedade e a cultura como seres biológicos? O
direito como ramo? Qual é o poder que permite aproximar elementos vistos como
concretos, empíricos, científicos a símbolos, a imagens congeladas de um Ovo
universal, de uma raposa capaz de falar, de um panteão libertino e briguento que são
postas em movimento para que possamos experimentar aquilo que a ciência tradi-
cional, os discursos acadêmicos e o saber formalizado não nos permitem explicar?
XVI
pedro dourados.indd 16 16/10/2012 12:14:26
É o Mito – senhoras e senhores. Nem por isso deixa o Homem de ser uma
possível resposta, como nos ensina um conhecido Mito1.
A racionalidade científico-explicativa de ver o delito como ação típica, an-
tijurídica e culpável é transferida para o saber mitológico capaz de mostrar por
que a cultura é uma árvore, o mundo, um ovo, os sábios, raposas e os deuses per-
vertidos, nós mesmos.
A Razão muito lutou para se emancipar do Mito, mas talvez tenha encontrado
novamente com ele, no seu ponto máximo – no ponto de maior racionalidade, no
ponto onde uma categoria (ação) é usada para explicar o que é uma outra (crime).
Ainda um esclarecimento é necessário. Ação, ramos, direito, mito, razão,
tipicidade e ovo são termos que podem ser aproximados, em pontos de tensão
que se diluem em capítulos específicos, porque um dos pressupostos deste tra-
balho é que a cisão entre o Direito Penal e a Filosofia está a ser posta por aquele
que constrói o saber doutrinário ou dogmático e, aqui, a cisão é afastada ao mais
longe possível, a ponto de permitir a maior intertextualidade sem desnaturar a
especificidade de cada gênero discursivo.
Se, para um jurista, este texto soar demasiado filosófico, e se, para um filó-
sofo, for necessário ler um pouco de doutrina para a compreensão deste mesmo
texto, nosso objetivo terá sido alcançado.
Enfim, se a filosofia começa com o espanto e o direito está sempre lá onde
está a sociedade, trata-se de mostrar que a ordem lógica e racional está sempre
presente nas aventuras mais desgraçadas ou cômicas dos grandes herois míticos,
e que a recíproca é verdadeira; talvez, porém, ainda falte abrir lugar – nos discur-
sos já estabilizados e aceitos na sociedade – para o anti-heroi. E para as Batatas.
1 No mito de Édipo, a resposta que daria cabo ao enigma apresentado ao personagem pela Esfinge era, jus-
tamente “o homem!”. E, então, se matava a Esfinge.
XVII
pedro dourados.indd 17 16/10/2012 12:14:26
pedro dourados.indd 18 16/10/2012 12:14:26
O Mito
1.a A cultura
Um dos brocados latinos a que frequentemente recorrem os juristas é ubi
societas, ibi jus1, ou seja, “onde está a sociedade, ali está o direito”.
Apesar de dificilmente contestável, este brocado traz consigo o risco de um precon-
ceito injustificado: o de olhar a sociedade unilateralmente pelo ponto de vista do direito,
como se houvesse uma simbiose exclusiva entre direito e sociedade.
Por esta razão, o brocado estaria também correto se dissesse que onde está a
sociedade, ali está o direito, a política, a arte, a religião entre outros.
De modo bastante genérico, costuma-se chamar o direito, a política, a arte,
a religião de “fenômenos culturais”.
De extrema importância para a Teoria do Direito, a definição de “cultura”,
“mundo cultural” ou “fenômeno cultural” é controversa. Para Reale (1998), o
Direito é um fenômeno cultural que pertence ao quadro das formulações éticas
da sociedade, mas difere de demais tipos de normação pelo seu caráter estatal,
regulador e preocupado com o “bem comum” da sociedade2.
A cultura é geralmente apontada como aquilo que é típico da produção hu-
mana em contraste com o natural, aquilo que o homem partilha com os demais
animais. Essa divisão entre o “cultural” e o “natural”, entretanto, varia no correr
dos séculos de acordo com a visão filosófica que se adote.
Para Marx (2007), pensador do século XIX, por exemplo, a realidade da
existência é material e histórica3. O que move a história, para o pensador, é o
movimento dialético dos contraditórios que surgem entre as classes econômicas
que se opõem (ex: burguesia/operariado). Para Marx, essa realidade móvel cria
verdadeiros fantasmas para tentar se justificar, para tentar mascarar o jogo dialé-
tico de dominação/submissão, tratam-se das “ideologias”.
1 Conferir Camargo, Tipo Penal e Linguagem, (1982), p.73: “Desta forma, o fenômeno jurídico surge ligado
ao fenômeno social, dando margem à aceitação da veracidade do postulado ubi jus, ibi societas; ubi societas,
ibi jus”.
2 Conferir Lições Preliminares de Direito, (1998), p. 39 e ss.
3 Lévinas, (2009), critica implicitamente o posicionamento de Marx ao denunciar que o materialismo busca
o “sentido único do ser” (p. 39- 42), enquanto que, para o autor, “não haveria totalidade [mesmo que ma-
terial] do ser, mas totalidades”, de modo que o que em Marx é mera ideologia, em Lévinas, “as significações
culturais, com seu pluralismo, não traem o ser, mas que, com isso, se elevam à medida e à essência do ser,
isto é, à sua maneira de ser” (p. 39). Mais sobre ideologia será desenvolvido nos capítulos seguintes.
pedro dourados.indd 1 16/10/2012 12:14:26
No conceito marxista de ideologia, podemos incluir tanto a produção filo-
sófica predominante, quanto a artística, quanto a política, por exemplo4. Assim
sendo, para o filósofo, a produção cultural da sociedade difere radicalmente da
realidade material existente e geralmente é uma “arma” usada para mascarar as
contradições de tal realidade5.
Podemos dizer que há, em Marx, uma cisão radical entre o natural e o ide-
ológico, ou cultural6.
Já para Schopenhauer (2010), pensador que também viveu no século XIX,
o mundo é Vontade e essa Vontade se apresenta para o homem em sua forma
objetiva, chamada de representação, da onde a conhecida máxima “o mundo é
minha representação”.
Seguindo a filosofia de Kant e a separação entre fenômeno (Erscheinung) e
coisa-em-si (Ding an sich), Schopenhauer diz que tudo o que existe é Vontade,
mas essa existência é – assim como para a filosofia hindu – um ser caótico e sem
forma, de modo que a Vontade somente ganha forma e uma existência diferen-
ciada com a capacidade humana de representação.
Desse modo, uma existência significativa da Vontade depende da capaci-
dade humana de abstração e interpretação e, para Schopenhauer, certas habilida-
des humanas de representação atingem um grau tão elevado de objetivização da
Vontade que voltam a se converter nesta; tal seria o caso da música, a arte mais
elevada – na opinião do filósofo.
Enxergamos, na filosofia schopenhaueriana, um certo monismo entre o na-
tural (Vontade) e o cultural (representação), já que, como ele mesmo o diz, “re-
presentação é Vontade objetivada”7 (SCHOPENHAUER, 2010).
A partir desta breve comparação entre as opiniões divergentes de Marx e
Schopenhauer, concluímos que a visão do que é o cultural, e, portanto, uma visão
última sobre o que é o direito, a política, a arte (...), depende de uma certa “visão
de mundo” estritamente relacionada a uma certa “concepção de homem”.
4 Althusser (1980, pp.25-6) faz, contudo, a ressalva: “a superestrutura comporta em si mesma dois ‘níveis’
ou ‘instâncias’: o jurídico-político (o direito e o Estado) e a ideologia (as diferentes ideologias, religiosas,
moral, jurídica, política, etc)” (grifo do autor). Vemos que Althusser preocupa-se com certa aplicabilidade
mais imediata do jurídico e do político, atribuindo-lhes uma “instância” especial em sua leitura de Marx,
ainda assim, qualifica ambos como “ideologias” no mesmo sentido que a moral e a religião. Não à toa, o
Direito é, para Althusser tanto um instrumento do aparelho repressivo do estado (aquilo que a crimino-
logia usualmente chama de “controle social formal”), quanto um Aparelho Ideológico do Estado, como
parte da “sociedade civil”, mas que integra o Estado.
5 Isso não se confunde com o conceito de “abstração real”, que fora necessário ao filósofo quando trabalhou,
sobretudo, com temas como a economia política e a natureza do capital, para dar um exemplo. Habermas,
in Teoria de la Acción Comunicativa (2010), desenvolve aspectos desse conceito marxiano.
6 Lembramos que tal separação mantém-se enquanto mantiver-se a história, no tempo pós-histórico não há
por que haver ideologias, de modo que haveria uma “fusão” entre o super e o infraestrutural.
7 Ressaltamos que este monismo não quer dizer que temos simples acesso à Vontade por qualquer represen-
tação, na verdade, é o distanciamento da essência das coisas que origina o pessimismo de Schopenhauer.
A “natureza”, a “arte” e a “ética”, não obstante, podem ajudar a chegar às coisas em si através das repre-
sentações mais puras.
pedro dourados.indd 2 16/10/2012 12:14:26
Para o materialismo histórico, se a realidade é estritamente infra-estrutural (ma-
terial), somente uma correta análise de tal infra-estrutura pode dar gênese a uma nor-
mação autônoma dos homens que conduza ao comunismo social. Tal análise iniciou-
-a Marx com o “socialismo científico”, fazendo a crítica da economia política.
Marx “reduziu” todos os problemas culturais a problemas econômicos, fa-
zendo uma certa análise “cientificista” da sociedade8. Esta fé na cientificidade
calculável, no ramo do direito, é próxima ao “positivismo jurídico” que predomi-
nou durante o século XX9 (e ainda predomina largamente).
Já para Schopenhauer, a vida é sofrimento, a existência é sofrimento, pois
nunca alcançamos a verdade das coisas em si, somos servos das nossas próprias
representações, que existem em função da Vontade e de seu ciclo cego submetido
a um eterno retorno.
Este pessimismo metafísico levou a uma explicação da gênese do direito pela
compaixão com o sofrimento alheio, uma explicação que estava aliada a uma visão
budista/hindu de mundo e de negação da Vontade, da existência. A análise de Scho-
penhauer ele mesmo chama de “metafísica”, por isso chamamos tal de uma visão “jus-
-naturalista”, porém que enxerga a justiça a partir dos homens10, algo que começou a
ser recuperado também no século XX como resposta ao positivismo jurídico.
1.a.1 Entre positivismo e naturalismo
A definição de cultura que submeta tudo a uma estrita análise econômica,
ou a qualquer outra “seção” exclusiva da cultura, contornada por um caráter de
“cientificidade” é a estrutura mesma do positivismo11.
Em contrapartida, uma definição de cultura que submeta as relações huma-
nas e suas produções típicas a, por exemplo, uma teoria da existência que parta
de pressupostos filosóficos que, apesar de convincentes, são impossíveis de ser
comprovados é típica de uma doutrina naturalista.
O reducionismo a estruturas lógicas de uma contrapõe-se à abrangência que
a teoria metafísica da outra propõe.
Seja para explicar o que é a cultura, ou, mais especificamente, para explicar
o que é o direito, ambas se mostraram ineficazes.
8 “Há, nos ensaios [de Max Horkheimer] da década de 30, a noção, que ressurgiria na década de 70, de que
existe ‘um sofrimento da natureza circundante’ que afasta Horkheimer da idéia de Marx de um metabolismo
entre o homem e a natureza, que nos Manuscritos Econômico-Filosóficos se traduz na ‘naturalização do homem
e no humanismo da natureza’”, Olegária Matos, in Max Horkheimer, Teoria Crítica I, (2008), p. XXI.
9 Lembramos que o materialismo que baseia filosoficamente a teoria de Marx não impede que o seu
naturalismo torne-se um naturalismo submetido a uma análise cientificista, como um positivismo
naturalista (economicista).
10 A justiça não é vista como um ente abstrato solto na natureza. Para Schopenhauer existe efetivamente
justiça em termos metafísicos, mas ela se origina no homem.
11 Paradoxalmente, note-se, esta fé no alcance do verdade pelo cientifico-positivamente verificável recai,
facilmente, em metafísica. Cf. Horkheimer, Materialismo e Metafísica in Teoria Crítica I, (2007).
pedro dourados.indd 3 16/10/2012 12:14:27
Apresentando certo contraponto aos polos, podemos citar a teoria de Jür-
gen Habermas (1997), que será mais explorada adiante.
A proposta de Habermas para o Direito é a de uma justificação pelo procedi-
mento a qual assume que é legítimo aquilo que é legal (positivismo), mas que tal tipo
de direito somente pode ser considerado justo (válido) se for submetido a um proce-
dimento democrático e que respeite os Direitos Humanos (naturalismo), procedimento
este que deve promover a inclusão comunicativa dos membros da sociedade.
Esta inclusão comunicativa de que fala Habermas (inclusão no sentido de
participação da formação das leis, com um processo de discussão em busca do
consenso e onde ganhe o “melhor argumento”) aponta para uma característica
específica do cultural que foge do reducionismo positivista e da abrangência na-
turalista, que é o paradigma da linguagem.
1.a.2 A cultura como linguagem
Os fenômenos culturais, tais como os já citados “Política” ou “Religião”, ou
ainda, como nos interessa mais, o “Direito”, possuem uma forte característica em
comum: a linguagem.
Em certa sociedade, lá onde se encontra o direito e todos os demais fenô-
menos culturais, podemos dizer que, além das fronteiras geográficas que sepa-
ram esta sociedade das demais, o(s) seu(s) idioma(s) também é (são) fator(es)
determinante(s) para a estruturação do mundo cultural específico desta sociedade.
Assim, podemos dizer que todos os fenômenos culturais estruturam-se linguisti-
camente. Esta abordagem não nos faz cair necessariamente em uma visão estrutu-
ralista, pois dizer que a linguagem é uma estrutura comum ainda não é delimitar
a cultura a uma única estrutura ou delimitar cultura à verdade de um esquema
analítico estável, o que seria típico do estruturalismo12.
Isso acontece porque, se em uma sociedade específica, um único e comum
idioma específico é a base sobre a qual se estruturam os fenômenos culturais, essa
linguagem tende a uma especificação cada vez maior dentro de cada ramo da cultura.
Adotando um ponto de vista luhmanniano, podemos dizer que a lingua-
gem13 do direito tende a diferenciar-se e a especializar-se com as suas próprias
categorias e, consequentemente, a distanciar-se, por exemplo, das linguagens po-
lítica, econômica, artística, etc.
A abordagem luhmaniana14, contudo, parece ainda não esgotar os proble-
mas, pois, para Luhmann, os “sub-sistemas sociais”, ou culturais, têm como uni-
12 Cf. Lévi-Strauss, Estruturalismo e Crítica, 1968, p.393: “em antropologia, como em lingüística, o método
estrutural consiste em descobrir formas invariantes no interior de conteúdos diferentes”.
13 “Linguagem do direito” não se refere aqui meramente ao uso de uma língua específica pelo direito, mas
aproxima-se mais da noção de “sentido” do Direito (Sinn), pois, para Luhmann, a linguagem não é sistê-
mica – a mesmo nível que a comunicação – e os processos intra-sistêmicos são, como explicamos a seguir,
comunicacionais, mas pré-linguísticos.
14 Esta será aprofundada ao longo do trabalho, cf. capítulos 3 e 9, especialmente.
pedro dourados.indd 4 16/10/2012 12:14:27
dade processos de “comunicação” vistos de maneira pré-linguística – conforme
analisa Habermas (2002) – e, além disso, quando falamos em cultura, costuma-
mos dizer que aquela específica de um povo, de uma sociedade, inclui além do
direito, da religião, a própria língua deste povo. Esta passa a ser analisada como
um ramo específico da cultura, a partir do momento em que é vista como um sis-
tema isolado e observada de acordo com suas funções gramaticais, morfológicas,
sintática, semânticas, pragmáticas, entre outras15.
Deste modo, podemos dizer que a cultura está estruturada linguisticamente,
mas, a partir do momento que a própria linguagem passa a ser vista ela também
como um “fenômeno cultural” isolado (Saussure), não podemos mais afirmar que
ela é o denominador comum de todos os demais fenômenos culturais e também
o de seu próprio, pois a meta-linguagem nos levaria a uma regressão ao infinito,
não nos possibilitando uma aperfeiçoada definição de cultura16.
1.a.3 A cultura a partir do Mito
Vimos que a linguagem não é o suficiente para dizer o que é a cultura, pois
a própria linguagem é enxergada como um fenômeno cultural.
Não obstante, foi a inserção do paradigma comunicativo que nos permitiu
fugir dos extremos da análise cientificista-positivista e do ponto de vista metafí-
sico-naturalista.
Nossa tese é de que a linguagem possui um papel fundamental na definição
do cultural, mas se vista como a sua estrutura17, não como o ponto comum de
todos os fenômenos culturais já que, ela própria, é fenômeno cultural também.
Isso no que se refere à linguagem enquanto sistema, enquanto estrutura. A
essa visão da linguagem, contrapõe-se a noção de linguagem de Mikail Bakhtin:
Na realidade, não há, no sistema de língua abstrata de Bally [seguidor da
linguística estruturalista de Saussure], movimento, vida, realização. A vida
começa apenas no momento em que uma enunciação encontra outra, isto é,
quando começa a interação verbal, mesmo que não seja direta, “de pessoa a pes-
soa”, mas mediatizada pela literatura. (BAKHTIN, 1995, p.179, grifos nossos).
15 Ressaltamos que esta visão da linguagem é recente, e está relacionada com o nascimento da lingüística es-
truturalista tal como apresentada por Ferdinand de Saussure no início do século XX. A linguística saussuria-
na permitiu enxergar, pela primeira vez, a linguagem (mantendo uma divisão estrutural entre língua, como
sistema abstrato, e fala, como concretização da língua) como objeto de estudo de uma ciência específica.
16 Parece-nos, por exemplo, ser o detalhe que desapercebeu Ernst Cassirer em seu excelente ensaio
Linguagem e Mito (1992), em especial, pp. 15-32.
17 No mesmo sentido, Habermas (1997, p.12): “Ora, a crítica da razão é obra dela própria: tal ambiguidade kan-
tiana resulta de uma ideia radicalmente antiplatônica, segundo a qual não existe algo mais elevado ou mais
profundo ao qual possamos apelar, uma vez que , ao chegarmos, descobrimos que nossas vidas já estavam es-
truturadas linguisticamente”. A noção de estrutura aqui, no entanto, não pode mais ser vista como a entendia
Saussure, porém como uma rede de gêneros de discursos parcialmente estáveis, como explicado infra.
pedro dourados.indd 5 16/10/2012 12:14:27
Vemos que, para Bakhtin, a língua é vista como enunciados, os quais ocor-
rem concretamente no mundo. A interação pessoa a pessoa faz a vida ser vivida
como linguagem (concreta) e possui um medium, o qual é a literatura.
A partir deste ponto de vista, podemos dizer que a linguagem é o que existe
de comum entre todos os fenômenos culturais, mas se vista como reunião de
casos concretos do uso da enunciação, e não como sistema, e se vista como me-
diatizada pela literatura.
A pergunta que vem à mente é: nesta concepção de linguagem, qual litera-
tura é capaz de mediatizar todos os fenômenos culturais?
Talvez a resposta não seja única, talvez haja mais de um “gênero” o qual seja
capaz de mediatizar as interações “pessoa a pessoa”. Tal será a resposta do próprio
Bakhtin, em seus trabalhos de maturidade:
A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo
gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um
dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais
(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composi-
ção pessoal dos seus participantes, etc.
(BAKHTIN, 2003, p.282, itálico do autor, negrito nosso).
Assim, para cada “campo da comunicação discursiva” e “por considerações
semântico-objetais” o falante concreto opta por um gênero do discurso para rea-
lizar uma comunicação eficaz, socialmente falando.
Tal é uma análise do campo da cultura como visto hoje. Se, porém, nos
perguntarmos qual a origem de tais gêneros, como um “ancestral comum” dos
diferentes gêneros discursivos, para entender uma gênese de tudo aquilo que cha-
mamos, hoje, de cultural, defendemos aqui que encontraremos o “mito”.
Mito é uma narrativa que envolve personagens concretos e possui, geral-
mente, uma temática identificável pela sua comunidade correspondente. O mito,
nesse sentido, é uma história que sempre se propõe a-histórica, válida através da
história sem se corromper – in illo tempore, como dizia Mircea Eliade.
Enxergamos que a origem dos gêneros comuns daquilo que se chama cultura
hoje pode estar no mito pela sua importância para a sociedade.
Antes de explicar porque seria o mito esta origem, explicamos o que enten-
demos por mito.
1.b Campbell e a visão do mito
Para traçarmos a visão aqui adotada da noção de mito, assumimos o ponto
de vista de Joseph Campbell.
Chegar à concepção de Campbell (1998a, 1988b) para mito exige duas coisas.
pedro dourados.indd 6 16/10/2012 12:14:27
A primeira é entender que a função do mito não é “explicar” as coisas do
mundo. Tal visão encaixa-se no senso comum para a função dos mitos, os quais
teriam a função de explicar o mundo. Nessa concepção de mito, a lenda, por
exemplo, de Thor (países nórdicos) ou de Zeus (Grécia clássica)18 têm a função
de explicar a origem do raio, e o mito da Lua e do Sol (na Amazônia brasileira)
tem a função de explicar a existência do rio Amazonas19.
Para Campbell, no entanto, a função do mito não é explicar o mundo, mas
sim proporcionar para o ouvinte uma chance de experimentar as possibilidades
do mundo: “mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana”
(CAMPBELL, 1988b, vid. 1\4, 05’46”).
A segunda é que cada mito apresenta-se como único, e seu sentido exclu-
sivo depende das condições geográficas e históricas exclusivas de um povo espe-
cífico, de uma sociedade única. Nesse sentido, tomemos como exemplo o perso-
nagem “Saci Pererê”, do folclore brasileiro. O fato de o Saci ser um menino negro,
o fato de usar um gorro vermelho, de fumar um cachimbo, de andar em um pé
de vento, são características que somente no Brasil ajudam a formar a noção de
um garoto levado, porém alegre e divertido, ora culpado por pequenos furtos, ora
louvado por alegrar as festas – esse personagem, tal qual é aqui desenhado não
faz o mesmo sentido se for simplesmente deslocado, por exemplo, para o Japão.
Entretanto, seguindo a concepção de Campbell, o personagem do Saci Pererê
corresponde a um arquétipo de mito que pode ser encontrado nas mais diferentes re-
giões do planeta, obedecendo a critérios do inconsciente coletivo das sociedades.20
Esta ideia, que vai contra a concepção comum de mito, Campbell primei-
ramente a apresentou em sua obra The Hero with a thousand faces. Nessa obra,
Campbell defende que as características únicas e singulares que se podem encon-
trar em um herói em um mito específico e localizado, podem ser abstraídas em
arquétipos que correspondem aos heróis de diversos mitos e de diversos lugares
diferentes, seriam, na verdade, o mesmo herói, mas com suas mil diferentes faces.
Assim sendo, “o que as diferencia [as histórias de heróis] é o grau de ação
[física] ou de iluminação [espiritual]” (idem, 11’23”), de modo que o mito é visto
como algo que “trata disso: da transformação da consciência” (CAMPBELL,
1998a, vid 2/4, 2’03’’).
É neste sentido que histórias do Saci Pererê brasileiro poderiam ser aproximadas
com histórias dos Onis ou de outros “demônios” japoneses21, para citar um exemplo.
18 Tanto Thor como Zeus são deuses, em seus respectivos “habitats”, os quais possuem o poder de lançar
raios, o primeiro com seu martelo e o segundo com seu cetro.
19 De acordo com a lenda, o rio Amazonas nasceu das lágrimas da Lua, uma vez que esta foi separada de seu
amante, o Sol.
20 Como se pode perceber, Campbell trabalha com conceitos da psicanálise de C. G. Jung. Para o
psicólogo “Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do
inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos”, grifos do autor, in Jung, Os Arquétipos
e o inconsciente coletivo, (2000), p.53.
21 Os Onis e demais demônios japoneses não podem ser vistos à luz da concepção ocidental nem médio-
-oriental de demônio. Os demônios japoneses não são necessariamente maus, aproximam-se mais dos
pedro dourados.indd 7 16/10/2012 12:14:27
Talvez seja impossível definir mito em uma única frase, mas, seguindo o tra-
balho de Campbell sabemos que mitos: a) não possuem a função de “explicar” o
mundo, mas sim de localizar a pessoa no mundo, oferecendo uma possibilidade
de vivenciar uma experiência pela aventura do herói mitológico e b) o mito está
sempre localizado histórico e geograficamente (apesar de sua história ser geral-
mente localizada apenas geograficamente) porém seus personagens e a sua pró-
pria história podem corresponder a arquétipos verificáveis no inconsciente cole-
tivo de diferentes sociedades.
1.c Mito como medium cultural
Pode-se perguntar qual a relação que possui o mito com as infinitas categorias
e subdivisões do direito moderno. A visão moderna e pragmática de Ferraz Junior,
por exemplo, parece estar muito separada de qualquer relação com a mitologia.
Para o jurista: “[o direito] foi atingindo as formas próximas do que se poderia
chamar hoje de saber tecnológico” (FERRAZ JUNIOR, 2007, p. 84, grifo nosso).
O fio condutor que aproxima um “saber tecnológico” de um “saber mitoló-
gico” é o ponto comum denominado cultural e que não se pode perder. Por mais
que a visão moderna de direito enxergue-o como uma práxis a-valorada a priori,
esta práxis é, ainda, uma práxis cultural.
Defendemos acima que é o mito um possível denominador comum daquilo
que chamamos cultural, explicamo-nos.
Qual a origem do direito? Se olharmos na cultura grega, um ser mitológico
intimamente relacionado com o direito é a deusa Palas Atena22. A deusa é vista
como um ideal de justiça, mas também de guerra23.
É necessário frisar a diferença entre a deusa Atena e a titã Têmis. Ambas
estão relacionadas ao direito, porém Têmis é mais próxima do direito como sua
aplicação cotidiana, é vista como a protetora dos acordos e tratados humanos,
sendo, portanto, muito invocada nos tribunais, nos fóruns da Grécia arcaica.
Na Grécia clássica, não obstante, foi Atena que passou a ser a preferida, visto
ser uma aliada da perfeita justiça e de sua efetividade. Atena não era simples
guardiã dos acordos e contratos humanos, o seu compromisso maior era com
“duendes” travessos das lendas européias, ou do nosso Saci pererê, como acima defendemos. A relação da
cor vermelha do gorro e do calção do Saci e do vermelho onipresente na representação dos demônios é
um dos indícios do personagem arquétipo.
22 Não confundir Palas Atena com Têmis. Têmis era uma Titã grega (anterior aos deuses, na ordem mitoló-
gica) da qual se especula uma possível origem mesma de Atena. Há uma outra versão da lenda, mais co-
nhecida, segundo a qual Atena é filha partenogênica de Zeus e já nasceu “armada até os dentes”, oriunda
da cabeça do pai.
23 Ferraz Junior, em sua Introdução, faz uma bela perspectiva das diferenças entre a deusa Iustitia dos romanos
– que segurava, com as duas mãos, uma balança com fiel bem no meio, e estava de olhos vendados – e a
Atena (Diké) dos gregos que portava uma balança na mão direita (sem o fiel no meio) e uma espada na
mão esquerda, além disso, ela estava “de olhos bem abertos” (2007, p.32).
pedro dourados.indd 8 16/10/2012 12:14:28
a verdade da justiça. Enxergamos na oposição Têmis/Atena algo próximo da
oposição sofistas/socráticos.
Adotemos Atena como ponto de partida24.
Suponhamos que havia, em uma polis grega, um conjunto de leis. Paralela-
mente a este conjunto de leis, havia uma existência de cultos religiosos, ofícios
artísticos, apresentações teatrais de dramas, tragédias, comédias, etc.
Tanto as leis vigentes, como a ordem do culto, as quais influenciavam as
apresentações teatrais, eram também por estas últimas influenciadas. A gênese
das leis (assim como dos cultos) estava nas histórias que se contavam acerca dos
deuses, semi-deuses, ninfas e humanos – nos teatros.
Não defendemos que havia uma “lenda” para cada nova norma que se esta-
belecia, porém, os princípios gerais que regiam a atuação democrática da polis, a
estrutura mesma do corpo legislador e do próprio corpo de leis, encontram-se nos
mitos, em especial, nos mitos que envolvem a deusa Atena25.
Estes mitos, porém, nunca tratam somente de um assunto. A lenda de Pro-
meteu – aventureiro que subiu ao Olimpo e roubou o elemento “fogo” dos deuses
e levou-o à humanidade – conta também a origem de Pandora, a qual, em um
outro mito, está relacionada à origem de todos os males da humanidade, mito
este conhecido mundialmente como a lenda da “caixa de Pandora”.
Dessas reflexões concluímos que o Mito é um espaço comum em que a so-
ciedade explora tanto o direito (Atena enquanto ideal de justiça), quanto a reli-
gião (Atena enquanto divindade a ser cultuada), a política (Atena como ideal bé-
lico e como patrona da polis), entre outros. Além disso, os mitos de uma mesma
comunidade se inter-relacionam, como é o caso de Pandora que é criada por Zeus
no mito de Prometeu, mas possui um papel todo especial no mito da “caixa de
Pandora” – a qual é aberta por Epimeteu, irmão de Prometeu.
Enxergamos, portanto, o mito como um espaço de mediação cultural. Vol-
tando ao exemplo de uma polis fictícia, com suas leis vigentes e sua ordem
de culto estabelecida; caso surgisse, nesta polis, o desejo de mudar as leis ou
mesmo a ordem do culto, seria necessário recorrer à mitologia. Não havia,
como dissemos, um mito novo para cada nova norma, porém, a legitimidade úl-
tima26 poderia ser encontrada na relação da presente formulação das leis, ou da
24 Escolhemos Atena, pois nos interessamos com o direito grego clássico, que mais influenciou a nossa con-
cepção moderna de direito graças a uma preocupação socrático-platônica com a noção de “justiça”, a
realização do direito da Grécia arcaica (relacionada a Têmis) não foi de grande influência para a nossa
concepção de direito (ressalvamos que a imagem de Têmis passou a ser recuperada pelo neoclassicismo
como um ideal humanista de justiça).
25 Nas histórias homéricas, Atena aparece aconselhando Zeus, mas também ajudando os gregos contra os
troianos. Não será possível enxergar nisto uma “legitimação” da noção ateniense de cidadania altamente
seletiva e excludente?
26 Esta legitimidade última não é, necessariamente, a legitimidade primeira, presa a um sentido de origem
que remete a um passado originário efetivo. O mito, como explicamos abaixo evolui historicamente, muta
e muda-se, transforma-se, sendo que a cada vez torna-se uma nova fonte legitimadora, em compasso com
pedro dourados.indd 9 16/10/2012 12:14:28
nova ordem cultual, com o que ocorre no mito. Fazia-se necessário uma “che-
cagem” em relação ao mito, no sentido de encontrar alguma coerência entre a
produção intelectual e o saber mitológico27.
Assim sendo, a inserção de novos valores, de novas instituições, de novas
normas passava por um “filtro mitológico”. Estas criações poderiam, por sua vez,
“tornar-se” novos mitos, dependendo de sua importância.
Sabemos, hoje, que a imagem que se constrói em torno de uma divindade
específica na Grécia clássica pode diferir radicalmente da imagem da mesma di-
vindade em tempos arcaicos. Os mitos mudam e explicam as mudanças de seus
próprios enredos. Há, por exemplo, um mito de Ades quando era “bom” – na
guerra contra os Titãs –, há um outro que conta a sua destinação ao mundo dos
mortos e vários outros que se desenvolvem a partir deste ponto na “cronologia
de Ades”, proporcionando diferentes experiências a serem vivenciadas pelos seus
“ouvintes”, a partir de um mesmo personagem.
Da mesma forma que a história dos personagens evolui, a história da cultura
contada mitologicamente também evolui. O que há de comum entre os persona-
gens e as instituições sócio-culturais de fato é que, no mito, há uma convergência
entre o lado consciente de tais elementos (tanto o herói mitológico quanto a ins-
tituição sócio-cultual possuem uma faceta consciente) e o lado inconsciente (da
mesma forma, tanto o herói mitológico quanto a instituição social possuem uma
faceta que reside no inconsciente [coletivo] sob a forma de arquétipos).
É por esta razão que se podem achar, em uma comunidade específica, mitos
que contam a origem de diversos ramos culturais. Há mitos que contam a história
das primeiras leis, do primeiro sacrifício, entre outros.
Indo mais além, é comum encontrar mitos que narram a origem de pontos
específicos de ramos do saber cultural, como, por exemplo, a origem de uma pa-
lavra específica, no ramo da linguagem; a origem de uma norma específica, no
ramo do direito; a origem de um ritual específico, no ramo religioso.
É assim que enxergamos o mito como um denominador comum da cultura,
pois quase todos os elementos do que entendemos por cultura adentram a mesma
por meio de uma origem mitológica. Também é por meio de mitos que a cultura
evolui, sendo que as histórias também evoluem. O mito é ponto de encontro
entre o consciente e o inconsciente da sociedade que equaciona as questões so-
ciais explícitas e ocultas por meio de arquétipos.
o ritmo da sociedade. Legitimidade última no sentido de denominador comum, no sentido de última fonte
comum de sentido entre os ramos da cultura, capaz de incluir ou de excluir.
27 O saber mitológico estava, obviamente, relacionado com a permeabilidade religiosa das antigas socieda-
des, mas não era completamente dependente deste, enfim, não era necessário ser o Oráculo de Delfos para
saber que Atena era a deusa da justiça e que Dionísio era o patrono das festas.
10
pedro dourados.indd 10 16/10/2012 12:14:28
1.d Mito, símbolo e cultura
Ricoeur (1978) vê uma relação íntima entre símbolo e mito, e submete este
àquele. Concordamos que símbolo e mito tenham uma interdependência intrín-
seca, a qual, na verdade, reflete uma relação dialética, porém não cremos que
haja uma relação hierárquica entre eles.
Os próprios diferenciais levantados por Ricoeur (1978, p. 28) parecem
apontar um possível relacionamento dialético, os quais nos levam a crer que, se o
mito é um denominador comum da cultura, o símbolo também o é, como seu par
distinto, porém inseparável.
As diferenças apontadas são quanto a:
1. historicidade: se, por um lado, o mito é a-histórico e a mudança histórica
da sociedade exige a mudança mesma do mito, o símbolo é histórico e pode
muito bem permanecer o mesmo ao passar do tempo, sendo que em cada
época é sua interpretação que varia;
2. o mito ter um papel determinado, enquanto o símbolo ser mais maleável
(discordamos em parte, pois esta afirmação parece remeter à visão do mito
como “explicação”);
3. o símbolo parecer ocultar um tempo específico da sociedade, enquanto o
mito se encontrar em um tempo esgotado. Nos dizeres de Ricoeur: “uma
tradição não se esgota ao mitologizar o símbolo, ela se renova através da
interpretação, que sobe à vertente do tempo esgotado ao tempo oculto,
vale dizer, fazendo apelo da mitologia ao símbolo e à sua [do símbolo] re-
serva de sentido” (1978, p. 29).
Em suma, na leitura de Ricoeur, o mito é a-histórico e fixo (semanticamente
falando) e o símbolo é histórico e possui uma reserva de sentido.
Como se pode supor, a nossa visão de mito nos leva a discordar que o mito se
refira a um tempo esgotado, pois isso levaria à pressuposição de um sentido único
e exclusivo do mito, um sentido verdadeiro, como se o mito não pudesse ele tam-
bém ser interpretado de formas diversas. É, justamente, nessas possibilidades de
interpretação, no entanto, que a própria relação entre mito e símbolo se mostra
evidente: ocorre, no desenvolvimento histórico da sociedade, a mitologização de
símbolos, mas, ocorre também, paralelamente, uma formação de novos símbolos
a partir de mitos conhecidos.
Podemos dizer que há uma tensão entre mito e símbolo e que o conteúdo
mesmo desta tensão é a “metáfora”, a qual é comum ao mito (sobretudo em análi-
ses alegóricas ou psicanalíticas) e ao símbolo. É a partir da metáfora, por exemplo,
que Cassirer (1992) enxerga uma origem comum entre o mito e a linguagem (sem
reduzir um ao outro), visto que toda linguagem é simbólica (apesar de nem todo
símbolo ser linguístico em sentido estrito).
11
pedro dourados.indd 11 16/10/2012 12:14:28
Deste modo, concluímos que:
1. mitos são a-históricos. Prova disso é que o desenvolvimento da sociedade
exige o desenvolvimento dos “enredos” dos mitos, fazendo com que os
antigos mitos sejam abandonados junto com o passado da sociedade, ou
então, totalmente modificados para se “adaptar” aos tempos modernos.
2. - símbolos são históricos. É o que acontece, por exemplo com a “suás-
tica”, a qual permanece imageticamente a mesma, mas tem seu significado
metafórico-alusivo transmutado a través da história (símbolo de paz e de
prosperidade no Oriente antigo, e trazido para a Europa no século XVIII –
XIX, transformou-se em símbolo do Nazismo durante o século XX).
3. - mitos e símbolos compartilham uma zona de tensão que faz com que en-
trem em relação dialética. Esta tensão se baseia em sua capacidade de alu-
são e de criação de metáforas e está relacionada, por um lado, com a tra-
dição fixa e por outro, com a interpretação presente (RICOEUR, 1978).
Se, entretanto, os mitos estão estruturados em cima de arquétipos os quais
se encontram no inconsciente coletivo da sociedade, dizer que os símbolos co-
-existem em relação dialética com aqueles não implica localizá-los também no
inconsciente coletivo?
Sim. É necessário frisar, no entanto, que, assim como os mitos, os símbolos
possuem uma significação consciente, a qual é interdependente em relação à
significação inconsciente. Esta parece ser a conclusão a que chega Castoriadis
(1982) acerca da função do simbólico na sociedade.
Para Castoriadis, o simbólico é em parte formado pelo homem, de modo
racional e histórico (1982, p.152), mas o filósofo frisa que também “existe uma
utilização imediata do simbólico, onde o sujeito pode se deixar dominar por este”
(1982, p.153), por causa da existência dos símbolos no “imaginário social” –
termo que se aproxima muito do “inconsciente coletivo” de Jung.28
Assim, portanto, nossa tese de que o denominador comum de, pratica-
mente, grande parte daquilo que se denomina cultural é o mito nos leva a dizer
que a cultura é, também, determinada pelo simbólico.29
1.e Mito e transcendência
Uma questão se mostra importante quando colocamos mito e símbolo como
os denominadores comuns da cultura humana. Nossa tese é que todos os demais
28 Castoriadis chega ao “imaginário coletivo” a partir da psicanálise estruturalista de Lacan, sem deixar de
retornar a Freud e, até mesmo, a Kant, no sentido de um “imaginário categórico”.
29 É importante lembrar que o simbólico não se reduz ao linguístico, e, portanto, se a língua não pode ser “de-
nominador comum” da cultura, por outro lado, o simbólico (incluindo, aqui, elementos não lingüísticos)
não pode ser a estrutura da cultura.
12
pedro dourados.indd 12 16/10/2012 12:14:28
campos da cultura podem neles se encontrar e serem representados sem desca-
racterizarem-se e sem descaracterizarem o próprio mito ou símbolo.
Deslocamos esse papel que provavelmente se atribuiria à linguagem, pois,
uma vez isolada como um sistema à parte, a linguagem passa a ser analisada lin-
guisticamente30 e isso nos leva à meta-linguagem. Entendemos que qualquer aná-
lise do campo da linguística, da teoria do discurso, da literatura é, neste sentido,
uma metalinguagem.
Se dissermos que a linguagem é denominador comum da cultura fundamos
a cultura em um círculo oco, e colocamos a linguagem a fundamentar-se na me-
talinguagem, a qual, por sua vez, encontra fundamento em argumentos meta-
-metalinguísticos, e assim progrediríamos ad infinito.
A pergunta que se pode fazer é: não poderíamos fazer a mesma análise cé-
tica – feita com a linguagem – com a categoria mito ou símbolo? Não haveria,
então, um sistema isolados de símbolos e mitos, os quais gerariam uma aporia que
também exigiria um regresso ao infinito, de modo que fundamentar a existência
da cultura nos mitos e símbolos fosse tautológico?
A resposta a esta pergunta é não, e os motivos são dois.
Primeiramente, olhando de um ponto de vista histórico, temos que mito e
símbolo estão relacionados dialeticamente, de modo que ambos se fundamentam
reciprocamente, um dando suporte ao outro. O regresso deste relacionamento
dialético nos levaria à origem mesma da produção cultural pela sociedade: antes
da cultura, encontraríamos, portanto, mito e símbolo, se relacionando e se desen-
volvendo, para que então direito, arte, política viessem a, paulatinamente, deste
relacionamento, surgir.
A-historicamente falando, no entanto, não podemos nos esquecer que uma
das principais características do mito e do símbolo é que “mitos são pistas para
as potencialidades espirituais da vida humana” (CAMPBELL, 1988b, vid. 1\4,
05’46”). “Espirituais”, aqui, não é, de maneira absoluta, uma mera alusão à capa-
cidade simbólica do ser humano ou ao espírito hegeliano, é, antes, uma referência
ao transcendente.
Ricoeur (1996) analisa a obra Le Théatre et l’Existence (1952) de Henri Gou-
hier e cita uma passagem onde o autor define o trágico da seguinte maneira:
“Há tragédia pela presença de uma transcendência, qualquer que ela seja.” (RI-
COEUR, 1996, p.123, grifo nosso). Lembramos que o trágico, aqui analisado por
Gouhier, mas também por Ricoeur (o qual faz releituras das análises de Jaspers,
Nebel, Scheler, Nietzsche entre outros), pode muito bem ser encaixado dentro
dos mitos, como uma “categoria” (RICOEUR, 1996).
Assim, se separarmos os mitos da uma sociedade específica e encaixarmo-los
em um ramo específico, poderíamos colocá-los, eles também, como um fenômeno
30 Ver nota 8, supra. A crítica da linguagem por meios que se utilizam dela própria é uma conseqüência da
radical crítica da razão de Kant, a qual se origina da própria Razão.
13
pedro dourados.indd 13 16/10/2012 12:14:28
cultural específico, tal qual fizemos com a linguagem. O que impede, não obs-
tante, que os mitos fechem-se em um ciclo meta-mítico ad infinito é o caráter de
transcendência sempre presente no mito (e no símbolo).
Este caráter de transcendência em si não é metafísica, apesar de ser provável
que toda a metafísica, como uma produção cultural, tenha também suas origens
culturais nos mitos. No mito, a transcendência é intrínseca, na filosofia, a meta-
física é um limite, uma fronteira (Kant).
Lembramos que este caráter transcendente do mito é lembrado por Cam-
pbell quando este fala das “potencialidades espirituais” da vida humana e vai ao
encontro da Psicologia Analítica de Jung, para quem a origem dos mitos, dos so-
nhos, dos símbolos e das ações do inconsciente não estavam, como em Freud, em
parte limitadas a questões sexuais, mas poderiam também assumir esse caráter de
espiritualidade (JUNG, 2000).
1.f Conclusão
A análise do Direito, enquanto um ramo da cultura, pode ser feita a partir
de dois pontos de vista, lato sensu. O primeiro é o ponto de vista positivista, para
o qual demos como exemplo, a análise economicista de Marx que reduzia todos
os problemas culturais a um filtro comum e positivo: a análise econômica31. O
segundo é a análise que se pode fazer a partir de um naturalismo fundamentado
em uma teoria metafísica da existência e que reduza os problemas culturais a
suas categorias onipresentes, para o qual demos o exemplo de Schopenhauer e
seu pessimismo metafísico.
A inserção, contudo, do paradigma da linguagem, permitiu a Habermas
uma análise que não ficasse entre os extremos do positivismo e do naturalismo.
Sua análise nos leva a entender que a cultura está estruturada linguisticamente e
que as ações sociais dependem de um suporte comunicativo.
A noção de linguagem como estrutura da cultura não nos leva a adotar
o ponto de vista estruturalista, pois não pretendemos reduzir a análise jurídica
ao método saussuriano de estudo da estrutura; nos leva, tal noção, ao ponto de
vista de Bakhtin, para quem a linguagem não existe em uma estrutura supra-so-
cial que se desenvolve anacrônica e sincronicamente. Para Bakhtin, a linguagem
existe, porém, em “enunciados concretos” na vida real, os quais tomam lugar no
“diálogo”32 e alternam sua existência com a alternância dos falantes concretos.
31 Lembramos que não é correto dizer que todo marxismo é economicista, pois nos referimos principalmente
ao próprio Karl Marx e, diga-se, ao “velho Marx”, como pensam Luckács e Arendt. O próprio marxismo
após Luckács é conhecido por sua (re)hegelianização, ou seja, pela re-inserção de um aspecto plutôt filo-
sófico que econômico (e, na sua esteira, poderíamos colocar tanto as vertentes existencialistas marxistas
[Sartre] como as vertentes críticas [Escola de Frankfurt]).
32 Ressaltamos que “diálogo” para Bakhtin é um termo que se aproxima muito da noção de comunicação,
e não fica restrito ao diálogo falado, nem mesmo ao diálogo entre duas ou mais pessoas. Para Bakhtin
14
pedro dourados.indd 14 16/10/2012 12:14:28
Tais enunciados concretos são mediatizados pela literatura. Esta afirmação
levou Bakhtin a formular a teoria dos “gêneros do discurso”, que são a forma
estrutural e supra-pessoal parcialmente estável que guiam o falante concreto na
formulação de seu enunciado. Assim que o enunciado concreto passa a existir,
contudo, a capacidade expressiva do falante é capaz de modificar o(s) gênero(s)
utilizado(s) e ainda assim manter eficiente a sua capacidade comunicativa.
Esta questão nos levou à pergunta de qual gênero capaz de ser, por sua vez, o
mediatizador dos próprios gêneros, ou, por assim dizer, o seu “ancestral comum”,
de forma a ser o “denominador comum” da cultura enquanto tal e, portanto,
fonte de análise também do Direito, em especial, do Direito Penal.
Apresentamos, aqui, como resposta, o “mito” como denominador comum
da cultura. O mito é uma narrativa que, conforme Campbell, não tem a função
de explicar o mundo, mas oferecer ao seu ouvinte a experiência do mundo, apon-
tando as “potencialidades espirituais da vida humana”. Para sustentar sua análise,
Campbell faz uso da Psicologia Analítica de Jung e de termos como arquétipo e
inconsciente coletivo, por exemplo.
Para Campbell, portanto, os mitos contam histórias de heróis que seriam
estruturados em arquétipos no inconsciente coletivo de diversas sociedades, o
que nos permite aproximar o Saci Pererê brasileiro com algum Oni japonês, pen-
sando-o como um “herói de mil faces”.
A história do mito, a sua narrativa, é consciente e se apresenta de maneira
a-histórica para seus ouvintes (ela independe da época em que é [re]contada).
Tanto a parte consciente como a inconsciente (estruturada em arquétipos) do
mito nos levam a crer que, no mito, se encontra a “nascente da cultura”, o filtro
de todos os ramos da cultura (direito, religião, política, arte, entre outros), não
necessária e exclusivamente como uma origem isolada em um passado distante,
mas como uma origem dinâmica e mutável através dos séculos graças à necessi-
dade de mudança dos próprios mitos das sociedades.
Elevar o mito a tal patamar nos levou a fazer o mesmo com o “símbolo”, o
qual, seguindo as intuições de Ricoeur e Castoriadis, possui uma relação íntima
com o mito, a qual, conforme aqui afirmamos, se trata de uma relação dialética
(que envolve a criação de símbolos a partir de mitos e a criação de mitos a partir
de símbolos33). Mito e símbolo possuem, ambos, uma face consciente e uma in-
toda expressão comunicativa está inserida em um contexto maior, o qual é dialógico, pois sempre existe
enquanto “réplica” a algo que já foi dito ou, pelo menos, baseia-se em um gênero do discurso comum a
todos. Não existe, para Bakhtin, fala Adâmica.
33 Retornando ao exemplo da suástica, assim que este símbolo, no pós-guerra, passou a ser imediatamente as-
sociado não somente ao Nazismo, mas às próprias ações nazistas (genocídio, juventude hitlerista, invasão de
Paris, etc), de um modo bastante geral; assim que passou a ser o próprio símbolo da Segunda Guerra Mundial,
a suástica passou também a ser um próprio referente das diversas histórias que ocorreram na Guerra, e nas
quais ela é também um “personagem”. Ao se ver a suástica, lembra-se de histórias nas quais ela é apenas uma
parte, e não mais o todo simbólico. Neste ponto quase antinômico fica clara a dialética símbolo-mito, pois na
“reserva de sentido” da suástica, no seio da sua representação, começam a aparecer os traços de narratividade
15
pedro dourados.indd 15 16/10/2012 12:14:28
consciente e sua principal diferença se encontra no caráter histórico do símbolo
(o qual lhe proporciona uma “reserva de sentido”, uma abertura para um “tempo
oculto”, nos dizeres de Ricoeur) e no caráter a-histórico do mito.
Por fim, mito e símbolo podem ser tratados como denominadores comuns da
cultura por, além de sua íntima dialética interna que nos obrigaria a chegar às ori-
gens das primeiras criações culturais, seu caráter de transcendência, sem que se
trate propriamente metafísica, já que a transcendência é intrínseca ao mito como
sua constituinte, e não como produto – o qual é o caso da metafísica enquanto
produto da filosofia que, por sua vez, é um saber cultural.
típicos do mito e não do símbolo. Por outro lado, a participação constante da suástica em histórias da S.G.M.
foi o ponto de partida essencial para que esta se tornasse o símbolo destas histórias.
16
pedro dourados.indd 16 16/10/2012 12:14:28
A Razão
2.a A Cultura racional
A cultura, tal qual a definimos, é oriunda da relação dialética entre mito e
símbolo. Esta afirmação, no entanto, parece deslocar demasiado o papel da Razão
no desenvolvimento da cultura. Tal, porém, não é nosso objetivo. Antes de dis-
cutirmos a relação entre razão e mito, pensemos no papel da razão no desenvol-
vimento do que é a cultura.
Cultura, como um saber social, possui uma grande predominância – prin-
cipalmente simbólica – ativa no que poderíamos chamar de consciência social e
individual (ego). É nesse plano, da consciência, que cremos haver o farto desen-
volvimento da razão e o desenvolvimento mesmo da cultura a partir da razão.
Seria insensato (tentar) definir em algumas linhas o que é razão. Adota-
mos aqui, portanto, o ponto de vista de Hegel (2008), filósofo da escola idealista
alemã que influenciou o mundo com sua teoria dialética a partir do século XIX34.
Esta aproximação de um conceito de razão nos será necessária para deli-
mitar o conteúdo racional do direito culturalmente localizado, em especial, do
Direito Penal no início de século XXI.
Associaremos, portanto, a ação racional35 com o ato de explicar. Não utiliza-
mos aqui o termo explicar tal qual foi tratado na hermenêutica romântica alemã
(erklären de Schleiermacher).
Explicar possui, aqui, sentido próximo ao da tarefa da filosofia nos dizeres
de Hegel.
2.b Hegel e a Razão
“O começo da cultura e do esforço para emergir da imediatez da vida subs-
tancial deve consistir em adquirir conhecimentos de princípios e pontos de vistas
universais” (HEGEL, 2008, p.27, negrito nosso).
Com estas palavras, no prefácio da Fenomenologia do Espírito, Hegel deixa
claro que há, na vida humana, uma imediatez, a qual deve ser vencida pela busca
dos princípios universais – eis a tarefa da filosofia, a qual, para Hegel, deve assim
deixar de ser o amor ao saber, para se tornar o próprio saber.
34 Seria igualmente insensato afirmar que as poucas linhas que seguem dão conta da extensa filosofia hegelia-
na, sequer de sua Fenomenologia, frisamos, contudo, que estas afirmações não são mais que um breve olhar
oblíquo sobre a filosofia do “evangelista do Absoluto”.
35 Para Hegel, “a razão é agir conforme a um fim” (HEGEL, 2008, p.39, grifos do autor).
17
pedro dourados.indd 17 16/10/2012 12:14:28
Para isso Hegel realiza a fenomenologia do espírito, a qual consiste em
acompanhar o movimento do espírito que parte das formas mais banais de cons-
ciência (a consciência sensível, a qual crê que algo é algo tal qual ela o visa) aos
níveis mais elevados, a consciência de si da própria consciência, ou o Absoluto.
No capítulo inicial, sobre a consciência, Hegel analisa duas proposições que
envolvem a noção de tempo e espaço: “agora é dia” e “o aqui é uma árvore”. Esse
tipo de saber, “essa certeza se faz passar a si mesma pela verdade mais abstrata e mais
pobre. Do que ela sabe, só exprime isso: ela é” (HEGEL, 2008, p. 85, grifos do autor).
Ao demonstrar, porém, que “o agora mesmo, bem que se mantém, mas como
um agora que não é noite. Também em relação ao dia que é agora, ele se mantém
como um agora que não é dia, ou seja, mantém-se como um negativo em geral”
(HEGEL, 2008, p. 87, grifos do autor), Hegel afirma que a conclusão a que se
pode chegar a partir da frase “agora é meio dia” é que apenas o “agora é” (idem,
p. 91), pois o dia e a noite revezam-se em seu movimento negativo um sendo a
negação do outro, mas a negação de si mesmo para a afirmação do outro, sendo
que aquilo que permanece é o “agora”36.
O mesmo é válido para a análise espacial do “aqui”. A “árvore” pode ser
trocada por uma “casa” (uma casa de madeira seria, inclusive, irônico), mas o que
permanece é o “aqui”.
“Aqui” e “agora” são apresentados como categorias universais que ajudam a
consciência a se emancipar das suas impressões parciais e da certeza imediata de
que algo é. Esse desenvolvimento da filosofia kantiana do fenômeno é também
uma crítica a Kant, pois o ideal em Hegel não é o pensamento, mas o espírito,
sendo que o pensamento (consciência) é uma “etapa” do movimento do espírito37.
Mas, aonde que chegar Hegel ao analisar fenomenologicamente o movi-
mento do espírito?
Hegel nos dá a resposta em seu prefácio, quando diz que “o verdadeiro é o
todo. Mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvol-
vimento” (idem, p.36, grifo nosso). O seu objetivo é, portanto, alcançar a totalidade.
Tal totalidade, entretanto, não se alcança por si só, mas em um processo
dialético que mescla particularidade X totalidade, no qual a negatividade da dia-
lética faz com que a particularidade aniquile-se a si mesma (LUKÁCS, 1978), no
caminho do “todo”.
A particularidade, entretanto, não é desprezível. O todo deve contê-la e do-
miná-la (Bacon). Na Fenomenologia, Hegel afirma que o espírito deve “demorar-se”
36 Heidegger faz, nos penúltimo parágrafo de Ser e Tempo uma digressão sobre o conceito de tempo em Hegel.
De acordo com Heidegger, Hegel entende o tempo de maneira aristotélica e, pois, como uma sequência
de “agoras”, que resumem a única verdade do tempo o qual faz o “nada tornar-se ser” e o “ser tornar-se
nada”, que é o próprio devir. Hegel dilui, ainda, o próprio espaço no tempo, e, em uma análise, é radical ao
assimilar o próprio Espírito ao tempo, em uma relação não muito clara, que se firma em uma “negatividade
absoluta” que seria comum a ambos. Cf. Heidegger, Ser e Tempo, (2010), pp. 526-532.
37 Como Hegel explica no prefácio da Fenomenologia, contudo, lembramos que as “etapas” não são descartá-
veis, pelo contrário, o espírito deve “demorar-se nelas”, Hegel, Fenomenologia..., (2008).
18
pedro dourados.indd 18 16/10/2012 12:14:28
nas etapas específicas do conhecer científico; deve, sim, superá-las, porém não su-
primi-las – deve suprassumí-las (aufheben, no original e surprimer, em francês).
Esse é o caminho que leva ao Absoluto, onde se pode afirmar conceitual-
mente que A=A. O conceito e a igualdade imediatos e fixos no Absoluto somente
são verdadeiros se o espírito passar por elas dinamicamente (dialeticamente). Por
isso na lógica hegeliana o conceito é sempre um objetivo a ser alcançado, e nunca
um ponto de partida (LUKÁCS, 1978).
Retornemos, agora, à noção de explicar.
Nas etapas primárias da consciência podemos afirmar explicativamente que
“aquilo é uma árvore”. Esta propriedade, porém, como afirma Hegel, em sua simpli-
cidade é também a afirmação de seu oposto. Somente após conhecer as etapas dia-
léticas do desenvolvimento histórico do espírito, a Razão poderia afirmar que A=A.
Explicar é, nesse sentido, o objetivo último, ou seja, a redução máxima de
uma afirmação (“racional”) que indique que o conhecimento já foi atingido e
edificado. Um exemplo seria afirmar que A=A após provar tal dado algébrico; é
assumir a simplicidade com consciência da complexidade.
Lembramos que o conhecimento, segundo a filosofia baconiana, pressupõe
a dominação. Enxergamos a explicação em uma categoria “acima”. Explicar pres-
supõe conhecer; conhecer, por sua vez, pressupõe dominar – este é, pelo menos,
o modo como enxergamos que a filosofia (idealista) enxergou a Razão.
A razão, portanto, domina, para então conhecer. A reprodução imediata38
deste conhecimento é o explicar.
2.c Da Crítica da Razão
2.c.1 Razão antes da crítica – a dominação racional
Bacon, já citado, foi um dos maiores pensadores britânicos modernos. É
considerado, por muitos, pai da ciência moderna e um dos principais defensores
coerentes da corrente empirista e de seu método indutivo, o qual geralmente é
apresentado como oposto às deduções racionalistas (Spinoza, Descartes).
O que Bacon e seus “rivais” racionalistas partilhavam em comum era uma
fé absoluta na Razão. A razão, à época, não era questionada, pois não era se-
quer questionável. Tratava-se da época dos grandes avanços técnico-científicos
e lógico-matemáticos.
Esses avanços e esta fé na ciência fizeram com que Bacon combatesse os
“ídolos” (idola in BACON, 2000) que poderiam atrapalhar o desenvolvimento
mesmo da razão, desenvolvimento este, fortemente ligado a uma ideia de
38 “Imeadiata” porque no absoluto o saber conceitual se basta e não precisa de outro meio a não ser si mesmo,
já que, também, no saber absoluto conceito e coisa mesma não são diferenciáveis.
19
pedro dourados.indd 19 16/10/2012 12:14:28
progresso, de dominação da natureza, de conhecimento do desconhecido e sub-
missão dos mistérios do mundo ao saber humano.
Esta referência aos “ídolos” parece fazer uma clara alusão ao mito. A mito-
logia, como vista à época, era, certamente, a casa dos ídolos e talvez até mesmo
a fonte das ilusões.
Não se pode incorrer no erro, contudo, de ignorar a “sabedoria dos antigos”,
como adverte Bacon em obra homônima (BACON, 2002). Os mitos, sob o olhar
da razão, podem revelar a sabedoria dos antigos que está neles gravada de forma
alegórica para que possa unir o lado fantasioso e ilusório do mito com os sábios
conselhos de índole racional, os quais podem, assim, ser passados adiante. Lê-se:
“Refiro-me à adoção das parábolas como método de ensino, graças ao qual
invenções novas e abstrusas, distantes do arrazoado vulgar, encontram passagem
fácil para o entendimento. Por isso mesmo, nos tempos recuados, quando as cria-
ções e soluções da razão humana (incluindo as que hoje são banais e consabidas)
ainda eram novas e intrigantes, o mundo andava repleto de toda a sorte de fábu-
las, enigmas, parábolas e símiles. Ora, tais criações não eram usadas para obscu-
recer e ocultar significados, mas como um meio de explicá-los – pois o intelecto
humano mostrava-se então tosco e avesso às sutilezas que não iam diretamente
ao âmago do sentido (para não dizer que era incapaz de apreendê-las).”
(BACON, 2002, p. 21, grifo nosso).
Percebe-se que, para Bacon, Mito e Razão estão drasticamente separados.
O objetivo de Bacon é aproximar a razão moderna da sabedoria dos antigos por
um processo que perpassa o Mito, de modo que podemos dizer que é a distância
entre mito e razão que força a aproximação desta àquela por meio da interpretação
alegórica. Tal interpretação deve desvendar o que há de sábio no mito justamente
no movimento de “retirada” dos ídolos que se colocam entre a sabedoria antiga e
a razão moderna como se fossem um “véu” (BACON, 2002).
É, entretanto, a “facilidade” de compreensão da “irracionalidade” da fá-
bula/parábola (pois a fábula não é racional) que permite que se chegue à Razão
de um modo, também, mais fácil (do que a ciência moderna e suas exigências in-
dutivas [?]). Bacon atribui à i-razão do mito a tarefa de “explicar” o que é racional
(as invenções), pois a própria razão não consegue fazê-lo em relação àqueles que
Bacon chama de “toscos”. A i-razão é capaz, portanto, de introduzir a razão.
Caso Bacon tivesse percebido a aproximação quase paradoxal que ele
mesmo relatara entre razão e mito (e, para isso, teria sido necessário não ter sub-
metido o mito à interpretação alegórica, o que valoriza a razão unilateralmente),
o filósofo teria se antecipado em 400 anos de crítica filosófica.
Como Bacon não criticou a razão, outro caminho para se chegar à essa apro-
ximação (entre mito e razão) foi traçado.
20
pedro dourados.indd 20 16/10/2012 12:14:28
2.c.2 A crítica de Kant
Kant foi um filósofo que viveu no século XVIII na Alemanha. Comumente,
certos dados de sua biografia são citados em estudos filosóficos, graças à peculia-
ridade deste gênio do pensar humano. Não à toa, os dados de sua vida pessoal
acabaram por servir de base, inclusive, para a crítica de sua filosofia (crítica)39.
Kant viveu na cidade de Königsberg, e sua biografia o imortalizou como um
sujeito pacato, extremamente pontual, solitário e dedicado ao trabalho.
As suas características pessoais parecem realmente conflitar com sua obra, à
exceção da dedicação ao trabalho, a qual ajudaria a explicar a “revolução coper-
nicana da razão” realizada por sua filosofia, auto-intitulada, crítica.
Kant mostrou que não se poderia medir a mente humana a partir dos obje-
tos do mundo, mas que seria necessário encarar a realidade tal como ela se apre-
senta, ou seja, medir o mundo a partir das categorias da mente.40
Realizou, então, Kant, a separação entre fenômeno e coisa-em-si (ou nu-
meno): “what may be the nature of objects considered as things in themselves
[coisas-em-si] and without reference to the receptivity of our sensibility is quite
unknown to us. We know nothing more than our own mode of perceiving them
[coisas-em-si]”41 (KANT, 1952).
O estudo das coisas-em-si, tais quais podemos apreendê-las, foi a tarefa mi-
lenar da metafísica. Kant levanta, contra esta matéria, contudo, que apreendemos
algo das coisas que não elas mesmas. As nossas concepções mentais das coisas em
si são apenas fenômenos; e quanto ao conhecimento das coisas em si? Kant afirma
que, nesta área do conhecimento, “I have therefore found it necessary to deny
knowledge in order to make room for faith”42 (KANT,1952, grifos do autor), já que
é impossível saber sobre algo-em-si (salvo, por exemplo, para Deus).
Entre as conclusões filosóficas que Kant pode fazer a partir da sua Crítica,
estão as de que o homem não está no tempo, já que o tempo é uma das categorias
de análise racionais, ou seja, o tempo somente existe para mim43. Ocorre o mesmo
com a noção de espaço. Lucáks (LUCÁKS, 1978) bem percebeu que a conclu-
são oculta disto era presumir um “mundo sem forma” (já que sou eu quem dou
39 Ver os comentários de Habermas acerca desta peculiar obra, Das Andere der Vernunft (de BÖHME H. &
BÖHME G, Frankfurt, 1983), em Discurso Filosófico da Modernidade, 2002.
40 Assim como Copérnico mostrou que não é o Sol que gira em torno da Terra...
41 Tradução livre: aquilo que provavelmente é a natureza dos objetos considerados como coisas-em-si e sem
a interferências de nossa recepção pelos sentidos é algo desconhecido para nós. Não sabemos nada além
daquilo que sabemos pelo nosso modo de percebê-las.
42 Tradução livre: Pareceu-me, antes, necessário negar o conhecimento para dar lugar à fé.
43 “Time is not something which subsists of itself, or which inheres in things as an objective determination,
and therefore remains, when abstraction is made of the subjective conditions of the intuition of things.”
in Kant, The Critique of Pure Reason, 1958, p. 27. Tradução livre: O tempo não é algo o qual subsista por si
próprio, ou que seja inerente às coisas como uma determinação objetiva e assim permaneça, quando uma
abstração é feita das condições subjetivas da intuição das coisas.
21
pedro dourados.indd 21 16/10/2012 12:14:29
a forma do mundo). Indo além, Lucáks encontra neste radicalismo os primeiros
passos para o pessimismo de Schopenhauer (LUCÁKS, 1978, pp.25 e ss.).
A crítica da razão advém dela mesma; ou seja, não há ideal platônico para
resguardar a razão e reafirmá-la “de fora do sistema” (HABERMAS, 1997). Kant
não vai, porém, desistir de um ideal de razão (Vernunft) nem mesmo de esclareci-
mento (Aufklärung).
Kant define o esclarecimento como sendo a “saída do próprio homem de
sua menoridade, da qual o culpado é ele próprio. A menoridade é a incapacidade
de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo” (in Resposta
à pergunta: o que é o esclarecimento, in KANT, 2006, p.115). Este esclarecimento,
“porém, nada mais exige senão liberdade. E a mais inofensiva dentre tudo o que se
possa chamar liberdade, a saber: a de fazer uso de sua razão em todos os assuntos”
(KANT, 2006, p. 117, grifos do autor).
Assim sendo, Kant vê na liberdade e em seu estudo, pelo ramo da ética,
uma área do saber onde a razão é bem vinda a filosofar sem o medo de fazer me-
tafísica – e, consequentemente, sem o temor de cair na falsidade. Kant atribui à
“razão prática” a qualidade ética, que é ganha uma vez que a razão desfruta de
uma liberdade presumida universalmente. Desta liberdade (de todos os homens)
resulta uma autonomia (de todos os homens, dentro do “sistema da razão prá-
tica”) de agir dentro do sistema de normas impetradas conforme o imperativo
categórico: “age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que
ela se torne lei universal” (KANT, 2006, p.51)44.
Habermas (2002), ressalta que Kant enxerga esta diferenciação entre a
razão pura (responsável pela separação entre fenômeno e coisa-em-si), faculdade
de juízo (estético), e razão prática (que lida com a fé na liberdade e com a meta-
física dos costumes) como nada além de uma diferenciação, como algo funcional,
enquanto que, no teor de sua própria obra, esta diferenciação é uma verdadeira
“cisão” da razão em três partes independentes45.
Ainda assim, é inegável a mudança filosófica gerada pela primeira auto-
-crítica da razão, a qual forçou a própria razão a pensar e a pensar-se sem ignorar
sua própria crítica46.
44 Esta noção de autonomia é muito importante, até hoje, para as formulações jurídicas. Cf. Jurgen Habermas,
A Ética e da Discussão e a Questão da Verdade, 2007.
45 Há, ainda, a faculdade de julgar, vista à parte da razão pura e da razão prática.
46 Eis a origem das triviais refutações das teorias hegelianas e kantianas da Pena por serem elas “teorias
metafísicas”. Esta critica, muitas vezes precipitada, é consequência do desconhecimento do projeto maior
da filosofia kantiana, qual seja reunir física e metafísica sem usurpar os limites da razão e de seu entendi-
mento. Certamente, a problemática da utilidade social de se seguir a ditames formais da razão permanece
uma crítica válida, por exemplo, na (falta de) utilidade da pena no famoso exemplo da ilha.
22
pedro dourados.indd 22 16/10/2012 12:14:29
2.c.3. Schopenhauer crítico de Kant
“O mundo é minha representação” (SCHOPENHAUER, 2005, p.43). É
com esta máxima imortalizada que Schopenhauer, já citado acima, abre a pri-
meira seção de sua magnum opus, O Mundo como Vontade e como Representação.
Schopenhauer, que viveu e atuou na filosofia alemã no século XIX, foi um discí-
pulo da filosofia de Kant, a qual ele considera como uma das suas quatro fontes
de inspiração, junto com suas experiências pessoais, a filosofia de Platão e o hin-
duísmo (SCHOPENHAUER, 2005).
Schopenhauer parte da separação entre fenômeno e coisa-em-si, realizada
pela filosofia crítica, como verdade primária (SCHOPENHAUER, 2005, pp. 521
e ss.). Concorda o filósofo com Kant em grande parte, aproximando a noção de
mundo fenomenal com a noção hindu de existência, a qual está separada da ver-
dadeira existência pelo “véu de Maia” (cf. também CAMPBELL, 1997, pp. 124-
7). Esta comparação, na verdade, equivale também à platônica divisão entre o
mundo da caverna e o mundo da luz, conforme a leitura de Schopenhauer. O que
diferencia Platão e os Hindus de Kant, é que este último não chegou à esta verda-
deira conclusão por métodos indutivos ou místicos, mas pela arguição filosófica,
munida do conhecimento das ciências naturais mais desenvolvidas.
As divergências começam no ponto em que Kant parte para a reunião pos-
terior à crítica entre física e metafísica, projeto que na verdade o filósofo nunca
desenvolveu aprofundadamente. Primeiramente, Schopenhauer somente se pre-
ocupa com duas das categorias a priori do conhecimento humano, o tempo e o
espaço, além da causalidade47. O mundo fenomenal é, então, submetido ao homem
como um sujeito concreto, e não mais, como na filosofia kantiana, a uma noção
abstrata de intelecto ou pensamento humano (o ego transcedental kantiano), a
qual pressupunha um sujeito do conhecimento absoluto e a-histórico, leia-se: “(...)
daí resulta, ademais, que o mundo objetivo, como o conhecemos, não pertence à
essência das coisas em si, mas é seu mero FENÔMENO, condicionado exatamente
por aquelas mesmas formas que se encontram a priori no intelecto (isto é, o cére-
bro)” (SCHOPENHAUER, 2005, p.531, negrito nosso, demais grifos do autor).
Já na passagem citada, nota-se a diferença entre Kant e Schopenhauer, pelo
que grifamos. Não há mais, para Schopenhauer – que, por sinal, também estudara
medicina – um intelecto humano abstrato, mas um ser vivo com um cérebro con-
creto. Por isso o fenômeno passa a ser visto como “representação” da coisa em si
para o cérebro. A representação é, em verdade, um algo sem ser, um constante
devir (SCHOPENHAUER, 2005, p. 523) que se opõe à existência mesma.
A existência, por sua vez, é, como já ressaltamos lembrando acertada-
mente Lukács, um ser sem forma, sem tempo ou espaço e, portanto, sem dife-
renciação significativa, já que toda diferenciação é uma ilusão representativa
47 Kant, originariamente, havia elencado 12 categorias a priori.
23
pedro dourados.indd 23 16/10/2012 12:14:29
criada pelo cérebro humano. À existência dá Schopenhauer o nome de “Von-
tade” (SCHOPENHAUER, 2005).
Fica no ar, então, a possibilidade de se chegar a alguma verdade visto que tudo
o que a razão pode nos oferecer são representações. A resposta dá Schopenhauer
de várias diferentes maneiras: pela metafísica da natureza, pela metafísica da arte,
pela metafísica da morte; as quais, sem esquecer-se do legado pós-Kant, insistem
em uma meta-física, sim, mas do imanente, e negam todo o transcendente48.
Significa para o filósofo (mas também para o gênio, para o poeta, o artista,
o mundano e demais categorias desenvolvidas ao longo da obra schopenhaue-
riana) não simplesmente pensar racionalmente (e, portanto, casualístico-espácio-
-temporalmente) a existência e sim intuí-la: intuí-la artisticamente, pela efusão
do Belo; intuí-la pela eterna presença da morte49...
A razão é colocada completamente de lado, caso se queira descobrir a verdade.
Não se está negando a ciência ou o conhecimento humano como um todo, está-se
querendo nele corretamente situar para superá-lo (pois ninguém está livre da vida
representativa, já que o próprio mundo é minha representação). Não é à toa que se
costuma dizer que Schopenhauer está, também, na origem da posterior Lebensphi-
losophie, ou filosofia da vida, sem, claro, esquecer de seu legado para Nietzsche e,
certamente junto de Kierkegaard neste ponto, para a Psicanálise de Freud50.
2.c.4. Marx e a crítica da razão: a verdade econômica
Karl Marx foi um seguidor de Hegel51 no que tange, sobretudo, o método
(HORKHEIMER, 2008, p. 147 e ss.). Método é adotado aqui em uma perspec-
tiva também hegeliana, pois se refere à dialética não somente no que tange o
movimento tese/antítese-síntese mas também as categorias que dela fazem parte
em diferentes níveis qualitativos e quantitativos (LUKÁCS, 1978).
48 Ou afirmam, no máximo, uma transcendência do fenômeno em busca da verdade que seria a Vontade.
49 Cremos que a metafísica da morte de Schopenhauer é uma preparação para a filosofia do “eterno retorno
do mesmo” de Nietzsche.
50 A noção de que a Vontade é o único objeto passível de conhecimento real pode ser ista como uma precur-
sora do conceito de Libido e de Pulsão de Morte, em Freud.
51 Cabe ressaltar que Hegel fora, ele próprio, um crítico de Kant. Em sua Enciclopédia (Vol I, 1995, pp. 107 e
ss.) Hegel aponta que Kant estava certo ao destacar que é preciso estudar a ferramenta do conhecimento
e não só o conhecimento em-si, mas que, ao propor isso, o filósofo de Königsberg não teria vista que o
conhecimento sobre as ferramentas do conhecimento é nada mais nada menos que um conhecimento em
si, ou seja, tais ferramentas se tornam objeto do conhecimento também. Daí a conhecida e bem humorada
crítica de Hegel a Kant: “logo se insinua [...] o equívoco que consiste em querer conhecer já antes do co-
nhecimento, ou em não querer entrar n’água antes de ter aprendido a nadar. Esta crítica, Hegel adicionou
em re-edição à Enciclopédia, reedição onde também fez questão de afirmar que: “atualmente se chegou
além da filosofia kantiana, e cada um quer estar mais longe. Estar mais longe, porém, se dá de dois modos:
há um mais-longe para frente e um mais-longe para trás. Muitos de nossos esforços filosóficos, olhados à
luz, não são outra coisa que o procedimento da velha metafísica, um pensar-passado acrítico, tal como foi
dado precisamente a cada um” (p. 109) – reconhecendo, assim, todo o potencial crítico (mas não absolu-
to) da filosofia de Kant.
24
pedro dourados.indd 24 16/10/2012 12:14:29
A filosofia de Marx parte do materialismo como verdade, já em seus estudos
iniciais (MARX, 2007, conferir as Teses sobre Feuerbach). Neste ponto já con-
trastava com Hegel e aproximava-se de Feuerbach e sua filosofia materialista da
religião. Feuerbach foi um aluno de Hegel que o criticou alegando ser a filosofia
hegeliana uma “teologia racionalizada” (FREDERICO, in MARX, 2010, p. 13).
Feuerbach lançou sua crítica a Hegel a partir do termo “alienação”. Podemos
ler alienação em diversas passagens hegelianas, mas, para Feuerbach, interes-
sava o “ser alienado de Deus”, o Deus que, na figurava de Cristo, “alienou-se a si
mesmo” (FEUERBACH, 2007).
Feuerbach, lançando mão de uma hipótese materialista e negando o mo-
vimento dialético de reconciliação entre Deus e o Homem, chegou à conclusão
que a “essência da fé, a essência de Deus não é ela mesma, nada mais do que a
essência do homem, concebida fora do homem” (FEUERBACH, 2007, p. 343).
Propõe Feuerbach, então, que se deixe de adorar o ser alienado, o qual, em
realidade, seria o reflexo do próprio ser existente (o homem), para que se crie a
religião material, a religião do próprio homem, no que se nota um forte huma-
nismo enviesado.
Marx adotou a crítica de Feuerbach à religião, pois, para ele, “a crítica da
religião é o pressuposto de toda crítica” (MARX, 2010), e, com os trabalhos de
Feuerbach, estava esta crítica completa. Mas, no entender de Marx, não bastava
criticar a religião, era preciso ir além.
Marx transferiu a crítica da religião de Feuerbach aos outros sistemas defen-
didos por Hegel, ou seja, “a crítica do céu transforma-se assim em crítica da terra,
a crítica da religião em crítica do direito, a crítica da teologia em crítica da política”
(MARX, 2010, grifos do autor).
Em seus trabalhos iniciais, como por exemplo, a Ideologia Alemã, é exata-
mente esta crítica que se propõe Marx a fazer, a partir do materialismo de Feu-
erbach. Marx, porém, reaproxima-se de Hegel ao historicizar o materialismo e
ao re-adotar a teoria da mudança (histórica) do ser a partir de suas contradições
internas, ou seja, o método dialético. Esta historicização do materialismo e esta
reaproximação menos crítica de Hegel, levaram Marx ao aprofundado estudo da
Economia Política.
O desenvolvimento da trajetória de Marx é extremamente coerente. O
afastamento do materialismo de Feuerbach e a inserção do problema econômico
se mostram necessários a partir do momento que se relaciona “lutas de classe”
com a própria “roda da história”.
Marx, em suas Críticas e em sua magnum opus, O Capital, desloca totalmente
a Razão e sua independência no Sujeito (Descartes) para a realidade econômica
a qual é movimentada não por forças intelectuais, ou pelo Espírito (Hegel), mas
pelas lutas de classe. Assim sendo, as grandes revoluções louvadas por Hegel (a
25
pedro dourados.indd 25 16/10/2012 12:14:29
francesa ou a protestante) não passam de reflexos, por exemplo, do aumento do
preço da batata ou similares52.
Marx apontou que o realmente importante era o ser material que dava rumo
à história em ciclo causal (CASTORIADIS, 1987), sendo que as impressões po-
líticas daí geradas e, até mesmo o desenvolvimento da razão e da própria filoso-
fia, procurava – na maioria das vezes – mascarar o real movimento material do
mundo por meio das ideologias (MARX, 2007).
A crítica de Marx deslocou o momento de verdade da razão para a econo-
mia, pois esta se mostrou o único meio efetivo de se desdobrar a verdade e de se
dissipar das ideologias. Marx deixou de lado, pois, a investigação filosófica para
fazer o que chamou de “socialismo científico”, já que a economia como momento
único de verdade, se tornava a própria verdade científica.
A crítica de Marx se mostrou não somente uma crítica da filosofia, mas, de
modo geral, uma crítica da razão, a qual se torna, sob o ponto de vista materialista
histórico, um mero ponto da história a qual não é mais a fonte de verdade, pois
as próprias ideologias – que são falsas – não deixam de ser racionais, até mesmo,
não deixam de ser o desenvolvimento da própria razão.
2.d Conclusão
A razão surge na consciência do homem, visto tanto individual como so-
cialmente. Sua existência é predominantemente simbólica e sua reprodução é
também a reprodução da própria cultura, a qual não possui somente momentos
no inconsciente (individual ou coletivo).
Aproximamo-nos da noção hegeliana de Razão, por ser esta histórica e por
tentar englobar os momentos individuais e universais de representação, em busca
de uma verdade absoluta, visto que “o todo é o verdadeiro” (HEGEL, 2008).
Para Hegel a razão não pode ser vista em abstrato, pensada fora do desen-
volvimento do Espírito humano, localizado historicamente e que se movimenta
de modo dialético. Este movimento dialético mesmo permite ao fenomenólogo
acompanhar o desenvolvimento primário do Espírito, qual seja a consciência sen-
sível das coisas, ao momento de consciência de si do próprio Espírito, no qual o
saber se desenvolve conceitualmente e não há separação entre sujeito e objeto,
mas somente o “todo imediato”.
Este todo, porém, não pode ser simplesmente dado, pois seria ilusório. É ne-
cessário tomar conhecimento das fases mediatas de desenvolvimento do espírito
para se poder, em última instância afirmar, por exemplo, que A=A.
52 Um exemplo marcante deste deslocamento da razão na obra de Marx é a da produção das primeiras legis-
lações fabris e de proteção aos trabalhadores no contexto da revolução industrial inglesa, conferir MARX,
Karl. O Capital – Livro I, Vol. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, pp. 540-545.
26
pedro dourados.indd 26 16/10/2012 12:14:29
As verdades conceituais são, neste sentido, explicativas e a razão tem a
função da explicar de modo universal e imediato sem, no entanto, desconhecer
o particular.
O conhecimento que permite a explicação, porém, pressupõe a dominação,
no que aproximamo-nos de Bacon (2002). Para Bacon, a razão é absoluta e in-
questionável, é, porém, iludida pela presença dos ídolos que se apresentam aos
homens e precisam ser dissipados.
Nesse processo, Bacon dissipa os ídolos presentes na mitologia grega em
busca da sabedoria dos antigos que perpassa o véu mítico dos contos trágicos.
Bacon afirma que a função do mito, porém, é explicar o racional. Ou seja, o irra-
cional tem a função de racionalizar. O próprio Bacon, contudo, por ter submetido
o mito à razão de modo unilateral (pela interpretação alegórica), não se aperce-
beu da crítica que fez não ao mito, mas à própria razão.
Foi preciso, portanto, seguir outro caminho para a crítica da razão. Come-
çou a crítica com Kant e a revolução copernicana da Razão (KANT, 1952). Para
Kant, a filosofia e a ciência sempre buscaram adaptar a mente humana ao mundo
circundante quando fazia os questionamentos clássicos da metafísica, em busca
de Deus, ou da substância, por exemplo.
Devemos, na opinião de Kant, fazer o inverso, analisar o mundo de acordo
com as categorias humanas de compreensão, ou seja, submeter o mundo à mente.
Espaço e tempo, além de causalidade e outras 9 categorias de análise presentes
a priori na mente humana: são elas que permitem a geração de todo fenômeno,
que é a maneira mesma como conhecemos o mundo, o qual nunca poderemos
conhecer em sua verdade em-si.
Esta separação entre fenômeno e coisa-em-si foi a base da filosofia de Scho-
penhauer. Para o filósofo, a existência real é uma unívoca Vontade, a qual é sem
forma, sem espaço, sem tempo, pois estas categorias todas são representações hu-
manas (SCHOPENHAUER, 2005). Ou seja, o homem está fadado a conhecer
ilusoriamente um mundo que não passa de sua própria representação.
A razão está fadada ao engano; é, porém, possível o acesso à verdade pela intui-
ção. Esta intuição aponta o irracionalismo de diversas correntes filosóficas que não
deixaram de se posicionar criticamente ao desenvolvimento técnico da razão, em
favor das artes, do holístico intuído da presença da natureza, da morte, entre outros.
Também Marx (MARX, 2002/2007), tirou da razão o momento de acesso
à verdade do Ser. O ser é material e histórico, na concepção marxista. Assim
sendo, a análise verídica, científica do ser, é única e somente pode ser realizada
pela Economia Política.
27
pedro dourados.indd 27 16/10/2012 12:14:29
28
pedro dourados.indd 28 16/10/2012 12:14:29
A racionalidade dos sistemas sociais
A cultura humana possui, como já afirmamos, uma existência que, para a
consciência social e individual, é como Jano: tem duas faces. Uma parte é cons-
ciente, a outra, inconsciente. A razão atua no desenvolvimento principalmente
da parte consciente do conteúdo social da cultura.
Podemos, aqui, fazer menção a duas grandes teorias que se opõem quanto
ao desenvolvimento racional da cultura e de seus sub-sistemas ou ramos: trata-se
da teoria da ação comunicativa e do desenvolvimento moral de Habermas e da
teoria dos sistemas de Luhmann.
A diferença entre as teorias é abordada, com enfoque nas divergências
quanto ao Estado Democrático de Direito, principalmente por Neves, na obra
Entre Têmis e Leviatã (...) (NEVES, 2008, cf. Capítulo 1 “Dois modelos de evo-
lução social”).
Neves aponta que, de acordo com o modelo sistêmico, “a evolução mani-
festa-se com a transformação do improvável em provável” (NEVES, 2008, p.1). A
teoria sistêmica afasta da sua concepção de evolução uma interação entre o social
e o biológico53 (com a participação, por exemplo, de um “gene egoísta” ou da “sele-
ção natural”) (idem, p.3); também são afastadas noções teleológico-finalísticas da
evolução (como por exemplo uma evolução que leve a uma melhora) ou noções
ontológicas de evolução (como no caso do espírito Hegeliano). Na verdade, no
paradigma sistêmico, a noção de evolução é radicalizada para ser vista como “cega”
(idem, p. 5, nota 23), no que se aproxima muito da leitura cientificista da noção
de “mudança” da teoria de Nietzsche que conjuga “eterno-retorno-do-mesmo” e
“Vontade de poder”, de acordo com a leitura de Deleuze (DELEUZE, 1976)54.
As noções de “variação, seleção e estabilização” (NEVES, 2008, p. 5) que
seguem ao acaso vão ampliando a capacidade de a sociedade processar infor-
mações. Para cada informação nova, informação aqui vista como o conteúdo de
uma possibilidade, aumenta-se a complexidade da sociedade. Com uma evolução
constante, ou seja, com o aumento constante de possibilidades (visto que várias
informações antes improváveis são, agora, prováveis) a sociedade precisa execu-
tar o ciclo variação (que acontece com o surgimento de novas possibilidades),
seleção (o sistema seleciona as possibilidades “válidas” de acordo com um código
53 Vale lembrar que Luhmann emprega vários termos oriundos da Biologia, inclusive, o termo autopoiese,
desenvolvido pelas pesquisas do biólogo Maturana, sobretudo.
54 A mudança é vista, já em Nietzsche, como seleção, como prevalência de novas forças. Novas, porém,
de maneira duplamente redundante, não somente porque o “sistema” nietzscheano é cíclico (o círculo
é o símbolo do eterno-retorno) mas também porque o ciclo gira em torno do mesmo que se perpassa a si
próprio, negando, assim, toda transcendência além de si-próprio.
29
pedro dourados.indd 29 16/10/2012 12:14:30
binário que gira em torno de um sentido estabelecido funcionalmente) e estabili-
zação (que estratifica as novas possibilidades).
A realização deste ciclo55 torna a sociedade hipercomplexa, pois, a seleção
de uma possibilidade pela submissão a um código é também a afirmação de uma
possibilidade, o que gera o paradoxo de aumento da complexidade pela dimi-
nuição da complexidade; há, agora, porém, uma complexidade ordenada. Esta
complexidade é ordenada de acordo com os novos códigos que são gerados para
uma seleção mais específica – funcionalmente diferenciada – das possibilidades.
Nas sociedades primitivas, por exemplo, todo o direito e a moral estavam
sob um denominador comum nas mãos de algumas autoridades. A evolução do
direito proporcionou sua autonomização pela diferenciação funcional, a qual
gerou um código de seleção específico para o direito (lícito/ilícito) que o difere da
moral (cujo código é consideração/desprezo).
Obviamente, esta diferenciação está ligada à positivação do direito, pressu-
posto para sua existência autopoietica e para sua “clausura operacional” a qual,
justamente por fechar o sistema normativamente, abre-o cognitivamente, por
exemplo, no acoplamento estrutural entre direito e política que ocorre na figura
da constituição (NEVES, 2008, pp. 95 e ss.)56.
A razão, na verdade, fica deslocada nesse tipo de desenvolvimento, pois o
que proporciona as novas possibilidades com que os sistemas devem lidar ocorre
por “acaso”. Ainda assim, e tendo em vista a ressalva de Neves (NEVES, 2008,
p. 16, nota 79), concordamos com Habermas que “racionalidade sistêmica é ra-
cionalidade-com-respeito-a-fins transportada para os sistemas auto-regulados”57
(apud NEVES, 2008, p. 16, nota 79; cf. HABERMAS, 1979, vol. I, cap. 2).
Para Luhmann, portanto, a sociedade não é composta por homens, não de-
pende de “unidades territoriais”, nem pode ser tratada “objetivamente” (LUH-
MANN, 1993, pp. 69 e ss.) a abordagem exclusivamente comunicacional difere
da análise de Habermas, baseada na ação e que visa a integrar o mundo sistêmico
e o mundo da vida, de modo que podemos falar serem estas duas correntes opos-
tas, mas com grandes confluências, e é este justamente o ponto de apoio da obra
citada de Neves (voltaremos a este ponto, mais à frente).
55 Teubner, em Direito Como Sistmea Autopoiético, fala em Hiperciclo, que seria um estágio posterior à auto-
poiese em que os sub-sistemas autopoiéticos constituintes do Direito (doutrina, legislação, entre outros)
inter-relacionam-se ciclicamente gerando um processo de constante auto-atualização do Direito.
56 O contato seria um exemplo de acoplamento estrutural entre Direito e Economia.
57 Lembramos que a racionalidade-com-respeito-a-fins é a própria noção de “ação racional” de acordo
com a perspectiva Hegeliana. Ou seja, o sistema de Luhmann é cego como o eterno-retorno-do-
-mesmo de Nietzsche ou como a Vontade, de Schopenhauer, mas atua, em cada caso, positiva e racio-
nalmente, como o Espírito Hegeliano, porém não de maneira a buscar a sua emancipação (pois é cego)
mas de maneira fria, o que Habermas e a Escola de Frankfurt teriam chamado de “razão técnica” ou
“administrada”, “razão-com-respeito-a-fins”. Contra esta concepção crítica da autopoiese Neves faz
uma ressalva em sua nota.
pedro dourados.indd 30 16/10/2012 12:14:30
Concluímos, a partir destes pontos de confluência58 citados por Neves e
brevemente analisados, que há uma extrema racionalização/diferenciação59 do
Direito, primeiramente como um todo, e em seguida de seus “ramos” específi-
cos, com seus códigos específicos, com suas linguagens e categorias específicas,
gerando extrema autonomização das ciências sociais cada vez mais especializadas
e dos ramos dogmáticos correspondentes. Este processo de racionalização-au-
tonomização dá-se no que chamamos de “consciente social”, em contraste, por
exemplo, com o junguiano “inconsciente coletivo”60.
3.a A racionalização do direito penal:
sistematização da teoria do delito
O progresso, entendido aqui como aumento da complexidade, derivada do
aumento das possibilidades em um mundo cada vez mais desenvolvido (com mais
opções), força à sistematização e à especialização de cada ramo e sub-ramo da
cultura (cf. ponto 3.0). Não poderia ser diferente no que tange ao Direito Penal.
Se às idas de Cesare Beccaria (século XVIII) a visão de crime era simples,
pois era o delito algo uno e logicamente derivado da lei (subsunção), a noção
moderna de crime foi-se desenvolvendo e ampliando-se, de modo que o De-
lito, antes tido como um corpo sólido para o direito, passou a ser analisado em
seus vários momentos. De tal modo, criaram-se verdadeiros sistemas com base na
noção de delito, fazendo com que as demais categorias do direito penal, inclusive
a noção de pena, seja submetida a uma noção de delito61.
Aprende-se nos manuais de direito penal que a sistematização da teoria
do delito iniciou-se com os questionamentos envolvendo a existência material
do delito e sua relação com a norma positivada que o pré-estabelecia. A noção
de “tipicidade” surgiu a partir daí e dos questionamentos (não em dissonância
com os grandes posicionamentos filosóficos em voga à época, v. HABERMAS,
2009a) entre o valor e o fatídico e os aspectos formais e materiais da norma que
poderiam delimitar o conceito de delito.
Posteriormente à tipicidade, surgiram os questionamentos quanto à “antiju-
ridicidade” e “culpabilidade”, ora vistos com certa independência mútua (como
58 A temática habermasiana foi trabalhada acima, no cap. 1. para detalhes, porém, consultar a obra de Neves
(2008) e as obras específicas dos autores em questão.
59 Adotaremos, aqui, o termo “racionalização”.
60 Já Durkheim teria constituído uma teoria da “consciência social”, mas Adorno nos alerta para não criar-
mos conceitos nominalistas presos aos significados ideais, pois em sociologia (uma ciência fada à historici-
dade) a idealidade de tais concepções estaria destinada ao erro (ADORNO, 2008).
61 É especialmente o caso a partir do sistema welzeliano. É muito fácil abstrair, porém, que a imputação
objetiva, enquanto pedra fundamental da teoria do delito nos sistemas funcionalistas, é a base das próprias
teorias do Direito Penal (incluindo a Penologia e até mesmo aspectos criminológicos) que seguem uma
orientação funcionalista, como em Roxin ou em Jakobs.
31
pedro dourados.indd 31 16/10/2012 12:14:30
nos sistemas tripartidos do delito) ora visto em momentos conjuntos (como no
sistema neokantiano em que a antijuridicidade pressupunha a tipicidade e era
decorrência mais ou menos direta daquela).
“Tipicidade”, “antijuridicidade” e “culpabilidade” tornaram-se os pilares da
teoria do delito em todos os sistemas que se desenvolveram a partir de final do
século XIX em diante. Mesmo nas teorias que deslocam uma dessas categorias, as
três necessitam ser citadas, quer para sua afirmação, quer para sua recusa.
A noção de injusto penal, por exemplo, desenvolveu-se entre o conceito
de antijuridicidade e culpabilidade; a própria imputação objetiva, pode ser vista
como um momento delimitador da categoria da tipicidade (BITTENCOURT,
2010, p. 298; COELHO, 2006, p. 87 e ss.), enfim, a dogmática penal evolui e
continua a evoluir muito rápido a partir do momento de sua sistematização com
base na noção de fato típico, antijurídico e culpável.
Mas o que é, especificamente, típico, antijurídico e culpável? O quê, no
cerne da teoria do delito, é capaz de ser o suporte destes predicados bases do
direito penal? É, de fato, a conduta humana (típica, antijurídica e culpável) que
compõe um delito em todos os seus aspectos.
A conduta humana é o ponto máximo de sistematização do Direito Penal,
pois as categorias do delito dela dependem – da onde a máxima: nullum crimen
sine conducta, presente, diga-se de passagem, no ponto 12 da “Exposição de Mo-
tivos da Nova Parte Geral do Código Penal”, de 1984.
A sistematização da noção de conduta possibilitou ao direito penal uma ex-
trema racionalização que proporciona aos aplicadores do Direito Penal (quer às
“partes” [advogados e promotores], quer aos juízes) o uso de conceitos firmados
para a explicação do que consiste um delito e permite formular argumentos de
acusação/defesa e punição/absolvição.
Passaremos agora às análises de três distintas teorias do delito buscando
entender o seu relacionamento íntimo com a noção de conduta humana e seus
aportes para a sistematização racional do Direito Penal e sua dogmática.
3.a.1 Hans Welzel e a doutrina da ação finalista
Hans Welzel foi um dos mais influentes penalistas alemães do século XX. Em
1931, lançou o artigo Kausalität und Handlung ( Ação e Causalidade; cf. WELZEL,
2009) em que criticava a teoria causal da ação e, baseando-se na “psicologia do pen-
samento” e em certas correntes fenomenológicas (idem, ibidem), propôs uma noção
intencional de ação a qual, posteriormente, veio a ser cunhada como ação final.
A inserção da finalidade do agente na ação mesma justificava-se pela pre-
sença de estruturas lógico-objetivas que limitavam o aplicador do direito em seus
momentos de normação:
32
pedro dourados.indd 32 16/10/2012 12:14:30
No que diz respeito às estruturas lógico-objetivas, que pertencem a esse lugar e,
essencialmente, à afirmação de que o Direito Penal está vinculado à estrutura
final da ação, necessito apenas referir-me a um fato conhecido por todos: do
mesmo modo que o Direito não pode ordenar às mulheres que acelerem a ges-
tação e que aos seis meses dêem è luz crianças saudáveis, não pode proibir-lhes
que sofram abortos. Pode exigir-lhes, ao contrário, que se comportem de modo
que não se produza nenhum aborto e pode proibir-lhes que provoquem abortos.
(WELZEL, 2009, p. 10, grifos do autor).
Percebe-se, na passagem supra-citada, o claro posicionamento de Welzel
quanto à necessidade do conceito de ação (final) para que o próprio Direito possa
estruturar-se de modo a não ignorar a realidade fatídica, ou seja, não há uma
recusa ou ignorância do mundo real, que segue o nexo causal para sua análise
(estruturas lógico-objetivas), mundo este que se constitui ontologicamente e se
apresenta objetivamente para nós.
Este mundo previamente estabelecido parece aproximar-se da ontologia
fundamental de Heidegger, projeto que começa a ser desenvolvido na obra Ser e
Tempo e delimita a hermenêutica de Gadamer. Welzel, porém, prende-se ainda a
uma concepção kantiana de análise do mundo lógico-objetivo, o que o ajuda a
fixar o sentido da ação única e exclusivamente na própria ação, de modo subje-
tivo, ou seja, pela noção de finalidade62.
Esta junção essencial do sentido da ação com a própria ação, a qual, na con-
cepção welzeniana, depende sempre de uma análise subjetiva do próprio agente,
é o que gerou as críticas das escolas normativistas de que sua teoria da ação era
demasiado ontológica.
Welzel defende a análise do “ontológico” das estruturas prévias ao “jurídico”
em uma ação. Delimita, porém, o sentido da ação de um modo também ontoló-
gico (porque arraigado na finalidade posta no pensamento do agente); diferente-
mente de alguns normativistas, que fazem a análise do nexo causal de uma ação,
mas vinculam o seu sentido de maneira epistemológico-axiológica, geralmente,
pela inserção do método da imputação objetiva.
O pressuposto de que todo delito é uma ação, mas também uma ação final,
ou seja, que carrega intrínseca o seu sentido em si graças à finalidade desenvolvida
62 “O neokantismo tardio de Bruno Bauch e Richard Hönigswald já havia destacado [...] o princípio supremo
de todos os juízos sintéticos de Kant, de que ‘as condições da possibilidade da experiência são ao mesmo
tempo condições da possibilidade dos objetos da experiência’. Disto se deduz que as categorias do conhe-
cimento são também categorias do ser, isto é, que não são apenas categorias gnosiológicas, mas (de modo
primário) categorias ontológicas. Era a isso que me referia com a palavra ontológico (...)” in Hans Welzel, O
Novo Sistema Jurídico-Penal, (2009), p. 9. Percebe-se certa relação com a noção de “círculo hermenêutico”
cunhada por Heidegger e ampliada por Gadamer, a qual contava com as categorias prévias do entendi-
mento humano como sendo ontológicas, como sendo as possibilitadoras da percepção do ser no mundo,
ou seja, da consciência de seu próprio Dasein para, então, possibilitar as demais análises do mundo, graças
ao contato com a linguagem. As semelhanças entre o ontologismo de Welzel e o ontologismo filosófico,
porém, são mais aparentes que essenciais, retornaremos a este ponto abaixo.
33
pedro dourados.indd 33 16/10/2012 12:14:30
livremente no pensamento do agente63, condiciona uma análise específica do de-
lito como um todo e, lato sensu, do próprio sistema penal.
a) Ação final e tipicidade
Welzel define Tipo como “a descrição concreta da conduta proibida (do con-
teúdo ou da matéria da norma). É uma figura puramente conceitual” (WELZEL,
2009, p. 56). Em seu sistema, o sentido da ação é delimitado pré-juridicamente,
de tal forma, não é do tipo que emerge algum sentido, muito pelo contrário, o
tipo será uma seleção de situações lógico-objetivas guiadas por uma finalidade
concreta a qual virá a ser repudiada, em outro momento, pelo ordenamento
como um todo64. Trata-se de um momento formal na estrutura do delito, como
um instrumento, pois não valora (apesar de expressar uma valoração prévia do
legislador), e meramente conceitual por ser somente analítico de uma estrutura
ontologicamente definida.
Tipicidade de uma ação é, portanto, conferir se uma ação (independente do
tipo, pois ontológica) corresponde àquela que o tipo seleciona para fins de atua-
ção penal por parte do Estado.
Isso, na verdade, está intimamente ligado à noção ontológica e finalistica-
mente orientada da ação. Assim sendo, a tipicidade não “se divide” em tipicidade
objetiva e subjetiva, mas contém em si os dois momentos, objetivo (causal) e sub-
jetivo (final) da ação, os quais não são separáveis, salvo para questões pedagógico-
-metodológicas, é o que nos explica Garcia Martín (GARCIA MARTÍN, 2007, pp.
53-63). É por isso que o dolo, enquanto elemento volitivo que condiciona a existên-
cia da conduta está contido no tipo, e não na culpabilidade. Abordaremos, poste-
riormente, as complicações que a escola finalista teve ao tratar dos delitos culposos.
b) Ação final e antijuridicidade
No sistema de Welzel de análise da ação final em busca do crime, uma ação
que realize o tipo penal não basta para determinar um crime, pois é preciso que
haja um “juízo de desvalor” da realização do tipo, no que consiste, de fato, a an-
tijuridicidade (WELZEL, 2009, p. 56).
Para Welzel, o “juízo de desvalor” da antijuridicidade é um “juízo objetivo”
(idem, p. 57), não porque ignore aspectos subjetivos do agente, mas porque pos-
sui um “critério objetivo” de análise, qual seja o “ordenamento jurídico” – or-
denamento este que se torna o próprio sujeito do desvalor, o qual será somente
“repetido” pelo juiz (idem, ibidem).
63 Além de pressupor e defender o livre-arbítrio, Welzel assume uma antropologia aristotélica ao ver o pensa-
mento do homem como capaz de prever o resultado de suas ações graças à capacidade de ordenar o fluxo
causal das coisas, de modo prévio, na mente, no que se baseia, justamente, a finalidade.
64 É comum ler, entre os finalistas, que ocorre um “recorte da realidade fenomenológica”
34
pedro dourados.indd 34 16/10/2012 12:14:30
Esta concepção de “ordenamento jurídico” como “sujeito” de um juízo de
(des)valor é uma visão bastante metafísica, provavelmente associada à concep-
ção de direito enquanto sistema oriunda do pensamento jusnaturalista do século
XVII (FERRAZ JUNIOR, 2007); foi ela, porém, que permitiu o raciocínio ainda
presente e coerente de que uma causa de justificação no ordenamento como um
todo é também válido para causas penais.
Importante contribuição do finalismo para a questão da antijuridicidade foi
a inserção do conceito de “injusto”. Welzel explica que:
Na maioria das vezes eles são utilizados indistintamente [os conceitos de anti-
juridicidade e o de injusto], o que, em geral, não é prejudicial. Em alguns casos,
porém, pode dar lugar a confusões. A antijuridicidade é mera relação (uma
contradição entre dois membros de uma relação); o injusto é, ao contrário,
algo substancial: a conduta antijurídica em si. (WELZEL, 2009, p. 58).
Assim, a ação final que realiza uma conduta prevista no tipo (recorte da re-
alidade fenomênica) é, justamente, um injusto e este injusto é pessoal65.
c) Ação final e culpabilidade
Na doutrina finalista, é a ação final condição prévia para a existência de
um delito, pois um delito será sempre um injusto pessoal. Esta pessoalidade do
injusto condiciona, também, a necessidade de responsabilização de uma pessoa.
Ou seja, pode haver a realização de uma ação final, que corresponda a uma ca-
tegoria legal-formal (tipo) e que seja caracterizada por um juízo de desvalor pelo
ordenamento jurídico, mas, pode esta mesma ação não ser um crime caso se ve-
rifique que o agente não se absteve de realizar a ação antijurídica, podendo tê-la
evitado (WELZEL, 2009, p. 94).
Ou seja, como relata Welzel, a culpabilidade no sistema finalista, a partir do
momento que depende da ação final e já passou pelo juízo de valor negativo da
antijuridicidade possui um caráter ambíguo, pois analisa a ação em seu “não dever
ser antijurídica com o poder ser lícita” (idem, ibidem).
“Culpabilidade é reprovabilidade da resolução de vontade” (WELZEL, 2009,
p. 95), afirma Welzel apontando os primeiros passos para um conceito normativo de
culpabilidade, onde o juízo de culpabilidade não prescinde de ser totalizado no sub-
jetivo do agente, sendo que critérios objetivos (em sentido estrito) podem, muitas
65 A impossibilidade de conciliação da teoria finalista com a punibilidade da pessoa jurídica se vê já aí. A
realização do tipo subjetivo é impossível por uma pessoa jurídica a partir do momento que a ação é vista
ontologicamente, porém a com a definição do injusto como sendo sempre pessoal fica impossibilitada a
“ação da pessoa jurídica” que resulte em um injusto, logo, jamais em um crime.
35
pedro dourados.indd 35 16/10/2012 12:14:30
vezes, ser suficientes para configurar um injusto impessoal pelo qual o agente não
pode responder, como no caso da inexigibilidade de conduta diversa66.
É a responsabilização concreta de um injusto pessoal ao agente que trans-
forma a ação final antijurídica em crime.
3.a.2 Claus Roxin e a ação personalista
Roxin, em seu tratado (ROXIN, 1997), explica que um conceito de ação em
direito penal deve assumir os seguintes papéis: I) deve ser um “super conceito”
(ROXIN, 1997, p. 234), “un genus proximum al que se conecten todas las con-
cretas precisiones de contenido como differentiae specificae”67 (idem, ibidem); II)
deve ser um conceito que esteja presente em todos os aspectos do sistema penal,
ou seja, “debe atravessar por todo el sistema juridicopenal y constituir em certo
modo su coluna vertebral [...] ‘elemente de enlace o unión’”68 (idem, ibidem) o
que tem como consequência direta ser um conceito neutro em relação ao tipo, à
antijuridicidade e à culpabilidade, e não pode invadir o campo do tipo, mas não
deve ser vazio de conteúdo (o que já nos dá pistas para um conceito amplo de
ação); III) deve considerar somente as condutas que possam a vir ser relevantes
para o sistema penal, ignorando, pois, “sucesos causados por animales, actos de
personas jurídicas, meros pensamentos y actitudes internas [...]”69 (idem, ibidem).
Assim sendo, para Roxin, o conceito de ação deve ser um supra-conceito
interdependente com os conceitos internos do sistema penal (tipicidade, antiju-
ridicidade e culpabilidade), mas diferentes de e neutros em relação a estes.
Nota-se facilmente que, para realizar uma tal façanha, Roxin não pode con-
tar com um conceito específico ou demasiado criterioso de conduta, mas pres-
cinde de um conceito genérico e abstrato, para poder abarcar todas as situações
possíveis, correlacionar-se com a tipicidade (tendo abertura aos seus possíveis
conteúdos) e ainda assim permanecendo neutro em relação à ela.
Roxin não pode, assim, filiar-se à teoria final da ação, pois nela o tipo possui
um entrelaçamento essencial com a existência da ação final no mundo e em suas
categorias lógico-objetivas.
Roxin não deseja um conceito de ação pré-típico (ROXIN, 1997, p.251),
pois quer um conceito que misture o caráter ontológico com a necessidade
66 Assim afirmamos pois é fácil pensar em casos de inexigibilidade de conduta diversa em que a condição
psicológico-subjetiva do agente pouco importa para configurar uma situação de exceção na qual, justa-
mente, não se exige uma conduta diversa à tipificada e antijurídica.
67 Tradução livre: um genus proximum ao qual se conectem todas as precisões concretas de conteúdo enquan-
to differentiae specificae.
68 Tradução livre: Deve atravessar todo o sistema jurídico-penal e constituir, de certo modo, sua coluna
vertebral [...], “elemento de enlace ou união”.
69 Tradução livre: eventos causados por animais, atos de pessoas jurídicas, meros pensamentos e atitudes
internas [...].
36
pedro dourados.indd 36 16/10/2012 12:14:30
normativa de um conceito jurídico-penal, é nesse quadro de exigências metodo-
lógicas que Roxin apresenta o conceito pessoal de ação.
a) Ação como “manifestação da personalidade”
Para Roxin, ação é “manisfestación de la personalidad” (idem, p. 252). Isso
significa dizer que “es acción todo lo que se puede atribuir a um ser humano como
centro anímico-espiritual de acción”70 (idem, ibidem). O autor afasta, assim, os
resultados causados por um “ataque convulsivo”, um “delírio”, ou as condutas
que ocorrem durante um “sonho”, pois estas condutas “no son dominados o do-
minables por la voluntad y la consciência y por tanto no pueden ser calificadas
como manifestaciones de la personalidad, ni imputadas a la capa anímico-espi-
ritual de la ‘persona’”71 (idem, ibidem, grifos do autor).
Exclui também pensamentos e “impulsos de la voluntad” por não chegarem
a compor reais “manifestaciones”.
Para Roxin, a grande vantagem de seu conceito é abarcar tanto as comissões
quanto as omissões em um supra-conceito de ação, assim como poder abarcar atos
culposos e dolosos, de modo a ação de uma pessoa, enquanto manifestação de sua
personalidade, poder ser encarada como uma “obra” sua (ROXIN, 1997, p. 255).
A partir deste ponto de vista, é necessário, antes de se provar a tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade da ação, provar-se que a ação em questão é, efe-
tivamente, obra de um sujeito concreto, e não, pelo exemplo citado pelo próprio
autor, um mero acidente, como no caso de um tiro acidental de uma ama que
estava sendo limpa com todos os devidos deveres de cuidados atendidos, e ainda
assim disparou, ou quaisquer casos de vis absoluta (ROXIN, 1997, p.255).
b) O enlace pelo conceito de ação pessoal
O fato de o conceito de ação pessoal contar uma face pré-jurídica, aliado a
uma dependência de conceituação normativa, é, para Roxin, o necessário para
que o a ação pessoal configure um verdadeiro “conceito de enlace” no sistema
penal, pois abrange as áreas do sistema com preocupações “naturalísticas” e tam-
bém prescinde de critérios normativos de avaliação, típicos da dogmática do Di-
reito penal, em especial, nos caso de delito omissivos (ROXIN, 1997, p. 256).
Assim, em consonância com o que afirmamos no item 4.1, Roxin enxerga que
“dicho concepto [de ação pessoal] designa el ‘sustantivo’ al que se pueden vincu-
lar sin fuerza, ya sin que fueran prejuzgada por ello, todas las demás valoraciones
70 Tradução livre: É ação tudo o que se pode atribuir a um ser humano como centro anímico-espiritual de ação.
71 Tradução livre: Não são dominados ou domináveis pela vontade e pela consciência e, portanto, não podem
ser qualificadas como manifestações da personalidade, nem imputadas à esfera anímico-espiritual da pessoal.
37
pedro dourados.indd 37 16/10/2012 12:14:30
juridicopenales”72 (ROXIN, 1997, p. 256, grifo nosso), constituindo o conceito
de ação o ponto de Arquimedes do sistema penal, e seu auge de racionalização.
3.a.3 Günther Jakobs e o crime enquanto imputação
É comum lermos associações da teoria de Jakobs com nomes tais que “teoria
negativa da ação” (BUSATO, 2010, pp. 107 e ss./ ROXIN, 1997, pp. 247 e ss.) ou
“teoria da evitabilidade pessoal” (GUARAGNI, 2009, p.359). Apesar de justifi-
cada a adoção de tais denominações, cremos ser melhor a opção tomada por seus
tradutores brasileiros quando trabalham com “organização do comportamento”73.
Assim como o jovem Roxin (cf. BUSATO, 2010, pp. 135 e ss.), Jakobs ini-
ciou seus trabalhos como crítico do sistema finalista e da doutrina final da ação
humana. Em certa consonância com Roxin (vide supra), Jakobs afirma que “o
conceito de ação, enquanto conceito jurídico-penal, deve garantir que a defini-
ção dos comportamentos jurídico-penais imputáveis não seja uma mistura dos
elementos heterogêneos agrupados de qualquer maneira e sim uma unidade con-
ceitual” (JAKOBS, 2003, p. 46).
No desenvolvimento de sua teoria, Jakobs aponta que um Direito Penal mo-
derno não pode simplesmente imputar uma ação a um agente pela responsabili-
dade do “resultado” (idem, p. 49 e ss.). Jakobs verifica que, no finalismo, ganhou-
-se quando se introduziu um conceito de ação que assimilasse uma “expressão de
sentido” (idem, p. 53 e ss.).
Após tecer críticas quanto à falibilidade interna do sistema finalista (ação
imprudente), Jakobs levanta outro contraponto: “é que não se trata somente de
uma expressão do que se pretende trocar no mundo [refere-se aqui à ação final],
e sim o contrário, também aparece na tomada de postura externa o que para isso
deve ser necessariamente aceito, precisamente como custo de que quem atua
acredita poder obter o que persegue” (idem, p. 55).
Nesse raciocínio a ação, portanto, é expressão de sentido a qual, para abran-
ger tanto o comportamento ativo quanto o omissivo, doloso ou imprudente,
Jakobs chamará em etapa inicial de “conduta individualmente evitável” (idem,
p. 56), algo que o próprio Welzel teria já intuído, no final de sua carreira, ao falar
em “perspectiva biocibernética” (idem, ibidem). Tal concepção não é, porém,
suficiente, por isso vem Jakobs a substituir o conceito de evitabilidade pessoal
por “tomada de postura” (idem, p. 57) ou “organização do comportamento”
(JAKOBS, 2003b, p.4 e ss.), sobre o que o autor aponta:
72 Tradução livre: Tal conceito [de ação pessoal] designa o substantivo a que se podem vincular sem força, já
que foram preconcebidas por ele, todas as demais valorações jurídico-penais.
73 A “organização do comportamento” e a “evitabilidade pessoal” não se confundem, a abrangência desta
última, porém, ou de “conceito negativo de ação” pode simplesmente abarcar de modo indiferenciado a
organização do comportamento já somado com o momento da imputação o que dificulta o trabalho.
38
pedro dourados.indd 38 16/10/2012 12:14:30
Mas uma “tomada de postura” ou “expressão de sentido” somente pode ser
compreendida como processo comunicativo, em que não só é relevante o hori-
zonte de quem se expressa, como também o do receptor, e este não dispõe
do esquema de interpretação do sujeito que se expressa ou, se o receptor o
conhece, em todo caso esse esquema não tem por que ser determinante pelo
mero fato de ser o esquema individual.
(JAKOBS, 2003a, p. 57).
Assim sendo, para o sistema de Jakobs, a ação, desde que vista como “to-
mada de postura significativamente relevante”, ou seja, enquanto processo co-
municativo, continua sendo o foco da análise do Direito Penal, e o processo de
imputação que culmina na responsabilização individual (idem, ibidem) vai de-
pender do “esquema de interpretação” comum da sociedade, qual seja, as normas
de Direito Penal positivas.
Ressalte-se que a ação somente continua sendo relevante se não entendida
como no sistema finalista ou como oposição simples à omissão (JAKOBS, 2003b).
De tal forma, a “tomada de postura” enquanto ação responde por todos os
antigos critérios duais da Dogmática Penal: ação e omissão, dolo e imprudên-
cia, etc. Note-se, também, que o sistema de Jakobs guarda certa ligação com a
filosofia do direito de Hegel, mas como uma releitura comunicacional, ou seja,
Jakobs apóia-se em Hegel, mas efetua a guinada para a teoria da comunicação,
em parte seguindo a intuição de Welzel, no que depende, parcialmente de Luh-
mann e da teoria dos sistemas.74
Podemos então dizer que, também para Jakobs, o conceito de ação é primor-
dial e, enquanto unidade conceitual das categorias do direito penal enquanto cri-
tério de análise de um mudo interligado comunicacionalmente (análise biociberné-
tica), é o centro do desenvolvimento da Dogmática Penal e de sua racionalização.
3.b Conclusão
Se, por um lado, a sociedade depende do inconsciente para seu desenvolvi-
mento por meio da atuação dialética entre mito e símbolo, por outro, ela se desen-
volve racionalmente por meio do desenvolvimento moral e da apropriação de valores
universalistas que possuem como base a ação comunicativa (Habermas) ou, por meio
do desenvolvimento enquanto aumento das possibilidades de comunicação que o sis-
tema social gere com a funcionalização de sub-sistemas específicos para diminuição
da complexidade (abstrata) o que aumenta a complexidade (concreta – Luhmann).
Este processo de racionalização afetou todos os sistemas sociais e seus subsis-
temas também. No caso do Direito Penal, pudemos ver que tanto Welzel, quanto
Roxin e Jakobs atribuem um papel especial na dogmática para a “teoria da ação”,
74 Ressalvamos que o entrelaçamento entre e Jakobs e Luhmann é limitado, como será abordado mais a frente.
39
pedro dourados.indd 39 16/10/2012 12:14:30
seja esta vista como ação final (Welzel), ação enquanto manifestação da persona-
lidade (Roxin) ou ação enquanto organização do comportamento (Jakobs).
Ainda que a adoção de diferentes teorias da ação provoque radicais diferen-
ças entre as teorias de tais autores, vimos que todos trabalham, ainda75, com uma
teoria da ação, e entendemos que tal opção se dá pelo poder racionalizador de
uma dogmática que possui como fonte de análise a ação humana, ainda que vista
como uma comunicação de origem humana.
Vejamos, agora, como é possível entrelaçar o lado inconsciente e o lado cons-
ciente da sociedade pela crítica da Razão empreendida por Adorno e Horkheimer
na obra Dialética do Esclarecimento.
75 Dizemos, ainda, pois relembramos que Roxin, no começo de carreira, não queria trabalhar com o conceito
de ação e dizia ser ele desnecessário. Não é mais essa a realidade de sua teoria já há algumas décadas.
40
pedro dourados.indd 40 16/10/2012 12:14:31
Mito e Razão juntos:
a Dialética do Esclarecimento
4.a A Teoria Crítica e a Escola de Frankfurt
Com uma série de ensaios surgidos a partir da década de 30 do século XX,
teóricos com uma certa similitude de pensamento ficaram conhecidos pelo termo
que lhes era comum de “Teoria Crítica”. Crítica porque seguia a esteira da crítica
de Kant, de Schopenhauer e Hegel (à Kant), de Marx (à Hegel), e, enfim, carac-
terizava um posicionamento um tanto quanto cético à razão e à verdade unas e
imutáveis, quantificadas e calculáveis que dominavam nas escolas filosóficas pre-
dominantes à época (HORKHEIMER, 2008/ ADORNO, 1995).
Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e
Erich Fromm são nomes que podem ser associados à Teoria Crítica e, desde a fun-
dação do Institut für Sozialforschung, em Frankfurt, também à “Escola de Frankfurt”.
Certamente, não podemos dizer que a Escola de Frankfurt constitui um todo
homogêneo, tanto que muitos consideram que ela já se foi, com a morte de seus fun-
dadores, e outros consideram que filósofos como Jürgen Habermas e Karl Otto-Apel
estão ainda a ela ligados, podendo ser chamados de “a segunda geração da Escola de
Frankfurt” e, hoje, Axel Honneth seria o maior representante de “terceira geração da
Escola de Frankfurt”. Todos, indubitavelmente, se dizem adeptos da “Teoria Crítica”.
Neste trabalho, concentrar-nos-emos sobre as obras de Adorno e Horkhei-
mer, no que tange à “primeira geração” e nas de Habermas e Honneth no que tange
às demais gerações, sendo que outros nomes aparecerão de maneira secundária.
4.a.1 O início da Crítica
No início do Século XX, podemos dizer que, além de partilhar uma concep-
ção materialista de mundo, Adorno e Horkheimer compartilhavam do mesmo
contexto histórico e teórico. De um lado as tentativas fracassadas de revolução
proletária na Alemanha, mas a “vitoriosa” Revolução Russa; de outro, a re-filoso-
fização do marxismo realizada por Lukács, o positivismo axiológico de Weber nas
ciências sociais, o fracasso das teses fenomenológicas76 e a ascensão da ontologia
de Heidegger (HORKHEIMER, 2008, pp. XVI e ss.).
76 Fracasso, entendido aqui, como adesão de pessoas às teses e, não necessariamente, alcance último da
verdade. Isso, bem entendido, no quadro filosófico alemão, e não europeu. Na Alemanha muitas ideias
de Husserl foram assimiladas, mas por pensadores que não poderiam se dizer “fenomenólogos”, como
41
pedro dourados.indd 41 16/10/2012 12:14:31
Ainda assim, o projeto manteve uma forte ligação com o marxismo e com
a noção de “ideologia”, de maneira que o projeto da teoria crítica podia ser cha-
mado de uma “crítica das ideologias”. Isso é marcante principalmente nos ensaios
em que os autores criticam as filosofias dominantes à época e que, como a feno-
menologia, defendiam para si uma “consciência pura” (HUSSERL, 1996, pp.176
e ss.), ou algum tipo de neutralidade axiológica, relação a-histórica com algum
tipo de sujeito do conhecimento absoluto77.
A teoria crítica quer desmascarar a ideologia e a reificação do pensamento,
mas logo este projeto encontrou suas dificuldades. O projeto de crítica das ideolo-
gias começa a se transformar em crítica do conhecimento (da teoria do conheci-
mento, v. HORKHEIMER, 2008) e, logo, em crítica da razão. Isso porque, como
aponta Ricoeur (2008), a crítica das ideologias tem de justificar seu ponto de vista e
dizer por que seu próprio é o ponto de vista a-ideológico, logo, o verdadeiro, o não-
-reificado. Para isso é preciso suspeitar da própria racionalidade que emanaria de
uma “razão crítica”, é preciso suspeitar se a própria razão crítica não se torna tam-
bém ideológica, é o fenômeno que Ricoeur (2008) chama de “reflexão da crítica”.
Um outro problema é o que começa a ser apontado nos limiares da Segunda
Guerra Mundial e vai ganhar as obras de Marcuse, Adorno e Horkheimer (de
modo paralelo, vai uni-los ao pensamento do Heidegger maduro) que é o papel
da “técnica” hoje, da razão instrumental, da razão científica, do auge da “racio-
nalidade a priori”, sempre “válida”, “neutra” e “boa”, porque relacionada, por
exemplo, ao progresso.
A desconfiança de que a própria técnica poderia se tornar ideologia faz
da crítica das ideologias uma crítica radical da Razão, ou melhor, do “Esclareci-
mento” (Aufklärung) tal que projetado pelos iluministas (Kant) e em certa con-
sonância com Nietzsche e Freud (HABERMAS, 2002). É esse caminho de crítica
radical da razão que leva Adorno e Horkheimer à “dialética do esclarecimento”;
que os leva a aproximar radicalmente razão e mito.
4.b A Dialética do Esclarecimento:
fragmentos filosóficos
A tese defendida por Adorno e Hokheimer na obra conjunta, Dialética do Es-
clarecimento, é simples, porém audaciosa: “o mito já é esclarecimento e o esclareci-
mento acaba por reverter à mitologia” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 15).
Heidegger, Gadamer, Luhmann e outros. Na França, porém, é a fenomenologia que embala um diálo-
go com o estruturalismo lingüístico, quer opondo-se a ele (Sartre, Merleau-Ponty), que unindo-se a ele
(Derrida), quer estabelecendo diálogos plurais (Ricoeur).
77 O sujeito fenomenológico entra, sim, em contato com a história, mas a radicalidade de ser ele o fundamen-
to da consciência é uma categoria a-histórica.
42
pedro dourados.indd 42 16/10/2012 12:14:31
Já alertamos, assim como os autores o fazem em sua obra, que Adorno e
Horkheimer não alimentam “nenhuma dúvida – e nisso consiste nossa petitio
principii – de que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento escla-
recedor” (idem, p. 13).
O objetivo desta obra não seria, para os autores, uma crítica da sociedade mo-
derna como teriam feitos outros, citados por eles, tais que Ortega y Gasset, Huxley
ou Jaspers. A motivação de Adorno e Horkheimer é mais drástica: “a infatigável
autodestruição do esclarecimento força o pensamento a recusar o último vestígio
de inocência em face dos costumes e das tendências do espírito da época” (idem,
p. 11). Ad orno e Horkheimer têm em mente que o “pensamento se converte em
mercadoria e a linguagem, em seu encarecimento” (idem, p. 12) e o que eles pre-
tendem com esta obra é denunciar esta dialética do Esclarecimento que (re)cai na
mitologia e – talvez – apontar como ainda é possível manter o pensamento esclare-
cido – com a finalidade de manter a liberdade – mas não mais (re)cair na mitologia.
Primeiramente, portanto, apresentaremos as possibilidades de entrelaça-
mento entre mito e razão (e vice-versa), em três etapas, para então tentar deslo-
car o sentido que a obra Dialética do Esclarecimento condiciona tanto ao “mito”
quanto à “razão”. Veremos, posteriormente, se tais concepções se mantêm frente
a outras propostas de razão e de mito para responder ao seguinte questiona-
mento: seria a “dialética do esclarecimento” um instrumento crítico e regulatório
da razão, e da razão jurídico-penal, ainda nos dias de hoje (apesar das novas vi-
sões sobre “mito” e “razão”)? Se a resposta for positiva, teremos, então – com as
devidas ressalvas – nosso “instrumento” para a crítica do Direito Penal.
4.b.1 O entrelaçamento “Mito”- “Razão”
Adorno e Horkheimer apontam algumas ligações entre mito e razão. Já no
prefácio da Dialética, os autores apontam, primeiramente, que “o pensamento
cegamente pragmatizado perde seu caráter superador e, por isso, também sua re-
lação com a verdade”; afirmam ainda que “a causa da recaída do esclarecimento
na mitologia não deve ser buscada tanto nas mitologias nacionalistas [...] mas no
próprio esclarecimento paralisado pelo temor da verdade” (idem, p. 13). Cremos
que, com isso, apontam-se as primeiras críticas à concepção tecnicista de razão,
“razão-com-respeito-a-fins”78 a qual se torna “no interior do todo social, a meta-
física, a cortina ideológica atrás da qual se concentra a desgraça real [...] eis aí o
ponto de partida de nossos fragmentos” (idem, p. 14-15).
Ainda no prefácio, Adorno e Horkheimer já apontam que as noções de
“sacrifício e renúncia” apontam tanto para as diferenças quanto para as simila-
ridades entre razão e mito, sob a forma de uma aproximação entre a “natureza
78 Esta terminologia passará a ser sistematicamente adota a partir de Habermas.
43
pedro dourados.indd 43 16/10/2012 12:14:31
mítica” e a “dominação esclarecida da natureza”, e este consiste no primeiro con-
tato entre razão e mito.
O segundo seria a objetividade cega a que é levado o homem pela domina-
ção. Ou seja, não somente a comparação da dominação esclarecida da natureza
com a influência mítica nesta/desta; mas os resultados de tal dominação – que é
altamente racional – são meramente irracionais.
Em terceiro lugar, o nascimento de uma “indústria cultural”, na qual, sem
mais, razão se equipara à ideologia, e “o esclarecimento consiste aí, sobretudo,
no cálculo da eficácia e na técnica de produção e difusão [da ‘cultura’]” (idem,
ibidem, p. 15).
As quarta e quinta partes, “Elementos de Antissemitismo” e “Fragmentos
Filosóficos” seriam, a nosso ver, exemplificações, em sentido lato, da aplicabilidade
crítica da dialética do esclarecimento para denunciar a pseudo-racionalidade de
procedimentos tais que o ódio a um povo ou a organização das prisões.
4.b.1.a A dominação esclarecida da natureza e o Mito
Adorno e Horkheimer apontam que é com Bacon, pai da “filosofia experi-
mental”, que começa o “desencantamento do mundo” (ADORNO, HORKHEI-
MER, 1985, p. 17). Como ressaltamos acima, Bacon quer exorcizar a ciência das
Idola que não permitem a plena realização do “saber que vence a superstição [e
que] deve imperar sobre a natureza desencantada” (idem, ibidem, p. 18).
Antes de chegar ao ideal da ciência que domina a natureza, porém, o pensa-
mento foi “evoluindo”. Adorno e Horkheimer remontam à cosmologia pré-Socrá-
tica (idem, ibidem, p. 19) a qual, apesar de mítica, já realizava um procedimento
extremamente racional, pois explicava o que eram as coisas (metafísica) reduzindo a
natureza à mera natureza, ou seja, a natureza é feita de fogo, água, ar, terra: elemen-
tos que em si, são da natureza. Nessa quasi-tautologia metafísica, o transcendente já
sofre um golpe e a natureza explica-se a si mesma: do mito nasce o esclarecimento.
Um segundo exemplo, seria a relação mimética estabelecida entre os feiticei-
ros e os “demônios”, ou seres espirituais da natureza. Com essa relação mimética,
traduzida nos rituais mágicos, o feiticeiro tentava influenciar a natureza asseme-
lhando-se a ela, imitando-a: nasce a técnica. Imitar os demônios para influenciá-los
é uma técnica, especialidade da “classe sacerdotal”, mas também um procedimento é
estabelecido, uma ordem, uma lógica da imitação. Além disso, esta imitação – que
visa a influenciar os demônios – é não somente esclarecida, mas já denuncia que “o
esclarecimento é totalitário” (idem, ibidem, p. 19, grifos nossos), pois os feiticeiros
usavam-se dela para, de certo modo, enganar os demônios, já que, em todo caso, os
feiticeiros não eram demônios, somente queriam exercer neles influência e, assim,
obter uma boa colheita, dias regulados de chuva ou sol, etc.
Desta forma, os autores identificam uma racionalidade já nascendo do mito
e do procedimento mimético, de maneira que o antropomorfismo já seria uma
44
pedro dourados.indd 44 16/10/2012 12:14:31
“projeção do subjetivo na natureza” (idem, ibdiem, p. 19) e, já em Édipo, a res-
posta a todas às perguntas “é o homem!” (idem, ibidem, p. 19).
Adorno e Horkheimer apontam que o “mito queria relatar, dominar, dizer
a origem, mas também exemplificar, explicar” (idem, ibidem, p. 20, grifo nosso) e
que “muito cedo deixaram [os mitos] de ser um relato para se tornarem uma dou-
trina” (idem, ibidem, p. 20). Há uma compilação da tecnicidade desenvolvida no
ritual mágico, o nascimento do processo, o qual exigia conhecimentos específicos,
pois há um “elemento teórico do ritual” a ser dominado (idem, ibidem, p. 20).
Em seguida, os autores apontam que “a substituição no sacrifício [de ho-
mens por animais] assinala um novo passo em direção à lógica discursiva” (idem,
ibidem, p. 22). Isso se dá pela relação de substituição estabelecida entre o homem
(que efetivamente tem as dívidas a pagar) e o animal (que é a dívida e assume,
quando sacrificado, o papel do devedor). Essa substituição é feita “argumentati-
vamente”, em uma espécie de “barganha” com os deuses, a qual também aponta
para o início da lógica comercial das relações de troca entre outras79.
Logo o homem teria iniciado a perceber que o pensamento não corresponde
ao objeto, assim como o sacrifício não precisa corresponder ao devedor e, diferen-
temente do que ocorria no processo mágico, no nascimento das ciências não há
mimese, não há igualdade entre homem e natureza, mas dominação.
Desta dominação, tem-se que “o preço que os homens pagam pelo aumento
de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o poder”80, visto que “o
esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os
homens” (idem, ibidem p. 21). Esta alienação, segundo os autores, somente ficará
clara com a filosofia crítica de Kant81, pois é este que denuncia a separação entre
os homens e as coisas, das quais somente temos acesso aos fenômenos, e que vai
culminar no pessimismo de Schopenhauer e na valorização da mentira na arte,
por exemplo, por parte de Nietzsche (HABERMAS, 2002).
O mito, entretanto, não morre com o nascimento da técnica nem com as
formas primitivas de ciência. A diferenciação entre ciência e mito caminha rá-
pido, mas as relações entre ambos somente se clarificam quanto mais a ciência
expulsa de casa suas Idola; é o que mostram Adorno e Horkheimer quando ale-
gam ser uma característica do mito o fatalismo inerente às suas narrativas82. Se o
79 Apesar de Habermas afirmar, em inúmeras passagens que Adorno e Horkheimer não conheceram a
guinada linguística, eles parecem-nos terem sido bem conscientes quanto ao aspecto mutável e influen-
ciável dos signos, por uma diferença que não remete, necessariamente, à realidade do mundo, das coisas, à
realidade extra-linguística.
80 Ou, como dizem os autores, o preço que se pagaria se algo fosse idêntico a tudo é que nunca seria idêntico
a si mesmo. Para que o homem conheça “a natureza” é preciso que se afaste dela, que crie entre ele e ela
uma relação de ascese e distanciamento que é o início da “objetividade e neutralidade científica” e que
negam a pequena verdade de que “eu sou um bocadinho de natureza” (conhecido aforismo de Adorno).
81 Cf. item 2.c.2 e seguintes, deste trabalho.
82 Fatalismo no sentido profético, no sentido de que o futuro já está determinado, de que “não há nada de
novo sob o sol” (v. ADORNO, HORKHEIMER, pp. 19-25).
45
pedro dourados.indd 45 16/10/2012 12:14:31
“domínio” da natureza proporcionado pela ciência permite, de um lado, a liber-
dade quanto ao fatalismo da natureza e dos mitos; estamos todos, por outro lado,
presos ao fatalismo das ciências lógicas e matemáticas.
Um exemplo é a noção de incógnita nas matemáticas, às quais, por abstração
lógica, já presumem o resultado, como algo que está lá desde tempos imemori-
áveis, só se deseja quantificá-lo de uma maneira outra, mas não menos abstrata
(idem, ibidem p. 30 e ss.).
Assim como os números e as letras nas abstrações lógicas, “a ratificação do
destino que, pela retribuição, reproduz sem cessar o que já era” e que se mantém
ainda hoje na justificativa retribucionista da pena, são marcas do mito no nosso
esclarecimento ou, para ser preciso, marcas da relação dialética entre razão e
mito. É por isso que os autores afirmam que “o esclarecimento é a radicalização
da angústia mítica”; o mito anda ao lado da razão, o desconhecido (o não-domi-
nado) a quem se teme e o qual estimula mais dominação.
Podemos, portanto, falar em certa dependência entre mito e razão, pois é,
em parte, o medo em relação ao mito que força a razão ao Progresso. Tal pro-
gresso, porém, principalmente quando conjugado com um Sistema, como no caso
de Hegel (idem, ibidem, p. 32) torna-se totalitário e enxerga na história um fim,
não muito diferente do mito, que desde o início prevê o final.
Este progresso da ciência cai, pois, em des-progresso, em um ciclo vicioso
que reflete a própria dialética do esclarecimento e que, no âmbito da tecnologia,
proporciona a dominação do meio; ou seja, os trabalhadores (dominadores da
natureza) se vêem dominados pelas suas funções, pelas suas máquinas. Isto Marx
pudera prever, o que ele não enxergou, porém, é que a instância fria, sem mito e
sem sentido da técnica racional das máquinas alcançaria as esferas cotidianas de
relacionamento e, se algum dia “o animismo havia dotado as coisas de almas, o
industrialismo [hoje] coisifica as almas” (idem, ibidem, p. 35).
O exemplo central desta primeira parte é a passagem de Ulisses e seus maru-
jos, na Odisséia, pelas Sereias (idem, ibidem, pp. 38 e ss.). Na Odisséia, Ulisses é
avisado que é impossível resistir ao canto das Sereias – o qual representa o prazer,
na leitura psicanalítica de Adorno e Horkheimer – mas que seria necessário en-
frentá-lo para seguir seu caminho. Adorno e Horkheimer primeiramente anotam o
simbolismo em torno das Sereias. Elas são os seres que tudo sabem, conhecem toda
a história da terra, conhecem, também, tudo sobre o presente: tudo sabem; o preço
que cobram por isso, pelo conhecimento do passado e presente, porém, é o futuro da-
quele que lhes der ouvidos (idem, ibidem, p. 39), a renúncia ao seu próprio futuro.
A solução encontrada é a seguinte: Ulisses tampa os ouvidos dos marujos
com cera e estes nada ouvem enquanto remam e ele próprio fica livre para escu-
tar o canto, mas amarrado à haste do navio. De um lado, os trabalhadores (ma-
rujos) são alienados de todo o prazer, pois não ouvem o canto; de outro, Ulisses
se vê entregue ao prazer, mas impotente para dele desfrutar até o final (renúncia
sacrificial), pois perdeu a liberdade do próprio corpo, o qual também foi inútil, em
termos físicos, para cooperar na travessia.
46
pedro dourados.indd 46 16/10/2012 12:14:31
Hoje este processo foi radicalizado e já Adorno e Horkheimer estão conscien-
tes de que não se trata de uma tão simples divisão entre operários e burgueses, mas
um mundo em que tanto a ascese quanto a luxúria são condenados e em que a “hi-
giene” das fábricas se tornou a própria “metafísica”, a “ideologia moderna”; “hoje a
maquinaria mutila os homens mesmo quando os alimenta” (idem, ibidem, p. 43).
Enfim, como afirmava Ricoeur (1978), a narratividade do mito denuncia
sua racionalidade que se desenvolveu deixando a mimese da natureza para do-
miná-la com a técnica “objetiva e neutra” da ciência moderna. Ciência esta
cuja neutralidade se tornou “mais metafísica que a metafísica” (ADORNO,
HORKHEIMER, 1985) e que aponta para a inversão do paradigma da domina-
ção: os homens passam a ser os dominados pela sua própria técnica, não muito
diferente do que ocorria nos mitos em que as escolhas vinculavam com um fa-
talismo inescapável – fatalismo este que pode, agora, também ser representado
numericamente pelas incógnitas matemáticas.
4.b.1.b A Lógica do Sacrifício e o paradoxo
da autoconservação
Adorno e Horkheimer abrem o primeiro excurso da obra, Ulisses ou Mito
e Esclarecimento, apontando o contraste entre a epopéia e o romance, os quais
seriam opostos “histórico-filosoficamente” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985,
p. 47)83, curiosamente, é com esta mesma reflexão que fecham o excurso. Esta
pequena divagação sobre a estética da obra, na realidade, pretende mostrar um
objetivo “aplicado” de Adorno e Horkheimer ao escreverem de maneira assiste-
mática e contra a concepção tradicional de organização de uma obra.
Esta concepção será alvo de análise desta parte da Dialética e que aborda-
remos a seguir.
Os autores apontam que mito e epopéia têm em comum “a dominação e
a exploração” (idem, ibidem, p. 49), retomando o capítulo inicial da obra. Esta
dominação e esta exploração, entretanto, ganham corpo agora e não ficam so-
mente nas categorias abstratas de “razão dominando a natureza”; este excurso
é exemplificativo.
Adorno e Horkheimer apontam que a própria viagem em torno da qual
gira a Odisseia é um exemplo da dialética do Esclarecimento: “as aventuras de
que Ulisses sai vitorioso são todas elas perigosas seduções que desviam o eu da
trajetória de sua lógica” (idem, ibidem, p. 50). A viagem de Ulisses, planejada e
altamente lógica, é a própria viagem do Esclarecimento, da Helenização, da pátria
grega, que parte rumo ao desconhecido a fim de conhecê-lo. O mito, entretanto,
é apresentado como sedução (sexual, inclusive) que deseja desvirtuar o Ich (eu)
83 Esta ideia, aparentemente, os autores adotaram de Lucácks e sua “Teoria do Romance”; cf. LUCÁCKS,
Georg. A Teoria do Romance. São Paulo: Editora 34, 2000, pp. 55 e ss.
47
pedro dourados.indd 47 16/10/2012 12:14:31
de seu caminho habitual. A cada passo que Ulisses e sua trupe avançam, entre-
tanto, e vencem os perigos míticos como as Sereias, os “monstros” são expulsos e
retornam “à forma do rochedo e da caverna, de onde outrora emergiram no pavor
dos tempos primitivos” (idem, ibidem, p. 49).
“O saber em que consiste sua identidade e que lhe possibilita sobreviver tira
sua substância da experiência de tudo aquilo que é múltiplo” (idem, ibidem, p.
50, grifo nosso), mas é exatamente a experiência limitada que permite a Ulisses
racionalizar a partir do mito, ou seja, é o não entregar-se ao mito, mas barganhar
com ele, que permite dominá-lo e “vencê-lo”. Lê-se aí, novamente, certa crítica
da razão técnico-científica, a qual nunca pode plenamente conhecer, pois nunca
pode plenamente experimentar: plenamente experimentar o mito significa perder-
-se nele; tal como se perderam os muitos marujos que foram “devorados” pelas
Sereias ao descobrirem o “todo” e o “prazer” que elas guardam por trás do canto
hipnotizante. “O recurso do eu para sair vencedor das aventuras: perder-se para
se conservar, é a astúcia” (idem, ibidem, p. 50)84.
Enfim, a segunda grande relação entre o Mito e o Esclarecimento estabe-
lece-se no sacrifício. “Se a troca é a secularização do sacrifício, o próprio sacrifício
já aparece como o esquema mágico da troca racional, uma cerimônia organizada
pelos homens com o fim de dominar os deuses que são derrubados exatamente
pelo sistema de veneração de que são objetos” (idem).
O aspecto irracional do sacrifício está presente no ato mesmo de sacrificar,
no sentido de abdicar, sem aparente razão. O ato de levar algo em oferta, entre-
tanto, encontra-se em simbiose com os resultados dele esperados; a oferta nunca
é ao vento, é, talvez, ao deus vento para que ele “assopre” um Minuano ou ventos
de chuva. A lógica da mimese, que se torna dominação, ganha um instrumento
que permite a sua sistematização: o sacrifício, em torno do qual nasce o ritual, e
do qual depende o mito.
Colocamos, agora, tacitamente um extenso trecho da obra que explica a
extrema logicidade do sacrifício e denuncia esta origem mítica da razão:
Enquanto os indivíduos forem sacrificados, enquanto o sacrifício implicar a opo-
sição entre a coletividade e o indivíduo, a impostura será uma componente obje-
tiva do sacrifício. Se a fé na substituição pela vítima sacrificada significa a remi-
niscência de algo que não é um aspecto imaginário do eu, mas proveniente da
história da dominação, ele se converte para o eu plenamente desenvolvido numa
inverdade: o eu é exatamente o indivíduo humano ao qual não se credita mais
a força mágica da substituição. A constituição do eu corta exatamente aquela
conexão flutuante com a natureza que o sacrifício do eu pretende estabelecer.
Todo sacrifício é uma restauração desmentida pela realidade histórica na qual ela
é empreendida. A fé venerável no sacrifício, porém, já é provavelmente um
84 Ressaltamos que, apesar do efeito da frase, a astúcia está em planejar a perda, comensurá-la, para previa-
mente impossibilitar sua plena realização, exatamente como no exemplo das Sereias.
48
pedro dourados.indd 48 16/10/2012 12:14:31
esquema inculcado, segundo o qual os indivíduos subjugados infligem mais
uma vez a si próprios a injustiça que lhes foi infligida a fim de suportá-la. O
sacrifício não salva por uma restituição substitutiva, a comunicação imediata
apenas interrompida que os mitólogos de hoje lhe atribuem, mas, ao contrá-
rio a instituição do sacrifício é ela própria a marca de uma catástrofe histórica,
um ato de violência que atinge os homens e a natureza igualmente.
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 52, grifos nossos).
O sacrifício é, portanto, o processo de anulação do eu (Ich) para sua própria
salvação; aniquilando-se, ele devolve à natureza sua forma anterior, re-estabele-
cendo a comunicação que havia sido cortada com os deuses. Adorno e Horkhei-
mer, contanto, apontam que a lógica da autoconservação que impulsiona o sa-
crifício leva o interessado a lesar-se (“atinge os homens e a própria natureza”)
retirando do “ciclo” normal da vida a sua efetividade85.
O sacrifício, entretanto, não se resume a sua função comunicacional, mas
possui um vínculo com a razão e um sadismo que prepara reflexões do próximo
excurso: “a razão dominante precisava de sacrifícios” (idem, ibidem, p. 52).
É necessário sempre ter em vista que, apesar dos “lucros” visados com o sacri-
fício, este sempre leva ao paradoxo da autoconservação, como os autores expres-
sam – em certa sintonia com o pensamento de Nietzsche – da seguinte maneira:
O domínio do homem sobre si mesmo, em que se funda o seu ser, é sempre a
destruição virtual do sujeito a serviço do qual ele ocorre; pois a substância domi-
nada, oprimida e dissolvida pela autoconservação, nada mais é senão o ser vivo,
cujas funções configuram, elas tão somente, as atividades da autoconservação,
por conseguinte exatamente aquilo que na verdade devia ser conservado.
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 54).
A antirrazão de tal paradoxo pode ser resumida da seguinte maneira: “o
herói que se furta ao sacrifício sacrificando-se” (idem, ibidem, p. 54) e constitui,
na opinião dos autores, em marca registrada do capitalismo. O “Direito”, por sua
vez, encontra uma primeira crítica no conteúdo da nota de número 12 do I ex-
curso: “o direito é a vingança abdicante”; desenvolveremos este pensamento em
outra parte do trabalho.
Unindo os pontos soltos percebe-se que a própria viagem, a qual constitui
o enredo da epopéia, já é um “sacrifício grego”, que representa o “afastar-se da
pátria” em nome da civilização (em nome da pátria) para vencer os medos dos
mitos que existiam mar afora; trata-se de uma transição (mítica, pois em forma
de epopéia86) do mito para a razão.
85 A “coletividade”, no caso, que perde um membro seu, do qual, anteriormente, ela se havia diferenciado
para fins do próprio sacrifício.
86 Apesar de não definirem explicitamente o que seja “mito” e o que seja “epopeia” asseveramos que os
autores não tratam a ambos como sinônimos, mas, assim digamos, co-dependentes.
49
pedro dourados.indd 49 16/10/2012 12:14:31
Mais uma vez, retornam os autores para o episódio das Sereias, desta vez em
tom conclusivo, afirmando que “é possível ouvir as Sereias e a elas não sucumbir:
não se pode desafiá-las”; diríamos aqui que não se pode plenamente experimentá-
-las87. Isso levou os autores a uma analogia do nascimento da razão a partir do mito
com o contrato jurídico (pp. 56 e ss.): “mas ele [Ulisses] descobriu no contrato uma
lacuna pela qual escapa às suas normas, cumprindo-as” (idem, ibidem, p. 57).
Ao tratarem do encontro de Ulisses com o ciclope Polifemo, Adorno e Horkhei-
mer reconstroem o desenvolvimento da “economia” que sai dos padrões de troca sim-
ples até alcançar o capitalismo em três etapas interpretadas a partir do mito e do
ponto de vista materialista:
1. Razão econômica enquanto logro. A aparentemente justa troca sacrifical se
torna um logro em que, anulando-se a si mesmo, o autor se autoconserva, assim
como na economia surge o lucro como sendo uma “antinomia”, uma “irrazão”
em relação às normas vigentes no período da troca (troca entre pessoas/tribos do
excedente para sobrevivência, sem lucro); mas, se o lucro surge enquanto irrazão
da razão econômica dominante, ele vai lentamente aboli-la e ocupar seu lugar88
(idem, ibidem, pp. 58-9).
2. Razão econômica e Trabalho. A razão econômica, uma vez focada no lucro, va-
loriza o trabalho e repudia não só os “vagabundos”, como também os que se en-
tregam à “felicidade” e ao “prazer” desmesurados; fica excluída a possibilidade de
mera subsistência em busca do prazer diário, como no episódio dos que se perdiam
nas plantações de Lótus e preferiam “esquecimento e destruição da vontade”,
mas, com “manutenção do prazer”, à vida racional e sem prazer. Esta hipótese é
barrada e o trabalho passa a ser super-valorizado. Traçamos, aqui, um paralelo
com a obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley e o consumo da droga
“soma”, a qual, lembramos, não causava efeitos colaterais (...).
3. Razão econômica e normação. Enfim, a economia torna-se verdadeiramente
normatizada, e isso contrasta com as antigas formas de pastoreio e demais vidas
nômades e bárbaras, que são retratadas pela figura do ciclope Polifemo, pois ele
contava com sua força e seus recursos em abundância e vivia, pois, de modo
desregrado; pensava, inclusive, de tal forma: “a abundância não precisa da lei e
a acusação civilizatória da anarquia soa quase como uma denúncia da abundân-
cia”; é o que por sua vez denunciam Adorno e Horkheimer.
87 A viagem é a “não-plena” experimentação do mito que permite a Ulisses explica-los depois, explicação
esta intrínseca à própria História, cuja narratividade desenvolveu-se, muito provavelmente, a partir da
narratividade que sempre tiveram os mitos.
88 É deste modo que, hoje, é em função do lucro que se realiza ou se deixa de realizar qualquer movimento
econômico, troca inclusa.
50
pedro dourados.indd 50 16/10/2012 12:14:31
Enfim, retomam a questão de se escrever e de se pensar assistematicamente
(o que os próprios teóricos da Escola de Frankfurt desejam quando, por exemplo,
escreviam na forma de ensaios) e trabalham ainda alguns exemplos da dialética
(do papel da mulher na sociedade ao pensamento que anseia suprimir a morte,
entre as páginas 61 a 69) para fecharem o excurso afirmando que: “a transpo-
sição dos mitos para o romance, tal como ocorre na narrativa das aventuras, é
menos uma falsificação dos mitos do que um meio de arrastar o mito para den-
tro do tempo89, descobrindo o abismo que o separa da pátria e da reconcilia-
ção” (idem, ibidem, p. 70).
4.b.1.c A Crise da ratio e o estabelecimento
da igualdade: Razão = Dominação
No segundo excurso da Dialética, Adorno e Horkheimer irão montar o diálogo
entre a visão clássica de esclarecimento, adotando a definição de Kant apresentada
no item 2.c.2, e a crítica radical da razão empreendida por Nietzsche e por Sade.
O excurso é aberto relacionando a visão de Kant sobre a Aufklärung com
a noção de “sistema”90, leia-se: “‘entendimento sem a direção de outrem’ é o
entendimento dirigido pela razão. Isso significa simplesmente que, graças a sua
própria coerência, ele reúne em um sistema os diversos conhecimentos isola-
dos” (idem, ibidem, p. 71).
Assim sendo, a razão se unifica, na noção de sistema, e, a partir de tal con-
cepção, “a unidade reside na concordância [...] um pensamento que não se dirige
ao sistema é autoritário” (idem, ibidem, p. 71). Esta unidade e sistematicidade
seriam herdeiras do pensamento de Bacon, mas encontram em Kant fundamento
e validade transcendentais e universais (idem, ibidem, p. 71 e ss.), tanto na teori-
zação do “ego transcendental” quanto na vontade de criar uma ética universal e
cosmopolita pelo “imperativo categórico”91.
Esta sistematicidade, porém, não está somente para o uso e auto-compo-
sição da razão, pois, segundo os autores, o “esquematismo [que fora necessário
para a unificação da razão] acaba por se revelar na ciência atual como o interesse
da sociedade industrial” (idem, ibidem, p. 73, grifo nosso). Assim como em um
sistema biológico toda partícula, seja ela natural ao organismo ou estranha a ele,
passa pelo mesmo processo repetidas vezes até se ver consumida (ou até consumir
o organismo), o sistema industrial transforma tudo em um “processo reiterável e
substituível”, o homem inclusive (idem, ibidem, p. 73 e ss.).
89 Conferir o Capítulo I deste trabalho, item I 1.c e diante.
90 Em sintonia com a forma sistemática com a qual se organiza tanto a epopéia quanto a viagem de Ulisses e
em oposição ao pensamento primitivo de Polifemo.
91 Ver a crítica de Schopenhauer a Kant, conferir o ponto 2.c.3 deste trabalho.
51
pedro dourados.indd 51 16/10/2012 12:14:32
Surge aqui, novamente, o que chamamos de des-progresso92. Assim como o
sacrifício já nos tempos míticos de Ulisses representava um paradoxo da razão
pela sua própria conservação, a razão técnico-científica da modernidade man-
tém este paradoxo no seu próprio desenvolvimento: o progresso da indústria
que visava, originalmente, à conservação do homem, acaba por consumi-lo e
a reduzi-lo a uma peça “reiterável e substituível” no todo do sistema. Por isso fala-
mos em “des-progresso”, a face mítica que caminha junto ao progresso.
O progresso da técnica, que é inegável, avança na história, mas traz con-
sigo inúmeras falhas que já poderiam ter sido corrigidas, tecnicamente falando.
É, por exemplo, o caso da fome que já poderia ter sido abolida visto o tamanho
desenvolvimento da indústria agrícola e as inúmeras toneladas de alimento que
são produzidas, e as outras muitas que viram lixo. Assim, ressalvamos que o des-
-progresso é uma face oculta do progresso e não se assemelha ao regresso, pois
neste último há retorno a algum estágio anterior, enquanto que o progresso é
conditio sine qua non do des-progresso.
Seguindo a crítica da absorção técnico-industrial do “sistema” da razão,
Adorno e Horkheimer apontam que:
Quem morre é indiferente, o que importa é a proporção das ocorrências relati-
vamente às obrigações da companhia. É a lei do grande número, não o caso
individual, que se repete sempre na fórmula. A concordância do universal
e do particular também não está mais oculta em um intelecto que per-
cebe cada particular tão somente como caso do universal e o universal tão
somente como o lado do particular pelo qual ele se deixa pegar e manejar.93
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, pp. 73-4, grifo nosso).
A sistematicidade da razão, absorvida pela lógica técnico-industrial para
fins de autoconservação, não precisa, contudo, ficar presa à lógica da indústria,
mas pode ser aplicada na sociedade como um todo, como a regra da sociedade.
Isso ocorre, por exemplo, nos governos fascistas que limpam do dever moral
todo resquício de sentimento moral, de sentimento, para transformar cada regra
em um imperativo categórico (idem, ibidem, pp. 74-5). O prosseguimento da
Aufklärung, em termos kantianos vai ainda além, pois “a ordem totalitária ins-
tala o pensamento calculador em todos os seus direitos e atém-se à ciência en-
quanto tal” (idem, ibidem, p. 75).
92 Desenvolvemos esta ideia a partir da intuição de Adorno in Progresso, (ADORNO, 1995, p. 61), segundo
a qual “ele [o progresso] quer atrapalhar o triunfo do mal radical, não triunfar em si mesmo. Pode-se ima-
ginar um estado no qual a categoria perca seu sentido e que, no entanto, não seja este estado de regressão
universal que hoje se associa com o progresso”.
93 Antecipando em certa medida nossa posterior análise, afirmamos que é exatamente assim que uma teoria
fechada e extremamente pré-moldada tanto de ação final ou de imputação objetiva, que somente levam
em conta os critérios e os métodos pré-estabelecidos que tornam a análise do crime já autoritária e pressu-
põem uma certa adequação do mesmo à teoria.
52
pedro dourados.indd 52 16/10/2012 12:14:32
Caminhando nesta direção, o auge da razão ocorre quando esta está total-
mente a-moralizada e pode ser simples cálculo, “enquanto nos abstraímos de quem
emprega a razão, ela terá tanta afinidade com a força quanto com a mediação;
conforme a situação do indivíduo e dos grupos, ela faz com que a paz ou a guerra,
a tolerância ou a repressão, apareçam como o melhor” (idem, ibidem, p. 75).
Desta forma, Adorno e Horkheimer afirmam que foi o Marquês de Sade94
quem primeiro conseguiu enxergar a razão plenamente sendo “entendimento sem
a direção de outrem”, ou seja, esclarecimento (Aufklärung) em termos kantianos.
Veja-se, para dar um exemplo sádico, a analogia construída pelos autores:
“as equipes esportivas modernas, cuja cooperação está regulada de tal sorte que
nenhum membro tenha dúvidas sobre seu papel e para cada um haja suplente a
postos, encontram seu modelo nos teams sexuais de Juliette, onde nenhum ins-
tante fica ocioso, nenhuma abertura do corpo é desdenhada, nenhuma função
permanece inativa” (idem, ibidem, p. 76). A pergunta que parece perpassar o
livro e reluzir em partes acentuadamente críticas, como esta, é algo como “serve a
razão somente para ordenar conforme um sistema?”, “serve a razão só para isso?”.
A Razão “se tornou a finalidade sem fim que, por isso mesmo, se deixa atrelar a
todos os fins” (idem, ibidem, p.77).
Para os autores da Dialética, escritores “macabros” como Hobbes, Maquiavel
ou Mandeville criticavam a paz e a harmonia reinante na sociedade por terem
sido capazes de prever o caminhar da razão para o sistema egoísta sem referência
a ego nenhum, ou seja, sem real sujeito, somente o sistema95.
Não é à toa que Juliette, personagem maior de Sade, defende o quão racio-
nal é (pode-ser) um crime, o quão calculado e, até mesmo, superior à piedade,
já que mais racional. Some-se a isso a falta de argumento racional para a puni-
ção do homicídio que aparece tanto em Nietzsche quanto em Sade, o que teria
feito destes os autores malditos da crítica das luzes do iluminismo (ADORNO,
HORKHEIMER, p. 78-87). Perdem o valor todos os valores que não podem ser
provados/demonstrados racionalmente (cientificamente), tais que Deus, o amor,
a compaixão, a justiça, a própria lei.96
Há, porém, um contraponto a ser levantado:
A negação de Deus contém em si a contradição insolúvel, ela nega o pró-
prio saber. Sade não aprofundou a ideia do esclarecimento até este ponto de
94 Personagem do século XVIII, o marquês de Sade foi um francês que viveu no contexto da revolução fran-
cesa e escandalizou com seus romances e folhetins que louvavam a libertinagem, a violência e a difamação
dos valores morais, não a toa sendo aproximado de Nietzsche, neste excerto, por parte de Horkheimer e
Adorno. Entre suas obras Juliette, Justine e Filosofia no Boudoire. A concepção de “sadismo” é uma home-
nagem ao marquês.
95 O que nos parece uma crítica previa à teoria de Luhmann, mas ressaltamos que os devidos cuidados devem
ser tomados, já que, na teoria dos sistemas autopoieticos de Luhmann, não há “razão” lidando o processos
de seleção e adaptação que condicionam a própria evolução dos sistemas.
96 Aversão que se encontra tanto em Nietzsche quanto em Sade.
53
pedro dourados.indd 53 16/10/2012 12:14:32
inversão. A reflexão da ciência sobre si mesma, a consciência moral do escla-
recimento não é tanto um fenômeno espiritual quanto social. Ele aprofundou
a dissolução dos laços (que Nietzsche presumia superar idealisticamente pelo
eu superior), isto é, a crítica à solidariedade com a sociedade, as funções e a
família, até o ponto de proclamar a anarquia.
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 95).
Já em conclusão, os autores fazem mais uma pequena divagação literária: a
obra de Sade “é a epopeia homérica liberada do último invólucro mitológico: a
história do pensamento como órgão de dominação”. Enfim, razão e mito se vêem
completamente separados tanto em Sade quanto em Nietzsche para se reapro-
ximarem nas conclusões bárbaras dadas e apresentadas nas obras destes próprios
autores: razão e dominação são igualados; os autores finalizam o excurso da se-
guinte maneira:
O fato de que insistem [Sade e Nietzsche] na ratio de uma maneira ainda mais
decidida que o positivismo tem o sentido de liberar de seu invólucro a utopia
contida, como no conceito kantiano de razão, em toda grande filosofia: a uto-
pia da humanidade que, não sendo mais desfigurada, não precisa mais de
desfigurar o que quer que seja. Proclamando a identidade da dominação
e da razão, as doutrinas sem compaixão são mais misericordiosas que as
doutrinas dos lacaios morais da burguesia.
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 98, grifo nosso).
4.b.1.d A razão e o mito co-dependentes:
a auto-reflexão da razão dominadora na Indústria Cultural
No segundo excurso, Adorno e Horkheimer criticam o fato de que a socie-
dade industrial englobou a noção racional de “esquema” para transformar-se e po-
tencializar-se ao se transformar ela também em um “sistema”. Os autores abrem o
fragmento “mais fragmentário” (cf. Introdução, in ADORNO, HORKHEIMER,
1985) sobre a Indústria Cultural afirmando que “O cinema, o rádio e as revistas
constituem um sistema [...] Os decorativos prédios administrativos e os centros
de exposição industriais mal se distinguem nos países autoritários e nos demais
países” (idem, ibidem, p. 99).
Honneth (2008) aponta a estratégia de Adorno e Horkheimer ao escreve-
rem a Dialética de formar quiasmos97 tal qual Kulturindustrie (Indústria Cultural),
97 “Primary examples of such expressions are combinations of two words with contradictory meanings
brougth together in a single formulation”, in The Possibility of a Disclosing Critique of Society: the DIALETIC
OF ENLIGHTENMENT in Light of Current Debates in Social Criticism, in HONNETH, Axel. Disrespect,
the normative foundations of critical theory, Malden: PolityPress, 2008 (pp.49-62)
54
pedro dourados.indd 54 16/10/2012 12:14:32
com a união de dois termos que teriam significados opostos a priori. Honneth
aponta que, com tal estratégia, Adorno e Horkheimer “cast a new light on a con-
ventional combination of meanings so that their familiarity collapses”98 (HON-
NETH, 2008, p. 59), isso proporciona ao leitor “experience familiar events as
something monstrously strange”99 (idem, ibidem).
Percebe-se já de início que a crítica de Adorno e Horkheimer é uma crítica à
cultura produzida, ela também, pelo sistema industrial. Este ponto de importância
para uma teoria estética não fica somente aí, porém. Já no início da dialética e no
próprio título do excurso, os autores avisam que a Indústria Cultural é “o Esclareci-
mento como mistificação das massas” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 99).
Logo no início do excurso, também, os autores resumem a crítica a ser am-
plamente desenvolvida: “Sob o poder do monopólio toda cultura é idêntica, e
seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear”
(idem, ibidem, p. 100, grifos nossos).
Os autores denunciam nem tanto que a arte se perdeu como uma produção
industrial, mas denunciam que os próprios “meios culturais” e de manutenção/
propagação da arte estão muito conscientes de já não serem mais “arte”: “A ver-
dade de que não passam [cinema e rádio] de um negócio, eles a utilizam como
uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem”100
(idem, ibidem, p. 100).
Uma vez industrializada a arte se torna produto, uma vez produto é reificada,
fetichizada, passa a haver uma necessidade social (idem, ibidem, p. 100) de tais pro-
dutos. As análises de mercado que influenciam a indústria cultural não são, porém,
meras análises da vontade do povo que emana soberana e precisa ser satisfeita; ela
enquadra cada personalidade em grupos de consumo diferenciado e controla o seu
consumo de “cultura”: “As distinções enfáticas que se fazem entre os filmes das
categorias A e B, ou entre as histórias publicadas em revistas de diferentes preços,
têm menos a ver com seu conteúdo do que com sua utilidade para a classificação,
organização e computação estatística dos consumidores” (idem, ibidem, p. 101).
Assim, todas as pessoas se veem abarcadas em alguma categoria, “para todos
algo está previsto” (idem, ibidem), não muito diferente do que ocorria com o final
trágico do mito. A arte, quando chega às mãos do indivíduo, já chega processada
e condicionada pela indústria e para que esta se torne mais funcional, mais lucra-
tiva, “não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas ressur-
gem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo específico do espetá-
culo é ele próprio derivado deles e só varia na aparência” (idem, ibidem, p. 103).
98 Tradução livre: apresentam uma nova maneira de enxergar uma combinação convencional de significa-
dos, de modo que sua familiaridade venha a implodir.
99 Tradução livre: Experimentar eventos familiares como algo monstruosamente estranho.
100 A isso, lembramos, soma-se o fato de o juízo estético, tal qual desenvolvido pela filosofia desde Platão até
Kant, vem perdendo-se e entregando-se à “chart performance”, quer seja o HOT 100 da Billboard ou
BOX OFFICE internacional.
55
pedro dourados.indd 55 16/10/2012 12:14:32
Perde-se com a indústria cultural não somente a “aura” da obra de arte, mas
também a sua originalidade, a sua diferença: “Desde o começo do filme já se sabe
como ele termina, quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, o ouvido
treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o
desenvolvimento do tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto” –
e, com isso, a arte altamente técnica com os aparatos mais modernos fornecidos
pela razão humana se torna ainda mais parecida com o mito antigo101.
“A indústria cultural acaba por colocar a imitação como algo de absoluto”
(idem, ibidem, p. 108, grifos nossos).
Além, pois, da mesmice102, os autores criticam a homogeneização, que não
se pode separar, é verdade, da redundância da indústria cultural. Esse amálgama
entre mesmice e homogeneização, porém, denuncia a dificuldade que o mundo
industrial tem ao lidar com o próprio conceito de cultura, pois para ela “o deno-
minador comum ‘cultura’ já contém virtualmente o levantamento estatístico, a
catalogação, a classificação que introduz a cultura no domínio da administração”
(idem, ibidem, p. 108.) Uma cultura unitária não é cultura, é massificação.
A homogeneização da cultura é homogeneização do pensamento, a plena
realização da ideologia que deixa de ser a deturpação do correto para ser o cor-
reto, nesse contexto, “quem resiste só pode sobreviver integrando-se”103 (idem,
ibidem, p. 108) e “A rebeldia realista torna-se a marca registrada de quem
tem uma nova ideia à trazer à atividade industrial” (idem, ibidem, p. 109, grifo
nosso). A indústria cultural fagocita a cultura e passa a produzi-la em massa104.
Enfim, a massificação começa a duvidar de si mesma, remontando um dos pa-
radoxos da autoconservação da indústria: “por fim o próprio esquema parece peri-
goso na medida em que se estabelece uma conexão inteligível, por mais pobre que
seja, onde só é aceitável a falta de sentido” (idem, ibidem, p. 113, grifos nossos).
Para que a indústria cultural use do esclarecimento ela deve usar de suas
técnicas, é o que ela faz com o “logro”, semelhante com o que Ulisses fazia com
os seres mitológicos, leia-se:
101 Não na qualidade das belas tragédias gregas, mas em sua redundante fatalidade. O que antes era dese-
jado e meticulosamente planejado para a “catarse”, hoje é uma consequência do “destino” da razão. Na
página 104, os autores afirmam que “quanto maior perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos
empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura
do mundo que se descobre no filme”; o que nos aproxima ainda mais do mito, que deve convencer o seu
“leitor”de que é não a mera história mas um saber oculto da realidade a ser experimentado.
102 Na indústria cultural, o eterno retorno do mesmo vira o eterno retorno da mesmice: “cada filme é um
trailer do filme seguinte” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 135).
103 Anotamos, quanto a isso, a semelhança com o pensamento de Foucault: “As in judo, the best answer to
an adversary maneuver is not to retreat, but to go along with it, turning it into ones own advantage, as a
resting point for the next phase”, disponível in http://grids.jonmattox.com/people/foucault.html , acessado
em 05 de maio de 2011.
104 “Ele [o conformismo dos compradores] se contenta com a reprodução do que é sempre o mesmo. [...] é
com desconfiança que os cineastas consideram todo manuscrito que não se baseie, para tranquilidade sua,
em um best-seller. Por isso é que se fala continuamente em idea, novelty e surprise, em algo que seria ao
mesmo tempo familiar a todos sem ter jamais ocorrido.” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, pp. 110-1).
56
pedro dourados.indd 56 16/10/2012 12:14:32
A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que
está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, emitida
pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: maldosamente,
a promessa que afinal se reduz ao espetáculo significa que jamais chegamos à
coisa mesma, que o convidado deve se contentar com a leitura do cardápio.105
(ADORNO, HORKHEIMER,1985, p. 115).
Assim como Ulisses mediu previamente o quanto ele podia experimentar
do mito, sem nunca plenamente fazê-lo, a indústria cultural calcula o quanto de
prazer ela pode oferecer sem nunca efetivamente fazê-lo, assim como Tântalo, o
consumidor nunca se vê saciado106 (idem, ibidem, p. 116). “A indústria cultural
volta a oferecer como paraíso o mesmo quotidiano [enquanto que o belo, em
Schopenhauer, era a mais sublime libertação da falácia do mesmo quotidiano].
Tanto o escape quanto o elopment estão de antemão destinados a reconduzir ao
ponto de partida” (idem, ibidem, p. 117).
A arte, que deveria ser a libertação (Schopenhauer), a plena realização do
sujeito (Kant) ou de sua subjetividade (Kierkegaard) ou, ainda, a própria filosofia
(Nietzsche), acaba desacostumando as pessoas de suas próprias subjetividades
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 119). Isso porque “a ideologia se esconde
no cálculo da probabilidade” (idem, ibidem, p. 120), pretensamente impessoal e
visando ao coletivo: “O acaso e planejamento tornam-se idênticos porque, em
face da igualdade de homens, a felicidade e a infelicidade do indivíduo – da
base ao topo da sociedade – perdem toda significação econômica” (idem, ibi-
dem, p. 121, grifo nosso).
O antigo significado libertador do trágico (conferir RICOEUR, 2002) perde-
-se e o próprio “destino trágico converte-se na punição justa na qual a estética
burguesa sempre aspirou transformá-la a moral da cultura de massas é a moral
degradada dos livros infantis de ontem” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p.
125). “A vida no capitalismo tardio é um rito de iniciação” (idem, ibidem, p.
127). “Na fraqueza deles [indivíduos] a sociedade reconhece sua própria força e
lhes confere uma parte dela. [...] É assim que se elimina o trágico [...] a liquidação
do trágico confirma a eliminação do indivíduo” (idem).
Este indivíduo, sem subjetividade, sem expressão e, diríamos, sem cultura,
precisa, não obstante, ser mantido pela indústria cultural: ele é seu consumidor.
Mais uma vez, vê-se no desenvolvimento da razão o des-progresso: à medida que
hoje o mundo seria capaz de levar a melhor arte para todos e oferecer forma-
ção cultural abrangente, a indústria cultural domina os meios de propagação da
105 Ressalvamos que qualquer semelhança com a positivação constitucional de “normas programáticas” é
mera coincidência.
106 “O logro, pois, não está em que a indústria cultural proponha diversões, mas no fato de que ela estraga o
prazer com o envolvimento de seu tino comercial nos clichês ideológicos da cultura em vias de se liquidar
a si mesma” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, P. 118).
57
pedro dourados.indd 57 16/10/2012 12:14:32
cultura para “espalhar seu lixo” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985). “O consu-
midor torna-se a ideologia da indústria de diversão, de cujas instituições não
consegue escapar” (idem, ibidem, p. 131).
A partir do momento em que a arte torna-se produto, a indústria cultu-
ral usa de seus próprios meios (da “arte”) para fazer propaganda da arte que ela
vende: o seu produto mais desenvolvido é o que produto que anuncia sua venda,
a “publicidade de si mesma” (idem, ibidem, p. 134 e ss.): é um ciclo vicioso.
Nesse quadro caótico, os autores concluem: “personality significa para elas [pes-
soas] pouco mais que possuir dentes deslumbrantemente brancos e estar livre do
suor nas axilas e das emoções. Eis aí o triunfo da publicidade na indústria cultural,
a mimese compulsiva dos consumidores, pela qual se identificam às mercadorias
culturais que eles, ao mesmo tempo, decifram muito bem” (idem, ibidem, p. 138)107.
4.c A “dialética do esclarecimento” como instrumento
de crítica ao Direito Penal – considerações
metodológicas
Reconstruímos, acima, as três de cinco grandes partes da Dialética do Escla-
recimento em que Adorno e Horkheimer apresentam o panorama crítico que lhes
permitiu entrelaçar “razão” e “mito”. A essas três partes, somam-se um excurso de
nome “Elementos do Antissemitismo: limites do esclarecimento” e uma seção com
inúmeros fragmentos que é denominado “Notas e esboços”. Não daremos, a estas
duas últimas partes, o mesmo enfoque que demos às primeiras por entendermos tra-
tarem-se, no caso dos Elementos, de uma aplicação do panorama crítico montado
anteriormente para realizar uma crítica da religião com a qual nos sentimos auto-
rizados a discordar108 e, no caso das Notas de exemplificações ainda mais fragmen-
tárias do quadro crítico as quais serão trabalhadas paulatinamente daqui a frente.
107 Certamente, este excerto abre inúmeras portas para uma crítica contemporânea ao que podemos chamar de
“produção jurídica”. O que deveria ser a “arte do justo” ou “da justiça”, a “luta pelo direito”, se torna um ponto
no mercado de pareceres caros de advogados badalados ou uma questão de probabilidade conforme o relator
sorteado para o caso – fazendo com que o momento decisório perca, ele também, a sua áurea, aquela sua
“loucura da decisão” (Kierkegaard; v. DERRIDA, Jacques. Força da Lei. Martins Fontes: São Paulo, 2011) se
torne um produto, sobre o qual, inclusive, incidem regras de produção regulamentadas pelo próprio judiciário
e, no Brasil, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Não que a celeridade não seja desejada, ou, até mesmo,
extremamente necessária, mas que essa busca pela decisão não industrialize o próprio “buscar a decisão”,
transformando-o em uma questão de número, de “gênero de decisão”, de preferência, assim como as obras de
arte deixam de ser sublimes em detrimento de uma boa classificação no Hot 100 ou nos Box Offices. Ainda
assim, mais nos interessa aqui como o surgimento de uma Indústria Cultural (fenômeno típico do século XX,
portanto “recente”) serve para mostrar a dialética do esclarecimento ocorrendo “nos tempos de hoje”, e não
somente na emancipação grega (como podem dar a entender os dois primeiros excertos da Dialética).
108 “Autorizados”, pois os próprios autores da crítica acabaram por revê-la. Adorno reaproximando-se de certa
“teologia negativa” em seu livro Dialética Negativa, mas, principalmente, Horkheimer, em Teoría Crítica y
Religión, Madrid: Trotta, 2000. Há, porém, um aspecto de “teoria do Nacional-Socialismo” nos Elementos
que, apesar de sofrer com esta “reconsideração”, não deixe de possuir grande importância sócio-filosófica.
58
pedro dourados.indd 58 16/10/2012 12:14:32
Axel Honneth (2008), em escrito que data de perto do ano 2000, critica a
Dialética do Esclarecimento por esta já ser “velha”. Honneth afirma que a Dialé-
tica está, a cada dia, correndo risco maior de se tornar “strange to us”109 (HON-
NETH, 2008, p. 49). Afirma, categoricamente, que “the passionate effort of that
time remains without any hope of relevance in the present”110 (idem, ibidem).
Honneth ressalva, contudo, que ainda nos preocupamos com a “modernidade” e
com qual postura devemos ter para interpretar o domínio tecnológico em nossas
vidas, que cresceu muito desde então. Enfim, o que restaria à Dialética seria “[the
book] represents a fitting and convincing resolution form of a world-disclosing
critique”111: continua sendo um modelo de auto-crítica e de “abertura do mundo”.
Estranhamos a postura do filósofo, pois, além de ser inútil dizer o quão mo-
derno e atual é o pensamento desenvolvido por Adorno e Horkheimer na década
de 40 do século XX (por mais que a indústria cultural, à época, não pudesse prever
a internet, o Bluetooh e o iPad) é, também, inútil dizer que, em termos de filosofia,
em especial, filosofia jurídica, a “atualidade” das obras é algo muito sensível.112
O que encontramos aqui é, latentemente, um conflito de gerações que con-
viveram e uma crítica da qual a primeira geração não pode realizar defesa. É pre-
ciso entender que Honneth enxerga a Dialética de uma maneira quase-própria,
como sendo uma “filosofia (hermenêutica) da história” a qual guarda pressupostos
metafísicos que precisariam ser rejeitados (cf. HONNETH, 1991). Observadores
distantes, porém, percebem que as diferenças contextuais devem ser relevadas:
Honneth, enquanto 3ª geração de uma Teoria Crítica, ressuscita o materialismo
em sua face histórica, fazendo ressurgir, entre outros, o vocabulário revolucionário
(desta vez, de uma revolução do “reconhecimento recíproco”) de que Adorno e
Horkheimer estavam desacreditados113. Foi Habermas que, com sua alternativa
à “Razão-una”, com a teoria da racionalidade comunicativa, teria feito a ponte
entre as gerações recuperando o principal que a primeira geração havia perdido:
o sonho, a utopia da sociedade que comunica sem interferências e sem coação114.
É certo, não negamos, que a Dialética encontra pontos que podem, e devem,
ser criticados, até mesmo, superados. Habermas (2000, pp. 170 e ss.) levanta
que a Dialética é uma crítica radical da ideologia, aquilo que, como expusemos
acima, Ricoeur (2008) chama de “crítica reflexiva”. Resumidamente, Habermas
109 Tradução livre: Estranha a nós.
110 Tradução livre: O esforço apaixonado daquele tempo chega ao presente sem esperanças de ser relevante.
111 Tradução livre: O livro representa uma adequada e convincente forma crítica de abertura do mundo.
112 Uma das melhores propostas de análise argumentativa do Direito, proposta por Chaïm Perelmann no século XX
é advento quase direto das reflexões lógico-retóricas de... Aristóteles (e continua atual, influenciando, no Brasil,
Ferraz Junior e todas as gerações que lhe são devedoras; Conferir, para o bem da saúde jurídica, PERELMANN,
Chaïm, TYTECA, Lucie O. Tratado de Argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2008).
113 Ver item 4.a deste trabalho.
114 Em sua mais recente obra, Sobre a Constituição da Europa, São Paulo, UNESP, 2012, Habermas fala explici-
tamente na construção de uma “utopia realista”, mas deixa um pouco de lado a ação comunicativa e adota
um conceito transcendente de dignidade humana para formar essa “comunidade”.
59
pedro dourados.indd 59 16/10/2012 12:14:32
aponta que uma crítica generalizada, a qual critica seus próprios fundamentos,
passa a girar em torno de uma “contradição performativa” (HABERMAS, 2000,
p. 171) e que Adorno teria se mantido fiel a esta contradição performativa em
um pensamento sempre paradoxal em sua Dialética Negativa e, posteriormente,
em sua Teoria Estética, onde estaria nos primórdios de desenvolver uma teoria
da racionalidade comunicativa.
Habermas, ressalvamos, lê Adorno à luz de sua própria teoria (também)115
– a qual compartilha com Karl Otto-Apel116 – da “razão comunicativa”. Além
disso, Habermas diminui demasiado o papel que o re-encontro com a Teologia
Cristã teve na obra do “último Horkheimer”117. Habermas reprova, na Dialética,
o fato de Adorno e Horkheimer terem ignorado alguns aspectos positivos gera-
dos pela razão em seu desenvolvimento, mesmo em um mundo dominado pela
técnica: o desenvolvimento da ciência independente do utilitarismo técnico; a
arte de vanguarda e o efeito positivo do constitucionalismo e neo-constituciona-
lismos modernos (contemporâneos)118.
É verdade que o pensamento mais voltado ao fenômeno jurídico somente
adentrou a teoria Crítica a partir de Habermas e Günther, mas cremos que po-
demos encontrar outra razão principal para a ineficiência da crítica traçada na
Dialética, e esta razão estaria nos próprios pressupostos teóricos da obra119.
Quando falamos acima de Bacon, reprovamos-lhe ter desejado ler o mito de
modo a favorecer, a priori e unicamente, a “razão” em detrimento do mito mesmo.
Apesar de criarem o amálgama entre razão e mito, nossa tese é que Adorno e
Horkheimer, por mais que desejassem traçar uma crítica da razão, sobrepujaram a
115 Isto fica claro, inclusive na “aliança” que faz com Honneth para sua famosa interpretação da “dialética nega-
tiva como atividade ou exercício” presente na Teoría de la Acción comunicativa, Madrid: 2010, PP. 438 e ss.
116 Compartilha em parte, ressalvamos. Otto-Apel reivindica para a razão um a priori transcendental comu-
nicativo, termo de principal discordância com Habermas.
117 Como já dissemos, esta aproximação entre Horkheimer e a teologia cristã e Adorno e a Teologia Negativa nos é
embasamento para referirmo-nos à crítica da religião que eles exercem na Dialética somente a título ilustrativo.
118 “A Dialética do Esclarecimento não faz justiça ao conteúdo racional da modernidade cultural que foi conser-
vado nos ideais burgueses (e também instrumentalizado com eles). Refiro-me à dinâmica teórica específica
que impele as ciências, e do mesmo modo a auto-reflexão das ciência cada vez mais para além da produção
do saber tecnicamente útil; refiro-me, além disso, à fundamentação universalista do direito e da moral,
que encontram, apesar de tudo, uma personificação (por mais desfigurada e incompleta que seja), nas
instituições dos Estados constitucionais, refiro-me, enfim [...] experiência expostas nas obras de arte de
vanguarda, articuladas na linguagem pelos discursos da crítica de arte e que alcançam também um certo
efeito iluminados [...]” in Habermas, Discurso Filosófico da Modernidade. (2000), pp. 162-3.
119 Apesar de extremamente válida, a crítica habermasiana a Adorno e Horkheimer – crítica esta que abriu
espaço para o advento da linguagem – a obra de Habermas encontra-se em certo “esgotamento teórico”,
devido, primeiramente, ao idealismo/utopismo a que ela se vê relacionada e, além disso, às críticas traçadas
pela própria Escola de Frankfurt ao autor, cf. Honneth, The Critique of Power, (1991). O próprio Honneth
coloca, porém, que a obra de Habermas seria uma guinada comunicativa feita a partir da Dialética do
Esclarecimento). Há um movimento de retomada da crítica radical, e até mesmo “performativa”, inaugura-
da pela Dialética do Esclarecimento, em detrimento de projetos construtivistas como o monumentalmente
construído por Habermas, o qual continua sendo uma das maiores referências filosóficas do século XX, e
para este autor de maneira peculiar.
60
pedro dourados.indd 60 16/10/2012 12:14:32
razão em detrimento do mito, com vistas a libertá-la deste, para retomar o sujeito
que se havia perdido no mundo da técnica. Esta contraditio in termini se vê, é ver-
dade, de certo modo resolvida, com a obra de Habermas, quando este cinde defini-
tivamente a razão em “razão-com-respeito-a-fins” e “razão-comunicativa”. Desta
cisão, surgem outras: Mundo da Vida e Mundo-Sistema; reprodução simbólica da
sociedade e reprodução material da sociedade, entre outros. Além dos inúmeros
problemas que esta cisão pode causar para uma teoria da sociedade120 (HON-
NETH, 1991), ela cria um conceito de razão comunicativa que ignora a atuação
de forças do inconsciente (em sentido freudiano e junguiano, mais que em relação
às ideologias) que atuam no fenômeno da comunicação (idem, ibidem).
É justamente a Freud que devemos retornar ao lermos a Dialética do Escla-
recimento. Em rica tese de doutorado, Brito Losso (2007), aponta que o conceito
de “mito” na Dialética aproxima-se muito do conceito de “ilusão” de Freud. O
conceito freudiano de ilusão, porém, fecha o “mito” na esfera do religioso que é,
precipitadamente, a nosso ver, ligado à não-realidade. O próprio Lacan, talvez
o maior seguidor de Freud, era um defensor de que é a religião capaz de (re)dar
sentido à “realidade” (tida na concepção freudiana)121.
Assim sendo, Adorno e Horkheimer parecem não enxergar que, se por um lado,
aproximar razão de mito é uma maneira de rebaixar a razão é, por outro lado e para
sua visão freudiana de mito, elevar o mito à condição de razão. Por isso, cremos que
para manter o potencial crítico da Dialética do Esclarecimento devemos desligar “mito”
de “ilusão” e ou de “mentira” ou, ainda, de qualquer valor pejorativo a priori.
Por esta razão que, acima, assumimos um posicionamento próximo de Jung
e Campbell no que toca o referente aos mitos122. Temos, porém, que traçar aqui
uma ressalva ao próprio modo de ver o mito por parte da psicologia analítica e
seus sucessores: é preciso desligar o “discurso mítico” do “discurso religioso”.
Campbell fala, acertadamente a nosso ver, que a função do mito não é ex-
plicar, mas que “mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida hu-
mana” (CAMPBELL, 1988b, vid. 1\4, 05’46”). Assim sendo, pudemos concluir
que o mito proporciona a “experiência” do mundo enquanto a razão “explica” o
mesmo mundo123. Esta experiência, ou ainda, estas “potencialidades espirituais”
120 Além da crítica institucionalista feita por Honneth a Habermas, levantamos o problema de um teoria dual
que enxerga a união entre mundo sistema e munda da vida somente por meio da “colonização” do mundo
da vida pelo mundo sistema – essa carga de negatividade presa à concepção de “sistema capitalista” (que
deixa transparecer opiniões política que Habermas nunca escondeu, é verdade) ignoram que enem sempre
a união entre sistema e mundo da vida geram patologias sociais.
121 Para mais informações, recomendamos a consulta ao site: http://rodrigozanatta.wordpress.com/2009/03/26/
lacan-e-a-religiao-fragmentos/ . Consulta realizada em 18 de maio de 2011. Quanto à relação pessoal de Lacan
com a religião e a comparação com a sua teorização, cf. ROUDINESCO, Elisabeth. Jacques Lacan: Esboço de uma
vida, história de um sistema de pensamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Em especial, pp. 279 e ss.
122 Conferir o desenvolvimento do primeiro capítulo deste trabalho.
123 Esta explicação pressupõe, como já afirmado acima, o conhecimento e este, a dominação. Por sua vez, é a
explicação capaz de aumentar o conhecimento e proporcionar mais efetiva dominação.
61
pedro dourados.indd 61 16/10/2012 12:14:33
não são necessariamente espirituais no sentido religioso. Entendemos que Freud
e Jung poderiam ter se dado conta que o discurso mítico é sempre um discurso de
transcendência mesmo que não se trate de transcendência no sentido religioso; é exa-
tamente o que Freud faz quando adota “Édipo Rei” para transcender o discurso
do mito em direção à psique humana, às suas profundezas, às origens do incons-
ciente e sua inabalável natureza (memória indestrutível do Id).
O mito é transcendente porque sempre transcende a si próprio, sempre re-
mete para algo além de si mesmo124, como no caso das fábulas (mas aqui de ma-
neira muito mais sistemática) e sua relação com a “moral”.
Assim, fazemos uma curta analogia para explicar o que resta de conteúdo
ao mito já que seu significado deixa de ser, imediatamente, o significado religioso.
A analogia, construímos com a “democracia”. O discurso moderno sobre a de-
mocracia é o discurso dos Direitos Humanos, dos Direitos Sociais, da luta pela
igualdade com a manutenção da liberdade; enfim, é um discurso amplo e reche-
ado com direitos. Democracia, apesar de tudo, continua sendo, em sua essência, a
referência a um tipo de procedimento político (RICOEUR, 2008).
Com o mito acontece mais ou menos o mesmo. O mito é sempre recheado
com algum conteúdo do que chamamos, no primeiro capítulo, de algum “ramo
da cultura” (nos povos antigos, com o gênero discursivo religioso, sobretudo),
mas a “essência” do mito permanece sendo a narratividade a ele intrínseca e
a dependência da figura de um “herói”125 que passa por um processo de “ida-
-evento-retorno”. Certamente, traçamos aqui um esquema grosseiro e amplo,
até porque é preciso entender que o final trágico das tragédias é, bastante gene-
ricamente falando, um “retorno”.
É com esta concepção de mito que desejamos manter a relação entre este e a
Razão que foi apresentada de maneira primordial pela Dialética do Esclarecimento.
O principal que desejamos reter da obra é o entrelaçamento em si; a necessi-
dade de relação entre mito e razão (intermediada pelo simbólico que é presente
em ambos) que nos interessa como modelo crítico permitindo libertar o discurso
religioso da noção de “ilusão”, o que é uma necessária injustiça, já que é uma
pressuposição não esclarecida. Além disso, liberamos o conceito de mito de uma
leitura “espiritualista” no sentido que a faz Campbell quando este muito prema-
turamente liga a noção de verdade mítica às experiências metafísicas do oriente,
em detrimento de toda teologia monoteísta, por exemplo.
Pode-se perguntar, neste ponto, qual a vantagem metodológica de uma tal
concepção de mito (experimentar) e de uma tal concepção de razão (explicar)
no seio de um processo dialético para a crítica do Direito Penal. A resposta,
antecipamos, é que podemos ainda e apesar de tudo não querer que o Direito
Penal seja mítico (no sentido por nós aqui traçado), mas que seja o mais racional
124 Conferir ponto 1.e deste trabalho.
125 Retornaremos sobre a questão do “herói” campbelliano.
62
pedro dourados.indd 62 16/10/2012 12:14:33
(explicativo) possível, e que estejamos sempre atentos às “tentações míticas”, já
que estas são, de certo modo, inevitáveis.
Passamos, agora, munidos da “dialética do esclarecimento” como instru-
mento – feitas as devidas ressalvas – à análise crítica dos três sistemas penais
propostos por Welzel, Jakobs e Roxin e a racionalização/mitologização que geram
estes sistemas a partir de seus respectivos conceitos de “ação humana”.
63
pedro dourados.indd 63 16/10/2012 12:14:33
64
pedro dourados.indd 64 16/10/2012 12:14:33
Hans Welzel:
o Kant do Direito Penal
5.a A (mini)revolução copernicana na teoria da Ação
Criticar uma estrela do passado é, certamente, uma maneira interessante
de se ascender ao posto de nova estrela do presente. A crítica, entretanto, de-
monstra antes de qualquer coisa o potencial de veracidade e de importância que
tem aquele ou aquilo que é criticado. Como já dizia Nietzsche, uma boa verdade
nasceu para ser criticada.
Hans Welzel mudou radicalmente o Direito Penal, de modo que ousamos,
aqui, comparar a passagem do Direito Penal pelo pensamento welzeniano com a
passagem da filosofia pelo criticismo de Kant – o qual, por sua vez, foi comparado
a Copérnico pelo tamanho da reviravolta que causou em seu meio126.
Se há, porém, uma diferença entre a revolução crítica de Kant e a revolução
causada por Welzel, é que esta gerou muito menos rebuliço, sendo “simplesmente
aceita”127, com algumas modificações aqui e ali, durante anos, até começar a ser,
sistematicamente, criticada. Ainda hoje, porém, o sistema welzeniano é aplicado
quase que na íntegra para a interpretação penal de diversos países da tradição
Românica, e no Brasil, este é o caso.
A revolução de que falamos, Jakobs resume-a bem quando fala que Welzel
enxergava que “uma ação deve ser compreendida como ‘expressão de sentido’”
(JAKOBS, 2003a, p. 54).
Esta expressão de sentido está, justamente, no conteúdo final que Welzel
atribuía à ação humana: “a finalidade, o caráter final da ação, baseia-se no fato
de que o homem, graças a seu saber causal, pode prever, dentro de certos limites,
as possíveis conseqüências de sua conduta, designar-lhe fins diversos e dirigir sua
atividade, conforme um plano, à consecução desses fins” (WELZEL, 2009, p. 29).
Esta transformação, que pode parecer pequena à primeira vista, mudou o
Direito Penal de maneira que, para citar um exemplo, a teoria da ação, que fora
rechaçada por Roxin em início de carreira, foi por ele posteriormente integrada
em sua própria teoria. Para além disso, praticamente de 1930 até 1970 – ou seja,
126 Ver ponto 2.c.2 deste trabalho.
127 A grande polêmica acadêmica entre os defensores da ação final e os da ação causal foi o maior “barulho”
causado por Welzel, mas, apesar de tais discussões, o finalismo foi mais aceito que questionado, principal-
mente da década de 30 até os anos 70.
65
pedro dourados.indd 65 16/10/2012 12:14:33
4 décadas – “ação” foi o centro de todos os debates acadêmicos em matéria de
Direito Penal, pelo menos na Alemanha (BUSATO, 2010).
Para entendermos melhor a ação final de Welzel, vamos realizar uma des-
construção histórico-filosófica de seu pensamento.
5.b A Ontologia de Welzel: resquícios do neokantismo,
amizade com a Fenomenologia
Em termos de filosofia, em especial, de filosofia alemã, um nome ressalta
quando pensa-se no termo “ontologia”: Heidegger. A ontologia de Welzel, porém,
não possui vínculo com as ideias de Heidegger. O sentido de ontológico em Welzel
abarca tanto aspectos ônticos quanto ontológicos, no sentido que Heidegger agrega
a estes termos (HEIDEGGER, 2009, pp. 44-51). A ontologia de Welzel também
se distancia da de um outro grande “ontologista” da filosofia alemã, Hartmann,
como o próprio Welzel explica (WELZEL, 2009, cf. Introdução). Apesar de, na
história do direito penal, ele não poder ser classificado desta forma, Welzel e sua
escola apresentam determinados traços, analisados a seguir, que podem levar à
conclusão de que são neokantianos.
O neokantismo é o movimento filosófico que ficou conhecido por ascender
contra o historicismo da razão hegeliana propondo um retorno a Kant. Neste
retorno, uma ideia fica marcada: o sujeito cognoscente está separado do objeto
(coisa-em-si) o qual conhece somente através das categorias a priori da razão,
ou seja, fenomenalmente. Com isso, tanto Kant quanto seus discípulos mais mo-
dernos estão de acordo, o que estes últimos rejeitam, porém, é a transcendenta-
lidade metafísica do sujeito kantiano, transformando-a em uma transcendentali-
dade cultural. O sujeito kantiano deixa de ser um Ego isolado do tempo e espaço
(pois o próprio corpo do sujeito não está nem no tempo, nem no espaço, vide
supra) e passa a ser um sujeito muito bem localizado no mundo cultural (Rickert,
v. HABERMAS, 2009, pp. 5 e ss.) ou, na leitura de Husserl, no Mundo da Vida
(HABERMAS, 2009b, pp. 129 e ss.).
Este mundo, no qual se localiza o sujeito para além de seus fenômenos é
um mundo onde há, além do contato com outros sujeitos (inter-subjetividade,
v. idem, ibidem) valores, em uma existência concreta, e não somente fenomenal.
Esta certeza da existência dos valores, no neokantismo, é a raiz de toda a ontolo-
gia (MONDIN, 2005, pp. 97 e ss.).
Em Welzel, a ontologia dos fatos, ou – termo recorrente em sua obra – as
estruturas “lógico-objetivas” de que fala, derivam desta ideia: de que há um algo
a ser analisado objetivamente em um mundo concreto; esta existência é onto-
lógica/lógico-objetiva. É por isso que Welzel fala que o Direito Penal realiza um
“recorte na realidade fenomenológica” (vide ponto 3 deste trabalho) e direciona
os comportamentos com base em uma realidade concreta.
pedro dourados.indd 66 16/10/2012 12:14:33
Falando das tendências pós-kantianas que direcionam o olhar para a ques-
tão do ser, Reale anota:
No nosso modo de ver, no entanto, não existe propriamente retorno à teoria
clássica do ser, como um “dado” de que devesse partir a Gnoseologia, mas, ao
contrário, uma tendência no sentido de uma indagação do conhecimento que
seja, inseparavelmente, uma teoria do “objeto” e do “sujeito”, levando em conta
a correlação essencial e dinâmica entre o sujeito pensante e “algo” cognoscível,
mas sem se elidir a dificuldade do problema, reduzindo-o à maneira de Hegel.
(REALE, 2002, p. 50).
Reale anota, ainda, no mesmo sentido de Habermas (1997, pp. 15 e ss.), que
a base da filosofia do século XX deu-se sobre uma tentativa de sair da filosofia
do “sujeito”, focando mais no “objeto” e em sua realidade (REALE, 2002, p. 51).
O próprio Reale efetua uma “ontologia dos valores” em sua Filosofia, ao tratar
os valores e as normas como objetos (concretos) com os quais o Direito lida (v.
idem, ibidem, pp. 187 e ss. e pp. 204 e ss. onde Reale expõe sua teoria “histórico-
-cultural” dos valores); Reale chega a, na verdade, enquadrar o próprio Welzel
na “Jurisprudência dos Valores”, escola jusfilosófica que estaria em consonância
com sua concepção tridimensional do Direito (v. idem, ibidem, p. 194, nota 15).
Assim sendo, é neste mundo concreto e cheio de valor que incidem as nor-
mas penais, as quais realizam, no vocabulário de Welzel, um “recorte na realidade
fenomenológica”. Ou seja, Welzel está consciente do papel histórico e transmu-
tável de normas penais, as quais refletem fenomenologicamente a realidade; mas
este reflexo não é um reflexo falso ou enganador como em Schopenhauer, mas um
reflexo “das coisas elas mesmas”128.
Agora, faremos uma breve análise da teoria do delito em Welzel, tomando
como base a concretude do mundo, a existência dos valores e o sujeito cognos-
cente culturalmente localizado.
5.c A Racionalização pela teoria da ação:
o delito tripartido
A teoria da ação final proporcionou, muito mais que os conceitos que a
antecederam (tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, são, para além da pró-
pria ação causal, alguns exemplos significativos), o que chamamos acima de
128 “Às coisas elas mesmas” era o mote da fenomenologia husserliana. Adorno anota o teor positivista deste
mote que alega, indiretamente, que é possível, através da análise fenomenológica, chegar às coisas elas
mesmas, ou seja, este mote alega a objetividade de um mondo verificável empiricamente por meio de um
método concreto, o método da redução fenomenológica. Ver ADORNO, T.W. Dialética Negativa. São
Paulo: Zahar, 2009. p. 73, vide “nota” de rodapé (asterisco).
67
pedro dourados.indd 67 16/10/2012 12:14:33
“racionalização” do Direito Penal. Isso ocorreu, sobretudo, pois a teoria de Wel-
zel, com base nos três pressupostos filosóficos que apontamos acima (concretude
do mundo; concretude dos valores e sujeito cognoscente) e na centralização de
“todos” os delitos em torno da “ação final”, levou o delito, por sua vez, a uma
análise também tripartida.
a. Tipicidade: como analisamos acima129, a tipicidade é um todo complexo para
Welzel e subdivide-se, para fins de análise, em tipicidade objetiva e tipici-
dade subjetiva. Apontamos, agora, o quanto esta concepção de tipicidade
vai além da Tatbestand de Binding e Beling (Cf. BITTENCOURT, 2010, pp.
299 e ss.). A integração do “dolo” e da “culpa” no próprio tipo; ou seja,
afirmar que o Artigo 338 do Código Penal130, por exemplo, ao criminali-
zar aquele que “Reingressar no território nacional [sendo] o estrangeiro que
dele foi expulso” já pressupõe que somente se encaixa neste quadro o estran-
geiro que aqui retornou de maneira dolosa (ou final) ou ao menos culposa
(apesar de o tipo não prescrever a forma culposa, o que impede a penaliza-
ção, de acordo com o Artigo 18131 do nosso código) é a afirmação filosófica
da concretude sintética do “mundo”, conceito que aqui abriga tanto o obje-
tivo quanto o subjetivo, mediados pela capacidade de ação humana que se
caracteriza, em Welzel, pela finalidade que o homem pode a ela imputar. À
tipicidade do finalismo corresponde, pois, a concretude do mundo.
b. Antijuridicidade: a partir do finalismo de Welzel um avanço notável na
teoria da antijuridicidade foi, para além de uma separação desta com a
tipicidade (em oposição ao neokantismo penal de Mezger, por exemplo, v.
BITTENCOURT, 2010, p. 300), a noção de que um fato antijurídico não
o é somente por atentar contra a norma penal, mas por atentar contra o
ordenamento jurídico como um todo. Mas não foi somente isso; do con-
ceito de antijuridicidade, que paira em um plano formal, Welzel extraiu
seu conceito de “injusto pessoal”, que é “o fim que o autor associou ao fato
objetivo, a atitude em que o cometeu, os deveres que o obrigavam a esse
respeito” (WELZEL, 2010, p. 81, grifo nosso). A antijuridicidade, que é
um conceito abstrato que paira sobre nossas cabeças em um todo cha-
mado dogmática ganha vida na ação de uma pessoa específica encarnada
no injusto que é sempre um injusto imputado a um alguém específico. Por
isso afirmamos aqui que o conceito de injusto (derivado da antijuridici-
dade) é correlato da crença em uma concretude (ontológica) de valores e,
129 Vide ponto 3 deste trabalho.
130 O Artigo reza: “Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso: Pena – reclusão, de
um a quatro anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena”.
131 Artigo 18, Parágrafo único: “Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente”.
68
pedro dourados.indd 68 16/10/2012 12:14:33
se valores existem de fato, as suas respectivas violações (crimes, no caso)
também existem de fato, ontologicamente132.
c. Culpabilidade: agora que dolo e culpa estão transferidos para a tipicidade,
e são analisados sob o prisma da concretude ontológica da “ação final”, a
culpabilidade pode manter, exclusivamente, conceitos normativos. Resta,
pois, à culpabilidade o problema do livre arbítrio (WELZEL, 2010, pp. 101
e ss.) e da imputabilidade. Fica claro, principalmente no tocante à pro-
blemática do livre arbítrio, o quanto o conceito de culpabilidade, no fina-
lismo, está relacionado ao sujeito transcendental culturalmente localizado,
do qual falamos acima: se a ação e seu desvalor existem ontologicamente,
ainda é preciso, para que isso seja crime, associar a uma pessoa, a um su-
jeito real, e é importante que ele tenha livre arbítrio – para que seja repro-
vável, na lógica finalista.
Aqui vemos a coerência do sistema proposto por Welzel ao relatarmos o
quanto o conceito de culpabilidade é dependente dos dois outros, veja-se:
1. Por um lado, Welzel precisa lutar pelo livre arbítrio, pois, por mais que o
processo de imputação, que é de natureza social, não tenha nenhuma neces-
sidade de relacionar-se com a liberdade (KELSEN, 1999) a liberdade é es-
sencial para a escolha dos “fins” de que fala a ação final e, caso não houvesse
liberdade, não seria possível a responsabilização por escolha de fins ilícitos;
2. Por outro lado, Welzel, ao normativizar a culpabilidade, cria entre ela e
a antijuridicade uma ligação sinalagmática, pois só é desculpável a ação
que o Ordenamento torna desculpável. Assim, se fica difícil falar em an-
tijuridicidade da legítima defesa, fica difícil falar em antijuridicidade do
“crime” cometido sob inexigibilidade de conduta diversa, de maneira que
o próprio ordenamento não pune tal conduta, a qual pode ter inclusive
sua tipicidade questionada, pois, uma vez que o livre arbítrio daquele que
agiu se viu bitolado, não podemos falar que este “agiu finalisticamente”,
pois tornou-se mais um instrumento do que efetivamente um agente, um
ator: agiu finalisticamente, sim, no sentido de eleição de fins, mas como
não foi uma eleição livre, ele não agiu no sentido antropológico-jurídico
atribuído por Welzel à palavra “ação”133.
132 Isso explica, em parte, por que o finalismo de Welzel é independente de um conceito de “bem jurídico”,
mas pode com ele compactuar. Para que haja lesão a um valor não é preciso haver lesão a um bem jurídico,
e daí advém a diferença entre “desvalor da ação” e “desvalor do resultado”, no próprio dizer welzeliano.
133 A ação de matar – que comete uma pessoa sob ameaça de um terceiro, por exemplo – ainda não é uma
“ação homicida”, digamos assim. Exatamente por isso a análise da culpabilidade vem, na lógica welzeliana,
por último, pois a ausência de seus requisitos gera uma efeito “retroativo” na análise do delito, descons-
tituindo-o de todo caráter “criminógeno” a nível ontológico mesmo – ou seja, por mais que tipicidade e
antijuridicidade tenham sido auferidas, na ausência de culpabilidade, não há crime.
69
pedro dourados.indd 69 16/10/2012 12:14:33
5.d O Sistema e o Direito Penal Cibernético
Esperamos que tenham ficado claras as relações de Welzel com a filosofia
que lhe dava base e a racionalização causada no Direito Penal pelo conceito de
“ação final” incluído por ele.
Este conceito gerou uma verdadeira revolução do Direito Penal, que é até
hoje em grande parte aplicado conforme as três categorias do delito materializado
em uma “ação final”.
A interrelação entre os conceitos penais (tipicidade-antijuridicidade-culpa-
bilidade) proporcionada pelo “poder unificador” do conceito de ação final gerou
o que chamamos de Sistema. O Sistema exige que tudo aquilo que quer ser anali-
sado pelo Direito Penal, passe pelas etapas de análise desse Sistema.
Aqui caberiam, já, relembrar algumas das inúmeras críticas a Welzel, em
especial, as críticas de Roxin à concepção fechada de Sistema, pobre, que deixa
de encarar a realidade política da questão criminal como indissociável da teo-
ricização dogmática; crítica amplamente aceita e que se fez não somente à dog-
mática jurídico-penal, mas à dogmática do Direito como um todo (v. FERRAZ
JUNIOR, 2007, item 4.4, “Dogmática analítica e sua função social”; v. também
VIVES ANTÓN, 1996).
Abordaremos, porém, a crítica em outro aspecto, nos pontos seguintes.
Antes disso, ainda, chamamos a atenção para um aspecto importante da
teoria do Direito Penal em Welzel. É conhecido o trecho em que Jakobs (2003a,
p. 56), retomando o seu mestre, anuncia que “o próprio Welzel, no final de sua
obra [Das Deutsche Strafrecht, 11 ed., 1969, p. 35 e ss. – conforme referência dada
por Jakobs], destacou a ‘perspectiva biocibernética’ de sua posição, ainda que não
pode mais do que esboçar um breve esquema”; leia-se:
Entretanto se ha elaborado en la Cibernética una designación mucho más
ajustada a la peculiaridad determinante de la acción, esto es, su direción y
encauzamiento. Quizá a la teoria final de la acción se la habrían a horado
muchas falsas interpretaciones como teoria de la acción, en cuanto aconteci-
mento (cibernético) dirigido o encauzado por la voluntad. No sin razón Spie-
gel habla de uma ‘consideración biocibernética anticipada’.134
(WELZEL, 1993, p. 44).
Mas o que significaria uma guinada biocibernética no Direito Penal?
Ricoeur (2008, p.87), com base em Ladrière, aponta que no decorrer do
século XX duas grandes correntes de pensamento, principalmente em ciências
134 Tradução livre: Elaborou-se na cibernética, contudo, uma designação muito mais pertinente à particularida-
de determinante da ação, isto é, sua direção e sua existência causal [encauzamiento]. Quiçá houvessem pou-
pado a teoria finalista de interpretações erradas como teoria da ação enquanto acontecimento (cibernético)
dirigido ou causado pela vontade. Não sem razão Spiegel fala de uma “consideração cibernética antecipada”.
70
pedro dourados.indd 70 16/10/2012 12:14:33
sociais, surgiram de maneira quase sempre oposta: uma primeira, baseada em sis-
temas físico-biológicos e uma segunda, baseada em um caráter filosófico, como,
por exemplo, um sistema dialético.
A cibernética é, pois, a leitura dos sistemas do mundo de origem física ou
biológica e sua aplicação às ciências sociais, em oposição às leituras dialético-
-críticas, por exemplo. Esta leitura, cibernética, tem, sobretudo, a vantagem de
uma pretensão de cientificidade que ela traz das ciências onde foi buscar o seu
método. A leitura cientificista da sociedade não é exclusiva da cibernética, mas
é compartilhada com a escola de origem francesa, conhecida pelo nome de “Es-
truturalismo” e que possui como grandes nomes conexos Levi-Strauss e Barthes.
Na Alemanha, a leitura cibernética a partir da concepção de “máquinas
não-autônomas”/ “máquinas autônomas” foi feita por Luhmann a partir dos bió-
logos Varela e Maturana (NEVES, 2008).
Tanto o estruturalismo francês quanto a cibernética social que se fundiu, já
em Talcott Parsons, com uma teoria do Sistema, radicalizada por Luhmann com
a adaptação do termo autopoiesis (que foi retirado das teorias dos sistemas bioló-
gicos enquanto máquinas autônomas) são derivados da pretensão de objetividade
que herdaram da fenomenologia de Husserl e foram buscar complementação em
outros ramos do saber, na linguística estrutural de Saussure ou na biologia (em
sentido análogo, v. HABERMAS, 1997, pp. 80 e ss.).
Aqueles que pensam, pois, que Jakobs não seguiu os passos de seu mestre
Welzel, estão redondamente enganados.
A guinada cibernética, quer seja feita pelos moldes do estruturalismo, quer
seja feita pelos moldes da teoria sistêmica (como no caso de Jakobs) possui como
principal consequência a retirada do “sujeito transcendental” do plano primeiro
de “ação”, motivo pelo qual, em Jakobs, fala-se antes de comunicação que de ação;
pois as comunicações são unidades da sociedade, e não ações, a menos que a
ação seja vista como a ação da sociedade, que já é comunicação (VILLAS BOAS
FILHO, 2006, pp. 40 e ss.). Por esta razão Habermas fala que a teoria sistêmica
substituiu o “sujeito” pelo “sistema” e o “objeto” pelo “mundo circundante”135
(HABERMAS, 1999, vol. II).
5.e Crítica Dialética
Foi Welzel quem, de maneira determinante, relacionou Direito Penal e te-
oria da ação136. Contra sua teoria da ação levantaram-se, principalmente, duas
135 Na teoria sistêmica há uma diferença entre Welt (mundo) e o Umwelt (entorno). É preciso pensar assim:
o sistema é diferente do mundo, mas entre eles não há contato direto, pois se houvesse, a diferença entre
eles já seria aparente, pois estariam em puro contato, de forma que não, o contato entre eles é dado por
este limbo que os une, o entorno (Umwelt) que não é nem mundo (Welt) nem sistema (System).
136 Não que, antes dele, não houvesse teorias da ação, mas ela nunca foi tão determinante, quanto no finalismo.
71
pedro dourados.indd 71 16/10/2012 12:14:33
críticas, a de Jakobs e a Roxin que serão agora trabalhadas. Jakobs criticou, na
finalidade de Welzel, o esquecimento do sentido enquanto algo de social, e não
meramente individual e Roxin, sua crítica mais eficaz, foi no sentido de uma re-
provação ao Sistema fechado gerado pelo poder centralizador da ação final que
“ignora”, por exemplo, a política-criminal.
Nossa leitura crítica do trabalho de Welzel, realizaremos em 4 pontos:
1. O “inchaço” do conceito de ação, que gerou seu correlato esvaziamento
e contra o qual se levantou, por exemplo, a teoria da imputação objetiva;
2. A introdução de um tempo paralelo ao da realidade, o tempo da ação, que
corresponde à realidade “lógico-objetiva” e força a geração de um Sistema
também paralelo;
3. A despersonalização do conceito de ação em Welzel, que é, desde o início,
o prelúdio de um conceito despersonalizado de delito que se concretiza,
hoje, com as leituras cibernéticas de que fizemos referência e, por fim,
4. A desfiguração da noção de “valor” que proporciona a teoria da ação final.
5.e.1 Direito Penal para além da ação
É bastante conhecida a repercussão acadêmica do conceito de ação final, tal
qual proposto por Welzel (cf. CEREZO MIR, 2004; BUSATTO, 2010; BITTEN-
COURT, 2010). Esta repercussão deu-se muito mais, entretanto, tendo como
partes adeptos da ação final de um lado e adeptos da ação causal de outro – em
praticamente nenhum momento, houve uma crítica à teoria da ação.
Se é certo, diga-se, que o conceito de ação é de extrema importância para
o Direito Penal (ainda que desconfigurado sob o conceito de “organização do
comportamento”, por exemplo), é também certo que os conceitos dogmáticos,
per se, não limitam o Direito Penal. A racionalização extrema proporcionada pelo
conceito de ação final, a partir de Welzel, levou tudo, na dogmática e, a fortiori,
no Direito Penal, a se resumir à ação final.
Adorno e Horkheimer, porém, já anunciavam (mas não que tenham sido os pri-
meiros, ou os únicos) que “a semelhança perfeita é diferença absoluta” (ADORNO,
HORKHEIMER, 1985, p. 120). Um conceito completo de ação deve, sim, como
aponta Roxin (1997), ter um poder unificador; o que ainda não quer dizer que deve
abranger todas as demais categorias e resumir todos os problemas a si.
Esse afã de compreensão, no sentido de que tudo seja compreendido pelo
conceito, é um afã de dominação que leva, não obstante, ao seu extremo oposto
dialético: ao esvaziamento.
No finalismo, a ação final é a porta de entrada e a porta de saída do Direito
Penal: a partir deste momento ela se torna a única abertura, pela qual passa muito
72
pedro dourados.indd 72 16/10/2012 12:14:33
mais do que se deseja, no caso de um Direito Penal mínimo, por exemplo137. O fato
de que a ação final complica-se para explicar o crime culposo não foi um problema
para Welzel, enquanto o seu conceito ainda se mantivesse lá, mesmo que fosse
inútil para explicar a natureza da culpa ou da omissão, como hoje bem se sabe138.
Cremos que foi contra essa despotencialização do conceito de ação que
Roxin apelou para a funcionalidade da teoria da imputação objetiva, a qual os
finalistas com grande acerto, enxergam como um adendo à teoria da tipicidade,
não muito diferente – apesar de não idêntica – à teoria da adequação social, nas-
cida no seio do pensamento de Welzel (GARCÍA MARTIN, 2007, pp. 44 e ss.
Ver também COELHO, 2006, pp.80 e ss.).
Tanto a imputação objetiva quanto a adequação social retiram da análise da
“ação” partes constituintes do delito. A imputação objetiva, como teorizada por
Roxin, ao fazer uma análise detalhada dos riscos e das potencialidades de lesão
ao bem jurídico e ao analisar, conjuntamente, o “âmbito de proteção da norma”
(ROXIN, 1997), retira todo um material da leitura da “ação” como sendo um
crime. Em Roxin um crime é, sim, uma ação, mas uma ação que somente pode
ser dita crime, após conferidos os crivos da imputação objetiva. Como ensina Co-
elho, reportando-se à teoria do delito de Roxin (2006, p. 87): “em sua relação in-
trínseca com a causalidade, a categoria central na definição do injusto penal não
é mais [...] a realização do resultado ou a finalidade da ação [...] mas a realização
de um risco não permitido” – realização, somaríamos, por meio de uma ação.
De modo similar, a adequação social olha para uma ação final que é típica,
em sentido estrito, antijurídica e culpável e fala que, por ser socialmente ade-
quada, esta ação não é um crime. Ou seja, crimes socialmente adequados (pois
ações finais típicas, [...] são crimes) não são crimes (?). Essa incoerência é, porém,
benfazeja, e tem sido melhor trabalhada pela doutrina, a fim de justificá-la, pe-
rante sua gritante necessidade para corrigir um excesso (ou uma falta) não obser-
vado pela toeira da ação final.139
137 Lembramos que a ação final não é, nem precisa ser, uma teoria compromissada com uma concepção de
Democracia nem, sequer, com uma teoria do bem jurídico, já que, o principal é, para ela, o desvalor da ação.
138 No finalismo, o crime culposo é realizado por meios outros que pela ação final, ou seja, em um crime
culposo há um agente que age finalisticamente, mas a “ação” que gera o crime não é uma ação final em
direção ao crime, pois a concepção de finalidade está muito próxima da orientação voluntária do resultado
dos crimes dolosos. Ainda assim, porém, a ação final está lá, nos crimes culposos, como sendo a origem da
ação não final que gerou o crime culposo, de modo que a teoria torna-se inútil para explicar a natureza do
crime culposo em si. Fora isso, some-se a complicação da teoria para explicar o crime omissivo, no qual
não há causalidade ontológica entre os acontecimentos e, logo, é impossível pensar em direcionamento
final da causalidade em um crime omissivo, de modo que, como afirma D’Avila (2003, p. 10): “logo, não
há na omissão uma ação em sentido final”.
139 Cf. Para aprofundamentos no assunto, consultar SILVEIRA, Renato M. J. Fundamentos Da Adequação
Social Em Direito Penal. São Paulo: Quartier Latin, 2010, v. pp. 305 e ss.
73
pedro dourados.indd 73 16/10/2012 12:14:33
5.e.2 O Tempo da Ação
Como demonstramos acima, o mito e o símbolo possuem uma relação especial
com a noção de Tempo, e isso também é importante para a análise que dele fazem
Adorno e Horkheimer (Cf. ADORNO, HORKHEIMER, 1985, pp. 47, 50, 70).
Assim, afirmamos que o mito é a-histórico e semanticamente fixo. Isso quer dizer
que, dentro da narrativa mítica, ela assume um tempo próprio, o qual somente pode
ser compreendido se o intérprete deslocar-se de seu próprio tempo e imergir no
tempo mítico, adentrar o enredo e desligar-se do processo histórico, quer seja este
visto como teleológico (Hegel, Marx) que como estrutural-revolucionário (Khun,
Levi-Strauss) e, a esse evento, demos o nome de experiência ou experimentação.
Entendemos que a teoria da ação final ofertou tanta força para tal conceito
que ele arrasta o crime enquanto um fato social que não foge do cotidiano da so-
ciedade para um tempo próprio, para uma realidade própria, cujas consequências
serão desenvolvidas mais à frente.
O principal, que gostaríamos de ressaltar agora é que, a partir do momento
que o crime é visto como uma ação final, a qual é uma mutação na realidade
“lógico-objetiva”, o conceito de crime se vê afastado miticamente da realidade
social entendida enquanto facticidade, enquanto espaço público amplamente
acessível – estamos, aqui, por meio da ação final, muito próximos daquela conhe-
cida máxima, que é a confissão mítica do Direito, a qual afirma que “o que não está
nos autos, não está no mundo”.
5.e.3 Ação despersonalizada
A guinada cibernética prevista por Welzel e realizada por Jakobs não é uma
mudança de paradigma ex nihilo. É preciso entender que a guinada cibernética,
que Welzel somente pretendeu realizar, seria nada mais nada menos que os des-
dobramentos das aporias da própria teoria da ação final.
Isso não quer dizer que Welzel iria abandonar sua obra e ir a um sentido
completamente contrário; muito longe disso, isso quer dizer que Welzel iria radi-
calizar as conclusões de seus pensamentos.
Vejamos o seguinte exemplo de inexigibilidade de conduta diversa: um
homem é levado a matar outro homem, porque um terceiro lhe ameaçava com
uma pistola na cabeça. Neste caso, há uma ação de matar, no sentido finalístico,
atribuído àquele que puxa o gatilho. Este homem poderá, certamente, ser descul-
pado. O que não quer dizer que sua ação não tenha sido culpável, principalmente
se formos analisar o ponto de partida onde Welzel busca a finalidade: no agente,
no seu livre-arbítrio. Em última instância, o agente somente poderia ser des-
culpado se em sua consciência final ele se considerasse um não-agente daquela
morte; se, em última instância, o seu livre-arbítrio não tivesse sido “usado” – e
isso está bem distante de ser o caso.
74
pedro dourados.indd 74 16/10/2012 12:14:33
Supondo que este homicídio realmente ocorresse, se alguém tivesse que des-
culpar o atirador, não seria si mesmo, mas outrem. O perdão, ainda que seja dado
na esfera da culpabilidade, é de caráter normativo e social, pois pressupõe uma
relação entre pessoas. Perdoar-se a si mesmo é, neste sentido, uma impossibili-
dade (ARENDT, 1998).
O homem que puxou o gatilho cometeu uma ação final de matar, com
todos os requisitos necessários, mas se cometeu, ou não, um homicídio, isso de-
pende de relações normativas que transcendem o sentido imputado à ação pelo
seu caráter final, e esta é a crítica que Jakobs faz a Welzel.
O erro de Jakobs é colocar tudo o que é significativamente relevante na
esfera social, adotando, neste ponto, a cisão luhmanniana entre Sistema Social
(comunicação) e Sistema Psíquico (pensamento). Cremos que o sentido atribu-
ído ao crime não pode ficar nos extremos desta análise.
Esta aporia interna da teoria da ação final faz com que todos os crimes,
cometidos finalisticamente, adotem – para aquele que analisa o crime “de fora”,
como, por exemplo, o juiz – um caráter de universalidade e de singularidade ao
mesmo tempo e esta é a maior incoerência da teoria de Welzel, pois despersona-
liza a ação – que deveria ser, sempre, ação humana (WELZEL, 2009).
Por exemplo: ao fazermos uma simples pesquisa de jurisprudência no site do
Tribunal de Justiça de São Paulo, descobrimos que 15327 casos de “furto” (sim-
ples, qualificado e de coisa comum) foram julgados na capital do Estado de São
Paulo entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2010.140 Pressuponhamos que
todos estes casos envolvam apenas autores singulares (sem co-autorias, participa-
ções). Neste caso, houve uma única finalidade de furto atuante em 15327 pessoas
diferentes, sendo que a finalidade é uma propriedade muito íntima do homem,
advinda de uma “psicologia do pensamento” (WELZEL, 2009, v. Prefácio); mas,
ainda assim, pressupõe-se uma homogeneização universal que toque todos os
casos particulares de furto, ignorando suas especificidades e complicações únicas,
que tornam único cada singular caso de furto.
Neste sentido, Welzel continua afirmando que a finalidade é finalidade do
agente, mas é, também, finalidade de todos os agentes e agentes em potencial –
pois é uma mesma finalidade que o tipo (que é único) pune e concretiza no in-
justo (o qual é, por sua vez, pessoal).
Neste sentido existem inúmeros injustos pessoais, mas a ação final de fur-
tar é como que posta em suspensão universal, ou, como diria Hegel, é suprassu-
mida141, e a ocorrência individual é somente um momento da existência universal
e conceitual do furto. Acerca da particularidade nos tempos de capitalismo pós-
-industrial, Adorno e Horkheimer falam:
140 A consulta foi feita em 30 de junho de 2011, e pode ser facilmente conferida ou refeita em: https://esaj.
tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=B987E026126CB9E67401645342D8D83B.
141 “Suprassumir” é a tradução adotada para a complexa palavra Aufhebung no interior da filosofia de Hegel.
A mesma palavra fora traduzida por “surprimer” em francês.
75
pedro dourados.indd 75 16/10/2012 12:14:33
Quem morre é indiferente, o que importa é a proporção das ocorrências relati-
vamente às obrigações da companhia. É a lei do grande número, não o caso
individual, que se repete sempre na fórmula. A concordância do universal
e do particular também não está mais oculta em um intelecto que per-
cebe cada particular tão somente como caso do universal e o universal tão
somente como o lado do particular pelo qual ele se deixa pegar e manejar.
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, pp. 73-4, grifo nosso).
Assim a teoria da ação final pressupõe – erroneamente – que todo crime
adapta-se aos seus padrões, e particulariza o universal, o que gera “esvaziamento”
mesmo do conceito, que já não serve para muito no seio da análise criminal. A
teoria, de certo modo, pressupõe que todo caso prático adapte-se aos seus esque-
mas, antes do contato real com tal caso, o que gera um conceito “universal” e
despersonalizado de ação, que é, a cada vez “re-personalizado” à força quando
um crime fatidicamente ocorre.
A despersonalização da ação é, portanto, o primeiro indício de um Direito
Penal calcado em um conceito impessoal de comunicação, ou completamente
despersonalizado de crime em um contexto de existência cibernética.
5.e.4 O esvaziamento dos valores
Há algo de formal em todos os Sistemas; algo de formal em detrimento de
conteúdo.
Ao fazer uma teoria do crime em que o crime é aquilo que se encaixa em
um modelo analítico-fenomenológico, uma pretensão de análise objetiva de uma
existência concreta expulsa de sua metodologia aquilo que ficou conhecido pelos
séculos do pensamento Humano como “juízo de valor”.
O mérito desta crítica é, certamente, de Roxin. A crítica, como sabemos,
Roxin estende-a, não somente a Welzel, mas retorna à separação que Von Lizst
realizou entre Dogmática Científico-criminal e Política Criminal (BUSATTO,
2010), aquela neutra, analítica e esta valorativa.
Esta cisão é um problema recorrente nas Ciências Humanas que ainda não
foi completamente superado (HABERMAS, 2009a). Lembramos que em Jakobs
o Direito Penal não se confunde com a Política Criminal (JAKOBS, 2003c).
O fato de a ação final englobar o crime, mas arrastá-lo para um tempo pró-
prio, é o fato que exige a criação de um sistema próprio, isolado de todo o resto.
Esta separação é, entretanto, uma ilusão, pois o conceito de ação final não con-
segue absorver todos os aspectos do crime, como vimos acima, e nem resumir, em
si, o Direito Penal, sendo um conceito que trabalha em complementariedade com
outros (adequação social, imputação objetiva).
O Sistema isolado não ignora a existência dos valores, pelo contrá-
rio, reconhece-os em uma categoria central da análise tripartida da ação: a
76
pedro dourados.indd 76 16/10/2012 12:14:34
antijuridicidade. Como dissemos, porém, o valor que a Antijuridicidade tem em
mira é um valor ontologizado e, por isso mesmo, desvalorizável. Ao tornar-se um
fato, um objeto, um ente para o Sistema, ele pode falar sobre valores sem fazer
juízos de valor, o que é uma ilusão de ciência pura.
A linguagem do finalismo passa a ser, então, uma ilusão de pureza analí-
tica, ainda que reconheça a existência dos valores. “Ao invés de trazer o objeto
à experiência, a palavra purificada serve para exibi-lo como instância de um as-
pecto abstrato, e tudo o mais, desligado da expressão (que não existe mais) pela
busca compulsiva de uma impiedosa clareza, se atrofia também na realidade”
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 136) e, aqui, o objeto em questão é o
próprio valor, o que torna a clareza nadificada ainda mais grave.
5.f Conclusão
Welzel, ao fazer da ação final não somente o pólo racional da teoria do
delito, mas também o centro de toda a sua justificação social e filosófica para o
Direito Penal, deformou o conceito exigindo de mais de sua forma original, que
nasceu como questionamento da “ação causal” em crimes de tentativa, e atingia,
após alguns anos de formulação teórica, mesmo os crimes culposos que ela jamais
explicou satisfatoriamente.
Não bastante, o conceito de “finalidade”, apesar de se referir, para Welzel, a
uma característica própria do homem, assume um papel universal e deve se encai-
xar a todo tipo de crime e a toda situação (comissiva/omissiva, dolosa/culposa),
para todas as pessoas, o que faz com que a ação final – que deveria frisar o papel
pessoal do agente – se despersonalize e se desvalorize (requisito essencial de um ele-
mento para ser tão abrangente). Esse esvaziamento do conceito abriu portas para
uma “automatização” biocibernética do sistema penal, em que a relação ação-pena
se torna automática como no funcionamento ideal de uma máquina fechada.
Por último, o conceito de injusto pessoal força uma repersonalização da
ação final, em cada caso concreto, mas isso não gera uma real personalização do
evento crime e sim uma abstração do mesmo, que é transformado para adaptar-
-se aos critérios de análise dogmáticos a posteriori (tipicidade, antijuridicidade,
culpabilidade, etc.) e isso abre a porta para a mitologização do evento criminoso,
como abordaremos mais profundamente à frente.
Passamos, agora, para a análise do papel da ação enquanto comunicação
socialmente relevante em Jakobs.
77
pedro dourados.indd 77 16/10/2012 12:14:34
78
pedro dourados.indd 78 16/10/2012 12:14:34
Günther Jakobs:
comunicação instrumental, organização
do comportamento e Direito Penal
do inimigo
A guinada comunicacional empreitada por Günther Jakobs segue à risca
o desenvolvimento mais moderno da Teoria do Direito e possui grandes seme-
lhanças com algumas conclusões de Habermas e, principalmente, de Luhmann,
apesar de Jakobs não poder ser chamado simplesmente de um “luhmanniano do
Direito Penal” (cf. JAKOBS, 2003c, p. 2 e ss.).
Jakobs não se prende a Luhmann em termos de teoria do Direto: é em Hegel
que ele vai buscar inspiração (JAKOBS, 2003a), autor para quem a pena seria
“violação da vontade (vontade existente)” do criminoso, de modo que “lesar
esta vontade como vontade existente é suprimir o crime, que, de outro modo,
continuaria a apresentar-se como válido, e é também a restauração do direito”
(HEGEL, 1997, pp. 87 e 88).
A teoria da pena que Hegel desenvolve na sua Filosofia do Direito, porém, não
pode ser lida de maneira isolada do todo da sua produção intelectual e de seu pen-
samento sistêmico-dialético. Vimos, acima, um pouco acerca dos pensamentos
iniciais de Hegel na Fenomenologia. Apesar de esta ser uma obra de juventude, en-
quanto os apontamentos hegelianos acerca do Direito serem de uma época de ma-
turidade, há um todo coerente a ser apontado: a relação com o Espírito Absoluto.
A “fenomenologia do espírito” é, justamente, a observação que o filósofo faz
(logo, fenomenologia) do caminhar do Espírito que deixa as esferas imediatistas da
consciência individual até ser reconhecimento recíproco de pessoas para, em última
etapa, ser o Espírito em-si e para-si: plena manifestação da atividade espiritual em
que o homem é apenas um “momento”; o todo e, logo, o verdadeiro; o próprio saber
absoluto manifestado na forma de conceitos “suprassumidos” (HEGEL, 2008).
É no quadro deste “todo” – do qual o “Estado” enquanto aplicador da etici-
dade do Direito é um dos elementos de maior relevância – que a teoria da pena
deve ser compreendida: não cabe, no todo do Espírito Absoluto, uma negação
não absorvida pelo Sistema, não cabe uma diferenciação não neutralizável, pois,
se assim fosse, o todo seria o “todo menos o crime”, logo, não seria mais o todo142.
É – não somente, que fique claro – por esta razão que a etapa de “reconciliação”
é imprescindível na dialética hegeliana.
142 “Ao contrário: o saber consiste muito mais nessa aparente inatividade que só contempla como o diferente
se move nele mesmo, e retorna à sua unidade” in HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis:
Vozes, 2008, p. 542.
79
pedro dourados.indd 79 16/10/2012 12:14:34
Habermas (1999, pp. 464-506)143, afirma que a metafísica de conciliação vai
tocar inúmeros pensamentos filosóficos, passando por Feuerbach, Marx, Lukács
e a Teoria Crítica ao outro extremo, os chamados hegelianos de direita como o
constitucionalista Carl Schmitt144. Habermas sopesa, entretanto, que na moderna
teoria dos sistemas, Luhmann substituiu o “sujeito” pelo “sistema” e o “objeto”
pelo “ambiente” (HABERMAS, 1999, pp. 500 e ss.) e, diminuindo a capacidade
analítica do sistema (clausura operacional, delimitação pelo sentido [Sinn], có-
digo binário, entre outros) eliminou a plena reconciliação das perspectivas possí-
veis, radicalizando o paradigma kantiano do conhecimento fragmentado.
Neste ponto, justamente, Jakobs parece permanecer mais com Hegel que
com Luhmann145. A pena, em Jakobs, é um “remédio” dado a uma falha de comu-
nicação – o crime – reestabelecendo a comunicação lesada da norma penal (que
vedava a determinada conduta criminosa) com a sociedade, reforçando, assim,
expectativas normativas.
É partindo desta teoria da pena que Jakobs vai pensar o Direito penal, com
alguns traços próprios que resumimos, a fim de estudos da ação humana no Di-
reito Penal, a três pontos: a) o Direito Penal é agora visto como comunicação e,
neste contexto, a norma penal já é comunicação e a sua infração é uma falha no
processo comunicativo; a pena, neste contexto, é instrumento que visa a resta-
belecer a comunicação lesada (JAKOBS, 2003c); b) a comunicação não é una,
mas divide-se em comunicação instrumental e comunicação pessoal, sendo que o
conceito de pessoa é normativo e constitui uma abstração do sistema jurídico146,
não constituindo uma “real pessoa” de carne e ossos (idem, ibidem); c) a ação hu-
mana é lida também como uma comunicação e a infração que quebra a lei penal
é vista como uma “organização do comportamento” (JAKOBS, 2003b) que fere a
comunicação estabelecida pela norma penal deslegitimando o sistema.
Estes três pontos serão agora abordados e, posteriormente, submetidos ao
processo crítico da dialética do Esclarecimento.
143 Sobre a presença da reconciliação no objetivismo ideal de Hegel, Habermas afirma: “El objetivismo de
la teoría de Hegel radica en su carácter contemplativo, es decir, en que los momentos en que la razón se
disocia sólo vuelven a quedar unificados en la teoría, manteniéndose la filosofía como el lugar en que a la
vez se cumple y consuma la reconciliación de esa totalidad que se há vuelto abstracta, en que el concepto
se asegura de su obra reconciliadora” in: HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa. Tomo I,
Madrid: Trotta, 1999. P. 464.
144 Efetivamente, o conceito de “exceção” em Carl Schmitt abre porta para essa reconciliação pois o poder
daquele que no tempo de exceção é capaz de agir torna todos os tempos indiferenciados – e, portanto,
unificados – sob o poder deste mesmo que domina o tempo de exceção.
145 Para um aprofundamento sobre a aproximação aparente de Jakobs com Luhmann e a filiação daquele
com a filosofia de Hegel, recomendamos a tese: O Sentido Operacional dos Conceitos de Pessoa e Inimigo em
Direito Penal de DINIZ, Eduardo Saad. Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia,
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.
146 Lembramos que Habermas realiza uma cisão semelhante quando afirma que há, na sociedade, o Sistema,
que conhece somente a ação com respeito a fins, e possui como media o “poder” e o “dinheiro” e o Mundo
da Vida, onde as pessoas agem comunicativamente, interagindo em busca do entendimento recíproco.
pedro dourados.indd 80 16/10/2012 12:14:34
6.a Direito Penal como comunicação: instrumentalidade
funcional neutra e o conceito de pessoa
Como visto acima147, para Luhmann a sociedade é, essencialmente, comu-
nicação. Com isso tem-se a polêmica conclusão de que os indivíduos e seus res-
pectivos corpos não estão na sociedade, no sistema social, mas constituem, para
ela, ambiente. Uma comunicação, frise-se, não é um processo humano, já que em
Luhmann homens não comunicam, apenas a comunicação comunica (BASTOS,
2007)148. Já o próprio Luhmann, porém, trabalha a comunicação a dois níveis, o
instrumental e o pessoal e esta divisão é ponto central na dogmática de Jakobs.
Jakobs afirma que o Direito Penal “não se desenvolve na consciência indivi-
dual, mas na comunicação. Seus atores são pessoas (tanto o autor como a vítima
e o juiz) e suas condições não são estipuladas por um sentimento individual, mas
pela sociedade” (JAKOBS, 2003c, pp. 44-5). Jakobs enxerga, porém, que no
atual estado de desenvolvimento e alta complexidade (termos lidos, aqui, em
sentido luhmanniano), a adoção do paradigma hegeliano da pena não significa,
necessariamente, adotar o delinquente como “uma pessoa que, como igual, ex-
pressa um sentido que tem validade geral e que se vê contraditório com a pena”
(idem, ibidem, p. 45); pois, de certo modo, a pena, conforme a definição de Hegel
é a negação da negação do direito e, logo, a posterior afirmação do direito.
O que Jakobs critica a Hegel é a separação entre a “execução” do “não-
-direito” com a pessoa que o executou, ou melhor, a pessoa a quem se imputa
a execução do não-direito, do crime, por exemplo149. Assim, Jakobs pretende
estender os efeitos do restabelecimento da comunicação (a pena) não apenas ao
Direito (ou seja, reafirmando o ordenamento), mas também à pessoa que execu-
tou a falha na comunicação150.
147 Item 3 deste trabalho.
148 Cf. http://www.compos.org.br/files/21ecompos09_MarcoToledoBastos.pdf, acessado em 24 de maio de 2011.
149 Hegel podia enxergar o crime como algo em separado da pessoa que o cometera por causa da lógica do
Espírito Absoluto. O crime era pensado como um conceito objetivamente existente e visível para uma
lógica do Espírito atuante pelo Estado – é o que se caracteriza, como diz Luckács, idealismo objetivo.
“The finitude of the subjective Will in the immediacy of acting consists directly in this, that its action
presupposes an external object with a complex environment. (…) The truth of the single, however, is the
universal; and what explicitly gives action its specific character is not an isolated content limited to an
external unit, but a universal content, comprising in itself the complex of connected parts” in HEGEL, G.
F. W., Philosophy of Right, Chicago: Oxford press, 1952, pp. 42-3. Por outro lado, o Sistema do Direito faz
com que a rebeldia do crime seja apaziguada e suprassumida na pena, seguindo do mesmo princípio pre-
sente na Enciclopédia (1995, p. 229-230): “a essência é somente pura identidade e aparência em si mesma,
enquanto é a negatividade que se refere a si mesma, e por isso [o] repelir-se de si mesma; contém assim
essencialmente a determinação da diferença”.
150 Este ponto é central para os estudos do Direito Penal do inimigo, já que, na lógica da teoria de Jakobs, a
cobrança da realização do direito ou a pena por seu descumprimento (dever positivo ou dever negativo, na
sua terminologia) é inseparável da cobrança que se exerce diretamente na pessoa, da onde o Direito Penal do
inimigo ser, quase, uma decorrência lógica de uma teoria radical da imputação que lê ação como comunicação.
81
pedro dourados.indd 81 16/10/2012 12:14:34
Para realizar este empreitada, Jakobs afirma que é preciso diferenciar, assim
como o fez Luhmann, a comunicação instrumental da pessoal, não para “determi-
nar o predomínio de um dos tipos de comunicação, mas [para] que ambos os tipos
sejam separados limpamente, mesmo quando na vida cotidiana se entrelacem
estreitamente” (idem, ibidem, p. 58).
Jakobs define a distinção desta forma:
A comunicação instrumental pode ser definida da seguinte maneira: a comuni-
cação pode servir a alguma finalidade ou não, mas, em todo caso, o partici-
pante não se encontra obrigado a nada (e, portanto, nessa comunicação tam-
pouco é pessoa). Essa comunicação é comparável ao trato com uma máquina:
a máquina não tem direito a ser utilizada de forma correta. Na comunicação
pessoal, ao contrário, o outro é algo mais que o objeto de um cálculo estraté-
gico, é um igual, uma pessoa em Direito [...].
(JAKOBS, 2003c, p. 46, grifos nossos).
A comunicação instrumental, assim como a já citada razão instrumental, é
semelhante à formulação hegeliana de ação racional: ação com respeito a fins. Deste
modo, a comunicação instrumental é a comunicação em que o agente enxerga todo
o não-eu como objeto, inclusive outros agentes ou agentes em potencial e, de certo
modo, a própria sociedade torna-se um objeto manipulável, neste ponto de vista.
Neste primeiro tipo de comunicação, o outro (caso haja um) é visto como
um objeto, mas não somente por isso deixa de ser pessoa (para uma possível co-
municação pessoal). O conceito de pessoa em Jakobs é uma herança do conceito
de Kelsen (1999): a pessoa é um conceito que pertence ao sistema jurídico; é um
conceito comunicacional e, logo, difere do agente humano, do indivíduo. Veja-se
a concepção kelseniana de pessoa:
Em que consiste então o fato de que a teoria tradicional caracteriza com a afir-
mação de que a ordem jurídica empresta ao indivíduo ou a certos indivíduos
a personalidade jurídica, a qualidade de ser pessoa? Nada mais nada menos
que na circunstância de a ordem jurídica impor deveres e conferir direitos aos
indivíduos, quer dizer: no fato de fazer a conduta dos indivíduos conteúdo de
deveres e direitos. “Ser pessoa” ou “ter personalidade jurídica” é o mesmo
que ter deveres jurídicos e direitos subjetivos. A pessoa, como “suporte”
de deveres jurídicos e direitos subjetivos, não é algo diferente dos deveres
jurídicos e dos direitos subjetivos dos quais ela se apresenta como portadora
- da mesma forma que uma árvore da qual dizemos, numa linguagem substanti-
vista, expressão de um pensamento substancializador, que tem uni tronco, bra-
ços, ramos, folhas e flores não é uma substância diferente deste tronco, destes
braços, ramos, folhas e flores, mas apenas o todo, a unidade destes elementos.
(KELSEN, 1999, p. 121, grifo nosso).
82
pedro dourados.indd 82 16/10/2012 12:14:34
Assim, é a capacidade de ser pessoa que define a pessoa, ou seja, é o pro-
cesso de imputação efetivo que qualifica uma pessoa, no Direito: “com outras
palavras, do ponto de vista da sociedade não são as pessoas que fundamentam
a comunicação pessoal a partir de si mesmas, mas é a comunicação pessoal que
passa a definir os indivíduos como pessoas” (JAKOBS, 2003c, p. 56), daí a con-
clusão sintética: “por isso a comunicação não instrumental é uma comunicação
pessoal” (idem, ibidem, p. 55).
As conceituações vão se realizando, pois, a fortiori: define-se comunicação
instrumental, por diferenciação, define-se comunicação pessoal, esta, por sua vez,
determina e qualifica quem são as “pessoas”, por tabela de sua própria existência.
6.b. Ação é comunicação: crime é comunicação
A comunicação não é totalmente objetiva em Jakobs, pois, este, diferen-
temente de Luhmann, afirma que as expectativas encontram-se, em última ins-
tância, nos indivíduos (JAKOBS, 2003b)151. Isto é, em parte, o que garante que
nunca se possa diferenciar totalmente comunicação instrumental de pessoal,
pois, em última instância, elas podem se fundir na manutenção de expectativas
de um grupo de indivíduos, olhados individualmente.
Assim, em Jakobs, uma pessoa que comete um crime age, mas esta ação so-
mente nos interessa enquanto comunique algo de relevante para o Sistema Penal.
É importante frisar que trabalhar com o conceito de ação de Jakobs é trabalhar
com sua teoria da imputação objetiva, “sendo que se trata de um só problema
[ação e imputação objetiva], isto é, que a teoria da relação específica de impu-
tação objetiva pontualiza o conceito de ação” (JAKOBS, 2003a): em Jakobs a
imputação objetiva é imputação objetiva da ação.
Já que é imputação (relação de ser/dever-ser), não pode ser exclusivamente
ontológica, mas normativa. Jakobs aponta que Welzel, ao introduzir o conceito de
“finalidade” na dogmática da ação, realizou o feito de identificar a ação com seu
significado (idem, ibidem, pp. 53 e ss.), mas errou ao sobrevalorizar o significado
pessoal, enquanto que o determinante é a valoração social, ou, em seus dizeres,
um “esquema social de interpretação” (idem, ibidem, p. 56). Jakobs resume sua
teoria da seguinte maneira:
Somente se a ação se entende não como elemento natural, no âmbito da
imputação, e sim como conceito que, por sua vez, tenha se determinado pela
imputação, a ação se converterá no que deve ser: uma tomada de postura
151 Diferente, pois entendemos que Jakobs se refere a expectativas no sentido pscicológico do termo, expecta-
tivas dos indivíduos, sim, mas que se encontram nos indivíduos mesmo, talvez similar com o funcionalismo
de Durkheim neste ponto. A expectativa de Luhmann tem, obviamente, relação com o sujeito concreto,
mas não com seu psicológico, e, sim, com um processo de aprendizagem, onde aprende-se (o que já é um
processo não exclusivamente psicológico) a absrover alguns tipos de frustações (que geram expectativas
cognitivas) e a reagir a outras, cuja frustação não é admissível (que geram expectativas normativas, ou
seja, estas já são uma construção social, pois “entram” no indivíduo, pela aprendizagem).
83
pedro dourados.indd 83 16/10/2012 12:14:34
relevante no plano da comunicação, uma expressão de sentido comuni-
cativamente relevante.
(JAKOBS, 2003a, p. 59, grifos nossos).
A ação pode ser, pois, comissiva ou omissiva, não importa, sendo mais im-
portante saber se o dever a que estava vinculada a pessoa era um dever positivo
ou negativo (JAKOBS, 2003b), discussão sobre a qual não nos delongamos aqui.
Havendo uma tomada de postura que infrinja uma norma que imputava a
uma pessoa um dever, esta pessoa comunica para a sociedade, na verdade, que
não reconhece a vigência da norma: “o conceito de ação também pode se definir
em função desse resultado, e então a definição é esta: não reconhecer a vigência
da norma” (idem, ibidem, p. 63).
Com esta teoria da ação enquanto comunicação, Jakobs pretende afirmar
que “o Direito Penal moderno não toma como ponto de referência movimentos
corporais de indivíduos ou a ausência desses, mas o significado do comporta-
mento das pessoas” (JAKOBRS, 2003b).
Como o crime comunica? A organização do comportamento (comissiva ou
omissiva) que gera resultados no mundo social é por este acolhida já como um
processo comunicativo e por ele será respondido também por meio de comunica-
ção: por meio da pena, conforme vimos acima.
6.c Resumo: crime como ação em Jakobs
O agente tem liberdade (presumida) de organização do comportamento.
Esta organização do comportamento deve estar sempre de acordo com os precei-
tos regidos pelas normas penais de uma sociedade. Caso esta organização esteja
em desacordo com um dever instituído penalmente, ela estará, na verdade, co-
municando ao sistema que não aceita sua vigência, que renega os princípios que
a embasam e que deseja impor sua própria vontade organizadora como vigente.
O sistema, por sua vez, absorve a comunicação desviante como uma falha,
mas uma falha planejada, esta falha que interrompeu a comunicação entre o
agente e a sociedade põe o próprio sistema em risco, de modo que este corrige o
desvio de comunicação pela “negação da vontade (vontade existente)” do cri-
minoso, aplicando-lhe a pena: vê-se extinto o crime. Extinto o crime, o sistema
prova que mantém a vigência da norma infringida e garante, assim, a manuten-
ção das expectativas nele embasadas.
6.d. Crítica Dialética
Primeiramente, descontruímos a sequência que implica a teoria de Jakobs
nos seguintes pontos para serem criticados:
84
pedro dourados.indd 84 16/10/2012 12:14:34
1. O crime é uma ação que é, por usa vez, organização do comportamento. A
organização do comportamento é dependente do conceito de “pessoa”, já
que pessoa é um conceito jurídico e indivíduo não.
2. A organização que constitui crime rejeita a vigência de uma norma espe-
cífica
3. A rejeição da vigência da norma é lida pelo Sistema jurídico-penal como
sendo uma falha na comunicação
4. O Sistema absorve a falha e responde por meio da pena
5. A pena nega a falha e restabelece a comunicação
6. Este processo é sistêmico e termina com a reafirmação da vigência do Sis-
tema (que garante, a fortiori, as expectativas da sociedade).
Critiquemos, agora, os pontos.
6.d.1 A instrumentalização da pessoa (ponto 1)
A teoria de Jakobs diferencia a comunicação instrumental da pessoal e nos
permite enxergar duas áreas de impactos da organização do comportamento. A
organização do comportamento, mesmo que possa ter consequências instrumen-
tais é sempre pessoal, ainda que para fins de uma comunicação instrumental, ou
seja, é sempre uma pessoa, em sentido kelseniano-jakobsiano que age; que orga-
niza o comportamento152.
Esta concepção de ação enquanto organização do comportamento é, sem-
pre, dependente de uma pessoa que vem junto. Não há organização do comporta-
mento sem pessoa e vice-versa. Pessoa, porém, não é indivíduo. A palavra persona
é a expressão latina que significa “máscara”, usada em um contexto lúdico-teatral
específico: é uma faceta da individualidade projetada no palco, no caso, na socie-
dade. Acreditar que a persona existe sem o indivíduo, não obstante, é mera ilusão.
O conceito de “pessoa”, em Jakobs, leva em consideração somente alguns
“papéis” do indivíduo, descartando a “totalidade” de sua constituição: muito si-
milar com os primeiros processos miméticos de antropomorfismo que faziam com
que o homem “projetasse o subjetivo na natureza” (ADORNO, HORKHEIMER,
1985, p. 19). Os homens abandonavam parte de sua humanidade e afirmavam
sua animalidade para reaproximar-se da natureza. Como vimos acima, o objetivo
desta estratégia era nada mais nada menos que a “dominação da natureza” (cf.
item 4.b.1.1 deste trabalho). Aqui, porém, a pessoa, ou seja, a parte do homem
152 “Inimigos” nascem no momento em que sua capacidade de “comunicação pessoal” é negada e, neste mo-
mento, são como máquinas ou animais capazes de agir instrumentalmente e podem ser, ainda, “objetos de
direito”, mas não mais “sujeitos” – para lembrar o “escravo” no ponto de vista de Kelsen.
85
pedro dourados.indd 85 16/10/2012 12:14:34
que se mantém para sua introdução no Sistema não é definida pelo próprio
homem; é, como vimos, uma consequência do próprio Sistema: é dominação,
sim, mas não do homem sobre algo, e sim do Sistema sobre o homem.
O homem a que o sistema não presentear com a comunicação pessoal, com
a atribuição de direitos e deveres, não é pessoa; não sendo pessoa pode ser qual-
quer coisa que o sistema lhe imputar, como, por exemplo, inimigo.
Estranho é que o conceito de “pessoa humana” – que vem sendo paulatina-
mente aperfeiçoado pelo constitucionalismo desde a divagação de Kant na Metafí-
sica dos Costumes – carrega consigo a ideia central de que a capacidade para integrar
o direito já está no indivíduo, lhe é intrínseca e não depende de aceitação do sistema,
por isso os homens tem dignidade e não valor, na famosa diferenciação kantiana153.
Vimos que Adorno e Horkheimer declararam: “o preço que os homens
pagam pelo aumento de seu poder é a alienação daquilo sobre o que exercem o
poder”. Aqui, os sujeitos se invertem, o Sistema em sua ganância totalizante e
totalitária, ao dizer: você não comunica, você não é pessoa; perde o homem de si
mesmo, de sua totalidade – e, como neste ponto Jakobs segue a Luhmann e não
a Hegel – não há reconciliação possível: nasce o inimigo. O Direito Penal do Ini-
migo é a face negra que vem junto de um Direito Penal orientado para interpretar
a organização do comportamento da “função-pessoa”.
Já aqui o Sistema flerta com o mito: é levado ao auto-sacríficio para a ma-
nutenção de sua própria lógica sistêmica. O conceito altamente racionalizador de
“ação” proposto por Jakobs como organização do comportamento introduz, sorra-
teiramente, a lógica da narrativa mítica e leva-nos a experimentar, por meio do
Sistema, o mundo em sua faceta instrumental, leva-nos a experimentar “aquele-
-que-conosco-não-comunica” como “inimigo”.
6.d.2 Organização do comportamento e norma (ponto 2)
Jakobs afirma que a organização do comportamento que constitui crime é
uma negação da vigência da norma. Esta afirmação nos leva a complicadas afir-
mações sobre a teoria da norma.
Acontece que as leis que constituem o Direito Penal de hoje não são proi-
bitivas como eram as leis mosaicas (“não matarás”, “não roubarás”), e assim, as
nossas leis são muito mais míticas que as leis de Moisés. Os 10 mandamentos
estabeleciam ordens, enquanto que o Código Penal Brasileiro, em seu Artigo 121
estabelece com aquele que deseja cometer um homicídio uma barganha (uma
153 Caso não esteja claro, esta é a origem de toda a teoria dos Direitos Humanos, não por menos, a Metafísica
dos Costumes pode ser chamada de “ante-projeto” da Carta de Direitos do Homem e do Cidadão. Uma
outra questão que esta afirmação esclarece, é a da teoria da pena kantiana: no famoso exemplo da ilha não
se está eliminando inimigos (estes podem ser poupados para assistir ao fim da ilha), está se executando
pessoas-indivíduos, que, pela sua liberdade recusaram ao sistema que garantia sua dignidade universal! A
pena em questão é medida exata de resposta a este indivíduo, não sendo importante (como em Hegel) a
reconciliação em si, mas a retribuição.
86
pedro dourados.indd 86 16/10/2012 12:14:34
negociação, um logro, como diriam os autores da Dialética). Você pode matar à
vontade, mas pagará com “reclusão de 6 a 20 anos”. Assim como as Sereias co-
bram pelo futuro daquele que experimenta o secreto prazer de lhes conhecer, o
Sistema cobra o futuro daquele que resolve satisfazer os desejos secretos do Id
(Freud) ou da Sombra (Jung), em alguns anos de reclusão.
Esta estrutura mítica da nossa legislação, porém, parece ser a resposta à teo-
ria da “falha comunicacional” de Jakobs: se a norma prevê o seu descumprimento,
como podemos dizer haver uma falha? A norma, corrigindo, não somente prevê o
descumprimento, o descumprimento faz parte de sua constituição normativa (para
diferir entre elementos descritivos e normativos do tipo penal). Desobedecer à
norma é, neste sentido, interno à sua constituição. Por que não há normas que proí-
bam usucapião de terrenos em Saturno? Pois é impossível usucapir terras do planeta
anelado (pelo menos, por enquanto) e, logo, tal norma seria, também, impossível.
Jakobs precisa afirmar que o crime é negação da vigência da norma, porém,
pelo simples motivo de não trabalhar com o conceito de “bem jurídico”, ou seja,
trabalha com o conceito de norma em sua faceta estrutural (cf. o conceito de
“comutação” em FERRAZ JUNIOR, 2007, cap. 1) – norma como um algo-dado
flutuante no sistema de comunicação, norma sem objeto real, já que o objeto real
não entra no sistema, uma vez que não é, em si, comunicação (são as barreiras
que encontra uma teoria sistêmica).
6.d.3 O Sistema vivo: a pena como resposta
comunicacional do Sistema (pontos 3 a 6)
Na teoria proposta por Jakobs, mediante uma ação criminosa, que já é, na
verdade, comunicação disforme às regras estabelecidas e aceitas socialmente (nor-
mas de Direito Penal) há uma comunicação falha (porque efetivamente comunica
algo) ou uma falha na comunicação (porque descomunica a norma penal).
Mediante esta aberração comunicacional, o Sistema responde com outro
“ato-comunicacional”, que é a pena. Comunica, por meio da pena, que apesar
de uma infra-ação, o Sistema continua ativo e suas normas continuam válidas.
Propomos aqui uma outra leitura do mesmo evento. É certo que a infração
criminosa nega, viola, atenta a uma norma imposta pelo Sistema. Não há que
se falar, entretanto, em falha da comunicação, nem mesmo em “frustração” da
expectativa como se não houvesse expectativa de que o crime ocorresse, já que
a expectativa de que ele não ocorra (assegurada pela regra que visa a proibi-lo)
afirma de pronto a possibilidade de que ocorra – gerando, pois, a expectativa de
não-direito ou des-progresso da norma.
O criminoso não pode, sozinho, negar o Sistema, mas apenas parte dele, ou
seja, uma norma. Ao fazê-lo, ele já é isolado do Sistema, o qual não “reconhece”
seu código comunicacional. Como dissemos acima, até o momento do crime, o
criminoso é pessoa e mesmo durante o crime, durante a ação e suas consequências
87
pedro dourados.indd 87 16/10/2012 12:14:34
fático-jurídicas ele é pessoa, pois pode dialogar com a sociedade (com as demais
pessoas). O problema é que ele quer fazer entrar no Sistema um código diver-
gente do esquema binário “lícito-ilícito”, único que o Sistema pode(ria) compor-
tar. A essa tentativa de fazer adentrar um código divergente (ainda que seja uma
relativização da fronteira da ilicitude, hoje plenamente reconhecida em institutos
como, por exemplo, “princípio da insignificância”) o Sistema reage como a uma
falha, reafirmando a sua própria codificação pela figura da pena.
A pena opõe todas as pessoas que se submetem ao código do Sistema à pessoa
que dele diverge. Frisamos que esta diferença já existia antes, entre o criminoso
(que, de alguma forma, ratifica a sua conduta no momento que a acolhe, ainda
que seja a conduta negligente/imprudente/imperita que gere um crime culposo),
mas desta vez – na pena – a separação é reafirmada pelo “sacrifício” do indivíduo
(pois pessoas, no sentido de Kelsen e Jakobs, não vão presas, indivíduos com cor-
pos e almas vão presos) empreitado pelo Sistema. Quanto a isso, perceba-se que
estamos exatamente na “lógica do sacrifício”, denunciada no Sistema da Socie-
dade moderna por Adorno e Horkheimer, motivo pelo qual citamos aqui, nova-
mente, passagem citada acima (item 4.b.2.b) da obra Dialética do Esclarecimento:
Enquanto os indivíduos forem sacrificados, enquanto o sacrifício implicar a
oposição entre a coletividade e o indivíduo, a impostura será uma compo-
nente objetiva do sacrifício. Se a fé na substituição pela vítima sacrificada sig-
nifica a reminiscência de algo que não é um aspecto imaginário do eu, mas
proveniente da história da dominação, ele se converte para o eu plenamente
desenvolvido numa inverdade: o eu é exatamente o indivíduo humano ao
qual não se credita mais a força mágica da substituição. A constituição do eu
corta exatamente aquela conexão flutuante com a natureza que o sacrifício do
eu pretende estabelecer. Todo sacrifício é uma restauração desmentida pela
realidade histórica na qual ela é empreendida. A fé venerável no sacrifício,
porém, já é provavelmente um esquema inculcado, segundo o qual os indi-
víduos subjugados infligem mais uma vez a si próprios a injustiça que lhes
foi infligida a fim de suportá-la. O sacrifício não salva por uma restituição
substitutiva a comunicação imediata apenas interrompida que os mitólogos
de hoje lhe atribuem, mas, ao contrário a instituição do sacrifício é ela pró-
pria a marca de uma catástrofe histórica, um ato de violência que atinge os
homens e a natureza igualmente.
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 52, grifos nossos).
Veja que Adorno e Horkheimer frisam que os mitólogos já enxergavam,
na lógica do sacrifício, um “salvamento da comunicação imediata (entre ho-
mens e a natureza; entre homens e deuses) interrompida”; mas denunciam que
no momento em que sacrificam um indivíduo, os demais eliminam a possibili-
dade de que seja restabelecida a comunicação entre ele e os demais e entre a
totalidade e a natureza, já que a própria totalidade é, agora, “totalidade – 1”
88
pedro dourados.indd 88 16/10/2012 12:14:34
e que a natureza também sai perdendo, por não poder mais comunicar com o
interlocutor perdido154.
Assim também a sociedade não restabelece comunicação alguma, somente re-
afirma a falibilidade da norma ao ser cumprida quando, ao invés de “ressocializar”
(reconverter a pessoa do criminoso ao código social que ele queria burlar), violenta-
-o como uma resposta irracional, já que o objetivo da retribuição perdeu-se na teoria
de Jakobs. “Com o desaparecimento da necessidade de fazer um rodeio [...] desapa-
recem também as mediações espirituais, entre elas o direito” (idem, ibidem, p. 188).
Não há, pois, que se falar em reafirmação do Sistema, já que este, ao punir,
mostra o quanto é falho em agregar e em se fazer respeitar. Estamos, ressalve-
-se, a anos luz de distância da afirmação da “soberania” pela punição retributiva
tal qual Kant a entendia, e que é uma laicização falha do esquema punitivo do
judaísmo-cristianismo, a nosso ver. Neste esquema, a pena re-afirma a Glória do
Deus desobedecido, mas que nunca precisou de reconciliação, pois se basta a Si
mesmo, sendo que todo ato Seu de comunicação com o homem já constitui “efu-
são de amor” (MARÍAS, 2000, pp. 87 e ss.) – Kant laicizou esta teoria com uma
rede de costumes fundamentados de modo transcendental-metafísico.
Por fim, porém, não cabe a nós aqui traçar uma conclusão, e por dois prin-
cipais motivos.
O primeiro é que, apesar das críticas acirradas que faz sobretudo a academia
à teoria de Jakobs, ela vem sendo cada vez mais refletida na prática penal interna
e internacional de uma atuação policial e judicial descontente com sua ausência
de poder político: ao diminuírem, por exemplo, as garantias processuais-penais
dos reincidentes integram o corpo de combate ao crime – sobretudo o pretenso
“crime organizado”, que sequer foi conceituado de modo satisfatório (nem pela
doutrina, muito menos pela legislação), mas já recebe um legítimo tratamento de
inimigo oficial de Estado.
O segundo é que ainda não há – também por causa do recente “uso” da te-
oria de Jakobs – precisão sobre qual seria o exato momento em que lançar mão
de tal teoria do crime e da consequente teoria do criminoso nos leva ao Direito
Penal do Inimigo; ou seja, perdendo fé na objetividade do Sistema Científico Ju-
rídico, fica nebulosa a fronteira entre a racionalidade do Sistema como proposto
por Jakobs e o radicalismo reacionário que acompanha suas ideias.
Assim, ressaltamos que há muitos pontos nobres em sua teoria, como, por
exemplo, a noção de delito como violação de deveres positivos ou negativos, em
detrimento do velho conceito causal ou do também antiquado “garante”. Ainda
assim, quando a doutrina moderna extrai de Jakobs seus pontos fortes e coerência
doutrinária não sabemos – ainda – até que ponto não deixa de trazer junto seu
duvidável gosto político, inadmissível em um Estado Democrático de Direito e
também inconciliável com o Garantismo Penal que professamos.
154 A natureza também perde, no sentido dado pelo materialismo de Adorno e Horkheimer, porque cada
homem é um “bocadinho de natureza”.
89
pedro dourados.indd 89 16/10/2012 12:14:35
90
pedro dourados.indd 90 16/10/2012 12:14:35
Claus Roxin
e o conceito pessoal de ação
Claus Roxin é, sem dúvidas, um dos maiores penalistas do século XX, e o
grande propulsor da Política Criminal como problema que não se pode desvin-
cular da Dogmática. Esta concepção pode ser chamada de funcional, pois o Di-
reito Penal e suas categorias dogmáticas são vistas, em Roxin, de acordo com as
funções que exercem na sociedade, sem que se isolem em sistêmicos sistemas de
comunicação (Luhmann).
A concepção de Direito de Roxin é funcional e isso se percebe, por exemplo,
com sua teoria dialética da pena, que lhe é de grande valia, pois, a último passo,
a função do Direito Penal é Punir: cabe então ter bem claro diante de si o que é
punir alguém, e o que isso significa na sociedade (COSTA, 2008, pp. 93-7).
O fim da pena é um paradigma que não pode ser esquecido nas formulações
dogmáticas, e esta é a grande contribuição de Roxin ao Direito Penal, pois se a
pena não pode ser esquecida – e o valor político da pena é inquestionável – logo
a política não pode ser esquecida no conteúdo “interno” do Direito Penal. Roxin
não nega um interno-externo ao Direito, pelo contrário, reafirma a existência
da diferenciação pela possibilidade de interconexão entre os Sistemas – por esta
razão, o autor é conhecido como o propagador do funcionalismo-teleológico.
Roxin iniciou sua carreira como crítico ferrenho da teoria da ação, sendo,
diferentemente de Jakobs, mais ligado aos aspectos dogmáticos do assunto da ação
que aos aspectos filosófico-sociológicos. Assim, as críticas que Roxin empreendia
a Welzel prendiam-se a exemplificações de crimes tipificados em que não cabia a
aplicação da teoria da ação final, por inúmeros motivos, hoje, já bastante conheci-
dos: crimes omissivos, crimes culposos, entre outros (Cf. D’AVILA, 2003 e GUA-
RAGNI, 2009, sobre as teorias da conduta em Direito Penal ver pp. 260 e ss.).
Se nos idos de 1960, pois, Roxin rejeita um conceito de ação (D’AVILA,
2003) é para, posteriormente, perceber os potenciais político-criminais de um tal
conceito (GUARAGNI, 2009, p. 267) e aplica-lo ao seu Sistema como um con-
ceito pré-típico de ação enquanto manifestação da personalidade.
7.a A ação e seu papel intra-sistêmico
Em seu Tratado (ROXIN, 1997), Roxin aponta os traços que deve conter um
conceito de ação, e são quatro (idem, ibidem, pp. 232-4): 1) deve ser um supra-
conceito para a teoria do delito, que abarque todos os demais, tal que comissão-
-omissão (função classificatória); 2) deve ter um papel de “enlace”, tornando-se
91
pedro dourados.indd 91 16/10/2012 12:14:35
“coluna vertebral” (idem, ibidem, p. 234) do Sistema; 3) o conceito deve ser
neutro frente à tipicidade, à antijuridicidade e à culpabilidade; 4) deve ser um
elemento limite ao Direito Penal, que estipule “fatos” que não devem ser tratados
pelo sistema, tais que movimentos incontroláveis (convulsões) e atos de animais.
Ressalvamos que, com esta postura, Roxin é extremamente coerente: a ação
não é somente um dado com o qual o sistema lida, uma comunicação interna ou
um conceito, mas um conceito ou comunicação interna o qual possui um papel
próprio específico dentro do Sistema, ainda que seja pré-típica.
O que já podemos adiantar este conceito trazer de positivo é o diálogo que
ele possibilita com demais “ramos da saber”, por assim dizer: se tipicidade, anti-
juridicidade e culpabilidade são “assuntos jurídicos” e a ação diferencia-se deles,
mas, ainda assim, faz parte do Sistema jurídico-penal, ela aporta para dentro do
sistema elementos políticos, psíquicos, sociais latu sensu, etc. Retornaremos a esta
“abertura” do Sistema pela ação.
7.b Ação enquanto “manifestação da personalidade”
É verdade que Roxin não desenvolve sua teoria da ação enquanto manifes-
tação da personalidade de maneira tão abrangente quanto Welzel desenvolveu,
durante décadas, o conceito de ação final.
Ação é, pois, manifestação da personalidade, e Roxin nos explica tal mani-
festação como sendo: 1) “todo lo que se puede atribuir a un ser humano como
centro anímico-espiritual de acción [em que há] control del ‘yo’, de la instancia
conductora anímico-espiritual del ser humano” (ROXIN, 1997, p. 252); 2) ma-
nifestações “del mundo exterior” o que exclui meros pensamentos e impulsos da
vontade (idem, ibidem).
O autor aproxima o seu conceito de outros que seriam similares, tal como a
teoria da “ação como objetivação da pessoa” (idem, ibidem, p. 253) desenvolvida
por Kaufmann.
7.b.1 Ação e imputação
Entendemos que, como em Roxin a ação é elemento básico do sistema
(idem, ibidem, p. 255) podemos afirmar que o processo de análise da imputação
objetiva leva em consideração uma manifestação da personalidade do agente en-
quanto o fator de partida para a configuração de um risco não permitido.
Assim, também, é preciso dizer que os resultados, mesmo os juridicamente
relevantes, são excluídos do âmbito de apreensão da “ação” (idem, ibidem, p.
256) o que pode ser questionado, como veremos mais à frente, pois, como nos
ensina Ferraz Junior, mesmo o que é juridicamente irrelevante, é juridicamente
irrelevante (FERRAZ JUNIOR, 2007).
pedro dourados.indd 92 16/10/2012 12:14:35
Esta imputação da ação exige a existência de uma ação (já que é imputação
da ação, e imputação segue a fórmula: “se x é > y deve ser” em que x é ação e y o
‘resultado’ aumento de risco/pena, o qual somente pode ser caso “x” seja, caso a
“ação” efetivamente exista). Por isso a ação é um elemento de limitação da apli-
cação do Direito Penal.
7.b.2 A capacidade unificadora
Roxin defende que a ação deve ter uma capacidade de “enlace” (ROXIN,
1997, pp. 257 e ss.), mas, certamente, o poder centralizador da ação em sua teoria
é muito menor que no finalismo de Welzel. Por assim dizer, a teoria da imputação
objetiva por si só já responde a inúmeros pontos críticos da teoria da ação, ainda
que não seja capaz de, sem mais, substituir uma teoria da ação155.
O que Roxin quer atingir com esse “enlace” é, porém, antes uma posição “in-
termediária” da ação entre o ontológico (o “prejurídico” ou “social-natural”, como
ele diz) e o normativo (ou jurídico). Assim, o conceito de ação abarca comissões e
omissões de modo pré-jurídico, mas é, em alguns casos, dependente do conteúdo
jurídico para que ocorra, como explica Roxin, acontece nas omissões em que “es
preciso el mandato jurídico como condición necesaria para la posibilidad de uma
manifestación de la personalidad” (idem, ibidem, p. 258, grifos nossos).
Conclui-se, pois, que “la acción, como elemento de unión, há de mostrar
ese indisoluble entrlazamiento estructural de ser y deber ser que es característico
de esa zona de la conducta delictiva” (idem, ibidem).
7.b.3 Delimitações pelo conceito de ação
Por fim, Roxin define seu conceito de ação mostrando o que não é ação.
Animais são primeiramente apontados como sendo incapazes de ação. Em
segundo lugar, pessoas jurídicas, por não possuírem “una sustancia psíquico-espi-
ritual”, não podendo, pois, manifestarem-se a si mesmas (idem, ibidem).
Aponta, ainda, que pensamentos não são ações, pois é exigível um nível mí-
nimo de “manifestação” (cujo exemplo dado é o da “tentativa de omissão” em que
há somente uma “defraudación de uma expectativa de acción”) que não há nos pen-
samentos. Os casos de vis absoluta não se encaixam no conceito de ação, diferente-
mente da vis compulsiva que é ação, mas geralmente não possui caráter de crime por
não ser culpável, como na “inexigibilidade de conduta diversa”, por exemplo.
Por fim, em um “limbo conceitual”, que depende da análise bem mais pró-
xima do caso-a-caso estão as ações “automatizadas” (idem, ibidem, p. 262),
que podem ou não ser ações, dependendo, por exemplo, se “la excitación de los
155 Como ocorre por exemplo com a teoria da “imputação do tipo” de Jakobs, que trabalha com o conceito de
“organização do comportamento”, ou, ação.
93
pedro dourados.indd 93 16/10/2012 12:14:35
nercios motores no está bajo influencia psíquica” (idem, ibidem). Quanto a este
ponto, Roxin informa que “la personalidad no se deja reducir a la esfera de la
consciencia clara como el día” (idem, ibidem, p. 264).
Com bastante veracidade, Roxin avança dizendo que “hay que tener claro
que acción y falta de acción no están separados mediante uma cesura precisa”
(idem, ibidem), devido, entre outros fatores, à “pequenez” de algum fenômenos
psíquico-somáticos que podem configurar uma “manifestação da personalidade”.
Em conclusão, Roxin aponta que seu conceito é, como o social e o negativo
de ação, um conceito normativo – porque leva em conta o aspecto valorativo in-
trínseco à ação – mas não é normativista, pois não ignora a “realidad de la vida”
onde ocorrem os fenômenos tidos como ação. Este conceito, define Roxin, en-
caixa-se, pois, como supraconceito ainda que renuncie “a buscar lo que concep-
tualmente tienen en común en la unidad del sustrato material (voluntariedad,
corporalidad, finalidad, no evitación o similar)” (idem, ibidem, p. 265).
7.c Crítica Dialética
A capacidade sintética nos escritos de Roxin é, certamente, impressionante.
Em menos de 40 páginas de seu Tratado, o autor crítica os conceitos narual-causal,
final, negativo e social de ação, para então apresentar o seu conceito de ação en-
quanto manifestação da personalidade. Já adiantamos que, por causa, talvez, deste
pouco desenvolvimento acerca do tema, venha a principal crítica contra o conceito
de Roxin, que peca pela sua abrangência pouco delimitada graças à imprecisão, prin-
cipalmente, do conceito de “personalidade” sobre o qual o autor pouco discursa.
Por mais que concordemos com esta crítica, empreendida, por exemplo, por
Busatto (2010), D’Ávila (2003) e Guaragni (2009) ressalvamos que nossa própria
apreciação crítica irá em outra direção, a partir dos termos usados pelo próprio
autor, ou seja, “manifestação” e “personalidade”, sem olvidar, que fique claro, o
quão positivo foi a entrada de Roxin na discussão teórico-criminal sobre a ação,
e o quão positiva foi a apresentação de seu conceito de ação.
Nossa crítica a Roxin, divide-se em duas partes:
1. crítica aos resultados de se equiparar a ação a uma “manifestação”, com o
intuito de separar do âmbito de análise desta a questão da intencionalidade.
Esta crítica subdivide-se em duas, uma crítica que tem em vista a questão do
“corpo” e sua relação com a manifestação da personalidade e uma segunda
crítica que nos aproxima da questão do Direito Penal do Inimigo;
2. crítica ao uso da personalidade como um referencial perene para constru-
ção de um conceito de ação que é, por natureza, efêmero, o que permite
enxergar no uso do conceito de “Personalidade” uma adaptação de concei-
tos penais à esfera da ação que deveria ser, quanto a eles, neutra.
94
pedro dourados.indd 94 16/10/2012 12:14:35
7.c.1 O problemático conceito de “Manifestação”
Não queremos aqui fazer uma crítica ao uso da palavra “manifestação”, em
seu original, no alemão, como se houvesse um problema intrínseco a um signifi-
cado imutável preso ao “signo” manifestação156.
Falamos aqui do sentido que Roxin quer prender a esta palavra ao rela-
cioná-la tanto à ação, quanto à personalidade, da seguinte forma: somente há
ação se houver uma manifestação, no sentido de uma realização de um algo no
mundo externo, mas se este algo estiver em estreito laço com a personalidade da
pessoa a quem se pode imputar a ação.
O conceito de manifestação assume, em Roxin, um papel “espacial” e loca-
liza a ação no mundo social-natural, no mundo do ser explícito, em oposição aos
pensamentos inacessíveis de um ser-humano. Por outro lado, assim que há uma
manifestação de uma personalidade, há uma ação.
Mostramos acima como Roxin enxerga seu conceito como sendo um conceito
limitador para o Direito Penal, mas entendemos que a concepção de “manifestação
da personalidade” = “ação” gera uma problemática que ainda não foi tratada.
Acontece que, ainda que possamos falar que toda ação é uma manifestação
da personalidade, podemos pensar que nem toda manifestação da personalidade
é uma ação. Pensamos aqui no papel do “corpo” tal qual este se apresenta como
um assunto para a filosofia desde os seus primórdios, e não é diferente, por exem-
plo, em Adorno e Horkheimer (v. por exemplo ADORNO, HORKHEIMER,
1985, pp. 190-4).
O corpo de uma pessoa já é somatização de seu “eu”, de modo que Fromm,
por exemplo, é levado à conclusão segundo a qual o corpo é “símbolo da psique”
(FROMM, 1964). Pode-se concluir facilmente de escolas de pensamento como a
psicanálise, que o corpo é a constante manifestação da personalidade, pensada aqui
como a transposição das esferas do consciente (ego) e do inconsciente (id e su-
per-ego) para a realidade, se adotarmos o ponto de vista freudiano.
E, se lemos em Jung, que “a persona é um complicado sistema de relação
entre a consciência individual e a sociedade” (JUNG, 1987, p. 70), é necessário
pensar que na esfera da persona mediam-se a consciência pessoal com a realidade
da sociedade por intermédio de complexos simbólico-semióticos (JUNG, 2000;
em esteia similar BAKHTIN, 1995, pp. 45 e ss.) que passam pelo corpo humano
como “processador” – nem mesmo Luhmann, com suas cisões estruturais, nega
este papel ao corpo humano, quando afirma que entre o sistema de pensamento
e o sistema de comunicação há o acoplamento estrutural pela linguagem, o que
envolve, implicitamente, o sistema orgânico do homem, pelo qual este entra em
contato concreto com a linguagem.
156 Reconstruções etimológicas são interessantes e têm muito a contribuir, como faremos abaixo acerca da
“personalidade”, o que afirmamos é, porém, que o significado não se origina da etimologia em um vínculo
obrigatório-causal.
95
pedro dourados.indd 95 16/10/2012 12:14:35
Assim sendo, o corpo de uma pessoa é manifestação constante de sua per-
sonalidade formada e em formação, mas somente em uma abstração grosseira
ousar-se-ia dizer que o corpo constitui, ele também, uma ação157.
7.c.2 A manifestação do Inimigo
O maior problema, cremos, em se criminalizar uma ação enquanto uma ma-
nifestação da personalidade é punir uma ação menos pelo fato de ela ter se mani-
festado, e mais pelo fato de ela consistir em uma manifestação de uma personalidade.
Neste sentido, a proposta de Roxin aproxima-se, importunamente, de uma
proposta de Direito Penal do Autor/Direito Penal do Inimigo, pois a barreira
entre a criminalização do fato e criminalização do fato por ser este decorrente de
uma personalidade específica dilui-se em seu conceito de ação.
Chamamos atenção ao fato de que não cremos que Roxin, conhecido
pela sua preocupação com um Direito Penal que se amolde ao Estado De-
mocrático de Direito e às garantias fundamentais derivadas da Dignidade
Humana, seja um cripto-propagador das teses oriundas de pensadores como
Cesare Lombroso e Günther Jakobs – de forma alguma (cf., neste sentido,
COSTA, 2008, pp.132-5).
Apontamos, porém, que a barreira que Roxin – importunamente, repe-
timos – acrescenta à sua teoria da ação ao trabalhar com um termo de com-
plexidade tamanha, que é “personalidade”, pode trazer a ação em sua efeme-
ridade para a contrastante durabilidade da personalidade de uma pessoa – pelo
que lembramos que o corpo é a constante manifestação de uma personalidade
(FROMM, 1964).
Sem cair aqui em pedantismos ao referirmo-nos ao Nazismo e às suas atro-
cidades; relembramos o papel que o anti-semitismo teve como propagador da
ideologia ontologizada do totalitarismo alemão; como o anti-semitismo serviu de
escopo de unificação do Volk alemão em contraste com o bode judeu; nesse con-
texto, ser judeu era crime, ou até, o ser do judeu era crime – (assim, ADORNO,
HORKHEIMER, 1985, pp.139-171).
Roxin corre o risco de propor uma ontologização da ação, quando, na ver-
dade, pretende um elemento normativo intrínseco e inseparável de tal conceito.
Acontece que, mesmo quando o elemento normativo é indispensável para a con-
cepção social do evento, como, por exemplo, na omissão (ROXIN, 1997, pp. 256-
7), ao ligar a não-realização da norma a uma existencialidade, à personalidade,
Roxin corre o grave risco de um determinismo ontológico, de uma defraudação
da norma como necessidade do ser do delinquente, ou, de sua personalidade.
157 Um outra hipótese, porém, é a que aborda Ricoeur de se valorização a categoria aristotélica do “ato” para
uma Ontologia da Sociedade – mas essa concepção filosófica de “ato”, simplesmente apresentada, ainda
não pode ser utilizada para conceituações jurídico-dogmáticas.
96
pedro dourados.indd 96 16/10/2012 12:14:35
7.c.3 O problema da personalidade
Uma das principais direções da crítica contra o conceito roxiniano de ação
é no sentido de que “personalidade”, em sua vagueza, é um conceito que abarca
outros, de natureza jurídico-penal, em sentido estrito, como, por exemplo, “respon-
sabilidade penal”, enquanto o conceito deveria ser neutro em relação a eles. Isso
se dá, como explica D’Àvila (2003), de modo claro na omissão, em que esta, para
que ocorra enquanto ação, prescinde de uma norma penal que a puna, e, logo, não
haveria somente uma manifestação da personalidade, mas uma responsabilização
penal pré-concebida na ação, que adequa os fatos à teoria, e não o contrário.
Enxergamos, porém, que os problemas de se trabalhar com a personalidade
estão mais no sentido, exposto acima, do contraste que deve haver entre a efe-
meridade da ação – como apresentada por Roxin – e a durabilidade da persona-
lidade. O aspecto da efemeridade da ação parece trazido pela noção de “manifes-
tação” enquanto um fenômeno externo. Lembramos, porém, o papel do corpo no
seio da teoria psicanalítica e da psicologia analítica, que pode ser apontado como
a manifestação constante da personalidade, no sentido de que o corpo é ponto de
encontro entre as categorias do consciente e do inconsciente com a realidade
social, e seus aspectos conscientes e inconscientes.
Adorno, em sua Glosa sobre Personalidade (in ADORNO, 1995, pp. 62 e ss.),
aponta alguns aspectos complexos nesta palavra. Primeiramente, assim como no
alemão Persönlichkeit, personalidade pode designar não somente o aspecto perso-
nalíssimo de uma pessoa singular – mas pessoas concretas, pessoas que são perso-
nalidades, que Adorno define ironicamente como sendo “pessoas que viviam para
seus discursos fúnebres” (idem, ibidem, p. 62). Adorno atribui esse fenômeno a
uma fixação do “prestígio social, exterior, [...] sobre suas pessoas, como se o haver
triunfado nesse mundo o justificasse e seu êxito devesse estar necessariamente
em consonância com seu verdadeiro modo de ser” (idem, ibidem, grifo nosso).
Esse processo de formação de personalidades, como uma interiorização de
aspectos sociais relevantes (status social) e, posteriormente, sua re-exteriorização,
agora inalienável de sua pessoa – de seu verdadeiro modo de ser – parece constituir
o que proporciona o conceito de ação enquanto manifestação de personalidade.
Quanto ao uso de Kant desta palavra, Adorno anota que “Kant respeita
fielmente a estrutura gramatical da palavra personalidade. O sufixo keit [dade] de-
signa um abstrato, uma ideia, não indivíduos particulares” (idem, ibidem, p. 63,
grifos do original) – o que está relacionado com o próprio conceito de persona,
enquanto máscara social, enquanto aparecer para a sociedade, que sempre é um
aparecer de maneira reservada, por mais que não creiamos que as palavras preci-
sem manter, em um purismo historicista, seu significado originário.
Contra a imposição da personalidade como uma representação social
fixa, Adorno reclama a “força do indivíduo, o potencial para não confiar-se
97
pedro dourados.indd 97 16/10/2012 12:14:35
ao que cegamente se lhe impõe, para não identificar-se cegamente com isso”
(idem, ibidem, p. 68).
A personalidade não é separável do indivíduo que ela representa, assim
como no Teatro a máscara, sem o ator, é uma imagem congelada, uma potencia-
lidade de ações teatrais que não ganha vida enquanto não for utilizada, concre-
tamente por um ator. No momento em que ela é vestida, ela descongela, abrindo
as portas para o ator, em um espaço mais confortável, agir. A máscara não age,
mas abre a porta para a ação, pois o personagem depende de seu aspecto de per-
sona que precisa desligar-se da concretude da pessoa do ator – do indivíduo autor.
De forma similar, no Direito, o conceito de pessoa permite ao individuo singular
propor uma demanda no judiciário, por exemplo, sem que seu corpo tenha que
responder, permite que uma pessoa seja criminalizada sem que, necessariamente,
ele devesse se tornar um criminoso, como “corpo podre” que ela deve carregar
com seu próprio corpo para o resto da vida158.
Ainda Bakhtin (2003, pp. 49 e ss.) em estudo acerca do corpo, anota que o
meu corpo, é sempre corpo interior, e que a minha própria concepção de realidade
necessita de uma exteriorização do meu corpo, que se transforma em um objeto
para o meu corpo interior, por meio de uma ação159. Da mesma forma, o outro
e seu corpo chegam a mim como corpo exterior, por meio da ação. “O corpo do
outro é um corpo exterior, cujo valor eu realizo de modo intuitivo-manifesto e
que me é dado imediatamente. O corpo exterior está unificado e enformado por
categorias cognitivas, éticas e estéticas [...]” (BAKHTIN, 2003, pp. 47-8).
Ao trazer o corpo para tão perto, mas de maneira consequencial, ou seja,
sem que este tenha sido o intuito do autor ao adotar a palavra “personalidade”
(que é, afinal, ligada ao corpo), Roxin não trás somente a “realidade natural-so-
cial” para dentro do sistema, mas ele a traz de maneira sensual, proporcionando
a experimentação da ação do outro ao eu daquele que a analisa, pois, em ultima
instância, a ação do outro estará ligada ao corpo do outro, à personalidade que
é o outro e que é inseparável de seu corpo160, e que sempre se refere ao eu como
um algo-externo, objetal, no qual o processo de reconhecimento ocorre – pro-
cesso este que possui muito mais de experiência que de explicação, que possui,
pois, um caráter mítico e que libera uma importante potencialidade espiritual
humana (CAPMBELL, 1988a e 1988b).
158 O “corpo podre” de que nos fala o apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos Romanos, cap. 7 vs. 24, é
referência a uma tortura bárbara, segundo a qual um criminoso que cometera homicídio deveria carregar o
corpo do morto em suas costas por tempo indeterminado, devendo tocar todas as atividades do cotidiano
com aquele corpo apodrecendo em suas costas.
159 Assim, para o jovem Bakhtin, é por meio da ação que se realiza aquela misteriosa síntese kantiana, segun-
do a qual o homem é capaz de ser objeto para si mesmo enquanto sujeito.
160 Para uma análise em sentido análogo acerca da relação entre personalidade e corpo, conferir o capítulo 1, La
Personne et la référance identifiante de RICOEUR, Paul. Soi-même comme un autre. Paris: Seul, 1990, PP.39-54.
98
pedro dourados.indd 98 16/10/2012 12:14:35
7.d Conclusão
Por razões outras que Welzel, Roxin sobrecarrega, ele também, seu conceito
de ação. Ação como “manifestação da personalidade” traz uma falta de clareza
semântica quanto à abrangência da “manifestação” e da “personalidade”. Se é ver-
dade, por um lado, que Roxin dá uma longa lista de exemplos que desfaz uma série
de possíveis mal entendidos – apesar de muitos serem quase auto-evidentes, como
por exemplo, o “pensamento” não ser considerado uma ação, algo que é pacífico
na doutrina penal há um bom tempo –, o autor somente cita uma problemática
que traz as maiores complicações para a adoção de seu conceito, que é a relação
desta manifestação, o do conceito desta manifestação com o conteúdo perma-
nente de uma personalidade, no que tange, em especial, o conceito de corpo.
O corpo podendo ser parte integrante de uma personalidade, ele reage con-
forme tal personalidade e é a porta de abertura para as manifestações. Mas, sendo
a parte pública e visível de cada ser humano para o outro no contexto social,
a manifestação da personalidade pode se tornar constante sob a forma de um
corpo. Neste momento, fica pouco claro se a criminalização se dá por causa da
manifestação indesejada, ou da personalidade infeliz, e o fato de a criminalização
se refletir no corpo, tanto pela criminalização quanto pela pena (cárcere), Roxin
criou um conceito de ação que pode, perversamente – pois não cremos que o
autor assim o tenha desejado –, ressurgir um Direito Penal do Autor, em detri-
mento de um Direito Penal do Fato.
Passamos agora para um desenvolvimento especificado da relação entre
Ação e Mito.
99
pedro dourados.indd 99 16/10/2012 12:14:35
100
pedro dourados.indd 100 16/10/2012 12:14:35
Teoria da Ação
e o aspecto mítico da Sociedade
Trabalhamos, até agora, com um conceito de Mito que foque na narrativi-
dade a ele intrínseca (cf. Item 4.c) e que se apresenta para nós com a estrutura
simplificada “ida-evento-retorno”. Além disso, afirmamos acima (cf. cap. 1)
que o Mito apresenta-se sempre a-histórico, como tendo uma lógica temporal
própria, em oposição ao símbolo que é histórico e com o qual sempre entra em
relação dialética. Por último, retomamos a ideia segundo a qual o Mito não
tem a função de explicar o mundo, mas de apontar aspectos transcendentes à
compreensão racional do mesmo. Esta transcendência aponta para um caráter
inconsciente do Mito.
Em resumo, a narratividade intrínseca ao Mito visa a abrir possibilidades
para que o ouvinte experimente o mundo enquanto que a Razão, se adotarmos
uma compreensão clássico-iluminsta da mesma, sempre ansiou explicar o mundo,
em termos que desenvolvemos acima.
Com o instrumento fornecido por Adorno e Horkheimer, lançamos mão de
um método161 crítico dialético de análise, para tentar provar que as concepções de
“Ação” presentes nas diferentes teorias de Welzel, Roxin e Jakobs trazem, para o
todo da teoria do Direito penal, em especial, da Teoria do Delito, além de uma alta
racionalização/especialização, um conteúdo que podemos caracterizar como mítico.
Precisamos agora especificar como este processo ocorre e em que ele con-
siste, ou seja, precisamos responder às seguintes perguntas:
1. quais os elementos presentes tanto na teoria da ação quanto no mito que
aproximam um de outro?
2. É preciso ou desejável abandonarmos a teoria da ação e a máxima nullum crime
sine conducta em detrimento de uma concepção comunicacional de delito?
Somente com estas perguntas respondidas, e será o que realizaremos neste e
no próximo capítulo, poderemos continuar nossa análise.
161 “Método”, aqui, quase trai o intuito inicial da própria crítica, que, por ser dialética não pode trilhar duas
vezes o mesmo caminho, então se deve entender o método da forma mais abrangente e menos metódica
possível. Por outro lado, uma vez percorrido este caminho crítico e tomado consciência de sua extrema
miticidade, a manutenção deste exato termo revela um aspecto paradoxo no fim da dialética não sintética
(que se aproxima da negativa, apesar de não haver uma negação absoluta em momento algum), o qual
entendemos essencial na opção mesma pela permanência do conceito e do termo de método.
101
pedro dourados.indd 101 16/10/2012 12:14:35
8.a Mito e Ação: elementos de proximidade
Afirmamos no primeiro capítulo que o mito se apresenta, não dissociado do
símbolo, como uma zona de saber comum de todo o conhecimento que podería-
mos classificar como cultural. Se afirmamos que a ação, a qual tem sido vista pela
teoria da Sociedade como um elemento racional inerente ao homem, traz para
dentro da racionalidade do Direito – nosso ramo de análise específico do saber
cultural – aspectos míticos, é porque enxergamos, nas concepções de ação e na
de mito, caracteres similares que permitem tal aproximação.
Antecipando nossa tese, entendemos que a Ação, como vem sendo com-
preendida sociológico-juridicamente, e o Mito trabalham com uma mesma pro-
blemática acerca da noção de tempo e dependem da existência de um agente que
se encontra para além de uma determinação formal de pessoa, como a que vimos
supra com Kelsen e Jakobs; depende de um indivíduo, o qual realiza o ciclo ida-
-evento-retorno. Trabalharemos, pois, a aproximação em dois níveis: a) no nível
da concepção de tempo b) no nível da problemática do agente.
8.a.1.a O tempo cotidiano
Conceitos de fácil compreensão e difundido uso na linguagem comum são os de
mais complexa explanação. Todos sabemos o quão difícil é definir o que é o “crime”,
o que é a “vida”, o que é a “paz”, entre muitos outros. Algo de similar pode ocorrer
com o conceito de “dia-a-dia” que aproximamos, aqui, do conceito de “cotidiano”.
Na análise que Heidegger faz do “Ser” do homem em Ser e Tempo (2009), o
filósofo fala de dois distintos conceitos de tempo; um que seria o conceito coti-
diano do mesmo, ou “conceito vulgar de tempo” (HEIDEGGER, 2009, pp. 498 e
ss.) instituído e difundido pela fala e outro, que possui uma relação sinalagmática
com a compreensão mesma do Ser e que se origina em uma temporalidade que não
pode ser apreendida em termos de presente-passado-futuro162. A este tempo deri-
vado da temporalidade do Ser heideggeriano, associamos a concepção de tempo
que permite a Derrida falar em um “passado que nunca foi presente” (DERRIDA,
2008), o qual Habermas associa também ao filósofo idealista Schelling e sua teo-
ria das “idades da Terra” (HABERMAS, 2002).
O conceito vulgar de tempo, em compensação, ou o conceito que chamamos
aqui de cotidiano e que se estrutura em presente-passado-futuro seria, sim, uma
decorrência deste tempo especial, tanto em Heidegger quanto em Derrida. Para
Heidegger, o conceito vulgar de tempo deriva daquela outra temporalidade ficando
preso, porém ao “tempo do mundo”, ou seja, ao tempo do contexto e das coisas que
162 O filósofo afirma que o termo porvir (ou futuro) “indica que, existindo propriamente, a presença faz com que
ela mesma venha-a-si como seu poder-ser mais próprio [...] isto é, no anteceder-se-a-si” in Heidegger, Ser e
Tempo, 2009, p. 422. É o compreender do ser do homem, efetivado sempre que o homem é, pressupondo-se
a si mesmo e localizando-se em um mundo que abre o mundo temporalmente, nos dizeres de Heidegger.
pedro dourados.indd 102 16/10/2012 12:14:35
dele fazem parte (HEIDEGGER, 2009, pp.524-5). Este conceito de tempo, porém,
teria a vantagem de se ligar ao espírito de maneira privilegiada, como já Santo
Agostinho o teria feito ao dar ao tempo o caráter de distensão (idem, ibidem) e
Hegel concretiza ao aproximar o conceito de Espírito Absoluto ao tempo mesmo.
Em Derrida, o passado anterior ao passado é o passado em que se apresenta
a diferença originária – de modo que a palavra originária traduz não somente a
noção de diferença primeira como também de essência da diferença ou do di-
ferenciar. Este tempo passado, que teria se grafado em uma escritura absoluta,
não é acessível, assim como a temporalidade heideggeriana que dá acesso ao ser
é mais misteriosa que o tempo vulgar. Em Derrida, porém, com a perda de vista
deste passado, perdem-se também as origens e, logo, as essências, dos quais (pas-
sado originário, origens e essências) somente podemos captar os rastros (DER-
RIDA, 2008, pp. 45 e ss.), que podem ser seguidos em um a-metódico método
que foi, posteriormente, batizado de “desconstrução”.
É importante que fique claro o papel especial que se dá à diferença mesma
entre os dois tipos de tempo. Na consagrada análise mitológica de Eliade, essa dife-
rença essencial entre os tempos é a origem mesmo da diferença entre o sagrado e
o profano (ELIADE, 2003). Eliade retoma a proximidade etimológica entre Tem-
plo e Tempus, e aponta que a construção do espaço religioso – quer nas cidades,
quer no campo – é dada em referência a um acesso ao tempo mítico a que se refere
a expressão in illo tempore.
Como fizemos acima acerca da visão de Freud, Adorno, Horkheimer, Cam-
pbell e Jung sobre mito, fazemos também com Eliade. Entendemos que o mítico e
o sagrado/profano são concepções que podem, mas não devem se confundir nem
criar uma ligação insuperável – de forma que poderíamos falar em mitos que apre-
sentassem “conteúdo não-religioso”, pelo que afirmamos que a religião possui um
discurso próprio que está para além do mito e da divisão experiência/explicação.
Entretanto, mantemos aqui a aproximação da noção de mito com a noção
de um tempo que se opõe ao tempo que não chamamos de profano, mas sim de
cotidiano (até porque o sagrado pode se tornar cotidiano).
O tempo cotidiano abarca, pois, o conceito vulgar de tempo, como Heide-
gger o chama, o simples tempo em Derrida ou o conceito psicológico de tempo
que Agostinho desenvolve nas Confissões. O tempo cotidiano ou o dia-a-dia é
o tempo dos acontecimentos sociais em sua sucessão incessante, em seu afã de
informações que acontecem no mesmo momento do próprio evento o qual é in-
formado – neste início de século XXI.
A mídia, a imprensa, de modo genérico, se um dia puderam ser instrumento
mítico por apropriarem-se dos eventos em seu próprio tempo – muito mais vaga-
roso que o contar do relógio – hoje competem com a própria realidade dos even-
tos e concorrem com eles no tempo163.
163 Não temos certeza se, mesmo com esta distorção do tempo, a mídia fora, algum dia, capaz de inserir a
cotidinianidade em uma narrativa mítica (ida-evento-retorno). E cremos, aliás, que nunca o saberemos, já
103
pedro dourados.indd 103 16/10/2012 12:14:35
O tempo contado no relógio, no calendário, mas também o tempo psicoló-
gico (das horas que “passam voando” ou do “dia que não anda”) são todas con-
cepções que integram a própria noção de realidade cotidiana.
O tempo da linguagem que Habermas chama de “linguagem comum” (HA-
BERMAS, 1997) e que se encontra em todos os setores da sociedade, é o tempo
da cotidianidade mesma e o próprio suporte da cotidianidade, tão dependente da
ideia de sucessão de eventos – sendo que “evento” já é entendido no tempo, de
modo que falar em sucessão de eventos no tempo é pleonástico.
8.a.1.b O outro tempo
Se existe um tempo cotidiano, em que consiste este outro tempo, que é o
tempo mítico?
Como mostramos acima na análise crítica das teorias da Ação – em especial,
na teoria da ação final de Welzel –, este conceito racionalizador do Direito, ao
ser aplicado como instrumento de “recorte da realidade fenomenológica” – para
retomar o vocabulário do próprio Welzel – arrasta o seu objeto de constituição
para um tempo próprio, que difere radicalmente do cotidiano.
Ricoeur (1984, p. 12) aponta que há uma diferença que separa a narração
de ficção da narração histórica que é o intuito de “constituir uma narrativa ver-
dadeira”, presente nesta, mas não naquela. O que opõe ambas ao discurso mítico
é, porém, o próprio plano de concepção de “verdade” que segue uma lógica tem-
poral estranha à do acontecer histórico ou literário.
Fazendo uma imagem que, apesar de pobre, permanece ilustrativa, pense-
mos a realidade cotidiana e seu acontecer por sucessões como um filme: o filme 1.
A narrativa histórica seria o filme sobre o filme 1, o filme provido de caráter meta-
línguisco mas que se desenvolve no próprio correr do filme 1. A narrativa literária
é um filme à parte, que tem um intuito próprio a ser pesquisado na teoria literária,
mas que se opõe ao filme sobre o filme 1. Esta oposição se dá, pois o filme literário
não almeja retratar o filme 1 – sequer como sendo verdadeiramente aceitável,
ainda que se desenvolva, também, no próprio correr do filme 1.
O mito, seguindo esta lógica, seria algo como uma imagem que é pinçada
do todo do filme 1 e congelada. Após congelada, ela é reanimada, mas nesse pro-
cesso de congelamento-reanimação ela ganhou contornos completamente diver-
sos quer do filme 1, do filme sobre o filme 1 ou do filme literário. Se pensarmos
que o filme 1 é passado em uma tela de cinema, o filme sobre o filme 1 e o filme
literário são dele componentes importantes, mas o filme mítico é exibido sobre o
filme 1, em uma velocidade que não é a mesma da exibição do filme 1, gerando uma
que metade do que conhecemos por “documentos históricos” foi construída sob esta forma, o que não nos
permite nem questionar a verdade objetiva nem a simbolização do nosso próprio passado – até por que, se
mítica ou não, isso é algo mais para uma verificação sempre “contemporânea” que posterior.
104
pedro dourados.indd 104 16/10/2012 12:14:36
mancha, um borrão que pode ser visto como plurissignificativo e que atiça as mais
variadas reações do inconsciente, pessoal ou coletivo.
Certamente, em algum momento do tempo cotidiano, os mitos tornam-se,
eles também históricos. Tal é, hoje, nossa relação com os mito gregos, romanos,
hindus, ameríndios, aborígenes... isso não quer dizer, não obstante, que não haja
mitos hoje, mitos de hoje sobre o hoje: mitos que co-existam com o tempo coti-
diano atual-izado, como na imagem do “borrão” causado pela confluência simbó-
lica e sua influência no consciente e no inconsciente da sociedade. Este mito do
hoje trabalha em relação ao cotidiano, não com a lógica da sucessão dos eventos
que os enterra no passado assim que findos, mas com a lógica da ida-evento-
-retorno, em que o “futuro” (retorno) somente faz sentido se unido a um passado
futurista (ida), mediado pelo acontecimento plenamente presente (evento).
Definir, porém, o que é o mito hoje, é um trabalho arriscado e complexo, pois
é certo que este não envolve as mesmas figuras mitológicas de antigamente, já
que o mito atual é formado a partir de uma imagem também atual. Antecipando
nossa tese, entendemos que o Direito Racional é, na sociedade moderna, o polo
mitológico e, logo, a provável área denominadora comum de grande parte, para
não dizer, de todo o saber social. Para isso seria preciso ver no Direito moderno a
capacidade de arrastar elementos do cotidiano para o tempo mítico.
8.a.1.c O tempo do Direito – a magia dos Autos
“Quod non est in acti non est in mondo” - “O que não está nos autos não está
no Mundo”. Esta frase famosa no seio forense ilustra bastante o quanto o Direito
é mítico. A frase implica uma separação radical entre o mundo e o mundo dos
autos, da onde retira-se a divisão tão comum e já dogmatizada de “verdade mate-
rial” e “verdade processual”.
A simples crença de que é possível haver uma verdade para além daquela
dos fatos que ocorrem em sucessão no cotidiano, já demonstra o quanto o Direito
é capaz de criar para si um mundo próprio, mitológico. O mais interessante é que
são justamente as “disciplinas” mais dogmáticas do Direito, em especial, as disci-
plinas processuais (Processo: Civil, Penal, Penal Militar, Trabalhista e, sobretudo,
Legislativo)164 que permitem esta mitologização.
Tal mitologização consiste, resumidamente, em destacar elementos e fatos
do mundo cotidiano – submetidos ao tempo cotidiano – e alocá-los no esquema ida-
-evento-retorno, geralmente com um personagem central; alocá-los no mundo do
Direito, dos autos, das peças e das prisões – submetidos a um tempo próprio, que se
destaca da realidade e dela distoa, um tempo mítico.
164 Conferir item 4.b.1.1 deste trabalho, em que analisamos a origem mitológica do processo, aliada a origem
ritualística da técnica.
105
pedro dourados.indd 105 16/10/2012 12:14:36
Sendo mitológico, o Direito passa a ser a região em que todos os demais
ramos da sociedade encontram-se e dialogam, e a partir do Direito encontram
uma delimitação própria para seus próprios discursos165.
Esta mitologização, porém, não é trabalho somente da processualização do
mundo cotidiano, mas também da introdução de conceitos racionais que per-
mitiram aos sub-ramos do direito racionalizarem-se funcional-discursivamente,
tornando-se altamente abstratos: é o caso específico da teoria da ação, no seio da
Teoria do Delito em Direito Penal. Anotamos, pois, que este é um fenômeno que
deve ser tomado como recente: apesar de o Direito ter se desenvolvido a partir dos
ritos antigos ele não foi sempre mitológico166.
Agora, pensando em destaque o Direito Penal, vamos focalizar os efeitos que
a teoria da ação gera em seu caráter mitológico quando introduz elementos do
mundo cotidiano ao esquema ida-evento-retorno; mas, a pergunta que fica, qual
elemento em Direito Penal, especialmente, é retirado da lógica temporal da suces-
são de eventos que caracteriza a cotidianidade para a lógica mítica? O agente – é
justamente aquele que age que é arrastado para esta lógica de ida-evento-retorno.
8.a.2. A ação do agente
Quem é o criminoso? É aquele que comete uma ação típica, ilícita e culpá-
vel, na teoria mais difundida atualmente no Direito Penal. Este é o lado cons-
ciente e racionalizado da teoria da Ação em Direito Penal. Como afirmamos
acima, porém, toda sociedade possui também seu lado inconsciente e fatores que
não podem ser explicados, mas somente experimentados.
O mesmo se passa com a percepção que temos do criminoso. O criminoso se
torna um objeto de análise, quer para o Direito Penal, quer para a Criminologia
ou ciências análogas, e passa a ser estudado em seus aspectos racionais. A Crimi-
nologia, em detrimento da Dogmática, porém, tem a vantagem de se prostrar de
maneira um tanto quanto mais completa sobre o fenômeno do crime e a pessoa
do criminoso, não somente por causa de seu saber interdisciplinarmente cons-
truído, mas também por desconfiar que a explicação dogmática esgote o crime
na sociedade (que é, entre outras, uma das principais razões para se construir um
saber interdisciplinar, justamente, cf. SHECAIRA, 2011).
Cremos, porém, que há um aspecto ainda muito pouco abordado sobre o
agente do crime, que é a percepção inconsciente que os demais cidadãos (os não-
-criminosos, e, em certa medida, os demais criminosos) fazem do criminoso sobre
o qual se colocam as luzes.
165 Para uma análise mais específica deste papel do mito no que denominanos “cultura”, conferir o capítulo 1
do trabalho.
166 Lembramos, mais uma vez, que os ritos religiosos não são, necessariamente, mitológicos. Por outro lado,
este caráter mitológico do direito depende em grande parte do desenvolvimento apurado principalmen-
te, como dissemos, das disciplinas processuais, e de uma concepção de processo como independente do
Direito Material, algo que não data de antes do século XIX.
106
pedro dourados.indd 106 16/10/2012 12:14:36
Se pensarmos em termos roxinianos, a ação é manifestação da personali-
dade. Em um crime, temos sempre, pois, uma pessoa – termo que será pensado
de maneira mais própria à frente – que age de maneira a deixar vir à tona a sua
personalidade e, caso esta ação esteja relacionada a um aumento de um risco não
permitido, esta é uma ação criminosa.
Mas, a pergunta que ainda fica é: o que torna o agente de uma ação crimi-
nosa um criminoso?
Não queremos cair aqui no nominalismo, mas é inegável que existe um
“conceito social” que paira na linguagem comum, um conceito de criminoso que
é imputado com força a pessoas que cometem um único crime, ou mais (geral-
mente os crimes mais “graves”, que envolvem violência física, sobretudo). Poder-
-se-ia atribuir, como no ceticismo de Bourdieu ou Ferraz Junior, esta implicação
à “violência simbólica”167.
Esta atribuição é esclarecedora, pois revela um aspecto não-consciente, não-
-racionalizado de uma criação de sentido – e nós seguimos por uma linha análoga.
Como dissemos em nossa crítica à concepção roxiniana da ação, o corpo é
parte constituinte do indivíduo e está inevitavelmente ligado à noção de Ação
(BAKHTIN, 2003), e cremos ser uma das principais pontes entre a ação e o
agente, pensado não somente em termos corporais, mas em termos de pessoa.
Uma pessoa para a sociedade é certamente uma pessoa com corpo, por mais
que esta concepção de corpo possa assumir um caráter místico, como na concep-
ção “pessoal” de Deus no judaísmo e no cristianismo. YHWH168 é um Deus com
“rosto”, visto por Agar169, por exemplo, com coração – pois o Rei Davi170 era um
“homem conforme o coração de Deus” – e com uma inteligência fora do alcance
– como se percebe nos Provérbios de Salomão171 – e isso é condição para um
possível relacionamento pessoal entre Deus e o homem. LaCoque (LACOQUE,
RICOEUR 1998) afirma ainda que se o homem é “feito à imagem e semelhança
de Deus”, isso implica dizer não somente que o homem é “teomorfo”, mas que
também Deus é “antropomorfo”.
167 A teoria da violência simbólica define que a significação dos termos na linguagem é imputada e afirmada
por meio de relações de poder, que podem garantir a certeza de um significado em detrimento dos demais,
criando códigos fortes e fracos. Bourdieu e Ferraz Junior, apesar de partirem de diferentes pressupostos
(Bourdieu trabalha com uma teoria dos campos da sociedade, enquanto que Ferraz Junior adere a uma
concepção pragmático-comunicacional da mesma), o ceticismo – que não é visto aqui como um defeito,
mas como uma postura – de ambos, porém, os aproxima. V. BOURDIEU, Pierre A Economia das Trocas
Simbólicas, FDUSP: São Paulo, 2010 e Ferraz Junior, Introdução ao Estudo do Direito, (2007).
168 O “nome” hebraico de Deus, na verdade, uma soma de quatro consoantes que não “produzem” som algum,
pois nomear a Deus não é algo assim tão fácil.
169 Agar fora, nos Gênesis, a esposa concubina de Abrão que engravidou de seu senhor a pedido de Sarah, es-
posa “oficial” de Abrão. Após engravidar, porém, Sarah enciumou-se de Agar e expulsou-a, abandonando-
-a no deserto, pelo que a serva foi acudida por YHWH.
170 Na Bíblia, pode-se ler relatos de Davi em I e II Samuel, mas também dados em I e II Reis e I e II Crônicas,
além, é claro, dos Salmos, escritos em grande parte, pelo próprio Davi.
171 Mas também no “livro mais pessimista da Bíblia”, os Eclesiates, também escritos por Salomão.
107
pedro dourados.indd 107 16/10/2012 12:14:36
É, ainda, a antropologia cristã que ajuda a explicar a imputação da ação ao
agente. Pensa errado quem iguala a relação corpo-espírito172 presente no cristia-
nismo com o dualismo platônico. Platão nunca pensou o homem como um ser
encarnado, mas pensava em uma separação entre o mundo das ideias e o da ma-
téria173. Para o cristianismo, por mais que haja uma diferença entre o espiritual e
o corporal, estas “esferas” não são, de modo algum separáveis, sem que se pague
um preço por isso: tirar a vida do corpo é tirar a vida da alma, por exemplo174.
Esta inseparabilidade do corpo-espírito é que permite aliar o simbólico de
uma ação a uma pessoa enquanto indivíduo constituído de corpo, e até mesmo
suas ideias ao seu corpo, mas também um corpo, uma imagem material, a uma
personalidade psíquica – relação que nos dá inúmeras consequências, como por
exemplo, que não há real separação entre fazer e falar, além de muitas outras175.
A imputação fica, assim, explicada: nossa sociedade alia corpo e espírito de
maneira inseparável, de maneira que quando um agente comete uma ação crimi-
nosa, automaticamente os efeitos e os valores desta ação podem ser a ele atribuí-
dos enquanto pessoa, pessoa criminosa.
8.a.2. A Ação do Herói e a Infra-ação do Anti-heroi
Como citamos acima, Campbell adotou a teoria dos arquétipos do incons-
ciente coletivo desenvolvida por Jung para afirmar que os mitos se estruturam
em torno de arquétipos de herois que, apesar de possuírem uma faceta muito ca-
racterística em cada local onde o mito se desenvolve, e também em cada época,
corresponde a um único arquétipo de o herói.
Este herói é o herói de mil faces. O mesmo herói, que parte-realiza-retorna e as-
sume, em cada local e tempo diferentes, uma especificação própria, sem nunca per-
der as características arquetípicas que fazem dele um ser único, mas multi-facetado.
Assim, na visão de Campbell, “o que as diferencia [as histórias de heróis] é o
grau de ação [física] ou de iluminação [espiritual]” (CAMPBELL, 1988b, vid. 1\4,
05’46”). Quanto maior o grau de esforço físico (maior a guerra, mais numerosos os
172 Esta relação também pode ser vista como corpo-espírito-alma, mas não podemos, aqui, entrar de maneira
mais aprofundada nesta questão teológica.
173 É verdade que o próprio Platão não era dualista, como se costuma afirmar com certa facilidade e preguiça.
Ricoeur in Da Metafísica à Moral, (1997), pp. 13 e ss. explica que o dualismo é a conclusão apressada de
uma leitura das “categorias” platônicas, as quais eram quatro (Ser, Movimento, Matéria, Repouso), mas
que se viam contraposta por uma meta-categoria, a qual era ideal.
174 Esta questão é muito bem trabalhada no ensaio de Julián Marías, A Perspectiva Cristã. São Paulo: Martins
Fontes, 2000 – em especial capítulos V, VIII e XV. Kierkegaard também teria desenvolvido esta concepção
de homem em termos de uma filosofia dialética, segundo a qual o homem é a síntese dialética entre corpo
e espírito, do que tirou muitas conclusões que o faria, facilmente, o pai da Psicanálise. Esta concepção traz
complicações por se imiscuir com a filosofia de Hegel, porém, razão pela qual, somente a citamos de passagem.
175 Esta concepção é similar à de Fromm, quando afirma, como relatado supra, que o corpo pode ser visto
como um “símbolo” da psique humana, mas também nos lembra a teoria dos Speech Acts, desenvolvida
por Austin e aprimorada por Searle.
108
pedro dourados.indd 108 16/10/2012 12:14:36
inimigos, maior o monstro) ou de esforço espiritual (maior a clausura, mais alto o
contato com outros seres, mais corajosa a atitude) mais herói será o herói.
Se o Direito, como afirmamos acima, tornou-se o novo campo mitológico da
sociedade super-complexa e, atualmente, nos fins da modernidade, senão já após
o seu fim; e se é ação grande responsável por trazer o criminoso para o campo do
mitológico – ou seja, para um tempo que se organiza sob a forma de ida-evento-
-retorno – o que acontece com aquele agente para que se torne criminoso, e o
que exatamente isso significa? Teria o criminoso se tornado um herói?
Certamente não se torna o agente de uma ação criminosa um herói, mas,
sim, um anti-herói.
O anti-heroi é aquele que parte em uma aventura fatalista, como nos ensina
a Dialética do Esclarecimento176 (ADORNO, HORKHEIMER, 1985), sai de uma
normalidade pluri-subjetiva não somente em nome seu, mas de toda uma comunidade,
ou de valores maiores (ida) para realizar um algo ao qual se sente compelido, ou
fortemente estimulado (evento) e, enfim, volta para ver como sua comunidade
ou seus valores recepcionam o evento em questão (retorno)177.
Diferentemente do Heroi, por um lado, o Anti-heroi não faz parte nem de
uma ida nem de um evento positivamente valorados, de modo que seu retorno
(que sempre depende de outras pessoas para ocorrer) também não será constitu-
ído pela entrega dos “louros dourados”, mas de uma pena.
Diferentemente do Inimigo, porém, não se quer a morte (no sentido de ex-
termínio), a eliminação do Anti-heroi. O Inimigo é como um parasita incômodo,
como um vírus ou uma bactéria, que se decide conscientemente eliminar, rechaçar.
Ainda que Jakobs o queira muito, o Direito Penal está mais preso à noção de
Anti-heroi que à de Inimigo178.
Por mais que o Anti-heroi seja anti-ético, por mais que suas ações sejam
insuportáveis, a sociedade não consegue dele se separar, não consegue optar por
rechaçá-lo definitivamente. Assim como o herói, pois, o anti-heroi é alguém
próximo179, pode ser um amigo, um familiar, um co-patriota, mas nunca um “es-
tranho” a quem sou indiferente. Mesmo que o Estado mate seus criminosos,
mesmo que a sociedade o faça, ela nunca o faz como sendo uma vitória, como se
estivesse, justamente, matando o Inimigo, mas sim, sacrificando um dos seus, já
que foi incapaz de re-integrá-lo.
176 Este fatalismo ainda não é um determinismo, pois – e isso é claro na história de Aquiles, por exemplo – o
fatalismo pode muito bem se desenvolver a partir da escolha humana, pelo que a Vontade continua sendo
um paradigma para a teoria da Ação.
177 Exatamente por isso que na tragédia grega a morte é o retorno, principalmente qundo ela se dá distante de
casa, pois morrer é integrar o mundo dos mortos, a quem se rende culto in memoriam. Ver, por exemplo, a
grande dor de Antígona e o dilema em torno de sua morte.
178 Direito Penal do Inimigo se mostra, pois, como uma civilização do Jus Bellum, altamente racional, estupi-
damente guiado por finalidades pré-estabelecidas, e nem um pouco democrático.
179 Essa proximidade está mais relacionada a um “querer que seja/esteja próximo” que a um “é/está próximo”,
relacionado ao processo de identificação que deveria culminar em uma “catarse” e não em uma proximi-
dade quase cotidiana.
109
pedro dourados.indd 109 16/10/2012 12:14:36
A literatura brasileira conhece bem um anti-heroi, exemplo que se tornou
clássico em nossa cultura, que é o desenvolvido nas Memórias de um Sargento de
Milícias180, romance de Manuel Antônio de Almeida, primeiramente publicado sob a
forma de folhetins no século XIX.
O romance desenvolve a história de Leonardo, o filho de um oficial que seria o re-
sultado “de umas pisadelas e uns beliscões” entre Leonardo-Pataca e Maria Hortaliça.
Logo esta introdução às origens do personagem principal denuncia a formação anti-
-heroica do mesmo. O romance é, praticamente, uma estrela solitária que retrata uma
pessoa aparentemente comum, ainda que sob os holofotes do romance nela centrada;
uma pessoa do povo, que vive nas ruas, nas rodas de música, nas procissões populares,
radicalmente diferente de seus contemporâneos romances, os quais retratavam a aristo-
cracia em histórias que fugiam tanto do padrão da normalidade quanto do da realidade.
Leonardo, após ser apresentado como fruto de algumas banais relações se-
xuais, é apresentado como uma criança travessa, e como um jovem que causa
problemas e “se mete em encrencas”. Após um certo desenrolar de fatos, tudo
termina bem, o final feliz é marcado, como em um romance romântico tradicio-
nal, por um casamento na Sé – mas na mesma Sé onde o Leonado, agora noivo,
um dia aprontava suas travessuras.
A trajetória hetero-doxa de Leonardo não deixa de fazer dele um persona-
gem interessante, com quem o leitor identifica-se com facilidade, principalmente
pelos episódios cômicos na infância e tragi-cômicos na juventude desregrada. Le-
onardo é um personagem que prende, que chama atenção, ainda que não seja o
Martim de Iracema, ou o índio Ubirajara do romance análogo – obras do mestre
romântico brasileiro, José de Alencar.
O anti-herói é alguém em quem se encontram traços certamente reprová-
veis, traços que desejamos eliminar, mas que fazem parte da própria constituição
do personagem (HOFFMAN, 2010). A negatividade do anti-heroi não é algo
que advém do exterior como uma praga fatal, mas sempre algo dependente, em
certa medida, de seu caráter/gênio e, sobretudo, de suas próprias decisões181.
Assim é que entendemos que a sociedade enxerga, inconscientemente, o
criminoso: como o seu anti-heroi. Isso não quer dizer que, isoladamente, um
criminoso não possa ser o inimigo de alguém, ou de um grupo de pessoas que
sofreu com o crime praticado – mas para a sociedade, olhada quantitativamente
“acima”, o criminoso é alguém por quem nos interessamos, cuja história é per-
tinente, cujas razões querem ser descobertas: “por que, afinal, ele cometeu esta
maldade?” – esta é a main question de toda série/filme policial.
180 O texto pode ser acessado na íntegra em http://www.fosjc.unesp.br/prevest2/PREVEST/HUMANAS_fi-
les/Memo%CC%81rias%20de%20um%20sargento%20de%20mili%CC%81cias,%20de%20Manuel%20
Antonio%20de%20Almeida.pdf.
181 Assim é toda determinação mitológica, a qual sempre põe o evento como uma consequência da ida, mas a
ida é sempre uma consequência da opção do agente. E se não o é, é preciso que se faça crer que assim o foi.
110
pedro dourados.indd 110 16/10/2012 12:14:36
8.b O paradigma do mito e o paradigma da ação
Ação e Mito entrelaçam-se, e esta é nossa hipótese, no Direito, ou, refor-
mulando, pela ação, no seio da teoria do Delito em matéria de Direito Penal,
podemos enxergar a carga mitológica atual do Direito. Isso pode nos levar a se-
guinte pergunta, que vem sendo trabalhada não somente na teoria do Direito,
mas especialmente na teoria da Sociedade: seria essa uma razão para buscarmos
uma “mudança de paradigma” e deixarmos de lado a análise do delito (e demais
elementos constitutivos da sociedade) em torno da ação e lançarmos mão da teo-
ria da comunicação – tal como retrata a problemática Villas Bôas Filho (2006)182?
Nossa resposta é não, e as razões são duas, as quais serão desenvolvidas agora:
1. O fato de a teoria da ação nos revelar o aspecto mítico do Direito não nos
deve fazer abandoná-la por nos levar à dialética do esclarecimento. Muito
pelo contrário, ao nos deixar conscientes de tal dialética, a qual independe
de nossas decisões conscientes, devemos trabalhar também dialeticamente
com a ação e com o mito enquanto paradigmas para uma análise crítica
do Direito. Isso nos leva a uma crítica à associação, tanto a nível do saber
comum, quanto a nível acadêmico, do jogo de linguagem (Sprachspiel) que
associa “mito” a “minto”, como fruto de uma imposição das “Luzes” (Die
Lichte der Aufklärung).
2. O fato de a teoria da comunicação, especialmente como ela será abordada
aqui, ou seja, conforme Luhmann a utiliza para estruturar sua teoria da
sociedade, possui uma zona sombria em sua teoria na parte da “compreen-
são”, a qual seria elemento constitutivo do próprio processo comunicativo,
sem, porém, a inclusão do homem neste processo.
8.b.1. O mito e a mentira, uma mentira sobre o mito
Pode parecer lógico, ou, até mesmo, evidente, que devamos abandonar toda
e qualquer teoria da ação tanto no interior do Direito Penal, quanto de uma teoria
mais genérica do Direito ou, ainda, no interior e na base de uma teoria da sociedade,
como as de Parsons183 e Habermas, entre tantos outros (cf. CARVALHO, 1993).
O que queremos anotar é que esta “obviedade”, esta inequívoca repulsa
pelo “mito”, a qual baseia jogos de linguagem como, por exemplo: “o mito do
182 Em sua obra, Villas Boas Filho faz uma contraposição entre as teorias de Habermas (ação) e Luhmann
(comunicação), para escolher pela segunda.
183 Parsos que pode, por sinal, ser visto como um paradigma pouco valorizado no Brasil, em termos de socio-
logia do século XX. Sua Theory of Social Action reúne tanto o funcionalismo em sua faceta mecanicista,
herança da escola de Durkheim, quanto em sua faceta material, herança de Marx, com uma refinada
análise da “ação social”, conforme ensinamentos de Weber.
111
pedro dourados.indd 111 16/10/2012 12:14:36
espaço público” = “a mentira do espaço público” não é uma verdade em sentido
absoluto. Wittgenstein (1996, pp.44 e ss.) explica que um jogo de linguagem, de
certo modo, como os jogos que as crianças jogam, se aprende assimilando as re-
gras do jogo, e isso se dá na práxis do jogo mesmo.
Assim, a equivalência entre mito e mentira se deu no interior de asso-
ciações discursivas, que passaram a ser assimiladas pelos falantes de diferentes
linguagens onde este jogo específico é um jogo válido (proposição verdadeira),
de modo que o sentido de mito e mentira ficou demasiado aproximado. Por que
isso se deu? Como isso ocorreu?
Parece-nos que esta aproximação tem muito a revelar sobre a própria dia-
lética do esclarecimento, em um papel que tanto Adorno quanto Horkheimer ig-
noraram. Adorno, ainda na Dialética Negativa, e talvez menos, mas ainda assim,
na Teoria Estética, trata o mito como um oposto inseparável, a negação mesma
da razão – neste sentido, Adorno permaneceu um conceitualista, ponto em que
divergia do Nietzsche que afirmava: “A ‘razão’ na linguagem: oh, que velha, en-
ganadora personagem feminina! Temo que não nos desvencilharemos de Deus,
porque ainda acreditamos na gramática” (NIETZSCHE, 1996, p. 376).
O que já censuramos acima em Adorno e Horkheimer, em Freud, em Jung
e em Campbell, reforçamos, aqui, mas não aderindo o posicionamento de Niet-
zsche. O nihilismo, neste caso, somente nos ajuda a compreender que, se houve
alguma associação entre “mito” e “minto”, essa associação não foi mais que uma
associação, uma imputação gramatológica – para falar com Derrida – de sentido,
a qual pode ser descontruída, ou – para falar com Wittgenstein – um jogo de lin-
guagem, que não é absoluto, e pode ser transformado.
Tanto a associação Razão-racional/Mito-irracional, quanto a associação Ra-
zão-verdade/Mito-mentira são associações discursivas que não dizem nada em si.
Como explica Bakhtin (1993), as palavras são, sempre, neutras, mas, a cada vez,
valoradas184. Isso não impede associações de um modo geral, mas impede associações
por si só. Este não é, como se enganam alguns, um ensinamento originário quer da
filosofia analítica, quer da filosofia pragmática ou da ontologia fundamental185.
Em hebraico bíblico, já era a palavra “émeth” significação que precisamos
traduzir tanto como “verdade” quanto como “fidelidade”. O verdadeiro é o fiel186,
184 Isso quer somente dizer que não existe o “sentido de dicionário”, pois as palavras são em si, se é que há
esse em si, neutras; tal neutralidade, porém, torna-se justamente a condição para que seu uso seja sempre
“ideológico”, em sentido bakhtiniano, que será explicitado mais abaixo.
185 É preciso não confundir a teoria da “palavra” de Bakhtin com a teoria segundo a qual a palavra é uma “caixi-
nha”, podendo ser preenchida com qualquer conteúdo como se esta tal “caixinha” fosse um nada. A palavra
tem uma história e a mudança de seu sentido está associada às mudanças sociais mesmas, e pode se dar de
modo paulatino, revolucionário, por meio de um golpe de Estado ou ainda pela insistência do uso popular.
186 Cremos necessária esta afirmação, ainda que seja preciso dizer que ela não esgote uma “teoria da verdade”.
Para o desenvolvimento do tema em um sentido próximo do que trabalhamos aqui, cf. RICOEUR, Paul.
Soi même comme um autre. Paris: Seuil, 1990. pp. 34 ss. Além disso, porém, é preciso afirmar que a relação
por nós estabelecida diz respeito a uma verdade e não à verdades que se amontoam no sentido subjetivo
112
pedro dourados.indd 112 16/10/2012 12:14:36
e neste sentido, verdade e justiça aproximam-se, o que revela que a existência de
verdade passa a depender de dois fatores: de responsabilidade e de prova-fiel187.
A aceitação ou o reconhecimento são elementos que propagam a verdade, e isso nos
ensinou a filosofia da comunicação (cf. FERRY, 2007, pp. 31-40), mas de maneira
nenhuma a verdade deles depende.
Com esta discussão queremos afirmar essencialmente duas coisas: em pri-
meiro lugar, que se houve alguma associação entre mito e mentira é porque esta
associação é decorrente de outra – a qual provavelmente ocorreu no iluminismo,
nos idos de Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel... – de que a Razão é a ver-
dade; em segundo lugar, duas outras coisas co-dependentes, pois derivadas da
primeira, é afirmar que não faz sentido asseverar que “Mito é o contrário de
Razão” e a segunda é que não faz, pois, sentido afirmar que “Mito é Mentira”.
Como trabalhamos acima, Mito fala tanto ao consciente quanto ao incons-
ciente, ao racional (pela narratividade) e ao irracional (pelo simbolismo) – e não
exclusivamente ao irracional.
Esperamos, com isso, ter desconstruído brevemente a impressão injustifi-
cada de que a Razão é a verdade e que por decorrência lógica o Mito é a men-
tira. Há, nisso, 3 erros: associação infiel (pois não há nem prova nem marca de
responsabilidade) entre razão e verdade; associação infiel entre mito e mentira e,
por fim, oposição infiel entre mito e razão – até porque, convenhamos, algumas
mentiras são muito racionais.
Logo, se a crítica das Teorias da Ação nos revela o mito no Direito Penal, isso
não deve ser motivo para abandonarmos o paradigma da ação por medo de “irra-
cionalismo”. Como afirmamos acima, o fato de a teoria da ação nos revelar a po-
tencialidade de inconsciente que nos traz o Direito Penal altamente racionalizado
deve nos estimular a insistirmos nesse paradigma, com o principal objetivo de
mantermos sempre o olhar crítico sobre as associações provocadas em matéria de
Direito Penal, por intermédio do Processo Criminal (agente = criminoso; ação =
ou, mesmo, objetivo, como um conjunto de relatos de sentimentos ou de postulados físicos. Estes tipos
de verdade se baseiam em dados usualmente fixados em um passado a ser memorado, em um passado
um tanto quanto rigidamente distinto do momento presente e que é trazido à tona por um movimento
tipicamente mitológico. O verdadeiro enquanto o fiel apresenta não só uma verdade que foi, pois não mais
fosse não mais teria credibilidade, mas que é e, justamente por ser fiel hoje pode nos apontar o futuro – pela
categoria da espera e da confiança.
187 Certamente, um pode absorver o outro. A noção de responsabilidade não se confunde com o “status” da-
quele que emite a afirmação dita verdadeira, e sim com sua capacidade de adotar para si as imputações dos
resultados derivados da prova da veracidade de sua afirmação. Neste sentido a responsabilidade depende,
sim, da imagem que se forma da pessoa ou da instituição que emite o enunciado dito verdadeiro, mas,
ainda que ela seja pouco “confiável”, ela é capaz de provar que aquilo que diz é verdadeiro – e está-se aqui
mais ao lado da retórica que de qualquer outra coisa. Entretanto, uma pessoa capaz de grande retórica
pode não ser confiável, e todas suas afirmações serão tidas como irresponsáveis, diminuindo a veracidade
mesma da afirmação. A veracidade de uma afirmação depende, pois do contexto em que a afirmação é
emitida, mas também ela própria influencia o seu contexto, podendo ser verdadeira mesmo em um con-
texto com regras de intepretação desfavoráveis.
113
pedro dourados.indd 113 16/10/2012 12:14:36
crime; fato = fato típico; tempo = prescrição; entre outros), para agirmos sempre
conscientemente, pois esta é a nossa opção.
Não podemos nos dar ao luxo, enquanto operadores do Direito Penal, de
criminalizar alguém sob efeito de um mero jogo de linguagem: prender alguém; isso
não é um jogo de linguagem. Quando a linguagem, porém, é usada de maneira
“responsável e fiel”, ela revela seu potencial de verdade, e torna possível um dis-
curso justo, o que realiza e extrapola o anseio de Ricoeur (2002), expresso na úl-
tima linha de A Metáfora Viva: “inserir o homem no discurso, e o discurso no ser”.
Não há motivo absoluto para crermos que somente os antigos tinham mitolo-
gia, e que nós estamos dela isentos, ou que, no máximo, a mitologia hoje se mate-
rializa pelo crescimento de certo misticismo ou de uma nova guinada em direção à
religião; longe disso, reconhecer o mito no seio do Direito me parece uma boa pos-
sibilidade de motivarmo-nos a uma constante análise crítica do discurso jurídico188.
Precisamos, pois, insistir no paradigma da ação.
8.b.1. Luhmann e o problema da compreensão
comunicacional
A teoria sistêmica de Niklas Luhmann é um dos mais importantes paradig-
mas epistemológicos da segunda metade do século XX. Teubner (1989) aponta a
teoria sistêmica ao lado da crítica radical à intromissão discursiva do poder que
Foucault realiza, sobretudo em Arqueologia do Saber (FOUCAULT, 1995) e à te-
oria da ação comunicativa de Habermas (1999, 2002, 2009a).
Teubner explica as similitudes e as diferenças entre as teorias, tendo como
ponto de partida a necessidade epistemológica de uma teoria da sociedade – que
não esteja construída sobre o “sujeito” – de lidar com o “paradoxo da autorreferên-
cia”. Villas Bôas Filho (2006), jurista pátrio, retoma a discussão a partir deste ponto
para, assim como Teubner, fazer a opção pelo paradigma epistemológico sistêmico.
Antes, porém, de se adotar o paradigma sistêmico é preciso concordar com
Luhmann sobre comunicação. Aqui se faz necessária uma explicação de conceitos.
Pêcheux (1993) aponta que havia na linguística do século XX dois paradigmas
de análise distintos. O primeiro seria de viés empirista e lidaria com a linguagem
a partir da noção de “irritação” ou “motivação”, ambas tomadas em seu sentido
somático-neuro-fisiológico, ou seja, um ser vê-se irritado, e emite uma mensagem
por meio da linguagem a fim de irritar o corpo de outrem. O outro viés seria o
que partiria da função da linguagem, adotando a concepção comunicacional de
188 O termo “discurso” é inesgotavelmente amplo. Dentre os referenciais teóricos já adotados neste trabalho
(Adorno, Habermas, Derrida, Bakhtin, Ricoeur, entre outros) ele possui diversas significações que não
podem ser colocadas em um único “significante” como em uma síntese hegeliana, motivo pelo qual desen-
volveremos este tema à frente.
114
pedro dourados.indd 114 16/10/2012 12:14:36
Jakobson, para quem a linguagem visa a comunicar. Emitente-mensagem-recep-
tor são vistos, pois, como lugares funcionais189.
O posicionamento de Luhmann quanto à comunicação parece ficar a meio
termo entre uma e outra. Quando Habermas levanta, em suas análises da teoria
sistêmica (cf. HABERMAS, 2002; idem, 1997), que Luhmann é um “empirista”
ele está, na verdade, se referindo ao mesmo paradigma que Pêcheux definiu como
“fisicista”. Esta problemática dá-se porque, em Luhmann:
1. Sociedade e Sujeito se diferenciam radicalmente, de modo que a Socie-
dade é exclusivamente formada de comunicações e o homem somente
possui acesso a ela de maneira indireta, por exemplo, por intermédio da
linguagem (LUHMANN, 2007b).
2. A comunicação, por sua vez, tem como “meio” o sentido (de modo similar ao
pensamento, em oposição à vida, que seria o “meio” dos sistemas biológicos).
3. Luhmann trabalha com inúmeros conceitos e formulações da “biociberné-
tica” (v. Introdución, LUHMANN, 2007b; HABERMAS, 2002), a ciência
“fisicista” por excelência, quando adota, por exemplo, o conceito de “má-
quina de sentido” para definir a sociedade (LUHMANN, 1997).
A nosso ver Luhmann se coloca a meio termo entre os dois tipos de paradigma.
A adoção de ideias cibernéticas (“máquina”; “ciclo”; “input”; “output”; entre mui-
tos outros termos que Luhmann ora empresta, ora modifica) e, principalmente,
o próprio foco – e grande inovação por parte de Luhmann – da teoria sistêmica
aplicada às Sociais que é a ideia de autopoiese (LUHMANN, 1997; idem, 2007b;
HABERMAS, 2002; VILLAS BÔAS FILHO, 2006; TEUBNER, 1989) ajudam tal
teoria a ser reconhecida como uma derivação das antigas teorias da linguagem190
que viam o fenômeno linguístico mesmo como fruto de irritações neurológicas.
A poiese da sociedade, porém, enquanto um fenômeno de criação indepen-
dente e autônomo não é, de todo, uma novidade luhmanniana, pois já aparecera,
por exemplo, em Castoriadis, mas ligado mais ao simbólico que ao em-si da co-
municação, separada do homem.
O que afasta Luhmann da cibernética, porém, e que o aproxima dos estrutu-
ralistas, por outro lado é, justamente, a abordagem do “sentido”, a qual Luhmann
faz seguindo a Husserl (LUHMANN, 2007a, pp. 30 e ss.).
O sentido tal qual pensado por Husserl, porém, com grandes ressalvas. Para
Husserl (1996, p. 26) o sentido (Bedeutung ou Sinn, o autor não diferencia os
189 É preciso alertar que apesar disso e apesar de topos significar “lugar”, não há um encaminhamento para a
tópica jurídica aqui.
190 Certamente Luhmann, ao adotar termos da Cibernética não lidou, somente, com “teorias da linguagem”,
resumimos sua aplicação, porém, ao exemplo dado por Pêcheux. A própria noção de autopoiese vem de
uma teoria cibernética da biologia.
115
pedro dourados.indd 115 16/10/2012 12:14:36
termos) está diretamente ligado à “intencionalidade” daquele que emana uma as-
serção significativa. Luhmann, aparentemente, rechaça esta hipótese, mas man-
tém as demais perspectivas quanto ao sentido, e sua visão – metaforicamente me-
diada – enquanto um “horizonte” no qual os objetos aparecem e, neste sentido,
concorda com as anotações de Deleuze (1974, pp. 21-38), citando, inclusive, este
último em La Religion de la Sociedad (2007a)191.
O sentido, porém, em Luhmann, é pensado para a Sociedade enquanto co-
municação.
A comunicação, por sua vez, inclui a “emissão, a mensagem e a compre-
ensão”. Tendo em mente, porém, que “sólo la comunicación comunica” (LUH-
MANN, 2007b), Luhmann é levado a dizer que nos processos comunicativos
da sociedade, os quais se “auto-geram” (autopoiese), deve estar inclusa a com-
preensão da comunicação pela própria comunicação. Bechmann e Stehr (2011, p.
193) entendem que, em Luhmann, a compreensão existe “como condição para
a transferência de sentido em comunicações ulteriores” e, “consequentemente,
compreensão significa uma rede não-arbitrária de eventos comunicativos em um
processo de comunicação auto-referencial” (idem, ibidem, p. 194). Ainda para
Bechmann e Stehr, a comunicação, enquanto síntese de emissão-informação-
-compreensão “é um evento auto-referencial e fechado” (p. 193).
Este enclausuramento do processo comunicacional pode-se ver pela impor-
tância da “informação” no mesmo, como uma influência do ambiente no sistema,
mas a partir da observação que o sistema faz do ambiente, ou da observação de
que ele também é observado, gerando uma nova informação a qual pode ser com-
preendida ou rejeitada pelo sistema, leia-se:
Temos que a informação, pois, constitui-se como o start da comunicação e, numa
dimensão mais ampla, como a matéria-prima para o funcionamento dos sistemas.
Caracteriza-se, objetivamente, pela observação da novidade por um sistema. A
participação constitui-se como o momento intermediário da comunicação. Nesta
etapa, há a incorporação da novidade nos processos de auto-reprodução do sis-
tema. E, por fim, a participação faz um sentido para o sistema, quando então
temos a compreensão, ou rejeição, da informação. A partir da compreensão,
desencadeiam-se as conseqüências da incorporação da novidade (informação).
Estas podem ir desde a desestruturação dos padrões cognitivos do sistema, de seu
desequilíbrio e perecimento, ao seu fortalecimento e complexificação; ou mesmo,
ainda, à manutenção da estabilidade do mesmo processo autopoiético existente
antes da comunicação, se esta se apresentar apenas como redundância.
(SOARES, 2006, p. 5).
191 Uma citação não é, certamente, uma fonte inquestionável de certezas. Ocorre que há entre a proposta
abertamente metafísica de Deleuze, a proposta pretensamente anti-metafísica de Derrida e a proposta pós-
-metafísica de Luhmann uma relação que depassa as semelhanças de família. Nesta linha de análise estilística,
uma outra nota também é relevante. Ao explicar o sentido em La Sociedad de la Sociedad (Die Gesellschaft der
Gesellschaft), Luhmann cita novamente Deleuze, como um mantra, repetindo: “le sens est toujours effet”
116
pedro dourados.indd 116 16/10/2012 12:14:37
Um outro ponto também relevante, é que, em Luhmann, compreensão e
incompreensão fazem parte do que ele chama, genericamente, de compreensão
enquanto uma etapa do processo comunicacional192. Também a possibilidade de
incompreensão deve ser abarcada na noção de “compreensão”, tudo isso, claro,
por parte da comunicação – o que, consideramos, é uma expressão mesma do
paradoxo da autorreferência.
Leia-se a clara explicação que dá Stockinger (2001, p. 66) sobre o fenômeno
da compreensão/incompreensão: “Compreender a nível social pouco tem a ver,
portanto, com eventos psíquicos que ocorrem na consciência individual ou com
atos de pensar. Compreender significa um evento conectivo que está ligado à in-
formação ‘compreendido!’ ou ‘não compreendido!’”193.
Há, nesta concepção de “compreensão”, na teoria sistêmica, uma prova da
enorme coerência da teoria mesma, pois ela reforça a garantia da própria auto-
poiese, para a qual é necessário que “um acontecimento compreenda em si estes
dois aspectos: identidade consigo mesmo e diferença com relação a si mesmo”
(VILLAS BÔAS FILHO, 2006, p. 42). Isso porque sentido não se reduz, em mo-
mento algum, à vida:
Esta constatación que de entrada parece mera conjetura (no hay sentido fuera
de los sistemas que ló utilizan y reproducen como médium), puede superarse si
se mantiene ante lós ojos la consecuenia de la clausura operativa del sistema:
su relación con el enorno es operativamente inalcanzable.
(LUHMANN, 2007b, p. 28).
Ao afirmar, porém, que compreensão e incompreensão comunicacionais
estão contidos na compreensão comunicacional, Luhmann não está, remarque-
-se, inovando, em termos de hermenêutica ou de teoria do conhecimento.
Já Schleiermacher considerava a incompreensão/mal-entendido elemento
essencial da compreensão mesma (RICOEUR, 2008; GADAMER, 2007, pp. 254
e ss.)194. Schleiermacher via a interpretação como um “diálogo entre gênios”, e
sobrevalorizava a intencionalidade do autor na compreensão do “dito” pelo autor
(GADAMER, 2007). Esta visão subjetivista de linguagem (a mesma de Husserl,
em grande medida) foi vastamente combatida por toda filosofia da linguagem no
século XX e não corresponde à compreensão que Luhmann tem da comunicação,
a qual, por sinal, ele enxerga de maneira pré-linguística.
192 Quanto a isso, conferir uma pequena explanação em Villas Boas Filho, Uma Abordagem Sistêmica do Direito
no Contexto da Modernidade Brasileira, (2006), páginas 63 e seguintes.
193 A questão, pois, retorna ao nível filosófico: o que significa afirmar “compreendo” ou “não-compreendo”?
O que significa, assim como se demanda Gadamer em Verdade e Método, o próprio compreender.
194 No livro Hermenêutica e Ideologia, Ricoeur faz vastas referências a Schleiermacher e desenvolve esta ideia
e suas importantes consequências para todo o pensamento hermenêutico alemão passando por Dilthey,
Heidegger e Gadamer.
117
pedro dourados.indd 117 16/10/2012 12:14:37
Acontece que, quer se enxergue a comunicação mediada pela linguagem,
ou não, fica muito difícil atribuir a ela a capacidade de compreensão. Parece-nos
que a compreensão sempre depende, para além do sentido, da resposta concreta
que o emitente-receptor possui, ainda que este emitente/receptor seja uma má-
quina, em sentido literal, um computador, por exemplo.
Não se trata aqui de questionar qual o conteúdo psicológico ou mesmo a
motivação psicológica que possa originar uma comunicação que comunique que
outra comunicação fora compreendida ou não-compreendida.
Nossa crítica vai aqui ao sentido de que a compreensão não pode se dar
“no ar”, na comunicação completamente alheia ao homem (quer visto subjetiva-
mente, quer inter-subjetivamente). Nossa crítica vai no sentido de que a noção
de “compreensão” exige uma resposta que já seja em si significativa e produzida
a partir de um ser que compreenda e que englobe a vida – ainda que no sentido
luhmanniano da mesma. Sentido e vida parecem ser essenciais para uma compreen-
são de o que seja o compreender.
Não à toa, Scheleiermacher considerava a hermenêutica uma “arte” (GA-
DAMER, 2007, p.255) e, não à toa, Gadamer, na esteia de Heidegger, entendia
hermenêutica como “uma doutrina da experiência real, que é o pensamento”
(idem, ibidem, p. 23) e que liga os homens pela universalidade mesma do fenô-
meno hermenêutico. Ainda Ricoeur vai dar um outro sentido para a hermenêu-
tica, radicalizando as intenções um tanto quanto compostas de Gadamer (que
passam por Schleiermacher, Dilthey e Heidegger), estabelecendo uma ligação da
hermenêutica à crítica das ideologias (RICOEUR, 2008)195.
Em Luhmann, parece-nos, a interpretação do homem fica em segundo
plano para a comunicação social, e é neste ponto que enxergamos a maior dificul-
dade de uma “sociedade sem homens”. Pensemos, por exemplo, na comunicação
que se estabelece entre duas máquinas de computador ligadas pela rede WEB.
A emissão, até mesmo a mensagem e a compreensão que uma máquina faz dos
sinais emitidos pela outra existem independentemente da atuação do homem.
E isso pode ser visto como mediado pelo “sentido”. Este sentido, e esta é uma
questão essencial, já é, em si, social? Ou meramente info-mecânico? Este sentido
possui sentido, mas não se trata – é preciso diferenciar – de um sentido comu-
nicacional, a menos que adotemos o circular e vazio paradigma comunicacional
que afirma que “tudo é comunicação – até a não comunicação é comunicação,
pois ela comunica que não comunica”.
Quanto a isso, vale a reflexão de Madeira (2004, p. 130):
Atualmente muito se discute, nos meios acadêmicos ligados de alguma forma
a questões de cibernética, de ciência cognitiva ou de inteligência artificial, a
195 Ricoeur radicaliza com a noção objetiva de texto e, para o autor, tanto aquilo que o texto “quer dizer”
(objeto da hermenêutica clássica) como aquilo que ele “não quer dizer, mas diz” (crítica das ideologia,
psicanálise inclusa) fazem parte de um só grande programa não auto-excludente da Hermenêutica.
118
pedro dourados.indd 118 16/10/2012 12:14:37
respeito dos limites aparentemente intransponíveis a que se vêem sujeitas as
máquinas que deveriam simular mais eficazmente a inteligência ou o pensamento
humanos. O que se considera, nesses contextos, é como se superar os limites que
o denominado “bom senso” impõe aos engenheiros cibernéticos de hoje.
Para um computador, por exemplo, mesmo para os mais avançados ou os de
maior parte, tanto faz se quem os manipula é João ou é José, se é Raquel ou se
é Maria, a forma de relacionamento entre máquina e ser humano será precisa-
mente a mesma, sem se levar em conta a natureza algo diversa dos diferentes
operadores humanos [...].
Luhmann, apesar de desenvolver meticulosamente inúmeras questões pon-
tuais de sua teoria, aborda pouco o significado deste termo tão relevante que é a
“compreensão” e nossa crítica é a seguinte: por mais que Luhmann enxergue a
comunicação separada do homem ele pressupõe o homem enquanto seu autor e/
ou enquanto agente capaz de dotar-lhe sentido de comunicação social196.
Assim, a compreensão da comunicação pela comunicação, em Luhmman, não nos
soa como algo “non-sense” ou que seja “sub-significativo” (cf. LUHMANN, 2007a),
mas simplesmente cujo sentido não pode ser visto como social, por não trabalhar com
o conteúdo relacional inerente ao social e, por relacional, queremos dizer que
o homem (e as instituições humanas, conforme abordaremos infra) é visto como
autor e/ou objeto de uma comunicação, mas, sobretudo, como intérprete da
mesma – sem que a existência de sentido dele dependa197.
196 Ressaltamos que nossa preocupação não é única nem exclusiva.Cf. AGGEO, Miguel A.A. Sistema del deli-
to: uma visión del derecho penal desde la teoria de los sistemas y la ontologia del lenguage. Buenos Aires: Editorial
de la Universidad, 2006. Aggeo adota a linguagem do linguista saussuriano Jakobson e pensa a comunica-
ção ligada ao indivíduo, mas este como “categoria social” (pp. 67-8). O autor critica as visões de Jakobs e
Luhmann, pois entende que as complexidades geradas pelos seres humanos em sistemas comunicacionais
partem de sistemas em si, vivos, ou seja, de uma relação entre indivíduo e sistemas-comunicação. De
tal modo, Aggeo critica a transposição teórica da autopoiese dos sistemas vivos para os sociais (p. 75) e
parte da premissa de que “el sistema social es uma consecuencia de la biologia humana”, a qual pode ser
lida autopoieticamente. Por último, Aggeo entende que a interpretação aproxima o comunicacional do
biológico graças à capacidade psíquica da interpretação, o que reforça sua ligação mais estreita a Maturana
e a uma concepção ontológica de linguagem (p. 80). Apesar de chegar a conclusões diversas das nossas,
entendemos que as críticas de Aggeo a Luhmann são plenamente coerentes e vão no mesmo sentido das
nossas: a separação entre vida e sentido não é capaz de sustentar a autopoiese dos sistemas sociais e a falha
se nota na capacidade de interpretação, que ainda permanece humana.
197 Isso reforça o caráter “artístico” da hermenêutica ou, ao menos, a importância da esfera artística, estética
no formação da própria significação de o que seja compreender. Em Schleiermacher compreender é uma
arte, em Heidegger a arte se manifesta do Ser como uma categoria central possibilitada pela compreensão
da presença, em Gadamer a hermenêutica da obra de arte é uma das três “fases” da formação compreensiva
do homem, em Ricoeur isso é radicalizado na formação da identidade do próprio homem pela construção de
um personagem com o qual ele se identifica e estabiliza a construção de seu “se” (soi), em uma relação que
é, ao último passo, artística. A Arte como diferencial da humanidade é uma idéia também compartilhada
por Castoriadis, que afirma, mais precisamente, que é a “criatividade” que diferencia o ser humano, e por
Chesterton, que vê na exteriorização de sentimentos e sensações a atividade tipicamente humana e social.
119
pedro dourados.indd 119 16/10/2012 12:14:37
A nosso ver, essa crítica só se torna possível, pois Luhmann é obrigado (por
motivos axiomáticos) a reconhecer que o sentido é o mesmo para o pensamento e
para a comunicação (por força da existência mesma da “linguagem” como acopla-
mento estrutural entre esses dois “mundos”) e, logo, não pode afirmar que é o
sentido unicamente social, mas um tipo de “processo” de sentido – a comunica-
ção – é que compõe o Social.
Este intuito de conferir à Sociedade (Sitema-comunicação) uma capaci-
dade própria de lidar com o Sentido, e de compreender, aproxima Luhmann de
uma tradição que ele rejeita: a ontológica, em especial, a de Heidegger. Certa-
mente, Luhmann distancia-se de Heidegger quando trabalha com a “diferença”
como categoria essencial (diferenciação funcional, por exemplo, LUHMANN,
2005, p, 79-80) e não com a “identidade”, agindo de modo similar ao programa
que Derrida executou em sua carreira filosófica. Porém, esta capacidade intrín-
seca da compreensão pela comunicação, e o fato de que a Sociedade seria capaz
de lidar com o sentido ainda que o homem não faça parte da Sociedade lembra a
postura de Heidegger quanto ao Ser em Ser e Tempo (HEIDEGGER, 2010).
A auto-interpretação pertence ao ser da presença. Na descoberta de ‘mundo’, guiada
pela circunvisão nas ocupações, visualiza-se conjuntamente a ocupação. A pre-
sença já sempre se compreende faticamente em certas possibilidades existenci-
árias, mesmo que os projetos provenham, meramente, da compreensibilidade
do impessoal. Explicitamente ou não, adequadamente ou não, existência é
sempre, de algum modo, compreendida. Todo compreender ôntico possui suas
implicações, mesmo que concebidas apenas pré-ontologicamente, isto é, de
forma não teórica ou temática. Toda questão, ontologicamente explícita, sobre o
ser da presença já se acha preparada pelo próprio modo de ser da presença.
(HEIDEGGER, 2010, p. 395, grifamos).
Percebe-se que em Heidegger a compreensão é intrínseca ao ser da presença
(o ser do homem) e por isso “abre” ao homem alguma possibilidade de investiga-
ção sobre o Ser. A diferença é que este processo é, em Heidegger, sempre mediado
pelo Homem, já que “compreender pertence à existência da presença [do Dasein
do homem]” (idem, ibidem, p. 535), ainda que aquilo que se investigue seja algo
como uma “relação simplesmente dada”, que é o caso da “Verdade” – para o
jovem Heidegger (idem, ibidem, p. 296)198.
Em Luhmann este processo não passa pelo homem e, neste ponto discorda-
mos do “Hegel do século XX”. Por fim, achamos que deslocar o homem do “com-
preender” para garantir a autonomia autopoiética da comunicação, c’est trop.
198 Neste ponto retomando Heidegger o subjetivismo de Kierkegaard, para quem o Self é uma “relação que
se relaciona consigo mesma”, já prevendo que a subjetividade é a verdade. Cf. KIERKEGAARD, Soren.
Sickness to death.
120
pedro dourados.indd 120 16/10/2012 12:14:37
Interessante é o fato de o comentário de Villas Bôas Filho – segundo o qual
“a comunicação é igual a si mesma e diferente de si mesma” aproxima o conceito
de “comunicação” ao de “Ser” para a metafísica grega à la Parmênides199.
Villas Bôas Filho (2006, pp. 40-1), ao defender o paradigma da comunica-
ção em detrimento do da ação, afirma que:
Se os sistemas sociais são concebidos como baseados em eventos passageiros
como de fato o são as ações, isso lhes acarretaria problemas específicos em
sua auto-reprodução, uma vez que nada garantiria a continuidade de conexão
entre as ações, de modo que o sistema poderia acabar a qualquer momento,
assim que a última ação chegasse ao final, se não fosse capaz de encontrar
conexões com outras ações imediatamente posteriores.
Parece-nos, pois, que esta crítica feita pela escola luhmanniana é
absolutamente ilegítima e, ainda que foque em uma crítica à “teoria da
ação comunicativa” tal qual desenvolvida por Habermas (e que não é a
única teoria da ação existente), parece exagerado acreditar que a Socie-
dade (e não necessariamente o “sistema”) se constitua unicamente de uma
“corrente” de ações, e não possua estruturas estáveis (?). E, mesmo que
não possuísse estruturas estáveis, parece muito pensar que é possível que,
como mágica, de repente perca-se o interesse social em “agir” no Direito,
na Política, na Arte, enfim, na Sociedade; que “a última ação chegue ao
final” como em um grandioso final escatológico, pois a lógica da sociedade
não é escato-lógica200, mas mito-lógica – e se há uma ida, há um retorno.
Destaque-se, também, que um intervalo entre ações, entre a significa-
ção de ações distintas, não significa que uma ação não encontrou resposta,
assim como os intervalos entre palavras de um texto não significam que o
mesmo não encontra unidade ou continuação. Ainda, porém, que o silên-
cio fosse concreto, seria necessário avaliar a capacidade, ou, até mesmo,
a necessidade dialogal do silêncio em questão, como o que gerado pelos
prazos processuais em matérias jurídicas.
199 Conferir, Ricoeur, Da Metafísica ..., (1997). Em Parmênides, o Ser era exatamente aquilo que unia em si o
igual e o diferente sem tornar-se diferente de si mesmo.
200 Na verdade, a compreensão de uma lógica mítica para a sociedade não exclui uma possibilidade diferente
de que a História se mova de modo escatológico, tal qual compreende parte das teologias judaicas e cristãs,
teorizado de modo mais ou menos laico por Agostinho, Bloch, Benjamin entre outros.
121
pedro dourados.indd 121 16/10/2012 12:14:37
122
pedro dourados.indd 122 16/10/2012 12:14:37
Teoria da Ação
Optamos, como visto acima, por insistir no paradigma da ação em matéria
de Direito Penal. Para isso, porém, será preciso remodelar o que temos, até então,
como “ação” e é o que pretendemos fazer neste ponto.
Para isso, vamos retomar elementos da teoria da ação final de Hans Welzel,
da teoria da ação como manifestação de Roxin e da teoria da imputação neo-
-hegeliana de Jakobs. Porém, nosso paradigma inicial será o da teoria do Discurso,
com base em Mikhail Bakhtin. Assim, elucidaremos uma teoria do discurso que
sirva de base para uma compreensão inicial do fenômeno jurídico enquanto fe-
nômeno discursivo (9.a) e veremos o que significa compreender o Direito Penal
como um emaranhado discursivo e, como, dentro deste emaranhado discursivo,
podemos enxergar a ação humana como “ação dialógica” (9.b). Por fim, ainda
neste capítulo (9.c), estruturaremos uma breve teoria metodológico-epistemo-
lógica de auto-análise a partir de uma “crítica mitológica” a qual aplicaremos a
nosso próprio discurso, tentando, ao máximo, localizá-lo discursivamente, para,
então, utilizar a teoria da ação dialógica em uma análise de fenômenos mitológi-
cos do Direito Penal contemporâneo (capítulo 10).
9.a Discurso: entre o enunciado concreto
e gênero discursivo
Mikhail Bakhtin foi um filósofo e linguista russo do século XX com grande
importância para inúmeros ramos das “Ciências Humanas”. Iniciou sua carreira
como um fenomenólogo antenado nas últimas tendências da filosofia alemã
(Husserl, Scheler, Rickert), aliando-se, depois, ao marxismo, quando escreveu
sua mais difundida obra, Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, 1995)201.
Perseguido pelo governo estalinista pelas suas ideias, exilado e doente (cf.
Introdução in BAKHTIN, 1996 e 2003), suas obras praticamente passaram por
desapercebidas durante sua vida, sendo que a edição de seus quase incompreensí-
veis manuscritos ocorreu nos últimos anos de sua vida, propagando-se na Europa
pelas traduções francesas após a sua morte.
201 Existe aqui uma questão muito delicada para ser trabalhada com ênfase nesta obra que é a da autoria
destes textos. Há uma polêmica acerca de Bakhtin e de outros teóricos que partilhavam ideias comuns,
e que ficou conhecido como seu “Círculo”, entre eles, Volóchhinov, por alguns tido como real autor de
Marxismo. Adotamos, aqui, o ponto de vista de que Bakhtin é, efetivamente, o autor de uma obra comple-
xa e incompleta, mas que o círculo pode ser responsável por modificações e intersecções que dificultam a
autoria monocrática – antes de plágio, porém, preferimos pensar em verdadeira polifonia.
123
pedro dourados.indd 123 16/10/2012 12:14:37
Hoje, no Brasil, Bakhtin é recorrido principalmente por Faculdades de Le-
tras, nas áreas de linguística (pelas teorias de que lançaremos mão aqui), de Lite-
ratura (pelas suas análises de Dostoiévski, sobretudo, e de Rabelais); por Facul-
dades de Educação (pela teoria do dialogismo que perpassa todo este trabalho) e
por Faculdades de História (graças a sua densa análise de Rabelais).
Entretanto, Bakhtin é pouco conhecido em análises de cunho jurídico202.
Isso talvez se deva, em um primeiro momento, porque aquilo que se costumava
entender por Filosofia e por Sociologia do Direito raramente foram, efetiva-
mente, ramos da Filosofia e da Sociologia que dialogaram com o Direito dogmá-
tico, mas, antes, aspectos de Filosofia e de Sociologia que são pegos conforme o
interesse dogmático para a explicação de categorias que não podem ser retira-
das das clássicas exegeses legais.
Esta tendência tem sido transformada graças, principalmente, à entrada de
teorias sociológico-filosóficas que, por terem dialogado fortemente com o Di-
reito, exigem do jurista que delas anseia lançar mão uma fundamentação mais
reflexiva. Assim, a presença de nomes como Habermas e Luhmann tem sido mais
importante no Direito Brasileiro pela motivação que tem gerado na esfera do de-
bate tanto acadêmico como prático, enfim, dogmático, que pela efetiva discussão
em torno de suas teorias.
Veja-se, em Direito Penal, o exemplo de Welzel e de Jakobs. O Kant do Direito
Penal, por um lado, era professor também de Filosofia do Direito e – ainda que não
tenha jamais feito uma fundamentação do Direito a partir do Direito Penal – colo-
cou constantemente as categorias gerais do Direito em tensão com as dramáticas
categorias da dogmática penal a fim de encontrar uma justificação para a proteção
de valores socialmente relevantes, em uma herança neokantiana (Bauch, Rickert).
Jakobs, por outro lado, mas também professor de Filosofia do Direito, mo-
bilizou as massas de penalistas ao propor uma teoria coerente de Direito Penal do
Inimigo com fundamentação em Rousseau, Fichte, Kant e Hobbes. Diante de
uma crítica da Democracia, não adiante dizer que a proposta de Jakobs não é
democrática: a crítica dele é uma crítica ao Direito Penal Mínimo. E a fundamen-
tação do Direito Penal Mínimo? Os penalistas que apoiam tal ponto de vista não
podem continuar em berço esplêndido à sombra de Beccaria para defender uma
intervenção mínima em pleno século XXI, o que, nem de longe, significa aban-
donar o estudo da Escola Clássica e sua importância; significa – isso sim – um re-
-pensar a Democracia e a Teoria Política hoje para fins de defesa de um ponto de
vista democrático em matéria jurídico-penal. Como se isso não bastasse, a teoria
202 Algumas exceções são o livro de SUDATTI, Ariani Bueno. Dogmática Jurídica e Ideologia. São Paulo:
Quartier Latin, 2007. Algumas referências in SHOUEIRI, Luís Eduardo (org.), Direito Tributário:
Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Quartier Latin, 2008. E alguns artigos esparsos na in-
ternet, como: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=4116 (consultado em 16 de novembro de 2011). Todos, porém tratando unicamente da obra de
Bakhtin como uma fonte e ferramenta para uma “análise do discurso jurídico”, passando ao largo dos
aspectos de sua obra que permitem toda uma reestruturação da dogmática jurídica per principiem.
pedro dourados.indd 124 16/10/2012 12:14:37
de Jakobs é extremamente arejada e exige de seu leitor um mínimo de seriedade
e de compreensão de modernas concepções de sociedade, norma, pessoa, entre ou-
tros elementos que abordamos acima.
Assim, nosso intuito aqui é abandonar a visão “auxiliar” que a Filosofia e a
Sociologia, (para não falar da Política e da Economia, e, até mesmo, da Moral)
possuem para o Direito. O diálogo não deve se dar como na dialética entre o se-
nhor e o escravo (Hegel), em que o Direito é o senhor e as demais visões da socie-
dade o escravo; mas de igual para igual – até porque não queremos que o Direito
sucumba alienado, como o senhor hegeliano. Aqui, Filosofia e Sociologia servi-
rão de fatores livres de correção para o próprio discurso dogmático da proposta
de teoria da ação que apresentaremos, e de suas respectivas consequências203.
Adotamos uma visão dialogal, em que o outro não é mero auxílio, mas elemento
imprescindível para a sua realização.
Por isso, antes de propormos uma teoria da ação para o Direito Penal,
proporemos uma breve reflexão sobre a própria concepção de Direito a partir
de um ponto de vista discursivo, levando em conta categorias da Filosofia da
Linguagem de Bakhtin.
9.a.1 Ação como enunciado concreto
9.a.1.a Teoria Comunicacional do Direito e Ação
Primeiramente, precisamos especificar algo em relação ao ambíguo conceito
de ação, em diálogo com a Teoria Comunicacional do Direito (ROBLES, CARVA-
LHO 2011). Robles (2011) aponta que a palavra ação refere-se a dois aspectos:
a. À ação enquanto conjunto de “atos”, enquanto evento cuja duração pode
ser efêmera ou mais estendida, e possui um significado, ou melhor, existe en-
quanto significado. Andar seria, por exemplo, uma ação composta por atos su-
cessivos de dar passos. É preciso, também, ressaltar, com a doutrina comercia-
lista, a diferença entre ação (pontual) e atividade (encadeamento de ações).
b. À ação enquanto o sentido permanente deste conjunto de atos e que pode
ser analisado a posteriori, em sentido que se aproxima dos efeitos da ação
em Arendt (1998).
Assim, Robles define a ação como “el significado o sentido de un movi-
miento o conjunto de movimientos físico-psíquicos”, unindo, assim, a noção de
203 Não questionamos aqui esta possibilidade mesma. Enfrentamos seus problemas metodológicos no artigo
Mito, Método, Crítica: uma revisão ao “processo legislativo”, no prelo. Sobre a diferença de se chamar a filo-
sofia ao páreo e de criar uma distinção entre zetética e dogmática, recomendamos o formidável: Cuestiones
dogmáticas y cetéticas, más allá de Tercio Sampaio Ferraz, de Luis Alberto Warat, disponível no Google Docs
(acesso em setembro de 2012).
125
pedro dourados.indd 125 16/10/2012 12:14:37
“manifestação de um personalidade” constituída físico-psiquicamente (Roxin)
com a necessidade de que esta manifestação seja vista como “leitura social de
um sentido” (Jakobs).
Assim, “a ação é o resultado da interpretação” (ROBLES, 2011). Disto de-
corre que a ação não é vista nem em termos de causa-efeito, nem em termos ló-
gicos, mas em termos “convencionais”, ou normativos.
Toda ação somente pode ser vista como significativa para o Direito se for
influenciada por convenções normativas de valor jurídico, ou seja, conforme a
regras que pertençam ao Ordenamento Jurídico. Na teoria Comunicacional, as
ações guiadas pela existência de um dever (normas de procedimento, normas de
execução, entre outras) se tornam condutas. Assim, as omissões seriam ações,
pois, enquanto violações de deveres jurídicos, seriam condutas – no que sua
teoria se aproxima radicalmente da de Jakobs, o qual trabalha não com a dico-
tomia omissão/comissão, mas violação de direitos positivos / violação de direitos
negativos (JAKOBS, 2003b).
9.a.1.b A teoria da Ação em Tavares
Tavares é um penalista brasileiro que também optou por permanecer com
um conceito de ação na dogmática penal, em detrimento de um Direito Penal da
Comunicação.
Tavares vai definir “ação”, em artigo datado de 2004, como sendo “toda con-
ducta conscientemente orientada en función de um objeto de referencia y mate-
rializada como expresión de la realidad humana práctica” (TAVARES, 2004, p.
915). Em 2007, esta definição reaparece com pequenas, porém significativas modi-
ficações, da seguinte forma: “ação é toda conduta conscientemente orientada em
função de um objeto de referência e materializada tipicamente como expressão da
prática humano-social” (TAVARES, 2007, p.154) sendo que a principal mudança
é a inserção da noção de materialização tipificada da conduta, o que restringe a
noção de ação social a uma ação existente com certa exclusividade para o Direito.
Em 2009 (TAVARES, 2009), a concepção parece ter sido a mesma para guiar o
autor em sua teoria de crimes omissivos. Na definição apresentada, porém, Tavares
define a ação como sendo “toda conduta conscientemente orientada em função de
parâmetros (objetos) de referência e materializada tipicamente como expressão da
prática social do sujeito” (TAVARES, 2009, p. 231-232).
Prendemo-nos à definição apresentada em 2007 por tratar a ação como prá-
tica “humano-social”, o que, cremos, afora somente omitido, mas não excluído do
pensamento do autor, pois em seu livro de 2009, no parágrafo seguinte à definição
de ação dada, re-aparece a noção de “prática humano-social” (Idem, ibidem).
O conceito de Tavares será adotado como uma conceitualização técnica e
delimitadora específica, mas, cujos termos serão explanados a partir da teoria do
Discurso doravante apresentada.
126
pedro dourados.indd 126 16/10/2012 12:14:37
9.a.2 O Enunciado Concreto – no contexto
do dialogismo
Bakhtin desenvolve a teoria do enunciado concreto em Marxismo e Filosofia
da Linguagem, por volta dos anos 30, antecipando inúmeros feitos que a filosofia
da linguagem realizaria pelas mãos de Wittgenstein, Searle, Ricoeur, Foucault,
Pêcheux, Habermas e outros, somente após 1950. O conceito de “enunciado
concreto”, porém, não se congelou no pensamento de Bakhtin em 1930, nem
perdeu aspectos de uma teoria geral da filosofia que o jovem Bakhtin desenvolvia
no início do século XX – assim, é possível qualificar o pensamento de Bakhtin
como o pensamento do dialogismo e, para entender isso, precisaremos analisar
sua obra Para uma Filosofia do Ato, em torno da qual giram uma série de compli-
cações de tradução e de leitura204.
Em Para uma Filosofia do Ato (BAKHTIN, 1993), Bakhtin pensa a questão
da “responsabilidade” na vida humana, prevendo a questão da união do “mundo
teórico” e do “mundo histórico”, de forma a antecipar a concepção de Husserl
acerca do “mundo da vida” (Lebenswelt) (cf. BAKHTIN, 1993, p. 13; conferir,
também, TAVARES, 2010). Mais do que isso, Bakhtin confere à ação (ato res-
ponsável) a capacidade de união dos “mundos”: “o mundo como o conteúdo do
pensamento científico é um mundo particular: é um mundo autônomo, mas não
um mundo separado; é antes um mundo que se incorpora no evento unitário e
único do Ser através da mediação de uma consciência responsável, em uma
ação real” (BAKHTIN, 1993, p. 30, grifo nosso).
Esta união do mundo autônomo das significações com a realidade histórica,
pela ação, parece ser também uma antecipação da tensão entre faticidade e vali-
dade, estudada por Habermas:
O conceito “agir comunicativo”, que leva em conta o entendimento linguís-
tico como mecanismo de coordenação da ação, faz com que as suposições
contrafactuais dos atores que orientam seu agir por pretensões de validade
adquiram relevância imediata para a contrição e manutenção de ordens
sociais: pois estas mantêm-se no modo do reconhecimento de pretensões de
validade normativas. Isso significa que a tensão entre faticidade e validade,
embutida na linguagem e no uso da linguagem, retorna no modo de integra-
ção de indivíduos socializados [...].
(HABERMAS, 1997, p.35).
Bakhtin não vai desenvolver um conceito outro de razão, como faz Ha-
bermas com a “razão comunicativa”; vai, porém, desenvolver o conceito de
204 Para mais informações, consultar: http://www.editoracontexto.com.br/produtos/pdf/BAKHTIN%20
DIALOGISMO_CAP1.pdf , acessado em 10 de novembro de 2011. A edição por nós indicada na
Bibliografia pode ser encontrada livremente na WEB e possui autorização expressa de uso pelos tradutores.
127
pedro dourados.indd 127 16/10/2012 12:14:37
“responsabilidade” do qual a razão constitui apenas um “momento” (BAKHTIN,
1993, p. 47). Pelo ato responsável, Bakhtin entende que a tensão entre os mun-
dos, ou entre a validade (racional) e a faticidade (histórica) é vencida pela uni-
cidade gerada pela totalidade do ato responsável, que se passa no Ser único da
existência. Assim sendo, não há, no jovem Bakhtin, a separação que se man-
tém em Habermas entre Mundo-da-vida e Mundo-administrado (NEVES, 2008/
HONNETH, 1991, pp. 288-303).
Como se justifica a “responsabilidade”? Para justificá-la, Bakhtin não exige
do sistema do direito uma idealização da participação política, e sim um posicio-
namento de cada um quanto ao seu “não-álibi no Ser”:
Aqui está o ponto de origem da ação responsável e de todas as categorias do
dever concreto, único e necessário. Eu também, existo [et ego sum] (em toda a
plenitude emocional-volitiva, realizadora [...] dessa afirmação) realmente – no
todo, e assumo a obrigação de dizer esta palavra. Eu também participo no Ser
único e irrepetível, um lugar que não pode ser tomado por ninguém mais e que
é impenetrável a qualquer outra pessoa. No dado ponto único onde eu agora
estou, ninguém jamais esteve, no tempo único e no espaço único do Ser único
(...). aquilo que pode ser feito por mim não pode nunca ser feito por ninguém
mais. A unicidade ou singularidade do Ser presente é forçadamente obrigatória.
Esse fato do meu não-álibi no Ser [...] não é algo que eu venha a saber e conhe-
cer, mas é algo que eu reconheço e afirmo de um modo único e singular.
(BAKHTIN, 1993, p. 58).
Do plano existencial, pode-se passar, sem dificuldades, para uma análise
social da responsabilidade. Isso quer dizer que o homem, enquanto ser integrado
aos outros, possui um “não-álibi na Sociedade”. Não há, para o homem, princi-
palmente a partir do contato com a linguagem, um lugar fora da sociedade. O “er-
mitão” – se é que ainda há algum – talvez possua algum álibi – e somente possui
um se não sabe nada a respeito do assunto205.
O posicionamento pessoal quanto a este não-álibi na Sociedade se refere ao
lugar único de cada pessoa, no espaço e no tempo sociais. Este lugar único não
se refere, ainda, a uma “dignidade da pessoa humana”, mas é quase uma consta-
tação fria de que a pessoa, qualquer que seja seu escalão social, é única naquele
momento, por mais alienada que seja. O que diferencia, para o jovem Bakhtin,
o ser humano, de modo especial, é o posicionamento pessoal quanto a este não-
-álibi: é este posicionamento que abre a porta da Responsabilidade – da qual não
somente a razão, mas a sociabilização, em sentido leigo, é somente um momento.
205 Pois a pessoa que decide isolar-se da sociedade, como o monge, dela ainda faz parte, e dela carrega suas
marcas, entre elas, a mais profunda, a linguagem.
128
pedro dourados.indd 128 16/10/2012 12:14:38
A Responsabilidade em Bakhtin é ponto chave para a compreensão do
Dialogismo sem reduções precipitadas. Ela inclui não somente a relação de au-
toria, a imputação interiorizada do “ato-ético”, mas também a “resposta”. Ne-
nhum ato é solto no ar. Ou, como frisa Bakhtin com força, “não há fala adâmica”
(BAKHTIN, 2003). Não se age (e lembramos que falar é agir) primordialmente,
age-se em resposta à; e em busca de resposta – ainda que em resposta a si mesmo
e em busca de uma resposta por si mesmo, o que torna o monólogo mais monoló-
gico um verdadeiro diálogo consigo mesmo.
A socialização de um indivíduo depende de uma boa inserção no jogo
dialogal, ou seja, de uma capacidade de Responsabilidade que inclui dois mo-
mentos: a responsabilidade estrito senso, que chamamos aqui de capacidade de
autoria e a “resposta” ou, como dizem alguns de seus tradutores, condensando
os conceitos, a “responsividade”.
As inúmeras frustrações da vida, as injustiças do cotidiano não são falhas da
sociedade em sua resposta ao indivíduo – como bem sabem os pais que castigam
os filhos que fazem artimanhas, e os Estados que punem as pessoas que cometem
crimes. A questão está no reconhecimento da “autoria” de seus atos e na capa-
cidade de “responder” de modo coerente, ainda que inovador, perturbador, mas
sem fugir do padrão da própria compreensão comum.
A falha na formação individual da Responsabilidade se encontra mais, a
nosso ver, nos casos de extrema subjetivação (em que o único parâmetro de com-
preensão do mundo por uma pessoa é si-mesma206) e de extrema objetivação (em
que o único parâmetro de compreensão do mundo por uma pessoa é a sua ime-
diata apreensão do mesmo). Estes casos extremos costumam ser estudados pela
psicanálise e, pensamos que não à toa, Bakhtin dedicou um livro à Freud.
Objetivação e subjetivação não devem andar em harmonia, nem hege-
liana, nem budista. O meio termo nem sempre é a melhor solução. Quando
uma pessoa precisa expressar um desejo, uma vontade, um sonho, ela precisa
ser simplesmente subjetiva207. Se quiser indicar direções a um transeunte, pre-
cisa ser simplesmente objetiva, perceptiva. O caminho dos extremos juntos
(Hegel), aqui, pode ser um bom exemplo de neurose, como acontecia na “ca-
beça” do Cobrador de Rubem Fonseca:
A rua cheia de gente. Digo, dentro da minha cabeça, e às vezes para fora, está
todo mundo me devendo! Estão me devendo comida, buceta, cobertor, sapato,
casa, automóvel, relógio, dentes, estão me devendo. Um cego pede esmolas
206 Conferir os critérios de irracionalidade discursiva apresentados por Habermas in Teoria de la Acción
Comunicativa, (2010), pp. 30 e ss.
207 Isso pressupõe sua capacidade de acessar um sistema objetivo de signos, certamente. Mas isso só torna seu
discurso mais objetivo, a partir do momento que se subjetiviza-o. Bakhtin trabalhou com este fenômeno
que ele lida em termos de “tensão” entre a expressividade pessoal e os gêneros do discurso, conforme
abordaremos mais à frente.
129
pedro dourados.indd 129 16/10/2012 12:14:38
sacudindo uma cuia de alumínio com moedas. Dou um pontapé na cuia dele, o
barulhinho das moedas me irrita. Rua Marechal Floriano, casa de armas, far-
mácia, banco, china, retratista, Light, vacina, médico, Ducal, gente aos mon-
tes. De manhã não se consegue andar na direção da Central, a multidão vem
rolando como uma enorme lagarta ocupando toda a calçada.208
Com isso, queremos afirmar que a Responsabilidade está ligada a uma ex-
pressividade que coloca a relação entre a ação e o agente em termos de uma re-
lação de autoria, de expressividade. Mas não somente.
Bakhtin (1995, pp. 72 e ss.) critica a escola linguística descendente de Vossler
e Humboldt, a qual ele apelida de subjetivismo concreto, ou subjetivismo individualista.
Sobre esta corrente, Bakhtin explica que ela possui quatro proposições síntese:
1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto da construção (“ener-
gia”) que se materializa sob a forma de atos individuais de fala.
2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia individual.
3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação artística.
4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável (léxico,
gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal como a lava fria da
criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas com vistas à sua aqui-
sição prática como instrumento pronto para ser usado.
(BAKHTIN, 1995, pp.72-3, itálico do autor).
A crítica que Bakhtin tece a esta concepção de linguagem vai em dois
sentidos principais. O primeiro é de criticar seu “monologismo”: “como se apre-
senta a enunciação monológica do ponto de vista do subjetivismo individua-
lista? Vimos que ela se apresenta como um ato puramente individual, como
uma expressão da consciência individual [...]” (idem, ibidem, p. 110), sendo
que, assim como na concepção fenomenológica e na concepção hermenêutica
de Schleiermacher, o conteúdo do dito se confunde com a intencionalidade
interior daquele que se exprime.
A isto, Bakhtin opõe que “o conteúdo interior muda de aspecto, pois é
obrigado a apropriar-se do material exterior, que dispõe de suas próprias re-
gras, estranhas ao pensamento interior. [...] por isso, o idealismo que deu ori-
gem a todas as teorias da expressão, engendrou igualmente teorias que rejei-
tam completamente a expressão, considerada como deformação da pureza do
208 Trata-se do 13º parágrafo do Conto – os grifos são nossos. O texto, na íntegra, encontra-se disponível em:
http://www.releituras.com/rfonseca_cobrador.asp . Consultado em 17 de Novembro de 2011.
130
pedro dourados.indd 130 16/10/2012 12:14:38
pensamento interior” (idem, ibidem, p. 111), ou seja, Bakhtin denuncia uma
aporia pertencente a este tipo de concepção de linguagem que confunde a ver-
dade com o cogito209.
Em oposição a esta concepção demasiado subjetiva da linguagem, demasiado ro-
mântica, e em renúncia a uma objetivação saussuriana da mesma210, Bakhtin propõe
o que, na década de 1930, ele ainda chama de teoria marxista da linguagem, a qual
se baseia, essencialmente, na análise linguística a partir da enunciação concreta:
A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no
sistema linguístico abstrato das formas da língua [Saussure] nem no psiquismo
individual dos falantes [Vossler].
Disso decorre que a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser o
seguinte:
As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições concre-
tas em que se realiza.
As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação
estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias
de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma determi-
nação pela interação verbal.
A partir daí, exame das formas de língua na sua interpretação linguística habitual.
(BAKHTIN, 1995, p. 124).
Daí a conclusão de que “uma análise fecunda das formas do conjunto de enun-
ciações como unidades reais na cadeia verbal só é possível de uma perspectiva que
encare a enunciação individual como um fenômeno puramente sociológico” (idem,
ibidem, p.126). Este “purismo” do Bakhtin de 1930 está certamente ligado ao po-
sitivismo que perpassa todo o histórico de teorias influenciadas pelo marxismo211.
As dificuldades de se isolar uma enunciação individual como um fenômeno pu-
ramente ideológico é a base da crítica que se faz à teoria da inter-subjetividade, con-
forme Habermas, o qual não consegue, na visão de Teubener (1989) delimitar o papel
do subjetivo no intersubjetivo; não consegue, pois, delimitar o social e o individual.
Em Bakhtin este problema somente se resolverá, de pleno, com a teoria
dos gêneros. Mas, até lá, Bakhtin trabalhou a linguagem como uma “abstração
209 Em nota de rodapé (nota 1, p. 111, BAKHTIN, 1995): “’O pensamento expresso pela palavra é uma
mentira’ (Tiutchev). ‘Oh, se pelo menos alguém pudesse exprimir a alma sem palavras!’ (Fiet). Essas duas
declarações são típicas do romantismo idealista”.
210 Conferir item 1.a.3 deste trabalho, quanto às críticas de Bakhtin á Saussure e à sua “escola”.
211 Conferir capítulo 1 deste trabalho.
131
pedro dourados.indd 131 16/10/2012 12:14:38
científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos particulares. Essa
abstração não dá conta de maneira adequada da realidade concreta da língua”
(BAKHTIN, 1995, p. 127).
Exatamente por isso, Bakhtin não fora incoerente, pois, diferentemente de
Habermas, em 1930, Bakhtin não queria salvar o subjetivo no intersubjetivo;
muito pelo contrário, ele reduziu até mesmo a psique individual à ideologia:
É preciso insistir sobre o fato de que não somente a atividade mental é expressa
exteriormente com a ajuda do signo (assim como nos expressamos para os
outros por palavras, mímica ou qualquer outro meio) mas, ainda, que para
o próprio indivíduo, ela só existe sob a forma de signos. Fora deste material
semiótico, a atividade interior, enquanto tal, não existe.
(idem, ibidem, p. 51).
Assim sendo, não há oposição entre pensamento e expressão, pois a própria
consciência individual é expressiva, somente se encontra em um estado de acesso
limitado à sociedade, assim como o conteúdo de livro fechado. Isso leva Bakhtin a
uma coerência teórica que não sucumbe ao sujeito do cogito de Descartes, mas ao
extremo oposto: “É assim que o psiquismo e a ideologia se impregnam mutuamente
no processo único e objetivo das relações sociais” (idem, ibidem, p. 66). Pensar não
seria, pois, nada mais nada menos que uma forma de expressão das “relações sociais”.
É verdade que o Bakhtin maduro parece abandonar este determinismo so-
cial, mas, esta concepção de linguagem e de ideologia será essencial para não re-
duzir, posteriormente, nem a sociedade ao indivíduo, nem o indivíduo à sociedade;
mas sem a necessidade de isolá-los como sistemas autopoiéticos autônomos.
O conteúdo da ideologia, em Bakhtin, é o da palavra. A palavra é a ideologia.
Assim, ideologia não é uma abstração concreta, no sentido marxista originário;
na realidade, ideologia em Bakhtin, destoa da doutrina de Marx. Em Bakhtin, o
semiótico (o signo), a significação e a ideologia estão extremamente interligados,
e se materializam na palavra – palavra esta que é acessível tanto pelo pensamento
quanto pela enunciação.
A enunciação é, então, histórica e concreta significativa, e pode ser dire-
tamente acessada pelo pensamento, pois utiliza o mesmo medium que o pensa-
mento, qual seja, a interligação ideológica pelo signo.
O enunciado concreto, na fala, se vê marcado pela alternância de interlo-
cutores, o que mostra a primazia do enunciado verbal para o Bakhtin de 1930.
Dentro do enunciado, em especial, isso se verifica na enunciação verbal, é
preciso diferenciar o tema ou o semântico do significado212. Bakhtin chama “o sen-
tido da enunciação completa seu tema” (BAKHTIN, 1995, p. 128). Uma frase solta
212 Estes termos aparecem de diversas maneiras e com diferentes traduções em inúmeros autores. A oposi-
ção que estabelecemos aqui aproxima os vocábulos “tema”, e de “semântico”, em oposição à “significa-
do” ou “significação”.
132
pedro dourados.indd 132 16/10/2012 12:14:38
possui o que Bakhtin chama de “sentido de dicionário”, o significado usual de cada
palavra. Mas, o enunciado, enquanto tal, possui um tema, um tema único. Isso im-
plica a compreensão ser uma atividade tão ativa quanto o próprio ato de se enunciar.
O tema é o conteúdo semântico concreto e historicamente localizado de
uma enunciação, em oposição à significação, que se torna uma ligação “automá-
tica”, pressuposto para realização do tema.
O tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se ade-
quadamente às condições de um dado momento da evolução. O tema é uma reação
da consciência em devir ao ser em devir. A significação é um aparato técnico para a
realização do tema. Bem entendido é impossível traçar uma fronteira mecânica
absoluta entre a significação e o tema. [...] além disso, é impossível designar a
significação de uma palavra isolada (por exemplo, no processo de ensinar uma
língua estrangeira) sem fazer dela o elemento de um tema, isto é, sem construir
uma enunciação, um ‘exemplo’. Por outro lado, o tema deve apoiar-se sobre uma
certa estabilidade da significação; caso contrário, ele perderia o seu elo com o
que precede e o que segue ou seja, ele perderia, em suma, seu sentido.
(BAKHTIN, 1995, p. 129, grifos do autor).
Com isso, temos material suficiente para a compreensão de o que é um
enunciado concreto e para traçar os principais aspectos de uma teoria da ação,
com relevância jurídico penal, em termos de enunciado concreto.
9.a.3 Ação como texto, ação como enunciado
A ideia de ver uma ação humana como um texto não é original de uma só
corrente de pensamento. Tanto a teoria comunicacional de Robles (2011a; 2011b),
como a filosofia prático-hermenêutica de Ricoeur (1997, 2008) e a teoria da ação
significativa de Vives Antón (1996) e Busato (2010) caminham na mesma dire-
ção. Cada uma estabelece uma ligação profunda entre Direito e Linguagem, não
somente no uso explícito daquilo que comumente se conhece por linguagem, e que
se refere ao uso da fala e da escrita, compreendidos de maneira corriqueira.
Seguindo alguns apontamentos mais profundos em matéria de filosofia da lin-
guagem, estas teorias ampliam as possibilidades da investigação linguística para a
esfera de uma teoria do conhecimento (GADAMER, 2007), linguicizando o Direito
e seus entornos e não simplesmente fazendo uma leitura da linguagem juridificada.
A primeira vantagem de se trabalhar uma ação como texto, e, mais ainda,
como enunciado concreto, é a de permitir compreender com clareza por que cha-
mamos ação tanto o ato quase instantâneo de se matar alguém com um tiro ou
como a sequência super complexa de atos e atividades que compõem o cárcere
privado de uma pessoa por décadas213.
213 Conferir o caso que ganhou projeções midiáticas mundiais, de Fritzl: http://www1.folha.uol.com.br/folha/
mundo/ult94u396695.shtml - consultado em 23 de Novembro de 2011.
133
pedro dourados.indd 133 16/10/2012 12:14:38
Acontece que uma ação, para ser uma ação, necessita de dois requisitos.
Capacidade de imputação a uma pessoa, na relação de “autoria” de uma ação e
capacidade de verificação de “resposta” desta ação, ou seja, capacidade que este
enunciado tem de gerar resposta na sociedade.
Uma pessoa que fala para a Lua, por exemplo, ainda que fale com um ser
celestial, age na e para a sociedade – tanto o é que a sociedade costuma respon-
der-lhe, quer ignorando seu culto, admitindo-o ou unindo-se a ele. A ação não é
somente o ato de duração infinitesimal no tempo e espaço, mas o desdobramento
textual que levou a este ato e os futuros desdobramentos textuais (os enunciados
resposta) que este ato gerará. A resposta a uma ação é uma nova ação e pode
gerar mais uma outra, em uma verdadeira rede de possibilidades que se aproxima
mais da teoria dos jogos que da dupla contingência.
Afirmar, porém, que uma ação é significativa, pode ser um tanto quanto ar-
riscado. A proposta de Vives Antón e Busato cria um vínculo extremamente forte
entre o sentido da norma que tipifica uma ação e o sentido da ação mesma. Este
vínculo pode ser questionado exatamente com a noção (mitológica) de processo
de imputação e verificação de imputação que qualifica uma ação como típica.
O sentido ou significado de uma ação não é intrínseco a ela – e nisso a teo-
ria da ação significativa está de acordo conosco – mas também não é intrínseco à
norma. A norma não traz o sentido de uma ação intrínseco em seu texto, ela é um
dos elementos (um dos mais importantes, sim) constitutivos do processo de cons-
trução de um crime, em sentido concreto. Cada homicídio é um homicídio único,
e, como tal, possui um tema único, o qual será, a cada vez, delimitado e construído
de acordo com as situações fáticas e concretas que envolvem não somente o ato de
matar em questão, mas, a cada homicídio, o Artigo 121 do Código Penal, um juiz
concreto, um inquérito policial feito com maior ou menor diligência e interesse,
entre outros inúmeros fatores, que tornam toda generalização precipitada.
A primeira conclusão, pois, de nossa hipótese de enxergar o crime como
uma ação, e a ação como um enunciado concreto, se refere ao sentido desta ação.
Todos os elementos abstratos que auxiliam na constituição do significado do
crime estão para este assim como as palavras para a construção do tema concreto.
O próprio Artigo legal, que delimita um aspecto relevantíssimo para a construção
do crime, graças ao papel intra-sistêmico do princípio da legalidade (Artigo 5º,
II, Constituição Federal; Artigo 1º, Código Penal), não é mais que um aparato
técnico, entre outros, que ajuda a construir o sentido de uma ação enquanto
crime. No clássico exemplo do homicídio, todos os institutos de Direito Penal e
de Direito Processual Penal (agente ativo; agente passivo; qualificadora; inqué-
rito; prova), assim como os elementos concretos a que eles fazem referência (ho-
micida; morto; tortura; relatório policial; corpo) são elementos que constituem
uma ação, um enunciado e abrem o jogo (evento) de sucessão de enunciados que
culminará em uma sentença (ou arquivamento do processo etc).
134
pedro dourados.indd 134 16/10/2012 12:14:38
Não podemos afirmar, ao testemunhar um homicídio, que houve um crime,
pois esta afirmação somente se torna legítima na presença do processo penal. O pro-
cesso, por assim dizer, prevalece sobre a existência da norma material – damos duas
situações exemplo disto: a) em um governo absolutista não era preciso haver norma
prévia que estabelecesse o conteúdo de um crime para que um Soberano contra-
riado escolhesse uma vítima concreta e lhe tirasse a vida; não havia norma penal,
mas houve processo penal (o qual coincidiu com a criação a posteriori, de uma norma
penal); b) se alguém plenamente imputável mata um outro alguém, sem justa causa,
mas é absolvido no júri, cometeu um crime somente em sentido laico, não-técnico.
Assim, a ação criminosa é uma enunciação que corresponde à ida no es-
quema mitológico traçado acima214. Ela quebra a homogeneidade pacífica e está-
vel da sociedade e move o Sistema Penal em busca de resposta (evento). Esta ida,
este enunciado inicial, cria uma nova história, da qual fazem parte inúmeros ele-
mentos, que vão construir um crime, ou não, seguindo métodos de interposição
discursiva, pois tudo o que podemos recuperar daquilo que ocorreu no passado é
mediatizado por certa memória processual a qual, certamente, está baseada unica-
mente em linguagem, em simbólico.
Aquilo que Bakhtin fala sobre a obra de arte vale para a ação, em termos
jurídicos:
Tudo isso define a obra de arte não como objeto de um conhecimento pura-
mente teórico, desprovido de significação de acontecimento, de peso axioló-
gico, mas como acontecimento artístico vivo – momento significativo de um
acontecimento único e singular do existir; e é precisamente como tal que ele
deve ser entendido e conhecido nos próprios princípios de sua vida axiológica,
em seus participantes vivos, e não previamente amortecido e reduzido a uma
nua presença empírica do todo verbalizado (o que é acontecimento e tem sig-
nificado não é a relação do autor com o material, mas com a personagem [o
nosso anti-heroi, o criminoso, que habita dentro da casa do próprio autor]).
(BAKHTIN, 2003, p. 175).
A ação possui um tema único. Ela é um enunciado concreto. Mas a transfor-
mação de uma ação em um crime é um processo polifônico, inter-discursivo, de
construção. O crime é o discurso que cita a ação concreta como base, e também
a lei215. O crime é o discurso sobre os discursos: “o discurso citado é o discurso no
214 Conferir capítulo 8 deste trabalho.
215 A ação possui, por assim dizer, dupla face. A face do momento temporal do descumprimento de uma
obrigação positiva ou negativa (isso serve para ações com relevância penal, retornaremos a este ponto à
frente) e a face do enunciado que se cristaliza como discurso e que pode ser citado e reutilizado por outros
discursos, assim como a obra artística de um autor. Veja a relação da obra com seu autor em um momento
posterior ao da criação mesma da obra, in BAKHTIN, 2003, p. 5: “por isso o artista nada tem a dizer sobre
o processo da sua criação, odo situado no produto criado, restando a ele apenas nos indicar a sua obra; e
de fato, só aí iremos procura-lo. (tem-se nítida consciência dos momentos técnicos da criação, da mestria,
135
pedro dourados.indd 135 16/10/2012 12:14:38
discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre
o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 1995, p. 144). Neste
sentido, o crime é uma construção dialogal, sendo constituído da “interação de
pelo menos duas enunciações” (idem, ibidem, p. 146), o que torna a relação lei-
-ação bem mais complexa que uma mera subsunção.
Assim, a veracidade fatídica, histórica da ação, não corresponde aos cri-
térios de verificação de validade do direito mítico a que se submete quando do
domínio da legislação e da jurisdição penal, com todos seus ritos e influências
políticas. Além disso, “a transmissão [do discurso de outrem] leva em conta uma
terceira pessoa – a pessoa a quem estão sendo transmitidas as enunciações cita-
das” (idem, ibidem). É, segundo a tese que defendemos, esta terceirização do dis-
curso sobre o crime que cria a institucionalização do Direito Penal, tanto na ima-
gem da estabilização de um corpo legal que versa sobre matérias de uma mesma
“natureza”, quanto em relação a uma doutrina e a uma aplicação jurisprudencial.
É esta terceirização, esta referência ao terceiro elemento do diálogo, sempre
presente, que leva à noção de instituição, e que retorna à função da personalização
em Direito, que é a capacidade jurídica, a relação de responsabilidade institucio-
nalizada (cf. Quem é o Sujeito de Direitos?, in RICOEUR, 2008b). A existência do
crime, discurso que permeia uma cadeia institucionalizada de discursos, é a base
sólida que – pelo processo de imputação ação-autoria – fixa a imagem de crimi-
noso, em um processo que não se limita a uma simples rotulação social (labelling
approach) e lida com aspectos conscientes e inconscientes, pois a instituição sem-
pre apela para um conteúdo inconsciente, já que é “incontrolável”, e não se reduz
à atuação nem à vontade de uma só pessoa (CASTORIADIS, 1982).
O que significa, porém, afirmar que a ação é única, enquanto enunciado
concreto, e possui um tema, mas que o crime é uma construção institucional, poli-
fônica, interdiscursiva? Para compreender isso, e antes de passarmos para os aspec-
tos estritamente dogmáticos desta nova concepção de ação, precisamos compre-
ender a temática dos gêneros do discurso da produção teórica do Bakhtin maduro.
9.b O Gênero “Crime” – o Discurso do Direito Penal
Afirmamos acima que a linguagem é o denominador comum da sociedade,
enquanto sua estrutura. Esta noção de estrutura guarda uma relação com a “abs-
tração científica” do jovem Bakhtin, mas, se por um lado ela não se esgota na
concepção empirista, ela não chega a se abstrair a ponto de ganhar uma “vida
própria”, como a langue de Saussure. É preciso manter em mente que “todos os
campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem”, mas que “o
só que ,mais uma vez no objeto). Já quando o artista começa a falar de sua criação além da obra criada
e, para lhe acrescentar algo, costuma substituir sua atitude efetivamente criadora, não vivida por ele na
alma mas realizada na obra (que não foi experimentada por ele mas experimentou a personagem), por sua
atitude nova e mais receptiva em face da obra já criada”.
136
pedro dourados.indd 136 16/10/2012 12:14:38
emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos
e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade hu-
mana” (BAKHTIN, 2003, p. 261).
Estes enunciados possuem, portanto, relação com seus respectivos “cam-
pos”. Estamos aqui fazendo um questionamento muito próximo dos de Foucault
(1995, pp. 30 e ss.) e de Pêcheux (2002) e que gira em torno da questão sobre o
que é o Direito, o que define o campo jurídico, qual é, enfim, o sentido do Direito.
Direito, Política, Arte, o que chamamos acima de “ramos da cultura”. O que
os define? Cada um deles se constrói (pelos enunciados) como gêneros discursi-
vos próprios.
Para Bakhtin, um gênero se delimita pelo seu “conteúdo (temático) e pelo
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e
gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional”
(BAKHTIN, 2003, p. 261) – na continuação, afirma o autor:
Todos estes três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção com-
posicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igual-
mente determinados pela especificidade de um determinado campo da comu-
nicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada
campo de utilização elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os
quais denominamos gêneros do discurso
(idem, ibidem, pp. 261-2, grifos do original).
Perceba-se que, ao mesmo tempo em que há uma aproximação da teoria
de Luhmann, por exemplo, há um radical afastamento desta, pois, em Bakhtin,
os gêneros discursivos são estruturados em linguagem e não são enclausurados
normativamente, mas são apenas relativamente estáveis, estando sempre em tensão
com a capacidade criativo-expressiva do ser individual que enuncia.
Por esta razão, afirmamos que o gênero não esgota a individualidade. A
capacidade individual usa o gênero, mas sempre contribui com ele, em uma só
enunciação. Por assim dizer, há uma dialética nesta tensão entre a estabilidade do
gênero e as inúmeras possibilidades enunciativas – a dupla contingência é entre o
discurso e o enunciante, e a relação entre os enunciantes já é dialogal.
Acima, quando apontamos que o gênero mítico pode ser apontado como o
gênero “divisor comum” da sociedade216, é porque há, no mito, uma estupenda
habilidade semântico-objetal, sendo que a estrutura estilístico-composicional do
mito comporta as mais diversas modificações semânticas sem se desnaturar. O fato
de o mito se estruturar não somente em estruturas sintático-pragmáticas da lin-
guagem, mas depender de um personagem típico (heroi/anti-heroi) faz com que a
cada vez o autor e o personagem, mas também o intérprete e o personagem entrem
216 Conferir capítulo 1 deste trabalho.
137
pedro dourados.indd 137 16/10/2012 12:14:38
em contato com o mito de maneira única, acionando mecanismos conscientes de
identificação do discurso e inconscientes de identificação (catarse) e projeção –
este processo complexo permite a transmissão da experiência pela narrativa mítica.
Não há, porém, o mito. O mito fundador do mito, a origem cronológica do
mito não é acessível a nós – pelo fato de a cadeia mitológica ser super-complexa
e sempre possuir, a cada vez, uma referência simbólico-transcendental217, mas
também por possuir uma origem que se encontra in illo tempore. A criação origi-
nária, a instituição ex nihilo, passa, assim como na Bíblia, pela Queda218 e pelo en-
ganoso filtro do bem e do mal que nos permite discorrer sobre a origem somente
em termos de fé ou de incredulidade – pelo que o assunto encontrará abordagem
sempre limitada na “ciência”219.
9.b.1 Os dois tempos da ação
Como vimos acima220, a teoria comunicativa do Direito aponta que a pa-
lavra “ação” remete tanto ao ato, ao evento físico-psiquicamente perceptível221,
quanto aos textos desenvolvidos sobre o ato após sua concepção e que estabili-
zam, modificam, às vezes, recriam seu sentido.
À primeira, atribui-se o sentido de “fato”. Trata-se da constituição de fenô-
menos no mundo que condicionam a própria percepção, de modo que os dados
que deles emanam são, em geral, percebidos por todos da mesma maneira, salvo
disfunções nos aparelhos perceptores dos observadores, o que nos leva a dizer
que todo e qualquer fato pode até ser visto como uma interpretação, mas muitas
destas interpretações são “automáticas”, e somente podemos mudar seu sentido
no segundo momento da ação.
217 Idem.
218 A Queda é o resultado teológico-antropológico que vincula toda a humanidade e o evento messiânico
de Cristo a partir do episódio do “fruto proibido” de Adão e Eva. Atenção para que a palavra “pecado”
somente é usada a partir do crime originário, de Caim, mas não ainda para Adão e Eva. Sobre a Queda,
conferir G. K. CHESTERTON. Ortodoxia. São Paulo: Mundo Cristão, 2010.
219 Lembrando com Heidegger, porém, que a base da ciência enquanto estudiosa dos “entes” é sempre meta-
física pois supõe o “nada” como possibilidade do “essente dos entes”, ou da simples existência das coisas ,
condição de “verificabilidade” (Popper) de seus enunciados. HEIDEGGER, Martin. Que é Metafísica. In
Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999.
220 Cf. Item 9.a.1.a
221 O sentido de “perceptível” emprestamos, aqui, de MERLEU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da
Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2009. A percepção tem como episteme não o conhecimento huma-
no abstratamente considerado, mas observadores concretos, localizados inclusive de modo corpóreo. O
corpo humano faz parte do sujeito investigador que percebe um ato em estado cru, seja ele qual for, já lhe
atribuindo inúmeros tipos de cargas valorativas. Esta noção de percepção permite, de partida, englobar
todo evento humano como ação/ato, até mesmo aqueles em que não há movimento físico-biológico, como
em crimes omissivos, já que até mesmo a ausência de algo ou alguém é –ela também – perceptível. Por ou-
tro lado, podemos falar em uma “percepção social” quando um fato é reportado pela mídia, por exemplo,
ou quando uma tradução de um texto é publicada, enfim – esta percepção social atual também no plano
simbólico em uma aproximação primária da sociedade à informação, que será então processada.
138
pedro dourados.indd 138 16/10/2012 12:14:39
A essa diferença entre os momentos da ação, corresponde a diferença entre
enunciados primários e secundários em Bakhtin:
Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos gêne-
ros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza geral do enun-
ciado. Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial entre
os gêneros discursivos primários e secundários (complexos) – não se trata
de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários [...] surgem
nas condições de um convívio social cultural mais complexo e relativamente
muito desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico,
científico, sócio-político, etc. no processo de sua formação eles incorporam e
reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condi-
ções da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que inte-
gram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter especial: perdem
o vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais alheios [...]
(BAKHTIN, 2002, p. 263)
Nota-se, assim, que as informações colhidas das percepções concretas – do
primeiro momento da ação – são a base para a formação destes enunciados de
segunda ordem. Entre estes enunciados complexos, encontram-se todos os tex-
tos que formulam o “conceito jurídico-penal” de ação, e começam a dar cara a
um “crime”. Entre os enunciados de primeira ordem e os enunciados de segunda
ordem há uma inter-dependência que é mediada pelo Direito Processual, com
conceitos como, por exemplo, competência policial, inquérito e capacidade postu-
latória, e que regulam a aceitabilidade de uma ação como objeto de formulação
jurídica, ou seja, como ação juridicamente relevante.
Nesta passagem, o que se coloca em jogo é o “estilo” do autor da ação-enun-
ciado concreto. Se, para a primeira percepção da ação, sua presença pessoal, seu
estilo, é extremamente relevante; para a segunda percepção, jurídica, o reflexo de
seu estilo, de seu testemunho, de seu corpo se movimentando ou não para fazer
uma ação que germina um crime são muito menos relevantes, pois precisam pas-
sar por uma adaptação da própria fraseologia típica do gênero jurídico. A norma-
tividade das estruturas composicionais do Direito não é somente de natureza es-
tética, graças à existência das formalidades processuais, que possuem força de lei,
ainda que se possa alegar que, em última instância, seu critério de validação seja
quanto a uma adaptação estética entre o posto e o desejado pela pessoa do juiz.
A diferença entre o posto, a ação concreta, que se apresenta como enun-
ciado concreto perante o Estado-juiz, e o desejado é a composição concreta
de inúmeros textos, que perdem sua individualidade conforme se amoldam à
composição fraseológica válida juridicamente para se adaptar ao estereótipo
inexistente de “crime”. Assim, o crime perfeito é antes um “topos”, um tipo
ideal de crime, e não uma ação sem vestígios. Crime perfeito é a ação que,
139
pedro dourados.indd 139 16/10/2012 12:14:39
ludicamente, encaixa-se em todos os pressupostos doutrinários, legais e juris-
prudenciais do conceito de “crime”.
Estabelece-se, assim, a dialética supra-mencionada entre a expressividade
da ação individual ou coletiva, entre o estilo autoral, e a estabilidade do gênero
crime, já parcialmente estável.
140
pedro dourados.indd 140 16/10/2012 12:14:39
A Dogmática Penal
A dogmática não pode ser vista como um mero conjunto de textos com um
papel interpretativo das leis penais. Existe, por exemplo, uma diferença crucial
entre o auxílio que um dicionário pode oferecer para a hermenêutica jurídico-
-penal e a constituição de sentido oferecida ao jurista pela “doutrina”.
A dogmática pode ser vista como um cânone discursivo baseado na autori-
dade. Certamente, esta autoridade pode ter uma fundamentação racional, com base
em uma teoria da argumentação jurídica, por exemplo, como defendem Habermas,
Günther, Alexy, entre outros. Sabe-se bem, contudo, que não é sempre a argumen-
tação racionalmente orientada que cria o status de “autoridade” em um assunto.
A imagem que uma pessoa pode construir ao seu entorno, formando uma
“personalidade” no meio Penal, no sentido de Adorno, pode muito bem ser base-
ada em uma experiência significativa para o “público leitor”: quer seja a admira-
ção carismática pelo sucesso profissional do doutrinador, sua recomendação por
outras autoridades ou o sucesso comercial de suas obras.
Sucesso comercial pode ser um critério racional de análise da autoridade,
possibilitando, inclusive, a formação de dados muito mais exatos e planificados
que a qualidade da argumentação presente em um livro, por exemplo. É neste
ponto que vemos o quanto a dogmática também abarca, de modo suspeito, a dia-
lética do esclarecimento.
Os textos que compõem a doutrina são textos que recebem uma valora-
ção e uma variação estilística dentro dos textos do gênero discursivo jurídico
penal. Assim como as leis, porém, o que define um texto como doutrinário não
é somente uma questão estético-estilística, mas também normativa – no caso, a
normatividade não está baseada na soberania estatal (como no caso das leis e das
sentenças), mas na autoridade (racional ou não, mitológica em todo caso) das
personalidades que sustentam esta mesma dogmática.
10.a “Reflexos dogmáticos” da teoria da ação dialógica
Caberia aqui, neste trabalho, para o agrado daqueles que se esperavam a
um texto de conteúdo mais jurídico, uma seção com as consequências dogmáticas
provocadas pela teoria da ação dialógica.
O problema é que existe uma diferença substancial entre uma teoria da
“ação final”, da “ação como expressão da personalidade”, da “tomada de postura”
e uma teoria da ação dialógica. A teoria da ação dialógica consiste em conside-
rar a ação como um texto, como um enunciado concreto, no emaranhado mais
141
pedro dourados.indd 141 16/10/2012 12:14:39
complexo de um gênero discursivo parcialmente estável. Basicamente, a teoria
da ação dialógica estabelece uma postura e não uma teoria no sentido clássico.
Sabendo disso, podemos analisar quaisquer categorias dogmáticas de acordo
com diferentes critérios de seleção – geralmente políticos – tendo sempre, porém,
em mente, que as categorias em questão não serão analisadas de fora, como se
o dialogismo se colocasse como um observador imparcial e onipotente, nem de
dentro, como se fosse uma categoria dogmática entre as outras – pois não é.
Todo e qualquer partido pode ser analisado a partir do ponto de vista da
ação como enunciado concreto, o relevante aqui é não perder de vista a relação
estabelecida entre teoria da ação, teoria da sociedade e teoria do mito, dentro de
nosso nicho de interesse, que é o Direito Penal.
Isolar categorias poderia ser uma tentativa de isolar a própria teoria da ação
como enunciado concreto da possibilidade mitológica, ou seja, de ser ela também
mitológica, de sucumbir à dialética do esclarecimento.
A diferença aqui é que não tememos sucumbir ao mito, pois entendemos
que a presença da dialética se tornou mais fluida e menos negativizada, após a
crítica que traçamos à própria dialética do esclarecimento, tal qual elaborada por
Adorno e Horkheimer.
O ponto é que ainda podemos optar por critérios e buscar construir enuncia-
dos próprios que respeitem a estes critérios, sejam eles critérios de justiça, raciona-
lidade, beleza – mas de modo que a única certeza que se pode ter quanto a estes
critérios se dirige à possibilidade de um discurso teológico próprio, e não mais a uma
filosofia prima, a um direito puro ou a uma estética definitiva e embriagante.
O Direito, acima de todos os demais ramos culturais, se torna um emara-
nhado de discursos cuja pureza é sempre duvidável e questionável, do ponto de
vista do próprio estilo jurídico. As certezas jurídicas, porém, se tornam certezas a
partir de opções.
E esta é uma das mais importantes funções da dogmática no seio do ramo
jurídico, principalmente pelos discursos principiologistas, e cada vez mais dos Di-
reitos Humanos, que podem se ver baseados em atos de vontade, no sentido clás-
sico do termo, e na boa consciência de cada um e de todos, no simbólico social e
no discurso moral.
Por fim, não desejamos fugir do mito, mas é necessário encontrá-lo, como na
postura baconiana de hermenêutica da “sabedoria dos antigos”, salvo que agora
sabemos que as Idola estão presentes em todos os lados, nos mitos e nas razões.
10.b Além da querelle des ancies et des modernes
Na filosofia ficou conhecida a luta travada entre as teses dos antigos sobre
o ser e a dos modernos, que o filósofo cunhou sob o título de querelle, do francês,
querela, ou embate, na tentativa de superá-la, dialeticamente, como é sabido.
142
pedro dourados.indd 142 16/10/2012 12:14:39
Na dogmática do Direito Penal há uma querela similar, e que precisa ser ur-
gentemente revista para que possamos, então, finalmente superá-la.
Trata-se da briga entre ontologismo e normativismo.
Ocorre que esta briga não tem a mínima razão de ser, pelo fato de, neste
ponto, a dogmática penal ser pouco cautelosa com suas terminologias e, conse-
quentemente, estranhamente retrógrada. Enquanto que alguns últimos discípulos
de Welzel manteriam um método focado nas estruturas lógico-objetivas, acerca das
quais discorremos acima, os normativistas partiriam da norma como dado para o
sistema jurídico, divergindo em escolas como a de Roxin e a de Jakobs, em termos
de radicalidade quanto à autonomia da norma em relação às categorias ontológicas.
Silva-Sánchez (2011, p. 115) traduz esse movimento da seguinte forma:
Direito positivo, esfera axiológica, esfera ontológica: dda maneira mais sim-
plista possível, estes vêm sendo, respectivamente, os pontos de referência das
três fases de evolução da dogmática que acabamos de resumir. Atualmente,
porém, e deixando de lado os seguidores “puros” do finalismo, nenhum deles
reflete o “modus operandi” dominante na dogmática penal.
O Problema é que esta oposição entre os antigos finalistas ontológicos e os
pós-finalistas normativos adota conceitos jamais esclarecidos de ontologia e norma
– sobretudo de norma, já que o conceito de ontologia é tomado como o enten-
dia Welzel, na maioria das vezes – e cria, entre eles, uma oposição cuja real base
nunca foi explicada.
O que ocorre neste pseudo-conflito é uma transposição de conceito entre
os séculos sem que se respeite suas significações históricas: transmuta-se, sob o
título ontologia versus normativismo a oposição kantiana entre Sein e Sollen, sem
se ater ao fato de que ontologia, tal qual reconstruída por Welzel, é um conceito
diverso do Ser pré-fenomenal em Kant222.
Além disso, não se explica qual o conceito de norma que se toma, se o
da tradição Kant-Kelsen ou se algum minimamente mais real ou material. Por
não falar-se sobre o conceito de norma, quando se lê em dogmática acerca de
um “conceito normativo de dolo” ou um “conceito normativo de culpabilidade”
somos levados imediatamente a um retrocesso à pirâmide kantiana pela mão de
penalistas que aclamam já ter o Direito Penal derrocado o positivismo.
A oposição entre ontologia (Welzel) e norma é falsa. Mesmo em termos ge-
rais de ontologia, como se desenvolveu na filosofia do século XX, em Heidegger e
Gadamer, por exemplo, essa distinção não faz nenhum sentido. A começar pelo
círculo hermenêutico de Heidegger, que apresenta os pré-conceitos na interpreta-
ção ao localizarem o ser do homem em um mundo já dado (Gadamer sistematizará
isso no conceito de “tradição” em Verdade e Método), de modo que a vinculação do
222 Cf. capítulo 2 e 5
143
pedro dourados.indd 143 16/10/2012 12:14:39
homem com o ser – a própria ontologia – se dá por via normativa da pré-concepção do
ser-no-mundo. Trabalhamos este tema sob a óptica de uma onto-ética, alhures223.
Essa discussão que parece ser extremamente abstrata é responsável por al-
gumas grandes tragédias práticas na aplicação da lei penal.
Em primeiro lugar, no próprio conceito de “lei”, que é influenciado por esta
pseudo-experiência da norma-em-si, diversa do ser-das-coisa, e que, por ser de uma
natureza própria diversa da natureza mesma, ganha um momento de criação que não
corresponde à atividade política real de uma nação pelo Poder Legislativo, mas cria-se
a figura mítica do legislador, tema que também desenvolvemos em outros textos224.
A criação da lei deixa de ser política para se tornar a mágica atividade de um
legislador racional existente no imaginário jurídico-social.
E é sob as vestes deste pretensamente racional legislador que se cria a técnica do
momento jurídico, em detrimento do político, já que a criação se deu por uma técnica
legislativa, ela deve também ser aplicada com uma técnica hermenêutica, com uma
neutralidade política que é próton pseudos e prima ratio da super lotação prisional.
Acreditar que a atual política de drogas brasileira que ainda pune o usuário,
que a atribuição de penas maiores aos crimes contra o patrimônio que aos crimes
contra a honra, que a falta de sistematização das leis contra crimes de colarinho
branco e a ausência de reconhecimento jurisprudencial em grande escala do prin-
cípio da insignificância se deve a motivos puramente técnicos é uma falácia ligada
à briga de cátedra – não menos inútil – entre ontologia e normativismo.
10.c A Irretroatividade da lei penal
Compreendendo que uma ação é um texto, a questão da irretroatividade
da lei penal torna-se muito mais clara, e apresenta-se como uma regra de herme-
nêutica da ação.
O que significa optar pela irretroatividade da lei penal? Significa optar por
ler uma ação (texto) dentro de suas especificidades histórico-temporais, ou seja,
a regra da irretroatividade da lei penal é uma regra hermenêutica que visa a pren-
der o texto ao seu contexto – histórico-legal, no caso225.
A mesma coisa se passa com a ultra-atividade da lei temporária ou excep-
cional.
Deseja-se interpretar a ação conforme as regras de interpretação vigentes
no momento em que a ação ocorreu, ou seja, a lei a qual, como já dito, é um dos
instrumentos que auxiliam na composição do tema de uma ação concreta, é le-
vada em conta na própria historiografia da ação, de modo objetivo.
223 No artigo “Aspectos do Mal: reflexões filosófico-teológicas”, disponível em www.scribd.com.
224 No prelo: Mito, método, crítica: revisão ao “processo legislativo”, em coautoria com Pedro Chambo.
225 Reflexivamente, esta prisão se dá histórico-legalmente pelos famosos Artigo 5º, XL da Constituição
Federal e Artigo 2º do Código Penal.
144
pedro dourados.indd 144 16/10/2012 12:14:39
Trata-se, bem entendido, de uma opção dogmática, a qual se tornou uma
regra típica de hermenêutica da ação pela sua legiferação na Constituição Federal
e no Código Penal.
A retroatividade da lei benéfica e o instituto da abolitio criminis parecem
contradizer esta lógica, mas possuem o mesmo fundamento. Uma pessoa que co-
meteu uma ação criminosa no passado enfrenta, hoje, não mais a tentativa de
reconstrução do momento da ação em seu contexto, mas a própria pena, como
uma resposta vinculada à sua ação (enquanto ida).
A resposta, ou seja, a pena, tem o fundamento no interesse punitivo do Es-
tado em relações concretas de lesões a bens jurídicos medidas pela culpabilidade226,
mas, se hoje não há mais razão de ser um crime específico (ou se ele é considerado
menos lesivo de modo que sua pena é diminuta), a mensuração da culpabilidade
recebe ela também esta atualização das compreensões e das orientações hermenêu-
tico-sociais a respeito do crime, danificando, por assim dizer, a inteireza do interesse
punitivo estatal, o que gera resultados “benéficos ao réu”. Trata-se da mesma ques-
tão de contextualizar, mas não mais a ação (a qual já foi interpretada e sobre a qual
o sistema punitivo já deu seu parecer), mas a própria pena, a qual, por se delongar
no tempo na maioria das vezes, submete-se a certas atualizações.
Se no momento da ação ela não era considerada crime, sua punição se des-
contextualiza, assim como uma possível majoração posterior da pena. Mas, se no
decorrer da pena a ação não mais é vista como crime, ou se a pena é diminuída, a
quantificação originária da pena torna-se sub-significativa – em ambos os casos,
trata-se de problemas hermenêuticos.
10.d. Omissão e causalidade
Uma vez claro que a teoria da ação dialógica estabelece que uma ação é
um enunciado concreto, não há que duvidar que omissões sejam ações e não
somente “nadas” dos quais “nada sai”. Um nada, no plano causal, pode ser extrema-
mente significativo no plano textual, e é por isso que omissões podem ser ações plenas
de significações jurídicas227.
Neste ponto nos ligamos a Jakobs (2003b; 2003c) e às suas observações sobre
ação e omissão. Brilhantemente, o autor gira a questão não mais em torno da díade
ação\omissão, mas na unidade do descumprimento de um dever, o qual, por sua vez,
pode ser descumprimento de um dever positivo ou negativo.
Certamente esta divisão entre positivo e negativo pode parecer apenas uma ma-
neira diversa de se referir à ação e à omissão. Não é o caso. Positivo e negativo se refe-
rem ao tipo de proibição penal em questão, ou seja, se referem á norma penal. Significa
226 Conferir, abaixo, nosso ponto de vista sobre a culpabilidade.
227 É, por sinal, tragicômico um penalista ser capaz de anunciar uma omissão como um “nada” e como um
“crime” – concomitantemente.
145
pedro dourados.indd 145 16/10/2012 12:14:39
dizer que a divisão proposta por Jakobs se põe sobre o principal instrumento hermenêu-
tico da ação, que é, em última instância, a lei.
“O dever negativo tem por conteúdo, como já se disse, não causar dano a outrem”
(JAKOBS, 2003b, p. 4). Enquanto que “os crimes que resultam do âmbito de um dever
positivo chamam-se crimes de infração de dever e somente podem ser cometidos pelo
titular de um determinado status, por uma pessoa obrigada precisamente de forma
positiva” (idem, ibidem, p. 7, grifos do autor).
É por isso que Jakobs pode resumir sua teoria do delito a uma teoria da
imputação do delito, ou seja, da imputação de quebra de um dever (positivo ou
negativo), seja lá como este dever tenha sido quebrado, quer por uma comissão,
quer por uma omissão.
O que Jakobs entende por imputação, porém, fica claro quando ele usa o
exemplo do trabalho, usando uma figura do filósofo Locke:
O produto do trabalho, da atividade dirigida a um objetivo, pertence a quem o
cria. É o que ensina Locke como fundador da teoria da propriedade mais rele-
vante da época moderna, a teoria do trabalho: ‘o trabalho do corpo (do homem)
e a obra de suas mãos são (...) em sentido próprio sua propriedade. Assim, pois,
tudo o que ele modifica do estado de coisas que a Natureza previu e que ela
permitiu, o fez juntando com seu trabalho, e lhe acrescentou algo próprio. No
que constituiu assim sua propriedade’. Essa teoria do trabalho referente à pro-
priedade não é uma teoria do mundo exterior, mas uma teoria da imputação (...).
(JAKOBS, 2003c, pp. 1-2)
Polêmico, contudo, é o fato de Jakobs ilustrar a imputação pela teoria da
propriedade de Locke, ou seja, por uma teoria pré-Marx, que não olha justamente
para as críticas que a noção de propriedade pode criar – em especial, que não
olha para as dificuldades de uma analogia desta natureza. Além disso, esta teoria
da imputação revela o círculo entre lei e lei. Pois se imputação é o fruto de nosso
trabalho a nós atribuído, é a atribuição de propriedade, e é a lei, por sua vez, que
estabelece os critérios de atribuição da propriedade.
O problema da teoria da propriedade é que ela fica a meio termo entre um
nominalismo cético e um naturalismo materialista.
Certamente uma teoria da imputação necessita de critérios normativos, e
em matéria jurídico-penal, estes critérios serão legais. A questão é que o pro-
cesso que resulta na imputação de uma ação não deve se limitar a estes critérios
e à sua verificação.
Não podemos ignorar o processo perceptivo da ação por terceiros. O que
chamamos aqui de processo perceptivo é a análise mais crua que se pode fazer
de uma ação, quase intuitiva, é a recepção dos primeiros sinais de sua existência.
Seria um erro, porém, afirmar que se tratam de sinais físicos em oposição a um
tipo de significação simbólica. Os sinais físicos já são sinais, e é só por isso que
podemos, por exemplo, dar um nome à omissão.
146
pedro dourados.indd 146 16/10/2012 12:14:39
A “ausência de movimentos corporais” em uma ação omissiva é tão físico-
-significativa quanto a presença de “movimentos” em uma ação comissiva. O que
interessa é, pois, a significação pós-perceptiva que se dá a certas ações e a certas
omissões, mas aqui já estamos falando de “ação” em sentido enunciativo, em sen-
tido juridicamente relevante.
Falar em autoria, no lugar de propriedade é, ao nosso ver, mais adequado
para definir a imputação da ação. Por sua vez, a definição do autor de uma
ação deve estar ligada a critérios. Tais critérios, como defendemos, não são
simplesmente critérios sociais, de reconhecimento externo, de mera imputação
no sentido clássico da palavra.
A autoria depende de um movimento dialógico de reconhecimento pessoal,
por parte do “futuro” autor de que sua ação é legitimamente sua. Esse movimento
é, à la fois, dialógico e mitológico, pois se trata de um reconhecimento da pessoa
(autor) com o personagem que ela mesma constitui no momento da ação – trata-
-se pois de uma “experiência” de autor, experiência de autoria.
Esta experiência exige um mínimo de reconhecimento, de responsabilização
– esta responsabilização está, por sua vez, ligada à identificação de “vontade” no
decorrer da ação, vontade esta que não se limita ao dolo, mas pode muito bem
estar presente em ações tidas como culposas (cf. TAVARES, 2009). Vontade é
um elemento presente em todas as ações imputáveis a um homem e diferencia-
-se do conteúdo subjetivo do tipo, aproximando-se mais ao conceito fenomeno-
lógico de “intencionalidade” e do de “percepção”, que desenvolvemos acima228.
Isso faz com que a culpabilidade seja vista como um ponto central na teoria do
delito, pois ela faz a ponte entre este reconhecimento pessoal, esta identificação
entre o autor e o personagem no momento da ação e o reconhecimento social da
autoria, que é a imputação no sentido de Jakobs, no sentido legal da conferência
da tipicidade e da antijuridicidade.
Um inimputável é, por exemplo, defasadamente, um autor, pois ainda que
se identifique como tal, a sociedade não o reconhece por autor, por um movi-
mento dialético em que a sociedade reconhece que ele não é capaz de absor-
ver todos os critérios necessários para se conscientizar da sua responsabilidade
quanto aos seus próprios atos.
Uma outra situação de autoria defasada pode ser proporcionada por um
acidente. Digamos, por exemplo, que uma pessoa conduzia seu veículo dentro
das normas exigidas, mas um pedestre desatento resolveu atravessar a rua e foi
atropelado pelo nosso condutor em questão. Tratou-se de um acidente, onde,
se há alguma culpa, ela é do pedestre. Neste caso, a sociedade não reconhece a
autoria do condutor, ainda que ele se penalize com sua culpa pessoal atribuindo
a si a posição de autor de uma desgraça (“se eu não tivesse saído de casa”, “se
eu estivesse mais devagar”).
228 Conferir capítulos 8 e 9.
147
pedro dourados.indd 147 16/10/2012 12:14:40
É verdade que predomina o momento da imputação, no sentido de Jakobs,
ou seja, o da valoração social, mas ele não é exclusivo, apesar da força da lei e da
sociedade em grande número representada pelos agentes estatais.
A permissão que um réu tem de mentir em um julgamento penal, sem que
isso lhe confira posteiores prejuízos processuais (ao menos, não como em um juízo
cível) ganha significação a partir da compreensão temática do crime, em que é
importante a participação do “réu” na construção de sua própria obra, de sua au-
toria, de seu monstruoso crime.
O nexo principal deixa de ser o causal, e se torna o autoral.
10.d Pessoas Jurídicas criminosas
Uma questão recente em todo o mundo, e também no Brasil, é a da crimi-
nalização de pessoas jurídicas como autores responsáveis.
A lei 9605/98 de Crimes Ambientais inaugurou no Brasil a possibilidade de
responsabilização penal de Pessoas Jurídicas. Diante disso, e diante do fato de que
em vários outros países, tanto de tradição jurídica Romano-germânica quanto
da Commom Law (cf. PRADEL, 2001; SCHECAIRA, 2002; SANCTIS, 2009),
uma pergunta ainda se coloca: após aproximadamente 13 anos da promulgação
da lei 9605/98 no Brasil, por que motivo continua sendo esta a única hipótese
admitida de criminalização de Pessoas Jurídicas?
A questão da dupla imputação inaugurada pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça (cf. Agravo Regimental no Recurso Especial 564.960-SC e, especialmente,
Mandado de Segurança 20.601-SP), que ainda precisa de mais esclarecimentos,
somada à “batalha” acadêmica travada entre os pró-criminalização de pessoas
jurídicas e os contra-criminalização (geralmente associados ao finalismo)229 tem
ofuscado alguns pontos importantes acerca do assunto.
O primeiro, a nosso ver, é o fato de que já existe criminalização de pessoas
jurídicas. Não há, pois, que se perguntar sobre a possibilidade de tal tipo de impu-
tação, pois ela é empiricamente verificável, sendo que ainda pode ser – contudo
– questionada por outros motivos, de natureza principiológica. Como para o bom
entendedor basta meia palavra, vemos neste fato um interessante evento mitoló-
gico que nos leva a outro questionamento.
Fatidicamente falando, empresas podem ser criminosas (e o fato de isso se
dar em crimes ambientais traz uma carga simbólica severa, cf. COSTA, 2010),
ou seja, seguindo nosso esquema, empresas podem ser anti-herois em um sistema
mitológico de imputação autoral.
A problemática que perpassa a ignorância do fato de já haver criminalização
de pessoas jurídicas é a dúvida ideológica que permeia a justificação de tal tipo de
229 Cf. nesta orientação: PRADO, DOTTI (org.). Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica: em defesa do princí-
pio da imputação penal subjetiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
148
pedro dourados.indd 148 16/10/2012 12:14:40
imputação, em esfera penal. Isso porque, sabe-se, há fortes correntes no sentido
de uma atuação por outros ramos do Direito, no que tange à punição de infrações
de pessoas jurídicas, como o fazem Hassemer, na Alemanha e Costa, no Brasil.
Por que lutar a favor de tal criminalização; por que lutar contra tal crimi-
nalização passando muitas vezes ao largo da possibilidade de efetivação de um
Direito Administrativo sancionador, de uma aplicação jurisprudencial de Punitive
Damages, ou similares?
Ainda falta, aqui, um levantamento de motivações econômicas em todos os
lados da questão.
E dizemos motivações econômicas, pois este é o único enfoque que justifi-
caria uma expansão do Direito Penal para além da pessoa física. Falta saber se é
o direito penal o meio mais adequado – e mesmo se suas categorias dogmáticas,
que visam, historicamente, à consecução de tipos de violência física e não difusa-
-institucional – ainda que se fale que:
Como consecuencia de que lós hechos punibles que involucran a las corpo-
raciones emprarias fue apreciado como um problema esencial para el derecho
penal econômico, ha sido cada vez más notória la necesidad de relacionar el
tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas com el ámbito de lós
delitos econômicos.
(RIGHI, 2000, p. 123).
Outro ponto que foi somente ressaltado acerca deste tipo de criminalização
é o do impacto que ela possui no conceito e na concepção de pessoa jurídica. O
que permite a ponte entre este conceito abstrato e a visão de uma “empresa cri-
minosa” fatídica no nosso dia-a-dia social?
O que permite pensarmos que, em um futuro próximo, os tipos penais apli-
cáveis exclusivamente a pessoas físicas na Lei 11.101 de 2005230 possam ser apli-
cados a pessoas jurídicas?
A ponte é a noção de instituição, acerca da qual nos apropriamos de ideias
de Wittgenstein, Ricoeur e Castoriadis.
Primeiramente simples, a noção de instituição pode ser abstraída dos jogos
de linguagem dentro de um quadro de vida (WITTGENSTEIN, 1996), de uma
forma de vida institucionalizada, sendo que a institucionalização de tal forma de
vida se dá por jogos que linguagem que criem e modifiquem regras que se refiram
sempre a certo tipo de conteúdo do próprio jogo de que fazem parte.
230 Trata-se da lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária”. Certos crimes tipificados pela lei são, a nosso ver, muito mais facilmente a aplicáveis a pessoas
jurídicas que tipos da Lei de Crimes Ambientais, justamente por tratar de material empresarial. Veja-se,
por exemplo, o Artigo 168 da Lei 11.101: “Praticar [...] ato fraudulento de que resulte ou possa resultar
prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem” – é
fácil imaginar que uma corporação poça, de modo corporativo, praticar um ato fraudulento que resulte
vantagem indevida para si e não para seus sócios, ao menos, em um primeiro e direto momento.
149
pedro dourados.indd 149 16/10/2012 12:14:40
Por exemplo: faz parte do quadro institucional de uma empresa todos os tex-
tos que ela coloca em seu mural. Um belo dia, aparece o seguinte texto no mural
da empresa: “A partir de agora, consulte também os textos no site da empresa...”.
A partir deste momento, os textos publicados no site são também institucionais e
serão capazes de ampliar ou diminuir o quadro institucional. Esta modificação se
dá porque “a regra pode ser um auxílio no ensino do jogo (...) ou é uma ferramenta
do próprio jogo” (WITTGENSTEIN, 1996, p. 48), como no caso em questão.
As próprias criações textuais dentro do quadro institucional delimitam as
novas formações do quadro institucional.
Já uma teoria pragmaticista, como a dos atos de linguagem, pode ver que
todos os textos que se apresentam dentro do quadro institucional são ações. Mas
ações de quem? Justamente por pertencerem ao quadro institucional e por se refe-
rirem a ele, tendo nele sido criadas, elas são auto-referenciais (aproximando-nos
muito da relação entre uma comunicação e um sistema na teoria de Luhmann).
O quadro institucional é o autor da ação institucional, mas não sozinho (e
aqui quitamos Luhmann). O quadro institucional permeia uma zona comum de
atuação dialógica com os homens que dão vida ao quadro institucional. Vida,
sim, mas em que sentido? No sentido de “personificação”.
Trata-se de uma personificação limitada, dentro de um outro quadro insti-
tucional maior, o jurídico, mas, de uma personificação elaborada o suficiente para
criar a relação de autoria entre o “corpo institucional” (humano) e a instituição
(personagem) em que a responsabilidade pode ser admitida pelo próprio persona-
gem (teoria da personalidade jurídica).
O personagem (heroico ou antiheroico) em esfera pessoal se baseia na experiên-
cia que uma pessoa pode ter de rememorar, dialogicamente, seu próprio passado, re-
conhecendo-se, identificando-se com o personagem do momento da ação. Mas, em
que medida se dá a sustentação da existência do personagem das pessoas jurídicas?
Neste ponto uma inflexão simbológica se faz necessária, para além do prag-
matismo de Wittgenstein.
Castoriadis (1984) provavelmente diria que a existência, ou a nossa cer-
teza da existência de uma empresa, enquanto um ser, é da mesma natureza que
a antiga certeza grega da existência de minotauros – ou seja, é sustentada por
um imaginário social criativo. E, os símbolos deste imaginário são chamados de
criativos, pois se impõem ante à sociedade, irrompendo com o novo no ante-
riormente inexistente e, devido à ambiguidade do símbolo entre o consciente e
o inconsciente231 (Ricoeur), podemos atribuir uma justificativa “racionalmente
narrativizada” a tais criações.
Se os minotauros se viam justificados pelos antigos mitos gregos232, a justifi-
cativa narrativa do símbolo personificado das pessoas jurídicas é, hoje, o Direito.
231 Conferir capítulo 1 deste trabalho.
232 Um simples quadro narrativo apresenta uma justificativa racionalmente lógica (sucessão de eventos no
tempo cotidiano) para o nascimento de um minotauro: “um cavalo e uma mulher cruzaram”; “o deus ‘x’
150
pedro dourados.indd 150 16/10/2012 12:14:40
Discursivamente falando, enfim, a questão da institucionalidade das empre-
sas e sua criminalização ganha uma importância especial quanto à estabilização
de certos quadros literários (estilísticos) na formação do gênero discursivo Di-
reito Penal e permite que ele se abra para o fenômeno da interdiscursividade e da
polifonia com outros ramos do Direito de modo direto (Direito Civil, Empresarial
e Processual) e de outros saberes, de modo indireto (Economia, Administração
de Empresas, Sociologia, entre outros).233
Isso se vê porque o próprio conceito de ação passa, no Direito Penal Econômico,
a ganhar conotações mais amplas que perpassam o Direito penal mas não criam, com
este, ligações sinalagmáticas. Assim, já o conceito econômico de “agentes econômi-
cos” engloba, perfeitamente, empresas como seres que agem na economia.
Certamente, é preciso enxergar ação aqui como apresentamos no capítulo
9, ou seja, relacionada dialogicamente com os contextos com quais ela se rela-
ciona e com os textos que ela influencia a partir de então.
Veja-se, por exemplo, o hostile takeover. Trata-se de operação de mercado
de valores mobiliários em que um comprador oferece, hipoteticamente, um valor
inflacionado pelas ações de uma determinada companhia com o objetivo de as-
sumir o seu controle.
Pode-se decidir, apenas hipoteticamente, em esfera de regulação econômica,
que determinados tipos de hostile takeover mereçam tutela penal, nesse caso seria
facilmente imaginável a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica
porque ela pode se tornar sujeito ativo do delito tão bem como uma pessoa física.
Esse paradigma, porém, imputa uma ação a uma pessoa jurídica da mesma
forma que a uma pessoa física, e, sobretudo em terreno de economia globalizada,
isso é um erro crasso.
Caso se queira responsabilizar a empresa, como no exemplo acima, é preciso
criar critérios diversos do da imputação da pessoa física, até porque, em termos de
lesão a bens jurídicos, pode ser crucial a diferença entre a aquisição hostil do poder
de controle de uma empresa por uma pessoa física ou por outra empresa/grupo so-
cietário – inclusive na configuração de delitos paralelos, como formação de cartel.
Assim, se a culpabilidade possui uma papel diferenciado na concepção do
conceito de ação e em sua relação com o Bem Jurídico, não há que se falar, por
outro lado, em culpabilidade da empresa. Trata-se de uma opção doutrinária no
sentido de vencer a sombra do societas delinquere non potest, fortemente ligado à
individualização da pena (ROCHA, 1985).
Não trabalhar com o conceito de culpabilidade em responsabilização penal da
pessoa jurídica também é fundamental para diferencial esta da responsabilização
amaldiçoou a pessoa ‘y’ que se metamorfosiou em um ser semi-equino”; “todos os que entram na caverna
ganham uma crina”; etc.
233 Falar, por exemplo, que “eu trabalho na empresa ‘xpto’” é um feito cotidiano que reforça nossa fé na crença
se empresas – principalmente se xpto é uma boa pagadora de salários, impostos e saldos previdenciários.
151
pedro dourados.indd 151 16/10/2012 12:14:40
penal de uma coletividade por uma ação conjunta, como ocorre no Direito Penal
Internacional pela joint criminal entreprise (CRYER et all., 2007, pp. 304 ss.).
Não há que se falar em uma simples substituição, contudo, da culpabilidade
pessoal por uma culpabilidade de outra sorte, devido não só ao papel diferen-
ciado da culpabilidade na estrutura do delito individual (v. abaixo), como tam-
bém pelo fato de o delito da pessoa jurídica dever ser compreendido na complexi-
dade mesma da existência contratual ou estatutária da Empresa em seu ramo de
atuação, que é o dos riscos institucionalizados de um mercado com características
global e isso para que as sanções correspondentes sejam justas e efetivas.
Assim, o conceito de quadro institucional, se entendido de maneira não so-
mente pragmática, pelo simples fato de que a empresa existe na sociedade como
um agente econômico autônomo (que também a dota de forte carga mitológica),
mas em relação com os próprios textos normativos que sustentam a empresa
(contrato social, estatuto societário), os textos legais pára-criminais (lei das So-
ciedades Anônimas, Código Civil, etc.), regulações administrativas relevantes
(textos da Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo) e até mesmo a Soft
Law que incide na empresa, como programas de compliance e regulações privadas
em conjunto, como ocorre no Novo Mercado da BOVESPA.
Assim, ainda no exemplo acima do hostile takeover, uma pena poderá ser
imposta ao agente individual se sua ação for típica e antijurídica, devendo-se
ainda analisar a culpabilidade, enquanto que a empresa poderá ser punível por-
que sendo-lhe antes exigido uma postura, ou quiçá, uma política de conformidade
ao direito e à ética empresarial ela, ao desviar-se desta política, executa uma ação
criminógena, em resposta à qual cabe a sanção penal.
Pretendemos, contudo, desenvolver este tema em trabalho futuro.
10.e Culpabilidade como ponto de gravidade
Se entendemos que o conceito de crime é uma construção discursiva que
tenta abarcar tanto a formação do evento-crime a partir de uma ação, mas também
suscita a noção de pena, é necessário traçar um link entre a ação delituosa e a pena.
A nosso ver, este papel é realizado pela culpabilidade, a qual deveria ser
vista não simplesmente como um elemento do delito (teoria tripartida do delito),
nem como simples pressuposto da pena, mas como ponto de gravidade de um crime,
ou seja, o ponto onde se equilibram o ato delituoso em si e a resposta estatal.
A partir do momento que a análise da culpa (dolo e culpa) foi deslocada da cul-
pabilidade pelo finalismo – Goldschmit (2002, p.87) fala em “vinculación normativa
del hecho psíquico”234 –, houve um impasse teórico acerca da mesma. O maior pro-
blema – e isso é nítido em Welzel – é que a culpabilidade trouxe à tona uma questão
que expôs a cientificidade do Direito Penal à carne: a problemática do livre-arbítrio.
234 Tradução livre: Vinculação normativa do feito psíquico.
152
pedro dourados.indd 152 16/10/2012 12:14:40
Discutir o livre-arbítrio nunca será uma questão científica, e Welzel, como
filósofo do Direito, sabia disso, e fez uma opção pelo livre arbítrio – opção esta que
deu coerência à sua teoria, mas uma coerência defendida de acordo com pres-
supostos que jamais se renderão ao empírico. Há quem tente passar tangencial-
mente235 pela problemática da liberdade baseando a culpabilidade na “capacidade
de comportamento conforme à norma” (GIAMBERARDINO, 2011, p. 38), mas,
neste caso, a problemática volta a se alojar na noção de “capacidade” a qual Bin-
ding (2009, p. 147) já tratava como: “la capacidad de percepción sensorial y de
la reflexión racional, de utilización de ambas capacidades en adaptación al caso
concreto, más el factor de estar exento de coacción para llevar a cabo la acción”236.
Quando Binding fala, porém, em “capacidade racional” de adequação da per-
cepção – termo que utilizamos aqui em sentido muito próximo ao do autor – ele
toca a problemática da liberdade, assim como todos os que pretendem trabalhar
com uma fundamentação da culpabilidade na “capacidade” de obedecer a normas,
não indo muito distante da concepção welzeniana de “juízo de reprovabilidade”.
Prado (2010, p. 389), defensor da culpabilidade sob um ponto de vista fi-
nalista, define-a como um “juízo de censura pela realização do injusto típico
(quando podia o autor ter atuado de outro modo)”. Prado defende (idem, p. 390)
que se trata de um conceito que prima pela objetividade da própria censura ou re-
provabilidade da ação mesma, ou seja, “nessa perspectiva, excluem-se do conceito
de culpabilidade a maioria dos elementos subjetivos [...]” (idem, ibidem).
O problema é, a nosso ver, que os poucos elementos subjetivos que restam
são os mais problemáticos e os menos levados em conta. Prado afirma que a cul-
pabilidade se divide em “imputabilidade, possibilidade de conhecimento da ilici-
tude e exigibilidade da conduta diversa” (idem, ibidem) e logo se vê que somente
o primeiro elemento pode ser considerado como puramente normativo, no sen-
tido de não ser necessária nenhuma análise mais subjetiva da condição do agente
(salvo casos excepcionais)237.
235 “Reprova-se juridicamente ao autor a realização de um fato ilícito, em situação que lhe fosse exigível que
se comportasse conforme o direito, mas não no sentido do livre-arbítrio e sim no sentido de que a ação
é fundamentalmente a expressão de um atuar incondicionado pelo meio, pois, se fosse ao contrário, não
transmitiria sentido de ação e sim de mero acontecimento” in: BUSATO, Paulo César. Bases de uma Teoria
do Delito a Partir da Filosofia da Linguagem. Revista de Estudos Criminais, nº 42. Porto Alegre: Editora
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2011. Nesta tentativa, Busato, para fugir da
problemática do livre arbítrio mantendo, contudo, a noção de exigibilidade, precisa diferenciar “ação” de
“mero acontecimento”, ao que se opõe que toda ação é um “mero acontecimento” reconstruído sob a
forma de uma ação, reconstrução esta que é feita linguisticamente perante utilização de “provas”, “teste-
munhas”, enfim, juridicamente falando, que é processualmente reconstruída – mas, antes de ser um “mero
acontecimento”, não há nada a reconstruir.
236 Tradução livre: esta capacidade se compões da capacidade de percepção sensorial e da reflexão racional,
da utilização de ambas capacidades adaptando-as ao caso concreto, mais o fator de estar isento de coação
para levar a cabo a ação.
237 Fazemos, aqui, referência aos casos de psicopatologias que ainda não tinham sido detectadas até o mo-
mento do crime e de suas repercussões processuais, mas também aos casos de embriaguez patológica tam-
bém não identificadas.
153
pedro dourados.indd 153 16/10/2012 12:14:40
Tanto a possibilidade de conhecimento da ilicitude quanto a exigibilidade
de conduta diversa necessitam de uma introspecção subjetiva, sim, do agente em
questão. Esta introspecção, porém, é uma introspecção feita, fabricada no exterior
e não magicamente retirada da mente do agente.
Certamente, ela leva em consideração quadros de normalidade, padrões es-
táveis de comportamento, mas ela precisa levar em conta, também, capacidades
específicas do agente no contexto da ação em questão.
Se pensarmos, porém, como Giamberardino (2011, p. 41), que “a inexigibi-
lidade é o fundamento comum de todas as causas de exclusão de culpabilidade”,
ainda resta saber se estes juízos vão se basear em uma “motivação normal” (GOL-
DSCHMIT, 2002) e se esta motivação normal vai ser buscada na própria condi-
ção existencial do agente ou mediante uma comparação quantitativo-qualitativa
deste com o homo medius – o personagem jurídico mais misterioso, que como o
Saci Pererê, todos conhecem, mas ninguém nunca viu seu gorro vermelho.
À exceção da inimputabilidade, pois, “culpabilidade” não pode ser vista
como uma categoria congelada e estável no tempo e espaço. Ela também está
intrinsecamente atrelada à ação e ao momento da ação.
Em última instância, esta é a fundamentação também da inimputabilidade,
a qual, porém, pode receber uma quantificação mais “exata”238. De acordo com
nosso Código Penal, Artigo 59, a pena deve ser medida conforme a culpabilidade
do agente, seguindo intuição de Roxin239.
Não somente a pena, porém: também o próprio crime como um todo deve
ser visto sob a medida da culpabilidade do agente. Isso porque a capacidade de
compreensão do agente sobre a ilicitude de uma certa ação deveria, a nosso ver,
influenciar a própria ilicitude do feito, já que não existe “discordância com o Di-
reito” em abstrato, mas uma discordância concreta e localizada240.
Além disso, a própria relação do autor com o Bem Jurídico é medida em
termos de culpabilidade, e por isso a culpabilidade é tanto a medida da pena
como do delito. Explicamo-nos: inúmeras exceções prestadas pelo Código e que
podem diminuir a pena de um agente, como, por exemplo, um estado emocional
alterado, não diminuem somente a pena; mas, diminuem a pena, pois o próprio
delito é visto atenuado, já que a relação entre o agente e o bem jurídica contava
com este forte elemento de interferência241.
238 Sobretudo quanto à maioridade penal, certamente.
239 Lembrando que Roxin recusa a noção de culpabilidade como algo a ser “expiado, anulado”, mas sub-
mete esta aos fins da pena, como limitadora da pena em sentidos negativo e positivo. Cf. ROXIN, Claus.
Culpabilidad y Previción em Derecho Penal. Madrid: Reis, 1981.
240 Denunciamos aqui uma promiscuidade conceitual entre culpabilidade e antijuridicidade já que, parece-
-nos, o conteúdo que possibilita um juízo de “reprovabilidade” nunca foi diferenciado do conceito de
Ordenamento Jurídico como regente de justiça que é a base do juízo de “juridicidade” da ação, principal-
mente a partir do momento que as excludentes de culpabilidade passam a integrar o próprio Ordenamento.
Por isso seja talvez necessário encarar a culpabilidade de modo diferente.
241 O caso mais evidente é certamente o do Artigo 121, parágrafo 1º. Aqui o “relevante valor moral”, por
exemplo, modifica a própria relação sujeito-objeto, que não é tida aqui aos moldes clássicos da “teoria da
154
pedro dourados.indd 154 16/10/2012 12:14:40
Um exemplo que pode ser dado é o do Parágrafo 2º do Artigo 317, crime de
corrupção passiva, do Código Penal.
O crime consiste em:
Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem: pena – reclusão de dois a doze anos e multa
Parágrafo 1º: a pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem
ou promessa, o funcionário tarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou
o pratica infringindo dever funcional.
Parágrafo 2º: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato do ofí-
cio, com infração de dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem:
pena – detenção de três meses a um ano, ou multa”242.
Repare-se que há uma dificuldade interpretativa profunda entre os dois
parágrafos, até porque, quem ganha uma vantagem geralmente está cedendo a
algum pedido, mediante a influência que esta pessoa tem sobre o funcionário em
questão. O parágrafo segundo não fala em vantagem, não obstante, “ceder a pe-
dido” pode muito bem vir acompanhado de algum tipo de vantagem não mape-
ável pelo sistema em sua obviedade (vantagem sexual, vantagem em outro meio
social comum, vantagem afetiva, etc.).
A pena máxima no parágrafo primeiro pode chegar a 16 anos de reclusão e
multa enquanto que no parágrafo segundo ela não passará de um ano de deten-
ção, sendo que pode haver uma zona cinzenta onde ambos os Artigos poderiam
ser aplicados. O impasse, porém, pode ser resolvido em razão do peso da presença
de um terceiro no crime descrito pelo parágrafo segundo.
Apesar de pouco claro, parece-nos que o parágrafo segundo quis desenhar
uma situação onde não há mera “cessão” a um pedido ou a uma influência quais-
quer, mas uma verdadeira manipulação, ainda que a título emocional – um pedido
que seja forte o suficiente para que alguém usurpe suas funções e não leve algum
tipo de vantagem direta que seja evidente para o sistema político (vantagem fi-
nanceira, sobretudo).
No caso, o parágrafo segundo delimita uma pena menor por causa de um cer-
ceamento na Vontade243 do agente, ou seja, isso afeta a culpabilidade, mas também
a própria estrutura do delito. O funcionário que eventualmente cede ao pedido de
ciência” ou do “conhecimento” (Kant), mas em termos de agente e Bem Jurídico, na conexão entre eles
estabelecida pela ação.
242 Grifos nossos.
243 Vontade e dolo não são a mesma coisa, de modo que não ensejamos deslocar, novamente, o dolo na culpa-
bilidade. A Vontade é elemento presente na constituição da ação, e está presente tanto em ações dolosas
como culposas.
155
pedro dourados.indd 155 16/10/2012 12:14:40
um ente querido talvez seja uma pessoa muito honesta, mas deixou todos os seus
valores e deveres sob um filtro flou mediante a força que o pedido exerceu sobre ele.
Este pedido ou influência não podem ser de qualquer natureza (e por isso
cremos que sempre há alguma vantagem), mas fortes o suficiente para que a pró-
pria relação entre o agente e o Bem Jurídico seja relativizada, diminuindo forte-
mente a impressão mesma de lesão ao Bem Jurídico em questão – diminuindo,
pois, drasticamente o próprio crime em si e, a fortiori, a pena.
Esta interpretação só é possível, porém, se mantivermos em mente que a
culpabilidade é a ligação entre a pena e a ação delituosa, sendo que se liga ao delito
pela relação entre o agente e o Bem Jurídico protegido e à pena pela lesão ao Bem
Jurídico proporcionada por uma relação ilegal.
A ligação entre a lesão ao bem e a pena é a própria lei, enquanto que o que
liga autor e Bem Jurídico é a própria ação. Em uma analogia, poder-se-ia traduzir
a relação agente-Bem Jurídico em uma relação sujeito-objeto. A diferença em
questão é que, nas análises filosóficas do sujeito e do objeto, a ação costumava ser
posta em segundo plano, como uma causa necessária, mas irrelevante, na aproxi-
mação entre sujeito e objeto.
Aqui, porém, é a própria aproximação e as suas condições e contextos es-
pecíficos, ou seja, a ação como enunciado concreto e toda a sua complexidade que
estruturam a relação entre o agente e o Bem Jurídico. Desta forma, passa a cul-
pabilidade a ser ponto de gravidade do crime, sem o qual, nem a ação é suficiente
para proporcionar pena, nem a pena suficiente para condenar244.
244 A ideia aqui vai em sentido próximo: “a sentença condenatória ser [...] um juízo de reprovação de conduta
humana” in GONDIM, Reno Feitosa. Epistemologia quântica e Direito Penal. Curitiba: Juruá, 2005. A nosso
ver, a reprovabilidade é de cunho público, social e se manifesta com a sentença, e não no “juízo (abstrato)
de reprovabilidade” feito pelo juiz concreto na análise da culpabilidade, que é de natureza outra, apesar de
saber-se desde o princípio que é essencial para relação de autoria, a partir do momento em que se adota a
pena ao autor culpável, e não simplesmente ao passível de responsabilização. Neste sentido, faltam estudos
que coloquem em paralelo as relações civis de imputação ao responsável (Haftung) em oposição à responsa-
bilização do autor culpável (Schuld). Esta interface entre Direito Civil e Penal pode ser de grande utilidade.
156
pedro dourados.indd 156 16/10/2012 12:14:41
Adendo Teológico
Quando se fala da relação entre Direito e Teologia – em discursos jurídicos,
sobretudo – parece necessário fazer um retorno de séculos, aterrissar na Idade
Média, comentar o trivium e o quadrivium, e, no máximo, a plena separação entre
Igreja e Estado na baixa Idade Média.
Isto é, a nosso ver, uma lástima. Primeiramente, porque marca um exclu-
sivismo em nada justificado, que isola duas áreas de conhecimento que vêm se
desenvolvendo grandemente desde a Idade Média – ininterruptamente.
Poucos sabem, mas Welzel recorreu às divagações e às reconstruções dialéti-
cas do teólogo Karl Barth na busca de critérios de justiça material em um tempo
de descrédito ao Direito Natural. (WELZEL, 2005, pp. 313 ss.).
Os tempos – graças a Deus – estão mudando. Küng, teólogo católico-ecumê-
nico, ao tratar do estado atual da religião não tem medo de comentar os maiores
espectros da filosofia e da sociologia do presente, em especial, a pós-modernidade.
Comentando a polêmica inserção teológica do “último Horkheimer” e a
reação de Habermas, Küng se expressa da seguinte maneira:
Por isso, não é lamentável que Jürgen Habermas, último representante de
destaque da teoria crítica da escola de Frankfurt não assuma, neste ponto,
valorizados e reinterpretados, as idéias e impulsos decisivos de seu mestre?
Refiro-me, particularmente, a Max Horkheimer. Pois, este, diferentemente
de seu amigo Theodor Adorno, não se limitou às experiências estéticas da
arte moderna, como única fonte de análise, mas enfrentou com decisão a
problemática religiosa [...]
(KÜNG, 1999, p. 24.)
De modo crítico, Küng relaciona esta evasiva de Habermas para se deitar
sobre a problemática teológico-religiosa como uma forma de crítica à “pós-mo-
dernidade”. No entender de Habermas não há que se falar em pós-modernidade
(HABERMAS, 2002; KÜNG, 1999), pois a Modernidade ainda não esgotou
todo seu potencial normativo – de modo que os atuais discursos pós-modernos
seriam atitudes regressistas ou reacionárias em relação à esta época de grandes
avanços científicos e artísticos, que ainda seria a Modernidade245.
Para Küng, porém, a pós-modernidade não deve ser vista como um chavão
teórico para defender esta ou aquela teoria política, mas sim um conceito crítico
para mostrar que o “paradigma moderno” é um paradigma envelhecido (KÜNG,
245 Não se pode confundir o que Habermas chama de “potencial normativo” com a necessidade de crítica à
modernidade, a qual permanece presente e necessária para o frankfurtiano.
157
pedro dourados.indd 157 16/10/2012 12:14:41
1999, 23 e ss., 213 e ss.), e que a época marcada pelo final do século XX difere em
grande escala da do começo do mesmo século246.
E o que mudaria, para a Teologia, em um contexto pós-moderno? Para Küng,
principalmente, o “medo” e a “aversão” à religião, tanto por parte da filosofia quanto
das ciências humanas em geral, estaria fadado a ser enterrado com a Modernidade e
seus mestres ateus e anti-religiosos247. Não significa apagar a crítica da religião feita
na modernidade, mas assumi-la, de certo modo como fizera um dia Kierkegaard, por
exemplo, e compreender que, ainda que a ordem eclesiástica autoritária tenha, ela
também, ficado pra trás, o assunto religioso ainda é de primeira relevância248.
Aqui, de modo especial, uma pequena interdiscursividade entre Direito, Fi-
losofia e Teologia se mostra ainda mais lucrativa devido à obra de um grande
teólogo do século XX, Rudolf Bultmann.
Bultmann propôs um projeto polêmico para a Teologia do século XX: a des-
mitologização.
Sobre este projeto, Bultmann afirma:
A tentativa de desmitologizar parte de uma intuição fundamental: a pregação
cristã, enquanto é a pregação da Palavra de Deus por mandamento Seu e em
Seu nome, não oferece uma doutrina que possa ser aceita pela razão ou por um
sacrificium intelectus. A pregação cristã é um kerigma, isto é, uma proclamação
dirigida não à razão teórica, senão ao ouvinte em si mesmo.
(BULTMANN, 2008, p. 29).
Basicamente, Bultmann propôs uma teologia baseada na exegese bíblica.
Esta exegese, porém, tinha a função de desmitologizar o texto para encontrar nele
o kerigma, a mensagem dirigida ao homem mesmo.
Bultmann coloca que “a visão bíblica do mundo é mitológica e, portanto,
é inaceitável para o homem moderno, cujo pensamento tem sido modelado pela
ciência e já não tem mais nada de mitológico” (idem, ibidem, pp. 29-30). A visão
mitológica que permearia o texto bíblico, por sua vez, consistiria em enxergar o
mundo como dividido em 3, “céu-terra-inferno”, e todas as ações sobrenaturais
de seres dotados de habilidades incríveis e que atuam na causalidade natural
perceptível pelo homem (idem, ibidem, p. 49). Para Bultmann, essa visão su-
persticiosa da ação divina, ou diabólica, dos milagres e demais interferências no
dia-a-dia, “concebe a ação de Deus do mesmo modo que concebe as ações ou os
acontecimentos seculares, posto que o poder divino que opera milagres é consi-
derado como um poder natural” (idem, ibidem, p. 49-50).
246 Em um certo saber comum, há quem defenda que a “queda do muro do Berlim” pode ser visto como o
evento que simbolicamente inaugura a pós-modernidade.
247 Para citar alguns, Feuerbach, Marx, Nietzshce, Sade, Freud, Sartre, Russel e Bataille.
248 Conferir, na mesma direção, TILLICH, Paul. Textos Selecionados. São Paulo: Fonte Editorial, 2006. Em
especial, o texto 2.
158
pedro dourados.indd 158 16/10/2012 12:14:41
O trabalho do teólogo seria, pois, encontrar estas passagens mitológicas no
texto bíblico e retirá-las de plano, para deixar transparecer o discurso salvífico de
Cristo pela cruz, ou seja, o discurso transcendente, o discurso da fé, o kerigma da
Palavra que pode ser apreendido pelo homem moderno e que em nada interfere
em nosso conhecimento científico.
Bultmann aponta, contudo, uma exceção importante: “Amiúde se tem dito
que linguagem da fé cristã é necessariamente mitológica [...] esta questão não
constitui de modo algum um argumento válido contra a desmitologização, porque
a linguagem do mito perde seu sentido mitológico quando se serve para expressar a fé”
(idem, ibidem, p. 54).
Por fim, Bultmann baseia sua teoria da exegese nos trabalhos de Heidegger
em torno da década de 1930, principalmente, na visão histórica e constitutiva da
hermenêutica para a presença do homem (Menchens Da-seiendes) desenvolvida
em Ser e Tempo. A hermenêutica da bíblia deve considerar, pois, o homem em seu
tempo, à época, o homem moderno e científico. Amiúdes, a compreensão hu-
mana trabalha com inúmeros elementos pré-adquiridos (círculo hermenêutico)
que são pressuposto para qualquer compreensão, mas que podem também evoluir
conforme o grau de experiência (termo que possui, aqui, o sentido convencional).
Então, a fé será compreendida à medida que seja experimentada e esta expe-
riência é pressuposto necessário para a compreensão do kerigma bíblico, de modo
que o crer precede o compreender.
Bultmann aplica seu método de modo profundo e específico sobre cada
texto do novo testamento em Teologia do Novo Testamento.
E o que isso tem a ver com Direito Penal?
Primeiramente, é preciso notar que Bultmann trabalhou a temática do mito
a fundo antes, durante e depois da época da concepção e publicação da Dialética
do Esclarecimento (cf. Apresentação, in: BULTMANN, 2008b). E é importante tra-
balhar com a obra de Bultmann e a Dialética de modo também dialético.
Em que sentido? No sentido de uma complementação, mas não de uma sim-
ples soma de algo escrito aqui e defendido lá. Bultmann faz parte de uma longa
cadeia de teólogos que lutou para diferenciar o discurso teológico-religioso do
mítico. O autor, porém, em seu projeto desmitologizador, elevou a ciência – sem
dúvida, na onda desenvolvimentista típica da Modernidade – a um grau dema-
siadamente elevado. Neste sentido, cabe complementar o louvor à ciência da
desmitologização com o pessimismo em relação à ciência que nos é exposto pela
teoria da dialética do esclarecimento.
Por outro lado, não há, na Dialética do Esclarecimento, uma inflexão sobre o
papel da linguagem nesta dialética, ou seja, como as formulações discursivas permi-
tem passar do mito para a razão, e vice-versa. Neste sentido, cabe complementar
o ceticismo dialético com o rigor exegético-hermenêutico da teoria de Bultmann.
Por outro lado, a separação entre mito e religião deve ser mantida, mas
para especificar que esta última possui uma independência e uma região
159
pedro dourados.indd 159 16/10/2012 12:14:41
objetal inconfundível com qualquer outro discurso, muito menos um discurso
comum, como é o mitológico.
Neste ponto, é a fé que aponta, para Bultmann, a saída do discurso preso à
lógica mítica: “é decisivo que os pensamentos teológicos sejam compreendidos e expli-
citados como pensamentos da fé, nos quais se desdobra a compreensão crente de Deus,
do mundo e do ser humano; portanto não como produto de uma livre especulação
[...]” (BULTMANN, 2008b, p. 692)249.
Isto é importante ressaltar quando se adota uma metodologia a qual visa a
apontar o Mito no Direito Penal. Isso porque se pode questionar: o que faz desta
análise uma pesquisa não-mitológica?
Entendemos que esta pergunta traz em si uma impossibilidade, talvez, uma
incompreensão do próprio projeto aqui exposto.
Retomando o conhecido “Mito da Caverna”, nossa metodologia se identifica
com o prisioneiro hipotético que, depois de muito pensar sobre o local onde se
encontrava, depois de muito olhar, muito analisar, de sentir nuances de luz e algu-
mas correntes de ar, percebeu que estava em uma caverna, mas não achou a saída.
Por isso, convive ele com o paradoxo de que o conceito de caverna exige
o fora-da-caverna, mas ele não o possui. Ele tem certeza de que há um fora da
caverna, mas sabe também que não será com seus conhecimentos adquiridos
dentro da caverna que ele conseguirá sair, precisaria de ajuda externa, de kerigma,
para falar com Bultmann.
Esta é a circunscrição do discurso religioso: ele se torna a única transcen-
dência, a possibilidade mesma de transcendência. Assim, assuntos como paz, jus-
tiça e amor, se almejados em alguma estabilidade, em alguma certeza sem limites,
se tornam questões exclusivamente religiosas.
A caverna, porém, pode ser analisada desde dentro. Não, certamente, como
uma totalidade, como a caverna. Neste sentido, a própria caverna é em si uma
conclusão, uma especulação improvável: uma totalidade incerta concebida a par-
tir de totalidades conhecidas.
Nessas totalidades, o Direito assume o ponto de saber comum, não unifica-
dor, mas comum. E como totalidade pretende para si seu próprio conhecimento.
Digamos que nosso explorador tivesse acesso a uma lanterna e pudesse iluminar
as pequenas totalidades da caverna. Essa lanterna é o que chamamos de consci-
ência, e gera as certezas tidas como racionais – as demais, podem somente ser ex-
perimentadas. Isso porque sempre que a lanterna ilumina uma rocha, ela projeta
sobre outras uma nova sombra além da natural escuridão da caverna. O conheci-
mento gerado é, pois, fonte de novos desconhecimentos.
249 E aqui parece que a fé surge como carro chefe de outra categoria, diversa tanto da explicação quanto da
experiência, mas que se baseia no esperar: esperar que haja o além-da-caverna, esperar que haja um estado
real de paz, de harmonia, enfim. Esperar, porém, relacionado com fé, esperança e não com espera – mas este
tema merece ser abordado mais especificamente em outro trabalho.
160
pedro dourados.indd 160 16/10/2012 12:14:41
O Direito Penal, se visto como um conhecimento, como uma ciência, ao
resolver os seus problemas (o que é um crime? O que é a pena?) já abre sua porta
para a polifonia e precisa chamar ao seu auxílio outros conhecimentos – a política
criminal, a criminologia, outros ramos do Direito e assim adiante.
Resolver, por exemplo, todos os problemas envolvendo a teoria do de-
lito parece-nos inútil se a criminalidade continuar alta ou aumentar por causa
disso, e por quê? Pois, como dissemos acima, o Direito Penal pode ser mítico,
mas podemos optar por iluminar esta ou aquela região, mais ou menos, com
esta ou com aquela cor – enfim, podemos optar e nos guiar pelas nossas opções,
de maneira extremamente explicativa, expulsando as experiências indesejadas,
mas sabendo lidar com as novas experiências geradas, pois não há situação
somente explicativa, não há ponto cego na narrativa que fuja do mito. Pois o
Direito Penal está baseado em uma ordem constitucional democrática cujos
objetivos contrastam com a própria prática da Justiça Penal, que ainda se apre-
senta, contudo, como extremamente necessária.
Podemos optar por mais penas, por mais cárcere, por mais Penal, ou por mais
Direito. Podemos optar por alçar os criminosos a status de criminosos, de anti-
-herois do nosso povo, ou podemos pensar em como, efetivamente, transformar a
utopia da ressocialização em uma saída se não da caverna, pelo menos desta gruta
na qual o Direito Penal está enfiado.
161
pedro dourados.indd 161 16/10/2012 12:14:41
pedro dourados.indd 162 16/10/2012 12:14:41
Conclusão
Para defender a tese de que é no momento de maior racionalidade do desen-
volvimento da dogmática penal que podemos visualizar o Mito no Direito Penal,
ou seja, que pela teoria da ação, em sua complexidade conceitual e formal-lógica,
surge a figura do anti-heroi\criminoso ao qual a pena é imputada como um re-
torno necessário à sua ação inicial e ao seu percurso traçado, foi necessário de-
fender, paralelamente, algumas outras teses.
Entre elas, uma visão de Mito e uma relação entre Mito e Sociedade as
quais, certamente, não puderam ser plenamente explicadas neste trabalho e estão
submetidas às mais variadas críticas filosóficas, sociológicas e antropológicas.
Cremos, contudo, que a ideia de uma ação dialógica com uma ideia que não
ignore o constante processo da dialética do esclarecimento apresenta uma postura250
capaz de permitir o avanço nas leituras mitológicas do Direito e de suas críticas,
mas também na formulação e reformulação de conceitos doutrinários a partir, prin-
cipalmente, da exegese legal, da pesquisa jurisprudencial e da análise de casos es-
pecíficos: três projetos que não puderam ser tratados aqui, senão superficialmente.
Fica como conclusão, contudo, que aquele que anuncia para si um grande
conhecimento mitológico é mais o ancião, o savant, o contador de histórias, o
avô que o cientista mítico. Ou seja, o saber mitológico é em si narrativo, em si
experimentativo (e não experimental), e consiste na bagagem mitológica e em
sua compreensão, quiçá, na posterior capacidade de transmitir a compreensão
destes Mitos sob a forma explicativa, ou de explicar questões científicas pela via
mitológica, como propunha Bacon251.
Da mesma forma, o conhecimento jurídico deve focar cada vez mais na reali-
dade da ação, entendida aqui não de modo empirista, mas de modo também narra-
tivo (ação como texto) que pela ansiedade científica de formular o Direito conforme
a regras de definição que nunca abarcam todo o fenômeno jurídico em uma só teoria.
Teorias são sempre incompletas – este é um postulado que adotamos como uma ver-
dade absoluta, metafísica, para aqueles que insistem na temática aristotélica.
Explicar a totalidade exige o sacrifício da experiência, e isso gera, em si, um
saber incompleto, que nunca se torna pleno. Por isso o conhecimento sobre o
250 Habermas, comentando a radicalidade do projeto crítico de Adorno e Horkheimer, assevera que a inter-
nalização das aporias por este pensamento “les lleva, como hemos mostrado, a las aporias de uma crítica
que en cierto modo desiste de toda pretensión de ser conocimiento teórico” (Teoría de la acción, 2010, p.
441). Apesar do tom crítico da análise habermasiana, cremos que enxergar certas propostas teóricas não
como teorias no sentido tradicional pode ser justamente a necessidade meta-metodológica adicional ao
método de que deve lançar mão o cientista, o estudioso, enfim, o jurista, para não perder de vista o próprio
espírito crítico. É este instrumento meta-metodológico proporcionado pela teoria da ação como enunciado
concreto que chamamos de “postura”.
251 Conferir o capítulo 2 deste trabalho.
163
pedro dourados.indd 163 16/10/2012 12:14:41
Direito nunca se termina na dogmática, mas deve ser completado com pesquisa
legal e jurisprudencial e com a prática forense-burocrática.
Neste sentido, certas formulações jurisprudenciais podem, sim, ser adota-
das como saber jurídico ainda que não tenham recebido um olhar doutrinário-
-explicador.
Isso de jogar o jogo, de experimentar o Mito, pode ser a única saída
de nele não se deparar violenta e inconscientemente (dialética do esclareci-
mento). Por isso mesmo, o Mito como algo sempre presente deve ser o estí-
mulo à crítica, a qual assume aqui o papel de zelo pela Razão em sua formu-
lação clássica, ou seja, explicativa.
Como afirmamos acima, pode ser do interesse da sociedade que as decisões
jurídico-penais sejam plenamente capazes de explicação racional – e não acredi-
tamos que tal assim o seja hoje – então, cabe crítica ao Mito. Não cabe, porém,
acreditar que há algum ideal do tipo “transcendência na imanência”. A imanência
é imanementemente imanente e o papel da transcendência não pode ser por ela
usurpado – isso nos leva a outro nível de questão: deve a temática religiosa ser abor-
dada ou não? Em momento algum, porém, a laicidade do Estado – que foi fruto de
batalhas travadas por religiosos – deve ser deixada de lado e não se pode confundir a
transcendência do Mito, e do Direito com a transcendência religiosa252.
No que toca o conceito de delito, de crime de modo específico, frisamos a
importância de uma concentração casuística na existência concreta do mesmo.
Um crime de um agente particular é um feito seu, e como tal deve ser analisado,
respeitado em toda a sua dose trágica e até mesmo repugnante. Para isso, a cul-
pabilidade se torna um conceito central que é a ponte entre a ação que dá origem
ao evento-crime e a pena enquanto resposta estatal, de modo que culpabilidade
deixa de ser um mero momento do delito ou pressuposto da pena, mas passa a ser
a categoria norteadora de toda a análise de um delito em si.
Por isso, a polêmica proposta de uma relativização do conceito de Bem-jurídico
para que ele possa se tornar apto a “encaixar” no crime específico em questão, na
história específica do agente criminoso em questão, para então ser tido como um
critério absoluto tanto na afirmação da materialidade do delito e da certeza de sua
autoria, quanto na fixação da pena na medida da lesão concreta proporcionada ao
Bem Jurídico em questão – mas, esta temática abordamos melhor alhures253.
Uma maneira, então, de diminuir a carga mitológica experimentativa que
transforma o criminoso em um anti-heroi, dando a ele o foco dos holofotes sen-
sacionalistas, é – paradoxalmente – dando-lhe mais atenção, mais valor; não en-
quanto um alguém sobre o qual devemos decidir algo (pena, absolvição, sursis...),
mas como alguém responsável pelo seu ato, como autor de sua ação.
Neste sentido, tanto o Bem jurídico como a lesão a ele gerada devem ser
analisados sob a culpabilidade do próprio agente, pois, se Bem Jurídico não é um
252 Conferir capítulo 1.
253 Em artigo Direito Penal e filosofia da linguagem que aguarda resposta para publicação.
164
pedro dourados.indd 164 16/10/2012 12:14:41
“objeto simplesmente dado”, ele também não pode ser tido como um “objeto
puro do saber jurídico”, mas como constituído na relação entre o agente e o Bem
em questão e na posterior análise textual de sua ação.
Diminuir o sensacionalismo é explicar com mais cautela, mas também de
modo mais dialógico, e, portanto, inclusivo. O objetivo disso é potencializar a
intertextualidade para elevar o diálogo ao máximo, de modo que os juristas que
lançam mão do gênero discursivo jurídico penal tenham plena consciência do
papel de suas falas localizas na construção de um saber genérico que será aplicado
após seus casos particulares.
Um crime é um evento marcante. É uma narrativa cheia de asco e mistérios,
mas, se assim o é, ele pode se transformar em um grande símbolo para a análise
dos próximos crimes – radicalmente diferentes do primeiro, pela insubstitubili-
dade de cada pessoa na sociedade – e, daí, pode vir a ser um fetiche, um talismã,
um objeto histórico ou só uma triste e racional imagem da nossa memória.
Os crimes ficam, tatuam-se na memória, na percepção social. O que fazer
com eles, é o cabe a nós decidir, e tal privilégio não podemos renegar, não ao
menos sem lembrar-nos de Caim:
“[...] Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém o encon-
trasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região
de Node, que fica a leste do Éden” (Gênesis 4: 15b-16; Bíblia de Estudo Despertar).
165
pedro dourados.indd 165 16/10/2012 12:14:42
pedro dourados.indd 166 16/10/2012 12:14:42
Bibliografia
ADORNO, Theodor W; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento:
fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
ADORNO, Theodor W. Introdução à Sociologia. São Paulo: Unesp, 2008.
__________. Palavras e Sinais: modelos críticos II. Petrópolis: Vozes, 1995.
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Lisboa:
Presença, 1980.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de janeiro: Forense, 1998.
BACON, Francis. A Sabedoria dos Antigos. São Paulo: Unesp, 2002.
__________. The new Organum. Cambridge: Cambridge Press, 2000.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
__________. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1995.
__________. Para uma Filosofia do Ato. Texto completo da tradução americana
BAKHTIN, Mikhail, Toward a Philosphy of Act; Austin: university of Texas
Press, 1993. Tradução de Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza. 1993.
BASTOS, Marco Toledo de Assis. Se Niklas Luhman encontrasse Hakim Bey:
o problema da comunicação. In: Revista da Associação Nacional dos Progra-
mas de Pós-Graduação em Comunicação, acesso em www.compos.org.br/e-
-compos, edição de Agosto de 2007.
BECHMANN, Gottard; STEHR, Nico. Niklas Luhmann. In: Tempo Social,
Vol. 13, nº 2. Páginas conforme versão em PDF disponível em http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702001000200010&script=sci_arttext –
acessado em 19 de Outubro de 2011. São Paulo, 2011.
BINDING, Karl. La Culpabilidad em Derecho Penal. Buenos Aires: Julio César
Faria, 2009.
BRITO LOSSO, Eduardo Guerreiro. Teologia Negativa e Theodor Adorno: a
secularização da mística na arte moderna. Tese de doutoramento, Faculdade
de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007.
BULTMANN, Rudolf. Jesus Cristo e Mitologia. São Paulo: Fonte Editorial, 2008.
__________. Teologia do Novo Testamento. Santo André: Academia Cristã,
2008b.
167
pedro dourados.indd 167 16/10/2012 12:14:42
BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: uma análise da
função negativa do conceito de ação em direito penal a paritr da filosofia
da linguagem. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010.
CAMARGO, Antônio Luis Chaves. Tipo Penal e Linguagem. Rio de Janeiro:
Forense, 1982.
CAMPBELL, Joseph. As Transformações do Mito através do Tempo. São
Paulo: Cultrix, 1997.
__________. O Poder do Mito: a saga do herói (4 vídeos). (1988a). Entre-
vista concedida a Bill Moyers, PBS. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=eoTMzvQIha0 . Consultado em 18/12/2010.
__________. O Poder do Mito: a mensagem do mito (4 vídeos). (1988b).
Entrevista concedida a Bill Moyers, PBS. Disponível em: http://www.youtube.
com/watch?v=jGMxnupgQtQ . Consultado em 18/12/2010.
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org). Teorias da Ação em Debate. São
Paulo: Cortez (FAPESP-PUC), 1993,
CASSIRER, Ernst. Linguagem e Mito. São Paulo: Perspectiva, 1992.
CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição imaginária da Sociedade. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1982.
CEREZO MIR, José. Ontologismo e Normativismo na teoria Finalista. In
Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. Volume 0. São
Paulo: Revista dos Tribunais: 2004.
COELHO, Mariana Pinhão. Ensaio sobre a tipicidade Penal Objetiva em
um Sistema Teleológico-Funcional. Tese de Doutoramento, Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.
COSTA, Helena Regina Lobo da. A Dignidade Humana: teorias de prevenção
geral positiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
__________. Proteção Penal Ambiental: viabilidade – efetividade – tutela por
outros ramos do direito. São Paulo: Saraiva, 2010.
CRYRES, Roberto; FRIMAN, Hakan; ROBINSON, Darryl; WILMSHURST,
Elizabeth. An Introduction to International Criminal Law and Procedure.
D’AVILA, Fabio Roberto. O Conceito de Ação em Direito Penal. Linhas Críti-
cas sobre a Adequação e a Utilidade do Conceito de Ação na Construção
Teórica do Crime. In: Ensaios penais em homenagem ao Professor Alberto Rufino
Rodrigues de Sousa, org. FAYET JR, Ney pp. 279-304. Consultado em: http://
sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/apenal.pdf, acessado em 03
de Julho de 2011. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2003.
168
pedro dourados.indd 168 16/10/2012 12:14:42
DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva; Editora da Uni-
versidade de São Paulo, 1974.
__________. Nietzsche e a Filosofia. Rio de Janeiro: Rio Editora, 1976.
DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 2008.
ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica,
decisão, dominação. São Paulo: Atlas, 2007.
FEUERBACH, Ludwig. A Essência do Cristianismo. Petrópolis: Vozes, 2007.
FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
FROMM, Erich. A Linguagem Esquecida. São Paulo: Zahar, 1964.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma
hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 2007.
GARCIA MARTÌN, Luis. O horizonte do Finalismo e o Direito Penal do Ini-
migo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Pobreza, Culpabilidade e Prisão: diálo-
gos entre a ética da libertação e o Direito Penal. In: Revista Brasileira de
Ciências Criminais, nº 94. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
GOLDSCHMIT, James. La Concepción Normativa de Culpabilidad. In: La
Concepción Normativa de la Culpabilidad. Buenos Aires: Julio César Faria,
2002.
GUARAGNI, Fábio André. As Teorias da Conduta em Direito Penal: um
estudo da conduta humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-fina-
lista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
HABERMAS, Jürgen. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. São
Paulo: Martins Fontes, 2007.
__________. A Lógica das Ciências Sociais. Petrópolis: Vozes, 2009a.
__________. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, Vols. I e II.
Rio de Janeiro: Tempo Brasilero, 1997.
__________. Discuso Filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
__________. Técnica e Ciência como “Ideologia”. Lisboa: Edições 70, 2009b.
__________. Teoría de la Acción Comunicativa – tomo II – racionalidade de
la acción y racionalización social. Madrid: Trotta, 1999.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em
Compêndio. Vol. I, (1830). São Paulo: Loyola, 1995.
169
pedro dourados.indd 169 16/10/2012 12:14:42
__________. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 2008.
__________. Princípios de Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2009.
HOFFMAN, Flávio. Adeus às armas (2002). Um “herói” na fronteira da moral.
Publicado pelo II Seminário Nacional em Estudos da Linguagem: 06 a 08 de
outubro de 2010 Diversidade, Ensino e Linguagem. Cascavel: Unioeste, 2010.
HONNETH, Axel. Disrespect: the normative foundations of critical theory.
Malden: Polity Press, 2008.
__________. The Critique of Power: relective stages in a critical social the-
ory. Massachussetts: MIT Press, 1991.
HORKHEIMER, Max. Teoria Crítica I. São Paulo: Perspectiva, 2008.
HUSSERL, Edmund. Investigações lógicas; Sexta Investigação; (Elementos
de uma Elucidação Fenomenológica do Conhecimento). São Paulo: Nova
Cultural (Coleção Pensadores): 1996.
JAKOBS, Günther. A Imputação penal da ação e da omissão. Barueri: Manole,
2003c.
__________. Ação e Omissão no Direito Penal. Barueri: Manole, 2003b.
__________. Fundamentos do Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003a.
__________. Sociedade, norma, Pessoa. Barueri: Manole, 2003c.
JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2000.
__________. O Eu e o Incosnciente. Petrópolis: Vozes, 1987.
KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros
Escritos. São Paulo: Martin Claret, 2006.
__________. The Critique of Pure Reason. Chicago: Encyclopaedia Britan-
nica, 1952.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
KÜNG, Hans. A Teologia a Caminho: fundamentação para o diálogo ecumê-
nico. São Paulo: Paulinas, 1999.
LACOCQUE, André; RICOEUR, Paul. Penser la Bible. Paris: Editions du Seuil, 1998.
LEVINAS, Emmanuel. O Humanismo do Outro Homem. Petrópolis: Vozes, 2009.
LEVI-STRAUSS, Claude. Estruturalismo e Crítica. In Estruturalismo: antolo-
gia de textos teóricos. Loc. Ed?: Portugália, 1968.
170
pedro dourados.indd 170 16/10/2012 12:14:42
LUHMANN, Niklas. El Derecho de la Sociedad. Ciuded del México: Herder, 2005.
__________. La Religion de la Sociedad. Madrid: Trotta, 2007a.
__________. La Sociedade de la Sociedad. Ciudad del México: Herder, 2007b.
__________. Sobre os Fundamentos Teórico-Sistêmicos da Teoria da Socie-
dade. In: Niklas Luhmann: A nova teoria dos sistemas; BAETA NEVES, Cla-
rissa Eckert; BARBOSA SAMIOS, Eva Machado (Org.). Porto Alegre: Edi-
tora da Universidade (UFRGS), 1997.
LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista. Rio de Janeiro: Brasi-
lense, 1978.
MARÍAS, Julian. A Perspectiva Cristã. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
MARX, Karl. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
__________. Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São
Paulo: Expressão Popular, 2010.
MONDIN, Battista. Os Valores Fundamentais. Bauru: Edusc, 2005.
NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil: o Estado Demo-
crático de Direito a partir e além de Habermas e Luhmann. São Paulo:
Martin Fontes, 2008.
NIETZSHCE, Friedrich. Obras Incompletas. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
PECHEUX, Michel. Análise Automática do Discurso. In: HAK, T. e GADET,
F. (orgs.). Por Uma Análise Automática do Discurso: uma introdução à obra de
Michel Pêcheux. Campinas: UNICAMP, 1993.
__________. O Discurso: estrutura ou acontecimento? Campinas: Pontes, 2002.
PRADEL, J. La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica; in POZO, J. H. et
ali (org). La Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas: uma perspectiva
comparada. Valencia: Tirant le Blanch, 2001.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Vol I. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010.
REALE, Miguel. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2002.
__________. Lições Preliminares de Direito. 24ª Ed. São Paulo: Saraiva 1998.
RICOEUR, Paul. A Metáfora Viva. São Paulo: Loyola, 2002.
__________. Da Metafísica à Moral. Porto Alegre: Piaget, 1997.
__________. Leituras III: Nas fronteiras da filosofia. São Paulo: Loyola, 2002.
__________. Hermenêutica e Ideologias. Petrópolis: Vozes, 2008.
171
pedro dourados.indd 171 16/10/2012 12:14:42
__________. O Conflito das Interpretações. Rio de Janeiro: Imago, 1978.
__________. O Justo. Vol I e II. São Paulo: Martins Fontes, 2008b.
__________. Temps et Récit – II: La configuration dans le récit de fiction.
Paris: Seuil, 1984.
RIGHI, Esteban. Los Delitos Económicos. Buenos Aires: Ad Hoc, 2000.
ROBLES, Gregorio. Acción y Conducta en la Teoria Comunicacional del
Derecho. Palestra Ministrada na Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo em 18 de Outbro de 2011 – São Paulo, 2011.
ROBLES, Gregorio; CARVALHO, Paulo de Barros (Coord.). Teoria Comunica-
cional do Direito: diálogo entre Brasil e Espanha. São Paulo: Noeses, 2011b.
ROCHA, Manuel António Lopes. A responsabilidade penal das pessoas coleti-
vas – novas perspectivas. In: CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS. Ciclo
de Estudos de Direito Penal Económico. Coimbra: Centro de Estudos Judi-
ciários, 1985.
ROXIN, Claus. Derecho Penal – Parte General, Tomo I: Fundamentos. La
estrutura de la teoria del delito. Navarra: Civitas, 1997.
SANCTIS. Responsabilidade Penal das Corporações e Criminalidade
Moderna. São Paulo: Saraiva, 2009.
SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como Vontade e como Representação.
São Paulo: Unesp, 2005.
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
__________. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1998.
__________. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. 2ª Ed. São Paulo:
Método, 2002.
SILVA-SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Aproximação ao Direito Penal Contemporâ-
neo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
SOARES, Ana Thereza Nogueira. Comunicação e Organizações: uma refle-
xão teórica acerca de uma interseção possível e necessária. In: Intercom
– Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação; Anais
do XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de
setembro de 2006. Brasília, 2006.
STOCKINGER, Gottfried. Para uma Teoria Sociológica da Comunicação. Edi-
toração Eletrônica Facom - UFBa, Salvador, 2001.
172
pedro dourados.indd 172 16/10/2012 12:14:42
TAVARES, Juarez. Algunas reflexiones sobre um concepto comunicativo
de conducta. In: Dogmática y Lei Penal: libro homenage a Enrique Bacigalupo.
Coord. BARJA DE QUIROGA, Jacobo López, ZUGALDÌA ESPINAR, José
Miguel. Madrid/Barcelona: Marcial Pons, 2004.
_________. Apontamentos sobre o conceito de ação. In: Direito Penal Contem-
porâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. Coord. PRADO,
Luis Regis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007
__________. Teoria do Crime Culposo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009.
__________. Teoría del Injusto Penal. Buenos Aires: Julio César Faria, 2010.
TEUBNER, Günther. How the Law Thinks. In Law & Society Review, Vol. 23,
Nº 5. 1989.
VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Uma Abordagem Sistêmica do Direito no Con-
texto da Modernidade Brasileira. Tese de Doutorado, USP, São Paulo, 2006.
VIVES ANTÓN, Tomás. Fundamentos del Sistema Penal. Valencia (Espanha):
Tirant lo Blanch, 1996.
WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán – Parte General. 11ª Ed. Alemã – 4ª
Ed. Castelhano. Santiago (Chile): Editorial Jurídica de Chile, 1993.
__________. Introducción a la Filosofia del Derecho. Buenos Aires: Julio
César Faria, 2005.
__________. O Novo Sistema Jurídico Penal: uma introdução à doutrina da
ação finalista. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. São Paulo: Nova Cul-
tural, 1996.
173
pedro dourados.indd 173 16/10/2012 12:14:42
pedro dourados.indd 174 16/10/2012 12:14:42
pedro dourados.indd 175 16/10/2012 12:14:42
Potrebbero piacerti anche
- Dir Prev Aula 01Documento8 pagineDir Prev Aula 01Anderson AlencarNessuna valutazione finora
- Carr Jur Aprend Acelerada Aula 01 PDFDocumento10 pagineCarr Jur Aprend Acelerada Aula 01 PDFAnderson AlencarNessuna valutazione finora
- Mito e Razao No Direito Penal PDFDocumento193 pagineMito e Razao No Direito Penal PDFAnderson AlencarNessuna valutazione finora
- Ata de Cientificacao CHC 2020Documento4 pagineAta de Cientificacao CHC 2020Anderson AlencarNessuna valutazione finora
- Proposta LocaçãoDocumento1 paginaProposta LocaçãoAnderson AlencarNessuna valutazione finora
- Modelo de Contrato de Prestação de ServiçosDocumento9 pagineModelo de Contrato de Prestação de ServiçosRamon RigoNessuna valutazione finora
- Prova 4Documento5 pagineProva 4Ludmilla Cardoso dos SantosNessuna valutazione finora
- Secretário de Escola - PDF Secretário de Escola Caçapava - SP 2015Documento6 pagineSecretário de Escola - PDF Secretário de Escola Caçapava - SP 2015Gloria TeixeiraNessuna valutazione finora
- Apostila Pericia Judicial Trabalhista Modulo Direito Material Do Trabalho e CálculoDocumento73 pagineApostila Pericia Judicial Trabalhista Modulo Direito Material Do Trabalho e CálculoAxel PliskenNessuna valutazione finora
- Artigo - A Relação Empregada-Patroa Igualdade de GeneroDocumento30 pagineArtigo - A Relação Empregada-Patroa Igualdade de GeneroElizete SantosNessuna valutazione finora
- Evolução Da Mulher No IrãDocumento11 pagineEvolução Da Mulher No IrãMaite Da SilvaNessuna valutazione finora
- Manual Portugues BC 5380Documento612 pagineManual Portugues BC 5380Robson Bernard100% (3)
- Monografia - ZaineDocumento41 pagineMonografia - ZaineEduardo SousaNessuna valutazione finora
- Edital Corrinha Mendes - Credenciamento #02-2021Documento13 pagineEdital Corrinha Mendes - Credenciamento #02-2021Érika CatarinaNessuna valutazione finora
- Comparação Dos Quatro Momentos de Evolução de LALPDocumento11 pagineComparação Dos Quatro Momentos de Evolução de LALPFabiol Jacinto GonçalvesNessuna valutazione finora
- ESCOBAR - O Lugar Da Natureza e A Natureza Do LugarDocumento24 pagineESCOBAR - O Lugar Da Natureza e A Natureza Do LugarAmanda FaroNessuna valutazione finora
- Ministério Da Mulher - MANUAL DE ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADEDocumento28 pagineMinistério Da Mulher - MANUAL DE ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADEjbsfNessuna valutazione finora
- Minuta CONTRATO DE JAZIDADocumento2 pagineMinuta CONTRATO DE JAZIDAguth halley nogueira silvaNessuna valutazione finora
- Secador de Cabelo Extreme Lizze 127v CinzaDocumento1 paginaSecador de Cabelo Extreme Lizze 127v CinzabmjggrzzbhNessuna valutazione finora
- Get Payslip by OffsetDocumento1 paginaGet Payslip by OffsetJunior LimaNessuna valutazione finora
- Procuracao PF PDFDocumento1 paginaProcuracao PF PDFDenise Oliveira100% (1)
- Avaliação Bimestral de HistóriaDocumento2 pagineAvaliação Bimestral de HistóriaMarcia MouraNessuna valutazione finora
- Entrevista TrabalhistaDocumento4 pagineEntrevista TrabalhistaPatricia MartinsNessuna valutazione finora
- Racismo 1Documento2 pagineRacismo 1Gislaine Barbosa FornariNessuna valutazione finora
- Fichamento VDocumento3 pagineFichamento Vrhyan harleyNessuna valutazione finora
- PINHEIRO, Maria Lucia Bressan - Preservação de Sítios Urbanos Tombados - A Atuação Do CONDEPHAAT em Cananéia e IguapeDocumento15 paginePINHEIRO, Maria Lucia Bressan - Preservação de Sítios Urbanos Tombados - A Atuação Do CONDEPHAAT em Cananéia e IguapeAna Claudia AdamanteNessuna valutazione finora
- 03-MINUTA Nº xxx-2023.GAB - SEMED - DE DISTRIBUICAO DE TURMA EDUCAà - à - O INFANTILDocumento12 pagine03-MINUTA Nº xxx-2023.GAB - SEMED - DE DISTRIBUICAO DE TURMA EDUCAà - à - O INFANTILEder SantosNessuna valutazione finora
- Choques Culturaisdecorrentes Das Interaccoes CulturaisDocumento10 pagineChoques Culturaisdecorrentes Das Interaccoes Culturaiselton choneNessuna valutazione finora
- Administração e Finanças Públicas 1Documento19 pagineAdministração e Finanças Públicas 1Eduardo Vasco ChiloaneNessuna valutazione finora
- Cms Files 85015 1585327635HSM Ebook TrabalhoRemotoDocumento50 pagineCms Files 85015 1585327635HSM Ebook TrabalhoRemotodivairz100% (2)
- Curso 85852 45 2 Simulado Sefaz Al 22 12 2019 v2Documento19 pagineCurso 85852 45 2 Simulado Sefaz Al 22 12 2019 v2Douglas GomesNessuna valutazione finora
- 06 - Contrato de TrabalhoDocumento26 pagine06 - Contrato de TrabalhoFelipe MonteiroNessuna valutazione finora
- Seguro Desportivo Condições GeraisDocumento5 pagineSeguro Desportivo Condições Geraislouis.isaiasNessuna valutazione finora
- Edital Equipa Cultura 2021Documento12 pagineEdital Equipa Cultura 2021Narlison LiraNessuna valutazione finora
- LPG - Alterosa - Final - 2-ChamadaDocumento18 pagineLPG - Alterosa - Final - 2-ChamadaDeuglecio LimaNessuna valutazione finora