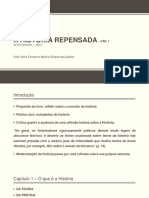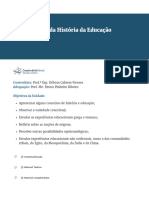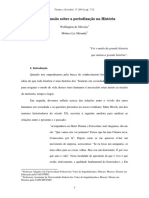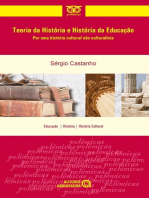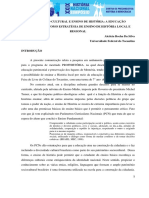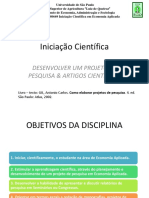Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
A memória no ensino de história
Caricato da
Vitor De Paiva Zuchini0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
42 visualizzazioni12 pagineTitolo originale
A história da memória no ensino de história
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
42 visualizzazioni12 pagineA memória no ensino de história
Caricato da
Vitor De Paiva ZuchiniCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 12
A história da memória no ensino de história
Prof. Dr. Alexandre Pianelli Godoy
Departamento de História
EFLCH-Campus Guarulhos
1. Introdução:
O conceito de “regime de historicidade” de François Hartog pretende ser
uma “ferramenta heurística”, de acordo com suas palavras, para compreender
“não o tempo, todos os tempos ou a totalidade do tempo, mas principalmente
os momentos de crise do tempo, aqui e lá, quando vêm justamente perder sua
evidência as articulações do passado, do presente e do futuro” (p. 37), ou seja,
é um conceito construído pelo historiador, que não deve ser visto de maneira
mecânica, e não coincide necessariamente com as épocas, aproximando-o
mais do “tipo-ideal” de Max Weber.
Dessa forma, e de maneira bastante resumida, correndo o risco de
simplificar e trair o pensamento do autor, Hartog faz uma longa distinção em
seu livro Regimes de historicidade: presentismo e as experiências do tempo
(original: 2003/ publicação no Brasil: 2013) entre dois regimes de historicidade,
o antigo e o moderno, que não só contrastam entre si, mas também do atual
regime de historicidade presentista que nos interessa mais de perto. O antigo
(que prevaleceu da Antiguidade até o Renascimento) seria aquele da história
como “mestra da vida” no qual o passado por ter passado era um exemplo e
criava uma relação de autoridade com o presente e para a plenitude do
presente em uma espécie de continuum temporal. O moderno regime de
historicidade (a partir da Revolução Francesa até meados do século XX) rompe
com essa ideia de restituição antiga por meio do passado no presente
(continuidade), pois o apelo ao passado se articulava agora com a abertura
para o futuro (mudança), isto é, a ideia de que o passado se separa do
presente com vistas ao futuro devido a uma certa consciência de sua mudança
temporal (consciência histórica).
E, por sua vez, o “regime de historicidade presentista”:
Historiador da história, entendida como uma forma da história
intelectual, eu pouco a pouco fiz minha a constatação de Michel de
Certeau, que lembrava, no final dos anos 1980, que “sem dúvida, a
objetivação do passado, há três séculos, tinha feito do tempo o
impensado de uma disciplina, que não cessava de utilizá-lo como
instrumento taxinômico”. O tempo tornou-se tão habitual para o
historiador, que ele o naturalizou ou instrumentalizou. Ele é
impensado, não porque seria impensável, mas porque não o
pensamos ou, mais simplesmente, não se pensa nele. Historiador
atento ao meu tempo, eu, assim como muitos outros, observei o
crescimento rápido da categoria do presente até que se impôs a
evidência de um presente onipresente. É o que nomeio aqui
“presentismo”. (...) Por exemplo, no quadro da história profissional
francesa, a aparição de uma história se reivindicando, a partir dos
anos 1980, como “história do tempo presente” acompanhou este
movimento. Às demandas múltiplas da história contemporânea ou
muito contemporânea, a profissão foi solicitada, algumas vezes
intimada a responder. Presente em diferentes frentes, esta história se
achou posta sob os projetores da atualidade judiciária, quando os
processos crimes contra a humanidade, que tem pôr característica
primeira de se haver com a temporalidade inédita do imprescritível
(HARTOG, 2006, 262).
Em um regime de historicidade presentista percebe-se não apenas
ascensão de histórias do tempo presente, mas também do imperativo de uma
onda memorialista em que nada deve ser esquecido, do “dever da memória” e,
por extensão, do patrimônio, seu alter ego. O problema reside que em tais
histórias, memórias e patrimônios o presente se torna um horizonte absoluto de
explicação mesmo quando recorre ao passado ou se mostre preocupado com o
futuro. O que traria, para o autor, sérias repercussões sobre a memória nos
dias de hoje:
“Nossa” memória não é mais aquela, ela agora só é “História,
vestígio, triagem”. Preocupada em fazer memória de tudo, ela é
apaixonadamente arquivística, contribuindo a essa cotidiana
historicização do presente, já observada. Inteiramente psicologizada,
a memória se tornou um assunto privado, que produz uma nova
economia da “identidade do eu”. “Pertence a mim [doravante] a
atividade de lembrar-me e sou eu que lembro”. Assim, “ser judeu é
lembrar-se de ser, mas essa lembrança irrecusável, uma vez
interiorizada, exige pouco a pouco dedicação integral. Memória de
quê? No limite, memória da memória.” Enfim, essa memória opera a
partir da relação com o passado na qual sobrepuja a
descontinuidade. O passado não está mais “no mesmo plano”. Por
consequência fomos “de uma história que se procurava na
continuidade de uma memória a uma memória que se projeta na
descontinuidade de uma história”. Tal como se define hoje em dia, a
memória “não é mais o que se deve reter do passado para preparar o
futuro que se quer; ela é o que faz com que o presente seja presente
de si mesmo”. Ela é um instrumento presentista (HARTOG, 2013:
162-163, o grifo é meu).
Nessa perspectiva, é tentador tomar como verdadeiro que o ensino de
história teria acompanhado esses grandes “tipos-ideais” que constituem os
“regimes de historicidade” e suas relações com a memória e de que hoje
viveríamos o advento do presentismo no ensino de história tal como verificado
na historiografia acadêmica por meio das histórias do tempo presente, do
imediato, das histórias das memórias, das relações entre história e patrimônio
e, mais recentemente no Brasil, entre a história e sua divulgação para públicos
mais amplos (a História pública).
No entanto, ao estudarmos as relações da memória no ensino na história
outros efeitos, igualmente duráveis, próprios e diversos parecem resistir a
essas “histórias do atual” e aos modismos da “teoria da história sobre o atual” e
que, para o bem e para o mal, incidem na formação de nossos professores de
história.
2. As finalidades do ensino de história no passado e a memória
Para tanto, me parece necessário retomar algumas pesquisas que tratam
das finalidades diversas que o ensino de história adquiriu no passado tanto
antes quanto durante o seu processo de se tornar uma “disciplina escolar”,
para tentar compreender até que ponto a relação entre memória e o ensino de
história se aproxima e se distancia desses regimes de historicidade e como
entender as permanências e as mudanças da memória no ensino da história
em nossa contemporaneidade.
De acordo com pesquisa de Annie Bruter (2005) a história nos colégios do
Antigo Regime era ensinada de modo “não-disciplinar” dentro de uma
concepção humanista e integradora da retórica antiga conciliando finalidades
de prática de domínio da linguagem, cognitiva de aquisição de conhecimentos
e religiosa de acesso à ciência e a virtude.
O ensino era o da imitação de textos-modelos (“lições-modelo”) que
visavam o domínio das línguas antigas (latim) e das técnicas (retórica e
filologia). Ao explicar os textos antigos recorria-se a várias ordens de
conhecimentos (gramaticais, filológicos, geográficos, históricos e até mesmo
botânicos, zoológicos e mineralógicos) e a capacidade de ressaltar máximas e
sentenças que deveriam enriquecer o discurso do orador. O objetivo era que
formar o homem de bem que sabe falar.
A finalidade retórica do conhecimento não significava que o ensino
humanístico não transmitisse conhecimentos, mas eles não eram estudados
por eles mesmos e não eram expostos sistematicamente (a não ser em caráter
recreativo em momentos de erudição), mas a medida da leitura dos textos e em
função dos conteúdos a serem explicados:
É assim que conhecimentos que dizem respeito, para nós, à história –
o desenrolar de certos acontecimentos, a descrição das instituições
ou dos costumes de uma certa época – podiam ser apresentados no
momento da explicação de uma poesia ou de uma obra de oratória de
Cicero... Inversamente, a leitura dos historiadores antigos, que faziam
parte dos programas das classes oportunizavam não tanto o estudo
dos acontecimentos mas os procedimentos de escrita próprios ao
historiador: mais que a própria história tratava-se conforme as
finalidades gerais – as do ensino das humanidades, de aprender
como escrever (BRUTER, 2005, p. 13).
Os conhecimentos necessários para compreensão das obras históricas
eram os geográficos para se ter ideia do teatro das operações e o desenrolar
dos combates escritos. A cronologia era apenas um acessório de estudo, pois
seu domínio era um campo “preciso” (uma “ciência” muito nova) para ser
exposto em sala de aula e exigia um vasto conhecimento filológico.
Já os materiais utilizados em tal ensino são advindos dos textos antigos,
pois seu conteúdo é basicamente histórico, isto é, palavras, fatos,
pensamentos da Antiguidade, mas que não são ordenados em função de uma
cronologia, mas do grau de dificuldade linguística. Os alunos dos colégios do
Antigo Regime francês tinham até um conhecimento mais profundo que alunos
e mesmo professores atuais de história, porém, era um conhecimento
desordenado e lacunar, não só por ignorarem o que hoje designamos de Idade
Média, mas da própria época em que viviam.
A história para os regentes dos colégios humanistas não era um
conjunto de conhecimentos fundada como produto de uma metodologia, pois
não designava um campo particular do saber, pois todo o saber da época vinha
do passado como história, mas um ramo da retórica e definido por um modo
específico de escrita, o modo narrativo. Portanto, não se tratava de “ensinar
história”, mas de ensinar a arte de escrever.
Nos parece, portanto, que a história antes de se tornar uma disciplina
escolar e quando atendia a essa finalidade retórica do conhecimento se
aproximava mais da concepção antiga da história como “mestra da vida”, no
entanto, dentro de um contexto de transição da aprendizagem baseada no
passado como auto instrutivo para e no presente ao “método instrucional de
ensino” baseado na memorização de conteúdos.
O historiador inglês dos currículos David Hamilton em um artigo
provocativo intitulado “O revivescimento da aprendizagem?” publicado na
revista Educação & Sociedade de abril de 2002, traça em linhas gerais essa
alteração importante ocorrida no século XVI que ele denomina de o
“aparecimento da escola moderna”:
O surgimento das palavras programa [(aprox.)1500] e currículo [1573]
assinalava a reorganização pedagógica de corpora existente de
doutrina aprovada, ao passo que a atenção dada aos catecismos
[(aprox.) 1540] e à didática [1613] refletiria a reorganização dessas
inovações assumia-se que uma doutrina podia ser suavemente
transmitida pelos ouvidos, olhos, mentes, corpos e almas dos alunos.
Na sua forma mais simples, essa transformação do século XVI
marcou uma transição da atenção pública da aprendizagem para a
instrução. Antes da fundação de São Paulo, por exemplo, os escritos
educativos europeus focalizavam o que e como as crianças deveriam
aprender, enquanto, pouco depois, esses escritos davam muito mais
atenção ao que e como se deveria ensinar às crianças (HAMILTON,
2002 p. 189).
Essa “viragem ou guinada instrucional” (da aprendizagem para a
instrução) a que se refere Hamilton está nos “princípios da escolarização
moderna” e marcou a entrada de um método de ensino baseado na
memorização na forma “catecismos” (respostas formais para questões formais)
de maneira fácil e em um período mais curto de tempo de modo a cumprir o
que estava disposto nos currículos, pois se tratava agora de instruir muito
alunos.
Portanto, o nascimento do método instrucional de memorização de
conteúdos no século XVI também combinou-se com mudanças de concepções
que ocorreram no século XVII quando, paradoxalmente, o ensino das
humanidades clássicas eclodia com força: vitória da fidelidade monárquica põe
fim às guerras de religião; o triunfo do absolutismo e paroquialização da vida
mundana provocam interesse pela história nacional por meio da história das
dinastias e de suas cortes; importância das práticas como critério de ortodoxia
confessional acentua os fins moralizadores da educação e o uso da narração
histórica como modo de interiorizar as verdades e os valores do catecismo
desde a infância; no plano cultural, o progresso da produção impressa faz
circular os saberes por meio da leitura para um público mais amplo e o uso de
uma literatura mais mundana, atraente e de fácil acesso do que o latim e o
grego; além da diversidade e especialização dos gêneros literários. Todos
esses fatores confluem ainda para outra mudança no plano científico que é a
elaboração de uma linha do tempo única sobre o qual se ordenam os fatos até
então dispersos. Os resumos de história em latim e em francês começam a
vulgarizar a aquisição da “ciência” cronológica da Renascença.
Desse modo, a utilização da linha do tempo confere aos estudos
históricos um novo modo de apreender os fatos por ordem de sucessão
cronológica e não mais por contiguidade temática ou geográfica. Não só
fornece as datas, mas coloca em evidência as lacunas na exposição dos
conhecimentos, incentiva a preenche-las e contribui para a transformar a noção
tempo, dando uma visão linear, o que vai minando o respeito pelos
historiadores da Antiguidade.
Há uma relação mais natural e direta com o passado, isto é, mais
próximo e acessível, contornando os obstáculos da aprendizagem das línguas
antigas, por meio da literatura de vulgarização científica, projetos ou tratados
de educação e da tradução de autores antigos. Portanto, assiste-se um
enfraquecimento da finalidade retórica da histórica e um crescimento do
alcance moralizante da leitura dos historiadores antigos para todos os alunos.
Porém, uma nova pedagogia da história autônoma e que se deu fora da
escola era ainda um ensino extremamente elitizado com uma finalidade política
restrita apenas à aprendizagem dos príncipes e dos “Grandes” que deveriam
fornecer modelos próximos aos deles do que aos dos heróis da Antiguidade
sobre assuntos do reino por meio do presente ou do passado próximo. Assinala
Bruter:
Uma nova pedagogia da história surge, assim, conjugando a
aprendizagem da cronologia com o curso dialogado no qual o aluno
escuta e discute o relato dos acontecimentos, que deverão ser em
seguida redigidos: tal é, ao menos, a pedagogia descrita pelos
preceptores dos príncipes no fim do século XVII. Quantos aos
primeiros “manuais escolares” de história, não provêm da educação
principesca, mas das pensões aristocráticas onde se ministravam os
cursos particulares de história pelos “chambristes”. (...).
Compreendemos, vendo a história assim colocada como disciplina
central da educação ao mesmo tempo subtraída ao comum dos
mortais, o seu estatuto marginal, inacessível no último século do
Antigo Regime. Era objeto de um ensino, sobre o qual encontramos
vestígios através de resumos explicitamente destinados à juventude,
de exercícios públicos, até mesmo de redações dos alunos. Mas
excetuando as instituições inovadoras que foram as pensões
particulares e as escolas militares, esse ensino não foi, em geral,
integrado ao currículo escolar – a história continuava sendo um tipo
de matéria facultativa sob a responsabilidade das famílias (BRUTER,
2005, p. 18).
Contudo, houve a invenção de uma pedagogia da história, com métodos
e materiais específicos no século XVII, mas essa invenção se fez fora do
âmbito escolar e no espaço flexível da educação principesca ou do pensionato
aristocrático, independente da leitura dos autores antigos, e a partir de uma
apresentação contínua dos acontecimentos. Não há uma escala evolutiva que
deu “origem” ao ensino de história atual, muito embora exista uma longa
duração dos processos de criação e de um funcionamento de uma disciplina,
em nosso caso, a constituição da história como uma matéria “ensinável”.
O modo como a memória e o ensino se relacionaram nesse período não
permite simplesmente enquadrá-lo em um regime de historicidade antigo na
medida a concepção de história como “mestra da vida” ao se tornar ensinável
também começava a conviver numa perspectiva de metodização do ensino que
criava uma ideia de temporalização de conteúdos a serem ensinados em
sequência (currículo), de forma memorizada (didática) e, no caso da história,
valendo-se cada vez mais de textos reprodutíveis (impressos), vulgarizados
(traduzidos), que tratavam de histórias dinásticas e valendo-se da cronologia.
Esses seriam os aspectos que constituíram os “métodos [que ainda não eram]
tradicionais” do ensino de história e que ganhariam uma nova tradução no
século XIX com a criação dos Estados Nacionais e das disciplinas escolares
(CHERVEL, 1988).
No artigo de Arlette Medeiros Gasparello (2011), o conceito de
“disciplina escolar” de história já pode ser utilizado para o seu objeto de estudo.
Mostra em seu artigo a criação de uma “pedagogia da história” no final do
século XIX e que se beneficiou dos intelectuais da história acadêmica e
também foram professores na escola secundária, no caso, Charles Langlois e
Charles-Victor Seignobos, pois se dedicaram a escrever sobre a metodologia
do ensino de história e a produção de livros didáticos que, inclusive, tiveram
influência nas obras didáticas de João Ribeiro e Jonathas Serrano no Brasil.
A pergunta central da autora parte da constituição de uma pedagogia
histórica no final século XIX e início do XX e sua relação entre a história dos
intelectuais, a circulação de saberes e sua sociabilidade relacionado à história
dos materiais e dos livros didáticos. Não pensa os intelectuais como “gerais”
como se determinassem abstratamente o saber, mas como intelectuais
específicos que atuam na sociedade. A autora evita a dicotomia entre a
pesquisa histórica e o seu ensino a partir das relações entre os intelectuais da
história e sua atividade docente, mostrando que historicamente participaram de
maneira antropológica na constituição desses saberes. Não elimina a diferença
entre conhecimento histórico acadêmico e conhecimento histórico escolar, mas
pensa nas suas relações e imbricações. As fontes disponíveis são manejadas
de modo a mostrar que os intelectuais da escola metódica se preocuparam
com o seu ensino ao passo que os manuais escolares no Brasil se
beneficiaram das preocupações com o ensino dos historiadores da escola
metódica. Aqui é importante ressaltar que os livros didáticos se tornaram uma
realidade na França e no Brasil desde o século XIX. As finalidades do ensino
de história presente nessas produções didáticas aparecem como uma
educação social, o que indicia para o surgimento de uma pedagogia própria à
disciplina escolar de história, além de uma metodologia e de uma seleção de
conteúdos adequados aos alunos.
A história metódica representou uma ruptura com o chamado “ensino
tradicional”, pois Langlois e Seignobos no seu apêndice da Introdução aos
Estudos históricos (de 1898) intitulado O ensino secundário da história na
França (1896) já criticavam o ensino de um grande número de fatos, a história
reduzida à oralidade do professor, livros escolares apenas com quadros
cronológicos, reunião de datas e nomes próprios resumindo-se na história de
guerras, tratados, reformas e revoluções. Os autores propunham nesse
apêndice escrito de maneira reflexiva uma organização geral baseado nas
finalidades em relação à cultura do aluno; na escolha dos assuntos a partir da
proporcionalidade entre conteúdos de história nacional, de outros países e
histórias especiais; na ordem sobre os critérios de seleção dos conteúdos e
sua sequência adequada à aprendizagem histórica; e, por fim, os
procedimentos de ensino, isto é, ensinar tudo ou fazer o aluno pesquisar, como
fazer usos das gravuras, como fazer compreender os acontecimentos,
costumes e suas condições, etc. Propunham assim um ensino racional a partir
da renovação dos materiais e métodos e não apenas de uma teoria da
pedagogia histórica. Formularam tais princípios baseados em sua experiência
docente. A finalidade não era mais o ensino moral tampouco o patriotismo, mas
a história como instrumento da cultura social e política por meio de uma
pedagogia ativa. Portanto, o professor deveria primeiro refletir sobre qual ação
educativa poderia ter a seleção de um conteúdo e depois verificar os meios
necessários à compreensão do aluno. A renovação dos métodos de ensino
vinha acompanhada das finalidades sociais da educação. Contudo, não era
mais possível ensinar a história sem três vetores básicos: o quê, o como e o
para quê ensinar. Ou seja, na íntima relação entre a história e a pedagogia,
pois a educação social proposta por esses professores/intelectuais possibilitou
o movimento em direção a uma educação voltada à cidadania.
Embora os autores/professores/intelectuais da escola metódica
pudessem ser vistos dentro desse moderno regime de historicidade, isto é, com
uma plena consciência temporal de distinção entre presente e o passado e da
história como um singular coletivo com vistas ao futuro, principalmente
relacionadas aqui com as finalidades sociais da educação, não nos parece que
o método instrucional tenha desaparecido no ensino de história europeu
tampouco brasileiro do século XIX até atualidade para dar lugar aos métodos
ativos de ensino que supostamente trouxeram um “revivescimento da
aprendizagem”, repetindo aqui o título irônico do artigo de David Hamilton.
Se, de fato, Langlois e Seignobos podem nos surpreender pela
atualidade de suas preocupações com a história ensinada, nos surpreende
ainda mais que suas ideias e práticas, mesmo tendo circulado na Europa, e no
Brasil até meados dos anos 1960, não alterarem o quadro do ensino de história
em grande parte das escolas de ensino primário e secundário baseados nos
“catecismos” e que hoje são renovados pelos “testes de múltipla escolha”
(BITTENCOURT, 2018).
3. Que presente, que memória e qual ensino de história?
Contudo, não quero contrariar o já sabido, isto é, que o ensino de
história não tenha passado por inovações em suas práticas, metodologias e
propostas curriculares mais críticas e na ampliação de suas pesquisas,
sobretudo a partir dos anos 1980 no Brasil (BITTENCOURT, 2011). Ainda que
muitas dessas propostas encontrassem um lastro histórico como na pesquisa
realizada por Arlette Medeiros Gasparello (2008) e que práticas de ensino
renovado tenham se verificado nos ginásios vocacionais e colégios de
aplicação públicos nos anos 1960 (BERGAMIM, 2018), a permanência de uma
concepção de método instrucional baseada na memorização de conteúdos
parece ocultar as relações de poder das novas propostas de ensino e
currículos baseadas na aprendizagem dos alunos. Fica parecendo que essas
propostas ao empoderarem os alunos a “aprender a aprender”, e não no que o
professor ensina, também não tivessem relacionados a determinados poderes
– e sem qualquer compromisso com as disciplinas escolares e suas finalidades
educativas –, pois, no dizer de David Hamilton:
(...) a sociedade de aprendizagem não passa de uma visão. Seus
pressupostos relativos à morte da escolaridade estão inscritos
apenas nas palavras, imagens e afirmações dos fazedores de
significados culturais – educadores, economistas, peritos em relações
públicas, pesquisadores de mercado, escritores de discurso e
políticos -, que reproduzem, reciclam e forma a opinião popular. Ora,
essa visão é comercializada por órgãos que têm um alcance global e,
sendo atraente, reconfortante e niveladora, ela é amplamente aceita.
A linguagem da sociedade de aprendizagem projeto um sentido de
redenção humana (...) [HAMILTON, 2002, p. 194].
O autor não está defendendo um retorno ao método instrucional de
ensino até porque, de fato, jamais deixou de estar presente em nossa
sociedade, mas também nos alerta para o discurso de que esse
“revivescimento da aprendizagem” (do aprender a aprender) também remonta
aos primórdios da escolaridade moderna quando o propósito educativo era o
de garantir a salvação de jovens, ainda que sua intenção fosse de ordem
espiritual, mas que hoje se seculariza: “Os engenheiros de software, assim
como os web designers, recorrem a uma gama cada vez maior de dispositivos
para cativar a atenção e interação dos usuários da Internet. Eles são os
pedagogos da aprendizagem em linha, tornaram-se os novos guardiões da
ordem ‘sociodigital’. Obviamente, na medida em que um site na Web provoca
as respostas desejadas, ele é um descendente digital direto do catecismo” (p.
195).
Em que sentido, portanto, o ensino de história estaria nesse atual regime
de historicidade proposto por François Hartog? Em que medida a memória no
ensino de história deixou de ser aquela do método instrucional (de
memorização de datas e fatos) e passou a incorporar esse discurso atual da
sociedade de aprendizagem no qual “a memória se tornou um assunto
privado, que produz uma nova economia da “identidade do eu” (HARTOG, p.
162)? Não estaríamos vivendo em uma espécie de “emparedamento” no
ensino de história entre a “velha” memorização e o “novo” dever de memória
que se anulam mutuamente?
4. Bibliografia:
BITTENCOURT, Circe. Abordagens históricas sobre a história escolar.
Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 36, n.1, jan./abr., 2011, p. 83-104.
__________________. História nas atuais propostas curriculares. In: Ensino de
História: fundamentos e métodos. 5ª edição revista e atualizada. São Paulo:
Cortez, 2018, p. 76-120.
BERGAMIN, Fabíola Matte. Ensino de História e avaliação no ensino
secundário paulista no contexto das inovações educacionais (1957-1969). Tese
de doutorado em Educação: História, Política e Sociedade. EHPS: PUC/SP,
2018.
BRUTER, Annie. Um exemplo de pesquisa sobre a história de uma disciplina
escolar: a História ensinada no século XVII. História da Educação.
ASPHE/FaE/UFpel, Pelotas, n. 18, set. 2005, p. 07-21.
CHERVEL, André. História das Disciplinas Escolares: reflexões sobre um
campo de pesquisa. In: Teoria & Educação. Porto Alegre: Pannonica, n.02,
1990, pp. 177-229.
GASPARELLO, Arlette Medeiros. Uma pedagogia histórica: caminhos para
uma história da disciplina escolar Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 36, n.
1, jan./abr, 2011, p. 105-125.
HAMILTON, David. O revivescimento da aprendizagem? Educação &
Sociedade, ano XXIII, n. 78, abril/2002, p. 187-198.
HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do
tempo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
Potrebbero piacerti anche
- Tempo Presente No Ensino de Historia - Texto Ana M MonteiroDocumento16 pagineTempo Presente No Ensino de Historia - Texto Ana M MonteiroNavegantealvesNessuna valutazione finora
- História Conteúdos e DidáticaDocumento24 pagineHistória Conteúdos e DidáticaErika BorgesNessuna valutazione finora
- A Importancia Do Ensino de Historia para As Series IniciaisDocumento10 pagineA Importancia Do Ensino de Historia para As Series IniciaisErika BorgesNessuna valutazione finora
- Teoria Da História E Historiografia: Eduardo Pacheco FreitasDocumento16 pagineTeoria Da História E Historiografia: Eduardo Pacheco FreitasDavid VieiraNessuna valutazione finora
- Baú de ossos: memória e históriaDocumento11 pagineBaú de ossos: memória e históriaWalderez RamalhoNessuna valutazione finora
- 03 CERRI - O Que É A Consciencia HistóricaDocumento20 pagine03 CERRI - O Que É A Consciencia HistóricaPhylipp AnchietaNessuna valutazione finora
- Epistemologias da história: Verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-modernidadeDa EverandEpistemologias da história: Verdade, linguagem, realidade, interpretação e sentido na pós-modernidadeNessuna valutazione finora
- Memoria Historia e EducacaoDocumento11 pagineMemoria Historia e EducacaoBruno AquinoNessuna valutazione finora
- Ana Paula Ribeiro - A Mídia e o Lugar Da HistóriaDocumento18 pagineAna Paula Ribeiro - A Mídia e o Lugar Da HistóriaLucas Seixas50% (2)
- O Tempo Historico Como Representação IntelectualDocumento21 pagineO Tempo Historico Como Representação IntelectualpsmsilvaNessuna valutazione finora
- Ensino de História e Memória Usos Do Passado e Os Desafios DoDocumento14 pagineEnsino de História e Memória Usos Do Passado e Os Desafios DoTuany QueirozNessuna valutazione finora
- A Historia Do HistoriadorDocumento112 pagineA Historia Do HistoriadorPioneerrNessuna valutazione finora
- Museologia, história e representação da realidadeDocumento8 pagineMuseologia, história e representação da realidadeRaissa BiribaNessuna valutazione finora
- Tempo Presente Usos Do PassadoDocumento190 pagineTempo Presente Usos Do PassadoDejalma100% (2)
- RESUMO DE HISTÓRIA GERAL IDocumento4 pagineRESUMO DE HISTÓRIA GERAL IProf LucasNessuna valutazione finora
- A História Sob O Véu De Clio: Suas Armas E BatalhasDa EverandA História Sob O Véu De Clio: Suas Armas E BatalhasNessuna valutazione finora
- Consciência Histórica2Documento20 pagineConsciência Histórica2Maura FabríciaNessuna valutazione finora
- Resumo Porque Estudar História - FormaçãoDocumento4 pagineResumo Porque Estudar História - FormaçãoHenrique MusashiNessuna valutazione finora
- CITAÇÕES HTPDocumento6 pagineCITAÇÕES HTPMarcelinhu StudinskiNessuna valutazione finora
- A PRÁTICA DA HISTÓRIA: TEORIAS, MODELOS E FORMASDocumento4 pagineA PRÁTICA DA HISTÓRIA: TEORIAS, MODELOS E FORMASRodrigo FaroNessuna valutazione finora
- Regimes de historicidade e formas de registro históricoDocumento23 pagineRegimes de historicidade e formas de registro históricoEduardo PereiraNessuna valutazione finora
- Nelson, Resumo Consciência HistóricaDocumento4 pagineNelson, Resumo Consciência Históricanay pNessuna valutazione finora
- CATROGA, Fernando. A Representificação Do AusenteDocumento12 pagineCATROGA, Fernando. A Representificação Do AusenteClaudianoSilva100% (1)
- A história repensada - O que é a históriaDocumento20 pagineA história repensada - O que é a históriaHeitor BarbosaNessuna valutazione finora
- A Historia Hoje - VavyDocumento11 pagineA Historia Hoje - VavyWheriston NerisNessuna valutazione finora
- Ensaio UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA PDFDocumento5 pagineEnsaio UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA PDFThiago Augusto Divardim de OliveiraNessuna valutazione finora
- Os Conceitos de Consciência Histórica E Os Desafios Da Didática Da HistóriaDocumento21 pagineOs Conceitos de Consciência Histórica E Os Desafios Da Didática Da HistóriaJeremias TchipalavelaNessuna valutazione finora
- Teste de Teoria Da História - Joana Clara Freire Ribeiro N.º 2020118128Documento10 pagineTeste de Teoria Da História - Joana Clara Freire Ribeiro N.º 2020118128joanaclararibeiroNessuna valutazione finora
- Regime de historicidade: o presente onipresenteDocumento13 pagineRegime de historicidade: o presente onipresenteRogério Ivano100% (1)
- Regime de historicidade: o presente onipresenteDocumento13 pagineRegime de historicidade: o presente onipresenteDanielRequiaNessuna valutazione finora
- Presentismo PDFDocumento7 paginePresentismo PDFGuilherme Lopes VieiraNessuna valutazione finora
- Como A História Faz o HistoriadorDocumento6 pagineComo A História Faz o HistoriadorAsaph MendesNessuna valutazione finora
- Tyego, 12 - Artigo - 37 diagramado-OKDocumento12 pagineTyego, 12 - Artigo - 37 diagramado-OKAssis Daniel GomesNessuna valutazione finora
- HARTOG, François. Tempo e PatrimônioDocumento3 pagineHARTOG, François. Tempo e PatrimônioVictor ArcanjoNessuna valutazione finora
- O que é História? Fatos, memória e representaçãoDocumento5 pagineO que é História? Fatos, memória e representaçãoThiago RORIS DA SILVANessuna valutazione finora
- A relação entre memória individual e coletiva na históriaDocumento9 pagineA relação entre memória individual e coletiva na históriaEduardo Felipe HennerichNessuna valutazione finora
- Teoria e Metodologia da História: Discussão sobre Invenções e AbordagensDocumento4 pagineTeoria e Metodologia da História: Discussão sobre Invenções e AbordagensRebecca RibeiroNessuna valutazione finora
- Aula 3 - Historia e TemporalidadeDocumento8 pagineAula 3 - Historia e TemporalidadeNi RamalhoNessuna valutazione finora
- Introducao A Historia Aula 3Documento7 pagineIntroducao A Historia Aula 3José Reinaldo PereiraNessuna valutazione finora
- A historicidade de cidades não centenárias: o caso de Presidente VenceslauDocumento16 pagineA historicidade de cidades não centenárias: o caso de Presidente VenceslauAleff HenriqueNessuna valutazione finora
- Ensino de História e Tempo PresenteDocumento5 pagineEnsino de História e Tempo PresenteRicardo FranciscoNessuna valutazione finora
- APOSTILA - Professor de HistoriaDocumento280 pagineAPOSTILA - Professor de HistoriaWilliams Andrade De Souza100% (1)
- O uso de fontes no ensino de históriaDocumento16 pagineO uso de fontes no ensino de históriaAnna Karenina100% (1)
- Teorico 1 HisoriaDocumento27 pagineTeorico 1 HisoriabispojjosNessuna valutazione finora
- Memória, Tradição, Crítica e AnáliseDocumento3 pagineMemória, Tradição, Crítica e AnáliseVitória NunesNessuna valutazione finora
- Analisando a historicidade: HH como estudo da experiência temporalDocumento4 pagineAnalisando a historicidade: HH como estudo da experiência temporalNi RamalhoNessuna valutazione finora
- Fichamento HartogDocumento13 pagineFichamento HartogYasmin Brand RodriguesNessuna valutazione finora
- Conhecimento histórico e historiografia brasileiraDocumento23 pagineConhecimento histórico e historiografia brasileiraWender TavaresNessuna valutazione finora
- Acfrogdx59z6nzq8xin6mrrehbrv0jy2m1iyssacumgdqeb2nkgj6b34h96uxnaq75ludhkcoce4yeckjcziidlctddj Ajbxoblsoohuue Z2pmaww5s7uwrbkxzrri1qmfvuslmpmoydl AzcDocumento50 pagineAcfrogdx59z6nzq8xin6mrrehbrv0jy2m1iyssacumgdqeb2nkgj6b34h96uxnaq75ludhkcoce4yeckjcziidlctddj Ajbxoblsoohuue Z2pmaww5s7uwrbkxzrri1qmfvuslmpmoydl AzcLucas RomanoNessuna valutazione finora
- História do Tempo Presente: singularidade e debatesDocumento6 pagineHistória do Tempo Presente: singularidade e debatesDones JanzNessuna valutazione finora
- Flavia Varella - Tempo Presente E Usos Do Passado-FGV (2012)Documento163 pagineFlavia Varella - Tempo Presente E Usos Do Passado-FGV (2012)Anna Karolyne da Guia AlcântaraNessuna valutazione finora
- Transição PDFDocumento179 pagineTransição PDFDébora Strieder KreuzNessuna valutazione finora
- Um historiador sobre teoria e metodologiaDocumento7 pagineUm historiador sobre teoria e metodologiaLídio CabralNessuna valutazione finora
- Uma discussão sobre a periodização na HistóriaDocumento26 pagineUma discussão sobre a periodização na HistóriaNATALIA DEMOURANessuna valutazione finora
- Apostila 1 - Introdução Aos Estudos HistóricosDocumento4 pagineApostila 1 - Introdução Aos Estudos HistóricosPré-Universitário Oficina do Saber UFFNessuna valutazione finora
- História da historiografia paranaense: matrizes & mutaçõesDa EverandHistória da historiografia paranaense: matrizes & mutaçõesNessuna valutazione finora
- Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaDa EverandSobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaNessuna valutazione finora
- Teoria da História e História da Educação: por uma história cultural não culturalistaDa EverandTeoria da História e História da Educação: por uma história cultural não culturalistaNessuna valutazione finora
- O Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteDa EverandO Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteNessuna valutazione finora
- História Oral e Metodologia de Pesquisa em História: Objetos, Abordagens, TemáticasDa EverandHistória Oral e Metodologia de Pesquisa em História: Objetos, Abordagens, TemáticasNessuna valutazione finora
- Memoria e Identidade (Artigo2) PDFDocumento27 pagineMemoria e Identidade (Artigo2) PDFjotaKNessuna valutazione finora
- Documento - A BNCC Do Ensino Médio - Ciências HumanasDocumento2 pagineDocumento - A BNCC Do Ensino Médio - Ciências HumanasVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- 76346-Texto Do Artigo-104370-1-10-20140318 PDFDocumento10 pagine76346-Texto Do Artigo-104370-1-10-20140318 PDFVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- 33961-Texto Do Artigo-151875-1-10-20161021 PDFDocumento6 pagine33961-Texto Do Artigo-151875-1-10-20161021 PDFVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Documento - A BNCC Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental - História PDFDocumento2 pagineDocumento - A BNCC Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental - História PDFVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- A Memória Como Elemento Constituidor de Identidade: ResumoDocumento9 pagineA Memória Como Elemento Constituidor de Identidade: ResumoVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Apresente o Calendario para CriancaspdfDocumento5 pagineApresente o Calendario para CriancaspdfVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- 1640 5601 1 PBDocumento10 pagine1640 5601 1 PBPaulo César R. SilvaNessuna valutazione finora
- CandauDocumento5 pagineCandauBreno LacerdaNessuna valutazione finora
- A importância da ortografiaDocumento17 pagineA importância da ortografiaEdilene AlvesNessuna valutazione finora
- Imprensa e escravidão no Primeiro ReinadoDocumento10 pagineImprensa e escravidão no Primeiro ReinadoVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Certificado de conclusão de curso de formaçãoDocumento2 pagineCertificado de conclusão de curso de formaçãoVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- POLLAK. Memória e Identidade SocialDocumento16 paginePOLLAK. Memória e Identidade SocialLeonardo PerdigãoNessuna valutazione finora
- Documento - A BNCC Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental - História PDFDocumento2 pagineDocumento - A BNCC Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental - História PDFVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Curso BNCC Gestão EscolarDocumento2 pagineCurso BNCC Gestão EscolarVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Documento - A BNCC Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental - Ensino ReligiosoDocumento2 pagineDocumento - A BNCC Nos Anos Finais Do Ensino Fundamental - Ensino ReligiosoVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Patrimônio Cultural e Ensino de História PDFDocumento18 paginePatrimônio Cultural e Ensino de História PDFMariana MatosNessuna valutazione finora
- Artigo Puc-Minas PDFDocumento27 pagineArtigo Puc-Minas PDFaugustoNessuna valutazione finora
- Dissertacao Isabela Guerra PDFDocumento254 pagineDissertacao Isabela Guerra PDFVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- O espaço do museu como lugar de memória e educaçãoDocumento16 pagineO espaço do museu como lugar de memória e educaçãoAlan Luiz JaraNessuna valutazione finora
- Cinturão Paulistano: demografia e economia (1798-1830Documento525 pagineCinturão Paulistano: demografia e economia (1798-1830Vitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- A Terra de Quem LavraDocumento3 pagineA Terra de Quem LavraVitor De Paiva ZuchiniNessuna valutazione finora
- Guia Passo A Passo - Projeto Acadêmico Com IADocumento35 pagineGuia Passo A Passo - Projeto Acadêmico Com IAGlaucilaine Rodrigues de MeloNessuna valutazione finora
- Questão Agrária: conflito e desenvolvimento territorialDocumento57 pagineQuestão Agrária: conflito e desenvolvimento territorialalidacoreyNessuna valutazione finora
- Resumo Da Obra Dinamica Da Pesquisa em Ciencias Sociais Os Polos Da Pratica MetodologicaDocumento32 pagineResumo Da Obra Dinamica Da Pesquisa em Ciencias Sociais Os Polos Da Pratica Metodologicarronaldofpinho100% (1)
- O que é ciência e conhecimento científicoDocumento17 pagineO que é ciência e conhecimento científicoLeonardoGuimarãesNessuna valutazione finora
- Aula 05 Metodologia - Tipos de PesquisaDocumento48 pagineAula 05 Metodologia - Tipos de PesquisaJanielle AlvesNessuna valutazione finora
- Livro Design Da Informacao 2020Documento211 pagineLivro Design Da Informacao 2020Rita LaipeltNessuna valutazione finora
- Monografia - Trabalho em Altura 2018Documento38 pagineMonografia - Trabalho em Altura 2018Maria De Lourdes RosaNessuna valutazione finora
- A Prática Do FutsalDocumento56 pagineA Prática Do FutsalRFB EditoraNessuna valutazione finora
- MATERIAL Iniciação CientificaDocumento78 pagineMATERIAL Iniciação CientificaAnderson PaivaNessuna valutazione finora
- Brigida - D.GDocumento12 pagineBrigida - D.GhermenegildoNessuna valutazione finora
- O método científico em um relato de casoDocumento12 pagineO método científico em um relato de casoMatheus NeumannNessuna valutazione finora
- Avaliação Nutricional: Conceitos e MétodosDocumento60 pagineAvaliação Nutricional: Conceitos e MétodosRenataNessuna valutazione finora
- TCC - Eng Civil - 31.05.22Documento48 pagineTCC - Eng Civil - 31.05.22Welton DiasNessuna valutazione finora
- Teste de MicDocumento11 pagineTeste de MicChristiano DomingosNessuna valutazione finora
- Atendimento BancárioDocumento36 pagineAtendimento BancárioSergio Luis MagalhãesNessuna valutazione finora
- II TeoricoDocumento22 pagineII TeoricoSandraNessuna valutazione finora
- Cultura em movimento: diferentes formas de narrar a experiência humanaDocumento26 pagineCultura em movimento: diferentes formas de narrar a experiência humanaEducador Ricardo67% (3)
- O Sagrado Na Roma Imperial Do Século II DC - Culto IsiadoDocumento331 pagineO Sagrado Na Roma Imperial Do Século II DC - Culto IsiadoLeonardoMitocondriaNessuna valutazione finora
- Anteprojecto Da Dulcia e OdeteDocumento14 pagineAnteprojecto Da Dulcia e OdeteGoverno Lunda NorteNessuna valutazione finora
- Unid 3Documento58 pagineUnid 3Patricia RAYNessuna valutazione finora
- Historia Do Pensamento EconomicaDocumento24 pagineHistoria Do Pensamento EconomicaLeonel GasparNessuna valutazione finora
- Voce Nasceu Rico PDFDocumento128 pagineVoce Nasceu Rico PDFMilionário 300 Mind100% (6)
- Exame de Psicologia GeralDocumento8 pagineExame de Psicologia GeralJose Filipe JuniorNessuna valutazione finora
- Revolução Científica e PsicologiaDocumento6 pagineRevolução Científica e PsicologiabrunaNessuna valutazione finora
- Resumo - Tema 2Documento46 pagineResumo - Tema 2soraiaNessuna valutazione finora
- A Metodologia Da Resolução de ProblemasDocumento22 pagineA Metodologia Da Resolução de ProblemasPhilippe De FerranNessuna valutazione finora
- Ensino de Ciências com experimentaçãoDocumento7 pagineEnsino de Ciências com experimentaçãoDanielle FerreiraNessuna valutazione finora
- Introdução de As Formas Elementares Da Vida Religiosa - FichamentoDocumento4 pagineIntrodução de As Formas Elementares Da Vida Religiosa - FichamentoDébora Fontenele Alves da SilvaNessuna valutazione finora
- Sociologia 2Documento55 pagineSociologia 2Aleixo Bonifácio BonifácioNessuna valutazione finora
- Francis BaconDocumento3 pagineFrancis BaconBeatriz Cecíllya Costa100% (1)