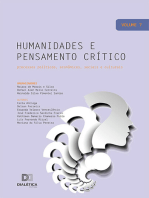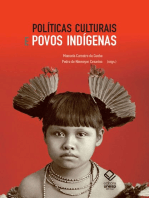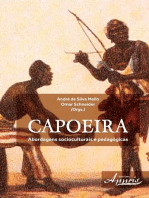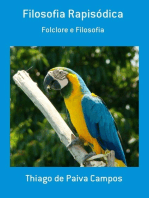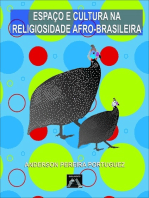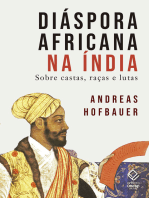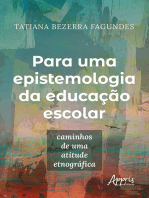Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Praticas de Transformacao No Mundo Indig PDF
Caricato da
janDescrizione originale:
Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Praticas de Transformacao No Mundo Indig PDF
Caricato da
janCopyright:
Formati disponibili
CONHECIMENTO
E CULTURA
práticas de transformação
no mundo indígena
Edilene Coffaci de Lima
Marcela Coelho de Souza
ORGANIZADORAS
ATHALAIA GRÁFICA E EDITORA
Brasília 2010
Livro Conhecimento e Cultura.indd 1 26/4/2011 12:20:42
Livro Conhecimento e Cultura.indd 2 26/4/2011 12:20:42
CONHECIMENTO
E CULTURA
práticas de transformação
no mundo indígena
Livro Conhecimento e Cultura.indd 3 26/4/2011 12:20:42
Conselho Editorial
Alcida Rita Ramos
Julio Cezar Melatti
Roque de Barros Laraia
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/UnB
Departamento de Antropologia/ICS
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte
ICC Centro – Sobreloja – B1-347
70.910-900 Brasília DF
e-mail: dan@unb.br
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/UFPR
Rua General Carneiro 460 – 6o. andar
80.060-150 Curitiba – PR
e-mail: ppgas@ufpr.br
Editora: Athalaia Gráfica e Editora
Revisão: Laísa Tossin
Secretaria: Mariana Souza Silva
Projeto Gráfico e Diagramação: Cartaz Criações e Projetos Gráficos
Tiragem: 1000 exemplares
Esta publicação foi financiada com recursos do projeto PROCAD/CAPES
Etnologia indígena e indigenismo: novos desafios teóricos e empíricos
C749 Conhecimento e cultura: práticas de transformação no
mundo indígena / Edilene Coffaci de Lima, Marcela
Coelho de Souza, organizadoras. – Brasília : Athalaia,
2010.
260 p. : il.; 23cm
ISBN 978-85-62539-17-6
1. Antropologia social. 2. Cultura. 3. Etnologia. 4.
Povos indígenas - Brasil. 5. Patrimônio cultural. I. Lima,
Edilene Coffaci de (org.). II. Souza, Marcela Coelho de
(org.).
CDD 39(81=082)
Livro Conhecimento e Cultura.indd 4 26/4/2011 12:20:42
SUMÁRIO
Apresentação 7
Edilene Coffaci de Lima e Marcela S. Coelho de Souza
CONHECIMENTO
1. Kampu, kampô, kambô: 17
o uso do sapo-verde entre os Katukina
Edilene Coffaci de Lima
2. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético: 35
hibridismo, tradução e agência compósita
Diego Soares
3. O sabonete da discórdia: 63
uma controvérsia sobre conhecimentos tradicionais indígenas
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
CULTURA
4. A vida material das coisas intangíveis 97
Marcela Stockler Coelho de Souza
5. Notas sobre a política ritual kalapalo 119
Antônio Roberto Guerreiro Jr.
6. Espaços de homens e conceitos de mulheres: 141
o feminino em escolas kaxinawá (Huni Kuĩ)
Paulo Roberto Nunes Ferreira
Livro Conhecimento e Cultura.indd 5 26/4/2011 12:20:42
TRANSFORMAÇÃO
7. Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino: 169
notas de um diálogo regional
Laura Pérez Gil
8. Beber, brincar: 185
sobre o conhecimento despertado pela embriaguez
Nicole Soares Pinto
9. “O pessoal da cidade”: 205
o conhecimento do mundo dos brancos
como experiência corporal entre os Karajá de Buridina
Eduardo Soares Nunes
10. Diferentes contextos, múltiplos objetos: 229
reflexões acerca do pedido de patrimonialização da Ayahuasca
Júlia Otero dos Santos
Sobre os autores 249
Eventos e Publicações 255
Livro Conhecimento e Cultura.indd 6 26/4/2011 12:20:42
APRESENTAÇÃO
Edilene Coffaci de Lima
Marcela Coelho de Souza
Conhecimento e cultura: práticas de transformação no mundo indígena traz
contribuições de alunos e professores dos Programas de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do
Paraná, participantes do Projeto de Cooperação Acadêmica “Etnologia Indígena
e Indigenismo”, financiado pela CAPES, através do edital PROCAD 2007.
Parte dos professores e alunos de ambos os Programas esteve reunida em
duas ocasiões. Em Brasília, em 21 de setembro de 2009, quando foi realizado o
seminário Dos quatro cantos da Amazônia: conhecimentos indígenas como práticas de
transformação. Em Curitiba foi realizado o seminário Entre a cultura e a mercado-
ria: diálogos em torno dos saberes indígenas, em 27 de abril de 2010. Essas ativida-
des estiveram vinculadas a uma das linhas de pesquisa específicas do convênio,
“Patrimônio Imaterial, Propriedade Intelectual e Conhecimentos Tradicionais”.
Estas são expressões em torno das quais vêm sendo travados, já vão qua-
se vinte anos, intensos debates: a Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB) da ONU, firmada em 1992, e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), de abril
de 1994, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC, criada em
janeiro de 1995, na sequência do acordo), são talvez os seus marcos principais
no plano internacional. Outro eixo importante foram os esforços, que remon-
tam à década de 1980, no âmbito da ONU, da Organização para a Educação,
a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Organização Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI), para o que inicialmente se formulou como proteção do fol-
clore, fazendo convergir as preocupações da primeira organização com a prote-
ção do patrimônio cultural e aquelas da segunda com a aplicação dos modelos
Livro Conhecimento e Cultura.indd 7 26/4/2011 12:20:42
Apresentação
de direitos de propriedade intelectual aos recursos intelectuais “tradicionais”.
Com a década dos Povos Indígenas, lançada pela ONU em 1994 (e renovada dez
anos depois), a constituição do Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas
e do Foro Permanente de Povos Indígenas (para uma história comentada desses
desenvolvimentos, ver Carneiro da Cunha 2009), completa-se o quadro de um
movimento global no bojo do qual numerosas nações do planeta foram motiva-
das a reavaliar as mais diversas reivindicações de direitos sobre todos os tipos
de recurso “imaterial” (Hirsch & Strathern 2004:vii), e em particular aquelas
reivindicações concernentes à cultura e aos conhecimentos de povos indíge-
nas e populações tradicionais. Nesse movimento, vai-se da cultura dos povos
indígenas como patrimônio da humanidade, à essa mesma cultura, primeiro,
como patrimônio da nação, e por fim como “propriedade particular” de cada
povo (Carneiro da Cunha 2009:327), em um ciclo que pode ser repetidamente
reensaiado.
Pode-se dizer que esses debates tendem a atravessar dois registros princi-
pais: de um lado, o que geralmente se descrevem como “saberes” ou “conheci-
mentos associados à biodiversidade”; de outro lado, o que se apreendem como
“expressões culturais” de povos indígenas e “comunidades tradicionais”. O mo-
delo dos direitos de propriedade intelectual (individuais, privados), referente
aos direitos legais que indivíduos ou corporações têm sobre os produtos de sua
criatividade, tende a se afirmar no primeiro caso; o modelo do patrimônio cultu-
ral (coletivo, público), predomina talvez no segundo. No Brasil, essa bifurcação
manifesta-se nas trajetórias paralelas da legislação: de um lado, aquela referente
ao acesso aos recursos genéticos, cuja história começa com a promulgação da
Medida Provisória 2186-16 de 23 de agosto de 2001, “que dispõe sobre o acesso
ao patrimônio genético, a proteção e acesso ao conhecimento tradicional asso-
ciado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tec-
nologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências”; de outro,
aquela que trata das políticas destinadas à proteção do “patrimônio imaterial”,
iniciando-se com a edição do Decreto 3551, de 4 de agosto de 2001, que instituiu
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial.
É claro que essas divisas não cessam de ser atravessadas e questionadas, num
cruzamento que revela os limites das partições em que se ancoram — natureza/
cultura, individual/coletivo, material/imaterial, inovação/tradição —, sobretudo
quando se trata de caracterizar regimes de conhecimento, de criatividade, de
constituição de pessoas e de coletivos, que não se pautam por elas. E não se pau-
tam por elas, via de regra, os regimes de conhecimento e criatividade amerín-
dios, inscritos em universos de práticas e concepções que pouco tem a dever às
Livro Conhecimento e Cultura.indd 8 26/4/2011 12:20:42
Edilene Coffaci de Lima e Marcela Coelho de Souza
matrizes culturais que as produziram. Em um mundo em que, frequentemente,
encontramos não-humanos (animais, vegetais, etc.) dotados de cultura, indiví-
duos dividindo-se em partes e multiplicando-se em duplos, coletivos que fun-
cionam como corpos, espíritos dotados de (estranhas) fisiologias e matérias im-
palpáveis, e em que a criação é no mais das vezes uma operação de troca, extração
ou doação entre sujeitos, em lugar da aplicação de um sujeito sobre um objeto,
em um tal mundo, entende-se, as formas muito diversas que podem tomar as
reivindicações sobre “recursos intelectuais” tendem a evidenciar a insuficiência
de nossos próprios recursos intelectuais para reavaliar essas reivindicações.
Não obstante, é em boa medida nos termos dessas partições, desses modelos,
e desses conceitos, que os povos indígenas são hoje instados a formular, apresen-
tar e negociar seus interesses diante do Estado e demais agências não-indígenas.
Registrar os efeitos e as respostas que emergem de um tal apuro, com seus di(tri,
quadri-)lemas e as oportunidades decorrentes, é o objetivo dos capítulos reu-
nidos aqui. Parece-nos que, tomados em conjunto, todos atestam a relevância
da questão que, como observa Crook (2007:245), tendo sido posta por Barth
(2002:2) – “é o conhecimento melhor entendido como uma coisa ou como uma
relação?” – atravessa todo o presente debate sobre o conhecimento e a cultura – e
suas transformações ameríndias. Transformações tanto mais relevantes quanto
formos capazes de tomá-las como verdadeiros recursos intelectuais para pensar no-
vamente, para contrariar nossa persistente tendência a privilegiar o conhecimen-
to sobre os que conhecem, a recair nas armadilhas da “mentalidade proprietária”
(Crook 2007:246), e a acreditar, apesar de todos os esforços que somos levados
a fazer para sustentar a Natureza por meio da Cultura (como no caso da CBD)
ou para reinscrever esta última na primeira (a “diversidade cultural” como um
“direito humano”, isto é, “natural”), que os limites dentro dos quais pensamos
não estejam sendo continuamente ultrapassados no momento mesmo em que se
procura reestabelecê-los (e inversamente). O que é preciso perguntar, para cada
situação, é: com que efeitos?
Os artigos
A divisão interna do volume e a ordem de apresentação dos textos guardam
certa arbitrariedade, e evidentemente ninguém imagina que se possa separar
simplesmente conhecimento, cultura e transformação. São justamente as práticas
que os imbricam. Da indissociabilidade entre os três termos é que redundam
os processos que são aqui explorados a partir de diferentes ângulos – disputas
em torno da autoria e autoridade de conhecimentos, da realização de rituais,
elaborações e trocas na veiculação de conhecimentos escolares e xamânicos, na
Livro Conhecimento e Cultura.indd 9 26/4/2011 12:20:42
Apresentação
elaboração e consumo de alimentos e bebidas, reflexões sobre os processos de
produção cultural, entre outras coisas – e de diferentes campos etnográficos.
Todos os autores têm em comum o interesse pelas transformações que se dão
não apenas entre os povos indígenas, mas, sobretudo, nas concepções sobre o
que vêm a ser os conhecimentos e cultura indígenas, compreendendo-os como
permanentemente móveis ou transformacionais, resultados de contextos e arran-
jos históricos transitórios.
Na primeira parte, Conhecimento, estão reunidos os artigos de Edilene Coffaci
de Lima, de Diego Soares, e o de José Pimenta e Guilherme Moura Fagundes,
em co-autoria. Dois deles tratam de grupos indígenas localizados no Acre, os
Katukina e os Ashaninka, respectivamente de filiação lingüística pano e aru-
ak. No primeiro artigo, Edilene Coffaci de Lima trata das transformações em
curso em torno do kampô, a secreção de uma perereca do mesmo nome, tradi-
cionalmente usada por homens e mulheres katukina como estimulante cine-
gético e revigorante, e que, na virada deste século, ganhou popularidade nos
meios urbanos do país, especialmente entre ayahuasqueiros e consumidores de
terapias alternativas e new age. Interessam à autora justamente as repercussões
dessa popularização do kampô e os efeitos que produz na concepção que os pró-
prios Katukina fazem dele, convertendo-o em emblema de sua cultura, em mo-
vimentos não destituídos de contradições e conflitos. José Pimenta e Guilherme
Moura Fagundes discorrem sobre a querela em torno dos conhecimentos asha-
ninka sobre a palmeira murmuru, repassados a pesquisadores e transformados
em sabonete com grande aceitação no mercado. Os autores detalham o itinerário
da pesquisa sobre os conhecimentos ashaninka acerca do murmuru, os acordos
estabelecidos com os pesquisadores e sócios-proprietários da empresa Tawaya,
fabricante do sabonete, e os desentendimentos que deságuam na reivindicação
dos Ashaninka em torno do reconhecimento de sua contribuição na pesquisa –
o famoso acesso ao conhecimento tradicional – e na repartição dos benefícios
em um processo ainda não encerrado. O artigo de Diego Soares, dedica-se ao
funcionamento do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), ór-
gão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável justamente pela
regulamentação do acesso aos conhecimentos tradicionais, conforme estabeleci-
do a partir da Convenção da Diversidade Biológia (CDB). Diego Soares aborda
etnograficamente o funcionamento do CGEN, colocando em evidência como
se formulam as concepções sobre o que vem a ser “conhecimento tradicional”
entre técnicos do órgão, cientistas, empresários e representantes das populações
tradicionais que têm assento nas reuniões do Conselho. Entre outras cenas, o
autor apresenta os percursos sinuosos dos processos de autorização de pesquisas,
e das iniciativas de divulgação da legislação, da formatação dos documentos que
10
Livro Conhecimento e Cultura.indd 10 26/4/2011 12:20:42
Edilene Coffaci de Lima e Marcela Coelho de Souza
instruem os processos, das negociações que tem lugar nas variadas instâncias do
órgão sobre o que se define como “conhecimento” e o que o faz “tradicional”,
ou o que se considera “patrimônio genético”, mostrando como estas categorias,
ainda que dependentes de convenções que remetem à lógica do Estado, acabam
por designar uma multiplicidade de objetos científicos e culturais continuamen-
te redefinidos no bojo das traduções que fazem cientistas, empresários e povos
indígenas e tradicionais.
Cultura é o título da segunda parte, na qual estão reunidos os artigos de
Marcela Coelho de Souza, Antonio Roberto Guerreiro Junior e Paulo Roberto
Nunes Ferreira. O artigo de Marcela Coelho de Souza tem início com uma fala
de uma liderança kïsêdjê, que se apresenta como uma crítica da objetificação
da cultura: “eu só queria que parassem de desmatar a terra e poluir o rio.
Da nossa cultura a gente mesmo pode cuidar”. A autora irá mostrar como os
Kïsêdjê, quando demandam projetos de revitalização cultural, fazem isso me-
nos como um esforço de permanecer o mesmo, e mais como uma tentativa para
permanentemente se diferenciarem: dos brancos, de outros grupos indígenas
– e não devemos esquecer que se está na região do Parque do Xingu – mas so-
bretudo de si próprios. Com os Kïsêdjê, a autora nos convida a refletir sobre a
vida de um conceito constitutivo do próprio empreendimento antropológico:
cultura. No segundo artigo, de Antonio Roberto Guerreiro Junior, o contexto
etnográfico é ainda o (alto) Xingu, mas a partir dos Kalapalo e a elaboração
dos rituais funerários, os Quarup. Interessa ao autor a análise da política en-
redada no ritual. Nos últimos anos não faltam brancos proeminentes interes-
sados em realizar seus rituais funerários, seus Quarup, e tais demandas têm
sido ativamente cobiçada pelos chefes nativos. Para que possam ser atendidas,
uma complexa engrenagem sociológica é posta em funcionamento e afeta não
apenas a política interétnica– os Kalapalo e os brancos –, mas também a polí-
tica intertribal, altoxinguana, e a intra-aldeã, os Kalapalo entre si. Seja como
for, tais efeitos não são facilmente destacáveis uns dos outros, e o autor irá nos
mostrar que nem devem sê-los. Encerrando esta parte, temos o artigo de Paulo
Roberto Nunes Ferreira, sobre os processos em curso para tratar da educação
escolar entre os Kaxinawá, de língua pano, localizados no Acre. Se em seus
primeiros anos a escola kaxi foi pensada como um instrumento necessário aos
índios para administrarem suas contas nos seringais ou para organizarem suas
próprias cooperativas, é atualmente vista como um meio indispensável para se
viver e atualizar a tradição. De uma perspectiva voltada ao exterior, a escola é
interiorizada – ou familiarizada, se preferirmos – pelos próprios agentes. Neste
percurso, os Kaxi assumem cada dia mais completamente a organização da
11
Livro Conhecimento e Cultura.indd 11 26/4/2011 12:20:42
Apresentação
escola, tornando-se, no Acre, os primeiros “indigenistas indígenas”, como irá
desenvolver o autor.
Na terceira e última parte, Transformação, estão reunidos os artigos de Laura
Pérez Gil, Nicole Soares Pinto, Eduardo Soares Nunes e Júlia Otero dos Santos.
O primeiro discute certos aspectos do xamanismo yaminawa (grupo pano do
Peru) enquanto participante de um sistema xamânico regional que emerge como
um “produto híbrido”, com aportes indígenas diversos mas também não-indí-
genas, condutor de um diálogo em que a disparidade das premissas não impede
o estabelecimento de “conexões inteligíveis”. Se diálogos como estes dependem
da capacidade de acesso a pontos de vista outros – da disposição dos Yaminawa
em engajar-se com lógicas estranhas à sua, aceitando possibilidades imprevistas
em seus próprios repertórios, levando diálogos a suas “últimas consequências”,
para além da tradução e da ressignificação, até o “aceitar para si as possibilidades
abertas pelo outro” (Pérez Gil, neste volume) –, é também dessa possibilidade
que trata o artigo de Nicole Soares Pinto, a propósito da análise da embriaguez
alcançada por meio do consumo da chicha entre os Wajuru (Tupi-Tupari) de
Rondônia. A embriaguez, mostra-nos a autora, operaria como um meio de aces-
so a outras perspectivas, um mecanismo de passagem a outros códigos comuni-
cativos sem que se borre a diferença entre esses, sem que se perca de vista, como
diz ela, o próprio fato da passagem. Que o riso seja o índice dessa passagem, do
vislumbre de um “lá” onde se vê nos parentes animais, nos animais parentes,
nos consanguíneos afins e vice-versa, não exclui, e pelo contrário exige mesmo,
que este riso deva entretanto também antecipar o retorno ao “aqui” – como em
sua fácil conversão no seu oposto, a tristeza e o choro pelos parentes mortos –
sob o risco de que a transformação que opera se torne irreversível, e a passagem
regrida em uma descontinuidade absoluta.
O capítulo de Eduardo Soares Nunes, em um contexto bastante diferente – o
dos Karajá de Buridina, aldeia incrustada na cidade de Aruanã (GO) –, carac-
terizado por uma longa e profunda experimentação indígena dos modos (d)e
conhecimento dos brancos, nos devolve a questão da reversibilidade e irreversi-
bilidade dessas transformações sob uma outra forma, a saber, a que ela toma no
próprio corpo dos sujeitos. Ou melhor, a que ela toma nos corpos duplos que eles
constituem como sítio de um “virar branco” (por meio inclusive de casamentos
com brancos) que não é vivido como perda (“cultural”), mas uma trajetória de
conhecimento enquanto experiência corporal, trajetória que define a própria his-
tória desta aldeia.
Por fim, se essas contribuições mantêm os olhos bem firmes, como dizía-
mos mais atrás ser necessário, naqueles que conhecem (em oposição a privile-
giar os seus “conhecimentos”), o capítulo de Júlia Otero dos Santos dedica-se à
12
Livro Conhecimento e Cultura.indd 12 26/4/2011 12:20:42
Edilene Coffaci de Lima e Marcela Coelho de Souza
próxima volta do parafuso. Tendo como objeto o pedido de registro do uso ritual
da Ayahuasca como patrimônio cultural do Brasil (feito por alguns dos grupos
religiosos que a utilizam), a autora mostra como processos desse tipo necessa-
riamente acabam por deslocar os modos de fazer e conhecer dos sujeitos – foco
explicitado da política pública em questão (o programa do patrimônio imaterial)
– em função de um “objeto” que passa a ocupar o centro da cena: no caso, a bebe-
ragem. A estratégia da autora diante disso é desconfiar da ideia de que se trataria
de uma mesma coisa a cada vez significada diferentemente, sugerindo em lugar
disso pensá-la com um, ou talvez vários, agentes não-humanos, os quais defi-
nem, a cada vez, a outros e a si próprios por meio de suas variadas associações.
Referências
BARTH, Fredrik. 2002. “An anthropology of knowledge”. Current Anthropology 43(1):1-18.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2009. “Cultura” e cultura: conhecimentos tradi-
cionais e direitos intelectuais. In: Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo:
Cosac & Naify. pp. 311-373.
CROOK, Tony. 2007. “Figures twice seen: Riles, the modern knower and forms of
knowledge”. In M. Harris (Ed.), Ways of knowing. New approaches in the an-
thropology of experience and learning. New York/Oxford: Berghahn Books. pp.
245-265.
HIRSCH, Eric & STRATHERN, Marilyn. 2004. Transactions and creations: property de-
bates and the stimulus of Melanesia. New York/Oxford: Berghahn Books.
13
Livro Conhecimento e Cultura.indd 13 26/4/2011 12:20:42
Livro Conhecimento e Cultura.indd 14 26/4/2011 12:20:42
I
CONHECIMENTO
Livro Conhecimento e Cultura.indd 15 26/4/2011 12:20:43
Livro Conhecimento e Cultura.indd 16 26/4/2011 12:20:43
Kampu, kampô, kambô:
o uso do sapo-verde entre os Katukina
Edilene Coffaci de Lima
Os Katukina, falantes de uma língua pano, chamam de kampô o anfíbio
Phyllomedusa bicolor e outras espécies do gênero Phyllomedusa, da qual usam a
secreção principalmente como um estimulante cinegético, capaz de aguçar os
sentidos do caçador e de livrá-lo da desconfortável condição de panema (yupa),
uma pessoa azarada na caça. Com igual finalidade, vários outros grupos indí-
genas moradores do sudoeste amazônico, a maior parte deles da mesma família
linguística, fazem uso do kampô, que acabou se difundindo entre os seringueiros
que se estabeleceram na região a partir do final do século XIX, e entre os quais as
aplicações do kampô são conhecidas como “injeções de sapo”, “vacina do sapo”
ou como kambô, na forma como os brancos passaram recentemente a designar
essa rã. Para terem mais sorte na caça, índios e seringueiros usam também apli-
car a secreção do kampô em seus cachorros.
Neste artigo pretendo oferecer uma descrição do uso do kampô pelos Katukina,
chamando a atenção para as práticas tradicionais que têm constituídas, e, ao mes-
mo tempo, refletir sobre as implicações da difusão recente de seu uso entre popu-
lações não índias, especialmente no meio urbano. Ao final concluo que, embora
de forma não totalmente desprovida de prejuízos, é possível dizer que a demanda
urbana pelo kampô acabou por incrementar a demanda dos próprios Katukina,
presentemente preocupados em firmarem-se regional e nacionalmente como tra-
dicionais usuários e conhecedores do uso da secreção do sapo-verde.
Antes de continuar é preciso dizer que as informações sobre o kampô aqui
apresentadas foram recolhidas entre os Katukina1, fazem parte do conhecimento
tradicional associado do grupo e, por isso mesmo, não podem ser utilizadas sem
a prévia anuência do mesmo.
17
Livro Conhecimento e Cultura.indd 17 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
***
Os Katukina somam hoje uma população de aproximadamente 600 pessoas
distribuídas em duas Terras Indígenas, no rio Gregório e no rio Campinas. A TI
do rio Gregório foi a primeira a ser demarcada no Acre e, recentemente amplia-
da, conta com uma extensão de quase 188 mil hectares, que os Katukina dividem
com os Yawanawa, grupo indígena que também fala uma língua pano e com o
qual têm estabelecida uma longa história de contato e parentesco, dado que uma
parte significativa da população yawanawa atual é aparentada a uma mulher ka-
tukina que se casou com um antigo chefe político do grupo.
Atualmente mora na TI do rio Gregório a menor parte da população ka-
tukina, não mais que 70 pessoas. Todas as demais estão estabelecidas na TI do
rio Campinas, com 32.624 hectares, que se localiza a cerca de 60 quilômetros de
Cruzeiro do Sul – a segunda maior cidade do Acre. A TI do rio Campinas é cor-
tada no sentido leste-oeste pela BR-364, que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco.
Na TI do rio Campinas, os Katukina se distribuem em cinco aldeias (Campinas,
Martins, Samaúma, Masheya e Bananeira) localizadas às margens da rodovia.
Os Katukina, nos primeiros anos da década de 1970, participaram das obras
de abertura da rodovia e, após sua conclusão, estabeleceram-se no local onde a
maior parte de sua população reside atualmente. De 1972, quando se concluiu
a obra de abertura da BR-364, até 2000, todo o tráfego de veículos era feito na
estrada terra e, por essa razão, dependia das condições climáticas. O tráfego só
era possível nos meses de “verão” – o período de estiagem, que vai de junho a
outubro. Nos demais meses do ano, a rodovia era intransitável devido às chuvas
que quase diariamente caem na região. A sazonalidade do funcionamento da
rodovia garantiu por vários anos certa redução dos impactos da estrada na vida
dos Katukina e das demais etnias indígenas localizadas na região.
Durante quase três décadas a rodovia funcionou sazonalmente, dadas as
interrupções anuais do tráfego de veículos logo que se iniciavam as chuvas.
Contudo, no final da década de 1990, este quadro foi completamente alterado,
pois iniciaram as obras de asfaltamento da rodovia. Em 1998, teve início o as-
faltamento da rodovia nas proximidades de Cruzeiro do Sul. Em 2002 e 2003, as
obras de pavimentação avançaram sobre o território katukina e se estenderam
até o riozinho da Liberdade. A cada ano as obras de asfaltamento que garan-
tirão a ligação da capital do Acre ao vale do Juruá avançam algumas dezenas
de quilômetros. A pavimentação de toda a extensão que separa Cruzeiro do
Sul de Rio Branco parece que demandará ainda vários anos. Seja como for, o
trajeto que separa Cruzeiro do Sul da capital tem agora vários quilômetros as-
faltados, ainda que descontinuamente, o que fez aumentar em muito o tráfego
18
Livro Conhecimento e Cultura.indd 18 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
de veículos nos meses de “verão”. Além disso, a pavimentação da rodovia de
Cruzeiro do Sul até o riozinho da Liberdade faz com que, ao menos neste tre-
cho, o tráfego de veículos seja contínuo durante todo o ano, mesmo que de
forma reduzida. Os impactos sociais e ambientais do início da pavimentação
da rodovia já são evidentes na região. Entre outras coisas que não cabem ser
descritas detalhadamente aqui, o aumento do número de veículos transitando
na rodovia levou muitas pessoas estranhas para dentro da Terra Indígena, afu-
gentou os animais de caça e comprometeu significativamente a dieta alimentar
dos Katukina. O impacto sobre o estoque faunístico da TI do rio Campinas terá
repercussões, que abordarei no final, também no uso que os Katukina fazem da
secreção do kampô.
***
Como veremos adiante, apenas nos últimos anos o kampô ganhou alguma
notoriedade. Contudo, em 1925, o padre espiritano Constantin Tastevin havia
registrado seu uso entre populações indígenas do alto Juruá:
O exército de batráquios é incontável. O mais digno de ser notado é
o campon dos Kachinaua. [...] Quando um indígena fica doente, se
torna magro, pálido e inchado; quando ele tem azar na caça é porque
ele tem no corpo um mau princípio que é preciso expulsar. De madru-
gada, antes da aurora, estando ainda de jejum, no doente e no azarado
produzem-se pequenas cicatrizes no braço ou no ventre com a ponta
de um tição vermelho, depois se vacinam com o “leite” de sapo, como
dizem. Logo são tomados de náuseas violentas e de diarréia; o mau
princípio deixa o seu corpo por todas as saídas: o doente volta a ser
grande e gordo e recobra as suas cores, o azarado encontra mais caça
do que pode trazer de volta; nenhum animal escapa da sua vista aguda,
o seu ouvido percebe os menores barulhos, e a sua arma não erra o alvo.
A vívida descrição do padre francês, elaborada a partir de aplicações a que
assistiu entre os índios Kulina, adianta que a secreção do kampô é usada, como
dito acima, primeiramente como um estimulante cinegético.
Voltando aos Katukina, a quantidade de aplicações que costumam fazer va-
ria bastante não só entre eles próprios, como entre eles e os demais grupos indí-
genas da região. Dos registros existentes sobre o uso do kampô, não há dúvidas
de que os Katukina são hoje, de fato, os seus maiores usuários (Souza 2002). Seus
vizinhos no rio Gregório, os Yawanawá, parecem ser os mais próximos de igualá-
-los na utilização da secreção (Pérez Gil 1999). Outros grupos indígenas, como
19
Livro Conhecimento e Cultura.indd 19 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
os Kaxinawá (Aquino e Iglesias 1994) e Marubo (Montagner e Melatti 1985),
fazem um uso bem mais moderado do kampô.
Os Katukina reconhecem a existência de pelo menos quatro espécies de
kampô, mas encontram com mais facilidade, e por isso mesmo fazem uso mais
frequente daquela que chamam apenas de kampô ou de awa kampô, que é a
Phyllomedusa bicolor. Coletar o kampô não envolve quase nenhuma dificuldade,
pois a espécie é relativamente fácil de ser encontrada na beira dos igapós e des-
loca-se, se for adequado dizer assim, de modo suave e muito lentamente – como
se estivesse em câmera lenta. Assim, basta durante a madrugada, próximo do
amanhecer, orientar-se pelo som do kampô e pegá-lo. Para coletá-lo, os Katukina
não o tocam diretamente, mas recolhem-no quebrando o galho de alguma rama-
gem e aguardando que ele se segure nela – possivelmente fazem assim porque se
o tocarem, ele deve começar a expelir sua secreção.
Levado para casa, logo depois de capturado o kampô deve ser amarrado, para
que se proceda à retirada da secreção de sua pele. Os Katukina esticam o animal
e prendem-no, amarrando cada uma das patas em dois pedaços de pau posicio-
nados na vertical e paralelamente alinhados. Já amarrado, o kampô deve ser irri-
tado, o que se faz normalmente cuspindo sobre ele, para que comece a expelir a
sua secreção – claramente um recurso de defesa. Então, raspa-se a pele do animal
com uma pequena espátula de madeira.
Embora também não envolva qualquer dificuldade, a coleta da secreção do
kampô, deve ser feita com delicadeza, para não feri-lo. Esse cuidado tem que ser
tomado não só para preservar o espécime que poderá ser coletado outras vezes
para ter extraída sua secreção, mas também porque se acredita que algumas co-
bras – entre elas, a surucucu – se servem da secreção do kampô para produzir o
seu próprio veneno.2 Caso o kampô seja machucado durante a coleta da secreção,
a pessoa que o machucou passa a correr o risco de ser picada pelas cobras irrita-
das com o dano causado àquele que lhe oferece a “matéria-prima” para a produ-
ção de seu veneno. Encerrada a retirada da secreção3, o kampô é desamarrado e
solto na floresta.
A aplicação do kampô
Entre os Katukina, o uso em grandes quantidades do kampô é feito exclusi-
vamente pelos jovens; homens mais velhos, mulheres e crianças utilizam-no em
dosagens menores.
Independentemente da dosagem utilizada, as aplicações de kampô devem ser
feitas nas primeiras horas da manhã, ainda com o frescor da noite. Logo ao
acordar, após ter jejuado durante toda a noite, a pessoa que receberá a aplicação
20
Livro Conhecimento e Cultura.indd 20 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
deve ingerir uma grande quantidade de caiçuma (bebida de macaxeira, que os
Katukina consomem sem deixar fermentar) ou, na falta desta, de água. A apli-
cação é feita queimando superficialmente a pele com um pedaço de cipó titica
e, em seguida, depositando na queimadura (chamada de “ponto”) a secreção do
kampô – diluída em água ou saliva para desfazer a cristalização. Para eliminar
algum mal-estar físico ou indisposições difusas, as mulheres e homens velhos
aplicam na perna, na panturrilha, de dois a cinco “pontos”.
Diferentemente, se o objetivo é aguçar os sentidos para empreender uma
caçada, um rapaz pode chegar a receber mais de cem “pontos” de kampô – alguns
velhos dizem hoje que chegaram a receber trezentos “pontos” quando ainda
eram jovens –, que formam uma fileira que se inicia no pulso de um dos bra-
ços, percorre o peito até alcançar o umbigo, de onde segue, no lado contrário,
até alcançar a extremidade do outro braço. Mesmo que seja corrente a ideia de
que essa super-dosagem é a mais indicada para tornar um homem um exímio
caçador ou para retirar-lhe a panema (yupa), a prática evidentemente responde
a idiossincrasias pessoais. Há um homem que nunca experimentou kampô como
estimulante cinegético, o que quer dizer que o usou apenas em doses menores.
Ele também nunca caçou e supre sua família com peixes. Há outros homens
que fizeram a super-aplicação do kampô uma única vez, logo que iniciaram suas
atividades como caçador, ainda jovens. Depois disso, limitaram-se a receber as
dosagens menores. Por último, existe um grupo que de tempos em tempos recor-
re ao kampô para garantir uma performance mais vantajosa na caça, recebendo
entre 20 e 100 “pontos”. Nos intervalos entre as aplicações esses homens rece-
bem também as dosagens menores. Os homens que periodicamente recebem
aplicações de kampô exibem em seus braços e peito pequenos círculos esbranqui-
çados, simetricamente alinhados, marcas evidentes das queimaduras feitas para
aplicarem a secreção do sapo-verde.
A resistência de alguns homens à aplicação da super-dosagem do kampô de-
ve-se creditar, sobretudo, aos efeitos que têm de suportar: por volta do décimo
“ponto” a boca fica amarga, uma sensação de calor invade o corpo e os olhos e a
boca começam a inchar. Para suspender os efeitos indesejáveis que as aplicações
proporcionam, o mais indicado é banhar-se.
Cheguei a ver certa vez mais de noventa aplicações no peito e nos braços de
um homem, mas ele mesmo admitiu que seria possível dobrar este número se
suportasse fazer duas fileiras de aplicações. Ele só havia feito uma – o que, aos
olhos de alguns, já era um exagero.
Sempre que se faz um grande número de “pontos”, os homens desmaiam
por volta do vigésimo e os demais são feitos enquanto eles estão inconscien-
tes. São seus familiares e o próprio aplicador que, um pouco mais tarde, os
21
Livro Conhecimento e Cultura.indd 21 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
acodem, levando-os para banharem-se no igarapé mais próximo, suspenden-
do assim os efeitos tóxicos da secreção do kampô. Contam os mais velhos que
antigamente os homens faziam as queimaduras em seus braços e peitos e ti-
nham o kampô esfregado diretamente sobre elas.4 O efeito era imediato e eles
tombavam no chão inconscientes. Acordavam já dentro do igarapé, socorrido
por algum parente.
O efeito desagradável mais comum promovido pela entrada da secreção do
kampô na corrente sanguínea é o vômito. Mesmo a aplicação de poucos “pontos”
induz os vômitos, que servem, dizem os Katukina, para eliminar as impurezas
que se acumulam no corpo. Justamente para tentar conter ou amenizar os efeitos
colaterais é que a aplicação deve ser feita ao alvorecer. Com o sol alto, segundo
vários Katukina experimentados no uso da secreção, os efeitos indesejáveis da
aplicação são potencializados.
Fora do contexto da caça, com maior ou menor frequência, homens e mu-
lheres fazem uso do kampô. Desde muito cedo, entre o primeiro e o segundo
ano de vida uma criança começa a receber o kampô, quase sempre por inicia-
tiva dos avós. Nesta idade, a criança recebe apenas um ou dois “pontos”. A
partir, aproximadamente, dos seis anos de idade as crianças podem receber
de dois a cinco “pontos” nos braços ou nas pernas. Este uso moderado do
kampô é feito para aliviar indisposições e “fraquezas” diversas, que tiram o
ânimo das pessoas para o desempenho das atividades mais simples, e que os
Katukina conceituam como tikish, palavra traduzida como “preguiça”. Ainda
que se queira debelar o incômodo físico que tais indisposições causam, o uso
do kampô é determinado muito mais pela avaliação moral que se faz do desâ-
nimo que proporcionam.
A preguiça tem para os Katukina uma significação extremamente negativa.
Afinal de contas, o comportamento preguiçoso é, antes de tudo, antissocial. Ao
se deixar dominar pela prostração, importa menos o fato de o preguiçoso não
cumprir as tarefas que lhe seriam cabíveis do que o fato de que ele não se engajou
na teia social que une as pessoas residentes numa mesma localidade. A avalia-
ção sumamente negativa que os Katukina fazem da preguiça foi já identificada
em outros grupos de língua pano. Como Erikson (1996) bem observou entre os
Matis, “a falta de zelo característica do estado de chekeshek (preguiça) é perce-
bida como uma ausência de reação ao estímulo social, uma resposta negativa
ao imperativo social, antes que como um torpor sui generis”. Tanto mais válida
essa afirmação se considerarmos que, entre os Katukina, homens e mulheres
aplicam o kampô como antídoto antipreguiça, em distintas partes do corpo: os
homens aplicam-no nos braços e tronco e as mulheres, nas pernas. A derrubada
de grandes árvores para o preparo do roçado exige braços fortes e a rotina quase
22
Livro Conhecimento e Cultura.indd 22 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
diária da colheita e, sobretudo, do transporte da macaxeira (às vezes, também
dos filhos) requer força nas pernas.
Os aplicadores de kampô
Como estimulante cinegético ou como antídoto antipreguiça, o kampô deve
ser aplicado por uma segunda pessoa, por alguém que não padeça do mal que
se quer debelar. Assim, não é qualquer homem que pode aplicar o kampô num
caçador empanemado, tem de ser um caçador bem-sucedido. Como se o caçador
trouxesse inscrito em seu próprio corpo a sua condição, a sua boa sorte, e pudesse
transferi-la para outros. Ni’i, filho de um rezador, sempre procurou Kene para “to-
mar kampô”, preterindo o seu próprio pai, um rezador experiente que, comenta-
-se, jamais tocou numa espingarda e, portanto, jamais matou qualquer bicho. Do
mesmo modo, uma mulher tida como trabalhadeira – que zela por sua casa e pelo
terreiro que a cerca, cuida bem dos filhos e sempre tem caiçuma para servir aos
visitantes, entre outras coisas – é quem deverá fazer a aplicação do emético numa
jovem “preguiçosa”. Existe a possibilidade de autoaplicação, mas é reservada ape-
nas às pessoas mais velhas. Para os Katukina, o kampô está situado em um sistema
maior, que vincula a eficácia da substância às qualidades morais do seu aplicador.
O elo que se estabelece entre aquele que aplica a substância do kampô, o
aplicador, e aquele que a recebe deve ser duradouro e o desejável é que seja
definitivo. Assim, de uma perspectiva masculina, um jovem rapaz quando vai
receber, como caçador, sua primeira aplicação de kampô deve escolher quem será
seu aplicador – como indicado acima, um homem que se destaca nesta atividade,
quase sempre de uma geração acima da sua. Caso a aplicação lhe traga boa sorte,
voltará a procurar o mesmo aplicador outras vezes, possivelmente por toda a
vida. Ainda que não haja uma formalização desta relação – entre aquele que apli-
ca o kampô e aquele que recebe a aplicação –, muitas vezes os homens me falaram
dela como se fosse definitiva. Ao contrário, caso a aplicação não traga a boa sorte
esperada, o jovem caçador continuará tentando encontrar o seu aplicador ideal,
aquele capaz de lhe transferir todas as qualidades cobiçadas para a prática da
caça. A escolha do aplicador ideal faz-se pelo teste empírico: o sucesso na caçada
logo após a aplicação é que vai indicar o futuro retorno ao mesmo aplicador.
Não é raro que um jovem caçador tenha mais de um aplicador de kampô a quem
recorrer de tempos em tempos.
Não há exatamente especialistas na aplicação da secreção do kampô entre os
Katukina. Do que foi exposto acima é evidente que os caçadores mais bem-su-
cedidos são os mais requisitados como aplicadores e acabam, de fato, sendo re-
conhecidos também como tal. De todo modo, o conhecimento acerca do kampô
23
Livro Conhecimento e Cultura.indd 23 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
(seus hábitos, comportamento, a técnica de coleta da secreção, da aplicação etc.)
é público, não se concentra nas mãos de uns poucos.
De certa forma, é possível dizer que os bons caçadores do passado são os apli-
cadores de kampô do presente e, por sua vez, os atuais caçadores serão no futuro
os mais requisitados aplicadores de kampô. Dos atuais aplicadores de kampô que
conheci, todos foram unânimes em apontar os seus próprios aplicadores como as
pessoas que lhes transmitiram os conhecimentos necessários para aprenderem a
fazer a aplicação em outras pessoas.
O Kampô hoje
O pouco segredo que se faz do kampô provavelmente explica a difusão de
seu uso entre os não-índios – entre os seringueiros ao longo do século passa-
do e entre a população urbana, nacionalmente, no início deste século.5 Nos
últimos anos, o uso do kampô ganhou as páginas de vários jornais e revistas
de circulação regional e nacional – sendo que outrora as informações sobre a
Phyllomedusa sp. estiveram restritas às publicações acadêmicas. Em 2001, uma
reportagem publicada numa revista editada pelo governo do Acre, a Outras
Palavras, detalhadamente descrevia seu uso entre os índios, particularmen-
te entre os Katukina, e seringueiros (Lopes 2001). Na sequência, em 2002,
o uso do kampô foi divulgado em um programa de reportagens de uma gran-
de emissora de televisão nacional. Em 2003, um renomado jornalista carioca
(Ventura 2003) publicou um livro sobre Chico Mendes (e sobre o Acre, 15
anos após a morte do líder-seringueiro) em que um dos capítulos sugestiva-
mente intitulava-se “O quente agora é o kambô”, no qual descrevia o uso da
secreção do sapo-verde na cidade de Rio Branco. Pode-se dizer que aquele foi
mesmo o ano do kampô, pois pelo menos treze matérias sobre ele foram publi-
cadas em jornais de circulação diária na capital do Acre.6 Em abril de 2004, o
uso crescente e indiscriminado do kampô para diversas finalidades, tido como
uma substância particularmente eficaz na cura de enfermidades para as quais
a medicina ocidental não tem tido sucesso em tratar, levou a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibir a propaganda do kampô, que vinha
sendo feita principalmente a partir de um domínio eletrônico registrado na
internet. Em 2004 o kampô continuou a ser notícia nos jornais acreanos e em
outubro do mesmo ano foi a vez de uma revista de circulação nacional (Bezerra
2004) estampar em sua capa a foto de um kampô nas mãos de um índio katuki-
na. A matéria de capa trazia uma extensa descrição do uso tradicional e dos
efeitos da aplicação do kampô entre os índios, e denunciava a biopirataria na
Amazônia. Em abril de 2005, o kampô foi notícia em um dos maiores jornais
24
Livro Conhecimento e Cultura.indd 24 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
do país (Lages 2005), mas o foco da matéria agora era outro: tratou-se do uso
crescente da secreção do sapo-verde em clínicas de terapias alternativas – fre-
quentadas, segundo a matéria, principalmente por estudantes, profissionais
liberais e artistas – da capital paulistana.
Com bastante frequência os Katukina apareciam como protagonistas destas
reportagens. Da Amazônia à maior metrópole brasileira, o kampô, junto com os
Katukina, ganhou fama nos primeiros anos do século XXI.
Antes disso, desde a década de 1940, um farmacologista italiano, Vittorio
Erspamer, liderava uma equipe de pesquisadores dedicados ao estudo de peles de
anfíbios e dos peptídeos que nelas se encontram. Em 1985, Erspamer publicou
um estudo sobre as peles das espécies de Phyllomedusa e concluiu que elas eram
abundantes em peptídeos, especialmente a pele da Phyllomedusa bicolor apresen-
tava uma elevada concentração de peptídeos ativos. A partir de 1989, multipli-
cam-se os estudos sobre esses peptídeos e aparecem as primeiras patentes.7
Voltando aos Katukina, em abril de 2003 – ano em que se publicaram pelo
menos 13 matérias sobre o kampô em jornais acreanos – os Katukina encaminha-
ram à então Ministra Marina Silva uma carta solicitando que o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) coordenasse um estudo sobre o sapo-verde. A ministra
acolheu a solicitação e teve início no MMA a elaboração de um projeto de pes-
quisa envolvendo antropólogos, biólogos moleculares, médicos e herpetólogos,
entre outros profissionais. A expectativa, de índios e pesquisadores, era que tais
estudos pudessem contribuir para regulamentar o uso do kampô por não-índios
e, ao mesmo tempo, assegurar benefícios econômicos para seus usuários tradi-
cionais.8 Dado que outras populações indígenas também usam o kampô, o proje-
to demandado pelos Katukina ao MMA foi planejado para ser desenvolvido en-
tre eles próprios e entre os Yawanawá e Kaxinawá, abrangendo paulatinamente
outros detentores tradicionais dos conhecimentos sobre o sapo-verde.
***
Como não poderia deixar de ser, tamanha divulgação das propriedades, be-
nefícios e vantagens, reais ou imaginárias, das aplicações do kampô entre os não-
-índios ricocheteou entre os Katukina. Agora havia brancos, muitos deles, inte-
ressados em experimentar, usar e comercializar o kampô.
No cenário regional, repercussões sociais e políticas desse protagonismo dos
Katukina no que diz respeito ao kampô aparecem e afetam as relações interét-
nicas e também as relações dos Katukina com membros de agências governa-
mentais e não governamentais. Em Rio Branco, em janeiro de 2005, não foram
25
Livro Conhecimento e Cultura.indd 25 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
poucas as vezes que ouvi, de primeira ou segunda mão, que lideranças de outros
grupos indígenas estariam contrariadas com os Katukina pelo fato de estarem se
firmando, na região e nacionalmente, como os legítimos conhecedores do kampô.
Havia, inclusive, a desconfiança (e a previsível insatisfação) de que o MMA de-
senvolveria o projeto exclusivamente entre eles. Talvez não seja excessivo dizer
que furtivamente havia uma crítica ao “monopólio” do kampô pelos Katukina.
“Monopólio”, diga-se de passagem, que os Katukina não exercem, visto que o
primeiro a aplicar kampô em paulistanos foi um seringueiro, Francisco Gomes,
que viveu entre os Katukina na década de 1960, entre os quais aprendeu a fazer
uso da secreção da rã. Hoje um de seus filhos faz aplicações em Brasília, mas
diz ter clientes em várias capitais brasileiras.9 No mais, além dos Katukina, há
índios de outras etnias, também oriundas do Acre – como os Kaxinawá –, apli-
cando kampô em moradores da cidade de São Paulo.
O suposto monopólio katukina é ainda menos exercido no Acre, onde a co-
mercialização da aplicação de kampô tem envolvido menos os índios – que local-
mente parecem não ter tanto espaço para comercializar a aplicação da secreção –
e muito mais os brancos. Além disso, até onde pude saber, os adeptos de religiões
ayahuasqueiras, como é o caso do Santo Daime e da União do Vegetal, têm feito
amplo uso e divulgação do kampô – dentro e fora do Acre.
***
De volta às aldeias, uma das primeiras repercussões que a fama do kampô
entre os não-índios acabou promovendo foi justamente em torno da existência
de especialistas katukina na aplicação da secreção. Inicialmente alguns jovens
foram requisitados para fazerem aplicações em não-índios que os visitavam nas
aldeias da TI do rio Campinas ou na cidade de Cruzeiro do Sul, da qual é bastan-
te próxima, e mesmo em lugares mais distantes, como em São Paulo. A concep-
ção katukina de que a secreção do kampô veicula não apenas suas propriedades
bioquímicas per se, mas também as qualidades morais daquele que o aplica, não
é difícil imaginar, escapou completamente aos usuários não-índios e facilitou
a difusão da aplicação. Afinal, qualquer katukina, independentemente de seus
atributos morais, tornou-se então habilitado a aplicá-lo, pois passou a ser re-
quisitado para tanto – ao menos entre os não-índios, pois entre os Katukina o
regime de aplicação tradicional permanece em vigor.
Ao mesmo tempo, a demanda urbana, sobretudo aquela vinda dos grandes
centros, pela secreção do sapo verde aproximou o kampô do xamanismo. Uma
tentativa, feita em 2003, de levar um velho rezador10 katukina para São Paulo,
para aplicar kampô em clientes de uma clínica de terapias alternativas, fracassou,
26
Livro Conhecimento e Cultura.indd 26 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
mas dá uma ideia das transformações que o uso do kampô por não-índios aca-
bou promovendo. Em março de 2005, um katukina, filho do rezador mencio-
nado acima, apresentou uma palestra sobre o kampô no I Encontro Brasileiro
de Xamanismo, realizado na cidade de São Paulo. No mês de abril, proferiu a
mesma palestra em pelo menos quatro clínicas de terapias alternativas na capital
paulistana e também na capital mineira. Após as palestras eram feitas aplicações
nos interessados em conhecer o kampô. No material de divulgação das aplica-
ções de kampô em São Paulo, consta que a secreção do sapo-verde atua “sobre a
intuição, os sonhos, a terceira visão, o inconsciente e os bloqueios que impedem
o fluxo de energia vital”. O vocabulário usado sugere claramente que o kampô
passa por um processo de “xamanização” no meio urbano.
Entre os Katukina, ao contrário do que ocorre entre outros grupos de língua
pano que também usam a secreção do sapo-verde, como é o caso dos Yaminawa11,
os especialistas xamânicos não são mais habilitados do que outras pessoas a apli-
carem o kampô. Se eventualmente o aplicam, fazem-no muito mais por seus atri-
butos morais, como foi exposto acima, do que por quaisquer credenciais xamâni-
cas que ostentem. O exemplo das transformações recentes no uso da secreção da
Phyllomedusa fica ainda mais ilustrativo quando se sabe que o rezador que iria a
São Paulo fazer as aplicações é o mesmo homem, sobre o qual escrevi acima, que
nunca tomou kampô e, portanto, nunca frequentou a floresta em busca de caça.
Voluntária ou involuntariamente a valorização estrangeira do kampô acabou
promovendo alguns jovens katukina à condição de especialistas na aplicação da
secreção e xamanizando-a. Essas transformações recentes causam certa estra-
nheza aos Katukina, pois, em alguma medida, subvertem a forma tradicional de
aplicação. Primeiramente, porque o que chancela um homem a ser um aplicador
de kampô é seu desempenho como caçador, não como mero manipulador da se-
creção do sapo-verde. Igualmente, o que chancela uma mulher como aplicadora
é seu bom desempenho nas atividades que são próprias de seu gênero. A eleva-
ção de alguns rapazes ao posto de “especialistas em kampô” entre os brancos cria
zonas de atritos entre os próprios katukina, pois o kampô passou a ter “valor de
mercado”. Em segundo lugar, ainda da perspectiva nativa, causa estranheza que
entre os brancos as aplicações de kampô estejam sendo feitas sem o devido jejum
noturno e a qualquer hora. Em poucas palavras, de forma distanciada da prática
que tem culturalmente constituída.
À parte as incongruências e os descompassos entre a forma nativa e a forma
neoxamânica de uso da secreção do kampô, a demanda urbana do kampô tem en-
tre os Katukina outras repercussões, possivelmente tão surpreendentes quanto
as já descritas.
27
Livro Conhecimento e Cultura.indd 27 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
Uma delas é que o uso do kampô, nos últimos anos, aumentou muitas vezes
não só entre os brancos, mas entre os próprios Katukina. Em minhas últimas
permanências em campo, muitas pessoas, jovens e adultos, exibiam em seus bra-
ços cicatrizes recentes das aplicações. Não que, em anos anteriores, o uso do
kampô estivesse em decadência, mas era feito com mais discrição e com maior
intervalo entre as aplicações. De certa forma, parece-me bastante possível que
a cobiça dos brancos pelo kampô, à parte os problemas político-econômicos que
encerra, elevou a autoestima dos Katukina. Agora eles exibem em seus corpos
as queimaduras, nas quais foi depositada a secreção do kampô, como quem exibe
parte de seu próprio conhecimento. A euforia chegou a ponto de um rapaz de
aproximadamente 35 anos, que nunca havia tomado o kampô (o único que co-
nheci), criar coragem e receber algumas aplicações do emético, apesar de seus
fortes efeitos colaterais. O rapaz foi o único que conheci que nunca caçou, e nem
pretende iniciar-se agora nesta atividade. Ele dispôs-se a receber o kampô para
experimentar o bem-estar que as pessoas relatam após a aplicação e que tem
tanto atraído os brancos. A curiosidade dos brancos acabou por despertar sua
própria curiosidade.
Não resta dúvida de que os Katukina elevaram o kampô à condição de “sinal
diacrítico” – um marcador vistoso da identidade do grupo. Mais que uma subs-
tância capaz de livrar homens e mulheres de condições negativas, como o azar
na caça ou indisposições e “fraquezas” diversas (entendidas como “preguiça”), o
kampô tem facilitado aos Katukina a afirmação positiva de sua identidade.
O aumento do uso do kampô entre os Katukina nos últimos anos torna-se
ainda mais surpreendente quando se sabe que coincide com a diminuição da
atividade de caça. Se kampô e caça sempre andaram juntos, como agora tomam
rumos distintos? Os primeiros anos deste século, nos quais o kampô ganhou
notoriedade nacional, coincidem com o início das obras de asfaltamento da BR-
364 no trecho que separa Rio Branco de Cruzeiro do Sul. A rodovia atravessa
por dezoito quilômetros, de leste a oeste, a TI do rio Campinas. Como escrito no
início, dos grupos indígenas da região, os Katukina foram seguramente o mais
impactados pela pavimentação da rodovia, que teve início no final da década de
1990, e viu decrescer vertiginosamente seu estoque de caça. Hoje os homens se
dispõem a receber aplicações de kampô para aliviarem indisposições diversas,
para se sentirem vigorosos, não necessariamente para se embrenharem na mata
à procura de caça. Foi preciso certa revisão das formas tradicionais do uso do
kampô para adequá-las às condições atuais. As aplicações do kampô persistem,
porém em menor número – agora, mais condizentes com suas atuais condições
ecológicas. Qualquer pessoa admite que nem trezentas aplicações de kampô faria,
nos dias de hoje, um homem ser bem-sucedido em suas expedições de caça como
28
Livro Conhecimento e Cultura.indd 28 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
foram outros caçadores em tempos passados. O kampô outrora ajudava-os a ob-
ter uma percepção mais fina do ambiente: a ouvir o mínimo ruído de animais
deslocando-se na floresta, a farejá-los a distância, a enxergarem-nos camuflados
entre arbustos e ramagens, além de permitir uma visão precisa para não errarem
a mira de suas armas – como há 80 anos registrou o missionário francês citado
no início. Para que tal percepção tão acurada dos mínimos sinais deixados pelos
bichos possa, de fato, persistir é preciso antes que eles existam na mata, se eles
não existem, há pouco a fazer. A possibilidade de os Katukina continuarem a
fazer suas superaplicações de kampô para empreenderem caçadas só se dá na
Terra Indígena do rio Gregório, distante de centros urbanos e apenas indireta-
mente afetada pelas obras de pavimentação da rodovia que corta toda a TI do
rio Campinas.
Como espero ter deixado claro, a observação anterior não encerra, contudo,
qualquer nota pessimista sobre a persistência do uso do kampô entre os Katukina.
As atuais condições ecológicas fizeram decrescer o número de “pontos” que cada
pessoa se dispõe a receber de uma única vez, visto que os animais de caça ra-
reiam atualmente na TI do rio Campinas. De todo modo, a existência da TI do
rio Gregório atualmente assegura não só uma reserva de estoque faunístico, à
qual os Katukina de fato recorrem em suas visitas de verão aos parentes, mas
também, indiretamente, como uma reserva de uso do kampô como estimulante
cinegético. Além disso, não há qualquer dúvida de que a valorização do kampô
pelos brancos, moradores de cidades próximas ou de distantes centros urbanos,
acabou por incrementar o uso feito pelos próprios Katukina, para não falar de
outros grupos indígenas da região.12 O número de “pontos” feitos a cada apli-
cação decresceu, mas a frequência das aplicações aumentou. Agora os Katukina
têm as marcas das aplicações em seus corpos também como “provas” da antigui-
dade e da continuidade do uso que fazem da secreção do sapo-verde, que querem
cada vez mais como seu.
29
Livro Conhecimento e Cultura.indd 29 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
Notas
Apresenta-se aqui uma versão ligeiramente modificada do artigo publicado, sob o mesmo
título, na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, número 32, 2005, pp. 254-267. O título
pretende dar conta tanto das diferentes formas de falar e grafar o nome da Phyllomedusa sp. quanto
da diversidade dos usos que, contemporaneamente, se tem feito da sua secreção. A grafia como
kampu corresponde ao modo kaxinawá de designar as espécies de Phyllomedusa. Aos Katukina cor-
responde a grafia kampô, com acento tônico na última sílaba. Nenhum dos dois grupos tem ainda
padronizada sua grafia (um trabalho que os grupos indígenas começaram a fazer há pouco tempo
com o apoio da Comissão Pró-Índio do Acre), de modo que podem estar grafando diferentemente
um mesmo som. No que diz respeito à forma kambô, entendia-a, até pouco tempo atrás, como uma
tentativa de aportuguesamento da palavra katukina por parte dos brancos que agora estão usando
e divulgando a secreção do sapo-verde. Contudo, o antropólogo Terri Valle de Aquino (com. pes-
soal, 2005) ouviu de Raimundo Luiz (um velho yawanawá) que kambô seria a forma “antiga” como
os Katukina designavam as espécies de Phyllomedusa, a palavra inclusive consta de uma antiga
música katukina. Isso faz os fatos ainda mais interessantes, pois, neste caso, os brancos estariam
retomando a forma “arcaica” como os Katukina designavam o sapo-verde. Agradeço – evidente-
mente sem responsabilizá-los pelos erros e imperfeições – a Bia Labate e Terri Valle de Aquino a
leitura de uma versão anterior e a disponibilização de informações.
1
Iniciei minha pesquisa com os Katukina, das Terras Indígenas do rio Campinas e do rio
Gregório, no Acre, em 1991 e, desde então, passei diversas temporadas em campo.
2
Uma evidência deste consórcio entre o kampô e as cobras peçonhentas seria o fato de que,
ao contrário do que fazem com outros anfíbios, as cobras cospem o kampô, ao invés de engoli-lo.
3
Dada a fragilidade da legislação brasileira no que se refere à proteção dos conhecimentos
tradicionais – como analisam Azevedo e Moreira (2005) –, optei por omitir detalhes técnicos da
coleta da secreção do kampô. O que foi aqui registrado está amplamente difundido em outras
publicações.
4
Os Katukina mencionam ainda duas outras formas de uso do kampô. Uma delas incluía as-
pirar a secreção cristalizada. Trituravam-na e aspiravam, como se fosse rapé –, mas sem misturá-la
com tabaco. Os Katukina podiam também ingeri-la. Neste caso, o kampô era colocado dentro de
um recipiente com água e agitado. Ele expelia sua secreção dentro d’água. Então era retirado dali e
a secreção diluída em água era bebida. Atualmente, as duas formas de uso do kampô, que atendem
exclusivamente a fins cinegéticos, foram abandonadas. Velhos katukina ainda vivos dizem que
chegaram a cheirar a secreção do kampô, mas não a ingeriram. Esta última forma teria entrado em
decadência há mais tempo. Os Yawanawá também usavam cheirar e beber da secreção do kampô,
conforme Pérez Gil (1999: 93-4).
5
Para maiores informações sobre o início da difusão do uso do kampô em grandes centros
urbanos, ver Lopes (2000) e Lima e Labate (2008).
6
Agradeço ao antropólogo Marcelo Piedrafita Iglesias a gentileza de ter me cedido seu arqui-
vo sobre a presença do kampô na imprensa.
7
Este parágrafo resume de modo bastante breve os estudos farmacológicos feitos sobre as
propriedades das peles das espécies do gênero Phyllomedusa e reproduz as informações contidas
em Carneiro da Cunha (2005). Uma versão mais detalhada da história das pesquisas bioquímicas
sobre a Phyllomedusa bicolor pode ser encontrada em outro artigo da mesma autora, ver Carneiro
da Cunha (2009).
8
Faço referência aqui ao Projeto Kampô: integrando o uso tradicional da biodiversidade à pesquisa
científica e ao desenvolvimento tecnológico, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente atendendo
à demanda de proteção de seus conhecimentos sobre a utilização do kampô encaminhada pelos
Katukina. A realização do referido projeto interrompeu-se entre 2007 e 2008, em virtude, entre
outras coisas, da falta de acordo com os cientistas. Sobre as repercussões do Projeto Kampô entre
os Katukina ver Martins (2006) e Lima (2009).
30
Livro Conhecimento e Cultura.indd 30 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
Conforme consta na matéria intitulada “Cobiçado veneno” publicada no site “O Eco” em 03
9
de abril de 2005: http://arruda.rits.org.br/ .
10
Os Katukina diferenciam seus especialistas xamânicos: existem aqueles que eles traduzem
como rezadores (shoitiya) e pajés (romeya). Para maiores detalhes sobre a atuação de ambos, ver
Lima (2000).
11
Os Yaminawá recebem aplicações de kampô das mãos do koshuiti, cf. Calávia (1995).
12
Em 2005, fui informada, em Cruzeiro do Sul, de que outros grupos indígenas da família
linguística pano que moram na região, como os Nuquini, os Poyanawá e os Arara, estavam reto-
mando o uso do kampô que haviam abandonado há décadas.
31
Livro Conhecimento e Cultura.indd 31 26/4/2011 12:20:43
Kampu, Kampô, Kambô
Referências
AQUINO, Terri & Marcelo P. IGLESIAS. 1994. Kaxinawá do rio Jordão. História, territó-
rio, economia e desenvolvimento sustentado. Rio Branco, Comissão Pró-Índio do
Acre.
AZEVEDO, Cristina & Teresa MOREIRA. 2005. “A proteção dos conhecimentos tra-
dicionais associados: desafios a enfrentar”. Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, 32: 44-61.
BEZERRA, José Augusto. 2004. “A ciência do sapo”. Globo Rural, edição 228, outubro.
CALÁVIA, Oscar. 1995. O nome e o tempo dos Yaminawá. Tese de Doutorado em An-
tropologia, Universidade de São Paulo.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2005. “Des grenouilles et des hommes”. Télérama
hors série, Les Indiens du Brésil, mars 2005, pp. 80-83.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2009. “‘Cultura’ e cultura: conhecimentos tradi-
cionais e direitos intelectuais”. In: Cultura com aspas. São Paulo: Cosac Naify.
pp. 311-373.
ERIKSON, Philippe. 1996. La griffe des aïeux. Marquage du corps et démarquages ethniques
chez les Matis d’Amazonie. Paris: CNRS/Peeters.
LAGES, Amarílis. 2005. “Uso de veneno de rã deixa floresta e ganha adeptos nas metró-
poles”. Folha de São Paulo, 12 de abril, página C3.
LIMA, Edilene C. 2000. A pedra da serpente. Saber e classificação da natureza entre os
katukina. Tese de Doutorado em Antropologia, Universidade de São Paulo.
LIMA, Edilene C. 2009. “Entre o mercado esotérico e os direitos de propriedade in-
telectual: o caso kampô”. In: J. Kleba & S. Kishi (orgs.), Dilemas do acesso à
biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais – direito, política e sociedade. Belo
Horizonte: Editora Fórum.
LIMA, Edilene C. & Beatriz C. LABATE. 2008. “A expansão urbana do kampô: notas
etnográficas”. In: B. Labate, S. Goulart & M. Fiore (orgs.), Drogas: perspectivas
em ciências humanas. Salvador: EDUFBA.
LOPES, Leandro Altheman. 2000. Kambô, a medicina da floresta (experiência narrati-
va). Trabalho de conclusão de curso (Comunicação Social/Jornalismo e Edito-
ração), ECA/USP.
LOPES, Leandro Altheman. 2001. “Herança da Floresta”. Outras Palavras. Rio Branco,
No 13.
MARTINS, Homero Moro. 2006. Os Katukina e o Kampô: aspectos etnográficos da
construção de um projeto de acesso a conhecimentos tradicionais. Dissertação
de Mestrado em Antropologia, Universidade de Brasília.
MONTAGNER MELATTI, Delvair. 1985. O mundo dos espíritos: estudo etnográfico
dos ritos de cura Marubo. Tese de Doutorado em Antropologia, Universidade
de Brasília.
32
Livro Conhecimento e Cultura.indd 32 26/4/2011 12:20:43
Edilene Coffaci de Lima
PÉREZ GIL, Laura. 1999. Pelos caminhos de Yuve: conhecimento, cura e poder no
xamanismo yawanawá. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universi-
dade Federal de Santa Catarina.
SOUZA, Moisés Barbosa et alii. ��������������������������������������������
2002. “Anfíbios”. In: CARNEIRO DA CUNHA, Ma-
nuela & Mauro ALMEIDA. Enciclopédia da Floresta. O alto Juruá: práticas e
conhecimentos das populações. São Paulo, Cia das Letras. pp. 601-614.
TASTEVIN, Constantin. 1925. “Le fleuve Muru”. La Geographie., t. XLIII & XLIV:403-
422 & 14-35.
VENTURA, Zuenir. 2003. Chico Mendes. Crime e castigo. São Paulo, Companhia das Le-
tras.
33
Livro Conhecimento e Cultura.indd 33 26/4/2011 12:20:43
Livro Conhecimento e Cultura.indd 34 26/4/2011 12:20:43
A invenção jurídico-governamental do
“Patrimônio Genético” e dos “CTA”:
hibridismo, tradução e agência compósita
Diego Soares
Durante o século XX, com a institucionalização da ciência no Brasil, antro-
pólogos, biólogos, farmacêuticos, bioquímicos e botânicos, entre outros, cons-
tituíram laços de reciprocidade (negativa ou positiva) com as populações locais
da Amazônia. Dentro desse contexto, eles sempre tiveram acesso aos elementos
que constituem a territorialidade dos povos indígenas e tradicionais: os seus
“recursos naturais” (plantas, animais, paisagens etc.) e os saberes associados ao
manejo nativo desses bens.Mais recentemente, com o questionamento das im-
plicações éticas dessas relações, teve início um movimento de reconhecimento
dos direitos intelectuais e territoriais das populações locais (levado a diante, in-
clusive, por muitos desses pesquisadores) que culminou no debate internacional
sobre o valor dos “conhecimentos tradicionais associados” para a conservação
da biodiversidade, tema que se inseriu numa agenda de debates sobre assuntos
correlatos: oestatuto jurídico dos recursos genéticos, a repartição de benefícios e
os direitos intelectuais. Esse debate culminou na promulgação da Convenção so-
bre a Diversidade Biológica (CDB), em 1992, acordo internacional que instituiu
três princípios fundamentais que passaram a servir de referência internacional:
a soberania dos Estados-Nações sobre os seus recursos genéticos; o princípio de
preservação dos conhecimentos tradicionais associados ao manejo da biodiver-
sidade1; e a repartição de benefícios em caso de acesso. Desde então, os países
signatários têm buscado – cada um ao seu tempo e à sua maneira – colocar em
prática esses princípios por meio da promulgação de legislações nacionais.
A instituição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN),
em 2001, como a instância governamental responsável simultaneamente pela
formulação e aplicação de diretrizes jurídico-governamentais que se referem a
35
Livro Conhecimento e Cultura.indd 35 26/4/2011 12:20:43
Hibridismo, tradução e agência compósita
esse tema2, tem afetado mais ou menos a vida tanto dos pesquisadores como das
comunidades indígenas e tradicionais da Amazônia. Apesar do surgimento de
redes e grupos de pesquisa voltados para o entendimento dos efeitos da regula-
mentação na vida dos povos indígenas e as suas formas de agenciamento, exis-
tem poucos estudos etnográficos sobre os cientistas e as instituições governa-
mentais responsáveis pela tradução dos princípios da CDB e sua transformação
em legislações nacionais. Sabemos muito pouco sobre a prática dos pesquisado-
res que atuam nos países signatários da CDB (como o Brasil) e a forma como as
suas relações com as populações locais foram ou não afetadas3. Sabemos menos
ainda sobre como vem ocorrendo a concepção desses dois novos objetos jurídi-
co-governamentais –o “patrimônio genético” e os “conhecimentos tradicionais
associados” (CTA) – no cotidiano dos órgãos governamentais.
Neste ensaio, pretendo apresentar reflexõesinicias sobre uma etnografia re-
alizada no CGEN, no ano de 2008. Os eventos que antecederam a instituição do
CGEN já foram amplamente comentados na literatura especializada e não serão
objetos de discussão neste texto4. Da mesma forma, não pretendo avaliar ou dis-
cutir se esse órgão deveria ou não existir ou como ele deveria ser, mas apresentar
ao leitor uma descrição etnográfica do seu funcionamento e contribuir, desta
forma, para um melhor entendimento da maneira como os princípios da CDB
vêm sendo traduzidos e aplicados pelo governo brasileiro.
Este estudo etnográfico se insere em uma reflexão mais ampla sobre as
formas modernas de governamentalidade5. Pretendo descrever os elos media-
dores que permitem a transposição do mundo “lá fora” para o mundo interno
do Conselho, onde as diretrizes são concebidas e as autorizações concedidas.
Veremos aqui que essa transposição envolve um deslocamento de sentidos per-
meado por práticas de tradução que objetivam a realidade de forma a confor-
má-la à lógica da governamentalidade, transformando uma multiplicidade de
objetos – plantas, extratos, enzimas, saberes e práticas culturais – em objetos
jurídico-governamentais: o “patrimônio genético” e os “conhecimentos tra-
dicionais associados”. Nesse processo, como veremos, atuam diversos atores
humanos e não-humanos em um movimento de transformação/translação por
meio do qual a relação históricaentre pesquisadores brasileiros e comunidades
locais vê-se reescrita em documentos que circulam no CGEN. Esse movimento
permite que essa instituição possa agir à distância – da mesma forma que as
Centrais de Cálculo mencionadas por Latour (2000) – ao fornecer os elementos
necessários para a invenção jurídico-governamental da regulamentação e dos
objetos que estão sendo regulamentados.
Este ensaio foi escrito a partir da proposta de seguir as associações que nos le-
vam de uma localidadepara outras localidades,tempos eagências. Essa atividade
36
Livro Conhecimento e Cultura.indd 36 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
pode tomar a forma de uma redequando a transferência de informações envol-
ve certa parcela de transformação, o que ocorre quando abordamos os elos in-
termediários– sejam eles humanos ou não humanos – como mediadores. Essa
perspectiva está diretamente relacionada a uma determinada forma de pensar o
Estado, na qual este não surge como uma “coisa” – um objeto fixo e localizado
(em termos institucionais ou geográficos) –, mas como um espaço heterogêneo
marcado pelo encontro de técnicas, discursos e práticas que, na maioria das ve-
zes, possuem uma relação tensa entre si. Conforme afirmou Aretxaga (2003), a
ilusão mistificadora de um “centro de poder” chamado Estado deve ser desco-
berta para que as relações de poder e saber que estão na origem do exercício de
governo nas sociedades modernas possam ser analisadas a partir de uma aborda-
gem etnográfica. Assim, não estou interessado no Estado enquanto instituição,
mas nas problemáticas governamentais que estão para além do Estado e nas for-
mas de governamentalidade que são forjadas por uma rede de atores muito mais
ampla e heterogênea (Rose e Miller 1992, 1995).
Em um primeiro momento, vou descrever cenas que retratam situações que
ocorrem no cotidiano do CGEN, acompanhando o trabalho realizado por uma
diversidade de atores em diferentes espaços-tempos: uma reunião do plenário
do Conselho; os eventos de divulgação do novo marco regulatório; a participa-
ção dos “especialistas” na aplicação e concepção dos instrumentos jurídicos; e
a elaboração de um pedido de autorização por um pesquisador-usuário. Apesar
das cenas retratarem uma multiplicidade de situações, elas estão interligadas em
rede, fornecendo uma visão etnográfica de como a regulamentação vem sendo
pensada e aplicada pelo governo brasileiro. Na conclusão, apresentarei uma dis-
cussão sobre ontologia que ainda pretendo desenvolver melhor no futuro, o que
torna este texto um ponto de partida ainda em aberto.
O Plenário do CGEN
Além de conceber as suas diretrizes, o CGEN precisa aplicá-las em casos
concretos que são analisados nas plenárias. Essas reuniões costumam ocorrer
uma vez por mês, na sede da instituição, em Brasília. Participam dessas reuniões
os membros do Conselho6, a equipe técnica do Departamento de Patrimônio
Genético e uma pequena plateia composta por pesquisadores, empresários e pes-
soas interessadas no tema. A nossa história tem início em uma dessas plenárias,
mais precisamente, em uma reunião realizada em 2008.
Entre os processos que estavam sendo avaliados nessa plenária, encontramos
o nosso fio de Ariadne: um pedido de autorização de acesso ao “Patrimônio
Genético” e ao “Conhecimento Tradicional Associado” para fins de bioprospecção
37
Livro Conhecimento e Cultura.indd 37 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
requerido por um pesquisador de uma universidade federal da região Norte. Na
ocasião, a conselheira-relatora do processo, umapesquisadora da Embrapa, havia
preparado a sua relatoria por escrito e fez circular esse documento entre seus
colegas. Os membros do plenário também dispunham de um relatório – deno-
minado “Nota Técnica” – resultado da tradução, feita pelo técnico responsável,
de quatro pastas gigantescas com mais de duas mil páginas, na qual foi inscrita a
tramitação do pedido de autorização. O kit de documentos também acompanha-
va resoluções, orientações técnicas, decretos, a Medida Provisória e uma cópia
da CDB. Os conselheiros já haviam analisado essa documentação e feito algumas
anotações. Todas aquelas “Notas”, sejam as suas próprias ou as que foram escri-
tas por terceiros, representavam a sua referência principal para votar e deliberar
sobre o pedido de acesso. Afinal, diferente do funcionário do DPG, dos inte-
grantes do Comitê de Avaliação de Processos (CAP) e da Conselheira-Relatora,
eles não tiveram acesso ao “processo” e foram obrigados a confiar nas traduções
feitas por terceiros para tomar suas decisões. As suas anotações pessoais, por ou-
tro lado, faziam parte de mais um movimento de traduçãodos pontos ambíguos
de toda aquela documentação.
Conforme a apresentação oral da relatora e as notas técnicas e pareceres en-
tregues aos conselheiros, o pedido de autorização era referente a uma pesquisa
realizada por pesquisadores das áreas de farmácia, botânica e bioquímica, cujo
objetivo principal era a produção de fitoterápicos a partir de plantas medici-
nais usadas por uma comunidade de ribeirinhos localizada na região do alto rio
Amazonas. O projeto previa a realização de um levantamento etnofarmacoló-
gico, a coleta das plantas medicinais e a condução de testes farmacológicos em
uma rede de laboratórios. O “Termo de Anuência Prévia” e os “Contratos de
Repartição de Benefícios” firmados com o representante político da comunida-
de tinham sido anexados ao “processo” e os pareceres do “Comitê de Avaliação
de Processos”, do técnico do DPG e da conselheira-relatora eram favoráveis à
concessão da autorização.
A votação foi realizada logo após a apresentação do parecer da relatora e o
pedido foi aprovado por unanimidade. Aquele era o final de um longo trajeto,
no qual diversos elementos humanos e não-humanos atuaram como mediado-
resde uma decisão do Conselho, publicada no dia seguinte no Diário Oficial da
União, na forma de Deliberação, documento assinado pelo Ministro do Meio
Ambiente. Nos dias seguintes, uma autorização seria enviada para o pesquisador
requerente. Desta forma, dava-se fim a um longo processo de tramitação do pe-
dido de autorização no DPG: uma longa trajetória de dois anos, tendo em vista
que o caso foi considerado “exemplar” por ser o primeiro pedido de autorização
de acesso para fins de “bioprospecção” envolvendo “conhecimentos tradicionais
38
Livro Conhecimento e Cultura.indd 38 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
associados”. Conforme me explicou mais tarde uma funcionária do DPG, aquele
“caso” tinha sido usado como referência para pensar controvérsias que ainda
não haviam atingido um consenso no Conselho. Da mesma forma, os encami-
nhamentos tomados durante a tramitação desse processo serviram de referência
na análise de outros pedidos semelhantes.
***
Neste ensaio, busco analisar o CGEN a partir da sua materialidade práti-
ca, com ênfase no papel desempenhado pelos documentos e outros objetos que
7
perpassam todas essas redes (plantas, substâncias, enzimas etc.), elementos não-
-humanos que geralmente são percebidos como simples coadjuvantes. Ao anali-
sar essa cena, que retrata uma reunião do Conselho, percebemos a importância
dos textos e documentos na constituição do sujeito-conselheiro: esses materiais
fazem parte da performance burocráticaque os constituem enquanto sujeitos de
um determinado tipo. Da mesma forma que o homo-economicus existe de fato,
mas não como um agente não-histórico e, sim, como o resultado de um processo
de configuração8, podemos dizer que os atores governamentais não são entida-
des abstratas, mas subjetividades construídas em rede. Isso significa que com-
petênciaou capacidade são qualidades adquiridas por meio da incorporação de
plug-ins que nos permitem ver e ter uma opinião sobre determinado assunto9.
Sem os instrumentos de coleta, processamento, cálculo e inscrição das informa-
ções, os atores são incapazes de planejar e decidir sobre fenômenos que estão
distantes do lugar onde as suas decisões são tomadas e qualquer ação organizada
seria impossível (Callon 2002: 191). Um aspecto importante que caracteriza o
papel desempenhado pelos conselheiros e pelos documentos é que eles são, si-
multaneamente, apenas um elo numa rede mais ampla de coisas e pessoas, como
também a expressão da rede em ação, em um tempo-espaço determinado.
Oficinas e Eventos de Divulgação da Legislação
A plateia, composta por 51 representantes de comunidades tradicionais e in-
dígenas provenientes de 16 estados do Brasil, aguardava em silêncio o início de
uma peça de teatro encenada por funcionários do DPG. O palco improvisado no
salão principal do Centro de Formação Vicente Canhas, instância do Conselho
Indigenista Missionário, não dispunha de qualquer recurso de cenografia, além
de quadros retratando eventos históricos do Movimento Indígena. Os atores
improvisados também não dispunham de qualquer figurino, apesar de contarem
com um diretor especialista em “teatro do oprimido”.
39
Livro Conhecimento e Cultura.indd 39 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
A primeira cena da peça retratou a conversa entre um pesquisador do setor
de biotecnologia com um diretor de uma grande multinacional. O empresário,
num tom autoritário, mandou seu funcionário ir até a comunidade e percor-
rer suas florestas em busca de plantas medicinais. O pesquisador aceitou as or-
dens sem questionamento e se despediu. Na sua saída, o empresário esbravejou
que ele precisava ter um retorno imediato dos recursos investidos na expedição
científica.
A segunda cena retratou o mesmo pesquisador percorrendo florestas imagi-
nárias. Ele procurava por plantas medicinais e chegou a recolher algumas amos-
tras, que foram etiquetadas e armazenadas conforme os procedimentos de coleta
botânica, para depois serem transportadas até o seu laboratório. Chegando lá,
ele conduziu inúmeros testes de atividade biológica com o auxílio de poderosas
máquinas, passou certo tempo tentando evidenciar a composição bioquímica
das espécies coletadas, mas sem chegar ao resultado esperado.
“Alguns meses depois”, conforme informou o narrador da história, o nos-
so personagem-pesquisador contou para seu chefeque, infelizmente, nenhuma
substância nova havia sido encontrada. O empresário gritou novamente que
muito dinheiro tinha sido investido na expedição, explicou ao seu subordina-
do que a sua empresa não poderia investir milhões em pesquisas sem chegar a
qualquer resultado e concluiu dizendo que eles precisavam descobrir algo que
pudesse ser traduzido em patentes e produtos. O personagem-pesquisador e seu
chefe saíram de cena.
Enquanto isso, na comunidade, conforme apresentou o narrador da história,
Dona Maria mandou seu filho ir até a casa de Anastácia pedir para ela algum
remédio para curar a doença que afligia seu neto. Dois funcionários do DPG
entraram em cena. Um deles desempenhava o papel da “Comadre Anastácia”,
conhecedora dos remédios do mato, enquanto o outro lhe relatava a doença do
sobrinho, pedindo informações sobre plantas que poderiam ser usadas para
curar a sua moléstia. Anastácia lhe repassou algumas folhas de uma erva que ela
cultivava em seu canteiro de plantas medicinais. Os atores saíram de cena e o
narrador anunciou que a mãe do menino preparou um chá com as folhas e em
poucos dias ele já estava curado.
A cena seguinte teve início com o pesquisador percorrendo trilhas abertas
no interior da mata. Em determinado momento, ele percebeu um morador da
comunidade mais próxima coletando algumas plantas e se aproximou pedindo
informações. Apresentou-se e contou uma longa história sobre o seu trabalho
de pesquisa. O outrohomem expressou a sua perplexidade diante daquela lin-
guagem esquisita, colocou as plantas que trazia nas mãos numa sacola, virou
as costas e saiu andando sem dar a menor satisfação. O pesquisador insistiu,
40
Livro Conhecimento e Cultura.indd 40 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
explicando que o conhecimento da comunidade era fundamental para encontrar
medicamentos que poderiam salvar milhões de vidas. Sem entender muito bem
o que estava acontecendo, o outro homem falou que não sabia que as plantas
da floresta tinham “dono” e que estava levando aquela planta para sua esposa,
pois um dos seus filhos estava com dor de estômago. O pesquisador insistiu
novamente, explicando que a comunidade teria um retorno econômico quando
o novo medicamento fosse introduzido no mercado ou, caso ele preferisse, ha-
via uma verba reservada para a compra das plantas e para o pagamento de um
“mateiro” que pudesse lhe acompanhar. Um pouco assustado com a situação
(será que ele estava fazendo algo errado?), o outro homem se indagava sobre que
“conhecimento” era esse que ele tinha e que parecia interessar tanto aquele pes-
quisador. Os dois homens saíram caminhando pela floresta e a peça acabou com
a voz oculta do narrador: “O que você faria numa situação como esta?”.
A plateia aplaudiu. A diretora técnica do DPG entrou em cena e abriu a
palavra aos participantes. Seguiu-se um breve silêncio. Como ninguém se ma-
nifestou, a diretora perguntou se alguém já havia vivenciado uma situação se-
melhante. O cacique de uma comunidade indígena Kaingang pediu a palavra e
explicou que, na sua aldeia, as coisas não funcionavam assim, pois somente os
kujá (xamã) são conhecedores dos venh kagta (remédios do mato) e responsáveis
por seu uso em rituais e curas. Uma senhora negra, proveniente de uma comuni-
dade quilombola do Maranhão, afirmou que já havia recebido a visita de muitos
pesquisadores que pretendiam registrar as plantas conhecidas e usadas na comu-
nidade e finalizou observando que, onde mora, é muito comum o empréstimo de
plantas para vizinhos e parentes. Seguiram-se outras falas de participantes indí-
genas e de comunidades tradicionais, que relataram histórias de pesquisadores
que passaram por suas comunidades. Na medida em que as pessoas relatavam
suas histórias, ficou evidente que a encenação não havia contemplado a diversi-
dade de situações vivenciadas pelos participantes da oficina.
O evento teve continuação à tarde, com a organização de Grupos de Trabalho
para discutir e propor modificações na minuta da nova legislação. A diretora
técnica do DPG propôs que os grupos fossem organizados aleatoriamente, o que
foi explicitamente refutado pelos participantes indígenas. Apesar de reconhece-
rem as comunidades quilombolas e tradicionais como parceiros importantes na
reivindicação de direitos, eles afirmaram que existiam questões mais específicas
relacionadas à dinâmica dos saberes indígenas. Os técnicos do DPG ficaram
decepcionados, pois defendiam a ideia de que grupos de trabalho mistos seriam
mais eficientes na construção de um sistema comum de repartição de benefícios
e de condução de anuência prévia em caso de acesso aos “conhecimentos tradi-
cionais associados”. Os participantes indígenas, no entanto, insistiram na ideia
41
Livro Conhecimento e Cultura.indd 41 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
e acabaram se reunindo em separado dos demais. Desta forma, foram formados
dois GTs compostos por participantes de comunidades quilombolas e tradicio-
nais e um terceiro composto pelos participantes indígenas.
O acompanhamento dos GTs revelou que o chamado processo de “regula-
mentação” implicava uma série de desentendimentos linguísticos que, naquela
ocasião, emergiram, por um lado, na imposição de uma linguagem jurídica de
difícil entendimento para os participantes do evento e, por outro, na insistên-
cia dos representantes das comunidades em discutir questões mais amplas – as
quais, segundo os representantes do governo - “não faziam parte da discussão”.
As atividades desenvolvidas durante a oficina foram permeadas por uma luta
constante em torno das palavras usadas para descrever as coisas incluídas nessa
imensa biblioteca chamada sociobiodiversidade: neste caso, o jogo de nomeação
simbólica dos novos objetos concebidos pelo CGEN – o “patrimônio genético”
e os “CTA” – apontava para uma pedagogia oculta de difícil entendimento. O
mais impressionante, talvez, é que a diferença cultural e linguística foi anulada,
durante a oficina, por um “tempo governamental” que exigia dos protagonistas
da história a anulação da complexidade da tradução em detrimento da razão de
Estado: nada de ontologia, apenas imposições epistemológicas.
***
Há milhares de quilômetros dali, uma funcionária do DPG deu início ao seu
trabalho de divulgação da legislação de acesso em alguma instituição de ensino
e pesquisa do Norte do país. A técnica estava em pânico diante de uma plateia
de cientistas que, apesar de a terem convidado para participar do seu congresso,
não viam a sua presença no evento com bons olhos. Ela havia preparado uma
apresentação em PowerPoint e deu início ao seu trabalho de traduçãode noções
jurídicas e governamentais para cientistas que viviam em um mundo povoado
por substâncias, enzimas e entidades microscópicas. Não somente a técnica não
conhecia todos os pormenores do marco regulatório, motivo pelo qual ela man-
tinha consigo uma espécie de apostila com dezenas de resoluções e deliberações,
como também entendia muito pouco da linguagem dos cientistas.
A solução para tanto despreparo profissional de alguém que tinha ingres-
sado há pouco tempo neste mundo de documentos foi seguir religiosamente a
história retratada na sua apresentação, composta por uma série de eventos des-
critos em ordem cronológica: a assinatura da CDB (1992); a discussão legislativa
(1993-2001); o evento envolvendo a assinatura de um contrato com a Novartis,
multinacional do setor farmacêutico (2001); a edição da MP e a criação do
CGEN (2001); e a lenta formulação e reformulação dos dispositivos jurídicos do
42
Livro Conhecimento e Cultura.indd 42 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
Conselho (2001-2008). Essa história já havia sido repetida muitas vezes a ponto
de se tornar uma espécie de mito de origem da “regulamentação” e auxiliava-a a
traduzir em poucas palavras eventos que ocorreram antes e que, de certa forma,
explicavam a sua presença naquele congresso.
Assim que finalizou a sua fala, a funcionária teve que responder a uma série
de questionamentos sobre a validade da legislação e do próprio Conselho. Ao
mesmo tempo em que buscava defender o seu trabalho e a atuação dos seus
colegas do DPG, sabia, pessoalmente, das contradições existentes na legislação
e compreendia a recepção hostil doscientistas. Enquanto ouvia o relato de pes-
quisadores sobre situações absurdas vivenciadas por eles na relação com o que
chamavam “burocracia governamental”, a funcionária mal conseguia esperar o
momento de voltar para Brasília. Afinal, o que ela poderia fazer para responder
ou mudar a situação? No seu mundo, que também é o mundo do CGEN, os
técnicos deveriam atuar como técnicos, aplicando as diretrizes sem questioná-
-las. Por outro lado, esses personagens ocultos da máquina estatal continuavam
tendo que dar conta de demandas políticas, inquietações e divergências éticas
além de sua competência.
***
Os eventos descritos na segunda cena retratam uma parte importante do
trabalho desenvolvido pelos técnicos do DPG: a divulgação da legislação de
acesso nos diferentes setores da sociedade civil que, de alguma forma, foram
afetadospelo novo marco regulatório. Esse trabalho é destinado tanto para as
comunidades tradicionais e indígenas como para os cientistas e instituições
empresariais envolvidas de alguma forma em atividades de acesso ao “patri-
mônio genético” e/ou aos “CTA”. No caso das comunidades, a divulgação vem
sendo feita através de “oficinas de qualificação”, sendo que, entre 2005 e 2008,
foram realizadas 37 oficinas em diferentes regiões do Brasil, contando com a
participação de cerca de 1500 pessoas, todos eles representantesde comuni-
dades indígenas e tradicionais. No caso dos cientistas, os técnicos do DPG
participaram como palestrantes, entre 2003 e 2008, em 219 eventos promo-
vidos por ONGs e instituições de ensino e pesquisa. A realização do trabalho
de divulgação da legislaçãotem sido uma ação constante do CGEN desde sua
criação, acompanhando o crescimento do número de autorizações concedidas
por essa instituição. Isso revela que esse órgão governamental não só depende
da “participação” tanto das comunidades quanto dos cientistas para ter eficá-
cia, como também revela que essa participação implica a capacidade do CGEN
detraduziros objetos do seu marco regulatório – o “Patrimônio Genético” e
43
Livro Conhecimento e Cultura.indd 43 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
o “CTA” – para um público composto por pessoas que falam outras línguas e
vivem em mundos diferentes.
Assim, existem três pontos que eu gostaria de observar sobre os eventos
descritos nos parágrafos anteriores. O primeiro é que os documentos não são
os únicos instrumentos utilizados para objetivar eventos, coisas e pessoas. No
caso das oficinas de consulta pública que acompanhei, a peça de teatro aju-
dou os técnicos do DPG a expressar um evento fictício que, de certa forma,
representa uma espécie de mito de origem da regulamentação do acesso: a
biopirataria. Apesar de regras e diretrizes serem elaboradas para regulamentar
as situações de acesso, elas são concebidas tendo como referência situações
hipotéticas. A peça foi construída a partir de uma generalização do que seria a
dinâmica de produção e circulação de saberes nas comunidades, tendo como
referência um modelo tão abstrato quanto a noção de CTA. A questão é que o
processo governamental trabalha com a necessidade de produção de regras e
diretrizes universais, o que só é possível com a redução dessa complexidade a
partir de convenções usadas na construção de modelos gerais como cronolo-
gias e peças de teatro.
O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da lingua-
gem. Estamos diante de uma situação em que a diferença linguística se cons-
tituino principal obstáculo para a comunicação entre mundos tão distantes e
diferenciados. As categorias jurídicas utilizadas na elaboração das leis e dire-
trizes são de difícil entendimento tanto para os povos indígenas e tradicionais
como para os cientistas, o que nos remete, novamente, ao movimento duplo de
tradução das noções jurídicaspara as noções nativase vice-versa. Isso nos conduz
a uma abordagem ontológica dos fenômenos descritos tanto na legislação como
nos espaços-tempos em que os projetos estão sendo conduzidos.
O terceiro ponto que eu gostaria de expor é que estamos diante da emergência
de um novo contexto histórico com impacto tanto na vida dos cientistas como
na vida dos povos indígenas e tradicionais. Trata-se de um evento crítico(Das
1995)permeado pelo surgimento de novos coletivos e pela reformulação da for-
macomo a relação entre esses povos e os pesquisadores é pensada tanto pelos pri-
meiros como pelos últimos. Não podemos projetar a ideia de que a instituição de
formas de repartição de benefícios está ocorrendo em um espaço vazio e sem pre-
cedentes, pois isso implicaria desconsiderar a existência de práticas anteriores
de reciprocidade (negativa e positiva) entre pesquisadores e populações locais.
A questão, portanto, consiste em pensar como esse contexto permite uma refor-
mulação dessas práticas a partir de um processo de assimilação-transformação
de regimes de objetivação-subjetivação tanto dos povos indígenas e tradicionais
como dos pesquisadores. Este ensaio foi escrito a partir do pressuposto simétrico
44
Livro Conhecimento e Cultura.indd 44 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
que a melhor forma de fazer isso é a partir de uma abordagem etnográfica tanto
dos sistemas nativos10 como das instituições responsáveis por conceber e aplicar
o novo marco regulatório.
As Câmaras Temáticas e o trabalho de resolução das controvérsias
Os procedimentos para o trâmite de solicitações de acesso aos “Conhecimentos
Tradicionais Associados” (CTA) e as diretrizes para a obtenção do “Termo de
Anuência Prévia” começaram a ser discutidas nas Câmaras Temáticas11 no fi-
nal do primeiro semestre de 2003. Foi nessa época que a primeira versão das
minutas que deram origem à Deliberação e à Resolução que regulamentaram
estas questões foi discutida pela primeira vez. Essas questões foram reescritas
diversas vezes, tendo como cenário acaloradas discussões entre os participantes
das Câmaras e “especialistas” que foram convidados para esclarecer conceitos
fundamentais para a elaboração dessas diretrizes.
Mas a elaboração desses documentos teve início, ainda em 2002, logo após a
publicação da Deliberação do Conselho que deu origem às Câmaras Temáticas
instituídas com o objetivo de estabelecer as diretrizes e os procedimentos que
deveriam orientar a concessão de autorizações pelo CGEN. Uma dessas reuniões
contou com a participação de um antropólogo, que foi convidado a dar uma
palestra sobre conhecimentos tradicionais e repartição de benefícios. O evento
contou com a presença de seis conselheiros, representantes da sociedade civil
organizada, uma “especialista” convidada pelo Ibama e membros do DPG.
Após as apresentações iniciais, o palestrante deu início à sua fala apontando
para a imensa diversidade sociocultural existente no Brasil e o histórico de des-
valorização, por parte da sociedade nacional, dessa diversidade. Por muito tem-
po, segundo o antropólogo, as sociedades ditas “tradicionais” foram percebidas
como um sinal de “atraso” frente ao desenvolvimento tecnológico da civilização
ocidental: o desprezo pelos saberes e práticas culturais desses povos acompa-
nhou a valorização da tecnologia e da ciência como um passaporte para o in-
gresso do Brasil no chamado primeiro mundo. Nesse contexto, falar em termos
de repartição de benefícios e anuência prévia seria considerado um absurdo,
tendo em vista a mentalidade e as práticas governamentais predominantes na
época. O surgimento das ciências sociais, já no final do século XIX, assim como
o desenvolvimento desta disciplina, teria contribuído para uma lenta transfor-
mação da forma de se pensar e perceber a relação com as chamadas “sociedades
primitivas”. Dentro deste contexto, já no final do século XX, teria surgido uma
nova versão do antigo romantismo do “bom selvagem”, agora influenciada por
noções da ecologia e expressa por meio do pressuposto de que os índios seriam
45
Livro Conhecimento e Cultura.indd 45 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
detentores de modelos de relacionamento harmônico com a natureza. Esse
movimento de valorização dos saberes indígenas e tradicionais acompanhou a
emergência, no cenário internacional, de noções como “biodiversidade”, “de-
senvolvimento sustentável” e “CTA”. Foi somente a partir deste novo contexto
histórico que o governo brasileiro passou a defender formas de repartição de
benefícios com essas populações e seus saberes e práticas ambientais passaram a
ser valorizados, pois podiam fornecer subsídios para a transformação das nossas
florestas tropicais em um poderoso capital econômico.
Por último, o convidado mencionou os impasses que acompanhariam toda
e qualquer tentativa de instituição de um sistema de proteção da propriedade
intelectual desses povos. Ele explicou que qualquer sistema que viesse a ser colo-
cado em prática pelo governo brasileiro teria que reconhecer a diferença social e
culturalcomo ponto de partida, buscando pensar os direitos dessas populações a
partir das suas próprias noções de direito e política. Essa afirmação não foi bem
recebida pelos advogados presentes na reunião. Afinal, segundo eles, uma carac-
terística fundamental do direito ocidental moderno consiste em conceber regras
e diretrizes que possam ser aplicadas em todo território nacional, independente
das diferenças culturais e para além do direito costumeiro dos povos indígenas
e tradicionais.
Os próximos meses foram de intensa discussão nas Câmaras Temáticas.
Foram convidados especialistas de outras áreas – como direito, economia e eco-
logia – para auxiliar no esclarecimento de noções complexas que permeavam as
discussões em torno de diretrizes a serem inscritas em deliberações e resoluções.
Esses documentos seriam utilizados mais tarde por técnicos do DPG, membros
do Comitê de Avaliação de Processos e pelos próprios conselheiros para deci-
dir sobre a concessão ou não de autorizações de acesso. Esses documentos fo-
ram elaborados por um coletivo diversificado de atores e a partir de um amplo
processo de traduçãode conceitos de uma área do conhecimento para outra. Ao
mesmo tempo em que eles foram elaborados por homens de carne e osso, a ação
de composição também incorporou noções e princípios definidos em outros do-
cumentos, utilizados como referência no ato de escritura. Conforme veremos
mais adiante, essa circularidade entre documentos e pessoas está na origem do
processo de invenção jurídico-governamental do “patrimônio genético” e dos
“conhecimentos tradicionais associados”.
***
Ao descrever esta cena, gostaria de apontar para o papel desempenhado
pelos especialistas nas câmaras temáticas e a sua influência na construção e
46
Livro Conhecimento e Cultura.indd 46 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
reformulação dos objetos jurídico-governamentais formatados no CGEN: o “pa-
trimônio genético” e os “CTA”. Como esses objetos pretendem ser uma tradução
de uma multiplicidade de fenômenos científicos, a sua composição envolve uma
apropriação governamental de conceitos e noções introduzidos no Conselho pe-
los especialistas. Ao mesmo tempo, essa influência é mediada pelos técnicos do
DPG, que traduzem essas noções a partir da sua aplicação em problemáticas
específicas. Conforme relatou a coordenadora das Câmaras Temáticas, são os
técnicos que precisam construir uma “ponte” entre as noções expostas pelos
especialistas e as problemáticas internas do DPG, pois os cientistas convidados
falam a partir das problemáticas de suas disciplinas e utilizam uma linguagem
especializada que, em maior ou menor medida, precisa ser traduzida para a lin-
guagem jurídica. Essa mediação entre o conhecimento científico e os saberes e
práticas governamentais envolve, necessariamente, certo grau de tradução/trans-
formação de conceitos e problemáticas científicas para o campo governamental.
A maior parte das controvérsias e conflitos que perpassam as decisões do CGEN
– entre as forças socioambientalistas e desenvolvimentistas – está relacionada a
esse processo de tradução e mediação que envolve os usos do discurso científico
(ou técnico) para legitimar argumentos políticos.
Comitê de Avaliação de Processos (CAP)
Após um tempo frequentando os bastidores do CGEN, fui convidado pelos
técnicos do DPG para participar do CAP12como especialista. Ao chegar neste
órgão governamental, fui conduzido até uma sala reservada para as reuniões do
Comitê, onde outro especialista já estava debruçado sobre um processo com mais
de duas mil páginas. Além de uma cópia do volumoso processo, a técnica me en-
tregou alguns documentos que eu deveria utilizar como referência: resoluções,
deliberações e cópias do Decreto nº 3.945, que versa sobre a composição e as
normas de funcionamento do Conselho, e da Medida Provisória nº 2.186-16. Ela
também me passou um formulário com um conjunto de questões que eu deveria
preencher, com uma parte reservada para a emissão do meu parecer final. Antes
de deixar a sala, a funcionária explicou que esse pedido tinha tramitado no DPG
durante dois anos e já estava pronto para ser aprovado no Conselho, deixando
comigo uma cópia da sua Nota Técnica, que seria encaminhada posteriormente
para a reunião do CGEN junto com os pareceres do Comitê.
Comecei a ler o longo processo, composto por uma diversidade de documen-
tos: formulários do DPG; o currículo dos pesquisadores; o projeto de pesquisa;
um termo de anuência prévia acompanhado de um relatório explicitando o seu
processo de obtenção; contratos de repartição de benefícios firmados entre a
47
Livro Conhecimento e Cultura.indd 47 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
universidade e representantes de uma pequena comunidade tradicional loca-
lizada no alto rio Amazonas; uma série de e-mails trocados entre a técnica e o
pesquisador proponente; e um laudo antropológico. Em um primeiro momento,
fiquei bastante perplexo em ter que decidir baseado naquela documentação. Um
pouco sem jeito, comentei com meu colega ao lado que era difícil ter que deci-
dir sobre eventos complexos envolvendo perspectivas tão diferenciadas sobre
acontecimentos que ocorreram a milhares de quilômetros de onde estávamos
naquele momento. O especialista da área do direito abriu um pequeno sorriso
e perguntou se aquela era a primeira vez que eu participava do CAP. Respondi
que sim. Ele explicou que aquelas duas mil páginas de documentos era tudo que
tínhamos a nossa disposição e, enfim, eu teria que acreditar no que estava escrito
ali. Por último, ele mencionou que costumava usar o “bom senso” e a experiên-
cia adquirida durante décadas de pesquisa na sua área de conhecimento.
Pensei comigo mesmo que o que eu havia apreendido de antropologia me
levaria justamente em outra direção: ao campo, onde poderia observar o que
estava acontecendo e falar com as pessoas de carne e osso. Continuei navegando
o mar de documentos que tinha à minha disposição, tentando reunir subsídios
que pudessem me servir de alguma orientação. Quanto mais eu lia, maior era o
número de dúvidas que surgiam: será que o representante que assinou o TAP
consultou o restante da comunidade? Será que posso considerá-lo um represen-
tante legítimo? Em pouco tempo já estava me perguntando sobre a ata de elei-
ção do presidente da comunidade e ensaiei um movimento para escrever essas
observações no formulário do DPG, mas logo percebi o absurdo que estava fa-
zendo: afinal, eu estava exigindo um novo documento para atestar a veracidade
de outro. Para onde isso me levaria? Confesso que fiquei surpreso quando meu
colega do Comitê guardou toda a documentação e se despediu fazendo o seguin-
te comentário: “meu amigo, o mundo do CGEN é o mundo dos documentos que
chegam até ele. Se você não entender isso, vai acabar enlouquecendo”.
Naquele dia, deixei o DPG entendendo melhor o funcionamento daquela
complexa instituição. Da mesma forma que ocorre em laboratórios de pesquisa,
o funcionamento do CGEN é extremamente dependente de instrumentos que
permitem deslocar o mundo lá fora de uma forma que ele possa ser analisado à
distância, em salas climatizadas de uma repartição pública do Governo Federal.
Mas, para que essa tradução ocorra com sucesso, os atores precisam crer na efi-
cácia descritiva dos documentos e não se perguntar – conforme passei a fazer
a partir desse momento – sobre o mundo de coisas e pessoas que ficou de fora.
***
48
Livro Conhecimento e Cultura.indd 48 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
Ao mesmo tempo em que os textos e documentosque compõem o processo
ou pedido de autorização enviado ao CGEN são o efeito de uma redução da
complexidade do real, eles também permitem transportar o mundo lá fora para
o espaço onde as diretrizes são pensadas e aplicadas na prática. Esse movimento
envolve uma série de ações de tradução-transformação do mundo em móveis
imutáveis e combináveis (Latour 1987: 362; 2001: 120; 2005: 223), o que ocorre
através da suspensão de todo um contexto que ficou de fora. O chamado proces-
so é, na realidade, uma forma composta por um conjunto heterogêneo de textos
que permite que as informações necessárias para a tomada de decisão cheguem
até o Conselho e possam ser analisadas pelos diferentes atores que atuam nesse
espaço institucional, mas faz isso a partir da exclusão de tudo aquilo que não se
enquadra ou é enquadrado. Com isso, informações produzidas em diferentes
espaços-tempos se tornam contemporâneas entre si, facilitando a sua recombi-
nação e utilização, mas isso é feito em detrimento de tudo que está aquém ou
além dos limites do formulário.
Ingressando com um Pedido de Autorização no CGEN
Em um pequeno laboratório de farmacologia de uma universidade localiza-
da na Amazônia Brasileira, no início de 2006, um professor terminou de forne-
cer as últimas orientações para pesquisadores que conduziam testes de atividade
biológica com plantas coletadas em uma comunidade ribeirinha. Após verificar
os resultados inscritos numa tabela elaborada a partir dos dados gerados pelo
espectrofotômetro, o professor falou para seus alunos o que fazer para melhorar
seus resultados e depois foi até a sua sala.
Ao chegar lá, ligou seu computador, entrou no site do CGEN e baixou um
conjunto de diretrizes institucionais que tinham sido indicadas pela técnica do
DPG: formulários, resoluções, deliberações, orientações técnicas e decretos. Ele
pensou consigo mesmo que, diante de todo aquele jargão jurídico, o melhor a
fazer era procurar logo um advogado. Afinal, ele entendia de bioquímica, sabia
manipular enzimas, encontrar novas substâncias, coletar plantas, enfim, todos
os conhecimentos necessários para conduzir pesquisas na área de fitoterápicos,
mas tinha dificuldade em entender todos aqueles conceitos jurídicos incorpo-
rados na legislação. A Universidade em que ele trabalhava, no entanto, não dis-
punha de uma assessoria jurídica que pudesse traduzir toda aquela papelada e
ajudá-lo a entrar com o pedido de autorização. O pesquisador lembrou a época,
não muito distante, em que nada disso era necessário, quando a negociação para
a coleta de plantas e conhecimentos era feita diretamente com os ribeirinhos.
Entretanto, após assistir a um workshop proferido por uma técnica do CGEN,
49
Livro Conhecimento e Cultura.indd 49 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
achou melhor se adaptar à nova legislação. A única solução era estudar toda
aquela documentação nas próximas semanas e tentar conduzir ele mesmo os
procedimentos burocráticos.
O pedido de autorização só foi enviado ao CGEN dois meses depois, após inú-
meras reformulações do pedido inicial, processo que ocorreu a partir de uma troca
de e-mails com o técnico responsável pela tramitação do “processo” no DPG. O
primeiro formulário enviado ao CGEN era referente à pesquisa científica e teve
que ser alterado para o formulário para atividades de bioprospecção. O Termo de
Anuência Prévia (TAP) também teve que ser refeito tendo em vista as diretrizes
da Resolução nº 06. E, para piorar ainda mais a situação, quando ele achava que já
estava tudo encaminhado, recebeu um comunicado do DPG avisando que ainda
faltavam três coisas importantes: as escrituras dos terrenos onde as coletas seriam
realizadas; os dois contratos de repartição de benefícios (um com a União e o ou-
tro com a comunidade provedora de CTA); e um laudo antropológico atestando
que a anuência prévia foi realizada conforme o que estabelece a legislação.
Com as novas requisições apresentadas pelo técnico do DPG, o pedido de
autorização do nosso pesquisador foi, aos poucos, transformando-se numa ver-
dadeira epopeia. O primeiro impasse é que as terras ocupadas pela comunidade
não eram escrituradas, algo muito comum na Amazônia. Apesar das pessoas
viverem lá há quase um século, a sua situação fundiária nunca foi regularizada.
Outro problema é que os únicos antropólogos existentes em um raio de mil qui-
lômetros eram aqueles que trabalhavam na própria instituição do pesquisador.
As diretrizes do CGEN eram claras sobre esse ponto: o laudo precisava ser reali-
zado por uma instituição independente. Por último, havia a questão dos contra-
tos, afinal, como estabelecer critérios de repartição de benefícios se as atividades
de bioprospecção ainda não haviam sido realizadas, pois a coleta das plantas só
poderia ocorrer após a autorização do Conselho. Todos esses obstáculos levaram
o professor a pedir mais 120 dias de prazo para o DPG.
Finalmente, após um mês de procura, o requerente conseguiu uma ONG
para realizar o laudo, mas ainda teve que negociar com o CNPq modificações no
orçamento enviado para essa instituição. O problema é que o edital não previa a
realização de laudos antropológicos e os recursos levaram algumas semanas para
serem liberados. Enquanto isso, o professor se dedicou à elaboração dos con-
tratos e tentou resolver o impasse das terras. Em agosto de 2007, o pesquisador
teve que pedir um novo prazo para o DPG, pois o Laudo indicou que a anuência
não foi realizada segundo as diretrizes do CGEN e uma nova expedição para a
comunidade teve que ser programada.
A epopeia do nosso pesquisador continuou por mais alguns meses. A situação
fundiária das terras onde as plantas seriam coletadas era completamente irregular
50
Livro Conhecimento e Cultura.indd 50 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
e de difícil solução. A situação se agravou bastante quando a declaração do Incra
não foi aceita pela técnica do DPG, pois, conforme as diretrizes da resolução do
CGEN, esses documentos eram insuficientes para atestar a posse das terras pela
comunidade. Essa resposta negativa acabou gerando uma mensagem longa onde
ele demonstrou toda a sua indignação e ressentimento pelo que estava acontecen-
do, afirmando, inclusive, que ele achava um absurdo que um pesquisador de ori-
gem “cabocla”, filiado a uma universidade pública brasileira, tivesse tanta dificul-
dade em realizar pesquisas na sua própria região, enquanto biopiratas cruzavam
as fronteiras nacionais carregando consigo todo o nosso “patrimônio genético”.
A técnica do DPG respondeu que entendia perfeitamente o seu “desabafo”, mas
reiterou que estava apenas seguindo normas estabelecidas pelo Conselho e pediu
para que o requerente não levasse as suas afirmativas para o lado pessoal.
A solução para o impasse exigiu do pesquisador novos ajustes. Como havia
dois membros da comunidade que tinham a escritura de uma pequena parcela
do seu sítio, o jeito foi enviar essas escrituras com a observação de que as plantas
seriam coletadas apenas nessas áreas. Com essa solução, finalmente, o seu pro-
cesso, que nessa altura já tinha quase duas mil páginas, foi enviado para o CAP
e, depois, para votação no Conselho.
***
A última cena descrita neste ensaio expressa de forma clara que todo pedido
de autorização envolve um movimento de “enquadramento” do real de maneira
a fazer com que se encaixe nos limites impostos pelos formulários, resoluções e
decretos emitidos pelo CGEN. Os chamados “usuários” do Conselho compõem
o seu pedido de autorização a partir de uma tradução da sua pesquisa a partir
dessas diretrizes, adaptando as suas intenções conforme as regras e os procedi-
mentos emitidos por esse órgão, da mesma forma que traduzem seus interesses
científicos para concorrer aos editais governamentais. Ao analisar a dinâmica
de funcionamento do CGEN, percebemos que esta instituição possui algumas
características que a tornam muito parecida com o que poderíamos entender
como um “laboratório governamental”, pois os objetos da regulamentação ainda
não se encontram estabilizados e os técnicos e conselheiros precisam conceber
e executar suas diretrizes simultaneamente. Por outro lado, tem características
que o tornam semelhante a uma instituição jurídica, tornando a capacidade de
transformação da suas diretrizes, a partir de casos exemplares, tão lenta e come-
dida quanto os tribunais de justiça.
Neste caso, por parte dos usuários, percebemos a emergência de táticas usadas
para formatar a multiplicidade do real de maneira a fazê-la cabernas diretrizes
51
Livro Conhecimento e Cultura.indd 51 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
do CGEN: os pesquisadores traduzem seus objetos científicos de forma a trans-
formá-los nos novos objetos inventados no processo de regulamentação. Quando
essa formatação não é realizada conforme as convenções jurídicas existentes,
surgem controvérsias que projetam luz sobre as chamadas “zonas cinzentas da
legislação”: o pedido só é “exemplar” em relação ao marco regulatório vigente.
Além de surgir como efeito da tradução das diretrizes realizada pelos usuários,
o aspecto paradigmático dos processos é construído exemplarmente durante a
sua tramitação no CGEN e a partir das lentes impostas pelo marco regulatório.
Assim, o próprio caráter “exemplar” desses processos já é um efeito de um mo-
vimento de “enquadramento” que impõe limitações estruturais ao sentido para-
digmático que esses eventos podem ter na dinâmica interna do Conselho. Com
isso, a capacidade de transformação do CGEN está sempre aquém das expectati-
vas dos diversos atores que percorrem suas redes, pois tudo ali é o resultado de
um complexo e infindável movimento de tradução, transposição e negociação.
Para entender melhor esse movimento, precisamos compreender a circularidade
existente entre uma multiplicidade de documentos e atores humanos que atuam
no CGEN.
Complexidades – uma multiplicidade de documentos e atores humanos
Existem diversos tipos de documentos que circulam no CGEN. Esses textos
se diferenciam no que se refere ao seu formato e à sua função na dinâmica inter-
na desta instituição. Por outro lado, todos desempenham o papel de mediado-
res em um complexo sistema de relações circulares envolvendo tanto elementos
humanos como não-humanos. Para fins de análise neste ensaio, esses textos são
apresentados em duas “classes”: o “Processo”, conjunto de documentos associa-
dos a um pedido de autorização de acesso, é chamado assim por que contém o
conjunto de elementos necessários para decidir sobre a concessão ou não de uma
autorização pelo CGEN, além de descrever – em sequência cronológica – o histó-
rico de tramitação do pedido no Conselho13; e o “Marco Regulatório”, conjunto
de instrumentos jurídicos utilizados como referência pelos diversos atores do
CGEN na análise dos processos e na elaboração das diretrizes14.
Esses documentos muitas vezes são percebidos como aspectos secundários
ou simples depositórios da agência humana. Por outro lado, quando analisamos
a sua circulação e a forma como eles determinam, modificam, reduzem ou am-
pliam as ações dos usuários, técnicos, conselheiros e especialistas, percebemos
que eles fazem a diferença. Assim, gostaria de explorar o argumento de que os
documentos que circulam no CGEN possuem agência. Esse pressuposto tem
como principal referência os estudos da “teoria ator-rede” que buscam elucidar
52
Livro Conhecimento e Cultura.indd 52 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
o papel desempenhado pelos elementos não-humanos na reprodução do social,
buscando perceber em que medida a associação entre elementos humanos e não-
-humanos permite que as pessoas possam fazer coisas que elas não poderiam
fazer de outra forma.15
Busquei descrever aqui situações que evidenciassem a existência de uma
multiplicidade de atores que agem neste espaço governamental, mesmo que
à distância, incluindo conselheiros, secretários, técnicos, assessores jurídicos,
convidados permanentes, especialistas, membros do CAP e “usuários” do CGEN
(pesquisadores, empresários e comunidades locais). Cada um desses atores de-
sempenha funções específicas em uma rede de traduções e associações mediada
também pelos limites impostos pelos documentos. De qualquer forma, a função
desempenhada por cada um deles é diferente, o que nos coloca diante de uma
nova complexidade. Devemos compreender que a agência desses atores é limi-
tada pela função que eles exercem e, principalmente, pelo que é declarado no
“processo” e pelo que o marco regulatório “diz para fazer”.
A ação de todos esses atores humanos é sempre mediada pela ação de outros
atores com os quais eles estão associados. Os conselheiros, por exemplo, preci-
sam respeitar as diretrizes vigentes e qualquer ação depende da sua capacidade
de negociação com seus colegas, e do que chega até eles em forma de notas técni-
cas, relatórios e outros documentos. É claro que a prerrogativa de propor novas
diretrizes ou alterar instrumentos jurídicos vigentes lhes dá certa margem de
manobra, mesmo assim, essas proposições e alterações precisam estar de acordo
com princípios norteadores expressos em outros documentos como a CDB, a
medida provisória e os decretos. Os especialistas que participam nas Câmaras
Temáticas influenciam no movimento de tradução da legislação e do “processo”,
mas a sua agência é mediada pela tradução feita pelos técnicos e conselheiros.
Já os membros do CAP atuam mais significativamente na tradução do “proces-
so” e parcialmente na deliberação, pois seus pareceres são levados em conta nas
decisões tomadas pelos conselheiros. O próprio “usuário” do CGEN atua indi-
retamente no movimento de tradução realizado pelos membros do CAP e pelos
técnicos do DPG ao “enquadrar” seu pedido de autorização conforme o marco
regulatório vigente.
Desta forma, em órgãos governamentais como o CGEN, a agência humana
é o resultado de uma configuração social envolvendo tanto elementos humanos
como não-humanos, sendo que a qualidade de cada elemento é relacional, ou
seja, se dá a partir da relação que estabelece em uma rede sociotécnica mais
ampla. A agência dos humanos reside na sua capacidade de explorar as ambi-
guidades da linguagem, mas isso só é possível a partir de uma subjetividade
construída através e a partirdo uso de elementos não-humanos que precisam
53
Livro Conhecimento e Cultura.indd 53 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
ser recombinados de forma a construir novos artefatos. Todos esses atores exer-
cem suas traduções e deliberações a partir do saber-fazer adquirido durante suas
trajetórias. Sem dúvida nenhuma, eles manipulam os artefatos que estão à sua
disposição de forma a explorar as brechas existentes na legislação. Mas precisam
fazer isso em associação com outros atores humanos e não-humanos e conforme
as convenções predominantes na sociedade brasileira, o que torna a sua agência
compósita e a sua ação coletiva.
Os objetos híbridos do CGEN: o “Patrimônio Genético” e os “CTA”
Em um livro recente, Complexities (2002), organizado por John Law e
Annemarie Mol, os autores buscam refletir sobre o fenômeno da complexidade
a partir de um questionamento inicial: como lidar com ela sem reduzi-la a mo-
delos simplificadores e, ao mesmo tempo, sem reproduzi-la de forma a originar
novas complexidades. O que pretendo fazer aqui, ainda em forma de esboço,
é tentar compreender melhor a complexidade do CGEN antes de reduzi-la ou
enquadrá-la conforme modelos formulados a partir de outras realidades, bus-
cando, desta forma, construir uma análise que dê conta de uma multiplicidade
sem deformá-la por completo. Por isso, fiz uso de cenas etnográficas para des-
crever os atores humanos e não-humanos sem reduzir demasiadamente a sua
multiplicidade, mesmo sabendo a limitação desses instrumentos como formas
de descrição das múltiplas experiências vivenciadas em campo. Como qualquer
descrição, no entanto, esta também é uma simplificação do real. A questão é se
o modelo que tento extrair dela simplifica menos do que outros que vem sendo
utilizados até o momento.
No caso do CGEN, a etnografia revelou a existência de uma circularidade
envolvendo os documentos que compõem o “processo”, o “marco regulatório”
e atores humanos que atuam no Conselho, tendo, de um lado, os objetos cien-
tíficos e, de outro, os objetos jurídico-governamentais, ambos inventados neste
processo. Essa invenção envolve uma série de traduções/transformações desem-
penhadas por elementos não-humanos (os documentos e os objetos científicos
neles representados) e os elementos humanos (conselheiros, técnicos, especialis-
tas e usuários), constituindo o que estou denominando aqui de agência compósi-
ta. Neste caso, o modelo tradicional do Grande Divisor, que colocaria humanos
e não-humanos em instâncias separadas, em que os primeiros teriam poder de
agência sobre os segundos, não dá conta das associações que foram descritas
neste ensaio.
Conforme já mencionou Latour em um livro germinal, Jamais Fomos
Modernos (1991), vivemos em uma época de “crise” da modernidade, esse
54
Livro Conhecimento e Cultura.indd 54 26/4/2011 12:20:44
Diego Soares
fenômeno construído a partir da divisão entre humanos e não-humanos, nature-
za e cultura, política e ciência. A chamada “Constituição Moderna” foi institu-
ída a partir de dois movimentos simultâneos que, para se tornarem produtivos,
precisavam manter-se distintos: a produção de híbridos de natureza e cultura;
e a criação, por práticas de “purificação”, de duas zonas ontológicas completa-
mente diferentes, uma delas povoada por coisas e objetos e a outra pelos seres
humanos. A manutenção desta Constituição tem se tornado cada vez mais di-
fícil, pois a coexistência entre esses dois domínios é tão intensa que dificulta o
trabalho de purificação. Neste ensaio, busquei demonstrar que o CGEN é uma
instituição que surge desta “crise”, constituindo-se como um espaço localizado
entre domínios geralmente mantidos em separado, como o mundo dos cientistas
e dos políticos, das coisas e das pessoas, do governo e da sociedade.
Desde a publicação do artigo de Star e Griesemer (1989), em que os autores
utilizam a noção de “objeto-fronteira” para descrever objetos científicos que
habitam diferentes “mundos sociais”, uma série de outros trabalhos tem feito
uso dessa noção para entender situações de cooperação científica, instituições
onde cientistas e não cientistas são levados a colaborar ou para se referir a
artefatos e instituições concebidos ou localizados na fronteiraentre mundos
diferentes.16 O “objeto-fronteira” circula entre diferentes domínios do conhe-
cimento, assumindo diferentes significados: ele é flexível o suficiente para se
adaptar às necessidades e aos interesses dos diferentes atores que o utilizam,
e robusto o suficiente para manter uma identidade comum durante o seu des-
locamento. Apesar de algumas transformações da noção, como o conceito de
“objeto-intermediário” cunhado por Vink (1999) ou a ampliação da noção para
descrever organizações de fronteira (Gustun, 2001), todos esses autores bus-
cam descrever situações etnográficas nas quais objetos que circulam assumem
diferentes significados, o que não impede aos diferentes atores de cooperar em
torno deles.
Todos os estudos mencionados acima partilham o postulado relativista que
pressupõe a existência de um único objeto físico que assume diferentes signifi-
cados conforme circula por diferentes mundos sociais: uma única Natureza e vá-
rias culturas. Dessa forma, estas noções reafirmam as fronteiras existentes tanto
entre pesquisadores de diferentes disciplinas, como também entre cientistas e
nãocientistas. No caso do CGEN, poderíamos utilizar a noção de “objeto-fron-
teira” para descrever os dois grandes objetosda regulamentação: o “patrimônio
genético” e os “CTA”. Poderíamos seguir aqueles autores e afirmar que estes ob-
jetos circulam por diferentes mundos sociais e científicos, flexíveis o suficiente
para serem traduzidos de forma diferente e fortes para manter certa identidade
durante o seu deslocamento.
55
Livro Conhecimento e Cultura.indd 55 26/4/2011 12:20:44
Hibridismo, tradução e agência compósita
Acredito, no entanto, que ao fazer isso, estaríamos perdendo de vista que os
objetos gerados no CGEN – o “patrimônio genético” e os “CTA” – não existem
fora ou além do processo de tradução que lhes deu origem. Estamos diante de
fenômenos híbridos17 que passaram a existir somente após a sua concepção jurí-
dico-governamental, tornando-se, na medida em que circulam no Conselho, ob-
jetos diferentes (em certo sentido) e iguais (em outro sentido) à multiplicidade
de objetos (científicos, por exemplo) transformados nos processos que lhe deram
origem. Não se trata, portanto, de diferentes visões sobre um único objeto, mas
de um objeto híbrido que surge no processo de tradução como uma entidade que
não existia até então: fenômenos compostos que podem voltar a serem tantos
outros objetos científicos (devido à qualidade reversível de toda a tradução) sem
deixar de ser uma entidade completamente nova.
Essa guinada em direção à ontologia foi inspirada pelo trabalho de Annemarie
Mol (1999, 2002), que propõem substituir a noção de diferentes visões sobre um
mesmo fenômeno ou objeto pela ideia de que cada uma dessas visões constitui,
de fato, objetos diferentes. Segundo Mol, em lugar de uma única realidade uni-
versal, estável e anterior às práticas de simbolização, teríamos múltiplas reali-
dades; em vez de múltiplas visões sobre um único objeto, teríamos múltiplos
objetos. Nesse sentido, os objetos da regulamentação são entidades com uma
ontologia específica: híbridos de natureza e cultura, ciência e governo, um com-
posto de elementos diferentes que coexistem e são atualizados na relação que es-
tabelecem com outros fenômenos. Neste caso, é importante notar que não esta-
mos diante de novas entidades formadas a partir da mistura de coisas diferentes,
pois esses híbridos são compostos de elementos heterogêneos coexistentes em
sua potencialidade: um devir que pode ser uma ou outra coisa (em potencial),
dependendo da relação que estabelecer com outras entidades.
Ao mesmo tempo em que o “patrimônio genético” e os “CTA” são inven-
ções feitas a partir de convenções ocidentais permeadas por uma lógica utilitária
muito comum às formas de governamentalidade modernas – formuladas como
discursos de saber-poder voltados para o controle do território e da circulação de
pessoas e coisas – eles também podem ser uma multiplicidade de outros objetos
científicos e culturais, dependendo da tradução reversa realizada por cientistas,
empresários e povos indígenas e tradicionais. Devido à reversibilidade da tradu-
ção, esses objetos guardam em si uma heterogeneidade em potencial de elemen-
tos que coexistem sem se anularem: mesmo quando em silêncio, a imanência
ontológica destes elementos reflete a sua existência enquanto potencialidade.
56
Livro Conhecimento e Cultura.indd 56 26/4/2011 12:20:45
Diego Soares
Notas
1. O artigo 8 da CDB também recomenda que os signatários incentivem a “aplicação” dos
conhecimentos tradicionais na utilização sustentável da biodiversidade, pontuando que isso deve
ser feito com “a aprovação e a participação dos detentores desses conhecimentos”.
2. O CGEN foi instituído pela Medida Provisória nº 2.186-16, editada pelo Governo Federal,
em agosto de 2001. Essa MP regulamenta as diretrizes constitucionais e os princípios enunciados
na CDB, dispondo sobre o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais asso-
ciados.
3. Durante a minha pesquisa de doutorado, realizei uma etnografia de redes sociotécnicas for-
madas em torno de três pesquisas cujo “acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais
associados” foi autorizado pelo CGEN.
4. Para saber mais detalhes, ver: Santos (2003); Carneiro da Cunha e Almeida (2001); Bensu-
san (2003); e Santilli (2004).
5. Uso a noção de “governamentalidade” conforme concebida por Michel Foucault (2005,
2008, 2008b) e aplicada em uma série de estudos mais recentes (Rose e Miller, 1992, 2008; Barry
e Rose, 1996).
6. O CGEN é composto por representantes de Ministérios, instituições de pesquisa e entida-
des do Governo Federal que possuem alguma relação com o tema da Medida Provisória. Também
participam na categoria de “convidados permanentes” (sem direito a voto), representantes da so-
ciedade civil, como a Associação Brasileira de Empresas de Biotecnologia, a Associação Brasileira
de ONGs e a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia. Para ver a lista completa dos
membros do CGEN, acessar: http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrut
ura=85&idConteudo=8792
7. Inspirando-me no trabalho de Anni Dugdale (1999: 113-133) sobre um comitê formado na
Austrália para assessorar o governo em questões relacionadas a políticas de saúde pública.
8. Para ver mais sobre o homo economicus, como resultado de um processo de configuração,
ver Callon (1999).
9. Conforme Latour (2005: 210-216), plug-ins são dispositivos (tecnologias cognitivas) que
fornecem ao sujeito a competência necessária para se posicionar sobre determinado assunto.
10. Estou me referindo tanto aos povos tradicionais e indígenas como aos pesquisadores e
empresários.
11. As Câmaras Temáticas foram instituídas em 2002, por deliberação do CGEN, tendo como
objetivo discutir, elaborar e reformular diretrizes sobre temas específicos relacionados à Medida
Provisória nº 2.186/2001 e ao Regimento Interno do Conselho. Existem quatro Câmaras Temá-
ticas, abrangendo os seguintes temas: Conhecimento Tradicional Associado; Repartição de Be-
nefícios; Procedimentos Administrativos; e Patrimônio Genético. Essas Câmaras são compostas
por conselheiros, técnicos do DPG e “especialistas” convidados para debater conceitos e termos
técnicos presentes na legislação.
12. O Comitê de Avaliação de Processos (CAP) foi instituído com o objetivo de assessorar
o CGEN na análise dos processos de autorização enviados a este órgão. O CAP é composto por
“especialistas” convidados pelo DPG conforme o tema de pesquisa abordado no pedido de autori-
zação, mudando conforme o processo em análise.
13. O “Processo” inclui o projeto de pesquisa, currículos dos pesquisadores, termos de anuên-
cia prévia, contratos de repartição de benefícios, laudo antropológico, pareceres do DPG e do CAP,
relatórios, publicações científicas, ofícios e comunicações.
14. O “Marco Regulatório” é composto, em linhas gerais, pelos seguintes documentos: CDB,
declarações e acordos internacionais sobre propriedade intelectual e direitos das populações in-
dígenas, legislação nacional (decretos, medidas provisórias, artigos da constituição brasileira de
1988); orientações técnicas, resoluções, deliberações e autorizações emitidas pelo próprio CGEN.
57
Livro Conhecimento e Cultura.indd 57 26/4/2011 12:20:45
Hibridismo, tradução e agência compósita
15. Para ver outros contextos empíricos nas quais a relação entre atores humanos e documen-
tos é objeto de uma análise antropológica, ver Annelise Riles (1998), Yael Navaro-Yashin (2007) e
Mariza Peirano (2009).
16. Ver: Henderson, 1991; Harvey e Chrisman, 1998; Wilson e Herndl, 2007; Swan et al.,
2007; Meyer, 2009. Uma revisão bibliográfica completa dos diferentes usos da noção de “objeto-
-fronteira” pode ser encontrada em Trompette e Vinck (2009).
17. A noção de híbrido tem sua origem no latim – hibrida – e significa coisas que são hetero-
gêneas na sua origem e composição. O híbrido é uma unidade heterogênea, ou seja, composta por
partes que não se misturam. Sobre os diferentes usos que tem sido feito dessa noção na biologia e
nas ciências sociais, ver Stross (1999); na Actor-Network-Theory, ver Callon e Law (1995).
58
Livro Conhecimento e Cultura.indd 58 26/4/2011 12:20:45
Diego Soares
Referências
ARETXAGA, Begoña. 2003. “Maddening States”. Annual Review of Anthropology,
32:393-410.
BARRY, Andrew, Thomas OSBORNE & Nikolas S. ROSE. 1996. Foucault and Political
Reason: liberalism, neo-liberalism and rationalities of government. Chicago: The
University of Chicago Press.
BENSUNSAN, Nurit. 2003. “Breve Histórico da regulamentação do acesso aos re-
cursos genéticos no Brasil”. In: A. Lima e N. Bensunsan (orgs.), Quem cala
consente?Subsídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São Paulo: ���
In-
stituto Socioambiental (Série Documentos do ISA, nº 08).
CALLON, Michel. 2002. «Writing and (Re)writing Devices as Tools for Managing
Complexity». In: J. Law&A. Mol (eds.), Complexities: social studies of knowledge
Practices. Durham & London: Duke University Press.
______. 1999. “Actor-network theory: the market test”. In: J. Law & J. Hassard (eds.),
Actor Network and After.Oxford: Blackwell Publishing.
CALLON, Michel & John LAW. 1995. “Agency and the hybrid Collectif ”. South Atlantic
Quarterly, 94:481-507.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela& Mauro B. ALMEIDA. 2001. “Populações Tradicionais
e Conservação Ambiental”. In: J. P. R. Capobianco (org.), Biodiversidade Amazôni-
ca: Avaliação e Ações prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de
Benefícios. São Paulo: Estação Liberdade e Instituto Socioambiental, 184-193.
DAS, Veena. 1995. Critical Events: an anthropological perspective on contemporary India.
New Delhi: Oxford University Press.
DUGDALE, Anni. 1999. “Materiality: juggling sameness and difference”. In: J. Law &
J. Hassard (eds.), Actor Network and After.Oxford: Blackwell Publishing.
FOUCAULT, Michel. 2008. Segurança, Território, População:curso no Collège de France
(1977-1978). São Paulo: Martins Fontes.
______. 2008b. Nascimento da Biopolítica:curso no Collège de France (1978-1979).São Pau-
lo: Martins Fontes.
______. 2005. Em defesa da sociedade:Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo:
Martins Fontes.
GUSTON, David H. 2001. “Boundary Organizations in Environmental Policy and Sci-
ence: an introduction”. Science, Technology and Human Values, 26(4):399-408.
HARVEY, Francis& Nicholas CHRISMAN. 1998. “Boundary objects and the social
construction of GIStechnology”. Environment and Planning A, 30:1683-1694.
HENDERSON, Kathryn. 1991. “Flexible Sketches and Inflexible Data Bases: Visual
Communication, Conscription Devices, and Boundary Objects in Design En-
59
Livro Conhecimento e Cultura.indd 59 26/4/2011 12:20:45
Hibridismo, tradução e agência compósita
gineering”. Science, Technology and Human Values,16(4):448-473.
LATOUR, Bruno. 2005. Reassembling the Social:an introduction to Actor-Network-Theory.
New York: Oxford Universit Press.
______. 2001. A esperança de Pandora:ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru,
SP: EDUSC.
______. [1991] 1994. Jamais Fomos Modernos:ensaios de antropologia simétrica. Rio de Ja-
neiro: Ed. 34.
______. [1987] 2000. Ciência em Ação:como seguir cientistas e engenheiros sociedade
afora. São Paulo: Ed. UNESP.
LAW, John. & Annemarie MOL. 2002 (Ed.). Complexities: social studies of knowledge prac-
tices. Durham: Duke University Press.
MEYER, Morgan. 2009. “Objet-frontière ou Projet-frontière? Construction, (non-)utili-
sation et politique d’une banque de données”. Revue d’anthropologie des con-
naissance, 3(1):127-148.
MOL, Annemarie. 2002. The Body Multiple:ontology on medical practice. Durham: Duke
University Press.
______. 1999. “Ontological Politics. A word and some questions”. In: J. Law & J. Has-
sard (eds.), Actor Network and After. Oxford: Blackwell Publishing.
NAVARO-YASHIN, Yael. 2007. “Make-believe papers, legal forms and the counterfeit”.
SAGE Publications, 7:79-98.
PEIRANO, Mariza. 2009. O Paradoxo dos Documentos de Identidade. Série Antropolo-
gia, Vol. 426. Brasília: DAN/UNB.
RILES, Annelise. 1998. “Infinity within the Brackets”. American Ethnologist, 25(3):378-398.
ROSE, Nikolas &Peter MILLER. 1992. “Political Power beyond the State: Problemat-
ics of Government”. The British Journal of Sociology, 43(2):173-205.
______. 1995. “Political Thought and the Limits of Orthodoxy: a response to Curtis”.
The British Journal of Sociology, 46(4):590-597.
______. 2008. Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life.
Cambridge: Political Press.
SANTILLI, Juliana. 2003. “Biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados:
novos avanços e impasses na criação de regimes legais de proteção”. In: N.
Bensusan (org.), Quem cala consente? Subsídio para a proteção aos conhecimentos
tradicionais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 53-74.
SANTOS, Laymert G. 2003. Politizar as novas tecnologias - O impacto sócio-técnico da infor-
mação digital e genética.São Paulo: Editora 34.
STAR, Susan L. & James R. GRIESEMER. 1989. “Institutional Ecology, “translation”
60
Livro Conhecimento e Cultura.indd 60 26/4/2011 12:20:45
Diego Soares
and Boundary Objects: amateurs and professional in Berkley’s Museum of
Vertebrate Zoology”. Social Studies of Science, 19(3):387-420.
STROSS, Brian. 1999. “The Hybrid Metaphor: from biology to culture”. The Journal of
American Folklore, 112(445):254-267.
SWAN, Jacky, Mike BRESNEN, Sue NEWELL, & Maxine ROBERTSON. 2007. “The
Object of Knowledge: the role of objects in biomedical innovation”. Human
Relations, 60(12):1809-1837.
TROMPETTE, Pascale. & Dominique. VINK. 2009. “Revisiting the notion of Bound-
ary Object”.Revue d’anthropologie des connaissance, 3(1):3-25.
VINK, Dominique. 2009. “De l’objet intermédiaire à l’objet-frontière. Vers la prise
em compte du travail d’équipement”. Revue d’anthropologie des connaissance,
3(1):51-72.
______. 1999. “Les Objets intermediaires dans les reseaux de cooperation scientifique:
contribution a la prise en compte des objets dans les dynamiques sociales”.
Revue française de sociologie, 40(2):385-414.
WILSON, Greg & Carl G. HERNDL. 2007. “Boundary Objects as Rhetorical Exi-
gence: knowledge mapping and interdisciplinary cooperation at the Los Ala-
mos National Laboratory”. Journal of Business and Technical Communication,
21(2):129-154.
61
Livro Conhecimento e Cultura.indd 61 26/4/2011 12:20:45
Livro Conhecimento e Cultura.indd 62 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia:
uma controvérsia sobre
conhecimentos tradicionais indígenas
José Pimenta
Guilherme Fagundes de Moura
Da procura por drogas do sertão aos empreendimentos da biotecnologia con-
temporânea, a biodiversidade amazônica vem sendo sistematicamente explora-
da pelo capital e pela ciência ocidental. A busca constante por produtos extraí-
dos da floresta levou ao desenvolvimento de importantes inovações, mas sempre
deixou à margem deste processo os povos indígenas, cujos saberes tradicionais
e técnicas de manejo são as principais promotoras da biodiversidade da região
(Balée 1992). Apesar de cinco séculos de cobiça frenética e da pilhagem siste-
mática dos recursos naturais e dos conhecimentos nativos a eles associados, os
povos indígenas da Amazônia ainda possuem saberes relacionados a inúmeras
espécies desconhecidas pela ciência. No início do século XXI, os recursos ge-
néticos e os conhecimentos tradicionais continuam despertando o interesse das
indústrias de inovação biotecnológica e são muitas vezes acessados ou utilizados
sem a observância da legislação vigente ou sem o consentimento prévio e infor-
mado dos povos detentores desses conhecimentos. É, no sentido mais amplo, o
que se entende hoje pelo termo “biopirataria”.
Entre outras conquistas, a afirmação dos povos indígenas na cena política
nacional e internacional levou à assimilação gradual da problemática dos conhe-
cimentos tradicionais associados à biodiversidade nos fóruns de negociação da
Organização das Nações Unidas (ONU). Procurando estabelecer relações mais
simétricas com o mundo ocidental, os índios desejam que seus saberes sejam
reconhecidos e querem ser considerados como atores plenos nas pesquisas que
usem seus conhecimentos tradicionais realizadas em seus territórios.
63
Livro Conhecimento e Cultura.indd 63 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
No Brasil, os dispositivos jurídicos que procuram proteger os conhecimen-
tos tradicionais indígenas ainda são genéricos e precários. Limitam-se, essen-
cialmente, à Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e a uma Medida
Provisória. Produzida no âmbito das Nações Unidas, a CDB, de 1992, inaugu-
rou um novo marco jurídico para a proteção dos direitos dos povos indígenas e
das comunidades tradicionais sobre seus saberes relativos à biodiversidade. Pela
primeira vez, reconheceu a importância dos conhecimentos e práticas desses
grupos na preservação e conservação do meio ambiente.1 A convenção foi ratifi-
cada pelo Brasil, em 1994, e suas diretrizes definidas pela Medida Provisória nº
2.186-16, de 23 de agosto de 2001, que dispõe sobre o acesso ao conhecimento
tradicional associado.
Embora importante, este aparato jurídico ainda padece de muitas insuficiên-
cias e necessita ser aprimorado para possibilitar uma garantia efetiva dos direi-
tos dos povos indígenas. Existe, por exemplo, uma série de dificuldades concei-
tuais e legais. Noções como “conhecimento tradicional”, “direitos coletivos”, ou
“biopirataria” são categorias relativamente recentes e ainda problemáticas. Nos
últimos anos, vários autores procuraram refletir sobre esses termos e se dedicam
à análise de seus aspectos jurídicos e antropológicos.2
Este artigo não pretende discutir essas questões. Optamos por expor o caso
etnográfico da concepção, produção e comercialização de um sabonete à base
de gordura de murmuru (palmeira amazônica) que os índios Ashaninka3 do rio
Amônia consideram resultado de um acesso indevido aos seus conhecimentos
tradicionais. Se a Amazônia se apresenta como um reservatório quase inesgo-
tável para a indústria farmacológica, ela também é, às vezes, percebida como
uma “mina de ouro” para as empresas do setor de cosméticos, sempre em busca
de produtos inovadores para um mercado em grande expansão. No Alto Juruá,
o coco de murmuru se transformou em um problemático sabonete, atualmen-
te objeto de disputa judicial entre os índios Ashaninka, representados pelo
Ministério Público Federal (MPF), e as empresas Tawaya, Chemyunion e Natura
Cosméticos. O destino da ação judicial continua incerto. Este artigo procura re-
latar a história desse sabonete e do conflito que gerou sua comercialização, ex-
plicando as razões pelas quais os Ashaninka do rio Amônia acionaram a justiça
brasileira para reivindicar direitos que consideram legítimos. Buscaremos apre-
sentar as diferentes versões dessa controvérsia analisando alguns documentos
do processo judicial que constituem o principal solo etnográfico deste trabalho.4
O texto está organizado em quatro partes. Inicialmente, procuramos expor
o significado mitológico do murmuru para os Ashaninka do rio Amônia, assim
como os usos que eles fazem dessa espécie de palmeira. Em seguida, apresenta-
mos a história de uma pesquisa realizada pelos Ashaninka em seu território no
64
Livro Conhecimento e Cultura.indd 64 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
início dos anos 1990 e o processo de desenvolvimento e comercialização pela
empresa Tawaya do sabonete de murmuru. Segundo os índios, o sabonete é
produto direto dessa pesquisa que usou seus conhecimentos tradicionais. Na
terceira parte, analisamos os conflitos que envolvem a Associação Ashaninka
do rio Amônia, ou Apiwtxa, e a Tawaya, procurando trazer as versões das duas
principais partes envolvidas na disputa. Por fim, apresentamos a situação atual
investigando alguns documentos do processo judicial, mostrando a complexida-
de do conflito, as conexões entre a pesquisa e a produção do sabonete de mur-
muru que, além de ser comercializado pela Tawaya, também, passou a sê-lo pelas
empresas Chemyunion e Natura.
Os Ashaninka e o murmuru: mito e usos de uma palmeira
Murmuru (ou murumuru) é o nome popular dado à palmeira Astrocaryum ssp.
Essa espécie cresce na região amazônica em touceiras que atingem de 3 a 6 me-
tros de altura com caules de 20 cm a 25 cm de diâmetro, possui em média de 10
a 15 folhas, cada uma com aproximadamente 4 metros de comprimento, e pro-
duz cerca de quatro cachos por ano. Cada um deles fornece uma média de 300
frutos. A ocorrência dessa palmeira pode variar de 10 a 100 plantas por hectare.
Duas espécies de murmuru são encontradas no Acre: a Astrocaryum faranae e
a Astrocaryrum ulei, sendo que a primeira parece só existir na região do vale do
Juruá (PNUD 2000; Sousa 2004 apud Schettino 2007:33-34). Para os Ashaninka
do rio Amônia, no entanto, o murmuru está longe de ser apenas uma espécie
vegetal.5
Principal componente de um sabonete objeto de controvérsia jurídica, o
murmuru está inicialmente presente na mitologia ashaninka. Como outras po-
pulações indígenas da Amazônia, os Ashaninka rio Amônia concebem o que o
mundo ocidental chama de “natureza” como o resultado de uma série de trans-
formações que ocorreram nos tempos míticos e que transformaram alguns hu-
manos em não-humanos. Assim, como outros fatos importantes dos primórdios
da humanidade e da criação do mundo, a aparição do na terra tem uma explica-
ção mítica para eles. O “mito do murmuru”, que resumimos a seguir, faz parte
do rico repertório mitológico, repassado oralmente pelos mais velhos para as
novas gerações.
Para os Ashaninka, o mundo terrestre é obra de Pawa, o Deus-Criador, cuja
materialização mais explícita é o sol, considerado por eles como a manifestação
do brilho de sua coroa. Após criar o mundo e os Ashaninka, primeiros huma-
nos, Pawa subiu ao céu, deixando alguns de seus filhos encarregados de finali-
zar a Criação e aperfeiçoar o mundo terrestre para atender às necessidades dos
65
Livro Conhecimento e Cultura.indd 65 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
homens. Para dar prosseguimento à sua obra, Pawa outorgou poderes sobrena-
turais a seus filhos deixados na terra. Com tais poderes, esses demiurgos asha-
ninka, chamados genericamente tasorentsi, continuaram a obra do Deus-Criador,
dando ao mundo terrestre seu aspecto atual. Nos primórdios da Humanidade,
não existiam animais, nem árvores, foram os tasorentsi que transformaram alguns
ashaninka em animais, plantas, rios, lagos, montanhas e completaram a Criação.
Segundo o índio Shomõtse, Nawiriri era um desses tasorentsi, filhos de Pawa,
que transformou várias pessoas em vegetais e animais, entre elas, o murmuru.6
O mito conta que um dia, Nawiriri foi passear carregando seu netinho nas cos-
tas. Durante o passeio, alguns ashaninka se apresentavam com uma aparência
física fora do comum e atraíam a curiosidade da criança que perguntava ao avô:
“Txarini [vovô], o que é isso?”. O avô respondia às perguntas transformando es-
ses humanos em árvores ou animais conforme sua aparência física e justificava
essas transformações. Ao longo do passeio, Nawiriri e seu neto se depararam
com um ashaninka que, ao contrário dos outros, tinha uma profusa barba que
deixava crescer. Ao encontrar esse humano de aparência tão diferente, o menino
surpreso perguntou novamente ao avô o que era aquilo. Nawiriri questionou o
ashaninka barbudo sobre as razões pelas quais ele usava barba. Como resposta,
ouviu que era simplesmente por gosto pessoal. Nawiriri considerou que o uso da
barba não era um modo adequado para os Ashaninka e acrescentou que, a par-
tir daquele momento, transformaria eternamente aquele humano em murmuru
para servir os Ashaninka que passariam a fazer grande uso de seu novo corpo,
alimentando-se, por exemplo, de seu cérebro (coco).7
Assim, para os Ashaninka, o murmuru não é apenas um vegetal, mas um
de seus antepassados transformado nessa espécie de palmeira pelo tasorentsi
Nawiriri. Os espinhos do murmuru são a materialização da barba desse antigo
ashaninka, e o coco da palmeira é considerado seu cérebro. A espécie não é sem-
pre apreciada pelos índios. Dizem, por exemplo, que os espinhos do murmuru
são perigosos ou que pode ser uma verdadeira praga que invade os roçados ou
dificulta as saídas na floresta. No entanto, como antigo ashaninka, transforma-
do em vegetal para o bem dos humanos, o murmuru, como muitos animais e
vegetais, carrega um sentido especial para os índios. Foi criado para servir os
humanos e exige respeito e cuidados. Assim, os Ashaninka dizem que o murmu-
ru “possui espírito” e que deve ser tratado com respeito. Não temos informações
de prescrições relativas à coleta do murmuru, como existem, por exemplo, em
abundância, em relação à caça. No entanto, os Ashaninka do rio Amônia afir-
mam que se deve sempre evitar “estragar o murmuru” e coletá-lo de “forma
direita”, ou seja, sem exageros e aproveitando-o ao máximo.8
66
Livro Conhecimento e Cultura.indd 66 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
Se a preocupação indígena com o que chamaríamos de “manejo do mur-
muru” já está presente na mitologia, o conhecimento de sua ecologia também é
extremamente acurado e baseado na observação minuciosa de seu ciclo de vida.
Os Ashaninka sabem, por exemplo, quais animais se alimentam da palmeira, seu
tempo de germinação, as etapas de seu desenvolvimento, as pragas que a afetam
etc. A riqueza desse saber nativo possibilita-lhes um sofisticado uso da palmei-
ra.9 Assim, os Ashaninka aproveitam toda a árvore, ou seja, o tronco, a palha e
o coco. Possuem um extenso leque de usos dessas diferentes partes da palmei-
ra e de outros seres que com ela interage. Sementes, brotos, tronco, palmito,
frutos, folhas, larvas e lagartas hospedeiras têm usos tradicionais que servem
para diferentes fins: construção, alimentação, medicina, artesanato e cosméti-
co. Na ocasião da perícia realizada para o MPF, Schettino (2007) fez um levan-
tamento detalhado dos usos do murmuru entre os Ashaninka do rio Amônia.
Retomaremos, a seguir, algumas das informações contidas em seu relatório.
Por ser robusto e durável, o tronco do murmuru é geralmente usado na cons-
trução e na reforma das casas, principalmente, como pilares e esteios. Também
hospeda vários tipos de larvas muito apreciadas na culinária nativa e que podem
ser consumidas assadas ou cruas. A maior e mais saborosa é chamada imowo na
língua indígena e tem, aproximadamente, 5 cm de comprimento.
As larvas também dão aos Ashaninka o óleo de murmuru. Quando assadas,
por exemplo, em folha de bananeira ou de sororoca, produzem um óleo (também
referido como “manteiga”) que, além de alimentar, pode ser utilizado para fins
cosméticos ou medicinais. O óleo da larva imowo pode servir como emoliente
para o urucum, usado principalmente em pinturas faciais, e também para lavar e
limpar a pele de pequenas feridas ou irritações. É utilizado com frequência con-
tra a caspa, por exemplo. Outro tipo de larva, chamado pachori, menor que o imo-
wo, esfregada nos dentes, contribui para a conservação dos mesmos.10 O tchouitz
é um terceiro tipo de larva de cor branca que se hospeda no coco do murmuru
e que é usada para limpar os ouvidos. A larva é colocada no ouvido por alguns
minutos e procede à sua limpeza, provocando algumas cócegas.11
As folhas do murmuru são utilizadas, principalmente, na fabricação de di-
ferentes tipos de abanos e cestos. Segundo os Ashaninka, abrigam duas espécies
de lagartas chamadas rompa e shõpa que também são utilizadas como alimento e
produzem um óleo que pode ser usado no tratamento de feridas e para minimi-
zar a coceira.
O coco do murmuru, além de servir de alimento consumido cozido ou as-
sado, também produz óleo ou gordura. Como no caso das larvas, esse óleo serve
para fins medicinais e estéticos: cicatrizante de feridas, calmante da coceira,
67
Livro Conhecimento e Cultura.indd 67 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
loção contra a caspa, hidratante para a pele etc.12 O fruto maduro também é usa-
do para a confecção de colares.
Assim, além de usarem o murmuru para diferentes usos alimentares (larvas,
lagartos e coco), os Ashaninka do rio Amônia também conferem tradicional-
mente a seu óleo, obtido de diversas formas, uma série de propriedades com
finalidades cosméticas e medicinais. O óleo do murmuru é utilizado pelos índios
como um tipo de sabonete, inclusive, com propriedades medicinais: bom para a
pele e para os cabelos, capaz de cicatrizar feridas, combater a caspa etc. Algumas
das propriedades do murmuru foram comprovadas por análises laboratoriais
decorrentes de uma pesquisa realizada na Terra Indígena do Rio Amônia na
década de 1990. Essa pesquisa está na origem da controvérsia judicial em torno
do sabonete de murmuru.
Da pesquisa à comercialização do sabonete
Buscando alternativas à exploração predatória de madeira que devastou par-
te de seu território na década de 1980, os Ashaninka do rio Amônia procuraram,
a partir de 1992, atividades econômicas ambientalmente sustentáveis e capa-
zes de assegurar uma renda para a comunidade adquirir os bens industriais dos
quais foi se tornando dependente. No contexto do indigenismo contemporâ-
neo, marcado pela interface crescente com o ambientalismo, criaram a associa-
ção indígena Apiwtxa e, como várias outras populações indígenas da Amazônia,
entraram progressivamente no “mercado de projetos” (Albert 2000), pautando
seus discursos etnopolíticos no paradigma do “desenvolvimento sustentável”.13
O conflito em torno do murmuru nasceu nesse momento de transição da his-
tória recente dos Ashaninka do rio Amônia e é um desdobramento de um dos
primeiros projetos implementados por eles. Tem sua origem em 1992, quan-
do houve uma parceria entre a associação ashaninka e o Centro de Pesquisa
Indígena (CPI) para o desenvolvimento de um projeto que buscava viabilizar o
aproveitamento sustentável dos recursos naturais da Terra Indígena Kampa do
rio Amônia.
Hoje extinto, o CPI era uma extensão do Núcleo de Cultura Indígena (NCI),
ONG criada em 1985 e dirigida pelo líder indígena Aílton Krenak. Após partici-
par ativamente da consolidação dos direitos indígenas na Constituição de 1988,
o NCI iniciou um processo de discussão com várias lideranças indígenas para
desenvolver programas de pesquisa na área ambiental em diferentes regiões do
Brasil. O CPI foi fundado em 1989 para viabilizar esses programas que busca-
vam aproveitar de forma sustentável os recursos naturais das terras indígenas,
oferecer alternativas econômicas às comunidades e capacitar técnicos nativos
68
Livro Conhecimento e Cultura.indd 68 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
para a execução dos projetos. Com o apoio de instituições e organizações inter-
nacionais, o CPI formou jovens de diferentes grupos étnicos e criou condições
para a implementação de vários projetos de “desenvolvimento sustentável”: vi-
veiros de plantas nativas, criação em cativeiro de espécies de peixes, manejo de
animais silvestres etc.
A partir de uma base de apoio instalada em um sítio próximo à cidade de
Goiânia, os projetos pilotos do CPI beneficiaram um conjunto de áreas indíge-
nas da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. No contexto da “Aliança dos
Povos da Floresta”, que também teve Aílton Krenak como um de seus princi-
pais articuladores e desempenhou um papel importante para garantir os direitos
territoriais de índios e seringueiros na região do Alto Juruá (Pimenta 2007), o
CPI criou uma representação na cidade de Cruzeiro do Sul e implementou al-
guns projetos com as populações indígenas da região.14
A parceria entre os Ashaninka e o CPI nasceu nesse contexto da “Aliança
dos Povos da Floresta” e da amizade crescente entre Francisco, Moisés e Benki
Piyãko, principais lideranças da associação Apiwtxa, e Aílton Krenak. Os líderes
ashaninka visitaram o sítio do CPI em Goiás e ficaram entusiasmados com o que
viram. Os projetos de pesquisa da ONG apontavam para resultados promissores
e geravam grandes expectativas a médio e longo prazo. Os Ashaninka percebe-
ram que a rica biodiversidade de seu território e os conhecimentos à ela associa-
dos ofereciam um potencial enorme que, com apoio técnico adequado, poderia
levar ao desenvolvimento de produtos e seu aproveitamento no mercado, ofere-
cendo alternativas econômicas sustentáveis para a comunidade indígena.
Assim, a ideia de uma parceria entre o CPI e a Apiwtxa para realizar um
levantamento de espécies nativas da Terra Indígena Kampa do Rio Amônia com
potencial econômico, tendo como meta o desenvolvimento de produtos para o
mercado, foi ganhando forma. O primeiro passo era encontrar um técnico habi-
litado e disposto a trabalhar com os índios para operacionalizá-la. Por interme-
diário da antropóloga Margarete Mendes, que pouco antes fizera sua pesquisa
de mestrado com os Ashaninka e que vinha apoiando a comunidade indígena15,
Moisés Piyãko, na época presidente da Apiwtxa, conheceu Fábio Fernandes
Dias que concluía seus estudos de graduação em física na Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), onde desenvolvia pesquisas sobre tecnologias para ex-
tração de óleos de plantas. Fábio Dias aceitou o desafio de trabalhar com os
Ashaninka. Moisés Piyãko o apresentou a Aílton Krenak e, com o apoio do
técnico, a Apiwtxa e o CPI elaboraram um projeto.
O Programa de Pesquisa e Aproveitamento de Recursos Naturais Renováveis,
às vezes, referido como Programa (ou Projeto) de Óleos Essenciais, começou
em julho de 1992 e durou até dezembro de 1995. A partir de 1993, passou a
69
Livro Conhecimento e Cultura.indd 69 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
integrar um programa maior desenvolvido pelo CPI na região do Alto Juruá
que terminou em 1996 e contou com financiamentos oriundos, principalmente,
da Chancelaria da Áustria.16 O projeto se inseria no ciclo anual das atividades
da comunidade indígena e contribuía com a recuperação de áreas degradadas
dentro do território, restabelecendo sua integridade ecológica e garantindo as
condições de (re)produção sociocultural dentro da pauta ashaninka do “desen-
volvimento sustentável”.
O Programa de Pesquisa e Aproveitamento de Recursos Naturais Renováveis
explorou o potencial econômico de óleos, essências e sementes de dezenas de es-
pécies nativas da Terra Indígena Kampa do rio Amônia. Contratado pelo CPI
para desenvolver esse projeto de pesquisa junto aos índios, Fábio Dias passou
várias temporadas na Terra Indígena Kampa do rio Amônia, somando um total
de cerca de um ano de pesquisa de campo. Para acompanhar o trabalho, um
grupo de jovens ashaninka, escolhido pela comunidade, atuou como “mateiro”
do projeto e foi treinado pelo técnico em alguns procedimentos básicos da pes-
quisa: identificação botânica, processos de coleta, extração e processamento das
essências etc. Esse pequeno grupo coletava amostras vegetais e fornecia informa-
ções sistemáticas a respeito das mesmas antes de encaminhá-las ao consultor que
realizava testes preliminares.
Fazia também parte do projeto o estabelecimento de parcerias com laborató-
rios, centros universitários de pesquisa e empresas. Assim, amostras de espécies
e de seus componentes, preparadas pelo consultor, foram enviadas para análises
laboratoriais com o objetivo de identificar possíveis usos comerciais. Os contatos
prévios de Fábio Fernandes Dias com a Unicamp fizeram com que essa univer-
sidade, por meio de algumas de suas unidades, como a Faculdade de Engenharia
e Alimentos, o Instituto de Química e a Faculdade de Engenharia Agrícola, se
tornasse um parceiro privilegiado do projeto. No total, mais de cinquenta espé-
cies, entre óleos, folhas, polpas, castanhas e outros foram pesquisados e catalo-
gados durante os três anos e meio do Programa de Pesquisa e Aproveitamento
de Recursos Naturais Renováveis. Os potenciais econômicos de cada espécie
foram estudados, levando-se em consideração a percentagem de óleo produzida,
sua qualidade e o potencial comercial das diversas essências. Entre dezenas de
espécies pesquisadas, a palmeira murmuru começou a se destacar pelo potencial
que apresentava para o mercado de cosméticos.
Em outubro de 1996, após o término do convênio entre a Apiwtxa e o CPI,
dando prosseguimento à pesquisa iniciada em 1992 com os Ashaninka do rio
Amônia e interessado em viabilizar comercialmente alguns resultados, Fábio
Dias se associou à antropóloga Margarete Mendes e fundou a empresa Tawaya
em Cruzeiro do Sul.17 A empresa foi criada com o objetivo de produzir óleos e
70
Livro Conhecimento e Cultura.indd 70 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
gorduras a partir de produtos extrativistas da região e sabonetes destinados ao
mercado de cosméticos. Além da unidade de produção, a fábrica conta com um
pequeno laboratório de pesquisa.
A partir de 1999, a empresa iniciou lentamente sua produção com óleo de
buriti e gordura de murmuru para a indústria do setor cosmético. No mesmo
ano, a Tawaya fez a primeira grande compra do coco de seus fornecedores.18 No
final de 2000, as primeiras amostras do sabonete de murmuru já tinham sido
produzidas. Em 2004, a empresa obteve finalmente o registro do produto na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e começou a comercialização
do sabonete no início de 2005. Para a Tawaya, a venda de sabonetes à base de
murmuru era apenas o primeiro passo de um empreendimento comercial maior,
cujo objetivo final era, de modo geral, a produção e comercialização de cosméti-
cos, utilizando essências e óleos de várias espécies nativas da Amazônia. Assim,
também conseguiu autorização da Anvisa para fabricar e pôr no mercado outros
produtos à base de óleos de açaí, buriti, andiroba e patoá.
Em sua propaganda comercial, a Tawaya se apresenta como uma empresa
especializada na fabricação de cosméticos naturais obtidos a partir do extrati-
vismo de frutos da floresta amazônica e pioneira na fabricação do sabonete de
murmuru que constitui seu principal produto. Composto apenas de gordura
de murmuru, hidróxido de sódio, água e flagrância, esse sabonete não tem
conservantes, nem corantes. Apresentado como um produto 100% natural, é
fabricado com oito essências diferentes: hortelã, cravo, canela, limão, herbá-
ceo, floral, cidreira, erva-doce. A partir de 2006, a produção foi incrementada
com o lançamento de uma linha de sabonetes líquidos. A empresa afirma que
“todas as fórmulas, processos e equipamentos foram desenvolvidos pela pró-
pria Tawaya com a finalidade de adaptar o método tradicional de fabricação
de sabonetes à realidade industrial”. O sabonete de murmuru é vendido em
lojas especializadas e em algumas redes de comércio. Também pode ser adqui-
ridos pela internet, inclusive em sítios do exterior19, e é encontrado em alguns
hotéis.
A Tawaya afirma ser uma empresa ecologicamente correta e socialmente
justa com as populações locais. Tem como princípio: “a certeza da importância
de preservar a Amazônia, sua gente, seus conhecimentos e sua biodiversidade”.
Atua ao longo do rio Juruá e seus afluentes, desde o município de Marechal
Thaumaturgo, no Acre, até Eirunepé, no Amazonas. Compra diretamente o
murmuru de produtores cadastrados, sem intermediários e com pagamento à
vista. Em 2004, contava com a participação de mais de 700 extrativistas cadas-
trados. No mesmo ano, tinha 32 funcionários fixos, mais 20 temporários, e fa-
bricava cerca de 50 mil sabonetes por mês. Segundo um responsável comercial
71
Livro Conhecimento e Cultura.indd 71 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
da empresa, a previsão era dobrar o número de fornecedores e funcionários a
curto prazo para aumentar a produção.20
Com a venda do sabonete de murmuru, uma série de dificuldades surgiu e as
relações entre a associação ashaninka e a Tawaya começaram a se deteriorar, aba-
lando a confiança que vinha sendo construída nos últimos anos entre Fábio Dias
e Margarete Mendes, de um lado, e as lideranças indígenas, de outro. O processo
de comercialização do sabonete foi realizado sem consulta aos Ashaninka e sem
sua participação. Referências aos índios ou à pesquisa realizada em seu território
na primeira metade da década de 1990 não aparecem nas propagandas comer-
ciais da empresa. Assim, os Ashaninka consideram que a Tawaya se apropriou
indevidamente de seus conhecimentos tradicionais para produzir o sabonete de
murmuru.
O conflito da associação ashaninka com a empresa Tawaya
O conflito entre a Apiwtxa e a Tawaya é complexo. Remete à problemáti-
ca do acesso aos conhecimentos tradicionais indígenas e à sua precária regula-
mentação jurídica. Antes de analisarmos mais detalhadamente alguns aspectos
dessa disputa, apresentamos as posições das duas principais partes envolvidas
em torno dos pontos mais salientes da controvérsia. O tema mais visível da dis-
puta concerne à questão da repartição dos benefícios advindos do processo de
comercialização do sabonete de murmuru, mas a querela é mais geral e diz res-
peito ao papel da Apiwtxa na definição da política e das orientações da empresa.
Começamos por relatar a versão indígena.
Os Ashaninka consideram que o sabonete é resultado direto da pesquisa ini-
ciada em 1992 com o convênio Apiwtxa/CPI. Essa empreitada envolveu toda a
comunidade indígena e se beneficiou copiosamente da mão de obra nativa e,
sobretudo, dos saberes tradicionais dos Ashaninka. Pessoas adultas indicaram
ao técnico contratado os usos de uma grande variedade de plantas da terra indí-
gena. Disponibilizaram seus conhecimentos tradicionais relacionados a dezenas
de espécies de folhas, frutas e sementes. Foram enfatizadas pesquisas com plan-
tas usadas na alimentação, corantes, medicamentos tradicionais, óleos essenciais
e castanhas, cujas propriedades foram comprovadas por análises laboratoriais.
Do ponto de vista indígena, o intuito do Programa de Pesquisa e
Aproveitamento de Recursos Naturais Renováveis era “tornar científicos” al-
guns conhecimentos que os índios possuíam da floresta, na esperança de que sua
sabedoria a respeito do meio ambiente pudesse levar ao desenvolvimento de pro-
dutos para o mercado, oferecendo alternativas econômicas capazes de gerar ren-
da suficiente para suprir as demandas da comunidade em bens manufaturados.
72
Livro Conhecimento e Cultura.indd 72 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
Na perspectiva dos índios, a posição do técnico foi de mero fornecedor de tecno-
logia e eficácia científica para os conhecimentos tradicionais indígenas.
As lideranças da Apiwtxa afirmam que participaram amplamente das dis-
cussões sobre a criação da empresa Tawaya com Fábio Dias e Margarete Mendes.
Segundo os índios, durante a pesquisa anterior, o murmuru tinha revelado o
melhor potencial econômico para o mercado de cosmético e nas discussões sobre
a criação da empresa teriam decidido priorizar a produção de um sabonete à base
de murmuru; um produto original para esse mercado. Os Ashaninka venderiam
o coco de murmuru à Tawaya que, a partir de sua gordura, produziria o sabonete.
Como a produção indígena de murmuru era insuficiente para satisfazer plena-
mente a atividade comercial da empresa, teriam concordado em incentivar ou-
tras populações do Alto Juruá (seringueiros, ribeirinhos, pequenos agricultores
e outros povos indígenas) a também fornecer a matéria-prima à Tawaya.
Apesar de não terem investido capital financeiro na empresa, os Ashaninka
entendem que investiram seu “capital cultural” e que este foi fundamental para
viabilizar a produção e comercialização do sabonete de murmuru. Assim, os
índios gostam de lembrar o papel essencial desempenhado pela comunidade em
todo o processo, desde a pesquisa, na qual Fábio Dias era apenas um pesquisador
contratado por uma ONG para desenvolver um projeto a serviço da comunida-
de, até a criação da empresa e a produção do sabonete.
Por essas razões, na opinião dos índios, as fronteiras que separavam a Tawaya
da Apiwtxa, no momento de sua criação, não eram bem definidas e os interesses
da empresa se confundiam com os da associação. Os Ashaninka se viam como
empreendedores indígenas e esperavam que a Tawaya fosse um instrumen-
to que pudesse contribuir para a concretização de um objetivo político maior:
promover iniciativas de “desenvolvimento sustentável” não apenas para a Terra
Indígena Kampa do rio Amônia, mas também, para toda a bacia do Alto Juruá.
Justamente por isso, sempre concordaram em ampliar os benefícios do projeto
para outras populações da região e nunca foram contrários à participação de
comunidades de pequenos agricultores, seringueiros, ribeirinhos ou outras po-
pulações indígenas como fornecedoras de murmuru à empresa.21 Nessa pers-
pectiva, consideram que a Tawaya é fruto do trabalho conjunto de Fábio Dias,
Margarete Mendes e da comunidade ashaninka e querem que a Apiwtxa, como
representante dos interesses indígenas, seja considerada como uma parceira ple-
na, com participação nos resultados econômicos e na política da empresa e não
apenas tratada como mera fornecedora de matéria-prima.
Os Ashaninka do rio Amônia acusam Fábio Dias de ter se apropriado dos
resultados dessa pesquisa e tomado decisões por conta própria, esquecendo seus
engajamentos com a Apiwtxa. A distância entre a associação indígena e a Tawaya
73
Livro Conhecimento e Cultura.indd 73 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
aumentou com o início da comercialização do sabonete. Sentindo que a comu-
nidade indígena estava sendo prejudicada e posta à margem desse processo, as
lideranças ashaninka procuraram Fábio Dias para formalizar um acordo que
garantisse, por escrito, aquilo que, segundo elas, vinha sendo acertado informal-
mente durante anos.
A repartição dos benefícios advindos da produção do sabonete tornou-se um
dos pontos mais salientes do conflito. Os índios consideram que têm direito a
uma participação nos lucros oriundos da venda desse e de outros eventuais pro-
dutos derivados da pesquisa. Segundo as lideranças da Apiwtxa, até iniciar a fase
de comercialização, Fábio Dias teria reconhecido a contribuição da comunidade
indígena. Nas discussões que antecederam a criação da empresa, Moisés Piyãko
alega inclusive que, como presidente da associação ashaninka, assinou um docu-
mento que afirmava que a empresa teria a configuração de um consórcio tripar-
tite, seus benefícios sendo divididos entre os três sócios da seguinte forma: 50%
para Fábio Dias, 25% para Margarete Mendes e 25% para a Apiwtxa. Moisés,
no entanto, confiando na lealdade de seus aliados na época, não teria solicitado
cópia desse documento.22
Na aldeia indígena, a expectativa de um retorno econômico com a venda
do sabonete sempre foi grande. Os Ashaninka afirmam ter depositado muita
confiança na pesquisa de óleos e essências florestais e acreditado na parceria
com Fábio e Margarete. Além de ajudar as famílias na compra de bens indus-
trializados, viam o recurso financeiro advindo da comercialização do sabonete
de murmuru como uma possibilidade para realizar futuros investimentos em
novas pesquisas, com outras espécies vegetais, aumentando a probabilidade de
criar outros produtos. As esperanças deram lugar a uma imensa frustração e a
um profundo sentimento de injustiça. Além da questão complexa da repartição
dos benefícios da comercialização, existem outros pontos de divergência entre a
Apiwtxa e a Tawaya. Destacamos aqui apenas dois.
Os Ashaninka também consideram que o silêncio sobre o manejo do mur-
muru é uma questão problemática. Passaram a criticar a estratégia comercial da
Tawaya que começou a comprar o coco de murmuru de fornecedores individuais
em vez de associações de produtores, como anteriormente planejado. Longe de
ser irrelevante, essa escolha preocupa os índios na medida em que põe em risco
todo o projeto político da Apiwtxa para promover a sustentabilidade da região
do Alto Juruá. Os Ashaninka consideram que uma empresa que faz da conser-
vação ambiental um argumento de venda precisa discutir um plano de manejo
de longo prazo para a coleta de murmuru com os seus fornecedores e que esse
plano só tem reais possibilidades de ser respeitado trabalhando com associações
credenciadas para a coleta e não com fornecedores individuais.
74
Livro Conhecimento e Cultura.indd 74 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
Outro ponto da disputa entre a Apiwtxa e a Tawaya diz respeito ao uso do
próprio nome da empresa. A palavra tawaya designa, na língua ashaninka, o
igarapé Amoninha, um afluente do rio Amônia, na desembocadura do qual foi
realizada a maior parte da pesquisa com as espécies florestais entre 1992 e 1995.
Na ausência de um entendimento sobre os rumos da empresa, os índios afirmam
que esse nome também faz parte de seu patrimônio cultural e que não autori-
zaram seu uso. Na perspectiva nativa, a marca Tawaya não deveria aparecer nos
produtos da empresa que deveria mudar de nome.
Fábio Dias e Margarete Mendes relatam a história do sabonete de murmu-
ru de modo bem diferente. Durante entrevista concedida ao antropólogo José
Pimenta no final de 2000, antes do acirramento do conflito, Fábio Dias já se mos-
trava irritado com as cobranças repetitivas das lideranças indígenas. Segundo
ele, o levantamento de produtos feito no âmbito do projeto CPI/Apiwtxa ex-
cluía, intencionalmente, pesquisas sobre plantas tradicionais e outros conheci-
mentos específicos dos Ashaninka, justamente, para evitar no futuro questões de
patentes ou de direitos autorais. Fábio Dias alega que as informações levantadas
com a comunidade indígena poderiam ter sido obtidas com qualquer outra co-
munidade, indígena ou não, do Alto Juruá e até mesmo de outras regiões ama-
zônicas. Para ele, a pesquisa foi realizada com a participação da comunidade,
mas não envolveu nenhum tipo de conhecimento exclusivamente ashaninka,
portanto, a Apiwtxa não tem motivos para reivindicar direitos autorais sobre
o sabonete. Segundo Fábio Dias, as propriedades do murmuru são de domínio
público, estão descritas na literatura cientifica há décadas, principalmente, na
obra de Celestino Pesce (1985), publicada pela primeira vez em 1941.
Fábio Dias e Margarete Mendes reconhecem que, em razão da proximidade
que tinham com as lideranças da Apiwtxa, ocorreram muitas conversas infor-
mais sobre vários assuntos, mas negam que a ideia de produzir um sabonete à
base de murmuru tenha sido dos índios. Garantem que não fizeram nada de de-
sonesto com a comunidade. Descartam ter havido qualquer discussão sobre uma
participação da Apiwtxa na gestão, na política ou nos benefícios da empresa. Em
depoimento prestado à Procuradoria da República no Acre, Fábio Dias afirmou
ainda que, na época da pesquisa, os Ashaninka não usavam o murmuru para
fins cosméticos, nem utilizavam seu óleo ou essência. Segundo ele, os índios
apenas o ajudaram na localização das árvores, sem indicar seu uso (Schettino
2007:18-19).
Advogando, assim, não haver nada de exclusivo no sabonete de murmuru e
nenhum benefício a repartir com os Ashaninka, Fábio Dias e Margarete Mendes
consideram que as cobranças das lideranças da Apiwtxa não têm qualquer legi-
timidade. Tais acusações só teriam contribuído para atrasar o licenciamento am-
biental da empresa, difamando-a em praça pública por suspeita de biopirataria.
75
Livro Conhecimento e Cultura.indd 75 26/4/2011 12:20:45
O sabonete da discórdia
Em relação ao uso do nome Tawaya, no início de 2000, Fábio Dias chegou a
considerar a possibilidade de renomear sua empresa. Todavia, descartou rapida-
mente essa hipótese, alegando já ter feito muitos investimentos com esse nome
e, inclusive, contratado uma empresa para registrá-lo como marca. Considera
que o nome Tawaya não faz vender nem mais nem menos sabonetes e que não há
impedimento legal em nomear uma empresa com uma palavra indígena.
Até o início dos anos 2000, ambas as partes buscaram chegar a um compro-
misso amigável, mas não houve acordo. Nos últimos anos, a distância entre as
posições da Apiwtxa e dos representantes da Tawaya aumentou e o diálogo foi
rompido. Enquanto o pesquisador/empresário alega que o conhecimento a res-
peito do murmuru é de domínio público, com informações publicadas desde o
início de década de 1940, os Ashaninka continuam reivindicando direitos sobre
a comercialização de um produto que eles consideram oriundo do uso indevido
de seus conhecimentos tradicionais. Após várias reuniões de negociação sem
acordo, frente à recusa de Fábio Dias e de Margarete Mendes em reconhecer a
participação dos índios no processo de desenvolvimento do sabonete e à comple-
xidade da legislação sobre o uso dos conhecimentos tradicionais, as lideranças
ashaninkas levaram a disputa à esfera judicial. Sentindo-se extorquidos e vio-
lados em seus direitos, os representantes da Apiwtxa procuraram o Ministério
Público Federal que, no uso de suas atribuições, deu início, em agosto de 2007,
a uma Ação Civil Pública contra a Tawaya e duas outras empresas por uso inde-
vido dos conhecimentos tradicionais da comunidade indígena.
A ação do Ministério Público Federal: o imbróglio jurídico
No banco dos réus, a Tawaya foi acompanhada pela Chemyunion Química
Ltda e pela Natura Cosméticos. Essas três empresas são acusadas pelo MPF de
registrar, entre 2001 e 2006, dezenove produtos, à base de gordura de murmu-
ru, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e de solicitar cinco
patentes (Schettino 2007:47). Nenhum desses registros e pedidos de patentes
faz referência aos Ashaninka, embora todos sejam posteriores ao término da
pesquisa da Apiwtxa com o CPI.
Sozinha, a empresa Chemyunion Química Ltda registrou três pedidos de
patentes no INPI, respectivamente sob os números PI 0106625-0, PI 0303405-4
e PI 0503239-3. O primeiro desses pedidos data do dia 8 de outubro de 2001. No
processo judicial, a Chemyunion afirma que a Tawaya é uma de suas duas forne-
cedoras de gordura de murmuru. Diz possuir oito produtos à base de gordura de
murmuru, cujo desenvolvimento foi realizado a partir de referências bibliográfi-
cas sobre a palmeira. Cita o livro do Celestino Pesce de 1941, também citado por
76
Livro Conhecimento e Cultura.indd 76 26/4/2011 12:20:45
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
Fábio Dias, e outra fonte bibliográfica menor de 1991. Em 14 de maio de 2003,
Fábio Fernandes Dias também depositou seu pedido de patente do sabonete do
murmuru sob o nº PI 0301420-7. Por fim, em ofício à Procuradoria da República
do Acre, datado de 18 de janeiro de 2007, a empresa de cosméticos Natura, que
passou a comercializar produtos à base de murmuru para a sua linha Ekos, infor-
mou que registrou na Anvisa, entre 19 de agosto de 2003 e 04 de junho de 2006,
11 produtos à base da gordura dessa palmeira. Também alega ter usado dados
da literatura científica para desenvolver esses produtos e que ingressou, junto
ao INPI, com um pedido de patente da manteiga do murmuru sob o número PI
0503875-8 (Schettino 2009:4).
Por essas razões, a ação do MPF, com base na Convenção sobre a Diversidade
Biológica (CDB) e na Medida Provisória nº 2.186/2001, inclui, além do em-
presário Fábio Fernandes Dias, proprietário da Tawaya, o INPI, a empresa
Chemyunion Química Ltda e a Natura, todos envolvidos com pedidos de paten-
tes e registros de marcas relacionados ao uso comercial do murmuru. Na ação, o
procurador da República José Lucas Perroni Kalil solicita a inversão do ônus da
prova quanto à obtenção do conhecimento para as supostas invenções e marcas.
Para o MPF, Fábio Dias, a Chemyunion Química Ltda e a Natura devem ser
condenados à indenização de 50% do lucro total obtido nos anos de exploração
até o momento e pelos próximos cinco anos, a contar da data de trânsito em
julgado da decisão final. Essa seria a maneira de possibilitar a equânime distri-
buição dos benefícios quanto à exploração de produtos com murmuru. Outra
exigência do MPF envolve o INPI, acusado de negligência por desconsiderar o
acesso aos conhecimentos tradicionais e a subsequente distribuição equânime
de benefícios para os pedidos de patente ou registro deles originados. Por fim,
o MPF propõe que Fábio Dias, a Chemyunion Química e a Natura Cosméticos
sejam condenados a indenizar por danos morais à sociedade brasileira e à co-
munidade indígena, com valor a ser estabelecido pelo juiz Jair Fagundes da 3ª
Vara da Justiça Federal no Acre. Propõe que esse valor seja revertido de modo
equânime entre a associação Apiwtxa e o Fundo Federal de Direitos Difusos.23
A ação do MPF se baseia em farta documentação que busca resgatar o pro-
tagonismo ashaninka na pesquisa realizada na Terra Indígena Kampa do rio
Amônia e mostrar as ligações dessa pesquisa com o sabonete de murmuru. Em
2007, a perícia realizada pelo antropólogo do MPF Marco Paulo Schettino mos-
tra, com riqueza de detalhes, que houve acesso aos conhecimentos tradicionais
dos Ashaninka. Na conclusão de seu relatório, datado de 13 de julho de 2007, o
autor afirma claramente:
77
Livro Conhecimento e Cultura.indd 77 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
A partir dos dados coletados em campo, da análise dos documentos le-
vantados no Inquérito Civil Público e da etnografia recente a respeito
dos Ashaninka que habitam a bacia do rio Amônia no Estado do Acre,
constatamos que houve acesso a recursos genéticos e a conhecimentos
tradicionais dessa comunidade Ashaninka. (Schettino 2007:48)
Uma série de outros documentos integra o volumoso processo judicial que
tramita na Justiça Federal do Acre e apontam na mesma direção. Apesar de uma
legislação ainda embrionária, o MPF dispõe de uma grande quantidade de in-
formações para sustentar sua ação. Sem entrar nos pormenores do “dossiê mur-
muru”, procuramos, a seguir, apontar alguns desses documentos que constam
no referido processo e que evidenciam claramente as ligações entre a pesquisa
realizada entre 1992 e 1995 na terra indígena e o desenvolvimento comercial do
sabonete de murmuru pelas três empresas acusadas. Alguns dessas informações
foram produzidas pelos próprios réus da ação.
Diferentes documentos do processo judicial atestam que a pesquisa desenvol-
vida na Terra Indígena Kampa do rio Amônia foi uma iniciativa dos Ashaninka,
representados pelas lideranças da associação Apiwtxa. Os índios foram os pro-
motores e protagonistas da pesquisa e buscaram o apoio do CPI para concretizá-
-la. A ida de Fabio Dias para o Alto Juruá decorreu de sua inserção como técnico
no Projeto Apiwtxa/CPI em 1992. Ele próprio sempre reconheceu esse fato.
Os termos para o desenvolvimento dessa pesquisa foram formalizados por
meio de um “convênio de colaboração” celebrado entre a Apiwtxa, representada
na época pelo seu presidente Francisco Piyãko, e o NCI/CPI dirigido por Aílton
Krenak. O convênio orientava a implementação do projeto e definiu que cabia
ao CPI e à Apiwtxa contratar o técnico necessário à execução da pesquisa, bem
como coordenar e supervisionar suas ações em campo. A associação ashaninka
comprometia-se a garantir o acesso do técnico à terra indígena, encarregava-se
de recebê-lo, hospedá-lo e orientar seus trabalhos.
É interessante notar que o convênio de colaboração já apresentava uma pre-
ocupação com uma eventual apropriação indevida dos resultados do projeto.
Após a exposição dos objetivos da pesquisa e das responsabilidades respectivas
das partes, numa seção intitulada “Da propriedade e uso das informações”, o
documento estabeleceu claramente a propriedade e o uso das informações de-
correntes da pesquisa nos seguintes termos:
Os resultados deste Projeto de Estudo e Pesquisa, incluindo os rela-
tórios, testes, mapas, fotos, a bibliografia, assim como todos os infor-
mes escritos e gravados, são de propriedade do Centro de Pesquisa
Indígena e Associação Ashaninka do rio Amônia (Apiwtxa), que
78
Livro Conhecimento e Cultura.indd 78 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
juntos decidirão seu uso e aproveitamento. Durante a aplicação des-
te Projeto de Estudo e Pesquisa toda a divulgação de publicação de
informações originados deste Estudo e Pesquisa deverá ser objeto de
consulta entre as partes. O Centro de Pesquisa Indígena e Associação
Ashaninka do rio Amônia (Apiwtxa) deverão cooperar entre si na pro-
teção e defesa destes acordos especialmente nos casos que envolvem
interesses e opções particulares de técnicos e pesquisadores envolvi-
dos nesta cooperação.
Em seus itens 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, o acordo de cooperação entre a Apiwtxa e o
NCI/CPI também especificava que:
4.7) O CPI e a Apiwtxa comprometem-se a não requerer individu-
almente patente de nenhum tipo em relação a produtos, processos,
marcas e informações geradas durante a vigência deste acordo e como
consequência dele.
4.8) Caso sejam descobertos produtos com propriedades biológicas
importantes como consequência de amostras e informações geradas a
partir deste acordo, o CPI e a Apiwtxa comprometem-se a se informa-
rem imediatamente a esse respeito, mesmo após o período de vigência
deste acordo, quando isto for de seu conhecimento.
4.9) O conjunto de informações gerado como consequência deste acor-
do poderá ser usado livremente, respeitados os itens 4.7 e 4.8 deste
documento e a citação de todos os colaboradores em publicações, ex-
posição ou outra forma de divulgação.
4.10) O CPI e a Apiwtxa comprometem-se a desenvolver produtos em
associação, caso isso ocorra em decorrência direta ou indireta deste
acordo. Será firmado novo acordo, antes que se inicie este processo
e como condição para que ocorra. Neste novo acordo deverá constar:
a) Direitos de cada uma das partes envolvidas, particularmente dos
signatários dos documentos relacionados no item 4.4 [cita os acordos
da CPI com diferentes instituições, inclusive com o Laboratório de
Óleos da Unicamp], em relação a produtos, processos e marcas. b)
Participação de cada uma das partes envolvidas nos rendimentos obti-
dos a partir da comercialização destes produtos, de patentes, processos
e marcas, seja diretamente ou através de concessões a terceiros.
79
Livro Conhecimento e Cultura.indd 79 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
O contrato de trabalho de Fábio F. Dias com o CPI também estipulava cla-
ramente que os frutos da pesquisa caberiam ao patrocinador do projeto e não ao
pesquisador. Assim, em sua cláusula 4, o contrato de trabalho assegurava:
Os resultados de análise de amostras e informações sobre produtos,
gerados durante a pesquisa, particularmente aquelas a respeito de suas
utilizações, obtidos junto a populações tradicionais ou via análise la-
boratorial, fica à inteira disposição do Centro de Pesquisa Indígena.
Caso essas informações sejam consideradas confidenciais, sua utiliza-
ção, mesmo pelo pesquisador contratado, ficará a critério do Centro
de Pesquisa Indígena. (...) No caso de publicações utilizando estas
informações, deverá ser citado o Centro de Pesquisa Indígena como
patrocinador da pesquisa.
O convênio assinado entre a Apiwtxa e o CPI, o contrato de trabalho de
Fábio Fernandes Dias e outros documentos do processo atestam que o lugar
reservado ao técnico foi o de fornecer a tecnologia capaz de potencializar os
conhecimentos indígenas sobre seus recursos naturais, dotando-os de eficácia e
valor comercial de modo a gerar um retorno econômico para a comunidade. O
próprio pesquisador reconheceu que a sua posição dentro do projeto de pesquisa
era a de um “assessor técnico”.
Outros documentos reunidos no processo de ação civil pública sustentam
a posição do MPF e não deixam dúvidas sobre as conexões entre a pesqui-
sa desenvolvida pela Apiwtxa e o CPI, entre 1992 e 1995, e o desenvolvi-
mento posterior de produtos cosméticos à base de gordura de murmuru pela
Tawaya, Chemyunion e Natura. Cabe notar que alguns desses documentos
mencionam explicitamente o uso de conhecimentos tradicionais ashaninka
nas pesquisas.
Entre 1993 e 1996, as atividades do CPI no Alto Juruá, entre eles o Programa
de Pesquisa e Aproveitamento de Recursos Naturais Renováveis desenvolvi-
do na Terra Indígena Kampa do rio Amônia, passaram a ter financiamento da
Embaixada da Áustria à qual o NCI apresentou relatórios semestrais entre 1994
e 1996. No total, seis relatórios descreveram as atividades realizadas em cada
subprograma e prestaram contas da aplicação dos recursos recebidos. Esses do-
cumentos informam o desenrolar da pesquisa entre os Ashaninka do rio Amônia
e nos dão informações preciosas. Vejamos alguns trechos desses relatórios.
No Iro. Relatório de Implementação dos Projetos Pilotos do Centro de
Pesquisa Indígena, datado de julho de 1994, já consta a informação do acesso a
recursos genéticos e a conhecimentos tradicionais ashaninka:
80
Livro Conhecimento e Cultura.indd 80 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
Na primeira fase do trabalho, de setembro de 1992 a maio de 1993,
priorizou-se como principal atividade em campo a coleta de diver-
sas amostras de produtos da floresta e informações sobre suas for-
mas de extração. Esta atividade envolveu uma equipe de cinco jovens
Ashaninka, membros da comunidade local, que acompanhou todo o
trabalho de perto transmitindo informações de conhecimento tradicional
sobre as plantas e assimilando os principais procedimentos técnicos
envolvidos.
(...) Essas atividades, além do caráter científico de pesquisa e estudo
de viabilidade econômica, têm um componente cultural muito impor-
tante: o envolvimento de pessoas indígenas da comunidade, princi-
palmente os mais jovens, no conhecimento de seu território em ativi-
dades de localização e monitoramento das plantas e no conhecimento
tradicional de identificação e uso dessas espécies nativas (....) Através
da Faculdade de Engenharia de Alimentos [da Unicamp] iniciou-se a
análise das amostras de óleo de copaíba e outros óleos não essenciais
e gorduras. Algumas amostras já tiveram a fase de análise concluída,
como no caso da copaíba, revelando, para a surpresa dos técnicos, as-
pectos que diferenciam os óleos dessas espécies do Amônia de outras
até hoje analisadas. (ênfases nossas)24
O terceiro relatório reafirma a particularidade dos produtos coletados na
Terra Indígena Kampa do rio Amônia e seu potencial comercial:
O Centro de Pesquisa Indígena, através do pesquisador Fábio Dias,
vem trabalhando na elaboração de textos explicativos sobre pro-
dutos que vêm sendo pesquisados dentro do Programa de Recursos
Naturais, desde outubro de 1993. Estes produtos têm uma característica
singular, pois nunca foram comercializados ou utilizados industrialmente. As
informações compiladas em campo, em levantamentos bibliográficos
e laboratórios, contidas nestes textos explicativos, indicarão as poten-
cialidades e formas de aproveitamento desses produtos, do ponto de
vista econômico, social, tecnológico e ecológico. Portanto, esses textos
poderão servir de base e referência para empresas e para a própria co-
munidade envolvida no processo, no sentido do aproveitamento eco-
nômico desses produtos. (ênfases nossas)
O quarto relatório, referente ao período de julho a dezembro de 1995, refere-
-se explicitamente ao murmuru, destacando seu potencial comercial. Informa
81
Livro Conhecimento e Cultura.indd 81 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
ainda que o Laboratório de Óleos da Unicamp, já naquele ano, a partir da análise
de amostras coletadas na Terra Indígena Kampa do rio Amônia, indicava o apro-
veitamento do óleo de murmuru para a indústria de cosméticos:
Dos 50 produtos coletados e analisados desde 1993, o CPI e a comu-
nidade decidiram concentrar os esforços em quatro produtos que
apresentam maior facilidade na coleta, processamento e conservação
e que também tiveram boas respostas nas análises iniciais indicando
possibilidades de uso comercial para a indústria de artefatos e cosmé-
ticos. Os produtos escolhidos para uma segunda fase de estudos são:
castanha do cocão – Attalea tessmanii Burret (utilizada como “madeira”
na confecção de artefatos e artesanato), óleo de murmuru (fruto de uma
palmeira), gordura de tubesta e polpa de feruta-sabão – os três com
possibilidade de uso na indústria de cosméticos. Nesta segunda fase, novas
amostras serão coletadas e processadas pelos laboratórios da Unicamp
para definição do processamento e armazenamento enquanto a em-
presa Floramazon (com a qual o CPI firmou convênio de cooperação)
busca compradores para os produtos junto à indústria de cosméticos.
(ênfases nossas)
O quinto relatório, enviado à Embaixada da Áustria em julho de 1996, infor-
ma o encerramento das atividades do programa e o término do vínculo contratu-
al do técnico Fábio Dias com o NDI/CPI. Informa ainda que cabe à comunidade
decidir sobre o melhor momento para firmar contratos comerciais com empre-
sas para explorar os produtos florestais analisados. O CPI coloca-se à disposição
dos Ashaninka para prestar assessoria em caso de necessidade.
Por fim, o sexto e último relatório, datado de dezembro de 1996, informa que
os representantes da Apiwtxa e o técnico Fábio Dias decidiram dar prossegui-
mento aos trabalhos de forma independente do CPI, assumindo a responsabili-
dade pelo futuro do projeto.25
Os relatórios enviados pelo CPI à Embaixada da Áustria não são os úni-
cos documentos que mencionam explicitamente o uso de conhecimentos tra-
dicionais dos Ashaninka durante a pesquisa. Um artigo escrito por Margarete
Mendes, com a participação de Fábio Dias e Francisco Piyãko, também é bas-
tante esclarecedor. O texto foi publicado em 2000 na série Povos Indígenas no
Brasil do Instituto Socioambiental. Naquele momento, as relações entre os pes-
quisadores e a comunidade indígena ainda não tinham se esfacelado e ainda
havia possibilidade das partes chegarem a um acordo, o que explicaria a parce-
ria. Nesse texto, a antropóloga afirma que o sabonete de murmuru foi “criado a
partir das gorduras vegetais extrativistas produzidas pela Tawaya e de essências
82
Livro Conhecimento e Cultura.indd 82 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
exclusivas dos Ashaninka” (Mendes 2000:573 – ênfase nossa). Também confirma
que a empresa Tawaya surgiu como “consequência de um processo de pesquisa e
levantamento de produtos florestais, levada a cabo pelos Ashaninka em parceria
com a ONG Núcleo de Cultura Indígena, (sediada em São Paulo), no período
1992 a 1995” (ibid.).
Para o MPF, todos esses documentos comprovam que o uso comercial do
murmuru para a indústria cosmética, no caso da Tawaya, está intimamente li-
gado ao programa de pesquisa desenvolvido com os Ashaninka do rio Amônia
entre 1992 e 1995 no qual Fábio Dias trabalhou como técnico contratado por
uma ONG. Também deixam claro que as pesquisas utilizaram conhecimentos
tradicionais indígenas e focalizaram-se em produtos “singulares”, “diferencia-
dos”, “exclusivos” ou “nunca antes comercializados”.
Em depoimento à Procuradoria da República do Acre, Fábio Dias informou
que foi o Laboratório de Óleos e Gorduras da Unicamp que lhe indicou a possi-
bilidade do aproveitamento da gordura de murmuru para a produção de sabone-
tes, deixando entender que o processo de criação do sabonete seria uma iniciati-
va individual. Na realidade, as informações dos relatórios do NCI/CPI mostram
que foi em função do projeto de pesquisa que esse e outros laboratórios foram
acionados com o objetivo de indicar possíveis usos comerciais dos recursos na-
turais pesquisados na Terra Indígena Kampa do rio Amônia. Lembramos que
fazia parte do projeto o envio de amostras vegetais para diferentes instituições,
entre elas, a Unicamp, para análise laboratorial a fim de definir o potencial eco-
nômico de cada espécie. Portanto, as informações produzidas pelo laboratório da
Unicamp são consequência direta da pesquisa protagonizada pelos Ashaninka.
Embora possamos identificar uma ligação direta entre a Tawaya e o Programa
de Pesquisa e Aproveitamento de Recursos Naturais Renováveis, o que pode ser
dito sobre a Chemyunion e a Natura que também foram incluídas na ação civil
pública? O que liga essas duas empresas à pesquisa realizada pelos Ashaninka
do rio Amônia?
Os advogados da Chemyunion tentaram excluí-la do processo alegando que
a empresa não tem qualquer relação com a comunidade ashaninka. Apesar de
não existir uma ligação direta, essa empresa acabou sendo incorporada à ação do
MPF em razão de suas relações com Fábio Dias e com um cientista da Unicamp.
Em sua defesa, ela afirma que conheceu Fábio Dias por volta de 2001, quan-
do ele passou a lhe fornecer remessas constantes de óleo e gordura de murmu-
ru. O contato da Chemyunion com Fábio Dias teria sido intermediado pelo
Prof. Daniel Barrera-Arellano, na época chefe da Faculdade de Engenharia de
Alimentos da Unicamp. Segundo essa empresa, a sugestão de emprego do óleo
do murmuru como emoliente para hidratação de pele e cabelos teria vinda do
83
Livro Conhecimento e Cultura.indd 83 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
próprio Prof. Daniel Barrera-Arellano. Foi justamente esse pesquisador que as-
sinou os Laudos de Análise Físico-Química de Óleos Extraídos e Amêndoas e
Sementes, solicitados pelo Centro de Pesquisa Indígena (CPI) e elaborados pelo
Laboratório de Óleos e Gorduras (FEA/Unicamp), em 1994, ou seja, dois anos
após o início da pesquisa de Fábio Dias junto aos Ashaninka. Além disso, Fábio
Dias, assim como várias pessoas que trabalhavam para a Chemyunion, foram
alunos do Prof. Barrera-Arellano.26
A alegação da Natura, por sua vez, chama a atenção para a controvérsia dos
chamados “conhecimentos difusos” e a complexidade de definição jurídica do
“conhecimento tradicional.” Seu argumento de defesa se apoia nas nebulosi-
dades da legislação vigente no que tange aos conhecimentos simultaneamente
compartilhados por mais de uma comunidade ou de um povo indígena. Os ad-
vogados da empresa defendem que o murmuru não foi (e não é) coletado apenas
no território ashaninka, mas também em outras comunidades da região, de tal
forma que, ao indenizar os indígenas por um “conhecimento difuso”, abrir-se-
-iam brechas na jurisprudência para que outras comunidades (neste ou em ou-
tros casos) acionem o mesmo dispositivo jurídico. A empresa nega não apenas
ter alguma relação com os Ashaninka, como também qualquer envolvimento no
caso, uma vez que nunca esteve na terra indígena e que sua “descoberta cientí-
fica” teria se apoiado exclusivamente em estudos internos, realizados por pes-
quisadores da Natura Inovação e Tecnologia de Produtos LTDA, a partir da
literatura científica disponível. Como principal fonte de informação, a empresa
cita um artigo de Barrera-Arellano e Mambrin, publicado em 1997, sobre óleos
de várias espécies de palmeiras da Amazônia brasileira, entre elas e murmu-
ru. Além de condensar os resultados de obras e estudos anteriores, esse artigo
também informa a presença, em grande quantidade, de ácidos graxos saturados
na castanha de murmuru (Barrera-Arellano e Mambrin1997), o que compro-
varia sua ação emoliente. Segundo os advogados da Natura, essas informações
foram suficientes para subsidiar o processo criativo dos cientistas da empresa.
Coincidência ou não, como no caso da Chemyunion, encontramos novamente o
elo de ligação entre a Natura e os Ashaninka na pessoa do Prof. Barrera-Arellano
da Unicamp que analisou as amostras oriundas da Terra Indígena Kampa do rio
Amônia.
Assim, Fábio Dias e os outros réus afirmam recorrentemente que o uso
do murmuru na indústria cosmética não deve nada aos Ashaninka, sendo um
produto exclusivo de pesquisas laboratoriais, cujos principais resultados es-
tão disponíveis na literatura especializada. O livro de Celestino Pesce (1985)
é a referência básica. Originalmente publicado em 1941, essa obra apresenta
descrições botânicas, taxonômicas e físico-químicas de plantas com elevadas
84
Livro Conhecimento e Cultura.indd 84 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
concentrações de óleos e gorduras, entre elas o murmuru. Informa a presen-
ça, em grande quantidade, de ácidos graxos saturados na castanha da palmeira.
Posteriormente, as informações sobre os princípios ativos do murmuru foram
confirmadas e complementadas pelo artigo de Barrera-Arellano e Mambrin, pu-
blicado em espanhol, em 1997, no volume 48 da revista Grasas y Aceites com o
titulo: “Caracterización de aceites de frutos de palmeras en la région amazônica
del Brasil”.27 A literatura científica comprovaria a ação emoliente do murmuru,
o que possibilitaria, segundo as empresas, o uso dessa espécie na indústria cos-
mética. Ficam, no entanto, algumas perguntas sem respostas. Se a composição
química do murmuru é conhecida desde a década de 1940 e a presença de ácidos
graxos saturados na castanha dessa palmeira é uma informação científica sufi-
ciente para produzir um sabonete, por que a indústria cosmética só começou a
produzir um sabonete à base de murmuru e solicitar patentes desses inventos no
início do século XXI, mais de 60 anos após a publicação do livro de Pesce? Qual
é a real importância do artigo de Barrera-Arellano e Mambrin para a invenção
do sabonete? Em que medida essa publicação foi essencial para a indústria cos-
mética? E, principalmente, o que ela deve aos Ashaninka, já que existem evi-
dências de que a “matéria-prima” (amostras, informações etc.) que alimentou as
pesquisas do Prof. Barrera-Arellano era proveniente da Terra Indígena Kampa
do rio Amônia.
Em síntese, para as empresas, os princípios ativos do murmuru, por terem
sido processados e, posteriormente, analisados em laboratório (e não na terra in-
dígena), são descobertas da ciência, o que lhes permite advogar pela titularidade
da invenção. Com essa afirmação, elas estabelecem uma divisão da produção
científica entre a pesquisa realizada em campo (in situ) e o trabalho em labo-
ratório (ex situ). Como mostrou Ramos, o manuseio de espécies em seu habitat
(in situ) e o posterior processamento genético de amostras em laboratórios (ex
situ) transforma esses recursos naturais em bens manufaturados que passam a
ser objeto de propriedade da ciência, dispensando referências à situação que os
originou e tornando-se “citações fora do contexto” (Ramos 2004:11). Na pers-
pectiva de Fábio Dias, por exemplo, a produção do fato científico encontra-se
alheia à sua vivência na aldeia, o que excluiria, entre outros, as coletas de plantas
acompanhadas pelos jovens indígenas, bem como as inúmeras entrevistas reali-
zadas com os mais velhos. Visto dessa maneira, esse conhecimento apresenta-se
purificado da vivência do trabalho de campo originário, redefinido e depurado,
ao seu modo, no “perímetro do laboratório” (Latour 2000; 2001).
85
Livro Conhecimento e Cultura.indd 85 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
Considerações finais
Baseado na Medida Provisória de 2001, o MPF ressalta que não é somente
o acesso direto ao conhecimento tradicional que dá ensejo à partilha dos re-
sultados econômicos, mas também o acesso indireto. Dessa forma, conside-
ra que os resultados das análises laboratoriais realizadas pelo Laboratório de
Óleos da Unicamp, a pedido do CPI quando da realização da pesquisa junto aos
Ashaninka, serviram como base para as conclusões do Prof. Dr. Daniel Barrera-
Arellano e foram disponibilizados por ele e por Fábio Dias, e apropriados tam-
bém pela Chemyunion e pela Natura, sem o conhecimento e o consentimento
dos índios, contrariando contratos e acordos preestabelecidos.28
É importante frisar que os Ashaninka do rio Amônia não se opõem a parti-
lhar seus conhecimentos e também nunca reivindicaram possuir uma sabedo-
ria exclusiva sobre o murmuru e suas propriedades. Essa palmeira é usada por
populações ribeirinhas da Amazônia e, provavelmente, embora não tenhamos
informações a esse respeito, por outras populações indígenas da região. Assim, o
uso do murmuru é bastante disseminado e pode ser considerado um “conheci-
mento difuso”. As propriedades de seu óleo também foram registradas há mais
de meio século na literatura científica. No entanto, para os Ashaninka, existe
uma ligação direta entre a pesquisa realizada na primeira metade da década de
1990 na Terra Indígena Kampa do rio Amônia e o aproveitamento do óleo da
castanha de murmuru na indústria cosmética com a comercialização do contes-
tado sabonete.
Considerando que os índios foram os empreendedores da pesquisa, o MPF
também alega que, em termos jurídicos, a questão problemática do acesso inde-
vido aos conhecimentos tradicionais desse povo indígena, embora importante,
é somente uma das dimensões do litígio. Desconsiderando-se a problemática
do “conhecimento tradicional” e sua precária definição e regulamentação na
legislação, levando-se em consideração apenas o processo produtivo, a Lei nº
9.279/96, que regula os direitos relativos à propriedade industrial, já garantiria
por si só aos Ashaninka, como empreendedores, direito à titularidade das paten-
tes solicitadas pelas empresas. Ao lutar por seus direitos, os Ashaninka querem
que seja reconhecido seu protagonismo no processo criativo que iniciou com a
pesquisa que empreenderam em seu território e que usou seus conhecimentos
sobre o meio ambiente.
No momento em que redigimos este artigo, o imbróglio jurídico em torno do
sabonete de murmuru continuava. A audiência realizada no dia 17 de fevereiro
de 2009, na 3ª Vara da Justiça Federal no Acre, com a presença dos líderes da
Apiwtxa, dos advogados da Natura, da Chemyunion, e de Fábio Fernandes Dias,
86
Livro Conhecimento e Cultura.indd 86 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
terminou sem acordo entre as partes. O juiz chegou a propor que as contrapar-
tidas das empresas que requereram as patentes fossem transformadas em bens
materiais: barcos, motores fluviais etc. Os Ashaninka e o procurador recusaram
a proposta. Em seu depoimento, Moisés Piyãko reafirmou a posição da Apiwtxa
e procurou mostrar ao juiz que não estavam mendigando ou buscando uma sim-
ples indenização financeira, mas que se tratava de uma luta pela conquista e
pelo reconhecimento público de um direito legítimo e juridicamente embasado
(Schettino 2009).
Lembramos, ainda, que o murmuru não foi a única espécie pesquisada du-
rante a parceria Apiwtxa/CPI. Como vimos, essa pesquisa levantou informações e
catalogou dezenas de espécies vegetais com potencial econômico. Os Ashaninka
solicitaram que todos os dados sobre o mapeamento etnobotânico oriundos des-
sa pesquisa, que estão atualmente em posse do pesquisador Fábio Dias, também
sejam restituídos à comunidade indígena.
A luta dos Ashaninka do rio Amônia e a controvérsia gerada pela comercia-
lização do sabonete de murmuru não constituem um caso isolado. A afirmação
dos povos indígenas na cena política nacional e internacional nas duas últimas
décadas tem sido acompanhada por crescentes reivindicações dessas populações
contra o patenteamento de seus conhecimentos coletivos ou o uso indevido de
seu patrimônio genético. Embora seja um importante instrumento, a legisla-
ção atual baseada na Convenção sobre a Diversidade Biológica e na Medida
Provisória n° 2.186-16/2001 constitui uma proposta genérica e muitas vezes des-
conectada da complexa realidade social. Muitas questões ainda necessitam uma
reflexão mais aprofundada. Por exemplo, como definir a noção de “conhecimen-
to tradicional”? Como garantir direitos coletivos num regime jurídico baseado
na propriedade individual? Essas são apenas algumas das principais questões
desse complexo campo. Enquanto isso, a indústria de biotecnologia multiplica
suas pesquisas. A partir de informações mínimas obtidas junto às populações
indígenas ou tradicionais, a ciência ocidental estabelece linhas prospectivas di-
recionadas e obtém resultados exitosos, pois, nessas informações mínimas, mui-
tas vezes já se tem um dado fundamental que leva a resultados finais inéditos.
Assim, informações vindas de povos indígenas continuam levando a inventos
industriais e ao registro de patentes no sistema ocidental de propriedade intelec-
tual que desconhece a figura jurídica de “direitos coletivos”. Os índios perma-
necem excluídos dos frutos desse processo ou, na melhor das hipóteses, recebem
migalhas de lucros bilionários.
A controvérsia em torno do sabonete de murmuru é um dos vários exemplos
envolvendo acesso aos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, uma
87
Livro Conhecimento e Cultura.indd 87 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
problemática cada vez mais presente nas relações interétnicas no início do sé-
culo XXI (Ávila 2005). De modo crescente, a biotecnologia aparece como uma
nova fronteira de exploração que atinge esses povos, transformando seus co-
nhecimentos tradicionais e até seu patrimônio genético em mercadoria (Ramos
2006). Além do murmuru, outros casos tiveram repercussões na mídia nacional
nos últimos anos. Podemos citar rapidamente e sem pretensão à exaustividade
a utilização de amostras de sangue dos Yanomami e dos Karitiana de Rondônia
(Tierney 2000; Vander Velden 2004), o uso do kampô dos Katukina (Lima 2005;
Martins 2006) ou de plantas medicinais dos Krahô e Wapichana para o desen-
volvimento de produtos farmacológicos (Ávila 2004; 2006). Muitas vezes descri-
tos pela imprensa e pelos próprios índios como exemplos de biopirataria, muitos
desses casos apresentam grande complexidade antropológica e jurídica. Se a luta
contra a biopirataria constitui um dos raros campos em que os interesses indíge-
nas e nacionais convergem (Ramos 2006; Ávila 2005), a questão não diz apenas
respeito à cobiça estrangeira sobre a biodiversidade amazônica. O sabonete de
murmuru, por exemplo, é apresentado pelos Ashaninka e pelo MPF como um
caso de biopirataria envolvendo empresas e instituições públicas nacionais.
Privilegiando relatar a complexidade de um caso etnográfico, não nos cabe
proferir um juízo que depende de apreciação jurídica além do nosso alcance.
Buscamos simplesmente resgatar a história da produção e comercialização desse
sabonete, principalmente a partir da visão dos índios, apoiada pelo MPF, mas
também procurando apresentar as posições das empresas envolvidas. Contra as
tentativas purificadoras da ciência, essa história nos levou a mapear caminhos
sinuosos e relações embaralhadas que apontam para uma ligação, direta ou indi-
reta segundo os casos, entre os Ashaninka do Amônia e o sabonete de murmuru.
Qual é afinal o lugar desse povo indígena no processo inventivo que levou à pro-
dução do sabonete de murmuru? Estariam os Ashaninka condenados a desem-
penhar eternamente o papel de “informantes” de pesquisadores, vendo seus co-
nhecimentos apenas considerados como “matéria-prima” da ciência ocidental?
88
Livro Conhecimento e Cultura.indd 88 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
Notas
Guilherme F. de Moura desenvolveu em 2009, sob a orientação do professor José Pimenta,
do Departamento de Antropologia da UnB, uma Pesquisa de Iniciação Cientifica (PIC) sobre a
controvérsia aqui tratada. Agradecemos a Alcida Rita Ramos e Marco Paulo Schettino pelos co-
mentários feitos a uma versão anterior do texto. Os autores são obviamente os únicos responsáveis
por seu conteúdo. Dedicamos este artigo à memória do amigo Thiago Antônio Machado de Ávila,
cujas etnografias pioneiras sobre a apropriação dos conhecimentos tradicionais indígenas pela
sociedade ocidental continuarão a inspirar a antropologia brasileira.
1
Os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais passaram a ser resguardados
por dois artigos da CBD. O artigo 8j prevê a salvaguarda dos direitos de propriedade intelectual
coletiva indígena ou tradicional, com a aprovação da comunidade e com uma futura repartição
equitativa dos benefícios adquiridos com a comercialização de produtos derivados do conheci-
mento tradicional. Já o artigo 10c sensibiliza para que o incentivo à utilização costumeira dos
recursos biológicos se dê em coerência com as práticas tradicionais e culturais de cada povo (San-
tilli 2005).
2
Ver, por exemplo, Antunes (2002), Santilli (2005), Belfort (2006) e Carneiro da Cunha (2009).
3
Os Ashaninka integram o conjunto etnolinguístico dos Arawak subandinos e, em termos
populacionais, são um dos principais povos indígenas das terras baixas. A grande maioria vive na
Amazônia peruana. Os Ashaninka do rio Amônia habitam a Terra Indígena Kampa do rio Amônia
na região do Alto Juruá, Estado do Acre. Nesse território, vivem cerca de 450 pessoas, concentra-
das na aldeia Apiwtxa e nos seus arredores. A palavra apiwtxa pode ser traduzida para o português
como “todos juntos” ou “todos unidos” e também é o nome da associação indígena local.
4
Nesse quesito, além da própria peça jurídica da Justiça Federal (Processo nº
2007.30.00.0002117-3), também as notas técnicas e, sobretudo, o laudo pericial do analista em
antropologia Marco Paulo Schettino foram de fundamental importância para a confecção deste
trabalho.
5
As informações a seguir sobre o significado e usos do murmuru entre os Ashaninka do rio
Amônia são intencionalmente genéricas e incompletas. Os recentes envolvimentos da associação
Apiwtxa nas instâncias jurídicas solicitando, por exemplo, a quebra de patentes de produtos que
consideram oriundos de seus conhecimentos tradicionais fortaleceram o ethos reservado dos Asha-
ninka; um povo muito cauteloso para falar de aspectos relacionados ao xamanismo, à mitologia e
à medicina tradicional. O receio de disseminar seus conhecimentos se acentuou nos últimos anos
com o surgimento da real possibilidade de uma apropriação indevida do que eles consideram
parte de seu patrimônio cultural. Por outro lado, os Ashaninka também entenderam que a defesa
de seus direitos na Justiça passava, obrigatoriamente, pela necessidade de explicar e demonstrar
para os brancos as razões pelas quais eles consideram que o sabonete produzido à base de gordura
de murmuru é uma apropriação indevida de seus conhecimentos tradicionais. As informações que
retomamos aqui tornaram-se públicas com o Processo Judicial nº 2007.30.00.002117-3, atualmen-
te em tramitação na Justiça Federal.
6
O “mito do murmuru” foi recolhido pela primeira vez pelo antropólogo José Pimenta em
janeiro de 2007. Foi contado em língua ashaninka pelo índio Shomõtse, o morador mais idoso da
aldeia Apiwtxa que afirmou ter ouvido o relato de seu avô. Em maio de 2007, durante sua viagem
a campo para realização da perícia para o MPF, o antropólogo Marco Paulo Schettino recolheu
uma versão semelhante desse mito (Schettino 2007:32). Em ambas as ocasiões, a tradução para o
português foi feita por Moisés Piyãko.
7
A analogia com a barba deve-se às características próprias do tronco do murmuru que, dife-
rentemente de outras palmeiras, apresenta placas justapostas recobertas de longos espinhos pre-
tos. Os Ashaninka consideram o uso da barba um costume inadequado e socialmente reprovado.
Sinônimo de sujeira, de falta de cuidado, a pilosidade do rosto é também uma característica do
89
Livro Conhecimento e Cultura.indd 89 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
branco e se opõe, por exemplo, à beleza dos desenhos faciais indígenas feitos com urucum. Os ho-
mens ashaninka que possuem uma pilosidade maior arrancam sistematicamente os pelos do rosto.
8
A mesma ética rege a caça (Pimenta 2005).
9
O murmuru é apenas um exemplo da complexidade da concepção ashaninka do “meio am-
biente” e da riqueza dos conhecimentos nativos a ele associado. O livro de Lenaertz (2004) oferece
uma excelente ideia dessa complexidade e riqueza.
10
Essas larvas não são exclusivas do murmuru. Segundo os Ashaninka, o pachori, por exem-
plo, também é encontrado na casca da mandioca e no mamão.
11
Segundo Schettino (2007:38), que testemunhou o uso do tchouitz para esse fim, o método é
motivo de muita diversão quando usado em público.
12
O óleo também pode ser obtido pela mastigação da castanha do murmuru até se obter uma
pasta oleosa que será, em seguida, passada no corpo.
13
Sobre a trajetória dos Ashaninka no mercado de projetos sustentáveis, ver Pimenta (2005;
2007; 2010).
14
Além da parceria com a Apiwtxa, podemos mencionar, por exemplo, um projeto do CTI
com os Ashaninka e Kaxinawá do rio Breu para o manejo da caça.
15
A antropóloga Margarete Mendes defendeu sua dissertação de Mestrado em Antropologia
na Unicamp. Sua pesquisa etnográfica versa sobre o ritual do piyarentsi e constitui o primeiro
trabalho acadêmico realizado com os Ashaninka no Brasil (Mendes1991). Como antropóloga, no
final da década de 1980 e início da década de 1990, Mendes teve uma atuação muito importante na
defesa dos direitos dos Ashaninka do rio Amônia. Apesar de divergências posteriores em torno do
sabonete de murmuru, os índios nunca deixaram de reconhecer o valor do apoio da antropóloga,
principalmente, na luta pela demarcação de seu território, reconhecido pela Funai em 1992.
16
Além do projeto com os Ashaninka, o programa do CPI na região do Alto Juruá contava
com dois outros projetos: um de incentivo à produção de couro vegetal, desenvolvido com os ín-
dios Yawanawá do rio Gregório, Kaxinawá do rio Jordão e com os seringueiros da Reserva Extrati-
vista do Alto; o outro, de monitoramento da fauna implementado com os Ashaninka e Kaxinawá
do rio Breu.
17
Segundo os índios, inicialmente, pensou-se na instalação da fábrica no município de Mare-
chal Thaumaturgo, situado na boca do rio Amônia e mais próximo da terra indígena, mas a peque-
na cidade não oferecia infraestrutura adequada. O investimento financeiro foi essencialmente de
Fábio Dias. Não temos informações sobre a existência de aporte financeiro da antropóloga no em-
preendimento. A empresa foi oficialmente registrada com o nome Fábio F. Dias ME, tendo como
nome fantasia Tawaya sabonetes. Usaremos aqui esse nome fantasia por ser muito mais conhecido.
18
Essa foi a primeira e única vez que os Ashaninka venderam a castanha de murmuru para
Tawaya.
19
No sítio francês <http://www.amazon-vie.com/produits-murmuru.html>, por exemplo, o
sabonete de murmuru é vendido a € 5,50 e a versão líquida a € 4,85. (página acessada em 27 de
julho de 2010).
20
As informações sobre a Tawaya contidas nestes três últimos parágrafos resultam de pes-
quisas na internet, principalmente de um vídeo de propaganda da própria empresa que pode ser
consultado no sítio mencionado na nota anterior. Embora o sítio esteja em francês, o vídeo, de
um pouco mais de sete minutos, tem áudio em português e apresenta um pouco da história e da
atuação da empresa. Cabe frisar que, no decorrer do ano de 2010, o sítio da Tawaya deixou de apre-
sentar informações sobre a empresa. Após um longo período indisponível, o endereço http://www.
tawaya.com.br passou a informar a seus clientes e fornecedores que a Tawaya tinha encerrado suas
atividades de fabricação de sabonetes e óleos em 30 de abril de 2009 (página consultada em 5 de
dezembro de 2010). No entanto, a comercialização de sabonetes continuou. Além do sítio francês
acima mencionado, sabonetes de murmuru da Tawaya continuavam sendo vendidos, por exemplo,
na loja de Fábio F. Dias, no Mercado Municipal de Cruzeiro do Sul, no final de novembro de 2010,
ao preço de R$ 2,50 cada.
90
Livro Conhecimento e Cultura.indd 90 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
21
Essa estratégia política maior em defesa de um amplo programa de desenvolvimento re-
gional sustentável já estava presente na parceria entre o CPI e a Apiwtxa, cujo objetivo geral era,
a partir da pesquisa realizada na Terra Indígena Kampa do rio Amônia, ampliar seus resultados
para beneficiar outras populações da bacia do Juruá. Essa característica tem sido uma constante na
política interétnica da Apiwtxa nos últimos vinte anos. Os Ashaninka entendem que uma solução
duradora para garantir a sustentabilidade de seu território passa, obrigatoriamente, pela oferta de
alternativas econômicas sustentáveis para seus vizinhos (Pimenta 2007; 2010).
22
A existência desse documento permanece um mistério. A informação de um acordo escrito
regulamentando a repartição dos benefícios foi categoricamente refutada por Fábio Dias e Marga-
rete Mendes em entrevista ao antropólogo José Pimenta em 2000 e, posteriormente, em juizado.
Alegam que a Apiwtxa nunca teve nenhum tipo de direito legal sobre os benefícios da empresa.
Por sua vez, Moisés Piyãko garante ter assinado um documento que definia as modalidades da
criação da empresa, mas fornece informações imprecisas sobre os termos exatos desse documento,
o que não deve ser surpreendente considerando que o mesmo, principalmente na época, era pre-
cariamente alfabetizado e pouco familiarizado com a burocracia estatal.
23
Criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos
(FDD) tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem
econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
24
Os primeiros relatórios apontam o óleo de copaíba como um produto com potencial comer-
cial importante. No entanto, essa opção será rapidamente abandonada porque os Ashaninka não
conseguiram desenvolver um método capaz de extrair o óleo sem a derrubada das árvores.
25
Na realidade, a parceria efetiva entre a Apiwtxa e o CPI já estava concluída em dezembro de
1995. A etapa seguinte foi a criação da Tawaya, fundada em 31 de outubro de 2006.
26
Entre esses alunos, estão Márcio Polezel, um dos sócios da Chemyunion, e Cecília Noguei-
ra, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa.
27
A revista Grasas y Aceites é uma publicação do Instituto da La Grasa de Sevilha – Espanha,
que desenvolve pesquisas na área de biotecnologia com plantas oleaginosas. Para mais informa-
ções, ver: http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites e http://www.ig.csic.es/
pre.html.
28
Tanto a Chemyunion como a Natura também são acusadas de acessar o patrimônio bioló-
gico brasileiro sem autorização do órgão competente e sem o pagamento de qualquer quantia aos
titulares desse patrimônio (a coletividade difusa de cidadãos brasileiros).
91
Livro Conhecimento e Cultura.indd 91 26/4/2011 12:20:46
O sabonete da discórdia
Referências
ALBERT, Bruce. 2000. “Associações Indígenas e Desenvolvimento Sustentável na Ama-
zônia brasileira”. In: C. A. Ricardo (org.), Povos Indígenas no Brasil 1996-2000.
São Paulo: Instituto Socioambiental. pp. 197-207.
ANTUNES, Paulo B. 2002. Diversidade biológica e conhecimento tradicional associado. Rio
de Janeiro: Lúmem Júris.
ÁVILA, Thiago. 2004. “Não é do jeito que eles quer, é do jeito que nós quer”: Os Krahô e a
Biodiversidade. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade de
Brasília.
_______. 2005. “Biotecnologia e povos indígenas: imagens globocêntricas em cenários
interétnicos do século XXI”. Pós - Revista Brasiliense de Pós-Graduação em
Ciências Sociais, 5: 29-60.
________. 2006. “Biopirataria e os Wapichana: etnografia sobre a bioprospecção e o
acesso aos recursos genéticos na Amazônia brasileira”. Revista de Estudos e
Pesquisas, 3(1/2): 225-260.
BALÉE, Wiliam. 1992. “People of the fallow: A historical ecology of foraging in Low-
land South America”. In: K. Redford & C. Padoch. Conservation of Neo-
tropical Forests: Working from tradicional resource use. New York: Columbia Uni-
versity Press. pp. 35-57.
BARRERA-ARELLANO, Daniel & MAMBRIM M.C.T. 1997. “Caracterización de
aceites de frutos de palmeras de la región amazónica del Brasil”. Grasas y Acei-
tes, 48:154-15.
BELFORT, Lucia Fernanda I. 2006. A Proteção dos Conhecimentos Tradicionais dos
Povos Indígenas em face da Convenção Sobre a Diversidade Biológica. Dis-
sertação de Mestrado em Direito, Universidade de Brasília.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2009. “‘Cultura’ e cultura: conhecimentos tradi-
cionais e direitos intelectuais”. In: Cultura com aspas e outros ensaios. Cosac e
Naify: São Paulo. pp. 311-373.
LATOUR, Bruno. 2000. Ciência em Ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade
afora. São Paulo: Ed. UNESP.
________. 2001. A Esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos.
Bauru (SP): Edusc.
LENAERTS, Marc. 2004. Anthropologie des indiens Ashéninka d´Amazonie. Nos soeurs
Manioc et l´étranger Jaguar. Paris: L´Harmattan.
LIMA, Edilene C. 2005. “Kampu, kampo, kambô: o uso do sapo-verde entre os Katuki-
na”. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 32:255-267.
MARTINS, Homero. 2006. Os Katukina e o Kampô: Aspectos Etnográficos da Cons-
trução de um Projeto de Acesso a Conhecimentos Tradicionais. Dissertação de
Mestrado em Antropologia, Universidade de Brasília.
92
Livro Conhecimento e Cultura.indd 92 26/4/2011 12:20:46
José Pimenta e Guilherme Fagundes de Moura
MENDES, Margarete K.. 1991. Etnografia preliminar dos Ashaninka da Amazônia bra-
sileira. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade Estadual de
Campinas.
_______. 2000. Os Ashaninka do rio Amônia no rumo da sustentabilidade. In: C. A.
Ricardo (org.), Povos Indígenas no Brasil 1996/2000. São Paulo: Instituto So-
cioambiental. pp. 571-578.
_________. 2002. “Classificação dos animais do Alto Juruá pelos Ashaninka. In: M. Car-
neiro da Cunha & M. B. de Almeida (orgs.), Enciclopédia da Floresta: o Alto Ju-
ruá. Práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Companhia das Letras.
pp. 445-452.
JUSTIÇA FEDERAL. 2007. Processo nº 2007.30.00.0002117-3, acesso indevido a co-
nhecimento tradicional do Povo Ashaninka, mimeo.
PESCE, Celestino [1941]1985. Oil Palms and Other Oilseeds of the Amazon. Michigan:
Dennis V. Johnson.
PIMENTA, José. 2002. “Índio não é todo igual”: a construção ashaninka da história e
da política interétnica. Tese de Doutorado em Antropologia, Universidade de
Brasília.
_________. 2005. ”Desenvolvimento Sustentável e Povos Indígenas: os paradoxos de
um exemplo amazônico”. Anuário Antropológico, 2002/2003:115-150.
_________. 2007. “Indigenismo e ambientalismo na Amazônia Ocidental: A propósito
dos Ashaninka do rio Amônia”. Revista de Antropologia, 50:633-681.
_________. 2010. “O caminho da sustentabilidade entre os Ashaninka do rio Amônia –
Alto Juruá (AC). In: C. Inglês de Sousa; F. de Almeida; A. C. de Souza Lima
& M. H. Ortolan Matos (orgs.), Povos indígenas: projetos e desenvolvimento II.
Rio de Janeiro: Paralelo 15:97-111.
RAMOS, Alcida R. 2004. “Os Yanomami no Coração das Trevas”. Série Antropológica,
DAN: UnB.
________. 2006. “The Commodification of the Indian”. In: D. Posey & M. Balide (eds.),
Human Impacts on Amazônia: the role of tradicional ecological knowledge in con-
servation and development. New York: Columbia University Press. pp. 248-272.
SANTILLI, Juliana. 2005. Socioambientalismo e Novos Direitos. São Paulo: Peirópolis.
SCHETTINO, Marco Paulo. 2007. Investigação do acesso a conhecimentos tradicionais da
etnia Ashaninka: o caso do murmuru. Laudo Pericial Antropológico nº 69. Mi-
nistério Público Federal. mimeo.
___________. 2009. Processo nº 2007.30.00.0002117-3, acesso indevido a conhecimento
tradicional do Povo Ashaninka. Relatório nº 17. Ministério Público Federal.
mimeo.
TIERNEY, Patrick. 2000. Darkness in El Dorado: How Scientists and Journalists Devas-
tated the Amazon. W.W. Norton Company: New York and London.
VANDER VELDEN, Felipe. 2004. Por onde o sangue circula: os Karitiana e a inter-
venção biomédica. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade
de Campinas.
93
Livro Conhecimento e Cultura.indd 93 26/4/2011 12:20:46
Livro Conhecimento e Cultura.indd 94 26/4/2011 12:20:46
II
CULTURA
Livro Conhecimento e Cultura.indd 95 26/4/2011 12:20:47
Livro Conhecimento e Cultura.indd 96 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
Marcela S. Coelho de Souza
Prólogo
Uma certa inquietação instalou-se entre os antropólogos quando nossos ditos
“informantes” começaram a usar a palavra “cultura” – fosse na forma de emprés-
timo, fosse utilizando-se de engenhosas traduções – quase tão frequentemente
quanto nós mesmos (talvez eles fossem virar antropólogos, se estes são definíveis
como pessoas que usam a palavra “cultura” com fé ou esperança, como sugeriu
Roy Wagner). Tínhamos então gasto algum tempo e esforço reconhecendo o ca-
ráter fluido, dinâmico, não-essencial, da cultura, combatendo sua “reificação”,
e o modo como os nativos estavam (estão) falando de “suas culturas” não apenas
como algo a que pertenciam, mas como uma coisa que pertencia a eles, parecia ir
contra todo aquele trabalho duro. E agora?
A questão não é, claro, quem está certo, antropólogo ou nativo, de outrora
ou mais (pós-)modernos. Manuela Carneiro da Cunha (2009) nos propõe um
meio de enfrentar o problema que pretende nos liberar desse infrutífero dilema:
refiro-me à distinção entre cultura com e sem aspas. Mas me parece que esta
distinção se presta a uma leitura que eu gostaria de evitar – nos levando, por
exemplo, a imaginar que em um texto como o que se segue eu poderia sempre
distinguir uma coisa da outra por meio dessa convenção. Pode ser, por outro
lado, que meu incômodo venha apenas de minha incompetência em fazê-lo –
mas vou apostar que dessa incompetência eu possa apreender a sutileza do que
nos vem dizer a autora.
O pretexto deste texto é um comentário kĩsêdjê1 que articula explicitamente
os temas da cultura e da terra, como objetos de direitos e/ou políticas por meio
97
Livro Conhecimento e Cultura.indd 97 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
das quais relacionam-se índios e brancos na região do Parque Indígena do Xingu.
Meu horizonte são os deslizamentos entre, de um lado, os usos que os Kĩsêdjê,
no contexto de suas correntes experiências com projetos de proteção cultural e
territorial, fazem da noção de cultura (e de sua propriedade), os significados que
lhe atribuem, e, de outro, o lugar dessas (mesmas?) noções no contexto de meu
projeto de descrição e análise antropológica dessas experiências. O comentário
indígena é breve. Depois de ouvir pacientemente minhas explicações sobre as
políticas públicas e privadas voltadas pra a revitalização da cultura e para a pro-
teção do chamado “patrimônio imaterial” (que iam do Programa do Patrimônio
Imaterial do IPHAN e dos Pontos de Cultura do MinC aos editais da Petrobrás
e congêneres), uma liderança kĩsêdjê respondeu-me pensativa e sobriamente
(expressando-se em português): “eu só queria que parassem de desmatar a terra
e poluir o rio. Da nossa cultura a gente mesmo pode cuidar”.
Estávamos em 2006 – a reação hoje talvez fosse um pouco diferente. Grande
parte das comunidades indígenas no Brasil está envolvida, de um modo ou de
outro, com projetos relacionados à “revitalização”, “documentação”, ou “pro-
teção” de suas culturas, e os Kĩsêdjê, como veremos, não são exceção. Como já
disse, todo esse entusiasmo nativo em torno da cultura não tem deixado de cau-
sar inquietações diversas entre os antropólogos – esta que vos fala incluída: com
os riscos de “reificação”, “abstração”, “objetificação”, “essencialização”, com os
perigos da “mercantilização”, “privatização” ou “comercialização” que tratar
a cultura indígena em termos da linguagem das políticas patrimoniais, de um
lado, e dos instrumentos da propriedade intelectual, de outro, encerram. Nesse
contexto, confesso que meu primeiro reflexo foi escutar a reação de meu amigo
como expressando uma reconfortante recusa em separar a cultura da vida, aquilo
que essas políticas e instrumentos objetificam como “expressões culturais”, das
relações sociais particulares que a circulação (a partilha, a transmissão, a troca,
a exibição) desses “objetos” cria, sustenta e expressa. Pude então evocar seu co-
mentário, em um simpósio do Canadian Conservation Institute em 2007, para
lembrar o quanto os chamados patrimônio imaterial e conhecimentos tradicio-
nais indígenas dependem desse tecido de relações particulares, que conecta os
mais variados gêneros de pessoas existentes no cosmos, e constitui aquilo que
os Kĩsêdjê chamam “nossa terra”. Deixem essa terra em paz, diria meu amigo,
e nos viramos para viver como Kĩsêdjê, isto é, como pessoas definidas pelas
relações que construímos por meio isso que vocês chamam cultura (Coelho de
Souza 2008).
Assim interpretada, eu dizia então, a reação do líder kĩsêdjê poderia ser to-
mada como um comentário indígena de uma questão que desde há muito pre-
ocupa antropólogos: a questão da contextualização. Era a essa contextualização
98
Livro Conhecimento e Cultura.indd 98 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
– da cultura na terra – que aludia o título conservado aqui, aliando-se o texto
anterior aos justos protestos, de índios ou antropólogos, contra os riscos e a
impertinência em rasgar o tecido da vida nativa, separando o que reconhece-
mos como conhecimentos e manifestações culturais da integralidade das rela-
ções que ligam as pessoas entre si e, desta feita, à “terra” em que vivem (p.ex.,
Daes 1997; Barsh 1999). Ainda acho que a reação de meu interlocutor possa ser
tomada como um tal comentário – apenas é preciso um pouco mais de trabalho
para compreendê-lo, acompanhando os deslizamentos que opera entre o que é
contexto e o que é matéria de quê, afinal. Pois se o conteúdo do comentário pa-
rece exprimir uma exigência de re-contextualização, ele também procura recriar
seu próprio contexto, fazendo parte de um esforço dos Kĩsêdjê para intervir no
campo das relações que constituem o Parque Indígena do Xingu, redefinindo
justamente o que conta para eles como cultura – em relação ao que conta como
cultura não apenas para os brancos, mas também para outros índios, seus vizinhos. Os
correntes projetos de revitalização cultural em curso entre os Kĩsêdjê são assim
tão voltados para “dentro” (para eles mesmos) e/ou para “fora” (para os brancos),
quanto são voltados para a gestão das relações sociais “intertribais” nas quais
estão imersos há quase 200 anos. São voltados também, e desta maneira, para a
“terra”.
A cultura foi sempre uma dimensão importante das relações sociais no Xingu
– uma área, afinal, de “aculturação intertribal” (Schaden 1965). A presente rede-
finição dessas relações em que se empenham os Kĩsêdjê é interessante porque ao
mesmo tempo assume e subverte os idiomas da cultura propostos tanto por seus
vizinhos, quanto pelos brancos – que não são os mesmos idiomas... Focalizar
esse esforço pareceu-me um bom caminho para reposicionar o empreendimento
antropológico diante de um conceito que costumamos ver como de nossa autoria
mas que, à parte não o ser integralmente, adquiriu uma vida própria na esfera
pública que obviamente escapa de todo a nosso controle. Na contramão de rei-
vindicar direitos autorais sobre ele, sem nenhuma intenção de distinguir usos de
abusos, pretendo apenas etnografar algumas de suas torções, com a intenção de
obter uma posição mais propícia para considerar a noção de “cultura com aspas”
proposta por Manuela Carneiro da Cunha.
Guerra também é cultura
Os Kĩsêdjê são o único povo de língua jê que participa (de maneira instável,
periférica e complexa) do conjunto multiétnico e plurilíngüe constituído por
povos aruak, karib, tupi, e pelos Trumai (língua isolada) que ocupam a região
dos formadores do rio Xingu, a assim chamada “sociedade alto-xinguana”. A
99
Livro Conhecimento e Cultura.indd 99 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
criação do Parque, para cujo interior foram atraídos por Claudio Villas-Boas
logo após o contato em 1959, transformou o quadro das relações oscilantes de
aliança e conflito que mantinham com os alto-xinguanos – sem obviamente eli-
minar sua ambivalência. Esse processo tem paralelos com o que experimenta-
ram outros povos vizinhos, igualmente rotulados “intrusivos” e/ou “marginais”
na literatura, como os Ikpeng (Txikão), Yudjá (Juruna), Kawaiete (Kayabi) e
Metyktire (Kayapó). A distinção entre os xinguanos e esses outros se expressa
hoje numa polarização entre os povos “do Alto” (gravitando em torno do anti-
go Posto Leonardo) e os “do Baixo e Médio” (gravitando em torno dos antigos
Postos Pavuru e Diauarum)2 que têm dimensões administrativas e políticas im-
portantes, refletindo-se em diferentes alianças e parcerias externas no que se
refere à assistência à saúde, educação, projetos socioambientais e etc., bem como
nas relações com o órgão indigenista. Essa polarização, entretanto, não confor-
ma blocos monolíticos: há fraturas internas e a fronteira entre “Alto” e “Médio-
Baixo” pode ser atravessada, sob um ou outro dos aspectos mencionados, por
esta ou aquela comunidade.
Essa polarização corresponde, de modo geral, a diferentes estilos de inte-
ração com os brancos, que se enraizam na história e no ethos de cada povo. De
um lado, os alto-xinguanos estenderam a esses sua típica política de “cooptação
ritual”, de envolvimento de potenciais inimigos em uma rede de trocas cerimo-
niais, apoiada na exuberância da cultura xinguana – de suas festas, de sua orna-
mentação corporal, de sua cultura material etc. A própria auto-apresentação dos
alto-xinguanos como povos pacíficos, que haviam substituído a guerra pelo ritu-
al intertribal, propiciou a construção, da qual também participaram os agentes
não-indígenas da criação do Parque (dos Villas-Boas aos antropólogos), de uma
imagem específica dessas sociedades que veio a circular ela própria como prova-
velmente o principal “bem simbólico” dasa trocas cerimoniais que caracterizam
as relações dos alto-xinguanos com os brancos – um exemplo eloquente sendo
o célebre Quarup (ver Guerreiro Jr, neste volume). As estratégias dos demais
povos acomodados no PIX, por outro lado, foram mais diferenciadas entre si,
ainda que tivessem todas de partir dessa carência básica: comparados aos alto-
-xinguanos, faltava-lhes decididamente, aos olhos dos brancos, cultura.
No caso dos Kĩsêdjê, a situação agravava-se na medida em que boa parte de
sua cultura – sobretudo aquela parte que se podia ver – era de origem alto-xin-
guana. Os primeiros observadores deixaram testemunhos pessimistas: Harald
Schultz (1961) descreve uma mistura de culturas (materiais) jê e xinguana;
Amadeu Lanna (1968:36) os viu como uma sociedade em ruínas. As influências
xinguanas estavam em toda parte: no plano da tecnologia, da cultura material,
da cozinha; na ornamentação corporal e na fabricação dos corpos; no repertório
100
Livro Conhecimento e Cultura.indd 100 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
musical e cerimonial. As transformações mais evidentes concentravam-se na es-
fera feminina (o que se ligava, pelo menos parcialmente, à captura de mulheres
dos povos dos formadores): é o caso da tecnologia e modos de aproveitamento
da mandioca, mas sobretudo da ornamentação corporal das mulheres, que assu-
miram também práticas e cerimoniais xinguanos, como os longos períodos de
reclusão para as moças e festas como a do Yamurikuma. Ainda que o aprofun-
damento da “xinguanização” tenha acabado por acarretar transformações mais
visíveis também na esfera masculina (corte de cabelo, o abandono dos batoques
labiais, o estilo das perfurações auriculares, e a própria forma da reclusão pu-
bertária), os Kĩsêdjê retiveram uma parte importante do repertório cerimonial
e musical e os grupos onomásticos masculinos associados, a que atribuem um
valor e sentido claramente diferenciados do que conferem às festas e músicas
alto-xinguanas (para tudo isso, ver Seeger 1980, 1984, 2004).
Tampouco foram abandonados os valores guerreiros que lhes eram caracte-
rísticos, tendo os Kĩsêdjê entretanto substituído o enfrentamento armado lite-
ral por uma guerra “metafórica”. Os Kĩsêdjê, como coletivo, interagem com os
brancos primordialmente na chave da inimizade,3 e isso se expressa nos contex-
tos mais diversos: em suas interações particulares com vizinhos (e invasores)
em seu território; em arenas públicas, com ou sem presença de outros povos,
quando se defrontam com autoridades e agentes do Estado; nas relações face-a-
-face com visitantes ou mesmo, em certas circunstâncias, com velhos aliados...
Mencionemos as viagens de fiscalização que fazem ao longo do Suiá-Miçú (e
afluentes), cuja bacia habitam desde o fim do séc. XIX mas que ficou, em sua
maior parte, fora dos limites do PIX bem como da sua atual Terra Indígena
Wawi: pintados como para a guerra, com bordunas e arcos, os membros dessas
expedições enfrentam invasões, pesca predatória, e outras atividades poluidoras
e destrutivas (como operações de dragagem) com apreensões de materiais e equi-
pamentos, eventualmente queima de instalações e retenção dos responsáveis.
Em ocasiões públicas de negociação e/ou protesto com autoridades locais ou
federais, comparecem como grupos de guerreiros, devidamente paramentados e
armados, entoando cantos de guerra no caminho das reuniões: exemplos espe-
taculares, envolvendo outros povos do Parque, em que os Kĩsêdjê faziam como
que o papel de “forças armadas simbólicas” dos índios do Xingu, foram os pro-
testos contra a construção da PCH do Paranatinga em 2004, o movimento que
culminou em 2008 com uma manifestação no Ministério da Saúde em Brasília
pela saída da FUNASA da saúde indígena, e a resposta em Canarana contra a
apreensão pelo IBAMA de artesanato plumário em 2010. (Este último evento foi
filmado por eles, e o documentário inclui um debate no fórum de Canarana com
o juiz a propósito de quem, afinal, seria o “dono” das terras onde hoje cresce a
101
Livro Conhecimento e Cultura.indd 101 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
cidade, em que os Kĩsêdjê defendem vigorosamente o direito de porte de suas
armas tradicionais – suas imponentes bordunas – como “parte de sua cultura”).
Esse estilo guerreiro se manifesta mesmo ali onde a aliança, e não o confron-
to, está em jogo: o discurso dirigido a ou sobre o branco aliado é frequentemente
marcado pela afirmação de que esta aliança é uma pausa, ou uma exceção, uma
concessão quase, no que se compreende e afirma como uma relação global de po-
tencial hostilidade. Assim, a primeira frase que o cacique Kujusi me dirigiu na
primeira vez que conversamos a sós, em um quarto de hospital em Washington,
DC, onde ele se tratava de uma pneumonia, foi: “você tem de saber que eu não
gosto de brancos”. Quando ele conta a história do longo envolvimento do antro-
pólogo Anthony Seeger com seu povo, desde os anos 1970 – e creio que não há
branco que seja visto pelos Kĩsêdjê como mais aliado que ele – sempre começa
enfatizando que sua primeira reação à solicitação, feita por Claudio Villas-Boas,
de autorização para que este viesse fazer sua pesquisa foi de recusa. O mesmo
se aplica à colaboração com o Instituto Socioambiental, parceiro dos Kĩsêdjê
em uma variedade de projetos. Todas as narrativas sobre a chegada de parceiros
não-indígenas se iniciam com “no início, não gostava/não confiava em Fulano”,
“não queria Sicrano aqui”. Como disse, isso me inclui.
Essa postura tem uma dimensão suplementar que é preciso enfatizar. As
duas diplomacias, associadas a diferentes constituições políticas (formas de or-
ganização coletiva, de chefia e etc.), propõem distintos modelos de relação com
os brancos. Para ilustrá-lo por meio de uma anedota, tomem-se as atitudes con-
trastivas dos Kĩsêdjê e das lideranças alto-xinguanas diante do então governador
Blairo Maggi chamado a Canarana (em novembro de 2004) para discutir o caso
da PCH do Paranatinga perante cerca de cerca de duzentos índios (entre eles 60
guerreiros kĩsêdjê). Enquanto os chefes alto-xinguanos dirigiam-se ao governa-
dor e à primeira-dama como “pai” e “mãe” dos índios, isso provocava a absoluta
estupefação dos Kĩsêdjê, que podem muito bem se ver adotando (capturando)
brancos, mas jamais como adotados, envolvidos em uma relação de dependência
em que eles seriam o “animal de estimação”. (Escapam-lhes, certamente, as su-
tilezas estratégicas da diplomacia xinguana).
Isso parece ter relação com os termos do comentário de meu interlocutor
kĩsêdjê: de um lado, a ênfase sobre os temas da “terra” e “ambiente”: de outro,
sua reivindicação de autonomia: “da nossa cultura a gente mesmo pode cui-
dar”. São óbvias e conhecidas as ameaças que pairam sobre a saúde ambiental
da bacia do Xingu: desmatamento, degradação das nascentes, avanço da soja
até os limites do Parque, projetos hidrelétricos (de Belo Monte às famigeradas
PCHs que se quer construir em praticamente todo curso d’água disponível),
nada disso precisa ser relembrado aqui. Nesse contexto, os Kĩsêdjê preferem
102
Livro Conhecimento e Cultura.indd 102 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
operar diretamente no campo de conflito entre seus interesses e os dos brancos,
em registro abertamente político, proferindo um discurso explícito de recusa da
cultura tal como definida pelos alto-xinguanos – como ritual em que a luta (espor-
tiva) e a música/dança substituem a guerra – enquanto o terreno privilegiado de
interação com os brancos. É inegável que os Kĩsêdjê lançam mão de sua cultura
para construir uma “imagem” que aumenta a eficácia de sua atuação política –
“à moda Kayapó”, descrita por Turner (1991). Mas há muito mais que a mera
seleção e manipulação de um diacrítico (seu “ethos guerreiro”) aqui: afirmar
explicitamente que guerra também é cultura, se fala sem dúvida a um imaginário
sobre o índio, o faz para subverter os termos em que este imaginário procura
acomodar a hoje celebrada diversidade cultural.
Nesse contexto, a resposta de meu amigo toma a palavra cultura, ironica-
mente, na referência que ela costuma ter quando se fala de Xingu – a beleza das
músicas, da dança, dos corpos pintados e decorados, a riqueza do artesanato,
a sabedoria dos mitos, o mistério do xamanismo – para convertê-la, de objeto
transacionável na interface com não-índios, em um “assunto interno” subor-
dinado à questão da autodeterminação político-territorial. Mas se isso é assim,
como entender o crescente entusiasmo kĩsêdjê com os assuntos de cultura?
Nossa cultura
No primeiro fim de ano que passei entre os Kĩsêdjê (de 2006 para 2007),
Natal e Ano Novo foram comemorados como festas de branco: aparelho de som
montado na casa-dos-homens, toda iluminada e enfeitada com balões coloridos,
e um forró que durou até quase o amanhecer. Festas desse tipo eram feitas no
Rikô, aldeia no interior do PIX em que os Kĩsêdjê viveram até o ano de 2001,
quando começou a mudança para o Ngôjhwêrê (depois da homologação em 1998
da Terra Indígena Wawi); eram tradicionais também no Posto Diauarum, que
eles costumavam frequentar.
Quatro anos depois, no Natal de 2010, estava em andamento o Amtô Ngere,
a Festa do Rato, um ritual de nominação que consiste na cerimônia mais im-
portante para os Kĩsêdjê hoje (Seeger 2004[1987]). As preparações para o Amtô
incluem ensaios diários, no fim da tarde, entre outras atividades, relaciona-
das sobretudo à confecção das máscaras. Entremeadas a estas, os Kĩsêdjê dan-
çaram festas xinguanas, como a festa do Beija-flor (Djuntxi) e a das mulheres
(Yamuricumã); cantaram músicas próprias (do repertório do Kahran Ngere, um
ritual de iniciação caído em desuso); fizeram, algumas tardes, “brincadeira de
Kayapó”. Tudo isso às vezes se misturava: enquanto alguns cantavam o Djuntxi
(de casa em casa), outros ficavam no centro, ensaiando seus cantos individuais
103
Livro Conhecimento e Cultura.indd 103 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
para o Amtô. Na noite do Reveillon, dançamos o Djuntxi de madrugada, mas o
Natal passou em branco. Nenhum elemento não-indígena foi incorporado a essas
comemorações.
A mudança não foi súbita; nos anos anteriores, fórmulas mistas foram expe-
rimentadas, com os elementos exógenos sendo tentativamente misturados a “fes-
tas indígenas” – no caso, festas de origem xinguana, em especial o Djuntxi, cujos
cantos noturnos, envolvendo homens e mulheres, são especialmente propícios
a comemorações estendendo-se madrugada adentro, e estão entre os preferidos
dos Kĩsêdjê. Temia-se que a supressão pura e simples das comemorações tivesse
um efeito negativo sobre a moral da comunidade: os organizadores das festas
de fim de ano – a associação indígena – preocupavam-se com o esvaziamento
da aldeia no período, com os jovens deslocando-se para a cidade (Canarana) ou
para o Diauarum para participar das festividades. Tentou-se restringir o forró,
determinando-lhe um horário limite e controlando o volume do som (além do
banimento das bebidas alcoólicas), mas nem seus adeptos, nem seus críticos,
ficaram satisfeitos. Como me disse uma amiga (esposa do filho mais velho do
chefe), não sem ironia: “quando éramos índios puros, fazíamos um forró dana-
do, mas agora que estamos virando brancos...”.
A evolução das festas de fim de ano corresponde ao que chamei em outro
lugar, inapropriadamente, de um “fundamentalismo cultural” crescente entre os
Kĩsêdjê, manifesto em uma série de ações depurativas no sentido de manter o ca-
ráter “jê” (em oposição a xinguano) e “indígena” da sua “cultura”. O expurgo de
empréstimos linguísticos é um exemplo: pública ou privadamente, em reuniões
no ngá (casa-dos-homens) ou em torno do fogo de cozinha pela manhã, vejo des-
de 2005 as pessoas sendo corrigidas quando referem-se aos brancos como karaí
ou caraíba (palavras adotadas dos yudjá ou dos xinguanos) em lugar de kupëkát-
xi; ao arroz como awatxij (do yudjá), e não põjsy; a galinhas como karakarako (do
kamayurá?) e não sákkhrãjsy; a esteiras, como tawapi (do kamayurá), e não kwâk
sykasyry; etc. É raro hoje escutar alguém empregar as formas não kĩsêdjê, pelo
menos publicamente.4
Um outro exemplo seria a decisão recente, tomada em uma oficina pe-
dagógica em meados deste ano, de conduzir toda a educação escolar, que vai
até a quarta série, em língua kĩsêdjê. Além disso tudo, os Kĩsêdjê estão hoje
engajados em uma série de projetos que se poderia caracterizar como de “revi-
talização cultural”. Há um projeto apoiado pelo PDPI que envolve a realização
e documentação da cerimônia completa da corrida de toras (Ngrwa Rêni), que
não fazem há mais de cinquenta anos. Há um outro, apoiado pelo Museu do
Índio, dirigido para a documentação linguística. Juntamente com a produtora
de vídeo tocada por rapazes formados pelo Vídeo nas Aldeias, esses projetos
104
Livro Conhecimento e Cultura.indd 104 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
animam o recém-criado Centro para Pesquisa da Cultura Kĩsêdjê, que conta
com dez pesquisadores nativos empenhados, entre outras coisas, em trans-
crever (no computador, usando o Transcriber) gravações de Tony Seeger (e
minhas). Todos esses movimentos, entretanto, ainda que alinhavados em um
mesmo discurso sobre importância de conservar a cultura kĩsêdjê, teriam de
ser analisados em seus desdobramentos particulares. Pois enquanto se inscre-
vem, de fato, em uma tendência geral de afirmação da distintividade dessa
cultura, estão longe de poder ser completamente explicados por ela. Primeiro,
porque essa distintividade é seletiva, parcial e contextual; segundo, porque
não me parece que a única motivação dessa diferenciação seja a afirmação de
uma “identidade”.
Quanto ao primeiro ponto, parte importante da vida ritual continua girando
em torno das festas xinguanas. Isso é algo que não poderei desenvolver aqui, mas
o fato é que essas festas xinguanas são muito mais que meramente recreativas
para os Kĩsêdjê. Elas implicam relações complexas e delicadas entre os huma-
nos, e com os espíritos a elas relacionados – e elas são eficazes. São em várias
ocasiões realizadas para/por indivíduos que adoeceram por influência desses es-
píritos, e que ao patrociná-las tornam-se “donos” dessas festas (isso geralmente
envolve o diagnóstico por parte de um xamã alto-xinguano, o que vi acontecer
algumas vezes nos últimos cinco anos). De qualquer modo, não devem ser fei-
tas “à toa”: quando o líder dos jovens, recentemente, dirigiu-se aos homens no
círculo noturno dizendo que os rapazes queriam fazer um Tawarawanã, foi-lhe
respondido que seria preciso retribuir com alguma atividade o dono da festa
(todas essas festas xinguanas, Tawarawanã, Djuntxi, Yamurikumã, tem donos
kĩsêdjê): decidiu-se que seria refeita a cumieira de sua casa, pelo que ele pagaria
os jovens com o patrocínio da festa.
De fato, nesse sentido, a cultura kĩsêdjê é um “amálgama” de elementos jê
e alto-xinguanos, e assumido por eles, não-problematicamente, como tal. Isso
resulta do caráter seletivo e parcial do movimento que constitui essa cultura en-
quanto “aculturação”, movimento modelado na própria mitologia – um relato de
como, por meio da adoção de recursos e saberes de outros povos e seres, “os Suyá
se tornaram eles mesmos verdadeiros seres humanos. Nada foi pré-estabelecido
por um herói cultural; tudo foi adotado porque era ‘bom’ ou ‘bonito’” (Seeger
1980:169; cf. Coelho de Souza 2010). Do ponto de vista kĩsêdjê, essa aculturação
não é um processo terminado ou terminável, nem irreversível. Por isso, assim
como a adoção de elementos da cultura xinguana dependeu de uma apreciação
de sua “beleza” ou utilidade, o renascimento cultural em curso continua obede-
cendo à mesma lógica seletiva e parcial – eis porque “fundamentalismo” é uma
péssima palavra para descrevê-lo.
105
Livro Conhecimento e Cultura.indd 105 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
Mas não se trata certamente de um amálgama indiferenciado, como fica evi-
dente no contexto do discurso e dos esforços depurativos mencionados, dos
projetos de revitalização e documentação (que portam exclusivamente sobre os
elementos “originalmente” jê), ou das transações com não-índios envolvendo
elementos culturais – como no caso, que discuti alhures (Coelho de Souza 2010),
de um contrato sobre padrões gráficos firmado com a Grendene. Se o que é
“Kĩsêdjê” e o que é “de outros” é ativamente distinguido nesses contextos, al-
guns deles (mas não todos) “interétnicos”, estaríamos então – para passar ao
segundo ponto – diante de um limite dessa noção de cultura como “aculturação”
(auto-transformação, alteração), e da emergência de uma percepção da cultura
como dispositivo identitário?
Esse é um ponto que não posso desenvolver aqui, mas minha percepção é de
que não necessariamente (ou não exclusivamente). O revivalismo kĩsêdjê é um
esforço de fato consciente, mas eles não me parecem, em todas essas iniciativas,
mais preocupados com o diferenciar-se de seus vizinhos (ou dos brancos) do que
com o diferenciar-se de si mesmos. “Quando éramos índios puros”, como diz a nora
do chefe, referindo-se ao tempo em que eram Kĩsêdjê xinguanizados… A “pure-
za” aqui é relativa à cultura dos brancos: “purinhos” é como qualificam, com
admiração e alguma nostalgia, os povos que vêem nos filmes, sem roupas, com
ornamentos tradicionais, em aldeias e casas desprovidas de panelas, construções
e outros objetos industrializados.5 Se hoje ela diz que estão “virando brancos”,
é por causa das experiências diversas de envolvimento com os conhecimentos, a
comida, as roupas e máquinas, e tantos outros objetos (e hábitos) que obtém na
relação conosco. Esse envolvimento é ativamente procurado, como um meio de
auto-transformação que não comporta em tese nenhuma contradição com o re-
nascimento da “antiga” cultura Kĩsêdjê (pré-xinguana) – pelo contrário. Como o
conhecimento do branco, o acesso a esse outro conhecimento (a cultura antiga) é
também um meio de auto-transformação. Uma Renascença, em que o interesse
indígena não é certamente “permanecer o mesmo” (e voltar ao passado muito
menos). Se eles querem sem dúvida preservar algo, não é uma cultura, mas é a
integralidade de suas relações “sociais” (intra e extra-humanos), e para isso é
preciso continuar se transformando (diferenciando) – como parte de seu esforço
para “desestabilizar o convencional” (Wagner 2010:144), não para conformar-se
a ele. Diante de uma xinguanização que se apresentava já – que se dava – como
“convenção”, virar branco (no sentido de apropriar-se de seus conhecimentos
e instrumentos) e virar Kĩsêdjê fazem parte de um mesmo movimento. Um
movimento cheio de riscos, como sempre, riscos que estão sempre a sublinhar.
Pois não se trata de que desejem “virar brancos”. Evitá-lo é, pelo contrário,
uma preocupação central, pelo menos de suas lideranças.6 Mas é importante
106
Livro Conhecimento e Cultura.indd 106 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
compreender que o foco dos esforços assim como dos receios indígenas não está
na oposição entre conservação e transformação, tradição e inovação: o risco não
é transformar-se, mas transformar-se completa e definitivamente – isto é, dar fim
à transformação.
Reflexividade (com agradecimentos a Amir Geiger)7
A distinção proposta por Manuela Carneiro da Cunha é aquela entre “cul-
tura” tal como emerge do processo de organização e maximização de diferenças
culturais em um contexto interétnico, e a cultura como remetendo a “esquemas
coerentes internalizados que organizam a percepção e ação das pessoas e garan-
tem um certo grau de comunicação em grupos sociais” (2009:313). “Cultura”,
entre aspas, situar-se-ia assim nesse nível em que “sociedades como um todo”,
“grupos étnicos”, constituem-se em unidades ou elementos de uma estrutura
interétnica – em contraste com as culturas (sem aspas) enquanto contextos orga-
nizados segundo uma lógica interna operando sobre unidades ou elementos que
fazem parte de um todo. “Cultura”, nesse sentido, pertenceria a uma metalin-
guagem, constituindo uma “noção reflexiva que de certo modo fala de si mesma”
(Carneiro da Cunha 2009:356).
Essa distinção é parenta de várias outras formulações que chamam atenção
para a emergência de um “sistema mundial de Cultura” ou “Cultura de cultu-
ras” (Sahlins 1997) e de uma noção de tradição “valorizada e explícita” ao lado
de uma “não-manifesta, implícita” (Strathern 1998:118). Ela é certamente útil,
como argumenta Carneiro da Cunha, para pensar dilemas que emergem no de-
bate sobre patrimônio cultural e direitos de propriedade intelectual em relação
a sociedades indígenas: a contradição, por exemplo, envolvida nas propostas
para proteger esses conhecimentos tradicionais em termos de direitos coletivos
quando sabemos que as coisas não são bem assim – quando sabemos que os
conhecimentos indígenas podem ser internamente sujeitos a sistemas de “di-
reitos” concernentes à “propriedade” (se esta é a palavra), acesso e transmissão
muito mais complexos, específicos e restritivos. O fato de que atores indígenas
transitem eles mesmos entre ambas as posições mostra que a contradição é prati-
camente resolvida, possibilidade que se baseia no fato de que as duas esferas de-
pendem de distintos princípios de inteligibilidade, de que suas lógicas interna
não coincidem: entre uma e outra há uma passagem de nível ou domínio (entre
linguagem e metalinguagem) (Carneiro da Cunha 2009:357-8).8
Essa passagem é, no entanto, constantemente atravessada – e essa me parece
ser a lição principal de Carneiro da Cunha: a de que falar de cultura com aspas
não significa perpetuar uma dualidade entre cultura para dentro e cultura para
107
Livro Conhecimento e Cultura.indd 107 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
fora, mas chamar a atenção para o fato de que a cultura se enuncia, sempre, ime-
diatamente, entre o dentro e o fora. Isto tem relação com aquele paradoxo para
o qual nos chamou atenção Roy Wagner, e constitutivo da antropologia, criado
pelo esforço em “imaginar uma cultura para pessoas que não a concebem para si
mesmas” (Wagner 2010:62). Vimos que a este paradoxo hoje se soma ou sobre-
põe um segundo, gerado pelo fato de que todos parecem agora ocupados no exer-
cício de tal imaginação ¾ enfatizando muitas vezes as propriedades que para os
antropológos se tornaram anátema: fronteiras, permanência, pureza, fixidez…
A distinção proposta é um instrumento poderoso para enfrentar esse novo para-
doxo: contanto que não se a leia de um certo modo, a saber, como uma forma de
reprimi-lo, em lugar de habitá-lo.
O que estou querendo evitar é o uso da distinção para instalar o que poderí-
amos chamar uma espécie de “cordão de isolamento": tomar a “cultura” como
uma (mera) “retórica”, um fenômeno apenas da ordem da identificação étni-
ca, um diacrítico mais ou menos vazio de sentido que não afeta e tampouco é
lá muito afetado pela cultura “sem aspas”. Isso salvaria a noção “heraclitiana”
de cultura dos antropólogos das deformações “platônicas” (Carneiro da Cunha
2009[1994]:259) – a reificação, objetificação, etc. – a que seria submetida na are-
na interétnica. Poderíamos então empregar as aspas para falar dessa cultura ob-
jetificada quando aparece no discurso nativo, justificando o uso de ideia tão fora
de moda em termos dos desafios que eles enfrentam em tal arena. Enquanto isso,
ficaríamos autorizadas a continuar usando a cultura – literal, sem as aspas – para
teorizar sobre este outro objeto que sabemos independente de tais considera-
ções. Em outras palavras, estaríamos livres para continuar a usar cultura, sem
aspas, para levar adiante nossas próprias objetificações. Teríamos assim duas coisas
chamadas cultura: a primeira, algo que cresce lá no mundo, esperando pela co-
lheita antropológica; a outra, um efeito sobre o discurso (e cultura) nativos de
nossa própria (antiga) noção de cultura, um efeito que colocamos entre aspas
para evitar contaminar o conceito “científico”.
Não é nessa direção que nos aponta Carneiro da Cunha, que afinal está jus-
tamente se perguntando: “como é possível operar simultaneamente sob a égide
da ‘cultura’ e da cultura e quais são as consequências dessa situação problemá-
tica? O que acontece quando a “cultura” contamina e é contaminada por aquilo
de que fala, isto é, a cultura?” (2009:356). O que ela quer pensar é como “essas
ordens embutidas uma na outra se afetam mutuamente a ponto de não poderem ser
pensadas em separado” (:362 – ênfase minha); para o que ela nos chama atenção é
para a reflexividade não como tomada de consciência de algo que estava lá, mas
como produtora de “efeitos dinâmicos tanto sobre aquilo que ela reflete – cul-
tura, no caso – como sobre as próprias metacategorias, como ‘cultura’” (:363).
108
Livro Conhecimento e Cultura.indd 108 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
Se há risco de engano sobre isso, ele talvez resida na ambiguidade que
Carneiro da Cunha deixa pairar sobre a noção de “contexto interétnico”.
Façamos um pequeno desvio. Na nota introdutória de seu capítulo, a autora se
refere a um artigo de Terence Turner (1991) em que ele tematiza a tomada de
consciência pelos Kayapó da significância política de sua cultura. Antes, diz ele,
os Kayapó viam o que chamamos cultura enquanto
o modo prototipicamente humano de se viver, um corpo de saberes e
modos de fazer criados e passados adiante por ancestrais míticos e he-
róis culturais. Eles não tinham noção de que este corpo de instituições
e ideias fossem as produções de atores sociais como eles mesmos, ou
de que servissem propósitos sociais específicos, como a reprodução de
famílias, grupos domésticos e pessoas. Eles não tinham, em suma, no-
ção alguma de que seu conjunto de costumes, práticas rituais, valores
sociais e instituições constituísse uma “cultura” no sentido antropoló-
gico, nem qualquer ideia do papel reflexivo daquela cultura na repro-
dução de sua sociedade e de suas identidades sociais (Turner 1991:294
– tradução minha).
Essa falta de uma “consciência social apropriada a sua situação histórica en-
quanto parte de um contexto interétnico” (:294) teria sido radicalmente modi-
ficada pela experiência do contato, nos quadros da qual, ao invés de se verem
como protótipos da humanidade, os Kayapó agora “se vêem como um grupo ét-
nico, partilhando sua etnicidade mais ou menos em pé de igualdade com outros
grupos indígenas em seu confronto comum com a sociedade nacional” (:296).
A nova visão, diz Turner, não substituiu a anterior, mas “coexiste com ela em
por assim dizer um nível diferente, especificamente focada na interface entre os
Kayapó e a sociedade brasileira” (:298).
Volto a Turner assim detidamente porque, para além da convergência que
reconhece Carneiro da Cunha, enxergo aqui uma divergência significativa. A
formulação de Turner depende de uma descontinuidade fundamental entre duas
formas de consciência social, que resulta por sua vez da descontinuidade entre a
sociedade kayapó como totalidade autocontida e a percepção de uma nova totali-
dade, constituída pelo contexto interétnico (aqui, a inserção na sociedade nacio-
nal). Note-se que, embora convivam, essas duas formas de consciência não são
simétricas: uma delas detém de fato a verdade e razão da outra, e a “engloba”.
Deixados entre si (se alguma vez o foram), os Kayapó continuariam pensando
que sua cultura é “dada” (autorada por seres míticos) e “roubada” (adquirida de
outros povos), em suma exógena, quando “na verdade” trata-se de uma constru-
ção humana, “produção de atores sociais como eles mesmos etc.”, um produto
109
Livro Conhecimento e Cultura.indd 109 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
de autoria coletiva e endógena. A cultura sem aspas de Turner é uma “cultura em
si”, inconsciente de si mesma, e o movimento de reflexão aqui equivale a “re-
fletir” [no sentido de espelhar] uma concepção de cultura que tem bem outros
autores…9
Carneiro da Cunha, por outro lado, insiste que a lógica interétnica não é
específica da situação “de contato”. Ela corresponde apenas a uma aplicação, em
nova escala, de uma mesma lógica geral de organização e ênfase de diferenças
culturais. Ela não equaciona, ao contrário de Turner, reflexividade e a forma espe-
cífica que esta toma quando se dá sob a égide da categoria cultura em um sistema
interétnico determinado – o sistema colonial. Ela parece estar dizendo, pelo con-
trário, que essa forma específica, essa reificação em que consistiria a “cultura”,
deve ser compreendida como um caso particular do fenômeno da reflexividade
como inscrita em quaisquer processos de diferenciação social, como ela deixa
claro ao afirmar que a idéia da articulação interétnica seria “uma continuação
natural da teoria lévi-straussiana do totemismo e da organização de diferenças”
(Carneiro da Cunha 2009:356).10
A ênfase sobre essa continuidade não deve entretanto obscurecer um ponto
importante: o fato de que a presença de uma noção de cultura como ordem cole-
tiva e endógena que diz respeito à identidade (à etnicidade) – contrastiva ou essen-
cial, pouco importa – parecer ser sim específica da “situação de contato” (pelo
menos no caso ameríndio). A lógica interétnica como uma lógica de organização
das diferenças em função da identidade articula-se a uma certa noção de “cultura”
que nada nos autoriza – como Carneiro da Cunha mostra em várias passagens
– a atribuir aos índios, ou a supor operativa nos processos de “aculturação in-
tertribal” (como os que constituíram a sociedade xinguana). Não é de qualquer
reflexividade que estamos falando aqui.
A emergência dessa lógica específica do “contato” foi descrita por Bruce
Albert como um “deslocamento de perspectiva pelo qual [a] reflexividade cul-
tural se inverte, tornando-se de objetivação/revisão para ‘fora’ do próprio siste-
ma de valores como ‘cultura’ no diálogo com a sociedade envolvente” (Albert
2002:14). A reflexividade cultural se inverte… Pois, justamente, essa “objetiva-
ção/revisão para fora” que constitui a cultura como “um patrimônio coletivo
e partilhado”, como algo homogeneizado e “democraticamente […] estendido
a todos”, consiste na objetificação de uma objetificação anterior. A “cultura sem
aspas” – qualquer que seja a definição que adotemos11 – é ela mesma uma ob-
jetificação: antropológica, em grande parte, algo que tivemos de inventar para
conferir sentido a nossa experiência do modo com outras pessoas conduzem
suas vidas, como Roy Wagner mostrou faz certo tempo. Ela também perten-
ce a um “contexto interétnico”: ela, é claro, também depende de princípios de
110
Livro Conhecimento e Cultura.indd 110 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
inteligibilidade que não são indígenas… A evocação da cultura seria assim, sem-
pre, por definição “meta”, no sentido de mobilizar princípios de inteligibilidade
situados em um sistema “diferente”. A vida indígena supõe, é evidente, seus
próprios modos de objetificação e reflexividade, mas estes seriam provavelmen-
te melhor descritos por outros nomes, sendo muito distintos, em termos de seus
pressupostos fundamentais, daqueles que carrega consigo a noção de cultura, em
sua versão antropológica como nas várias versões em que é acionada em nossa
vida sociopolítica presente – baseiam-se em diferentes modos de criatividade,
diferentes maneiras de constituir objetos e sujeitos, que podem não depender da
articulação entre produção e identidade que informa nosso senso de cultura –
podem focalizar a predação e a alteridade (alteração), por exemplo.
Essa articulação – em sua íntima conexão com a questão dos “direitos inte-
lectuais” que suscita a reflexão de Carneiro da Cunha – foi recentemente suma-
rizada de maneira conveniente por James Leach (2004) na noção de um modo
de criatividade que ele batiza “apropriativo”. Este seria baseado em uma (re)
combinação de elementos retirados de muitas fontes, envolvendo uma inovação
cuja “origem” depende da abstração da vontade, da agência ou propósito em
relação à matéria física. Inovação e agência assim abstraídos compõem uma no-
ção de criatividade (moldada, em última instância, na criatividade divina) como
força transcendente situada em um intelecto separado do mundo. Nesse modo
de criatividade, os objetos criados que atestam a atividade do “intelecto” assim
como do “trabalho” humanos devem ser compreendidos como “propriedade” de
seus criadores, pois são como que suas próprias extensões. E é em termos desse
modo que, vista como criação coletiva, a cultura como conjunto ou acúmulo de
ideias, práticas e instituições, ou “símbolos e significados” etc. – uma generali-
zação da ideia de Cultura como refinamento e civilização (Wagner 2010:53ss)
que conserva, entretanto, a mesma separação fundante entre criador e criatura,
pessoas e coisas, sujeito (divindade ou intelecto) e objeto (natureza ou artefato) –
essa cultura pode então aparecer como algo que o coletivo que a criou “tem” – e
como um signo identitário.
Nesse registro, mesmo a cultura como “esquema coerente internalizado que
organiza a percepção e ação das pessoas e permite algum grau de comunicação
em grupos sociais”, que obviamente não se reduz (para os que vivem nela) a sis-
tema ou signo, acaba por aparecer exatamente como tal para os antropólogos (que
objetificam, inventam, nesses termos, a vida e a socialidade alheias). Wagner
mostrou como o etnógrafo, confrontado com o “choque cultural” da experiência
de campo, precisa assumir “que o nativo está fazendo o que ele está fazendo – a
saber, ‘cultura’. E assim, como um modo de entender os sujeitos que estuda, o
pesquisador é obrigado a inventar a cultura para eles, como algo plausível de ser
111
Livro Conhecimento e Cultura.indd 111 26/4/2011 12:20:47
A vida material das coisas intangíveis
feita” (Wagner 2010:61). Ele chama atenção para o fato de que essa invenção é ao
mesmo tempo controlada pela ideia ou imagem de cultura sustentada pelo an-
tropólogo (a cultura como produção, refinamento ou mesmo civilização), e con-
siste em uma extensão dessa imagem que, todavia, continuamente, a relativiza.
É para tal relativização – operando seja sobre a objetificação em que consiste
a cultura “sem aspas” (inventada, neste sentido wagneriano, pelo antropólogo),
seja sobre os modos indígenas de reflexividade que se busca apreender por meio
deste conceito (isto é, sobre os modos de reflexividade que preferi não rotular
de cultura), seja ainda sobre a “cultura” objetificada indigenamente na arena
inter-étnica – que Carneiro da Cunha me parece estar apontando quando fala
do looping effect da reflexividade, mostrando como esta produz efeitos dinâmi-
cos tanto sobre aquilo sobre o que se reflete quanto sobre as metacategorias por
meio das quais se o faz. É nestes efeitos que, creio, ela está interessada. É para
chamar atenção para eles que ela escreve as aspas (não para purificar nossos usos
da palavra cultura). De modo que, se há algo que se possa chamar cultura “sem
aspas”, isto não é nada que estivesse ali antes do encontro entre o antropólogo
(por exemplo) e o nativo; trata-se (antes) de um efeito deste encontro (sobre o
antropólogo, por exemplo).
Uma vez que a reflexividade indígena pode tomar formas muito diferentes
daquela que chamamos cultura, e porque essas formas não podem não deixar
suas marcas sobre essa metacategoria “importada”, nunca podemos estar cer-
tos de saber de antemão o que os índios querem dizer quando dizem “cultura”.
Quando usam nossa palavra – ou alguma tradução engenhosa dela – eles estão
produzindo um objeto que significa sua relação conosco, mas trata-se ainda da
produção deles: o que eles devem estar fazendo – eles não têm alternativa – não
é objetificar sua cultura (sem aspas) por meio de nosso conceito, mas sua relação
conosco por meio dos conceitos deles – quero dizer, por meio de sua própria com-
preensão do que constitui criatividade, agência, subjetividade…
Os Kĩsêdjê traduzem cultura por anhingkratá, uma forma reflexiva do céle-
bre kukradjá kayapó.12 Usam frequentemente, mas nunca entre si, o vocábulo em
português cultura. Não estou certa de que, quando o fazem, estejam declarando a
intradutibilidade do termo (como sugere Carneiro da Cunha [2009:369]); creio
que sua intenção é precisamente inversa a da Igreja (peruana) quando proibia a
versão para as línguas nativas dos conceitos cristãos (:id.). Não se trata de garan-
tir que o registro não-indígena seja mantido: pelo contrário, creio que o que eles
estão fazendo é tornar mais difícil saber quem está ditando o sentido (:id.) do nosso
conceito quando pretende se aplicar à experiência deles.
É por isso, suspeito, que não há aspas no mundo que possam “resolver” as
contradições entre entendimentos indígenas e não-indígenas nas disputas sobre
112
Livro Conhecimento e Cultura.indd 112 26/4/2011 12:20:47
Marcela Coelho de Souza
propriedade cultural e intelectual. Em certos casos, elas acabarão sendo produ-
tivas; em outros, não. Este é o destino de todas as equivocações envolvidas em
“falsos amigos” conceituais como cultura: “enquanto os propósitos podem ser
similares, as premissas decididamente não o são” (Viveiros de Castro 2004). Aos
antropólogos resta talvez acompanhar os equívocos envolvidos no debate cor-
rente sobre a cultura (com nativos, advogados, legisladores, gestores, formulado-
res de políticas públicas etc.), para que não se percam de vista as diferenças que
o alimentam. Resta talvez esse esforço contínuo para manter os equívocos sob
algum “controle” – uma arte difícil, uma diplomacia na qual Manuela Carneiro
da Cunha tem poucos iguais.
Epílogo: a terra intangível
Vou concluir voltando ao comentário de meu amigo kĩsêdjê: ao que acontece
com a cultura quando ele a coloca entre aspas. Tentei mostrar que o contex-
to dessa operação compreendia um esforço de redefinição do que devia contar
como cultura no quadro das complexas relações políticas que fazem o Parque
do Xingu, como parte de um movimento para redefinir este próprio contexto.
Guerra também é cultura, por exemplo. Por outro lado, festas, cantos, ornamen-
tos, artefatos não cultura como finalidade, algo a ser “produzido” e “acumulado”
por si mesmos, mas existem (“naturalmente”) como expressão e meio de rela-
ções que, estas sim, são foco de investimento das ações, realizando-se na integri-
dade da “terra”, da vida dos lugares enquanto redes de implicação mútua entre
pessoas humanas e não-humanas (Coelho de Souza s/d) – redes que a atividade
cultural dos brancos, aliás, tende a destruir.
Carneiro da Cunha sugeriu de passagem que “quanto menos uma socie-
dade concebe direitos privados sobre a terra, mais desenvolve direitos so-
bre ‘bens imateriais’, exemplificados em particular pelo conhecimento”
(2009:357). Numa conferência recente, Marilyn Strathern (2009) utilizou-se
da analogia da propriedade intelectual para imaginar regimes (melanésios)
em que a terra é pensada não como riqueza tangível, mas como contraparte
intangível do corpo coletivo que a anima. Evidência das relações que fazem
esses coletivos, a terra cria pessoas e tudo o mais como suas extensões. Se pu-
dermos estender para a Amazônia algo desta analogia entre terra e recurso in-
tangível, então a correlação apontada por Carneiro da Cunha não significaria
que nessas sociedades não existam direitos sobre a terra, mas que os direitos
em questão são direitos sobre “bens imateriais”: tratam-se de direitos sobre o
potencial criativo da terra (dos lugares) enquanto evidência das relações entre
pessoas que pertencem a ela.
113
Livro Conhecimento e Cultura.indd 113 26/4/2011 12:20:48
A vida material das coisas intangíveis
Como “riqueza intangível”, a terra não consistiria, no comentário de meu
amigo, na dimensão material (aludida em meu título) de uma “cultura imate-
rial” que as políticas que eu lhe expunha querem proteger. Ele não está expres-
sando uma posição “materialista”, uma espécie de defesa indígena do prima-
do da infraestrutura, por mais natural que se nos ofereça tal leitura. Há afinal
poucas coisas que consideraríamos tão inverossímil qualificar de “imateriais”
quanto a “terra” – poucas coisas tão concretas (o chão onde pisamos), poucas
riquezas tão tangíveis. Mas não deve ser difícil, por um lado, mostrar que a
emergência dessa “terra” como epítome do bem material e da riqueza “imóvel”
depende de um movimento radical de abstração, e dos instrumentos e procedi-
mentos muito específicos de mensuração, delimitação e apropriação que o via-
bilizam. Por outro, quando os Kĩsêdjê falam em “nossa terra”, não é a essa terra
abstrata, objeto de direitos de propriedade – sejam aliás privados ou coletivos,
pouco importa – que estão se referindo. Hwyka, “terra”, é uma palavra que os
Kĩsêdjê empregam para se referir ao solo, aos diferentes tipos de solo com suas
variadas propriedades agrícolas, p.ex. (hwyka tyky, “terra preta”, hwyka kam-
brêkê, “terra vermelha”, etc.), ou ao solo como chão (hwyka mã é uma expressão
que significa “para baixo”). Não me lembro de escutar a palavra qualificada por
um possessivo: wa patá (“nossos lugares” ou “nossas aldeias”), wa nhõ pá (“nos-
so mato”), wa nhõ ngô (“nosso rio/água”), é como se referem aos lugares que
consideram “seus”. O conjunto desses lugares é o que os Kĩsêdjê consideram
“nossa terra”: não a terra em abstrato, mas paisagens e lugares determinados,
constituídos pela interatividade de seus habitantes e “donos”, pessoas das mais
diferentes magnitudes e naturezas: indivíduos, famílias, toda uma comunidade
aldeã, animais, espíritos.13 Um recurso intangível, poder-se-ia dizer: pois o que
é tangível são as criações dessa terra, pessoas ou objetos específicos como for-
mas ou expressões de sua criatividade. O que vocês chamam “cultura”, parecem-
-me afirmar os Kĩsêdjê (cantos, padrões gráficos, aparatos técnicos, tecnologias,
saberes, bem como corpos ou alimentos fabricados de uma certa maneira, e etc.)
é apenas a materialização desse recurso intangível, dessa força criativa que para
nós é a “terra” – com aspas.14
Não terei dado uma volta muito grande para dizer a mesma coisa que eu dis-
se, afinal, para os museólogos canadenses? Ou melhor dizendo, não terei com-
plicado excessivamente um comentário que, mal-entendido como referindo-se
à base material (territorial e ambiental) da cultura, permanece muito mais com-
preensível, e portanto eficaz (politicamente)? No caso da terra como da cultura,
o que se ganha com tal complicação? Não tenho muita certeza, mas seja como for
espero que essa volta tenha servido para ilustrar as torções e os desvios necessá-
rios para acompanhar a vida dos conceitos, e assim enriquecer um pouco mais a
nossa imaginação.
114
Livro Conhecimento e Cultura.indd 114 26/4/2011 12:20:48
Marcela Coelho de Souza
Notas
Este artigo origina-se de comunicação apresentada em uma mesa dedicada às “Experiências
das Américas” no simpósio Preserving Aboriginal Heritage: Technical and Tradicional Approa-
ches, (Ottawa, Canadian Conservation Institute, 2007) (Coelho de Souza 2008). Daquele trabalho,
restaram aqui apenas a primeira parte do título e a anedota introdutória — objeto então de uma
interpretação da qual o restante deste texto consiste em uma extensão corrigida. Esta extensão
incorpora também comentários em um workshop dedicado à questão “If changing regimes of
intellectual property rights affect the way our informants talk about ‘culture’, how does all this
affect the way we theorize and study culture”, na VI Conferência da Society for the Anthropology
of Lowland South America (SALSA), em janeiro de 2010. A pesquisa junto aos Kïsêdjê foi desen-
volvida com o apoio, em 2004-2005, do Programa Pronex (CNPq/FAPESP) no âmbito do projeto
coletivo Transformações Indígenas: os regimes de subjetivação ameríndia a prova da história e do
Núcleo Transformações Indígenas (MN/UFRJ e UFSC) e, em 2006, da Wenner-Gren Foundation,
por meio de uma Post-Doctoral Research Grant. A partir de 2007, vem sendo sustentada pela FI-
NATEC/UnB e (como subprojeto integrante do projeto Effects of Intellectual and Cultural Rights
Protection on Traditional People and Traditional Knowledge. Case Studies in Brazil) pela Ford
Foundation.
1
Os Kĩsêdjê (também conhecidos como Suyá) são um povo Jê setentrional que vive na bacia
do rio Suiá-Miçú, afluente do Xingu, em terra indígena adjacente ao Parque Indígena do Xin-
gu, MT. São conhecidos na antropologia por meio dos trabalhos de Anthony Seeger (p.ex., 1981,
1987).
2
Com a reestruturação da FUNAI em 2010, os Postos foram convertidos em Coordenações
Técnicas Locais, subordinadas a uma Coordenação Regional que corresponde à antiga Admi-
nistração Regional responsável pelo Parque. Os Kĩsêdjê, anteriormente ligados ao Diauarum e
considerados como parte do “Baixo”, dispõem agora de uma coordenação local própria, corres-
pondendo ao anterior Posto Indígena Wawi, que fora criado em 2007. Embora ocupem uma Terra
Indígena formalmente separada (a TIW, homologada em 1998) adjacente ao PIX, estão subordina-
dos à mesma coordenação regional do Parque – cuja direção aliás no momento ocupam – e tendem
a formar um novo bloco mais ou menos independente, o “Leste”.
3
Como coletivo; e que inimizade não seja entendida aqui como agressividade no trato inter-
pessoal, registro em que se destacam por uma atitude respeitosa e amigável, apreciada por todos
que com eles interagem.
4
Outro exemplo eloquente refere-se à produção e consumo do caxiri, costume adotado dos
Yujdá, que segundo relatos era frequente no Rikô. Embora continue apreciado por algumas pes-
soas, o caxiri foi, por decisão coletiva, suprimido das ocasiões públicas – notadamente, das festas
e comemorações acima mencionadas – em razão, diz-se, das brigas e tensões provocadas por seu
consumo. A decisão enquadra-se em todo um esforço dos Kĩsêdjê para controlar o consumo de
bebidas alcóolicas, que se intensificou com o trânsito crescente entre aldeias e cidades (Canarana
e Querência) nos últimos anos, mas o idioma do costume – a referência ao caráter alienígena da
bebida alcóolica, cachaça ou caxiri – é também um componente do discurso sobre a questão.
5
Com por exemplo os Zo’é vistos no filme, que muito apreciam, A Arca dos Zo’é (Video nas
Aldeias, 1993).
6
Um aspecto importante aqui sendo sua política matrimonial e demográfica, que enfatiza o
crescimento populacional e rejeita uniões com não-índios (outras etnias, sobretudo xinguanas,
são aceitas)
7
Que obviamente não tem nenhuma responsabilidade sobre o que se segue, a não ser pela não
pequena proeza de ter me ajudado a formular melhor o que provavelmente não entendi (nem do
que ele me disse, nem do que disse Carneiro da Cunha).
8
“Minha conclusão era de que contradição podia ser resolvida observando-se que quando
consideramos direitos costumeiros estamos nos movendo no campo das culturas (sem aspas), ao
115
Livro Conhecimento e Cultura.indd 115 26/4/2011 12:20:48
A vida material das coisas intangíveis
passo que quando consideramos as propostas legais alternativas e bem-intencionadas estamos no
campo das “culturas”. Decorre que dois argumentos podem ser simultaneamente verdadeiros:
i) existem direitos intelectuais em muitas sociedades tradicionais: isso diz respeito à cultura; ii)
existe um projeto político que considera a possibilidade de colocar o conhecimento tradicional em
domínio público (payant): isso diz respeito à “cultura”. O que pode parecer um jogo de palavras e
uma contradição é na verdade uma consequência da reflexividade que mencionei.” (Carneiro da
Cunha 2009:357-8).
9
Ressalto que talvez fosse possível ler Turner mais generosamente – e de maneira mais inte-
ressante –, mas daria um certo trabalho, e o ponto aqui é menos fazer justiça a ele que sublinhar
a originalidade do que penso estar dizendo Carneiro da Cunha. Ademais, a clareza inimitável da
linguagem de Turner faz do seu texto um alvo irresistível…
10
Uma formulação que tem uma história no pensamento de Carneiro da Cunha, na maneira
como ela se autocriticou de uma primeira concepção, em seus próprios termos, “utilitarista” e
“funcionalista” da etnicidade (2009[1977]:232). Retraçar essa história, tal como se pode segui-la
em outros textos reunidos agora no mesmo volume (2009[1977], 2009[1979], 2009[1994], 2009)
não é o objetivo deste capítulo, mas vale sublinhar como a reflexividade e o “efeito de looping”
levam-nos além da “organização de diferenças”, na direção, digamos, de sua proliferação.
11
A definição literária a que recorre Carneiro da Cunha, “um complexo unitário de pressu-
postos, modos de pensamento, hábitos e estilos que interagem entre si, conectados por caminhos
secretos e explícitos com os arranjos práticos de uma sociedade” (Trilling apud Carneiro da Cunha
2009:357) é sem dúvida bastante ampla e pouco compromedora. Mas pertence à mesma família
das várias outras.
12
O termo designa conhecimentos que se referem a códigos de comportamento, ao cerimo-
nial, à mitologia e etc., e materizalizam-se em cantos (de cura e proteção), remédios, ornamentos;
pode ser usado com sentido singular ou plural, e remete ao mesmo tempo a partes integradas de
um todo e ao próprio todo, como quando empregado para designar um “modo de vida” ou para
traduzir a palavra “cultura”. Para a noção de kukràdjà entre os Mebêngokre (Kayapó), ver princi-
palmente Lea 1986, Fisher 1991, Turner 1991, Gordon 2006; cf. também Coelho de Souza 2006, e
demais referências lá incluídas.
13
Depois de ter escrito isso, conversando com dirigentes da associação indígena, nos demos
conta de que as pessoas vêm empregando a expressão wa nhõ hwyka para dizer “nossa terra” no
contexto das reivindições fundiárias, para se referir sobretudo à Terra Indígena Wawi (demarcada,
cujos limites estão em processo de revisão). Foi consenso que se trata de uma expressão nova – tão
nova quanto a “terra em abstrato” a que ele corresponde é para eles.
14
Pois já não se trata aqui de matéria bruta que possa pertencer ao sujeito humano, mas da vida
a que ele pertence.
116
Livro Conhecimento e Cultura.indd 116 26/4/2011 12:20:48
Marcela Coelho de Souza
Referências
BARSH, Russel L. 1999. “How do you patent a landscape? The perils of dichotomizing
cultural and intellectual property”. International Journal of Cultural Property,
8(1):14-47.
DAES, Erica-Irene. 1997. Protection of the Heritage of Indigenous Peoples, Vol. E.97.XIV.3.
Geneva: United Nations, Ofice of the High Comission for Human Rights.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 2009[1977]. “Religião, comércio e etnicidade: uma
interpretação preliminar do catolicismo brasileiro em Lagos no século XIX”.
In: Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac & Naify. pp. 223-233.
______. 2009[1979]. “Etnicidade: da cultura residual mas irredutível”. In Cultura com
aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac & Naify. pp. 235-244.
______. 2009[1994]. “O futuro da questão indígena”. In Cultura com aspas e outros en-
saios. São Paulo: Cosac & Naify. pp. 259-274.
______. 2009. “‘Cultura’ e cultura: conhecimentos tradicionais e direitos intelectuais”.
In: Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac & Naify. Pp. 311-373.
COELHO DE SOUZA, Marcela S. 2006. “As propriedades da cultura no Brasil Central
indígena”. Revista do Patrimônio, 32 [Número especial: Patrimônio imaterial e
biodiversidade]:316-335.
______. 2008. “The material life of intangible things: three experiences from Brazil”.
In: Canadian Conservation Institute, Preserving Aboriginal Heritage: Technical
and Traditional Approaches. Ottawa: Canadian Conservation Institute.
______. 2009. Três nomes para um sítio só: a vida dos lugares entre os Kisêdjê. Comu-
nicação apresentada no IV Congresso da Associação Portuguesa de Antropo-
logia (Painel Convidado VII: Classificar: objectos, sujeitos, acções). Lisboa,
9-11 de setembro de 2009.
______. 2010. A pintura esquecida e o desenho roubado: troca, contrato e criativi-
dade entre os Kisêdjê. Comunicação apresentada na 27a. Reunião Brasileira
de Antropologia. Belém, 1-4 de agosto de 2010.
FISHER, William. 1991. Dualism and its discontents: social process and village fis-
sioning among the Xicrin-Kayapó of Central Brazil. Ph.D. Thesis, Cornell
University.
GORDON, César. 2006. Economia selvagem: ritual e mercadoria entre os Xikrin-Mebêngôkre.
São Paulo/Rio de Janeiro: Editora da Unesp/ISA/NUTI.
LANNA, Amadeu Duarte. 1968. “Aspectos econômicos da organização social dos Suyá”.
Revista de Antropologia 15/16:35-68.
LEA, Vanessa R. 1986. Nomes e nekrets Kayapó: uma concepção de riqueza. Tese de
Doutorado em Antropologia, Museu Nacional/UFRJ.
LEACH, James. 2004. “Modes of creativity”. In: E. Hirsch & M. Strathern (eds.). Trans-
actions and creations: property debates and the stimulus of Melanesia. New York:
117
Livro Conhecimento e Cultura.indd 117 26/4/2011 12:20:48
A vida material das coisas intangíveis
Berghahn Books. pp. 151-176.
SAHLINS, Marshall. 1997. “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica:
por que a cultura não é um ‘objeto’ em via de extinção” (Partes I e II). Mana.
Estudos de Antropologia Social, 3(1 e 2):41-75; 103-150.
SCHADEN, Egon. 1965. “Aculturação Indígena”. Revista de Antropologia, 13:65-102.
SCHULTZ, Harald. 1961. “Informações etnográficas sobre os índios Suya”. Revista do
Museu Paulista NS, 13:325-332.
SEEGER, Anthony. 1980. “A identidade étnica como processo: os índios suyá e as socie-
dades do Alto Xingu”. Anuário Antropológico, 78:156-175.
_______. 1981. Nature and society in Central Brazil: the Suyá Indians of Mato Grosso. Cam-
bridge, MS: Harvard University Press.
_______. 1984. “Identidade Suyá”. Anuário Antropológico 82:194-199.
_______. 2004[1987]. Why Suyá Sing: a musical anthropology of an Amazonian people. Ur-
bana & Chicago: University of Illinois Press.
STRATHERN, Marilyn. 1998. “Novas formas econômicas: um relato das terras altas da
Papua-Nova Guiné”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 4(1):109-139.
_______. 2009. Land as intellectual property. Conferência apresentada na Universidade
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 20/10/2009.
TURNER, Terence. 1991. “Representing, resisting, rethinking. Historical transforma-
tions of Kayapo culture and anthropological counsciousness”. In: G.W. Stock-
ing (ed.), Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic
Knowledge. Madison: University of Wisconsin Press.
WAGNER, Roy. 2010[1981]. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 2004. “Perspectival anthropology and the meth-
od of controlled equivocation”. Tipití, 2(2):3-23.
118
Livro Conhecimento e Cultura.indd 118 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização:
notas sobre chefes e caraíbas na política Kalapalo
(Alto Xingu, MT)
Antônio Guerreiro Jr.
O problema do Xingu é o feitiço. Os feiticeiros estão matando nossas lideranças
para que aconteçam festas e os kagaiha kuẽgü1 tragam dólares.
(fala de um ex-membro do Conselho Local de Saúde)
Os Kalapalo são um dos dez povos que vivem na região do Alto Xingu, um
complexo multiétnico e plurilíngue intensamente articulado por casamentos,
comércio e rituais (cf., por exemplo, Basso 1973; Franchetto 1986, 2000; Gregor
2001; Heckenberger & Franchetto 2001; Menezes Bastos 2001)����������������
. A ocupação na-
tiva da área remonta aos séculos VIII-IX d.C., mas o sistema tal como ficou
conhecido a partir dos primeiros relatos escritos sobre a região (Steinen 1940,
1942)������������������������������������������������������������������������
parece existir desde o século XVIII �����������������������������������
(Heckenberger 2005)����������������
. Os rituais re-
gionais são uma das mais importantes formas de socialidade que costuram este
complexo, sendo considerados pelos próprios índios como uma das principais
marcas da condição de “gente verdadeiramente xinguana” (ou simplesmente
“gente”; kuge, em kalapalo).
Pode-se pensar que estes rituais funcionam como uma verdadeira “língua
franca” da região, que viabiliza a comunicação entre povos que não necessaria-
mente se compreendem linguisticamente (Menezes Bastos 1983; Menget 1993),
e eles podem ser divididos em duas grandes categorias: as “festas para espíri-
tos” e as “festas para pessoas importantes”. As primeiras tendem a se restringir
ao grupo local,2 estão ligadas a processos de adoecimento e cura, ao xamanis-
mo, e variam razoavelmente de grupo a grupo ��������������������������������
(Barcelos Neto 2008)������������
. Já as fes-
tas para pessoas importantes são essencialmente regionais, exigem no mínimo
a participação de três grupos3 e gravitam em torno do ciclo de vida dos nobres.4
119
Livro Conhecimento e Cultura.indd 119 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização
Especificamente estes eventos é que são os focos das relações pacíficas formali-
zadas entre os alto-xinguanos, e operam como momentos importantes de produ-
ção da socialidade: é só quando um nobre tem suas orelhas furadas que outros
meninos também podem passar pelo mesmo processo; somente na ocasião do
ritual mortuário (Quarup) de um nobre é que outros mortos podem ser “home-
nageados” (isto é, lembrados e terem suas almas definitivamente encaminhadas
para a aldeia dos mortos); é nestes eventos que jovens de ambos os sexos saem da
reclusão pubertária e se realizam casamentos; são nas lutas que ocorrem ao final
dos rituais que os kindoto (os mestres da luta esportiva xinguana, kindene) exi-
bem sua força e beleza, e quando alguns são apresentados como futuros chefes; é
nos rituais regionais que nomes se tornam “belos” (famosos, tuhutinhü), ganham
valor e boa parte da memória genealógica é produzida (Guerreiro Júnior 2010)
e articulada a uma história coletiva (Franchetto 1993, 2000). O ciclo de vida
de qualquer mulher ou homem alto-xinguano é indissociável do ciclo de vida
dos nobres, que criam, nos rituais regionais, as condições para que os processos
de fabricação de pessoas, tão centrais para os xinguanos e outros ameríndios
(Viveiros de Castro 1977; Seeger et al. 1979)���������������������������������
, se completem e recomecem – sem-
pre com a participação de estrangeiros.
De todos estes rituais, o Quarup5 (o grande rito pós-funerário realizado em
memória de chefes e nobres falecidos; egitsü, em kalapalo) foi e tem sido um
dos mais importantes meios de consolidaçãodo sistema interétnico pacífico6 da
região (sobretudo após a aproximação das aldeias no começo da década de 1960).
Marcado como uma exclusividade7 da nobreza e tendo como ápice a ritualização
da violência por meio dos confrontos de huka-huka8 (kindene), o Quarup é consi-
derado um marco mitológico da diferenciação dos alto-xinguanos em relação a
seus vizinhos belicosos e, junto com outros rituais regionais patrocinados pelos
nobres, a condição para a reprodução desta distinção, como bem colocado na cé-
lebre frase de um interlocutor de Thomas Gregor (1990:113): “nós não fazemos
guerra; nós temos festas para os chefes para as quais todas as aldeias vêm. Nós
cantamos, dançamos, trocamos e lutamos”.
Desde a intensificação do contato com a sociedade envolvente na década
de 1940, os rituais também se transformaram em uma espécie de língua franca
entre xinguanos e não-índios, pois se tornaram uma forma peculiar de relacio-
namento com os caraíba (expressão pan-xinguana para “não-indígena”; kagaiha,
em Kalapalo). Os irmãos Villas Boas rapidamente perceberam como as relações
pacíficas entre os grupos do Alto Xingu estavam ligadas à participação nos ritu-
ais, e começaram a incentivar a sua expansão, sua realização em um espaço ima-
ginado pelos brancos como “neutro” (o Posto Leonardo)9 e a inclusão de grupos
que até então não faziam parte do complexo ritual, no intuito de consolidar o
120
Livro Conhecimento e Cultura.indd 120 26/4/2011 12:20:48
Antônio Guerreiro Jr.
regime de paz que viabilizaria a criação do PIX (Menezes Bastos 1992). Povos
belicosos que não participavam plenamente do complexo ritual xinguano passa-
ram a ser convidados para as festas, como os Kisêdjê10 e Ikpeng, na expectativa
de que a sua inclusão efetiva no sistema ritual suprimisse a possibilidade de
eventuais guerras. Os Trumai, que antes do contato aparentemente só participa-
vam do Jawari,11 durante certo tempo também passaram a frequentar o Quarup a
pedido dos Villas Boas, e o chefe Trumai, na época, chegou a ser um dos cantores
do Quarup de Leonardo Villas Boas, realizado em meados dos anos 1960.
Foi neste contexto que o ritual mortuário dos nobres, a festa que idealmente
reúne o maior número possível de aldeias, foi tomando proporções que talvez
nunca tenha tido antes do contato.12 Quando as aldeias eram ainda mais distan-
tes, a pax xinguana não garantia viagens livres de ataques de inimigos, o desloca-
mento era longo e penoso, e um Quarup dificilmente reunia – segundo contam
os Kalapalo – mais do que duas ou três aldeias convidadas. Com a aproximação
das aldeias e a criação do PIX nos anos 1960, a situação mudou muito, e convi-
dar todas as aldeias alto-xinguanas se tornou indispensável (pois deixar de fazer
um convite é considerado muito pouco polido). Este evento também se tornou
uma grande ocasião para receber jornalistas, políticos, fotógrafos, pesquisadores
e personalidades variadas, que naquela época passaram a divulgar uma imagem
do PIX intimamente ligada à imagem dos povos do Alto Xingu (deixando de
lado a imagem dos povos mais “guerreiros” do Parque e, inclusive, amenizando
a relevância da violência desencadeada entre os próprios alto-xinguanos pelas
acusações de feitiçaria). Os rituais começaram a funcionar como um meio de
atrair a atenção da sociedade nacional e personalidades internacionais para o
Parque e seus habitantes, que passaram por um complexo processo, pelo qual
esses últimos, com sua refinada estética ritual e o pacifismo correlato, foram
transformados no “cartão postal” da indianidade brasileira e meio de promoção
de um novo modelo de indigenismo no Brasil.13
Os não-índios foram rapidamente incorporados à lógica dos rituais da no-
breza, e o Quarup se tornou um evento bastante propício para a reafirmação de
antigas alianças com os caraíbas, nos quais não-índios importantes para a his-
tória do PIX receberam, após a sua morte, a mesma homenagem que a própria
nobreza xinguana (como foi o caso de Leonardo, Cláudio e Orlando Villas Boas,
e do sertanista Apoena Meireles). Mas estes eventos apresentaram, desde então,
outra possibilidade, que vem sendo fartamente explorada: a de continuamente
atrair atenção sobre os povos do PIX e criar novas alianças com os kagaiha. O
caso do Quarup realizado para o jornalista e empresário Roberto Marinho pelos
Kamayurá em conjunto com os Yawalapíti, em 2004, é um excelente exemplo.
Segundo Sapaim, um importante xamã kamayurá que vive entre os Yawalapíti,
121
Livro Conhecimento e Cultura.indd 121 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização
os espíritos teriam lhe pedido em sonho que fizessem uma homenagem a Roberto
Marinho (falecido em 2003), ao que o atual chefe kamayurá, Kotóki, e o “cacique
geral do Xingu”14, Aritana Yawalapíti, acederam, afirmando que a Rede Globo
havia sido fundamental para que os índios do Xingu pudessem ser nacional e in-
ternacionalmente conhecidos (Funai
�����������������������������������������������
2004)�����������������������������������
. Foi uma ocasião marcada pela pre-
sença de inúmeras autoridades, dentre elas o então Ministro da Justiça Márcio
Thomaz Bastos, que firmou compromissos de cooperação entre o governo Lula
e os povos do Alto Xingu, amplamente divulgados pela mídia (cf., por exemplo,
O Globo, 2004). Seja para reconhecer os grandes aliados, seja para atrair pessoas
importantes e criar novas alianças, em diversos momentos o Quarup já mostrou
e continua mostrando que tem o potencial de funcionar como meio de comuni-
cação e relacionamento pacífico não só entre os alto-xinguanos, mas também en-
tre eles e os não-índios. Neste processo, o que era para cada povo egitsü, kaumai,
torïp, foi se tornando, paulatinamente, Quarup: uma dobradiça entre o mundo
dos brancos e a política (ritual) indígena.
Estes processos de atração dos brancos pelos rituais, criando momentos de
negociação e possibilidades de construção de alianças, têm sido uma importante
fonte de recursos para os Kalapalo.15 Por meio de seus convidados eles obtêm
pagamentos em dinheiro, negociam presentes caros (já conseguiram um cami-
nhão, dois motores de popa, geradores e placas solares, por exemplo), apoio das
prefeituras regionais para projetos de agricultura e transporte, e criam as con-
dições para que os brancos que frequentam suas festas se sintam à vontade para
voltar à aldeia quando quiserem: seja para passear, fazer suas pesquisas, fotogra-
far, filmar etc. Mas os brancos sempre precisam ser levados à aldeia em momen-
tos nos quais as atividades coletivas estão aceleradas: deve haver sempre alguém
responsável por “trazer os kagaiha” (um chefe, idealmente, responsável pelos
convites) para as festividades organizadas por um dono (oto), um patrocinador
(que no caso do Quarup é sempre um chefe ou nobre). De qualquer maneira, a
relação destes agentes com o coletivo e com os não-índios e seus recursos pode
ser uma grande fonte de complicações, pois a política local é largamente marca-
da por disputas entre os chefes, que quando patrocinam rituais regionais sempre
almejam realizar grandes eventos que lhe renderão fama e – conceito muito im-
portante para pensar a chefia xinguana – “beleza”.
Nos últimos anos os Kalapalo andaram às voltas com a possibilidade de reali-
zar um Quarup em homenagem ao falecido presidente Tancredo Neves, trazendo
à tona questões relativas à política imbricada no sistema ritual. Aparentemente,
parentes do ex-presidente teriam pedido esta homenagem aos Kalapalo já há
algum tempo, em 2006.16 Naquele ano, aconteceu um Quarup na aldeia kalapalo
Aiha,17 mas parece que, por falta de tempo e pelo fato de uma emissora de TV
122
Livro Conhecimento e Cultura.indd 122 26/4/2011 12:20:48
Antônio Guerreiro Jr.
britânica estar filmando um reality show durante o evento, a homenagem não
pôde acontecer. Em 2007 os Kalapalo não fizeram nenhum Quarup, e em 2008
os planos foram frustrados porque eles não conseguiram entrar em acordo com
os interessados sobre os pagamentos e a compra de recursos para a festa (princi-
palmente combustível e algodão fiado).
No final daquele ano, porém, parecia estar tudo arranjado para que a ho-
menagem ocorresse em 2009, durante um Quarup que seria realizado em outra
aldeia kalapalo (a maior depois de Aiha) em homenagem ao falecido neto (ainda
bebê) de um dos chefes daquela aldeia.18 Havia muitos rumores sobre esta festa,
e os Kalapalo estavam maravilhados com a quantidade de pessoas importantes
que participariam do evento, com o dinheiro e os presentes que receberiam, e
com a fama que o dono do ritual ganharia em todo o Alto Xingu. Segundo um
kalapalo que comentou o assunto comigo, “Os Kalapalo vão ficar muito mais
famosos do que os Yawalapíti, vai ter muito mais autoridades que no Quarup do
Orlando Villas Boas. Orlando era cacique pequeno, este que nós vamos homena-
gear é que era cacique de verdade, porque era um presidente do Brasil!”.
Fama, grandeza e beleza são elementos centrais da política alto-xinguana.
Um chefe é considerado “grande” quando é amplamente visto como bom e gene-
roso pelos seus coaldeões (“seu pessoal” ou suas “crianças”), e fica ainda “maior”
quando seu nome se torna famoso, amplamente conhecido entre os estrangeiros
(índios e kagaiha). Mais ainda, quem é homenageado em um Quarup também
contribui para sua própria grandeza (seu nome será lembrado durante muitas
gerações; os Kalapalo se lembram de grandes chefes cuja genealogia poderia re-
montar ao século XIX) e para a fama dos patrocinadores (como fica claro na fala
acima). Homenagear um grande chefe, ou uma grande autoridade, é um elemen-
to importante do processo de produção dos chefes-patrocinadores vivos. Neste
caso, a equiparação entre as autoridades e os grandes chefes faz com que a sua
atração para um Quarup, a incorporação dos brancos no ritual, tenha efeitos di-
retos sobre a política nativa. Patrocinar um grande ritual é uma grande fonte de
fama, e se o ritual for considerado um sucesso (tiver bons cantores, dançarinos
animados, muitos espectadores e muita comida e bebida), o chefe-patrocinador
será muito bem visto entre os demais, assim como sua aldeia, e o objetivo do
ritual é plenamente cumprido – produzir beleza e grandeza.
O Quarup daquela aldeia aconteceu, mas sem a homenagem ao ex-presi-
dente, pois a entrada de não-índios no Xingu havia sido vetada para evitar
uma possível epidemia de gripe tipo A, causada pelo vírus H1N1. Contudo,
a possibilidade de que a homenagem acontecesse fez com que a organização
deste ritual se tornasse palco de disputas envolvendo os chefes das duas maio-
res aldeias kalapalo e outra pequena aldeia, fundada na virada de 2007 para
123
Livro Conhecimento e Cultura.indd 123 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização
2008. Antes de mais nada, é preciso entender o contexto político da segunda
maior aldeia kalapalo. Na época, ela contava com dois chefes principais, e o
“primeiro cacique” (forma pela qual os Kalapalo se referem ao chefe principal
de uma aldeia) ocupava também a posição de “dono do branco” (kagaiha oto,
o responsável por intermediar o contato – abordarei este tipo de agente com
mais detalhes adiante) e vinha sendo constantemente acusado de se apropriar
do dinheiro destinado para a comunidade. Ele também já não residia mais em
tempo integral na aldeia como se espera de um chefe importante, e, do ponto
de vista de algumas pessoas, o exercício da chefia tradicional havia se tornado
inviável para ele.
Nesse contexto seu irmão mais novo começou a ascender, e muitos rumores
começaram a circular a respeito deste fato. Já em 2007, vinham me dizendo que
lá estava “uma confusão”, pois o “terceiro cacique” estaria assumindo a posição
de “primeiro” e fazendo seu irmão descer na hierarquia. Este tipo de coisa é
sempre motivo de discussões e preocupações, pois os Kalapalo definitivamente
não gostam da ideia de que uma aldeia tenha mais de um anetü muito importan-
te. Sempre há vários anetaõ em cada aldeia, mas apenas um pode ser o “primei-
ro”, caso contrário as disputas e “mentiras” podem correr soltas e fazer a aldeia
se dividir.
O chefe em ascensão do qual falei é que se tornaria o dono do Quarup de
2009, o que é um importante índice de chefia. Apresentar-se como chefe-dono
de egitsü é colocar-se no lugar dos chefes do passado, cujas relações recuam ao
passado mítico. Nos discursos cerimoniais de recepção de mensageiros, o chefe
diz, em tom autoderrogatório, que eles não mais “ressuscitam seus chefes do
passado”, o que é interpretado por algumas pessoas como sendo uma forma poé-
tica de dizer que os chefes vivos não mais substituem os chefes mortos com total
dignidade – mas que é, de fato, uma forma de afirmar a posição de descendente
de importantes chefes.
O fato de este chefe fazer questão de realizar a festa em sua aldeia, e não em
Aiha, foi um ponto importantíssimo das disputas. A grande maioria dos Quarup
kalapalo acontece em Aiha, considerada a principal aldeia kalapalo, e até então
apenas um ou dois Quarup kalapalo haviam ocorrido fora (segundo me disseram
em Aiha). É muito importante para um grupo alto-xinguano ter seus nobres en-
terrados em sua própria aldeia, pois eles se tornarão chefes na aldeia dos mortos
e o patrocínio da festa confere muito prestígio aos patrocinadores. Por exemplo,
em 2009 os Kalapalo e Matipu se envolveram em uma breve querela por causa
do local de enterro e realização do Quarup do filho de um grande chefe kalapalo
das décadas de 1940 e 1950, que vivia entre os Yawalapíti. Os Kalapalo soube-
ram de sua morte e já planejavam buscar seu corpo para enterrá-lo e fazer um
124
Livro Conhecimento e Cultura.indd 124 26/4/2011 12:20:48
Antônio Guerreiro Jr.
Quarup para ele; qual não foi sua surpresa ao saberem que os Matipu haviam ido
aos Yawalapíti e reclamado o corpo (pois a avó materna do morto era Matipu).
Os Kalapalo ficaram muito incomodados com o acontecido, e consideraram isso
uma grande ofensa.
Os moradores de Aiha estavam absolutamente inconformados com a reali-
zação de uma festa de tal magnitude em uma aldeia considerada “periférica”.
Realizando um Quarup de forma autônoma, o chefe em ascensão não só dava
um passo importante para legitimar sua posição como afirmava a total indepen-
dência ritual de sua aldeia – e Aiha às vezes é considerada como a “mãe” das
demais, que são pensadas como seus “ramos de mandioca”, evidenciando certa
tendência à hierarquização das relações regionais. Ela também é chamada de iho,
palavra que significa “poste onde se amarra uma rede”, “chefe”, “protetor”, e as
relações entre aldeias de um mesmo povo são sempre descritas tomando uma
delas como iho, “aldeia principal”.
Ainda que em grande medida toda aldeia seja autônoma, elas dependem
umas das outras para os rituais, e a situação kalapalo atual evidencia como um
sistema de aldeias “satélites” é latente (uma situação possivelmente mais co-
mum no passado)19. Permitir que outra aldeia realizasse um ritual de tamanha
grandeza seria reconhecer sua total autonomia ritual em relação à Aiha – o que
atualiza uma tensão entre duas grandes parentelas que vemos desde a etnogra-
fia de Basso (1973), já que a aldeia em questão resulta da saída de parte de uma
destas parentelas. Ser autônoma é deixar de depender de Aiha para se lembrar
de seus mortos, um processo fundamental para a reprodução da socialidade re-
gional, o que do ponto de vista dos chefes de Aiha é uma grande ascensão dos
descendentes de um antigo chefe cujos parentes foram acusados de feitiçaria –
que de focos de acusações passam a grandes chefes legítimos em disputa com a
aldeia “mãe” por convidados indígenas e não-indígenas.
Muitos dos argumentos contrários à festa evocados em público pelos mo-
radores de Aiha se referiam à distância daquela aldeia, que poderia dificultar
ou impedir a viagem dos convidados indígenas, ao seu tamanho (é uma aldeia
pequena, que em 2007 não tinha 100 pessoas, contra quase 300 em Aiha), e à sua
“falta de beleza” (do ponto de vista de alguns). Mas, em particular, não foram
poucas as vezes que ouvi queixas de jovens ou lideranças mais velhas de Aiha
sobre os chefes da outra aldeia não quererem dividir “seus caraíbas” com Aiha.
Com isso as pessoas queriam dizer que Aiha não receberia os dividendos da
relação com estas pessoas: compra de artesanato, presentes e pagamentos pela
estadia na aldeia, alianças para possíveis projetos, ajuda no patrocínio de festas
no futuro. As pessoas em geral afirmavam veementemente que não iriam, de
forma alguma, comparecer ao ritual – o que constitui uma grande desfeita, e o
125
Livro Conhecimento e Cultura.indd 125 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização
chefe principal de Aiha deu início a uma verdadeira campanha para convencer
os chefes de outros povos a não irem na festa caso ela não fosse feita em Aiha.
Ao mesmo tempo, o chefe de uma aldeia criada recentemente participou du-
plamente da disputa, se posicionando contra Aiha (de onde havia sido expulso)
e a favor do “primeiro cacique” da aldeia que enfrentava problemas (seu primo
cruzado e aliado político). Ele se posicionou contra Aiha a fim de levar seus
aliados caraíbas exclusivamente para a outra aldeia, no intuito de não “dividi-
-los” com Aiha e contribuir para o prestígio de seu primo. Como ele mesmo me
disse, em certa ocasião, “Eu não vou levar meus amigos lá pro Kalapalo [leia-se
Aiha] não. Eu consegui tudo pra eles, professor, antropólogo, caminhão, trator,
barco, motor, mas eles não gostaram, não sei porque. Eles me expulsaram. Tem
que fazer o Quarup lá na aldeia do meu primo”. Um jovem de Aiha me disse algo
no mesmo sentido: “Aquele homem não quer que a festa seja no Kalapalo. Ele
quer fazer a festa naquela aldeia porque ele só quer levar os amigos dele pra lá”.
O local de realização do ritual e os aliados não-índios que o acompanha-
riam se tornaram grande objeto de disputa, envolvendo o faccionalismo entre
os chefes, as possibilidades de distribuição de aliados e seus recursos e o pres-
tígio regional das aldeias. As possibilidades de aliança com autoridades e seus
benefícios potenciais (tanto materiais quanto políticos e simbólicos) coloca-
ram em jogo a hierarquia entre os chefes da aldeia anfitriã e entre as próprias
aldeias, revelando que por trás do ritual, que muitas vezes pode ser lido na cha-
ve da “exaltação dos sentimentos coletivos”, há complexas redes de alianças e
conflitos (Harrison 1992).
Os brancos também precisam de um dono
Barcelos Neto (2003, 2008) conta uma história interessante sobre os Wauja
(um grupo aruak alto-xinguano). Um homem que era o responsável pelas rela-
ções formais com os brancos na aldeia Piyulaga (seu “dono dos brancos”) ficou
muito doente, e se tornou dono de vários apapaatai (palavra wauja para “espíri-
tos”; itseke, em karib). Algum tempo depois, a Funai manifestou o interesse em
adquirir uma grande quantidade de máscaras rituais dos Wauja para serem ven-
didas em sua loja de artesanato indígena. Para os Wauja, as máscaras não pode-
riam ser feitas “à toa”, pois fazer uma máscara não é “representar” um apapaatai,
mas sim torná-lo presente – e fazê-lo sem alimentá-lo e alegrá-lo é certamente
muito perigoso.20 Por isso alguém deveria patrocinar um ritual para o qual as
máscaras seriam devidamente fabricadas, enfeitadas, alimentadas e alegradas, e
só depois vendidas para a loja da Funai.
126
Livro Conhecimento e Cultura.indd 126 26/4/2011 12:20:48
Antônio Guerreiro Jr.
Como o seu dono dos brancos havia se tornado dono de muitos apapaatai e
estava mediando as relações com a loja, ele patrocinou um enorme ritual do qual
participaram mais de 30 apapaatai (um evento consideravelmente raro), cujas
máscaras foram vendidas à Funai. Tendo se tornado dono de tantos espíritos,
isto fez com que várias pessoas se mobilizassem para plantar roças e fazer obje-
tos para (ele e) seus apapaatai, e o patrocínio deste grande ritual lhe rendeu um
prestígio enorme e uma rápida ascensão ao “primeiro lugar” da chefia wauja.
O seu caso é exemplar para pensarmos possíveis entradas dos brancos na eco-
nomia de prestígio alto-xinguana, pois a condição de chefe daquele homem foi
ampliada por sua incorporação de apapaataie dos kagaiha, que ao mesmo tempo
viabilizaram o patrocínio de um grande ritual, renderam um bom dinheiro à
aldeia e fizeram do dono dos brancos um grande chefe. Assim como os itseke
e seus rituais “enobrecem” seus donos, como bem mostra Barcelos Neto, algo
semelhante pode acontecer com os kagaiha e seus objetos – que são eles mesmos
uma variedade de itseke.
Há elementos tanto na mitologia quanto no discurso cotidiano que enfati-
zam essa condição dos kagaiha. Em suas primeiras aparições, eles eram vistos
exatamente como itseke, já que o que faziam era tido como um análogo dos rap-
tos de almas e doenças causadas por estes seres: quando os kagaiha apareciam
era para sequestrar e matar, e algumas pessoas desaparecidas que se acreditava
terem se tornado itseke hoje são vistas como vítimas dos sequestros dos kagaiha.
Na história de Saganafa, um jovem Kalapalo roubado pelos kagaiha (segundo se
pode especular, por uma bandeira de Antônio Pires de Campos em meados do
século XVIII)21, o Avô-dos-Brancos é descrito como um itseke canibal e um as-
sassino cruel que produz objetos de metal a partir de sangue coagulado. Em uma
versão do mito de origem da humanidade xinguana, o ancestral dos brancos
nasce de uma irmã da mãe dos gêmeos Sol e Lua, que engravidou de uma flecha,
e é ele mesmo um itseke assim como seus primos paralelos: este é Kagahina, ou
Carabina, o matador.
Por sua violência típica, a capacidade de transformar sangue coagulado em
metal originada de seus ancestrais e seu duplo potencial destrutivo-criativo,
diz-se que os kagaiha são pessoas dotadas de itseketu, o mesmo conjunto de
capacidades de agressão e transformação/criação que caracteriza os seres não-
-humanos. Há cerca de um ano, um homem nahukuá que se tornou xamã tem
como seus itseke auxiliares o Facão, a Espingarda, a Lima, o Anzol, entre ou-
tros.22 Atualmente, com a progressiva aquisição de tecnologia pelos índios, os
Kalapalo têm afirmando constantemente esta identidade dos kagaiha e seus ob-
jetos com os itseke, para eles claramente manifesta nas curiosas capacidades dos
computadores, MP10 Players, softwares de edição de vídeo. Assim, mesmo sendo
127
Livro Conhecimento e Cultura.indd 127 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização
visivelmente gente, kuge23, os kagaiha não deixam de ser itseke – o que não é pro-
blema algum para o pensamento kalapalo, já que os itseke também são, do ponto
de vista deles mesmos, gente.
O problema desta situação é que, como os Kalapalo inevitavelmente veem
os kagaiha como gente, criam-se os mesmos problemas de quando um humano
encontra um itseke: o humano tende a transformar-se em espírito. Este processo
não só deve ser interrompido pelo xamanismo como deve ser revertido, através
da familiarização do itseke por meio de um ritual patrocinado pelo ex-doente,
o que também é uma forma de “humanização” do ser perigoso. Pois agora é o
itseke que se torna “um pouquinho gente”, comendo, bebendo, dançando e se
alegrando com(o) os humanos, e passa a ser considerado “filho” do ex-doente,
ao mesmo tempo dono do itseke e seu ritual.24 Na relação com os itseke-kagaiha,
os Kalapalo tanto correm o risco de “virar brancos”, como de fato temem estar
virando,25 quanto os brancos podem ser “amansados” e familiarizados pelos ín-
dios, assim como eles fazem com os itseke. Análogos dos itseke, os kagaiha tam-
bém precisam ser “cuidados”, “familiarizados”, e por isso precisam de um dono.
No Alto Xingu praticamente se institucionalizou a existência de certos che-
fes cujo papel é “cuidar dos brancos”. Geralmente são homens que têm ascen-
dência nobre para utilizarem o título de “chefe”, mas que normalmente não são
os primogênitos dos grandes anetaõ, ou herdaram a chefia pela via materna26
e, eventualmente, nunca foram preparados27 para este cargo. Entretanto, estas
pessoas apresentam o diferencial de falarem um português acima da média dos
mais velhos (dos quais alguns sequer entendem português) e terem experiên-
cias mais duradouras de relacionamentos com os brancos, seja trabalhando para
eles em fazendas, na cidade ou tendo feito boas relações em viagens, encontros
com autoridades em eventos, reuniões etc. Estes chefes dedicam boa parte de
suas vidas a criar e manter relações com não-índios e a trazê-las para a aldeia,
procurando tornar coletivamente valiosas suas relações com os kagaiha, que po-
dem render ao grupo aliados políticos e fontes de recursos materiais sob a forma
de dinheiro, objetos valiosos e suporte fora da aldeia. Fazer viagens frequentes
às cidades, conversar com conhecidos ou pessoas potencialmente interessan-
tes, oferecer presentes, hospitalidade, fazer grandes amigos, trazer estes amigos
para a aldeia e, finalmente, procurar contrapartidas para o grupo (como pessoas
dispostas a assessorar projetos, dar aulas na escola indígena, se comprometer a
comprar grandes quantidades de “artesanato”, ou então pagar em dinheiro pela
estadia), é o seu trabalho.
Desde a chegada dos irmãos Villas Boas à região, agentes desse tipo têm
sido intencionalmente preparados, por índios e brancos, para desempenharem
papéis de mediação. Veja-se, por exemplo, a política de Orlando Villas Boas, que
128
Livro Conhecimento e Cultura.indd 128 26/4/2011 12:20:48
Antônio Guerreiro Jr.
levava filhos jovens de chefes importantes para passarem temporadas junto a ele
(dentro e fora do Parque) aprendendo a entender os costumes dos brancos, seus
interesses e formas de negociar. Enquanto os primogênitos dos grandes chefes
continuaram sendo preparados por estes para aprenderem os conhecimentos
que são suas prerrogativas e assumirem suas responsabilidades rituais, seus fi-
lhos mais novos foram progressivamente ocupando o papel de mediadores com
o mundo caraíba, o que também passou a lhes render prestígio e novas possibili-
dades de inserção na economia política local.
Esta figura do “dono dos brancos” é importantíssima para os Kalapalo de
Aiha, pois foi por meio dele que fizeram a maioria das alianças que mantêm atu-
almente e os contatos por meio dos quais obtiveram a maior parte do dinheiro
que entrou na conta de sua associação (Associação Aulukumã) nos últimos anos.
Em um momento no qual algumas associações de outros povos do Alto Xingu
estão desenvolvendo projetos com os quais têm conseguido suprir uma série
de necessidades, os Kalapalo de Aiha têm mantido uma política de obtenção
de recursos muito centrada na figura do kagaiha oto e seus aliados pessoais. De
fato, A.28, o chefe que até o final de 2007 desempenhava este papel fora também
o escolhido para presidir a Associação Aulukumã, o que em parte fez com que
as atividades desta associação ficassem muito atreladas às atividades deste chefe.
A associação passou a funcionar mais como uma espécie de conta conjunta da
aldeia cuja renda vinha exclusivamente dos contatos pessoais deste homem, o
que lhe valeu uma trajetória ambígua marcada pela aquisição de muito prestígio
seguida de um período de fortes desconfianças, que levaram à sua expulsão em
meio a um crescente clima de feitiçaria.
Muitas pessoas eram levadas por A. à aldeia, e para manter sua rede de re-
lações ele fazia frequentemente um percurso entre Aiha e várias cidades brasi-
leiras: Canarana, Cuiabá, Brasília, Uberlândia, São Carlos, São Paulo, Salvador,
Fortaleza. O circuito era sempre o mesmo, e tinha como objetivo, praticamente
todas as vezes, apenas fazer visitas aos seus “amigos”29 – para que os Kalapalo
pudessem receber os kagaiha na aldeia era preciso que eles também pudessem
ser recebidos na cidade, e A. mantinha esta rede de visitas ativa o tempo todo,
sem a qual não lhe parecia possível exercer sua função de “cuidar do branco”.
Este processo começou a criar vários problemas em Aiha, primeiro com W.,
o dono da aldeia (ete oto). A. mantinha boas relações de troca com seus amigos
kagaiha, que frequentemente lhe davam presentes, dinheiro, passagens de ôni-
bus – o que ele retribuía com convites para passarem temporadas em Aiha. Mas,
chegando lá, estes amigos geralmente ficavam hospedados na casa do dono da al-
deia, que esperava presentes caros também para si, o que nem sempre acontecia,
já que estas pessoas já estavam dedicando presentes a A. Muitos dos presentes
129
Livro Conhecimento e Cultura.indd 129 26/4/2011 12:20:48
Assimetria e coletivização
que estes visitantes levavam “para a comunidade” eram então apropriados por W.,
que como dono da aldeia se sentida no direito de receber presentes dos visitantes.
A. ganhou muito prestígio por todos os kagaiha que ele conseguiu (que com-
pravam artesanato, organizavam excursões para a cidade, pagavam pela estadia,
por fotos, apresentações), o que deixava W. muito incomodado e era o foco das
conversas sobre as diferenças entre estes dois chefes.
A situação ficou mais complicada quando começaram a correr rumores
de que o dinheiro da associação estaria acabando por causa das viagens de A.
Algumas pessoas argumentavam que ele estaria fazendo estas viagens em pro-
veito próprio, que estava se beneficiando sozinho da rede de amigos que ele
mantinha ativa com dinheiro da associação.Ele, entretanto, se explicava dizendo
que este era o trabalho dele, que ele não poderia ir à cidade atrás de amigos ou em
reuniões sem usar o barco da aldeia, o motor, a gasolina. E queixavam-se justa-
mente disso: que parecia que ele tinha se tornado o dono do barco. A. acabou
sendo expulso de Aiha no final de 2007.
Enquanto circulavam os rumores de que A. estava se aproveitando da pre-
sidência da associação para ficar viajando, outro homem (M.) vinha se prepa-
rando para se tornar anetü (especificamente, um kagaiha oto) e havia um curioso
“clima de feitiçaria” em Aiha mesmo sem ninguém estar doente ou ter morrido
(toda noite alguém ouvia apitos de feiticeiros, via vultos atrás das casas ou na
região da lagoa, trancava as portas e os homens saiam armados à noite para
fazer “rondas” – um clima que eu só vi novamente em 2009, quando uma acu-
sação de fato estava em curso). No final de 2007, depois que A. foi expulso, M.
começou a tentar percorrer exatamente o mesmo circuito de cidades que seu
predecessor, no intuito de manter as relações com os aliados de Aiha. É impos-
sível dizer se a expulsão de A. tem ou não algo a ver com o clima de feitiçaria
que se desenvolvia num crescendo, pois os Kalapalo o expulsaram alegando que
estava se aproveitando da associação. Mas é significativo que os rumores so-
bre enriquecimento e falta de generosidade tenham sido acompanhados de um
clima de feitiçaria iminente, pois a ganância e o egoísmo são justamente duas
das principais características de um feiticeiro. No ano seguinte, não houve ne-
nhuma acusação de feitiçaria dentro de Aiha, mas é curioso que um enorme
clima de feitiçaria e os rumores sobre A. tenham aparecido juntos e 2007 tenha
terminado com sua expulsão.
A noção de “cuidar”, junto com a forma pela qual os Kalapalo se referem a
“seus caraíba” é importante para entender os conflitos em jogo. Os não-índios
com os quais eles mantêm alianças mais ou menos duradouras são chamados de
“Kalapalo kagaihagü”, sendo –gü um sufixo de posse (Franchetto
���������������������������
1986)����������
, signifi-
cando, literalmente, “caraíba dos Kalapalo”. Poderíamos nos perguntar: seriam
130
Livro Conhecimento e Cultura.indd 130 26/4/2011 12:20:48
Antônio Guerreiro Jr.
estes não-índios, de alguma maneira, “possuídos” pelos Kalapalo enquanto gru-
po ou pelos chefes responsáveis pela criação de alianças com eles? De fato, esta
é uma falsa questão, diante da forma como chefes e grupos estão relacionados no
pensamento kalapalo. A produção da unidade, do coletivo, passa necessariamen-
te pela agência de um anetü – no caso do Quarup, pela agência do chefe/dono da
festa, em outros casos, pelo “dono dos brancos”. Os Kalapalo só se relacionam
enquanto grupo – seja com outros índios no ritual, seja com os brancos – por
meio de seus chefes, que ao se colocarem na posição daqueles que “cuidam de
seu pessoal” entram em uma relação assimétrica que faz com que o grupo só
exista mediante sua ação e apresentação públicas. Ao menos temporariamente,
os chefes/donos encarnam o grupo, são o próprio coletivo personificado.
Lima (2005) identifica uma forma de coletivização semelhante entre os
Yudjá, segundo a qual não há uma dicotomia estrita entre pessoa e grupo, tam-
pouco uma ideia reificada de grupo. O que existe é uma forma social que “en-
volve a ação coletiva em ação pessoal, torna equivalente a ação pessoal e a de um
grupo” (Lima 2005:97). Não existe um grupo sem uma pessoa que opere como
agente coletivizador, que desempenhe o que a autora chama de “função-Eu”,
que nesta situação se coloca em uma relação assimétrica com “seu pessoal” (a
expressão é a mesma entre os Yudjá e Kalapalo) e aparece como aquele capaz
de agir e ser o grupo ao mesmo tempo. É importante notar que não se trata de uma
relação de representação, mas de um fenômeno de natureza diversa. Pois a ideia de
representação supõe que aquilo que é representado exista independentemente
de seu representante, enquanto a forma social em jogo entre os Yudjá, Kalapalo
e outros ameríndios faz com que um grupo só exista por meio do chefe ou dono
(cf. também Fausto 2008)�������������������������������������������������������
. A assimetria entre estes tipos de agentes e o coleti-
vo se dá no fato do segundo só existir por meio dos primeiros: só uma pessoa
consegue assumir a posição de sujeito da relação, e neste movimento o grupo se
confunde com o próprio sujeito que age e personifica a coletividade.
O questionamento a respeito da eficácia ou legitimidade de um chefe só se
torna possível quando, por alguma razão, ele não consegue mais ser o grupo (isto
é, construir legitimamente a sua assimetria em relação aos demais). Nestas con-
dições, necessariamente outro chefe chama para a si a responsabilidade (e o pri-
vilégio, pois a condição de chefe é dotada de grande valor) de ser o grupo. A con-
dição de construção desta assimetria é a ampla distribuição de alimentos rituais,
entre os Kalapalo, ou cauim, entre os Yudjá. No caso dos recursos oriundos do
contato, trata-se de sua coletivização: a obtenção de objetos de uso comum, de
dinheiro que será revertido a favor de toda a aldeia, ou devidamente distribuído
pelas redes de parentesco e afinidade. Quando um chefe não consegue realizar
plenamente estas formas de distribuição, nada mais sustenta a assimetria entre
ele e seu “pessoal”: eles vão procurar outra pessoa que possa “cuidar deles”. O
131
Livro Conhecimento e Cultura.indd 131 26/4/2011 12:20:49
O sabonete da discórdia
chefe deixa, então, de ser o grupo, e a circulação de riquezas e relações com os
brancos podem se tornar mais um elemento nas disputas entre os chefes.
***
Aconteceu uma situação desse tipo relacionada à distribuição dos recursos
recebidos por Aiha como pagamento por um reality show filmado por uma rede
britânica de televisão, um caso interessante para pensarmos sobre como a assi-
metria entre chefes/donos e pessoas comuns pode incidir sobre os circuitos de
dádivas. Em 2006, Aiha recebeu esta equipe que filmaria um reality show duran-
te o egitsü por uma soma considerável em dinheiro mais alguns presentes, e o
destino destes pagamentos foi objeto de uma acalorada discussão entre 2006 e
2007. Idealmente, os acordos dos Kalapalo com agentes dispostos a pagar gran-
des quantias em dinheiro para assistirem às festas são firmados pela Associação
Aulukumã. O dinheiro proveniente dos pagamentos é depositado na conta ban-
cária da associação e previsto para ser utilizado na aquisição ou reparo de bens de
uso comum – como foi o caso da compra de um trator e uma carroceria para este.
Objetos valiosos, como motores de popa, placas solares e geradores de energia
elétrica também costumam ser prometidos como parte dos pagamentos “para a
comunidade”. Entretanto, entre a alocação dos recursos para a associação e sua
efetiva distribuição pelas redes internas, há uma distância considerável – não
havendo um coletivo a priori (o que os discursos indigenistas imaginam como
sendo “a comunidade”), independentemente da “função-Eu” desempenhada pe-
los chefes e donos, estes chefes-donos podem reivindicar para si os pagamentos
(idealmente) destinados “à comunidade”.
Além do pagamento em dinheiro, os Kalapalo também pediram um gerador
caríssimo que a produção havia levado. Depois de muita negociação, a equipe
concordou em deixar o gerador como parte do pagamento desde que ele fosse
alocado no posto de saúde local, pois era um “pagamento para a comunidade”.
Entretanto, imediatamente após a filmagem, o dono da festa (um jovem anetü,
pai de um menino morto que havia sido o homenageado principal do egitsü)
reivindicou o gerador para si. Um gerador capaz de produzir energia para uma
equipe de filmagem passou a ser utilizado para ligar uma TV e um aparelho
de DVD durante cerca de uma hora no começo da noite – isto certamente não
foi bem visto pelos demais, mas foi considerado legítimo em alguma medida.
No ano seguinte, os Kalapalo conseguiram comprar um trator e uma carreta,
sobrando ainda algum dinheiro. Naquela ocasião, o dono do egitsü de 2006 tam-
bém reivindicou, no centro da aldeia, que o trator, a carroceria e o dinheiro
restante eram seus de direito, e não “da comunidade”.
132
Livro Conhecimento e Cultura.indd 132 26/4/2011 12:20:49
Antônio Guerreiro Jr.
O dono argumentava que estas coisas eram devidas a ele porque seriam pa-
gamento por todo o peixe pescado e pelo mingau preparado para a festa, sem os quais
o egitsü não teria acontecido (e, logo, não haveria filmagem, nem “amigos” dis-
postos a pagar por um ritual pobre).O chefe principal argumentou, junto com
outros homens, que o que ele dizia não fazia sentido, pois o peixe e o mingau que
ele fornecera já haviam sido pagos: com dança e música, e, portanto, o pagamento
pelo egitsü deveria ser revertido em favor “da comunidade”. Por causa desta situ-
ação o rapaz se envolveu em um conflito com o chefe principal, que era absolu-
tamente contrário a essa apropriação do pagamento, e isso determinou que ele e
sua família saíssem de Aiha. De fato, ele já estava planejando se mudar para uma
nova aldeia desde antes do egitsü, em função de conflitos envolvendo ele e sua
parentela próxima – e certamente estes recursos seriam úteis para ele. Mas o que
importa aqui não são as possíveis motivações do dono do egitsü, e sim a lingua-
gem na qual os seus interesses foram traduzidos e considerados: seus interesses
assumiram a forma de exigência de pagamento por seu trabalho como dono do
ritual. Isto é, que o pagamento da equipe de TV fosse “para a comunidade” não
era de modo algum uma coisa óbvia, pois pareceu a este homem possível exigir
que de fato o pagamento era devido a ele. E não só argumentou como em parte
a própria aldeia concordou, pois, mesmo negando a concessão do caminhão e
da carreta, optaram por tirar da conta da associação parte do dinheiro que havia
sobrado e dar a ele como pagamento, indicando claramente que havia alguma
legitimidade na sua exigência.
A reação do chefe principal talvez possa ser pensada de duas maneiras. À
primeira vista, poder-se-ia pensar que o dono da aldeia invocou o conceito de
“comunidade” porque estaria se referindo exatamente a uma ideia de “coleti-
vo igualitário”, a qual por alguma razão defenderia. Contudo, isso significaria
supor que o chefe estaria preterindo o modo nativo de coletivização em favor
de um “modelo exógeno” de coletivo (oriundo de certo imaginário a respeito
dos povos indígenas amplamente difundido em meios indigenistas). Na fala do
chefe, o que vemos é, de fato, tal discurso. Mas não estaria também sua posição
de chefe principal, dono da aldeia, ameaçada por um jovem chefe que reclama-
va para si todos os pagamentos feitos aos Kalapalo? Quando este jovem exigia
estes pagamentos, ele estava tentando ocupar o lugar do grupo: os pagamentos
foram feitos aos Kalapalo em sentido abstrato, mas dado que aquele coletivo
só existia no ritual por causa de sua ação como chefe patrocinador, foi possível
para ele usar, com alguma legitimidade, um argumento do gênero “os Kalapalo
sou eu”. Como ficaria o chefe principal nesta condição? Reduzido à posição de
“ajudante”, “companheiro” ou “camarada”, o que certamente lhe pareceu ab-
surdo. Exigindo que o pagamento fosse revertido para “a comunidade”, o chefe
133
Livro Conhecimento e Cultura.indd 133 26/4/2011 12:20:49
Assimetria e coletivização
principal pôde continuar em seu lugar, na posição de ser a pessoa responsável
por personificar o coletivo kalapalo. Um chefe pode obter esta posição distri-
buindo comida e objetos, ou pagamentos – a lógica de produção de assimetria
pela dádiva é a mesma, e o conflito entre os dois chefes pelos pagamentos assume
as feições típicas do faccionalismo xinguano.
Assimetria e coletivização
Segundo Simon Harrison (1992:236), os rituais, suas condições de execução
e o desempenho de certos papéis são sempre elaborados tendo em vista relações
que existem fora do contexto ritual. Modificar um papel no ritual, ou incluir
novos participantes, criar novas relações, serão sempre objetos de disputa pelas
categorias de agentes que fazem os rituais, mas cujas relações estão referenciadas
em outros contextos. Ou, na formulação de Tambiah (1985), o que este autor
chama de inner frame do ritual, seu esquema simbólico de execução, é uma reuti-
lização de elementos situados no outer frame, seu contexto de significação e para
onde sua eficácia é dirigida. Se levarmos a sério que é preciso pensar os rituais
como eventos cujas funções simbólicas e pragmáticas são indissociáveis, que ao
mesmo tempo se fundamentam e repercutem fora do ritual, somos levados a
pensar que a inclusão dos kagaiha em certos rituais como espectadores (e, num
certo sentido, como consumidores/devedores) também pode ser uma forma de
incluí-los na política local que é simultaneamente pressuposta e (contra)produ-
zida nos rituais.
Pelos casos discutidos acima, vemos que não há uma situação “dual” com-
posta pela interação dos kagaiha com “o ritual”, imaginado como um objeto pas-
sível de ser simplesmente visto, mas uma incorporação dos não-índios e seus
recursos nos esquemas internos de organização do ritual, indissociáveis da eco-
nomia política de prestígio alto-xinguana. Não há uma separação entre o ritual
e aqueles que (supostamente) “apenas o assistem”, pois estes são trazidos para
dentro de sua lógica e são postos a serviço das máquinas de produção indígenas:
produção de grandes chefes e produção de coletivos. Tendo isto em conta, vê-se
que não se trata simplesmente de produzir “festas bonitas para o branco ver”,
isto é, produzir uma objetivação (estética) da socialidade indígena sem efeitos
sobre os índios ou os brancos. Não seria possível imaginar semelhante movi-
mento no mundo ameríndio, nem em lugar algum. Aqui, agora, como em outros
lugares e tempos (Gell 1998), toda objetificação é ao mesmo tempo índice e causa
de relações entre sujeitos ����������������������������������������������������
(Lagrou 2007; Barcelos Neto 2008:34)����������������
: toda objetifi-
cação exibe, de alguma maneira, as relações que a produziram enquanto cria ou
134
Livro Conhecimento e Cultura.indd 134 26/4/2011 12:20:49
Antônio Guerreiro Jr.
afeta outras relações (pois só se objetifica algo a fim de exibi-lo ou oferecê-lo para
alguém cujas relações se deseja afetar).
Entre os Kalapalo, os donos de rituais e os nobres (e, no caso dos rituais
regionais, estas duas categorias se sobrepõem – seus donos sempre são nobres)
são centrais tanto para os processos de produzir coletivos como sujeitos (isto é,
coletivos-sujeitos da perspectiva de outros xinguanos que participam dos rituais
como convidados), quanto de produzir rituais como “cultura” (ou rituais como
um certo tipo de objeto de consumo para os brancos). Mais do que a objetivação
temporária de uma ideia abstrata de “cultura indígena”, os rituais alto-xingua-
nos podem aparecer como uma forma de estender aos não-índios os modos kala-
palo de se relacionar com o estrangeiro e, ao mesmo tempo, de produzir pessoas
e coletivos tipicamente xinguanos por meio destas relações – mas não sem suas
repercussões no sistema nativo. É impossível separar os rituais regionais da po-
lítica, seja no sentido de “política nativa”, seja no sentido de “política cultural”
– no contexto da preparação, execução e exibição do ritual, as duas são insepará-
veis. Os não-índios podem entrar fundo no sistema de pagamentos dos rituais,
como no caso do reality show, ou mais indiretamente no exercício da função de
“dono dos brancos”, ou até mesmo colocando em jogo a relação centro-periferia
no sistema regional. Em qualquer um desses casos, os não-índios se tornaram
parte do duplo processo de produção de coletivos e, sua condição e contraparti-
da, de produção de nobres, homens eminentes, “caciques grandes”.
135
Livro Conhecimento e Cultura.indd 135 26/4/2011 12:20:49
Assimetria e coletivização
Notas
1
Expressão em karib alto-xinguano para não-índios de outros países.
2
Algumas, às vezes, podem ter fases interaldeias.
3
Este me parece um ponto importante, mas que, por alguma razão, não é desenvolvido nas
etnografias disponíveis. Os rituais regionais (à exceção do uluki, a festa de trocas) constroem uma
relação de oposição e competição entre pelo menos dois coletivos: um coletivo de anfitriões oposto
a um coletivo (ou mais) de convidados (hagito). Contudo, o coletivo dos anfitriões é sempre consti-
tuído pelo principal povo anfitrião (o grupo dos patrocinadores da festa) mais no mínimo um povo
aliado (e no máximo dois). O ritual xinguano apresenta um curioso exemplo de como uma relação
a dois é sempre um caso particular de relação a três (cf. Lévi-Strauss 2003), cuja análise deve ter
algum rendimento para a compreensão dos processos de coletivização em jogo, além de instigar a
comparação dos fatos xinguanos com alguns que foram o centro das discussões sobre dualismo e
ritual no Brasil Central (Maybury-Lewis 1979).
4
No Alto Xingu, há uma categoria de pessoas que podem herdar o título de chefe (anetü) ou
chefa (itankgo). Apenas alguns dentre os que têm ascendência para isto recebem efetivamente esse
título, mas como os demais também são pensados como pessoas diferenciadas (“pessoas bonitas”),
utilizo o termo “nobres” para me referir a todos.
5
O termo Quarup é a transformação para o português da palavra kamayurá kwaryp, tornada
famosa no contexto do contato. Quando me referir a este ritual da forma como é realizado pelos
Kalapalo, utilizarei egitsü, reservando Quarup para designar a forma genérica assumida por este
ritual no contato com os não-índios.
6
É importante notar que o “pacifismo alto-xinguano” não exclui tensões e conflitos, sendo o
tempo todo posto em cheque pelas acusações de feitiçaria, que geram cisões, expulsões e, às vezes,
execuções (mais frequentes no passado, tendo sido reduzidas por influência da administração do
PIX).
7
Não chefes também podem ser homenageados no Quarup junto com o(s) morto(s)
principal(is) (sempre nobres), mas eles não são o foco da cerimônia nem são considerados seus
“donos”.
8
Este nome foi dado pelos não-índios à luta em função do barulho da respiração dos lutado-
res. O som é uma imitação do esturro da onça.
9
Pólo administrativo da região sul do PIX e centro de atendimento à saúde indígena. Como o
Posto não pertence a nenhum grupo, os brancos o imaginam como um lugar politicamente neutro.
Contudo, o espaço do Posto foi sendo paulatinamente controlado por pessoas e grupos específicos,
em função de suas relações de proximidade geográfica e política com o Posto e os irmãos Villas
Boas (ver Viveiros de Castro 1977 para uma descrição da relação dos Yawalapíti com o Posto Le-
onardo, por exemplo). Hoje, este é um espaço considerado extremamente perigoso pelos índios,
um lugar cheio de feitiços (cf. Novo 2008, 2009), e que, como tudo no Alto Xingu, também tem
seus “donos”, com os quais é preciso negociar. Há notícias de várias festas realizadas no Posto, e
os Kalapalo dizem que só começaram a convidar alguns povos (como os Aweti, por exemplo) para
seus rituais após a aproximação das aldeias e a realização de festas maiores. Contudo, uma festa
que nunca deve ter acontecido no Posto é o próprio Quarup.
10
Pelo menos desde a segunda metade do século XIX, os Kisêdjê costumavam participar de
alguns rituais regionais, como o jogo de dardos (jawari). Essa participação sempre foi, entretanto,
algo intermitente (comunicação pessoal de Marcela Coelho de Souza).
11
O jogo de dardos entre primos cruzados, também realizado em homenagem a um nobre
falecido. Ele é mais conhecido como Jawari, seu nome kamayurá, e entre os kalapalo esta festa leva
o mesmo nome das flechas especiais utilizadas na competição, hagaka. Os Trumai são tradicional-
mente considerados como os responsáveis por sua introdução no Alto Xingu.
12
A menos, claro, que ele já fosse realizado no “período galáctico” (entre 1250-1650 d.C, cf.
136
Livro Conhecimento e Cultura.indd 136 26/4/2011 12:20:49
Antônio Guerreiro Jr.
Heckenberger 2005:71, 124-133) da ocupação do Alto Xingu, quando várias aldeias gravitavam
em torno de aldeias maiores e ritualmente mais importantes (ou mesmo de lugares sagrados/cen-
tros rituais não habitados, como parece ter sido o caso do sítio kuikuro Heulugihütü [:90-93]).
13
De fato, um modelo de indigenismo bastante particular, que nunca se tornou, efetivamente,
modelo para outros povos e regiões.
14
Desde muito jovem Aritana foi preparado por seu pai e por Orlando Villas Boas para se
tornar o principal intermediário entre os povos do Alto Xingu (que ele representaria como uma
única “sociedade”) e o mundo dos brancos. Ele de fato assumiu esta posição e por isso é chamado
de “cacique geral”, mas isto não implica que ele tenha qualquer autoridade sobre outras aldeias
ou prerrogativas sobre outros chefes, não tendo nada a ver com um “paramount chief ” ou algo
do gênero.
15
Um povo de língua karib do Alto Xingu, com os quais trabalho desde 2005 e atualmente re-
alizo minha pesquisa de doutorado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social
da Universidade de Brasília (Guerreiro Júnior 2010).
16
Isto foi o que me disse um homem kalapalo que estava em Brasília mediando as relações
com os interessados, que também não me deu nomes. Certamente de seu ponto de vista só um
parente poderia desejar a homenagem, mas quem efetivamente estava programando a festa eu não
saberia dizer – só imaginar.
17
A maior aldeia Kalapalo, considerada por muitos como sendo a “principal” (isto é, a aldeia
para a qual deveriam se dirigir os mensageiros de outros povos e onde todos os rituais regionais
deveriam ser realizados – o que acaba não acontecendo na prática).
18
Ainda, um dos homens responsáveis por mediar as negociações com a família do homenage-
ado estava diretamente interessado na possibilidade de obter ajuda dos parentes do ex-presidente
para o processo de demarcação do território de um antigo grupo karib próximo dos Kalapalo, os
Angaguhütü (os Naruvüte ou Anaravuto da literatura).
19
As pesquisas etnoarqueológicas de Heckenberger (2005:68-112) sugerem que no período
de 1250 – 1700 d.C. encontravam-se no Alto Xingu grandes aldeias e centros rituais em torno dos
quais se organizavam, no geral segundo os pontos cardeais, aldeias menores, ligadas entre si e aos
centros por grandes estradas. Este momento da história xinguana foi chamado de “período ga-
láctico”, referência à tendência de hierarquização das relações entre centros político-rituais mais
importantes e “grupos satélites”.
20
Os Kalapalo, por sua vez, parecem fazê-las sem muita parcimônia.
21
Esta é uma história complexa. Pires de Campos não esteve nem no Culuene, nem no Sete
de Setembro (território tradicional dos Kalapalo), mas no rio das Mortes. Contudo, talvez os an-
cestrais dos Kalapalo tenham passado por aquela região, pois há uma coincidência impressionante
entre a narrativa kalapalo e a história documental. Os Kalapalo dizem que seriam atacados por um
homem chamado Pai-Pegü, acompanhado de índios; Pires de Campos contava com a companhia
de índios Bororo que o chamavam de Paí-Pero (Franchetto 1998:345).
22
Que seus espíritos auxiliares sejam quase todos ferramentas perigosas também não deve ser
à toa, mas esta seria outra discussão.
23
Utilizado aqui no seu sentido mais abrangente, pois no limite todo ser com forma humana
é kuge.
24
Barcelos Neto afirma que entre os Wauja uma coisa é ser dono de um apapaatai e outra coisa
é ser dono da festa para aquele espírito específico. Não encontrei semelhante distinção entre os
Kalapalo, entre os quais o patrocínio de um ritual é indispensável para que o ex-doente assuma a
condição de dono de itseke.
25
Esta é uma preocupação explícita de muitos velhos e jovens, que frequentemente incide
sobre o corpo (a redução dos períodos de reclusão, os novos cortes de cabelo, o uso de roupas e
acessórios industrializados) e os conhecimentos e práticas rituais. É sobre estes dois pontos tam-
bém que incidem as formas de resistência, por meio das quais os jovens vêm progressivamente
137
Livro Conhecimento e Cultura.indd 137 26/4/2011 12:20:49
Assimetria e coletivização
se interessando em retomar o uso de enfeites “tradicionais” no dia a dia e registrar, de todas as
formas possíveis, suas festas, cantos e músicas.
26
Uma forma considerada “menos legítima” de transmissão da chefia. Contudo, isso não
significa que não haja grandes chefes que herdaram o cargo de suas mães. Pelo contrário, as princi-
pais mulheres nobres kalapalo parecem apresentar uma tendência à hipogamia, o que faz com que
seus filhos homens herdem o status de seus avôs maternos, grandes chefes, geralmente podendo
requisitar o título de forma bastante legítima. É o caso de dois chefes em Aiha hoje, o atual “segun-
do cacique” e o jovem que foi escolhido para assumir a posição de chefe principal.
27
Isto é, que podem não ter passado por uma reclusão ideal e aprendido os conhecimentos
associados à chefia (dos quais, um dos principais são os discursos cerimoniais). A relativa “falta de
preparo” (para a chefia tradicional) de alguns herdeiros deste tipo não se deve somente à falta de
um pai chefe, pois a maioria das itankgo tem total conhecimento dos atributos dos chefes homens
e, muitas vezes, jovens anetaõ são preparados por seus MF e/ou MB.
28
Para tentar preservar a identidade das pessoas, utilizarei as iniciais de seus nomes menos
conhecidos.
29
O amigo (ato) é aquele com quem se troca muito, como se faz com os afins, mas também é
aquele de quem não se tem vergonha, como os parentes verdadeiros, podendo ser pensado como
uma categoria intermediária entre ambos. Troca-se muito, como entre afins, mas com pessoas
cujas relações são totalmente livres e desprovidas de vergonha.
138
Livro Conhecimento e Cultura.indd 138 26/4/2011 12:20:49
Antônio Guerreiro Jr.
Referências
BARCELOS NETO, Aristóteles. 2003. “Festas para um ‘nobre’: ritual e (re)produção
sociopolítica no Alto Xingu”. Estudios Latino Americanos, 23:63-90.
______. 2008. Apapaatai: rituais de máscaras no Alto Xingu. São Paulo: EDUSP/FAPESP.
BASSO, Ellen. B. 1973. The Kalapalo Indians of Central Brazil. New York: Holt, Rime-
hart and Wineton Inc.
FAUSTO, Carlos. 2008. “Donos demais: maestria e domínio na Amazônia”. Mana,
14(2):329-366.
FRANCHETTO, Bruna. 1986. Falar Kuikuro: Estudo etnolingüístico de um grupo
karib do Alto Xingu. Tese de Doutorado em Antropologia Social, Museu Na-
cional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
______. 1993. “A Celebração da História nos Discursos Cerimoniais Kuikuro (Alto-Xin-
gu)”. In: E. Viveiros de Castro & M. Carneiro da Cunha (orgs.), Amazônia:
etnologia e história indígena. São Paulo: EDUSP/FAPESP. pp. 95-116.
______. 1998. “ ‘O aparecimento dos caraíba’: Para uma história kuikuro e alto-xin-
guana”. In: M. Carneiro da Cunha, M. (org.), História dos índios no Brasil. São
Paulo: FAPESP/Companhia das Letras/SMC.
______. 2000. “Rencontres rituelles dans le Haut-Xingu: la parole du chef ”. In: A.
Monod-Becquelin & P. Erikson (eds.), Les rituels du dialogue. Promenades eth-
nolinguistiques en terres amérindiennes. Nanterre: Société d´ethnologie. pp. 481-
509.
FUNAI. 2004. Índios do Xingu fazem Kuarup para Dr. Roberto Marinho. http://www.
funai.gov.br/ultimas/noticias/2_semestre_2004/Agosto/un0617_001.htm.
Acesso em: 16 de junho de 2010.
GELL, Alfred. 1998. Art and agency: an anthropological theory. Oxford: Claredon Press.
GREGOR, Thomas. 1990. “Uneasy peace: Intertribal Relations in Brazil’s Upper Xin-
gu”. In: J. Haas (ed.), The Anthropology of War. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. pp. 105-124.
______. 2001. “Casamento, aliança e paz intertribal”. In: B. Franchetto & M.J. Hecken-
berger (orgs.), Os povos do Alto Xingu: história e cultura. Rio de Janeiro: Editora
da UFRJ. pp. 175-192.
GUERREIRO JÚNIOR, Antônio. R. 2010. Egitsü: ritual e política no Alto Xingu
(MT). Projeto de Pesquisa, Departamento de Antropologia, Universidade de
Brasília.
HARRISON, Simon. 1992. “Ritual as intellectual property”. Man, 27(2):224-244.
HECKENBERGER, Michael. J. 2005. The Ecology of Power: Culture, Place, and Person-
hood in the Southern Amazon, A.D. 1000-2000. New York: Routledge.
HECKENBERGER, Michael J. & Bruna FRANCHETTO. 2001. “Introdução: História
e cultura xinguana”. In: B. Franchetto & M.J. Heckenberger (orgs.), Os povos
139
Livro Conhecimento e Cultura.indd 139 26/4/2011 12:20:49
Assimetria e coletivização
do Alto Xingu: história e cultura. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. pp. 7-18.
LAGROU, Elsje. 2007. A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma sociedade
amazônica. Rio de Janeiro: Toobooks Editora.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 2003. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes.
LIMA, Tânia S. 2005. Um peixe olhou para mim: o povo Yudjá e a perspectiva. São Paulo/
Rio de Janeiro: ISA/Editora Unesp/NuTI.
MAYBURY-LEWIS, David. (ed.). 1979. Dialectical Societies: the Gê and Bororo of Central
Brazil. Cambridge: Harvard University Pressed.
MENEZES BASTOS, Rafael J. 1983. “Sistemas Políticos, de Comunicação e Articula-
ção Social no Alto Xingu”. Anuário Antropológico, 81:43-58.
______. 1992. “Exegeses Yawalapiti e Kamayura sobre a criação do Parque Indígena do
Xingu e a Invenção da Saga dos Irmãos Villas Boas”. Revista de Antropologia,
30:391-426.
______. 2001. “Ritual, História e Política no Alto Xingu: Observações a partir dos Ka-
mayurá e do Estudo da Festa da Jaguatirica (Jawari)”. In: B. Franchetto &
M.J. Heckenberger (orgs.), Os povos do Alto Xingu: história e cultura. Rio de
Janeiro: Editora da UFRJ. pp. 335-357.
MENGET, Patrick. 1993. “Les frontières de la chefferie: Remarques sur le système poli-
tique du haut Xingu (Brésil)”. L’Homme, 33(2/4):59-76.
NOVO, Marina P. 2008. Os Agentes Indígenas de Saúde do Alto Xingu. Dissertação de
Mestrado em Antropologia, Departamento de Ciências Sociais, Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos.
______. 2009. “Saúde e Interculturalidade: a participação dos Agentes Indígenas de
Saúde/AISs do Alto Xingu”. R@U - Revista de Antropologia da UFSCar,
1(1):122-147.
O GLOBO. 2004. “Bastos promete demarcar terras indígenas até 2006”. Disponível em:
http://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=32028. Acesso em: 15/06/2010.
SEEGER, Anthony, Roberto DAMATTA & Eduardo VIVEIROS DE CASTRO. 1979.
“A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras”. Boletim do Mu-
seu Nacional, 32.
STEINEN, Karl von den. 1940. Entre os aborígenes do Brasil Central. São Paulo: Depar-
tamento de Cultura.
______. 1942. Brasil Central: expedição em 1884 para a exploração do rio Xingú. São Paulo:
Companhia Editora Nacional.
TAMBIAH, Stanley J. 1985. “A performative approach to ritual”. In: S.J. Tambiah, S.
J., Culture, thought and social action. Cambridge: Harvard University Press. pp.
123-166.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1977. Indivíduo e Sociedade no Alto Xingu: os
Yawalapíti. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Museu Nacio-
nal/UFRJ, Rio de Janeiro.
140
Livro Conhecimento e Cultura.indd 140 26/4/2011 12:20:49
Espaços de homens e conceitos de mulheres:
~
o desenho em escolas kaxinawá (Huni Kui)
Paulo Roberto Nunes Ferreira
Considerações iniciais: intercursos de gêneros e agências
Neste artigo trarei um excerto de reflexões compostas ao longo de sete anos
de atuação indigenista entre os Kaxinawá, bem como desdobramentos de minha
dissertação de mestrado1 (2010). Nosso cenário se constitui da etnografia de ex-
tratos da ação destes índios durante oficinas e cursos de formação de professores
em algumas de suas aldeias e em cidades acreanas, nos quais o tema central era
a construção de propostas pedagógicas2 para escolas kaxinawá. Será dedicada
atenção à criação e ao refinamento da interlocução indígena com agentes do
Estado, cujo campo privilegiado é o da educação escolar.
Começaremos indagando se o exterior é mesmo o espaço por excelência do
exercício da agência masculina e o interior, o do ser feminino, em sociedades
indígenas como os Kaxinawá.3 Duas kaxinawólogas, de maneira especial, cha-
mam atenção para esta questão. Els Lagrou há mais de duas décadas desenvolve
estudos junto aos kaxinawá, com ênfase no rio Purus, Brasil. Cecilia McCallum,
cujo primeiro trabalho de campo se deu em 1983, realizou pesquisas no Brasil
e Peru. Seu trabalho de campo entre os Kaxinawá “brasileiros” se deu no rio
Jordão e no Purus, sendo que neste último rio, à montante, estão os kaxinawá
“peruanos”, no rio Curanja.
Todavia, há uma distinção crucial entre as duas antropólogas. A primeira
delas nos leva a compreender, por sua profícua reflexão acerca do desenho ver-
dadeiro (kene kuĩ), que este é um conhecimento por excelência das mulheres e, a
elas transmitido por Yube (jiboia). Os homens não realizam desenhos verdadei-
ros. Para eles, reservou-se a produção de imagens que é alcançada pela ingestão
141
Livro Conhecimento e Cultura.indd 141 26/4/2011 12:20:49
Espaços de homens e conceitos de mulheres
da ayahuasca, cujo preparo foi-lhes também ensinado pela jiboia. A ayahuasca
conduz aquele que bebe a mundos de alteridade e potencialidade. Sendo que
sua ingestão, apesar de crescente entre as mulheres, é ainda um domínio mas-
culino, posto que são incomuns, para não dizer inexistentes, casos de mulheres
Kaxinawá que administram a cocção da ayahuasca ou mesmo partem em expe-
dição à floresta para a coleta de seus ingredientes. Lagrou (1998, 2007) nos faz
visualizar uma tensão, não apenas entre homens e mulheres, mas entre saberes
que integram gêneros e uma geografia distinta. Ademais, nos informa que o de-
senho é desejado intensamente pelos homens desde os tempos míticos (Lagrou
2007:195).
Conhecimentos femininos somados a desejos masculinos nos conduzem
ao intercurso entre estes dois gêneros, portanto, a pontos de congruência entre
ambos. McCallum (1996, 1998, 2001), para o trato deste tema escolhe a noção
de capacidades específicas ou de agência femininas e masculinas. Para ela, os
conhecimentos associam-se tanto ao gênero, quanto à relação que mantém com
o exterior ou interior da aldeia. A produção do socius reside na equação entre
homens, mulheres, interior e exterior. Este é produzido por capacidades femi-
ninas e masculinas. As masculinas referem-se à predação e à troca, portanto,
ao exterior. As femininas versam sobre o “fazer consumir”, assim, ao interior.
Nestes termos, teoricamente, homens e mulheres “tomam seus lugares” numa
geografia sociológica. O lado de dentro estaria para as mulheres, assim como, o
lado de fora para os homens.4
Associadas, essas antropólogas geraram a este ensaio as seguintes questões:
como se dá a articulação entre os gêneros, seus saberes, suas agências, suas capa-
cidades específicas e seus espaços de atuação, frente ao contato com a sociedade
nacional que é cada vez mais vigoroso? Estariam mesmo os Kaxinawá diante da
reconfiguração de suas habilidades específicas e intercursos de aprendizagem?
Se, já na saída, assentíssemos plenamente a pergunta de abertura deste en-
saio e endossássemos esta geografia de agências calcadas no gênero, na qual es-
tariam fixamente marcadas as capacidades femininas e masculinas, bem como
os espaços onde homens e mulheres atuariam socialmente, as escolas indígenas,
alhures classificadas como instituições exteriores a esses índios,5 seriam, de ma-
neira indelével, um espaço masculino. No entanto, em que estas se constituiriam
ao reconsiderarmos tal geografia à luz do entrelaçamento de saberes de primazia
dos homens e das mulheres? Nesse sentido, do novo e propício espaço para exer-
cício da agência masculina, as escolas transporiam os homens e, muito além da
paisagem reconfigurada pela presença do prédio escolar no interior das aldeias,
em seus pátios, ao lado das casas e, por vezes, próximas às cozinhas femininas,
elas se transformariam em espaços para a agência da mulher?
142
Livro Conhecimento e Cultura.indd 142 26/4/2011 12:20:49
Paulo Roberto Nunes Ferreira
Tomarei relatos de professores indígenas acerca da complexa questão das re-
lações entre gênero, linhas de transmissão de conhecimento e escolarização em
aldeias. O leitor não se deparará com descrições baseadas em uma etnografia de
comunidades, mas no assessoramento multilocalizado à educação escolar indí-
gena no Acre. Partindo da indagação: como um docente kaxinawá do sexo masculino
transmitirá a um discente do sexo feminino conhecimentos ou habilidades pertinentes ao
âmbito das mulheres?, abordaremos a escola enquanto espaço no qual agências e
saberes das esferas de homens e mulheres se intercruzam, para então delinear
uma tensão capaz de fazer emergir sua fluida geografia.
Como nos faz lembrar McCallum (2010:90), o gênero tem centralidade entre
os povos indígenas das terras baixas sul-americanas, porém não é central nas et-
nografias desses mesmos povos, sobretudo, quando se trata da educação escolar,
ainda que o interesse pelo tema tenha crescido significativamente nos últimos
20 anos.
Este dado torna o desafio do presente ensaio ainda mais complexo e delica-
do. Isto nos inspira, tanto a buscar novas formas de tratar temas já abordados
em consagradas etnografias sobre os Kaxinawá, tais como: o parentesco e suas
tipologias, sistemas onomásticos, gerações alternadas, metades exogâmicas, or-
ganização social ou o desenho, bem como alçar outros elementos de análise. Se
o gênero é subvisualizado6 em etnografias que tratam da educação escolar, aqui
será um elemento estruturante para versar sobre uma epistemologia Kaxinawá
de conhecimento. A falta de ressonância do tema não se dá por ser este menos
importante, no entanto, merece maiores investimentos, que podem aplicar-se
em duas direções distintas, a saber, num tipo de etnografia de comunidade, ou
em contextos indigenistas.
Nossa ênfase nasce de uma inovação Kaxinawá para a educação escolar indíge-
na no Acre. Tal novidade fora criada em oficinas nas aldeias das quais participaram:
professores e professoras, agentes de saúde, agentes agroflorestais, xamãs, mestras
em tecelagem e pintura, jovens rapazes e moças, homens e mulheres de variadas
faixas etárias e funções. Destacam-se as reflexões de cinco professores kaxinawá,
sendo três deles do rio Jordão: Tadeu Mateus, Vitor Pereira e José Mateus Itsairu. O
primeiro é um dos jovens de maior influência em sua terra indígena. O segundo é
atual Secretário de Cultura Indígena da prefeitura municipal de Jordão. O terceiro
foi técnico indigenista da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE/AC) e
hoje preside a Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC). O quarto
professor vem da Terra Indígena Ashaninka-Kaxinawá do rio Breu, e chama-se
João Carlos da Silva Júnior. Por fim, temos questões apontadas em uma palestra re-
alizada por José Benedito Ferreira, professor da Terra Indígena Praia do Carapanã,
ex-técnico indigenista da SEE/AC e atual liderança geral dessa área.
143
Livro Conhecimento e Cultura.indd 143 26/4/2011 12:20:49
Espaços de homens e conceitos de mulheres
Indigenismos da7 educação escolar no Acre
Esta sessão fornecerá ao leitor um conciso quadro de práticas indigenistas da
educação escolar que convivem no Acre. Importa-nos, como primeiro passo des-
ta reflexão acerca das perguntas que conformam o núcleo deste ensaio, apontar
três distinções fundamentais que são contextualizadas pelos períodos históricos
em que se efetuaram.
O primeiro deles, exercido pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), pre-
cursora em ações de educação escolar diferenciada, que ofereceu o seu primeiro
curso de formação de professores em 1983, tinha o comunitarismo8 (Calavia et
alii 2006:22) como mote, conjugando a criação e o assessoramento de coopera-
tivas indígenas em substituição ao sistema de aviamento dos seringais, alicer-
çados na hierarquia formada pelo patrão seringalista, o gerente do seringal e os
fregueses – os seringueiros.9 No seringalismo, o aviamento era um de seus alicer-
ces. Optamos por tratar o seringal nos termos de Esteves (2008:91) e denotá-lo
como “sistema seringal”, cujas características marcantes eram a imobilização da
força de trabalho e a criação de uma rede de devedores à montante e credores à
jusante (Carneiro da Cunha 1998:10), desde os seringais às margens dos rios até
a Europa. Índios ou brancos tornavam-se cativos do patrão branco pela dívida,
fato que ganhava contornos dramáticos pelo não domínio de cálculos matemá-
ticos e da língua portuguesa.10 Irremediavelmente na crise desencadeada após
a II Guerra Mundial, o “sistema seringal” teve seu colapso na década de 1970
com a inauguração de uma forma de exploração fundada no uso predatório da
terra e não na exploração das árvores de seringa. Após a derrocada do “sistema
seringal”, somada à chegada de uma nova frente econômica via agropecuária,
agregada à luta indígena pela demarcação de suas terras, desenhava-se um qua-
dro de disputas fundiárias no Estado. A alternativa pró-indígena do período foi
a criação de cooperativas assessoradas pelo indigenismo nascente das décadas
de 1970-1980. De acordo com Terri Vale de Aquino, antropólogo, idealizador da
alternativa mencionada e indigenista pioneiro no Acre:
(...) criei esse movimento de cooperativas indígenas, que começou no
Jordão e que depois se espalhou para todas as terras indígenas do Alto
Juruá. Foi como um modelo. Começamos em 1976, em 1980 os Kaxi
ainda não tinham demarcado a sua terra no sentido físico, mas no sen-
tido social já, pois já tinham retirado todos os brancos de suas terras,
todos os patrões. (...) O que eu quero te dizer Txai é que esse trabalho
com cooperativas indígenas, não no sentido econômico, mas no sen-
tido político, criava uma alternativa aos barracões para os índios luta-
rem pelas suas terras. (...) E sabe, tudo isso, num contexto nacional de
144
Livro Conhecimento e Cultura.indd 144 26/4/2011 12:20:49
Paulo Roberto Nunes Ferreira
luta pela emancipação dos índios, criação das organizações não gover-
namentais de apoio aos índios (...). Foi assim, o apoio das cooperativas.
Os primeiros cursos eram basicamente do Jordão e do Humaitá e vi-
nham também alguns de outras áreas. Isso é porque eles queriam não
só ser professores, mas também ajudar na contabilidade das coopera-
tivas. Então de certa forma o movimento de educação indígena estava
ligado a esse movimento político das cooperativas. (Entrevista, 2008)
As cooperativas, alternativa política e econômica, continuariam aviando os
fregueses, entretanto, não mais por meio dos barracões, entreposto de endivida-
mento do seringueiro (indígena ou branco). Elas seriam administradas e geren-
ciadas pelos índios. Este relato serve-nos para informar que as escolas indígenas
no Acre nascem com o intuito de prover os índios de conhecimentos em língua
portuguesa e matemática, para que eles gerenciassem autonomamente suas co-
operativas, então recém-criadas. Não obstante, tal como revelou Terri Aquino,
fazer cálculos matemáticos e ler em língua portuguesa teriam um alto valor polí-
tico frente ao contato com os brancos, donos ou ex-donos de seringais.
As cooperativas foram o ato seminal para a elaboração da primeira forma de
indigenismo pró-índio no Acre. O apoio da CPI/AC à demarcação das terras in-
dígenas e a posterior invenção da educação escolar indígena são a consequência
da criação das cooperativas.
As principais formas de atuação deste indigenismo cristalizaram-se e carac-
terizaram-se por: i) reuniões com os índios nas aldeias; ii) assessoria de profis-
sionais não indígenas, especialmente do centro-sul do Brasil, aos professores
índios em cada uma de suas respectivas escolas; iii) reunião dos indígenas na
cidade para assistirem a cursos de formação de professores; iv) reunião para
discussão de temas referentes às políticas públicas; v) apoio à criação, ao fortale-
cimento de organizações indígenas e a financiamentos de pequenas atividades.
O “comunitarismo” nascido com a luta pela terra e liberdade para os índios
em face aos sistemas de exploração fundiários e de recursos naturais desenhados
no Acre, seja com o seringal ou com a agropecuária, desloca-se para a educação
escolar. Desde seu advento no Acre em 1983, até a segunda metade da década
de 1990, pode-se afirmar que as escolas nas aldeias detinham uma grande pre-
ocupação: ensinar língua portuguesa e matemática, que é efeito do período em
que os indígenas foram cativos dos patrões seringalistas. Todavia, na década de
1990, sobretudo, a partir da segunda metade e, especialmente estimulado por
indigenistas da educação escolar filiados a CPI/AC, que já em 1992, incorporou
a valorização cultural como “tema de formação”, apresentou a cultura enquanto
elemento integrante do currículo escolar.
145
Livro Conhecimento e Cultura.indd 145 26/4/2011 12:20:49
Espaços de homens e conceitos de mulheres
O cenário em que se dá a passagem de conhecimentos de brancos ao mer-
gulho em conhecimentos indígenas pode ser compreendido como “movimen-
to pró-cultura”, descrito por Weber (2004), em relação aos Kaxinawá do rio
Humaitá. No entanto, tal como se compreende neste ensaio, a “valorização da
cultura” se tornou o apanágio das ações de atendimento às escolas, quando o vo-
cabulário majoritário se funda na procura de um “currículo indígena”. Todavia,
tal como Werber (2004) nos permite compreender, ensinar a cultura na escola
tornou-se importante meio de acesso dos jovens a conhecimentos dantes rele-
gados ao ostracismo em face dos anos de contato com o seringalismo. O ideário
que se configurou foi o de uma escola indígena na qual todos potencialmente
aprendessem tudo e, desta forma, a cultura acabaria, 20 anos mais tarde, se tor-
nando uma espécie de disciplina ministrada por professores homens a discen-
tes meninas. Assim, esta ideia de cultura no currículo da escola, abarcaria os
desenhos (âmbito feminino), como mais um dos conhecimentos possíveis de
aprendizagem escolar.
O segundo indigenismo pró-indígena em questão é de natureza oficial e
circunscreve-se à Coordenação de Educação Escolar Indígena da Secretaria
de Estado de Educação (SEE/CEEI). Ele nasce a partir da ascensão da frente
popular acreana em 1999, num mandato petista, cujo slogan tornou-o Governo
da Floresta. Tal governo inspirou-se francamente no modelo comunitarista
criado pela CPI/AC, adotando preceitos idênticos, ao menos até o ano de 2004,
quando inaugurou a primeira oficina pedagógica, que contou no rio Jordão
com ampla participação aldeã. Há um dado de admirável repercussão, que é o
nascimento no interior do Governo da Floresta, do que é chamado de indige-
nismo indígena – neste caso, um indigenismo praticado não apenas pelos ka-
xinawá, entretanto, por eles potencializado, com a convocação de reuniões in-
tra e interaldeãs, bem como com a Coordenação de Educação Escolar Indígena
(CEEI) para a inserção de indígenas nos quadros técnicos da Secretaria de
Estado de Educação (SEE).
Em conjunto e em termos de gradiente, do comunitarismo não governamen-
tal ao indigenismo indígena, teremos uma noção tripartite das ações referentes
às escolas indígenas no Acre, que é fundada pela CPI/AC, implementada 20 anos
mais tarde como uma prática estatal e, finalmente, recriada pelos os índios no
interior do estado. Do ponto de vista governamental, as ações subdividem-se em
quatro grupos: reforma e construção de escolas, elaboração de materiais didáti-
cos específicos e diferenciados, elaboração de propostas pedagógicas e formação
de professores. No que tange às ações não governamentais, a diferença reside no
fato de que não é de sua alçada a construção de escolas. Já, no que se refere ao in-
digenismo praticado pelos indígenas, aí habita a grande distinção, pois eles são
146
Livro Conhecimento e Cultura.indd 146 26/4/2011 12:20:49
Paulo Roberto Nunes Ferreira
responsáveis por uma política de contato e interlucução entre ONGs, o Estado e
as aldeias. Eis que a grande inovação é retirar das mãos estrangeiras (brancos), a
constituição desta política. Estamos diante do indigenismo da educação escolar.
Sigamos deste ponto e focalizemos a agência e suas capacidades de interação.
Assim perceberemos que na ideologia Kaxinawá de contato, seres humanos ou
não-humanos, categorias, conceitos ou classificações serão traduzíveis em ter-
mos de conhecimento, especialmente se partirmos da escola.
Oficinas pedagógicas: momentos de pensar com o parente
Os cursos de formação, bem como o primeiro programa de formação especí-
fico para professores indígenas iniciaram-se no Acre, como vimos, sob os auspí-
cios e por iniciativa da CPI/AC, em 1983. Até 2010, foram realizadas 27 etapas
orientadas pela CPI/AC e 10 etapas pela Secretaria de Educação. Ademais, se
informa que no Acre, a CPI/AC e a Coordenação de Educação Escolar Indígena
(CEEI) são as instituições que desenvolvem atividades de formação docente em
nível de magistério para essas populações.
A Secretaria de Educação realizou seu primeiro curso em 2000. Este foi
acompanhado pela equipe da CPI/AC, que naquela oportunidade prestou servi-
ços de consultoria à CEEI. A partir de então o Governo da Floresta assumiu o
modelo de formação elaborado pela CPI/AC, desde a década de 1980, cuja refor-
mulação inicia-se em 2005.
Ambos os programas comportavam um procedimento que ocorria em duas
fases. Numa delas, todos os professores inclusos nas etapas de formação reu-
niam-se em um núcleo urbano, escolhido a critério das instituições formadoras,
e durante 30 a 45 dias,11 ministrava-se aos professores indígenas conhecimen-
tos acerca de Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Pedagogia
Indígena, Língua Indígena, Antropologia, Sociologia, Artes, Educação Física e
Ciências. Outra fase era a assessoria pedagógica. Nesta, assessores brancos des-
locavam-se às aldeias dos professores indígenas a fim de sanar dúvidas acerca de
sua docência, acompanhavam suas aulas, mas especialmente tratavam de escla-
recer o que é educação escolar diferenciada.12 Este modelo de assessoria pedagógica
perdurou na CEEI até o ano de 2004, quando pela primeira vez foi realizada, sob
seus cuidados, uma oficina em terra indígena.
Há diferenças marcantes entre uma assessoria pedagógica e uma oficina. No
primeiro caso, professores são acompanhados individualmente, aldeia por aldeia
de uma mesma terra indígena onde há escolas. Já nas oficinas, os professores
reúnem-se com outros parentes, em geral, numa aldeia capaz de suprir parte das
necessidades alimentares do grupo que lá se hospedará durante o período. Das
147
Livro Conhecimento e Cultura.indd 147 26/4/2011 12:20:49
Espaços de homens e conceitos de mulheres
oficinas, participam aqueles que os índios no Acre costumam chamar de “res-
ponsabilidades”. São estes: agentes agroflorestais, agentes de saúde, mulheres
artesãs, parteiras, anciãs e anciãos, xamãs, professores, lideranças, membros de
associações, bem como uma pequena fração de alunos jovens adultos, em geral,
alunos da escola da aldeia onde é instalada a oficina.
As oficinas, indubitavelmente, conformaram os marcos fundamentais da
tradução de conceitos huni kuĩ apresentados ao gestor oficial das escolas. Nas
oficinas há o favorecimento da produção coletiva de pensamento. Diversos pa-
rentes, das duas metades e gerações alternadas, homens e mulheres, com varia-
das funções e saberes acumulados ao longo da vida, trocam possibilidades de
compreensão acerca dos processos de escolarização com os quais se deparam.
Eis que pensar coletivamente ou produzir pensamentos coletivamente, traduz-
-se por: habiatibũxinã. Por outro lado, nas assessorias pedagógicas, mesmo que
se busque sanar as dúvidas do docente, há um tipo de produção de pensamento
que não se realiza no contato com o parente na aldeia e, neste sentido, torna-se
individualizada; esta forma de pensar traduz-se por: Ẽ xinãbesti,13 ou seja, “Eu
sozinho estou pensando”.
Dentre as oficinas pedagógicas de que participamos, este ensaio destacará
duas, que compõem dois ciclos destes eventos, transcorridos entre os anos de
2005 a 2007. A primeira delas chamou-se nixpu pima (nosso batismo)14 e a segun-
da yurã xinã pewakĩ (pessoa que pensa e age firmemente). Não obstante, ressalte-
-se que os efeitos dessas oficinas somente podem ser percebidos pelo prisma do
indigenismo realizado pelos Kaxinawá, que ao serem incorporados aos quadros
funcionais da CEEI, como técnicos em educação escolar indígena, rearticulam
as formas de interação entre o exterior oficial da política de educação escolar e o
interior das aldeias, lugar de reverberação das ações escolares.
A incorporação de índios na condição de técnicos implicou a perda da au-
toridade dos assessores brancos de escolas indígenas, ou seja, os indigenistas
da educação escolar não mais deteriam a razão indígena das escolas, outra faceta
da dominação intercultural nas florestas acreanas. Observe-se que não se trata
da razão da escola indígena, pois este será um desafio pertinente aos próprios
Kaxinawá.
A sessão seguinte apresentará reflexões de dois professores que se torna-
ram técnicos pedagógicos indígenas ou indígenas indigenistas do povo Kaxinawá.
Partindo de seus pontos de vistas, perceberemos as tensões que decorrem do
que talvez seja a ruptura da linha de transmissão de conhecimentos femini-
nos, face uma escola em que a docência é executada majoritariamente por
homens e mais, da reconfiguração do contato entre índios e brancos no campo
da educação escolar.
148
Livro Conhecimento e Cultura.indd 148 26/4/2011 12:20:49
Paulo Roberto Nunes Ferreira
“Como você enxergou isso?” ou “uma questão para nós resolvermos!”
João Carlos da Silva Júnior ou Iskubu, em sua língua, é um jovem adulto
Kaxinawá de 26 anos, que há oito participa de cursos de formação de professores
indígenas. Seu pai foi um dos primeiros professores, ingressando em cursos de
formação oferecidos pela CPI/AC, ainda em meados da década de 1980. Há dois
anos, Iskubu foi escolhido por sua comunidade para se tornar um indígena indi-
genista. Ele assessora quatro escolas de seu povo no rio Breu. Com frequência,
trocamos informações e mensagens eletrônicas. Sua aldeia, Jacobina, participa
da Rede Povos da Floresta, um movimento que visa a aliança de povos tradicio-
nais em defesa do meio ambiente, tendo na internet uma ferramenta de comuni-
cação na floresta – da qual nos utilizamos intensamente.
Foi nesse contexto, inusitado para mim, porém tratado com desenvoltura
por Iskubu, que principiamos abordar uma problemática recentemente notada
em escolas Kaxinawá, cuja pergunta central, ainda sem resposta, é: como pode-
ria um homem ensinar às meninas conhecimentos femininos e distanciados dos
contextos não escolares específicos de aprendizagem constituídos na infância?
A esta indagação devemos acrescentar o dado de que o número de discentes me-
ninas é crescente, enquanto o de docentes mulheres é restrito.
Era o segundo contato que fazíamos acerca deste mesmo tema. Retomamos
nosso status on line e perguntei se ele havia pensado acerca do que examinávamos
dias atrás. “Sim”, respondeu, e imediatamente escreveu: “Quero saber se alguém
te falou sobre, a respeito ou você pensou nisso?” Num primeiro momento não
me ative da real incidência de sua questão, insisti que deveríamos retomar do
tema inicial de nossa conversa, mas ele redarguiu: “Primeiro me responda!”
Diante do posicionamento de Iskubu, escrevi:
Não, ninguém falou. Faz muito tempo que eu já acompanho as es-
colas, conheço os professores, converso com os professores e, então,
observei. Só que nas aulas eu usava outro exemplo para falar disso. Eu
dizia para vocês: “se você não é um bom caçador, como poderá ensinar
ao filho do seu cunhado a caçar e, ainda mais, na escola?” Lembra?
Então, era a partir disso.
Sua insistência em saber como havia percebido esta problemática, torna-se
então significativa, pois parecia uma condição sem a qual nossa conversa não
prosseguiria.
Iskubu: já tenho oito anos que estou trabalhando na escola e como
você, conheço essa realidade, portanto, diante disso já parei para pen-
sar sobre esse caso e observo que esse é um mundo de organização
149
Livro Conhecimento e Cultura.indd 149 26/4/2011 12:20:49
Espaços de homens e conceitos de mulheres
nova para nós huni kuĩ. Mas, nem tanto por isso vamos embaralhar a
nossa cabeça. Para isso se movimentar tem uma forma que precisamos
refletir sobre o caso
Escrevi que concordava com ele e acrescentei: “eu concordo com você, mas
como será esse movimento?”
Iskubu: portanto, é como estou falando, tem jeito para se trabalhar
entre homens e mulheres, só que temos que organizar essa ideia.
Partindo deste ponto, do “jeito de trabalhar entre homens e mulheres”, per-
guntei: “Mas vejamos, você não é uma aĩbukeneya,15 certo? Se você não é uma
aĩbukeneya, como é que você vai ensinar as meninas a fazer o kene?” “Positivo”,
respondeu Iskubu, que seguiu: “sobre isso vejo que estamos começando a traçar
essa política de organização do aprendizado fora e dentro da escola.”
Pedi para que ele explicasse que política seria esta à qual fazia referência, mas
antes o indaguei: “No começo da escola o nawã kene era só dos homens. Hoje as
mulheres estão querendo esse nawã kene. Antes o kene kuĩ era só das mulheres,
mas hoje os homens estão querendo esse kene kuĩ, como é que isso fica, em ter-
mos de conhecimento?”
Iskubu: São essas coisas que eu mencionei da política, exatamente
dessa organização. Precisamos trabalhar isso forte na comunidade e
entender essa nossa identidade real para que com isso consigamos for-
tificar cada vez mais essa nossa realidade que um dia éramos e que
queremos chegar no tempo atual.
“Como vocês vão fazer isso?”, perguntei.
Iskubu: Isso são coisas que nós huni kuĩ temos que pensar profundo e
refletir bem.
Este professor trouxe à tona novos elementos que remetem ao contato com
os brancos e à produção de conhecimento. Ele estabeleceu limites para a incur-
são do indigenista branco da educação escolar, pois afirma que há coisas cujos
próprios huni kuĩ deverão pensar e refletir profundamente. Esta passagem difere
exponencialmente do relato colhido por Weber (2004:69), junto a um professor
Kaxinawá do rio Humaitá, no qual o indigenismo pensou antes dele acerca da
revitalização cultural:
Na CPI, através da CPI que a gente ‘tá aprendendo a cantar mariri que
isso é uma força que toda vida nós somos donos, mas não interessava
150
Livro Conhecimento e Cultura.indd 150 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
nisso, né. A gente viu que além de ser nosso valor, através disso a gen-
te tem um conhecimento e começa a pensar, né que isto é verdade
mesmo, né (...). Então isso foi uma coisa muito importante que a CPI
‘tá trazendo desde o começo. Começou a pensar antes de nós, pensou
antes de nós pensar (...). (Professor Ceará)
Iskubu manteve-se firme em sua perspectiva: “na reta do como fazer isso
cabe a nós mesmos começar a discutir sobre e ir definindo. É claro, isso com
força da aliança dos movimentos indígenas e indigenista.” E prosseguiu:
Entendo que você é uma pessoa que “está sempre de pé” tentando nos
ajudar também. Você pode e deve participar dessa discussão, assim
como nós estamos trabalhando até hoje. Como você sabe o HuniKuĩ
é um dos povos que são mais “cultural”, portanto a gente não se es-
queceu da nossa vivência, só e apenas outros conhecimento tem nos
interferido na maneira de nossa realidade do dia a dia. Mas falo: conti-
nuamos praticando os nossos conhecimentos, aqueles que ainda estão
recuperando aqui e que não foram esquecidos.
Não obstante, ele nos diz que a inserção indígena conquistada, representada
aqui pela atuação como indigenistas marca uma mudança radical desenhada não
apenas pela escolha em “ficar ou não de pé” com um Outro, porém, é o estabe-
lecimento de percursos autônomos, pois “na reta do como fazer”, caberá a eles a
discussão, bem como a definição deste caminho. Estabelecer limites para inser-
ção do indigenismo dos brancos não significa excluir as possibilidades de inter-
locução, mas exercer suas capacidades interativas, cujo contato gira em torno da
troca (McCallum 2002:393). “Ficar de pé”, neste caso, é a articulação de campos
de agenciamento e novas alianças. Aqui se fundam intercursos relacionais.
Para compreendermos com a devida consequência o tema da incorporação
de indígenas nos quadros de técnicos da SEE, Bendito Ferreira, ex-técnico e
atual professor e liderança geral da terra indígena Praia do Carapanã, no rio
Tarauacá nos disse:
Bem, para nós, olhando como um HuniKuĩ, foi um pouco assim, como
se tivéssemos avançado um pouco nessa questão da educação. Pensar
como um técnico, como a SEE fala ou pensar como um assessor como
a CPI fala, para mim, para os povos indígenas, para quem estava as-
sumindo essa responsabilidade foi mais um trabalho para a comuni-
dade, mas para a própria comunidade assumir essa responsabilidade.
Olhar com os seus próprios olhos. (...) Hoje a gente traça essa política
junto com a SEE, junto com a CPI, junto com as organizações ou que
151
Livro Conhecimento e Cultura.indd 151 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
representam a organização indígena, com muito mais tranquilidade,
porque a gente traz o problema e leva a solução. A gente mesmo pode
fazer isso. (Benedito Ferreira. Palestra. Cruzeiro do Sul/AC, 2009)
Este fato, para Benedito ou Iskubu, sem dúvida iguala o jogo. Eles simetri-
zam-se aos assessores da CPI/AC ou aos técnicos da CEEI, enfim, aos indigenis-
tas brancos, que “faziam antes” dos índios.
(...) porque antes, qualquer problema tinha que ter o assessor, tinha
que ter a Secretaria, tinha que ter a assessoria (...). Eu acho que equili-
brou! Hoje nós temos trabalhado em conjunto! Hoje, como índio-in-
digenista, nós temos trabalhado nessa situação. Nós temos trabalhado
com a questão do nosso povo e a questão da Secretaria de Educação
de como a gente pode dar um equilíbrio no nosso conhecimento.
(Benedito Ferreira. Palestra. Cruzeiro do Sul/AC, 2009)
Isto se deve à perspectiva de se “equilibrar o conhecimento”, como afirmou
Benedito Ferreira. Dito de outra maneira, significa a possibilidade de se cons-
truir percursos autônomos para suas escolas.
Outra importante consequência etnográfica da entrevista de Iskubu e da pa-
lestra de Benedito foi revelar como a recriação da dominação intercultural que
outrora se fazia via economia seringalista deu-se, atualizada, via o indigenismo
da educação escolar, no qual a abnegação indigenista e as ações “pró-índio” de-
tinham as razões indígenas das escolas e restringiam os campos de agenciamento
Kaxinawá.16
Fazendo figuras, refazendo o gênero e desfazendo um bloco
Passemos às oficinas do biênio 2005-2007, citadas anteriormente, e acom-
panhemos o desejo masculino por saberes das mulheres expresso por Vitor
Pereira, ex-professor e atual Coordenador de Cultura Indígena no município de
Jordão/AC. Além de Vitor, teremos José Mateus Itsairu, àquela altura, técnico
da CEEI, que, em 2010, presidia a Organização dos Professores Indígenas do
Acre (OPIAC) que nos fez compreender importantes elementos do complexo de
aprendizagem Kaxinawá.
Em 2005 estávamos num ciclo de oficinas que se inauguraria na aldeia Bela
Vista, chamado de Nixpu Pima. O centro da oficina se constituiu a partir de um
poema escrito por Norberto Sales, professor huni kuĩ do rio Jordão e técnico
indigenista deste povo, que, no ano de 1997, tratou de “remendar” o horizon-
te da floresta com a copa de suas árvores, num mundo cujo céu surge unido à
152
Livro Conhecimento e Cultura.indd 152 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
153
Livro Conhecimento e Cultura.indd 153 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
terra, configurando a noção de continuidade e não separação. Inspirada pela
poesia de Norberto Sales, a CEEI pensava ser “a remenda entre o céu e a terra”,
a metáfora-chave para superar dicotomias entre conhecimentos apreendidos em
comunidade e aqueles aprendidos em contexto escolar. Assim, o acréscimo do
adjetivo indígena à expressão educação escolar, resolveria a problemática que se
anunciava cada vez mais complexa.
Um dos participantes da oficina, José Mateus Itsairu, propôs, por meio de
uma figura, elucidar a problemática da educação escolar indígena, com o que ele
chamou de “ideia”. Esta figura circularia, até 2007, todas as terras indígenas ha-
bitadas por kaxinawás no Acre, inclusive no próprio rio Jordão, algo que ocorreu
no ano seguinte. Deste ponto depreenderemos algumas questões oriundas da
relação entre humanos, não-humanos, gênero, conhecimento e escola.
Em 2006, os comentários acerca da figura de José Mateus e dos desenhos das
mulheres foram liderados por ele mesmo e seu primo, Vitor Pereira. Comecemos
com Vitor:
Os desenhos mostram a nossa realidade, o nosso conhecimento que os
velhos e as velhas começaram a entender. O kene não é só as mulheres
que conhecem, dá pra todos os homens, todas as crianças estar refle-
tindo, desenhando no papel para que eles tenham ideias, vejam um
caminho para onde chegar e conhecer, porque todos têm que ficar livre
para entender aquilo que a gente está fazendo. O desenho da jiboia está
mostrando para a gente ter ideia, pensar, refletir (...). (Vitor Pereira,
Oficina Yurã Xinã Pewakĩ, 2006)
E com José Mateus:
O desenho foi feito de minha própria imaginação, de meus sonhos,
de meus conhecimentos. (...) O desenho é um caminhamento pra se
chegar a conhecer. O desenho é importante, o velho e a escola. Qual é
a diferença entre nós e o nawa? Aí foi muita discussão, muita experi-
ência, isso foi o significado da escola do mestebu [anciãos]. Então essa
é uma coisa importante, que esse desenho está se propagando, está
se contribuindo pra várias terras indígenas, pra vários povos conhe-
cer. Esse desenho é para o próprio professor entender o que significa,
o que nós estamos tratando, o que nós estamos precisando. É jiboia
que, igualmente está se relacionado com os velhos, como o Txanu fa-
lou: a jiboia ensina aos velhos, os velhos aprendem e depois os velhos
154
Livro Conhecimento e Cultura.indd 154 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
ensinam para os novatos. Jovens, com velhos, com mulheres. É como o
Renato citou com todos esses yuxibu [espíritos fortes]. Eles estão junto
de nós e nós estamos junto com eles. (José Mateus Itsairu, Oficina
Yurã Xinã Pewakĩ, 2006)
A partir de Vitor Pereira e José Mateus, depreendemos que a inversão ritual
de gênero entre homens e mulheres, tratada por Lagrou (2006, 2007), se dá tam-
bém no contexto da escola, e faz uma das agências femininas, o desenho, ser de
todos, porém não como um saber especializado. Sua potência é parte do cenário
no qual existe intenso contato com a sociedade nacional, somado às interpreta-
ções huni kuĩ para o desenho que implicam em conferir identidade a um corpo
e possibilitar caminhos, sejam estes os dos sonhos, os das sessões de ayahuasca
ou da morte.
Vitor fornece uma equação na qual associa o conhecimento do desenho à
produção de ideias e caminhos. No que tange inversão de agências ou saberes,
parece-me bem mais ampla e manifesta do que se imaginaria, pois não reside
apenas no exercício do rito, tampouco serve exclusivamente como possibilidade
conceitual de conhecer a alteridade. Hoje, tal inversão, por meio de um saber es-
colarizado, pode reconstruir a relação entre os gêneros. A escola, estruturalmente
figurada por José Mateus, problematiza a alteridade e a identidade, o gênero e as
linhas de transmissão de conhecimento.
Chegamos a um momento delicado de nosso ensaio. Devemos diferenciar
desenho e figura, duas expressões com sentidos similares em língua portuguesa,
mas que em hãtxa kuĩ, nos remetem a significados e relações sociais que, ape-
sar de se complementarem em variados contextos, de guardarem identidade,
ocupam um campo semântico distinto. Para tal esclarecimento, vamos recorrer
a um encontro ocorrido em 2009 com José Mateus e seu irmão Tadeu Mateus.
Ambos participaram das oficinas relatadas e, nesta oportunidade, prestaram-nos
fundamentais esclarecimentos sobre aquilo que Lagrou (2007:85) denominou
“trilogia da percepção”,17 composta pelos conceitos de desenho (kene kuĩ), figura
(dami) e imagem (yuxĩ). Tadeu e José apontariam uma diferença cujo índice não
é a forma e não habita o campo do olhar; observemos que o desenho de José foi
mostrado através da tela de um computador.
Em primeiro lugar, Tadeu retoma o desenho nos dizendo: “Lembra do dese-
nho do Itsairu? Olha aqui, se o desenho está na jiboia ou na rede, então ele será
chamado de kene, mas no papel, será dami.” E continua a explicar:
Olha, esse desenho aqui eu disse para ti que era dami, porque ele foi
feito pelo homem. Ele foi feito pelo professor. Ele pensou e desenhou,
então nós chamamos de dami. Em modo geral, nós chamamos dami.
155
Livro Conhecimento e Cultura.indd 155 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
Qualquer figura em geral, nós chamamos de dami. Isso desenhado é
dami. No curso de formação o desenho é dami. Quer dizer, quem fez
esse desenho? Quem fez esse desenho foi Itsairu. Itsairu fez esse dese-
nho. Isso é o que nós chamamos de dami.
Tadeu é enfático ao nos dizer, que se é do homem o desenho, fruto de sua
agência e criatividade, portanto, diante de nossos olhos estará um dami (figura).
José Mateus acrescenta:
Eu chamei de yuxĩ porque no momento as pessoas usam as duas pala-
vras. Por exemplo, se a pessoa tem alguma foto guardada e outra quer
ver, então diz: ‘mĩ yuxĩ uĩmawe’ (Me mostra a tua foto ou imagem).
Mas, também pode falar: ‘mĩ dami uĩmawe’. Yuxĩ ou dami! Mas, yuxĩ
é imagem e dami é a foto. Só que os dois têm o mesmo significado.
Esse aqui tanto é yuxĩ, quanto é dami. Olha, ele foi fotografado, foi um
desenho que você está apresentando pela tela do computador. Mas,
yuxĩ é porque quer dizer, aqui tem o yuxĩ da jiboia, o yuxĩ do velho, que
está representando. E tem a rede também que também foi feito pelos
espíritos.
Tadeu tende a discordar do irmão:
Olha, Paulo, eu acho que a resposta é assim. Esse desenho nós chama-
mos de dami. Mas, esse desenho que nós tiramos foto, nós chamamos
de dami yuxĩ. Entendeu? Já pegou a imagem do desenho, porque é yuxĩ,
como o filme das pessoas, ou seja, você já tirou da imagem da pessoa e
pode chamar de Mĩ yuxĩ. Agora o dami que é o desenho,[mas] você não
pode chamar o filme das pessoas de dami.
José Mateus retomou a fala de Tadeu, parecendo buscar um caminho alterna-
tivo de explicitação ao nosso debate:
Isso sempre foi assim, mas ninguém fala muito isso. Isso você só ouve
mais dos velhos e das velhas. Os mais jovens falam fotorã. E nessa
escola, eu pensei mais foi no contato da comunidade com a escola.
E a gente com isso já quer mostrar um exemplo, um produto de um
trabalho da escola diferenciada. Através desse desenho, envolve tudo.
Traz professor, traz a ciência e traz a relação da natureza com os huma-
nos. A ciência aqui é tudo! Os velhos é a ciência, a jiboia é a ciência, a
156
Livro Conhecimento e Cultura.indd 156 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
Professor Napoleão Bardales, adquirindo ayahuasca na aldeia Novo Lugar, para le-
var à oficina pedagógica que ocorreria na aldeia Nova Fronteira. Rio Purus, 2010.
Aldeia Nova Fronteira, rio Purus. Preparação de alunos da escola para um katxana-
wa. Oficina pedagógica, 2010.
escola é a ciência, o kene é uma ciência. Então é por isso que eu falei, é
o ponto em que você vai aprender e fazer.
Trazer à tona um debate sobre conhecimento, gênero e escola que visuali-
zasse a geografia das agências e os saberes de homens e mulheres kaxinawás,
defronte as escolas que se proliferam nas terras indígenas, necessitaria mais que
uma refinada paráfrase. Não se tratava de uma nova leitura dos escritos, mas de
uma nova audição sobre a fala dos índios. Outros dados necessariamente de-
veriam ser escutados pelo antropólogo. Tratar o kene kuĩ (desenho) enquanto
um domínio privilegiadamente feminino não seria uma novidade. Escrever que
esse tipo de desenho desvela questões acerca da identidade, tanto quanto da
157
Livro Conhecimento e Cultura.indd 157 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
alteridade entre os Kaxinawá, também não. Tampouco, seria lícito reproduzir
a consequente perspectiva de que numa “mulher verdadeira” devem residir os
conhecimentos sobre como fazer kene ou abordar a escola entre os Kaxinawá
como uma “escola própria”. (Weber 2004) Portanto, qual seria então o resultado
desta nova audição? Em resposta, inicialmente, reconsideremos a passagem de
Lagrou (2007:71) que toma as mulheres como detentoras do conhecimento para
se fazer desenhos (kene kuĩ) e os homens para produzir imagens (dami). Esta
equação ressoa na perspectiva de Tadeu, sobretudo no aspecto de que homens
produzem dami. Ao considerarmos que são os homens os responsáveis pela pre-
paração da ayahuasca na aldeia, que a ingestão desta bebida permite o acesso ao
mundo dos yuxĩ,18 da potencialidade, da alteridade, que é mundo também dos
yuxibu. Pode-se dizer que os homens detêm o conhecimento de produzir ima-
gens. Ademais, nessas imagens os corpos dos seres e dos objetos são recobertos
por desenhos das mulheres, o kene kuĩ.
A capacidade de produzir imagens ou desenhos, de homens e mulheres, fo-
ram adquiridas no tempo mítico junto à jiboia. Este é o estado inicial estrutu-
rante da geografia de conhecimentos masculinos e femininos, respectivamen-
te. Este panorama primevo é reconfigurado pela escola, mas, a partir de que?
Se adotarmos como parâmetro a escola indígena e as compreensões de Tadeu
Mateus e José Mateus, em seus exercícios de diferenciação da figura (dami) e do
desenho (kene), veremos que o desenho é uma ciência. Ao ser uma ciência e, des-
te ponto de vista, algo a ser compreendido, conhecido, torna-se alvo de exegese.
Uma figura, “uma representação”, como nos diria José, apenas será objeto de
análise, se ela carregar yuxĩ (força vital, imagem), em outras palavras, ou numa
linguagem antropológica, agência. Ao que parece, o desenho, por princípio tem
agência; uma figura, nem sempre. A agência da figura existirá em contextos em
que ela se constitui numa ideia, como a de José. A figura de uma anta ou de um
queixada será apenas uma figura, sem ideia a ser explicitada, sem tornar sensível
ou inteligível, uma dada relação social.
O segundo ciclo de oficinas abordado, no qual se originaram tais reflexões,
chamou-se Yurã Xinã Pewakĩ. Ele ocorreu entre os anos de 2006 e 2007. Seu
vigor foi produzido em face da proposição de José Benedito Ferreira, que per-
cebendo argutamente o novo contexto do indigenismo acreano, no qual a auto-
nomia é potencializada pelos próprios nativos e não por estrangeiros brancos,
apontou a obsolescência da educação escolar indígena proposta neste estado,
dispondo-se a renová-la em virtude de uma educação escolar huni kuĩ, cuja inci-
dência é desconstruir o bloco pano-arawa-aruak,19 sob o qual foi erigido tanto o
programa de formação de professores da CPI/AC, quanto o da CEEI.
158
Livro Conhecimento e Cultura.indd 158 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
Uma potente consequência das reflexões de Bendito sobre a educação escolar
indígena vem à tona da seguinte maneira: “Mas, depois nós começamos a discu-
tir a educação escolar indígena diferenciada, mas que diferença que a gente ti-
nha dessa educação?” Afinal, Benedito estava a questionar o inquestionável! Ao
considerar que a escola indígena é alicerçada na noção de diferenças étnicas ou
mais amplamente, sociedade nacional versus sociedades indígenas, ele direciona
seus questionamentos não à distinção com os brancos, mas na direção do bloco
pano-arawa-aruak. Benedito recria os pólos de análise e constituição de cursos
de formação de professores indígenas.
Considerações finais
As escolas, atualizadas em novos cenários, distanciaram-se dos objetivos
de administrar cooperativas ou livrar-se do julgo de patrões seringalistas. José
Benedito Ferreira, José Mateus Itsairu, Vitor Pereira, Iskubu, Tadeu Mateus
ou mesmo Norberto Sales, um dos mais experientes professores indígenas do
Acre, além da docência ou lideranças de seus povos, atuaram intensamente na
construção do que parece ser uma resposta indelével de um novo momento.
Hoje suas intenções aliam-se ao movimento pró-cultura descrito por Weber
(2004), antropóloga e indigenista que tratou do processo de escolarização entre
os Kaxinawá do rio Humaitá. Um de seus argumentos mais interessantes para
este artigo, é que a “escola própria” serve aos Kaxinawá como espaço para rea-
prender a tradição. Esta conclusão poderia ser estendida a diversos outros rios
ocupados por esse povo.
A questão final não se refere à escola entre os Kaxinawá enquanto um veículo
privilegiado de aprendizagem sobre o exterior. Este não é mais o caso. A pergun-
ta deste artigo versou acerca de relações de gênero no espaço em que se aprende-
rá acerca do desenho, embebido até o momento, pela noção de conhecimentos
da cultura ou da tradição. Ao passo que o desenho se torna algo a ser ensinado
na escola e, este é um conhecimento emanado privilegiadamente do corpo femi-
nino, sendo a mulher, a representante da porção mais interior da aldeia, inserir
o desenho enquanto um conteúdo curricular poderia criar uma nova economia
e política para a transmissão deste conhecimento.20 Considerar esses desenhos
como a linguagem estruturante da vida Kaxinawá (Lagrou 2007:537), bem como
marcas da distintividade destes em face de outros índios do Acre e dos bran-
cos, fornece-nos a interpretação de que eles conformam não apenas a verdadeira
mulher, mas a verdadeira pessoa. As linhas de transmissão deste conhecimen-
to, que se transversaliza ao converter-se em conteúdo escolar, espalham-se para
além das mãos femininas, pois tanto estarão em corpos masculinos, bem como
159
Livro Conhecimento e Cultura.indd 159 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
nas escolas, espaço majoritariamente do homem. Majoritário, entretanto, apenas
no campo professoral, visto que, ao compararmos números coletados em um
levantamento preliminar junto aos professores indígenas Kaxinawá em 2010,
veremos um equilíbrio entre alunos e alunas, sendo 50,7% de homens, e 49,3%
de meninas.
A escola já não é mais, pois, um espaço masculino. As mulheres estão a so-
cializá-la por meio do desenho impresso nos homens e na transformação desta
arte em conhecimento, em ciência. Os homens reivindicam o kene kuĩ, como
possibilidade de compreensão, conceito, identidade e instrumento de contato
com o exterior.
No entanto, apenas é possível conceber a escola indígena entre os Kaxinawá
enquanto um espaço para a convergência de agências, se esta for pensada na
perspectiva de Benedito, ou seja: uma escola huni kuĩ. Ela se torna um espaço
privilegiado no qual o grupo se esforça em “produzir socialidade”, no sentido de
que capacidades femininas e masculinas se congreguem ao fornecer novos eixos
para sua filosofia moral, fundada no viver bem e juntos com os parentes próxi-
mos, em que mulheres reconfiguram os corpos dos homens, neles desenhando;
homens professores solicitam das mestras em desenhos (aĩbukeneya) que lhes
ensinem este saber e, por fim, homens, mulheres, alunos e alunas desdobram em
livros específicos de seu povo, tais conhecimentos. Historicamente, as escolas
nas aldeias preocuparam-se com as aulas em língua portuguesa e matemática
ou com a revitalização cultural. Neste sentido, o desenho na escola gera outros
debates que incidem sobre produção da vida cotidiana, bem como no contato
com seres de variadas naturezas; do ancião à jiboia, da mulher ao homem, do
professor ao livro. O menos importante é saber se a escola foi construída pró-
xima às cozinhas das mulheres ou nos pátios da aldeia. O desenho é o encontro
intelectual entre homens e mulheres nas escolas do povo Kaxinawá que, ditas
por Benedito Ferreira, são Huni Kuĩ.
160
Livro Conhecimento e Cultura.indd 160 26/4/2011 12:20:50
Notas
1
Nos últimos sete anos atuei como indigenista da educação escolar entre os Kaxinawá,
vinculado à Coordenação de Educação Escolar Indígena (CEEI) da Secretaria de Educação
do Acre (SEE/AC). Visitei todas as terras indígenas deste povo. Participei junto com eles de
oficinas pedagógicas para construção das propostas das escolas de suas aldeias. No PPGAS/
UFPR, em 2010, defendi a dissertação de mestrado intitulada “Na ‘remenda do céu com a
terra’: escolas diferenciadas não são Huni Kuĩ”, sob orientação da professora Laura Pérez Gil.
2
Consiste nas propostas de formação escolar do aluno de uma dada escola indígena ou de
várias escolas de uma mesma terra indígena.
3
Eles se autodenominam Huni Kuĩ (gente verdadeira), falam uma língua que se chama
hãtxa kuĩ (língua verdadeira), da família linguística pano e ocupam no Acre as margens dos
rios Murú, Humaitá, Tarauacá, Jordão, Juruá, Breu e Envira, além das margens da rodovia
BR-364. No Brasil, são aproximadamente 5.800, sendo que no Peru, à montante, seguindo
pelo rio Purus, encontraremos mais 1.400 pessoas.
4
Ver McCallum 2001:48.
5
Uma delicada etnografia acerca dos Kaxinawá do rio Humaitá e a escola, em 2004, inti-
tulada Escola Kaxi História, cultura e aprendizado escolar entre os Kaxinawá do rio Humaitá
(Acre), apontou que esta já não seria uma instituição “alienígena”, estrangeira ou de branco
na aldeia. Ela nos leva a compreender, sem inflexão, que a escola está inserida no cotidiano
Kaxinawá, pois “é parte integrante do cotidiano da aldeia e a sua frequência é percebida quase
como obrigatória para as crianças e os jovens.” (Weber, 2004:99).
6
Tal subvisualização refere-se ao fato de não ser o gênero o tema central das pesquisas,
mesmo que este não seja de todo ausente. Todavia, Weber (2004, 2006), Lagrou (1991, 1998,
2002, 2007), Kensinger (1995) e Deshayes & Keifenheim (2003) abordaram esta questão que,
embora não fosse o fulcro de suas análises, renderam à antropologia e à etnologia junto aos
Kaxinawá, importantes debates. Cecilia McCallum (2010) é quem nos chama atenção para
este dado.
7
Utilizar a preposição “da” em vez de “na”, para o título desta sessão, busca informar ao
leitor que há variadas práticas indigenistas ou formas de atendimentos para estas populações
indígenas. Poderíamos abordar estas práticas do atendimento a saúde, à demarcação de terras,
à autossustentação dos povos indígenas ou à escola. Todavia, estes atendimentos apresentam
distinções tais, que seria inadequado agrupá-los como subáreas de uma política indigenista.
Isto, tal como se percebe, apesar de grandes esforços não foi consolidado no Acre, onde no
âmbito governamental, quatro áreas apresentam ações indigenistas: educação, saúde, assis-
tência agroflorestal e cultura. Há, de fato, inúmeras ações de setores governamentais e não
governamentais de caráter pró-indígena, que visam autonomia e respeito à diversidade étnica.
No entanto, considerar que existam ações sistemicamente articuladas e integradas no aten-
dimento às populações indígenas é algo a se alcançar. Portanto, o Indigenismo da Educação
Escolar é um dos variados indigenismos que convivem no Acre, e não uma categoria deste
tipo de atendimento.
8
“O modelo coletivo do conhecimento, promovido por jovens líderes afinados com o
ideário comunitarista do indigenismo acreano, não conseguiu englobar outro modelo, com
linhas próprias de transmissão e gestão de saberes singulares, que não se dão a qualquer um
nem de qualquer jeito. Como pôr à disposição de todos um conhecimento adquirido, a tanto
custo, através dos processos seletivos de iniciação xamânica?” (Calavia et al., 2006:22 ) Este
argumento é producente para o contexto em questão, pois tal “igualitarismo” inicialmente se
dá com a criação de cooperativas indígenas, se estende e configura os argumentos centrais de
uma oficina em educação escolar, na qual a todos é possível saber, opinar e construir sentido
acerca dos temas tratados, independente do gênero, idade, nome ou metade matrimonial a
qual pertencem os participantes.
9
O período no qual se desenha o indigenismo comunitarista é pós-correrias, em contex-
tos em que os Kaxinawá já se encontravam integrados às atividades do seringal, mesmo que
em um momento de crise deste sistema, entre as décadas de 1970 e 1980.
10
O aviamento no seringal consistia na venda antecipada de mercadorias variadas, desde
itens manufaturados até alimentícios, ao seringueiro (freguês) para que este efetuasse a qui-
Livro Conhecimento e Cultura.indd 161 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
tação de seus débitos com a futura produção de borracha. Todavia, os fregueses, analfabetos
em sua ampla maioria, eram imobilizados no seringal em face dos cômputos de sua produção,
que segundo cálculos do seringalista em regra eram inferiores aos valores devidos. Este, claro
é um caso extremo de imobilização de mão de obra, no entanto, a trajetória Kaxinawá diante
do seringal apresenta um matiz. O início da empresa extrativista no Acre é marcado por “cor-
rerias” contra os índios. Movimentos expedicionários de matança indígena promovida por
caucheiros peruanos ou seringalistas brasileiros. Iglesias (2008:239), no entanto apresenta-
-nos um exemplo etnográfico no qual os Kaxinawá, num mesmo período histórico e num
mesmo rio, assumem diante de seus interlocutores brancos, uma dupla posição: “No alto rio
Envira, região onde à época o caucho era o principal produto explorado e a arregimentação
de peruanos era iniciativa comum para a composição de freguesias pouco duradouras, alguns
patrões passaram a vislumbrar a mão de obra dos indígenas como alternativa para desenvolver
atividades agrícolas e complementares à produção gomífera. A maioria dos patrões, contudo,
ainda concebia os índios como obstáculo a ser removido de suas propriedades e das cercanias,
de forma a garantir a ‘segurança’ de seus trabalhadores e a viabilizar a produção de caucho”.
11
Registre-se que, de acordo com a CPI/AC, na década de 1980 existiram cursos que du-
ravam três meses.
12
Uma variação deste tipo de assessoria ocorre em 2005, quando a CPI/AC, a SEE/CEI
e a Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC), protagonista do evento, reali-
zaram uma oficina de sensibilização acerca da Educação Escolar Indígena, ocorrida na Terra
Indígena Praia do Carapanã. Seu objetivo foi esclarecer à aldeia, tanto quanto aos professores
indígenas, o que seria e como poderia se efetuar a educação escolar indígena.
13
Estas traduções foram fornecidas por professores do rio Breu, a saber: Raimundo Adal-
to Paulo (Tuĩ), Floriano Kaxinawá Viana (Tene), Remilde Henrique Kaxinawá (Shane), Odair
Sales Sereno (Busẽ), Edigar da Silva Sereno (Siã), João Carlos da Silva Júnior (Iskubu)
14
A tradução mais corrente entre os Kaxinawá é “nosso batismo”. Lagrou (2007:503)
argumenta que: “o ritual se torna uma síntese eloquente da ontologia Kaxinawá.” Anos antes,
em 1998, a mesma autora recolhe uma explicação nativa producente para este artigo, pois
enfatiza a autonomia intelectual da pessoa a ser batizada. “Batiza-se uma criança”, explica
Edivaldo, “porque ela já tem seus próprios pensamentos” (Lagrou 1998:264).
15
Literalmente, traduz-se por “mulher que tem os desenhos”. A expressão revela que tal
mulher detém os conhecimentos das técnicas para elaborar e reproduzir os desenhos verda-
deiros (kene kuĩ) sejam estes aplicados em superfícies de objetos ou em pessoas, tramados na
cestaria, na tecelagem ou nas pulseiras de miçangas.
16
Com isto, afirma-se apenas o quão potente os índios transformaram sua atuação no in-
terior do estado. Não obstante, é preciso constatar o fato de que a CPI/AC contribui significa-
tivamente com os povos indígenas acreanos, no sentido de fomentar processos de autonomia,
iniciados com a criação das cooperativas. Ratifica-se, entretanto, a capacidade indígena de
criar contextos de trocas e fundação de novas alianças.
17
Sobre a trilogia da percepção Kaxinawá, ver Lagrou 2007:85.
18
Lagrou (2007:285) “Ao ingerir este cipó os humanos adquirem a capacidade para visitar
esta realidade oculta, um mundo de imagens yuxin oposto ao mundo terrestre dos corpos.
Ayahuasca produz imagens móveis e uma pulsação constante de formas, um mundo de pura
potencialidade de alteridade e alteração. Estas imagens do ‘outro-mundo’ são caracterizadas
pela presença do desenho cobrindo os corpos, utensílios e casas dos yuxibu do céu, da água e
da floresta.”
19
O primeiro curso de formação de professores indígenas no Acre foi realizado pela Co-
missão Pró-Índio do Acre (CPI/AC) reunindo no ano de 1983 um conjunto de professores de
três famílias linguísticas, a saber: pano, arawa e aruak. Este formato perdura, tanto na CPI/
AC, quanto na CEEI nos últimos 27 anos, variando apenas com a criação de espaços específi-
cos para os módulos que abordam as línguas indígenas. Até o momento, foram realizadas 27
etapas de cursos de formação orientadas pela CPI/AC e dez etapas pela Secretaria de Educa-
ção. Ao reivindicar um curso específico, os Kaxinawá abalam este formato indigenista.
20
Ver McCallum 2001:41-63. A autora tratará de questões acerca da construção do gênero
na infância entre os Kaxinawá, dos espaços de exercício das agências masculinas e femininas,
de aprendizagem e socialidade. Seu argumento central é que há na divisão entre os gêneros,
espaços nos quais as habilidades e capacidades masculinas ou femininas ocorrem, por excelên-
162
Livro Conhecimento e Cultura.indd 162 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
cia. Todavia, a mesma autora (2010:87-104), nove anos mais tarde, tratará dados etnográficos
de fins da década de 1980 colhidos no Acre, junto aos Kaxinawá do rio Jordão e rio Purus,
para refletir sobre a relação das mulheres, frente à escola e à aquisição da escrita ocidental.
163
Livro Conhecimento e Cultura.indd 163 26/4/2011 12:20:50
Espaços de homens e conceitos de mulheres
Referências
AQUINO, Terri V. 1977. Kaxinawá: de seringueiro caboclo a peão acreano. Dissertação
de Mestrado em Antropologia, Universidade de Brasília.
CALAVIA SÁEZ, Oscar, Miguel CARID NAVEIRA & Laura PÉREZ GIL. 2003. “O
saber é estranho e amargo. Sociologia e mitologia do conhecimento entre os
Yaminawá”. Campos. Revista de Antropologia Social, 4:9-28.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. 1998. “Pontos de vista sobre a floresta amazônica:
xamanismo e tradução”. Mana, 4(1):7-22.
COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DO ACRE. 1997. Antologia da floresta: literatura selecionada e
ilustrada pelos professores indígenas do Acre. Rio de Janeiro: Multiletra.
DESCOLA, Philippe. 1998. “Estrutura ou sentimento: a relação com o animal na
Amazônia”. Mana, 4(1):23-45.
ERIKSON, Philippe. 1993. “Une nébuleuse compacte: le macro-ensemble pano”.
L’Homme, 33(126):45-58.
ESTEVES, Benedita Maria G. 2008. “O Seringal e a Constituição Social do Seringueiro”.
In: D.P. Neves & A. de M. Silva (orgs.), Processos de Construção e Reconstrução
do Campesinato no Brasil: Formas Tuteladas de Condição Camponesa. São Paulo:
UNESP. pp 91-112.
IGLESIAS, Marcelo M. P. 2008. Os Kaxinawá de Felizardo: correrias, trabalho e civili-
zação no Alto Juruá. Tese de Doutorado em Antropologia, Museu Nacional/
UFRJ.
LAGROU, Els. 2007. A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma sociedade
amazônica (Kaxinawá, Acre). Rio de Janeiro: Topbooks.
______ . 1998. Caminhos, duplos e corpos: uma abordagem perspectivista da identidade
e alteridade entre os Kaxinawá. Tese de Doutorado em Antropologia, Univer-
sidade de São Paulo.
______ . 2006. “Rir do poder e o poder do riso nas narrativas e performances Kaxinawá”.
Revista de Antropologia, 49(1):55-90.
______ . 1991. Uma etnografia da cultura Kaxinawá. Entre a Cobra e o Inca. Dissertação
de Mestrado em Antropologia, Universidade Federal de Santa Catarina.
KENSINGER, Kenneth M. 1995. How real people ought to live. The Cashinahua of eastern
Peru. Waverland Press, Inc.
PÉREZ GIL, Laura. 2003. “Corporalidade, ética e identidade em dois grupos pano”.
Ilha - Revista de Antropologia, 5(1):23-45.
McCALLUM, Cecilia. 2010. “Escrito no corpo: gênero, educação e socialidade na
Amazônia numa perspectiva Kaxinawá”. Revista da FAEEBA: Educação e
Contemporaneidade, 33:87-104.
______ . 2001. Gender and Sociality in Amazonia: How Real People are made. New York:
Oxford.
164
Livro Conhecimento e Cultura.indd 164 26/4/2011 12:20:50
Paulo Roberto Nunes Ferreira
______ . 1998. “Alteridade e sociabilidade kaxinauá: Perspectivas de uma antropologia
da vida diária”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 13(38):127-136.
WEBER, Ingrid. 2004. Escola Kaxi História, cultura e aprendizado escolar entre os
Kaxinawá do rio Humaitá (Acre). Dissertação de Mestrado em Antropologia,
Museu Nacional/UFRJ.
http://www.redepovosdafloresta.org.br/gerExi.aspx?kwd=1
165
Livro Conhecimento e Cultura.indd 165 26/4/2011 12:20:50
Livro Conhecimento e Cultura.indd 166 26/4/2011 12:20:50
III
TRANSFORMAÇÃO
Livro Conhecimento e Cultura.indd 167 26/4/2011 12:20:51
Livro Conhecimento e Cultura.indd 168 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino:
notas de um diálogo regional
Laura Pérez Gil
O contexto
Embora morem numa pequena aldeia que, raramente, supera os 100 habi-
tantes, o universo social dos Yaminawa1 (Pano) estabelecidos no Mapuya é am-
plo e diverso, não apenas em termos sociocosmológicos – como acontece em
outras sociedades ameríndias, o cosmo yaminawa é povoado por uma diversi-
dade de seres –, mas também em termos sociopolíticos. A região geográfica pela
qual transitam abrange a área oriental do sistema hidrográfico formado pelos
rios Urubamba e Ucayali, estando limitada no extremo norte pela cidade de
Pucallpa e no extremo Sul por Sepahua. Contudo, mesmo que eventualmente
viajem até essas cidades, o centro que tem maior importância na configuração
do mundo social Yaminawa é Atalaya, que fica a meio caminho entre ambas,
justamente na confluência dos rios Urubamba e Ucayali. No território próximo
de Atalaya, existem Comunidades Nativas (CN)2 demarcadas em benefício de
grupos Ashaninka, Piro, e Amahuaca. Os dois primeiros pertencem à família
linguística Arawaken quanto o terceiro é um grupo pano, da mesma forma que
os Yaminawa. A essas categorias étnicas se juntam outras à medida que se sobe
o Urubamba ou descemos o Ucayali. No rumo de Pucallpa, a primeira metade
do caminho é território Ashaninka, mas à medida que se progride aumenta, até
se tornar dominante, o número de comunidades Shipibo-Conibo; na direção
de Sepahua, prevalecem, principalmente, as etnias arawak – Yine, Manchineri
e Ashaninka –, embora estejam também presentes, de forma menos numerosa,
os Amahuaca e algumas famílias yaminawa procedentes do Purus e atualmente
muito associadas, por meio da convivência e dos casamentos, aosYora.
169
Livro Conhecimento e Cultura.indd 169 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
O entorno mais imediato da comunidade indígena a que aqui nos referi-
mos está conformado pelos rios Inuya – que desemboca no Urumbamba – e seu
afluente, o Mapuya. Nessa região, além da CN de Raya, localizada no Mapuya e
ocupada pelos Yaminawa, existem também CN samahuaca e ashaninka. É im-
portante, de qualquer forma, considerar os Yaminawa do Mapuya como parte
de um conjunto maior no qual se incluem também as comunidades yaminawa
que existem na cabeceira do Juruá, próxima da fronteira entre Brasil e Peru. As
famílias radicadas no Mapuya e as das comunidades do Juruá estão estreitamen-
te conectadas por relações de parentesco, e mantêm um contacto permanente,
seja por meio de visitas, seja por meio do rádio que costuma operar duas vezes
por dia. A fratura geográfica entre o grupo do Mapuya e os que se instalaram no
Juruá é recente e, pelo que sabemos, não é consequência de um conflito, mas,
basicamente, de discrepâncias sobre a forma de entender como deveriam ser as
relações com o homem branco.
O panorama sucintamente esboçado aqui coloca em evidência uma reali-
dade cultural e sociologicamente diversa, marcada pela interação continuada
entre os grupos que a conformam. Não se deve pensar, entretanto, que tanto
essa diversidade quanto essas interações constituam novidade. Seja por meio
dos conflitos bélicos, seja por meio de atividades mais pacíficas, como os dife-
rentes tipos de intercâmbios, os grupos que ocupam a região do baixo Urubamba
e do alto Ucayali têm participado em redes de relações que não apenas os inte-
gravam entre si, mas os conectavam também com a região andina, desde antes
da chegada dos europeus (Camino 1977; Santos Granero 1992; Zarzar 1983).
Evidentemente, o processo de colonização e ocupação do território amazôni-
co por parte destes últimos introduziu novos elementos e transformações que
contribuíram para tornar o quadro mais complexo. Ao conjunto de populações
indígenas existentes na região, se agregaram, além dos colonizadores de ascen-
dência ibérica, os chamados “serranos” – pessoas procedentes da região andina,
tanto índios quanto mestiços –, assim como alguns indivíduos procedentes do
Brasil. Se aguça, desta forma, o caráter de crisol da Amazônia peruana, o qual se
reflete na prevalência do “mestiço” como categoria social. Dado esse contexto,
propor uma etnografia dos Yaminawa do Mapuya – ou de qualquer outro grupo
indígena da região – sem atender às relações com a sociedade envolvente, impli-
ca renunciar a usar como elementos de análise aspectos que são constituintes da
realidade yaminawa. Ainda, devemos considerar – e a sintética descrição feita
nos parágrafos anteriores tem o propósito de salientar esse aspecto – que a “so-
ciedade envolvente” não pode ser reduzida a uma categoria do tipo “o homem
branco”. O panorama social yaminawa não se limita a uma distinção yamina-
wa/homem branco: campa, amahuacas, brasileiros, mestiços, serranos, chamas,
170
Livro Conhecimento e Cultura.indd 170 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
viracochas etc., para mencionar algumas, são todas elas categorias usadas pelos
Yaminawa para se referir a diferentes tipos de pessoa que fazem parte desse mar-
co social amplo. Quando me refiro à sociedade regional estou fazendo alusão a
esse sistema social complexo e heterogêneo.
Os contextos de interação dos Yaminawa com essa sociedade regional são
variados e se referem aos mais diversos aspectos de suas vidas: a economia, os
casamentos, a língua, os objetos, a alimentação. Os Yaminawa demonstram uma
atitude ambígua em relação a esse mundo no qual foram inseridos a partir da
ocorrência do contato permanente,3 oscilando entre o fascínio e uma crítica de
caráter moral a determinados aspectos que, segundo eles, o caracterizam. Mesmo
que a noção de “mestiço” constitua um dos elementos centrais desse marco so-
cial, as fronteiras entre as diferentes categorias que conformam a sociedade re-
gional ucayalina são concebidas por parte dos Yaminawa de uma forma menos
rígida do que pode parecer ou do que nós mesmos podemos pensar. A distinção
entre o indígena e o não indígena, ou melhor, a associação entre o não indígena
e a civilização não é tão direta como aparenta ser à primeira vista. Muitos dos
elementos que foram incorporados nesse contexto, e que os Yaminawa associam
explicitamente ao processo “civilizatório”, foram adotados de outros povos in-
dígenas e pouco têm a ver com os “brancos”: a prática de consumir grandes
quantidades de caiçuma em contextos festivos; o cultivo extensivo da mandioca;
o uso de canoas como principal meio de deslocamento; a prática de fiar algodão
para tecer redes; o uso das plantas piri-piri.4 Não vou me estender sobre esses
pontos que tratei em detalhe em outros trabalhos (Pérez Gil 2009).
Xamanismo regional
É neste contexto marcado pelo hibridismo, pela labilidade das fronteiras,
um tanto ilusórias, entre o indígena e o não indígena, que devem ser entendidas
as práticas e teorias yaminawa ligadas a qualquer processo de doença e cura. Isto
é assim porque opera, como pano de fundo, um sistema xamânico abrangente,
ele mesmo produto de um hibridismo histórico que teve nas missões católicas
dos séculos passados seu primeiro crisol (Gow 1994:156, 2001).Como nota Gow,
apesar da heterogeneidade cultural dessa região amazônica, a prática xamânica
revela-se de uma uniformidade notável. Contradizendo a perspectiva segundo
a qual o xamanismo baseado no consumo de ayahuasca é próprio das tradições
indígenas e estaria ligado diretamente e sem solução de continuidade ao perí-
odo pré-colombiano, Gow – num esforço por entender as afirmações dos Piro
e Ashaninka de que as formas contemporâneas de uso da ayahuasca vieram das
cidades rio abaixo – sustenta que essas práticas, que hoje podem se encontrar
171
Livro Conhecimento e Cultura.indd 171 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
não apenas entre indígenas, mas também entre a população mestiça, se desen-
volveram em contextos urbanos. Segundo o autor, os sistemas rituais de cura
baseados no uso de ayahuasca seriam, antes, produto dos processos coloniais,
tendo como marcos principais, em primeira instância, as missões onde diversos
grupos indígenas foram coagidos a se agrupar e a conviver, e em segundo lugar,
o boom da borracha.
Considero a proposta de Gow não apenas instigante, mas também plausível.
Alguns dados que coletei entre os Yaminawa parecem aludir à coexistência de
duas matrizes xamânicas, cada uma das quais estaria caracterizada, entre outras
coisas, pela associação de um conjunto distintivo de elementos: a onça, o tabaco,
as práticas de sucção, o poder xamânico materializado em objetos que entram
e saem dos corpos, de um lado; a sucuri, a ayahuasca, o canto como elemento
central da prática ritual, de outro. Embora seja arriscado fazer, a esse respeito,
qualquer afirmação, algumas informações indicam que a primeira dessas matri-
zes seria mais antiga e que a ela se sobrepôs a segunda (Pérez Gil 2006). Esse tipo
de informação não apenas é convergente com a análise de Gow – no sentido de
que o uso ritual da ayahuasca, tal e como se dá hoje, pode ter uma origem mais
híbrida e recente do que se pensa –, mas, além disso, nos vacina contra a tentação
de caracterizar o “tradicional” como “estático”.
De qualquer forma, e sem querer me embrenhar em discussões sobre ori-
gens, a proposta de Gow nos interessa aqui para refletir sobre aquilo que cha-
mo de xamanismo regional. Sendo ciente de que se trata de um conceito pro-
blemático – e ainda “em desenvolvimento” –, com ele me refiro ao sistema
presente na região do baixo Urubamba e alto Ucayali, constituído por uma
série de ideias e práticas que têm certo grau de homogeneidade. São partilha-
dos conceitos como ícaro, daño ou brujo5; várias categorias de doenças; usos de
determinados tipos de plantas, como as já mencionadas piri-piri, entre outras
coisas. Se caracteriza também pela circulação de saberes, poderes, práticas, pa-
cientes, curadores etc. que gera um complexo sistema de redes de intercâmbio
em vários âmbitos.6
Em função de seu contato permanente com a sociedade envolvente ter acon-
tecido apenas em data recente, os Yaminawa se mantiveram à margem – relati-
vamente, pelo menos – do desenvolvimento desse xamanismo regional ao longo
dos séculos passados. Hoje ele constitui, entretanto, um de seus principais ca-
nais de interação com o universo sociológico e cosmológico no qual se encon-
tram inseridos. De fato, o que orienta este trabalho é a ideia de que o xamanismo
regional se tornou um ponto de referência e de interlocução privilegiada na in-
teração dos Yaminawa com a sociedade envolvente.
172
Livro Conhecimento e Cultura.indd 172 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
Esse diálogo acontece por várias vias e em diversas circunstâncias. Num
plano analítico, porque na realidade estão intimamente relacionados, podemos
diferenciar dois aspectos. O primeiro se refere aos processos de aproximação
de significados e de tradução de conceitos. Em outro momento, analisei com
certo detalhe a forma como os Yaminawa usam algumas categorias nosológicas
presentes de forma generalizada entre a população regional, tais como cutipa-
do e malo-aire7, a qual implica uma aproximação a categorias próprias que, sem
ser equivalentes, compartilham pontos em comum. Nesse processo de tradução
acontece um deslizamento de significados graças ao qual a comunicação é pos-
sível (Pérez Gil 2008). O mesmo tipo de deslizamento semântico é verificável,
por exemplo, a respeito de conceitos que designam diferentes tipos de poder
xamânico e as pessoas que os detêm. O segundo aspecto, ao qual vou me referir
especificamente no presente trabalho, é à utilização por parte dos Yaminawa dos
recursos xamânicos e terapêuticos presentes no contexto regional.
Vale mencionar aqui que, diferentemente do caso brasileiro, não existe
no Peru uma política de saúde específica para as populações indígenas. A
biomedicina – representada por farmácias, postos de saúde, hospitais etc.
– constitui mais uma opção no campo terapêutico dos Yaminawa, e, certa-
mente, não é a mais usada. De um lado, o emprego de medicamentos alopá-
ticos – cujo uso, mesmo que significativo, é muito menor do que a utilização
de terapias baseadas na manipulação de plantas ou de práticas xamânicas –
ocorre dentro de uma lógica, seja própria ou aprendida, que difere da biomé-
dica. De outro, mesmo que a procura por tratamento seja uma das principais
explicações que os Yaminawa do Mapuya dão para suas escassas viagens à
cidade, raramente vi alguém recorrendo aos postos de saúde ou hospitais. O
“doutor” que eles alegavam estar procurando em cada caso era algum curan-
deiro ou xamã, mestiço ou indígena. Contudo, a incorporação do xamanismo
regional no campo terapêutico yaminawa não remete exclusivamente à sua
potencialidade como elemento de comunicação; o papel que ele passa a deter
no seio desse campo diz respeito, principalmente, a determinadas caracte-
rísticas sociológicas do sistema xamânico yaminawa. Em outras palavras, se
o uso que os Yaminawa fazem das redes do xamanismo regional nos fala das
possibilidades e facilidades conceituais que este oferece como meio de inte-
ração e integração comum exterior que os fascina, constitui, simultaneamen-
te, um mecanismo propício para contornar dificuldades derivadas da própria
dinâmica sociológica yaminawa, que se manifestam, particularmente, nos
processos xamânicos de agressão e cura. Sobre estes pontos discorreremos a
partir de dois estudos de caso.
173
Livro Conhecimento e Cultura.indd 173 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
Doenças que vêm de dentro e curas que vêm de fora
Em uma ocasião, Xamoko, um Yaminawa de Raya, me contou sobre a do-
ença que tinha afligido seu pai, Manate. Segundo Xamoko, foram seus próprios
parentes (paisanos) os que provocaram a doença por meio do feitiço. Sentia dor
na cabeça, no peito, nas pernas. Primeiro, seus três irmãos, sob os efeitos da
ayahuasca, entoaram as rezas de cura (kuxuai), uma das principais técnicas de
cura xamânica yaminawa. Manate deitava numa rede no meio deles enquanto
entoavam os kuxuiti. Curavam-no também com disa8, mas não conseguiam fazê-
-lo sarar. Foi a Atalaya, e lá recebeu injeções, mas não sarava. Ante a ineficácia
dos medicamentos recebidos em Atalaya, ele se transladou a Paititi, a aldeia si-
tuada no Huacapistea, onde, naquele momento, viviam vários de seus parentes, e
onde o Instituto Linguístico de Verão (SIL) tinha se instalado para desenvolver
seu trabalho de proselitismo junto aos Yaminawa. Em Paititi, um missionário
lhe deu mais injeções. Ele sarou levemente, mas pouco depois voltou a adoecer.
Seu primo lhe disse que tinha chegado um “médico” procedente de Sheshea9
que sabia curar. “Me leva lá, eu vou pagar”. Quando Manate chegou à aldeia do
curandeiro, que era ashaninka, este o convidou a beber caiçuma:
– Amigo,vem tomar caiçuma
Mas ele estava doente.
– Ele está chegando aqui doente? O que ele é de você?
– Ele é meu primo.
– Ah, tá, o que ele tem? Quem fez feitiço para ele?
Explicaram-lhe o que tinha acontecido.
– Você pode curá-lo?
– Sim.
– Ele vai te pagar.
– O que ele tem?
– Minha cabeça dói, eu não consigo ver, sinto como se estivesse bêbado, eu
não posso levantar a cabeça.
O homem – continuou explicando Xamoko – começou a curá-lo. Primeiro,
com vegetais, “tirava” tudo, aliviava a dor do corpo com vegetais, mas a dor de
cabeça não ia embora, não podia sará-lo. “Eu vou tomar ayahuasca”. Tomava
ayahuasca e assoprava. “Teu próprio parente te fez feitiço, amigo, você vai mor-
rer. Eu vou tomar ayahuasca bem, vou te assoprar”. Na manhã seguinte, expli-
cou a Manate:
– Um viracocha10 e um yaminawa te fizeram feitiço.
– Ah, tá, você pode me curar?
– Sim, eu vou te curar, você me deu duas colchas.
O curandeiro extraiu um embrulho de arame e pregos:
174
Livro Conhecimento e Cultura.indd 174 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
– Olha, amigo, com isso aí é que queriam te matar, quase te mata, por pouco
não entrou no teu olho, estava faltando apenas um quarto para teu olho arreben-
tar. Agora, você não vai comer anta, porquinho, jundiá, jaboti. Você vai comer
apenas piaba, mingau de banana e mandioca.
Depois de um mês, seu próprio “dono” – o dono da cura, aquele que a reali-
zou e quem, portanto, orienta todas as ações do paciente em relação a ela – o con-
vidou para tomar caiçuma. O convite para tomar caiçuma é um teste: a caiçuma,
enquanto bebida alcoólica, aguça os sintomas do paciente, por isso, no início da
narrativa, ele não a aceitou. Manate tomou caiçuma sob a orientação do curador
e não sentiu nada estranho. Após dois meses, o curandeiro o assoprou novamen-
te para ver como estava. Tomou ayahuasca e tirou chumbo do seu corpo:
– Teus próprios parentes te fizeram feitiço.
Segundo Xamoko, sua mãe viu o chumbo bem desenhado. A referência ao
desenho do chumbo remete de um lado ao fato de ser um objeto patogênico, e de
outro a ser um objeto de origem yaminawa.
Finalmente, o curandeiro deu por finalizado o tratamento. Manate esta-
va curado, e já podia tomar qualquer uma das substâncias que afetam a cabe-
ça (ayahuasca, tabaco, álcool) e cujo consumo a doença tinha inviabilizado.
O curandeiro afirmou ainda que tinha sido o primo de Manate o propiciador
do feitiço. Ao saber disso, o irmão de Manate queria se vingar, mas o próprio
Manate o desencorajou, dizendo que aquele homem já tinha morrido e que ele
não era uma pessoa ruim para andar fazendo feitiço aos parentes do seu agressor.
O significado sociológico dessa narrativa apenas pode ser plenamente com-
preendido levando em conta algumas das características do sistema xamânico
yaminawa. Em primeiro lugar, e, contrariamente ao que é descrito nas etnogra-
fias sobre outras sociedades ameríndias, as acusações de agressões xamânicas
se dão dentro do próprio grupo, ou seja, entre pessoas que têm alguma relação
de parentesco, em ocasiões próximas. Esta circunstância se torna ainda mais
dramática se considerarmos que os grupos yaminawa são relativamente peque-
nos: o conjunto das famílias que reconhecem laços de parentesco entre si e que
conformam o grupo sociologicamente significativo raramente supera 500 pes-
soas, que, ainda, se encontram espalhadas em aldeias ou grupos habitacionais
distantes. Em ocasiões, as acusações podem ser dirigidas a indivíduos que não
são yaminawa, mas, nesses casos, proporcionalmente menos frequentes, exis-
te uma relação de parentesco por afinidade: homens – embora o xamanismo
não seja exclusivo do gênero masculino, são principalmente os homens que o
praticam – que se casaram com mulheres yaminawa podem se tornar alvos das
acusações, especialmente se lhes é reconhecida potência xamânica significativa.
De qualquer forma, a tendência endógena11 das agressões xamânicas se reflete
175
Livro Conhecimento e Cultura.indd 175 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
no fato de que, mesmo estando as acusações dirigidas a pessoas de fora, elas per-
tencem sempre a grupos que, da mesma forma que os Yaminawa, fazem parte do
conjunto denominado por Townsley de Pano do Sudeste e que configuram um
complexo social e cultural amplo marcado por uma dinâmica sociopolítica de
fissão e fusão, apresentando uma notável homogeneidade cultural e linguística
(Townsley, 1994:244). Além disso, em todos os casos que me foram narrados em
que o acusado era alguém de fora, existia algum tipo de relação entre vítima e
agressor que foi construída no passado, ou seja, a relação tinha uma história de
longa data.
O caráter interno das acusações está diretamente ligado às razões que expli-
cam, conforme a perspectiva nativa, as agressões xamânicas: segundo a maior
parte das narrativas sobre esse tipo de agressões que coletei entre os Yaminawa,
o ato foi motivado por uma conduta mesquinha por parte da vítima, ou seja, por
uma atitude que nega e desqualifica a relação entre parentes. É importante con-
siderar ademais que a prática xamânica não é, e era menos ainda algumas déca-
das atrás, exclusiva de especialistas; a iniciação aos conhecimentos e atividades
xamânicas fazia parte do processo de se tornar adulto, de forma que era empre-
endida pelos jovens de forma geral, embora nem todos atingissem o mesmo grau
de saber e potência. Nesse sentido, qualquer um podia ser, potencialmente, um
agressor, embora as suspeitas recaíssem naqueles a quem se atribuía mais poder.
Outra característica que remete à natureza interna dos processos de agressão/
acusação é a forma de identificação do culpável. Esta não se dá através da inges-
tão de substâncias xamânicas – embora essa possibilidade não seja negada –, se-
não que é a própria vítima quem, no momento de morrer e estando acordado, vê
com clareza (“clarito”), afirmam os Yaminawa, o agressor no momento em que
coletava os refugos usados para efetuar a agressão. Essa forma de identificação
apenas é viável num sistema em que agressor e agredido se conhecem pessoal-
mente, ou seja, onde a distância social entre eles é curta. De fato, no caso que
nos ocupa, o agressor procura ocultar o rosto ou pegar os refugos de costas para
evitar ser identificado posteriormente. É como se fosse feita uma foto instantâ-
nea no ato que evidencia claramente sua culpabilidade. Finalmente, existe outro
aspecto desse sistema xamânico que vale a pena destacar.
Os Yaminawa afirmam rotundamente que apenas a pessoa que realizou a
agressão, seu “dono”, pode revertê-la. Outra pessoa diferente pode realizar uma
cura, mas apenas conseguiria adiar o falecimento da vítima, e não desfazer o fei-
tiço. Esta lógica, acerca da qual os Yaminawa são categóricos e que se reflete de
forma sistemática nas suas narrativas sobre casos de doenças ou mortes causadas
por feitiçaria, apenas faz sentido num sistema endógeno: a) agressores e agre-
didos não apenas se conhecem, senão que, ainda, estão ligados por relações de
176
Livro Conhecimento e Cultura.indd 176 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
parentes coefetivas: b) as razões da agressão remetem à forma como as relações
entre parentes são concebidas: c) a resolução do feitiço passa, necessariamente,
pela resolução prévia do conflito que a gerou, na medida em que a vítima deve
recorrer a seu agressor para atingir a cura.
No caso descrito acima, é introduzida uma variante: o curador é externo,
no caso, um ashaninka. Esse fato parece criar uma brecha no sistema: mesmo
que a agressão tenha também uma procedência interna, surge a possibilidade de
neutralizá-la de fora. Não se trata de um caso único. Outro exemplo, agora o de
uma mulher que estava com problemas de saúde durante nossa estadia na aldeia,
ilustra esse tipo de alteração dos princípios que regem o sistema uma vez se abra
a possibilidade de recorrer aos serviços de xamãs externos ao grupo:
Dessa vez, quando eu adoeci, quase morro. Isso aí foi o que tirou (o pai
do meu genro). Ele me disse: “Quando você era nova, alguém do teu
próprio grupo te mandou feitiço [te hizo daño]”. O pai do meu genro me
extraiu um xubu [vasilha de barro usada para realizar os feitiços] muito
pequeno. Essa vez, quando eu estava em Atalaya, eu quase morri, mas
já sarei. Eu poderia ter morrido, se eu estivesse por aqui. Primeiro,
tive diarréia com vômito. Levaram-me ao hospital, mas no hospital
não puderam me fazer sarar. Colocaram-me soro, mas não melhorei.
É melhor me levar lá. Meu genro me levou a seu pai. Eu sentei, estava
como num sonho, eu estava olhando como bêbada, com meu marido,
com minha filha. “Olha, mãe, olha o que te fizeram quando você era
nova, quando você era da idade de tua filha. Ele tirou. Pessoas do teu
próprio grupo. Ele tirou um xubu pequeninho. Felizmente, você não
morreu, pouquinho te fez (mal). Se teu espírito tivesse ido embora,
faria tempo que você teria morrido”, me disse (minha filha). “Hoje, já
tirei, mas, quando você voltar, você vem me ver, falta ainda um pouco
para tirar”, me disse (o pai do meu genro). Por isso, quando Tonoma
acabar de fazer a canoa, eu vou lá de novo. Ele não me cobra, porque
é o pai do meu genro. [...] Com tabaco, ele me assoprou, quando tirou,
não tomou ayahuasca.
P: Ele te disse quem te fez mal?
Lá, antes, alguém me fez mal em Breu. Do meu próprio grupo (mis pai-
sanos). Não me disse o nome de ninguém. “Do teu grupo, com certeza
tua família, quem foi que te fez isso?”. Eu vi o xubu desse tamanho, pe-
quenininho, eu o vi bem pintadinho. Mas ainda falta tirar um pouco.
177
Livro Conhecimento e Cultura.indd 177 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
“Lá, você vai adoecer de novo”. Eu vim aqui de novo, quase morro,
aquele dia que eu te pedi remédios. Eu não podia caminhar. Eu me
assustei. Por isso, eu tenho que voltar.
P: Por que te fizeram mal?
Muito me odiava. Um homem que me queria, ele pegou [refugos] de
mim e entregou para seu pai. Felizmente, não matou meu espírito,
pouco [mal me fez], me disse o pai do meu genro. A cada festa de cai-
çuma, eu queria morrer, eu olhava, parecia tonta, dessa forma eu fui a
Atalaya. [...] chamava-se Wanaiyapa. Era meu primo. Ele pegou coisas
minhas porque me queria e eu não o queria. Ele pegou (coisas minhas)
e entregou a seu pai. Ele pegou meu cabelo, qualquer coisa: a cana
que chupei, minha urina, ele pegou. Felizmente, ele não matou minha
alma. [...] Eu o vi, eu o vi com clareza.
Se a possibilidade de sarar se abre ante Txixëya é porque ela recorre a um
curador não yaminawa, no caso um mestiço. É notável o fato de ela afirmar ter
visto seu agressor, o que, segundo a maior parte dos depoimentos, só acontece
quando a pessoa vai morrer; essa distorção talvez só seja possível na medida em
que é alguém de fora quem realiza a cura. Inversamente, encontramos que as
poucas narrativas em que o agressor é um não-yaminawa, o feitiço torna-se pas-
sível de neutralização por um curador yaminawa sem necessidade de se recorrer
a seu autor. O sistema xamânico yaminawa, no que concerne particularmente
às agressões, apresenta certas particularidades que o diferenciam do que é des-
crito em relação a outros grupos indígenas. Em geral, para outras sociedades
ameríndias, as acusações de feitiçaria são descritas como sendo projetadas para
o exterior, sendo responsabilizados outros grupos locais (Albert 1985; Buchillet
1990; Crocker 1985:237; Illius 1992; Orobitg Canal 1998:94; Pollock 1992;
Shepard 1999:155)���������������������������������������������������������
, ou pessoas em situação marginal que, eventualmente, po-
dem chegar a ser executadas (Gray 1997:111; Seeger 1981:87). Embora não seja
possível fazer generalizações, já que a diversidade entre as diferentes populações
das terras baixas da América do Sul, também a este respeito, é notável, se pode
verificar na bibliografia uma associação entre distância sociopolítica e agressão
xamânica, sendo que a possibilidade de receber um ataque letal aparece, ou pelo
menos se incrementa notavelmente, quando se transpassam os limites das redes
de parentesco.
178
Livro Conhecimento e Cultura.indd 178 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
De alguma forma, essa situação se inverte entre os Yaminawa. A agressão
xamânica procede de um âmbito próximo, ocorre nas distâncias curtas onde as
relações entre as pessoas adquirem uma densidade social e emocional maior.
A abertura e ampliação do mundo social yaminawa, por meio de sua inserção
na sociedade regional, implicou simultaneamente o acesso não apenas a outros
agentes terapêuticos, mas também a outras lógicas que, elas sim, concebem a
possibilidade de um curador neutralizar e reverter a agressão feita por outro
homem. Poder-se-ia argumentar que, nos casos acima relatados, a capacidade
atribuída aos xamãs não-yaminawa de retirar um feitiço derivaria de eles dete-
rem um poder maior, já que é comum na Amazônia a estreita associação entre
alteridade e potência xamânica (Chaumeil
��������������������������������������������
1999)�����������������������������
. Entretanto, no discurso ya-
minawa o maior poder xamânico não é atribuído a agentes exteriores, mas a
certas personagens específicas das gerações imediatamente anteriores às atuais:
os xamãs mais poderosos são localizados entre os antepassados, dos quais ainda
se tem memória. Afinal de contas, se no dizer dos Yaminawa, onde se manifesta
principalmente o poder xamânico é no ato de agressão, e este parece vir sistema-
ticamente do interior, não é de estranhar que os mais conceituados e admirados
xamãs pertençam ao âmbito interno. Portanto, a habilidade demonstrada por
xamãs não-yaminawa para curar pessoas atingidas pelo feitiço dos parentes não
deriva da atribuição de um poder comparativamente superior.
O que as narrativas anteriormente apresentadas estariam evidenciando não
seria tanto um processo de resignificação de elementos externos à luz da lógica
própria – isso também acontece, por exemplo, quando se incorporam elementos
do homem branco nos cantos xamânicos (Townsley 1988:152-153) –, como tem
sido reportado em várias etnografias (por exemplo, Brown 1988; Greene 1998),
mas a capacidade dos Yaminawa de interagir com lógicas outras diferentes da
própria; de aceitar possibilidades que, a princípio, não estão previstas, ou pelo
menos não são dominantes, no próprio sistema. O diálogo – se for possível defi-
nir assim, pelo menos neste âmbito, a interação com a sociedade envolvente – é
levado aqui até suas últimas consequências: não é feito unicamente um esforço
de compreensão e de tradução, mas de aceitar para si as possibilidades abertas
pelo outro. Poderíamos dizer que essa abertura à alteridade – a proverbial aber-
tura ameríndia ao exterior – é também, neste caso, uma abertura à cura.
Townsley, que fez trabalho de campo entre os Yaminawa na década de 1980
e estava especialmente preocupado com os processos de transformação nessa
sociedade desencadeados com o contato, observa que, diferentemente de outros
âmbitos da cultura yaminawa, o xamanismo conheceu nesse contexto um mo-
mento de florescimento e não de decadência como uma teoria da aculturação po-
deria esperar, e o autor atribuiu essa pujança ao fato de serem os xamãs aqueles
179
Livro Conhecimento e Cultura.indd 179 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
que desenvolvem a capacidade de estabelecer ligações com o exterior (Townsley
1988:151)���������������������������������������������������������������������
. Poderíamos dizer que esse sucesso não se deve à mera aptidão do xa-
manismo para estabelecer relações com o exterior; sua produtividade em termos
sociológicos e cosmológicos deriva, me parece, da sua capacidade para se inserir
num diálogo inteligível. É possível dimensionar melhor a particularidade do
xamanismo como material condutor desse diálogo se levarmos em conta que,
em outros contextos, diferentemente, a possibilidade de aceitar a lógica dos não
indígenas esbarra em muros aparentemente infranqueáveis. A ética que governa
o ato de dar – que se poderia resumir no imperativo de “dar o que é solicitado”
– me parece um dos exemplos mais claros, e se encontra no âmago da princi-
pal crítica moral dos Yaminawa aos não indígenas a que fiz alusão no início do
artigo. Contudo, que seja o xamanismo esse âmbito privilegiado de conexões
inteligíveis não deve surpreender se considerarmos que se trata de um produto
híbrido no qual as culturas indígenas fizeram o aporte fundamental.
180
Livro Conhecimento e Cultura.indd 180 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
Notas
Uma versão preliminar do presente texto foi apresentada no Painel coordenado por Esther Jean
Langdon e Maria Manuel Quintela no IV Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia.
Agradeço a Jean Langdon por seus comentários, que aproveitei para revisar o texto e apresentá-lo
novamente em um dos encontros organizados no marco do projeto PROCAD DAN/UNB–DEAN/
UFPR. Agradeço também aos participantes desse encontro por seus comentários, e a Marcela Coe-
lho de Souza pela leitura cuidadosa do texto e por suas sugestões.
1
Os dados nos quais se baseia o presente texto são fruto do trabalho de campo desenvolvido,
junto com Miguel Carid Naveira, em várias etapas entre 2000 e 2001, e posteriormente em 2003,
principalmente na aldeia yaminawa de Raya, localizada na cabeceira do rio Mapuya (Departamento
de Ucayali, Amazônia peruana). Ver Pérez Gil 2006 e Carid Naveira 2007.
2
Comunidad Nativa (CN) é a figura jurídica, instaurada pela Ley de Comunidades Nativas de
1974, que designa os territórios demarcados pelo governo peruano a favor das populações indígenas
e que corresponde, grosso modo, ao conceito de Terra Indígena no Brasil. Sobre a legislação e o pro-
cesso de demarcação de CNs na Amazônia peruana, ver Gray 1998.
3
Embora houvesse tentativas de estabelecer contato permanente em vários momentos ao longo
do século XX, tanto por parte dos Yaminawa como por parte de brancos e mestiços, elas foram infru-
tíferas, de forma que os Yaminawa se mantiveram desconectados da sociedade regional até o início
da década de 1960 (Pérez Gil 2009).
4
Esse termo se refere a um conjunto de plantas da família Cyperaceae amplamente utilizadas por
mestiços e vários grupos indígenas da Amazônia peruana e equatoriana para finalidades de tipo tera-
pêutico, preventivo, afrodisíaco e propiciatório, principalmente (Tournon, Caúper Pinedo e Urquia
Odicio 1998)����������������������������������������������������������������������������������
. Embora sejam usadas de forma generalizada tanto por grupos mestiços quanto indí-
genas, os Yaminawa associam os piri-piri aos Ashaninka, dado que, segundo explicam, eles foram os
primeiros a lhes ensinar seu uso.
5
Trata-se de termos usados de forma generalizada na Amazônia peruana. Os ícaros são rezas
cantadas usadas por xamãs e curandeiros; daño é uma categoria usada para se referir às doenças
causadas por feitiçaria; por sua vez, brujo é um termo usado para denominar pessoas de grande poder
xamânico, e que poderia se traduzir por “xamã” ou “pajé”.
6
Entre os autores que têm tratado aspectos daquilo que chamo xamanismo regional, podemos
citar Luna (1986, 1992) e Chaumeil (1988a, 1988b, 2000).
7
Cutipado é um termo de origem quíchua que designa certos tipos de doenças ou mal-estares
atribuídos ao ataque do espírito de algum animal, árvore ou objeto. Diferentemente, o malo-aire é
causado pelo espírito de um morto. Em ambos os casos, tratam-se de doenças que afligem, princi-
palmente, as crianças.
8
Disa é uma categoria que se refere a um conjunto muito amplo de plantas medicinais usadas
tradicional e corriqueiramente entre os Yaminawa e que, por algumas especificidades (lugar onde
são coletadas, formas de aplicação, linhas de transmissão de conhecimento, dietas exigidas) se dife-
renciam de outras categorias de plantas medicinais, incorporadas especialmente a partir do contato,
como são, por exemplo, os piri-piri. Sobre as diferentes categorias de plantas usadas em contextos de
agressão e de cura, ver (Carid Naveira & Pérez Gil 2002)
9
O Sheshea é um afluente do meio Ucayali cuja cabeceira converge com a do Huacapistea, onde
estava situada a aldeia de Paititi na época. As quatro comunidades estabelecidas no Sheshea são
Ashaninka, e existe provavelmente um tráfego entre as aldeias Ashaninka desse rio e as do Huaca-
pistea.
10
Termo quíchua que faz referência aos “brancos”.
11
Cabe destacar que, entre os Yaminawa, predomina de forma muito marcada uma endogamia
matrimonial: a preferência é por casar com alguém de dentro do grupo ou de algum grupo cultural
e linguisticamente próximo. Paralelamente, a atividade guerreira, que tinha no rapto de mulheres
uma das suas principais motivações, ocorria apenas com grupos próximos em termos culturais e lin-
guísticos. Não registramos, por exemplo, nenhum caso de uma mulher raptada que não fosse falante
de línguas pano muito similares ao yaminawa.
181
Livro Conhecimento e Cultura.indd 181 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
Referências
ALBERT, Bruce. 1985. Temps du sang, temps des cendres. Représentation de la mala-
die, système rituel et espace politique chez les Yanomami du sud-est (Ama-
zonie brésilienne). Doctorat (Thèse), Nanterre, Laboratoire d’ethnologie et
de sociologie comparative, Université de Paris X.
BROWN, Michael. 1988. “Shamanism and its discontents”. Medical Anthropology Quar-
terly, 2(2):102.
BUCHILLET, Dominique. 1990. “Los poderes del hablar. Terapia y agresión chamáni-
ca entre los indios Desana del Vaupés brasilero”. In: E. Basso & J. Sherzer
(eds.), Las culturas nativas a través de su discurso. Quito: Abya-Yala. pp. 319-
354.
CAMINO, Alejandro. 1977. “Trueque, correrías e intercambios entre los Quechuas an-
dinos y los Piro y Machiguenga de la Montaña peruana”. Amazonía peruana,
I(2):123-140.
CARID NAVEIRA, Miguel Alfredo. 2007. Yama yama: os sons da memória. Afetos e
parentesco entre os Yaminahua. Tese de Doutorado em Antropologia, Uni-
versidade Federal de Santa Catarina.
CARID NAVEIRA, Miguel Alfredo & Laura PÉREZ GIL. 2002. “Informe antrop-
ológico sobre los Yaminawa del río Mapuya (Alto Ucayali, Perú)”. Ateliers,
hors série:161-187.
CROCKER, Christopher. 1985. Vital Souls: Bororo Cosmology, Natural Symbolism, and
Shamanism. Tucson: University of Arizona Press.
CHAUMEIL, Jean-Pierre. 1988a. “Le Huambisa défenseur. La figure de l’indien dans
le chamanisme populaire (région d’ Iquitos, Pérou)”. Recherches amérindi-
ennes au Québec, XVIII(2-3):115-126.
______. 1988b. “Réseaux chamaniques contemporaines et relations interethniques
dans le haut Amazone (Pérou)”. In: C.E. Pinzón, R. Suárez & G. Garay (eds.),
Otra América en construcción. Amsterdam: 46 ICA.
______. 1999. “El Otro Salvaje: chamanismo y alteridad”. Amazonía peruana, 26:7-30.
______. 2000. “Introduction: chasse aux idoles et philosophie du contact”. In: D. Aigle,
B. Brac de la Perrière e J-P. Chaumeil (eds.), La politique des esprits. Nanterre:
Société d’ethnologie. pp. 151-164.
GOW, Peter. 1994. “River People: Shamanism and History in Western Amazonia”. In:
N. Thomas e C. Humphrey (eds.), Shamanism, History & the State. Ann Ar-
bor: University of Michigan Press. pp. 99-113.
______. 2001. An Amazonian Myth and its History. Oxford/New York: Oxford University
Press.
GRAY, Andrew. 1997. The Last Shaman.Change in an Amazonian Community. Oxford:
Berghahn Books.
182
Livro Conhecimento e Cultura.indd 182 26/4/2011 12:20:51
Laura Pérez Gil
______. 1998. “Demarcando desarrollo”. In: P.G. Hierro, S. Hvalkof & A. Gray (eds.),
Liberación y derechos territoriales en Ucayali - Perú, Documento IWGIA, 24. Co-
penhague: IWGIA.
GREENE, Sharon. 1998. “The shaman’s needle: development, shamanic agency, and
intermedicality in Aguaruna Lands, Peru”. American Ethnologist, 25(4):634-
658.
ILLIUS, Bruno. 1992. “The concept of nihue among the Shipibo-Conibo of eastern
Peru”, In: E.J. Langdon & G. Baer (eds.). Portals of Power. Shamanism in South
America. Albuquerque: University of New Mexico Press.
LUNA, Luis Eduardo. 1986. Vegetalismo. Shamanism among the Mestizo Population of the
Peruvian Amazon. Stockholm Studies in Comparative Religion, 27. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell International.
______. 1992. “Ícaros: Magic Melodies among de Mestizo Shamans of the Peruvian
Amazon”. In: E.J. Langdon & G. Baer (eds.), Portals of Power. Shamanism in
South America. Albuquerque: University of New Mexico Press. pp. 231-253.
OROBITG CANAL, Gemma. 1998. Les Pumé et leurs rêves. Amsterdam: Éd. des Ar-
chives Contemporaines.
PÉREZ GIL, Laura. 2006. Metamorfoses Yaminawa: Xamanismo y socialidade na
Amazônia Peruana. Tese de Doutorado em Antropologia, Universidade Fed-
eral de Santa Catarina.
______. 2008. “As Teorias Yaminawa sobre Saúde e Doença no Contexto do Diálogo
Intercultural”. Trabalho apresentado em II Seminário de Etnologia e Indigen-
ismo: O Campo da Saúde Indígena no Brasil em perspectiva.
______. 2009. “Perspectivas indígenas sobre los mestizos: el caso Yaminawa (Amazonia
peruana)”. Trabalho apresentado na VIII Reunión de Antropología del Mer-
cosur.
POLLOCK, Donald. 1992. “Culina shamanism. Gender, Power and Knowledge”. In:
E.J. Langdon & G. Baer (eds.), Portals of Power. Shamanism in South America.
Albuquerque: University of New Mexico Press. pp. 25-40.
SANTOS GRANERO, Fernando. 1992. Etnohistoria de la Alta Amazonia (Siglos XV-
XVIII). Colección 500 años, 46. Quito: Abya-yala.
SEEGER, Anthony. 1981. Nature and society in central Brasil. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press.
SHEPARD, Glenn H. 1999. Pharmacognosy and the Senses in Two Amazonian Societ-
ies. PhD Thesis in Medical Anthropology, University of California at Berke-
ley.
TOURNON, Jacques, Caúper Pinedo, Samuel & Urquia Odicio, Rafael. 1998. “Los ‘pi-
ri-piri’, plantas paradójicas de la Amazonia”. Anthropologica, 16:215-240.
TOWNSLEY, Graham. 1988. Ideas of order and patterns of change in Yaminahua soci-
ety. PhD. Thesis, Cambridge University.
183
Livro Conhecimento e Cultura.indd 183 26/4/2011 12:20:51
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino
______. 1994. “Los Yaminahua”. In: F.S. Granero & F. Barclay (eds.), Guía Etnográfica de
la Alta Amazonía, vol. 2. Quito: FLACSO/IFEA.
ZARZAR, Alonso. 1983. “Intercambio con el enemigo; etnohistoria de las relaciones
intertribales en el Bajo Urubamba y Alto Ucayali”, In: A. Zarzar & L. Román
(eds.), Relaciones intertribales en el Bajo Urubamba y Alto Ucayali. Lima: CIPA.
pp. 11-86.
184
Livro Conhecimento e Cultura.indd 184 26/4/2011 12:20:51
Beber e brincar:
notas sobre o conhecimento
despertado pela embriaguez
Nicole Soares Pinto
Vê-se aparecer uma função por assim dizer catártica do mito:
ele libera em sua narrativa uma paixão dos índios, a obsessão secreta
de rir daquilo que se teme. Ele desvaloriza no plano da linguagem
aquilo que não seria possível na realidade e, revelando no riso um
equivalente da morte, ensina-nos que, entre os índios, o ridículo mata.
(Clastres, De que riem os índios?)
Uma breve descrição das chichadas
A chicha, tuerô na língua Wajuru, ou tuerô jati, quer dizer, chicha braba, azeda,
fermentada, é feita atualmente em sua quantidade majoritária de macaxeira, mas
conta-se que no passado se fazia muita chicha de milho, de cará e de amendoim.1
Não é que essas não sejam mais produzidas; de fato, em algumas casas, elas têm
mesmo um valor muito especial: são chichas que remetem ao passado na maloca.
Seu consumo, no entanto, mesmo que fermentadas, é muito mais doméstico que
o da chicha de macaxeira, esta sim dando ensejo a grandes reuniões.
A chicha de macaxeira fermentada é consumida coletivamente em duas oca-
siões: ou como pagamento de um trabalho coletivo para um grupo doméstico
(abertura, coivara, plantação ou limpeza de roças, limpeza dos caminhos e terrei-
ros, colocação do telhado) ou oferecida em festas: aniversários (dos mais jovens),
casamentos, datas comemorativas (Natal, Ano Novo etc.) sem que necessaria-
mente aqueles que a consomem tenham trabalhado para o grupo doméstico que
a produziu. Quanto maior for o grau de fermentação mais pessoas se reunirão
ao redor da chicha; quanto menor, mais doméstico será o seu consumo. O ideal
é que todas as chichas produzidas fiquem brabas e o “círculo” de consumo vai
185
Livro Conhecimento e Cultura.indd 185 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
aumentando na medida em que aumenta seu teor alcoólico. As mulheres tra-
balham intensamente em sua produção: não é incomum que uma família beba
chicha fermentada de duas a três vezes por semana, ou que ofereça uma chichada
neste mesmo período de tempo. Também é recorrente que casas diversas estejam
oferecendo chicha num mesmo dia.
Na aldeia Ricardo Franco,2 a proximidade das casas permite a todos verem
ou saberem em qual casa as mulheres estão produzindo a chicha (moendo, carre-
gando água etc.). Ali, cada casa tem o seu terreiro, e é ele que delimita o espaço de
convivência da família. Ele marca uma descontinuidade entre o mato que cresce
ao redor e a casa. As casas, dispostas em fileiras que acompanham o curso do rio,
desde sua margem, são bastante próximas umas das outras. Mas a proximidade é
maior entre casas de uma mesma fileira (em menos de dez passos pode-se chegar
à porta ao lado), do que entre casas de fileiras diferentes. Estas fileiras de casas,
dispostas num eixo horizontal, dispõem também caminhos horizontais, “plena-
mente transitáveis”. São caminhos públicos mais largos. Transitar por ali é um
meio seguro de a pessoa tornar visível seu deslocamento. Entre uma fileira e
outra, entretanto, existem espaços cujo mato cresce em torno dos caminhos. Um
eixo vertical, entre fileiras de casas, dispõe os caminhos que as pessoas utilizam
para irem até o rio ou saírem para a mata e a roça (distantes dali), os que elas
andam para se visitarem, e os que elas não andam para se evitarem – caminhos
mais privados, pois passam por dentre os terreiros das casas.
Quiçá a frase que eu mais escutei tenha sido “tem chicha lá no fulano”. E
embora o oferecimento de uma chichada seja algo de amplo conhecimento dos
moradores da aldeia, bem como o grau de fermentação da chicha, ainda assim,
ninguém iria à casa que a oferece se, na manhã do dia em que será bebida, o ma-
rido da produtora não vá de casa em casa convidando os participantes. Convida-
se para beber na casa do grupo doméstico que a produziu, e as pessoas se deslo-
cam até o local. Uma exceção importante à etiqueta de não se comparecer onde
não se foi convidado, conforme pude notar, se dá nas chichadas oferecidas no
Chapéu de Palha que fica entre as casas Djeoromitxi e onde se bebe normalmen-
te as chichas produzidas nestas casas. Ali, grandes festas acontecem e é comum
que muitos cheguem, vindo de chichadas realizadas em suas casas ou em outras.
Cocho é o nome dado ao recipiente de madeira talhada suspenso sobre for-
quilhas onde a chicha é fermentada e armazenada. É dele que as pessoas irão
se servir. Não é incomum que galões de plástico de todos os tamanhos também
sejam usados para isso. Nestes casos, referem-se aos galões de acordo com sua
capacidade de armazenamento: “lá em casa tem um cocho e mais dois 100 litros,
cheinhos de chicha para [a gente] secar”, por exemplo, é um modo de convi-
dar alguém para ir beber chicha na casa daquele que anuncia suas reservas. E
186
Livro Conhecimento e Cultura.indd 186 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
ninguém as anuncia para alguém com quem não pretenda beber junto. A chi-
cha, assim, não roda a aldeia senão quando é levada à casa dos velhos que têm
dificuldades para andar. Uma casa com um cocho cheio de chicha fermentada é
mesmo um ponto “fixo” de referência, uma espécie de centro, e são as pessoas
que devem se deslocar até ele. O ponto de referência se mantém pelo menos até
que a chicha acabe, quando é a vez de outro tornar-se saliente neste sentido.
As chichadas oferecidas como pagamento de trabalho coletivo ou numa festa
comemorativa são promovidas seja por homens, seja por mulheres, no primeiro
caso; e pelo grupo doméstico como um todo, sem a divisão por gênero, no se-
gundo. Assim, na organização do trabalho, se este envolverá só homens (como
derrubada de mata, colocação de telhado, limpeza dos caminhos e terreiros) diz-
-se que a chicha é dos homens, se é um trabalho que envolva as mulheres (mais
comumente limpeza de roça e plantação de manivas) diz-se que a chicha é das
mulheres. Neste último caso, é a dona da chicha que irá à casa das outras mulhe-
res para convidá-las. Tanto homens quanto mulheres, sejam eles jovens recém-
-casados ou pessoas mais “maduras” (aqueles que já são avós ou bisavós, mas
que não são tão velhos que não trabalhem mais) podem organizar um trabalho
coletivo. Desta forma, há uma grande circulação da função de organizador e
trabalhador, produtor e consumidor, em que a chicha aparece como uma espécie
de dádiva por meio da qual as pessoas se comunicam e se encontram, cada vez
ocupando uma posição diferente. Fica claro, porém, que nesta circulação por
assim dizer simétrica da função de organizador, são os homens mais velhos os
que tendem a desempenhar mais facilmente esta função. Quanto mais filhas sol-
teiras um homem tiver para auxiliar sua esposa na preparação da bebida, quanto
mais genros ou filhos com quem possa contar para o trabalho ele puder reunir,
mais apto estará a ocupar tal posição, pois um cocho de chicha sempre cheio tem
o poder de reunir muitas pessoas para o trabalho.
O desenrolar das duas ocasiões em que se bebe chicha com muitas pessoas,
como pagamento de trabalho coletivo ou numa festa comemorativa, têm elemen-
tos comuns e outros díspares. Seja numa festa, seja numa chichada para trabalho
de homens ou mulheres, é a elas que normalmente cabe o serviço da chicha, e da
preparação e distribuição de alimentos. Enquanto numa festa não pode faltar a
dança, as chichadas feitas por conta do trabalho não necessariamente evoluem
para isso. Na ocasião de trabalho, é comum que as pessoas cheguem bem cedo,
tomem um pouco da chicha e sigam o organizador até o local do trabalho, onde
ele dará as instruções. Voltam normalmente antes de o sol estar a pino, e pros-
seguem bebendo chicha pela tarde e, às vezes, à noite. As festas se iniciam um
pouco mais tarde, quase sempre no crepúsculo, e o ideal é que prossigam noite
adentro, até quase o amanhecer.
187
Livro Conhecimento e Cultura.indd 187 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
Nas duas ocasiões, é oferecida comida pelo grupo doméstico onde a chicha
foi produzida. No primeiro caso, entretanto, só come quem trabalhou; no segun-
do, a todos os convidados é oferecido o alimento. Por sua vez, quando o alimento
é visto como pagamento de um trabalho, o mais comum é que se ofereça pei-
xe (pescado pelo(s) filho(s) homens daqueles que organizaram, mas moqueado
pelas mulheres da casa), acompanhado de macaxeira cozida. Nesta ocasião, os
trabalhadores se servem, comem com as mãos todos de um mesmo prato, dei-
xado ao chão (normalmente no centro onde estão reunidos). Se não há trabalho
envolvido, somente as velhas e as mulheres com filhos bastante pequenos eu
vi comerem nestas ocasiões, enquanto as outras permanecem unicamente be-
bendo chicha. Se é um trabalho organizado pelas mulheres, ocasião mais rara,
a situação se inverte. Mas mesmo assim homens com filhos pequenos não se
alimentam.
Na ocasião da festa, o ideal é que se tenha carne de porco, ou tracajá/zé prego,
ou tartaruga (carne de boi também, mas isso só se a ocasião for muito especial,
como no fim do ano), e seja acompanhada por arroz ou macarrão. As pessoas são
servidas em pratos e talheres individuais pelas mulheres do grupo doméstico
que está oferecendo a festa. Elas devem cuidar para que a quantidade de comi-
da dê para todos, para que os convidados bebam a sua chicha em fartos goles,
fiquem assim satisfeitos e não “saiam por aí falando mal”. Nessas festas, as pes-
soas aparecem com suas melhores roupas, os homens vestem suas camisas e as
mulheres a saia e a blusa mais nova que tiverem.
Depois que são convidados, o que normalmente é feito pelo marido ou por
um filho homem daquela que coordenou a produção de chicha na sua casa, os
casais vão juntos com seus filhos pequenos à casa onde está sendo oferecida a
bebida. Chegado ao terreiro da casa, onde de praxe se bebe chicha, invariavel-
mente deve-se proferir um cumprimento, o que depende da hora do dia: diz-
-se “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”. Imediatamente o casal se separa:
a esposa junta-se às outras mulheres e o esposo aos outros homens já presen-
tes. Ninguém se senta antes que o dono da chicha lhe dirija a palavra, e esta
de fato é a sua primeira frase para aqueles que chegaram: “senta, fulano!”. Se
não lhe for oferecida uma cuiada de chicha logo depois, este é certamente um
bom motivo, talvez o principal, para que não permaneça no local. Oferecida a
primeira cuiada, continua-se a beber: outro bom motivo para permanecer no
local até que o cocho tenha “secado”. Assim que isso acontece, deve-se pro-
ceder imediatamente à saída, uma regra de etiqueta muitas vezes apontada a
mim e que parece ter o objetivo de evitar brigas. Enquanto se toma chicha
estão todos alegres e risonhos, quando não se tem mais a bebida este estado
de ânimo pode imediatamente se inverter. Na saída, normalmente feita pelo
188
Livro Conhecimento e Cultura.indd 188 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
casal, cada um dirige-se ao(s) dono(s) da casa dizendo “já vou”, ao que este
responde “está bom”. Vai-se para outro local onde se está oferecendo chicha – e
todos sabem onde – ou, caso se esteja bêbado demais, segue-se direto para sua
própria casa.3 Durante as chichadas, as pessoas comumente se dispõem/sentam
em círculo. O cocho ou os galões que armazenam a chicha não ficam ao centro,
mas encostados numa parede ou algo que o valha, interceptando este círculo e
não raramente dividindo-o em uma parte feminina e outra masculina. A distri-
buição, a partir dos recipientes, é feita pelos donos da casa ou por seus filhos,
mais comumente as filhas mulheres, mas pode acontecer que um filho homem
também sirva os convidados. Reserva-se uma cuia (ou caneca) para pegar a chi-
cha no cocho e depois despejá-la na outra que será entregue. É incomum que
alguém peça abertamente para ser servido; as pessoas chegam, sentam (depois
de instados a fazê-lo) e esperam a primeira cuiada.
Em cada rodada, ou assim que o “cocho é aberto”, aquele que está encarrega-
do de servir os demais deve primeiro servir-se de uma cuiada para depois passar
a servir os outros presentes. Em grandes chichadas, é comum que a dona da casa
entregue uma cabaça grande4 e duas cuias para os velhos que ali estão. Esses
velhos, então, servem aqueles que estão ao seu redor, observando a etiqueta de
se servirem primeiro para depois servirem os outros. Aquele que está servindo a
chicha observa a disposição daqueles que estão sentados e os serve um em segui-
da do outro, até que a embriaguez vá subindo de nível e uma ordem não se faça
mais necessária. Na primeira cuiada, a quantidade de chicha servida é sempre
maior e é de bom tom que se tome num gole só. A etiqueta não estará completa
se depois desse belo gole não se franzir o cenho soltando uma espécie de grito,
numa demonstração de que a chicha está boa, quer dizer, azeda, ou seja, embria-
gante. É bonito que se faça isso depois de beber a primeira cuiada num gole só,
mas fica feio se o movimento de secar a cuia de uma vez se repetir em demasia.
Deve-se saber beber.
Seguindo com o manual de etiquetas, é necessário dizer que de maneira al-
guma se recusa uma cuiada oferecida. Caso não se queira beber vai-se embora
ou nem se comparece ao local. “Secar o cocho”, ou seja, beber toda a quantidade
de chicha disponível parece ser uma obrigação moral para os que ali estão. E
isso implica, não raramente, beber coletivamente (20 ou 30 pessoas) mais de
300 litros de cerveja de macaxeira (nas festas maiores que ocorriam no Chapéu
de Palha essa quantidade podia dobrar). Aqueles já embriagados ou de “barriga
muito cheia”, mas que desejam continuar a beber, normalmente induzem o vô-
mito para que consigam prosseguir em sua empresa. Não é comum que se vomi-
te no mesmo local onde as pessoas estão bebendo, por certo é mais adequado que
se faça isso um pouco mais afastado. Franz Caspar (1953) já registrara o vômito
189
Livro Conhecimento e Cultura.indd 189 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
coletivo entre os Tupari nas ocasiões de suas festas regadas à bebida fermentada.
Nas festas em que participei, raramente pude presenciar mais de dois homens
vomitando um ao lado do outro, mas quando isso aconteceu percebi que se tinha
reservado um local específico para tal, mais ou menos longe dos olhos daqueles
que estavam se divertindo na festa.
Enquanto numa festa não pode faltar a dança (ao som frenético dos forrós da
região Norte do Brasil, entrecortados pelo som compassado das músicas maku-
rap, entoadas por velhos bêbados), as chichadas feitas por conta do trabalho não
necessariamente evoluem para isso. O momento da dança é aquele onde a efusi-
vidade é maior. Dança-se ao molde regional, em casal, e à mulher cabe esperar
que o homem venha tirá-la para dançar. Jamais se recusa o pedido de dança de
um homem, pois seria uma afronta demasiado séria e motivo de tristeza para
aquele que teve seu pedido rejeitado. Ainda que marido e esposa dancem even-
tualmente juntos, a graça maior está na troca dos casais.
Da fala inicial um pouco recatada e talvez até tímida, não sobrou nada.
Depois de muita dança observam-se as jovens mães com seus filhos no colo qua-
se caindo, o olhar perdido. Mulheres podem estar com o olhar marejado, lem-
brando de seus parentes mortos, sentindo saudades. Outros falam demasiado
alto, e riem, riem, riem. As velhas também gritam com seus netos, ou dão muita
risada com suas cunhadas. Os velhos ao chão, deitados, dormindo. Também as
crianças dançam em meio aos casais. Já não existe mais ordem na disposição das
pessoas e na distribuição da chicha e o cocho é visitado por quem quer beber.
Formam-se grupinhos ao redor do terreiro central, cada um conversando coisas
diferentes, ou simplesmente bebendo e olhando os outros dançarem. As mulhe-
res já saem muito mais juntas para atender a necessidade de urinar. Os jovens
vêm e vão, se escondem no escuro para namorar.
Neste estágio, é difícil que alguém chame a atenção de outros por alguma coi-
sa. Não existe mais uma conversa “pública”, nem uma atuação “pública”. Cada
um está compenetrado em dançar e beber, beber e dançar. Ou lembrar sozinho
de alguém distante. “Nicole está bêbada?” Era invariavelmente o modo como
as pessoas se aproximavam de mim. Ou, pelo reverso, “estou muito bêbada(o),
Nicole”. Assim se começa a “conversar” neste estágio da festa. Uma ou duas per-
guntas posteriores, risadas e, caso esteja um ouvido disponível, longas lamenta-
ções ou causos. Embriagado, um homem lamentava-se pela morte do filho e me
contava que seu pai, falecido xamã, queria “levá-lo” (para o céu), mas acabou
levando seu irmão, falecido há não muito tempo. Era embriagado também que
ele me contava ter medo de morrer logo, pois achava que era isso o que iria acon-
tecer. Também esse foi o tema da primeira conversa que eu tive com sua esposa:
entre cuiadas de chicha ela me contou que seu filho morrera há pouco. Não raro,
190
Livro Conhecimento e Cultura.indd 190 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
nas chichadas, uma de minhas interlocutoras vinha me dizer sobre seu desejo
de ir embora comigo, pois a morte de seu filho, que estava pra “completar ano”,
ainda a deixava demasiado triste. Ela não aguentava lavar roupa no mesmo porto
em que ele tinha falecido, era “assim estar vendo ele”. Outras meninas também
manifestavam sua vontade de se distanciar dali, vinham me perguntar se acaso
eu não poderia levá-las para minha cidade. Uma recém-viúva, depois que soube
que meu pai era separado de minha mãe, perguntou-me se eu não poderia levá-
-la comigo, pois assim ela poderia casar com ele. Disse-me que quer mesmo um
marido eré (branco), pois ela não gosta de comer a mesma coisa todo dia. “Eu
gosto de tudo variado. Eu quero um marido eré. Eu gosto mesmo é de comer
mortadela!”
***
O que está em jogo na vontade de se distanciar, de viver na cidade ou na
pressuposição antecipada da morte? Escreve Lima (2005: 354) que o sentido que
a embriaguez assume no sistema yudjá poder fazer-nos entender muito sobre a
“descontinuidade máxima” proposta por Lévi-Strauss na análise dos venenos
nas Mitológicas. A definição do autor se refere a algo “como uma união” de duas
categorias “que determina sua disjunção, já que uma diz respeito à quantidade
contínua e a outra, à quantidade discreta” (Lévi-Strauss 1991:267 apud Lima
2005:354). Para Lima, neste auxílio recorre-se com maior precisão ao conceito
de ritual,“que situa a este para além da socialidade doméstica, ou, [...], para um
além da vida que é ao mesmo tempo menos real do que esta e potencialmente
relacionado ao ponto de vista de Outrem” (Lima 2005:354-5). Como entender o
sentido do que se estende para além da vida e que traz, na letra indígena, o signo
indelével do “brincar”? O que dizem os Wajuru e seus povos vizinhos, em suas
brincadeiras, sobre a possibilidade de se ocupar uma posição outra?
Até onde entendo, as chichadas apresentam-se como um microcosmo da di-
nâmica social na T.I. Rio Guaporé. Tal microcosmo, entretanto, não apresenta
um caráter de modelo da vida cotidiana e caracterizada pela socialidade domés-
tica, mas, em sentido oposto, esclarece a própria possibilidade desta última ao
enfrentá-la, desafia e rivaliza seus sentidos. Ao mesmo tempo, não se distingue
dela por uma temporalidade de amplo espectro temporal, como seria o caso dos
grandes ciclos sazonais ou dos ritos marcados por sua aguda extraordinariedade.
Teríamos, neste sentido, espaços rituais produzidos ininterruptamente e em
velocidade vertiginosa, onde vertem sentidos que se esboçam em contraposição
à socialidade doméstica e à sua geometria social cotidiana. Detenhamo-nos um
pouco sobre esta última. Por meio da ideia de fluxo de “sangue” paterno são
191
Livro Conhecimento e Cultura.indd 191 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
operados aqui recortes no campo do parentesco, estabelecendo uma geometria
vertical discriminadora de relações agnáticas e uterinas. O modo agnático de
recrutamento grupal se impõe na composição da socialidade doméstica: o espa-
ço dos consanguíneos de mesmo grupo, de um ponto de vista masculino, e da
afinidade de grupo, do ponto de vista feminino.
Os afluentes da margem direita do médio rio Guaporé abrigaram, durante
tempos imemoriais, grupos indígenas Tupi-Tupari e de língua isolada Jaboti.
Sempre mencionados em conjunto seja pela historiografia, seja pela etnologia,
tais grupos ora foram definidos como parte de uma área cultural (Galvão 1960),
ora como um complexo cultural (Maldi 1991). O consumo de chicha fermentada
em cerimônias, segundo Maldi, merece uma atenção especial: aliada e justaposta
aos casamentos interétnicos, configura-se como principal meio de integração
entre esses grupos. Adverte Maldi que sua importância só pode ser devidamente
observada quando iluminada pela segmentação territorial virilocal, proporcio-
nada pela definição e nominação grupal em linha paterna: a existência do que
a autora nomeia de “subgrupos” para cada povo, territorialmente definidos e
nominados, cuja origem remonta às épocas míticas.
As disposições do momento atual chamam atenção por suas continuidades
e rupturas com o tempo passado esboçado por Maldi. No passado, com a exis-
tência de subgrupos territorializados claramente definidos, isto é, separados,
distanciados, a distância entre as malocas (como são referidas as habitações do
tempo antigo) era percorrida pela disposição de beber a chicha de parentes outros
produzida no âmbito desses segmentos territoriais: para encontrar os outros
grupos indígenas com vistas à troca de mulheres, artefatos, e festejar tal encon-
tro com muita chicha e música, e por vezes, com a guerra entre povos vizinhos.
Atualmente o adensamento espacial das relações próprio do alocamento de gru-
pos diversos em uma mesma terra indígena,5 produz uma espacialidade em que
a unidade de produção da chicha é a casa, mas cuja composição territorial, por
meio da proximidade das casas de irmãos e de suas famílias extensas (definidas
pela virilocalidade do casamento entre grupos étnicos distintos), condensa as
linhas agnáticas definidoras do pertencimento grupal (aquele que indica os pa-
rentes próprios e que projeta os cônjuges possíveis para fora dele). Caso em que
a existência de subgrupos é inoperante para maioria dos povos ali residentes,
sendo a única exceção mais vistosa o caso dos Makurap, que são, talvez por conta
disso, aqueles que podem se casar com cônjuges de subgrupos Makurap distin-
tos e também mais facilmente, no caso dos homens, reunir genros ao seu redor.
As habitações atuais são casas, construídas ao molde regional, onde habi-
ta a família conjugal, ou o casal com seus filhos e filhas solteiros e os filhos
recém-casados que trouxeram a esposa para junto de seu grupo doméstico. Até
192
Livro Conhecimento e Cultura.indd 192 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
que o novo casal construa sua casa contiguamente à casa do pai do marido.
Na sociabilidade doméstica (caracterizada pela partilha de alimentos, carinho
e cuidados entre parentes de casas diversas e contíguas), os homens não con-
vivem com seus genros/sogros ou cunhados. Ao mesmo tempo, supõem-se a
afinidade de mesmo sexo para o ponto de vista feminino (o que é acionado
pelas mulheres na produção da bebida fermentada, onde a sogra/mãe orienta
os trabalhos de sua nora e filha). Os homens de mesmo grupo habitam casas
contíguas e as mulheres estão em contiguidade com mulheres de outros grupos.
Assim, mesmo com a proximidade das casas é possível visualizar “setores re-
sidenciais” distinguidos pela composição grupal/étnica. A separação das tribos
é concebida como um movimento primordial, empreendido sobre a terra pela
primeira humanidade, depois que a morte passou a existir. A multiplicidade
de povos/coletivos (“subgrupos”) encobertos pelos etnônimos, assim como a
possibilidade de enunciação desses, é produzida por distinções (linguísticas e
territoriais) concebidas como primordiais. Tais distinções são ancoradas nas
narrativas de estrutura mitológica que versam sobre o começo dos tempos. O
registro mitológico Wajuru, com temas bastante similares aos compartilhados
por diversos povos vizinhos, aciona e suporta tais diferenças: depois que os
humanos, descobertos pelos irmãos demiurgos, saíram de debaixo da terra, dois
eventos, que podem ou não serem descritos conjuntamente por um narrador,
marcam as descontinuidades sociológicas. O primeiro, quando todos estavam
sentados, o irmão mais novo, aquele mais teimoso, começou a falar diversas
línguas e foi ensinando a cada um uma língua diferente, inclusive a língua dos
brancos – localizados no início dos tempos. Passou-se então uma grande con-
fusão e desentendimento entre eles. O segundo evento deu-se depois que este
irmão (o mais novo) pensou na morte e ela começou a existir. A emergência
da morte marca o momento em que as pessoas começam a andar sobre a terra,
orientadas pelos irmãos descobridores. A partir daí cada grupo ficou em um
determinado lugar, todos se territorializaram. Desde então essas pessoas não
mais se misturaram, formaram tribos.
Os movimentos primordiais marcam uma distância que é lembrada como
aquela que existia nos tempos da maloca. Neste tempo, diz-se, as tribos se visi-
tavam para tomar chicha, quando tinham a oportunidade de ver seus parentes
outros. Ao passo que hoje estão eles todos misturados. Lembram ainda que na ma-
loca todas as mulheres faziam a chicha juntas. Assim, como as visitas se davam
entre malocas, era a chicha produzida pela totalidade das mulheres do local o
que fazia a mediação entre os assentamentos. No contexto atual, a chicha é pro-
duzida nas casas, e são as pessoas das outras casas que se deslocam até a casa de
alguém, o que já é a antecipação de uma distância (sociológica) a ser percorrida.
193
Livro Conhecimento e Cultura.indd 193 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
Para isso, porém, é necessário que antes o homem da casa rode a aldeia convi-
dando seus parentes para tal.
São eles então que se deslocam de uma casa para outra, que são concebidas
como local dos homens, cujos filhos são do mesmo grupo que ele. Nesse desloca-
mento, porém, eles irão até os outros homens, convidando-os. Usam principal-
mente se apoiar nas relações de parentesco outras (tal como se fazia no tempo da
maloca), aquelas estabelecidas por intermédio de sua mãe ou de uma ascendente
feminina. Chamarão seus manos, forma de tratamento que é, sobretudo, utiliza-
da entre irmãos classificatórios de grupos distintos6 e que tem, na chichada, o
principal palco para se manifestarem. Passemos então aos modos de socialidade
(in)vertidos pela bebida fermentada.
Riso e embriaguez
É, pois, na socialidade encenada nas chichadas que o mundo apresenta seus
semitons, seus matizes e suas colorações, desfazendo ou suspendendo certas li-
nhas discretas próprias à socialidade doméstica. Por meio da chicha diferentes
pessoas entram em comunicação, os domínios horizontalizam-se, “afinizam-se”.
Regados pela cerveja, os intervalos, como que embriagados, são colocados sob
suspeita, sejam aqueles engendrados pelas conexões de sangue, sejam os próprios
intervalos de definição do humano. De um lado, se nos perguntarmos “do que é
feita a chicha?” seremos conduzidos a noções de humanidade e personitude que
se estendem para além da divisão ontológica moderna entre natureza e cultura
enquanto domínios estanques e incomunicáveis. Isto porque a macaxeira é fruto
de uma série de transformações a partir do corpo de um ser mitológico. Assim,
reciprocamente, plantar maniva pode ser traduzido como “enterrar gente”, afir-
mações que somente podem ser “ditas” se acompanhadas de uma boa risada.7
Antecipações que pretendo descrever.
***
A socialidade doméstica, do ponto de vista masculino, é marcada pela con-
sanguinidade agnática, e pelas “fronteiras” territoriais/étnicas, superpostas e
vinculadas a ela. É igualmente verdadeiro que a socialidade doméstica caracteri-
za-se pela (co)afinidade de mesmo sexo do ponto de vista feminino, onde as mu-
lheres se comunicam por meio dos homens com mulheres pertencentes a outros
grupos. Por uma certa multiplicidade interna ao corpo masculino, produzido
pela memória dos casamentos passados (os homens, ao contrário das mulheres,
quando questionados por suas escolhas matrimoniais, dizem serem formados
por diversos “sangues” e incluem neste cálculo as relações ascendentes uterinas)
194
Livro Conhecimento e Cultura.indd 194 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
e pelo modo de recrutamento agnático dos povos, aos homens cabe um domínio
organizado primordialmente sobre um eixo vertical. Enquanto que às mulheres,
por se espalharem, “como as raízes de batatas”, são os pontos de comunicação
num plano horizontal, sem solução de continuidade, mas fluindo entre os seg-
mentos territoriais. Elas apresentam uma geometria variável, diversa daquela
composta pelos homens, que tendem a se aglutinar, condensando as linhas de
composição.
Regadas pela chicha fermentada, estas categorizações próprias ao campo do-
méstico sofrem certa desestabilização. Nas chichadas, às mulheres cabe clari-
ficar as condições da existência masculina: é por meio delas que os homens se
comunicam, seja pelo parentesco uterino, os parentes outros (manos), seja pelas
relações de afinidade de mesmo sexo. É somente nas chichadas que este paren-
tesco outro (uterino) emerge como a dobradiça capaz de comunicar os diferentes
povos, mas tão somente para remoldá-los. Lembro-me de um dia em que meu
anfitrião havia se preparado para ir caçar, mas não pôde recusar o convite de seu
mano, um homem Djeoromitxi muito mais velho que ele, cuja esposa durante
a chichada lembrava a todo o tempo serem eles manos entre si. Assim também
são esses manos que bebem próximos um do outro, estão de fato juntos numa
chichada. É também por meio da socialidade proporcionada pela cerveja que a
afinidade masculina de mesmo sexo tem o seu lugar. Foram nestas ocasiões que
vi os homens se relacionando publicamente com seus afins, referindo-se a eles
como sogros ou cunhados (em português).
Ao passo que as relações consanguíneas de mesmo sexo, do ponto de vista
feminino, caem numa espécie de limbo, podendo ser reclassificadas segundo
relações de afinidade engendradas seja por Ego ou por uma descendente sua: na
chichada, o parentesco consanguíneo pode ser abordado pela afinidade de mes-
mo sexo do ponto de vista feminino, embora o contrário não aconteça.
É também nas chichadas, pelo encontro com os parentes próprios com quem
não convivem na socialidade doméstica, que elas têm a possibilidade de expres-
sar suas relações agnáticas de uma maneira respeitosa. Diferentemente das re-
lações de afinidade que são expressas quase sempre em português, seja por mu-
lheres ou por homens, nestes casos, as mulheres costumam se utilizar do termo
de parentesco na língua materna. Ao mesmo tempo, uma mulher tem a possibi-
lidade de brincar (zombar, se a categoria etária permitir) com um consanguíneo
agnático seu, pertencente, portanto, ao mesmo grupo que ela. Tal brincadeira
pode mesmo extrapolar qualquer limite respeitoso. Numa chichada, uma mu-
lher Wajuru “brincava” com um homem de seu mesmo grupo étnico, dizendo
que “ele era onça, sovinava sua comida, comendo sozinho. Comia muito, gostava
de cabeça de porco e por isso estava gordo demais!” Ele escutava em silêncio as
195
Livro Conhecimento e Cultura.indd 195 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
provocações de sua filha classificatória (que, no entanto, era já avó, assim como
ele), realçadas pelas risadas de todos os presentes. Estaria ela tratando seu con-
sanguíneo agnático como um virá (cônjuge preferencial)?8 Mas até que ponto
essa intrusão da afinidade na consanguinidade pode ser levada a cabo sem que a
outra parte se machuque?
Existem modos particularmente bons de comportamento nestas ocasiões.
Não recusar as cuiadas é bastante importante, mas saber beber, ficar bêbado sem
que com isso se “aperreie” os outros, é um dos modos perseguidos de boa socia-
bilidade. Da mesma forma, dançar é “brincar”. A brincadeira (entre conversas
e danças) é mesmo o modo relacional das chichadas, seja porque é ali que os
virás/oguaikup (companheiros) têm a oportunidade de expressar sua proximida-
de, suas relações, seja porque as atitudes entre certos parentes encontram neste
contexto uma espécie de relaxamento.
As metáforas sexuais abundam nos contextos das chichadas e são parte das
brincadeiras que podem ocorrer entre certos parentes. Isto porque, julgo, são
principalmente as relações de afinidade de sexo oposto que estão em jogo numa
chichada: “Não é você irmão do meu marido? Não é você meu marido?” Gritava
uma mulher a um cunhado seu (irmão classificatório de seu marido), enquanto
tentava arrastar o bêbado para dançar com ela. A brincadeira que envolve a dan-
ça com troca de casais talvez performe as possibilidades anteriormente abertas,
mas que não foram atualizadas e “excluídas” pela afinidade efetiva. Foi tam-
bém numa chichada que pude ouvir apreciações públicas sobre a distintividade
Wajuru vindas de uma mulher Tupari cujo marido é Wajuru (ao contrário da-
quelas somente “segredadas” para mim quando estávamos sozinhas). Depois de
ouvir um homem Wajuru dizendo que estava cansado de sua mulher e que iria
colocá-la para fora de casa, ela afirmava em alto e bom som que o pensamento de
Wajuru é mesmo aquele que diz que “o dono da casa é o homem”, que a casa é do
homem e não da mulher. Depois das risadas de todos, aquele se calou.
Na casa de seu sogro, Jemanoi Djeoromitxi, Albertina Wajuru dizia em voz
alta para Quati Wajuru que sua esposa, por não ter o marido em casa, teria “co-
mido uma cobra e por isso estava grávida”. Quati havia passado um longo perío-
do trabalhando na Bolívia e no mesmo dia em que voltou sua esposa fora picada
no caminho do porto. Às risadas de todos os presentes, Quati respondia fazendo
brincadeiras com Albertina de igual teor sexual. Eu estranhei este tipo de brin-
cadeira entre os dois, pois, em linha agnática, os genitores de ambos (Neruirí e
Casimiro) são considerados irmãos e isso os transforma em irmãos classificató-
rios. Na casa do pai de Albertina, nunca vi igual tratamento entre os dois, na
verdade, nunca os vi dirigindo-se a palavra. Ao passo que as irmãs de Albertina
não casadas tratam Quati por mano, observando o respeito e comedimento que
196
Livro Conhecimento e Cultura.indd 196 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
esse tratamento supõe, bem como o oferecimento constante de chicha e comida.
Mas Quati, filho de Paulina Makurap e Casimiro Wajuru foi “criado no poder”
do segundo marido de sua mãe, Brito Djeoromitxi. Segundo Paulina, toda a
“família se respeita” e por isso também “respeitam Quati como parente”. Este
aparentamento que tem o respeito como base de relação, também foi a mim des-
crito como “contratar” parente. Brito é irmão classificatório (MZS) do marido
de Albertina e, neste sentido, naquela chichada “não era” ela irmã (FBD) de
Quati, mas esposa do irmão (naquela ocasião filho do dono da chichada) do pai
dele (FMZSW), sua afim (do ponto de vista do grupo), portanto. Neste sentido,
eles podem “brincar”.
Na mesma ocasião, Paulina me explicou que Rita Arikapo, que estava ofere-
cendo a chicha, ela chamava de sogra, em português, por ser Rita irmã da mãe
de Brito, seu marido (HMZ). Rita sorria ao ouvir tais explicações, pois também
é mãe classificatória (MZ) de Paulina, filha de Esperança Arikapo. Mas esta, por
ter sido “criada no poder” dos Wajuru, só tem sua identidade Arikapo ressaltada
por aqueles mais próximos que sabem das histórias dos tempos antigos ou pelos
próprios antigos que viveram nesses tempos: a mãe de Esperança, Arikapo bra-
va, quando grávida foi até a aldeia Wajuru parir. Depois disso partiu, deixando
sua filha, que foi amamentada pela mãe de Antônio Côco Wajuru. Paulina deve,
igualmente, atender às redes de relações de parentesco forjadas na amamentação.
Mas ela também não deixou, em diversos momentos, de me ressaltar a origem
Arikapo de sua mãe e sua rede de parentesco. Mesmo assim, não parece que, nas
chichadas, fossem tais relações que estivessem em jogo, e sim suas relações de
afinidade. Depois disso, conversando com Rita, Paulina atrapalhou-se no modo
de se referir às relações de parentesco entre seu marido e a nora que os dois com-
partilham. Dizendo que a nora de Brito já havia partido, logo se corrigiu: “nora,
sobrinha, sei lá”. Sua pretensa “confusão” elucida mesmo a labilidade que certas
categorias encontram no contexto das chichadas: a “arte das relações” que é
preciso levar a cabo em tais ocasiões.
No mesmo sentido, não era senão bebendo juntos que eu podia presenciar
as brincadeiras entre dois virás, um sendo Wajuru e o outro Djeoromitxi, que
podem chegar mesmo até a exaltação, mas que está, a todo tempo, ancorada no
lastro desta relação de profunda amizade. Na casa do primeiro, o segundo, num
tom muito grave, disse abertamente a mim que os índios devem saber respeitar a
chicha, não deixando a cuia no chão. De fato estranhei tal asserção, pois já tinha
visto muitas pessoas deixarem sua cuia no chão, descansando o braço. No entan-
to, pude perceber que era exatamente o sogro do anfitrião quem estava apoiando
sua cuia no chão e que, após aquela asserção, se retirou do local, bastante des-
contente. Tudo se passou como se, por intermédio de seu companheiro, o dono
197
Livro Conhecimento e Cultura.indd 197 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
da casa tivesse ofendido duramente o velho, exatamente seu sogro. Também foi
numa chichada a única vez que ouvi alguém chamar a outro de panema. Um ho-
mem Wajuru se referia ao marido da filha de sua sobrinha (BDDH) que também
é seu sobrinho (FBDS), tratando-o como se fosse seu virá.
A brincadeira exige uma habilidade social e impõe ela mesma seus limites.
Do contrário, fica difícil que essas relações não causem angústia ou raiva, numa
parte ou na outra. Isso porque, se essa habilidade no encontro não for bem me-
dida pode ser que acabe por acarretar a tristeza dos parentes dos outros: quando
se está bêbado, “no poder” da chicha, afins podem não só se encontrar, mas
levar suas rivalidades às ultimas consequências. As inimizades suscitadas pelo
“poder” da chicha, se podem, algumas vezes, ser esquecidas, por certo também
podem se avivar
A chicha propõe tanto caminhos de convivência quanto de evitação, constrói
e destrói, no mesmo golpe, relações e pessoas. A quantidade discreta (as tribos de
antigamente, ou os povos atuais) pressupostos pela “decisão” em linha paterna,
sofre uma interferência daquela linha materna invisível, porque “se espalha”,
verte entre uma cuiada e outra. Não menos que os intervalos da natureza e da
cultura, um se entrosando no outro. São nas chichadas que os intervalos da co-
munidade humana são postos sob suspeita.9 Assim como bebem os vivos, nou-
tros lugares (no céu ou debaixo d’água) bebem também os mortos, bebem outros,
humanos, pois isto o atesta sua predileção pela chicha. Foi numa chichada em
que comíamos a carne de um boi que acabara de ser abatido que uma mulher me
chamou a atenção para o sentimento de luto das vacas que nos olhavam ininter-
ruptamente. Estavam tristes por seu parente morto, choravam a mãe, os irmãos,
o pai daquele que acabara de morrer. Não foi senão durante uma chichada para
trabalho que eu pude ouvir, em contraste com a pouca verbalização que impera
sobre os alimentos vindos da mata ou do rio, que os homens iriam comer suas
primas assadinhas, se referindo à piranha moqueada que lhes era oferecida pela
dona da casa. É porque se está bebendo que se pode referir ao pai classificatório
por onça, assim como chamar um peixe por prima.
***
“É preciso”, diz Sztutman (2008) sobre o desafio de viver num mundo ani-
mado onde experimentar a perspectiva de Outrem pode ser tornar algo irrever-
sível, “aplicar modelos de reversibilidade para evitar o irreversível absoluto, a
descontinuidade absoluta imposta pelo tempo” (Sztutman 2008: 243). Não seria
isso que nas chichadas as pessoas estão fazendo? “Saindo de si”, experimentan-
do a convivência com outros, diferentes. Mas cujo encontro também traz em si
198
Livro Conhecimento e Cultura.indd 198 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
riscos que, de toda maneira, devem ser controlados, para não serem levados a um
paroxismo irreversível. Não é senão experimentando outras perspectivas rela-
cionais, vendo nos parentes animais, nos animais os parentes, no consanguíneo
um afim, que está se aplicando a reversibilidade, desfazendo aquela descontinui-
dade absoluta.
Os efeitos embriagantes da chicha elucidam o vislumbre de mundos outros,
diferentes sistemas semióticos e sua reversibilidade.10 Uma dupla articulação,
quiçá evocativa da desterritorialização de termos heterogêneos colocados numa
nova relação (comunicação), aquela que Wagner (1978) propõe para a metáfora
The non-conventional relation introduces a new symbolization
simultaneously with a “new” referent into one expression, and the
symbolization and its referent are identical. We might say that a me-
taphor or other tropic usage assimilates symbol and referent into one
expression, that a metaphor is a symbol that stands for itself- it is
self-contained. Thus the symbolic effect of tropic usage in two ways:
it assimilates that which it “symbolizes” within a distinct, unitary ex-
pression (collapsing the distinction between symbol and symbolized),
and it differentiates that expression from other expressions (rather
than articulating it with them). (Wagner 1978:25)
O riso característico da embriaguez “diz” o que não poderia ser dito de
outra forma, como um modo de (re)conhecimento sobre o mundo e suas múl-
tiplas possibilidades de enunciação. Signo do acesso a outras perspectivas, sem
que se caia nestas indefinidamente. Um “estar lá” que antecipa a volta imediata
ao “estar aqui”, assegurando este “lugar” ao qual voltar. É o riso, penso, que
coloca esta possibilidade: espécie de vislumbre, mecanismo que permite acessar
outros códigos comunicativos sem que se perca de vista a diferença entre eles,
quer dizer, o próprio fato deste acesso.
A brincadeira e o riso situam-se num plano metacomunicativo que, como
diz Bateson sobre o anúncio “This is play”, estabelece a equalização e ao mesmo
tempo discrimina a mensagem e os objetos os quais ela denota: “These actions
in which we now engage do not denote what those actions for which they stand
would denote” (Bateson 2000: 180). O objeto do discurso metacomunicativo
seria então a relação (relationship) entre os falantes, capazes de reconhecer que os
signos veiculados por eles mesmos e por outros indivíduos são “apenas” signos.
Isto acarreta a natureza lábil da moldura (frame) estabelecida pela mensagem
“This is play” e o paradoxo presente nos signos veiculados nestes contextos:
“that the playful nip denotes de bite, but does note denote that which would
be denoted by the bite (Bateson 2000: 183). Num trecho do artigo “Style, Grace
199
Livro Conhecimento e Cultura.indd 199 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
and Information in Primitive Art”, no qual delineia uma análise da pintura ba-
linesa, Batenson (1999) amplia suas asserções sugerindo que
It is probably an error to think of dream, myth and art as being
about any one matter other than relationship [...] if the pictures are
only about sex or only about social organization, it would be trivial. It
is non trivial or profound precisely it is about sex and social organi-
zation and cremation and other things. In a word, it is only about re-
lationship and not about any identificable related. (Bateson 1999:151
– ênfase no original)
Tal caráter de simultaneidade desses “objetos” (sistemas de comunicação)
sobre os quais o autor mantém sua atenção, quero dizer, uma espécie de qualida-
de refratária à captura por um só referente, parece poder nos ajudar no entendi-
mento dos modos de socialidade despertos pela chicha e vislumbrados pelo riso.
Como diz Sztutman (2006:242) recorrendo a Georges Bataille, a propósito
da experiência do “sair de si”: “O êxtase é comunicação entre termos (esses ter-
mos não são necessariamente definíveis), e a comunicação possui um valor que
os termos não possuem: ela os aniquila – do mesmo modo, a luz de uma estrela
aniquila (lentamente) a própria estrela (Bataille 1961:50)”. E o riso, esse que
vislumbra os intervalos se entrosando um no outro, os antecipa e dispõem deles,
os obvia, no sentido proposto por Wagner:
For any nonarbitrary symbolization, any “motivation”, that is
not of a conventional symbolization character threatens to subvert
and supplant the conventional symbolization with a “nonarbitrari-
ness” of a much more piquant and individual variety. The “trope” or
“turning”, of the symbol from its conventional application directly
confutes or denies the latter. The conventional (or, in the case of a
well-worn trope, a conventional) sense “dies”, and is fragmented and
is “fragmented” or “differentiated” into something “new”. This con-
futation of the conventional is an effect of what is generally called
“metaphor”, and is germinal to what I shall call, in its broadest impli-
cations, obviation. (Wagner 1978:24 – ênfase no original)
Aniquilar referentes, deslocar modos de significação, rir. Não que se queira
excluir sua contraparte: a tristeza e o choro pelos parentes mortos. Antes é ne-
cessário entendê-los como momentos (eventos) de uma parábola desenhada pela
embriaguez. Afinal, se se está ali para beber e “brincar”, porque tão facilmente
pode-se cair em seu oposto? Não se vislumbra a reversibilidade sem que isso
envolva um perigo. Quanto mais a reversibilidade vislumbrada de tais estados
200
Livro Conhecimento e Cultura.indd 200 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
aproximar-se de seu limite, podendo, de súbito, capturar aquele que ri numa
transformação irreversível: seu distanciamento, sua captura por outro ponto de
vista, enfim, sua morte antecipada. Se o estado de riso antecipa a saudade (o
perigo) dos mortos, talvez seja porque ele mesmo é uma espécie de morte, um
discurso letal.
Desde a macaxeira, fruto dos ossos de um menino, cuja plantação de suas
manivas pode ser traduzida como “enterrar gente”. O que está em jogo é o desa-
marrar de certas categorias que ninguém é obrigado o tempo todo a perseguir. O
interessante, o que cativa, é apostar na possibilidade de ultrapassá-las, vislum-
brar categorias outras. Faz-se, assim, da alegria um meio de liberdade, assim
como se faz da tristeza pelos parentes mortos a possibilidade de não estar mais
aqui, de ir além, quando tudo isso se faz pesado demais. Manivas não são ossos
de seres mitológicos, um peixe assado não é uma prima.... – não se os referentes
permanecerem os mesmos, se estivermos em busca de epifanias. Não, se tais
referentes não morrerem. Não, se pensarmos na morte como um mero pereci-
mento físico, em vez da suspensão e redefinição de limites (sentidos). Não, se
não forem afetados pela embriaguez.
201
Livro Conhecimento e Cultura.indd 201 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
Notas
O trabalho de campo na T.I. Rio Guaporé foi realizado durante três meses, subsequentes a
outros dois meses em outros locais de Rondônia, com vistas à produção de dissertação de mestrado
intitulada “Do poder do sangue e da chicha: os Wajuru do Guaporé (Rondônia)”, sob orientação
de Edilene Coffaci de Lima, defendida em 2009 no PPGAS/UFPR (Soares-Pinto 2009). Na oca-
sião, foram enfocados a dinâmica social Wajuru e seus modos de organização social e parentesco.
Como um modo de visualização de tais relações, as chichadas se fizeram um ponto importante.
Em grande medida, a reflexão que agora apresento deriva de e replica aquela apresentada em mi-
nha dissertação, que se restringe às chichadas que pude acompanhar na aldeia Ricardo Franco e
nos sítios em seus arredores.
1
A mandioca-braba (chamada também de paxiubão), até onde sei, não é nem nunca foi utili-
zada para a produção de bebida. Seu uso, mais recente, se restringe à produção de farinha, quando
deve ser pubada, prensada e, depois, torrada.
2
A população geral na T.I. ultrapassa 600 pessoas, sendo os Makurap os mais numerosos,
seguidos pelos Djereoromitxi, Wajuru, Tupari, Canoé, Cujubim, Massacá e Arikapo, nesta ordem.
A T.I. Rio Guaporé é composta pela aldeia do Posto Ricardo Franco ou mais simplesmente “Pos-
to”; a Baía da Coca; a Baía das Onças; a Baía Rica e os locais “Mata Verde” e o “Bairro”. A aldeia
Ricardo Franco compreende o Posto Indígena, a escola, a enfermaria; nas suas cercanias imediatas
têm-se muitas casas chefiadas por homens de diversos grupos étnicos e, mais afastados, alguns “sí-
tios”, locais de assentamento de famílias extensas ou jovens casais. É ali também que se encontram
as pessoas que vêm das outras povoações da T.I., ou índios de outras localidades, principalmente
de Sagarana, além de representantes da Funai, do Cimi ou de quaisquer organizações indigenis-
tas. Na Baía da Coca estão algumas famílias chefiadas por homens Makurap e Tupari. A Baía das
Onças é reconhecidamente território Djeoromitxi, bem como a Baía Rica, local de uma só família
extensa. O Bairro e a Mata Verde são locais entre o Posto e a Baía da Coca, assim como a Baía Rica
se localiza entre o Posto e a Baía das Onças. O Bairro é local de uma família extensa Tupari e a
Mata Verde é local Makurap. Pelos caminhos de ligação entre assentamentos mais densos, caso em
que se pode chamá-los de “aldeia”, estão numerosos sítios ou moradas.
3
Devo notar minha inspiração na atenção às formas de saudações em Erikson 2009.
4
Calculo que tais cabaças tenham capacidade para dez litros ou mais, enquanto as cuias de-
vem servir aproximadamente um litro.
5
Concomitantemente ao incremento da exploração seringueira na região do médio Guaporé,
em 1930, foi criado pelo SPI, no baixo curso deste rio, o Posto Indígena de Atração Ricardo Fran-
co, que mais tarde veio se tornar a Área Indígena Rio Guaporé. A primeira demarcação desta área
data de 1935, e teve a aprovação do Marechal Rondon. Sua história não difere dos demais postos
do SPI, criado com o objetivo de “civilizar” os índios. A colônia agrícola teve seu “apogeu” na dé-
cada de 1940, quando os funcionários do SPI compulsoriamente transferiram para este Posto parte
dos povos dos afluentes do médio Guaporé, os rios Mequéns, Colorado, Corumbiara e afluentes
(Funai 1985).
6
O que aqui estou chamando de irmãos classificatórios se refere aos primos paralelos matri-
laterais ou a outras relações que não necessariamente estão ancoradas num substrato genealógico,
mas que dizem respeito à “história de relações” da ascendente feminina de Ego.
7
Surralés (2003:100 apud Lagrou 2006:61) sugere que “Lo que hace reír del humor no es
menudo outra cosa que constatar la posibilidad que tiene solo el humor para decir lo que seria
indecible de outra manera”.
8
Existe uma categoria preferencial para cônjuges, rotulada oguaikup em Wajuru, ou virá em
Djeoromitxi – este último é na verdade o termo (autorecíproco) que os Wajuru usam mais comu-
mente para se referir à relação. A categoria envolve, de um lado, a preferência para o casamento
e, de outro, a “amizade” entre pessoas de mesmo sexo: proximidade, ajuda mútua e pilhéria. Por
202
Livro Conhecimento e Cultura.indd 202 26/4/2011 12:20:52
Nicole Soares Pinto
isso os virás são também chamados de amigos/companheiros. Quanto ocorre o casamento entre
pessoas nesta realção, isso cancela as atitudes entre cunhados efetivos, que passam a tratar-se com
reserva. Durante a pesquisa, encontrei o termo aplicado por Ego masculino a pessoas nas posições
de MBSC, FFZC, FZDC e MMBC. Para maiores detalhes, ver Soares-Pinto 2009.
9
Sztutman assinalou que “[s]ubstâncias que produzem alguma alteração – ‘a um só tempo na
consciência e no corpo’, pois esses domínios se constituem de modo imbricado no pensamento
ameríndio –, estão inseridas nos processos reflexivos de produção de sociabilidade e da socialidade
e, de modo mais amplo, do próprio lugar da humanidade” (2008:232).
10
Característica das conexões engendradas pelo cromatismo que Lévi-Strauss chama a aten-
ção: a redução ao mínimo dos intervalos entre a natureza e a cultura, ao mesmo tempo que acar-
reta o perigo do descontínuo máximo, “uma união da natureza e da cultura que determina sua
disjunção (Lévi-Strauss 2004: 321). Diz o autor, da análise dos mitos sobre o veneno de pesca, que
ele estende aos mitos sobre o arco-íris, que “passa-se livremente e sem obstáculos de um reino a
outro, em vez de existir um abismo entre os dois, misturam-se a ponto de um dos reinos evocar
imediatamente um termo correlativo no outro reino” (Lévi-Strauss 2004:316).
203
Livro Conhecimento e Cultura.indd 203 26/4/2011 12:20:52
Beber e brincar
Referências
BATESON, Gregory. 2000. Steps to an ecology of mind. Chicago and London: The Uni-
versity of Chicago Press.
CASPAR, Franz. 1953. Tupari: entre os índios, nas florestas brasileiras. São Paulo: Melho-
ramentos.
CLASTRES, Pierre. 2003. A Sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política.
Prefácio de Tânia Stolze Lima e Marcio Goldman. Tradução de Theo Santia-
go. São Paulo: Cosac & Naify.
ERIKSON, Philippe. 2009. “Diálogos à flor da pele... �������������������������������
Nota sobre as saudações na Ama-
zônia”. Campos. Revista de Antropologia Social, 10(1):9-27.
FUNAI. 1985. Relatório Antropológico de demarcação da Terra Indígena Rio Guaporé.
GALVÃO, Eduardo. 1960. “Áreas culturais indígenas do Brasil; 1900-1959”. Boletim do
Museu Paraense Emílio Goeldi (Antropologia), 8.
LAGROU, Eljse. 2006. “Rir do poder e o poder do riso nas narrativas e performances
kaxinawa”. Revista de Antropologia, USP, 49(1).
LÉVI-STRAUSS, Claude. 2004. O cru e o cozido. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés.
São Paulo: Cosac & Naify.
LIMA, Tânia Stolze. 2005. Um peixe olhou pra mim: o povo Yudjá e a perspectiva. São
��������
Pau-
lo/Rio de Janeiro: Editora Unesp/ISA/NuTI.
MALDI, Denise. 1991. “O complexo cultural do marico: sociedades indígenas dos rios
Branco, Colorado e Mequéns, afluentes do médio Guaporé”. Boletim do Museu
Paraense Emílio Goeldi (Antropologia), 7(2):209-269.
SOARES- PINTO, Nicole. �������������������������������������������������������
2009. Do poder do sangue e da chicha: os Wajuru do Gua-
poré (Rondônia). Dissertação de mestrado em antropologia, UFPR.
SZTUTMAN, Renato. 2006. De outros caxiris: festa, embriaguez e comunicação na
Amazônia indígena. Dissertação de mestrado em Antropologia, USP. Versão
para publicação.
SZTUTMAN, Renato. 2008. “Cauim, substância e efeito: sobre o consumo de bebidas
fermentadas entre os ameríndios”. In: B. Labate; S. Goulart; M. Fiore; E.
Macrae & H. Carneiro (orgs.), Drogas e Cultura: Novas Perspectivas, Salvador:
EDUFBA. pp. 219-250.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002. “Atualização e contra-efetuacão do virtual”.
In:______. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia.
São Paulo: Cosac & Naify, pp. 401-456.
WAGNER, Roy. 1978. Lethal speech: Daribi myth as simbolic obviation. London: Cornell
University Press.
204
Livro Conhecimento e Cultura.indd 204 26/4/2011 12:20:52
“O pessoal da cidade”:
o conhecimento do mundo dos brancos como
experiência corporal entre os Karajá de Buridina
Eduardo S. Nunes
Buridina, uma pequena aldeia Karajá incrustada no centro da turística ci-
dade de Aruanã (GO), é, há muito tempo, conhecida pela intensidade de sua
incursão no mudo dos tori, i.e., dos não-índios. Os primeiros etnólogos que pas-
saram pela região do rio Araguaia, às margens do qual estão aldeia e cidade, tais
como Fritz Krause (cuja viagem data de 1908) e Herbert Baldus (que esteve na
região em 1935 e 1947), já descreviam essa aldeia como bastante “aculturada”.
Ainda hoje, a impressão de um observador desavisado é exatamente essa. Os
Karajá comem nossas comidas, estão integrados ao comércio local, usam nossas
roupas, nossa língua, nossos nomes, têm televisões, telefones, fogões, geladeiras,
freezeres, bicicletas, algumas motos, camas, guarda-roupas, barracas de acampa-
mento, canoas de alumínio com motores de popa etc. Além do fato de terem
muitos amigos não-indígenas na cidade e, sobretudo, filhos com eles, a maioria
da população da aldeia sendo mestiça. Para grande parte dos moradores e visitan-
tes de Aruanã, a aldeia é apenas mais um bairro da cidade e os índios pouco (ou
nada) se diferenciam deles.1 Se a noção de aculturação tem sido combatida pela
antropologia no Brasil desde pelo menos a década de 1950, o estigma da acultu-
ração continua vivo na cosmologia de uma parcela considerável da população
nacional, e certamente ainda pesa sobre esta população.
Os Karajá de Buridina certamente estão “virando brancos”, em alguma me-
dida, mas isso não representa algo da ordem da “perda da cultura”. A proposta
deste artigo é tratar etnograficamente essa complexa questão a partir do prisma
do conhecimento indígena, ou da forma indígena de conhecimento. A história
da aldeia é uma trajetória de conhecimento e experimentação do mundo dos
205
Livro Conhecimento e Cultura.indd 205 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
brancos que acabou por gerar uma relação corporal entre as perspectivas indíge-
na e não-indígena, epitomizada pelo próprio corpo mestiço. Ancorado na etno-
grafia, espero ao final, estar apto a mostrar que o conhecimento que estes Karajá
lograram obter sobre os tori é uma experiência corporal.
Uma narrativa histórica sobre Buridina
Os Karajá, grupo falante de uma língua tardiamente classificada como per-
tencente ao tronco Macro-Jê – o inỹrybè2 –, ocupam imemorialmente a calha
do rio Araguaia. A maior parte de suas aldeias está situada na Ilha do Bananal
(TO), sendo Buridina aquela situada mais à montante deste território, na mar-
gem goiana da divisa com o Estado do Mato Grosso, junto à confluência dos rios
Araguaia e Vermelho.
A narrativa que se segue trata da fundação desta aldeia, dos problemas que
ela enfrentou e da maneira como sua configuração atual foi instaurada. Advirto,
porém, que estarei ocupado, não com uma “verdade histórica”, tentando desve-
lar os significados que as ações das personagens tinham para elas próprias, mas
sim com a teia de significados que os atuais Karajá construíram com e sobre elas,
seus avôs/avós e tios/tias. Assim procedendo, o que tento apontar é o significado
histórico desta memória em termos da relação dos habitantes de Buridina com a
cidade de Aruanã e seus habitantes tori.
***
Kabitxa’na, o caçula de um grupo de sete germanos, foi o fundador da al-
deia Buridina. Ele era um grande hyri (xamã) da aldeia Hãwalò (Santa Isabel do
Morro – Ilha do Bananal, TO). Era muito poderoso, “mas ele só curava”, dizem
seus descendentes.3 O xamã karajá, entretanto, assim como ocorre dentre muitos
outros grupos indígenas, é uma figura ambígua. Sua face pública é a de curador,
mas a feitiçaria é sempre uma contraparte possível, pois tanto a cura quanto o
feitiço são viabilizados por meio do aprendizado de um mesmo conjunto de
operações e técnicas.4 E quanto mais poderoso for o hyri em termos de cura, mais
seus (possíveis) feitiços serão temidos.
Assim, Kabitxa’na sofria muitas acusações de feitiçaria. “Aí diz que todo me-
nino que morria, as crianças que adoecia, jogava tudo em cima dele, aí diz que
judiava de bater nele, aí chegou um certo ponto, [...] ele desgostou tanto que
veio embora”,5 resolveu procurar um outro lugar para viver. Ele e sua mulher,
Hãbibi, subiram o rio de canoa a remo e foram parando de aldeia em aldeia, mas
em nenhuma delas seus anfitriões lhe ofereceram um lugar para morar. Assim,
206
Livro Conhecimento e Cultura.indd 206 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
passou por todas as aldeias e acabou se assentando junto à margem sul do cór-
rego Xibiu.6
Quando Kabitxa’na chegou à região, não havia ninguém por lá. Ele ergueu
um rancho e o casal ficou morando ali por um tempo até que, para sua surpresa,
começaram a chegar muitas famílias karajá e javaé que se instalaram junto a
eles, sob o comando de Kabitxa’na. A chefia da aldeia “foi passando de geração
em geração, [de acordo com o modo tradicional hereditário de transmissão,] que
de um para outro formou a maior aldeia de toda história do vale do Araguaia.
De Conceição do Araguaia [PA] até chegar aqui em Aruanã, a aldeia, aqui, diz
que foi a maior que já teve”.7 Tendo em vista esta época, alguns de seus parentes
da Ilha do Bananal se referem (ou o faziam, até duas ou três décadas atrás) aos
Karajá de Buridina como hãwahakỹ mahãdu, “o pessoal (mahãdu) da aldeia gran-
de (hãwahakỹ)”. Outro indício do grande tamanho da aldeia era a presença de
duas hetokrè,8 Casas de Aruanã, o centro da vida ritual do grupo.9
Buridina era uma aldeia muito próspera, um lugar muito bom para se viver.
Seus habitantes eram conhecidos como ibò(k)ò mahãdu, “o pessoal de cima/do
alto”,10 porque entre eles havia grandes “historiadores”,11 lutadores e hyri (xa-
mãs). “Agora, se tem historiador que difama, guerreiro que mata só por matar,
hyri que mata, aí é iraru mahãdu”. Os próprios iraru mahãdu, “pessoal de baixo”,
não gostam de ser assim chamados, pois o termo indica o distanciamento de um
ideal de comportamento e de conhecimento inỹ, humano.
Mas a década de 1940 guardava revezes para o destino da aldeia. Dois acon-
tecimentos alteraram radicalmente sua situação populacional: de uma grande e
ritualmente (super)ativa aldeia, ela ficaria resumida a uma única família, menos
de 10 pessoas. Primeiro, um assassinato iniciou um movimento de dispersão da
população. A vítima, Alfredo Ijahi’na, era muito respeitada. Dizia-se dele, en-
tretanto, que era perigoso feiticeiro. Tybiru, uma moça de aproximadamente 12
anos, morreu repentinamente. Seu pai e seu marido, convencidos de que a causa
da morte teria sido um feitiço de Ijahi´na, o assassinaram e fugiram.
Pouco tempo depois, a aldeia foi acometida por uma epidemia de sarampo.
Ali morava um Javaé, Warikina, poderoso hyri. A epidemia, acreditavam, havia
sido causada por feitiço seu. Ele próprio, entretanto, pegou sarampo, e ficou sob
os cuidados de Lídia Dikuria e Alice Koabiru, até ficar bom. Quando se curou,
disse que não se esqueceria dos cuidados que havia recebido e que era boa a
decisão que haviam tomado em não partir, de permanecer ali. Na aldeia grande,
disse, há muita briga, muita confusão. Depois partiu. Esse episódio intensifica
o movimento de dispersão iniciado com o assassinato. As pessoas voltaram para
suas aldeias de origem. Os Karajá se referem ao momento destes dois aconteci-
mentos como o “fim da aldeia”. Apenas um homem, Jacinto Ma(k)urehi – e sua
207
Livro Conhecimento e Cultura.indd 207 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
família, da qual as duas mulheres citadas acima faziam parte –, decide perma-
necer no local e reúne em torno de si, nas décadas subsequentes, dois irmãos e
uma sobrinha. É em torno deste núcleo de parentes que a aldeia se reestruturará
e crescerá até o ponto em que a encontramos hoje.
***
Na década de 1950, a aldeia via-se resumida à família de Jacinto Ma(k)urehi.
Vivendo ali, entretanto, ele sentia-se sozinho. Com o passar do tempo, começou
a fazer viagens para trazer alguns parentes para junto de si. Mariana Maluhereru,
sua sobrinha, junto com seu marido Pedro Wassuri Javaé, os filhos do casal e
Maria Severia foram os primeiros a voltar. Logo após o assassinato, eles saíram
da aldeia e foram para Ouro Fino, uma pequena aglomeração, próxima a Cuiabá
(MT), que surgia em torno de um garimpo. Jacinto foi até lá “buscar eles”. Mas
eles não queriam vir, achando que ainda havia muita gente ali. Só se convence-
ram quando Jacinto lhes contou do esvaziamento (“o fim”) da aldeia. Mas o ca-
sal andava muito pelo rio, passando, por vezes, longos períodos nessas viagens.
Jacinto ia também até Santa Isabel e chamava seu irmão João Lawa(k)uri para
morar com ele, mas Joãozinho (como era conhecido) nunca aceitava o convite.
Foi só quando sua filha (a segunda mais velha) morreu, vítima de feitiçaria, que
ele cedeu aos pedidos insistentes de sua mulher, Isabel Sawakaru, e aceitou o
convite. Ficaram desgostosos e resolveram ir embora, confiando na afirmação
de Jacinto de que em Buridina poderiam criar seus filhos com tranquilidade.
Chegam no primeiro biênio da década de 1960.
Mário Arumani chegou um ou dois anos depois. Ele ia até esta aldeia com
certa freqüência, visitar sua mãe, Isabel Sawakaru. Ele era casado, mas largou
sua mulher e fugiu de Santa Isabel do Morro com Jandira Diriti, com quem
viveu, em Buridina, até sua morte (novembro de 2005) – ela ainda está viva.
Essa é certamente uma ocasião na qual é necessário deixar a aldeia e procurar
outro local para morar, pois, caso ficassem, os irmãos da mulher abandonada
vingar-se-iam. Antes dele partir, entretanto, lhe disseram que lá ele nunca teria
filhos, não criaria netos. Depois de um tempo, já com um filho pequeno, o casal
resolveu desafiar os que haviam lhes dito aquilo e voltou para a Ilha. Ocorreu,
porém, que o menino faleceu, vítima de feitiço. “Porque o pessoal falou que
ele não podia ter filho lá: podia, mas era desse jeito. Se tivesse, eles mandavam
matar. Feitiçaria, era negócio de feitiçaria. (...) Aí ele foi fazer o teste lá e o me-
nino morreu. Por isso que ele veio para cá”, assim me contava seu meio-irmão,
Nicolau Kawinỹ. Desgostosos, resolveram voltar para Buridina, na esperança de
poder criar os filhos com mais tranquilidade.
208
Livro Conhecimento e Cultura.indd 208 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
Luiz Bydè, por sua vez, não gostava da vida de aldeia. Ainda muito jovem
saiu para trabalhar na lida do gado em fazendas e cidades no interior de Goiás,
desaprendendo, assim, a falar o inỹrybè. Morou com sua primeira esposa no
Mata-Coral e só foi para Buridina já com certa idade, depois do fim de seu se-
gundo casamento e sob muita insistência dos irmãos. Casou-se novamente nesta
aldeia e teve seis filhos, que ainda hoje lá residem.
A década de 1960 marca o início da reestruturação da aldeia, com a reunião
deste núcleo de parentes que, embora ainda pequeno, constituiu a base sobre a
qual a população cresceu. Na década seguinte, um surto de turismo promoveu
uma grande expansão da malha urbana de Aruanã, que atravessou o córrego
Bandeirantes – antes esse era o limite físico entre cidade e aldeia –, crescendo na
direção norte. Como resultado deste processo, cerca de 10 anos depois a aldeia já
se encontrava, exceção feita ao lado do rio, circundada pela malha urbana e con-
finada em um pequeno lote. Na segunda metade da década de 1970, aconteceram
os primeiros casamentos com tori. É nesse período, portanto, que a situação de
Buridina começa a ganhar seus contornos atuais.
***
Os dois primeiros casamentos com tori – os de Meire Nunsia e Luiz Bydè –
aconteceram, na verdade, nas décadas de 1950 e 1960, mas em ambos os casos o
casal não foi morar em Buridina. Quando os Karajá falam do início dos casamen-
tos com não-índios, “casar com branco”, estão se referindo ao processo iniciado
na segunda metade da década de 1970, com o casamento de Nicolau Kawinỹ–
ainda existente –, no qual os cônjuges tori passaram a ser trazidos para morar
dentro da aldeia. Mas porque os Karajá de Buridina iniciaram tal processo?
Um dos motivos alegados é que a população da aldeia nas décadas de 1950,
1960 e 1970 era toda ligada por laços de parentesco extremamente próximos, o
que impossibilitava que se casassem entre si.12 Como o incesto é algo tão im-
pensável quanto não casar, tiveram que buscar cônjuges fora do grupo. Mas essa
explicação esconde uma escolha: porque optaram pelos tori? Porque não foram
procurar cônjuges nas aldeias da Ilha do Bananal? Poderiam tê-lo feito, reco-
nhecem, mas não o fizeram. É bem verdade que, para que um casamento entre
pessoas de distintas aldeias ocorra, é necessário que elas se encontrem, opor-
tunidade que os jovens de Buridina da década de 1970 não tiveram. Os Karajá
mais velhos não queriam levá-los para as aldeias da Ilha, sobretudo nas ocasiões
rituais, uma das oportunidades de encontro para os jovens. Além disso, muitos
dos mais velhos estimulavam seus filhos a casar com tori. O que fica claro, aqui,
é que, ao se depararem com a impossibilidade de praticarem endogamia local
209
Livro Conhecimento e Cultura.indd 209 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
e com a consequente necessidade de procurar cônjuges alhures, os Karajá de
Buridina optaram, direta ou indiretamente, por negar a possibilidade de casar
seus filhos com outros indígenas da Ilha do Bananal e por vê-los casados com
os regionais.
O início desse processo veio acompanhado da inversão do padrão de uxorilo-
calidade, amplamente descrito na literatura Karajá (cf. Lima Filho 1994; Toral
1992; Rodrigues 2008; Dietschy 1978). Os homens indígenas que se casaram
com mulheres tori passaram a levá-las para morar consigo, na aldeia, e as mulhe-
res indígenas que se casaram com homens não-indígenas saíram da aldeia para
morar junto de seus maridos, constituindo, assim, casamentos virilocais. Essa
inversão, entretanto, foi apenas temporária, circunscrita, pois as mulheres mais
novas (assim como em alguns casos de segundo casamento das mais velhas) não
saíram da aldeia ao casar, trazendo, ao contrário, seus maridos para a aldeia.
Note-se que a virilocalidade sob a qual os casamentos com tori se derem, num
primeiro momento, coincide com o padrão de casamento dos regionais, ainda
hoje predominante, sobretudo nos contextos rurais da região. De uma só vez,
portanto, os Karajá de Buridina optaram por experimentar tanto os cônjuges quanto
a lógica do casamento dos brancos. Depois deste momento inicial, o padrão que se
estabeleceu é que os cônjuges não-indígenas (de ambos os sexos) passam a morar
na aldeia.
***
Mas porque Jacinto Ma(k)urehi optou por permanecer ali, mesmo com todas
as pressões que sofreram? Desde os dois acontecimentos na década de 1940 até o
início do processo de demarcação, em meados da década de 1980, estes indígenas
empreenderam uma firme resistência, tanto no sentido de ir contra a coação dos
regionais e da Funai, como no de ser uma postura ímpar mesmo entre os Karajá:
ao se defrontarem comfeitiçaria e morte, quase toda a população da grande al-
deia abriu mão daquele território e voltou para suas aldeias de origem. Aqui,
quero enfatizar que a permanência de Jacinto foi sim uma escolha.
Os episódios posteriores também parecem confirmar que tratava-se sim de
uma escolha. Ainda nas décadas de 1950 e 1960, Jacinto Ma(k)urehi é pressio-
nado pelo SPI para sair dali e mudar-se para junto de seus parentes na Ilha do
Bananal, mas insiste em permanecer. Com o processo de expansão da cidade na
década de 1970, a Funai continuou tentando transferir os indígenas, mas sempre
encontrou resistência ferrenha (cf. Portela 2006:162). Em 1976, o médico João
Paulo Botelho Vieira Filho visita a aldeia e registra que “os índios de Aruanã
externam o desejo de permanecer onde estão” (1976:152). A própria expansão
210
Livro Conhecimento e Cultura.indd 210 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
da cidade se constituiu também como uma pressão para que eles abandonassem
o local, quando passaram a ver-se progressivamente confinados pela malha ur-
bana, por uma cerca viva de moitas bambu e por uma grade. A ideia de viver
em um território delimitado por cercas é algo extremamente incômodo para os
Karajá, que gostam da “liberdade”, como dizem, de trânsito dos espaços abertos.
Jacinto previu o desfecho do processo de crescimento da cidade que ele via se
iniciar. “Tio Jacinto dizia assim: que a cidade estava crescendo e que daqui a um
pouco a gente ia estar cercado, igual a porco no chiqueiro”, disse sua sobrinha,
que confirma sua previsão dizendo que “o pior é que tudo o que ele dizia está
acontecendo!” (Cavalcanti-Schiel 2008:6) – e mesmo assim quis permanecer.
Além do mais, a área da cidade já estava toda loteada e o terreno onde a aldeia se
encontrava possuía um proprietário não-indígena.
No ano de 1982, a Funai empreendeu uma última tentativa de transferir a
população da aldeia, chegando um funcionário a oferecer uma quantia de di-
nheiro para um indígena, mas também encontrou resistência. Em 1986, a Funai
finalmente cedeu às pressões contrárias, que exigiam que o órgão fornecesse a
devida assistência à comunidade,13 e iniciou o processo de demarcação da Terra
Indígena Karajá de Aruanã (cf. Braga 2002).
Mas quais os motivos alegados para que Jacinto tenha permanecido em
Buridina? Porque, diante de tais pressões, os Karajá desta aldeia optaram por
permanecer em uma situação territorialmente extrema, adversa para a realiza-
ção de um ideal Karajá de uma ‘boa vida’? O que, neste lugar, despertava seu
interesse?
Uma das respostas que os Karajá me ofereceram para a primeira destas três
perguntas tem um sentido territorial, da relação que uma pessoa estabelece com
seu local de origem. “Ele [Ma(k)urehi] nasceu aqui, gostava daqui, para onde
ele poderia ir? Não ia se acostumar em outro lugar”, me disse uma senhora,
ou “aqui era o território”, como fraseou um homem. Mas tal explicação ainda
me parecia insuficiente: dentre as pessoas que foram embora quando a aldeia
“acabou”, muitas eram, assim como Jacinto Ma(k)urehi, originais dali. Porque,
então, apenas ele resolveu ficar?
Jacinto dizia que queria “a liberdade do menino não-índio para os netos”,
queria ter tranquilidade para criar as crianças. Aqui há um contraste com a vida
de “aldeia grande”, de que as maiores aldeias da Ilha do Bananal servem hoje
de modelo, marcada pela rigidez. A oposição, aqui, é sobretudo ritual. Quando
falam que na “aldeia grande é muito rígido”, estão se referindo ao conjunto
de restrições rituais que pesa sobre crianças e mulheres, que não podem cir-
cular irrestritamente pela aldeia, nem muito menos pelo mato, sob o risco de
variadas restrições/punições. Rodrigues, por exemplo, relata sobre o (k)òrera (k)
211
Livro Conhecimento e Cultura.indd 211 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
uni, o “corpo velho do jacaré-tinga”, que “quando anda pela aldeia, as mulheres
e crianças trancam-se assustadas dentro das casas, nas quais ele bate ameaça-
doramente, com uma grande vara, ao escutar alguma mulher ou criança falan-
do” (2008:870). Há outras entidades ainda mais perigosas, como o ilabi(k)èhekỹ.
Vejamos a descrição de Lima Filho (1994:101).
Havia um sentimento de medo e expectativa na aldeia. O Ilabiehekÿ
chegaria no final da noite. Seus gritos seriam ouvidos na madrugada.
(...) A aldeia se recolheu cedo, a noite avançava e todos tinham medo
do Ilabiehekÿ. A Casa Grande [hetohokỹ] estava completamente vazia.
(...) O Ilabiehekÿ é avô dos Worÿsÿ. (...) Perigoso, ele não pode ser visto
nem pelos homens. Os Karajá que o encaram são tidos como especiais,
e fazem parte do grupo dos homens Mahãdu Mahãdu. (...) Mas, mesmo
assim, jamais deverá olhar de frente a grande figura mascarada. Se o
fizer, Ilabiehekÿ comerá seu fígado e a morte é certa.
A preservação do “segredo ritual masculino”, vedado às mulheres e aos me-
ninos não iniciados, talvez seja a maior das restrições. Há uma narrativa mitoló-
gica sobre como a revelação deste segredo por parte de um menino em processo
de iniciação para sua mãe ocasiona a morte de uma aldeia inteira.14
Há ainda outra dimensão da vida em “aldeia grande” comumente ressaltada
como ruim: os conflitos e, sobretudo, a feitiçaria. Um dos motivos disto é, sem
dúvida, que nos pequenos agrupamentos familiares, como era Buridina nas dé-
cadas de 1950 e 1960, a proximidade dos laços de parentesco torna os conflitos
raros. Desentendimentos, brigas, acusações, agressões, feitiços e assassinatos,
são gradações de um anti-ideal de socialidade Karajá que aumenta com a dis-
tância (do parentesco). As aldeias maiores são conjugações de famílias e são elas,
usualmente, as unidades mínimas dos conflitos. A feitiçaria, por seu turno, pode
aparecer tanto no âmbito destes conflitos interfamiliares como em consequên-
cia do ritual. Lembro aqui que, como dito acima, o principal motivo que levou
tanto João Lawa(k)uri quanto Mário Arumani a se mudarem para/fixarem-se em
Buridina foi a morte de uma criança por feitiçaria.
“Aldeia grande” não se opõe a “aldeia pequena”, mas a pequenos assenta-
mentos familiares que não se caracterizam como “aldeias”.15 Buridina é um des-
ses pequenos assentamentos, não-aldeias. Uma mulher, por exemplo, me dizia
sobre seu irmão, que acabou mudando-se dali para a Ilha do Bananal: “meu
irmão gostava de ser índio. Ele queria viver em aldeia, mesmo. Aqui não servia
para ele”. É nesse sentido que devemos entender a afirmação que seus mora-
dores fazem de que “a aldeia acabou”, na década de 1940. Ela não se extinguiu
212
Livro Conhecimento e Cultura.indd 212 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
enquanto um hãwa (aldeia/território/lugar), mas enquanto uma “aldeia grande”,
ritualmente ativa e potencialmente conflitiva.
Vendo a “aldeia grande” – i.e, as festas, a atividade ritual – acabar, Jacinto
escolheu por permanecer ali, uma opção que parece ter sido mesmo pela rup-
tura. Isso pode ser entrevisto, por exemplo, em sua declarada vontade de criar
as crianças com tranquilidade, livres das restrições e perigos do ritual. Ele op-
tou, além disso, pela quebra dos vínculos rituais com outras aldeias. Durante
o Hetohokỹ, por exemplo, a aldeia que sedia a festa recebe muitas famílias de
outras localidades, que vêm para assistir, simplesmente, ou para que um menino
seja iniciado. Mas apesar de a comunicação com outras aldeias não ter ficado
interrompida desde a década de 1950, nenhum dos Karajá mais velhos jamais
levou seus filhos e netos para participar das festas. O cacique Raul Hawa(k)a’ti
me dizia que Jacinto nunca o fez, pois, dizia ele, os meninos não tinham preparo.
Tinha medo que eles fizessem ou dissessem algo errado. Por mais que ele esti-
vesse sempre falando sobre como as coisas funcionavam, eles não tinham experi-
ência prática, i.e., nunca tinham vivenciado. Isso parecia ser algo especialmente
grave em relação às moças, sobre as quais a rigidez das regras rituais pesa muito
mais do que sobre os homens. “Como nós éramos muito atentadas, ele tinha
medo”, uma mulher me disse. Como cresceram em Buridina, estavam acostu-
madas a andar livremente, conversar com “todo mundo” etc., ao contrário das
mulheres das aldeias da Ilha do Bananal, cujo comportamento é contido, andam
de cabeça baixa (evitando o contato visual)16 e “não conversam com qualquer
pessoa fácil, não”. “Acho melhor vocês ficaram por aqui e casar com tori mesmo,
já que não tem outro jeito”, dizia Jacinto.
Não deixa de ser curioso que, depois de ter feito uma opção por romper com
a vida de “aldeia grande” – e com os vínculos rituais, conflitos e feitiçaria nela
implicados –, ele alegue que não tem outro jeito. Ma(k)urehi, ao fazer a opção por
permanecer em Buridina, não sabia quais seriam os resultados, a médio prazo,
daquele experimento. Justamente porque parece se tratar precisamente disto, uma
experiência, que, sem dúvida, gerou seus efeitos colaterais. A diferença de com-
portamento entre os rapazes e moças desta aldeia e de outros jovens da Ilha do
Bananal é uma consequência da especificidade territorial de Buridina, i.e., de
sua conjunção com a cidade. Como diz o Cacique Raul, eles foram criados “no
meio do povão” (convivendo cotidianamente com não-índios) – “com a liberda-
de do menino não-índio”, como quis Jacinto –, desenvolvendo, assim, uma ou-
tra socialidade, que, parece-me, se configurou como um padrão nesta aldeia. Se,
por um lado, certamente a experiência dessa primeira geração de jovens guarda
suas diferenças para com a experiência da juventude atual (a terceira geração), a
213
Livro Conhecimento e Cultura.indd 213 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
diferença de comportamento em relação a seus parentes da Ilha parece ter per-
manecido basicamente a mesma.
Mas se opção de Jacinto em permanecer ali foi um experimento, o que exa-
tamente eles queriam e estavam experimentando? Depois de tudo que já foi dito
aqui, não é difícil chegar à conclusão de que se tratava de uma experimentação do
mundo dos tori. Em relação aos casamentos, já vimos como os Karajá optaram,
num primeiro momento, tanto pelos cônjuges quanto pelo padrão de casamento
dos regionais, um movimento que inverteu a uxorilocalidade do grupo. Tendo
sido criados “no meio do povão”, na cidade, o padrão de socialidade que ali
se configurou em muito coincide com a socialidade dos não-índios. Houve, de
fato, um empenho em aprender a ser branco, tanto por parte dos jovens quanto
dos mais velhos, e isto desde muito cedo. Já em 1908, Krause relata a presença
de uma aldeia ao lado da vila de Leopoldina, descrevendo-a como habitada por
“índios civilizados, que preferem as vantagens da civilização (fumo, sal) à con-
vivência com a tribu” (1941: 241). Baldus (1948: 145-148), em um relato sobre
uma curta passagem por esta aldeia no ano de 1947, faz uma curiosa descrição
da sua situação de “aculturação”, descrevendo a presença de objetos industriali-
zados e do uso das roupas dos brancos, convivendo com utensílios, vestimentas
e adornos Karajá. Em Ossami de Moura (2006: 327) encontramos três fotos do
interior da casa de Jacinto Ma(k)urehi e de sua mulher Lídia Dikuria, tiradas já
no ano de 1991. Numa delas vemos uma televisão sobre um pequeno móvel. Em
suas prateleiras há vários livros, todos perfeitamente organizados, e um forro
triangular bordado que o enfeita, certamente uma réplica perfeita do interior de
uma casa regional. Na outra, vemos uma estante cheia de panelas de alumínio e
alguns pratos. Estas panelas, nos contam alguns indígenas, eram um dos prin-
cipais fascínios dos Karajá antigos com o mundo tori. Na terceira, vemos Lídia
Dikuria cozinhando num fogão a gás.
Poderíamos, enfim, recolher inúmeros fragmentos que nos auxiliariam a re-
forçar a hipótese que exponho. Mas vou me deter aqui sobre um último ponto,
pois ele indica que essa é justamente a imagem que alguns dos Karajá da Ilha
fazem destes seus congêneres. Desde pelo menos a década de 1960, seus paren-
tes da aldeia de Santa Isabel começaram a chamar os moradores de Buridina
de tori hãwa mahadu, expressão cuja tradução literal seria “pessoal (mahãdu) da
aldeia/território/lugar (hãwa) dos brancos (tori)”. Os próprios Karajá de outras
aldeias, assim, passaram a reconhecer a relação de conhecimento privilegiada de
Buridina em relação ao mundo dos brancos. Nessa época, me disse um senhor,
alguns Karajá da Ilha do Bananal iam até esta aldeia fazer trocas. Levavam coi-
sas como um enfeite plumário ou um feixe de sementes de melancia e desejavam
artigos industrializados como roupas. Por vezes, o produto trazido não tinha
214
Livro Conhecimento e Cultura.indd 214 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
valor (monetário) equivalente ao da roupa, fato desconhecido pelos visitantes.
Mas a ética Karajá reza que pedidos de parentes próximos não devem ser ne-
gados, algo que causou constrangimento a alguns destes visitantes quando o
descobriram. Ainda hoje essa associação com o mundo dos brancos permanece.
Quando os indígenas desta aldeia chegaram a Santa Isabel, alguns anos atrás,
para a ocasião de assistir ao Hetohokỹ, escutaram de seus parentes o seguinte
comentário: “Lá vêm os tori de Buridina” ([Cavalcanti-]Schiel 2002: 50). Isso
não ocorreu uma única vez. Conversando com um homem sobre o assunto, ele
me relatava um comentário semelhante, falando que os Karajá de Santa Isabel
dizem que até o sotaque do inỹrybè destes seus parentes (daqueles que o falam
fluentemente) “puxa mais para o lado do branco”.17
Seria apressado, entretanto, supor que os Karajá de Santa Isabel pensam que
seus parentes de Buridina não são índios, até mesmo porque eles são reconhe-
cidos como indígenas em diversas situações. Mas continuemos pela via do con-
ceito tori hãwa mahãdu. Se falei de uma “tradução literal” é porque há algumas
sutilezas no significado desta expressão. Hãwa é um conceito traduzido pelos
índios como aldeia, lugar onde se situa/constrói uma aldeia, ou simplesmente
como lugar. Se as aldeias Karajá são inỹ hãwa, as cidades dos brancos são tori
hãwa, “aldeia/território/lugar dos brancos”. Esta informação está também pre-
sente na etnografia de Donahue (1982: 172). Assim, penso que uma tradução
mais apropriada para a expressão em questão seria “pessoal da cidade”, indican-
do que a experiência urbana destes Karajá é, ao mesmo tempo, uma experiência
do mundo tori.
* **
Vimos aqui que os Karajá de Buridina optaram por permanecer junto à ci-
dade de Aruanã e por casar com seus moradores tori. Percorrendo estes eventos
e tentando desvendar as intenções e escolhas dos personagens dessa trama, fica
claro que no fundo desta história narrada está uma vontade de conhecer o mun-
do dos brancos, conhecimento esse que só pode ser obtido por vias da experiên-
cia, viver com e como os tori. É, com efeito, por via dessa experimentação de uma
vida outra, ou melhor, de uma perspectiva outra, que o conhecimento pode se dar.
Acredito que os Karajá tenham sido bem-sucedidos nessa empreitada e logo
a situação deixou de ser um experimento para se transformar propriamente na
vida deles. Mas isso não encerra a questão, pois, para tornar-se tori, eles não dei-
xaram de ser Karajá, nem nesses tempos antigos, aqui narrados, nem nos dias
de hoje. No que se segue, investiremos sobre o sentido desta duplicidade e da
relação que eles estabelecem entre ambos “os lados”, entre ser índio e ser branco,
215
Livro Conhecimento e Cultura.indd 215 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
entre o conhecimento e a perspectiva de índios e não-índios. Se até aqui vimos
as intenções envolvidas nessa história, agora nos concentraremos no resultado
dessa experiência, i.e., como se constituiu esse conhecimento.
Mestiçagem e mistura
A vida atual dos Karajá de Buridina é marcada por uma dualidade entre seu
próprio mundo e o dos tori. Porém, ao contrário do que supõem os estereótipos
e preconceitos, “virar branco” é apenas metade da questão, por assim dizer. Há
também as relações de parentesco, o inỹrybè, as comidas típicas, as disputas polí-
ticas características do grupo, xamanismo (ainda que sem xamãs reconhecidos),
práticas de resguardo, nominação, etc. Não se trata, assim, de escolher entre
essas duas perspectivas qual seria mais apropriada para descrever essa comuni-
dade. Nem, muito menos, de escrever uma “história do meio”, algo como uma
negação de seu estigma de aculturados por meio do reconhecimento de que seu
engajamento extremo no mundo dos brancos não lhes tira a condição de indí-
genas, pois sua tradição não estaria em contradição com a nossa “modernida-
de”. Não que isso não seja verdade. Pelo contrário, trabalhos como os de Sahlins
(1997a; 1997b), demonstram a fecundidade dessa abordagem para compreender-
mos situações como esta. O ponto é que ela resolve a questão para nós mesmos, i.e.,
desfaz contradições que antes existiam no nosso pensamento. Para o pensamento
indígena, porém, a questão parece se pôr em outros termos.
Acredito que, para os Karajá de Buridina, essas são duas histórias distintas e
legítimas, e não duas versões de uma única história. Há sempre a possibilidade
de contar ambas, mas nunca ao mesmo tempo. O meio (o mestiço, a mistura) não
é um entre dois, no sentido de um lugar intermediário entre os mundos indígena
e não-indígena. O meio não é um um, é um dois sem intervalo, no qual, em cada
momento, só se pode estar em um dos lados. O meio é ambos os lados, sem nun-
ca sê-los ao mesmo tempo. Não há um ponto de vista mestiço, misturado, pois o
meio é a possibilidade de ser ambos.
***
Na década de 1970, como dito acima, teve início a mestiçagem. Algumas dé-
cadas depois, podemos perceber que um dos resultados deste processo foi a ins-
tauração de um novo padrão de casamentos. Desde então, as uniões entre dois
indígenas é rara e, geralmente, fruto de particularidades das histórias pessoais:
o normal, poder-se-ia dizer, é casar com tori. Dessa forma, a grande maioria dos
atuais casamentos (77,8%) envolve um cônjuge não-indígena. Sendo, portanto,
216
Livro Conhecimento e Cultura.indd 216 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
a mestiçagem uma questão tão ampla e importante nesta aldeia, como os Karajá
conceitualizam este processo?
Há uma tríade conceitual indígena básica: puro, mestiço e tori. Índio(a) puro(a),
ou simplesmente puro, é a pessoa cujos dois genitores são indígenas (ou seja, pu-
ros). Os mestiços são os frutos das uniões destes com os tori, i. e, os não-índios.18
Esta é uma forma geral de classificação, mas que, estritamente, só abrange as
duas primeiras gerações – A, B, D, E, no Diagrama 1. O que acontece, então,
quando descemos neste diagrama? Como são classificados/pensados os netos,
bisnetos etc., deste primeiro casamento misturado? Os Karajá formulam tal ques-
tão a partir de dois principais idiomas: o da geração e o da distância.
O primeiro opera por uma espécie de marcação da geração do indivíduo ao
qual se refere. Explico-me. Seguindo o exemplo do Diagrama 1, se uma mulher
pura (A) se casa com um homem tori (B), terão uma filha mestiça (E). Se ela (E) se
casa novamente com um homem tori (F), os filhos do casal (I, J) serão ainda con-
siderados mestiços, mas “mestiços de terceira geração”, ou simplesmente “de ter-
ceira geração” (g3, no Diagrama 1). Se um destes (J), por sua vez, repete o matri-
mônio com não-índio (K), os filhos do casal (M) serão ditos “mestiços de quarta
geração”, ou simplesmente “de quarta geração” (g4). E assim sucessivamente.
Por vezes, os Karajá se referem aos mestiços (D, E) como “de segunda geração”
(g2), sobretudo em contextos em que estão fazendo cálculos sobre um fragmento
de genealogia. Mestiço, portanto, é um termo não marcado: pode tanto se referir
217
Livro Conhecimento e Cultura.indd 217 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
a qualquer indivíduo que tenha não-índios nas gerações ascendentes próximas
quanto especificamente à “segunda geração”. Note-se que esta formulação está
focada nos sucessivos matrimônios com os regionais.
Uma segunda formulação está pautada no idioma da distância. Trata-se
de uma forma geral de classificação que permite pensar sobre outras situ-
ações além dos casamentos com tori. Muitas vezes interpelei pessoas com
perguntas tais como: se os filhos de índios com não-índios são mestiços, os
filhos destes últimos com não-índios seriam o quê? Ainda mestiços? Haveria
outra categoria para classificá-los? E quanto aos filhos de mestiços com índios
puros?
Apenas algumas pessoas responderam a essas questões de forma assertiva:
filhos de mestiços com não-índios são tori, já não são mais indígenas; e filhos de
mestiços com índios puros voltam a ser puros. A maioria das respostas que recebi,
entretanto, eram mais vagas – “Rapaz, não sei! Acho que...” –, mas concordam
com essa formulação assertiva num sentido: nas falas dos Karajá há um consen-
so de que o casamento com tori provoca um afastamento em relação à cultura/
característica indígena (o que corresponde a uma progressão no esquema das
gerações, de A[g1] para E[g2], para J[g3]...), ao passo que casar com índio puro
direciona esse processo no sentido contrário (a passagem de I[g3] para L[g2]
ou de D para G, por exemplo). Assim, quanto aos filhos de mestiços com tori
(I, J e M), por exemplo, dizem que “vai distanciando”, “vai acabando”, “puxa
mais para o lado do branco”; já os filhos de mestiços com índios puros (G), “acho
que volta [a ser puro], não é?”, “volta de novo”, “puxa mais pro lado do índio”.
Nesta formulação, a volta é um caminho possível, como se pode notar. Mesmo
com uma distância genealógica considerável. Não importa de qual geração é um
mestiço, se de terceira ou de quinta, sexta: se ele (um homem, suponhamos) se
casar com uma índia pura, o filho do casal voltará à segunda geração. Afinal, se
assumimos sua linha de descendência materna como referência, o deslocamento
é apenas de uma geração.19
Já os filhos de casamentos entre dois mestiços continuam mestiços: afinal, um
casamento entre iguais não provoca nem distanciamento nem aproximação – da
mesma forma que filho de dois índios puros é igualmente puro ou filho de dois
tori é igualmente tori.
Paralela às duas formulações apresentadas, os Karajá utilizam ainda uma ou-
tra: o sangue.20 Um mestiço traz consigo sangues diferentes, vindos tanto da mãe
quanto do pai. É comum ouvir comentários do tipo “fulano, quer ver, já tem três
sangues, Karajá, Javaé e Tori!”, falando de um mestiço cujo pai, por exemplo,
seja um índio (mestiço de Karajá e Javaé) e a mãe seja tori.
218
Livro Conhecimento e Cultura.indd 218 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
***
Os Karajá, advirto, falam de mestiços, mas não de mestiçagem: este é o termo
que escolhi utilizar para me referir exclusivamente aos casamentos entre índios
e regionais e as crianças deles resultantes. O conceito utilizado pelos indígenas
é mistura, que tem um significado mais abrangente que este outro. Em suas fa-
las sobre este processo e sobre algumas de suas consequências, pode-se escutar
comentários com mesmo teor, ora se referindo aos mestiços, ora se referindo aos
jovens, em geral. A mestiçagem, poder-se-ia dizer, é um caso particular de um
processo mais amplo, que não se restringe à questão biológica. A mistura, assim,
é o que está em foco: ela é uma questão tanto para mestiços quanto para puros.21
Hoje, os Karajá dizem não haver problema que os jovens se casem com não-
-índios, desde que, com isso, não deixem de devotar a devida atenção à cultura
e tradição indígenas.22 Em Portela (2006:169), encontramos um exemplo desta
postura em uma fala de um indígena citada pela autora: “mas o meu caso é mais
tentar fazer que a aldeia mantenha sua cultura, num importa que tá casando com
não-índio, não importa não, porque as duas coisas são importantes”. Também
o Cacique Raul me dizia que, “no meu modo de ver, não tem jeito de parar os
meninos de casar na cidade. Contanto que mantenha a cultura, pode casar [com
tori] à vontade!”. Ou, como disse um homem quando o perguntei se a mestiçagem
não seria um problema,“o importante para nós é guardar a cultura na memória,
no sangue”, me respondeu. “Não importa que a mãe ou o pai não seja índio?”,
continuei. “Pode ter o olho azul, não importa”.
De modo análogo, também não se vê problema na mistura, como a fala de um
homem karajá bem o exemplifica.
A mistura não tem problema, não. Porque todos nós, seres humanos,
somos assim, misturados. Para mim, não importa a característica, se
é de índio, se não é. Importa é ele saber quem ele é, filho de índio.
Então, para ele, as duas coisas são importantes, tanto o conhecimento
do índio como o do não-índio. As duas coisas são importantes para
nós, como para nossas crianças. O meu lado direito [do cérebro] pode
ser inỹ, o esquerdo é tori!
Longe de verem a mistura como um problema, os Karajá de Buridina enfa-
tizam a importância dos “dois lados” (as culturas/perspectivas indígena e não-
-indígena). Ela é, antes, constitutiva da vida dos indígenas desta aldeia. Seu co-
tidiano é dividido, para tudo há dois lados. Detenhamo-nos um pouco sobre
alguns exemplos desta dualidade.
219
Livro Conhecimento e Cultura.indd 219 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
A começar pelo nome da aldeia. Alguns afirmam que é uma corruptela do
antigo nome da cidade (Leopoldina). Outros, entretanto, dizem que Buridina
é uma aproximação para o português do verdadeiro nome da aldeia em inỹrybè:
burudena hãwa, termo cuja tradução aproximada seria “lugar onde há muita con-
cha buru”.
Come-se tanto comida inỹ quanto tori, a primeira sendo obtida essencial-
mente pelas vias tradicionais (pesca, sobretudo), ao passo que a segunda é com-
prada no comércio local.
Fala-se tanto a língua indígena quanto o português, e todos têm um nome
inỹ e um nome não-indígena.
Há o reconhecimento de que aldeia e cidade são marcadas por distintas so-
cialidades, que não se confundem. Dizem que a cidade tem suas “leis”, falam
“na lei da cidade”, na “lei do branco”, a “organização lá de fora”, utilizando estes
termos para contrastar com a “cultura”, o “jeito cultural”, o “nosso jeito” ou a
“lei do índio”. Renan, por exemplo, me explicou certa vez:
Quando a gente vai pra cidade, quando atravessa o portão [da aldeia]
ali, tem que tirar a memória indígena, guardar no bolso e colocar a
memória de não-índio no lugar [gesticulando com as mãos como se
tirasse e colocasse pequenos chips de memória em sua cabeça]. Quando
chega pra cumprimentar alguém é “bom dia”, “como vão os senho-
res?”, se for uma mulher abraça e dá um beijo no rosto, ou então dá
um beijo nas costas da mão. Aí vão saber que quem está ali é um cava-
lheiro. Por que os índios não se cumprimentam assim, é na distância,
não se encostam. Aí quando passa do portão pra dentro tem que tirar
a memória do não-índio da cabeça e colocar a memória indígena, que
estava guardada [no bolso], no lugar. Aí volta a funcionar do nosso jeito.
Então a gente tem que ter essas duas memórias, e as duas são muito
importantes pra gente.
Todos nesta aldeia têm tori em suas famílias e, assim, entretêm com eles re-
lações de parentesco. Por outro lado, a incapacidade destes parentes tori de se
comportarem como parentes verdadeiros, sendo muitas vezes avarentos, pregui-
çosos ou mesmo utilizando o matrimônio interétnico como suporte e/ou justi-
ficativa para cometer infrações legais, marca sempre, aos olhos dos Karajá, seu
lado Outro.
***
220
Livro Conhecimento e Cultura.indd 220 26/4/2011 12:20:53
Eduardo Nunes
Voltemos aos cálculos da mistura, cujas formulações foram apresentadas no
início da seção. Seriam aquelas equações genealógicas e sanguíneas uma teo-
ria genética da inter-relação cultural? Certamente não, mas certamente sim.
Explico-me. Certamente não, se o que temos em mente são tipos similares de
explicação (sociobiológicas, sociogenéticas) que ainda hoje podemos encontrar
em nosso próprio mundo. Por outro lado, não pretendo dizer, com isso, que a
explicação indígena seja metafórica, que falam de corpo querendo dizer outra
coisa: trata-se sim de uma teoria corporal. Apenas seus corpos são diferentes dos
nossos (cf., por exemplo, Viveiros de Castro 2002). As teorias sociais ameríndias
são tão corporais quanto suas teorias corporais são sociais: mais precisamente,
essa distinção [entre o corpo (natural, dado) e relações sociais (construídas)],
clássica entre nós, não existe entre eles, como bem mostra Patrícia Rodrigues
para o caso Javaé. “O sujeito humano”, diz a autora, “não é uma abstração racio-
nal ou imaterial, mas antes de tudo um corpo” (2008:407).
Se a distinção entre atributos da mente e atributos do corpo não nos ajuda
a melhor compreender o que se passa no mundo ameríndio, nossas noções so-
ciais (e mentais) de mudança e relação cultural também tampouco o fazem. Uma
mudança social, para os ameríndios, apresenta sempre um correlato corporal,
ou melhor, é sempre ela própria corporal: “não há mudança espiritual que não
passe por uma transformação do corpo, por uma redefinição de suas afecções
e capacidades” (Viveiros de Castro 2002:390). O que poderíamos dizer, então,
sobre o caso dos Karajá?
“Eu valorizo muito os dois lados. Não valorizo só a nossa cultura, não só a
do branco: uma complementa a outra”, dizem constantemente os Karajá. Um
homem, por exemplo, criticava a atitude de algumas pessoas da aldeia porque,
quando morre alguém, “eles fazem é levar padre lá pra rezar”. Ele disse não
concordar com isso por não estar-se fazendo “do jeito cultural”. O correto, pros-
seguiu, era que as duas “religiões” (como ele dizia) estivessem presentes, não
só a dos tori: “a cruz e o itxe(k)ò,23 tem que ter os dois, mas o corpo é um só”.
Ou, como ele próprio havia dito em outra oportunidade, “minha característica
é indígena, mas eu uso duas coisas ao mesmo tempo, característica, língua...”
Se a mistura, para os Karajá de Buridina, como argumentei, é um dois sem inter-
valo, uma duplicidade na qual só se pode estar de um dos lados – sob uma das
perspectivas – a cada momento, o aspecto corporal deste fenômeno só pode se
apresentar também como uma duplicidade. Vejamos o caso dos xamãs Wari’, que
nos fornecerá uma imagem deste ser dois.
Tudo começa com uma doença, quando “o xamã dorme e sonha com karawa,
que ele vê com a forma humana, como um igual. É durante o sonho que ele será
banhado por jamikarawa e se sentirá ‘curado’, com melhor disposição física”
221
Livro Conhecimento e Cultura.indd 221 26/4/2011 12:20:53
“ O pessoal da cidade”
(Vilaça 1992:82). Com o banho, “o jam [do xamã] torna-se karawa [animal], e
com isso o processo de desaparecimento do corpo físico (doença-morte) é inter-
rompido; o agora xamã se torna um doente crônico, um wari’ com jam autôno-
mo, um homem-animal” (id. ibid.:83). “Tudo se passa como se o xamã tivesse
dois corpos: um humano, entre os Wari’, e outro animal, junto aos animais”
(id. ibid.:80). “Diz-se que o xamã jamu, ou seja, por meio de seu espírito, ele se
transformou e passou a ter um outro corpo” (Vilaça 2006:203).24
A relação dos Wari’ com os brancos se daria de maneira similar: assim como
o xamã não deixa de ser wari’, humano, quando ele jamu, i.e., quando sua “alma”
torna-se um corpo animal, o conhecimento e a experimentação do mundo dos
brancos constituem-se como um outro corpo-perspectiva possível, que não ex-
clui seu ponto de vista indígena. Nas palavras da autora:
Eu diria que os Wari’ querem continuar a ser Wari’ sendo brancos.
Em primeiro lugar, porque desejam as duas coisas ao mesmo tempo,
os dois pontos de vista. (...) Os Wari’, pelo que entendo, não querem
ser iguais aos brancos, mas mantê-los como inimigos, preservar a dife-
rença sem, no entanto, deixar de experimentá-la. Nesse sentido, vivem
hoje uma experiência análoga a de seus xamãs: têm dois corpos simul-
tâneos (id. ibid.:515).
Às conclusões as quais a autora chega, percebe-se logo, vão precisamente ao
encontro da descrição que faço aqui. Também para os Karajá de Buridina, a relação
entre seu próprio ponto de vista e o dos tori, mediada pelos casamentos misturados,
se constitui como uma questão corporal: a possibilidade de uma experiência du-
pla (o ser dois, poder acessar dois pontos de vista, como faz o xamã) corresponde
a uma duplicidade dos corpos. Não se trata, porém, de algo que é viabilizado por
um corpo duplo, mas de algo que o corpo duplo é: uma experiência dupla. Assim,
para os Karajá, segundo percebo, essa relação é o próprio corpo mestiço. Note-se que
quando falam dos sangues de uma pessoa mestiça, por exemplo, os Karajá não fa-
lam de um sangue misturado, como no caso Piro (Gow 1991), mas dos dois (três,
quatro...) sangues da pessoa. “Então nós temos quatro sangues misturados”, me
dizia uma senhora. Ou quando eu conversava com um homem sobre os possíveis
futuros filhos de uma jovem mestiça (cujo pai era mestiço de Karajá e Javaé) casada
com um índio Xerente, ele comentou que “a criança já vai ter, quer ver... quatro
sangues: Karajá, Javaé, tori e Xerente”. Uma perspectiva-corpo misturada não fun-
de os corpos-perspectivas que lhe dão origem: ela apenas os põe em relação. O
mestiço, a mistura, parece encarnar justamente essa relação. Não um um (um único
sangue), mas um dois sem intervalo (dois sangues em um mesmo corpo), onde só se
pode estar na relação de um dos lados, sob uma das perspectivas.
222
Livro Conhecimento e Cultura.indd 222 26/4/2011 12:20:54
Eduardo Nunes
E se, como argumentei, essa relação (a mistura) não se restringe aos mestiços,
não havia motivos para supormos que, no que tange aos corpos, isto seria di-
ferente: os corpos puros são tão duplos quanto os corpos mestiços. A procriação
– o que diferencia, afinal, puros e mestiços – é apenas uma parte do processo de
construção de um corpo-pessoa propriamente indígena (humano). Nem mes-
mo a concepção é, como entre nós, aquele momento mágico que inaugura um
processo de desenvolvimento biológico autônomo. Entre os Karajá, como entre
muitíssimos outros grupos ameríndios, a formação do feto depende de contínu-
as relações sexuais: o desenvolvimento do corpo do filho depende do acúmulo
de sêmen paterno no útero,25 não é algo automático. Os corpos-pessoas não nas-
cem nem prontos, nem mesmo humanos: é necessário que se os construa, des-
de dentro da barriga (cf. Coelho de Souza 2004). E, importante, isso se faz por
diversos processos, que vão desde a alimentação e “técnicas corporais” (como
o uso de certos adornos, escarificações e aplicação de substâncias geralmente
vegetais) aos cuidados e carinhos dos parentes (cf. Gow 1997). Os “corpos aqui”,
em suma, “são feitos, não dados, e uma etnografia após a outra tem mostrado
como os corpos são construídos e transformados por meio do compartilhamento
de substâncias como os alimentos, as palavras e as doenças” (Gow 2003:66). Em
Buridina, todos estes processos são misturados, tanto para os índios puros quanto
para os mestiços. Já falamos, por exemplo, que se come tanto “comida de índio”
quanto “comida de tori”; que a maior parte das pessoas tem tanto parentes inỹ
quanto tori; que se tem dois nomes, um indígena e outro não. Para tudo, enfim,
há dois lados.
A mestiçagem é a linguagem privilegiada pelos Karajá de Buridina para falar
da mistura, justamente porque o corpo mestiço, contendo em si os dois sangues,
sem nunca misturá-los, encarna ele próprio o modelo da relação entre as pers-
pectivas: contendo ambos os pontos de vista em si, ele é a própria relação.
Conclusão
Depois de tudo o que foi dito acima, poderíamos nos perguntar: o que signi-
fica, para os Karajá de Buridina, conhecer os tori?
Certamente, estamos falando de uma filosofia guiada por um outro ideal de
conhecimento. Tendo em vista o xamanismo, Viveiros de Castro argumenta que,
para o pensamento ameríndio,“conhecer é personificar, tomar o ponto de vista
daquilo que deve ser conhecido – daquilo,ou antes, daquele; pois o conheci-
mento xamânico visa um ‘algo’ que é um ‘alguém’, um outro sujeito ou agente”
(2002:358). Se falamos, porém, de uma filosofia ou pensamento, esses conceitos
certamente não dão conta da forma do conhecimento indígena, pois aqui não se
223
Livro Conhecimento e Cultura.indd 223 26/4/2011 12:20:54
“ O pessoal da cidade”
trata de abstrair algo – uma atividade da (nossa) mente –, mas sim de experimen-
tar um ponto de vista – uma atividade do corpo (indígena).
Certa vez, por exemplo, o Cacique Raul me contou que passou sete ou oito
anos frequentando uma igreja evangélica e que, quando já estava quase se tor-
nando pastor, decidiu sair. Surpreso, perguntei porque, depois de tão longa data,
optou por abandonar a vida religiosa, ao que ele respondeu: “Não, eu entrei só
para conhecer, mesmo”. A experimentação das perspectivas alheias, percebe-se,
é algo que se leva muito a sério.
Se olhamos para a história de Buridina, vemos que, para conhecer os bran-
cos, os Karajá precisaram viver com e como eles. Assim, “virar branco”, longe
de ser um movimento contra-identitário, é uma prática de conhecimento. E se,
como disse acima, o pensamento ameríndio prescinde de uma divisão entre o
material e o imaterial, entre os atributos da alma e os atributos da matéria, o
lugar do conhecimento, como uma prática de acesso a perspectivas outras, é o
corpo. Depois de mais de trinta anos vivendo na cidade, casando-se com os tori
e tendo filhos com eles, esse conhecimento se inscreveu no corpo dos Karajá de
Buridima, ou melhor, se constituiu como um segundo corpo. A mistura, assim,
pode ser vista como a própria história desta aldeia, um corpo (duplo) que é o
conhecimento de si e de outrem, a possibilidade de ser ambos.
224
Livro Conhecimento e Cultura.indd 224 26/4/2011 12:20:54
Eduardo Nunes
Notas
Em Motta (2004) encontramos diversas falas de moradores da cidade e de turistas que expli-
citam a imagem que eles fazem dos índios.
2
Inỹ é o termo de autodesignação dos Karajá, Javaé e Karajá do Norte (Xambioá); rybè signi-
fica “fala”, “língua”, “modo de falar”. Essa língua apresenta uma diferenciação da fala segundo o
sexo do falante, geralmente caracterizada pela inserção, na variante feminina, de uma consoante
(majoritariamente o “k”, mas também o “n” e o “tx”) onde há um encontro vocálico na fala mas-
culina (ou no caso de algumas palavras iniciadas com vogais). Os parênteses nas palavras grafadas
nesta língua representam a inserção da consoante na fala feminina.
3
“A reação normal de quase todos os Karajá, quando os julgam feiticeiros, é negar tal qualida-
de, alegando ser apenas curadores” (Fénelon Costa 1978:43).
4
Cf. Rodrigues (1993:150) e Donahue (1982:217) sobre as duas faces do xamã karajá.
5
Fala de Raul Hawa(k)a’ti, em Portela (2006:152).
6
Este córrego, juntamente com outro, Bandeirantes – situado pouco mais a montante, já
bem próximo da foz do rio Vermelho –, são hoje os limites sul e norte da Gleba I da T.I. Karajá
de Aruanã, que ainda conta com duas outras glebas. Para informações sobre as áreas e detalhes do
processo de demarcação, cf. Braga 2002.
7
Fala de Raul Hawa(k)a’ti, em Almeida (2007:23).
8
As informações sobre a quantidade de pessoas que esta aldeia chegou a aglutinar são contro-
versas, variando entre 300 (Pechincha & Silveira 1986:2), 800 ([Cavalcanti-]Schiel 2002:44) e mil
pessoas (Almeida 2007:23) – todas baseadas em relatos indígenas. A julgar tanto pelo comprimen-
to das fileiras de casas (segundo a memória indígena) quanto pela presença de duas casas rituais,
esta última estimativa parece mais provável. Se tomamos em comparação as maiores aldeias hoje
existentes, com populações variando entre 300 e 600 pessoas (cf. a tabela das populações das al-
deias atuais elaborada por Rodrigues 2008:168-170), nenhuma delas é grande o suficiente para
possuir duas destas casas. Nem mesmo na grande Canoanã, que chegou a reunir 800 pessoas, este
foi o caso.
9
A este respeito, cf., por exemplo, a descrição de Lima Filho (1994) do ritual Hetohokỹ.
10
Ibò(k)ò, o extremo do rio acima, é um termo de referência espacial (em contraposição à
iraru, o extremo do rio abaixo) mas que encerra um componente valorativo associado à tripartição
cósmica. Tudo o que está associado ao alto, ao extremo rio acima, ao leste, à luz e à cor branca e ao
biuwètyky (o céu, um patamar cósmico superior) é valorizado, em contraposição ao que está asso-
ciado ao oeste, ao baixo, ao extremo rio abaixo, à falta de luz e à cor negra e aos patamares cósmicos
inferiores (cf. Rodrigues 2008).
11
“Historiadores” são pessoas reconhecidas por serem grande conhecedoras da terminologia
de parentesco e das relações (de respeito, evitação, proximidade etc.) que ela implica, das genealo-
gias e de histórias de tempos antigos (narrativas míticas).
12
A literatura especializada concorda quanto à preferência pela endogamia de aldeia – cf.
Rodrigues (2008:738), Donahue (1982:145) e Lima Filho (1994:134).
13
Em Portela (2006:74), por exemplo, encontramos uma carta do então prefeito da cidade,
datada de 1975, relatando a situação da comunidade e cobrando atitudes do órgão.
14
Trata-se do episódio ocorrido no local hoje conhecido como inỹwèbohona (cf., p. ex., Eren-
reich 1948:81; Rodrigues 1993:273-274; Rodrigues 2008:578-579).
15
Em outros níveis de contraste, entretanto, como no caso de todos os assentamentos Karajá
e/ou Javaé estarem em consideração ou no caso de um (pequeno) assentamento específico ser o
foco da fala, a palavra “aldeia” serve como uma categoria abrangente. Assim, pode-se ouvir os
Karajá de Buridina se referir ao seu local de moradia como uma aldeia, assim como quando falam
das “aldeias Karajá”, também estão incluindo Buridina neste grupo.
225
Livro Conhecimento e Cultura.indd 225 26/4/2011 12:20:54
“ O pessoal da cidade”
16
A troca de olhares é um indicativo de desejo sexual.
17
Cf. outro registro semelhante em Portela (2006:206 – fala de Uberena).
18
Esclareço que os trabalhos de Cavalcanti-Schiel (2002 2008) já haviam registrado esta trico-
tomia classificatória básica e abordado alguns aspectos relativos à mestiçagem, e, assim, acabaram
por se constituir em um de meus pontos de apoio.
19
O Diagrama 1, advirta-se, não é genealógico: ele apenas sintetiza (com o engessamento
próprio deste tipo de representação), a lógica dos cálculos feitos pelos Karajá a partir de ambos os
idiomas, o da geração e o da distância.
20
Patrícia Rodrigues diz sobre os Javaé, que “não se acredita que o parentesco seja baseado no
compartilhar de um mesmo sangue”: reconhecem-se laços bilaterais de descendência pela “mistu-
ra do sêmen paterno [que forma o corpo da criança] e de influências menos visíveis das substâncias
maternas”, configurando uma consubstancialidade que não é uma consanguinidade (2008:521).
Quando os Karajá falam de sangue, porém, não parecem estar se referindo à substância-sangue.
Quando perguntei a algumas pessoas se a criança, quando nascia, trazia consigo tanto o sangue da
mãe quanto o do pai, recebi sempre uma negação como resposta. Assim, quando dizem, p. ex. que
“o sangue puxa”, estão se referindo a uma conexão entre os pais e a criança – os “laços bilaterais de
descendência” de que fala Rodrigues – cujo veículo não parece ser a substância do sangue. Eis aqui
uma dimensão da etnografia Karajá e Javaé que ainda merece ser mais explorada.
21
Em sua etnografia sobre os Yãnomãmi do Ocamo, na Venezuela, José Kelly (no prelo), fala
da relação destes indígenas com os brancos como uma “anti-mestiçagem”. Sua descrição guarda
enormes semelhanças com o que, seguindo os termos dos Karajá, chamo de mistura. Infelizmente,
porém, só tive a oportunidade de ler o trabalho do autor depois de ter escrito minha monografia
sobre Buridina.
22
Há, nesta aldeia, sobretudo por parte dos mais velhos, um discurso que associa a mistura à
“perda da cultura”, ou ao “fim da tradição”. Porém, como mostrei alhures (Nunes 2010), o pro-
blema não reside no fato da mistura, mas na forma específica que este processo vinha tomando em
Buridina, principalmente devido ao forte preconceito dos regionais e a pressão para deixarem o
território que ocupavam. A partir do início da demarcação das terras e, sobretudo, da implemen-
tação do Projeto de Educação e Cultura Maurehi, em 1994, cujo objetivo era justamente a reversão
deste quadro (cf. Pimentel da Silva 2009), esse panorama negativo vem se revertendo. Hoje, os
Karajá demonstram otimismo ao ver o interesse das crianças em aumentar seu conhecimento da
cultura karajá.
23
“É a cruz indígena”, artefato antropomorfo de madeira adornado que se coloca na cabeceira
do túmulo. Cf. Ehrenheich (1948:66-68).
24
Cf. o restante da descrição aqui resumida em Vilaça (1992:79-83; 2006:202-207).
25
Sobre o caso Karajá, cf. Donahue (1982:106) e Lima Filho (1994:132). Sobre os Javaé, cf.
Rodrigues (1993:50-51).
226
Livro Conhecimento e Cultura.indd 226 26/4/2011 12:20:54
Eduardo Nunes
Referências
ALMEIDA, Rita Heloísa de. 2007. Levantamento demográfico e socioeconômico nas al-
deias Buridina e Hurehawa e nos perímetros urbanos de Aruanã e Cocalinho,
estados de Mato Grosso e Goiás. Brasília, CGEP-Funai. 45 pp.
BALDUS, Herbert. 1948. “As tribos do Araguaia e o Serviço de Proteção aos Índios”.
Revista do Museu Paulista, N.S., vol. II.
BRAGA, André. G.. 2002. A demarcação de Terras Indígenas como processo de reafirma-
ção étnica: o caso dos Karajá de Aruanã. Monografia de graduação – Departa-
mento de Antropologia, Universidade de Brasília, Brasília. 49 pp.
[CAVALCANTI-]SCHIEL, Helena M. 2002. Etnicidade ou lógica cultural? Os Karajá
de Buridina e a cidade de Aruanã. Monografia de graduação, Departamento de
Antropologia, Universidade de Brasília, Brasília. 63 pp.
______. 2008. “Dançando cacofonias. A relação aldeia-cidade entre os Karajá”. Ensaio
inédito. 45 pp.
COELHO DE SOUZA, Marcela S. 2004. “Parentes de sangue: incesto, substância e
relação no pensamento Timbira”. Mana (10)1:25-60.
DIESTSCHY, Hans. 1978. “Graus de Idade entre os Karajá do Brasil Central”. Revista
de Antropologia, 21:69-86.
DONAHUE, George. 1982. A contribution to the ethnography of the Karajá Indians of
Central Brazil. Tese de doutorado, Universidade da Virgínia. 344 pp.
ERENREICH, Paul. 1948. “Contribuições para a etnologia do Brasil”. Revista do Museu
Paulista, 2:7-135.
FÉNELON COSTA, Maria Heloisa. 1978. A arte e o artista na sociedade Karajá. Brasília:
Funai.
GOW, Peter. 1991. Of mixed blood. Kinship and history in Peruvian Amazonia. Oxford:
Clarendon Press.
______. 1997. “O parentesco como consciência humana: o caso dos Piro”. Mana 3(2):39-
65.
______. 2003. “‘Ex-cocama’: identidades em transformação na Amazônia Peruana”.
Mana (9)1:57-79.
KELLY, José Antonio. no prelo. Becoming napë?: a symmetrical ethnography of healthcare
delivery among the Upper Orinoco Yãnomãmi. Tucson: University of Arizona
Press.
LIMA FILHO, Manuel Ferreira. 1994. Hetohokỹ: um rito Karajá. Goiânia: Editora UCG.
MOTTA, Olga Maria Fernandes. 2004. Os Karajá, o Rio Araguaia e os Outros: territo-
rialidades em conflito. Dissertação de mestrado em Geografia, Universidade
Federal de Goiás. 93 pp.
227
Livro Conhecimento e Cultura.indd 227 26/4/2011 12:20:54
“ O pessoal da cidade”
NUNES, Eduardo S. 2010. “De corpos duplos: mestiçagem, mistura e relação entre os
Karajá de Buridina (Aruanã - GO)”. Cadernos de Campo, 19:113-134.
PECHINCHA, Mônica S. & SILVEIRA, Ester M.O. 1986. Relatório circunstanciado de
identificação de área indígena. Brasília: Funai.
PIMENTEL DA SILVA, Maria do Socorro. 2009. Reflexões sociolinguísticas sobre línguas
indígenas ameaçadas. Goiânia: Editora da UCG.
PORTELA, Cristiane de Assis. 2006. Nem ressurgidos, nem emergentes: A resistência
histórica dos Karajá de Buridina em Aruanã – GO (1980-2006). Dissertação
de mestrado em História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 233 pp.
RODRIGUES, Patrícia de Mendonça. 1993. O povo do meio: tempo, cosmo e gênero
entre os Javaé da Ilha do Bananal. Dissertação de mestrado em Antropologia,
Universidade de Brasília, Brasília. 438pp.
______. 2008. A caminhada de Tanỹxiwè: uma teoria Javaé da história. Tese de doutora-
do em Antropologia, Universidade de Chicago, Chicago. 953 pp.
TORAL, André Amaral de. 1992. Cosmologia e Sociedade Karajá. Dissertação de mes-
trado – PPGAS-Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro. 287 pp.
VIERA FILHO, João Paulo Botelho. 1976. “Os índios Carajá da cidade de Aruanã”. Revis-
ta de Antropologia, 22:151-152.
VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como gente. Formas de canibalismo Wari’. Rio de Ja-
neiro: Editora da UFRJ/Anpocs.
______. 2006. Quem somos nós? Os Wari’ encontram os brancos. Rio de Janeiro: Editora da
UFRJ.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo B. 2002. “Perspectivismo e multinaturalismo na
América indígena”. In: A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac Nai-
fy. pp. 345-399.
228
Livro Conhecimento e Cultura.indd 228 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos:
reflexões acerca do pedido de
patrimonialização da Ayahuasca
Júlia Otero dos Santos
Esse trabalho investiga os possíveis significados, contextos, atores e redes
que emergem a partir do pedido de reconhecimento do uso da Ayahuasca em
rituais religiosos como patrimônio cultural do Brasil. A variedade de usos e
concepções relativos à bebida por parte dos grupos solicitantes – Santo Daime,
Barquinha e União do Vegetal –, bem como de alguns povos ameríndios que a
utilizam, acaba por colocar a própria beberagem no centro da questão, obviando
de certa forma os modos de fazer, saber e transmitir envolvidos nesse cenário.
A diversidade de denominações, mitos de origem, símbolos e rituais que
gravitam em torno da bebida faz questionar se estamos sempre diante de um
mesmo objeto quando se pretende inventariar seus usos rituais, conforme su-
gestão do Iphan. Por meio da análise de alguns dos contextos de utilização da
Ayahuasca – nas igrejas associadas no pedido de patrimonialização e em alguns
povos ameríndios –, buscarei mostrar ser possível ver a bebida como um agente
não-humano associado a humanos em diferentes redes ou contextos, em lugar
de pensá-la como um objeto único significado de diferentes formas: cada con-
texto cria sua “Ayahuasca”.
A inspiração para esta leitura é múltipla. Assim, nos termos de Gell (1998), o
exercício é conceber a Ayahusca como um agente sempre causador de efeitos em
sua vizinhança. Com Latour (1988), trata-se de pensá-la enquanto um ator ou
actante associado em várias redes. E em um vocabulário wagneriano, procurarei
investigar como o contexto molda o objeto (Wagner 1981).
229
Livro Conhecimento e Cultura.indd 229 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Patrimônio cultural no Brasil: alguns apontamentos
Inspirado pela Convenção da Unesco sobre a Salvaguarda do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural, de 1972, e pela Recomendação sobre a Salvaguarda
da Cultura Tradicional e Popular, de 1989 (documento proposto por alguns paí-
ses de Terceiro Mundo), o Estado brasileiro vem buscando criar e implementar
meios de proteção e promoção dos modos de criar, fazer e viver característicos
dos mais diversos grupos integrantes da sociedade nacional. É nesse ambiente
de discussão promovido pela Unesco que surgem expressões como “patrimônio
intangível” ou “patrimônio imaterial” – um conceito que, segundo Sant’Anna
(2006:17), enfatiza mais o processo e o conhecimento envolvidos na produção de
um bem cultural do que o produto em si. Em agosto de 2008, assim, foi aprovado
no Brasil o Decreto n° 3.551, instituindo o registro de bens culturais de natureza
imaterial.
Interessa-nos aqui analisar as implicações e os pressupostos quanto à natu-
reza do “objeto” envolvido no pedido, por parte de algumas religiões, de reco-
nhecimento do uso religioso da Ayahuasca como patrimônio cultural do Brasil.
No Processo 01450.008678/2008-61, aberto em 20/05/08, a Prefeitura de Rio
Branco-AC, a partir do diálogo com os três troncos fundadores das doutrinas
contemporâneas ayahuasqueiras, solicitou ao Ministro da Cultura que se instau-
rasse o “processo de reconhecimento do uso da Ayahuasca em rituais religiosos
como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira”.1 A justificativa apresentada
no documento é a afirmação de que “as doutrinas do Daime/Vegetal como esta-
belecidas por seus mestres fundadores tornaram-se partes indissociáveis da so-
ciedade brasileira, podendo assim receber nosso reconhecimento como patrimô-
nio cultural do nosso país”. Ainda nesse documento, afirma-se que a utilização
ritual da Ayahuasca preenche os quesitos que permitiriam caracterizá-la como
patrimônio imaterial.
Quais seriam esses quesitos? Uma breve investigação da legislação per-
tinente e dos materiais governamentais mostra que os conceitos e defini-
ções não possuem contornos muito nítidos, o que pode por um lado gerar
alguma confusão nos trâmites mas também, por outro, permite evitar o
engessamento dos procedimentos de reconhecimento e registro dos bens
imateriais. O Decreto n° 3.551 menciona somente os critérios de continui-
dade histórica e relevância nacional para a memória, identidade e forma-
ção da sociedade brasileira. Nesses critérios, parece caber uma diversida-
de de manifestações, classificadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico e Nacional (Iphan) – órgão vinculado ao Ministério da Cultura e
responsável pela política do patrimônio – em quatro categorias ou Livros
de registro:
230
Livro Conhecimento e Cultura.indd 230 26/4/2011 12:20:54
Júlia Otero dos Santos
Livro dos Saberes – para o registro de conhecimentos e modos de fa-
zer enraizados no cotidiano das comunidades; Livro das Celebrações
– para as festas, rituais e folguedos que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e outras práticas da vida
social; Livro das Formas de Expressão – para a inscrição das manifes-
tações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos
Lugares – destinado à inscrição de espaços como mercados, feiras, pra-
ças e santuários onde se concentram e reproduzem práticas culturais
coletivas. (Sant’anna, 2006:20)2
É nesse escopo de “materialização” da cultura que o patrimônio cultural
imaterial ganha (às vezes literalmente) substância. Como o uso ritualizado de
uma bebida de origem indígena em religiões com forte caráter sincrético pode
figurar nessa política?
Este é o cenário em construção no qual se situa a solicitação junto ao Iphan
por parte de algumas religiões que fazem uso da bebida composta pelo cipó de-
nominado de Jagube ou Mariri (Banisteropis caapi) e pela folha da Chacrona ou
Rainha (Psychotria viridis). Em reunião realizada em 26/11/2008, a Câmara do
Patrimônio Imaterial3 recusou o registro da Ayahuasca como patrimônio cul-
tural do Brasil sob a alegação de que este não apresentava elementos suficientes
para a identificação do objeto do Registro em relação às categorias e critérios es-
tabelecidos pelo Decreto 3551/2000. Segundo a ata da reunião, observou-se que
“comidas, bebidas, assim como crenças, filosofias e teologias, não constituem
em si bens culturais passíveis de Registro, mas sim, referências para a produção
e reprodução de processos, representações e práticas culturais”. Ainda segundo
o documento, o caso em questão exigiria uma “investigação dos usos rituais da
Ayahuasca e seu papel na constituição de referências culturais para os grupos
sociais envolvidos”. Sugere-se, assim, “a realização de um inventário4 amplo
acerca dos rituais em que se faz uso da Ayahuasca, a partir de sua origem indí-
gena, até os dias atuais”.
O estabelecimento de uma continuidade entre a origem ameríndia e os usos
religiosos por não-índios parece pressupor que está em jogo um objeto único,
uma bebida com atributos e propriedades fixos independente de sua inserção em
diferentes contextos e redes. A decisão da Câmara dá a entender que os solici-
tantes parecem confundir o produto – a Ayahuasca – com seus modos rituais de
utilização. A materialidade da bebida parece capturar a todos (religiosos, órgão
responsável pelas políticas de patrimônio e pesquisadores), obscurecendo a per-
cepção de que o estatuto ontológico das coisas depende de suas relações em um
contexto específico.
231
Livro Conhecimento e Cultura.indd 231 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Como nos ensina Wagner (1981), os significados são função dos modos pelos
quais criamos e, por outro lado, experimentamos contextos, vindo a existir, por-
tanto, somente em suas mútuas relações. Não existem significados primários. As
operações de definir e de estender uma palavra ou um elemento simbólico são a
mesma operação, ou ainda: “todo uso de um elemento simbólico é uma extensão
inovadora de associações adquiridas por meio da integração convencional a ou-
tros contextos”5 (1981:39). Logo, os significados primários são definidos de acor-
do com a importância e prioridades determinadas social e simbolicamente, o que
leva o autor a afirmar que a definição primária é um compromisso ideológico.
Por que supor que a Ayahuasca é desde sempre (ou, em vocabulário wagne-
riano, primariamente) indígena? A continuidade entre origem indígena e uso
religioso não deve ser tomada como óbvia. Não estou questionando aqui a ciên-
cia indígena envolvida na invenção e preparo da bebida, nem o fato de serem os
índios os precursores de seu uso. É consenso que a disseminação da Ayahuasca
ocorreu a partir do contato das populações locais com povos indígenas que se
relacionam com o cipó, principalmente a partir do segundo fluxo de exploração
da borracha, durante as primeiras décadas do século XX. Não houve, contudo,
coalizão de interesses entre as religiões ayahuasqueiras e os povos indígenas que
também se utilizam da planta. A preocupação do órgão com o acesso ao conhe-
cimento tradicional produzido por índios é compreensível, pois o registro de
um bem cultural de origem ameríndia que exclua esses povos poderia eventu-
almente criar descontentamentos e futuras reivindicações. Não estou propondo
ignorar os interesses e entendimentos desses povos quanto à possível declaração
do uso ritual da bebida como patrimônio imaterial do Brasil, mas apenas ques-
tionar a tendência, nesse processo, a conceber a bebida como um objeto “lá no
mundo” (moderno, claro), independentemente de seus contextos de uso.
Ainda que não se faça nenhuma descrição das formas rituais de utilização da
beberagem, dos saberes envolvidos e da participação das pessoas na carta em que
se solicita o pedido de registro, o objeto de reivindicação, contudo, é explicita-
mente seu uso ritualizado, conforme expresso em trecho da solicitação: “reco-
nhecimento do uso da Ayahuasca em rituais religiosos como Patrimônio Imaterial
da Cultura Brasileira” (grifo meu). Apesar dessa lacuna no processo, existe uma
literatura considerável a respeito do uso ritual da Ayahuasca, que servirá aqui de
material para reflexão.
Daime, Vegetal, Hoasca: a Ayahuasca no contexto religioso
A Ayahuasca – com sua multiplicidade de nomes e contextos – parece ser esse
objeto que se alterna na posição de agente ou paciente nos diferentes ambientes
232
Livro Conhecimento e Cultura.indd 232 26/4/2011 12:20:54
Júlia Otero dos Santos
em que aparece, conforme pensado por Gell em Art and Agency(1998). Se acom-
panhamos o autor e pensamos a agência não enquanto intuição não mediada,
mas a partir da detecção de seus efeitos no ambiente causal, ficamos mais pre-
parados para traçar as movimentações em torno da Ayahuasca e para levar a
sério o que seus “consumidores” estão nos dizendo. Interessa-me percorrer os
caminhos da beberagem, buscando perceber como ela atua no campo da ação
social nos diferentes espaços em que circula. A bebida aparece, assim, ora como
um agente propriamente dito, causador ele mesmo de efeitos em sua vizinhança
(um “agente primário”, nos termos de Gell), ora enquanto índice – instrumento
da agência social de humanos e não-humanos.
Embora o interesse maior de Gell esteja focalizado nos objetos artísticos, sua
teoria antropológica acerca da mobilização de princípios estéticos no curso da
interação social pode ser facilmente estendida para contextos em que o foco não
esteja na estética, uma vez que o autor nos fornece um vocabulário para imagi-
nar um universo no qual tanto humanos quanto não-humanos podem deixar
impressas as marcas de sua ação, causando efeitos em sua vizinhança.6
Quando se trata de reunir humanos e não-humanos, também não podemos
deixar de nos referir ao pensamento de Latour (1988:35). Uma inspiração aqui é
a ideia latouriana de que não conhecemos de antemão os agentes envolvidos na
ação, ou nas palavras do autor: “nós não sabemos quem são os agentes que fazem
o mundo. Devemos começar com essa incerteza se pretendemos entender como,
pouco a pouco os agentes definem uns aos outros, intimando outros agentes e
atribuindo a eles intenções e estratégias” (1988: 35). As coisas só ganham exis-
tência a partir de testes de força o que soa muito similar à ideia de Gell de que
não se pode dizer que alguém/algo é um agente antes que aja como tal, ou seja,
que perturbe o ambiente causal de modo que a perturbação possa ser atribuída
à sua agência (1998: 20).
Os mundos que nos interessam aqui gravitam em torno de (outros) mundos
conhecidos por meio do uso da Ayahuasca.7 Os grupos e doutrinas religiosos
envolvidas no pedido de patrimonialização surgem em diferentes períodos do
século XX e têm em comum o fato de serem fruto do encontro de migrantes
nordestinos que foram trabalhar nos seringais da Amazônia ocidental com as
tradições locais, principalmente dos povos indígenas da região. É no meio de
um ambiente até então desconhecido e de um trabalho árduo que Irineu Serra
(1892-1971), Daniel Pereira de Mattos (1888-1958), ambos maranhenses, e José
Gabriel da Costa (1922-1971), baiano, conhecem a Ayahuasca e fundam, respec-
tivamente, o CICLU-Santo Daime por volta de 1930, a Barquinha em 1945 (am-
bos no Acre), e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, mais conhecido
como União do Vegetal ou UDV em 1961 (em Rondônia).
233
Livro Conhecimento e Cultura.indd 233 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Cada um dos fundadores tem sua história particular de contato e revelação
com a bebida, a qual sempre envolve um mito fundador. Os relatos de adep-
tos e os textos acadêmicos divergem quanto a alguns pontos e datas referentes
aos fundadores e à origem dessas religiões, o que é perfeitamente compreensí-
vel uma vez que se trata de doutrinas cuja transmissão é principalmente oral.
Assim, também as interpretações acerca dos principais símbolos dessas religiões
são ricamente diversas.
Raimundo Irineu Serra conheceu a bebida provavelmente por volta de 1914
em um seringal no Acre. Após uma miração – visões experimentadas durante
a força psicoativa da bebida – com uma mulher chamada Clara, a Rainha da
Floresta, associada à Virgem Nossa Senhora da Conceição Imaculada, Irineu
começa a fazer uso da bebida em rituais com valores cristãos. É a partir dessa
experiência e com a autorização da Rainha da Floresta para realizar trabalhos
de cura que surge o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU)8 (cf.
Oliveira 2007: 177).
Daniel Pereira de Mattos começou seus trabalhos com a Ayahuasca no
CICLU, comandado por Irineu. Segundo Araújo (2004), Daniel recebeu duas
vezes uma mensagem de dois anjos que desciam do céu com um livro para ele,
a primeira vez tendo sido em um sonho e a segunda, anos depois, enquanto en-
contrava-se enfermo e era tratado por Irineu Serra. Após a revelação, Daniel cria
sua própria linha religiosa, primeiramente denominada Capelinha e mais tarde
de “Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz”, comumente
conhecida como Barquinha.
Segundo Lúcia Gentil e Henrique Gentil (2004), José Gabriel da Costa co-
nheceu a beberagem em 1959 com outros seringueiros em um seringal próximo
à fronteira com a Bolívia, onde bebeu o chá com sua família durante três anos,
“vivenciando um processo de recordação de sua missão de (re)criar a União do
Vegetal” (Gentil e Gentil 2004: 561). A doutrina constituída por Mestre Gabriel
é uma obra milenar cujo criador foi o rei Salomão, a qual, por não ter tido con-
tinuidade na Terra, ficou desconhecida por muitos séculos e foi resgatada por
Gabriel, que se apresenta assim como o re-criador dessa “obra milenar”.
Todas essas doutrinas são cristãs e se reconhecem de alguma forma como
constituídas pela fusão de elementos de diferentes religiões, como o kardecismo
e a umbanda. Nesse universo, cercado de uma aura de segredo, no qual rituais
e símbolos diferenciam-se de uma religião para outra, a Ayahuasca permanece
como o fio condutor da análise.
A primeira coisa que chama a atenção é a variedade de nomes atribuídos à
bebida ingerida nos rituais. No Santo Daime, ela é conhecida como Santo Daime
ou simplesmente Daime, nome pelo qual é igualmente chamada na Barquinha,
234
Livro Conhecimento e Cultura.indd 234 26/4/2011 12:20:54
Júlia Otero dos Santos
que também adota o termo Chá. Na UDV, é denominada de Vegetal ou Hoasca.
Esses nomes materializam-se a partir das diferentes histórias de contato de seus
fundadores com a bebida. Uma investigação mais detalhada das concepções que
os adeptos fazem da beberagem revela algumas distinções entre o Daime e a
Hoasca. Para os adeptos da UDV, ela aparece como instrumento de concentração
mental que possibilita a recepção dos ensinamentos da doutrina. Já para aqueles
que tomam o Daime, a bebida é claramente percebida como um ser dotado de
intenções, aproximando-se, assim das visões indígenas e vegetalistas acerca da
Ayahuasca.9
Como coloca Couto (2004), a bebida é sagrada, veículo de comunhão en-
tre pessoas e seres espirituais, objeto de veneração, agente de revelação e co-
nhecimento. Para Oliveira (2007), há um ser divino na bebida, que ensina aos
seguidores:
[...] para os daimistas, em síntese, quem ensina é o Daime, percebido
não apenas como uma bebida, mas como um ser divino que se mani-
festa em um sacramento e o que ele ensina é a doutrina, seus princí-
pios morais, éticos e filosóficos, ou seja, o seu ordenamento simbólico
que se aprende ao longo do consumo ritualizado da bebida na religião
e na vivência comunitária dos adeptos. (Oliveira 2007: 50)
Embora o Daime nem sempre apareça humanizado no Santo Daime, ele
é certamente percebido ali como uma entidade dotada de capacidade de ação.
Como coloca Gell (1998), a agência social não é sempre definida em termos de
atributos biológicos básicos – como poderíamos pensar uma vez inseridos na
matriz ocidental, que costuma operar com a oposição entre coisa inanimada e
pessoa encarnada. A agência é relacional: ao atribuir o status de “agente social”
não importa o que uma coisa ou pessoa é em-si mesma, mas onde ela está em
uma rede de relações sociais (1998: 123). Isso porque a agência assim compreen-
dida encontra-se na detecção dos efeitos da ação no ambiente causal, em lugar de
se tratar de uma intuição não mediada – o que nos permite entendê-la como um
fator do ambiente como um todo, uma característica global do mundo das coisas
e das pessoas, e não como um atributo exclusivo da psique humana.
Obviamente, não pretendo com essas observações obliterar o lugar da ação
humana no uso ritual do Daime – considere-se por exemplo o trabalho espiri-
tual conduzido no salão pelo padrinho e/ou madrinha responsáveis pela igreja.
Oliveira afirma que há uma compreensão entre os daimistas de que o efeito do
Daime depende dos cuidados envolvidos em sua elaboração. Além disso, “a per-
feição e a firmeza na execução do ritual dão força ao Mestre,10 ou seja, são fatores
que contribuem para o incremento da força fluídica da bebida” (2007: 252).
235
Livro Conhecimento e Cultura.indd 235 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Estamos, portanto, falando de um conjunto de relações que envolvem hu-
manos e não-humanos. O desenrolar do ritual no salão não é a representação de
eventos, mas o testemunho de um resultado: o resultado ou efeito da mobiliza-
ção de relações. Uma paralelo poderia ser feto com a análise de Strathern (1999)
da fotografia do dançarino Hagen vestido com seus adereços rituais. Cada corpo
decorado é único, exibe as relações às quais a pessoa teve de recorrer para se
apresentar de uma forma apropriada. Diferentemente do retrato, no qual o que
está pré-figurado são os traços fisionômicos, na fotografia do dançarino Hagen
são as relações que aparecem: a foto do dançarino não é o retrato nem de um in-
divíduo nem de um grupo. Não se trata de um retrato porque “a individualidade
repousa não tanto na aparência quanto no ato de reunir” (Strathern, 1999: 41).
Os homens dançam com aparências quase idênticas, mas para tanto cada um
recorreu às suas próprias relações, as quais marcam sua individualidade.
No salão do Santo Daime, homens e mulheres também dançam, ou melhor,
bailam, uniformizados e também de forma quase idêntica; no entanto, cada um/a
recorreu a seus próprios guias espirituais, à preparação a que se submeteu para
ingestão da bebida11 e a sua posição específica na igreja.12 O trabalho espiritu-
al realizado por cada pessoa é o efeito dessas mobilizações. Como em Hagen,
“testemunhamos um resultado: o resultado ou efeito de mobilizar relações”
(Strathern 1999: 41).
A União do Vegetal, com sua cosmologia própria, descortina outro contexto,
dentro do qual a Hoasca ou Vegetal parece ser reconhecido mais como instru-
mento mental do que como um agente. Segundo Gentil e Gentil, “para a UDV, a
Hoasca é um veículo, um instrumento de concentração mental, através do qual
a doutrina do Mestre Gabriel é difundida a seus discípulos” (Gentil & Gentil
2004: 561). A bebida também pode ser percebida como “facilitadora da concen-
tração mental para, neste estado em que a sensibilidade se aflora e a consciên-
cia se altera, veicular o seu conteúdo religioso, forjado pelo Espiritismo e pelo
Cristianismo”13 (Andrade 2004: 59). Esse estado mental diferenciado é atingido
por meio da burracheira que, segundo Mestre Gabriel, significa “‘força estranha’,
é a presença da força e da luz do Vegetal na consciência daquele que bebeu o chá.
Assim, trata-se de um transe diverso, no qual não há perda da consciência, mas
sim iluminação e percepção de uma força desconhecida” (Brissac 2004: 583).
O discurso da UDV, expresso em seu estatuto e em materiais de divulgação,
insere-se dentro de uma lógica bem racionalista e cientificista, o que explica a
tentativa de dissociar a ideia de transe de inconsciência e de associar os efeitos
do Vegetal a estados mentais e não espirituais. Diferentemente do Daime, onde
a bebida pode ser compreendida como um ser vivo que ensina a cada seguidor/a,
na UDV aprende-se do mestre que conduz a sessão e não diretamente da Hoasca.
236
Livro Conhecimento e Cultura.indd 236 26/4/2011 12:20:54
Júlia Otero dos Santos
O mestre pode ser visto, portanto, como um porta-voz que expressa o que
o agente não-humano está dizendo (Latour 1988). Ele é o intérprete do invisí-
vel. Já no Santo Daime, parece que cada participante do ritual é porta-voz de si
mesmo, sendo capaz de interpretar a seu modo e a partir dos ensinamentos da
doutrina a experiência vivenciada com a ingestão do chá. É claro que essas ex-
periências são compartilhadas coletivamente, o que auxilia no trabalho de com-
preensão das intuições e mirações.
As diferenças na concepção da bebida também aparecem no interior de uma
mesma doutrina. Dentro do Santo Daime podemos ver a emergência de dois
contextos separados no tempo, a partir dos quais emergem dois objetos clara-
mente distintos. Segundo Oliveira (2007), o Santo Daime seria um aprimora-
mento da utilização ancestral da bebida, legada pela cultura inca. Antes de ser
doutrinada, a beberagem chamava-se Ayahuasca. Depois passa a ser designada
por Daime. Como diz um dos entrevistados pela autora: “antes era Ayahuasca.
Mas esse era o nome primitivo, ainda sem a doutrina. O nome doutrinado é
Daime”. E quem nomeia é a Rainha da Floresta, que faz de Mestre Irineu seu
porta-voz. Do rogativo formado pelo verbo dar e a partícula me, tem-se “dai-me,
dai-me força, dai-me luz, Daime, Santo Daime”. A tradução de Ayahuasca em
Daime se faz em associação com a cristianização da bebida, o que talvez explique
um silêncio quanto aos vinte anos em que Irineu viveu na floresta.14
Há poucas informações referentes à Barquinha, o que dificulta qualquer for-
mulação acerca da concepção dos adeptos sobre o Daime ingerido durante os
trabalhos. Segundo Araújo (2004: 545), a bebida é considerada uma substância
de poder e, para poder tomá-la, a pessoa precisa se mostrar digna dela, passando
por uma série de provas que, no entanto, não são descritas pelo autor. Ainda de
acordo com Araújo, “o enteógeno também é tido como um instrutor que ensina
os participantes dos rituais que o utilizam. Estes ensinamentos estão presentes
desde o momento em que Mestre Daniel resolveu formar a missão através do
Livro Azul” (Araújo 2004: 545). A beberagem para os adeptos da Barquinha pa-
rece aproximar-se das concepções de daimistas e vegetalistas, o que pode ser ex-
plicado pelo fato de Mestre Daniel ter iniciado-se nos trabalhos com Ayahuasca
com Mestre Irineu.
Percebemos assim que, para os adeptos do Santo Daime (e provavelmente
para os da Barquinha), o chá é um mestre que ensina diretamente seus discí-
pulos, os quais podem ser pensados como índices a partir dos quais a ação do
Daime pode ser “abduzida” (Gell 1998).15 Já para os freqüentadores da UDV, o
Hoasca é um instrumento de concentração mental que, em associação com a in-
tervenção do Mestre que conduz a sessão, “transmite as orientações doutrinárias
úteis à transformação individual”.16
237
Livro Conhecimento e Cultura.indd 237 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Conexões parciais: a multiplicidade dos contextos de uso da Ayahuasca
As origens diversas atribuídas à bebida, as concepções diferenciadas viven-
ciadas dentro de cada doutrina, bem como a condução ritual de seu sacramento,
apontam para a centralidade dos contextos específicos de uso em sua definição,
levando-nos a questionar o quanto estamos autorizados a falar aqui de um objeto
único – a Ayahuasca. Ainda assim, para as doutrinas motivadoras do processo
junto ao Iphan, ao menos diante do Estado, trata-se de uma mesma “coisa” –
a Ayahuasca, conforme consta na documentação. Embora tenham concepções
distintas acerca da bebida e a consagrem de acordo com os mandamentos parti-
culares de suas religiões, integrantes da UDV, Barquinha e CICLU resolveram
se associar e, considerando a sugestão de Latour (1988) de que toda associação
envolve negociações e ajustes por definição políticos, seria conveniente uma
investigação mais detalhada dos fundamentos e implicações desta associação –
para além do fato óbvio de que tal associação fortalece os atores que compõem
a rede de patrimonialização da Ayahuasca – que não será possível realizar aqui.
Ainda inspirados pelo autor, lembramos que “nada é, por si mesmo, o mesmo
ou diferente de outra coisa qualquer. Isto é, não existem equivalentes, somente
traduções” (Latour 1988: 162). O contexto do processo acaba por criar uma nova
rede em que a bebida se insere, tornando experiências que poderiam ser vistas
como distintas equivalentes, ao menos perante o Estado.
Os grupos que encabeçam a solicitação de reconhecimento do uso ritual da
beberagem enquanto patrimônio imaterial consideram-se como sendo os três
troncos fundadores das religiões ayahuasqueiras e se auto-denominam comu-
nidades tradicionais da Ayahuasca em oposição às comunidades originárias (povos
indígenas) e comunidades ecléticas (CEFLURIS e diversos outras religiões ditas
neo-ayahuasqueiras).17 Conforme a descrição apresentada, pode-se notar que a
origem ameríndia da bebida é assumida pelos devotos dessas religiões apenas
como um dos componentes de sua totalidade sincrética. As ditas comunidades
originárias são reconhecidas como detentoras de um saber transmitido aos fun-
dadores das doutrinas tradicionais, mas pouco aparecem nos processos que a
Ayahuasca teve de enfrentar perante o Estado, seja no caso do patrimônio ou da
liberação do uso religioso, assunto que será tratado mais adiante.
Nos estudos sobre o uso indígena da bebida, percebemos um uso intima-
mente ligado à prática xamânica. A beberagem aparece em grande parte das
narrativas míticas dos povos Pano, Aruaque e Tucano. Para esses índios, ela
[...] é um agente capaz de revelar os segredos do universo e apresentar
a face real de outros seres igualmente dotados de humanidade, mas
que no estado de percepção normal são plantas e animais. Assim, a
238
Livro Conhecimento e Cultura.indd 238 26/4/2011 12:20:54
Júlia Otero dos Santos
Ayahuasca permite o acesso a uma outra realidade, ou seja, ‘possibilita
a percepção da igualdade entre os seres, vendo como humanos (iguais)
os seres encantados’ (Vasconcelos 2009: 14).
A Ayahuasca apresenta-se aqui como um ser dotado de alma que possibilita
o contato com outros seres, imaginados como fonte de conhecimento e poder. A
ingestão da beberagem possibilita, assim, visões e acesso ao mundo espiritual.
Até o momento, operei com os seguintes níveis na distinção entre os contex-
tos de uso da Ayahuasca: descrevi a utilização da bebida na UDV, Santo Daime
e Barquinha, para depois englobá-la em um contexto religioso tradicional, con-
forme essas doutrinas posicionam-se perante o Estado (e parecem ser por ele
percebidas) em oposição ao uso indígena da bebida.18 Contudo, a depender de
onde “cortamos” o social ou das conexões (parciais, sempre) assim criadas, esses
dois contextos podem ser agrupados em um – que se poderia descrever apres-
sadamente como uso para fins espirituais – em oposição, por exemplo, a uma
utilização recreativa.
Nesse sentido, é importante ressaltar que o pedido de patrimonialização da
Ayahuasca foi precedido em muitos anos pelo debate sobre sua legalidade. A le-
gislação sobre o uso da bebida começou a tomar forma no início dos anos 1980,
a partir de denúncias sobre o uso de um chá alucinógeno e de Cannabis sativa na
Colônia Cinco Mil, comunidade original do Padrinho Sebastião, pertencente à
linha do CEFLURIS. Em 1985, formou-se a primeira equipe multidisciplinar
para avaliar e regulamentar o uso da Ayahuasca, o que culminou na criação de
uma comissão de trabalho para analisar suas formas de consumo, sob a égide do
então Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN, atual Secretaria Nacional
Anti-Drogas – SENAD). Em 1985, a Ayahuasca foi colocada na lista das subs-
tâncias proscritas pela Divisão de Medicamentos (DIMED) do Ministério da
Saúde, mas os estudos realizados pela comissão levaram à retirada da bebida
da lista em 1986. Em 1992, a legalidade da Ayahuasca voltou a ser questiona-
da, outra vez por acusações de uso indevido juntamente com outras substâncias
ilícitas. Foi instalada uma comissão mista, com a inclusão de membros das en-
tidades usuárias e orientada pelo CONFEN, tendo como resultado a produção
de um relatório que repudiou o teor intolerante das acusações e confirmou a
suspensão da interdição da bebida (Labate 2004: 413).
Conforme observado por Pedreira (2009), o foco da regulamentação é a defi-
nição de um objeto cultural restrito ao âmbito religioso. No âmbito da legaliza-
ção do uso religioso da Ayahuasca, as comunidades tradicionais já haviam optado
por se associarem,19 buscando criar, nas palavras de Pedreira, uma identidade
geral calcada em uma utilização específica da bebida: assim, “o uso permissivo
239
Livro Conhecimento e Cultura.indd 239 26/4/2011 12:20:54
Diferentes contextos, múltiplos objetos
só pode ocorrer dentro de padrões que devem delimitar as diferentes linhas que
usam o chá e agrupá-las sob o valor de um mesmo objeto, tomado como único e
sinônimo do próprio ritual” (2009: 28). Para liberar, portanto, é preciso controlar
o significado o uso ritual, isto é, “traduzi[r] a deontologia do uso da Ayahuasca,
como forma de prevenir seu uso inadequado”, conforme explicita o relatório
final Grupo Multidisciplinar de Trabalho sobre a Ayahuasca (GMT-Ayahuasca)
do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) instituído em 2006,
com o objetivo de contribuir para a plena implementação do que até então havia
sido discutido e aprovado “sobre o uso religioso da Ayahuasca”.
Prevenir quanto ao uso inadequado (em outras palavras, não-tradicional,
não-religioso, não-ritual) corresponde, assim, a listar formas corretas e respon-
sáveis de utilização da Ayahuasca. Todo o esforço empreendido pelos órgãos li-
gados à temática das drogas visa, assim, a garantir o uso religioso da bebida.
É nesse sentido que comunidades tradicionais, comunidades ecléticas e até mesmo
comunidades originárias poderiam ser pensadas como um contexto único em opo-
sição ao “uso recreativo” da Ayahuasca. A bebida para essas comunidades é, gene-
ralizando, sacramento. Já para os não-religiosos, apresentar-se-ia, aos olhos de
religiosos e do Estado, como droga, substância ilícita.
Se o processo de legalização da Ayahuasca cria um objeto cultural “religio-
so”, que objeto pode surgir a partir do inventário sugerido pelo Iphan? Novos
significados, ou simplesmente significados diversos, estão em jogo no “campo
ritual ayahuasqueiro”. Esse é um fato importante quando nos deparamos com
a demanda pela patrimonialização. É possível incluir significados plurais em
compreensões institucionalizadas do que está “dentro” ou “fora” do reconheci-
mento do Estado?
Considerações finais: patrimônio e inventário como objetificação da cultura
Este trabalho buscou identificar alguns dos contextos e redes em que a
Ayahuasca está inserida e como, a depender desde onde se olha ou de quais tes-
tes de força se enfrentam, essas redes acabam associando-se, estendendo-se ou
retraindo-se. Ao levar em conta as redes e contextos em que a beberagem está
inserida, ficamos mais aptos a perceber como ela adquire significados a partir da
relação entre os vários agentes que compõem essa rede, o que implica que a va-
riação dos elementos e de seus arranjos sociais acaba por criar uma diversidade
de Ayahuascas. Nessa imensidão de conexões, a beberagem não é um objeto do
mundo natural a ser significado culturalmente, mas um agente/paciente sempre
determinado pelos efeitos das ações dos outros atores envolvidos. Seu estatuto
ontológico depende dos outros termos das relações e batalhas em que se engaja.
240
Livro Conhecimento e Cultura.indd 240 26/4/2011 12:20:54
Júlia Otero dos Santos
Como diria Latour, “novos testes produzem um novo agente” (1988: 98). Assim,
em cada rede e contexto por onde a(s) Ayahuasca(s) transita(m), criam-se senti-
dos, sujeitos e objetos distintos.
As descrições apresentadas nos mostram como a bebida e seus usos têm uma
forma particular – ou, nos termos de Strathern em suas análises da troca na
Melanésia, uma forma apropriada para aparecer – diferente para membros das co-
munidades tradicionais da ayahuasca, indígenas ou pesquisadores. Enquanto para
o Santo Daime e para populações indígenas amazônicas, por exemplo, a planta é
um “mestre” que ensina, é dotada de intencionalidade, reflexão e características
altamente humanizadas, para a UDV a bebida é um objeto, um meio material de
se chegar a uma finalidade mental. Portanto, desde que se entenda que esse ob-
jeto é plural, que está se falando de Ayahuascas, a realização do inventário pode
ser um bom caminho para se mapear o uso ritual da bebida.
A ideia de se inventariar ou patrimonializar um bem não deixa de nos re-
meter às noções de invenção e objetificação da cultura conforme propostas por
Wagner (1981). Para se patrimonializar ou inventariar, é preciso pensar o uni-
verso de consumo da Ayahuasca como uma cultura, isto é, estender a ideia de
cultura para esse universo, ou como diria Wagner, metaforizar a vida em cultura
– descrever em termos desse conceito o que para alguns é simplesmente vida.
Como é possível descrever uso ritual da Ayahuasca em sua multiplicidade? No
processo da transferência de associações dos contextos de uso da bebida para
outro contexto (seja o do registro de bem cultural ou de inventário), é possível
que a invenção e particularidade dos usos manejados pelas diversas comunidades
não sejam pulverizadas ou reificadas?
A objetificação da Ayahuasca que os aparatos do Estado operam, seja por
meio dos possíveis estudos/políticas no âmbito do patrimônio ou da regulamen-
tação de seu uso religioso, dificilmente conseguiria escapar da lógica convencio-
nal operada por uma simbolismo coletivizante (Wagner), uma vez que é vocação
do Estado conceder ordem e integração racional ao vivido. Os efeitos disso so-
bre a lógica da objetificação diferenciante, ou seja, que especifica e concretiza o
mundo desenhando distinções radicais e delineando suas individualidades, que
me parece mais próxima daquela operante em pelo menos alguns dos contextos
de utilização da Ayahuasca, é difícil de prever. Seria preciso investigar casos
concretos de patrimonialização para recolocar a pergunta: será possível pensar
em um “regime jurídico suis generis” que não violente as diferenças, e o cons-
tante diferenciar, que constituem aquilo que pode ou não pode ser considerado
patrimônio da nação?
241
Livro Conhecimento e Cultura.indd 241 26/4/2011 12:20:55
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Notas
Trabalho apresentado na 27ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e
04 de agosto de 2010, Belém-Pará, Brasil. Esse trabalho é parte de um dossiê mais completo sobre
o pedido de patrimonialização da Ayahuasca produzido no âmbito da disciplina “Cultura: inven-
ção, objetivação, apropriação” ministrada pela professora Marcela Coelho de Souza no PPGAS
DAN/UnB em 2008. O dossiê foi elaborado coletivamente e agradeço a meus colegas Walison
Vasconcelos, Paulo Roberto Nunes Ferreira, Carolina Pedreira, Antonio R. Guerreiro Júnior e Pe-
dro de Lemos MacDowell a autorização e o incentivo para submetê-lo à apresentação. Reproduzo
aqui com uma série de alterações a parte de minha autoria, sempre inspirada pelas discussões e
reflexões dos colegas (o dossiê completo será publicado pela Série Antropologia da UnB). Sem
as contribuições de Marcela Coelho de Souza bem como de suas aulas esse trabalho não seria
possível. Agradeço às funcionárias do Iphan Sílvia Guimarães e Fabíola Cardoso pelo acesso ao
processo e pelos esclarecimentos prestados sempre que solicitadas.
1
Os três troncos envolvidos na solicitação são: Centro de Iluminação Cristã Luz Universal –
Alto Santo (CICLU- Santo Daime); Casa de Jesus – Fonte de Luz (Barquinha) e Centro Espírita
Beneficente União do Vegetal – UDV. O CEFLURIS, uma linha do Santo Daime fundada pelo
Padrinho Sebastião Mota Melo, segundo o documento, não foi convidado a entrar na comissão
“por ter elementos complementares destoantes das demais doutrinas”.
2
O Decreto n° 3.351 prevê a possibilidade de abertura de novos Livros de Registro.
3
Essa câmara é composta por notáveis e tem entre outras funções fazer uma triagem dos pro-
cessos que devem seguir adiante.
4
No âmbito das políticas para o patrimônio imaterial, o inventário tem como objetivo a pro-
dução de conhecimento sobre as expressões culturais.
5
Todas as traduções dos textos referidos em língua original são minhas.
6
Creio que Gell aprovaria tal apropriação de sua teoria: “antropologia da arte, para reiterar, é
somente antropologia mesmo, exceto que ela lida com essas situações nas quais há um ‘índice de
agência’ que é normalmente um tipo de artefato” (1998: 66).
7
Diante da variedade de nomes (e até mesmo das folhas que se unem ao cipó no preparo da
bebida) pelo qual a Ayahuasca é conhecida entre os adeptos das diferentes doutrinas religiosas,
povos ameríndios e outros grupos que fazem uso da bebida, é preciso esclarecer que optei por esta
denominação para identificar a bebida composta pela Banisteropis caapi e pela folha da Psychotria
viridis por ser esse o nome que consta no processo do Iphan. Ayahuasca, do quéchua “cipó dos
deuses” ou “vinho das almas”, é certamente o nome mais popular da combinação do cipó com a
chacrona e pode até mesmo ser visto como porta-voz (Latour 1988) do yagé, shori, kamarampi, nixi
pae, daime, hoasca, e outros nomes que o preparado dessas plantas pode receber.
8
O CICLU é, portanto, a igreja fundadora do Santo Daime. Com a morte de Irineu (e após
rituais do Alto Santo já terem sido organizados na Colônia 5000), um de seus seguidores, Sebastião
Mota de Melo (1920-1990), sai do CICLU, funda o Centro Eclético da Fluente Luz Universal Rai-
mundo Irineu Serra (CEFLURIS), introduz mudanças organizacionais e adiciona o sacramento
da Santa Maria (cannabis sativa). O CEFLURIS é uma linha mais expansionista do Santo Daime,
mantendo igreja em vários lugares do Brasil e no exterior. Podemos suspeitar que, pelo tom do
documento encaminhado ao Iphan, o CEFLURIS não se encontre entre as doutrinas que solici-
taram o pedido de patrimonialização devido ao sacramento da Santa Maria – “por ter elementos
complementares destoantes das demais doutrinas”, conforme se lê no documento. É importante,
todavia, frisar que nem todas as igrejas ligadas a esta linha fazem uso dessa planta de poder.
9
Sobre as concepções vegetalistas, ver Luna (2004). Segundo essa tradição, “algumas plantas
ou ‘vegetais’, possuidoras de espíritos sábios, teriam a faculdade de ‘ensinar’ às pessoas que os
procuram” (2004: 183). Elas seriam, assim, consideradas “mestras” ou “professoras” pelos mesti-
ços peruanos. Entre os seringueiros do Brasil, Franco e Conceição (2004: 219) encontraram uma
242
Livro Conhecimento e Cultura.indd 242 26/4/2011 12:20:55
Júlia Otero dos Santos
concepção parecida: “todos reconhecem que a bebida ‘é professora’ e a ciência está em saber com-
preender o que é, sob seu efeito, vivenciado”. Para as concepções ameríndias, ver adiante.
10
Entre alguns seguidores, existe a compreensão de que Mestre Irineu é o Daime.
11
Recomenda-se que nos três dias antes de tomar o Daime, a pessoa não consuma bebida al-
coólica, carne vermelha nem mantenha relações sexuais. Para que a energia possa ser conservada,
é recomendado também abster-se de tais práticas até três dias após a ingestão.
12
Refiro-me aqui a uma posição simbólica que pode ser auferida pelo tempo de pertencimento
à igreja e pelo lugar em que se senta ou se baila nas fileiras dispostas no salão. Antigamente, havia
uma hierarquia entre os fardados – iniciados na doutrina – que podia ser verificada nas insígnias
que constavam no uniforme. Ciente das intrigas e disputas que isso gerava entre os fiéis, Mestre
Irineu aboliu esse tipo de diferenciação.
13
No sítio da internet da UDV, lê-se que o chá é “um instrumento de concentração mental
dado o seu poder de favorecer estados ampliados de consciência benéficos ao desenvolvimento
moral e intelectual do ser humano”.
14
As transformações nominais não se restringem somente à bebida, mas a seus componentes.
Quando a bebida chamava-se Ayahuasca o cipó era designado Mariri e a folha, Chacrona ou Mes-
cla. “Foi a partir da evolução da compreensão do Sr. Irineu sobre a Ayahuasca e de suas vivências
culturais que se deu a elaboração dos novos nomes dos componentes da bebida. Então, a folha foi
rebatizada como Rainha, o cipó foi designado como Jagube e a bebida recebeu o nome de Daime”
(Oliveira 2007: 249-250).
15
A ação do Daime na pessoa pode ser abduzida a partir de transformações de comportamen-
to, sentimentos, aparência e até curas de doenças ou de dependência química.
16
Ver http://www.udv.org.br/Uma+doutrina+crista/A+sagrada+Uniao/52/, consultado em
13/07/2010.
17
Fabíola Cardoso, comunicação pessoal.
18
É claro que, assim como o contexto ligado às comunidades tradicionais se ramifica no uso
diferenciado que se dá nas três doutrinas, o contexto indígena também engloba os contextos par-
ticulares de uso de cada povo.
19
As mesmas comunidades lançaram em 1991 uma “Carta de Princípios para o Uso da Ayahuas-
ca” na qual definem “procedimentos éticos comuns em torno do chá, sem prejuízo à identidade e
às convicções de cada uma”. Ver http://mestreirineu.org/liberdade_carta.htm.
243
Livro Conhecimento e Cultura.indd 243 26/4/2011 12:20:55
Diferentes contextos, múltiplos objetos
Referências
ANDRADE, Afrânio P. 2004. “Contribuições e limites da União do Vegetal para a nova
consciência religiosa”. In: B.C. Labate & W.S. Araújo (orgs.), O uso ritual da
Ayahuasca. Campinas: Mercado das Letras/FAPESP.
ARAÚJO, Wladimyr S. 2004. “A Barquinha: espaço simbólico de uma cosmologia em
construção”. In: B.C. Labate & W.S. Araújo (orgs.), O uso ritual da Ayahuasca.
Campinas: Mercado das Letras/FAPESP.
BRISSAC, Sérgio. 2004. “José Gabriel da Costa: trajetória de um brasileiro, Mestre e
autor da União do Vegetal”. In: B.C. Labate & W.S. Araújo (orgs.), O uso ritual
da Ayahuasca. Campinas: Mercado das Letras/FAPESP.
COUTO, Fernando L.R. 2004. “Santo Daime: rito da ordem”. In: B.C. Labate & W.S.
Araújo (orgs.), O uso ritual da Ayahuasca. Campinas: Mercado das Letras/
FAPESP..
CONAD. Relatório Final do Grupo Multidisciplinar da Ayahuasca. Brasília, 2006.
FRANCO, Mariana C.P. & Osmilo S.D. CONCEIÇÃO. 2004. “Breves revelações sobre
a ayahuasca. O uso do chá entre os seringueiros do Alto Juruá”. In: B.C. La-
bate & W.S. Araújo (orgs.), O uso ritual da Ayahuasca. Campinas: Mercado das
Letras/FAPESP.
GELL, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Claredon Press, 1998.
GENTIL, Lucia R.B. & Henrique S. GENTIL. 2004. “O uso de psicoativos em um con-
texto religioso: a União do Vegetal”. In: B.C. Labate & W.S. Araújo (orgs.), O
uso ritual da Ayahuasca. Campinas: Mercado das Letras/FAPESP.
GUERREIRO JR., Antonio R. 2009. Entre invenção e apropriação: algumas questões
sobre a patente da B. caapi nos EUA. In: Dossiê: O caso da patrimonialização da
Ayahuasca no Brasil: algumas questões sobre pessoas e propriedade. Trabalho Final
da disciplina “Cultura: invenção, objetivação, apropriação”, Departamento de
Antropologia, Universidade de Brasília.
FERREIRA, Paulo Roberto N. 2009. Ayahuasca no Peru: de pilar de identidades e me-
dicina tradicional a Patrimônio Cultural da Nação. In: Dossiê: O caso da patri-
monialização da Ayahuasca no Brasil: algumas questões sobre pessoas e propriedade.
Trabalho Final da disciplina “Cultura: invenção, objetivação, apropriação”,
Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília.
IPHAN. Processo 01450.008678/2008-61 referente à solicitação/registro da Ayahuasca
como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira. Consultado em Maio de
2010.
LATOUR, Bruno. The Pasteurization of France. Cambridge & Massachusetts: The
Belknap Press of Harvard University Press, 1988.
LABATE, Beatriz C. 2004. “A literatura brasileira sobre as religiões ayahuasqueiras”.
In: In: B.C. Labate & W.S. Araújo (orgs.), O uso ritual da Ayahuasca. Campi-
nas: Mercado das Letras/FAPESP.
244
Livro Conhecimento e Cultura.indd 244 26/4/2011 12:20:55
Júlia Otero dos Santos
LUNA, Luís Eduardo. 2004. “Xamanismo amazônico, ayahuasca, antropormofismo e
mundo natural”. In: B.C. Labate & W.S. Araújo (orgs.), O uso ritual da Aya-
huasca. Campinas: Mercado das Letras/FAPESP.
MACDOWELL, Pedro. 2009. Notas sobre a realização de pesquisas científicas sobre a
Ayahuasca. In: Dossiê: O caso da patrimonialização da Ayahuasca no Brasil: algu-
mas questões sobre pessoas e propriedade. Trabalho Final da disciplina “Cultura:
invenção, objetivação, apropriação”, Departamento de Antropologia, Univer-
sidade de Brasília.
OLIVEIRA, Isabela. 2007. Santo Daime: um sacramento vivo, uma religião em forma-
ção. Tese de Doutorado em História, Universidade de Brasília.
OTERO DOS SANTOS, Júlia. Daime, Vegetal, Hoasca: a Ayahuasca no contexto reli-
gioso. In: O caso da patrimonialização da Ayahuasca no Brasil: algumas questões
sobre pessoas e propriedade. Trabalho Final da disciplina “Cultura: invenção,
objetivação, apropriação” - Departamento de Antropologia, Universidade de
Brasília, Brasília, 2009.
PEDREIRA, Carolina. Sobre a legalidade do uso ritual da Ayahuasca. In: Dossiê: O
caso da patrimonialização da Ayahuasca no Brasil: algumas questões sobre pessoas
e propriedade. Trabalho Final da disciplina “Cultura: invenção, objetivação,
apropriação”, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília.
SANT’ANNA, Marcia. 2006. Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de
Trabalho Patrimônio Imaterial. In: IPHAN, O Registro do Patrimônio Imaterial
– dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho Patrimônio Imate-
rial. Brasília: Ministério da Cultura.
STRATHERN, Marilyn. 1999. “Pre-figured Features”. In: Property, Substance and Ef-
fect: Anthropological Essays on Persons and Things. London & New Brunswick:
The Athlone Press.
VASCONCELOS, Walison. Uso da Ayahuasca pelos povos indígenas e suas implica-
ções no pedido de patrimonialização. In: Dossiê: O caso da patrimonialização da
Ayahuasca no Brasil: algumas questões sobre pessoas e propriedade. Trabalho Final
da disciplina “Cultura: invenção, objetivação, apropriação”, Departamento de
Antropologia, Universidade de Brasília.
WAGNER, Roy. 1981. The invention of culture. Chicago & London: The University of
Chicago Press.
Sites consultados:
www.iphan.gov.br
www.udv.org.br
245
Livro Conhecimento e Cultura.indd 245 26/4/2011 12:20:55
Livro Conhecimento e Cultura.indd 246 26/4/2011 12:20:55
SOBRE OS AUTORES
Livro Conhecimento e Cultura.indd 247 26/4/2011 12:20:55
Livro Conhecimento e Cultura.indd 248 26/4/2011 12:20:55
Antonio Guerreiro Júnior
Mestre em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, pela Universidade
Federal de São Carlos(2008) e doutorando em Antropologia Social na
Universidade de Brasília. Desde 2005 realiza pesquisa entre os Kalapalo, povo
de língua karib do Alto Xingu (Parque Indígena do Xingu, MT), da qual re-
sultou a dissertação intitulada Parentesco e aliança entre os Kalapalo. Continua
desenvolvendo junto ao mesmo povo sua pesquisa de doutorado, centrada nas
relações entre ritual e chefia, a partir de uma etnografia do egitsü (conhecido
popularmente como Quarup). Autor de “Aliança, chefia e regionalismo no Alto
Xingu” (a ser publicado no Journal de la Société des Américanistes).
Diego Soares
Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (2005) e doutorando em Antropologia Social na Universidade de Brasília.
Pesquisador associado desde 1999 ao Núcleo de Antropologia e Cidadania (NACI)
da UFRGS, onde participou de diversas pesquisas na área de antropologia e direitos
humanos e desenvolveu a sua dissertação de mestrado sobre narrativa histórica e
reforma agrária. Atuou como consultor na Secretária Especial de Direitos Humanos
do governo federal e participou do Comitê de Avaliação de Processos do CGEN,
onde também realizou pesquisa etnográfica. Atualmente, finaliza tese de doutorado
na área de antropologia da ciência baseada em etnografia desenvolvida junto a povos
tradicionais e cientistas envolvidos em pesquisas na área de “acesso” à biodiversida-
de e aos conhecimentos tradicionais (Alto Rio Negro e Alto Amazonas).
Edilene Coffaci de Lima
Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (2000)
e professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) desde 1996. Desenvolve desde 1991 pesquisa entre os Katukina,
da família lingüística pano, que têm suas terras localizadas no Acre. Autora, en-
tre outros trabalhos, de “Cobras, xamãs e caçadores entre os Katukina” (Tellus,
2008);“Remédio da ciência e remédio da alma: os usos da secreção do kambô
(Phyllomedusa bicolor) nas cidades”, em parceria com Beatriz Labate (Campos.
Revista de Antropologia, 2007) e “Entre o mercado esotérico e os direitos de pro-
priedade intelectual: o caso do kampô” (na coletânea Dilema do acesso à biodi-
versidade e aos conhecimentos tradicionais, organizada por Sandra Kishi e John
Kleba, 2009). Colaborou no livro Enciclopédia da Floresta. O alto Juruá: práticas e
conhecimentos das populações(2002). É Pesquisadora 2 do CNPq.
249
Livro Conhecimento e Cultura.indd 249 26/4/2011 12:20:55
Conhecimento e Cultura
Eduardo Soares Nunes
Bacharel em Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, pela
Universidade de Brasília, e mestrando em Antropologia Social na mesma uni-
versidade. Desde 2008, desenvolve pesquisa na aldeia karajá de Buridina, lo-
calizada na cidade de Aruanã (GO), que resultou em sua monografia de gra-
duação e à qual vem dando continuidade no mestrado. Investiga a presença
indígena nas cidades, interessado tanto no imaginário nacional acerca destas
populações quanto nas relações que, do ponto de vista indígena, estão implica-
das nesse engajamento com o mundo dos brancos. Autor de “Do pensamento
indígena:algumas reflexões sobre Lucien Lévy-Bruhl e Claude Lévi-Strauss”
(R@U, 2010) e “De corpos duplos: mestiçagem, mistura e relação entre os
Karajá de Buridina (Aruanã-GO)” (Cadernos de Campo, 2010).
Guilherme Moura Fagundes
Estudante de graduação de Antropologia na Universidade de Brasília, onde
também é bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET/MeC) e mem-
bro do Laboratório de Antropologia da Ciência e da Técnica (LACT/UnB).
Desenvolveu Pesquisa de Iniciação Científica vinculada ao Grupo de Estudos de
Política Indígena e Indigenismo. Atualmente é estagiário em Antropologia na 6ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, subsidiando a
confecção de laudos, informações e notas técnicas em temas relativos aos povos
indígenas, quilombolas e outras minorias étnicas.
José Pimenta
Doutor em Antropologia pela Universidade de Brasília (2002) e pro-
fessor do Departamento de Antropologia da mesma universidade des-
de 2005. Atualmente, é coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia da UnB e coordenador geral do PROCAD “Etnologia
Indígena e Indigenismo: Novos desafios teóricos e empíricos”. Desenvolve
pesquisa com os Ashaninka do Rio Amônia (Alto Juruá-Acre) desde 1999.
Autor, entre outros trabalhos, dos artigos “Povos indígenas e desenvol-
vimento sustentável: os paradoxos de um exemplo amazônico” (Anuário
Antropológico2004, 2005); “‘Viver em comunidade’: o processo de territoria-
lização dos Ashaninka do rio Amônia” (Anuário Antropológico2006, 2007);
e “Indigenismo e Ambientalismo na Amazônia ocidental: a propósito dos
Ashaninka do rio Amônia” (Revista de Antropologia,2007). É co-organizador
e co-autor do livro Faces da Indianidade (2009).
250
Livro Conhecimento e Cultura.indd 250 26/4/2011 12:20:55
Conhecimento e Cultura
Júlia Otero dos Santos
Mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (2010) e douto-
randa em Antropologia Social na mesma universidade. Assessorou o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na formulação e implementação
de políticas públicas na área de assistência social para comunidades tradicionais.
Trabalhou junto ao INCRA-Sede nas políticas de regularização fundiária dos
territórios quilombolas, tendo identificado o território do Alto Trombetas-PA.
Atualmente, dá início a uma pesquisa entre os Arara (Karo), grupo de língua
Tupi-Ramarama do estado de Rondônia, e tem também investigado o processo
de patrimonialização do uso ritual da ayahuasca solicitado junto ao IPHANpela
Prefeitura de Rio Branco.
Laura Pérez Gil
Doutora em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina
(2006) e professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal
do Paraná (UFPR). É também Chefe da Unidade de Etnologia do Museu de
Arqueologia e Etnologia da mesma universidade. Realizou pesquisa de campo
entre dois grupos da família lingüística pano: os Yawanawa, localizados no Acre,
e os Yaminawa, na Amazônia peruana, das quais resultaram sua dissertação de
mestrado sobre os Yawanawa (1999) e sua tese sobre os Yaminawa (2006), am-
bas centradas no tema do xamanismo. É autora, entre outros trabalhos, de “O
saber é estranho e amargo. Sociologia e mitologia do conhecimento entre os
Yaminawa”, com Oscar Calávia e Miguel Carid (Campos. Revista de Antropologia,
2003); “O sistema médico Yawanawá e seus especialistas: cura, poder e iniciação
xamânica” (Cadernos de Saúde Pública, 2001); e “Chamanismo y modernidad:
fundamentos etnográficos de un proceso histórico” (no livro Paraíso abierto, jar-
dines cerrados, organizado por Oscar Calavia Sáez, Marc Lenaerts e Ana María
Spadafora, 2004).
Marcela Stockler Coelho de Souza
Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (2002) e professora do Departamento de Antropologia
da Universidade de Brasília desde 2006. Desenvolve pesquisa junto aos Kïsêdjê,
grupo jê da área do Parque do Xingu (MT) desde 2004, dando continuidade
a uma reflexão sobre o parentesco jê que hoje se prolonga na investigação das
interferências entre as formas da socialidade indígena e os discursos da cultu-
ra, da propriedade (intelectual) e do conhecimento (tradicional). Autora, entre
251
Livro Conhecimento e Cultura.indd 251 26/4/2011 12:20:55
Conhecimento e Cultura
outros trabalhos, dos artigos “The future of the structural theory of kinship”
(no livro organizado por Boris Wieseman, The Cambridge Companino to Lévi-
Strauss, 2009), “Porque a identidade não pode durar: a troca entre Lévi-Strauss
e os índios” (na coletânea Lévi-Strauss: leituras brasileiras, organizada por Rubem
Caixeta de Queiroz e Renarde Freire Nobre, 2008), “As propriedades da cultura
no Brasil Central Indígena” (Revista do Patrimônio, 2005) e “A cultura invisível:
conhecimento indígena e patrimônio imaterial” (Anuário Antropológico 2009/I,
2010). É Pesquisadora 2 do CNPq.
Nicole Soares Pinto
Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná (2009)
e doutoranda em antropologia social na Universidade de Brasília. Realiza desde
2006 pesquisa entre os Wajuru, de língua Tupi-Tupari, residentes da T.I. Rio
Guaporé, no estado de Rondônia. Dessa pesquisa resultou seu mestrado em
Antropologia Social, defendido no PPGAS/UFPR (2009), intitulado Do poder
do sangue e da chicha. Dando continuidade à sua pesquisa, desde 2010, é douto-
randa em Antropologia Social no PPGAS/UNB. Autora do verbete “Wajuru”
na Enciclopédia dos Povos Indígenas no Brasil (Instituto Socioambiental-ISA).
Paulo Roberto Nunes Ferreira
Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná (2010).
Indigenista da educação escolar junto ao Governo do Estado do Acre. Há dez
anos atua com os Kaxinawá (Huni Kuĩ), experiência a partir da qual escreveu
sua dissertação de mestrado intitulada Na ‘remenda do céu com a terra’: escolas
diferenciadas não são Huni Kuĩn. Autor de “Economia e arte, entre o seringueiro
e o artista: linguagens da política em etnografias kaxinawá” (na coletânea orga-
nizada por Maria Inês Smiljanic, José Pimenta e Stephen Grant Baines, Faces da
indianidade, 2009).
252
Livro Conhecimento e Cultura.indd 252 26/4/2011 12:20:55
EVENTOS E PUBLICAÇÕES
Livro Conhecimento e Cultura.indd 253 26/4/2011 12:20:55
Livro Conhecimento e Cultura.indd 254 26/4/2011 12:20:55
Conhecimento e Cultura
Dos quatro cantos da Amazônia:
conhecimento indígena como prática de transformação
21 de setembro de 2009
Departamento de Antropologia/UnB
Brasília
A pintura esquecida e o desenho roubado: troca e criatividade entre os Kisêdjê
Marcela Coelho de Souza (Departamento de Antropologia – UnB)
Entre o mercado esotérico e os direitos de propriedade intelectual: o caso kampô
Edilene Coffaci de Lima (Departamento de Antropologia – UFPR)
Heterotopias - Alguns exemplos Pano sobre a propriedade e o saber
Miguel Carid Naveira (Departamento de Antropologia – UFPR)
Os Ye’kuana e a vontade de saber
Karenina Vieira Andrade (Departamento de Antropologia – UnB)
Mediador
José Antonio Vieira Pimenta (Departamento de Antropologia – UnB)
Realização
Equipe PROCAD UnB/UFPR:
“Etnologia Indígena e Indigenismo: Novos desafios teóricos e empíricos”
Laboratório de Indigenismo e Etnologia Indígena – LINDE (DAN/UnB)
Apoio
CAPES
255
Livro Conhecimento e Cultura.indd 255 26/4/2011 12:20:55
Livro Conhecimento e Cultura.indd 256 26/4/2011 12:20:55
Conhecimento e Cultura
Entre a Cultura e a Mercadoria:
Diálogos em torno dos saberes indígenas
27 de abril de 2010
Departamento de Antropologia/UFPR
Curitiba
Manhã
A controvérsia do murmuru. Notas sobre um conflito envolvendo conhecimentos
tradicionais indígenas
José Pimenta (Departamento de Antropologia – UnB)
Praxes yaminawa e xamanismo ucayalino: notas de um diálogo regional
Laura Pérez Gil (Departamento de Antropologia – UFPR)
A ‘cultura’, os especialistas e os especialistas em ‘cultura’: conhecimentos e políticas
Katukina/Pano
Paulo Roberto Homem de Góes (mestre em Antropologia, PPGAS/UFPR)
Debatedor
Miguel Carid Naveira (Departamento de Antropologia – UFPR)
Tarde
Da inalienabilidade do alheio: a quem pertencem as espirais kisêdjê?
Marcela Coelho de Souza (Departamento de Antropologia – UnB)
A ‘cultura’ vive em uma rã? Notas sobre as transformações do kampô katukina
Edilene Coffaci de Lima (Departamento de Antropologia – UFPR)
Novos destinos para velhos saberes. Uma teoria ye’kuana do conhecimento
Karenina Andrade (Departamento de Antropologia – UnB)
Debatedor
Miguel Carid Naveira (Departamento de Antropologia – UFPR)
Realização
Equipe PROCAD UnB/UFPR:
“Etnologia Indígena e Indigenismo: Novos desafios teóricos e empíricos”
Apoio
CAPES
257
Livro Conhecimento e Cultura.indd 257 26/4/2011 12:20:56
Livro Conhecimento e Cultura.indd 258 26/4/2011 12:20:56
Conhecimento e Cultura
Outras publicações do Projeto de Cooperação Acadêmica
Etnologia Indígena e Indigenismo – Novos desafios téoricos e empíricos
FACES DA INDIANIDADE
Maria Inês Smiljanic
José Pimenta
Stephen Grant Baines
(orgs.)
Este livro reúne artigos produzidos no contexto do Projeto de Cooperação
Acadêmica Etnologia Indígena e Indigenismo – Novos desafios téoricos e empíricos,
financiado pela CAPES por meio do Edital PROCAD 2007. Participam do projeto
docentes e discentes dos Programas de Pós Graduação em Antropologia Social da
Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Paraná. Os textos incluí-
dos nesta coletânea abordam diversos aspectos da relação entre os povos indígenas
das terras baixas da América do Sul e seus Outros, lançando luz sobre dimensões
variadas das relações entre os povos indígenas e entre estes e diferentes atores do
indigenismo. Desta forma, contemplamosaquidosi campos distintos de reflexão que
compõem o referido projeto: “Sociocosmologia, concepções da identidade e da alte-
ridade” e “Indigenismo, políticas indígenas governamentais e não-governamentais”.
As contribuições estão divididas em cinco sessões. As quatro primeiras contemplam
as temáticas: Histórias do contato; Agencialidades; Políticas; e Imagens. A quinta
sessão intitula-se Pesquisas em Andamento na Graduação.
Autores: Giovana Acácia Tempesta, Luis Cayón, Paulo Roberto Homem de
Goés, José Pimenta, Karenina Vieira Andrade, Maria Inês Smiljanic, Stephen Grant
Baines, Gersem Baniwa, Alessandro Roberto de Oliveira, Migue Carid, Paulo
Roberto Nunes Ferreira.
259
Livro Conhecimento e Cultura.indd 259 26/4/2011 12:20:56
Livro Conhecimento e Cultura.indd 260 26/4/2011 12:20:56
Potrebbero piacerti anche
- Conhecimento e Cultura Praticas de Trans PDFDocumento260 pagineConhecimento e Cultura Praticas de Trans PDFIsabela ZangrossiNessuna valutazione finora
- Coelho de Souza - DOSSIE Conhecimento e CulturaDocumento260 pagineCoelho de Souza - DOSSIE Conhecimento e CulturaRodrigo Amaro100% (1)
- Baixo Sul da Bahia Território, Educação e IdentidadesDa EverandBaixo Sul da Bahia Território, Educação e IdentidadesNessuna valutazione finora
- CULTURAS E SOCIEDADES: Religiosidade, Identidades e TerritóriosDocumento305 pagineCULTURAS E SOCIEDADES: Religiosidade, Identidades e TerritóriosMaria Célia Silva GonçalvesNessuna valutazione finora
- Humanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: - Volume 7Da EverandHumanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: - Volume 7Nessuna valutazione finora
- Políticas culturais e povos indígenasDa EverandPolíticas culturais e povos indígenasValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- O Sagrado em Narrativas de Mia Couto e Boaventura CardosoDa EverandO Sagrado em Narrativas de Mia Couto e Boaventura CardosoNessuna valutazione finora
- OS "EFEITOS DE SENTIDO": DOS SABERES TRADICIONAIS ENTRE ADOLESCENTES DA COMUNIDADE NEGRA DOS ARTUROS-MGDa EverandOS "EFEITOS DE SENTIDO": DOS SABERES TRADICIONAIS ENTRE ADOLESCENTES DA COMUNIDADE NEGRA DOS ARTUROS-MGNessuna valutazione finora
- Capoeira em Múltiplos Olhares: Estudos e pesquisas em jogoDa EverandCapoeira em Múltiplos Olhares: Estudos e pesquisas em jogoNessuna valutazione finora
- Nomadismo Na Cultura: Entre A Fixação E A Andança No Espaço TerritorialDa EverandNomadismo Na Cultura: Entre A Fixação E A Andança No Espaço TerritorialNessuna valutazione finora
- Vivian Schelling - A Presença Do Povo Na Cultura Brasileira Cap.1 O Conceito de CulturaDocumento14 pagineVivian Schelling - A Presença Do Povo Na Cultura Brasileira Cap.1 O Conceito de CulturaContte JosefinaNessuna valutazione finora
- Povos indígenas: a legislação indigenista em sua dimensão políticaDa EverandPovos indígenas: a legislação indigenista em sua dimensão políticaNessuna valutazione finora
- Capoeira: abordagens socioculturais e pedagógicasDa EverandCapoeira: abordagens socioculturais e pedagógicasValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Capoeira Angola Cultura Popular e Jogos Dos Saberes Na Roda TeseDocumento173 pagineCapoeira Angola Cultura Popular e Jogos Dos Saberes Na Roda Teseseila23Nessuna valutazione finora
- Memória Pública e Arquivos Privados: Políticas de Preservação na Década de 1980Da EverandMemória Pública e Arquivos Privados: Políticas de Preservação na Década de 1980Nessuna valutazione finora
- Festa e Morte Um Olhar Sobre Redes EducaDocumento14 pagineFesta e Morte Um Olhar Sobre Redes Educapaulomolinas_1492451Nessuna valutazione finora
- Povos indígenas e o judiciário no contexto pandêmico: a ADPF 709 proposta pela articulação dos povos indígenas do BrasilDa EverandPovos indígenas e o judiciário no contexto pandêmico: a ADPF 709 proposta pela articulação dos povos indígenas do BrasilNessuna valutazione finora
- Vera Lucia Cardim de Cerqueira - Missão FolcoricaDocumento232 pagineVera Lucia Cardim de Cerqueira - Missão FolcoricaPeter Lorenzo100% (1)
- Memória brasileira em Áfricas: Da convivência à narrativa ficcional em comunidades Afro-BrasileirasDa EverandMemória brasileira em Áfricas: Da convivência à narrativa ficcional em comunidades Afro-BrasileirasNessuna valutazione finora
- Trabalho Ev127 MD1 Sa17 Id5244 16052019202155Documento12 pagineTrabalho Ev127 MD1 Sa17 Id5244 16052019202155eliadossantos1Nessuna valutazione finora
- Humanidades: Agendas MultidisciplinaresDa EverandHumanidades: Agendas MultidisciplinaresNessuna valutazione finora
- Cultura e Pensamento 02 As Cidades e o Sagrado Dos Povos Tradicionais Digital v2 FinalDocumento59 pagineCultura e Pensamento 02 As Cidades e o Sagrado Dos Povos Tradicionais Digital v2 FinalRaial Orutu Puri100% (1)
- Reflexões Sobre Educação E Cultura Na Serra FluminenseDa EverandReflexões Sobre Educação E Cultura Na Serra FluminenseNessuna valutazione finora
- Trabalhos De Conclusão De CursoDa EverandTrabalhos De Conclusão De CursoNessuna valutazione finora
- RELIGIÃO, TRADIÇÃO E CULTURA NA LENDA DO BOI DE OURO NO MUNICÍPIO DE ANICUNS, GOIÁSDa EverandRELIGIÃO, TRADIÇÃO E CULTURA NA LENDA DO BOI DE OURO NO MUNICÍPIO DE ANICUNS, GOIÁSNessuna valutazione finora
- Notas Sobre Os Índios Do Nordeste Brasileiro E Outras Coisas MaisDa EverandNotas Sobre Os Índios Do Nordeste Brasileiro E Outras Coisas MaisNessuna valutazione finora
- Diversidade cultural: impactos da normatividade internacional sobre os direitos culturais dos povos originários no BrasilDa EverandDiversidade cultural: impactos da normatividade internacional sobre os direitos culturais dos povos originários no BrasilNessuna valutazione finora
- Histórias e culturas indígenas na Educação BásicaDa EverandHistórias e culturas indígenas na Educação BásicaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Canal de Desvio: Um estudo da experiência de agricultores e índios no confronto com a Itaipu BinacionalDa EverandCanal de Desvio: Um estudo da experiência de agricultores e índios no confronto com a Itaipu BinacionalNessuna valutazione finora
- ABA - Antropologia e Patrimonio Cultural - Dialogos e Desafios ContemporaneosDocumento353 pagineABA - Antropologia e Patrimonio Cultural - Dialogos e Desafios ContemporaneosCarolina VazNessuna valutazione finora
- Captura de Tela 2023-11-10 À(s) 09.28.49Documento1 paginaCaptura de Tela 2023-11-10 À(s) 09.28.49Julio CezarNessuna valutazione finora
- Espaço E Cultura Na Religiosidade Afro-brasileiraDa EverandEspaço E Cultura Na Religiosidade Afro-brasileiraNessuna valutazione finora
- Espaço, Cultura E Memória Na Religiosidade Popular BrasileiraDa EverandEspaço, Cultura E Memória Na Religiosidade Popular BrasileiraNessuna valutazione finora
- Diáspora africana na Índia: Sobre castas, raças e lutasDa EverandDiáspora africana na Índia: Sobre castas, raças e lutasNessuna valutazione finora
- SILVA, Edson. A Invenção Dos Índios Nas Narrativas Sobre o Brasil.Documento247 pagineSILVA, Edson. A Invenção Dos Índios Nas Narrativas Sobre o Brasil.André RamosNessuna valutazione finora
- ApresentaçãoDocumento12 pagineApresentaçãoidahamoy1465Nessuna valutazione finora
- Artesanato e Identidade Territorial: Manifestações e Estudos no Brasil MeridionalDa EverandArtesanato e Identidade Territorial: Manifestações e Estudos no Brasil MeridionalNessuna valutazione finora
- Negritude Potiguar III - Cultura Popular NegraDocumento168 pagineNegritude Potiguar III - Cultura Popular Negracleyton lopesNessuna valutazione finora
- Bib Volume14 Povos Indigenas e A Lei Dos Brancos o Direito A DiferencaDocumento212 pagineBib Volume14 Povos Indigenas e A Lei Dos Brancos o Direito A DiferencaFernando SouzaNessuna valutazione finora
- O Ensino Da Temática IndígenaDocumento247 pagineO Ensino Da Temática IndígenaEdy Marques100% (3)
- É fazendo que se aprende: Um estudo sobre os oficineiros engajados nas políticas de cultura e assistência da Prefeitura Municipal de Porto AlegreDa EverandÉ fazendo que se aprende: Um estudo sobre os oficineiros engajados nas políticas de cultura e assistência da Prefeitura Municipal de Porto AlegreNessuna valutazione finora
- Sons do Silêncio: Religião Católica e Educação EscolarDa EverandSons do Silêncio: Religião Católica e Educação EscolarNessuna valutazione finora
- Para Uma Epistemologia da Educação EscolarDa EverandPara Uma Epistemologia da Educação EscolarNessuna valutazione finora
- Ensaios Sobre Teorias Da Cultura e Da EtnicidadeDocumento250 pagineEnsaios Sobre Teorias Da Cultura e Da EtnicidadeDiego BeckNessuna valutazione finora
- Territorialidades, identidades e marcadores territoriais: Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em RondôniaDa EverandTerritorialidades, identidades e marcadores territoriais: Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em RondôniaNessuna valutazione finora
- Acessibilidade em espaços culturais: Mediação e comunicação sensorialDa EverandAcessibilidade em espaços culturais: Mediação e comunicação sensorialNessuna valutazione finora
- Trançados Dos ArapiunsDocumento92 pagineTrançados Dos ArapiunsLenço De Seda Cecab100% (1)
- Inovação e Trajetos: Comunidade, Desenvolvimento e SustentabilidadeDa EverandInovação e Trajetos: Comunidade, Desenvolvimento e SustentabilidadeNessuna valutazione finora
- Ementa Do Curso - Cultura Popular MaranhenseDocumento3 pagineEmenta Do Curso - Cultura Popular Maranhenseclaudia.slv.oliveNessuna valutazione finora
- 4743-Texto Do Artigo-23779-1-10-20220517Documento13 pagine4743-Texto Do Artigo-23779-1-10-20220517Fernanda VarelaNessuna valutazione finora
- W-Albert. Chip ACMDocumento19 pagineW-Albert. Chip ACMJacinto FaustinoNessuna valutazione finora
- Folder Seminario de Educacao IndigenaDocumento2 pagineFolder Seminario de Educacao Indigenacomunicacao105Nessuna valutazione finora
- Fabio Lemos Cury TeseDocumento34 pagineFabio Lemos Cury TesePedro FolleNessuna valutazione finora
- Aspectos Históricos Da ÉticaDocumento25 pagineAspectos Históricos Da Éticadiego rodriguesNessuna valutazione finora
- Top 1.000 Dicas TJ PR (1 A 255) - 10-01-2019Documento51 pagineTop 1.000 Dicas TJ PR (1 A 255) - 10-01-2019Marcelo PazNessuna valutazione finora
- Virtude e As VirtudesDocumento15 pagineVirtude e As VirtudesAlex SousaNessuna valutazione finora
- Dodf 172 13-09-2022 Integra-59-63Documento5 pagineDodf 172 13-09-2022 Integra-59-63Marc ArnoldiNessuna valutazione finora
- Os Sonhos e o Deus Que RealizaDocumento1 paginaOs Sonhos e o Deus Que Realizadani993Nessuna valutazione finora
- Atividade 1 - Gpub - Ética, Processos Decisórios e Negociação Aplicados À Gestão Pública - 51-2023Documento3 pagineAtividade 1 - Gpub - Ética, Processos Decisórios e Negociação Aplicados À Gestão Pública - 51-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaNessuna valutazione finora
- Estudo de Caso ExemploDocumento13 pagineEstudo de Caso ExemplonetojoseNessuna valutazione finora
- Cifras Juntando FinalDocumento104 pagineCifras Juntando FinalCynthia JanieleNessuna valutazione finora
- BIELSCHOWSKY, Raoni - Separação Dos Poderes, Cooperação Constitucional e Lealdade Institucional PDFDocumento14 pagineBIELSCHOWSKY, Raoni - Separação Dos Poderes, Cooperação Constitucional e Lealdade Institucional PDFRaoniNessuna valutazione finora
- 0.815443001395662455 Edital pp228 2013 Livros Biblioteca CeuDocumento59 pagine0.815443001395662455 Edital pp228 2013 Livros Biblioteca Ceuanon_251878719Nessuna valutazione finora
- Manual de Sindicancia PMALDocumento32 pagineManual de Sindicancia PMALAlexandre BarcellosNessuna valutazione finora
- Psic4. SebentaDocumento46 paginePsic4. SebentaAndreia SousaNessuna valutazione finora
- Apostila Recepcionista EventosDocumento86 pagineApostila Recepcionista EventosJanete Tornezi100% (1)
- Ou-Apostila Portugues Texto Dissertativo 7Documento44 pagineOu-Apostila Portugues Texto Dissertativo 7Francisco Judecy Alves Silva0% (1)
- FELDMAN R - Epistemology 1 2 3 4Documento106 pagineFELDMAN R - Epistemology 1 2 3 4uzzituziiNessuna valutazione finora
- Resumo de Prisão em Flagrante - Aury LopesDocumento5 pagineResumo de Prisão em Flagrante - Aury LopesMinBsbNessuna valutazione finora
- Condenação de Victorio Galli Por Declarações HomofóbicasDocumento15 pagineCondenação de Victorio Galli Por Declarações HomofóbicasMetropolesNessuna valutazione finora
- Frases de Nelson RodriguesDocumento2 pagineFrases de Nelson Rodriguesapi-3782964Nessuna valutazione finora
- Contrato de Prestação de Serviços de TerraplanagemDocumento3 pagineContrato de Prestação de Serviços de TerraplanagemRafael Heitor FornariNessuna valutazione finora
- Manipulation Techniques - How To Understand and Influence People Using Mind Control, Subliminal Persuasion, Self Discipline, NLP and Body Language. 101 Tips&tricks and Dark Psychology SecretsDocumento86 pagineManipulation Techniques - How To Understand and Influence People Using Mind Control, Subliminal Persuasion, Self Discipline, NLP and Body Language. 101 Tips&tricks and Dark Psychology SecretsProfessorNessuna valutazione finora
- Negócio JurídicoDocumento2 pagineNegócio JurídicoAdriano FerreiraNessuna valutazione finora
- Ebook Os Segredos Da Autoestima InabalavelDocumento13 pagineEbook Os Segredos Da Autoestima InabalavelVivian Denardi Gestão estratégica do HumanoNessuna valutazione finora
- Ineffabilis Deus Carta Apostólica Dogma Da Imaculada Conceição PDFDocumento17 pagineIneffabilis Deus Carta Apostólica Dogma Da Imaculada Conceição PDFcrmscNessuna valutazione finora
- Representação SocialDocumento5 pagineRepresentação Socialroberto pintoNessuna valutazione finora
- 01 - Caso Concreto - Prática Simulada V (Civil)Documento6 pagine01 - Caso Concreto - Prática Simulada V (Civil)xandysn100% (1)
- O Lobo e o CordeiroDocumento2 pagineO Lobo e o CordeiroAriane Erika0% (1)
- BioeticaDocumento4 pagineBioeticafabiologo1980Nessuna valutazione finora
- 2022.2. Aula05. Contratos Compra e VendaDocumento39 pagine2022.2. Aula05. Contratos Compra e VendaJoão VictorNessuna valutazione finora
- Exercício Aula 2Documento2 pagineExercício Aula 2Charles OliveiraNessuna valutazione finora