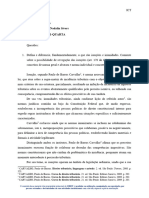Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Acórdão
Caricato da
AdeleCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Acórdão
Caricato da
AdeleCopyright:
Formati disponibili
ACÓRDÃO Nº 494/99
Processo n.º 516/99
Plenário
Relator: Conselheiro Paulo Mota Pinto
Acordam em Plenário no Tribunal Constitucional:
I. Relatório
O Presidente da República requereu ao Tribunal Constitucional em 14 de Julho de 1999, nos termos
do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 278º da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 51º,
n.º 1, e 57º, n.º 1, da Lei do Tribunal Constitucional, a apreciação preventiva da constitucionalidade
de todas as normas da "Convenção Sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a
República do Chile", assinada em Lisboa em 25 de Março de 1999, e aprovada pelo Decreto do
Governo registado com o n.º 281/99 no livro de registos e diplomas da Presidência do Conselho de
Ministros e recebido na Presidência da República no passado dia 8 de Julho para ser assinado.
O requerimento vem alicerçado nos seguintes fundamentos:
a. O Decreto em causa foi aprovado ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 197º da
Constituição, por o Governo o ter qualificado como "acordo internacional" cuja
aprovação não seria da competência da Assembleia da República;
b. As competências da Assembleia da República e do Governo para aprovação de
convenções internacionais foram alteradas pela revisão constitucional de 1997, tendo o
Governo deixado de dispor de competência para a aprovação de tratados, e esta
alteração não pode ser esvaziada de sentido útil através de uma mudança de qualificação
formal de convenções de tratados para acordos por forma a manter-se substancialmente
inalterada a competência do Governo, sendo certo que a possibilidade de recurso
sistemático à aprovação de "acordos" onde antes se celebravam tratados poderia ter
"efeitos perversos" quanto aos poderes do Presidente da República, se se defender que,
ao contrário do que acontece com a ratificação de tratados, a assinatura dos decretos do
Governo que aprovam acordos internacionais não é acto livre, mas sim vinculado, do
Chefe de Estado;
c. A disciplina constitucional da aprovação de tratados e acordos internacionais pressupõe
uma distinção material entre ambos, em termos semelhantes aos adoptados no Acórdão
n.º 168/88 do Tribunal Constitucional (in Acórdãos do Tribunal Constitucional, 12º vol.,
págs. 173 e segs., 203), impondo-se, portanto, a forma de tratado para a disciplina
primária semelhante à das leis internas e deixando a forma de simples acordo para
instrumentos diplomáticos executivos de tratados já celebrados - sentido, este, da
disciplina constitucional que só foi reforçado com a última revisão constitucional;
d. A "Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República do
Chile" deve revestir a forma de tratado e, por conseguinte, ser aprovada pela Assembleia
da República, pois contém uma regulação primária da matéria – natureza que ela mesma
assume, com princípios rectores e regras gerais e prevendo a necessidade de
desenvolvimento e regulamentação posteriores (esses, sim, por acordo em forma
simplificada) - e incide sobre um domínio sensível como é o da segurança social e
correspondentes direitos fundamentais e prestações sociais, a atribuir aos cidadãos dos
dois países, dispondo sobre a aplicação também de legislação futura;
e. O Governo, ao aprovar a "Convenção sobre Segurança Social entre a República
Portuguesa e a República do Chile", violou os princípios do Estado de Direito e da
separação de poderes consagrados, respectivamente, nos artigo 2º e 111º, n.º 1, da
Constituição, tal como se encontram concretizados nas normas de distribuição e reserva
de competências dos artigo 161º, alínea i), e 197º, n.º 1, alínea c), também da
Constituição;
f. Acresce que a referida Convenção regula a aplicação de legislação sobre o regime geral
da segurança social e sobre os serviços oficiais de saúde, tratando directamente matérias
reguladas pela lei de bases da segurança social, que contendem com princípios ou
aspectos fundamentais do respectivo regime, pelo que a sua matéria se inclui na reserva
de competência legislativa da Assembleia da República, prevista no artigo 165º, n.º 1,
alínea f), da Constituição, violando a sua aprovação, pois, em qualquer caso, a reserva
parlamentar de aprovação de acordos internacionais consagrada no artigo 161º, alínea i),
2ª parte, da Constituição da República.
Notificado o Primeiro-Ministro, nos termos e para os efeitos dos artigos 54º e 55º, n.º 3, da Lei do
Tribunal Constitucional, apresentou o mesmo resposta, pugnando pela plena validade da
"Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República do Chile", já que, em
conclusão:
a. A Constituição não consagra, exceptuada a "reserva necessária de tratado" prevista na
alínea i) do artigo 161º, qualquer distinção material entre acordos e tratados, nem do
mesmo preceito decorre qualquer critério que permita o alargamento da mesma reserva
fundada no carácter "primário" da disciplina dos tratados;
b. Da preclusão da competência do Governo para aprovar tratados, resultante da revisão
constitucional de 1997, não decorre qualquer limitação de "densidade reguladora"
quanto ao seu poder para aprovar tratados sobre todas as matérias delimitadas
negativamente pela alínea c) do n.º 1 do artigo 197º da Constituição;
c. Qualquer interpretação que defenda a "expropriação" das competências do Governo
explicitadas na Constituição, com o consequente alargamento das de outros órgãos de
soberania, sem o amparo numa norma constitucional habilitante, viola objectivamente o
"princípio da reserva ou exclusividade constitucional" previsto no n.º 2 do artigo 110º
da Constituição, o "princípio da separação de poderes" ínsito no n.º 1 do artigo 111º, e
o "princípio da segurança jurídica" nas relações internacionais, contido no "princípio do
Estado de Direito Democrático" (artigo 2º da Constituição);
d. A Convenção sobre Segurança Social celebrada entre as Repúblicas portuguesa e chilena
reveste necessariamente a natureza de acordo internacional, independentemente da
questão do carácter primário da sua normação, desde que as matérias por ela regidas
respeitem à área legislativa concorrencial entre o Governo e a Assembleia da República;
e. A disciplina normativa da mesma convenção não inova nem contraria a matéria de
grandes opções de segurança social (coincidente com o domínio legislativo básico
reservado à competência da Assembleia da República), antes desenvolve e integra as
referidas directrizes e opções, no marco do artigo 9º da Lei de Bases da Segurança
Social, que prevê a concretização, extensão e adaptação do seu regime por convenções
internacionais;
f. A regulação contida no acordo não abrange todo o regime geral objecto de directivas da
lei de bases, antes consagrando uma disciplina particular relativamente a apenas três
sectores que integram aquele regime, corporizada em normas pluri-sectoriais de
extensão limitada e normas sectoriais dotadas de uma densidade idêntica aos decretos-
leis que desenvolvem a mencionada lei de bases da segurança social;
g. Os acordos administrativos para os quais a Convenção remete não se destinam a
desenvolver a normação da mesma Convenção, mas a assegurar a sua aplicação
sectorial, dispondo de densidade idêntica à dos regulamentos previstos por cada um dos
decretos-leis complementares que regem cada um dos três sectores abrangidos;
h. As considerações expostas nas alíneas f) e g) valem para a aplicação da Convenção a
regimes especiais de segurança social;
i. O regime normativo da Convenção coincide, pois, em densidade reguladora e âmbito
material de aplicação, com os decretos-leis que desenvolvem a lei de bases sobre
segurança social, domínio que, não se encontrando reservado à Assembleia da
República, se integra, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197º da Constituição, na
esfera de competência do Governo para o efeito da aprovação de acordos
internacionais.
Cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
A) Os poderes de aprovação de tratados e acordos internacionais
A "Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República do Chile"
(doravante apenas Convenção) é o primeiro instrumento internacional disciplinador das relações
bilaterais entre os dois países, relativas à matéria de Segurança Social dos nacionais dos dois Estados
que trabalhem ou tenham trabalhado, e/ou residam ou tenham residido, nos respectivos territórios,
bem como dos seus familiares.
Relativamente a Portugal, a Convenção aplica-se à legislação presente ou futura sobre o regime geral
da segurança social, no que respeita às prestações nas eventualidades de invalidez, velhice, e
sobrevivência, incluindo as prestações previstas no seguro voluntário; à legislação sobre os regimes
especiais relativos a certas categorias de trabalhadores no que respeita às mesmas eventualidades; e à
legislação sobre as eventualidades de doença e maternidade (artigo 2º, n.º 1, A), alíneas a), b) e c) da
citada Convenção). Contudo, não se aplica nem à legislação portuguesa sobre assistência social, nem
à que estabelece regimes especiais para os funcionários públicos ou pessoal equiparado (artigo 2º, n.º
4, da Convenção – tal como todos os artigos referidos neste ponto sem indicação especial).
No que diz respeito ao âmbito subjectivo de aplicação, a Convenção aplica-se às pessoas que estão
ou estiveram sujeitas à legislação referida, bem como aos seus familiares, quer sejam nacionais de
uma ou de ambas as partes contratantes (artigo 3º). Todavia, a Convenção não se aplicará às
legislações que estendam os regimes existentes a novas categorias de beneficiários se qualquer das
partes contratantes a tal aplicação se opuser (artigo 2º, n.º 2, alíneas a) e b)), nem abrange as
disposições contidas noutras convenções bilaterais ou multilaterais celebradas por qualquer das partes
na mesma matéria (artigo 2º, n.º 3).
A Convenção em causa prevê a igualdade de tratamento das pessoas que estão ou tenham estado
sujeitas à legislação sobre Segurança Social que constitui o seu âmbito de aplicação material (artigo 2º,
n.º 1), que residam ou se encontrem no território de uma das partes, bem como dos seus familiares,
na medida em todas elas estão sujeitas às obrigações e beneficiam da legislação de cada parte nas
mesmas condições que os seus nacionais (artigo 4º). As pessoas que exerçam uma actividade
profissional no território de uma das partes, bem como os seus familiares, beneficiam de prestações
em caso de doença e maternidade, nas mesmas condições que os nacionais dessa parte (artigo 10º, n.º
1). Os titulares de uma pensão de doença e maternidade nos termos da legislação de uma das partes
contratantes que residam no território da outra parte – bem como os seus familiares – podem
beneficiar das prestações previstas na legislação desta última parte, nas mesmas condições que as
pessoas que recebem prestações similares nos termos da legislação dessa parte (artigo 10º, n.º 2).
A Convenção prevê que as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência devidas por uma parte
contratante aos nacionais da outra parte, que residam num país terceiro, são pagas nas mesmas
condições e na mesma medida que aos nacionais da primeira parte que residam num país terceiro
(artigo 5º, n.º 2).
Prevê-se a exportação das prestações de invalidez, velhice e sobrevivência que, atribuídas nos termos
da legislação de uma parte contratante, não podem estar sujeitas a qualquer redução, modificação,
suspensão ou supressão pelo facto de o beneficiário se encontrar ou residir no território da outra
parte (artigo 5º, n.º 1), bem como a garantia de totalização dos períodos de seguro para efeitos de
aquisição, conservação ou recuperação do direito a prestações de invalidez, velhice ou sobrevivência
(nos termos do disposto no artigo 11º).
Como regra geral, prevê-se a aplicabilidade da legislação da parte contratante em cujo território os
trabalhadores abrangidos pela convenção exerçam a sua actividade profissional, mesmo que residam
no território da outra parte ou que as suas entidades patronais tenham a sua sede no território desta
parte (artigo 7º).
No artigo 8º estabelecem-se regras especiais para os trabalhadores de uma empresa com sede numa
das partes destacados para o território da outra por prazo não superior a 3 anos (salvo circunstâncias
imprevistas, caso em que poderá ir até 5 anos), para os trabalhadores assalariados a bordo de navios,
para os trabalhadores portuários, para o pessoal itinerante ao serviço de uma empresa de transporte
aéreo de uma das partes, para os funcionários públicos de uma das partes destacados no território da
outra e para o pessoal das missões diplomáticas ou postos consulares.
No artigo 9º prevê-se que as autoridades competentes das partes contratantes possam, de comum
acordo, estabelecer excepções à regra geral e às normas especiais de aplicação das respectivas
legislações de segurança social.
No artigo 12º determina-se a entidade a que cabe a avaliação da incapacidade por invalidez, bem
como os procedimentos a adoptar para o efeito. O artigo 13º dispõe sobre a aplicação da legislação
chilena no que diz respeito à determinação e cálculo das prestações e o artigo 14º dispõe sobre a
aplicação da legislação portuguesa na mesma matéria.
A Convenção prevê ainda a actualização das prestações pecuniárias concedidas em aplicação da
Convenção com a mesma periodicidade e igual percentagem que as prestações concedidas por
aplicação da lei de cada uma das partes contratantes (artigo 15º).
No artigo 16º estabelece-se uma igualdade entre as autoridades, instituições ou órgãos jurisdicionais
de ambas as partes para efeito de cumprimento de prazos de entrega de pedidos, declarações,
recursos e outros documentos estabelecidos em cada legislação. No artigo 17º prevê-se a assistência
mútua entre as autoridades, os organismos de ligação e as instituições competentes das partes
contratantes.
O artigo 18º contempla a isenção de taxas e dispensa de visto de legalização para os actos
administrativos e documentos trocados entre as instituições das partes para efeitos de aplicação da
Convenção. O artigo 19º estabelece regras sobre a moeda de pagamento das prestações devidas em
aplicação da Convenção.
O artigo 20º prevê um conjunto de obrigações para as autoridades competentes de ambas as partes,
tendo em vista a aplicação da Convenção – estabelecimento de acordos administrativos necessários e
de uma comissão mista de carácter técnico; designação dos organismos de ligação; comunicação
mútua das medidas adoptadas internamente para aplicação da Convenção; mútua prestação de bons
ofícios e colaboração técnica e administrativa.
O artigo 21º dispõe sobre a forma de resolução de diferendos.
Quanto aos períodos de seguro já cumpridos e às eventualidades ocorridas antes do início da sua
vigência, a Convenção determina que os primeiros sejam tidos em conta para a determinação da
existência do direito às prestações e que às segundas se siga a concessão das prestações
correspondentes (artigo 22º). É garantida a conservação dos direitos adquiridos, caso a convenção
cesse de vigorar em consequência de denúncia por qualquer das partes contratantes, sendo que tal
garantia é também assegurada relativamente aos direitos em curso de aquisição derivados de períodos
de seguro já cumpridos (artigo 23º).
O último artigo da Convenção – artigo 24º – prevê a aprovação da Convenção segundo as normas
constitucionais e legais vigentes em cada uma das partes e a notificação mútua do cumprimento dos
procedimentos exigidos, bem como a data de entrada em vigor.
As normas da "Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República do
Chile" suscitam ao requerente questões de constitucionalidade orgânica e formal.
Trata-se, designadamente, do problema da competência do Governo para aprovação da Convenção,
por esta, segundo o requerente, incidir sobre matéria que é da competência reservada à Assembleia
da República, e por, contendo matéria que deve ser regulada por (ou por dever ser considerada) um
tratado, só poder ser aprovada, segundo o artigo 161º, n.º 1, alínea i), da Constituição, pela
Assembleia da República. Trata-se, pois, nesta segunda parte, igualmente da questão de
constitucionalidade formal da Convenção.
Está, portanto, em causa a eventual existência, na Constituição, de uma reserva material de tratado,
com reflexos na repartição de poderes entre a Assembleia da República e Governo, para aprovação
de convenções internacionais como a presente – ou seja, uma questão respeitante, pelo menos, a uma
das "grandes dimensões em que [a justiça constitucional] pode desdobrar-se, objectivos e dimensões
esses correspondentes aos dois grandes eixos em torno dos quais se estrutura qualquer Constituição
democrática: por um lado, assegurar a observância do princípio da divisão de poderes (nas suas
múltiplas e diversificadas manifestações), por outro lado, velar pelo respeito pelos princípios
materiais da Constituição – mas, de modo muito particular, dos direitos fundamentais das pessoas e
dos cidadãos – e pelo seu efectivo cumprimento e afirmação na vida jurídica" (José Manuel Cardoso
da Costa, "Algumas reflexões em torno da justiça constitucional", in Perspectivas do Direito no início do
século XXI, Studia Iuridica, n.º 41, Coimbra, 1999, pág. 123).
Na prática do direito internacional a vinculação convencional dos Estados era tradicionalmente
obtida através da conclusão de tratados solenes, que se tornavam vinculativos a partir do momento em
que fossem ratificados pelas partes.
Modernamente, contudo, assistiu-se cada vez mais ao surgimento de acordos internacionais
celebrados por uma forma simplificada, por não ser exigida a sua ratificação para o surgimento da
vinculação internacional. Trata-se, em regra, de convenções em que a vinculação internacional do
Estado resulta logo da assinatura do acordo, ou, pelo menos, em que a vinculação não exige a
ratificação como acto interno. Entre eles encontram-se, assim, não apenas acordos que vinculam
imediatamente a partir da sua assinatura, como também – o caso previsto na Constituição portuguesa
– acordos para cuja vinculatividade internacional basta uma aprovação por um órgão interno, sem
que tenha que existir ratificação (distinguindo, para o direito francês, entre tratados submetidos a
ratificação, acordos em forma simplificada e acordos cuja vigência carece de aprovação segundo o
procedimento longo de formação, Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet, Droit
international public, Paris, 1992, págs. 154-5).
Foram várias as razões que levaram a esta tendência para a simplificação da conclusão de convenções
internacionais, destacando-se, com a intensificação e o alargamento das relações entre Estados, a
conveniência em conseguir também um meio expedito para obter acordos, em contraposição com a
morosidade dos mecanismos internos tradicionais de ratificação, designadamente parlamentar.
Há já várias décadas que os acordos em forma simplificada vêm assumindo no direito internacional
uma dimensão importante. Assim, por exemplo, em França e nos Estados Unidos (segundo N. Quoc
Dinh/Patrick Daillier/Alain Pellet, cit., pág. 141), mais de 60% das convenções internacionais
resultam da conclusão de acordos em forma simplificada – v. também, sobre esta tendência crescente
para a conclusão de acordos em forma simplificada, por ex., Paul F. Smets, Les conclusion des accords en
forme simplifiée, Bruxelles, 1969, págs. 7 e segs., Claude Chayet, "Les accords en forme simplifée", in
Annuaire Français de Droit International, 1957, págs. 3-13, Manuel Diez de Velasco Vallejo, Instituciones de
derecho internacional publico, tomo I, 6ª ed., Madrid, 1982, pág. 104; entre nós, v. já Afonso Rodrigues
Queiró, Direito internacional público, Coimbra, 1960, pág. 78 ("o direito internacional sobre a formação
dos tratados está em plena evolução e a categoria dos acordos em forma simplificada invade cada vez
mais o campo dos tratados que respeitam a forma clássica de formação"), e também J. Silva Cunha,
Direito internacional público - Introdução e Fontes, Coimbra, 1991, pág. 207 ("existência, na prática da vida
internacional, da tendência para a simplificação do processo de elaboração dos tratados") e André
Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, Manual de direito internacional público, Coimbra, 1993, págs. 185
e 186 (que concluem terem-se os acordos em forma simplificada desenvolvido extraordinariamente,
"pois a ratificação de que careciam os tratados em forma solene era sempre um processo complicado
e moroso, muitas vezes politicamente difícil de obter, uma vez que dependia quase sempre da
aprovação do órgão legislativo, que poderia não ter a mesma orientação do Executivo", pelo que
"correspondem eles à necessidade de que a política externa dos diversos Estados seja plenamente
eficaz, e a um imperativo de dinamização da vida diplomática.").
O problema constitucional da delimitação do âmbito material dos acordos não sujeitos a aprovação
parlamentar suscitou-se igualmente na experiência jurídico-constitucional de outros países (um
panorama geral pode colher-se em Stefan A. Riesenfeld/Frederick M. Abbot, eds., Parliamentary
Participation in the Making and Operation of Treaties: A Comparative Study, Dordrecht, 1994, P. Smets, Les
conclusion des accords..., cit., págs. 58 e segs., Charles Vallée, "Notes sur les dispositions relatives au droit
international dans quelquer constitutions récentes", Annuaire Français de Droit International, 1979, págs.
255-80, N. Quoc Dinh/Patrick Daillier/Alain Pellet, cit., págs. 144-8, Charles Rousseau, Droit
international public, 8ª ed., Paris, 1976, págs. 35 e segs.).
Cumpre notar, antes do mais, que a localização, no quadro dos poderes do Estado, do "poder
externo" (o "auswärtige Gewalt", cuja delimitação, unidade e utilidade como conceito aparece, aliás,
hoje posto em causa – v., sobre isto, Wilhelm Grewe, "Auswärtige Gewalt", § 77 de
Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, vol. III, Heidelberg, 1988, Ingolf Pernice, anots. 18 e
segs. ao art. 32 e 15 ao art. 59, in Grundgesetz-Kommentar, org. por Horst Dreier, vol. II Tübingen,
1998), e em particular do poder de concluir convenções internacionais, constitui uma questão clássica
da teoria do Estado. Se a primeira tendência foi a da aproximação ao poder executivo (assim,
Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Benjamin Constant; Locke atribuía ao "federative power" um
lugar autónomo entre poder executivo e legislativo, embora considerasse que o seu exercício andava
quase sempre a par com o do poder executivo – v. W. Grewe, ob. cit., n.ºs 9 e segs., e Theo Öhlinger,
Der völkerrechtliche Vertrag im staatlichen Recht, Wien-New York, 1973, págs. 20 e segs.), a partir das
Constituições novecentistas que exigiam a aprovação pelo poder legislativo de certas categorias de
convenções (assim, além logo das constituições portuguesas de 1822, 1826 e 1838, a constituição
belga de 1831, a constituição prussiana de 1848/1850 e a constituição do império alemão de
1867/1871), a discussão tornou-se igualmente um problema de interpretação do direito
constitucional vigente – no contexto germânico, enquanto, por exemplo, Rudolf von Gneist, Laband
e outros defenderam a concepção de que a vinculação internacional dependia apenas de um acto do
soberano, Ernst von Meier defendia a competência também do poder legislativo; entre nós, refiram-
se as críticas à atribuição ao executivo do poder de celebrar tratados e convenções apenas as levando
ao conhecimento das Cortes depois de concluídos e quando o interesse e segurança do Estado o
permitissem (artigo 75º, § 8º da Carta Constitucional; José Joaquim Lopes Praça, Direito constitucional
portuguez, 2ª parte, vol. I, Coimbra, 1879, pág. 271, e vol. II, Coimbra, 1880, pág. 75, enquadra o
poder de celebrar tratados nas "atribuições conservadoras" das Cortes e nas "atribuições do poder
executivo relativamente às relações internacionais").
Actualmente, as Constituições dos países europeus atribuem em regra o poder de representação
internacional ao respectivo Chefe de Estado. As diferenças verificam-se sobretudo em relação à
exigência de participação dos parlamentos.
Nalguns países, todas as convenções internacionais têm de ser aprovadas pelo parlamento – é o que
prevêem as constituições irlandesa (artigo 29º, n.º 5) e holandesa. Segundo esta última (artigo 91º, n.º
1), "o Reino não fica vinculado por tratados, nem tais tratados deverão ser denunciados, sem o
consentimento do Parlamento. Os casos em que tal aprovação é dispensada podem ser especificados
em lei parlamentar".
Todavia, segundo as constituições da maioria dos países europeus – assim, as da Espanha (artigo 94º,
n.º 1), da França (artigo 53º, n.º 1), da Grécia (artigo 36º, n.º 2), da Itália (artigo 80º), da Áustria
(artigo 50º, n.º 1), da Dinamarca (artigo 19º, n.º 1), da Suécia (artigo 2º do capítulo 10º), da Alemanha
(artigo 59º, n.º 2) –, carecem de aprovação parlamentar as convenções que recaiam sobre matérias
que só possam ser aprovadas por lei (assim, a lei fundamental alemã), que envolvam alterações de leis
(constituições francesa, italiana e austríaca), ou para cuja execução seja necessário o concurso do
legislador parlamentar (constituições espanhola, sueca e dinamarquesa), e as convenções sobre
matérias de relevância política mais significativas, cuja determinação varia, indo desde apenas as
relações políticas da Federação (caso alemão), até à arbitragem ou assuntos judiciais (caso italiano),
passando pelos assuntos militares, a integridade do território e encargos para as finanças dos estados.
Assim, a Constituição espanhola prevê um sistema de lista de matérias para as quais é exigida a
participação das Cortes na conclusão dos tratados (sistema que levanta o problema da qualificação
das convenções para efeitos de subsunção às previsões dessa lista – Antonio Remiro Brotons, "La
autorización parlamentaria de la conclusión de los tratados internacionales: el problema de la
calificación", in Revista Española de Derecho Internacional, 1978-1979, págs. 123-42). O consentimento do
Estado a obrigar-se por meio de tratados ou convénios exige a autorização parlamentar prévia no
caso de tratados de natureza política, tratados ou convénios de natureza militar, tratados ou
convénios que afectem a integridade territorial do Estado ou os direitos e deveres fundamentais,
tratados ou convénios que impliquem obrigações importantes para o tesouro público, e tratados ou
convénios que envolvam modificação ou revogação de qualquer lei ou que exijam medidas
legislativas para a sua execução.
A constituição italiana, por sua vez, estabelece que as câmaras autorizam, por forma de lei, a
ratificação de tratados internacionais de natureza política, que disponham sobre arbitragem ou
assuntos judiciais, ou que impliquem encargos financeiros ou modificações ao território da nação ou
a leis. Também na prática italiana se suscitou, todavia, o problema da utilização pelo executivo dos
acordos em forma simplificada e o respeito pelas competências do Parlamento (em regra, com
posterior apresentação ao Parlamento). Houve quem defendesse um costume constitucional
atributivo de competência ao Governo para estipular acordos internacionais (Riccardo Monaco, "La
ratifica dei tratatti nel quadro costituzionale", Rivista di diritto internazionale, 1976, págs. 661 e segs.),
mas tal prática foi objecto de crítica na doutrina (v. Stefano Marchisio, "Sulla competenza del
Governo a stipulare in forma semplificata i tratatti internazionali", in Rivista di diritto internazionale,
1975, págs. 532-56, Antonio Cassese, anot. aos arts. 80º e 87º, n.º 8, tomos II e III do Commentario alla
Costituzione a cura di Giuseppe Branca, Bolonha-Roma, 1979 e 1978).
Em França, o artigo 53º da Constituição de 1958 dispõe que os tratados de paz, os tratados de
comércio, os tratados ou acordos relativos à organização internacional, aqueles que vinculem as
finanças do Estado, os que modifiquem disposições de natureza legislativa, aqueles relativos ao
estado das pessoas, e os que importem cessão, troca ou adjunção de território só podem ser
ratificados ou aprovados por intermédio de uma lei, aprovada pelo parlamento (v. Ch. Rousseau, ob.
cit., págs. 38 e segs., N. Quoc Dinh/Patrick Daillier/Alain Pellet, ob. cit., págs. 148 e segs., Michel
Lesage, "Les procédures de conclusion des accords internationaux de la France sous la Ve
République", Annuaire Français de Droit International, 1962, págs. 873-88).
Segundo o artigo 59º, n.º II, da Lei Fundamental alemã, "os tratados que regulam as relações políticas
da Federação, ou que incidem sobre objecto de legislação federal requerem a participação, na forma
de lei federal, dos órgãos competentes para tal legislação federal. Quanto aos acordos
administrativos, as disposições sobre a administração federal são aplicáveis mutatis mutandis". O
Tribunal Constitucional Federal alemão, apesar de reconhecer uma "reforçada tendência para a
parlamentarização do poder externo" defendeu, porém, uma interpretação restritiva do citado artigo
59º, II, quanto a actos não contratuais, remetendo para a legitimação do executivo como órgão
político e para a sua responsabilidade em face do Parlamento – v. a decisão "Atomwaffenstationierung",
in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, vol. 68, pág. 1. Enquanto na doutrina se discute a
intervenção do Chefe de Estado nos chamados acordos administrativos ("Verwaltungsabkommen"), não
parece haver dúvida de que estes se limitam a matérias que pudessem ser disciplinadas por
regulamento, sendo reconhecido à intervenção parlamentar nas matérias objecto de legislação não só
o sentido de controlo da actuação do Governo e de preservação da competência legislativa
parlamentar, mas também de verdadeiro acto de legislação (v., por ex., Ondolf Rojahn, anot. ao art.
59, n.ºs 35 e segs., in Ingo v. Münch, Grundgesetz-Kommentar, Band 2, Munique, 1976, I. Pernice, ob.
cit., anot. 32 ao art. 59, Rudolf Bernhardt, "Verfassungsrecht und völkerrechtliche Verträge", n.ºs 11 e
segs., in Isensee/Kirchhof; ob. cit., § 174, e, com referência também ao controlo parlamentar do
processo de integração europeia, Juliane Kokott, "Kontrolle der auswärtigen Gewalt", Deutsche
Verwaltungsblatt, 1996, págs. 937-50). Como matérias que são "objecto de legislação" a opinião
dominante refere, não tanto aquelas que potencialmente a lei pode abranger, como as que são já
reguladas por lei por ou que carecem de uma regulação legal (assim O. Rojahn, cit., n.º 27, Ulrich
Fastenrath, Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt, Munique, 1986, pág. 220; v. também
Theodor Maunz, in T. Maunz/G. Dürig, Grundgesetz-Kommentar, München, 1994, vol. III, anot. 37:
"contratos sobre objectos, para os quais não são necessários actos legislativos e que não regulam as
relações políticas com o estrangeiro").
Na Áustria, por sua vez, exige-se o consentimento parlamentar para "tratados políticos e para os
restantes na medida em que o seu conteúdo modifique ou integre leis existentes". Distingue-se, pois,
entre acordos que alteram ou complementam a lei, e outros acordos, e salienta-se (T. Öhlinger, ob.
cit., pág. 178) que "um acordo com conteúdo que modifica a lei, mas concluído sem aprovação
parlamentar, permanece no sistema da ordem jurídica interna um acordo administrativo, tal como um
regulamento que ultrapassa os limites que lhe são estabelecidos (...) permanece um regulamento e não
se torna uma lei. Todavia, um tal acordo administrativo é ilícito e fica sujeito à sanção da anulação da
sua aplicabilidade interna pelo Tribunal Constitucional."
De entre as experiências constitucionais estrangeiras que se defrontaram com o problema que nos
ocupa avulta também a dos Estados Unidos da América – como factor importante, aliás, para a
divulgação dos acordos não ratificados, dadas as limitações constitucionais para a celebração de
"treaties" (em geral, v., além dos artigos em S. Riesenfeld/F: Abbott, ob. cit., págs. 205 e segs., Michael
Glennon "The Senate Role in Treaty Ratification", American Journal of International Law, vol. 77,
1983, págs. 256-80, e Arnold Cras, "Les executive agreements aux État-Unis" (in Revue Genérale de
Droit International Public, 1972, págs. 973-1045). Na verdade, pode dizer-se que nos Estados Unidos da
América, "as exigências de rapidez e de eficácia fizeram saltar as limitações constitucionais ao poder
de fazer tratados " (P. Smets, ob. cit., pág. 63, recordando também que já em 1930 a Sociedade das
Nações recomendara, numa resolução adoptada na sua XIª sessão, em 4 de Outubro de 1930, que os
países adoptassem a técnica dos acordos governamentais não sujeitos a ratificação, até para combater
"a taxa particularmente elevada do que Joseph Barthélemy designava 'mortalidade infantil dos
tratados internacionais'" – v. Paul de Vischeer, "Les tendances internacionales des constitutions
modernes", in Recueil des cours - Académie de Droit International, 1952, II, pág. 536). Foi aí que os
constrangimentos constitucionais primeiro se revelaram mais apertados e a necessidade de os
ultrapassar foi mais premente. A Constituição dos Estados Unidos estabelece, na chamada "treaty
clause" (artigo 2º, Secção II, 2, da Constituição dos Estados Unidos), que o Presidente tem o poder,
"mediante parecer e aprovação do Senado, de celebrar tratados, desde que dois terços dos senadores
presentes concordem" (tratou-se de uma concessão feita pelo poder federal aos estados,
representados paritariamente no Senado, no seguimento da concepção federalista desenvolvida por
John Jay e Hamilton, de exercício conjunto, pelo Presidente e pelo Senado, do treaty making power).
Mas a exigência dessa maioria qualificada do Senado, a par da ausência de previsão constitucional de
uma qualquer participação da Câmara dos Representantes nas relações internacionais, criaram as
condições para que procedimentos alternativos emergissem: "treaty-based executive agreements",
dependentes ou relacionados com um tratado pré-existente; "congressional-executive agreements", baseados
numa autorização, prévia ou posterior, do Congresso, específica ou decorrente da atribuição de
poderes genéricos, desde que no âmbito dos poderes do Congresso e do executivo; e "presidential" ou
"sole executive agreements", celebrados ao abrigo dos poderes constitucionalmente atribuídos ao
Presidente. Ora, "a escolha de recurso a estes acordos em lugar da alternativa de tratados é
essencialmente uma escolha política, influenciada mais pelas circunstâncias envolventes do que por
teorias jurídicas abstractas" (Burns Weston, "Executive agreement", in Encyclopedia of the American
Constitution, New York, s.d., págs. 667-8), pelo que gradualmente tais acordos foram substituindo os
tratados – A. Cras, ob. cit., refere a seguinte evolução quantitativa até aos anos 50: de 1789 a 1839: 60
tratados e 27 acordos; de 1839 a 1889: 215 tratados e 238 acordos; de 1889 a 1939: 524 tratados e 917
acordos; de 1940 a 1945: 30 tratados e 432 acordos; de 1945 a 1951: 50 tratados e 675 acordos.
Como marcos desta evolução, destaca-se a derrogação, logo em 1798, pelo voto das duas câmaras do
Congresso americano (e não meramente pelo Senado) de tratados celebrados com a França, bem
como, posteriormente, a intervenção repetida do Supremo Tribunal Federal: em 1891 (na decisão
Field v. Clark) estabeleceu a validade de "acordos de comércio recíprocos" (que vieram a ser
legalmente contemplados em 1934 no Reciprocal Trade Agreement Act); mais tarde, considerou que as
suas competências para apreciar a validade dos tratados cobriam também os acordos internacionais;
em 1928 julgou legitimamente concedida a autorização ao Presidente para celebrar acordos
comerciais contida no Tariff Act de 1922; e em U.S. v. Curtiss Wirght Corporation validou a ampla
delegação de poderes ao Presidente, votada pelas duas câmaras do Congresso em 28 de Maio de
1934, e considerou que a sua actuação se inscreveu no exercício "do poder exclusivo do chefe do
executivo como órgão único do governo federal no domínio das relações internacionais" (assim Cras,
ob. cit., pág. 998).
Alguns autores (uma enumeração pode ver-se em Kaye Holloway, Modern Trends in Treaty Law,
London, 1967, págs. 216 e segs.) defenderam mesmo a total intersubstituibilidade entre os acordos,
celebrados sem intervenção do Senado, ou com a intervenção deste mas sem maioria qualificada, e os
tratados, sujeitos a maioria qualificada de dois terços na aprovação pelo Senado
Nestas condições, não surpreende que tivessem surgido iniciativas no sentido de refrear a utilização
de acordos (caso da Bricker amendment, segundo a qual "uma disposição de um tratado ou outro
acordo internacional que conflitue com qualquer disposição desta Constituição não terá qualquer
força ou efeito", proposta pelo senador John Bricker em 1951, 1952, 1953 e 1957, e que visava
reafirmar a plenitude de poderes do Senado nas relações internacionais) ou de aumentar o controlo
parlamentar sobre tais acordos (caso das propostas dos senadores Beentsen e Gleen em 1975 e do
projecto Morgan-Zablocki em 1976, que visavam diferir a entrada em vigor de quaisquer acordos por
um período de sessenta dias contados da sua comunicação ao Congresso, ou apenas ao Senado, e sob
reserva de, durante tal período, a sua aprovação poder ser impedida por uma votação desfavorável).
A evolução no sentido do abrandamento dos constrangimentos constitucionais aos acordos
internacionais pôde manter-se, pois, durante alguns anos, podendo dizer-se, em suma, que "durante e
depois da Guerra, o Presidente obteve poderes constitucionais para substituir o acordo de ambas as
câmaras ao conselho e consentimento tradicionais do Senado (...). O Trade Act de 1974 efectuou um
esforço abrangente de reestruturar o moderno procedimento com as duas câmaras para se adequar às
necessidades da diplomacia económica" (Bruce Ackerman/David Golove, "Is NAFTA
Constitutional?", Harvard Law Review, vol. 108, n.º 4, Fevereiro de 1995, págs. 802-3, segundo os
quais, apesar do constrangimento dos Presidentes pela treaty clause, durante século e meio, a
apresentar acordos internacionais ao Senado para aprovação qualificada, o congressional-executive
agreement estava sempre disponível, "à espera de ser descoberto e legitimado, por uma combinação de
impasse constitucional, mandato popular e aquiescência de um Senado anteriormente dissonante").
Embora aquelas propostas não tenham sido aprovadas, desde 1972 que se tornou, todavia, necessário
que o Presidente comunique ao Congresso a aprovação de quaisquer acordos internacionais no prazo
de dois meses contados da sua entrada em vigor. (cfr. Nguyen Quoc Dinh, Droit International Public, 4ª
ed., pág. 146, K. Holloway, ob. cit., pág. 221). E, hoje, salienta-se (assim, Lawrence H. Tribe, "Taking
Text and Structure Seriously: Reflections on Free-Form Method in Constitutional Interpretation",
Harvard Law Review, vol. 108, n.º 6, Abril 1995, pág. 1266), que "a dificuldade de delinear a substância
da categoria constitucional de tratado, a dificuldade de traçar uma tal linha, não significam que a
distinção possa ser descartada".
De toda a forma, a realidade constitucional norte-americana no que toca às limitações parlamentares
à aprovação de tratados parece constituir um exemplo da evolução referida já no relatório da
Comissão de Direito Internacional à 18ª Assembleia Geral das Nações Unidas (de 1963, cit. por A.
Gonçalves Pereira, Curso de direito internacional público, cit., pág. 171), segundo o qual "na maioria dos
casos, quando a própria Constituição contém limitações aparentemente estritas e precisas, foi no
entanto necessário admitir uma ampla liberdade do executivo para concluir acordos em forma
simplificada, sem seguir os processos rigorosos previstos no Direito Interno; e este uso do treaty-
making power é reconciliado com a letra da lei quer por um processo de interpretação, quer pelo
desenvolvimento de entendimentos políticos."
Ao longo da história constitucional portuguesa, a competência para a aprovação de convenções
internacionais distribuiu-se diversamente pelos órgãos do Estado.
Assim, a Constituição de 1822 (portanto, antes ainda da Constituição belga de 1831, por vezes
referida como o primeiro texto constitucional que na Europa exigiu a aprovação pelo poder
legislativo de determinadas categorias de tratados) atribuía às Cortes, "sem independência da sanção
real", "aprovar os tratados de aliança ofensiva ou defensiva, de subsídios e de comércio, antes de
serem ratificados" (artigo 103º, § VI). Assim, ao poder executivo, ou seja, ao Rei, competia "fazer
tratados de aliança ofensiva ou defensiva, de subsídios e de comércio", mas "com dependência da
aprovação das Cortes" (artigo 123º, § XIV).
Segundo a Carta Constitucional (artigo 75º, § 8º), "fazer Tratados de Aliança ofensiva e defensiva, de
Subsídio e Comércio" era uma das principais atribuições do Rei, enquanto "Chefe do Poder
Executivo", devendo os Tratados, só depois de concluídos, ser levados ao conhecimento das Cortes
Gerais, e quando o interesse e segurança do Estado o permitissem. Apenas os Tratados concluídos
em tempo de paz que envolvessem cessão ou troca de território do Reino, ou de Possessões a que o
Reino tenha direito, não deveriam ser ratificados sem previamente terem sido aprovados pelas Cortes
Gerais.
A Constituição de 1838, por sua vez, veio atribuir às Cortes competência para "aprovar, antes de
serem ratificados, os tratados de aliança, subsídios, comércio, troca ou cessão de alguma porção de
território português ou de direito a ela" (artigo 37º, IX). Segundo o artigo 82º, n.º XV, competia ao
Rei, enquanto titular do poder executivo, "fazer tratados de aliança, de subsídio e de comércio, e
ratificá-los depois de aprovados pelas Cortes".
Restaurada a Carta em 1842, continuou em vigor o disposto no referido § 8º do artigo 75º, assim
diminuindo os poderes das Cortes em matéria de tratados. A disposição da Carta suscitava, porém,
críticas – v. J. Lopes Praça, Direito constitucional portuguez, vol. I, cit., pág. 271, referindo as posições
críticas de Silvestre Pinheiro Ferreira e Passos Manuel (salientando este "a necessidade da refórma"
da Carta, quanto, por exemplo, a tratados de comércio, sendo que "a concordancia n'este ponto é um
grande penhor para a felicidade futura"). Assim, o Acto Adicional de 1852 veio, pelo seu artigo 10º,
"reformar e ampliar" aquele § 8º, no sentido de que "qualquer tratado, concordata e convenção, que
o Governo celebrar com qualquer Potência estrangeira, será, antes de ratificado, aprovado pelas
Cortes em sessão secreta".
No artigo 26º, n.º 15º da Constituição de 1911 estabelecia-se que competia "privativamente" ao
Congresso da República "resolver definitivamente sobre tratados e convenções", embora coubesse ao
Presidente da República "negociar tratados de comércio, de paz e de arbitragem e ajustar outras
convenções internacionais, submetendo-as à ratificação do Congresso" (artigo 47º, 7º).
Na Constituição de 1933, o artigo 81º, n.º 7º atribuía ao Presidente da República o poder de
representar a Nação e dirigir a política externa – embora a Lei Orgânica do Ministério dos Negócios
Estrangeiros (Decreto-Lei n.º 47331, de 23 de Novembro de 1966) estabelecesse, logo no artigo 1º,
que "a direcção da actividade internacional do Estado, atribuída constitucionalmente ao Presidente da
República, é exercida por intermédio do Ministro dos Negócios Estrangeiros e executada pelos
serviços que constituem o Ministério dos Negócios Estrangeiros". O Chefe de Estado tinha
competência para "ajustar convenções internacionais e negociar tratados de paz e aliança, de
arbitragem e de comércio, submetendo-os à aprovação da assembleia Nacional". Por sua vez, o artigo
91º, n.º 7º, previa que todas as convenções e tratados internacionais fossem aprovadas pela
Assembleia Nacional.
Todavia, logo com a revisão constitucional de 1935 passou a admitir-se a substituição da aprovação
da Assembleia Nacional pela do Governo, em caso de urgência e necessidade pública, devendo
porém o decreto do Governo ser ratificado na primeira sessão legislativa que se seguisse à sua
publicação (artigo 109º, § 4º). Nenhuma abertura existia que permitisse que as formalidades
constitucionais pudessem ser em certos casos ainda mais simples, designadamente, admitindo-se a
possibilidade de acordos não carecidos de ratificação.
Sucede, porém, que a prática constitucional portuguesa registava já a utilização desta figura dos
acordos celebrados por membros do executivo, válidos internacionalmente desde a sua assinatura.
Com a revisão de 1971, atribuiu-se à Assembleia Nacional uma reserva de competência em matéria
de aprovação de certos tratados (os de paz, aliança ou arbitragem, os que se referissem à associação
de Portugal com outros Estados e os que versassem matéria da sua competência exclusiva, e ainda os
submetidos à apreciação da Assembleia) e uma competência concorrente com a do Governo
relativamente aos outros actos internacionais, sendo que este último, em casos de urgência e
necessidade pública, e fora do funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, poderia substituir--se
à Assembleia Nacional no exercício da sua competência reservada, embora o decreto de aprovação
houvesse de ser ratificado pelo Parlamento (artigos 97º, n.º 7, e 109º, n.º 2 e § 4º) (sobre a evolução
depois de 1933, podem ver-se Afonso Queiró, "Relações entre o direito internacional e o direito
interno ante a última revisão constitucional portuguesa", Boletim da Faculdade de Direito, vol. XLVIII,
Coimbra, 1972, págs. 70 e segs., Nuno A. de Bessa Lopes, A Constituição e o direito internacional, 1979,
págs. 63 e segs., Jorge Miranda, "As actuais normas constitucionais e o direito internacional", Nação e
Defesa, n.º 3, Outubro-Dezembro de 1985, págs. 34 e segs., e idem, Direito internacional público - I,
Lisboa, 1995, págs. 116 e segs.).
A Constituição de 1976 dedicou uma norma especificamente ao direito internacional. Segundo o seu
artigo 8º, n.º 2, "as normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou
aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto vincularem
internacionalmente o Estado Português."
A disciplina da vinculação externa de Portugal conheceu igualmente alterações com a Constituição de
1976. Assim, o poder de "negociar e ajustar" convenções (incluindo, designadamente, o poder de
iniciativa para uma convenção) foi atribuído ao Governo – artigo 197º, n.º 1, alínea b), da
Constituição (tal como todos os artigos doravante citados sem indicação especial) –, e já não ao
Chefe de Estado (como, embora formalmente, acontecia no domínio da Constituição de 1933). É
também ao Governo, como "órgão de condução da política geral do país" que incumbe conduzir a
política externa (artigo 182º), competindo, designadamente, ao Conselho de Ministros "definir as
linhas gerais da política governamental, bem como as da sua execução " (artigo 200º, n.º 1, alínea a)).
Ao Presidente da República, enquanto Chefe de Estado, incumbe a representação da República
Portuguesa (artigo 120º da Constituição), pelo que deve ser informado pelo Primeiro-Ministro acerca
dos assuntos respeitantes à política externa (artigo 201º, n.º 1, alínea c)). No que toca às convenções
internacionais incumbe ao Chefe de Estado ratificar os tratados internacionais, bem como assinar os
decretos do Governo (e também, a partir de 1989, as resoluções da Assembleia da República) de
aprovação de acordos internacionais (artigos 135º, alínea b), e 134º, alínea b), da Constituição).
A competência para aprovação de convenções internacionais conheceu sucessivas alterações desde 1976.
Assim, segundo a redacção originária da Constituição, eram aprovados pela Assembleia da República
os tratados que versassem matéria da sua competência legislativa exclusiva, os tratados de participação
de Portugal em organizações internacionais, os tratados de amizade, de paz, de defesa e de
rectificação de fronteiras e quaisquer outros que o Governo entendesse submeter-lhe (artigo 164º, n.º
1, alínea j)); eram aprovados pelo Governo os acordos internacionais em forma simplificada, bem
como os tratados internacionais cuja aprovação não fosse da competência do Conselho da Revolução
ou da Assembleia da República ou que não lhe tivessem sido submetidos; os tratados ou acordos
internacionais que respeitassem a assuntos militares, por sua vez, eram aprovados pelo Conselho da
Revolução (artigos 148º, n.º 1, alínea b)).
A primeira revisão constitucional esclareceu a anterior repartição de competências entre Assembleia da
República e Governo para aprovação de convenções internacionais, no sentido de que àquela
competia aprovar os tratados sobre matéria da sua "competência reservada" (em vez de "exclusiva"),
transferiu para o Parlamento os poderes do Conselho da Revolução de aprovação de tratados
respeitantes a assuntos militares, e eliminou também, na previsão das competências do Governo para
aprovação de acordos internacionais, a referência aos acordos cuja aprovação estava antes reservada
ao Conselho da Revolução (artigos 164º, n.º 1, alínea i), e 200º, n.º 1, alínea c), da Constituição na
redacção dada pela Lei Constitucional n.º 1/82).
Ao Governo continuou, pois, a caber a aprovação de tratados e acordos em forma simplificada,
enquanto apenas se previa a competência da Assembleia da República para aprovação de tratados
(embora competência exclusiva, no caso de versarem matérias reservadas ao Parlamento ou de serem
tratados de participação de Portugal em organizações internacionais, os tratados de amizade, de paz,
de defesa e de rectificação de fronteiras ou respeitantes a assuntos militares).
Nas alterações introduzidas pela revisão constitucional de 1989 aflorou já o receio de que por via de uma
transformação da forma das convenções internacionais se pudesse frustrar a reserva da vinculação
internacional, em certas matérias, do Parlamento. Assim, passou-se a prever que competia à
Assembleia da República aprovar as convenções internacionais (incluindo pois os acordos, e não apenas
os tratados internacionais) que versassem matéria da sua competência reservada, bem como os
tratados de participação de Portugal em organizações internacionais, os tratados de amizade, de paz,
de defesa, de rectificação de fronteiras, os respeitantes a assuntos militares e quaisquer outros que o
Governo entendesse submeter-lhe (artigo 164º, n.º 1, alínea j)). E previu-se também, como já se
referiu, a assinatura pelo Presidente da República das resoluções da Assembleia da República que
aprovassem acordos internacionais. Esclareceu-se, igualmente, que o poder do Governo de
aprovação de quaisquer convenções internacionais (acordos e tratados) se restringia àquelas cuja
aprovação não fosse da competência da Assembleia da República e que não tivessem sido submetidas
a esta para aprovação (artigo 200º, n.º 1, alínea c), na redacção de 1989).
A Assembleia da República passou, pois, a dispor de competência para aprovação quer de tratados, quer
de acordos internacionais, tal como o Governo, embora apenas a Assembleia da República pudesse
aprovar os relativos às matérias incluídas na sua competência reservada e os tratados internacionais
relativos às matérias enumeradas (bem como os que o Governo lhe submetesse).
A Lei Constitucional n.º 1/97, por último, veio atribuir à Assembleia da República competência para
aprovar todos os tratados, designadamente os tratados de participação de Portugal em organizações
internacionais, os tratados de amizade, de paz, de defesa e de rectificação de fronteiras ou
respeitantes a assuntos militares, bem como os acordos internacionais que versem matérias da
competência reservada do Parlamento, ou que o Governo entenda submeter à sua apreciação (artigo
161º, n.º 1, alínea i), da versão actual da Constituição). Concomitantemente, mantendo a competência
do Governo para negociar e ajustar convenções internacionais, retirou-lhe competência para aprovar
quaisquer tratados – o Governo só pode agora aprovar acordos internacionais cuja aprovação não
seja da competência da Assembleia da República (ou seja, que não versem sobre matéria da
competência reservada desta) e acordos que não lhe submeta para aprovação.
Nota-se, pois, que, de uma repartição constitucional de competências em que à Assembleia da
República competia aprovar apenas tratados e ao Governo tratados e acordos se passou,
paulatinamente (através, num primeiro momento, da explicitação da competência parlamentar para
aprovar também acordos em matéria que lhe está reservada) a uma outra repartição de poderes, em
que o Governo apenas aprova acordos e o Parlamento tratados e acordos (quanto a estes, pelo menos, os
relativos à sua competência reservada, conforme resulta da parte final da alínea i) do artigo 161º).
A distinção entre tratados e acordos internacionais foi, como se viu, recebida no direito
constitucional português, avultando em diversas disposições da Constituição.
Já a Constituição de 1933 havia passado a referir, a partir de 1971, a conclusão de acordos e o ajuste
de tratados internacionais (artigo 81º, n.º 7º).
Actualmente, a Constituição refere nos artigos 4º, 8º, n.º 2, 15º, n.º 3, 33º, n.ºs 3 e 5, 115º, n.ºs 3 e 5,
119º, n.º 1, alínea b), 134º, alínea g), 197º, n.º 1, alínea b), e 273º, n.º 2, a categoria geral de "convenções
internacionais". Por sua vez, nos artigos 134º, alínea b), 161º, alínea i), 197º, n.ºs 1, alínea c), e 2, 200º,
n.º 1, alínea d), e 227º, n.º 1, alínea t), autonomiza-se a categoria específica dos acordos internacionais
(distinta da dos tratados, sujeitos a ratificação, e referidos nas normas dos artigos 135º, alínea b), 161º,
alínea i), e 227º, n.º 1, alínea t)).
Ora, a distinção entre tratados e acordos internacionais releva, desde logo, para a distribuição de
competências de aprovação entre Assembleia da República e Governo. Assim, como se viu,
enquanto até 1989 os acordos internacionais apenas podiam ser aprovados pelo Governo, a partir de
1997 este deixou de ter competência para a aprovação de quaisquer tratados.
À distinção é igualmente concedida relevância constitucional em alguns outros pontos de regime.
Note-se, todavia, que a interpretação dos preceitos constitucionais relativos a tratados e acordos
internacionais não deixa de se ligar intimamente com a questão – que justamente importa resolver no
presente processo – da possibilidade e dos termos da delimitação material entre tratado e acordo
(assim, por exemplo, no que toca à possibilidade de recusa de assinatura pelo Presidente da
República, à determinação do valor relativo de lei e acordo internacional ou à possibilidade de se
aplicar aos acordos internacionais o regime do artigo 277º, n.º 2, da Constituição).
Ficando-nos, pois, para já, pela mera descrição da relevância da distinção para efeitos de regime, tal
como resulta da letra dos preceitos constitucionais, há que referir a diferente forma de intervenção do
Presidente da República no procedimento de vinculação a acordos e tratados. Enquanto estes são
ratificados pelo Presidente da República, os acordos internacionais são apenas aprovados pelo órgão
competente, sendo o correspondente decreto ou resolução assinado pelo Chefe de Estado. A tal
diferença – referida, aliás, pelo requerente – é concedida relevância, designadamente, por ser
controvertida na doutrina constitucionalista a questão de saber se o Chefe de Estado pode recusar a
assinatura. Assim, a natureza vinculada do acto do Presidente da República de assinatura de
resoluções ou decretos que aprovam acordos internacionais, correspondendo, ao que parece, à
opinião tradicional (e, segundo alguns, confortada por algumas sugestões, sobretudo literais, da
Constituição – assim, o confronto dos artigos 134º, alínea b) e 135º, alínea b), bem como dos n.ºs 1 e
4 do artigo 279º), é defendida por parte da doutrina (assim, Jorge Miranda, "As actuais normas
constitucionais e o direito internacional", cit., págs. 33 e 41, A. Gonçalves Pereira/Fausto de Quadros,
Direito internacional público, cit., pág. 222, Rui Medeiros, "Relações entre normas constantes de convenções
internacionais e normas legislativas na Constituição de 1976", separata de "O Direito", ano 122º, 1990, pág.
367, L. Barbosa Rogrigues, O processo de conclusão de convenções internacionais..., cit., pág. 13). Parte da
doutrina defende, porém, que a assinatura dos acordos internacionais é um acto livre, cuja prática
pode ser recusada pelo Chefe de Estado (argumentando-se que assim se evita que ao Presidente da
República sejam impostas regulamentações em matéria de vinculação internacional do Estado, uma
vez que é ele que representa internacionalmente o Estado e que dispõe de competências próprias em
sede de relações internacionais) – vejam-se J. J. Gomes Canotilho/Vital Moreira, Os poderes do
Presidente da República, Coimbra, 1991, págs. 90-1, idem, Constituição da República Portuguesa
anotada, cit., págs. 85 e 595 (defendendo também uma restrição das matérias a tratar por acordo,
referem que, até por maioria de razão, também a vinculação internacional há-de estar nas mãos do
Presidente da República), Alexandre Sousa Pinheiro/Mário Fernandes, Comentário à IV revisão
constitucional, cit., pág. 397; Fernando Loureiro Bastos, "O procedimento internacional...", cit., págs. 45-
6, Eduardo Correia Baptista, Direito internacional público, cit., págs. 379-80.
Ora, independentemente da conexão que a resposta à questão da natureza vinculada ou livre do acto
de assinatura de acordos internacionais possa ter com o problema da existência de uma reserva
material de tratado – por exemplo, por, limitando-se o conjunto de matérias que podem ser objecto
de acordo, se poder naturalmente com maior tranquilidade, sob a perspectiva de controlo mútuo dos
órgãos do Estado, defender que a assinatura dos acordos é um acto vinculado do Chefe de Estado, e
vice-versa (cfr., todavia, por um lado, Gomes Canotilho e Vital Moreira, que defendem uma reserva
material geral de tratado e, simultaneamente, a liberdade de recusa de assinatura dos acordos
internacionais – Constituição..., cit., págs. 85 e 653; por outro lado, L. Barbosa Rodrigues, O processo de
conclusão de convenções internacionais, cit., págs. 20, 23 e 33, que, embora verifique uma "desmaterialização
da noção de tratado", considera que a assinatura é um acto obrigatório) –, deve desde já notar-se que
tal questão, conquanto referida pelo requerente como argumento, não é, em si mesma, objecto do
presente processo.
Uma outra distinção entre tratados e acordos – literal e possivelmente resultante da não adaptação do
artigo 278º, n.º 1, à atribuição de competências à Assembleia da República para aprovação de acordos
internacionais – resulta do facto de a Constituição não prever expressamente a sujeição a fiscalização
preventiva da constitucionalidade dos acordos internacionais aprovados por resolução da Assembleia
da República, mas apenas dos tratados internacionais. Por outro lado, no caso de pronúncia do
Tribunal Constitucional pela inconstitucionalidade de norma constante de tratado, prevê-se a
possibilidade de ratificação pelo Presidente da República se a Assembleia da República o vier a
aprovar por uma maioria qualificada, nos termos do artigo 279º, n.º 4, mas não se encontra na
Constituição previsão semelhante para os acordos (nem mesmo para os aprovados pela Assembleia
da República).
A possibilidade de aplicação de normas de convenções internacionais na ordem jurídica portuguesa
apesar da sua inconstitucionalidade orgânica ou formal (desde que tais normas sejam aplicadas na
ordem jurídica da outra parte, salvo se tal inconstitucionalidade resultar da violação de uma
disposição fundamental) está prevista na Constituição apenas para os tratados internacionais
regularmente ratificados, não abrangendo os acordos (artigo 277º, n.º 2).
E foi ainda sustentado na doutrina que, diversamente do que acontece com os tratados
internacionais, o acordo não possui valor supra-legal, antes estando subordinado à lei (Rui Medeiros,
ob. cit., pág. 369).
Tal para a questão da natureza da assinatura dos acordos internacionais, também não incumbe,
porém, ao Tribunal pronunciar-se no presente processo sobre estes pontos de relevância, para efeitos
de regime, da distinção constitucional entre tratados e acordos internacionais – embora o seu
equacionamento não possa, evidentemente, deixar de estar presente na resposta à questão da
delimitação material das duas formas constitucionais de convenções internacionais.
A resposta às dúvidas de constitucionalidade levantadas pelo Presidente da República implica, na
verdade, que se aborde a questão de saber se existe, segundo a Constituição – ou recebida ou
pressuposta por ela – uma distinção material entre tratado e acordo internacional (designadamente, uma
reserva material de tratado), por forma a enquadrar perante tal distinção a presente Convenção.
Antes ainda de analisar a questão da constitucionalidade orgânica (e formal) resultante da
obrigatoriedade de aprovação da matéria da "Convenção sobre Segurança Social entre a República
Portuguesa e a República do Chile" por tratado, pode, todavia, reconhecer-se que –
independentemente do problema da existência de uma reserva material de tratado (e, portanto, da
forma de tratado) – tal Convenção, mesmo que possa revestir a forma de acordo internacional, terá de
ser considerada desconforme com a Lei Fundamental se versar sobre matéria incluída na
competência reservada da Assembleia da República.
Por outras palavras: ainda que a matéria da segurança social sobre que versa a convenção sub iudice
pudesse ser disciplinada por acordo, o certo é que, nos termos da 2ª parte da alínea i) do artigo 161º,
se tal matéria se incluir na competência reservada da Assembleia da República, a presente Convenção
será inconstitucional, pois, nesse caso, tal acordo sempre deveria ser aprovado por aquele órgão
parlamentar. A inconstitucionalidade orgânica deveria, pois, ser declarada sem mais em relação às
normas da presente Convenção que porventura se insiram na competência reservada da Assembleia da
República.
Pelo que, antes de abordar a questão da eventual imposição constitucional de uma reserva material de
tratado, se começará por tratar da questão da constitucionalidade - (puramente) orgânica – da
competência para sua aprovação, desligada da questão da sua forma, portanto.
B) A questão da competência reservada da Assembleia da República - artigo 161º, alínea i), 2ª parte, da
Constituição
Segundo o artigo 161º, alínea i), da Constituição, compete à Assembleia da República "aprovar os
tratados, designadamente os tratados de participação de Portugal em organizações internacionais, os
tratados de amizade, de paz, de defesa, de rectificação de fronteiras e os respeitantes a assuntos
militares, bem como os acordos internacionais que versem matérias da sua competência reservada ou
que o Governo entenda submeter à sua apreciação."
A atribuição exclusiva à Assembleia da República da competência para aprovação de tratados em
matéria da sua competência reservada procede já da redacção da Constituição de 1982 (pois no texto
originário da Constituição falava-se de "competência exclusiva"), filiando-se numa razão de
preservação do âmbito da reserva parlamentar de poderes legislativos a nível interno, que justifica a
sua extensão aos instrumentos de vinculação internacional.
A II revisão constitucional introduziu no texto constitucional a referência a convenções
internacionais (incluindo, pois, tratados e acordos internacionais) que versem sobre matéria da
competência reservada da Assembleia da República - embora mantendo a competência do Governo
para aprovação de tratados -, no intuito de evitar que, manipulando a forma adoptada para a
convenção, o Governo pudesse vir a aprovar acordos em matérias reservadas à Assembleia da
República, para as quais a aprovação por tratado estava já constitucionalmente vedada.
Em correspondência com a razão de ser da atribuição exclusiva à Assembleia da República de
competência para aprovação de convenções nas matérias da sua competência reservada devem
conter-se nessas matérias, não apenas as incluídas na reserva absoluta de competência legislativa, mas
todas as matérias cujo tratamento está reservado à Assembleia, incluindo também as matérias de
reserva relativa de competência legislativa (aliás, a Constituição não prevê autorizações parlamentares
ao Governo para a aprovação de convenções internacionais).
Ora, estaremos no caso da Convenção sobre Segurança Social entre Portugal e o Chile perante uma
convenção sobre matéria reservada à Assembleia da República?
A dúvida suscita-se perante o artigo 165º, n.º 1, alínea f), da Constituição, que inclui nas matérias de
reserva relativa de competência legislativa as "bases do sistema de segurança social e do serviço
nacional de saúde".
A argumentação do pedido assenta, na verdade, parcialmente na inclusão da matéria da Convenção
posta em crise na área de competência reservada da Assembleia da República. Todavia, esta área de
reserva apresenta diferentes graus de densificação. Assim, há que proceder a uma aproximação do
tipo de recorte da reserva que corresponde às matérias da segurança social – ou seja, uma reserva
confinada às bases do respectivo sistema –, para, depois, se apurar a possível recondução a tal âmbito
de reserva do regime adoptado na referida Convenção.
Diga-se, porém, que tal sequência nem sequer se afigura como essencial ao resultado a que se chegará
quanto à parte final da alínea i) do artigo 161º.
É que, dado o teor das normas da Convenção em causa, desde que o âmbito da reserva de lei
constitucionalmente previsto para a matéria da segurança social não fosse o mais absoluto (nas
palavras de Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, cit., pág. 645:
"no sentido de a extensão da competência materialmente reservada à lei implicar a restrição radical da
intervenção normativa de outras entidades"), sempre escaparia à inclusão no âmbito da reserva de lei.
Por outras palavras: não é por estarmos perante um caso de reserva "fraca", apenas confinada às
"bases", que a matéria da Convenção se situa no seu exterior – pela sua natureza, âmbito e conteúdo,
ficaria igualmente de fora de uma reserva "média", relativa ao próprio regime geral da segurança social.
Assim, salientou-se logo em face do texto originário da Constituição de 1976 (v. a primeira edição de
Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, Coimbra, 1980, anotação
ao artigo 168º, pág. 334) que "nem sempre é fácil [precisar rigorosamente o âmbito das matérias aqui
enunciadas], particularmente nos casos em que a reserva de competência não abrange todo o regime
jurídico, mas apenas as respectivas bases (...)." Segundo este autores, "em caso de dúvida, porém,
deve preferir-se a interpretação mais favorável ao alargamento da competência reservada da AR.".
Posteriormente, os termos em que a distinção seria posteriormente formulada foram assim
introduzidos (na 2ª edição da citada obra, 1985, 2º vol., págs. 197-8):
"O alcance da reserva de competência legislativa da AR não é idêntico em
todas as matérias. Importa distinguir três níveis: (a) um nível mais exigente,
em que toda a regulamentação legislativa da matéria é reservada à AR – é o
que ocorre na maior parte das alíneas; (b) um nível menos exigente, em que a
reserva da AR se limita ao regime geral (alíneas d), e), h), e p)), ou seja, em que
compete à AR definir um regime comum ou normal da matéria, sem prejuízo,
todavia, de regimes especiais que podem ser definidos pelo Governo (ou, se for
caso disso, pelas assembleias regionais); (c) finalmente, um terceiro nível, em
que a competência da AR é reservada apenas no que concerne às bases gerais
do regime jurídico da matéria (alíneas f), g), n) e u)).
O segundo e terceiro níveis são bastante distintos, pelo menos quando
considerados em abstracto: naquele, a AR deve definir todo o regime geral ou
comum, sem prejuízo dos regimes especiais (que, todavia, hão-de respeitar os
princípios gerais do regime geral), enquanto que [no] terceiro nível a AR
apenas tem que definir as bases gerais, podendo deixar para o Governo o
desenvolvimento legislativo do regime jurídico (do regime geral e dos regimes
especiais a que haja lugar), não é fácil definir senão aproximadamente o que
deve entender-se por bases gerais. Seguro é que deve ser a AR a tomar as
opções político-legislativas fundamentais, não podendo limitar-se a simples
normas de remissão ou normas praticamente em branco."
Os termos da distinção foram acolhidos no Acórdão n.º 3/89 do Tribunal Constitucional (DR, II
série, de 12 de Abril de 1989, que transcreveu o primeiro dos dois parágrafos acabados de citar, o que
ocorreu também, nos mesmos termos, no Acórdão n.º 257/88, publicado no Diário da República
(doravante DR), II série, de 11de Fevereiro de 1989), e adoptados também por Jorge Miranda
(Manual de direito constitucional, tomo V, Coimbra, 1997, pág. 232), passando a ser designados "reserva
de densificação total e reserva de densificação parcial" (por Gomes Canotilho, a partir da primeira
edição do seu Direito constitucional e teoria da constituição, Coimbra, 1998, pág. 645). No mesmo sentido
se pronunciou Manuel Afonso Vaz (Lei e reserva de lei – a causa da lei na Constituição portuguesa de 1976,
Porto, 1992, pág. 430), que, depois de distinguir um critério material implícito de um critério material
explícito de fixação de uma reserva legislativa do Parlamento (o que "pressupõe a definição de
matérias subtraídas à acção legislativa primária de outros órgãos", respectivamente pelo
preenchimento dogmático "da matéria constitucionalmente carente de decisão parlamentar" ou pela
sua indicação expressa no texto constitucional) conclui que, no nosso caso,
"A questão da extensão da reserva do Parlamento torna-se, deste modo, um
problema interno de verificação e interpretação de preceitos e não,
primariamente, de princípios. Dessa indagação, recorta-se o âmbito material
da competência legislativa reservada ao Parlamento, o qual, por um critério de
menor, maior ou total exclusividade referida aos potenciais conteúdos de
legislação, assim se dispõe: 1) reserva limitada às bases gerais dos regimes jurídicos;
2) reserva incidente sobre o regime comum ou normal; 3) reserva completa ou total."
Na jurisprudência do Tribunal Constitucional, a questão foi repetidas vezes abordada.
O Acórdão n.º 14/84 (DR, II série, de 10 de Maio de 1984), abordou a questão nos seguintes termos
(a propósito de um Decreto Regional da Assembleia Regional da Madeira sobre a extinção do regime
de colonia), referindo que,
"Qualquer que seja a definição de 'bases gerais' que se perfilhe, parece
seguro que nelas se há-de incluir aquilo que em cada área constitua as
opções político-legislativas fundamentais."
O sentido da reserva do estabelecimento das "bases gerais" foi também discutido na jurisprudência
deste Tribunal a propósito das "bases do regime e âmbito da função pública" (para as bases gerais do
sistema de ensino, v. o Acórdão n.º 38/84, DR, II série, de 7 de Maio de 1984). Assim, salientou-se
no Acórdão n.º 142/85 (DR, II série, de 7 de Setembro de 1985; v. também, no mesmo sentido, os
Acórdão n.ºs 78/84, 190/87, e 340/92, DR, respectivamente, II série, de 11 de Janeiro de 1985, I
série, de 2 de Julho de 1987, e II série, de 17 de Novembro de 1992), que tal
"reserva não se reporta sequer a um tratamento normativo
desenvolvido da matéria em causa, mas tão-só à definição dos seus
princípios fundamentais. (...) Na imediata dependência de um debate e de
uma decisão parlamentares (é esse, bem se sabe, o significado da
reserva) encontra-se apenas, e compreensivelmente, o estabelecimento
do quadro dos princípios básicos fundamentais daquela regulamentação [da
função pública], dos seus princípios reitores ou orientadores –
princípios esses que caberá depois ao Governo desenvolver,
concretizar e mesmo particularizar, em diplomas de espectro mais ou
menos amplo (consoante o exigir a especificidade das situações a
contemplar), e princípios que constituirão justamente o parâmetro e o
limite desse desenvolvimento, concretização e particularização"
Nos mesmos termos (isto é, no de que a reserva da definição das bases gerais de uma matéria
abrange apenas as opções político-legislativas fundamentais ou o quadro dos princípios fundamentais
relativos à matéria a que tais bases respeitam), se pronunciaram ainda os Acórdãos n.º 197/91 e n.º
152/92 (publicados no DR, II série, respectivamente, de 13 de Setembro de 1991 e 28 de Julho de
1992. No Acórdão n.º 368/92 (DR, I série-A, de 6 de Janeiro de 1993), voltou a transcrever-se o
entendimento do que são as bases gerais formulado no Acórdão n.º 142/85:
"[n]uma palavra …dir-se-á: a reserva parlamentar inclui apenas o que
tenha a natureza de uma regulamentação de princípio, por constituir, ou
co-envolver, uma redefinição de 'princípios jurídicos'; a emissão de
normas que não briguem com esses princípios, mas representem
unicamente uma diferente modelação ou concretização deles, essa,
encontra-se o Governo habilitado a fazê-la autonomamente."
Mais recentemente, no Acórdão n.º 672/98 (DR, II série, de 3 de Março de 1999), referiu-se que a
reserva da Assembleia da República em matéria de "bases do regime e âmbito da função pública",
"não se reporta, nessa medida, a um tratamento desenvolvido da matéria em causa, mas tão-só à
definição dos seus princípios fundamentais.", remetendo-se ainda para o citado Acórdão n.º 142/85
(DR., II série, de 7 de Setembro de 1985). E no Acórdão n.º 129/99 (ainda inédito), retomou-se a
argumentação, designadamente, do Acórdão n.º 340/92, a propósito do regime da reserva da
Assembleia da República em matéria de função pública, concluindo-se que:
"No âmbito desta reserva encontra-se apenas o estabelecimento do
quadro dos princípios básicos fundamentais daquela regulamentação,
cabendo depois ao Governo desenvolver, concretizar e mesmo
particularizar esses princípios que constituirão, justamente, o
parâmetro e o limite desse desenvolvimento".
A reserva de lei parlamentar em causa para a presente Convenção é, aliás, apenas uma reserva de
definição das bases gerais do sistema de segurança social. Especificamente quanto ao entendimento do
que são as "bases gerais do sistema de segurança social", salientou também já este Tribunal, no
Acórdão n.º 326/86 (DR, I série, de 18 de Dezembro de 1986) que
"Matéria reservada à Assembleia da República é, pois, aqui tão-
somente a fixação do travejamento do respectivo regime, e definição
das ideias standards ou dos princípios gerais."
Importa, pois, averiguar, antes de mais, se a Convenção regula matéria referente às bases gerais do
regime jurídico da segurança social, ou matéria que com essas bases pode conflituar.
Perante o enquadramento doutrinário e jurisprudencial do que são as "bases" de um regime para
efeitos de reserva de competência legislativa da Assembleia da República, logo se conclui pela
impossibilidade de reconduzir o regime constante da "Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e
República do Chile" ao perímetro de tais bases – mesmo se se prescindisse de analisar detalhadamente tal
regime.
Antes do mais, a Convenção em causa não disciplina directamente os princípios ou bases gerais do
sistema de segurança social português. A ratio de tal Convenção esgota-se no alargamento do âmbito
de aplicação de regimes jurídicos de segurança social pré-existentes em Portugal e no Chile,
resolvendo problemas de coordenação das respectivas legislações em situações com características
internacionais, sem estabelecer – em matéria de segurança social – princípios básicos fundamentais
alguns. E, mesmo nem sequer em matéria de protecção da mobilidade internacional dos cidadãos
nacionais, tem cabimento sustentar ser inovadora essa Convenção, tal como acontece com os
acordos do mesmo tipo anteriormente celebrados com outros países – cfr., por ex., a "Convenção
sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela" (DR, I série-A, de
2 de Junho de 1992), e a própria "Convenção Ibero-Americana de Segurança Social" (DR, I série, de
31 de Dezembro de 1984).
Que assim é, confirma-o, aliás, o próprio artigo 9º (e também os artigos 15º, n.º 3, 20º, n.º 3, e 23º,
n.º 2) da Lei de Bases da Segurança Social portuguesa (Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, alterada pela
Lei n.º 128/97, de 23 de Dezembro), que expressamente prevê a conclusão de acordos internacionais
que assegurem garantias recíprocas entre nacionais no estrangeiro e estrangeiros em Portugal, no
quadro dos respectivos regimes de segurança social, de que são exemplos recentes as celebradas com
a Áustria (DR, I série-A, de 22 de Maio de 1999), e com o Brasil (DR, I série, de 27 de Agosto de
1994).
Na verdade, reza aquele artigo 9º:
"O Estado promove a celebração ou adesão a acordos internacionais
de segurança social com o objectivo de ser reciprocamente garantida
igualdade de tratamento aos cidadãos portugueses e suas famílias que
exerçam a sua actividade ou se desloquem a outros países,
relativamente aos direitos e obrigações das pessoas abrangidas pelos
sistemas de segurança social desses países, bem como a conservação
dos direitos adquiridos e em formação quando regressem a Portugal."
Por outro lado, nos termos do artigo 5º, n.º 4 da citada Lei de Bases da Segurança Social, a igualdade
(que é, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, um dos princípios a que obedece o sistema de
segurança social) "consiste na eliminação de quaisquer discriminações, designadamente em razão do
sexo ou da nacionalidade, sem prejuízo, quanto a esta de condições de residência e de reciprocidade".
Ora, a leitura da Convenção em análise – a qual pretende eliminar discriminações em função da
nacionalidade – revela que ela corresponde justamente ao mandato legal de promoção da celebração
de acordos internacionais, constante do citado artigo 9º. Longe de ser, pois, inovadora ou de contrariar
os princípios gerais do sistema de segurança social, antes os desenvolve e concretiza as suas
directrizes e opções, designadamente, nos artigos 5º, n.º 4 e 9º da Lei de Bases da Segurança Social.
Aproximando, aliás, a análise do conteúdo da convenção em apreço – ou seja, confrontando o
regime nela estabelecido com o supra-mencionado conceito de bases gerais, tal como se faz na
resposta do Primeiro-Ministro –, verifica-se que, das diversas eventualidades contempladas no regime
de segurança social ("geral" e "não contributivo"), só a invalidez, velhice e sobrevivência estão
contempladas, e que nenhum dos artigos referenciados pelo Presidente da República como expressão
de princípios estruturantes desse regime o é de facto.
A Convenção limita-se a operar uma extensão da lei portuguesa a casos em que tal se justifica e a
definir os casos em que se aplica o regime chileno tal como é justificado por critérios de conexão
como a residência ou o local de trabalho. Trata-se, pois, de coordenar para as situações com
conexões nos dois países as regras dos respectivos regimes de segurança social, evitando lacunas ou
sobreposições. A Convenção apenas incide, pois, sobre situações pessoais internacionalizadas, com
conexões com as duas partes contratantes, e logo por isso não disciplina as bases do sistema de
segurança social – trata apenas de situações, por definição internacionais, em que está em causa
unicamente uma extensão e reconhecimento de igualdade dos cidadãos de ambos os países.
Das normas indicadas pelo requerente, afigura-se que os artigos 7º, 8º e 9º, da Convenção, contêm
"disposições sobre a legislação aplicável", similares às normas de conflitos, pois estabelecem
elementos de conexão para determinar a aplicação de um ou outro dos ordenamentos jurídicos das
partes contratantes (e sem que pretenda tal afirmação tomar qualquer posição sobre a problemática
da constitucionalidade do direito conflitual – v. Rui Moura Ramos, Direito internacional privado e
Constituição – Introdução a uma análise das suas relações, Coimbra, 1980, págs. 9-31 –, mas, tão-–só, notar
que não se prevê naquelas citadas normas qualquer princípio fundamental de regime material). Outra
das normas – o artigo 4º – como princípio de igualdade de tratamento dos estrangeiros em relação a
nacionais, afigura-se mera decorrência do princípio geral do artigo 15º, n.º 1, da Constituição,
atribuindo-se tratamento igual também aos nacionais portugueses no Chile.
Os artigos 6º e 11º, por sua vez, já contêm regulamentação material. Todavia, a regulamentação do
primeiro refere-se apenas à oponibilidade das regras anticúmulo já previstas na lei portuguesa, não
contrariando, pois, esta, e antes assegurando a aplicação de regras já previstas na legislação nacional.
O artigo 11º, por último, garante a totalização dos períodos de seguro, numa solução vantajosa para
beneficiários nacionais e chilenos, que apenas poderá considerar-se como propiciadora de um
aumento da consistência do direito à segurança social.
Se se pretendesse, aliás, fazer um paralelo com a legislação interna sobre a segurança social, deveria
concluir-se que tal regime material da Convenção se coloca, em densidade reguladora e âmbito material
de aplicação, ao nível dos decretos-leis que desenvolvem a lei de bases sobre segurança social,
domínio que não se encontra reservado à Assembleia da República.
Aliás, tendo em conta a reiterada e relativamente uniforme celebração de acordos deste tipo, com
conteúdo similar ao presente (v., por exemplo, os já citados, e ainda, recentemente, por exemplo, a
"Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos", publicada
no DR, I série-A, de 23 de Julho de 1999), a conclusão de que cada um deles incorporaria ou vincularia
quanto a princípios básicos fundamentais do sistema interno de segurança social, de modo a justificar
a inclusão de cada um deles nessa área de competência reservada das bases gerais da segurança social,
é de rejeitar – tal como o seria a inclusão, nessa definição, apenas do primeiro de tais acordos (por se
dever entender que tais princípios básicos fundamentais já tinham sido estabelecidos).
O que permite, pois, concluir que nem pela teleologia e âmbito de aplicação, nem pela sua natureza
derivada (de previsões da Lei de Bases da Segurança Social), nem pelo conteúdo das normas referidas
pelo requerente, é possível integrar a presente Convenção na definição do que comummente se
entende por bases do sistema de segurança social. E, portanto, o Tribunal há-de responder
negativamente à pergunta sobre a inclusão da matéria da Convenção na reserva relativa de competência
legislativa da Assembleia da República prevista no artigo 165º, n.º 1, alínea f), da Constituição ("bases
do sistema de segurança social").
Não se descortina, além disso, que a presente Convenção discipline matéria incluída em qualquer
outra cláusula de reserva de competência legislativa da Assembleia da República. Designadamente,
não disciplina matéria atinente a direitos, liberdades e garantias, limitando-se a concretizar, para o
direito à segurança social (artigo 63º da Constituição), a previsão do estabelecimento de relações
convencionais com sistemas estrangeiros, constante já de lei parlamentar (o referido artigo 9º da Lei de
Bases da Segurança Social).
Conclui-se, pois, que a Convenção em questão não incide sobre matéria da competência legislativa
reservada da Assembleia da República.
Resta saber se podia revestir a forma de acordo internacional, ou se, também pela matéria que trata,
só poderá constitucionalmente consistir num tratado, cuja aprovação está também reservada à
Assembleia da República (inconstitucionalidade formal e orgânica, pela existência de uma reserva de
certas matérias à forma de tratado).
C) A questão da reserva de tratado para a matéria da Convenção – artigo 161º, alínea i), 1ª parte, da
Constituição
a) O problema em geral
A questão de saber se se poderá afirmar a existência de uma genérica reserva material de tratado –
acarretando a reserva de competência para a sua aprovação à Assembleia da República –, e dos
termos dessa reserva não pode ser resolvida directamente no plano do direito internacional.
Na verdade – e sem prejuízo de não se dever excluir a possibilidade de retirar uma ou outra indicação
válida do direito constitucional comparado e de alguns instrumentos internacionais –, julga-se que o
critério de solução do problema se encontra em cada país no respectivo direito constitucional – neste
sentido, aliás, se pronunciando a própria doutrina internacionalista (v., por ex., Wilhelm Wengler,
Völkerrecht, I, Berlim, 1964, pág. 200, nota 2, Suzanne Bastid, Les traités dans la vie internationale.
Conclusion et effets, Paris, 1985, pág. 47, Riccardo Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico, 2ª ed.,
Turim, 1980, pág. 119, Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet, Droit international public,
Paris, 1992, págs. 142-3; entre nós, v. André Gonçalves Pereira, cit., págs. 217-8: "na prática, o que o
Direito Internacional possa dispor sobre a matéria tem pouca relevância porque acabará por ser o
Direito Constitucional dos Estados a definir quais são as matérias que podem ou não ser objecto de
acordos em forma simplificada", sendo que "aí o legislador constituinte de cada Estado conserva uma
total liberdade – donde resulta, frequentemente, que um mesmo tratado é solene para uma Parte
Contratante e de forma simplificada para outra", e "não se vê que esse facto ofenda qualquer razão
de lógica jurídica"; e Jorge Miranda, Direito internacional público - I, Lisboa, 1995, pág. 92, e idem, "As
actuais normas constitucionais e o direito internacional", in Nação e defesa, cit., pág. 30).
Trata-se, aqui, de uma questão de direito constitucional, atinente à repartição de poderes entre órgãos do
Estado relativamente às convenções internacionais.
Deve, aliás, referir-se que a doutrina dominante no direito internacional defende a inexistência de um
critério material para distinguir tratado e acordo. Assim, Charles Rousseau (ob. cit., págs. 22-3) salienta
que, "em sentido estrito, o tratado internacional define-se pelo procedimento utilizado para a sua
conclusão, quer dizer, pela sua forma, não pelo seu conteúdo", pois "não existe qualquer hierarquia
de objecto entre os tratados e os acordos em forma simplificada". Segundo Nguyen Quoc Dinh,
Patrick Daillier e Alain Pellet (Droit international public, cit., pág. 142), "se excluirmos a diferença de
procedimento, não existe diferença de natureza entre o acordo em forma simplificada e o tratado
formal, os quais têm, um e outro, o mesmo valor obrigatório para os estados partes. O acordo não é
juridicamente inferior ao tratado formal. Entre os dois, também não existe qualquer distinção
material." Um outro autor, por sua vez, escreve que "a prática dos estados evoluiu consistentemente
no sentido da aceitação de acordos em forma simplificada como tratados, e no plano internacional
não se traça qualquer distinção jurídica entre eles". Assim, "na prática moderna, estabeleceu-se que
eles [os acordos em forma simplificada] não diferem dos tratados no que toca à sua natureza e efeitos
jurídicos" (Fuad S. Hamzeh, "Agreements in Simplified Form – Modern Perspective", The British
Yearbook of International Law, 1968-69, págs. 180 e 188). V. também L. Oppenheim/H. Lauterpacht,
Tratado de derecho internacional publico, tomo I, vol. III, trad. esp., Barcelona, 1961, pág. 493 ("os acordos
intergovernamentais e interdepartamentais não se circunscrevem a matérias de menor importância e
de carácter transitório"), Alfred Verdross, Derecho internacional publico, trad. esp., Madrid, 1976, pág.
146, e Philippe Manin, Droit international public, Paris, 1976, pág. 87. Nega-se, aliás, a existência no
direito internacional de qualquer presunção a favor da exigência de ratificação das convenções – já
para não falar da influência que tal regra pudesse ter perante a observação das disposições
constitucionais pelos órgãos de cada Estado (v. Maria Frankowska, "De la prétendue présomption en
faveur de la ratification", in Revue Genérale de Droit International Public, 1969, págs. 62-88).
Entre nós, segundo, por ex., João Mota de Campos (As relações da ordem jurídica portuguesa com o direito
internacional e o direito comunitário à luz da revisão constitucional, Lisboa, 1985, pág. 96), "nem em direito
interno nem em direito internacional existe qualquer fundamento jurídico para distinguir entre
tratados e acordos internacionais" (v. também já, para o direito internacional, A. Gonçalves Pereira,
Curso de direito internacional público, Lisboa, 1973, pág. 170).
Há, pois, que pôr o problema perante o direito constitucional português.
A Constituição de 1976 não contém, em matéria de convenções internacionais, qualquer norma que
expressamente reserve o tratamento de certas matérias a uma determinada forma de convenção
internacional. Na verdade, as formas de convenções são apenas reguladas a propósito da atribuição de
competência à Assembleia da República para aprovação de certas formas de convenção (ou, até, 1989,
também ao Governo, que detinha competência exclusiva para aprovação de acordos internacionais).
Já desde 1976 são, todavia, referidas certas matérias a uma certa forma de convenção – tratados de
amizade, de paz, de defesa, de rectificação de fronteiras e (depois de 1982) respeitantes a assuntos
militares.
No presente caso, está em questão a violação da reserva de competência da Assembleia da República
por virtude de uma alegada reserva da forma de tratado para a regulamentação das relações entre a
República Portuguesa e a República do Chile no domínio da segurança social.
Na verdade, a reserva da forma de tratado implica, a partir de 1997, a reserva de competência da
Assembleia da República, uma vez que apenas esta dispõe hoje de competência para aprovação de
tratados (porém, a Assembleia da República pode igualmente aprovar acordos em forma simplificada,
quer os que o Governo entenda submeter à sua aprovação, quer mesmo em matérias que lhe estão
reservadas - artigo 161º, n.º 1, alínea i), parte final).
Ora, cumpre notar, antes de mais, que não estamos perante qualquer das matérias especialmente
elencadas na alínea i) do artigo 161º, ou (conforme se referiu) perante qualquer matéria de
competência legislativa reservada.
Para tais matérias elencadas no artigo 161º, alínea i) – participação de Portugal em organizações
internacionais, paz, defesa, fronteiras, tratados de amizade e assuntos militares –, a sua enumeração a
propósito da atribuição à Assembleia da República da competência para aprovação dos
correspondentes tratados poderá inculcar a existência de uma reserva de forma de tratado, para tais
matérias (contra a existência de uma tal reserva de forma de tratado poderá, porém, para acordos de
execução relativos a tais matérias, referir-se o Acórdão n.º 168/88, bem como Gomes
Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, cit., pág. 652; em sentido diverso,
Jorge Miranda, Direito internacional público, cit., pág. 118). Trata-se, porém, como se notou, de questão
situada fora do âmbito do presente processo.
O mesmo deve reafirmar-se, aliás, para a generalidade das matérias reservadas à competência da
Assembleia da República. Assim, não cumpre a este Tribunal pronunciar-se no presente caso sobre a
existência de uma reserva de tratado para a regulação de tais matérias em convenção internacional
(aliás, se parece resultar da parte final da alínea i) do artigo 161º, que não pode reconhecer-se uma
reserva formal de tratado quanto a tais matérias, poderá suscitar-se a dúvida de saber se os acordos aí
referidos, em matéria reservada à Assembleia, não serão apenas acordos de execução, ou se a
Assembleia da República será livre de escolher a forma que pretende adoptar para uma convenção
internacional que incida sobre essas matérias, com a consequências, designadamente, de que tais
acordos não seriam ratificados pelo Presidente da República, apenas sendo os respectivos decretos de
aprovação assinados – não cabe, porém, tratar deste ponto no presente processo), pois a matéria
disciplinada pela "Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República do
Chile" situa-se, como vimos, fora destas matérias reservadas à Assembleia da República.
Quid iuris, porém, para lá destas matérias especialmente elencadas na alínea i) do artigo 161º e das
matérias de competência reservada da Assembleia da República?
Como já se salientou, nas normas da Constituição que definem a competência para aprovação de
convenções internacionais não se pode encontrar qualquer previsão expressa (tal como, por exemplo,
acontece com a forma de lei – cfr. o artigo 166º da Constituição – ou com a distinção entre lei e
regulamento – artigo 112º, n.ºs 6 e 8) de uma delimitação geral do âmbito de cada uma das formas –
tratados e acordos – de convenções internacionais que a nossa Constituição distingue.
Cumpre, porém, inquirir se o sentido das alterações constitucionais de 1997, o regime constitucional
da aprovação de convenções internacionais, e a divisão de competências em matéria de política
externa pressupõem tal delimitação – devendo, pois, interpretar-se em conformidade a alínea i) do
artigo 161º da Lei Fundamental (isto é, no sentido de que introduz uma genérica reserva material de
tratado, com a consequente reserva de competência à Assembleia da República).
Desde as primeiras referências à figura dos acordos internacionais, foram na verdade defendidos na
doutrina nacional alguns critérios materiais de distinção entre tratado e acordo internacional.
Até 1976, na doutrina portuguesa maioritária referia-se uma distinção entre matérias que deveriam,
no plano interno, ser disciplinadas por lei, e matérias que podiam ser objecto de regulamento.
No domínio da Constituição de 1933, Afonso Rodrigues Queiró (Direito internacional público, 1960,
págs. 76-7) referia a possibilidade de o Governo, segundo a prática seguida, poder celebrar "acordos
intergovernamentais", e, como exemplos de acordos em forma simplificada indicava, entre outras,
"convenções de ordem técnica (administrative agreements), tais como convenções aduaneiras,
convenções postais, etc." O mencionado critério material era indicado por Miguel Galvão Teles,
Eficácia dos tratados na ordem interna portuguesa (condições, termos e limites), Lisboa, 1967, págs. 133-4 e A.
Gonçalves Pereira, A Revisão Constitucional de 1971 e as Fontes de Direito Internacional, pág. 17.
Depois de 1976, a maioria da doutrina continuou a defender uma distinção material semelhante –
assim, por ex., J. Miranda, Lições de direito internacional público, 1995, cit., pág. 117, idem, "As actuais
normas constitucionais...", cit., págs. 31-4, José Joaquim Gomes Canotilho, Fidelidade à República ou
Fidelidade à Nato? O problema das credenciações e o poder discricionário da administração militar, separata dos
"Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Afonso Rodrigues Queiró", Coimbra, 1986, págs. 29-31,
Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada, cit., pág. 85 (relação
"homóloga da relação lei-regulamento"), André Gonçalves Pereira, "Aspectos especiais da feitura dos
tratados", in A Feitura das Leis, vol. II, pág. 414, A. Gonçalves Pereira/Fausto de Quadros, Direito
internacional público, cit., págs. 220-1 e Nuno Bessa Lopes, A Constituição e o direito internacional, cit., pág.
75; pode ver-se ainda a declaração de voto aposta no Acórdão n.º 168/88 pelo Cons. Vital Moreira.
Em sentido diverso apontava o parecer da Procuradoria-Geral da República n.º 8/83, DR, II série, de
30 de Março de 1985, segundo o qual os tratados seriam reservados "à Assembleia, se (...) versam
matéria da sua competência legislativa reservada, sobre matérias políticas de especial importância
(participação de Portugal em organizações internacionais, paz, defesa, amizade, rectificação de
fronteiras) ou sobre assuntos militares".
Cumpre, porém, notar que, quer antes de 1976, quer depois (até 1997) – e embora a Constituição de
1933 apenas o previsse para casos de urgência e necessidade pública -, o Governo detinha
competência para aprovação de tratados. Desta forma, a distinção não era decisiva para a
determinação da competência para aprovação de convenções (salvo, eventualmente – e segundo
posição que, como referimos, não foi seguida no citado Acórdão n.º 168/88 –, para convenções
sobre as matérias especialmente elencadas na alínea j) do artigo 164º). A relevância da distinção entre
tratado e acordo, antes de 1997, residia, pois, designadamente, na diversa forma (ratificação ou
assinatura) de intervenção do Presidente da República (sendo que, como vimos, também o alcance de
tal diversidade era controvertido, designadamente no que toca à liberdade de recusa de assinatura de
decretos e resoluções que aprovam acordos internacionais).
Mais recentemente, encontram-se algumas posições em sentido diverso, defendendo uma
"desmaterialização" da distinção, quer pela impossibilidade de um critério material, quer pela
impossibilidade de extrair de tal distinção material quaisquer consequências relativas à validade dos
actos – assim, L. Barbosa Rodrigues, O processo de conclusão de convenções internacionais após a revisão
constitucional de 1989, Lisboa, 1991, págs. 20 e 33 ("desmaterialização da noção de tratado"), e Rui
Moura Ramos, Da comunidade internacional e do seu direito – estudos de direito internacional público e relações
internacionais, Coimbra, 1996, pág. 267 (à "distinção não corresponde uma linha divisória no plano
material traçada constitucionalmente"), depois da revisão de 1989 (recorde-se que após 1989 quer a
Assembleia da República, quer o Governo, podiam aprovar ambas as formas de convenções), e, já
depois de 1997, Alexandre Sousa Pinheiro/Mário Brito Fernandes, Comentário à IV Revisão
Constitucional, Lisboa, 1999, págs. 393-7, Fernando Loureiro Bastos, "O procedimento de vinculação
internacional do estado português após a revisão constitucional de 1997", Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, vol. XXXIX - n.º 1, 1998, pág. 18 a 64, 33 ("não parece, assim, de aceitar
qualquer distinção material entre tratados e acordos"), e Eduardo Correia Baptista, Direito internacional
público, Lisboa, 1998, pág. 367 (para o qual, ainda que se sustentasse a aplicabilidade do critério
material que distingue entre matérias de regulação primária e secundária, "e que, consequentemente,
o Governo não deveria manipular a forma das convenções, dando forma de acordo a matérias de
natureza político legislativa [...], seria difícil defender que esta manipulação acarretaria qualquer
desvalor para o acordo. Tal critério seria mais uma questão de cortesia constitucional do Governo à
Assembleia da República, do que um dever jurídico, dada a falta de apoio constitucional claro e as
previsíveis consequências internacionais da sua aplicação estrita. Finalmente, a entender-se em
contrário, então ter-se-ia de o aplicar de forma flexível, tendo em conta os referidos riscos
internacionais que acarretaria. Dever-se-ia entender que a sua violação por acordos que, à sua luz,
deveriam seguir a forma de tratado, apenas acarretaria uma mera irregularidade.").
Um critério material de distinção assente na diferença entre regulação primária ou inovadora (típica
do acto legislativo, a nível interno), por um lado, e regulação secundária, de execução (característica
do acto regulamentar, por outro) foi, aliás, referido por este Tribunal, antes ainda da II revisão
constitucional. Assim, no citado Acórdão n.º 168/88, após referência à distinção entre tratados e
acordos, e, designadamente, à necessidade de ratificação apenas dos primeiros e à competência (à
data) exclusiva do Governo para aprovação dos segundos, escreveu-se:
"Esta disciplina constitucional pressupõe, porém, num plano de inteira
harmonização dos respectivos princípios, a distinção material entre acordos e
tratados, a qual, na ausência de uma definição vinculativa, deve recorrer à
definição dos dois conceitos correntes no direito internacional, podendo
dizer-se que, em geral, 'se impõe a forma de tratado quando se pretende uma
disciplina primária semelhante à das leis internas, e se estabelece a forma de
simples acordo para os instrumentos diplomáticos executivos (executive
agreements) de tratados já celebrados. De certo modo, esta distinção reconduz-
se à ideia do valor legislativo dos tratados e do valor regulamentar dos
acordos e tem de confrontar-se em cada caso concreto com o objectivo
prosseguido pelas partes contratantes ao celebrarem uma convenção
internacional' (...)."
A adopção de tal distinção material pelo Tribunal Constitucional não conduziu a qualquer pronúncia
no sentido da inconstitucionalidade. O critério adoptado levou o Tribunal a afirmar a desnecessidade da
forma de tratado para os acordos aí em causa, tendo-se a decisão de inconstitucionalidade, quanto a
um deles, baseado no facto de a sua aprovação não ter revestido a forma de decreto.
Não deve, aliás, deixar de notar-se que, desde o Acórdão nº 168/88, a disciplina constitucional das
convenções internacionais, nomeadamente, quanto à competência para aprovação de tratados e
acordos, se alterou já por mais de uma vez – primeiro, através da atribuição à Assembleia da
República do poder de aprovação de acordos internacionais; depois, em 1997, retirando ao Governo
o poder de aprovação de tratados. Com a consequência, designadamente, de pôr em causa um
possível paralelo com as correspondentes competências internas, legislativa e regulamentar (ou
administrativa), possível parcialmente antes de 1997 (e plenamente antes de 1989, uma vez que ao
Parlamento só competia então aprovar tratados, tal como fazer leis, e não administrar), e, portanto, a
congruência, por via daquele critério material, com as funções internas – aliás, como escreve Jorge
Miranda (Direito internacional público, cit., pág. 93), no próprio direito comparado "divisa-se, não sem
conexão com as concepções acerca da integração sistemática de Direito internacional e Direito
interno, um evidente paralelo (que não equivale a identificação) entre competência legislativa e
competência de aprovação de tratados."
Seja como for, o que parece certo é que, mesmo aplicando o critério material de distinção perfilhado
no Acórdão n.º 168/88, não poderá concluir-se, sem mais, pela inconstitucionalidade, por
necessidade da forma de tratado para uma regulação primária, inovadora. Como se salientou nesse
aresto, sempre haverá que confrontar, no caso concreto, aquela distinção com o objectivo
prosseguido pelas partes contratantes ao celebrarem uma convenção internacional (v. infra, b)) – aliás,
em conformidade com a referência efectuada, no próprio debate da IV revisão constitucional, apenas
a uma presunção de que a regulamentação típica da lei, inovadora, deveria constar de tratado (nestes
termos, a intervenção do Deputado Moreira da Silva – Diário da Assembleia da República, I série, de 25
de Julho de 1997, pág. 3808 –, na qual, por não estar explicitada a vinculação formal para
determinadas matérias, propõe – embora, eventualmente, de forma insuficiente – a manutenção da
enumeração de tratados sobre as matérias elencadas já na correspondente alínea dos textos
constitucionais anteriores).
Antes de prosseguir na averiguação da defesa de um critério de divisão material entre tratado e
acordo, eventualmente pressuposto pela Constituição, a observação das diversas posições sustentadas
a propósito deste problema suscita, porém, um problema de método no apuramento do critério de
distinção.
Na verdade, o critério material de distinção, relevante para uma hipotética reserva material de tratado,
haverá de buscar-se na disciplina constitucional das convenções internacionais, como critério pressuposto
por esta disciplina - designadamente, pelas diferenças de regime jurídico entre tratado e acordo
internacional.
Todavia, existem vários pontos do regime jurídico dos acordos internacionais cuja determinação se
pode dizer justamente ligada de forma estreita à existência de um critério material de distinção entre
tratado e acordo (v. Eduardo Correia Baptista, Direito internacional público, cit., pág. 365, salientando que
a questão da "materialização" da distinção entre tratado e acordo, ligada ao seu regime jurídico, "tem
importância decisiva na interpretação deste regime, dado que a negação de uma diferença material
justificará interpretações não literais deste").
Assim, o facto de os tratados serem aprovados pela Assembleia da República, enquanto os acordos
internacionais são aprovados pelo Governo, ou a possibilidade do Presidente da República de recusar
a ratificação ou assinatura das diversas formas de convenção internacional, não parecem, por si só,
decisivos na determinação de um conceito material de tratado ou acordo internacional, pois,
justamente, da "materialização" desta distinção pode depender a determinação do objecto das
convenções que deverão ser submetidas a aprovação parlamentar – e tal "materialização" poderá
eventualmente condicionar ainda a opção tomada sobre a possibilidade de recusa da assinatura das
convenções (o mesmo se diga, aliás, a propósito das questões do valor relativo da lei e do acordo
internacional e da eventual aplicabilidade a este do artigo 277º, n.º 2).
Da mesma forma, no que se refere ao sentido ou função que a Constituição atribui à aprovação
parlamentar das convenções – acto de autorização da ratificação pelo Chefe de Estado, acto de
controlo preventivo da actividade do executivo, acto de exercício de poderes legislativos (ou, pelo
menos, indispensável à salvaguarda da liberdade legislativa), acto de consentimento (ou de
colaboração no consentimento) para a vinculação internacional do Estado, etc.. Justamente a precisa
definição de tal função ou sentido, segundo o modelo constitucional vigente, poderá variar,
designadamente, consoante a aprovação parlamentar deva ou não abranger todas as vinculações
internacionais que contenham "regulação primária" de determinadas matérias.
Julga-se, antes, que, para evitar tal "circularidade", o critério da possibilidade de "materialização" da
distinção deverá ser procurado, por um lado, nos pontos de regime jurídico-constitucional seguramente
próprio ou comum a ambas as formas de convenção internacional, e, por outro lado, na própria
matriz constitucional da repartição de poderes entre os diversos órgãos do Estado intervenientes no
procedimento de vinculação por convenção internacional, e nas consequências que para tal repartição
advêm da adopção ou não de uma certa distinção material.
É, pois, neste sentido que se poderá dizer que a distinção entre tratados e acordos internacionais, e
seu critério – designadamente, um critério material ou não – deve ser constitucionalmente adequada, sem
esquecer que está em causa, designadamente, a exacta determinação, por interpretação da disposição do
artigo 161º, alínea i), da Constituição, do alcance dos poderes de aprovação de tratados conferidos pela
revisão constitucional de 1997 ao Parlamento (ou, inversamente, dos poderes de aprovação de
acordos internacionais deixados ao Governo por tal revisão).
Considerando a repartição de poderes entre a Assembleia da República e o Governo em matéria de
relações externas, nota-se que, segundo o modelo constitucional, a iniciativa de convenção
internacional pertence sempre ao Governo, quer aprovando um acordo internacional, quer
efectuando à Assembleia da República uma proposta de resolução de aprovação de convenção
internacional. É o Governo, "órgão de condução da política geral do país" (artigo 182º), que detém o
poder de "negociar e ajustar convenções internacionais", em coerência com os poderes de direcção
da política externa.
A competência parlamentar para aprovação das convenções internacionais não significa, pois, que à
Assembleia da República seja reconhecido um poder de iniciativa de regulamentação internacional,
tal como, aliás, acontece com o poder do Presidente da República (pelo menos em relação aos
tratados), a quem cabe, quer a representação externa da República Portuguesa, quer, segundo o nosso
modelo constitucional (aliás apoiado em sólida tradição constitucional e internacional), competências
próprias em matéria de relações internacionais.
A repartição da competência para aprovação de convenções internacionais, subjacente à
interpretação do artigo 161º, alínea i), da Constituição (ou ainda, mais amplamente, à definição de um
critério material de distinção entre tratado e acordo), é, todavia, determinante para o entendimento,
segundo o nosso modelo jurídico-constitucional, do papel da Assembleia da República nas relações
internacionais.
Ora, cumpre notar que não é possível reproduzir nas relações internacionais (concretamente, nos
poderes de aprovação de convenções internacionais) o modelo constitucional de repartição de
competências legislativas internas. Na verdade, não só não existe qualquer reserva relativa de
competência para aprovação de convenções internacionais (só estando previstas autorizações legislativas, e
não para aprovação de convenções), como, no que toca a convenções cujas matérias se situem no
domínio de competência legislativa concorrente entre Governo e Assembleia da República (o que
acontece no presente caso), esta não dispõe, nem de iniciativa convencional, nem do poder de apreciação
parlamentar de convenções – rectius, acordos – aprovados pelo Governo.
A aprovação de um acordo internacional pelo Governo vinculará, pois, o Estado português sem
possibilidade de intervenção da Assembleia da República. E, se se aceitar o valor supra-legal dos
acordos internacionais na ordem jurídica interna (como, para as convenções em geral, é posição
maioritária – cfr., por exemplo, os Acórdãos deste Tribunal n.ºs 47/84, 413/87 e 266/89, publicados
no DR, II série, respectivamente, de 14 de Julho de 1984, 2 de Janeiro de 1988 e 6 de Junho de 1989),
tal aprovação poderia mesmo conduzir como que a um "sequestro" dos poderes legislativos do
Parlamento, na área concorrente com os do executivo, iludindo a possibilidade de aquele afirmar o
seu primado através da apreciação parlamentar de diplomas com consequências na ordem jurídica
interna.
De outro lado, não pode, porém, deixar de tomar-se em consideração o facto de um dos traços
característicos do modelo constitucional português de repartição de poderes entre executivo e
Parlamento consistir, justamente, no reconhecimento àquele, mesmo fora dos casos de urgência e
necessidade pública, e na área situada fora da reserva de lei, de uma competência legislativa primária
(isto é, não baseada na do Parlamento, por exemplo, por autorização, ou em desenvolvimento de
bases gerais). Reconhecimento, este, que foi inequivocamente pretendido, quer pelo poder
constituinte originário, quer pelos legisladores das sucessivas revisões constitucionais.
Nestes termos, afigura-se que a opção a tomar na interpretação do artigo 161º, alínea i) (ou, por
outras palavras, na determinação de uma reserva material de tratado, com consequências na
repartição do poder de vinculação externa entre executivo e Parlamento), se cifra na alternativa entre,
por um lado, a redução do papel do Governo nas relações internacionais convencionais a mero órgão
político-administrativo – suprimindo o poder legislativo que no plano interno lhe cabe e reconhecendo-
lhe hoje poderes apenas para desenvolver e executar normações primárias aprovadas pela Assembleia
da República (com atribuição a esta, portanto, do poder exclusivo de aprovar vinculações inovadoras,
em qualquer domínio, mesmo correspondente à competência legislativa concorrente do Governo no
plano interno, e a correspondente "parlamentarização das relações externas" – assim, embora
criticamente, João de Matos Correia e Fernando Reboredo Seara, "A parlamentarização das relações
externas", no Diário da Notícias, 6 de Outubro de 1997); e, por outro lado, manutenção nas relações
internacionais de poderes normativos autónomos do executivo, limitados pela reserva de lei
parlamentar, pelo elenco de matérias elencadas na alínea i) do artigo 161º (e, eventualmente, por
matérias a elas análogas e por uma reserva material restrita ao objectivo de salvaguarda da liberdade
de exercício da competência legislativa da Assembleia, mesmo no domínio de competência
concorrente com o Governo) – isto, em correspondência com a competência legislativa que no plano
interno se reconhece entre nós ao Governo e com os poderes de direcção da política externa e de
iniciativa convencional.
Numa comparação com a distribuição de poderes constitucionalmente estabelecida a nível interno – e
sem curar de saber se o chamado "poder externo" é predominantemente executivo ou legislativo, ou,
sequer, se tal congruência seria a solução mais adequada –, poder-se-á descrever da seguinte forma o
resultado da descrita alternativa: na primeira hipótese, reforço de poderes da Assembleia da
República nas questões externas, em relação ao plano interno, por, reconhecendo-se embora ao
Governo os poderes de iniciativa e negociação, se impossibilitar este de concretizar, por si mesmo, a
projecção nas relações externas das suas políticas (funcionando, pois, a internacionalização da
questão, pela vinculação do Estado português que comporta, no sentido do reforço dos poderes da
Assembleia, e sem prejuízo da intervenção do Chefe de Estado); na segunda opção, diminuição de
poderes da Assembleia da República em confronto com os do Governo, na medida em que ao
Parlamento restará apenas aprovar vinculações internacionais nas matérias reservadas e nas
especialmente elencadas na alínea i) do artigo 161º (ou a elas análogas), e aquelas convenções cuja
aprovação possa importar restrição relevante da liberdade legiferante do Parlamento (assim, por
exemplo, as que prevejam uma harmonização legislativa, ou a aprovação de uma lei uniforme) no
domínio da competência legislativa concorrente com o Governo – sem dispor, todavia, nem de
iniciativa convencional nem de poderes de apreciação parlamentar (sem prejuízo, para uma certa
posição, da "faculdade de impedir" do Chefe de Estado).
Estas implicações em sede de distribuição de poderes de vinculação convencional entre o Governo e
a Assembleia da República, segundo qualquer das alternativas adoptadas, devem, pois, ser
ponderadas na resposta à questão da reserva material de tratado internacional. Isto, sendo certo, aliás,
que, dado o desenvolvimento e a interpenetração das relações internacionais, se torna cada vez mais
difícil separar um domínio de actuação externa do da actividade interna do Estado – pode dizer-se
que "a esfera interna e a esfera externa da actuação do Estado se interpenetram reciprocamente" (W.
Grewe, "Auswärtige Gewalt", cit., n.º 5).
Todavia, tratando-se de questão de significativa importância na repartição de poderes externos entre
órgãos do Estado – pressupondo uma interpretação equilibrada do modelo constitucional de
repartição de poderes neste domínio – não pode desde já pretender-se a adopção, por este Tribunal,
de um critério geral, que levasse a optar abstractamente por uma das alternativas propostas. Há, antes,
que frisar a importância da análise, in concreto, do tipo e do conteúdo da convenção em causa.
E a questão da reserva material de tratado carece, na verdade, de resposta no presente processo
apenas para o apuramento da conformidade constitucional da "Convenção sobre Segurança Social
entre a República Portuguesa e a República do Chile" – dessa resposta apenas se podendo, pois,
inferir uma posição deste Tribunal quanto a convenções internacionais do tipo daquela Convenção.
Há, pois, que passar a fundamentar a resposta a dar quanto a esta Convenção.
b) Aplicação à "Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República do Chile"
aa) Uma primeira interpretação do artigo 161º, alínea i), da Constituição poderá basear-se,
naturalmente, na posição assumida por este Tribunal no referido Acórdão n.º 168/88, e
correspondente à doutrina aparentemente maioritária. Segundo tal interpretação, a alteração da
referida alínea na revisão constitucional de 1997 pressupôs uma distinção material, que arranca de um
critério-base assente na diferenciação regulação primária (correspondente à lei)/regulação secundária
(correspondente na ordem interna ao regulamento), entre tratado e acordo internacional. Segundo tal
posição – assente igualmente num argumento de preservação da liberdade parlamentar de legiferação
interna – a revisão constitucional visou (e teve objectivamente como resultado) justamente a
deslocação para a Assembleia da República do tratamento inovador em convenção internacional de
todas as matérias, retirando, assim, ao Governo, nas relações externas, os poderes equivalentes aos
que lhe cabem internamente na área de competência legislativa concorrente com a da Assembleia da
República. Assim, permaneceria válida a ideia, que ficou expressa no Acórdão n.º 168/88 (na
sequência da posição de Gomes Canotilho e Vital Moreira), de que o regime do artigo 161º, alínea i),
pressupõe uma distinção material entre acordos e tratados, apesar de esta não estar expressamente
prevista na Constituição.
Todavia, mesmo adoptando tal posição, não se deverá concluir sem mais pela inconstitucionalidade
da presente Convenção. Na verdade, escreveu-se na referida decisão que pode "dizer-se que, em
geral, 'se impõe a forma de tratado quando se pretende uma disciplina primária semelhante à das leis
internas, e se estabelece a forma de simples acordo para os instrumentos diplomáticos executivos
(executive agreements) de tratados já celebrados. De certo modo, esta distinção reconduz-se à ideia do
valor legislativo dos tratados e do valor regulamentar dos acordos (...)". Mas logo se acrescentou (no
seguimento dos citados autores) um critério complementar, segundo o qual aquela distinção material
"tem de confrontar-se em cada caso concreto com o objectivo prosseguido pelas partes contratantes ao celebrarem
uma convenção internacional'" (itálico aditado). Deixando-se pois, em aberto a possibilidade de ilidir,
no caso concreto e considerando o objectivo das partes e o correspondente conteúdo da convenção,
a presunção de que a regulamentação típica da lei, inovadora, deve constar de tratado (nestes termos, a
citada intervenção no debate desta disposição in Diário da Assembleia da República, I série, de 25 de
Julho de 1997, pág. 3808).
Há, pois, que considerar em concreto a "Convenção sobre Segurança Social entre a República
Portuguesa e a República do Chile", para averiguar se, nesta perspectiva que defende a distinção
material adoptada anteriormente pelo Tribunal, deve concluir-se pela sua inconstitucionalidade.
Suscita-se, antes do mais, a questão de saber se se deve reconduzir a presente Convenção entre
Portugal e o Chile a uma mera execução da já citada "Convenção Ibero-Americana de Segurança
Social", adoptada na reunião do Comité Permanente da Organização Ibero-Americana de Segurança
Social de 26 de Janeiro de 1978, em Quito.
Na verdade, apesar de a Convenção Ibero-americana prever apenas futuros acordos administrativos
para sua aplicação, e não convenções bilaterais autónomas, o respectivo preâmbulo refere "os
esforços práticos já realizados para alcançar, através de convenções bilaterais e sub-regionais de
segurança social, a protecção dos trabalhadores migrantes dos respectivos países", bem como que tais
"esforços bilaterais e sub-regionais podem ser acelerados por uma convenção multilateral entre
Governos que tenha carácter de convenção tipo e cuja vigência prática fique dependente da vontade
das Partes Contratantes, mediante acordos administrativos que determinem a data de entrada em
vigor pretendida por cada país, a aplicabilidade da Convenção no todo ou em parte, o âmbito pessoal
a que a mesma se aplica e os países com os quais deseja iniciar a sua aplicação."
Por outro lado, salienta-se que o Secretariado-Geral da Organização Ibero-Americana de Segurança
Social deverá "promover o mais amplo incremento da aplicação da Convenção". Nos termos do
artigo 25º da Convenção multilateral que se vem citando, por sua vez:
"As convenções bilaterais ou multilaterais de segurança social ou sub-regionais
actualmente existentes entre as Partes Contratantes mantêm-se plenamente em vigor.
Estas procurarão, no entanto, adequar as referidas convenções às normas da presente
no que resulte mais favorável para os beneficiários.
As Partes Contratantes comunicarão ao Secretariado-Geral da Organização Ibero-
Americana de Segurança Social as convenções bilaterais ou multilaterais de segurança
social e sub-regionais, os acordos administrativos e demais instrumentos adicionais
actualmente em vigor, bem como as alterações, alargamento e ajustes que no futuro
venham a ser assinados."
E, segundo o artigo 2º de tal Convenção multilateral:
"A presente Convenção poderá ser alargada a outros direitos que constem dos
sistemas de segurança social, previdência social e seguros sociais vigentes nos Estados
Contratantes, desde que todas ou algumas das Partes signatárias assim o acordem." (itálico
nosso)
Ora, não seria porventura impossível reconduzir ainda a celebração do acordo internacional em causa
entre Portugal e o Chile ao desenvolvimento de normas desse convénio multilateral, e em alguns dos
aspectos que regula (assim, por exemplo, o reconhecimento de igualdade de direitos aos nacionais
dos estados contratantes) – no domínio de convenções multilaterais sobre segurança social, pode ver-
se, também a "Convenção da Organização Internacional do Trabalho relativa à Norma Mínima da
Segurança Social" (aprovada, para ratificação como tratado, em 30 de Junho de 1992 e publicada no
DR, I série-A, de 3 de Novembro de 1992).
Todavia, afigura-se que, em relação àquela "Convenção Ibero-Americana de Segurança Social", o
convénio entre Portugal e o Chile contém aspectos novos, como é o caso, designadamente, da
previsão da exportação das prestações de segurança social – aspectos, estes, que não se vê que
possam ainda enquadrar-se no desenvolvimento, bilateral, de tal convenção.
A isto acrescerá, aliás, não só o facto de tal convenção bilateral, que é o primeiro instrumento
internacional bilateral entre Portugal e o Chile em matéria de segurança social, não fazer qualquer
referência à convenção multilateral ibero-americana, como a circunstância de também tal Convenção
Ibero-Americana não ter sido aprovada, em 1984, por tratado (não tendo sido ratificada, mas apenas
assinada pelo Presidente da República).
Julga-se, por isso, que a simples remissão para a existência de uma Convenção Ibero-Americana em
matéria de Segurança Social não seria apta a resolver o problema de constitucionalidade, se se
defender uma reserva material de tratado aos actos com carácter de regulação primária.
A distinção material, tal como o Tribunal a referiu, entre matérias legislativas ("regulação primária") e
regulamentares ("regulação secundária"), e seu desenvolvimento, tem, porém, como se disse, que
"confrontar-se em cada caso concreto com o objectivo prosseguido pelas partes contratantes ao
celebrarem uma convenção internacional" (v. também Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição
da República Portuguesa anotada, cit., pág. 653).
Ora, considerando justamente o caso concreto da Convenção sub iudicio, recorda-se que ela pode e
deve ser enquadrada numa disposição legislativa interna – o artigo 9º da Lei de Bases da Segurança
Social – que prevê a promoção e a celebração de convenções do tipo do presente convénio.
Ora , poderia eventualmente questionar-se se o carácter inovador ou de regulação primária, para
efeitos de "reserva material de tratado", não deve ser apreciado também em face da legislação
nacional correspondente que exista (não sendo, pois, a internacionalização da questão bastante para
reservar a matéria ao Parlamento). Todavia, no presente caso, nem sequer estamos, perante acordo
simplesmente paralelo ao de legislação interna –"Paralellabkommen" para o qual (em face, porém, de
uma repartição constitucional de poderes diversa da nossa) a doutrina germânica afirma, aliás, a
necessidade de aprovação parlamentar, pela vinculação internacional do Estado que importa (v., por
todos, U. Fastenrath, ob. cit., pág. 223). Antes se trata verdadeiramente de uma convenção cuja
aprovação se posta como cumprimento ou execução de uma disposição (ou de disposições, se se
considerar igualmente os artigos 5º, n.º 4, 15º, n.º 3, 20º, n.º 3, e 23º, n.º 2, da referida Lei de Bases)
de uma lei de bases interna, aprovada pela Assembleia da República. Essa disposição é o artigo 9º da
Lei de Bases da Segurança Social, sobre "relações com sistemas estrangeiros" em matéria de
segurança social, no qual, aliás, não se refere a celebração de quaisquer tratados (ou convenções)
internacionais, antes se prevendo especificamente a "celebração ou adesão a acordos internacionais de
segurança social".
Por outro lado – e, segundo certa perspectiva, de forma decisiva –,"o objectivo prosseguido pelas
partes" no presente caso era justamente apenas o de ordenar as suas relações bilaterais, com uma
coordenação das respectivas legislações (nem sequer, portanto, ao contrário do que acontecerá com
outras convenções sobre a mesma matéria, prevendo a harmonização dos seus regimes jurídicos). A
presente Convenção, sendo embora o primeiro instrumento bilateral entre Portugal e o Chile em
matéria de segurança social, visa tão-só ordenar as relações bilaterais entre os dois países contratantes
nesse domínio da segurança social, e estender regras da lei nacional de cada um dos dois países a
situações internacionais. A regulação em causa apenas seria, pois, "primária" na medida em que
consiste num primeiro tratamento da segurança social, regulada internamente em cada um dos países,
nas relações bilaterais e para as situações internacionalizadas entre Portugal e o Chile. Isto, sem que
exista derrogação da lei portuguesa, e antes uma extensão, para as relações internacionais (em
particular, para indivíduos cujo trabalho e/ou residência se tenha repartido pelos dois países partes da
convenção), de princípios que valem na legislação de cada um dos países.
Ora, mesmo partindo da aludida distinção material, defendida pelo Tribunal, não se julga que tais
convenções, em que o objectivo das partes no caso concreto é de mera coordenação das disposições
legislativas das partes nas suas relações bilaterais, tenham por imposição constitucional que revestir a
forma de tratado solene, cuja aprovação é reservada à Assembleia da República.
E, desta forma, pode igualmente rejeitar-se o argumento de que a presente Convenção regula
matérias que, em casos similares, foram, anteriormente à revisão constitucional de 1997, objecto de
tratado (assim, por exemplo, a citada Convenção sobre Segurança Social entre a República
Portuguesa e a República da Venezuela, aprovada para ratificação em 5 de Março de 1992, e
ratificada em 9 dos mesmos mês e ano), passando agora a ser aprovadas por acordo.
Na verdade, seria necessário, para se chegar a uma decisão de inconstitucionalidade com base neste
argumento, mostrar ainda, não apenas que o eventual critério da distinção material
constitucionalmente adequada entre tratados e acordos internacionais se manteve idêntico ou se
tornou mais exigente depois de 1997 (apesar das alterações em matéria de competência dos órgãos
do Estado para aprovação de tratados), como, além disso, demonstrar que, nos casos em referência, a
adopção da forma de tratado internacional era constitucionalmente imposta anteriormente a 1997 (ou
seja, que não se estava na adopção da forma de tratado internacional perante um excesso de forma).
Ora, foi justamente esta última demonstração que, por aplicação do critério seguido pelo Tribunal no
Acórdão n.º 168/88, se acabou de contrariar – e até mesmo para quem entenda que existem razões
para considerar que o critério material de distinção se tornou mais exigente.
bb) Segundo uma outra possível interpretação das disposições constitucionais, não poderia extrair-se
da Constituição qualquer reserva material de tratado – ou, eventualmente, apenas, uma reserva para
as regulamentações inovadoras das matérias incluídas na reserva de lei parlamentar e para as
especialmente elencadas no artigo 161º, alínea i) (explicando-se a 2ª parte desta alínea para acordos de
execução).
Tal posição (defendida desde 1997 por alguma doutrina) firmar-se-á na inexistência de preceito
constitucional expressamente limitador do âmbito dos acordos (como acontece no domínio interno,
por exemplo, com o preceito do artigo 166º sobre a forma dos actos, ou, para os regulamentos, com
o artigo 112º, n.º 6), bem como na atribuição dos poderes de direcção de política externa e de
iniciativa convencional ao Governo, além de remeter para a congruência com a atribuição na ordem
interna, em medida limitada pelas reservas de lei parlamentar, de poderes legislativos ao Governo, e
para a inconveniência de limitar o Governo a órgão administrativo nas relações externas (pese embora
o seu poder de iniciativa convencional). Invocando ainda a inexistência no direito internacional de
submissão hierárquica dos acordos não sujeitos a ratificação aos tratados (assim, por exemplo, E.
Correia Baptista, Direito internacional público, cit., pág. 365), e argumentos de regime – designadamente,
retirados da referência a "convenções internacionais" nos artigos 115º, n.ºs 3 e 5, 4º, 15º e 33º, n.º 3
da Constituição, bem como, para a posição que não reconhece qualquer reserva material de tratado,
da parte final do artigo 161º, alínea i) –, poderia tal posição tentar ainda basear-se no facto de,
durante a discussão da alteração constitucional, apesar de o problema da "manipulação das formas"
de convenção ter sido suscitado, apenas se ter decidido manter a enumeração de matérias constantes
da alínea que confere à Assembleia da República poderes para aprovar tratados. Todavia, deparar--se-
á com dificuldades, não só em explicar o sentido material da última revisão constitucional – ter-se-ia,
na verdade, com esta, "desgovernamentalizado" apenas a forma da convenção, deixando, todavia,
intocado materialmente o poder do Governo (ou, pelo contrário, aumentando-o, caso a assinatura de
acordos internacionais pelo Chefe de Estado seja vista como acto vinculado – questão que cumpre
equacionar, mas sobre a qual, como se disse, não cabe tomar posição no presente processo) –, mas,
também, perante a possibilidade de limitação pelo Governo, por via da vinculação internacional, da
liberdade legiferante da Assembleia da República na área de competência legislativa concorrente com
o executivo – pense-se, por exemplo, na aprovação pelo Governo, por acordo, não sujeito a
apreciação parlamentar, de uma lei uniforme ou de uma convenção de harmonização legislativa em
matéria de contrato-promessa, que passaria à margem do controlo parlamentar (isto, evidentemente,
dando por assente, quer o valor supra-legal dos acordos internacionais, quer a impossibilidade de a
Assembleia da República promover nesses casos, de "sequestro" do seu poder legislativo pela
conclusão governamental de acordos, um procedimento interno de desvinculação, quer,
evidentemente, a insuficiência da responsabilidade política geral do Governo perante o Parlamento
para obviar ao problema).
Seja como for, não se torna necessário nesta sede desenvolver a apreciação de tal interpretação das
disposições constitucionais – ou, sequer, a questão da congruência entre o processo legislativo
interno e a aprovação de convenções internacionais.
Na verdade, é certo que, também se se adoptasse tal interpretação (por assim dizer "formalista") dos
artigos 161º, alínea i), e 200º, n.º 1, alínea d), da Constituição, concluindo-se pela impossibilidade de
extrair da regulamentação constitucional uma reserva material de tratado, a presente convenção não
poderia ser objecto de qualquer censura por inconstitucionalidade formal e orgânica.
cc) À mesma conclusão, aliás, se chegará, por último, se se pretender delinear uma interpretação da
alínea i) do artigo 161º (seja para a reserva de competência da Assembleia da República, seja para uma
reserva material de tratado) situada numa posição intermédia entre as anteriores: isto é, a ideia de que
a reserva em causa, a existir, é uma reserva material mínima, apenas baseada numa analogia a partir
dos exemplos da alínea i) do artigo 161º, ou para salvaguarda dos poderes da Assembleia da
República perante convenções que abranjam áreas completas de regulação material ou em que a
vinculação internacional importe relevante restrição da liberdade legiferante do Parlamento.
Segundo tal posição, a Lei Fundamental remete, antes de mais, com os exemplos que manteve na
referida alínea i), para um critério baseado no significado político da convenção (independentemente
de estarem em causa nesses exemplos leis materiais ou não). Neste primeiro domínio, a intervenção
do Parlamento justifica-se, pois, em razão da delicadeza e importância política das matérias sobre que
incidem. É a dimensão política, e não a garantia da sua competência legislativa, que leva a que o
Parlamento deva intervir, seja para um controlo preventivo da actuação do Governo em face de tais
vinculações internacionais – por oposição aos remédios políticos ex post, em que se exprime a
responsabilidade política do Governo perante o Parlamento (cfr., designadamente, os artigos 190º a
194º da Constituição) –, seja para, em representação democrática de todos os cidadãos portugueses,
exprimir o consentimento à vinculação internacional do Estado.
Para além destes casos de dimensão política relevante, a compatibilização dos poderes internos com
os poderes externos imporia uma interpretação do artigo 161º, alínea i), da Constituição no sentido
de ela pressupor também uma reserva material de salvaguarda da competência legislativa da
Assembleia da República, na área em que concorre com o Governo – isto, porque da correcta
interpretação da repartição de poderes constitucionalmente prevista a nível interno se deveria retirar a
impossibilidade de o Governo, por via de acordo internacional, diminuir a competência legislativa
material da Assembleia da República.
Nesta perspectiva, deveriam, pois, ser abrangidas em tal reserva as convenções internacionais que,
nessa área, limitassem de forma relevante para o futuro, para uma determinada área de regulação material,
os poderes legislativos do Parlamento. Trata--se, pois, neste segundo grupo de matérias, tão-só de,
preservando os poderes do Governo para aprovação de regulações primárias, evitar, todavia, o
"sequestro" das competências legislativas da Assembleia da República, pelo aproveitamento de uma
vinculação internacional com valor supra-legal que não está sujeita a apreciação parlamentar. E,
portanto, de uma reserva restrita a convenções que contenham regulamentação material para uma
determinada área, limitando de forma relevante os poderes legislativos futuros do Parlamento (assim,
nos casos, já referidos, de aprovação de leis uniformes ou de outras convenções internacionais de
harmonização legislativa).
Ora, logo se vê que também para esta posição a "Convenção Sobre Segurança Social entre a
República Portuguesa e a República do Chile" não pode ser considerada inconstitucional, uma vez
que apenas incide sobre as relações bilaterais entre as duas partes, coordenando a sua legislação, e que
é aprovada no seguimento de comando legislativo nesse sentido, constante ele mesmo de uma lei da
Assembleia da República.
Há, portanto, que concluir pela não inconstitucionalidade de tal Convenção.
III. Decisão
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide não se pronunciar pela
inconstitucionalidade das normas da "Convenção Sobre Segurança Social entre a República
Portuguesa e a República do Chile", assinada em Lisboa em 25 de Março de 1999 e aprovada pelo
Decreto do Governo registado com o n.º 281/99 no livro de registos e diplomas da Presidência do
Conselho de Ministros.
Lisboa, 5 de Agosto de 1999
Paulo Mota Pinto
Alberto Tavares da Costa
Maria Fernanda Palma
Maria dos Prazeres Pizarro Beleza
Luís Nunes de Almeida
Maria Helena Brito
Artur Maurício
Messias Bento
Guilherme da Fonseca
Vítor Nunes de Almeida
José de Sousa e Brito
José Manuel Cardoso da Costa
Potrebbero piacerti anche
- Exame de Coincidências 23.01.2014Documento2 pagineExame de Coincidências 23.01.2014AdeleNessuna valutazione finora
- Exame 04.01.2014Documento2 pagineExame 04.01.2014AdeleNessuna valutazione finora
- Moodle Manual de Boas Praticas para AlunosDocumento5 pagineMoodle Manual de Boas Praticas para AlunosAdeleNessuna valutazione finora
- 1-Lei Nº 067 - 2007 - 31 de Dezembro - Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual Do Estado PDFDocumento4 pagine1-Lei Nº 067 - 2007 - 31 de Dezembro - Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual Do Estado PDFpedromfserafimNessuna valutazione finora
- 04 LogxviiDocumento8 pagine04 LogxviiAdeleNessuna valutazione finora
- Informação Alunos - LinksDocumento4 pagineInformação Alunos - LinksAdeleNessuna valutazione finora
- MeiddegrjwnwngkDocumento3 pagineMeiddegrjwnwngkAdeleNessuna valutazione finora
- Princípios: Lei N. 4/2004Documento7 paginePrincípios: Lei N. 4/2004Graça MoraisNessuna valutazione finora
- Horário 3o Ano 1o Semestre Turma BDocumento1 paginaHorário 3o Ano 1o Semestre Turma BAdeleNessuna valutazione finora
- DL 233-2005 Hospitais E.P.EDocumento11 pagineDL 233-2005 Hospitais E.P.ETâniaPaivaNessuna valutazione finora
- Estatuto Governador Civil - Transferencia Competencias Autarquias Locais PDFDocumento12 pagineEstatuto Governador Civil - Transferencia Competencias Autarquias Locais PDFAdeleNessuna valutazione finora
- 05 RcmxviiDocumento9 pagine05 RcmxviiAdeleNessuna valutazione finora
- Direito Das Obrigações IIDocumento174 pagineDireito Das Obrigações IILara Geraldes83% (6)
- Direito Administrativo II - Procedimento do ato administrativoDocumento1 paginaDireito Administrativo II - Procedimento do ato administrativoAdeleNessuna valutazione finora
- PlanificaçãoDocumento5 paginePlanificaçãoAdele100% (1)
- Lei de Organização e Processo do Tribunal de ContasDocumento24 pagineLei de Organização e Processo do Tribunal de ContasAdeleNessuna valutazione finora
- PlanificaçãoDocumento5 paginePlanificaçãoAdele100% (1)
- DIP O CostumeDocumento4 pagineDIP O CostumeAdeleNessuna valutazione finora
- Faculdade de Direito Da Universidade Teste de Avaliação Finanças Públicas - 30 de Novembro de 2009 - Duração: 50 MinutosDocumento3 pagineFaculdade de Direito Da Universidade Teste de Avaliação Finanças Públicas - 30 de Novembro de 2009 - Duração: 50 MinutosGajo BacanoNessuna valutazione finora
- Esque MaDocumento3 pagineEsque MaMonteiro MonteiroNessuna valutazione finora
- Caso Prático 1Documento2 pagineCaso Prático 1AdeleNessuna valutazione finora
- ReservaDocumento1 paginaReservaAdeleNessuna valutazione finora
- ColectaneaExames 2ano 2007 PDFDocumento78 pagineColectaneaExames 2ano 2007 PDFAdeleNessuna valutazione finora
- Quebra de Sigilos - José Matheus Sales GomesDocumento23 pagineQuebra de Sigilos - José Matheus Sales GomesMetropolesNessuna valutazione finora
- Aula 03 Thereza Nahas 01-11-2018Documento15 pagineAula 03 Thereza Nahas 01-11-2018Daniel de BritoNessuna valutazione finora
- Administração de Planos PrevidenciáriosDocumento186 pagineAdministração de Planos PrevidenciáriosCintia BastosNessuna valutazione finora
- Significado de obras de construção civil para fins de PIS/COFINSDocumento2 pagineSignificado de obras de construção civil para fins de PIS/COFINSlucianaespNessuna valutazione finora
- Contrato de LocaçãoDocumento8 pagineContrato de LocaçãoThiago LeaoNessuna valutazione finora
- DIREITO CONSTITUCIONAL: MACETESDocumento6 pagineDIREITO CONSTITUCIONAL: MACETESAlex Pereira50% (2)
- Exercicio II EderDocumento8 pagineExercicio II EderRITA DE CASSIA100% (2)
- Principais artigos jurídicos cobrados em diversas áreas do direitoDocumento6 paginePrincipais artigos jurídicos cobrados em diversas áreas do direitoGonzaloNessuna valutazione finora
- ARTIGO Com Nota de Rodapé 04.02Documento19 pagineARTIGO Com Nota de Rodapé 04.02marifalcaosNessuna valutazione finora
- 62c47a64549ae51a70ad3d48 - Brasil Paralelo - Entre Lobos - Ebook - v3Documento37 pagine62c47a64549ae51a70ad3d48 - Brasil Paralelo - Entre Lobos - Ebook - v3JoeNessuna valutazione finora
- Alteração Contrato Social AlunosDocumento15 pagineAlteração Contrato Social AlunosDiefo138Nessuna valutazione finora
- Todos Os Casos Av2 Civil IVDocumento7 pagineTodos Os Casos Av2 Civil IVKarla Souza100% (1)
- Conselho Municipal divulga candidatos aptos e inaptosDocumento8 pagineConselho Municipal divulga candidatos aptos e inaptosCarlos AugustoNessuna valutazione finora
- Diario 2948 3 4 2020Documento681 pagineDiario 2948 3 4 2020seu amigo do cáNessuna valutazione finora
- Doação de Bens Alheios - Análise Do Regime Jurídico (2014)Documento28 pagineDoação de Bens Alheios - Análise Do Regime Jurídico (2014)AMCNessuna valutazione finora
- O que é o Segredo de Justiça e sua aplicaçãoDocumento11 pagineO que é o Segredo de Justiça e sua aplicaçãoErivaldo Dos SantosNessuna valutazione finora
- Publico 6out2016Documento56 paginePublico 6out2016Alípio Carvalho NetoNessuna valutazione finora
- Plani. Bens & Servicos M. AlcidesDocumento11 paginePlani. Bens & Servicos M. AlcidesforquilhaNessuna valutazione finora
- Políticas Públicas e o Papel do EstadoDocumento76 paginePolíticas Públicas e o Papel do Estadonikita_ap100% (2)
- Acordo de sócios regula governança de empresaDocumento6 pagineAcordo de sócios regula governança de empresaGiovanna Oliveira100% (6)
- Legislação ExtravaganteDocumento6 pagineLegislação ExtravaganteAgenteRibeiroNessuna valutazione finora
- Gru PDFDocumento1 paginaGru PDFsbiasotoNessuna valutazione finora
- STN - CF 88 Art 145 A 162Documento8 pagineSTN - CF 88 Art 145 A 162RafamoraesNessuna valutazione finora
- Edital 042 2021 Homologa InscritosDocumento17 pagineEdital 042 2021 Homologa Inscritosjunior087Nessuna valutazione finora
- La cultura tributaria y su incidencia en la evasión del impuesto a la renta de 4ta categoría en Santa Leonor, Chorrillos 2018Documento59 pagineLa cultura tributaria y su incidencia en la evasión del impuesto a la renta de 4ta categoría en Santa Leonor, Chorrillos 2018Alee Cuadros Hernández100% (1)
- Prova IBET - Módulo IIDocumento7 pagineProva IBET - Módulo IILuís Fernando Nadalin SiversNessuna valutazione finora
- SodapdfDocumento157 pagineSodapdfFabricio JoséNessuna valutazione finora
- Deliberações em sociedades comerciaisDocumento5 pagineDeliberações em sociedades comerciaisManuel0% (1)
- Lei Complementar sobre regime jurídico dos servidores públicosDocumento23 pagineLei Complementar sobre regime jurídico dos servidores públicosJoão Paulo FerreiraNessuna valutazione finora
- Processo Judicial TributárioDocumento5 pagineProcesso Judicial TributárioNelma LemosNessuna valutazione finora