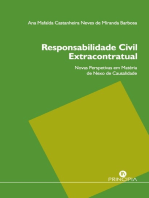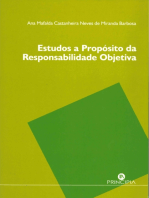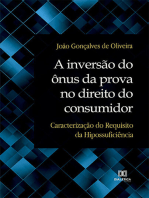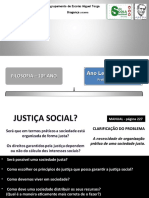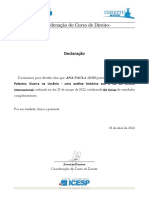Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Direito Das Obrigacoes
Caricato da
CletoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Direito Das Obrigacoes
Caricato da
CletoCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|3781832
Direito das Obrigações II
Direito (Universidade de Lisboa)
A StuDocu não é patrocinada ou endossada por nenhuma faculdade ou universidade
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Direito das Obrigações II
Tomo VIII
A Responsabilidade Civil
O contrato é, em primeira linha, um instrumento de liberdade e de criação de riqueza;
a responsabilidade manifesta-se como uma arma de defesa e de conservação do que tinha sido
criado. Ambas as realidades são corpo a inconfundíveis institutos civis. O contrato à autonomia
privada e a responsabilidade à imputação de danos.
Chamemos responsabilidade civil ou, simplesmente, responsabilidade ao instituto
tratado nos artigos 483º a 510º, uma forma de constituição das obrigações pela qual uma pessoa
(o agente) fica adstrita a uma obrigação de indemnizar (a indemnização) outra pessoa (o lesado).
A responsabilidade funciona numa de três situações:
o Quando tenha sido praticado um facto ilícito ou delito que ocasione um dano (483º a
498º) - Responsabilidade por factos ilícitos;
o Quando tenha ocorrido um dano que o Direito determine seja suportado por uma
pessoa diferente da que, inicialmente, o tenha sofrido (499º a 510º) –
Responsabilidades pelo risco;
o Quando a lei permita que alguém provoque danos, mas, não obstante, os deva, depois
e pelo menos em parte, compensar (ex. estado de necessidade) - Responsabilidades
pelo sacrifício.
A responsabilidade nuclear/ responsabilidade aquiliana é a que advém da prática de
factos ilícitos (art.º 483º ss). Ela tem em comum com as responsabilidades pelo risco e pelo
sacrifício o facto de não pressupor, num momento prévio, uma ligação entre os intervenientes.
Nessa dimensão contrapõe-se à responsabilidade contratual, que emerge do incumprimento de
um contrato também dita, por poder derivar da violação de outras obrigações, que não
contratuais, responsabilidade obrigacional (art.º 798º ss).
A responsabilidade pressupõe sempre a ocorrência de um dano, a supressão de uma
vantagem tutelada pelo Direito. O dano ou é suportado pela pessoa a quem caibam as vantagens
ou suprimidas ou é atribuído a outrem. Trata-se da imputação do dano, a qual, pelo que foi dito,
poderá ser: imputação aquiliana (a quem praticou o delito) ou contratual (a quem violou o
contrato); imputação delitual (por facto ilícito) ou pelo risco ou pelo sacrifício.
No CC, a matéria da responsabilidade civil surge muito disseminada. Sobressaem três
núcleos fundamentais:
o A responsabilidade aquiliana ou simplesmente responsabilidade civil, tratada
como a última das fontes das obrigações, após o enriquecimento sem causa,
arts.º 483º a 510º;
o A obrigação de indemnizar inserida entre as modalidades de obrigações, arts.º
562º a 572º;
o A falta de cumprimento das obrigações e a mora imputáveis ao devedor,
presenta na secção dedicada ao não cumprimento das obrigações, nos arts.º
798º a 812º.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |2
1. Modalidades e Tipologias
A responsabilidade civil é classificável em função dos seus diversos pressupostos. Além
disso, ela preenche dois grandes tipos, não inteiramente lógicos e que requerem um tratamento
mais detido, os que equivalem à responsabilidade obrigacional e à aquiliana.
1.1. As responsabilidades aquiliana e obrigacional
1.1.1. A tese da unidade
Por vezes usa-se a locução “responsabilidade contratual”, em vez de obrigacional. Quanto à
responsabilidade aquiliana, esta também é dita extracontratual, extraobrigacional ou delitual.
Na responsabilidade obrigacional, regulada nos artigos 798º e seguintes, está em causa o
não cumprimento de obrigações, independentemente da sua fonte. Quer isso dizer que, num
momento prévio, houve uma obrigação com o seu dever de prestar e que este, não tendo sido
cumprido, deu azo ao de indemnizar.
Já a responsabilidade aquiliana não se afirmou como o produto de uma classificação
geométrica de “responsabilidade”, mas enquanto realidade autónoma, que vale por si e que
surgiu insularizada. A classificação como responsabilidade delitual constitui um problema, uma
vez que esta deverá ter como causa um delito, já a designação aquiliana cobre todas as
possibilidades.
Podemos considerar que a responsabilidade obrigacional tratada nos artigos 798º e
seguintes, intervém perante a inobservância, pelo devedor, de uma obrigação, enquanto a
aquiliana acode em face da violação ilícita e culposa de um direito ou de um interesse tutelado
(art.º 483º/1).
Podemos reduzir a distinção entre estes dois regimes de responsabilidade em três pontos
chave:
o Na responsabilidade obrigacional dá-se a faute, ou seja, há uma presunção de culpa
e de ilicitude (art.º 799º/1); enquanto na responsabilidade aquiliana o lesado terá
de fazer prova dos pressupostos;
o Havendo pluralidade passiva, teríamos solidariedade na delitual (art.º 497º), mas
não na obrigacional, onde salvo convenção em contrário, é parciária;
o O prazo de prescrição na aquiliana é de 3 anos (art.º 498º), já na responsabilidade
obrigacional é de 20 anos (art.º 309º).
A responsabilidade obrigacional está ao serviço do valor “contrato”. Já a responsabilidade
aquiliana surge da inobservância de deveres genéricos de respeito, estruturalmente distintos e
variáveis em função das circunstâncias.
A diferença genérica projeta-se na diferenciação funcional. Enquanto a responsabilidade
obrigacional visa, na sua matriz, assegurar e prolongar a função do contrato, assente na criação
e na circulação de riqueza. A responsabilidade aquiliana procura tutelar a função dos direitos
subjetivos, assente na defesa da riqueza já obtida.
1.1.2. As diferenças de regime
Na responsabilidade obrigacional há sempre que lidar com a fonte original da obrigação em
jogo (um contrato) e com o facto ilícito do seu incumprimento. Ora, para se chegar a este ponto,
há todo um conjunto de passos a dar:
o A interpelação
o A cominação de um prazo admonitório ou o desinteresse objetivo superveniente
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |3
o A constituição do dever de indemnizar, a articular com a estrutura sobrevivente da
obrigação anterior.
Já na aquiliana, bastarão o facto e os demais pressupostos. O momento zero é o da
perpetração do facto em causa devendo, a partir daí, construir-se toda uma relação entre o
agente e o lesado.
Havendo entre as partes, uma obrigação específica, cabe ao devedor executar a prestação
principal. Este, ao entrar em incumprimento, é automaticamente condenado a indemnizar, isto
é, a prosseguir, no plano indemnizatório, o dever de prestar principal que incumpriu. Numa
forma evitar sobrecarregar o credor com mais encargos procedimentais do que aqueles que já
teve ao desenrolar uma ação de incumprimento definitivo, não lhe cabe prestar prova da
obrigação incumprida nem da declaração do incumprimento. Ou seja, cabe ao devedor:
o Ou provar o cumprimente, trata-se de um facto extintivo, cujo ónus probatório lhe
assiste (art.º 342º/2);
o Ou provar que tinha uma qualquer justificação ou de excusa para não cumprir
(art.º 799º/1).
A “presunção de culpa” (art.º 799º/1), retomada pelos clássicos civilistas para os quais a
“culpa” era a faute napoleónica é, de facto, uma presunção de culpa e de ilicitude. Quando haja
incumprimento, presume que este ocorreu ilicitamente e com culpa (dolo). Caberá logicamente
ao devedor demonstrar que tinha a possibilidade legal de não executar a obrigação, provando
os competentes factos.
Na falta de uma obrigação específica prévia, a eventualidade da responsabilidade civil
aquiliana é gravosa para as pessoas e para a sua liberdade. Qualquer pessoa pode ser
confrontada com danos alegadamente provocados a terceiros. Compreende-se a preocupação
do legislador em limitar a responsabilidade, joga-se a esfera da liberdade das pessoas. Por isso,
cabe ao lesado provar os diversos elementos constitutivos da invocada responsabilidade,
incluindo os factos de onde se retire o juízo de culpa (art.º 487º/1).
Além disso, deparamo-nos com outras diferenças menores, nomeadamente:
o As obrigações, mesmo quando incumpridas e, sobretudo, se incumpridas,
prescrevem num prazo ordinário de vinte anos (art.º 309º), enquanto a obrigação
aquiliana de indemnização prescreve em três anos (art.º 498º);
o Na responsabilidade obrigacional, o devedor é automática e plenamente
responsável pelos atos dos seus representantes legais e auxiliares (art.º 800º/1),
quanto na aquiliana, funciona o regime mais restritivo da responsabilidade do
comitente (art.º 500º/1), o principal só responde se, sobre o comissário, também
recair obrigação de indemnizar;
o Na responsabilidade obrigacional funcionam as regras comuns da capacidade de
exercício (arts.º 122º e 123º) e do suprimento das incapacidades (art.º 124º), na
aquiliana, há uma regra geral de capacidade, apenas se presumindo a sua ausência
nos menores de sete anos e em interditos por anomalia psíquica (art.º 488º/2);
o Na responsabilidade obrigacional, o devedor é sempre plenamente obrigado à
indemnização, na aquiliana, havendo mera culpa (negligência), a indemnização
pode ser fixada, equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia
aos danos causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situação
económica deste e do lesado e as demais circunstâncias do caso o justifiquem (art.º
494º);
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |4
o A cláusula penal reporta-se à responsabilidade obrigacional (art.º 810º a 812º),
para a aquiliana, funciona a regra da proibição da renúncia antecipada aos direitos
(art.º 809º);
o Numa situação de complexidade subjetiva aplica-se, na responsabilidade
obrigacional, supletivamente, a regra da parciariedade (art.º 513º), na aquiliana, a
regra de base é a da solidariedade (arts.º 490º a 499º);
o A responsabilidade obrigacional é complementada por deveres acessórios, a
aquiliana pelos deveres do tráfego.
1.1.3. O fenómeno da interpenetração
A obrigação de indemnizar está matricialmente virada para a responsabilidade aquiliana. De
facto, na responsabilidade obrigacional, o devedor incumpridor deve repor o equivalente à
prestação principal em falta. Os artigos 562º e 563º (obrigação de indemnizar) pode ser
aplicados, mas sem grande alcance. Os artigos 566º e 567º (indemnização em dinheiro e rendas)
cedem perante as regras da execução específica (arts.º 827º a 830º). O artigo 571º (culpa dos
representantes legais e auxiliares) opera na responsabilidade obrigacional e não na aquiliana,
sob pena de conflito com o artigo 500º (relativo ao comitente).
Mais significativo é o facto de o legislador, a propósito da responsabilidade aquiliana, ter
previsto diversas obrigações legais ou ter assentado na prévia existência de contratos. Assim:
o Art.º 485º/2 configura situações derivadas de prévios negócios ou obrigações de
informar (responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações);
o Art.º 486º refere a possibilidade de, por lei ou negocio, haver o dever jurídico de praticar
o ato omitido;
o Art.º 491º reporta-se à responsabilidade das pessoas que, por lei ou negócio jurídico,
estejam obrigadas a vigiar outras, por incapacidade natural destas e pelos danos que
estas pratiquem, “salvo se mostrarem que cumpriram o seu dever de vigilância”, uma
autêntica presunção de culpa;
o Artº. 492º/1 postula uma obrigação de o proprietário ou do possuidor tomarem as
medidas necessárias para evitar o desmoronar, total ou parcial, do edifício ou outra
obra, a presunção de culpa. O nº2 aplica-se ao terceiro que, por lei ou negócio, esteja
obrigado a essa conservação;
o Art.º 493º/1 assenta numa obrigação de vigiar coisas, animais ou atividades e de ela não
ser cumprida, dando origem à presunção de culpa.
Estes denominados “delitos específicos” são, de facto, obrigações legais ou negociais,
donde, por expressas injunções legais se lhes aplicar o regime da responsabilidade obrigacional.
Aquiliana e obrigacional: alcance, concurso e terceira via
Um mesmo evento pode preencher, em simultâneo, os pressupostos de ambas as
responsabilidades.
Todavia, cumpre proceder a uma depuração liminar: o art.º 483º/1 não pode ser
interpretado de modo a abranger o incumprimento. Ou seja, o devedor que não cumpra integra,
tecnicamente, a previsão do incumprimento do art.º 798º e não a de violação ilícita do direito
alheio. Bastará uma interpretação declarativa estrita do art.º 483º/1, sistematicamente
integrado, complementada com a natureza especial da responsabilidade obrigacional. Posto
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |5
isto, as hipóteses de concurso são muito minoradas, embora existam. De facto, a relação de
especialidade apontada diz respeito ao dever de prestar principal, quanto a deveres de
segurança, o concurso é real.
Miguel Teixeira de Sousa defende que não há uma relação de especialidade que permita a
prevalência da imputação obrigacional, verifica-se, antes, um concurso de títulos de aquisição
de pretensões, de tal modo que o autor pode invocar qualquer deles, ou todos, cabendo ao
defendente repelir cada um deles.
Nota que a jurisprudência nacional, quando confrontada com o problema do concurso, tem
optado, na base de uma ponderação concreta de interesses.
1.1. Terceira via
O confronto entre as responsabilidades aquiliana e obrigacional leva a referenciar a teoria
denomina como terceira via. A questão surgiu antes da reforma de 2001/2002 do BGB
essencialmente pelo facto de a responsabilidade obrigacional pressupor, naturalmente, uma
obrigação específica entre as partes, designadamente de origem contratual, surgindo um
incumprimento da obrigação principal, a responsabilidade aquiliana, cuidadosamente
compartimentada nas três cláusulas do BGB funcionaria, apenas, perante o preenchimento das
respetivas previsões. Tratava-se de assimilar situações como a culpa in contrahendo, a violação
positiva do contrato, a subsistência da obrigação sem dever de prestar principal e da culpa post
pactum finitum.
Haveria, em todos esses casos, uma vinculação especial, traduzida num dever de proteção
unitário, de base legal. A sua violação situar-se-ia entre as responsabilidades obrigacional e
aquiliana, embora o regime a aplicar fosse, no essencial, o da primeira.
A referência a uma terceira via, entre as responsabilidades, perdeu sentido na Alemanha
após a reforma de 2001/2002.
Em Portugal, os diversos fatores depõem no sentido da inaceitabilidade da chamada terceira
via, como forma de reduzir o que chamamos de paracontratualidade.
Esta noção terá vantagens numa área totalmente diferente, a dos deveres do tráfego. Estes
advêm não da boa fé, com objetivos de, pela positiva assegurar a riqueza, mas antes emanam
da responsabilidade aquiliana, visando reforçar os bens nela em jogo. Tais deveres não são
específicos, mas são muito gravosos para a liberdade das pessoas escapando totalmente à sua
vontade direta (contrato) ou indireta (contacto social e paracontratualidade). Por isso, apesar
da especificidade, quem por eles e pela sua alegada inobservância, queira ser indemnizado, terá
de provar a sua existência, a ilicitude da sua violação e a culpa do agente. Aí o regime será, de
facto, intermédio.
A terceira via não é mais do que uma dependência da responsabilidade aquiliana.
Outras distinções e figuras afins
1.1. Responsabilidade por factos ilícitos, pelo risco e pelo sacrifício
A responsabilidade por factos ilícitos, também dita delitual, corresponde à previsão do
artigo 483º/1 assenta na violação ilícita ou culposa de direitos subjetivos ou de normas
destinadas a proteger interesses alheios.
A responsabilidade pelo risco, ainda chamada de imputação ou responsabilidade
objetiva, equivale à transferência, por razões político-sociais, de um dano, de uma esfera para a
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |6
outra, através de uma obrigação de indemnizar. Trata-se de uma situação muito delicada,
apenas possível nos casos expressamente previstos na lei (art.º 483º/2) e sujeitos a um
particular controlo de constitucionalidade.
O art.º 499º manda aplicar, à responsabilidade pelo risco, “na parte aplicável e na falta
de preceitos legais em contrário”, as disposições relativas à responsabilidade por factos ilícitos.
Desde logo, na responsabilidade pelo risco não há nem culpa nem ilicitude. Em regra, também
não há “facto”, no sentido de atuação livre e consciente do responsabilizado, capaz de originar
um dano. Tanto basta para que a causalidade e o próprio calculo da indemnização tenha de
seguir regras diferenciadas.
A responsabilidade pelo risco não é o produto de uma classificação de responsabilidade,
antes se perfila com um tipo autónomo de responsabilização, com todo um subsistema
diferenciado de pressupostos e de consequências.
A responsabilidade pelo sacrifício ou por factos lícitos não vem genericamente referida
na lei civil. Ela implica a prática de um ato voluntário que, apesar de danoso, o Direito admite,
mercê das circunstâncias em que seja levado a cabo. Apesar da licitude, ele pode originar um
dever de indemnizar.
Também na responsabilidade pelo sacrifício deparamos com pressupostos diversos dos
da responsabilidade delitual e que obrigam à construção de um subsistema coerente.
Estes três tipos de responsabilidade pertencem ao tipo mais geral da responsabilidade
aquiliana.
1.2. Classificações em função dos pressupostos
Os pressupostos da responsabilidade civil (facto, ilicitude, culpa, dano e nexo causal).
De acordo com o facto, a responsabilidade diz-se por ação ou por omissão. Pode ser
singular ou conjunta, em função dos autores do facto. E nesse plano temos a responsabilidade
pessoal e as responsabilidades por atos do representante, do mandatário, do comissário ou do
auxiliar. Na mesma linha, referem-se a responsabilidade da pessoa singular e das pessoas
coletivas. Relevantes são as responsabilidades profissionais e a do produtor, que dispõe de um
regime especial. Também se fala na responsabilidade por facto próprio ou por facto de terceiro.
O facto pode ter relevância apenas civil ou, também, penal, ocorrem as
responsabilidades simples ou conexa com a penal.
No campo da ilicitude e em função dela distinguimos a responsabilidade por violação de
um direito subjetivo ou por inobservância de normas de proteção. Subtipo interessante é o da
responsabilidade por violação de deveres de cuidado (deveres do tráfego) que poderá dar azo
à denominada terceira via.
O tipo de direito subjetivo permite ainda referir outras distinções, a responsabilidade
do terceiro pela violação do crédito, a responsabilidade pela violação de direitos de
personalidade, reais, familiares ou relativos a bens intelectuais, entre outros.
A culpa permite distinguir a responsabilidade pelo dolo ou por negligência,
subdistinguindo-se este, pelo menos, em negligência leve ou grave.
Por via do dano temos as mais diversas responsabilidades: por danos morais ou
patrimoniais, futuros ou indiretos, emergentes ou lucros cessantes, presentes ou futuros,
indemnizáveis ou compensáveis. Refere-se, ainda, a responsabilidade por danos (meramente)
patrimoniais aqueles que não correspondam a vantagens protegidas pela inclusão no conteúdo
de um direito subjetivo.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |7
A causalidade permite falar na responsabilidade isolada ou concorrente, real ou
hipotética, efetiva ou virtual.
Os pressupostos da responsabilidade civil delitual
Os pressupostos da responsabilidade civil traduzem os elementos cuja verificação é
necessária para que ocorra a obrigação de indemnizar. A obrigação de indemnizar não é de
génese voluntária, o agente irá desembolsar valores, por imposição jurídica, enquanto o lesado
poderá não ser suficientemente ressarcido.
Os denominados pressupostos da responsabilidade civil, particularmente na
enumeração predominante do facto, ilicitude, culpa, dano e causalidade, só se aplicam à
responsabilidade por factos ilícitos. Na responsabilidade objetiva haverá apenas dano, cabendo
à lei dizer a quem ele é imputado e na responsabilidade pelo sacrifício, além do dano,
encontramos um facto e uma norma de atribuição.
Trabalhar com uma grelha de pressupostos da responsabilidade civil que se aplique,
apenas, à responsabilidade por facto ilícito obrigará a compor novos “sistemas” para as
restantes modalidades.
Seja qual for o tipo de responsabilidade civil, há um ponto sempre presente, o dano.
Tentar contruir um sistema geral de responsabilidade civil obrigará a partir do dano.
Havendo dano, cabe ao Direito decidir sobre a sua imputação a outra pessoa, através da
obrigação de indemnizar. E a imputação poderá ser de três tipos:
o Imputação delitual, quando o dano seja imputado a quem, ilicitamente e com
culpa o tenha causado;
o Imputação objetiva ou pelo risco no caso em que o Direito devida imputá-lo a
quem detenha certas situações consideradas vantajosas;
o Imputação pelo sacrifício na eventualidade de o legislador pretender que, mau
grado a licitude do dano, ele deva, em certos moldes, ser suportado por quem
o tenha provocado.
Na imputação obrigacional, o dano seria naturalmente imputado ao devedor
incumpridos. Os pressupostos gerais da responsabilidade civil seriam o dano e a imputação.
A construção da responsabilidade civil a partir do dano e na base da técnica da sua
imputação (delitual, pelo risco ou pelo sacrifício), com a consequente redução dos seus
pressupostos aos referidos dano e imputação, afigura-se-nos, ainda hoje, irrefutável.
A generalidade da nossa doutrina, assenta, hoje, na pentapartição, facto, ilicitude, culpa,
dano e causalidade, pentapartição essa que é correntemente usada pela jurisprudência, assim
sendo, melhor parece não multiplicar querelas terminológicas ou sistemáticas que, mesmo
proporcionando melhores construções, dificultem a comunicação das melhorias efetivas de que
esta matéria carece.
1.1. O facto
Usa-se o termo facto para designar o ato ou facto humano que subjaz a qualquer
imputação delitual. Como facto humano podemos, desde logo considerar a ação. Esta
corresponde a um desencadear de meios materiais e humanos, determinado pelo cérebro do
agente, para prosseguir um preciso fim.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |8
O agente intervém em dois pontos, na escolha do fim que visa prosseguir e na seleção
dos meios que tem por admissíveis e adequados, para esse efeito.
A realidade humana e social é demasiado complexa para se reduzir a uma articulação
de ações. Dependendo dos circunstancialismos existentes, pode o agente prosseguir e alcançar
o seu objetivo justamente não fazendo nada.
Quer isso dizer que o facto, para além de integrar ações humanas efetivamente levadas
a cabo pelo agente, pode abarcar omissões ou determinadas omissões. Podemos considerar que
a omissão só é facto quando exista, num momento prévio, o dever de praticar o ato omitido.
Como enuncia o art.º 486º:
«As simples omissões dão lugar à obrigação de reparar os danos, quando,
independentemente dos outros requisitos legais, havia, por força da lei ou de negócio jurídico, o
dever de praticar o ato omitido.»
A obrigação derivada de negócio jurídico e que seja desrespeitada por omissão dá azo a
responsabilidade obrigacional. Da mesma forma, a inobservância de obrigações legais explícitas
conduz a esse tipo de responsabilidade, será o destino dos chamados “delitos tipificados” (art.º
491º, 492º, 493º) que, inclusive preveem uma presunção de culpa.
Ficam-nos, fundamentalmente:
• As situações de negligência, nas quais o bem protegido é atingido não por uma
(verdadeira) ação destinada a, direta, necessária ou eventualmente, atingi-la
(dolo), mas pela inobservância de certos deveres de cautela que se
impusessem;
• Os deveres do tráfego, isto é, os deveres que protegem certos bens delicados
ou que impedem sobre quem tenha o controlo de fontes de perigo.
No primeiro caso, a omissão é determinada pela violação, por um agente, de um direito
subjetivo ou de uma norma de proteção (art.º 483º/1), no segundo temos uma construção
derivada da responsabilidade aquiliana e que pode integrar a denominada terceira via.
Lidamos, antes, com valorações globais sobre a postura do agente, que podemos
considerar facto, mas não ação.
1.1.1. Conduta ou resultado?
Na determinação do que seja facto, para efeitos de responsabilidade civil, pergunta-se
se o Direito vai considerar relevante a conduta do agente ou o resultado a que ela tenha
conduzido. A questão pode ser discutida a propósito da ilicitude, porém, dada a sua relação
estreita com a ação, passa agora a ser discutida.
Nas visões tradicionais desta matéria, para o Direito civil revelaria apenas o desvalor do
resultado. A ação que não atingisse o bem protegido, não provocaria danos, mal ficaria vir
discutir a conduta. Tal orientação veio a deparar com dois obstáculos:
• O problema das condutas conformes com os deveres de tráfego e que, todavia,
se revelem danosas;
• Os danos meramente indiretos.
Passou-se, por isso, à teoria do desvalor da conduta, estaria sempre em causa uma
conduta, uma vez que apenas esta pode contundir com os deveres de comportamento
predispostos pelo direito.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
Página |9
A doutrina mais recente optou pela solução do meio termo. As violações imediatas de
bens jurídicos são, sem mais, ilícitas, releva o resultado. Estando em causa apenas atentados
negligentes ou violações do dever de cuidado, há que examinar a conduta. Por vezes o Direito
exprime condutas, vedando o resultado, noutros proíbe a conduta. Não é possível separar o
resultado da conduta, constituem uma evidente unidade. Isto dito, parece claro que perante
uma ação humana, logo final, o resultado é determinante para o próprio conhecimento da
conduta. Nos outros casos, o resultado não foi prefigurado pelo agente, pelo que apenas a
conduta surge como aparente.
Quer o resultado, quer a conduta são, assim, úteis elementos para conhecer o facto.
1.1.2. A imputabilidade
A presença de um facto com relevância civil, para efeitos de imputação delitual, requer
que o agente se tenha, efetivamente, autodeterminado. Para tanto, as suas ações ou omissão,
correspondem a duas qualidades suas:
• A capacidade de entender;
• A capacidade de querer.
Não ocorrerá a primeira se, por falta ou deficiência das capacidades cognitivas naturais
(tenra idade ou deficiência mental) ou artificiais (álcool ou drogas), o agente não tinha
possibilidade de apreender o significado das suas atuações. Faltará a segunda se o agente, por
constrições externas (coação física), não dispunha de liberdade.
O direito civil, assim como o penal, determina que, salvo nos casos de inimputabilidade,
as pessoas sejam tratadas como se fossem livres.
Presume-se que todas as pessoas são imputáveis. E imputáveis são ainda aquelas que,
violando deveres de cuidado, se coloquem transitoriamente, num estado de inimputabilidade
(art.º 488º/1, 2ªp). Será o caso frequente das pessoas que se alcoolizam e, depois, provocam
danos ao volante ou perpetram desacatos nos locais de diversão. Qualquer verdadeira
inimputabilidade deverá ser provada por quem, dela, se queira prevalecer.
Não há limites de idade, para efeito de imputação delitual. O artigo 488º/2 apenas
facilita tarefas probatórias, presume a falta de imputabilidade nos menores de sete anos e nos
interditos por anomalia psíquica.
1.2. A ilicitude
1.2.1. Delimitações positiva e negativa
O art.º 483º/1 refere “aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito
de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a
indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”.
Não chegaria violar um direito ou uma norma de proteção, isso teria de ser feito
ilicitamente. Não haveria ilicitude se o agente violasse um direito alheio, mas agindo em ação
direta, em legitima defesa ou em estado de necessidade, por exemplo. E a ser assim, o
pressuposto ilicitude traduziria, apenas, a ausência de uma causa de justificação.
Todavia, afigura-se preferível, em nome da harmonia do sistema e de uma interpretação
mais conforme com as valorações do ordenamento, dar outro alcance ao alcance ao advérbio
ilicitamente.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 10
De acordo com o sentir comum compartilhado pelos juristas, é ilícito, só por si, violar
direitos e normas de proteção. A ilicitude implica, simplesmente, a inobservância do direito.
Temos, aqui, a sua delimitação negativa.
Em certos casos, a inobservância de regras jurídicas, à partida ilícita, pode ser legitimada,
tornando-se lícita. São as chamadas causas de justificação (ação direta, legítima defesa e estado
de necessidade, cumprimento de um dever e o consentimento do lesado). Por isso, para haver
ilicitude, reclama-se, ainda, a ausência de causas de justificação. Temos, aqui, a delimitação
negativa.
Em suma, pela positiva, a ilicitude advém da violação de direitos subjetivos e de norma
de proteção, pela negativa, ela postula que não existam causas de justificação. Esta orientação
coloca a violação de direitos e de normas de proteção na ilicitude e não no facto.
1.2.2. A violação do direito de outrem
A primeira modalidade de ilicitude advém da violação de o direito de outrem. A
contraposição feita no art.º 483º/1 entre direitos e “qualquer disposição legal destinada a
proteger interesses alheios” inculca que direitos é efetivamente, o direito subjetivo proprio
sensu. A tutela aquiliana é concedida, apenas perante permissões específicas de
aproveitamento de bens.
Mas em compensação, ficam abrangidos todos os direitos subjetivos, incluindo os
relativos. Nenhuma razão existe para os excluir, uma vez que o art.º 798º aplica-se ao devedor
e não a terceiros. A eficácia externa das obrigações acaba por ter pouca expressão não por via
da não aplicação do art.º 483º/1, mas antes pela dificuldade em reunir os demais pressupostos
de imputação aquiliana.
O direito subjetivo, enquanto permissão específica para o seu titular, é não-permissão
para terceiros. Estes devem respeitá-lo, ou o direito subjetivo não fará sentido, precisamente
no momento em que seria suposto revelar a sua utilidade. O direito subjetivo referido abrange:
• Apenas os direitos subjetivos proprio sensu;
• Todos os direitos subjetivos em sentido material e, portanto,
independentemente das designações que se lhes atribuam.
Ficam excluídos da proteção os denominados danos puramente patrimoniais, isto é, os
danos que não passem pela violação de um direito subjetivo. Estes, a terem tutela, terão de se
acolher às normas de proteção, em seguida referidas.
1.2.3. A violação de normas de proteção
Como segunda modalidade de ilicitude temos, seguindo o texto do art.º 483º/1, o “violar
qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios”. O legislador inspirou-se no
BGB que dispõe “A mesma obrigação respeita àquele que violar destinada à proteção de outrem.
Quando, de acordo com o conteúdo dessa lei, seja possível uma violação mesmo sem culpa, o
dever de indemnizar só ocorre havendo culpa”.
As normas de proteção são hoje entendidas como “correias de transmissão” de valores
apurados, noutros âmbitos jurídicos, para o domínio aquiliano.
As normas jurídicas prescrevem regras de conduta, no interesse geral e de cada um, mas
sem delimitar porções axiológicas entregues, em exclusividade, a certas pessoas.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 11
Quando a violação de tais normas provoque danos, embora não se tenham
propriamente violado direitos subjetivos, pode caber o dever de indemnizar, desde que
reunidos os demais requisitos. Estão em causa normas que visem afastar os perigos abstratos.
O art.º 483º/1, na parte em que reporta à ilicitude “normas de proteção”, restringiu-se
o seu âmbito, pretendeu-se evitar que, havendo a inobservância de normas jurídicas, qualquer
pessoa que se entendesse prejudicada pudesse reclamar uma indemnização. Podemos, deste
modo, fixar uma grelha de requisitos relativa à aplicação do preceito em causa, na parte
referente às normas de proteção:
1. Requer-se a presença de uma norma de conduta, devidamente aplicável;
2. Essa norma deve destinar-se a proteger determinados interesses alheios, como
tal se entendendo vantagens juridicamente protegidas e cuja supressão dê azo
a um dano;
3. A adoção, pelo agente, de um comportamento contrário à referida norma de
conduta;
4. De tal maneira que sejam precisamente atingidos os interesses protegidos pela
norma violada.
As normas de proteção não têm de advir de leis expressas, podem ser construídas por
elaboração jurídico-científica.
Na presença de ilicitude por violação de normas de proteção, a culpa assume uma forma
mais aderente à própria ilicitude e a causalidade é moldada sobre o escopo da norma violada.
1.2.4. Outras cláusulas gerais de ilicitude?
Pergunta-se se para além da cláusula de violação dos direitos subjetivos e da cláusula
das normas de proteção, não haverá outra ou outras cláusulas gerais indutoras de ilicitude.
De facto, têm sido apontados “delitos específicos”, como os do artigo 484º (ofensa ao
crédito ou ao bom nome) e do artigo 485º (conselhos, recomendações e informações). As
respetivas previsões não se limitam à ilicitude, antes vêm bulir com o facto, com a culpa e com
a própria causalidade. Além disso, comportam elementos obrigacionais. Constituem, assim,
modelos globais específicos de imputação, que transcendem a ilicitude.
Mais consistente, neste domínio, poderia ser a figura do abuso de direito. Este
constituiria uma fonte de aplicação aquiliana, ao lado da violação de direitos e da inobservância
de normas de proteção.
1.2.5 A natureza da ilicitude, elementos subjetivos e prova
Pode entender-se que a culpa é apenas a desconformidade objetiva da conduta com a
norma, e justamente por isso, ela não chegaria para provocar responsabilidade. O possuidor de
boa fé, embora violando objetivamente a propriedade do verdadeiro dono, não responde por
não ter “culpa”. Uma doutrina mais recente defende que no caso do possuidor de boa fé, não
existe uma atuação ilícita. A ilicitude incide sobre uma ação humana, voluntária e imputável. E
é essa ação, no seu todo, que surge contrária ao Direito.
Na ilicitude cabem, pois, elementos subjetivos, todos os que sejam necessários para
compreender plenamente o sentido de uma ação humana.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 12
A ilicitude reporta-se a uma ação (comportamento, resultado ou ambos), a qual, sendo
humana, implica sempre os tais elementos subjetivos.
Cabe ao lesado a prova da ilicitude, desde logo por a ilicitude ser um fator constitutivo
do direito à indemnização, aplicando-se o art.º 342º/1, depois porque o art.º 487º/1, ao impor,
ao lesado, a prova da culpa estaria a passar-lhe a prova da ilicitude.
O lesado interessado deve, sim, alegar e provar todos os elementos materiais, objetivos
ou subjetivos, que permitirão depois, ao juiz, pronunciar-se no sentido da ilicitude.
1.3. A culpa
A ideia de culpa está no cerne da imputação delitual, isto é, na efetivação normativa de
mandar que alguém, através de uma indemnização, suporte os danos primeiro ocorridos numa
esfera jurídica alheia. A culpa permite, na verdade, dar dois passos:
• Formular o juízo geral de legitimidade no despojar, alguém, de alguns dos seus
bens e entrega-los a outrem;
• Decidir quem merece sofrer esse tratamento e quem é o beneficiário.
1.3.1. O dolo
O dolo é considerado simplesmente como uma graduação de culpa em sentido amplo.
Diz-se que age com dolo aquele que procede voluntariamente contra a norma jurídica cuja
violação acarreta o dano. É comum a distinção entre:
• Dolo direto: o agente atua diretamente contra a norma;
• Dolo necessário: o agente atua em determinado sentido que, não sendo
propriamente a norma violada, implica, no entanto, a inobservância voluntária
desta;
• Dolo eventual: o agente atua em determinado sentido que, não sendo o da
violação da norma, pode implicar a inobservância voluntária desta.
No Direito Penal, o dolo direito tem sido pacificamente equiparado ao dolo necessário,
quer num caso quer no outro, a ação do agente passa pela violação de normas.
Há dolo eventual quando a conduta do agente ainda possa ser reconduzida à violação
da própria norma e não à simples inobservância de deveres de cuidado. Para tanto, basta
averiguar se a conduta do agente era norteada, de antemão pela possibilidade da violação,
sendo esta aceite como fim, ainda que instrumental.
1.3.2. Negligência (ou mera culpa)
No decurso da sua atuação em sociedade, as pessoas devem observar determinadas
regras de cuidado, de prudência, de atenção ou de diligência para que não violem, ainda que
involuntariamente, normas jurídicas. A não observância desses cuidados elementares pode
provocar uma violação, ainda que não incluída, a título direto, necessário ou eventual na
atuação do agente. Verifica-se, nessa altura, o delito negligente, isto é, aquela cuja previsão
reside nos deveres de cuidado.
À luz desta orientação, podemos explicar os dois graus de negligência que hoje se
aceitam:
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 13
• Negligência consciente: o agente tem conhecimento da existência dos deveres
de cuidado, mas, ainda assim, não os acata, esperando que não haja danos
(mesmo que não haja, já existe dolo);
• Negligência inconsciente: o agente não tem conhecimento dos deveres de
cuidado.
Os efeitos desta distinção devem ser reconduzidos ao problema da consciência da
ilicitude.
Torna-se possível, na base de alguma doutrina, distinguir entre o cuidado exterior e
interior. O exterior tem a ver com a conduta observada pelo agente, que pode coincidir ou não
com a forma exigível, no caso considerado. O cuidado interior tem a ver com o percurso
intelecto-emocional do agente, o conhecimento da norma e o esforço destinado a observá-lo.
O Código não refere os deveres de tráfego, antes mantendo a referência tradicional à
diligência de um bom pai de família (art.º 487º/2). Em princípio, o art.º 487º/1, reporta-se à
culpa em lato sensu, englobando, o dolo e a negligência. Contudo, o nº2 dessa mesma disposição
tem, fundamentalmente em vista a negligência. Efetivamente, o dolo é, pelo seu teor incisivo,
de fácil apreciação, basta constatar a vontade de prevaricar, isto é, de não acatar a norma
jurídica cuja violação provoque o dano a imputar.
Em compensação, a negligência levanta delicados problemas de apreciação. Verifica-se
uma situação em que a violação danosa emergente não da vontade danosa emerge de um
desrespeito por deveres de precaução que acabou por acarretar uma violação danosa. Põe-se,
assim, concretamente, a questão de saber quais são esses deveres e em que medida de esforço
deve, ao agente, ser exigida para o pôr ao abrigo de imputações delituais por quaisquer
violações objetivas. O art.º 487º/2 deve ser dirigido primordialmente à negligência, dizendo que
o critério de apreciação de culpa deriva:
• Da diligência de um bom pai de família;
• Em face das circunstâncias de cada caso concreto.
Quando o comportamento do agente seja destinado à violação de cláusulas gerais, com
produção de danos, há dolo. Quando esse comportamento se dirija a cláusulas que acautelam a
violação, por inadvertência, de normas, há negligência.
1.3.3. Dolo e negligência no Direito civil
O art.º 483º/1 estabelece a imputação, indiferentemente, por dolo ou mera culpa.
Nem por isso se pode desconhecer a matéria uma vez que a distinção mantém interesse
no tocante à determinação do montante da obrigação de indemnização. Nos termos do art.º
494º:
“Quando a responsabilidade se fundar na mera culpa, poderá a indemnização ser
fixada, equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados,
desde que o grau de culpabilidade do agente a situação económica deste e do lesado e as
demais circunstâncias do caso o justifiquem”
Perante a uniformização praticada pelo artigo 483º/1, o CC refere, normalmente,
apenas culpa lato sensu, englobando, dessa forma, o dolo e a negligência.
Na indagação da culpa, há que recorrer a todos os indícios admitidos em Direito, para
determinar o sentido da atuação do agente. O Direito, para facilitar o funcionamento da
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 14
imputação delitual, estabelece um regime de presunções, forma de distribuir o ónus da prova
da culpa, isto é, o encargo de demonstrar a sua existência.
A regra geral consta do art.º 487º/1, ao lesado incumbe provar a culpa do autor da lesão.
A culpa é um juízo de valor, não se prova. A prova recai sobre os factos que, fixando a ilicitude,
permitam tal juízo. As pessoas presumem-se não culpadas até prova em contrário. Mas essa
própria disposição prevê a possibilidade de ocorrerem presunções de culpa, com o efeito prático
de passar, ao autor do dano, o encargo de demonstrar que não teve culpa na ocorrência.
As presunções de culpa mais marcantes são:
• Contra quem esteja obrigado a vigiar outrem, pelos danos que este provocar –
art.º 491º;
• Contra aquele cujo edifício ou obra desabar, provocando danos – art.º 492º/1;
• Contra quem deva vigiar animal ou outra coisa, pelos danos, por eles
provocados – art.º 493º/1;
• Contra quem provoque danos a outrem, no exercício de uma atividade perigosa
– art.º 493º/2;
• Contra o devedor, por danos emergentes do incumprimento da obrigação –
art.º 799º/1.
Dada a equiparação de regimes realizada pelo art.º 483º/1, entre a culpa e a negligência,
deve entender-se que a presunção de culpa funciona em relação a ambas essas noções, sendo
certo que a de dolo é compreensiva. Isto é, não basta, ao agente sobre quem recaia a presunção
de culpa, provar que não agiu com dolo. A imputação delitual funcionaria então, ainda, em
relação à negligência. O afastamento deve ser total, demonstrando que os deveres de cuidado
exigíveis foram observados.
Sumariamente podes dizer que no dolo, o Direito atende ao resultado e, na negligência,
ao comportamento.
1.3.4. A consciência da ilicitude
Quando alguém viole uma norma, exige-se, para que sobre o comportamento
prevaricador recaia o desvalor da Ordem Jurídica, que o agente conhecesse a ilicitude da
ocorrência? E faltando esse conhecimento, não há pura e simplesmente delito, há delito
negligente ou delito doloso?
A primeira hipótese tem sido expeditamente afastada com a alegação de que ninguém
se pode eximir ao cumprimento da lei, a pretexto do seu desconhecimento. Restaria, assim,
saber se, da violação sem consciência da ilicitude, emerge um delito doloso ou um delito
negligente.
No Direito criminal alemão surgiram várias orientações agrupáveis em:
• Teoria do dolo: só se verifica um delito doloso quando o agente, além de
conhecer a sua própria atuação, tinha também conhecimento da ilicitude. Na
falta deste conhecimento, poderia incorrer em previsão de negligência quando
um dever de cuidado lhe assacasse a necessidade moral de conhecer a ilicitude.
• Teoria da culpa: o delito seria, em princípio, sempre doloso
independentemente da consciência da ilicitude. A carência desta poderia,
quando muito, atenuar a punição ou, até, paralisar o juízo de desvalor quando
não houvesse, sequer, conhecimento potencial da ilicitude.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 15
1.3.5. As causas de justificação
Aquando da análise da ilicitude, adiantámos que o próprio art.º 483º/1 postulava uma
dupla limitação: positiva e negativa. Pela positiva, a ilicitude ocorre quando se viola um direito
subjetivo ou uma norma de proteção. Pela negativa, ela não se verifica quando o agente se
prevaleça de uma causa de justificação.
Causa de justificação será assim a eventualidade que torne permitida a implicação de
um dano.
No Direito Civil, o Prof. Pessoa Jorge autonomiza as seguintes causas de justificação:
• O cumprimento de um dever;
• A obediência hierárquica;
• A execução de um direito;
• A ação direta;
• A legítima defesa;
• O estado de necessidade;
• O consentimento do ofendido.
Nós próprios, na base da lógica deôntica, procurámos enquadrar as hipóteses de
delimitação negativa da ilicitude aquiliana com recurso a dois simples termos:
• A presença de normas permissivas, dirigidas ao agente;
• A eventualidade de normas de obrigação, também a ele destinadas.
As causas de justificação têm delicadeza. Como foi visto, elas podem traduzir uma
permissão de causar danos a terceiros, algo visceralmente contrário à lógica do Direito Civil. Isso
nos leva a considerar típica a existência de causas de justificação. Não só elas apenas se
consubstanciam quando previstas por lei, como também, na sua concretização, se devem
conformar com o estrito perfil legal.
As causas de justificação são tratadas a propósito do exercício e tutela de direitos, arts.º
335º a 340º.
1.3.5.1. A colisão de direitos
Pode acontecer que alguém disponha de um direito cujo exercício vá causar danos a
outrem, contradizendo direitos subjetivos do lesado ou inobservando normas de proteção
destinados a proteger precisamente os interesses atingidos pelo exercício em jogo. Ou, ainda,
pode o destinatário de um dever, público ou privado, encontrar-se na contingência de, para o
cumprir, ter de violar um direito alheio ou uma norma de proteção.
A solução dos conflitos acima esquematizados deve ser procurada à luz das regras sobre
colisão de direitos, genericamente constantes do art.º 335º.
Na colisão de direitos, extrapolável para a de obrigações, há que atender, perante o art.º
335º, ao facto de serem diferentes ou de terem idêntica natureza. Sendo diferentes, prevalece
o que se deva considerar superior (nº2), sendo iguais, os titulares devem ceder na medida do
necessário para que todos produzam, igualmente, o seu efeito, sem mais detrimento para
qualquer das partes (nº1).
Quais os critérios de superioridade?
• A antiguidade relativa
• Os danos previsíveis
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 16
• As vantagens envolvidas
Num conflito de direitos, o que primeiro se constitua prefere, à partida. Quando não
resolva, verificar-se-á qual a posição cujo sacrifício envolva menores danos. Não havendo danos
ou não sendo possível, por essa via, solucionar o problema, contabilizar-se-ão as vantagens
perdidas, optando-se pela solução que sacrifique menos riqueza futura.
Não sendo possível encontrar uma saída por nenhuma destas vias, resta uma apreciação
abstrata dos direitos, não havendo, ainda então uma saída, cair-se-á na ideia de igual sacrifício
ou de composições aleatórias.
Tratando-se de direitos (ou obrigações), aplica-se o art.º 335º/1 2ª parte, “todos devem
ceder na medida do necessário, para que todos produzam o efeito, sem maior detrimento para
qualquer das partes”. Pressupõe-se, naturalmente, que sejam possíveis “cedências” e
“exercícios parcelares”. Não o sendo, cai-se, de novo, no art.º 335º/2 e, no limite, em
composições aleatórias.
1.3.5.2. A legítima defesa
O art.º 337º/1 faculta uma noção de legítima defesa, “considera-se justificado o ato
destinado a afastar qualquer agressão atual e contrária à lei contra a pessoa ou património do
agente ou de terceiro, desde que não seja possível fazê-lo pelos meios normais e o prejuízo
causado pelo ato não seja manifestamente superior ao que pode resultar da agressão”.
O preceito indica os requisitos da legítima defesa civil. Além disso, ele pauta-se pelo
prisma das causas de justificação e isso apesar de, sistematicamente, nada ter a ver com a
responsabilidade civil. Feitos estes descontos, fica-nos o núcleo da legítima defesa, o ato
destinado a afastar qualquer agressão atual e contrária à lei.
O art.º 337º/1, acima transcrito, condensa o essencial. Dele, podemos retirar os
pressupostos da legítima defesa:
• Uma agressão atual e contrária à lei, contra a pessoa ou património do agente
ou terceiro;
• Um ato de defesa necessário;
• O prejuízo causado pelo ato não seja manifestamente superior ao que pode
resultar da agressão.
1.3.5.3. O estado de necessidade
O estado de necessidade está previsto no art.º 339º/1, é a situação na qual uma pessoa
se veja constrangida a destruir ou a danificar uma coisa alheia, com o fim de remover o perigo
de um dano manifestamente superior, quer do agente, quer de um terceiro.
Os pressupostos do estado de necessidade podem dai extrair-se, temos então:
• Um perigo atual de um dano, para o agente ou para um terceiro;
• Dano esse que seja manifestamente superior ao dano causado pelo agente;
• Um comportamento danoso, destinado a remover esse perigo.
A exigência de perigo de um dano, para o agente ou para terceiro, constitui a base do
estado de necessidade. O dano poderá ser patrimonial, pessoal ou moral. A lei refere um “perigo
atual” traduzindo um dano já em curso ou um dano iminente. Subjacente ficará a
impossibilidade de afastar o perigo, sem a atuação em necessidade. E, designadamente, a
inviabilidade de avisar, em tempo útil, as autoridades competentes para remover o perigo.
Quanto à exigência de proporcionalidade, não está em causa repelir uma agressão ilícita, a qual
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 17
justificaria uma reação radical, mas, apenas, o distribuir os danos, numa perspetiva social
solidária. Finalmente, temos o comportamento do agente. A ação implicada deverá ser a
necessária, quer quanto à sua efetivação, quer quanto aos meios utilizados. Ela deve ser
objetivamente adequada à remoção do dano, contendo-se nos limites aqui exigíveis.
Dada a clara teleologia do art.º 339º/1 – permitir um dano para evitar um dano
desmesuradamente maior – não vemos qualquer dificuldade em alargar a referência a “coisa”,
aí feita, a todo e qualquer bem, incluindo bens imateriais e bens de personalidade. Aliás, no
Direito Civil, “coisa” não é, apenas e em rigor, a coisa corpórea – art.º 202º/1. Haverá que ir
ainda mais longe, alargando o preceito às próprias pessoas.
Verificada a situação de necessidade, a ação do agente é lícita. O dano causado não lhe
poderá ser imputado a título aquiliano, contudo será justo os danos serem suportados pelo
titular dos bens? O art.º 339º vem dispor sobre o destino ou a repartição desse dano, prevendo:
• A sua imputação ao agente, quando o perigo tenha sido provocado por sua culpa
exclusiva;
• A sua imputação equitativa ao próprio agente, àqueles que tenham tirado
proveito do ato ou que hajam contribuído para o estado de necessidade.
Temos situações de imputação de danos por atos lícitos. Quanto à distribuição
“equitativa” dos danos, haverá que, quando possível, seguir o Direito positivo:
• Se algum dos intervenientes causou o estado de necessidade de modo a lhe ser
imputável por culpa ou a título de risco, responderá;
• Não sendo esse o caso, haverá uma diferenciação na base do risco representado
pelos bens em presença.
1.3.5.4. A ação direta
A ação direta trata-se da possibilidade de recorrer à força para realizar ou assegurar o
direito próprio, art.º 336º/1. Os seus pressupostos merecem a maior atenção:
• A necessidade de realizar ou de assegurar o próprio direito;
• O recurso à própria força;
• A contenção nos meios usados.
Quanto ao primeiro requisito, tem de se ter em atenção dois parâmetros chave:
• A urgência, de modo a evitar a inutilização prática do direito em causa;
• A impossibilidade de recorrer, em tempo útil, aos meios coercivos normais.
A referência ao “próprio direito” deve ser tomada em termos latos, ou seja, a ação direta
tem cabimento para defender quaisquer posições ativas, desde que suficientemente precisas
para permitirem as conexões subsequentes.
A posição jurídica a defender deverá ser suscetível de coerção jurídica. Não será possível
recorrer à ação direta relativamente a obrigações naturais ou a situações jurídicas que, pela sua
configuração, não possam ainda ser exercitadas.
Finalmente, a necessidade pode ser ditada por um facto humano ou natural. Porém, se
o facto humano for uma agressão, já estaremos perante a legítima defesa; se houver um perigo,
a hipótese será de estado de necessidade.
A ação direta pode dirigir-se contra coisas ou contra pessoas.
Como requisito muito visível, temos, por fim, os limites da ação direta. A atuação por
ela pressuposta deve ser duplamente contida:
• Não pode exceder o que for necessário para evitar o prejuízo;
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 18
• Não deve sacrificar interesses superiores aos que o agente vise realizar ou
assegurar.
A ação direta é lícita e é legitimadora. Verificados os seus pressupostos, o agente não
tem qualquer dever de indemnizar os danos que dela decorram. Eles serão imputáveis ou ao
“resistente” ou a quem haja ocasionado a situação ou, finalmente, ao risco próprio das
circunstâncias.
1.3.5.5. O consentimento do lesado
A figura do consentimento do lesado encontra-se prevista no art.º 340º sendo definida
como “o ato lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este tenha consentido na lesão”.
Os pressupostos do consentimento do lesado são:
• Um direito disponível;
• Um ato de consentimento;
• Um ato lesivo.
A disponibilidade do direito é um requisito basilar. O art.º 340º/2 exprime-o dizendo “o
consentimento do lesado não exclui, porém, a ilicitude do ato, quando este for contrário a uma
proibição legal ou aos bons costumes”.
Poderíamos distinguir entre a indisponibilidade de um direito e as hipóteses de,
havendo embora disponibilidade, o consentimento do lesado se revelar ineficaz, para efeitos de
justificação da ilicitude, por o concreto ato ofensivo ser, por si, contrário à lei ou aos bons
costumes. As hipóteses de proibição legal são bastante mais extensas do que o que poderia
parecer, numa visão superficial. Assim:
• No domínio dos direitos de personalidade, há restrições ponderosas (art.º 81º);
• No campo dos créditos, não é permitida uma renúncia prévia aos direitos do
credor (809º), tendo a remissão, sempre, natureza contratual (863º/1);
• Não é possível a doação de bens futuros (942º);
• No Direito da Família trabalha-se, em regra, com situações de indisponibilidade.
De facto, o art.º 340º só opera perante a responsabilidade aquiliana (483º/1),
especialmente com direitos reais e com certos direitos de personalidade.
O ato de consentimento será, em rigor, um ato unilateral. Não se exclua, à partida, uma
natureza negocial. Haveria, nessa eventualidade, liberdade de celebração e liberdade de
estipulação.
Dependendo das circunstâncias (127º), o consentimento do lesado exigirá legitimidade,
capacidade de gozo e capacidade de exercício. Integrará uma declaração de vontade, expressa
ou tácita e deverá passar pelo crivo das regras sobre a perfeição e a eficácia das declarações de
vontade. Sucede ainda que, em certos casos, o “lesado” não está em condições de consentir na
lesão a qual, todavia, é no seu interesse e corresponde à sua vontade plausível (340º/3), tendo-
se o consentimento por verificado.
Finalmente, perante o consentimento do interessado, será a cabo um ato lesivo.
Tomaremos este em sentido amplo:
• Pode provocar um dano efetivo, de tipo patrimonial ou moral;
• Pode não ser danoso, mas, todavia, integrar um núcleo de bens aos quais os
terceiros não devem aceder.
O ato lesivo não poderá ir além do consentido.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 19
O consentimento do lesado encontra a sua justificação básica na liberdade pressuposta
pelos direitos subjetivos.
1.3.6. As causas de excusa
A imputação aquiliana de estilo germânico pressupõe, além do juízo de ilicitude, um
juízo axiológico de censura, isto é, de culpa.
Sendo um juízo de censura, ele não está predeterminado, de outro modo, não teria
autonomia, dissolvendo-se na própria ilicitude. O intérprete-aplicador deverá, assim, optar pela
presença de dolo ou de negligência o que, tem ou pode ter consequências no plano da solução.
Há que supor que tal juízo possa resultar numa ausência. Quando isso suceda, não
haverá dever de indemnizar, por não se mostrarem reunidos os pressupostos requeridos. Tal
ocorrência é grave, uma vez que deixará danos ilícitos por ressarcir. Todavia, a lei civil não tipifica
causas de desculpabilidade ou de excusa. Estas, a operarem, terão de se inferir dos princípios
gerais.
No Direito Civil, podemos apresentar como causa de excusa todo o fator que, apesar de
não integrar propriamente a impossibilidade de entender e querer, consubstanciadora de
inimputabilidade, conduz, no entanto a uma tal perturbação da vontade do agente que evita o
juízo de desvalor, integrante da ideia de culpabilidade, isto é, havendo causa de excusa, não há
culpa.
Modalidades de excusa consagradas pela doutrina:
• O erro desculpável: o falso entendimento, por parte do agente, dos elementos
condicionantes que ditaram a sua atitude objetivamente contrária à norma,
quando não existisse nenhum dever de cautela, em ordem a evitar o engano. O
erro deve recair sobre fatores determinantes da conduta, não devendo recair
sobre elementos da ordem jurídica, mas tão só sobre elementos de facto.
• Medo invencível: exclui a reprovação do agente, pela afetação que acarreta à
sua vontade, que se pretende livre e esclarecida. Necessário é que o medo
recaia em aspetos verdadeiramente condicionantes do comportamento do
agente (essencialidade) e que seja de molde a, em termos de normalidade,
explicar o desvio da vontade (invencibilidade).
• A desculpabilidade: explica-se como cláusula de segurança, em situações
extremas, contra o rigor das normas de que resultariam efeitos nunca queridos
pelo Direito. Manifesta-se quando, por qualquer razão ponderosa, a exigência,
ao agente, do acatamento da conduta devida, ofenda gravemente o princípio
da boa fé.
1.4. O dano
O dano é a supressão ou diminuição de uma situação favorável, reconhecida ou
protegida pelo Direito.
O nível axiológico do dano pode advir de uma de duas situações:
• Ou a de existir um bem atribuído, em termos permissivos, a uma pessoa, isto é,
um direito subjetivo;
• Ou a de vingar, simplesmente, uma vantagem garantida pelo Direito, mas que
ou por não corporizar um bem, ou por não assumir a forma de uma permissão
específica, surge, simplesmente, como interesse protegido.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 20
Normalmente, o dano jurídico vem aferido à lesão de interesses juridicamente tutelados
pelo Direito ou, se se quiser, à perturbação de bens juridicamente protegidos.
No fundo, o dano em sentido jurídico deve ser aferido à chamada ilicitude objetiva, isto
é, às soluções preconizadas pelo Direito para o ordenamento, desde que tomadas em abstrato
e consideradas independentemente da vicissitude da violação voluntária.
A noção que, de dano, defende MC, encontra apoio direto no próprio art.º 483º/1, ou
seja, a violação d’ “… o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger
interesses alheios…”.
Apurada a noção jurídica de dano, distinguem-se, nele, dois prismas, que terão, depois,
aplicações várias: o dano real e o dano cálculo. O dano real é o prejuízo correspondente às
efetivas vantagens, materiais ou espirituais, que foram desviadas do seu destinatário jurídico. O
dano cálculo é a expressão monetária do dano real.
1.4.1. Danos patrimoniais e danos morais
Um dano é patrimonial quando a situação vantajosa prejudicada tenha natureza
económica. Quando assuma apenas natureza espiritual, o dano diz-se não patrimonial ou moral.
O dano moral reporta-se a vantagens que o Direito não admita que possam ser trocadas por
dinheiro, embora sejam compensáveis, naturalmente, em sede de responsabilidade civil.
Esta distinção opera, em primeira linha, com referência à natureza da vantagem afetada
e não de acordo com o tipo de direito ou de norma, lesado pela ocorrência danosa. De tal forma
que, da violação de direitos patrimoniais podem advir danos morais, sendo, da mesma forma,
possível, a ocorrência de danos patrimoniais, mercê de atentados a direitos de personalidade.
A existência de danos morais, para efeitos de responsabilidade civil, levantou uma série
de dúvidas na doutrina, devido à contradição entre a natureza não patrimonial dos danos em
causa e a essência necessariamente patrimonial da obrigação de indemnizar.
Assim, contraditando a possibilidade de, para efeitos de responsabilidade civil, imputar
os danos morais, tem-se dito, nomeadamente:
• Que seria impossível obter, do dano moral, um dano de cálculo, condição
necessária para o funcionamento da responsabilidade civil;
• Que seria atentatório à própria essência dos valores morais admitir a
possibilidade da sua compensação através da atribuição de direitos pecuniários.
Responde-se que a indemnização por danos morais não tinha, forçosamente, de ser
pecuniária, o juiz poderia determinar uma reparação também moral. Por outro lado, a atribuição
de somas pecuniárias à vítima moral seria ainda possível, a título de pena civil, torneando-se,
assim, o incómodo, de lhe chamar indemnização.
A tendência atual, nos diversos ordenamentos vai, inequivocamente, no sentido de
admitir o dano moral como dano próprio sensu.
Para tanto, constata-se que a responsabilidade civil não tem exclusiva função
reconstitutiva, podendo-se contentar com simples papel compensatório. Assim sendo, torna-se
fácil defender-se que, se por definição o dano moral não é redutível a dinheiro, ele é, não
obstante, compensável patrimonialmente. Não se trata de uma compensação perfeita, contudo,
ninguém deve pedir do instituto da responsabilidade civil mais do que ele pode, proporcional.
Não pode, de qualquer forma, negar-se que a cominação de uma obrigação de
indemnizar danos morais representa sempre um sofrimento para o obrigado, nessa medida, a
indemnização por danos morais reveste uma certa injunção punitiva, à semelhança de qualquer
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 21
indemnização, que cumpre aplaudir. Mas a sua natureza primeira, não é a de pena, mas a de
verdadeira indemnização, efetivamente:
• Não faria sentido que um particular beneficiasse diretamente de uma pena
aplicada a outrem, se fosse esse o caso, o montante da indemnização deveria
reverter para o Estado, a título de multa ou similar;
• A indemnização por dano moral é ditada, sem primeira linha, pela extensão
deste, só acessoriamente pode ser chamada a intervir a culpa ou a perigosidade
do agente, como deveria suceder se de pena se tratasse.
O art.º 496º/1 acolhe a ideia de dano moral desde que “… pela sua gravidade, mereçam
a tutela do direito”.
O dano não patrimonial é qualquer um que tenha essas características, tal como resulta
da consciência socialmente dominante, trata-se de dano autónomo.
1.4.2. A morte como dano
Entre os danos morais que têm suscitado dúvidas, coloca-se a morte.
A primeira questão que se coloca é a de saber se a morte de uma pessoa deve ser
considerada como um dano. A vida representa uma vantagem, um bem. Fica claro que, extinta
a escravatura, o bem vida não cabe a mais ninguém. E, portanto, pelo dano morte, só o próprio
pode ser indemnizado embora a indemnização passe aos sucessores do falecido. Os familiares
serão indemnizados pelo desgosto sofrido com a morte do ente querido, mas não pela supressão
de um direito que não era deles.
Pela natureza intrinsecamente social do homem, a vida não é apenas um bem pessoal
de cada um, mas beneficia também todos os elementos da comunidade, primeiramente os mais
próximos. A sua supressão causa dor moral a todos. Nessa dimensão social, o bem vida é,
também, tutelado, isto é, pode originar compensações pelos desgostos que a sua supressão
acarreta.
A segunda questão resulta da complexidade dos eventos que provocam a supressão do
bem vida. Surge o dano morte com conotações pessoais e patrimoniais, supressão do bem
máximo, a vida, de natureza não patrimonial e que atinge quer o morto quer as pessoas que o
rodeiam e prejuízos patrimoniais que sempre acompanham este evento, nomeadamente a
eliminação de uma força de trabalho, de que podiam depender mais ou menos pessoas.
Todos estes prejuízos devem ser considerados danos.
A terceira questão, que tem dificultado especialmente a construção desta matéria,
deriva da natureza máxima do dano causado pela morte de uma pessoa. Com esse dano, é
suprimido o próprio centro de imputação de normas, a personalidade (68º/1), resultando que o
morto não poderá ver ressarcidos os prejuízos por ele sofridos. Isso não impede o
funcionamento dos esquemas de imputação de danos, art.º 2024º, as indemnizações que ao
morto devam assistir, passam aos seus sucessores.
A morte de uma pessoa constitui um dano, uma vez que a vida é um bem juridicamente
tutelado através do direito à vida. Trata-se de um dano com aspetos morais e patrimoniais, além
disso, é um dano infligido ao morto e, reflexamente, a certos elementos que o rodeiam, nos
aludidos aspetos morais e patrimoniais. Finalmente, o ressarcimento de que beneficie a vítima
transmite-se, pela morte, aos seus sucessores.
O art.º 495º trata da imputação por danos patrimoniais provocados nas pessoas que
rodeavam o morto. Verifica-se que estão cobertos os danos derivados das tentativas de salvar
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 22
o morto, do funeral e as demais (nº1) e que recaiam sobre os intervenientes (nº2). Estão, ainda,
cobertos os danos provocados nas pessoas que dependiam economicamente do falecido (nº3).
O art.º 496º versa os danos patrimoniais causados, também, nas pessoas mais próximas
do morto. Repare-se que a morte de uma pessoa que provocasse, efetivamente, danos morais
complexos nas pessoas que a rodeavam, levanta delicados problemas atinentes a dois pontos:
• Quem sofre os danos;
• Como calcular esses danos.
Em rigor, a morte de uma pessoa pode causar desgosto a um número indeterminado de
pessoas, havendo então uma necessidade de restringir para efeitos de Direito. A tal delimitação
procede o art.º 496º/2, que refere, em conjunto, o cônjuge não separado, os filhos e outros
descendentes e, na falta deles, os pais e outros descendentes, surgindo, finalmente, os irmãos
ou sobrinhos que os representem.
O art.º 496º/2 corresponde, visceralmente, a toda uma conceção restritiva, relativa aos
danos morais. Admite-se uma prudente interpretação extensiva, não devendo apenas
considerar o elenco taxativo. O Direito civil não é um jogo burocrático de normas e de remissões,
lida com valores profundos, devendo mostrar-se à altura de o fazer.
O cálculo de danos, em tal condição, é extremamente difícil.
O nº4 do mesmo artigo, vem dar indicações ao juiz, para esse cálculo, que tenderá a ser
fortemente variável, consoante as circunstâncias. Assim, além de se ter em conta a fórmula
dolosa ou negligente da imputação, por remissão do art.º 494º, manda a lei atender aos danos
não patrimoniais sofridos pela vítima e aos sofridos pelos beneficiários acima referidos.
Aqui está, segundo MC, em causa todos os danos morais que emergem da morte de uma
pessoa que não diretamente a morte. Esta constitui a base da indemnização para determinação
dos confins desta é que se deve atender ao tipo de morte. Não é indiferente, para avaliar o
sofrimento dos sobreviventes, o padecimento da vítima que todos tiveram conhecimentos. Ou
seja, para computar os danos sofridos pelas pessoas referidas no art.º 496º/2, há que computar
não só o sofrimento delas, mas o próprio sofrimento do morto.
Nos termos gerais do fenómeno sucessório, as indemnizações a que tais danos deem
lugar transmitem-se aos sucessores do morto que podem coincidir ou não, com as pessoas
referidas no nº2 do art.º 496º. Quando haja coincidência, essas pessoas acumularão
indemnizações, diretamente, pelos danos por elas sofridos e a título de sucessão, pelos danos
suportados, pelos danos suportados pelo morto.
Entre os danos sentidos pelo morto que se transmitem aos sucessores, na ótica da
indemnização, compreende-se a própria morte?
Se a morte dá lugar a um dano imputável face à própria vítima, em que termos de
originar responsabilidade civil, é evidente que o direito à indemnização se transmite aos
sucessores. Duvida-se, no entanto, da existência de tal dano. Pois:
• A morte sobrevém com a extinção da personalidade da vítima,
consequentemente, esta já não seria pessoa em termos de poder sofrer o dano
morte;
• O art.º 496º/2, ao determinar os beneficiários da indemnização por morte,
excluiria quaisquer outros, por via sucessória.
Quanto ao último argumento, não se trata de saber se o artigo exclui a indemnização,
por via sucessória de quaisquer beneficiários à face das regras gerais, mas se exclui a própria
vítima e tal indemnização.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 23
No que diz respeito ao primeiro argumento, a responsabilidade emerge da imputação
de um dano, sendo a indemnização o produto da valoração jurídica dessa imputação. Existindo
dano e imputação, e esses verificam-se aqui, há responsabilidade, de nada interessando a
existência de um lesado, desde que este tenha sofrido o dano em causa. Basta o reconhecimento
do direito à vida como bem pessoal para existir tal lesão.
Conclui-se que a morte de uma pessoa é, para esta, um dano que pode dar lugar a
imputação.
Efetivamente, o art.º 496º/2, visa, apenas, delimitar os beneficiários, por direito próprio,
de determinadas indemnizações por morte de pessoa próxima. É, contudo, um mapa rígido, que
escapa, inclusive, à própria vontade do morto, o qual, por testamento, poderá querer indicar
beneficiário da indemnização pela sua morte. A consagração de uma indemnização ao próprio
morto permite reforçar o dispositivo do art.º 496º/2, tornando-o mais maleável e permitindo à
vítima beneficiar a quem entender.
O Direito Civil que tem como fulcro fundamental a pessoa humana individualmente
considerada não pode deixar de sancionar o dano morte.
1.4.3. Danos emergentes e lucros cessantes
O dano emergente é o que resulta da frustração de uma vantagem já existente. O lucro
cessante advém da não concretização de uma vantagem, que de outra forma, operaria. Tal
definição encontra-se presente no art.º 564º/1.
Gomes da Silva, em atenção à sua estrutura característica, isola quatro tipos de danos:
• A perda ou deterioração de um bem existente no património do ofendido;
• Os gastos extraordinários que o ofendido é obrigado a fazer por força da lesão;
• O desaproveitamento de despesas já feitas;
• Os lucros cessantes.
Parece, no entanto, possível, reconduzir os gastos extraordinários e o
desaproveitamento de despesas aos danos emergentes, quer num caso quer no outro verifica-
se a frustração de vantagens já existentes, sem contrapartida e por força da lesão.
1.4.4. A natureza do dano
Trata-se agora de pesquisar até ao âmago a natureza jurídica do dano, tal como
entendemos. Fundamentalmente, contrapõem-se duas orientações:
• A do dano abstrato: o dano consiste na diferença de valores existentes no
património, antes ou depois da lesão ou, se se quiser, na diferença entre o valor
real do património com a lesão e o seu valor hipotético se não tivesse ocorrido
uma lesão;
• A do dano concreto: o dano traduz-se na lesão de um determinado bem.
Insatisfeito, o Prof. Castro Mendes propôs a seguinte sistematização para as teorias
explicativas da natureza do dano:
• Subjetivas;
• Objetivas;
• Intermédias.
Segundo as subjetivas, o dano teria por objeto a pessoa ou algo que se define em função
dela, explicita-o enquanto lesão a um interesse (subjetivo).
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 24
Para as teorias objetivas, o dano implicaria a perda de valor de um património ou a lesão
de uma coisa ou de um interesse (objetivo).
As teses intermédias são de três tipos:
1. As que misturam elementos objetivos e subjetivos, “por carência de análise”;
2. As que constroem dois conceitos de dano, um objetivo e outro subjetivo,
“inutilmente”;
3. As que apresentam o objeto do dano como algo intermédio entre a pessoa e o bem.
1.5. O nexo de causalidade
Cabe ainda examinar o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Entre a violação
ilícita e culposa de um direito subjetivo ou de uma norma de proteção e o dano ocorrido, deve
haver uma certa relação.
Em primeiro lugar, a teoria da equivalência das condições ou da conditio sine qua non,
pela qual o prejuízo deveria ser considerado como provocado por quaisquer eventos cuja
verificação tivesse acarretado a inexistência de dano. O nexo causal dar-se-ia a favor de qualquer
evento que fosse condição necessária do dano.
Segue-se a tese da última condição. Tentando fazer face à multiplicação incontrolável
de nexos causais que emerge da conditio sine qua non, vem pretender-se que o dano deve ser
atribuído à última condição necessária. No fundo, esta surgiria como autêntica causa do evento,
sendo as outras tão só condições.
Esta orientação não tem sido bem acolhida. Efetivamente, pode surgir como última
condição uma causa que, em termos valorativos, nada ou pouco tenha a ver com o dano.
A norma tem adotado a doutrina da causa adequada. Esta orientação parte da ideia de
conditio sine qua non, o nexo causal de determinado dano estabelece-se, naturalmente, sempre
em relação a um evento que, a não ter ocorrido, leva à inexistência de dano. Simplesmente,
como existirão, fatalmente, vários eventos nessa situação, trata-se de determinar qual deles,
em teros de normalidade social, é adequado a produzir o dano.
A causa adequada pode ser qualquer uma, consoante as circunstâncias. E se são
circunstâncias que definem a adequação das circunstâncias que definem a própria causa.
1.5.1. A discussão quanto à causalidade adequada
É necessário não só que o facto tenha sido, em concreto, condição “sine qua non” do
dano, mas também que constitua, em abstrato, segundo o curso normal das coisas, causa
adequada à sua produção.
Veremos que a fórmula da “adequação” já não é bitola de coisa nenhuma, trata-se,
apenas, de um espaço que iremos preenchendo com base no senso comum e em juízos de tipo
ético, até que a Ciência do Direito seja capaz de explicar o fenómeno.
Além disso, a adequação deparava-se com dificuldades acrescidas, perante normas de
proteção e tutelas indiretas, pe o atraso de um comboio e os danos que tal atraso provoca aos
seus passageiros.
A norma de proteção, ao contrário do direito subjetivo absoluto, apenas confere uma
tutela limitada. Saber até onde vai essa tutela é, antes demais, uma questão de interpretação
da regra em causa, não uma questão de adequação abstrata. A adequação não comporta uma
bitola material abstrata, de resto inexistente.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 25
1.5.2. O escopo da norma violada, a causalidade normativa
Coube à doutrina firmar uma alternativa clara à fórmula da adequação. A alternativa foi
encontrada com base na teoria do escopo da norma jurídica violada. A causalidade
juridicamente relevante verifica-se em relação aos danos causados pelo facto, em termos de
conditio sine qua non, nos bens tutelados pela norma jurídica violada.
1.5.3. A jurisprudência portuguesa
A fórmula da adequação faz prevalecer uma causalidade comum, assente no bom senso
e na experiência. Os casos de fronteira ficavam, contudo, desamparados.
O art.º 563º não impõe a teoria da causalidade adequada. Ele tem duas finalidades
objetivas:
• Afasta, como princípio, a causalidade virtual, como fonte de imputação, não se
responde civilmente, por condutas que, embora ilícitas e culposas, não
chegaram a provocar danos;
• Arreda, como regra, a necessidade da absoluta confirmação do decurso causal,
não há que provar tal decurso, mas, simplesmente, a probabilidade razoável da
sua existência.
Temos, pois, uma dupla diretriz de equilíbrio, protege-se o responsável, evitando a
causalidade virtual, particularmente na vertente positiva, e tutela-se o lesado, facultando a
indemnização, perante meras probabilidades fáticas.
Numa primeira instância, o Supremo tratava da causalidade em termos intuitivos,
embora sempre com a possível sindicância normativa. Num segundo grupo, o Supremo passa,
sob clara pressão doutrinária, a apelar à causalidade adequada, supondo mesmo, por vezes, o
que não é, reconhecidamente, o caso, que ela tem consagração legal. Finalmente, o Supremo,
embora referindo, ainda, uma “causalidade adequada”, passa a ponderar os problemas em
termos normativos.
Esta viragem do Supremo para um entendimento normativo da causalidade é reforçada
pela passagem da causalidade de “questão de facto” a “questão de direito”.
1.5.4. Posição adotada
O art.º 563º, a propósito da obrigação de indemnização dispõe “A obrigação de
indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se
não fosse a lesão”.
No domínio da causalidade, podemos distinguir dois planos, para efeitos de análise:
• A causalidade enquanto pressuposto de responsabilidade civil;
• A causalidade como bitola de indemnização.
No primeiro plano, opera, como filtro negativo, a conditio sine qua non. Se o facto ilícito
foi indiferente para a produção do dano, não á como imputá-lo ao agente. Pela positiva, haverá
que formular um juízo humano de implicação. Dadas as condições existentes, era compaginável,
para a pessoa normal, colocada na situação de agente, que a conduta deste teria como resultado
razoavelmente provável ou, simplesmente, possível, a produção do dano. Temos aqui uma ideia
imperfeita de adequação.
A causalidade pode não ser “socialmente adequada”, mas ter sido voluntariamente
montada para se consegui, ainda que por via anómala, o resultado.
O elemento decisivo para fixar a causalidade será o escopo da norma violada, um avanço
que não mais se pode perder.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 26
Em síntese, podemos afirmar que a causalidade, enquanto pressuposto de
responsabilidade civil, se vai desenvolver em quatro tempos:
• Conditio sine qua non;
• Adequada, em termos de normalidade social;
• Provocada pelo agente, para obter o seu fim;
• Consoante com os valores tutelados pela norma violada.
Situações aquilianas em especial
1. Ofensa ao crédito e do bom nome
O CC tendo fixado no art.º 483º/1 a cláusula geral de responsabilidade aquiliana, passa a
tratar de situações especiais. E a primeira dessas situações, logo no art.º 484º diz respeito à
“ofensa ao crédito ou do bom nome”. Este art.º diz-nos que “quem afirmar ou difundir um facto
capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome de qualquer pessoa, singular ou coletiva, responde
pelos danos causados”.
1.1. O facto capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome
À partida, o “facto” é, aqui, uma afirmação ou insinuação, feita pela palavra (escrita ou oral),
pela imagem ou pelo som, que impliquem ou possam implicar desprimor para o visado. Isto
resultará ou na diminuição da consideração social ou na que ele tenha por si mesmo. A pessoa
média normal sentir-se-ia bem consigo próprio e com os outros se fosse vítima da afirmação ou
da insinuação em causa?
Com base na jurisprudência apontamos:
• Difamações e calúnias feitas por carta registada a uma multinacional, para tentar
retirar uma representação comercial ao ofendido;
• Cartas difamatórias dirigidas a várias pessoas, ainda que não tenham provocado
prejuízos concretos;
• Difamação feita pela comunicação social, através de factos falsos ou incorretamente
relatados;
• Divulgação pela comunicação social de factos verdadeiros, mas sem utilidade social,
revelados apenas para denegrir o visado;
• Afirmações ou imputação que sejam imperfeitas;
• Falsos depoimentos deduzidos em juízo contra um advogado;
• Inclusão em base de dados de “maus pagadores”;
• Atentado à competência profissional ou funcional;
• Insinuações de negócio menos claros;
• Insinuações de conduta adúltera da mulher;
• Acusações concretas infundadas;
• Notícias constantes incomodativas, independentemente da questão da veracidade;
• Publicidade contextualizada de modo a associar determinada pessoa a uma prisão;
• Funcionamento inadequado de um aparelho de deteção de notas falsificadas, de
onde resultou grande enxovalho para uma pessoa inocente;
• Asserções desconsiderantes para um jornalista.
Pergunta-se se o facto atentatório ao crédito ou ao bom nome, capaz de desencadear a
responsabilidade, deve ser falso ou se pode ser verdadeiro. A lei não exige, como pressuposto
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 27
do funcionamento do art.º 484º, a falsidade de quaisquer afirmações, limita-se a remeter, ainda
que implicitamente, para os direitos de personalidade.
Tudo o que seja amputar a verdade, transmiti-la a sugerir algo diverso do que dela
resulte, redigi-la de modo a provocar valorações tendenciosas, levantar dúvidas ou reticências
ou fabricar notícias por qualquer modo, não pode reivindicar a veracidade. Assim sendo, será
ilícito desde que atinja a honra de alguém. Aliás, é sabido que os atentados mais eficazes
seguem, justamente, a via ínvia da insinuação, não são frontais.
A afirmação totalmente verdadeira pode atentar contra a honra das pessoas. Nem tudo
o que sucede, existe ou se faz tem de ser revelado.
Temos, por nós, que a afirmação falsa, tendenciosa ou incompleta é particularmente
indicada para atingir a honra. Todavia, a afirmação verdadeira também poderá sê-lo.
1.2. A colisão com a liberdade de informação
A defesa do crédito e do bom nome de cada pessoa pode entrar em colisão com
prerrogativas constitucionalmente garantidas e, designadamente, com a liberdade de
informação.
À partida, temos de ter presente que o direito à honra é um direito de personalidade. Marca
um circulo em que interesse da pessoa beneficiária prevalece sobre quaisquer pretensos valores
superiores, de outro modo, nem a figura dos direitos de personalidade faria sentido.
Quando se refere a liberdade de informação, há que reportá-la a algo de socialmente útil ou
relevante. Logo, há que fazer uma distinção entre liberdade de informação e livre iniciativa
económica. A livre iniciativa económica, mesmo aplicada no campo da comunicação social, é
digna e merece proteção, todavia, é evidente que ela nunca poderá prevalecer sobre o direito à
honra, seja de quem for. Já a verdadeira liberdade de informação poderá ir mais longe, mas
sempre com limites.
1.3. As indemnizações
Em termos de indemnização, a violação do direito ao credito ou ao bom nome pode
determinar danos patrimoniais e morais. Os primeiros devem ser ressarcidos, até ao montante
do prejuízo, sendo ainda computáveis danos emergentes e lucros cessantes. Os segundos
colocam um problema de danos morais, a arbitrar de acordo com art.º 496º/4, 1ª parte. A
indemnização deve ser suficientemente pesada, para exprimir a reprovação do Direito e ter
efeitos no futuro, nota que o art.º 484º não faz quaisquer restrições e reporta-se a pessoas
singulares e coletivas.
Os quantitativos são sensíveis ao facto de ser condenada uma pessoa singular, uma empresa
ou uma grande empresa. Também releva o tipo de órgão de informação usado para a ofensa.
Quanto mais eficaz, maior terá de ser a reparação.
A tutela indemnizatória prevista no art.º 484º é insuficiente. Em regra, mais importante do
que a compensação monetária é a reposição da verdade ou a reparação da ofensa feita.
2. Conselhos, recomendações ou informações
2.1. A desresponsabilização
Segundo o art.º 485º/1, ”Os simples conselhos, recomendações ou informações não
responsabilizam quem os dá, ainda que haja negligência da sua parte”.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 28
O nº2 tenta delimitar esta regra, fixando que, afinal, o dever de indemnizar existe em três
circunstâncias:
1. Quando se tenha assumido a responsabilidade pelos danos;
2. Quando havia o dever jurídico de dar conselho, recomendação ou informação e se tenha
procedido com negligência ou intenção de prejudicar;
3. Quando o procedimento do agente constitua facto punível.
Este artigo parte do postulado de desresponsabilização de quem dê conselhos,
recomendações ou informações, mesmo quando haja negligência da sua parte e sejam quais
forem as consequências.
Na opinião de MC, o Direito não pode pactuar com uma cultura de desresponsabilização e
de laxismo, em que todos falem de tudo, mesmo em circunstâncias ponderosas, enganando,
sem consequências, o seu semelhante.
Além da política legislativa, o art.º 485º/1, tal como resulta da sua letra, e fortemente
contrário à lógica do sistema. Basta ver que ele legitima quaisquer danos, pessoais ou
patrimoniais, desde que levados a cabo com negligência e através de conselhos, recomendações
ou informações. Hoje, a maioria dos danos advém, justamente, de (más) informações. Procede,
ainda, a uma distinção entre dolo e negligência que não tem lugar na nossa tradição jurídico-
civil.
2.2. A interpretação restritiva
Tudo se coaduna para que, do art.º 485º/1, se deva fazer uma interpretação restritiva.
A interpretação restritiva surge com Pessoa Jorge, sendo requerida pela Ciência do Direito
opera, desde logo, a partir do alargamento das exceções do nº2.
O art.º 485º/1 não desresponsabiliza (todos) os conselhos, recomendações ou informações.
Ele reporta-se apenas, aos simples conselhos, recomendações e informações. Com isto quer
distinguir-se:
• Indicações circunstanciais, sem consistência aparente e, nessa medida, insuscetíveis
de criar uma situação de confiança na pessoa normal;
• Verdadeiros conselhos, recomendações ou informações, nas quais quaisquer
pessoas acreditam e que são suscetíveis de determinar, da parte destas, efetivas
atuações.
Este art.º leva, pois, a distinguir situações “simples”, que não ocasionem confiança
legítima nem induzam condutas, de outras, mais poderosas, em que o informado se vai
autodeterminar pelo que ouviu. Havendo apenas uma desresponsabilização para o primeiro
caso.
“Responsabilizar”, apenas pelo resultado normalmente ligado à informação prestada.
Mas se o iter desencadeado puder esconder perigos ou sanos, quer o “aconselhante” conheça
(dolo) ou deva conhecer (negligência), já haverá responsabilidade.
A negligência referida na letra do artigo deverá ser leve, uma vez que a grave é
equiparada ao dolo.
Deste modo, dentro das regras da interpretação, já se consegue uma substancial
restrição do inconveniente art.º 485º/1.
2.3. A responsabilidade
O artigo 485º/2 prevê explícitas situações de responsabilidade por conselhos,
recomendações ou informações. Em suma, há três hipóteses:
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 29
• Foi assumida a responsabilidade pelos danos;
• Havia o dever jurídico de dar conselhos, recomendações ou informações;
• O procedimento constitui facto punível.
Em qualquer dos casos, deverá haver dolo ou negligência, só não se apreende porque
veio o legislador referir o óbvio e isso a propósito, apenas, no segundo termo.
No primeiro caso, temos um contrato, no qual o informante assegura o resultado.
Pressupõe-se a aceitação, nos termos gerais. A responsabilidade é obrigacional, só aparece no
485º/2 por arrastamento.
No segundo caso, estaremos perante um dos numerosos deveres de informação com
que trabalha o moderno Direito das Obrigações, deveres acessórios com ou sem prestação
principal, prestação principal de informar e deveres de informação de tipo paracontratual.
No terceiro caso, a referência à punibilidade de facto, apela às normas de proteção. As
informações falsas, erradas ou insuficientes irão provocar danos em interesses protegidos pelas
normas violadas pelo mau informador.
Tudo isto permite reter que a responsabilidade por conselhos, recomendações ou
informações, até por relacionar especificamente duas pessoas, se abriga, fundamentalmente, à
responsabilidade obrigacional.
3. A prevenção do perigo (deveres do tráfego)
Numa primeira abordagem, a tutela aquiliana contentar-se-ia com a abstenção do
agente, quem nada fizesse, não poderia integrar a previsão do art.º 483º/1.
Contudo, em certos casos, os danos poderiam sobrevir, de modo adequado e merecedor
de censura jurídica, não, apenas, de ações, mas, também, de omissões. Para tanto, seria
necessário entender que a tutela aquiliana pode implicar, para certas pessoas, a observância de
deveres destinados a prevenir perigos, ou seja, de deveres de tráfego.
Os deveres de tráfego vieram assumir um papel de prevenção do perigo e a adotar um
alargamento de proteção requerido por esse escopo. Temos três pontos ou fases de evolução:
• Passou-se dos perigos específicos de locais públicos para riscos atinentes a sítios
privados, quando seja de prever a intromissão de estranhos no local perigoso;
• Alargou-se a responsabilidade a danos negligentemente causados por terceiros,
em conexão com âmbito do garante;
• Chegando a cobrir perigos provocados pela própria atuação dolosa de terceiros.
Eles surgem quando alguém crie ou controle uma fonte de perigo, cabem-lhe, então, as
medidas necessárias para prevenir ou evitar os danos.
A matéria dá lugar a extensas seriações de ocorrências relevantes. Podendo elencar:
• A criação do perigo;
• A responsabilidade pelo espaço;
• A abertura do tráfego;
• A assunção de uma tarefa;
• A introdução de bens no tráfego;
• A responsabilidade do Estado;
• A responsabilidade pelo governo da casa.
O conteúdo dos deveres de tráfego é multifacetado, dependendo do caso concreto.
Assim, temos como exemplos:
• Deveres de aviso e de proibição de acesso ao local do perigo;
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 30
• Deveres de instrução das pessoas sujeitas à fonte do perigo;
• Deveres de controlo do perigo, tomando medidas físicas para a sua confinação;
• Deveres de escolha criteriosa de colaboradores e de organização;
• Deveres de formação profissional;
• Deveres de avisar e pedir auxílio, em tempo útil, às autoridades competentes;
• Deveres de assistência e de cuidado reportados a pessoas.
3.1. Pessoas obrigadas à vigilância de outrem
Cabe agora analisar os deveres de prevenção de perigo. Pela ordem fixada pelo Código,
em primeiro lugar, o art.º 491º, relativo à responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância
de outrem. Diz-nos o artigo que “as pessoas que, por lei ou negócio jurídico, forem obrigadas a
vigiar outras, por virtude da incapacidade natural destas, são responsáveis pelos danos que elas
causem a terceiro, salvo se mostrarem que cumpriram o seu dever de vigilância ou que os danos
se teriam produzido ainda que o tivessem cumprido.”
O art.º 491º prevê:
• Pessoas obrigadas, por lei ou por negócio jurídico, a vigiar outras, por virtude da
incapacidade natural destas;
• Danos que elas (incapazes) causem a terceiro.
Temos, efetivamente, uma relação jurídica, de base legal ou especial, entre o vigilante
e o vigiado ou entre o vigilante e os promissários e o vigiado, quando a situação se construa
como um contrato a favor de terceiro. Mas a tutela legal não se destina, diretamente, a acautelar
essa relação, antes protege os terceiros que, por via da atuação do incapaz, venham a sofrer
danos. Tenha-se presente que, por via do art.º 488º/1, o imputável não é responsável, salvo o
especial circunstancialismo do art.º 489º e com os limites aí prescritos.
O vigilante pode evitar a responsabilidade:
• Ou provando que cumpriu o seu dever de vigilância;
• Ou demonstrando que os danos de qualquer maneira se teriam dado.
Não basta, para afastar a responsabilidade, provar a justa causa de incumprimento ou,
até, a desculpabilidade, apenas o cumprimento em si, é relevante, sendo que, perante os danos,
se presume que ele não foi levado a cabo, uma presunção ilidível.
3.2. Danos causados por edifícios ou outras obras
O art.º 492º, relativo aos danos causados por edifícios ou outras obras dispõe:
“1. O proprietário ou possuidor de edifício ou de outra obra que ruir, no todo ou em parte,
por vício de construção ou defeito de conservação, responde pelos danos causados, salvo se
provar que não houve culpa da sua parte ou que, mesmo com a diligência devida, se não teriam
evitado os danos.
2.A pessoa obrigada, por lei ou negócio jurídico, a conservar o edifício ou obra responde,
em lugar do proprietário ou possuidor, quando os danos forem devidos exclusivamente a defeito
de conservação.”
Este artigo tem especial utilidade, perante o envelhecimento das nossas cidades. A sua
aplicabilidade, mercê designadamente da paralisação das obras, por força do regime urbanístico
do arrendamento, levanta dúvidas. Os requisitos são os seguintes:
• Um proprietário ou possuidor: ficam afastados detentores ou, em geral,
pessoas em cujos poderes não incluam os de fazer obras de manutenção;
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 31
• Cujo edifício ou obra ruir, no todo ou em parte: figura-se uma súbita
modificação da coisa, que tenha por efeito o deixar jogar a lei da gravidade;
• Por vício de construção ou defeito de conservação: estão em causa vícios ou
causas atinentes ao edifício ou à obra em causa, por oposição a causas
extrínsecas.
Perante isso, o proprietário ou possuidor implicados respondem pelos danos causados,
mas com duas ressalvas:
• Ou de ele provar que não houve culpa da sua parte;
• Ou que, mesmo com a diligência devida, não se teriam evitado os danos.
A culpa é um juízo de valor formulado pelo ordenamento, que não pode existir se não
tiver ocorrido prévia violação de normas, isto é, a ilicitude. Provar que não houve culpa, pode
querer dizer uma de duas coisas:
• Ou provar que não houve incumprimento de deveres aplicáveis, sendo, por aí,
inviável o juízo de culpa;
• Ou que, apesar desse incumprimento, não era exigível, ao visado, outra
conduta, verificar-se-ia uma causa de excusa.
O elemento substancial que dá corpo ao artigo 492º é uma clara obrigação de prevenir
o perigo dos desmoronamentos, seja evitando vícios de construção, através de uma adequada
observância das regras da arte, seja procedendo à conservação que se mostre necessária.
Os tribunais, relativamente à causa de excusa, entendem que é abuso de direito exigir
aos senhorios proprietários a execução de obras a que estejam adstritos quando na presença de
rendas miseráveis. Logo, não se lhes podem censurar os danos advenientes de ruína.
O final do art.º 492º/1 compreende uma hipótese de relevância negativa da causa
virtual, o edifício ruiu por vício ou por falta de manutenção, todavia, verifica-se que os danos
assim ocasionados adviriam, igualmente, de uma outra causa, que não chega a manifestar-se,
com isso se evitando a responsabilidade.
3.3. Danos causados por coisas ou animais
Pela ordem do Código, temos o art.º 493º, relativo a danos causados por coisas, animais
ou atividades, interessa, agora, o nº1 que diz que “quem tiver em seu poder coisa móvel ou
imóvel, com o dever de a vigiar, e bem assim quem tiver assumido o encargo da vigilância de
quaisquer animais, responde pelos danos que a coisa ou os animais causarem, salvo se provar
que houve da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não houvesse
culpa sua”.
No tocante a animais, o preceito base é o do art.º 502º, o dono deles ou qualquer outra
pessoa que os utilize no próprio interesse, responde pelos danos que eles causarem, desde que
resultem do perigo especial que envolva a sua utilização. Trata-se de uma responsabilidade
objetiva, que não pode ser afastada.
O art.º 493º/1 ocupa-se de algo diferente, prevê:
• Alguém que tenha em seu poder coisa móvel ou imóvel com dever de a vigiar;
• Ou tiver assumido o encargo da vigilância de quaisquer animais.
Tal como vimos suceder a propósito do art.º 492º/1, também aqui a “presunção de
culpa” é uma presunção de ilicitude, isto é, perante os danos, postula-se ter havido
inobservância do dever de vigiar. Quanto a coisas, a não haver uma autónoma responsabilidade
civil do vigilante, este poderia ser descuidado, com prejuízo para terceiros.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 32
3.4. Danos causados por atividades perigosas
O artigo 493º/2 tem o maior interesse, por computar, subjacente, o princípio geral das
atividades perigosas, dispondo “quem causar danos a outrem no exercício de uma atividade,
perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-
los, exceto se mostrar que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o
fim de os prevenir”.
Havendo uma atividade perigosa, a pessoa que dela se sirva ou que a desencadeia tem
deveres de prevenção e de cuidado, a seu cargo, os deveres de tráfego. Tais deveres têm o
conteúdo de, nas condições existentes e de acordo com as boas técnicas aplicáveis, prevenirem
danos, pessoais ou materiais.
Quando a atividade seja perigosa e dela decorra danos, é ao beneficiário que cumpre
provar o efetivo cumprimento de tais deveres, tal é o concreto sentido que, aqui, assume a
presunção de culpa.
3.5. Os deveres de tráfego
Na base, temos uma situação potencialmente danosa para os membros da comunidade
jurídica e designadamente:
• Pessoas inimputáveis e, como tal, duplamente perigosa, por poderem
apresentar condutas irracionais e, como tal imprevisível e agressivas e por não
responderem, elas próprias e em princípio, pelos danos;
• Edifícios ou outras obras, que podem sofrer de vícios de construção ou de
defeitos de conservação, não aparentes e, como tal, suscetíveis de atingir
terceiros;
• Pessoas ou animais que estejam sob vigia, desde logo o estarem sob vigilância
postula a eventualidade do perigo, de seguida, fica a segurança de terceiros
dependente do vigilante;
• Atividades perigosas, por sua natureza ou pela natureza dos meios utilizados.
Importa ressalvar que o intuito dos deveres de tráfego é a proteção de terceiros e não
das partes.
Os deveres de tráfego têm natureza aquiliana, são puramente defensivos, visando evitar
danos, não têm nem sujeitos nem conteúdo pré-determinado, o seu incumprimento só releva
havendo danos.
A responsabilidade pelo risco
A responsabilidade pelo risco, também dita responsabilidade objetiva, imputação
objetiva ou imputação sem culpa, é a situação na qual uma pessoa, o imputado ou respondente,
fica adstrita a ressarcir outra, por determinado dano, independentemente de, ilicitamente e
com culpa, o ter originado. Prescinde da culpa quer como elemento individualizador quer como
facto significativo-ideológico.
A responsabilidade pelo risco desenvolveu-se como um reflexo da imputação delitual,
certas atividades perigosas deveriam, havendo danos, dar azo a deveres de indemnizar.
A imputação objetiva é, muitas vezes, dobrada pelo seguro de responsabilidade civil. Por
vezes, é mesmo obrigatória a conclusão dos contratos de seguro, assim sucede relativamente à
responsabilidade por acidentes de trabalho ou por acidentes de automóveis. Através da técnica
da responsabilidade civil, o risco de certos danos acaba por ser suportado pelo sistema.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 33
No essencial, temos:
• Um princípio geral (499º);
• A responsabilidade do comitente (500º);
• A responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas (501º);
• Os danos causados por animais (502º);
• Os acidentes rodoviários (503º a 508º);
• Os danos causados por instalações de energia elétrica ou gás (509º a 510º).
As diferenciações dogmáticas entre a responsabilidade comum, de tipo delitual e os
diversos casos de responsabilidade pelo risco são tidas em conta pelo art.º 499º, “são extensivas
aos casos de responsabilidade pelo risco, na parte aplicável e na falta de preceitos legais em
contrário, as disposições que regulam a responsabilidade por factos ilícitos”.
Temos dois filtros:
• “na parte aplicável”: não operam as regras atinentes ao facto, à imputabilidade,
à ilicitude, à culpa e ao próprio nexo de causalidade, o “facto risco” terá de ser
reconstruído, caso a caso, outro tanto sucedendo com a causalidade;
• “na falta de preceitos legais em contrário”: por “preceitos legais” deve
entender-se, em geral, o Direito especialmente aplicável, envolvendo normas,
princípios e interconexões que entre eles se estabeleçam.
1. A responsabilidade do comitente
Seguindo a ordem o Código, a responsabilidade do comitente é a primeira hipótese
prevista da responsabilidade pelo risco (500º/1) pelo que nos diz “aquele que encarrega outrem
de qualquer comissão responde, independentemente de culpa, pelos danos que o comissário
causar, desde que sobre este recaia também a obrigação de indemnizar”.
1.1. Os pressupostos
1.1.1. A comissão
O primeiro pressuposto inserido no artigo 500º/1, para a responsabilidade do
comitente, é a situação de alguém encarregar outrem de uma comissão ou, se se quiser, o ato
e o efeito de comitir. Podemos distinguir os elementos seguintes:
• A presença de liberdade de escolha do comitente;
• A incumbência de uma comissão a outrem;
• A aceitação dessa incumbência, pelo escolhido que, assim, se torna comissário
ou comitido;
• A existência de uma relação, daí resultante;
• A atuação do comissário, no âmbito da comissão, por conta do comitente.
A liberdade de escolha do comitente é o ponto de partida para a aplicação desta figura.
Na sua falta haverá uma relação legal ou uma gestão de negócios, consoante a relação que
derive da lei ou da iniciativa do próprio agente, verificados os competentes pressupostos.
O comitente deverá também ter incumbido o eleito de uma determinada atuação ou
comissão. Podendo esta refletir-se num ato isolado ou num desempenho continuado, de
natureza jurídica, material ou mista, gratuito ou oneroso, manual ou intelectual. A incumbência
pode ou não ser acompanhada da concessão de poderes de representação.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 34
A incumbência pode derivar de um contrato, entre ambos concluído, de um ato
unilateral operado no âmbito de uma relação previamente constituída ou de uma pura indicação
de facto, que não se deixe validamente reconduzir a um figurino jurídico.
A incumbência deve ser aceite. Se assim não for, o comissário irá agir como terceiro
estranho, respondendo, nos termos gerais pelas decisões que tome e ponha em prática, mas
sem com isso envolver a responsabilidade do comitente. Ao comissário será apenas exigida a
imputabilidade geral, dentro das regras do art.º 488º e com as presunções contidas no nº2 desse
preceito.
Da incumbência e de sua aceitação vai resultar uma relação entre as partes.
Num sentido puramente técnico, a subordinação ocorre, tão só, no contrato de trabalho
(1152º). Nos restantes casos, mesmo quando haja incumbência de praticar atos por conta do
principal, existe uma orientação de tipo geral, cabe ao incumbido a forma concreta de se
desempenhar. A comissão somente exige esta orientação de tipo geral, não uma verdadeira
direção.
A ideia da lei é simples, a comissão existe quando alguém encarregue outrem de agir
por conta do primeiro. Qualquer outra opção iria colocar o lesado perante a prova impossível
do exato tipo de relação existente entre o comitente e o comissário, permitindo todo o tipo de
exonerações de responsabilidade.
1.1.2. Danos, causalidade e imputação ao comissário
Havendo comissão, o artigo 500º/1 depende, ainda, dos pressupostos seguintes:
• A ocorrência de danos (danos);
• Causados pelo comissário (causalidade);
• Desde que, sobre este, recaia também a obrigação de indemnizar (imputação
ao comissário).
A ocorrência de danos é o ponto de arranque de qualquer situação de responsabilidade
civil. Nele estão incluídos todos os tipos de danos, incluindo os morais. Todavia, só serão de
relevar os danos que ocorram no âmbito da comissão em jogo.
Os danos resultantes devem ter sido causados pelo próprio comissário. A causalidade
varia em função do tipo de imputação. Sendo delitual, podemos compaginar os três parâmetros
da causalidade adequada, da causalidade efetivada pelo agente e do escopo da norma violada.
Sendo objetiva ou pelo risco, depende do modelo em causa.
A resposta definitiva à causalidade aqui relevante depende de se saber qual o tipo de
imputação requerido, relativamente ao próprio comissário.
Basta, pois, que o comissário incorra em responsabilidade, no âmbito da sua comissão
e isso quer tal suceda a título delitual, quer pelo risco.
Após o conhecimento do título de imputação, poderemos fixar a causalidade exigida.
ML entende, relativamente ao problema do título de imputação ao comissário, para
efeitos de funcionamento do art.º 500º, que basta uma culpa presumida. Mas não uma
imputação puramente objetiva, nessa altura não haveria regresso do comitente contra o
comissário, dados os termos do art.º 500º/3. Ora a responsabilidade do comitente visaria a
garantia do pagamento da indemnização ao lesado.
Em termos práticos, podemos admitir que a responsabilidade do comitente garante a
do comissário, há uma clara obrigação principal.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 35
Quando ao art.º 500º/3, se o comitente responder pelo comissário responsável pelo
risco sobre este recai também a obrigação de indemnizar, pelo que o regresso do art.º 500º/3
funciona, logo, a nossa orientação não impede o comitente de se ressarcir sobre o comissário,
mesmo que este seja imputável apenas pelo risco.
1.1.3. No exercício da função
O art.º 500º/2 faz a seguinte precisão, relativamente à responsabilidade do comitente
dizendo “a responsabilidade do comitente só existe se o facto danoso for praticado pelo
comissário, ainda que intencionalmente ou contra as instruções daquele, no exercício da função
que lhe foi confiada”.
A ideia do legislador é a de delimitar o âmbito do risco que vai repercutir no comitente.
Temos duas orientações:
• Restritiva: deverá haver um nexo funcional entre os danos e a própria função do
comissário;
• Extensiva: basta que os danos sejam causados no exercício da função e não por
causa desse exercício.
A última é a mais acertada. A lei tem uma expressa mensagem extensiva. A fórmula do
nº2 apenas visou afastar, da responsabilidade do comitente, os atos que apenas tenham um
nexo temporal ou local com a comissão.
1.2. O direito de regresso do comitente
Segundo o art.º 500º/3, 1ª parte, o comitente que satisfizer a indemnização tem o
direito de exigir do comissário o reembolso de tudo quanto haja pago. A natureza deste direito
tem duas hipóteses:
• Há sub-rogação: ao pagar a indemnização, o comitente adquiria os direitos do
lesado cotra o comissário, operando os arts.º 589º a 592º;
• Há direito de regresso: o comitente estaria a exercer um direito próprio contra
o comissário.
A sub-rogação é normal na fiança e, em geral, no cumprimento pelo garante (592º/1),
transfere, para o que pague, as garantias e outros elementos circundantes, ficando na exata
posição do primeiro devedor. O direito de regresso traduz uma posição autónoma, comum nas
obrigações subjetivamente complexas.
Na lógica do art.º 500º, a responsabilidade do comitente é uma obrigação principal. Ela
funciona de modo autónomo, com regras de configuração que não equivalem, necessariamente,
à imputação feita ao comissário. Basta ver que, a este, podem ser imputados danos diversos e,
designadamente, danos que não se inscrevam no âmbito da comissão.
O próprio artigo 500º/3 não refere a indemnização, antes “o reembolso de tudo quanto
haja pago”. Estamos, pois, num âmbito diferente, o que mais confirma a natureza própria da
responsabilidade aqui em jogo.
O art.º 500º/3 2ª parte, exceciona a hipótese de haver “também culpa” por parte do
comitente, altura em que se aplica o art.º 497º/2. O direito de regresso existe na medida das
respetivas culpas e das consequências que delas advierem, presumindo-se iguais as culpas das
pessoas responsáveis.
A lei prevê a hipótese de o dano, imputável ao comitente a título de comissão, poder
ser-lhe também imputado, diretamente, a qualquer outro título. Surgem diversas hipóteses:
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 36
• Que o dano seja imputável a ambos, comitente e comissário, a título de ilicitude
e culpa;
• Que seja imputável ao comitente, a título de culpa e ao comissário, a título de
risco;
• Que seja imputável ao comitente a título de risco, por um instituto diverso do
do art.º 500º e ao comissário, a título de ilicitude e culpa ou, até a título de
risco.
1.3. A natureza, a ilicitude imperfeita
A discussão sobre a natureza da responsabilidade do comissário deve sobrevir apenas
depois de conhecido o seu regime. Historicamente, temos as seguintes teorias:
• Teoria da culpa in eligendo: sustenta que o comitente vai ser responsabilizado
por não ter tido cuidado na escolha do comissário. Admitiam a exoneração da
responsabilidade sempre que o comitente provasse ter posto, na escolha do
comissário, todo o cuidado exigível;
• Teoria da representação: sustenta a presença de um vínculo de imputação
derivado da própria comissão. Ao agir por conta do comitente e no âmbito da
incumbência deste recebida, o comissário faria repercutir, na esfera daquele,
automaticamente, determinados efeitos, sobretudo quando estivessem em
causa terceiros;
• Teoria da garantia: o legislador pretendeu garantir a indemnização do lesado,
para tanto, além da responsabilidade do próprio agente (o comissário), fixou
ML também a do comitente. Este é devedor, mas para efeitos externos uma vez
que, no plano dos internos, ele tem o regresso contra o comissário. Uma
preocupação do legislador será, naturalmente, a de facultar uma efetiva
reparação do dano, para tanto chamando o comitente.
• Teoria do risco: exprime a essência da imputação objetiva. O legislador entende
que, tendo o comitente os cómodos de poder atingir os seus objetivos
encarregando comissários de os prosseguirem, por sua conta, é justo que
assuma os riscos envolvidos para terceiros. Ao responsabilizá-lo, o Direito
desloca para o comitente o risco que, de outro modo, caberia ao lesado, o de se
disputar com o comissário que, em regra, não tem margem económica para
pagar indemnizações.
• Teoria da ilicitude imperfeita: o legislador pretende que não haja danos
suplementares para as pessoas, por via da existência de vínculos de comissão. E
isso pode suceder pela má escolha do comissário, pelo não acompanhamento
deste, pelo relativo desinteresse que sempre suscita o trabalhar para outrem,
pela insuficiência do património do comissário, quando se trate de ressarcir
danos. Pela natureza das coisas, o comitente terá mais poder económico do que
o comissário. Tudo isto está na mão do comitente. Este pode escolher bons
comissários, dar-lhes boas missões, acompanhá-los como deve ser, motivá-los
e conferir-lhes conforto económico. O legislador, pela via da imputação,
pretende que os comitentes acatem tudo isso. Estamos perante um modo
indireto de orientar as condutas em sociedade. O seu desrespeito está na base
desta teoria.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 37
1.4. A responsabilidade das pessoas coletivas
Segundo o art.º 165º, “as pessoas coletivas respondem civilmente pelos atos ou
omissões dos seus representantes, agentes ou mandatários nos mesmos termos em que os
comitentes respondem pelos atos ou omissões dos seus comissários”.
Numa fase inicial, as pessoas coletivas eram consideradas insuscetíveis de incorrer em
responsabilidade civil. A responsabilidade civil teria de se basear sempre na culpa, ora a pessoa
coletiva não poderia ter culpa. Além disso, foi levantado um segundo obstáculo, sendo a pessoa
coletiva incapaz, ela teria sempre de se fazer representar. E os poderes de representação não
se alargariam a atos ilícitos.
O primeiro avanço consistiria em estabelecer a responsabilidade civil das pessoas
coletivas. Procedeu-se em duas fases, a da responsabilidade contratual e a da responsabilidade
aquiliana. Quanto à contratual, fácil foi demonstrar que a pessoa coletiva podia não cumprir as
suas obrigações, seria mesmo injusto ilibá-la, nesse ponto, de responsabilidade, uma vez que
isso iria provocar grave desigualdade nos meios económico-sociais.
A solução de responsabilizar as pessoas coletivas, em termos aquilianos, pelos atos dos
seus representantes e através do esquema da imputação ao comitente, não era satisfatória,
nem em termos jurídico-científicos, nem em termos práticos. Assim:
• Em termos jurídico-científicos, verifica-se que o recurso à imputação do
comitente está enfeudado à ideia de pessoa coletiva como incapaz, agiria
através de comissários ou mandatários, cujos feitos apenas mediatamente se
repercutiriam na sua esfera jurídica;
• Em termos práticos, a imputação ao comitente equivale a meter de permeio
mais uns quantos requisitos, quer isto dizer que a pessoa coletiva acabaria por,
no espaço jurídico-social, ter um tratamento diferenciado (mais favorável) do
que as pessoas singulares.
Passa-se, pois, a uma terceira fase, a pessoa coletiva responde diretamente pelos atos
ilícitos dos titulares dos seus órgãos, desde que tenham agido nessa qualidade.
Perante o teor literal do art.º 165º, a doutrina tem sido levada a pensar que, para efeitos
de responsabilidade civil aquiliana, a pessoa coletiva é um comitente sendo o seu órgão um
comissário, de modo a aplicar o art.º 500º.
A pessoa coletiva é uma pessoa. Logo, ela pode integrar, de modo direto, “aquele que
com dolo ou mera culpa”, referido no art.º 483º. A culpa, um juízo de censura, é-lhe diretamente
aplicável.
O art.º 165º não tem a ver com a responsabilidade das pessoas coletivas por atos dos
seus órgãos, antes dos seus representantes e eventualmente constituídos para determinados
efeitos, dos seus agentes e dos seus mandatários.
2. A responsabilidade do Estado e de outras entidades públicas
O art.º 501º destina-se a regular a responsabilidade do Estado pelos danos causados a
terceiros, no exercício de atividades de gestão privada.
O Direito Português da responsabilidade civil do Estado obedecia a um sistema dualista:
• Por atos de gestão privada, regia o artigo 501º, sendo competente o foro
comum;
• Por atos de gestão publica, aplicava-se o DL nº 48 051, de 21 de novembro de
1967, sendo competente o foro administrativo.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 38
Segundo este DL, os titulares dos órgãos ou os agentes culpados só respondiam, perante
o Estado, por via do regresso, pelas indemnizações que ele fosse obrigado a satisfazer, se
tivessem “procedido com diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se achavam
obrigados em razão do cargo”. O Estado só responderia solidariamente com os titulares do
órgão e os agentes administrativos responsáveis, por atuações que tivessem excedido os limites,
quando tais titulares ou agentes tivessem agido com dolo.
Na doutrina, diz-se que há gestão privada quando o Estado que no âmbito do Direito
Privado, e gestão pública, quando o faça em termos de Direito Público. Contudo, uma situação
jurídica não é por si, pública ou privada, o que levanta a problemática de determinar qual o
Tribunal competente.
Tentando uma síntese deste material, verifica-se:
• Que as condutas que envolvem violações da possa e de deveres gerais comuns
a todos os cidadãos e a ela ligados, integram a gestão privada;
• Que as atuações concretizadas em áreas nas quais não haja poderes de
autoridade são de gestão privada;
• Que os desempenhos ao abrigo de poderes de autoridade dentro de funções
específicas são de gestão pública, competindo ao foro administrativo;
• Que as declarações de ciência são de gestão privada e foro comum.
A concluir a pesquisa jurisprudencial relativa a este período, cabe ainda voltar a salientar
duas proposições sobre as quais não parecem ficar dúvidas:
• O foro competente para apreciar a questão principal é competente para
apreciar questões conexas;
• O pedido deve ser apreciado de acordo com a forma por que vem posto na
petição inicial.
Tudo visto, materialmente, a destrinça não é possível, tornava-se necessário indagar o
complexo normativo invocado pelo Estado para agir, ou melhor, para ter agido.
2.1. O regime civil
O artigo 501º, no tocante à denominada gestão civil, remete para o regime da
responsabilidade do Estado e das outras pessoas coletivas para a responsabilidade do
comitente. O preceito retoma disposto no art.º 165º, quanto à responsabilidade civil das
pessoas coletivas.
Como vimos, a construção do artigo 165º é incorreta, assenta numa deficiente conceção
da personalidade coletiva e desconhece as potencialidades da representação orgânica. Também
aqui há que, pela construção jurídico-científica, emendar a letra da lei, em nome da
superioridade do pensamento legislativo e o espírito do sistema. Assim, na denominada gestão
privada:
• O Estado responde diretamente pelos atos ilícitos e culposos dos seus
representantes. A ilicitude e a culpa são, por via do nexo de representação
orgânica, imputadas ao próprio Estado;
• O Estado responde objetivamente pelos atos dos seus representantes
voluntários, dos seus agentes e dos seus mandatários, quando os constitua, nos
termos gerais e desde que não haja representação.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 39
2.2. A Lei nº 67/2007, 31 de dezembro
A Lei nº 67/2007, 31 de dezembro aprovou um denominado “regime de
responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas”, revogando o DL
anteriormente mencionado. Visando a satisfazer a dimensão europeia, foi alterado pela Lei nº
31/2008, de 17 de julho.
O Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades
Públicas (RRCEE) substituiu a anterior “gestão pública” pela ordenação em função legislativa,
função jurisdicional e função político-legislativa. Ela aplica-se não só a pessoas coletivas de
Direito Público, seus agentes e trabalhadores, mas também às privadas e seus serventuários,
por ações ou omissões que adotem no exercício de prerrogativas de poder público.
Quanto à função administrativa, como tal se considerando as ações e omissões adotadas
no exercício de prerrogativas de poder público ou reguladas por disposições ou princípios de
Direito Administrativo, a Lei fixa:
• Uma responsabilidade exclusiva do Estado por atos ilícitos cometidos com culpa
leve pelos titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes e pelo
funcionamento anormal dos serviços;
• Uma responsabilidade solidária do Estado por atos ilícitos por eles cometidos
com dolo ou culpa grave, isto é, “diligência e zelo manifestamente inferiores
àqueles a que se encontravam obrigados em razão do cargo”, tem, depois,
direito de regresso;
• Uma responsabilidade exclusiva do Estado pelo risco, isto é, pelos danos
decorrentes de atividades, coisas ou serviços administrativos especialmente
perigosos.
Na responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional, a
Lei distingue:
• O regime geral, aplicável designadamente quando falhe um prazo razoável para
a decisão, equivale ao regime da responsabilidade por factos ilícitos cometidos
no exercício da função administrativa;
• A responsabilidade por erro judiciário. O Estado responde, quando a decisão
seja manifestamente inconstitucional, ilegal ou injustificada por erro grosseiro
na apreciação dos respetivos pressupostos de facto;
• A responsabilidade dos magistrados, apenas existe, na forma de regresso,
quando tenham agido com dolo ou culpa grave.
No domínio dos danos decorrentes do exercício da função político-legislativa, prevê a
responsabilidade do Estado e das RA, verificados os seguintes pressupostos:
• Danos anormais;
• Causados a direitos ou a interesses protegidos;
• Por atos político-legislativos desconformes com a Constituição, o Direito
Internacional, o Direito Comunitário ou ato legislativo de valor reforçado.
Admite, ainda, que a indemnização possa ser fixada equitativamente em valor inferior
ao dos danos, quando, sendo os lesados em elevado número, assim o justifiquem razões de
interesse público de excecional relevo e evidentes razões financeiras.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 40
3. Danos causados por animais
3.1. Culpa in vigilando e risco, pressuposto
No domínio dos danos causados por animais, o termo “animais” destina-se a abranger
os seres vivos não humanos que, em termos de normalidade social, como tal são considerados.
Na falta de regras especiais, aplicam-se as regras gerais, com recurso ao artigo 483º/1 e, sendo
o caso, fazendo apelo aos deveres de tráfego, pelo manuseio de material perigoso.
A lei faz uma contraposição fundamental, em termos de responsabilidade:
• Alguém tem em seu poder um animal com o encargo de vigilância (493º/1),
responde pelos danos que ele causar, salvo provando que agiu sem culpa ou que
os danos se teriam, do mesmo modo, produzido;
• Alguém utiliza no seu próprio interesse quaisquer animais (502º), responde
pelos danos que estes causarem, desde que resultem do perigo especial que
envolve a sua utilização.
No primeiro caso, há uma situação específica com presunção de culpa, mais
precisamente de culpa in vigilando. No segundo, a imputação é verdadeiramente objetiva ou
pelo risco.
Os pressupostos são distintos. A imputação pelo risco, relativa a animais, assenta em
três pontos:
• A utilização de animais por pessoa;
• No seu próprio interesse;
• Danos resultantes do perigo especial que envolva a sua utilização.
A utilização de animais pressupõe a existência, sobre eles, de um controlo material.
Pode tratar-se de um proprietário, de um locador, de um comodatário ou de um simples
possuidor, mesmo de má fé. Esse controlo deve operar no seu próprio interesse. A expressão
visa evitar a imputação quando o animal seja usado por comissário. No caso de alguém pedir de
alguém pedir a outra pessoa que lhe guarde o animal, a qual aceite, caímos no art.º 493º/1, há
dever de vigilância. Finalmente, são indemnizáveis apenas os danos resultantes de perigo
especial envolvido.
Além dos danos físicos e patrimoniais, outros relevam e são indemnizáveis.
3.2. Natureza
No domínio dos danos causados por animais, o art.º 502º consagra um esquema de
responsabilidade pelo risco. Independentemente de saber se o dono ou detentor do animal
observou os deveres de cuidado que coubessem e mesmo que se mostre que os cumpriu, ele
responde pelo risco. Fica sempre subjacente a ideia de que, se houver danos, foi porque não se
tomaram as precauções necessárias. Temos, pois, presente, a ideia de ilicitude imperfeita,
subjacente a qualquer responsabilidade pelo risco.
4. Os acidentes de viação
Acidentes de viação é a expressão consagrada para designar a ocorrência de danos com
intervenção de veículos, em regra, motorizados.
O Direito tem de intervir. A priori fixando as regras da circulação, as normas sobre as
vias rodoviárias e os dispositivos aplicáveis aos veículos autorizados a circular. E a posteriori,
estabelecendo as regras de distribuição dos danos, humanos e patrimoniais, quando ocorram
acidentes. Num primeiro momento, afigurou-se que bastariam as regras gerais da
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 41
responsabilidade aquiliana. Mais tarde, adotaram-se normas especialmente vocacionadas para
lidar com o problema. Foram, ainda, instituídos seguros obrigatórios de responsabilidade civil.
4.1. As imputações básicas
No domínio dos acidentes de viação, há que partir sempre das imputações básicas.
Assim (483º/1):
• Aquele que, usando um veículo automóvel, ilicitamente, com dolo ou
negligência, viole um direito alheio, é obrigado a indemnizar;
• O mesmo sucede se, independentemente de um direito, for violada uma norma
de proteção.
Além disso, o condutor de um veículo incorre em responsabilidade contratual, quando
o acidente que provoque redunde no incumprimento de obrigações específicas previamente
assumidas. Assim sucede quando ele tivesse obrigado a transportar pessoas ou mercadorias e
não o faça, por se ter envolvido num acidente.
As normas do Código da Estrada são normas de proteção. Se este for inobservado e, daí,
resultarem danos, cai-se na segunda previsão do art.º 483º/1. Em regra, os danos causados por
veículos atingem direitos subjetivos, pelo que a hipótese “normas de proteção” é consumida.
A ilicitude resulta clara perante os danos que traduzam a violação dos direitos
subjetivos. A prova requerida pelo artigo 487º/1 apenas exige a demonstração de factos de onde
se infira a causalidade. A lei prevê, no art.º 503º/1, uma importante presunção de culpa contra
o comissário.
4.2. A aplicação da comissão
No concreto domínio dos acidentes rodoviários, cumpre salientar a aplicação intensa, aí
feita, do instituto da responsabilidade do comitente. Com efeito, podemos distinguir, na
circulação de um veículo sob condução humana, três possíveis intervenientes:
• O proprietário ou, mais latamente, a pessoa que detenha o poder de decidir a
sua utilização;
• O condutor material do veículo;
• A pessoa por conta da qual (ou no interesse da qual) se processe a condução.
As três apontadas qualidades podem coincidir. O veículo é conduzido pelo seu dono e
no próprio interesse. Em tal eventualidade, as consequências dos danos, ilícitos e culposos que
ele possa provocar são imputáveis ao agente único.
O primeiro esquema a tato destinado é o da aplicação da comissão. Esta deriva do art.º
501º e é referido no art.º 503º/1. Opera nos termos gerais, deve haver uma comissão, com
danos imputáveis ao comissário e causados por este no exercício da sua função.
4.3. A presunção de culpa do comissário
O artigo 503º/3 formula uma presunção de culpa contra o comissário, estabelecendo
“aquele que conduzir o veículo por conta de outrem responde pelos danos que causar, salvo e
provar que não houve culpa da sua parte, se, porém, o conduzir fora do exercício das suas
funções de comissário, responde nos termos do nº1”.
Quando um veículo conduzido por um comissário se envolva num acidente, presume-se
que a culpa é dele. E sendo a responsabilidade do comissário, responde o comitente, nos termos
do art.º 500º. Infere-se ainda que conduzindo o veículo fora das suas funções de comissário,
este passa a detentor, respondendo pelo risco nos termos do art.º 503º/1.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 42
O proprietário que conduza o seu próprio automóvel sabe quanto lhe custou, quanto
custa a manutenção e quanto custa conservá-lo apresentável. Tem um grau de atenção e de
diligência elevado, já o automóvel pessoal é sentido, um pouco, com o prolongamento do
próprio corpo. O condutor de automóvel alheio, sobretudo quando o dono seja uma pessoa
coletiva, mesmo quando seja sério, torna-se desleixado. Conduz com maior aspereza,
solicitando mais o motor, os travões e a direção, descura a manutenção, que não lhe diz
respeito, sente, em suma, o veículo como algo estranho.
Verifica-se ainda que o condutor/comissário é, em regra, um profissional da condução.
Tem mais experiência e mais conhecimento, sendo-lhe exigível maior diligência. Em caso de
acidente ele saberá, melhor que um leigo envolvido na confusão, como proceder, recolhendo
elementos, acordando depoimentos e chamando logo as pessoas certas. Em suma, na estrada,
em todos são iguais, uma vez que, lado a lado, ombreiam profissionais e amadores. A presunção
de culpa contra o comissário faz, assim, sentido.
4.4. A responsabilidade pelo risco
O art.º 503º/1 fixa um caso significativo de responsabilidade pelo risco, “aquele que tiver
a direção efetiva de qualquer veículo de circulação terreste e o utilizar no seu próprio interesse,
ainda que por intermédio de comissário, responde pelos danos provenientes dos riscos próprios
do veículo, mesmo que este não se encontre em circulação”.
Temos, como requisitos:
• A direção efetiva do veículo;
• A sua utilização no próprio interesse.
A direção efetiva equivale ao controlo material do veículo, a título de posse ou de
detenção. A propriedade do veículo faz presumir a direção efetiva e o interesse na sua utilização
pelo dono.
A utilização no próprio interesse justifica-se para evitar a imputação ao comissário.
Sobre este recairá a responsabilidade por ato ilícito, depois repercutida na esfera do comitente,
mas não a responsabilidade pelo riso, que apenas a este diz respeito, na valoração legal.
A causalidade, como sempre sucede nas situações de imputação objetiva, segue canais
próprios. Não há nem adequação, nem causalidade provocada, nem escopo da norma violada.
Antes se impõe determinar o âmbito dos riscos próprios do veículo.
Podemos acrescentar que tudo quanto tenha a ver com a circulação é risco próprio do
veículo, incluindo as mais inabituais avarias. Além disso, fenómenos como a autocombustão de
um veículo armazenado ou a destravagem inexplicada de um veículo parado, são riscos próprios.
De igual modo, são riscos próprios as deficiências que possam suceder ao condutor
(adormecimento, síncope, cegueira súbita, ataque de epilepsia, decisão de suicídio, paragem
cardíaca, etc.).
Subjacente à imputação pelo risco por danos causados por veículos está a ideia da
ilicitude imperfeita. A lei dirige o risco contra quem tem a direção efetiva do veículo e, portanto,
contra a pessoa que pode prevenir danos, tomando antecipadamente todas as medidas que,
para tanto, sejam necessárias.
4.5. Os beneficiários da responsabilidade
Havendo responsabilidade pelos danos causados por veículos, seja por via delitual, seja
por via do risco, pergunta-se quem pode beneficiar das competentes indemnizações. O CC, no
art.º 504º dispõe “1. A responsabilidade pelos danos causados por veículos aproveita a terceiros,
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 43
bem como às pessoas transportadas. 2. No caso de transporte por virtude de contrato, a
responsabilidade abrange só os anos que atinjam a própria pessoa e as coisas por ela
transportadas. 3. No caso de transporte gratuito, a responsabilidade abrange apenas os danos
pessoais da pessoa transportada. 4. São nulas as cláusulas que excluam ou limitem a
responsabilidade do transportador pelos acidentes que atinjam a pessoa transportada.”
O artigo 504º, a propósito de indicar os beneficiários da responsabilidade, procedia, de
facto, a algumas limitações.
4.6. A exclusão de responsabilidade
A ideia básica da lei é a de que, no tocante a acidentes de viação, não deve haver danos
por indemnizar. Dada a generalização do uso de veículos motorizados e os riscos envolvidos,
pretende-se uma socialização lata dos danos envolvidos.
Para prevenir dúvidas, o art.º 505º, fixa três casos de exclusão de responsabilidade:
• A aplicação do art.º 570º;
• A imputação do acidente ao lesado ou a terceiro;
• O caso de força maior estranha ao funcionamento do veículo.
A aplicação do art.º 570º consome a imputação do acidente ao lesado, pelo menos
quando haja culpa deste. A exclusão de culpa opera quando o acidente for, no todo, imputável
ao lesado ou a terceiro, com ou sem culpa deste. Não basta a presença de culpas concorrentes.
Não releva qualquer “caso de força maior”, apenas o que seja estranho ao
funcionamento do veículo, como diz a lei.
4.7. A colisão de veículos
Sob a epígrafe “colisão de veículos”, o artigo 506º/1 regula os casos em que sobrevenha
tal colisão, mas sem ser possível imputá-la a culpa de nenhum dos condutores intervenientes.
Tal eventualidade pode advir de se verificar que, de facto, nenhum teve culpa ou, muito
simplesmente, de não se ter conseguido provar ou atribuir, a qualquer deles, a causa do
acidente.
Isto posto, prevê duas hipóteses:
• Ambos os veículos contribuíram para os danos;
• Apenas um deles lhes deu azo.
Na primeira hipótese, a responsabilidade é repartida na proporção em que o risco de
cada um dos veículos houver contribuído para os danos. Estes são computados conjuntamente,
fazendo-se depois a repartição. Quanto à medida do risco, ela será calculada em função da
perigosidade típica de cada veículo (um pesado em comparação a um ligeiro).
Na segunda, a responsabilidade corre por quem, a qualquer título, responda pelo veículo
causador.
O preceito funciona, também, perante os danos que a colisão tenha ocasionado em
terceiros, sem que se apure a culpa de nenhum dos condutores envolvidos. Os terceiros em
causa serão indemnizados pelos envolvidos na colisão, na proporção dos riscos respetivos.
O artigo 506º resolve os casos de dúvidas, seja na repartição dos riscos, seja na de culpa.
Manda que as respetivas medidas sejam consideradas iguais.
4.8. A Solidariedade
O artigo 507º/1 fixa uma regra de solidariedade, quando a responsabilidade pelo risco
recaia sobre várias pessoas e isso mesmo quando haja culpa de alguma ou algumas. Se a culpa
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 44
fosse de todas, já havia solidariedade por via do artigo 497º/1. Pretende-se um máximo de
esforço para que os danos resultantes de acidentes de viação sejam, efetivamente, ressarcidos.
Para tanto, faz-se correr, pelos co-responsáveis, o risco da insolvência ou da recusa de algum
deles.
Quando algum dos co-responsáveis solidários seja chamado a pagar a indemnização, há
que regular as relações entre eles. O que pague tem direito de regresso contra os demais (524º).
Mas tal regresso tem regime especial que resulta do art.º 507º/2:
• Se todos respondem pelo risco, a indemnização reparte-se entre os
responsáveis de harmonia com o interesse de cada um na utilização do veículo;
• Se houver culpa de algum ou alguns deles, apenas os culpados respondem, os
restantes têm direito de regresso pleno contra eles;
• Havendo vários culpados, há que atentar na medida das culpas respetivas
(507º/2 com remissão para o 497º/2).
Quando não se consiga determinar a medida do interesse de cada um, eles presumem-
se iguais e essa mesma igualdade se presume no tocante à medida das culpas (497º/2 e 506º/2).
5. Instalações de gás e eletricidade
O artigo 509º/1 dispõe “aquele que tiver a direção efetiva de instalação destinada à
condução ou entrega da energia elétrica ou do gás, e utilizar essa instalação no seu interesse,
responde tanto pelo prejuízo que derive da condução ou entrega da eletricidade ou do gás, como
pelos danos resultantes da própria instalação, exceto se ao tempo do acidente esta estiver de
acordo com as regras técnicas em vigor e em perfeito estado de conservação”.
O paralelo entre o artigo 509º/1 e o 503º/1 é manifesto. Na verdade, requerem-se, para
a responsabilização por instalações de gás e de eletricidade:
• A direção efetiva dessas instalações;
• A sua utilização no interesse próprio.
A direção efetiva implica a posse ou a detenção das instalações. A utilização no próprio
interesse afasta o regime da imputação ao comitente, de outro modo, a responsabilidade do
artigo 509º/1 acabaria por recair sobre os próprios trabalhadores.
Os danos imputados são os que resultem da condução ou entrega de eletricidade ou do
gás e, ainda, os derivados da própria instalação. Aparentemente generosa, a lei acabou por se
mostrar, depois, muito restritiva. Com efeito, afasta a responsabilidade:
• Quando a instalação esteja de acordo com as regras técnicas em vigor e em
perfeito estado de funcionamento (509º/1);
• Quando os danos derivem de causa de força maior (509º/2);
• Quando se trate de danos causados por utensílios de uso de energia (509º/3).
A responsabilidade pelo sacrifício
Há responsabilidade pelo sacrifício sempre que o Direito admita, como lícita, a prática
de determinados danos, mas, não obstante, confira ao lesado o direito a uma indemnização. Por
isso fala-se, também, em responsabilidade por atos lícitos.
A ideia base é simples, o Direito, de acordo com critérios nominalmente enformados
pelo interesse público exige, em certos casos, sacrifícios seletivos que envolvem a supressão ou
a compressão de direitos privados ou o postergar de interesses seus legitimamente protegidos.
Qual tal sucede, importa compensar o atingido.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 45
Nos termos de toda uma evolução jurídico-científica, entende-se hoje que, havendo
expropriação, o atingido tem o direito a ser indemnizado por exigência do princípio da
igualdade. Os sacrifícios impostos pelo interesse coletivo devem ser igualmente distribuídos por
todos, dentro da sociedade e não apenas concentrados nalguns, pela mera causalidade de, no
momento considerado, serem titulares dos interesses a atingir.
Procurando fixar diretrizes de ordem geral, encontramos dois requisitos:
• A permissão de causar um dano, através da inobservância de direitos subjetivos
ou de interesses juridicamente tutelados;
• A imposição de um dever de indemnizar.
1. As previsões de sacrifício
No CC há diversas previsões de imputação pelo sacrifício, podendo ser agrupadas em
três blocos:
• O estado de necessidade;
• A lesão ao direito de propriedade (também aplicável na presença de direitos
reais de gozo);
• O incumprimento de contratos (mantém-se os deveres acessórios,
nomeadamente a tutela da confiança, e esta obriga à eliminação dos danos,
através da indemnização).
2. Regime geral e natureza
Por opção do legislador, não há um regime geral para a responsabilidade pelo sacrifício.
Somos obrigados a considerar cada específica previsão legal, procurando aí determinar a
teleologia em jogo.
A possibilidade de causar licitamente danos na esfera alheia é um verdadeiro privilégio,
que deve ser visto com cuidado, tendo natureza excecional.
Na determinação dos danos a indemnizar, há que avantajar a causalidade normativa,
são imputáveis todos os danos correspondentes aos bens jurídicos tutelados que,
excecionalmente, a lei permita que sejam atingidos.
A responsabilidade pelo sacrifício é uma responsabilidade sem ilicitude e sem culpa.
Neste sentido importa apela à ilicitude imperfeita, ao prever obrigações de indemnizar, a lei visa
incentivar os agentes a, pelas vias do seu alcance, evitarem situações que possam, depois,
conduzir à necessidade de provar danos.
O dever de indemnizar
1. O regime do dever de indemnizar
Dentro do sistema da responsabilidade civil, a indemnização pode traduzir:
• A obrigação de indemnizar;
• O objeto da obrigação de indemnizar, isto é, a prestação;
• A situação jurídica que compreende um fenómeno de responsabilidade civil,
depois de consubstanciada determinada imputação.
A obrigação de indemnizar surge, desta forma, como um vínculo estruturalmente
creditício. Apresenta, no entanto, características próprias que têm justificado a sua
autonomização. Assim:
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 46
• Tem, como fonte, um simples facto jurídico, uma vez que a respetiva
constituição não depende da vontade humana, considerada como tal;
• Tem, como sujeitos, o lesado e o imputado (credor e devedor);
• Tem, como conteúdo, uma prestação que se traduz na atividade necessária à
supressão do dano;
• Tem, por escopo, a aludida supressão.
Encontra-se presente dos artigos 562º a 572º.
2. Modalidades
A indemnização, enquanto vínculo obrigacional, pode ser classificada em várias
modalidades:
• O dos sujeitos;
• O do tipo de imputação;
• O da espécie de dano;
• O do conteúdo;
• O do escopo.
Quanto aos sujeitos, podemos considerar a indemnização como plural ou singular,
consoante se verifique, ou não fenómenos de complexidade subjetiva. A indemnização plural
pode ser solidária ou parciária, conforme os regimes concretamente aplicáveis.
Quanto ao tipo de imputação, a indemnização é delitual, pelo risco ou pelo sacrifício.
Quanto à espécie de dano a ressarcir é que permite distinguir entre danos morais, danos
patrimoniais, lucros cessantes, danos emergentes, etc.
Quanto ao conteúdo, a indemnização pode ser:
• Específica: quando a respetiva prestação implique a entrega ao lesado, de um
bem igual ao prejudicado;
• Pecuniária: quando haja, apenas, lugar à restituição do valor correspondente ao
da lesão, normalmente através de uma entrega em dinheiro.
Esta distinção prende-se, de perto, com uma outra que atende ao escopo visado pela
indemnização, o qual pode ser reconstitutivo, quando vise colocar o lesado na situação idêntica
à da lesão ou, tão só, compensatório, quando pretenda conceder, ao ofendido, bens a título de
compensação.
Com referência à distinção entre a indemnização pecuniária e a indemnização
específica, cumpre citar o art.º 566º/1 que diz que “a indemnização é fixada em dinheiro, sempre
que a reconstrução natural não seja possível, não repare integramente os danos ou seja
excessivamente onerosa para o devedor”. Resulta deste pretexto, uma nítida preferência pela
indemnização específica, exceto nos casos especialmente previstos na letra da lei.
3. Determinação, indemnização provisoria e indenização em renda
Questão delicada é a da sua determinação. A orientação seguida permite repercutir o
problema na própria problemática da imputação. Do art.º 562º, segundo o qual “quem estiver
obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado
o evento que obriga à reparação”, deve inferir-se o princípio fundamental de que a obrigação
de indemnizar visa a remoção do dano imputado.
Quando esse dano, uma vez determinado, não tenha expressão em dinheiro, deve
proceder-se a um cálculo equitativo.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 47
Deste modo, transcendem a simples problemática da determinação da indemnização
questões como a do chamado nexo de causalidade (563º) ou a cobertura dos danos emergentes
e dos lucros cessantes (564º/2).
A primeira resulta do requisito da adequação geral ou concreta aos danos verificados e
do escopo da norma, quando a imputação seja delitual ou pelo sacrifício, ou da simples
correspondência entre o dano e a perigosidade, quando haja imputação pelo risco.
A segunda tem a ver com classificações de danos, que não se circunscreverem,
simplesmente, à dos danos emergentes e lucros cessantes. De qualquer forma, todos os danos
imputados devem ser cobertos.
Pretendendo facilitar a determinação da indemnização pecuniária, quando disso seja
caso, o art.º 566º/2 veio dispor que “a indemnização em dinheiro tem como medida a diferença
entre a situação patrimonial do lesado, na data mais recente que puder ser atendida pelo
tribunal, e a que teria nessa data se não existissem danos”.
Ao cálculo da indemnização seria possível aplicar várias diferenças:
a) A diferença entre a situação anterior no facto e a vigente no momento da
apreciação judicial;
b) A diferença entre a situação anterior ao facto e a situação imediatamente
posterior ao mesmo facto;
c) A diferença entre a situação que existiria sem o facto, data da apreciação judicial
e a situação anterior ao facto;
d) A diferença entre a situação hipotética atual, se não houvesse dano e a situação
atual, com o dano.
Destas quatro possibilidades, a primeira tem sido rejeitada por esquecer o lucro
cessante, a segunda, por esquecer o lucro cessante e a repercussão atual do dano, e a terceira
por esquecer o valor que, efetivamente, ficou a existir no património do lesado.
A quarta diferença, finalmente daria a exata medida do dano, razão porque seria
consagrada no CC, artigo 566º/2.
Ainda dentro da problemática da determinação da indemnização, ocorrem os
fenómenos da indemnização provisória e da indemnização em renda.
Em ambos os casos, verifica-se a presença de danos diferidos no tempo, isto é, de danos
que implicam prejuízos continuados no tempo, isto é, danos que implicam prejuízos continuados
ou de repercussão reflexa que se prolonga. Há duas possibilidades:
• Pode acontecer que o dano vá aumentando até ao momento em que seja
totalmente ressarcido. Nessa eventualidade, só no momento da execução é
possível determinar exatamente os danos. Verificada tal situação pode o
tribunal, desde logo, condenar o devedor em indemnização provisória, de
acordo com os danos provados (565º), ficando para momento oportuno a
fixação da indemnização definitiva, naturalmente, quando a verificação de
indemnização provisória venha diminuir o dano efetivo, deve tal facto ser levado
em conta na indemnização definitiva;
• Pode, também, suceder que um dano tenha natureza continuada. Em tal
eventualidade, pode o tribunal, a requerimento do interessado, conceder uma
indemnização sob forma de renda, vitalícia ou temporária (567º).
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 48
4. Delimitações; Compensatio lucri cum damno; Culpa do lesado
A regra geral no tocante à determinação é a da equivalência ao montante do dano
imputado. Existem, diversas exceções a esse princípio.
Na imputação delitual, o único desvio deriva do artigo 494º, quando a imputação se faça
a título de mera negligência, pode a indemnização ser fixada, equitativamente, em montante
inferior ao que corresponder aos danos causados.
Na imputação objetiva, nomeadamente pelo risco, é frequente a existência de limites às
indemnizações.
Assim, no caso das indemnizações assacadas a inimputáveis, nos termos do art.º 489º/2,
devem as mesmas ser calculadas “por forma a não privar a pessoa não imputável dos alimentos
necessários, conforme o seu estado e condição, nem dos meios indispensáveis para cumprir os
seus deveres legais de alimentos”.
Encontramos limitações no tocante à imputação por utilização de veículos (508º) e à
imputação derivada da utilização de instalações de energia elétrica ou de gás (510º).
A contraposição entre a responsabilidade delitual ilimitada e a responsabilidade objetiva
limitada oferece um máximo de interesse, no tocante aos danos provocados por veículos.
Quando haja ilicitude, todos os danos provocados devem ser ressarcidos, pelo contrário, quando
se verifique a mera aplicação dos esquemas de imputação delitual, aplicam-se os limites do art.º
508º.
Cabe referenciar o instituto da compensatio luci cum damno, apesar de, em rigor, não
consubstanciar, propriamente, um limite à indemnização, antes uma delimitação.
Imagine-se que um bem é destruído pelo imputado, contudo ainda vale X, a
indemnização fixada será o valor do bem menos X.
Em alternativa, o responsável pode exigir ao lesado, no momento do pagamento da
indemnização ou posteriormente, a cedência dos direitos que lhe advenham da lesão.
Tem sido ainda apontado como fator limitativo da indemnização, o concurso com a
eventual culpa do lesado. O CC estabelece mesmo um sistema completo, nos artigos 570º a
572º, que podemos explicitar como segue:
• Quando um facto culposo do lesado tiver contribuído para a produção ou
agravamento dos danos, o tribunal pode, face ao caso concreto, decidir se a
indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou excluída;
• Se a responsabilidade derivar de simples presunção de culpa, a culpa do lesado
exclui a obrigação de indemnizar;
• A culpa do lesado deve ser provocada por quem a alegue, embora o tribunal
possa conhecer oficiosamente da sua verificação.
5. Sujeitos da indemnização; Complexidade subjetiva; Terceiro violador da
obrigação
Em princípio, são sujeitos da indemnização o lesado e a pessoa a quem os danos sejam
imputados. Por isso, se a determinação do titular da indemnização é, normalmente, de
apreensão imediata, só através da aplicação das regras de imputação se torna possível
reconhecer o devedor da mesma indemnização.
No campo da responsabilidade delitual, pode acontecer que a imputação recaia sobre
várias pessoas, todas reconhecidas como autoras da lesão. Nesse contexto, estabelece o artigo
497º/1, uma regra de complexidade subjetiva na respetiva obrigação de indemnização, com um
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
lOMoARcPSD|3781832
P á g i n a | 49
regime de solidariedade. Como, porém, os ilícitos praticados pelos co-responsáveis podem ser
objeto de valorações diferentes, manda o nº2 do mesmo artigo que os respetivos regressos
tenham em conta as aludidas valorações.
Repare-se que a imputação delitual a várias pessoas funciona não apenas em caso de
co-autoria, mas também quanto aos instigadores ou auxiliares do ato ilícito (490º).
Como sequência da refutação da total relatividade das obrigações, deve entender-se
que qualquer terceiro que viole um crédito ou, de alguma forma, colabore com o devedor em
tal violação, é responsável, nos termos gerais, pelos prejuízos causados. Nenhuma dúvida
encontramos, em semelhante eventualidade, na aplicação do artigo 497º/1, com a
consequência natural da solidariedade entre o devedor e terceiro.
Baixado por Cleto Cleto (cl3t1nho0@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Responsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeDa EverandResponsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeNessuna valutazione finora
- Estudos a Propósito da Responsabilidade ObjetivaDa EverandEstudos a Propósito da Responsabilidade ObjetivaNessuna valutazione finora
- Danos: Uma Leitura Personalista da Responsabilidade CivilDa EverandDanos: Uma Leitura Personalista da Responsabilidade CivilValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Direito Civil. Direito das Obrigações: enriquecimento Sem Causa e Lucro da IntervençãoDa EverandDireito Civil. Direito das Obrigações: enriquecimento Sem Causa e Lucro da IntervençãoNessuna valutazione finora
- Sub-rogação nos contratos de seguro:: o termo inicial do prazo de prescriçãoDa EverandSub-rogação nos contratos de seguro:: o termo inicial do prazo de prescriçãoNessuna valutazione finora
- Perguntas & Respostas - Direito Processual CivilDocumento18 paginePerguntas & Respostas - Direito Processual CivilscripzNessuna valutazione finora
- Casos I PCV 2019Documento6 pagineCasos I PCV 2019Afonso CastroNessuna valutazione finora
- Resumo Figueiredo DiasDocumento5 pagineResumo Figueiredo DiasMarina Lopes100% (5)
- Declaração SchumanDocumento3 pagineDeclaração SchumanSimão FinoNessuna valutazione finora
- Contencioso Administrativo - 2016-2017 PDFDocumento110 pagineContencioso Administrativo - 2016-2017 PDFDiogoNessuna valutazione finora
- 1 Teoria Da Lei PenalDocumento27 pagine1 Teoria Da Lei PenalArsenio Augusto MachaiaNessuna valutazione finora
- Direitos Fundamentais PDFDocumento43 pagineDireitos Fundamentais PDFrita100% (1)
- Dto Proc Civil III Casos Praticos ResolvidosDocumento47 pagineDto Proc Civil III Casos Praticos ResolvidosAriana OliveiraNessuna valutazione finora
- Sebenta de Direito Penal IDocumento53 pagineSebenta de Direito Penal IBeatriz FrancoNessuna valutazione finora
- Resumos Menezes Leitao PDFDocumento145 pagineResumos Menezes Leitao PDFElisa AraujoNessuna valutazione finora
- Autodeterminação Sucessória - Por Testamento ou Contrato?Da EverandAutodeterminação Sucessória - Por Testamento ou Contrato?Nessuna valutazione finora
- Direito Das ObrigaçõesDocumento62 pagineDireito Das ObrigaçõesWilliam Reis100% (1)
- Exame de Teoria Geral Do Direito Civil IDocumento29 pagineExame de Teoria Geral Do Direito Civil IRita SantosNessuna valutazione finora
- Obrigações II - Cessão Da Posição Contratual PDFDocumento3 pagineObrigações II - Cessão Da Posição Contratual PDFPedro Pinto100% (1)
- AULAS TEÓRICAS FUNDAMENTAIS (Sebenta Jaleco)Documento67 pagineAULAS TEÓRICAS FUNDAMENTAIS (Sebenta Jaleco)Margarida De Belo Morais100% (1)
- Esquema de Resolução de Casos Práticos PDFDocumento1 paginaEsquema de Resolução de Casos Práticos PDFJoana GraçaNessuna valutazione finora
- Código Notariado de Cabo VerdeDocumento336 pagineCódigo Notariado de Cabo VerdeJoao100% (1)
- DireitoDocumento153 pagineDireitoNelson Jose MutambeNessuna valutazione finora
- Prova Oral de Direitos Reais - AcessãoDocumento11 pagineProva Oral de Direitos Reais - AcessãoDmytro LuhofetNessuna valutazione finora
- Praticas Juridicas Material de Estudo 20Documento56 paginePraticas Juridicas Material de Estudo 20Dércio Salato100% (1)
- LEO FantasmaDocumento15 pagineLEO FantasmaMartaNessuna valutazione finora
- Processo Executivo - 2 - Lebre de Freitas PDFDocumento6 pagineProcesso Executivo - 2 - Lebre de Freitas PDFdanielsolicitador100% (1)
- Resumo de Crimes Omissos e NegligentesDocumento9 pagineResumo de Crimes Omissos e NegligentesTeo Silva0% (1)
- Resumo Direito Administrativo II - Prova ÚnicaDocumento12 pagineResumo Direito Administrativo II - Prova ÚnicaDéborah GomesNessuna valutazione finora
- Direito Da Família e Das SucessõesDocumento80 pagineDireito Da Família e Das SucessõesMotaPedroNessuna valutazione finora
- Lei FantasmaDocumento12 pagineLei Fantasmasimao finoNessuna valutazione finora
- A Transmissão Do Estabelecimento ComercialDocumento24 pagineA Transmissão Do Estabelecimento ComercialElisa AleixoNessuna valutazione finora
- Direitos Reais 1-120Documento118 pagineDireitos Reais 1-120rmcsousa100% (2)
- A inversão do ônus da prova no direito do consumidor: caracterização do Requisito da HipossuficiênciaDa EverandA inversão do ônus da prova no direito do consumidor: caracterização do Requisito da HipossuficiênciaNessuna valutazione finora
- Direito Das Obrigações IDocumento66 pagineDireito Das Obrigações IInesCNunes0% (1)
- DO-Inês-C. - para Consulta PDFDocumento169 pagineDO-Inês-C. - para Consulta PDFSó nósNessuna valutazione finora
- Casos PráticosDocumento60 pagineCasos PráticosBárbara Rosário100% (1)
- Direito Processual Civil IIDocumento67 pagineDireito Processual Civil IIDiogo TeixeiraNessuna valutazione finora
- Direito Das Obrigações ResumoDocumento15 pagineDireito Das Obrigações ResumoAbner PouçoNessuna valutazione finora
- Casos Praticos Fundamentos Direito Publico Armando RochaDocumento13 pagineCasos Praticos Fundamentos Direito Publico Armando RochaRebecca AlexandraNessuna valutazione finora
- Teoria Da Infração - D - PenalDocumento9 pagineTeoria Da Infração - D - PenalvanialmeidaNessuna valutazione finora
- Sebenta Anónimo 1 PDFDocumento65 pagineSebenta Anónimo 1 PDFAnderson SilvaNessuna valutazione finora
- Teoria Geral Do Direito Civil 1Documento151 pagineTeoria Geral Do Direito Civil 1Margarida SerôdioNessuna valutazione finora
- Sebenta - I Parte Direito ConsumoDocumento45 pagineSebenta - I Parte Direito ConsumoNanda NogueiraNessuna valutazione finora
- Direito Processual Penal II CasosDocumento9 pagineDireito Processual Penal II CasosJean HertzNessuna valutazione finora
- DIPDocumento20 pagineDIPAna AlmeidaNessuna valutazione finora
- DCI - Casos Práticos Resolvidos (Direitos Fundamentais)Documento8 pagineDCI - Casos Práticos Resolvidos (Direitos Fundamentais)David SilvaNessuna valutazione finora
- Execução de Penas e Medidas Privativas Da Liberdade - Análise Evolutiva e ComparativaDocumento58 pagineExecução de Penas e Medidas Privativas Da Liberdade - Análise Evolutiva e Comparativagilcom20008589Nessuna valutazione finora
- Esquema Resolucao de Casos 2Documento16 pagineEsquema Resolucao de Casos 2Aissa ismail AdamNessuna valutazione finora
- Direito Da União Europeia IiDocumento25 pagineDireito Da União Europeia IiDinis FigueiredoNessuna valutazione finora
- Qualificação em DIP. Edgar ErnestoDocumento5 pagineQualificação em DIP. Edgar ErnestoEdgar Assunção100% (1)
- Fase 1 Do Processo ExecutivoDocumento60 pagineFase 1 Do Processo ExecutivoIsabel Pinto100% (1)
- Esquema de Resolução de Casos Sobre Competência Na Ação Executiva PDFDocumento4 pagineEsquema de Resolução de Casos Sobre Competência Na Ação Executiva PDFSandra VeigaNessuna valutazione finora
- Teoria Geral Casos PráticosDocumento3 pagineTeoria Geral Casos PráticosjoanarangeldesousaNessuna valutazione finora
- AASessão-Dez Lições Direito Bancário) (Guardado Automaticamente) Update-26-11-2015 (Guardado Automaticamente) - 1Documento147 pagineAASessão-Dez Lições Direito Bancário) (Guardado Automaticamente) Update-26-11-2015 (Guardado Automaticamente) - 1Gilberto FirminoNessuna valutazione finora
- Formulario Pedido Bolsa PLCM VF 002Documento4 pagineFormulario Pedido Bolsa PLCM VF 002Helena Marcia CesaritoNessuna valutazione finora
- 02 - Actos Comerciais - Direito ComercialDocumento15 pagine02 - Actos Comerciais - Direito ComercialCletoNessuna valutazione finora
- Como Ler A Bíblia Livro Por LivroDocumento7 pagineComo Ler A Bíblia Livro Por LivroCletoNessuna valutazione finora
- Direito Comercial Títulos de Crédito PDFDocumento11 pagineDireito Comercial Títulos de Crédito PDFEli AnaNessuna valutazione finora
- Mudanças Mais Significativas para ProtótiposDocumento3 pagineMudanças Mais Significativas para ProtótiposCletoNessuna valutazione finora
- Regras de Ordem 1990Documento100 pagineRegras de Ordem 1990CletoNessuna valutazione finora
- 01 - Introdução - Direito ComercialDocumento3 pagine01 - Introdução - Direito ComercialCletoNessuna valutazione finora
- Lio1 Asobrasdacarneeofrutodoesprito PDF 161229013942Documento72 pagineLio1 Asobrasdacarneeofrutodoesprito PDF 161229013942CletoNessuna valutazione finora
- Direito-Das-Obrigacoes-Contratos-Em-Especial 1 PDFDocumento33 pagineDireito-Das-Obrigacoes-Contratos-Em-Especial 1 PDFCletoNessuna valutazione finora
- Direito Das ObrigacoesDocumento124 pagineDireito Das ObrigacoesCletoNessuna valutazione finora
- 01 - Introdução - Direito ComercialDocumento3 pagine01 - Introdução - Direito ComercialCletoNessuna valutazione finora
- Direito-Das-Obrigacoes-Contratos-Em-Especial 1 PDFDocumento33 pagineDireito-Das-Obrigacoes-Contratos-Em-Especial 1 PDFCletoNessuna valutazione finora
- Aulas 1 e 2Documento9 pagineAulas 1 e 2AlNessuna valutazione finora
- Direito BancarioDocumento11 pagineDireito BancarioCletoNessuna valutazione finora
- Estatuto e Regulamento Dos Funcionarios e Agentes Do Estado PDFDocumento39 pagineEstatuto e Regulamento Dos Funcionarios e Agentes Do Estado PDFJeremias S. Tomás50% (2)
- Contrato Promessa e Pacto de Preferencia PDFDocumento27 pagineContrato Promessa e Pacto de Preferencia PDFCletoNessuna valutazione finora
- NCRF 1 Apresentações FinanceirasDocumento108 pagineNCRF 1 Apresentações FinanceirasCletoNessuna valutazione finora
- Folha PRATICA 4Documento5 pagineFolha PRATICA 4Cleto67% (3)
- Charo e Paul Washer - A Mulher de Deus (Tornando-Se Ester)Documento2 pagineCharo e Paul Washer - A Mulher de Deus (Tornando-Se Ester)Voltemos ao Evangelho100% (5)
- NCRF 1 Apresentações FinanceirasDocumento108 pagineNCRF 1 Apresentações FinanceirasCletoNessuna valutazione finora
- Custo de CapitalDocumento11 pagineCusto de CapitalCletoNessuna valutazione finora
- O Livro de JóDocumento273 pagineO Livro de Jócarlos_augusto_14100% (8)
- Custo de CapitalDocumento11 pagineCusto de CapitalCletoNessuna valutazione finora
- 10 Acusações Contra A Igreja Moderna PDFDocumento112 pagine10 Acusações Contra A Igreja Moderna PDFDiego Batalha100% (1)
- Teoriasdaconduta 140914193955 Phpapp01Documento11 pagineTeoriasdaconduta 140914193955 Phpapp01CletoNessuna valutazione finora
- Mateus 5.6 Justiça e Bem-AventurançaDocumento3 pagineMateus 5.6 Justiça e Bem-AventurançaCletoNessuna valutazione finora
- Teoriasdaconduta 140914193955 Phpapp01Documento3 pagineTeoriasdaconduta 140914193955 Phpapp01CletoNessuna valutazione finora
- PlanoDocumento9 paginePlanoCletoNessuna valutazione finora
- Mateus 5.6 Justiça e Bem-AventurançaDocumento3 pagineMateus 5.6 Justiça e Bem-AventurançaCletoNessuna valutazione finora
- ETICADocumento21 pagineETICANinaLimaNessuna valutazione finora
- Ebook-Direito Civil-Pessoa-Natural-Domicilio PDFDocumento16 pagineEbook-Direito Civil-Pessoa-Natural-Domicilio PDFWillian Garcia100% (1)
- Resumo Tópico 1 - Item B - Parte II - MARCADADocumento5 pagineResumo Tópico 1 - Item B - Parte II - MARCADACaio EduardoNessuna valutazione finora
- Direitos Humanos e Seus Instrumentos Normativos de ProtecaoDocumento149 pagineDireitos Humanos e Seus Instrumentos Normativos de ProtecaoMax Rossi100% (1)
- Pedido de Revogação de Prisão Preventiva (Mod.)Documento9 paginePedido de Revogação de Prisão Preventiva (Mod.)Valter Alexandrino dos Santos FilhoNessuna valutazione finora
- Iando Aprendizado Direito Penal 3Documento2 pagineIando Aprendizado Direito Penal 3Marilia Camapum MacielNessuna valutazione finora
- Igualdade e DiscriminaçãoDocumento13 pagineIgualdade e DiscriminaçãoMaria Inês DominguesNessuna valutazione finora
- Atividade Penal Segunda AvaliaçãoDocumento2 pagineAtividade Penal Segunda AvaliaçãoEnthony TorresNessuna valutazione finora
- Lista Emoções e SentimentosDocumento2 pagineLista Emoções e SentimentosDaiane LimaNessuna valutazione finora
- Execução de Pena CassianoDocumento2 pagineExecução de Pena CassianoNicolli Mendes TheodoroviczNessuna valutazione finora
- Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento30 pagineIntrodução Ao Estudo Do DireitoKarol AnneNessuna valutazione finora
- Bioetica FilosofiaDocumento1 paginaBioetica FilosofiaIsa lorenaNessuna valutazione finora
- Da Exclusão de Crime StevensonDocumento130 pagineDa Exclusão de Crime StevensonFelix MagnoNessuna valutazione finora
- Pedagogico Pos Direito Penal Lista 31Documento24 paginePedagogico Pos Direito Penal Lista 31Andressa CastroNessuna valutazione finora
- Virgílio Afonso Da Silva - Princípios e Regras - Mitos e Equívocos Acerca de Uma DistinçãoDocumento14 pagineVirgílio Afonso Da Silva - Princípios e Regras - Mitos e Equívocos Acerca de Uma DistinçãoFlávio Augusto100% (1)
- Relação Jurídica e A Capacidade JurídicaDocumento9 pagineRelação Jurídica e A Capacidade JurídicaCristovão Samuel Menga0% (1)
- EMCiv PosA 1Documento8 pagineEMCiv PosA 1Eduardo Vasco ChiloaneNessuna valutazione finora
- Aspectos Da Etica SocialDocumento9 pagineAspectos Da Etica SocialPaulo António ManuelNessuna valutazione finora
- Resenha Do Documentário JustiçaDocumento3 pagineResenha Do Documentário JustiçaBianca CastroNessuna valutazione finora
- VI. Filosofia Política - Liberdade e Justiça Social - O Problema Da Organização de Uma Sociedade Justa Jonh RawlsDocumento12 pagineVI. Filosofia Política - Liberdade e Justiça Social - O Problema Da Organização de Uma Sociedade Justa Jonh RawlsGonçalo VianezNessuna valutazione finora
- Resenha - Relação Comunitária, Ética e Direitos Humanos - Hudson Lopes SoutoDocumento6 pagineResenha - Relação Comunitária, Ética e Direitos Humanos - Hudson Lopes SoutoFulano SantosNessuna valutazione finora
- Artigo Do ClienteDocumento32 pagineArtigo Do Clienteelisa antunesNessuna valutazione finora
- Coordenação Do Curso de DireitoDocumento94 pagineCoordenação Do Curso de DireitoDamieleMarianoNessuna valutazione finora
- Aula 00 - Direito PenalDocumento8 pagineAula 00 - Direito Penaldemetriodantas3122Nessuna valutazione finora
- Livro de Ética 9º AnoDocumento112 pagineLivro de Ética 9º AnoGean S. BomfimNessuna valutazione finora
- IX - Favorecimento Da Prostituição Ou de Outra Forma de Exploração Sexual de Criança Ou Adolescente Ou de VulnerávelDocumento3 pagineIX - Favorecimento Da Prostituição Ou de Outra Forma de Exploração Sexual de Criança Ou Adolescente Ou de VulnerávelBruna NetoNessuna valutazione finora
- Modelo de Requerimento Restitiuição de Coisa ApreendidoDocumento8 pagineModelo de Requerimento Restitiuição de Coisa ApreendidoEmanuel SantosNessuna valutazione finora
- Powerpoint IDocumento20 paginePowerpoint ICatarina VinhaNessuna valutazione finora
- Abuso de Autoridade IDocumento5 pagineAbuso de Autoridade Imarcohenry14Nessuna valutazione finora
- Direito Penal I PDFDocumento7 pagineDireito Penal I PDFAlex JuniorNessuna valutazione finora