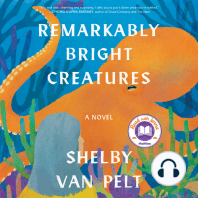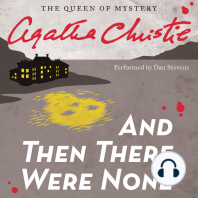Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
3 Ferraz Jr. Tercio Moralidade e Senso Comum
Caricato da
Leandro Guerreiro Selva0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
24 visualizzazioni30 pagineDIREITO
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoDIREITO
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
24 visualizzazioni30 pagine3 Ferraz Jr. Tercio Moralidade e Senso Comum
Caricato da
Leandro Guerreiro SelvaDIREITO
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 30
copyright 2084 By Ecitora Nosses
Edtoretefe: Paulo de Barros Carvalho
‘Coordenagao editorial: Alessandra Auda
Reuisdo: Semiramis Olvetra
(Capa: Ney Faustin!
Producao editorial/arte: Denise Dearo
‘CiP-BRASIL. CATALOGAGAO-NA-FONTE
‘SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, '
F413 Fernaz Junior, Tercio Sampaio
‘ODirito, entre o futuro «0 passado/ Tercio Sampale Feraz Junior.
~ S8o Paulo: Noeses, 2014.
Incl bioograna, 202.
4 Direto, 2. Direito Tribute. Titulo
couse
ous
NoESES
Editora Noeses Lida.
Tel/fax: 55 11 3666 6055,
www.editoranoeses.com.or
Vu
MORALIDADE E SENSO COMUM
Direito, Estado e poder
O direito, tal como o conhecemos hodiernamente, é
estritamente ligado a ideia de Estado. Trata-se, em uma lon-
ga tradicao, do modelo westphaliano na palavra dos interna-
cionalistas, que permitiu a organizagéo do direito a partir da
distineao nacional/internacional, do direito como produto do
exercicio da soberania de um Estado em seu territério, donde
a relacdo entre Estados enquanto entes soberanos. F essa
concepedo, que conduziu a discussées recorrentes sobre @
juridicidade da prépria ordem internacional, que est enrai-
zada num paradoxo.
‘Trata-se de conhecido paradoxo que aparece em um dos
mais controvertidos conceitos da teoria juridiea: o de soberania
e que Kelsen tentou, sem sucesso, contornar eom a nogao de
‘norma fundamental pressuposta.
Com efeito, 0 Estado, como vai dizer V. E. Orlando”,
afirma-se como pessoa: é nessa afirmacéo que se contém sua
94, ORLANDO, VE. Principii di diritto ommnistrativo. Florenga, 1919.
131,
TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
capacidade juridica, é esse 0 momento que corresponde &
nogo de soberania. No entanto, a concepgio do Estado como
pessoa juridica nao pode deixar de significar concepgao do
Estado como atualizagao perene das forcas econémicas da
sociedade, Nesse sentido, aquela concepeao implica neces-
sariamente a ideia de que o Estado subordina, via de regra,
as suas atividades aos preceitos do direito que ele declara:
nao no sentido de que se circunscreve a missao de tutelar os
direitos individuais, mas no sentido de que nao delimita a
priori a sua esfera de interferéncia, de que fixa a priori a
juridicidade de toda e qualquer interferéncia neste ou naque-
le outro setor da produgao humana, com o intuito de realizar
© bem-estar geral
‘Na palavra dos juristas, 0 Estado &, contudo, caracteriza-
do pelo alto grau de formalizacdo de sua constituigéo. Seus
elementos estruturais, como a divisao dos poderes, 0 conceito
de lei, o prineipio da legalidade da administragao, a garantia
dos direitos fundamentais ¢ a independéncia do Judiciario,
contém em si mesmos as condicdes de seu modo de atuacao:
reconhecidos como validos, eles devem produzir um efeito
especifico, adaptével aos condicionamentos sociais. Mas, inter-
namente, eles obedecem a uma estrutura peculiar, implicitana
nogao de soberania: a estrutura hierérquica.
A alternativa do consenso permite ao jurista, nos termos
da teoria da soberania, ver o poder como um misto de forca
consentimento, donde o direito aparece como uma regulagao do
exercicio da forga, fundado no consentimento (contrato). Aqui
as tendéncias variam no detalhe, mas a base 6 uma s6: 0 poder
é,na sociedade, um s6, 6, na sociedade, uma qualidade imanen-
te aos individuos (forca, capacidade) que é limitada a medida
que se exige o seu agrupamento (consenso).
‘Na verdade, a relagdo entre direito, poder e forca, na teo-
ria da soberania, aponta para um paradoxo: a forga esta dentro
€ esté fora. Fora, como um elemento irredutivel a qualquer
132
|
|
|
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO BO PASSADO
racionalizacao. Dentro, numa forma domesticada (pelo direito).
Essa estrutura paradoxal explica os dilemas da teoria e as
teorias que fazem da soberania um conceito metaforico: por
‘exemplo, moeda de duas faces (Bobbio). Nesse sentido a ideia
de poder como uma espécie de catalisador: um fator capaz de
engendrar a norma juridica a partir de uma profusao de pos-
sibilidades normativas. A metéfora, porém, produz um descon-
certo conceitual em termos de sua racionalizagéo: ela mostra
0 conceito, mas nao o demonstra.
As dificuldades de uma racionalizagao coneeitual por
virtude do paradoxo que ela enfrenta séo passiveis de uma
explicaedo, perceptivel na construgao da nocio de soberania
‘com base em um elemento de ordem antropolégica que Ihe €
inerente: a hierarquia.
Nos jogos politicos, enquanto a dialética continua de
agresso e ansiedade é um dado evidente, pela hierarquia ela
6 estabilizada por essa estrutura de poder ~ a soberania - em
que a presenga concreta do superior é substituida por um me-
canismo abstrato. Esse mecanismo, de um lado, guarda a re-
miniscéncia da superioridade do mais alto, de sua forga efetiva
edo medo que ela inspira - donde certa correlagao entre so-
berania e opresséo -, mas, de outro, permite o entendimento
até mesmo da ideia de igualdade civil, baseada no postulado
de que 0 poder deve operar num cireulo de equivaléncia: ser
governado para, por sua vez, governar.
Isso faz com que, na nogo de soberania, forca e direito
guardem uma relagdo ambigua. Como poder hierérquico su-
premo, a soberania tem na forga do superior (elemento de
fundo animal) um dado incontornavel e ndo racionalizavel ,
ao mesmo tempo, mediado por metéforas racionalizadoras,
como as que se desenvolveram, por exemplo, nas modernas
teorias contratualistas sobre o estado de natureza.
No direito moderno, 0 estado de necessidade, ou nogées
como estado de sitio, s4o proclamacées em que se reconhece
133
'TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
na irrupgio da forea, seja na forma de necessidade, seja na
forma de tumulto, seja em que forma for, alguma coisa que
suspende o direito™. Nessas nogées acaba-se escondendo pe-
rante 0 direito aquilo que o direito quer fazer parar e que se
chama poder. Como se 0 poder conhecido pelo direito fosse 0
‘tempo todo um poder domesticado, sempre regulado. Trata-se,
principalmente, do poder tomado como forea de wm individuo
~soberania dos reis, soberania individual -, seja na forma de
forca de uma organizacdo ~ poder popular ou da nagéo, sobe-
rania popular ou nacional.
Na nogao de soberania, aquilo que aparece diante do
direito como poder 6 sempre alguma relacao domesticada ou,
mais propriamente, racionalizada pelo direito. O direito nao
conhece outro poder que nao esse. Quando, no entanto, en-
frentam-se situagdes como: estado de necessidade, estado de
excecéo, estado de sitio, que sao juridicamente excepcionais,
percebe-se alguma coisa que nao permite uma reducdo com-
pleta ao direito. Eseapa-lhe. Ainda que se argumente, por
exemplo, que 0 estado de sitio esta regulado pela propria
Constituicdo e, portanto, 6 uma exeecio juridica e nao exce-
cao de fato, a andlise mostra que tal excegao, no entanto,
mesmo com sua roupagem juridiea, ou seja, regulada pela
Constituigéo, na verdade, esconde um fendmeno (0 poder)
que o direito (normas, permissdes, proibig6es) nao consegue
capturar inteiramente. Trata-se de algo, de certos fatos que
no se jurisfazem totalmente.
modo usual pelo qual o direito lida com o poder é um
modo de jurisfaedo total. As nogSes juridicas para lidar com 0
poder tentam reduzir o poder ao direito. A nogéo de soberania,
examinada anteriormente, mostra isso. Mas quando se lida
com nogées como aquelas, percebe-se que ha um resto irredu-
tivel. E esse resto que nao se reduz é o que, afinal, se procura,
quando se fala da relagéo entre direito e poder.
95, AGAMBEN, Giorgio. Rstado de excegdo. Si Paulo, 2004.
134
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
2. Asociedade como sociedade econémica e a raciona-
lizacdo como seu espelho ético
‘Na era presente, porém, a percepeéo da sociedade como
sociedade econdmica como um todo abareante que se concentra
‘em produzir objetos de consumo, cujo consumo é, de novo,
meio para 6 aumento da produgao e assim por diante, tende a
modificar aquele entendimento.
Com isso, as linhas distintivas entre politica ¢ economia
tornam-se confusas. Nao se trata mais, por exemplo, do exer-
cicio politico pelo detentor do poder econdmico, na medida
‘em que esse passa de uma esfera de atuagao (atividade eco-
némica) para outra (atividade politica), mas de atividades
com légicas estruturalmente indiferenciadas, donde a estrei-
ta aproximacao, no mundo capitalista, entre tecnocracia
publica e privada.
Isso nao faz, porém, com que 0 poder politico-juridico,
0 Estado soberano, deixe de desempenhar um papel decisivo.
O poder politico-juridico nao é eliminado, mas repensa-
do. Aparece numa forma nova. Antes ele se colocava como
uma relagao de império entre o governante e 0 governado, e,
como nao havia ainda a preméncia da questao econémica, essa
relacdo era exterior, isto é, 0 territério e sua administragio
‘eram 0s objetos do governante, que era externo a eles. Agora,
surge uma situacdo em que 0 governo nao se destaca, como
um outro, da prépria territorialidade administrada, da qual
faz parte, E, em assim sendo, o poder politico-juridico (sobe-
rania) torna-se um problema de exereicio interno dos atos de
gestio governamental: politica como economia, soberania
como politica econémica, tudo conforme uma légica tecnocra-
tia, a légica da “governamentalidade”. Em cujo cerne acaba
por se estabelecer um triangulo estrutural: império, disciplina
e gestao econdmica.
Na verdade, ressalvada a utilizagéo crua e nua da forga
135
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
(stalinismo, nazismo), 0 dilema tem uma fungdo paralisante,
que 0 sistema jurfdico contemporadneo, estrategicamente, até
cculta, ao procurar manejé-lo mediante regras de organiza-
a0 e ao viabilizar o afloramento de estratégias da responsa-
bilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, imputagéo de
sangées pelo comportamento de terceiros (como, recente-
mente, na Lei Anticorrupcao brasileira, ou na Lei de Defesa
da Concorréncia), substituindo 0 esquema licito/ilicito pela
nogao de abusivo e abuso. Mais compativel com 0 fendmeno
do riseo™,
Aqui entra em discuss4o erftica o que, na esteira de Max
Weber e, mais recentemente, de Habermas e Luhmann, pode
ser chamado de “matriz de racionalizagao”, cujo cere esta
na substituigao do conceito de acdo (e sua insereao na esfera
juridica da liberdade) pelo conceito de comunicagao. Com
isso, ganham-se condigées para inserir questées da pratica
da regulacao, expondo, de um lado (Habermas), sérios pro-
blemas de legitimacao, ¢, de outro (Luhmann), solugdes su-
postamente mais apropriadas para o entendimento das trans-
formagées sofridas pela modernidade acossada pela socieda-
de tecnolégica, na qual o direito perde suas caracteristicas de
uma ordem escalonada para transformar-se numa estrutura
sem um centro organizador, por forga da circularidade das.
relagdes comunicativas"”
Na verdade, nessa dicotomia se percebe a relevancia da
busca de um modo de lidar com os critérios “comuns”, cujo
problema est na percepedo de critérios legitimadores como
uma espécie de cédigo de conduta reconhecivel.
Nesse quadro, na relagao entre direito e poder adquire
um papel decisivo o tema da interpretacao juridica.
96. Ver, no contexto do riseo, Rodrigo Octavio Broglia Mendes, Arbitragem,
lex mereatéria e direito estatal, Sao Paulo: Quartier Latin, 2010
97, VILLAS BOAS FILHO, Orlando. Teoria dos sistemas e0 direito brasileiro.
Sao Paulo: Saraiva, 2009,
136
(0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
3, Ahermenéutica como mediadora do ethos legitimador:
da subsuncéo & ponderagéo
Aoaplicaro direito, 0 juiz interpreta (que significa a regra
do ordenamento?), isto é, faz inferéncias ¢ com isso obtém
novas normas logicamente derivadas de normas vélidas, base
para sua prépria norma: deciséria (sentenga). Ora, qual o esta-
tuto tedrieo dessa operagao?
Kelsen, em sua obra péstuma , posicionou-se com radi-
calismo, numa reviséio angustiada de sua obra anterior :normas
so produtos de vontade e, nessa medida, néo hé qualquer
regulador (I6gico ou moral) no processo de expanséo norma:
tiva do ordenamento.
Esse radicalismo trouxe para o debate" a necessidade
dese captar anormatividade caracteristica do direito de forma
peculiar a ela, isto é, independentemente da normatividade
de outras préticas sociais também baseadas em regras. Don-
dea critica de Hart a Bentham e Austin , ¢, nessa extensio, a0
préprio Kelsen.
Para positivisme analitico, contudo, esse debate conduz
a0 pressuposto de que a compreenséo das chamadas fontes do
direito deva ser normativa, nao obstante a perplexidade pro-
duzida pelo seu fundamento: a norma fundamental kelseniana
e seu pressuposto de que o ordenamento como um todo seja
considerado, globalmente, como eficaz; ¢ a regra de reconheci-
mento de Hart, cuja existéncia é tida como uma questao de fato.
‘Situada nesse plano fético, torna-se inevitavel a diseussao_
da fundamentagao normativa em termes de sua legitimacdo:
reconhecimento, por Kelsen, de uma vontade instituidora como
legitima; reconhecimento, por ‘Hart, de que determinados atos
de determinadas instituigaes constituem atos criadores (do
98. Desce debate se ocupa Juliano Maranhao em seu livro Positivismo juridico
égieo-inelusivo, S60 Paulo: Marcial Pons, 2012.
137
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
ponto de vista externo, como mera constatagéo; do pondo de
vista interno, aceitagdo da validade). Tanto de uma forma como
de outra, essa identificagao do direito como fato social levanta
a questo da contingéncia dos contetidos das normas, desde
que validas; donde o tema da relagao entre moral e direito: o
mérito moral nada tem que ver com a juridicidade das normas,
donde a expansao normativa via interpretacdo ser ato valora-
tivo subjetivo, euja normatividade decorre de vontade?
Como reage a isso a interpretacao dogmatica do direito?
A.questéo, para a dogmatica, deixa de ser, propriamente,
a possibilidade de uma interpretacao correta ou objetivamen-
te verdadeira, mas sim qual aquela que est mais bem ou su-
ficientemente justificada diante das evidéncias dadas pelos
textos normativos cujos sentidos esto inter-relacionados.
A exigéncia de sistematizagao e coeréneia das codifica-
Ges e decodificagées (comunicagao normativa), mediante so-
lucées identifieadas pelo intérprete, impoe uma racionalizacao
do material normativo. Evidentemente, como as normas 540
de fato originadas de fontes diversas e nao necessariamente
codificacias mediante um tinico tipo de codificacdo, essa racio-
nalizagao nao é facil
A codificagao ocorre, as vezes, mediante cédigos débeis:
«a propriedade atenderd a sua funcdo social; as vezes eédigos
fortes (néo haverd pena de morte). Diante disso, a interpretagao
é levada a cabo a partir da ficedo de unidade codificadora da
vontade do legislador, que 6, entao, idealmente conceptualiza-
do na figura do chamado “legislador racional”®,
Mas a hipstese do legislador racional nao é isenta de uma
tomada de posicao ideolégica, que se baseia no modo como se
atribui relevancia aos valores principais do sistema normativo
99. Nessa diregdo nos fala Paulo de Barros Carvalho da textuatidade no nivel
juridico interno Direito tributdrio, linguagem e método. Sao Paulo: Noeses,
2008, p. 79).
138
(0 DIRFITO, ENTRE 0 FUTURO EO PASSADO
Gdeologia como valoracdo ¢ hierarquizagao de valores). Essa
ideologia, implicita na atividade hermenéutica, pode ser estatica
ou dinamica. Ela € estatica, quando a hipétese do legislador ra-
cional favorece valores como a certeza, a seguranga, a previsibi-
lidade e a estabilidade do conjunto normativo, de onde a prima-
zia da subsungdo. Ela é dinamica, quando favorece a adaptacao
das normas, a operacionalidade das prescrigées normativas, de
onde, hoje, a forca argumentativa da ponderagao de princpios.
Esse dilema, decidido pelo intérprete, traduz, entretanto,
uma escolha nem sempre manifesta, dentro de um conflito
fundamental entre fazer aquilo que ¢ correto e aquilo que ¢
bom, que dentro da filosofia moral se expressa, por exemplo,
na divisdo entre teorias deontoldgicas e teleolégicas. As teorias
deontolégicas correspondem ao ideal de vida humana consis-
tente em agir corretamente segundo as regras € principios
morais, nas quais as ideias de dever e correcio (justiga formal)
‘so os temas centrais. As teorias teleolégicas correspondem ao
ideal de vida humana, consistente na tentativa de satisfagdo
de determinados fins considerados bons, nas quais a ideia de
justo constitui o tema central.
‘Veja-se, por exemplo, a polémica entre o “direito a verda-
de” como um dever do Estado (na Alemanha, a lei criminaliza
a negacao do Holocausto) ¢ a dtivida sobre esse direito sob a
invocagao do respeito 3 liberdade de opinido (art. 5°, TV, da CF)
De um lado, a negacéo de um fato hist6rico constituiria uma
espécie de limitacdo a liberdade de expresso (0 ethos comum
“peconhece” que a liberdade encontra um limite na verdade dos
fatos: “contra fatos nao h4 argumento”), de outro, o ethos comum
se direciona para o reconhecimento da necessidade de preservar
0 pluralismo politico (art. 1%, V, da CF), assim como a proibi¢ao
de criar preferéncias entre brasileiros, enquanto especificagio
do principio da igualdade (art. 19, III, CF)".
{00.0 tema no 6 apenas teérico, mas fol objeto de decisso do STE no chama-
do “caso Elwanger”, coma base num notével parecer juridico de Celso Lafer.
139
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
Entende-se, porém, dessa contraposicéo, que néo se
possa falar, sem mais, de ethos da liberdade de expresso.
Entenda-se, nesse exemplo, por ethos o modo como é tratada
aliberdade como principio, isto 6, premissa inicial. A segunda
posicdo mencionada pressupée, ao que parece, a liberdade de
expresso como principio de tal modo paradigmatico que nem
se poderia levantar a propria questo que se levanta: discutir
se h4 ou nao direito a verdade jé 6 exercicio de liberdade de
expressao. Ou seja, 0 direito a verdade surge apenas quando
a liberdade de expresso é assegurada aquela primazia, até
para desencadear a discussao tal como mencionada, isto é,
deve-se reconhecer 0 primado da liberdade de expresso
(plitrima e divergente), sob pena de o tema nem poder ter
surgido™, Nesses termos, defender politicas da meméria é tao
exercicio de liberdade de expresso como defender tolerancia
e democracia.
Essa argumentagio interpretativa, que se apresenta como
uma espécie de fair play & moda liberal do séeulo XIX, nao dé
conta, no entanto, do que sucedeu no século XX ¢ vem suce-
dendo no século XXI. A questao ndo se resolve facilmente
dessa maneira: a liberdade de expresso posta sem limites
desconhece condicionalidades morais importantes.
A dramaticidade dessa questao pode ser percebida em
toda sua gravidade num exemplo de um fato provavelmente
ocorrido no século XX, na verdade, retirado de um relato ro-
manceado.
Leia-se O zero ¢ o infinito de Arthur Koestler, um ro-
mance, de 1940, sobre a era stalinista. H um didlogo (p. 122),
entre Rubashov (ex-lider, agora preso por trair 0 Partido) e seu
ex-subordinado, Gletkin (agora seu algoz), bastante significativo.
101, Essas observacdes resultam de um fecunde didlogo com Carla Osmo,
na elaboragio de sua tese de doutoramento,
102. KOPSTLER, Arthur. O zero eo infinito. Traduedo brasileira. S40 Paulo:
Manole, 2013.
140
(© DIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
Rubashov lembra que quando tomaram o poder, quiseram
eliminar toda sorte de violencia em interrogatérios. Gletkin
The diz que no comeco agiu assim, mas aprendeu que isso néo
funeionava (um mugique, interrogado por esconder a colhei-
ta, estava acostumado & pancada e entendia a razoabilidade
como fraqueza). Rubashov conclui entao que tudo nfo passa-
va de ilusées (a sociedade sem violéncia). Gletkin diz: voce é
um cinico, pois nfo 6 bem assim; nese momento histérico
ainda néo se pode acabar com a violéncia, que daqui a cem
anos seré abolida quando todos tiverem “entendido” o que es-
tamos fazendo. E Rubashov conelui: em resumo, eu sou o cinico
€ voc®, 0 moralista.
Nessa relacao entre o poder e o direito que Ihe da uma
estrutura organizacional, surge o tema da moralidade (e do
cinismo). Mas num contexto peculiar, como se pode ver num
relato seguinte, extraido de um suposto diério do personagem
Rubashov.
No quarto dia de sua priséo, reflete ele: “...A titima ver-
dade é, penultimamente, sempre wma falsidade. Aquele que no
{final € considerado certo teré antes parecido errado e nocive
“Mas quem serd considerado certo? Isso sé se saberé mais tarde.
‘Nesse meio tempo, se verd forcado a agir a crédito ea vender a
alma ao diabo, na esperanca da absolvicao da histéria”™.
A divida dramatica sobre 0 certo e 0 errado, que nesse
texto parece mais uma expresso de cinismo, torna-se mais
clara no romance (p. 117) quando Rubashoy, em seu diario, usa
como epigrafe uma frase de Dietrich Von Nieheim, bispo de
Verden, escrita em 1411: “Quando tem a existéncia ameagada,
algreja é dispensada dos mandamentos da moralidade”, ao que
segue 0 seguinte relato: “Pouco tempo atrds, nosso principal
agrénomo, B., foi fuzilado com trinta de seus colaboradores por
sustentar a opinido de que adubo de nitrato é melhor de potassa.
108. idem, ibidem, p. 117,
qa.
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
Como on. 1 6 totalmente a favor da potassa, os trinta tiveram de
ser eliminados como sabotadores. Numa agricultura nacional-
mente centralizada, a alternativa nitrato X de potassa é de
enorme importancia: pode decidir a decretagéo da préxima
guerra. Caso 0 n. 1 esteja certo, a histéria 0 absolverd, e a exe-
cucdo dos trinta ¢ um homens sera uma insignificdncia. Se esti-
ver errado...”.
A questo, que se insere numa reflexao subjetiva, pode
ter seu alcance percebido na relagao entre o juizo moral e a
mentira no plano politico.
Em Origens do totatitarismo, Hannah Arendt™ diz que
todos os participantes de um movimento totalitario —simpati-
zantes, membros do partido, formacées de elite, circulo intimo
que rodeia o lider e o proprio Kider —apresentam uma mistura
variada de credulidade e cinismo diante das mentiras e da fie
éo central do movimento.
Para entender esse ponto, o tema da mentira é relevante,
Na mentira, ao menos do ponto de vista do mentiroso, mas As
vezes até mesmo dos destinatédrios, pode existir consciéneia
sobre a ocorréncia dos eventos. Como sublinha Hannah Arendt,
amentira pode ocorrer em relagao a fatos que so amplamen-
te conhecidos. Para ela, por isso, a mentira é uma prova forte
da liberdade.
“Notou-se - diz Hannah Arendt ~ muitas vezes que, a
longo prazo, o resultado mais certo da lavagem cerebral é uma
curiosa espécie de cinismo — uma absoluta recusa a acreditar
na verdade de qualquer coisa, por mais bem estabelecida que
ela possa ser. Em outras palavras, 0 resultado de uma substi-
tuigdo coerente e total da verdade dos fatos por mentiras nao
é passarem estas a ser aceitas como verdade, e a verdade a ser
difamada como mentira, porém um processo de destruicao do
404. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Rio de Janeiro: Documen-
tario, 1978.
12
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO B 0 PASSADO
sentido mediante 0 qual nos orientamos no mundo real ~ in-
cluindo-se entre os meios mentais para’ esse fim a categoria de
oposicdo entre verdade e falsidade”™,
No texto sobre os documentos do Pentégono ela diz algo
semelhante: “Os resultados de tais experiéneias, quando em-
preendidas pelos que possuem 0s meios de violéncia, sao ter-
riveis, mas o embuste permanente nfo esté entre eles. Sempre
chega um ponto em que & mentira se torna contraproducente.
Este ponto 6 aleancado quando a plateia a qual as mentiras sao
dirigidas é forgada a menosprezar por’ ‘completo a linha demar-
catéria entre a verdade e a falsidade, para poder sobreviver.
Verdade ou falsidade — jé nao importa mais o que seja, se sua
vida depende de vocé agir como se acreditasse; a verdade dig-
na de confianga desaparece por completo da vida publica, ¢
com ela o principal fator de estabilizagéo nos cambiantes as-
suntos dos homens”.
Por isso Hannah Arendt, em seu estudo sobre verdade
politica, afirma investigar “essa matéria mais por razées politi-
cas que filoséficas, ¢ por isso permitimo-nos desconsiderar a
questi do que é a verdade, contentando-nos @ tomar a palavra
no sentido que os homens comumente a entendem™”
Mas “comumente” é uma afirmagao vaga. Outro dia,
meu neto, uma crianga de 4 anos, disse ao tio: ndo quero que
vocé venha para a praia. E 0 tio respondeu: estd bem, néo
vou. Mas foi, E af ocorreu uma percepeao importante. Ao ver
o tio 14 chegando, a crianga lhe disse: vocé mentiu. Se per-
guntassemos a ela porque o tio mentiu, nos seus 4 anos diria:
porque vooé disse que néo viria (¢ velo). Seria a verdade fatual
(como os homens comumente a entendem) uma verdade como
correspondéncia?
105, Tdemn, Entre o passado eo futuro. Sao Paulo: Perspectiva, 1972, p. 817-318.
106, Idem, Crises da Repitblica. Sio Paulo: Perspectiva, 1913, p. 17.
107. Ldem. Entre 0 pascade ¢ 0 futuro, cit p. 287.
143
TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
“Correspondéncia” nao é bem um dado intuitivo, mas um
termo jé elaborado em termos de um eédigo metédico (verdade
como correspondéncia)"™; nao é, pois, necessariamente, o sen-
tido que comumente os homens entendem. A bem observar, a
crianga, no caso mencionado, percebe que a fala do tio tem dois
sentidos num s6: uma promessa ¢ uma deserigao. A promessa
86 6 “verdadeira” se é uma promessa (e ndo uma desculpa, um
no levar a sério, uma brineadeira ou uma falsidade). Ja a
descrigao admite critérios de correspondéncia, pois tem um
cardter referencial (é fato ou nao é fato). E a percepgao ime-
diata desses dois niveis que faz com que a crianga perceba se
esta diante de uma mentira ou diante de uma brincadeira ou
de outra alternativa ainda. Ou seja, néo € mentira porque o
referencial é falso (verdade fatual), mas porque a afirmagéo foi
feita como uma promessa. A diade verdadeiro/falso trabalha
“36” com 0 aspecto referencial, isto 6, neutralizando 0 elemen-
to “conseiéncia”, ou seja, pressupde “seriedade” (é 0 que faza
ciéncia, por exemplo).
Na conversagao comum (como os homens comumente
entendem) essa possibilidade de neutralizar ou nao neutrali-
zar é um jogo de muitas gradagées. O préprio senso comum
precisa, assim, de codifieacdes, que a crianca vai aprendendo:
néo ser mentiroso é um deles, dizer a verdade 6 outro, brincar
com a verdade (dizer para 0 amigo que desta vez vocé é quem
perde: eu vou the dar um soco, mas de mentirinha) é outro
ainda. E 0 senso comum do adulto aprende a lidar com eles,
pois néo sao idénticos. Por isso a crianga nos parece maravi-
Ihosamente “inocente”. E nesses termos poder-se-ia falar da
mentira como um hiato entre evento e consciéncia, em que
0 fatual se torna irrelevante.
108. Um pouco nessa direcdo fala-nos Ala6r Caffé Alves de sentido perceptive,
como forma sensorial que se oferece desde logo eomo unidade de experién-
cia, na qual o objeto percebido é dado como um todo, algo operativo conforme
0 nivel de cultura do agente que percebe ativamente o mundo. (Dialética ¢
diryeito. S20 Paulo, 2010).
144
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO EO PASSADO
‘Mas como fundamentar filosoficamente esse “senso co-
mum”, j4 que lidamos mais com intersubjetividades, menos
com fatos? O problema tem que ver, afinal, com a percepcao
da moralidade.
4. Moralidade e seu fundamento na intera¢ao subjetiva
Moralidade é uma expressio que traduz (mal, provavel-
mente) o termo hegeliano Sittlichkeit (de Sitte, mos, ethos). Nao
se trata nem propriamente de uma rede descritiva de rotinas
e obrigagées orientadas conforme prineipios reconhecidos
(valores socialmente hegeménicos), nem de uma ordem domi-
nante de prdticas habituais socialmente institucionalizadas,
mas de uma incorporacao normativa de valores em praticas
intereomunicativas. Ou seja, bem a moda aristotélica (a obser-
vyagéo 6 de Axel Honneth'®), um ethos que se revela no agit
hhumano enquanto um interagir. Mas como se revela?
Veja-se a diferenca entre geragoes, que nfo reside sim-
plesmente e apenas na disposicao das geragées mais velhas
para transigir e o caréter relativamente intransigente das mais
jovens, mas de decodificagoes da opacidade relativa entre elas
(os jovens nao vem, os velhos ndo entendem, que levou Arist6-
icles a dizer, na Ret6rica, que a experiéncia dos pais nao serve
para os filhos).
Por exemplo, o cédigo de moralidade no que se refere a0
comportamento sexual, para as geracdes, hoje, mais velhas,
cifrava-se na esfera individual, esfera da vida privada em que
cada um pode tomar sozinho decises para si mesmo. Daf a
moralidade como decéncia.e 0 imoral como indecente, expres-
sées que tém por base uma codificagéo padronizada (de pater)
da opacidade, mas reduzida ao plano privado, que permite, no
plano publico, transigéncias préprias do adulto experiente...
109, HONNETH, Axel. Das Recht der Preiheit, Berlin: Subrkamp, 2011, p.26.
145
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
Por sua vez, nos dias de hoje, a postura critica das geragées
mais jovens, que nao assimilam essa diferenga entre o privado
eo publico, tomada como hipocrisia.
A questo néo fica apenas no relacionamento sexual (cuja
opacidade levanta sérias desconfiangas ¢ invenefveis davidas,
produzindo, de um lado, os cédigos do amor, de outro as codi-
ficagdes juridicas sobre a familia), mas ¢ visivel no sentido que
toma a moralidade na atualidade, em que o tema das relacdes
privadas perde espaco em face do tema das relagées piblicas,
mediante o que, para as geragbes mais jovens, os problemas
de desigualdade social e de opressao politica se tornam cada
vez mais 0 centro do compromisso moral, contra uma resistén-
cia sutil das geragées mais velhas, que insistem em falar no
comportamento permissivo dos mais jovens, cada vez mais in-
clinados as experiéncias do conviver juntos e inaceitabilida-
de das desigualdades.
‘Nesse sentido parece mais adequado falar de eédigos de
moralidade. Como entender, no entanto, a moralidade nesse
processo diferencial?
Interessante, nesse passo, uma referénciaa Karl-Otto Apel.
Apel 6, singularmente, um filésofo que foi capaz de estu-
dar e confrontar as principais correntes filosdficas da era con-
tempordnea, a comegar das relagdes entre Heidegger e Witt-
genstein, 0 que 0 conduziu, inicialmente, a explorar temas
decisivos da teoria da ciéncia, os conceitos de explicagiio
compreenséo, perfilhando um caminho préprio que, mesmo
concedendo seu significado préprio ao sentido metodolégico
de ambos, conforme o respectivo campo objetivo, nao deixou
de negar-hes uma absolutizacao.
Mas a grande tematica de seu pensamento filoséfico esta
antes localizada na descoberta da intersubjetividade, presente
em Heidegger e Wittgenstein, cuja inconsisténcia dialética, no
entanto, ele denuncia. Ocupando-se largamente com Peirce,
146
(0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
sobretudo sua teoria consensual da verdade, Apel é conduzido
0s poucos a formulagao de sua pragmética transcendental,
expresso por ele cunhada e hoje ligada a seu nome.
Foi, porém, gracas a Habermas, sete anos mais jovem que
cle, que Apel foi levado as questées politicas e, em especial, da
filosofia pratica. Numa direedo que aprofunda, ao que me pare-
ce,com vantagem as especulacées habermasianas, Apel dedicou-
-se com extraordindrio vigor ao tema do fundamento Ultimo da
ética, o que pode ser visto neste livro com especial sabor.
As reflexdes de Apel tém-se dedicado & questao deem
que medida condigées: histéricas, que se distanciam largamen-
te da realizacao de uma situacao ética geral, podem justificar
‘uma posi¢&o contra a afirmagéio de principios éticos ideais. O
que o leva a refletir sobre a crise planetaria da humanidade de
nossos dias.
No fimago de sua pragmatica transcendental esta a su-
peracao do solipsismo metodol6gico da era moderna, de
Descartes até o Idealismo alemao, inclusive Husserl. Destaque
para sua conviegio, elevada a uma apriori transcendental, de
que, sendo o homem um ser social, mesmo empirieamente, a
possibilidade e a validade da formagio de seus juizos e atos de
yontade nao pode deixar de exigir a pressuposigdo légico-
transcendental de uma comunidade de comunicagao enquanto
realizagdo constitutiva da consciéncia individual".
Apel vé af a possibilidade de um terceiro paradigma da fi-
losofia ocidental, ao lado do paradigma da ontologia pré-kantiana
edo da filosofia da consciéncia transcendental que se Ihe seguiu.
Fortemente influenciado pela teoria do ato de falar de
‘Austin e Searle, Apel confere a reconstrugao triddica do pro-
cesso signico de Peirce um sentido transcendental: a relagao
semi6tica objeto-signo-(signo-)sujeito € ampliada com as
710, Ch umaa das principais publicagées de Apel: Transformation der philosophie,
Frankfurl: Subrkamp, 1976, 2. v, em especial v2, p. 220-268,
147
el let
TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
correspondentes dimensées sintatica, semantiea e pragmé-
tica em torno do cossujeito, que se comunica com o primeira
sujeito por meio de signos e com ele constitui a comunidade
comunicacional.
Nessa reflexao fundam-se suas incursdes no terreno da
Etica. Sobretudo sua original posigao com respeito A funda-
mentagao tiltima dos prinejpios, que ele entende ndo como uma
questao a ser enfrentada de um Angulo légico-formal, uma vez
que a légica é sempre fundamentacao a partir de prineipios e
nao dos préprios principios.
Importante, nesse sentido, a mengao a sua reflexao sobre
a argumentacdo. Quem argumenta sempre pressupée que
pode chegar, no discurso, a resultados verdadeiros, ou seja,
que a verdade existe. Mas quem argumenta também pressu-
Oe que seu parceiro comunicative também € capaz de alean-
gar, em principio, o conhecimento da verdade. E essa situacao
é incontorndvel. Trata-se do a priori da argumentagao: quem
quer que se disponha a filosofar nao pode abrir mao dessa
pretensao A verdade e fazé-lo significaria abrir mao de sua
propria competéncia para argumentar. Mesmo alguém que,
em nome de uma diivida existencial, pretenda quebrar esse
pressuposto, acaba por confirmé-lo, na medida em que ainda
estard argumentando,
Com isso, Apel propée uma safda para o chamado trilema
de Miinchhausen, que afirma ser uma dltima fundamentagao
impossivel, pois ou a proposicao fundamentante hé de ser, ela
prépria, fundamentada, 0 que conduz & irracionalidade do
regresso ao infinito, percebida por Aristételes desde a antigui-
dade, ou entdio hé de se desistir de sua fundamentagao, do que
resulta seu carater dogmatico e arbitrario.
Apel reporta-se a Aristételes ¢ a sua recusa em funda-
mentar o prinefpio de no contradicao", pois isso conduziria
111, ARISTOTELES. Metafisica. IV 4, 1005 b 35.
148
Da
ODIREITO, ENTRE O FUTURO B 0 PASSADO
um regresso ao infinite, Ora, argumenta Apel, na verdade,
quem refuta néo importa que afirmagao, inevitavelmente pres-
supée o principio de nao contradicio, justamente na medida
fem que fala algo, pois, do contrério, seria uma idiotia falar ra-
Gionaliente com alguém, Em toda discussao fala-se algo, isto
6, toma-se uma posi¢éo, para sie para 0 outro, com pretensao
de verdade e quem nao age assim é incapaz de falar racional-
mente nem com 0 outro nem consigo mesmo. Assim, por um
‘eaminho nao dedutivo, Apel mostra que valem como sustenta-
das por fandamentagao tiltima aquelas proposigdes que nao
podem ser postas em questio, criticamente, sem entrar em
contradig&o consigo mesmas nem podem ser postas sem a pres-
suposigao de que possam ser dedutivamente fundamentadas.
Ganha relevo, nesse ponto, a nogio de falibilidade. Apel
ndo ignora, ao contrério, admite que o discurso cientifico par-
te de axiomas. E que, sendo submetido & prova, € perfeitamen-
te falivel. Seus enunciados no séo certos infalivelmente, mas
provaveis. E aqui se vislumbra a possibilidade de se entender
adiferenca entre 0 discurso cientifico e 0 filoséfico. $6 neste é
possivel entender o que significa falibilidade.
0 discurso filoséfico, no qual se da a possibilidade de
discutir o fundamento da fundamentacéo, é um discurso erfli-
co. Mas nao critico pela critica, visto que a razao critica sem
padrao eritico (lundamentacio diltima) perde sua pretensao de
validade. O enunciado nenhum enunciado é certo, inclusive ele
préprio, tora a razio imune a qualquer critica, Essa imuniza-
cdo ocorre pela aplicacao do prineipio do, falibilismo asimesmo:
todo enunciado 6 falivel, inclusive o préprio enunciado sobre a
falibilidade de todo enunciado. Mas se tudo ¢ falivel, entaonada
é falivel, Com isso a argumentagao se torna uma questao pri-
vada, 0 qque a azo, no plano ético, ao niilismo.
Ora, no discurso em que prevalece o falibitismo, todos os
jimperativos éticos sao hipotéticos. A condicao de possibilidace
de um imperativo categérico esta na superagao do falibilismo.
149
ee ee |
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
Com efeito, essa teoria da fundamentagio tillima reper-
cute na Btica, Apel acompanha Peirce e sua teoria consensual
da verdade, no sentido de que de um tltimo consenso seguem.
deveres éticos. Mas contra Peirce mostra que nao 56 a argu-
mentagéo cientifica, mas qualquer argumentagdo se submete
a esses deveres. O sentido da argumentagao moral pode ser
expresso, pois, no principio, segundo 0 qual todas as necessi-
dades humanas, enquanto pretensées virtuais, devem ser ad-
mitidas como uma situacéo da comunidade comunicacional,
que, no caminho da argumentagio, deixa-se acordar com as
necessidades de todos os demais.
Assim, com o reconhecimento da argumentacéo racional
ha o reconhecimento da comunidade dos argumentantes. De
onde o dever de justificar, argumentativamente, as préprias
pretensées de verdade como uma condigao absoluta: um im-
perativo categérico.
Daf a norma expressa por Apel: esforga-se sempre para
coniribuir para a realizacdo a longo prazo daquelas relagées
que se aproximam da realizagao de uma comunidade ideal de
comunicagao e cuida sempre para que as condigées existentes
da possivel realizacao de uma comunidade ideal de comunica-
cdo sejam conservadas.
Nesse sentido, a pragmitica transcendental de Apel é ou
tende a ser também uma ética de responsabilidade, que apare-
ce na relagao tensional no interior da comunicacao humana.
‘Como se explica essa relagdo tensional diante da diivida
de Rubashov, acima mencionada (quem serd considerado certo?
Isso 86 se saberé mais tarde...)?
5. Moralidade diante da comunicagéo come um
paradoxo
A reflexao de Apel, em que a relacdo tensional, que
culmina na hist6ria humana, constituida pela tensao entre a
150
(ODIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
comunidade de comunicacéo real e ideal, repousa, em diltima
anélise, na comunicagéo como uma espécie de condicao trans-
cendental de possibilidade. Mas essa condigao nao parece dar
conta inteiramente do falibilismo em termos éticos, talvez por
nao ser o tiltimo passo da reflexéo filoséfica, quando pensamos
na diade fundamental - emissor/destinatario—e sua constitui-
gio. Este é o cerne da pergunta filoséfica quando se interroga:
por qué? Que acaso constitutive € esse que nos pée, desde
sempre, um perante 0 outro? Qual é o limite do ego em face do
alter (ego que se percebe diferente do alter que nao se confun-
de com ogo) € que é “transgredido” pelo fato da comunicagao
(equenos faz perceber 0 outro como mentiroso ou como veraz)?
A pergunta pode ser filosoficamente formulada de outro
modo: como 6 possivel a fungéo referencial referente a si mes-
ma (eu sou eu, ele é ele)? Como € possivel distinguir entre um
‘emissor e um destinatério, se pressupomos que jé est4o sempre
em comunicagio?
Paul Ricoeur, que discute a comunicagao como um para-
doxo™, engendrado pela hipétese (conjectural) da comunicacao
tomada ela propria comunicagéo (no comunicar é comunicar),
abre uma interessante perspectiva para a reflexéo.
‘Atomada da comunieacdo como um axioma esconde esse
paradoxo, cuja descoberta resulta em um outro enfoque trans-
cendental capaz de suspender a “naturalidade” do fato e inter-
rogar.a comunicacéo como transgressdo da incomunicabitidade
diddica (entre sujeitos). Ou seja, revela-se o paradoxo da co-
municacdo quando se pergunta: como é possivel a comunicagao
como intersubjetividade sem pressupor que sujeitos comuni-
cativos (emissor/destinatério ou emissor/receptor) sao duas
séries de eventos psfquicos & condigao de que nenhum (ou 20
menos algum) evento de uma série nao pertenca a outra (Leib-
niz, aproximadamente, falou nesses termos de ménadas)?
112, RICOEUR. Discours et communication. Paris, 2005,
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
Afinal, a possibilidade de comunicacdo nao se funda na
identidade, mas na diferenea: idénticos nao se comunicam, se
confundem. $6 diferentes se comunicam: mas, como estabele-
cera diferenca de dentro da comunicacao? Em outras palavras,
como é possivel falar de um eédigo comum se nao a partir de
uma visio monddica, exterior & prépria comunicagao, portan-
to de um ego incomunicavel? Se o comum do cédigo que per-
mite a comunicagao é comum porque jé estamos em comuni-
cacao, nao ha como dizer que ele seja condigao de possibilida-
de da comunicacao, visto que seu caréter comum jé é comuni-
cago, o que pressuporia uma espécie de “acordo transcenden-
tal” entre as partes que se definem como partes por meio
desse acordo, O que levantaria a questéo de um eédigo dos
cédigos, independente e alheio 4 comunicacio, e a pergunta:
como sio, afinal, constituidos eédigas? As duas indagagées sao
irrespondiveis, se ndo questionamos a prépria comunicagao €
a tomamos como axioma conjectural: questionar como se cons-
tituem cédigos seria j4 comuniear-se. Nesse circulo ineorre,
por exemplo, a pergunta: o que 6 um eédigo comum ao pressu-
por valer-se do proprio cédigo linguistico, de onde a hipétese
da lingua como um eédigo matricial que antecede toda e qual-
quer comunicacao.
Como entender isso?
Apensar no fendmeno lingufstico como cédigo basico da
comunicagdo e na conhecida distineao saussureana entre lan-
gue e parole lingua e fala —é possivel pensar que a lingua seja
um cédigo enquanto um sistema de signos e a fala um sistema
de frases em que aparece aquilo que um emissor quer dizer.
De um ponto de vista empirico, a lingua 6 um sistema que se
explica a si mesmo: sé tem 0 dentro, nao tem o fora. A fungao
referencial dos signos ocorre dentro da lingua e por ela se ex-
pliea. Por isso € possivel comparar linguas, mas nao traduzir
uma lingua: a traducao nao é de uma lingua em outra lingua.
O que se traduz é a fala. Dito de outro modo: € possivel apon-
tar analogias/homologias estruturais entre as linguas, mas nao
152
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO EO PASSADO
dos seus signos (sistema como estrutura ~ conjunto de regras ~e
repertério ~ conjunto de elementos). A funcao do signo € sig-
nificar e 0 significado do signo é imanente ao sistema. Sé a fala
tem por fungao comunicar, pois s6 na fala hé sentido e referén-
cia. Como ja dizia Aristételes (De interpretatione), 0 signo,
isoladamente, nem é verdadeiro nem falso: pao, bread. Sé na
proposicéo (fala) 0 sentido aparece e pode ser verdadeiro ou
falso: isto € pao, e, assim, traduzivel: this is bread. Enfim: a
Iingua é eédigo, mas s6 a fala (discurso) comuniea.
Mas a lingua, como cédigo, ¢ autorreferente, ou seja, 0
significado do signo (significante/significado) reduz-se a uma
diferenga dentro da lingua (por exemplo, a relagao entre pao e
alimento € determinada pela lingua que, nesses termos, é ¢6-
digo). E 0 que nos permite responder a pergunta: que é pao?
dizendo: um tipo de alimento feito de trigo ou outros farindceos.
Mas a pergunta: péo, bread, Brot, pain, pane, pan so a mesma,
coisa? exige uma fala: por favor, o sr. pode nos trazer pao? Could
you bring us some bread?
BE aquisse pode perceber, no entanto, problema da opa-
cidade intersubjetiva (incomunicabilidade). Por ter uma di-
mensao seméntica (se vocé pedir pao em francés, em inglés,
em alemao em italiano, vocé receberé a mesma coisa?), a fala
leva & dimensio pragmatica (um franeés olharé com desprezo
e desconfianga 0 pain que o alemao lhe traré: Brot), donde 0
tema da fala e os limites de sua generalizacao objetiva. Ou seja,
ainda que o eédigo seja comum (todos falamos portugués), a
comunidade do eédigo é insuficiente para “vencer” a opacida-
de subjetiva (comunicar-se com alguém),
Por exemplo, se vocé pedir some bread e receber um
guardanapo, voeé protestara, Como protestard se vocé perceber
que na nota fiscal da refeicao consta some bread, que afinal niio
veio, A intuigao nos faz perceber que esse protesto é diferente
num e noutro caso. O que nos faz pensar que a lingua, como
eddigo matricial, é constituida de varios eédigos, cujas respectivas
153
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
falas geram, de novo, problemas de comunicagio. Por isso,
a comunicagao é um paradoxo: para comunicar é preciso
“postular” a comunicabilidade, o que desloca o tema dos
eédigos comuns para “depois” da incomunicabilidade, como
ocorre, analogamente, a meu ver, com a nog&o arendtiana do
poder como um agir conjunto a partir do agir na sua fugaci-
dade e futilidade (refiro-me a disting&éo de Hannah Arendt
entre agéo, fabricacdo e labuta). A opacidade subjetiva faz
da comunicacao uma invencdo paradoxal™: a opacidade é
revelada como tal, isto é, como opacidade mediante a cons-
tituicdo de cédigos. O cheiro bom da carne assada (que eu
sinto) toma sentido de cheiro bom (para o outro) nao porque
deixamos de ser opacos, mas porque nossa opacidade é co-
dificada: diferentes, iguais.
Ora, nesses termos, 0 que chamamos de direito e de mo-
ral 6 um desses cédigos", Trata-se de cédigos que regulam
agir (pragma) como conduta (ethos). Dai o significado que o
cédigo ganha para as relagées chamadas éticas, em que esta
mos, na nossa opacidade, uns perante os outros.
Para esclarecer esse ponto, 0 mesmo Paul Ricoeur nos
fornece uma fecunda discussao sobre a figura do outro, quan-
do encontra ao menos duas acepcées distintas de outro ou de
outros". Valho-me, livremente, da distingSo para refletir sobre
a relagao entre direito e moral em termos de cédigos que me-
diatizam a incomunicabilidade das condutas subjetivamente
113. Notavel, nesse sentido, @ intuigso do dramaturgo italiano Pirandello, em
‘sua novela: Uno, eento mille, nessuno, cujo personagem principal enlouquece,
‘quando sua mulher faz-lhe notar o nariz torto, que ele nunea pereebera, €
que o leva a pensar se também outros o haviam notado ou nd e, afinal, &
reflexdo: sow como me vé minha mulher? Ou como cem mil pessoas me veer,
cada qual a seu modo? Ou como eu me vejo, se 6 que me vejo ou poss0 me ver
como me veem? para concluir quese sou cem mil, abem dizer, ndo sou ninguém.
114, Nessa diregdo vai, aproximadamente, 2 especulacéo fileséfica bem
refletida de Jodo Mauricio Adeodato (Teoria retérica da norma jurfdiea edo
‘ireito subjetivo. Sao Paulo, 2012)
115. RICOEUR, Paul. O justo ow esséncia da justiga. Lisboa, 1995, p. 12 €s.
154
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
‘opacas (em termos arendtianos, a fugacidade e a futilidade do
agir exigem um controle mediante virtude: agir virtuosamente).
Falamos primeiro de um outro que se apresenta diante
de mim, designando-me como tu, isto é, na segunda pessoa do
singular. Esse 6 0 outro com quem me relaciono na primeira
pessoa (eu).
0 outro, nessa primeira acepgao, parece designar qual-
quer um que néo seja eu. Mas para quem também eu sou um
outro. Nesse sentido, mesmo “de tu para tu” somos outros. Mas,
enquanto permanecemos outros, unt é para o outro um tereeiro.
Desse terceiro, porém, enquanto um outro, falamos na terceira
pessoa quando est ausente: ele. Em varios graus de reconhe-
cimento, esse outro é e permanece um tereeiro que se identifi-
ca perante mim como 0 outro das relag6es interpessoais, Vou
chamar esse outro de outrem.
Hi, no entanto, uma segunda acepeao, que na gramatica
portuguesa designamos como sujeito impessoal, muitas vezes
indieado pelo se:fala-se muito ¢ ge,faz pouco. Esse 0 outro que
na velha tradi¢&o juridica dos romanos aparecia no conhecido
adégio latino suum cuique tribuere. Afo outro é cada qual (cui-
que), indistinta e indiferentemente qualquer um. Esse outro é
também um tereeiro, que no se identifica perante mim, mas
do qual presumo expectativas sobre aquilo que se passa entre
mim e 0s outros na primeira acepgdo. E 0 que exprimo, ao re-
lacionar-me com um outro (na primeira acepedo: vamos celebrar
‘wm contrato?), quando conjecturo: que vdo pensar os outros?
(na segunda acepesio: isso pode gerar embargos de terceiro?).
ai aparece 0 senso comum.
Anogao de sentido moral tem relacéo, afinal, com a ideia
de senso comum.
Senso comum nao como faculdade que tém todos os ho-
‘mens —uma espécie de capacidade interna que permite a todos
pensar, conheces, julgar -, mas como um mundo decodificado
155
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
de cada um em sua opacidade (cuique). Senso comum, portan-
to, nao é, pois, o resultado de uma capacidade comunicativa
que poe cada qual um perante 0 outro numa mesma situacao,
mas uma espécie de codificacdo étiea da opacidade subjetiva
enquanto opacidade, isto é, um exercicio de atribuicao de sig-
nificdncia ao outro em sua condigao de outro. F, pois, o resul-
tado da codificacdo da presenca de um outro como um terceiro,
que no se identifica perante mim, mas do qual presumo ex-
pectativas sobre aquilo que se passa entre mim e os outros.
Kant tratou dessa opacidade ao falar de insociével so-
ciabilidade do ser humano, que se pode conjugar com 0 co-
mando ético mediante o qual um sujeito jamais é objeto pe-
rante outro sujeito.
Por isso, também nesses termos, a exigéncia moral de
justica é uma espécie de condigao para que o direito tenha um
sentido, Diante do paradoxo da comunicagao, a opacidade de
cada um é vencida por receber uma significacdo reflexa: a opa-
cidade subjetiva se torna significativa A medida que é codifica-
da como significativa.
Enesses termos pode ser compreendido o sentido moral
como senso do justo, entendido como a significdncia da signi-
{ficlncia do outro, em oposicao 20 injusto como a insignificdncia
da insignifiedncia®
Para entender isso, na relagao entre morale direito, vale
mencionar, afinal, Hannah Arendt quando dizia (referindo-se
ao processo de Eichmann ern Jerusalém) que nao se tratava
de “crime contra 0 povo judew” (insignificancia), mas “contra
a humanidade no povo judeu’ (insignificdneia da insignifican-
cia), de onde a importancia das narrativas ouvidas em teste-
munho como algo mais que um relato (contar), mas como um
contar que conta, isto é, dar significancia & insignificancia do
116. Trabalhei esse tema em meu livre Estudos de filosafia do direito (3. e.
‘Sdo Paulo: Atlas, 2009, p. 279).
156
a ee
‘ODIREITO, ENTRE O FUTURO E 0 PASSADO
insignificante. Nesse sentido, “assumir” a insignifieancia (elimi-
nar 0s judeus) como um ato insignificante (“ninguém faz com
isso algo condenavel, ao contrério, até respeitavel...”) constitu
a insignificéneia da insignificdncia como senso do injusto. Nes-
ses termos poder-se-ia entender, afinal, que o crime de: genocidio
nasceu da percepgao desse segundo nivel da insignifieancia.
6. O cédigo da justiga e a fala justa
Retomo o fio da reflexao.
Disse, anteriormente, que ainda que o cédigo seja comum
(todos falamos portugués), a comunidade do eédigo é insufi-
ciente para “vencer” a opacidade subjetiva (comunicar-se com
alguém). O que desloca, afinal, 0 tema do senso comum moral
da codifieacao para o discurso. ssa passagem érelevante para
entender como um ethos se revela no agir humano justo.
Vamos tomar como paradigma duas herofnas de duas
pegas teatrais notaveis na tradicao ocidental: Antigona e Pér-
cia (Shakespeare, O mereador de Veneza).
Antigona!” enfrenta o tirano com as armas de uma con-
sisténcia radical. Ela tem um ponto defensivo que a sustenta ¢
sustenta seu comportamento até o fim. Uma espécie de ethos
da verdade, que nao abre espaco para nuangas e empurra 0
opositor para a falsidade. Dai um mos sem retorno, a moral que
resiste e condena. E que a leva a solidéo e & morte.
Pércia também tem um ponto. Mas parte do ponto de seu
adversrio™, Com isso ganha nuaneas que, pouco @ pouco,
TIT. Antigona pretende enterrar o irmfo que morrera ao bandear-se para ©
inimigo e lutar contra Tebas, A ordem dl tio, que governa Tebas, é nfo con
ceder enterro a traidores, Antigona se contrapée, invocando um preceito
superior: a ninguém pode ser negado o sepultamento.
118. Trata-se do famoso contrate em que consta a eléusula do pagamento
de uma divida com uma libra de earne, caso nao ocorresse o adimplemento
157
‘TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR
degradam o ponto adversério. Sua verdade é um argumento
que se revela ao final, pois no comego tudo é sombra. Inclusive
ela mesma quando se apresenta como um homem na qualida-
de de advogado (violando as regras da época que proibiam
mulheres de agir em jufzo). Dai um mos de passagens, com
aberturas e fechamentos, que resiste na medida exata em que
parece nao resistir. E que leva ao apoio dos outros, gerando
solidariedade.
A questao pode ser discutida, na implicagao que os para-
digmas tém para as relacdes entre direito e justica enquanto
cédigos e discursos. A justiga enquanto cédigo doador de sen-
tido ao direito é, no paradigma discursive de Antfgona, um
prinefpio constitutivo: sem justica o direito nao se constitui, ¢
inteiramente destitufdo de sentido. No paradigma diseursivo
de Pércia, é um princfpio regulativo, néo constitutive. Ou seja,
emborao direito imoral seja destituico de sentido, isto ndo quer
dizer que ele ndo exista concretamente.
Nesse segundo paradigma, a imoralidade faz com que a
obrigagéo juridica perca sentido, mas nao torna a obrigacdo
juridica juridicamente invdlida. A distinedo é sutil, mas impor-
tante. Um exemplo dos condenados pelo nazismo pode escla-
recer o assunto (cf. Watzlawick; Beavin; Jackson, 1973). Refiro-
-me A atitude daqueles prisioneiros condenados pelo regime
nazista por crimes politicos de diversos graus juridicos de gra-
vidade (direito-cédigo). Aqueles que sentiam que suas acées
tinham servido como contribuigéo para derrotar o regime eram
‘capazes de enfrentar a morte com serenidade: diseurso préximo
ao paradigma de Antigona. Por outro lado, o protesto dramatico
e desesperado diante da morte provinha daqueles que tinham
sido sentenciados por motivos banais, insignificantes, néo obs-
tante estarem previstos pela ordem estabelecida juridicamente,
em dinheiro. Pércia se disfarca em advogado e investe contra o adversario
sem impugnar a cléusula, mas tomande-a literalmente: uma exata libra de
carne, nem wma gota de sangue a mais.
158
0 DIREITO, ENTRE 0 FUTURO E 0 PASSADO
como ter emitido mero comentario irreverente sobre o Fithrer.
‘A morte deles, apesar do jufzo que se tivesse sobre o direito
nazista, violava um discurso da injustiga préximo ao paradigma
de Pércia: ainda que codificada a sancéo, a propria morte deve
ser significativa e ndo mesquinha.
Ou seja, a compulsoriedade da condenagio em nome da
vinculabilidade da obrigag4o juridica nao desaparecia com a
injustica do ato. Mas na fala do senso justo comum, um direito
imoral pode até existir (constituir-se), embora perca sentido
como direito.
159
Potrebbero piacerti anche
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (20026)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDa EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5795)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDa EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDa EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDa EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (12947)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDa EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3278)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDa EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (353)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDa EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2499)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDa EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDa EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (2567)
- How To Win Friends And Influence PeopleDa EverandHow To Win Friends And Influence PeopleValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (6521)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDa EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (5511)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDa EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1108)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Da EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDa EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5718)







![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)