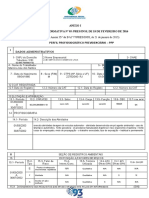Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Introdução Aos Crimes Contra A Vida
Caricato da
Eudocy NetoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Introdução Aos Crimes Contra A Vida
Caricato da
Eudocy NetoCopyright:
Formati disponibili
INTRODUÇÃO AOS CRIMES CONTRA A VIDA1
Prof. Yúdice Randol Andrade Nascimento
1. A organização do Código Penal
O Direito Penal é instruído, dentre outros, pelo princípio da fragmentariedade, segundo o qual as normas penais devem
ser aplicadas residualmente, para solucionar apenas aqueles conflitos que outras formas de regulação social não conseguiram
sanar. Assim, como ultima ratio, deve ser reservado, tão somente, para os mais relevantes setores das relações humanas, sendo
desejável que permaneça afastado de relações mais singelas. Embora seja essa a teoria, na prática, o princípio acima é difícil de
ser percebido, quando se observa que a lei prevê crimes e contravenções de diminuto impacto social, ou mesmo que incidem
sobre objetos questionáveis como bens jurídicos relevantes.
Admitindo esta premissa teórica, contudo, deve-se observar que o Código Penal, enquanto compilação das normas
penais mais importantes, não foi confeccionado de maneira aleatória. Ao contrário, obedece a uma ordem lógica que vai do geral
para o especial: os primeiros 120 artigos contêm as chamadas normas penais de segundo grau, destinadas a definir o âmbito de
aplicação das normas penais propriamente ditas, ou principais, que são as incriminadoras.
Ao se analisar a Parte Especial do Código Penal, que contêm quase que exclusivamente normas incriminadoras, vê-se
que o legislador teve o bom senso de agrupar o gigantesco rol de condutas típicas em títulos, capítulos e seções, de forma que a
organização de nossa lei mais importante segue um padrão que vai do especial para o progressivamente mais especial. Esses
setores, logicamente agrupados a partir de características comuns, também não foram alocados aleatoriamente. Ao contrário,
obedecem a uma valoração legislativa oficialmente baseada na relevância dos bens jurídicos atingidos pelas condutas típicas.
Álvaro Mayrink da Costa2 leciona que o estatuto repressivo está organizado em três grandes setores, quais sejam: crimes
contra o homem; crimes contra a sociedade; crimes contra o Estado. Por outras palavras, pode-se falar em crimes contra o
homem individualmente considerado, tais como os que atentam contra a vida, a liberdade e o patrimônio; crimes contra o homem
enquanto membro de uma coletividade, tais como aqueles que afetam a paz pública, a fé pública ou os chamados delitos de
perigo comum; finalmente, as figuras que têm o Estado como sujeito passivo, assim designados como crimes contra a
Administração Pública ou contra as finanças públicas.
A lei brasileira, portanto, fortemente influenciada pelo Iluminismo, tradicionalmente se organizou do individual para o
estatal, de modo que o homem foi posto como preocupação inicial do Direito Penal, a tal ponto que, isolado, vale mais do que
membro de uma coletividade. Apenas ao final a lei se ocupa dos interesses do Estado.
Sendo hierárquica a organização do Código Penal, também dentro de cada categoria se observa a mesma sistemática,
que vai do mais para o menos importante. Assim, o Título I – Dos crimes contra a pessoa contém seis capítulos, abarcando as
seguintes objetividades jurídicas, nesta ordem de preferência: vida, incolumidade pessoal, honra e liberdade. Nessa seqüência, só
destoa a honra, que deveria estar situada após a liberdade, bem jurídico inegavelmente superior – mas talvez não de acordo com
a mentalidade dos anos 1940.
De todo o exposto, resulta que a vida é o primeiro, o mais importante de todos os bens jurídicos tutelados pela norma
penal. Para nossa tradição, fortemente influenciada pela religião e que se esforça por parecer democrática, nada mais natural.
Afinal, sem vida não há liberdade, nem honra, nem patrimônio e nem muitos outros bens que a norma busca proteger. Assim, a
Parte Especial do Código Penal se inicia tratando dos crimes contra a vida, em número de quatro: o homicídio (art. 121); o
induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122); o infanticídio (art. 123) e as modalidades de abortamento (arts. 124 a 126).
2. Que é vida
Embora seja um dos vocábulos mais conhecidos e utilizados de nosso idioma, definir “vida” está longe de ser simples e,
menos ainda, consensual. Matéria degustada pela filosofia, pela ciência e pela arte, sua definição ainda não está sedimentada
porque sempre se perseguiu explicar a vida a partir de características comuns a tudo que seja vivo. Ocorre que os organismos
dificilmente se encaixam em atributos comuns, o que ficava mais patente à medida que evoluía a ciência. Mesmo em nossos dias,
1
Última revisão em 8.8.2010.
2
COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito Penal: Parte Especial. 5ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 20.
Prof. Yúdice Andrade 1
somos forçados a conviver com diferentes acepções para o vocábulo vida, concebidas consoante variadas matrizes. A ciência
considera vivo algo que reúna o conjunto das seguintes definições3:
a) Definição fisiológica
Define-se o ser vivo a partir de sua capacidade de realizar algumas funções básicas: comer, metabolizar, excretar,
respirar, mover-se, crescer, reproduzir e reagir a estímulos externos. Outrora popular, atualmente esta abordagem se encontra
bastante superada. Até mesmo máquinas podem realizar todas as funções acima e nem por isso, obviamente, situam-se entre os
seres vivos. Um automóvel “come” e “metaboliza” a gasolina, após o que libera gases pelo escapamento. “Respira” oxigênio e
“expira” dióxido de carbono. Por outro lado, algumas bactérias vivem na completa ausência de oxigênio e, portanto, não respiram;
no entanto, são seres vivos.
b) Definição metabólica
Ainda popular entre muitos biólogos, compreende um ser vivo como um objeto finito, que troca matéria continuamente
com as vizinhanças, mas sem alterar as suas propriedades gerais. Embora correta, essa abordagem não se aplica a todos os
casos. Certas sementes e esporos são capazes de permanecer imutáveis, em estado de latência, até mesmo por séculos e,
depois, nascer ao serem semeados. De outra sorte, a chama de uma vela também tem uma forma definida e troca matéria
continuamente com as vizinhanças.
c) Definição bioquímica ou biomolecular
Para esta vertente, reputam-se vivos os seres que contêm informação hereditária reproduzível, codificada em moléculas
de ácidos nucleicos, capazes de controlar a velocidade de reações de metabolização pelo uso de catálise com proteínas especiais
chamadas enzimas. Embora mais sofisticada, esta concepção também apresenta exceção: existe um tipo de vírus desprovido de
ácido nucléico, no entanto capaz de se reproduzir sem a utilização do ácido nucleico do hospedeiro.
Consoante Emmeche e El-Hani4, definir vida não parece, para muitos biólogos, ser possível ou mesmo importante. O
processo da vida, contudo, pode ser definido. A vida é uma propriedade de populações de indivíduos que: se autorreproduzem;
herdam características de seus predecessores por um processo de informação genética; apresentam variações em virtudes de
mutações aleatórias e têm a propensão de deixar descendentes com diferentes graus de viabilidade.
Para os referidos autores, "uma definição de vida deve ser não-vitalista, não fazendo qualquer referência a energias ou
poderes vitais ocultos, forças sobrenaturais, etc." O conceito da divindade não precisa ser acrescentado aos modelos biológicos.
Deus não é necessário para explicar a vida, a evolução dos seres vivos e a mente humana.
A par do modelo tradicional acima, existe outro alternativo e bastante divulgado por outras ciências, da Psicanálise ao
Direito, mas pouco valorizado pelos biólogos moleculares e geneticistas: o da "autopoiese", cujas principais características,
também alheias à ação divina, são estas: a vida é um sistema autopoiético, ou seja, que se autoproduz e se autocria; um sistema
vivo consiste em uma rede de metabólicos componentes que produzem sua própria rede e seus próprios componentes e, mais
ainda, os limites da rede. A autopoiese é um sistema de tudo ou nada e é um sistema emergente em relação a seus componentes
físicos. Estes são apenas dois modelos, havendo vários outros passíveis de consideração.
d) Definição genética
Baseada na contribuição de Charles Darwin à ciência, por meio de sua célebre obra A origem das espécies (1859),
considera vivo um sistema capaz de evolução através de seleção natural. Em linguagem mais atualizada, poderíamos dizer que a
informação hereditária é transportada por grandes moléculas conhecidas como genes. Diferentes genes acarretam diferentes
características no organismo. Na reprodução, o código genético é transmitido para o organismo gerado. Eventualmente, ocorrem
falhas na repetição do código, dando causa a indivíduos mutantes. Nem toda mutação é maléfica, pois algumas podem conferir
características especiais que tornem o organismo mais apto à sobrevivência, por se reproduzir com maior facilidade do que os
demais, podendo tornar-se uma espécie dominante.
3
In: http://web.rcts.pt/luisperna/vida.htm [Acesso em 20.7.2004]
4
In: http://www.str.com.br/Scientia/evolucao.htm [Acesso em 20.7.2004]
Prof. Yúdice Andrade 2
e) Definição termodinâmica
De acordo com o segundo princípio da termodinâmica, num sistema fechado, nenhum processo que leve a um aumento
da ordem interna do sistema pode ocorrer. Todo o universo evolui constantemente para uma situação de maior desordem
(entropia). Já nos organismos vivos, que são sistemas abertos, porque trocam massa e energia com as vizinhanças, a ordem
parece aumentar. Por exemplo: uma planta liberta moléculas ordinárias de água e dióxido de carbono, transformando-as em
clorofila, açúcares e outros hidratos de carbono, moléculas bem mais elaboradas e ordenadas. Para alguns cientistas, na maioria
dos sistemas abertos, a ordem aumenta quando se fornece energia para eles, o que acaba por formar ciclos. O mais comum dos
ciclos biológicos na Terra é o ciclo biológico do carbono. Na oxidação dos hidratos de carbono, o dióxido de carbono é devolvido à
atmosfera, completando o ciclo. Vários ciclos termodinâmicos existem mesmo na ausência de vida, como é observado em certos
processos químicos. De acordo com este ponto de vista, ciclos biológicos são meramente explorações de ciclos termodinâmicos
por organismos vivos.
f) Definição religiosa5
Evidentemente, esta concepção não poderia ser ignorada nem sua ponderação compromete a presente abordagem.
Tanto do lado da ciência quanto do da religião horrendos crimes já foram perpetrados pelo erro de se opor ciência e religião de
forma absoluta6.7
Para as diferentes correntes religiosas, Deus – qualquer que seja a sua nomenclatura, natureza e objetivos – é o criador
do universo e de tudo que nele se encontra, onde se inclui, evidentemente, a vida em todas as suas formas. Numa visão
reducionista, a vida constitui uma exteriorização da vontade divina e, em boa parte das doutrinas religiosas, tal vontade, além de
não poder ser compreendida, não pode sequer ser questionada. Assim, se Deus é, a vida é o que o Deus quiser.
3. O começo da vida humana
Para não nos afastarmos demais do foco de nossa discussão, abstrairemos as correntes que pretendem explicar a
origem da vida na Terra. Interessa-nos mais de perto, apenas, identificar o momento em que a vida humana se inicia, pois antes
dela não se pode cogitar de qualquer conduta criminosa. Não se pode atacar um bem jurídico ainda inexistente. Por outro lado,
presente a vida, seus progressivos estágios conduzem à tipificação de delitos diversos.
A fim de poder demonstrar a ocorrência de um crime contra a vida, forçoso é demonstrar, antes, que o ente vulnerado
pela ação humana estava vivo. Na maioria dos casos, tal comprovação é imediata e óbvia, não ensejando qualquer dificuldade.
Assim é quando o indivíduo possuía vida de relação. Portanto, se uma pessoa caminha por uma calçada e é colhida por um
automóvel em alta velocidade, vindo a falecer, uma vez que se prove a morte (tema a ser abordado adiante), nenhum problema
haverá para se constatar que a vítima estava viva. Todavia, nas hipóteses de agressões contra embriões ou fetos, e bem assim
contra pessoas que não apresentem sinais vitais, por quaisquer razões, inclusive por doenças terminais ou acidentes graves,
questionamentos áridos podem ser suscitados, muitos deles sem uma solução geral satisfatória.
Deve-se resolver, pois, o momento exato em que se inicia a vida, objeto de tutela jurídica. Posteriormente, deve-se
diferenciar a vida intra da extrauterina.
Tão controversa é a problemática do início da vida humana que se podem reunir, a respeito, muitos critérios distintos8:
Tempo decorrido Característica Critério
0min Fecundação – fusão de gametas Celular
12 a 24 horas Fecundação – fusão dos pró-núcleos Genotípico estrutural
2 dias Primeira divisão celular Divisional
5
In: http://www.comp.pucpcaldas.br/~al550217901/oqe.html [Acesso em 20.7.2004]
6
Exemplificativamente, a Doutrina Espírita, codificada pelo intelectual francês Hipollyte Leon Denizard Rivail (Allan Kardec), sustenta que “Fé
inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade”, cf. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o
Espiritismo. 115ª edição, Brasília: Federação Espírita Brasileira, 1998, p. 303.
7
"Creio num Deus pessoal! Acreditem: nunca em minha vida cedi a uma ideologia atéia. Não existe oposição entre ciência e a religião... A
experiência cósmica religiosa é a mais forte e a mais nobre fonte de pesquisa científica". O homem antigo dava sentido divino a tudo: Existia um
Deus para os animais, outro para as pessoas, outro para o amor... O homem atual resume Deus em duas coisas: Criação e fim do mundo, ou seja,
o ser humano, por não saber explicar tudo, tem que se curvar, uma hora ou outra, à existência de Deus..."Deus começa onde nossa mente
termina". (Albert Einstein)
8
In: http://www.bioetica.ufrgs.br/inivida.htm [Acesso em 15.8.2004]
Prof. Yúdice Andrade 3
3 a 6 dias Expressão do novo genótipo Genotípico funcional
6 a 7 dias Implantação uterina Suporte materno
14 dias Células do indivíduo diferenciadas das células dos anexos Individualização
20 dias Notocorda maciça Neural
3 a 4 semanas Início dos batimentos cardíacos Cardíaco
6 semanas Aparência humana e rudimento de todos os órgãos Fenotípico
7 semanas Respostas reflexas à dor e à pressão Senciência
8 semanas Registro de ondas eletroencefalográficas (tronco cerebral) Encefálico
10 semanas Movimentos espontâneos Atividade
12 semanas Estrutura cerebral completa Neocortical
12 a 16 semanas Movimentos do feto percebidos pela mãe Animação
20 semanas Probabilidade de 10% para sobrevida fora do útero Viabilidade extrauterina
24 a 28 semanas Viabilidade pulmonar Respiratório
28 semanas Padrão sono-vigília Autoconsciência
28 a 30 semanas Reabertura dos olhos Perceptivo visual
40 semanas Gestação a termo ou parto em outro período Nascimento
2 anos após o “Ser moral” Linguagem para comunicar
nascimento vontades
O Prof. Dr. José Roberto Goldim, responsável pela sistematização acima, alerta que o “critério baseado na possibilidade
de ‘comportamento moral’ é extremamente controverso, mas defendido por alguns autores na área da Bioética, como Michael
Tooley”.
A eleição de qualquer um dos critérios acima enfrentará problemas de justificação, embora o mais usual, no Brasil, é o
que se baseia na fecundação. Isso está de acordo com o art. 2º do Código Civil de 2002: A personalidade civil da pessoa começa
com o nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por conseguinte, desde a
fecundação o Direito reconhece o ser como merecedor de tutela. No entanto, não são poucos os que pretendem alterar essa
concepção, com vistas a, principalmente, viabilizar os abortamentos eugênico e voluntário. Nos últimos anos, a questão ganhou o
reforço da luta pela autorização governamental para pesquisas envolvendo células-tronco.
Para a ciência, o critério para constatação da vida humana extrauterina é a respiração autônoma do infante nascido
(indivíduo que completou o processo do parto, mas não recebeu cuidados especiais) ou do recém-nascido. A respiração provoca
alterações em diversos órgãos, tais como diafragma, pulmões, aparelho gastrointestinal, fígado, pleura, traquéia, nervo ótico e
ouvido interno, dentre outros, além de substâncias como saliva, sangue e urina. Essas alterações podem ser percebidas através
das chamadas docimásias. A mais antiga delas, que ainda é a mais usual, é a docimásia hidrostática de Galeno, a qual prova ter
havido respiração pelo fato de que os pulmões de quem respirou aumentam de densidade e flutuam, quando postos em meio
líquido adrede preparado9.
A definição do momento em que a vida extrauterina se inicia é fundamental por causa dos diferentes tipos penais
consignados em lei. Se a agressão contra a vida ocorrer até o início do parto, o crime será de abortamento. Este é o tipo
caracterizado mesmo nas hipóteses em que o feto nasce com vida, vindo a morrer já no meio exterior. Se iniciado o parto,
contudo, o delito já passa a ser de homicídio, mesmo que o feto ainda esteja no interior do útero materno. Questão ainda mais
melindrosa é a do infanticídio, que tem como uma de suas elementares o fato de ocorrer durante o parto ou logo após o mesmo.
Em 29.5.2008, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3510, que
tinha por objeto a Lei n. 11.105, de 2005 (“Lei de Biossegurança”). Trata-se de um julgamento histórico da maior relevância,
porque pela primeira vez a Suprema Corte se pronunciou acerca de um conceito juridicamente admissível para a vida. Na ementa
do julgado, encontramos este excerto:
A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E OS DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO EMBRIÃO
PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que ela
começa. Não faz de todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria
de uma concreta pessoa, porque nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" ou da
"personalidade condicional"). E quando se reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos e garantias
individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos
direitos fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade", entre outros direitos e garantias
igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde e ao planejamento familiar). Mutismo
constitucional hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para a legislação ordinária. A
potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente,
9
FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 5ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1998, pp. 244-248.
Prof. Yúdice Andrade 4
contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades não se
confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa
humana embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião referido na Lei de Biossegurança ("in vitro" apenas)
não é uma vida a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades de ganhar as primeiras
terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepetível. O
Direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Os
momentos da vida humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião pré-
implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a Constituição.
Para a completa compreensão da matéria, é importante a leitura integral do voto.
4. A morte
Tornou-se famosa a definição de Carmignani para o crime de homicídio, tradicionalmente considerado o mais grave
ataque aos interesses sociais tutelados pela norma penal: Homicidium est hominis coedes ab homine injuste patrata (homicídio é a
destruição de um homem por outro, por meio de uma ação injusta). Remeto o aluno aos tratadistas, a fim de conhecer as críticas
feitas a essa enunciação clássica. Por ora, impende fixar a noção de homicídio e demais delitos contra a vida como conduta capaz
de causar a morte de um ser vivo. Vencer a tautologia desta explicação exige, naturalmente, situar-se em que consiste a morte.
A morte pode ser entendida como um processo irreversível de perda da atividade altamente organizada que caracteriza a
10
vida . Como “atividade altamente organizada” é expressão bastante genérica e nada autoexplicativa, urge que se esmiúce a idéia.
Segundo França11, “a definição mais simples e tradicional de morte é aquela que a definia como a cessação total e
permanente das funções vitais”, posta em xeque com o advento das técnicas de transplante de órgãos e tecidos. Hoje se sabe que
o fenômeno morte ocorre em etapas sucessivas. Por isso, o avanço científico conduziu ao critério de morte cerebral, “baseado na
cessação da atividade elétrica do cérebro, tanto do córtex quanto das estruturas mais profundas”, que pode ser constatada através
de um eletroencefalograma (EEG) silencioso persistente. Todavia, demonstrou-se que esse critério ainda não era seguro, porque
intoxicações barbitúricas comprovaram que o EEG pode permanecer isoelétrico por dias, após o que o paciente se restabelece.
Avançou-se, assim, para o critério de morte encefálica, que reúne exames clínicos aos eletroencefalográficos. “Hoje, a tendência é
aceitar-se a morte encefálica, traduzida como aquela que compromete irreversivelmente a vida de relação e a coordenação da
vida vegetativa”.
Admitindo as dificuldades de sistematização, o mesmo autor oferece os seguintes padrões para a constatação da morte:
“1. Ausência total de resposta cerebral, como perda absoluta da consciência. Nos casos de coma irreversível, presença
de um eletroencefalograma plano (tendo cada registro a duração mínima de 30 minutos), separados por um intervalo
nunca inferior a 24 horas. Esse dado não deve prevalecer para crianças, ou em situações de hipotermia induzida
artificialmente, de administração de drogas depressivas do sistema nervoso central, de encefalites e de distúrbios
metabólicos ou endócrinos.
2. Abolição dos reflexos cefálicos, como hipotonia muscular e pupilas fixas e indiferentes a estímulo luminoso.
3. Ausência da respiração espontânea por cinco minutos, após hiperventilação com oxigênio 100%, seguida da
introdução de um cateter na traquéia, com fluxo de 6 litros de O2 por minuto.
4. Causa do coma conhecida.
5. Estruturas vitais do encéfalo lesadas irreversivelmente.”
No Brasil, a Lei n. 9.434, de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins
de transplante a tratamento e dá outras providências”, consagra o critério da morte encefálica, comprovada mediante “critérios
clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina” (art. 3º).
O texto que se segue é de grande interesse para os estudiosos do tema e, por sua complexidade, é transcrito na íntegra,
respeitando-se a fonte12.
Logo depois da proposta do padrão de morte cerebral "neocorticalistas". Esses afirmaram que o limite legal da
(Beecher, 1968), formaram-se grupos para debater morte deveria ser o estado de inconsciência
quanto o cérebro precisa estar destruído para que um permanente, que marca a morte da pessoa.
paciente seja declarado morto. Veatch (1975) abriu a Em resposta, partidários do "cérebro inteiro" defenderam
discussão dizendo que seres humanos deveriam ser um padrão que exige a completa morte cerebral. Esse
declarados mortos quando tiverem perdido a capacidade padrão foi posteriormente endossado pela Comissão
de interagir significativamente com os outros humanos. Presidencial para o Estudo de Problemas Éticos na
Veatch recebeu o apoio de um pequeno grupo de Medicina e Pesquisa Biomédica e Comportamental, em
10
In: http://www.gphfecb.ufba.br/Portugues/Textos/Kawasaki1.pdf [Acesso em 20.7.2004]
11
Idem, pp. 281-283.
12
In: http://www.dhnet.org.br/desejos/sonhos/futuro_morte.htm [Acesso em 20.7.2004]
Prof. Yúdice Andrade 5
seu relatório "Defining Death" (Definindo a Morte), de definição de morte porque os órgãos vitais só são
1981, e inscrito no Decreto de Declaração de Morte, que retirados de doadores mortos com permissão, e não
foi aprovado em 36 Estados norte-americanos. temos autorização para "matar" um paciente para salvar
O debate nas décadas de 70 e 80 deixou claro que a outro.
vantagem do padrão do cérebro inteiro não é a Linda Emanuel (1995), da Associação Médica
coerência ética, mas o pragmatismo. O padrão do Americana, propôs que a lei seja redefinida para
cérebro inteiro era mais fácil de operacionalizar, tendia reconhecer uma "zona de morte" entre a inconsciência
conservadoramente para o lado da vida e foi permanente e a cessação da respiração. Dentro dessa
considerado a mudança mais radical que o público zona seria permitido que as pessoas estabelecessem
poderia tolerar. A definição de cérebro inteiro foi desde o suas próprias definições de morte, admitindo a
princípio um compromisso entre os que preferiam uma suspensão do tratamento e a remoção de órgãos até a
definição neocortical e os que preferiam a definição inconsciência permanente. Ninguém deve sofrer
somática de morte. eutanásia se estiver acima dessa zona, e ninguém deve
O padrão de cérebro inteiro foi adotado como um ser enterrado ou cremado antes de parar de respirar.
compromisso entre os três campos: morte corporal, Outra linha desafiadora para a posição do cérebro
morte do cérebro inteiro e morte neocortical. O padrão inteiro veio dos defensores do padrão de morte da
de morte do cérebro inteiro foi apresentado para os circulação e da respiração. Por exemplo, Alan Shewmon
neocorticalistas como uma versão conservadora de seu (1998), neurologista na Universidade da Califórnia em
padrão: se o cérebro inteiro estivesse morto, não Los Angeles, demonstrou que alguns pacientes
haveria possibilidade de recuperação da consciência. sobrevivem mais de dez anos depois de ter
Para os defensores da morte corporal, afirmou-se que a diagnosticada a "morte cerebral". A pesquisa de
morte do cérebro inteiro destrói processos autônomos e Shewmon demonstra que não há nada essencial no
conduz, inexoravelmente, à cessação da respiração e cérebro para a regulação e a manutenção do corpo.
da circulação: a morte do cérebro inteiro seria Os defensores do cérebro inteiro afirmam que esse
simplesmente uma extensão do padrão anterior. padrão estaria intimamente ligado à morte somática, já
Na década de 90, porém, houve uma erosão da posição que a morte do cérebro inteiro levaria inevitavelmente à
do cérebro inteiro, ao menos nos círculos em que é morte somática. Já se revelou que essa ligação é
debatida. A erosão derivou de uma variedade de enganosa. Se a separação do cérebro de sua função na
problemas crescentes. Um desafio foi o conceito de integridade somática fosse equivalente à morte, diz
reversibilidade como critério para a morte. Durante Shewmon, condições como "transecção da junção
décadas ficou claro que alguns pacientes foram cérvico-medular mais vagotomia", com a completa
declarados mortos porque eles, seus responsáveis e separação do cérebro da coluna vertebral, também seria
seus médicos não queriam revivê-los, mesmo quando equivalente à morte, embora o paciente permaneça
poderiam ter sido ressuscitados. Essa admissão foi consciente e o corpo continue funcionando.
codificada na "Ordem de Não Ressuscitar" (DNR, na Tecnologias emergentes de tratamento neurológico logo
abreviação em inglês). provocarão uma crise total do infeliz padrão de morte do
Os cirurgiões da Universidade de Pittsburgh deram o cérebro inteiro. Pesquisas com células-tronco
próximo passo lógico. Em 1992, o centro médico dessa demonstraram que o cérebro tem a capacidade de gerar
universidade aprovou uma diretriz permitindo que os novas células pluripotentes para reparar danos
pacientes com doenças terminais ou lesões cerebrais cerebrais, e que essas células migram para as áreas
fossem inscritos para se tornar "doadores sem danificadas, assumindo as funções necessárias. Vetores
batimento cardíaco" (NHBDs, na sigla em inglês), caso adenovirais têm sido usados com sucesso para
suas doenças permitissem o uso de seus órgãos. Os introduzir fatores de crescimento de nervos e estimular
pacientes não preenchem o critério de morte cerebral, esse crescimento em áreas lesionadas. Pesquisas
mas têm danos cerebrais que os tornam dependentes conseguiram bloquear cadeias químicas que em geral
de ventilação. O procedimento é colocá-los num suprimem a regeneração de neurônios no sistema
ambiente cirúrgico, desligar o respirador, esperar dois nervoso central. Dentro de uma década, deveremos ver
minutos e então iniciar os procedimentos para preservar próteses neurais capazes de assumir as funções de
e remover seus órgãos. Assim como na DNR, a morte tecidos neurais danificados. O desenvolvimento de
não é declarada porque é tecnicamente irreversível, mas dispositivos de informática usando materiais biológicos e
porque se decide não revertê-la. de software desenvolvido sobre modelos biológicos
O procedimento NHBD se disseminou por dezenas de sugere futuras convergências entre computação
outros hospitais, e houve grande debate sobre sua orgânica, software de redes neurais e interfaces entre o
aceitabilidade ética. Em resposta, alguns céticos sistema nervoso e o computador. No futuro, vítimas de
importantes mudaram para a posição de que a morte se lesões neurológicas devastadoras, que antes seriam
tornara irrelevante. Notadamente os bioéticos Robert declaradas sem esperança ou mortas, serão vistas
Arnold e Stuart Youngner (1993) afirmaram que a regra como pacientes potencialmente vivos que merecem
do doador morto deveria ser abandonada. Wikler (1988), uma tentativa de terapia reparadora, a menos que
por exemplo, indica a circularidade de definir esses partes do cérebro com estruturas críticas de identidade
corpos como "mortos" cujo tratamento desejamos estejam comprovadamente destruídas. Se a restauração
suspender, e então suspender o tratamento dos fracassar, o paciente poderá então ser deixado para
"mortos". O protocolo de Pittsburgh amplia a atual morrer.
5. A morte como ação humana criminosa
A tanatologia médico-legal existe primordialmente para estabelecer o diagnóstico da causa jurídica da morte, permitindo
identificar se houve homicídio, suicídio ou acidente.
Prof. Yúdice Andrade 6
São inúmeros os meios pelos quais se pode causar a morte de uma pessoa, daí que se reconhecem, para o homicídio,
meios de execução comissivos e omissivos; materiais e morais (morte por trauma psíquico); diretos (a ação do agente recai sobre
o corpo da vítima, como num estrangulamento) e indiretos (como na exposição da vítima às intempéries, que provocarão a morte
por excesso de frio ou de calor).
As agressões à integridade física, que podem produzir lesões corporais letais ou não, podem ser de variadas ordens.
Suas causas são chamadas energias13, dos seguintes tipos:
a) mecânicas: “aquelas capazes de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, produzindo lesões em
parte ou no todo. (...) Esses meios atuam por pressão, percussão, tração, torção, compressão, descompressão, explosão,
deslizamento e contra-choque” e produzem lesões classificadas em perfurantes, cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes,
pérfuro-contundentes e corto-contundentes;
b) físicas: temperatura, pressão atmosférica, eletricidade, radioatividade, luz e som;
c) químicas: substâncias cáusticas e venenos;
d) físico-químicas: asfixias em geral;
e) bioquímicas: perturbações alimentares, autointoxicações e infecções;
f) biodinâmicas: representadas por uma única síndrome chamada choque, que é a “resposta orgânica a um agente
agressor, através de um mecanismo de defesa destinado a proteger-se dos efeitos nocivos do trauma”, tais como os choques
cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico e periférico;
g) mistas: fadiga, doenças parasitárias e sevícias.
O meio utilizado para provocar a morte pode ser questão da maior relevância, pois a lei prevê, como causas de
qualificação do delito, dentre outras, ser ele provocado por veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura.
6. Conceitos necessários ao estudo dos crimes contra a vida
Por sua própria natureza, os delitos contra a vida exigem familiaridade com conceitos que não provêm do Direito, tendo-
se que buscá-los em suas respectivas fontes originárias. Assim, para que se possa compreender a figura do art. 122, mister que
se defina suicídio, que consiste na destruição consciente e voluntária da própria vida.
Para que se compreenda o tipo do infanticídio (art. 123), três são os conceitos indispensáveis: parto, puerpério e estado
puerperal.
Parto é o conjunto de fenômenos fisiológicos e mecânicos destinados a expulsar o feto viável e anexos. De acordo com
os obstetras, inicia-se com a dilatação do colo do útero, o que se percebe através das contrações. Há quem afirme que o início do
parto se dá com a rotura da bolsa amniótica14. O processo do parto se encerra com a expulsão dos restos placentários, o que
normalmente acontece minutos após o nascimento completo do bebê.
Puerpério (sobreparto ou posparto) é o intervalo de tempo compreendido entre o desprendimento da placenta e a
involução total do organismo materno ao status quo ante15. Passado o parto, gradualmente o corpo readquire suas características
pregestacionais, tais como a redução do volume uterino, o fechamento do pérvio (abertura do colo do útero), o reaparecimento da
rugosidade e normalização do epitélio da vagina e, em geral a partir da décima semana, a retomada da ovulação. O puerpério é
um fenômeno normal a todas as parturientes e dura, em média, de oito dias a oito semanas.
Estado puerperal é uma das mais problemáticas definições conhecidas em Direito, desde que se lembre que, para
muitos médicos, simplesmente não existe um fenômeno real que possa ser classificado como o estado puerperal a que aludem as
ciências forenses. Ele seria apenas uma ficção jurídica destinada a justificar a brandura da pena cominada na lei. É usual defini-lo
como o conjunto de perturbações psicológicas e físicas decorrentes do parto. Para França, jamais ocorre em “partos assistidos,
aceitos e desejados, mas sempre naqueles de forma clandestina e de gravidez intangível”16.
13
FRANÇA, idem, pp. 55, 84, 90, 94, 110 e 112-114.
14
FRANÇA, idem, p. 204.
15
A involução total do organismo feminino às condições que possuía antes da gravidez deve ser entendida, naturalmente, numa acepção médica e
não estética. É sabido que, normalmente, as formas femininas se alteram um pouco com a maternidade, sem que isso negue que o organismo
voltou completamente ao estado não gravídico.
16
Idem, p. 240.
Prof. Yúdice Andrade 7
Finalmente, para a completa elucidação das formas típicas do abortamento (art. 124 a 126), além da definição de parto,
já fornecida, é ainda preciso que se ponha adequadamente em termos a diferença existente entre abortamento e aborto.
Abortamento é a ação de interromper a gestação, provocando a morte do embrião ou feto, antes ou depois de sua
expulsão do ventre materno. Segundo a obstetrícia, quanto ao momento de sua ocorrência, pode ser ovular, embrionário ou fetal.
Quando a gestação atinge o sétimo mês, passa-se a falar em parto prematuro, que se deve entender como a expulsão do feto
viável, antes que complete o seu desenvolvimento.
Aborto, que é o termo indevidamente empregado pela lei e o único conhecido pelo grande público, significa, na verdade,
o produto do abortamento, ou seja, trata-se do ovo, embrião ou feto morto. É forte, porém, a defesa deste vocábulo como o único
a ser empregado, por suposta escorreição vernacular, por ser o termo mais corrente ou simplesmente porque foi adotado na lei.
A legislação penal previu, como crimes, as condutas de a gestante provocar o abortamento em si mesma ou consentir
que alguém o realize nela (art. 124), assim como os de praticar o abortamento, com ou sem o consentimento da gestante (arts.
125 e 126). Numa terminologia extralegal, várias são as classificações reconhecidas, dentre as quais:
a) abortamento eugênico: destinado à eliminação de fetos defeituosos ou com poucas possibilidades de vida autônoma;
b) abortamento social: determinado pela pressão de fatores sociais ou econômicos, tais como o medo da rejeição pelo
grupo de relações mais imediatas ou a falta de condições de criar o filho. A China é o maior exemplo desse tipo de
comportamento, com a chancela estatal e o propósito de conter a superpopulação;
c) abortamento honoris causa: praticado como forma de ocultar a desonra que representa uma gravidez clandestina.
O Código Penal (art. 128), por outro lado, considera lícito o abortamento terapêutico, recomendado nos casos de risco de
morte para a gestante, cuja vida é protegida em detrimento da do feto, de acordo com recomendações médicas e religiosas, até
da Igreja Católica. Cuida-se de verdadeira hipótese de estado de necessidade. Também é lícito o chamado abortamento
sentimental, piedoso ou moral, que é aquele autorizado quando a gestação resulte de violência sexual.
ANEXO
O Suicídio nas civilizações: uma retomada histórica17
Patrícia Almeida Palhares
Saint-Clair Bahls
Resumo: Este artigo traz uma breve retomada histórica sobre a concepção do suicídio, que permeou diversos momentos
históricos. Iniciando nos primórdios da civilização humana até a atualidade, observa-se diferentes épocas e culturas, que ora
permitem ora repreendem o ato suicida. Além do aspecto cultural, percebe-se a influência das religiões na estruturação da forma
de se pensar e reagir ao suicídio. Em cada momento histórico havia um contexto social, econômico, político e religioso que
explicavam ou justificavam o ato suicida, da mesma forma como deve acontecer atualmente e possivelmente continuará no
decorrer dos tempos.
INTRODUÇÃO
O suicídio costuma ser interpretado como um ato isolado de um indivíduo descontente. As análises que procuram detectar a
motivação do suicida estão habitualmente voltadas apenas para a vida do suicida, seus hábitos, suas emoções e as dificuldades
pelas quais estava passando. Aparentemente, o suicídio é um ato individual, solitário, que destoa da vida em sociedade. Contudo,
alguns autores ressaltam a importância e a influência do meio sociocultural nas tentativas e nos modos como aconteciam e
acontecem os suicídios; isto pode ser observado a partir de uma retomada histórica do suicídio em diferentes civilizações. Autores
preocupados em remontar um histórico do suicídio encontraram material que permite rever o conceito de suicídio enquanto algo
com enorme influência do contexto social.
Desde os primórdios da vida humana o suicídio existe e em cada época e em cada civilização teve uma função e um significado.
A partir de uma breve análise histórica de como o homem e a sociedade lidavam e encaravam o suicídio, pode-se observar que
em algumas sociedades primitivas a religião impunha o suicídio como parte da vida; e em outras sociedades eram cometidos
suicídios em massa para fugir da violência de outras civilizações. Tendo em vista aspectos da sociedade grega, da sociedade
romana e ressaltando o suicídio do cristianismo primordial até o século XVIII, pode-se constatar a forte influência da sociedade,
não apenas na motivação, mas também na forma de execução do suicídio.
Sendo assim, este artigo visa uma retomada breve e parcial de como o suicídio foi encarado por diferentes sociedades em
diferentes épocas, levando-se em conta as questões e acontecimentos históricos e culturais destas sociedades e que,
provavelmente, justificam o modo de se lidar e pensar o suicídio que se observa atualmente.
O SUICÍDIO EM SOCIEDADES PRIMITIVAS
As culturas mais antigas tinham formas de encarar o suicídio bem diversas e algumas possuíam rituais para aqueles membros
que se suicidavam e para lidar com o corpo dos que se matavam. Algumas culturas politeístas apresentam registros da
interpretação comunitária do suicídio de seus membros. Pode-se citar como exemplo os vikings, que acreditavam no Valhalla –
“Palácio daqueles que morreram com violência” – como sendo o paraíso. Apenas os mortos violentamente poderiam entrar no
17
In: http://www.aperj.com.br/rev2_mat6.htm [Acesso em 16.8.2004]
Prof. Yúdice Andrade 8
Valhalla e participar do banquete presidido pelo deus supremo Odin. Era uma honra muito grande morrer em batalhas ou, em
segundo lugar, cometer suicídio, o que dava a certeza de se alcançar o paraíso.
Também os esquimós acreditavam na morte violenta como pré-requisito para usufruir do paraíso e o suicídio se incluía neste tipo
de morte. Ruesch (17) descreve como uma morte digna para um esquimó, aquela em que ele, percebendo o seu fim, vai para
longe do seu grupo para morrer, a fim de possibilitar mais alimentos para os jovens e permitir a seu povo não precisar cuidar de
um ancião, sendo este ato normal e desejável para a cultura esquimó.
Entre os astecas, oferecer-se como oferenda aos deuses em rituais de morte era muito bem visto pela comunidade, assim como a
morte em batalhas. Em outras sociedades primitivas como em Uganda, uma mãe deveria se matar, caso um de seus filhos
tivesse morrido; as viúvas hindus também deveriam se matar; os Wajagga, na África Ocidental, substituíam o cadáver de um
suicida por o de uma cabra morta para tranqüilizar seu espírito. Na China antiga alguns homens se matavam antes de iniciar uma
batalha, com o intuito de que suas almas furiosas auxiliariam na luta. (5)
O que existe em comum na maioria destas sociedades é a promessa ao suicida de uma imortalidade, de uma satisfação
hedonista através do suicídio e uma espécie de condecoração honrosa da sociedade por aquele sujeito que se matou em favor do
seu povo e dos seus costumes. Deste modo, não apenas melhoraria o desempenho social (pois elimina os velhos), mas
acrescenta um aspecto onipotente ao suicídio, com a promessa divina de ganho do paraíso. Já que a morte não só era inevitável
como relativamente desimportante, o suicídio, em última análise, passou a ser um ato reforçado pela sociedade e que parecia
proporcionar muitos benefícios àquele que o cometia. Sacrificavam-se dias ou anos neste mundo para banquetear eternamente
com deuses em outros mundos. O suicídio era, portanto, um ato frívolo em essência.
Algumas culturas foram conhecidas por cometerem suicídio em massa quando acuadas por outros povos. Os aborígenes da
Tasmânia, por exemplo, ao serem caçados como cangurus, recusaram-se a procriar, não apenas por se tornarem mera caça,
mas por não admitirem viver em um mundo onde isto fosse possível. Extinguiram-se em menos de três décadas.
Os índios do Novo Mundo se matavam aos milhares para escapar do tratamento cruel dispensado pelos espanhóis. Alvarez (1)
ilustra, com alguns exemplos específicos, como os nativos mexicanos, levados a trabalhar nas minas de Carlos V, se mataram de
fome; o de um carregamento inteiro de escravos que conseguiu se estrangular no porão de um galeão espanhol, apesar do
limitado espaço que os faziam ficar ajoelhados ou agachados; os nativos da América iam em procissão atirar-se do alto de
penhascos, apenas ao saber das proximidades das tropas espanholas. Os espanhóis tiveram uma idéia brilhante para deter a
onda de suicídios de nativos, que escasseava rapidamente a mão- de-obra: ameaçaram matar-se também apenas para persegui-
los no outro mundo, com crueldades ainda piores.
Na antiga Roma, Tarquínio Soberbos com-bateu uma epidemia de suicídio ao ordenar que os cadáveres fossem crucificados e
deixados à mercê dos animais selvagens e das aves (2). Já na Grécia antiga, em Mileto, controlou-se o número de suicídios entre
as jovens, ao ser proposto que seus cadáveres deveriam ser levados nus em passeata pela cidade e pela vergonha de ter o seu
corpo exposto conseguiu-se conter esta epidemia. (5)
É interessante observar que em alguns destes casos foi o desespero que impeliu o suicídio racial. Um fenômeno singular e
incomum, que foge da preceituação moral ou religiosa, mas que, ao mesmo tempo, tem um substrato religioso, como o êxito da
ameaça espanhola bem comprovou. No caso das epidemias de suicídio na Grécia e Roma antigas, já se percebe a influência de
algumas questões morais, já que o suicídio entre as moças foi contido pela vergonha de exibir seu corpo nu. Cabe ressaltar aqui
que grande parte destas sociedades era politeístas, desta forma a moral cristã ainda não havia sido implantada, não influenciando
a forma como se via o suicídio, como será visto mais adiante.
A QUESTÃO MORAL DO SUICÍDIO ENTRE GREGOS E ROMANOS
Foi com os gregos que começou uma nova perspectiva de suicídio, calcada em outros princípios que não a promessa de
benefícios em outro mundo. De início, os gregos consideravam o suicídio um crime hediondo, por entenderem que se tratava de
assassinato de um familiar, que era o crime mais bárbaro da época. Tanto que no idioma grego quase não há diferença entre
assassinato de si mesmo e assassinato de familiares. Em algumas cidades o suicídio era a forma extrema de assassinato de
familiares e o corpo do suicida tinha a mão decepada e era enterrado fora dos “cemitérios” da cidade.
Entretanto, a literatura grega, bem como a mitologia, está repleta de personagens que cometem suicídio e não são recriminados.
Jocasta, Egeu, Erígone, Leucatas, Codro e Licurgo são alguns exemplos* . O que todos estes têm em comum é uma nobreza nos
motivos de seus atos. Aparentemente, o suicídio por pesar, princípios patrióticos ou para evitar a desonra era aceito
tranqüilamente.
Na filosofia grega, o ponto pacífico era que o suicídio não seria tolerado apenas se desrespeitasse gratuitamente aos deuses, ou
seja, se não tivesse um motivo “nobre”. O mais interessante é que a discussão grega é equilibrada e desapaixonada, levando em
consideração uma racionalidade primeva. Alvarez (1) coloca como uma conquista dos gregos passar a pensar o suicídio
racionalmente, sem considerar o envolvimento sentimental dos indivíduos. O racionalismo grego defendia, como Platão, que se a
vida se tornou imoderada, o suicídio se torna um ato justificável. O extremo disto se personificou no pensamento estoicista, cujo
fundador, Zenão, enforcou-se de irritação por haver quebrado o dedão ao tropeçar. Para ele e seus seguidores, o suicídio era a
mais razoável de todas as saídas.
Em Atenas, os magistrados mantinham um estoque de veneno para quem desejasse morrer. Para receber o veneno era
necessário que o sujeito defendesse sua causa perante o Senado para obter a permissão oficial. Sobre isso Durkheim (9) fala que
quem não desejasse mais viver deveria declarar suas razões ao Senado, e recebendo permissão poderia dar fim à vida. Aqueles
que se consideravam infelizes deveriam expor suas aflições e os magistrados lhe dariam a solução para os seus males. Poderia
acontecer também do Senado induzir alguém a cometer suicídio, como foi o caso de Sócrates, que foi obrigado a beber cicuta.
Se os gregos tentaram esvaziar do suicídio o aspecto sentimental justificando o ato pela infelicidade vivida por quem o cometia, já
os romanos o trouxeram de volta. Para eles, o suicídio não era moralmente perverso, ao contrário, a maneira como alguém morria
se tornou uma espécie de “teste de excelência e probidade”. O estoicismo romano é poético e romântico com relação ao suicídio,
como demonstra este trecho de Sêneca, citado por Alvarez (1):
“Homem tolo, de que te lamentas e de que tens medo? Para onde quer que olhes existe um fim para os males. Vês aquele
precipício escancarado? Ele leva à liberdade. Vês aquele oceano, aquele rio, aquele poço? A liberdade mora dentro deles. Vês
aquela pobre árvore mirrada e seca? De cada galho seu pende a liberdade. Teu pescoço, tua garganta, teu coração, todos
Prof. Yúdice Andrade 9
oferecem tantos meios para fugir da escravidão [...] Indagas o caminho para a liberdade? Tu o encontrarás em cada veia do teu
corpo.”
Sêneca apunhalou-se e sua mulher o imitou e, como eles, vários romanos ilustres se suicidaram, como: Lucrécio, Aristarco,
Petrônio, Árbitro, Bruto, Cássio, Marco Antônio, Nero e Otão. Os romanos não viam o suicídio nem com medo nem com repulsa,
mas como uma validação cuidadosa e escolhida do modo como haviam vivido e dos princípios que haviam regido suas vidas.
Viver de forma nobre também significava morrer de forma nobre e no momento certo. Tudo dependia da vontade e de uma
escolha racional.
A lei romana, por sua vez, não retaliava nem degradava o suicídio, tampouco dava mostras de medo ou horror. No Código
Justiniano não se punia o suicídio de cidadãos comuns, desde que motivados por intolerância à dor, à doença, ao fastio da vida, à
loucura ou ao temor da desonra (neste aspecto similar aos gregos). Sem estes motivos, o suicídio era considerado irracional,
sendo julgado não como crime, mas como tolice. A única punição para o suicídio de pessoas comuns era nos casos de
estrangulamento, em que se privava o cadáver de sepultura e no caso de uma tentativa malsucedida o indivíduo ia a julgamento,
podendo ser processado. Os suicídios indesculpáveis eram considerados os de militares e dos detentos à espera de julgamento,
nestes casos o Estado confiscava os bens do morto. (12)
A lei romana ponderava também aspectos econômicos do suicídio. Escravos que tentavam suicídio até seis meses após a
compra eram devolvidos (vivos ou mortos) e o negócio considerado desfeito, com restituição do pagamento. O suicídio de um
soldado era considerado como deserção, pois ele era propriedade do Estado – o sujeito não podia dispor de sua vida, cabia isto
ao Estado; caso ocorresse uma tentativa de suicídio entre os membros do exército que não fosse efetivada, a pena do soldado
seria a morte .
Evidencia-se aqui que o suicídio era um crime apenas de cunho econômico para os romanos. Não era uma ofensa contra a moral
ou a religião, mas sim contra o capital da classe proprietária de escravos ou contra os tesouros do Estado.
Especula-se que a tolerância romana com o suicídio e sua legislação, meramente econômica, são reflexos de uma sociedade
fundada em prazeres violentos. Conquistadores agressivos, os romanos tinham uma índole violenta e seu principal prazer coletivo
envolvia a morte. Escravos, povos subjugados e até mesmo romanos de classes inferiores morriam em espetáculos públicos de
execução com feras ou soldados. Frazer (11) coloca que as pessoas se ofereciam para morrer em execuções públicas por uma
quantia em dinheiro a ser paga a seus herdeiros e que o mercado era tão acirrado que algumas pessoas se ofereciam para serem
surradas até a morte, ao invés de crucificadas ou decapitadas, pois isso seria mais doloroso e implicaria em pagamento maior. A
violência era uma parte importante da economia e do estilo de vida dos romanos. As classes altas ansiavam pela morte alheia. As
classes baixas viam na morte pública uma saída honrosa para a melhoria da qualidade de vida da família.
Supõe-se que isto pode ter contribuído para disseminar o estoicismo entre os romanos. O estoicismo oferecia uma oportunidade
de apegar-se a ideais de razão acima da vida execrável e violenta em que viviam, terminando por significar no ato do suicídio
racional uma espécie de corolário aristocrático da sede de sangue.(1)
Ao analisar a forma como gregos e romanos colocavam o suicídio, pode-se notar que em ambas culturas o suicídio poderia ser
justificado pelas condições de vida desonrosa, por um sofrimento intolerável ou por uma doença insuportável. Em Roma, também
era possível que estes casos fossem julgados e autorizados pelo Senado, mas à medida que estes Impérios foram crescendo
estas concepções e formas de agir perante os casos de suicídios foram se modificando, como veremos a seguir.
------
* Jocasta se mata como uma saída honrosa para uma situação intolerável. Egeu se atira ao mar por pensar que seu filho teseu,
havia sido morto pelo Minotauro. Erígone se mata ao ver o corpo de seu pai morto. Leucatas se atira de um penhasco para não
ser estuprada por Apolo. Codro, monarca de Atenas, entrega-se à morte ao saber que o oráculo previu que Atenas seria
capturada em batalha se seu rei não morresse. Licurgo de Esparta faz o povo jurar fidelidade a suas leis, enquanto ele não
voltasse de sua visita ao oráculo. Após ver o oráculo, manda um mensageiro de volta a Esparta e mata-se de fome apenas para
que o povo fique preso eternamente à sua promessa.
O SUICÍDIO NO CRISTIANISMO
Do mesmo modo que para os romanos, a morte em si não tinha importância para os cristãos. É o revestimento teológico do
cristianismo que faz da vida terrena no mínimo desimportante e no máximo um mal: quanto mais tempo de vida, maior a tentação
de pecar. Para além da morte situou-se o paraíso, o lugar onde se poderia ser verdadeiramente feliz. Uma similaridade com os
vikings, no paraíso encontrar-se-iam com Deus.
No princípio, o cristianismo parece ter se aproveitado desta sede de sangue, demonstrada pelos romanos, junto à idéia do
suicídio, transformando-os em uma busca pelo martírio. Ao que parece, a Igreja primitiva incentivava o suicídio por aumentar o
valor do sofrimento, o que valia como entrada grátis ao reino dos céus. (12)
Outro aspecto romano incorporado pelos cristãos é a importância com o modo de morrer. Além da libertação deste vale de
lágrimas, pecados e tentações da vida, os padres falavam sobre a glória póstuma daqueles que morressem pela fé – de dias
celebrados para eles no calendário da Igreja, de suas coisas adoradas enquanto relíquias e missas celebradas em seu nome. O
martírio também foi associado a uma redenção certa. Tal qual o batismo purgava o pecado original, o martírio redimia
automaticamente os pecados deixados pelo mártir, uma verdadeira garantia de entrada no paraíso.
Deste modo, supõe-se que a perseguição romana ao cristianismo não foi tão acirrada quanto a Igreja apresenta. Os cristãos se
deixavam prender, se entregavam. Inácio, líder cristão na época, dizia: “Deixai-me desfrutar dessas feras, que por meu desejo
seriam ainda mais cruéis do que já são; e se elas não me quiserem atacar, eu as provocarei e as arrastarei à força”. (18) O Padre
Tertuliano proibia explicitamente seu rebanho de fugir da perseguição, exaltando não apenas a glória do martírio, mas
prometendo uma vingança no paraíso. Seu tema era: “Se Cristo-Deus é morto é porque deu seu consentimento; Deus não está à
mercê da carne”.(12)
O grupo cristão mais extremo era os donatistas, que entre os séculos IV e V d.C. batizavam-se para em seguida entregar-se à
decapitação ou à fogueira e ensinavam as crianças cristãs a perturbar os algozes para serem também lançadas ao fogo. O
objetivo de morrer tornou-se tão único que não importava mais o modo da execução. Profanavam templos pagãos, tumultuavam
festas, invadiam tribunais e até detinham viajantes nas estradas com o único intento de serem mortos, pois sua conduta seria
santificada apenas por sua intenção de felicidade eterna. Mas apenas em último recurso se enforcavam ou se lançavam de
precipícios.
Prof. Yúdice Andrade 10
A Bíblia registra cinco suicídios. No Antigo Testamento tem-se Sansão, Saul, Abimelec e Aquitofel – nenhum deles recebe
qualquer comentário desfavorável. No Novo Testamento, o suicídio de Judas Iscariotes é descrito com a mesma concisão: em
lugar de ser somado a seus crimes, seu suicídio parece ser visto como uma forma de arrependimento.
A MUDANÇA DA PERSPECTIVA CRISTÃ SOBRE O SUICÍDIO
No século IV, Sto. Agostinho, contemporâneo dos donatistas, é o primeiro a preocupar-se com o dilema de se considerar o
suicídio permitido ou não. A disseminação do suicídio poderia implicar no auto-extermínio de muitos de seus fiéis. A religião iria
acabar, pois todos os batizados procurariam a morte de imediato.
Não havia nada na Bíblia que Sto. Agostinho pudesse utilizar contra o suicídio. Todo o seu trabalho de argumentação foi
construído a partir do discurso pitagórico e de Platão, calcado no sexto mandamento “Não matarás”. Sobre isso Jean-Jacques
Rousseau (1973) critica que os cristãos não tiraram isto do seu Evangelho, desta forma estariam seguindo o pensamento de
Platão e não a autoridade do Evangelho. Quem se mata desobedece ao mandamento. Além disto, o suicídio para expiar pecados
era uma forma de usurpar a função da Igreja e do Estado. Quem se matava inocente mancharia as suas mãos de sangue,
cometendo pecado. Por último, sendo a vida uma dádiva de Deus, abreviá-la era equivalente a não aceitar a vontade divina. Esta
argumentação foi muito vantajosa para a Igreja por recuperar medos primitivos em seus fiéis, tanto dos preconceitos quanto das
superstições ancestrais. (1)
Graças ao trabalho de Sto. Agostinho, em 533 d.C. o Concílio de Órleans proíbe homenagens fúnebres a suicidas que se
matassem quando acusados de terem cometido crimes e dá à Igreja e ao Estado todos os bens deste. É uma adaptação das leis
romanas, mas aqui se condena o suicídio como crime, visto o tratamento dado ao cadáver. Com o Concílio de Arles em 542, o
cristianismo oficializa a condenação eclesiástica ao suicídio e nos dez anos seguintes houve um consenso de que a morte
voluntária era um pecado contra Deus e um crime contra os poderes seculares. Em Bragues no ano 562, esta lei é estendida a
todos os suicidas. Finalmente em 693 se fecha a porta ao suicídio no Concílio de Toledo, que acrescenta que aquele que
tentasse o suicídio sem sucesso deveria ser excomungado. (12, 18)
O que começa como uma medida preventiva de Sto. Agostinho se transforma em uma mudança de postura. Cria-se aversão e
horror ao suicídio, surgindo definitivamente uma repulsa moral coletiva, que perdurou por muitos séculos. No século XI, São
Bruno chama os suicidas de “mártires de Satã” e afirma que Judas é mais condenável por ter-se matado que por ter traído Cristo.
Todos os argumentos cristãos são calcados nas perspectivas gregas, inclusive os discursos de S. Tomás de Aquino, que no
século XIII ainda colocava que um suicida, seja por que motivo for, não seria enterrado em terras cristãs.
Os corpos dos suicidas passam a ser tratados cruelmente nas diferentes sociedades. Na Inglaterra eram enterrados de bruços,
com estacas no peito, em encru-zilhadas, e na França eram arrastados por cavalos pelas ruas da cidade. Durante a Idade Média
o corpo do suicida era pendurado pelos pés, ateava-se fogo, depois se colocava em tonéis e eram jogados em rios, alguns destes
tinham frases como “deixem ir”. Em Zurique o corpo do suicida por afogamento era enterrado na areia, próximo à água. Neste
tempo, as punições para quem cometia suicídio aconteciam através de mutilações ao corpo. A repressão aos suicidas só diminui
entre os séculos XVII e XVIII, quando a Revolução Francesa (1789-1799), ao propor uma nova legislação, proíbe as condenações
e a Igreja passa a ser mais tolerante. (4)
Segundo Pratts (16) a exposição do corpo do suicida nas praças públicas e estes rituais de tratamento do corpo perduraram por
séculos na Europa, só desaparecendo definitivamente em meados do século XIX; o mesmo ocorreu com a proibição do enterro
cristão aos suicidas, que foi aliviada após a Revolução Francesa.
A REFORMA CRISTÃ NO SÉCULO XII E O SUICÍDIO
As mudanças sofridas pela Igreja influenciaram a mudança das discussões sociais do suicídio. Quando a Igreja se revigora no
século XII, com a inclusão do matrimônio como sacramento, da obrigatoriedade da confissão e institui o purgatório, torna-se
necessário rediscutir a questão do suicídio.
De acordo com Le Goff (13), o purgatório acrescenta ao cristianismo o conceito de mediano que até então não existia. Quando se
era bom, ganhava-se o paraíso, quando se era mal, o inferno. O purgatório passou a ser um lugar onde se poderia ficar indefini-
damente enquanto se “purgavam” pecados terrenos, mas que podia abrir ao homem as portas tanto do inferno quanto do paraíso;
traz um novo sentido aos atos da vida. O que se faz durante toda a vida se torna importante, pois cada atitude assume relevância
singular no destino pós-morte.
Há um retorno da atenção do sujeito sobre ele mesmo, a avaliação constante, uma busca de melhorias de um espaço interior que
antes não existia. O sujeito pode ser depósito de uma série de coisas boas e ruins e a auto-avaliação e a confissão são meios de
ajudar o sujeito a agir de modo a conquistar o céu, ainda que via purgatório. É uma personificação do julgamento final. Para
manter certa coerência, o suicídio continua sendo considerado um pecado hediondo, mas agora existe a possibilidade de a vida
pregressa do sujeito evidenciar que ele estava “tomado pelo demônio”, enlouquecido.
A relativização do pecado, na preocupação em contrapô-lo ao restante da vida do sujeito, abrindo a possibilidade dele expiar sua
culpa no purgatório, se estende também ao suicídio. Esta questão se insere nos tribunais, trazendo a possibilidade de uma
“loucura” do suicida. Torna-se mister compreender, como afirma Veneu (18), a sanidade ou loucura do suicida para determinar se
foi uma decisão racional de tirar a própria vida – passível de punição – ou se foi um ato induzido pelo demônio, pela loucura – o
que absolve o suicida.
Estas discussões se tornaram mais eficazes séculos após terem iniciado. Até o século XVIII a maioria dos suicidas era ainda
acusado de pronto, sem qualquer averiguação. Somente após o século XVIII é que se iniciam processos intrincados de
investigação e a família tem o direito de lutar para provar a doença do suicida, sua loucura, ou sua possessão. Isto aconteceu
após a Revolução Francesa, quando as condenações são proibidas e a Igreja se torna mais tolerante, não aplicando punições a
quem cometeu suicídio num momento de loucura ou se o indivíduo se arrepende diante da morte do ato que cometeu. (5)
Contudo, mudanças importantes se deram entre os séculos XII e XVIII.
A própria palavra “suicídio” é um termo que surge apenas no século XVII, passando a ser mais utilizado a partir de 1734, no auge
do Iluminismo, em escritos dos abades Prévost e Desfontaines. (3) Ao que parece a primeira utilização do termo data de 1642 por
Sir Thomas Browne, mas o termo era raro o bastante para não aparecer na edição de 1755 do, na época famoso, Dicionário do
Dr. Johnson. Antes disto, as palavras utilizadas eram derivativos de palavras como assassinato, homicídio e destruição: auto-
assassinato, auto-homicídio e autodestruição, ou então morte voluntária. (1)
Prof. Yúdice Andrade 11
É, pois, a Igreja que dispara as novas ponderações a respeito do suicídio, pois insere um paradigma que muda a noção do
homem. Por outro lado as avaliações dos magistrados sobre os suicídios cometidos buscavam determinar o grau de insanidade
ou de delinqüência do suicida. Se ele era avaliado como louco, seria inocentado do assassinato de si mesmo – e seus bens eram
restituídos à sua família. Se fosse considerado culpado, sem apresentar loucura, era um criminoso, sendo seus bens
propriedades do Estado. Sobre isto Alvarez (1) traz uma citação de um satirista do século XVIII que ilustra o caminho que esta
discussão acabou tomando:
Ao ler diários oficiais, um estrangeiro pode ser naturalmente levado a imaginar que somos o povo mais lunático que existe no
mundo.Quase todos os dias nos informam que o tribunal de inquérito de mortes suspeitas abriu sessão para deliberar sobre o
corpo de algum miserável suicida e chegou ao veredicto de demência. É fato muito bem sabido, contudo, que o inquérito não foi
feito para averiguar o estado mental do falecido , mas, sim, o estado de sua fortuna e família. A lei de fato determina que aquele
que se mata propositalmente deve ser tratado como um bruto e ser negada as cerimônias de enterro. Mas entre centenas de
lunáticos a granel eu nunca soube que tal sentença tivesse sido aplicada, a não ser contra um pobre sapateiro que se enforcou na
própria barraca. Um pobre diabo sem vintém que não deixou dinheiro bastante nem sequer para custear as despesas do funeral
pode ficar de fora do adro da Igreja. Mas matar-se com uma pistola elegantemente ornamentada ou com uma espada de punho
feita em Paris qualifica o distinto proprietário a uma morte súbita, um pomposo funeral e um monumento a enumerar suas virtudes
na abadia de Westminster.
Entre os séculos XII e XVIII o que mantém viva a discussão sobre suicídio é a produção intelectual e literária. Dante, no século
XIV, em sua Divina Comédia, tece severa crítica aos suicidas, colocando-os quase no fundo do inferno, atormentados
eternamente. Quase contemporâneo a ele, Thomas More (15) escreveu Utopia em 1516. Nesta obra afirma que a morte
voluntária, desde que autorizada pelas autoridades, é um dos costumes da república ideal, mas se não tiver autorização deve ser
retaliada de modo similar à proposta cristã.
Michel Montaigne publica Ensaios, em 1580, onde coloca que “a morte voluntária é a mais bela. Nossa vida depende da vontade
de outrem; nossa morte, da nossa. Em nenhuma coisa, mais do que nesta, temos liberdade para agir” (14) . Parece que o autor
coloca a finitude da vida com desprendimento e coragem, se desvinculando da perspectiva cristã, colocando o sujeito como
responsável pelos seus atos e por sua morte. Aqui se percebe mais uma mudança na compreensão do suicídio, sua inovação
está em pôr a discussão sobre o suicídio com um enfoque para a consciência individual, enquanto árbitro legítimo da escolha
entre a vida e a morte, coisa que não se admitia até então, sempre delegando esta responsabilidade à Igreja ou ao Estado.
Shakespeare (1564-1616) tem sua obra pontuada de comentários suicidas como em Hamlet e Otelo, além do suicídio máximo
romântico de Romeu e Julieta. Hamlet chega mesmo a demonstrar pensar os motivos para a Igreja condenar o auto-assassinato,
pois poderia se libertar das tormentas que sofria. É sabido que o autor não apenas conhecia mais apreciava Montaigne e muitas
discussões que apresenta sobre a moralidade versus a consciência individual sobre o suicídio podem ser um reflexo direto desta
amizade.
John Donne (8) escreve a obra mais polêmica de todas – Biathanatos. Escrito entre 1607 e 1608, Donne não tem coragem de
publicar seu trabalho, mas o mantém escondido até que, depois de sua morte, seu filho lance a primeira edição em 1647. É, em
resumo, uma tese de que o suicídio não pode ser um pecado. Uma obra que vai contra a condenação religiosa ao suicídio, Donne
coloca que a vontade de morrer é algo natural e inerente ao ser humano, é muito mais honroso tirar a própria vida em situações
de sofrimento, pois assim se manteria o mais essencial de si. Numa tentativa de se fazer julgamentos, decide-se, a partir de
circunstâncias de tempo, lugar e pessoas envolvidas, o valor da ação suicida. (18) Parece que aí se tem a primeira tentativa de se
considerar as condições sociais e culturais como determinantes de um comportamento, pois atualmente não se deve pensar em
suicídio sem compreender o contexto no qual ele ocorre e as motivações individuais que levam uma pessoa a se suicidar.
O INÍCIO DA DISCUSSÃO CIENTÍFICA SOBRE O SUICÍDIO
A crescente discussão sobre sanidade/insanidade no século XVIII teve reflexos imediatos nas ciências da época, ultrapassando o
âmbito religioso e jurídico aos quais se circunscrevia. A medicina inicia uma trajetória de construção destes “limites mentais” e a
discussão cresce até englobar o suicídio.
Os estudos científicos se iniciaram no século XIX e o marco histórico na discussão científica sobre o suicídio é o livro de Emile
Durkheim(9), intitulado O Suicídio e subtítulo Um estudo sociológico (publicado pela primeira vez em 1897), que deixava clara a
perspectiva deste autor. Sua questão remetia às condições sociais que produziam tamanho desespero e não mais à moralidade
do ato. Examinando as taxas de suicídio em diferentes países, o autor as relaciona ao “grau de coesão social” em diferentes
culturas e grupos. Sua definição de suicídio é ainda utilizada não apenas ispsis literis, mas principalmente como referência, como
lembra Feijó: (10) “toda morte resulta imediatamente de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima, sabedora de
que deveria produzir este resultado”.
Ele diferencia o suicídio da tentativa sem êxito e se propõe, dentro de uma análise sociológica, a distinguir tipos de suicídio. Sua
classificação é a matriz para classificações posteriores e alguns autores afirmam ser impossível considerar o suicídio sem levar
em conta a questão sociológica levantada por Durkheim. De acordo com Durkheim (9), existem 3 tipos fundamentais de suicídio.
O egoístico seria aquele em que o indivíduo perdeu o sentido de integração com o seu grupo social e procura a morte. O suicídio
anômico é observado entre indivíduos vivendo numa sociedade em crise, na qual faltam padrões de ordem e de comportamento
costumeiros. Por fim, o suicídio altruísta é aquele no qual o indivíduo sacrifica sua vida pelo bem do grupo, refletindo a influência
de mecanismos de identificação grupal.
Tentando não julgar moralmente o suicídio, mas sim conhecê-lo e tecer considerações com o máximo de neutralidade possível,
Durkheim é responsável por abrir o caminho para o desenvolvimento de estudos sobre o suicídio dentro das diferentes vertentes
do conhecimento, tanto sociológico quanto psicológico, médico e antropológico.
CONCLUSÃO
Ao que parece, as discussões atuais sobre o suicídio nas civilizações envolvem a influência da cultura, dos valores e da moral
religiosa. Observam-se diferenciações entre a forma de lidar e de se encarar o suicídio entre as sociedades orientais e ocidentais,
por exemplo. As primeiras, desde seus primórdios aceitavam e até valorizavam os suicidas. O grande exemplo são os Harakiris,
cujo primeiro registro é de 1170, ficando marcante a atuação dos Kamikases durante a II Guerra Mundial. Para o povo japonês o
suicídio tinha um grande significado, pois, vencendo o medo da morte, o samurai destacava-se das outras classes. Hoje em dia, o
Prof. Yúdice Andrade 12
suicídio é considerado como uma forma de se recuperar a honra perdida. Uma especulação, bastante arriscada (mas não de todo
infundada); talvez os atuais homens-bomba que envolvem seus corpos com explosivos tenham se inspirado nas práticas dos
samurais japoneses. Com diferenças de objetivos, matam-se a si e aos outros não por recuperar sua honra, mas para fomentar a
guerra. Já nas sociedades ocidentais tanto o suicídio, quanto a morte são temas negados e deixados de lado. Algumas
características destas culturas demonstram a dificuldade de se encarar a morte e o suicídio, por exemplo, através do culto ao
corpo. O individualismo faz com que as pessoas não se envolvam afetivamente e não se ajudem mutuamente para que não
tenham que sofrer com a perda de alguém querido. Há uma grande perturbação nas sociedades ocidentais quando se fala em
morte e suicídio. Um exemplo foi o suicídio em massa que ocorreu nos Estados Unidos, em 1978, quando centenas de pessoas
se mataram, seguindo a orientação de Jim Jones, provavelmente um fanático religioso que acreditava ser Deus. (7)
Desta breve retomada histórica sobre o suicídio, constata-se que a sua compreensão, as formas de encará-lo e até puni-lo
apresentam um forte vínculo com o momento social em que está inserido, devendo ser considerados detalhes que vão desde o
método empregado até a sua motivação.
Ao longo dos tempos, percebe-se diferentes formas de se encarar o suicídio, em algumas culturas mais permissivas e outras mais
proibitivas. Hoje, existem uma série de restrições, principalmente religiosas, perante o ato suicida; isto se deve ao momento
histórico atual. Acredita-se que a função e a interpretação do suicídio em cada época e em cada cultura foi determinante para o
que vemos e pensamos sobre isso atualmente. A partir de um resgate histórico é possível compreender melhor as ações
humanas atuais, compreender as diferenças culturais, morais e religiosas que tornam o mundo tão diverso e tão rico.
Entender mais sobre a concepção atual de suicídio é ir além do sujeito singular que renuncia à vida. Conhecer o suicídio implica
não apenas conhecer o suicida, sua vida, seus pensamentos, desejos e angústias. Implica também e principalmente conhecer o
meio em que vive: grupos e sociedade. Implica mais ainda em buscar encontrar as meadas que unem estas perspectivas, os
pontos de junção que constituem a sociedade como tal, os homens como tais, e o suicídio como tal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1- ALVAREZ, A. O Deus Selvagem: um estudo do suicídio. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
2- ALVES, E.S. Medicina legal e Deontologia. Curitiba, 1965.
3- BOTEGA, N. J. Suicídio e Tentativa de Suicídio. In: Lafer, B. et alli. Depressão no Ciclo da Vida. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
4- BROMBERG, M.H.P.F.; KOVÁCS, M.J.; CARVALHO, M.M.M.J. & CARVALHO, V.C. Vida e Morte: Laços da Existência. Casa do Psicólogo,
1996.
5- CASSORLA, R.M.S. O que é suicídio. São Paulo: Abril Cultural – Brasiliense, 1985.
6- CASSORLA, R.M.S. Do suicídio: estudos brasileiros. Campinas: Papirus, 1991.
7- DIAS, M.L. O suicida e as mensagens de adeus. In: Cassorla, R.M.S. Do suicídio: estudos brasileiros. Campinas: Papirus, 1991.
8- DONNE, J. BIATHANATOS. London/Toronto: Associated University Press, 1984.
9- DURKHEIM, E. O suicídio. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
10- FEIJÓ, M. Suicídio: entre a razão e a loucura.São Paulo: Lemos Editorial, 1998.
11- FRAZER, J.G. The Golden Bough. Londres, edição resumida, 1960. Tradução de Fabiana Silva.
12- GUILLON, C. & LE BONNIEC, Y. Suicídio: Modo de usar. São Paulo: EMW Editores, 1984.
13- LE GOFF, J. La naissance du purgatoire. Paris, Guillimard, 1981.
14- MONTAIGNE, M.E. Ensaios. São Paulo: Abril Cultural, 1972 (Os Pensadores, XI).
15- MORE, T. A Utopia. São Paulo: Abril Cultural, 1972 (Os Pensadores X).
16- PRATS, L. Aspectos culturais do suicídio. Revista da Associação Portuguesa. Psicologia – Morte e Suicídio. Vol. V, nº 2. Lisboa: 1987.
17- RUESCH, H. No país das sombras longas. Rio de Janeiro: Editora Record,1974.
18- VENEU, M.G. Ou Não Ser. Brasília: Editora UnB, 1994.
Prof. Yúdice Andrade 13
Potrebbero piacerti anche
- Processo Penal II: Fases, Formas e CitaçãoDocumento23 pagineProcesso Penal II: Fases, Formas e CitaçãoWilianDouglasNessuna valutazione finora
- Certidão de JulgamentoDocumento4 pagineCertidão de JulgamentoTacio Lorran SilvaNessuna valutazione finora
- Estado e Direito Não Se ConfundemDocumento8 pagineEstado e Direito Não Se ConfundemSementes VairãoNessuna valutazione finora
- Peça 2Documento16 paginePeça 2janderson12Nessuna valutazione finora
- O Conceito de Homem, Pessoa e Ser Humano Sob As Perspectivas Da Antropologia Filosófica e Do Direito...Documento10 pagineO Conceito de Homem, Pessoa e Ser Humano Sob As Perspectivas Da Antropologia Filosófica e Do Direito...EmersonsbNessuna valutazione finora
- Assédio Moral MilitarDocumento16 pagineAssédio Moral MilitarDaniel FerreiraNessuna valutazione finora
- Resumo de decisões do STFDocumento94 pagineResumo de decisões do STFMatheus PratesNessuna valutazione finora
- Greco, Luís - Tem Futuro A Teoria Do Bem JurídicoDocumento11 pagineGreco, Luís - Tem Futuro A Teoria Do Bem JurídicoFabricio Martins100% (3)
- Boletim Geral No 90 de 16MAI22 CBEF22Documento35 pagineBoletim Geral No 90 de 16MAI22 CBEF22romerciaNessuna valutazione finora
- Concurso Magistratura TJSP Prova Seleção Direito CivilDocumento16 pagineConcurso Magistratura TJSP Prova Seleção Direito CivilLys MoreiraNessuna valutazione finora
- História e desafios da Psicologia Forense em PortugalDocumento10 pagineHistória e desafios da Psicologia Forense em PortugalAna AfonsoNessuna valutazione finora
- Direito Penal – Teoria da Imputação ObjetivaDocumento8 pagineDireito Penal – Teoria da Imputação ObjetivaRoger José MendesNessuna valutazione finora
- MEDEIROS, Flavia - Políticas de Perícia Criminal Na Grarantia Dos Direitos Humanos - Relatório Sobre A Autonomia Da Perício Técnico-CientíficaDocumento32 pagineMEDEIROS, Flavia - Políticas de Perícia Criminal Na Grarantia Dos Direitos Humanos - Relatório Sobre A Autonomia Da Perício Técnico-CientíficajoaraNessuna valutazione finora
- Ações judiciais cíveis e competênciasDocumento6 pagineAções judiciais cíveis e competênciasDenian Castro100% (3)
- Alegações FinaisDocumento14 pagineAlegações FinaisRafah21100% (2)
- Versão Final - Plano de Enfrentamento Ao Assedio Sexual No Ambiente Escolar - PEASAEDocumento32 pagineVersão Final - Plano de Enfrentamento Ao Assedio Sexual No Ambiente Escolar - PEASAEAna Letícia Orsetti DiasNessuna valutazione finora
- Introdução Ao Pensamento Jurídico - Karl EngishDocumento160 pagineIntrodução Ao Pensamento Jurídico - Karl Engishped_kdlNessuna valutazione finora
- Juizados Especiais Cíveis e CriminaisDocumento26 pagineJuizados Especiais Cíveis e CriminaisHeitor Figueiredo Advocacia & ConsultoriaNessuna valutazione finora
- Atenção Às Mulheres Presas: Mulheres No Sistema PrisionalDocumento39 pagineAtenção Às Mulheres Presas: Mulheres No Sistema PrisionalWillian PabloNessuna valutazione finora
- Direito Militar: disciplina sobre crimes e processo penal castrenseDocumento86 pagineDireito Militar: disciplina sobre crimes e processo penal castrenserinaldo diasNessuna valutazione finora
- A Politica Criminal Na Encruzilhada - Ripolles PDFDocumento41 pagineA Politica Criminal Na Encruzilhada - Ripolles PDFSara AssisNessuna valutazione finora
- LS Tabelas APROVAÇÃO PC SP 2022Documento74 pagineLS Tabelas APROVAÇÃO PC SP 2022itsme_brNessuna valutazione finora
- Questões-Abuso-autoridade 4898Documento3 pagineQuestões-Abuso-autoridade 4898Paula Rocha100% (1)
- TJ Ce Anula Condenacao Vitima ProtetivaDocumento4 pagineTJ Ce Anula Condenacao Vitima ProtetivaSão MiguelNessuna valutazione finora
- Criminalizacao Da Negacao Do HolocaustoDocumento76 pagineCriminalizacao Da Negacao Do HolocaustoNeto SilvaNessuna valutazione finora
- Relatório - CPI Do Tráfico de Pessoas No BrasilDocumento393 pagineRelatório - CPI Do Tráfico de Pessoas No BrasilEh ComzNessuna valutazione finora
- Prisão Preventiva No Delito de Estupro de VulnerávelDocumento8 paginePrisão Preventiva No Delito de Estupro de VulnerávelFelipe CoutinhoNessuna valutazione finora
- Resultado Avaliação Aspectos Jurídicos Atuação PolicialDocumento7 pagineResultado Avaliação Aspectos Jurídicos Atuação PolicialKiminai FreireNessuna valutazione finora
- Ordem Juridica Portuguesa - RamosDocumento1 paginaOrdem Juridica Portuguesa - RamosMiguelNessuna valutazione finora
- PPP LUB Serv Lavador 2000 A 2002 MarcosDocumento3 paginePPP LUB Serv Lavador 2000 A 2002 MarcosMery Aguiar da SilvaNessuna valutazione finora