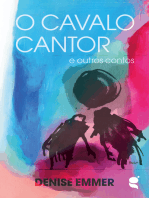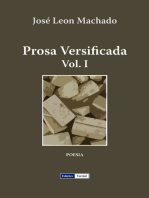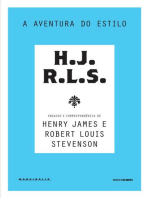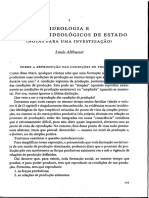Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Adolfo Casais Monteiro Problemas Da Historia Literaria
Caricato da
Valdir PrigolDescrizione originale:
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Adolfo Casais Monteiro Problemas Da Historia Literaria
Caricato da
Valdir PrigolCopyright:
Formati disponibili
Problemas da História Literária
Adolfo Casais Monteiro
I. Crítica e História Literária
Todos aqueles que possuem um tudo-nada de cultura histórica sabem
perfeitamente que o passado nos aparece com uma nitidez de perspectivas que
contrasta com o quase inextricável caos do presente. Mas isto não é uma verdade; é
pura e simplesmente aparência – e sobre isto já não há, porventura, um acordo geral.
O conhecimento do passado e o do presente não são do mesmo gênero; e esta
diferença fundamental faz com que, por exemplo, as lições do passado constituam
um desmoralizadíssimo tema, já que não é possível inserir o que sabemos daquele na
experiência que temos deste. A experiência do presente é a nossa vida; o passado é,
pelo contrário, uma imagem já emoldurada, alheia, e cujo valor se nos impõe duma
maneira inteiramente diversa.
Toda a nossa terminologia é vítima deste décalage, pois constantemente, sem
qualquer restrição, analisamos o passado em termos de experiência, e o presente em
termos de conhecimento histórico. A troca de duas linguagens, ou melhor, a
ausência de duas linguagens nitidamente defnidas, é responsável por um sem-
número de equívocos, de permanentes e péssimas consequências na formulação dos
problemas. O setor da literatura não é dos menos atingidos pelos efeitos deste
confusionismo. E lamentamos ser obrigados a pensar que ninguém é mais
responsável por ele do que os próprios historiadores daquela. Mas o caso destes
ainda é mais complicado que o dos outros historiadores.
A frequentação do passado comporta excessivos riscos para quantos não o
abordam armados duma razoável dose de espírito crítico. Ora, sucede serem
frequentemente os historiadores da literatura destituídos não só dele, como até
duma formação flosófca capaz de lhes abrir os olhos para a diferença que há entre o
formal e o real. Isso escapa-nos muitas vezes, talvez porque quase ninguém leia
histórias da literatura, senão para consulta. Caso contrário, duvidamos que as suas
mais correntes defciências não tivessem ainda feito pesar sobre elas a condenação
que merecem, como obras incapazes de nos pôr em contato com a literatura;
reduzindo-se quase sem exceção a um repositório de fatos, apenas melhor ou pior
ordenados, as histórias da literatura servem somente como elemento de informação,
e nunca de formação.
Será pedir-lhes demais? Não estará cumprida a sua missão ao fornecer-lhes
essas plantas tipográfcas do passado da literatura? Essas certidões de óbito das
épocas e dos autores? Não, não esta cumprida. E não esta porque, se fossemos julgar
a literatura pelo incomensurável tédio que provoca a leitura dos seus historiadores,
teríamos dela uma ideia completamente falsa. Com raras exceções, o historiador da
literatura não parece dar-se conta de não serem fatos mas obras de arte, aquilo que
constitui a sua matéria-prima. E é nesta confusão entre o fato e a obra que esta a sua
fundamental incongruência. Incongruência que não é, pessoalmente, atributo de
cada historiador, mas é incongruência dessa mesma disciplina chamada história da
literatura.
A história da literatura deveria ser o campo do conhecimento em que melhor se
cuidasse de não confundir a experiência com o conhecimento histórico,
precisamente porque a sua matéria não fca esgotada por este conhecimento.
Consoante a literatura do passado esta morta ou continua viva, assim o
historiador precisaria de dois métodos; mas, ao considerá-la apenas expressão do
passado, ele, quanto mais adjetivos acumula na excelente intenção de manifestar o
seu apreço, mais enterra os pobres dos autênticos escritores que, incapaz de
distinguir especifcamente dos maus, acaba por sepultar na mesma vala comum,
embora distribuindo, aqui e ali, cruzes de ouro e de prata, que são a sua escala de
valores. Mas não há dúvida que os põe a dormir da mesma morte, CAMÕES ao lado
de CASTILHO, FERNÃO LOPES lado a lado com qualquer JERÔNIMO OSÓRIO.
Diremos então que o historiador da literatura é um sujeito equivocado? Não: o
equívoco é a própria história da literatura. É essa disciplina, gênero, ou como se
prefra chamar-lhe, que é um engano e um absurdo, como, evidentemente, a sua
irmã, a história da arte. E se estamos em erro, que nos mostrem uma história da
literatura que seja possível por ao lado de algum dos muitos grandes livros que
existem sobre uma fgura, ou sobre o que é vivo numa época; que nos apontem a
história da literatura que não seja o encerramento forçado, nas poucas ou muitas
centenas de páginas de cada um de tais livros, de sujeitos que nada têm de comum
entre si, e que o historiador faz heroicos esforços para nos convencer serem todos
eles folhas pendentes da mesma frondosa árvore.
Porque não se pode escrever a história da literatura como se já tivéssemos
chegado a uma conclusão sobre o que seja literatura. O seu historiador tem de
aceitar o estabelecido, e o estabelecido é uma confusa enumeração de valores e não
valores, é, sobretudo, uma inviável justaposição de coisas-que-aconteceram e de
criações-que-continuam-vivas. E este alternar do morto-vivo resulta, por uma lei
sociológica que ainda esta por determinar, numa fatal preferência do historiador em
favor do morto.
Ah! se os historiadores dessem conta, fnalmente, de que a cronologia é uma
coisa; de que a história das formas é outra; e sobretudo de que é muito outra coisa a
literatura propriamente dita, que não pode ser contada como os fatos dum reinado
ou a evolução dos meios de transporte! E se é necessária uma prova ainda mais
evidente, veja-se o que acontece quando o historiador da literatura se decide a falar
da literatura contemporânea, e a maneira como ele se perde no meio dessa estranha
fauna dos vivos, que justifcadamente o assusta; aqui, a inefcácia dos seus métodos
resulta mais evidente porque quase sempre o leitor esta de melhor partido: quando o
historiador lhe fala de notáveis fguras que ele (leitor) nunca leu (nem ninguém,
possivelmente), aquele compreensível crédito que abriu ao historiador deixa-o
numa vaga aceitação otimista. Mas, quando se trata do presente, o estranho é o
historiador. Toda gente leu coisas que ele ignora, e ao mesmo tempo ele conhece –
também ainda não se estabeleceu a lei que o possa explicar – outros contemporâneos
nos quais mais ninguém ouviu falar. Os historiadores da literatura têm sempre uns
amigos que escrevem coisas e que o leitor só conhece das histórias da literatura. E por
quê? Porque o historiador da literatura não tem senso crítico. Quando fala do
passado, a opinião estabelecida faz as vezes daquele. Mas, quando do presente se
trata...É só ver como é excepcional uma história da literatura que chega até ao
presente dar o devido lugar àqueles que realmente o representam. Para não ir mais
longe, veja o leitor qual o lugar de FERNANDO PESSOA em qualquer história da
literatura portuguesa, escritas antes de (digamos) 1950…
As histórias da literatura falam mais dos reinados do que dos interregnos, e é
justo que assim seja, pois é da natureza destes serem baços e incaracterísticos;
acontece até que tais histórias incluam o interregno no reinado, e eis o que já não se
pode dizer justo. Um interregno é, na realidade, aquele tempo em que não reina
ninguém; é portanto, na literatura, aquele período em que, apagado o fogo sagrado
que alimentou a vitalidade duma fase, talvez já refervam nas profundezas, mas não
chegaram ainda à superfície, as lavas ferventes que trazem consigo a renovação.
O interregno não deve, portanto, ser apresentado como um prolongamento,
porque daí resulta frequentemente, nas histórias da literatura, essa impressão
confusa que chega a dar ao leitor a sugestão de nada ter vida, porque a massa da
literatura de interregno afoga, aos olhos daquele (como afogou talvez aos olhos do
historiador), os autores representativos dum reinado. Assim, veríamos uma grande
vantagem numa história da literatura que, fazendo corresponder efetivamente as
suas divisões aos movimentos reais que dominam a evolução da literatura, isolasse
de cada período vivo o período, não diremos morto, mas destituído de força
realmente criadora, que vem fatalmente após aquele.
Evidentemente que isto implica algo que vai contra uma tradição secreta da
história literária; dar menos importância às escolas, e mais aos valores criadores;
menos às teorias em que se procurou fxar esses valores do que à própria
demonstração prática de tais valores. Assim, por exemplo, a época de EÇA DE
QUEIRÓS ganharia em relevo se o historiador, ao contrário de pretender anexar-lhe
quantos autores foram teoricamente realistas, fzesse a destrinça entre o período
criador do realismo e essa fase – o interregno – em que os autores são realistas em
teoria, só por não terem forças para criar uma visão nova da realidade.
Isso teria, sobretudo, a vantagem de se poder fazer realmente uma história
sociológica da literatura, não no sentido vulgar, que consiste em traçar um quadro
da história social, política e econômica da época, e traçar em seguida o da literatura
do período que aparentemente lhe corresponde, mas estabelecendo de fato as
correspondências – e as contradições, que não são menos signifcativas – entre o que
acontece naquelas e nesta. Por exemplo, o realismo de ABEL BOTELHO sem dúvida
que não é o de EÇA DE QUEIRÓS; aquele, autor do interregno, aplica um método que
já não tem vida, exatamente porque o seu tempo deveria ter criado outra fórmula.
Saber porque não a pôde a sua época criar, e porque se resignou a utilizar um estilo
alheio, estabelecer a relação entre este sinal de pobreza e os possíveis sinais de
fraqueza visíveis nos outros aspectos dessa época, eis o que teria mais interesse do
que pretender ignorar que todos os realistas, sejam eles os seus criadores ou não,
pertencem na realidade a épocas diferentes.
As histórias da literatura dão-nos, de fato, uma visão demasiado simplista
da evolução da literatura, e talvez sejam as principais responsáveis de ser tão
difícil interessar nela estudantes que perante uma foresta de nomes em tal
promiscuidade fcam desde logo com a ideia de que as variações da literatura se
reduzem à substituição do classicismo pelo romantismo, do romantismo pelo
realismo, e pouco mais…
As histórias da literatura deviam ser obras para ler, e não apenas para
consultar, o que sucede quase fatalmente, pelo menos às pessoas dotadas de bom
gosto, e que não tem prazer nenhum em acompanhar os autores numa enumeração
fastidiosa, pois outra coisa não pode resultar dessa tradicional equiparação de
talentos de segunda, terceira, quarta ordem, etc., às fguras de primeiro plano.
Não é o tamanho que afugenta delas o leitor: é a confusão e a monotonia
resultante de, mesmo involuntariamente, o historiador da literatura se caracterizar
por um respeito da coisa escrita que não lhe permite desconsiderar qualquer sujeito
tendo escrito há mais de cinquenta anos, mesmo que a obra deste haja caído no mais
justo dos esquecimentos. A imparcialidade do historiador da literatura é, afnal, uma
injustiça contra aqueles que ganharam o direito ao primeiro plano da literatura.
Cremos que a história da literatura devia ser escrita da mesma forma que se
escreve um ensaio sobre qualquer escritor atual digno do nosso maior apreço,
quer dizer, não só tratando como vivos aos autores que continuam realmente
vivos, mesmo tendo morrido há um, dois ou três séculos, mas também pensando
menos na sua escola do que neles próprios. Isto sem prejuízo, evidentemente, do
que a este segundo título eles podem signifcar, mas que precisamente só conta em
função do seu próprio valor como criadores, e não das teorias que possivelmente
propuseram e impuseram.
Cremos, em suma, que a história da literatura não devia cheirar a cadáver, e
que a sua habitual imparcialidade enumerativa só pode servir para a tornar inútil
como instrumento de cultura, por se reduzir a sê-lo de informação. Cremos mesmo
que não haveria mal algum em que as suas atuais tarefas se dividissem entre uma
história neste sentido que advogamos, e outra que o seria apenas das teorias da
literatura, de tudo aquilo que, vivendo da literatura e para a literatura, não constitui
na realidade, senão um complemento dela. Isto é: poderíamos ter, lado a lado, uma
história viva e uma história técnica da literatura. Talvez os professores de literatura
ganhassem em tomar sobretudo a segunda à sua conta, deixando a primeira àqueles
que, sem preocupações pedagógicas (no mau sentido da palavra…), nos poderiam
dar a história não necrológica da literatura.
O divórcio entre a história e a crítica literária é um dos numerosos absurdos
que resultam do atraso em que o ensino se mantém relativamente à cultura viva;
divórcio que, em certos países, vai ao ponto de fazer da cultura universitária uma
cidadela da resistência aos movimentos pelos quais a literatura se renova, repelindo
para fora das suas portas tudo quanto lhe pareça moderno, apoiando todas as
formas de academismo que lhe dão a ilusão duma saudável fdelidade aos valores
tradicionais.
Não cremos que isto possa mudar de vez senão no dia em que deixe de se
ensinar a literatura de trás para diante, acabando-se com o preconceito de decalcar o
seu ensino sobre o da história propriamente dita. E se escrevemos de trás para diante
foi justamente porque esta expressão, que se usa popularmente para designar a
maneira errada de fazer uma coisa, defne precisamente aquilo que parece ser tido
como única solução racional para o ensino da literatura, mesmo nos países em que já
ganhou direito de cidade uma concepção não historicista da crítica literária.
Não se trata de negar o peso da história que cada obra literária carrega, mas sim
de reconhecer, para efeitos pedagógicos, que ela deva ser ensinada quase como a
física ou a química, ou seja, partindo do que ela é no presente, e integrando o
passado nessa presença viva. Disse quase, pois há, claramente, uma grande
diferença: é que a física não é a história da física, e a aprendizagem daquela é por
assim dizer uma coisa à parte do seu desenvolvimento histórico, enquanto cada
momento da evolução da literatura não é negado pelo que se lhe segue. Mas, salvo
esta diferença, o que pretendemos acentuar é que, ensinada como história, a
literatura ganha imediatamente, no espírito dos alunos, essa coloração de coisa
morta, que lançará no espírito deles a ideia, difícil de arrancar, de que a literatura
nada tem a ver com eles próprios, com a sua experiência, com toda experiência, seja
qual for a sua época.
Pelo contrário, o ensino da literatura a partir do presente permitira que, no
momento de se voltar atrás, já se tivesse feito no espírito dos alunos a integração
dela no conjunto dos seus interesses e curiosidades – e eles poderiam ver, quase sem
esforço, que a continuidade da literatura não é uma sucessão de mortes, mas uma
permanência de vida, coisa que o ensino, tal como continua a ser feito,
mergulhando-os sem qualquer preparação numa fase da qual ressalta sobretudo aos
seus olhos a difculdade técnica da leitura, torna difícil, senão impossível.
Talvez tal ideia faça confusão, à primeira vista, a quem não tenha considerado
com objetividade este problema. Para desfazer a confusão, basta, achamos,
comparar o ensino da literatura com o da língua: que língua se começa por
aprender – a do presente ou a do passado? O português de hoje, ou o da Idade Média?
Simplesmente, no ensino da língua a própria força das circunstâncias evitou que
jamais se caísse no erro de ensinar primeiro o passado daquilo que é o próprio
instrumento vivo da comunicação entre os homens; pois isso mesmo era preciso que
passasse a acontecer com a literatura.
É certo que, ao contrário da língua, a literatura não começa a ser aprendida no
berço – e pena é! Contudo, quando a criança tem à sua volta pessoas cujo exemplo, só
por si, as leva a ter curiosidade pela literatura, começa ela, senão no berço, mas pelo
menos muito cedo, a familiarizar-se com a literatura – e então já não corre o mesmo
risco que a grande maioria das que só na escola começam a ter contato com ela, mas
pela via histórica, pela errada via histórica que, por exemplo, faz de CAMÕES (fazia,
pelo menos, no nosso tempo de escola) um motivo de penosas análises gramaticais,
com prejuízo dum poeta que nada incita o escolar a sentir.
Porventura o fanatismo historicista torna difícil a muitos admitir como
legítimas tais evidências. Não é só ensino da literatura, é a própria história dela, e
mesmo a crítica, que continuam a sofrer desse enfeitiçamento tão prejudicial. Os
especialistas da história literária são, com demasiada frequência, mais devotos da
história do que da literatura, e a sua errada devoção pelos monumentos da literatura
não os ajuda nada a tomar contato com a sua realidade viva – identifcando, sem
querer, as obras que continuam vivas com os acontecimentos históricos, que, esses,
só vivem nas suas consequências, mas estão realmente mortos em si – ou melhor,
não tem em si.
Esta historicização da literatura é causa da confusão que o seu estudioso comete
ao dar importância a todo o escrito que pretendeu um dia ser literatura, como se a
sua qualidade estivesse na intenção e não no valor. É certo que a crítica lhe dá o
exemplo dessa confusão; mas a crítica tem a justifcação de ser ela quem faz a
fltragem, a qual deveria poupar ao historiador essas menções de obras mortas ao
nascer, que não contaram no seu tempo e muitos menos contam hoje, mas o
historiador se sente na necessidade de conhecer e mencionar… porque se julgaria
menos historiador se não o fzesse.
E há aqui, evidentemente, lugar para uma distinção: entre a história literária
erudita e a história-crítica, chamemos-lhe assim. Releguemos aquela para a
categoria de tantas subsciências necessárias mas subsidiárias, e que por si próprias
não constituem fermento de cultura, enriquecimento do espírito, mas apenas dos
conhecimentos. E valorizemos a história da literatura viva, única indicada para ser
incluída entre as disciplinas necessárias para a formação duma cultura geral.
Isto implica, claro está, uma valorização do seu signifcado que não pode deixar
de causar perturbações no ramerrão do ensino respectivo. É muito mais simples
ensinar a história da literatura como se fosse a visita a um cemitério. Mas é muito
mais importante ler o que escreveu um autor do que saber quando nasceu e
quando morreu, por quem foi infuenciado e a quem infuenciou – e é isto só, ai de
nós, aqui que se sai da escola sabendo de literatura.
Na magnífca recolha de ensaios e artigos de FIDELINO DE FIGUEIREDO, que se
intitula Últimas Aventuras, encontramos esta frase: “Estudar literatura ou ensiná-la
é apenas estudar ou ensinar a ler”. Embora FIDELINO DE FIGUEIREDO seja mais do
que um notável professor e historiador da literatura – e este livro o prova, entre
tantos outros -, não deixa de ser grato a um literato este encontro com um pedagogo
que sai da norma da sua classe para encarar em última instância a literatura tal
como os que a fazem gostam de a ver considerada, isto é, na sua nudez imediata
perante o leitor.
Porque, como a arte, a literatura reclama a pureza dum contato direto. Este
deve ser o objetivo de qualquer dos instrumentos que o homem criou para a
conhecer; conhecê-la, porém, tornou-se demasiadas vezes, por culpa da história e da
crítica literárias, um véu que a esconde em vez dum auxílio para mais a aproximar
do leitor. De tantas maneiras de a conhecer que ao longo do tempo tem sido
propostas, é bem verdade que nunca saiu uma receita tão efcaz como aquela. E, com
efeito, onde há maior verdade do que no regresso à origem?
Isto não implica lançarmos a história e a crítica literárias ao cesto dos papéis
velhos; se acabamos por reconhecer como última fnalidade o contato direto entre o
leitor e a obra, como mais importante ensinar a lê-la do que tentar desfar em
conceitos o conteúdo do poema ou do romance, não deixa por isso de caber ao
historiador e ao crítico uma função indispensável no campo da cultura. E, antes de
mais nada, reconheçamos ter sido através dos seus erros, dos seus malogros, que se
pode chegar, ao fm e ao cabo, a ver tão claramente que a mais importante função da
história é, em vez de vestir, a de despir a literatura.
Ensinar a ler pode, sem dúvida, entender-se em mais que um sentido. Todo o
historiador, todo o crítico, poderão alegar que nunca pretenderam outra coisa; a
verdade é, porém, fazerem-no o mais das vezes para que o leitor encontre nas obras o
que nelas julgam ver, e não vê-las a elas, pura e simplesmente. E é também certo que
mesmo no sentido mais intuitivo, ensinar a ler poderia tornar-se como uma muito
sutil forma de conduzir o leitor, afnal, a ver o que vê quem tal propõe. Mas isto não
importa: porque o estímulo vale por si, contém uma advertência que deixará o leitor
de sobreaviso; eis precisamente o que não saberiam fazer o historiador e o crítico
para os quais a literatura deve ter um determinado sentido, e ser portanto lida com a
preocupação de o encontrar.
Mas a virtude do historiador e do crítico à moda antiga não esta apenas na lição
que podemos tirar das suas limitações: conhecer, isto é, analisar a literatura com
uma intenção explicativa, tem a sua virtude, e continuará a tê-la, na medida em que
a literatura não tem apenas esse valor essencial que só cada um, pela sua
experiência, poderá encontrar. É a virtude de investigar as conexões entre a
literatura e o mundo, entre ela e as diversas esferas do conhecimento que ela supõe,
embora não constituam os seus limites.
Desde que a história e a crítica não sejam dominadas pela presunção de
esgotarem uma obra com a sua análise, não se colhe senão benefício da sua
frequentação; e diremos até serem elas indispensável complemento, pois que,
embora as obras signifcativas que vêm até nós, de todos os tempos e de todos os
quadrantes, perdurem por alguma coisa que se acrescenta ao que pode ser analisado
– ou seja, se libertem por aí da lei da história -, quem se atreveria a afrmar inútil
uma preparação que torne possível a inocência fnal que elas requerem?
A verdade é que as grandes criações da literatura não são eternas: tornam-se
eternas. É este o paradoxo fundamental de toda a arte. E para que o leitor se possa
encontrar face a face com elas, para que possa existir entre ele e elas essa
comunicação na inocência, é indispensável que a cultura que lhe permita afastar
tudo aquilo que, sem esta, talvez lhe torne impossível tal encontro. Assim, a história
e a crítica literárias, ao mesmo tempo que vestem a literatura de véus cuja
sobreposição a pode encobrir, por isso mesmo tornam destacado o essencial. Donde
podemos concluir que não há inocência sem que primeiro tenha havido ciência.
O homem só ganha perdendo. Inteiro, nunca esta em lugar algum; toda a
complexidade implícita ou patente nas grandes obras da literatura tem de ser
perdida para se ganhar a visão essencial, o supremo valor que assegura a sua
eternidade. O que só por si explica a difculdade que pesa sobre a história e a crítica
literária ainda as mais conscientes das suas limitações, devido à tentação de
transportar pra outra linguagem aquilo que sabem todavia reconhecer como
intransponível. E isto ainda é uma justifcação da história e da crítica analíticas, e até
da tentação de procurar o autor através de sua biografa. Porque o homem não se
satisfaz reconhecendo o mistério: procura desvendá-lo sempre, ao mesmo tempo
que o afrma inviolável. Como haviam a história e a crítica literária de se eximir a
esta lei?
***
CASAIS MONTEIRO, Adolfo. Clareza e Mistério da Crítica. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961, p. 87-88.
Ambiguidade do fenômeno estético
Adolfo Casais Monteiro
…………….
Ora a verdade é que abra literária, como o camaleão, muda de cor conforme o
lugar onde se encontra. Obras que foram muito revolucionárias na época do seu
aparecimento, parecem-nos hoje perfeitamente inócuas, ou, pelo contrário, o poder
de choque, de ação revolucionária de outras só vem a tornar-se perceptível muito
depois. Algumas, tidas como incompreensíveis, fcarem fáceis – e o oposto não é
menos verdadeiro. A obra literária é, por uma grande parte, um refexo das
consciências sobre que passa, e podemos até dizer que, quanto maior ela é, mais
suscetível será de tomar novos sentidos, de aparecer iluminada de maneiras
diversas, mostrando a cada um o lado graças ao qual poderá ser mais viva para
aquele leitor.
p. 87-88.
CASAIS MONTEIRO, Adolfo. Clareza e Mistério da Crítica. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961, p. 87-88.
Potrebbero piacerti anche
- O cancioneiro portuguez da VaticanaDa EverandO cancioneiro portuguez da VaticanaNessuna valutazione finora
- A História portuguesa na narrativa oitocentista: de Herculano ao fin-de-siècleDa EverandA História portuguesa na narrativa oitocentista: de Herculano ao fin-de-siècleValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Associação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaDa EverandAssociação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaNessuna valutazione finora
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasDa EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNessuna valutazione finora
- O Teatro De Bernardo SantarenoDa EverandO Teatro De Bernardo SantarenoNessuna valutazione finora
- Dioniso Matuto: Uma Abordagem Antropológica do Cômico na Tradução de Acarnenses de Aristófanes para o CearensêsDa EverandDioniso Matuto: Uma Abordagem Antropológica do Cômico na Tradução de Acarnenses de Aristófanes para o CearensêsNessuna valutazione finora
- Representações do Princeps Augusto na Eneida de VirgílioDa EverandRepresentações do Princeps Augusto na Eneida de VirgílioNessuna valutazione finora
- A correspondência de Fradique Mendes memórias e notasDa EverandA correspondência de Fradique Mendes memórias e notasNessuna valutazione finora
- A Harpa do Crente: Tentativas poeticas pelo auctor da Voz do ProphetaDa EverandA Harpa do Crente: Tentativas poeticas pelo auctor da Voz do ProphetaNessuna valutazione finora
- Principios e questões de philosophia politica (Vol. II)Da EverandPrincipios e questões de philosophia politica (Vol. II)Nessuna valutazione finora
- Da Janela ao Farol: A Subjetividade do Tempo em Virginia WoolfDa EverandDa Janela ao Farol: A Subjetividade do Tempo em Virginia WoolfNessuna valutazione finora
- Fichamento - Cancioneiro GeralDocumento10 pagineFichamento - Cancioneiro GeralErasto Santos CruzNessuna valutazione finora
- 01 - Análise de A Poética de AristótelesDocumento3 pagine01 - Análise de A Poética de AristótelesKauê Metzger OtávioNessuna valutazione finora
- Poema em Prosa-Fernando PaixãoDocumento110 paginePoema em Prosa-Fernando PaixãoJamesson BuarqueNessuna valutazione finora
- Regimento Proveitoso contra a PestenençaDa EverandRegimento Proveitoso contra a PestenençaNessuna valutazione finora
- Livro - o Segundo Modernismo em PortugalDocumento141 pagineLivro - o Segundo Modernismo em PortugalInêsDouradoNessuna valutazione finora
- Modernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosDa EverandModernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosNessuna valutazione finora
- Maria Helena Santana - O Romance Português Dos Anos 30 - Retratos FemininosDocumento15 pagineMaria Helena Santana - O Romance Português Dos Anos 30 - Retratos FemininosMarisa HenriquesNessuna valutazione finora
- Dispersão 12 poesias por Mario de Sá-CarneiroDa EverandDispersão 12 poesias por Mario de Sá-CarneiroNessuna valutazione finora
- ResenhaPerutelli MônicaVenturiniDocumento3 pagineResenhaPerutelli MônicaVenturiniMônica Venturini100% (1)
- A Mulher Na Poesia Dante, Petrarca e BocaccioDocumento4 pagineA Mulher Na Poesia Dante, Petrarca e BocaccioAnonymous gp78PX1WcfNessuna valutazione finora
- O cego e o trapezista: Ensaios de literatura brasileiraDa EverandO cego e o trapezista: Ensaios de literatura brasileiraNessuna valutazione finora
- O Que É Poesia Menor - (T. S. Eliot)Documento10 pagineO Que É Poesia Menor - (T. S. Eliot)Vanessa SalumNessuna valutazione finora
- Elementos do trágico em Eça de Queirós: A tragédia da Rua das Flores e Os MaiasDa EverandElementos do trágico em Eça de Queirós: A tragédia da Rua das Flores e Os MaiasNessuna valutazione finora
- Autoria, Obra e Público Na Poesia Colonial - Gregório de Matos - Por João A. HansenDocumento27 pagineAutoria, Obra e Público Na Poesia Colonial - Gregório de Matos - Por João A. HansenmoyseshootsNessuna valutazione finora
- Litania dos Transgressores: desígnios da provocação em Lúcio CardosoDa EverandLitania dos Transgressores: desígnios da provocação em Lúcio CardosoNessuna valutazione finora
- A aventura do estilo: Ensaios e correspondência de Henry James e Robert Louis StevensonDa EverandA aventura do estilo: Ensaios e correspondência de Henry James e Robert Louis StevensonNessuna valutazione finora
- Questões Feitas A Hansen e Pécora Carta de CaminhaDocumento7 pagineQuestões Feitas A Hansen e Pécora Carta de CaminhawagnerjosemcNessuna valutazione finora
- Sombras & Sons: Recortes sobre cinema e música contemporâneaDa EverandSombras & Sons: Recortes sobre cinema e música contemporâneaNessuna valutazione finora
- Voltaire político: Espelhos para príncipes de um novo tempoDa EverandVoltaire político: Espelhos para príncipes de um novo tempoNessuna valutazione finora
- Deserto Da Literatura MARCOS SISCARDocumento11 pagineDeserto Da Literatura MARCOS SISCARDanielle MarinhoNessuna valutazione finora
- Pedro Süssekind - A Filosofia em Hamlet PDFDocumento20 paginePedro Süssekind - A Filosofia em Hamlet PDFCharles HopeNessuna valutazione finora
- O Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoDa EverandO Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoNessuna valutazione finora
- O Poeta Melodino, de Francisco Manuel de MeloDocumento306 pagineO Poeta Melodino, de Francisco Manuel de MeloMaria do Rosário MonteiroNessuna valutazione finora
- Arte Barroca 1 PDFDocumento33 pagineArte Barroca 1 PDFMarcellyCosta100% (1)
- Paisagem, entre literatura e filosofiaDa EverandPaisagem, entre literatura e filosofiaNessuna valutazione finora
- Grafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Da EverandGrafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Nessuna valutazione finora
- Adolfo Casais Monteiro o Romancista PDFDocumento2 pagineAdolfo Casais Monteiro o Romancista PDFValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Adolfo Casais Monteiro o Romancista PDFDocumento2 pagineAdolfo Casais Monteiro o Romancista PDFValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Estudos para Uma Bailadora AndaluzaDocumento2 pagineEstudos para Uma Bailadora AndaluzaValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Joao Cabral de Melo Neto Uma Faca So LaminaDocumento10 pagineJoao Cabral de Melo Neto Uma Faca So LaminaValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Adolfo Casais Monteiro A Voz Humana e A PoesiaDocumento2 pagineAdolfo Casais Monteiro A Voz Humana e A PoesiaValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Adelia Prado Com Licenca PoeticaDocumento1 paginaAdelia Prado Com Licenca PoeticaValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Safo PoemasDocumento8 pagineSafo PoemasValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Augusto de Campos TransertoesDocumento11 pagineAugusto de Campos TransertoesValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Silviano Santiago A Aula Inaugural de Clarice 2016Documento9 pagineSilviano Santiago A Aula Inaugural de Clarice 2016Valdir PrigolNessuna valutazione finora
- OBRIST A ARTE DA CURADORIA - OdtDocumento6 pagineOBRIST A ARTE DA CURADORIA - OdtValdir PrigolNessuna valutazione finora
- CAMPOS, Augusto De. O AnticríticoDocumento232 pagineCAMPOS, Augusto De. O Anticríticoprimolevi100% (1)
- Aristoteles Da InterpretacaoDocumento7 pagineAristoteles Da InterpretacaoValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Montaigne DoscanibaisDocumento6 pagineMontaigne DoscanibaisValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Walter Moser Estudos Culturais, Estudos Literarios Reposicionamentos Literatura e SociedadeDocumento64 pagineWalter Moser Estudos Culturais, Estudos Literarios Reposicionamentos Literatura e SociedadeValdir PrigolNessuna valutazione finora
- Aby Warburg SerpenteDocumento24 pagineAby Warburg SerpenteValdir Prigol100% (1)
- Vontade de Saber Comentada - ArtigoDocumento25 pagineVontade de Saber Comentada - ArtigoRenata de CarvalhoNessuna valutazione finora
- A Teoria Da Relatividade Especial e Geral PDFDocumento105 pagineA Teoria Da Relatividade Especial e Geral PDFrevolutoNessuna valutazione finora
- Leonor Arfuch - O Espaço BiográficoDocumento369 pagineLeonor Arfuch - O Espaço BiográficoLuizBalaDEBorrachaWelber100% (1)
- Eduardo Tadeu Análise-De-ConjunturaDocumento24 pagineEduardo Tadeu Análise-De-ConjunturaGermano KrepskyNessuna valutazione finora
- Introdução A Pesquisa em Geografia - Cap1Documento30 pagineIntrodução A Pesquisa em Geografia - Cap1roneidesousaNessuna valutazione finora
- Ciencia Antiga e MedievalDocumento45 pagineCiencia Antiga e MedievalAlexander MoraisNessuna valutazione finora
- 2012 Anais Encontrohq PDFDocumento329 pagine2012 Anais Encontrohq PDFErlan BelloLimaNessuna valutazione finora
- Autobiografia Intelectual Karl Popper PDFDocumento268 pagineAutobiografia Intelectual Karl Popper PDFRafael LopesNessuna valutazione finora
- Teoria Do Etiquetamento Na Produção Jornalística - MonografiaDocumento69 pagineTeoria Do Etiquetamento Na Produção Jornalística - MonografiaLuciana MirandaNessuna valutazione finora
- Monografia Final JamalDocumento37 pagineMonografia Final JamalTratibo Omar Ussene100% (2)
- Fundamentos de Linguísitica AplicadaDocumento19 pagineFundamentos de Linguísitica AplicadavictorlimacrNessuna valutazione finora
- Atlas Linguistico Do Estado de Minas Gerais PDFDocumento13 pagineAtlas Linguistico Do Estado de Minas Gerais PDFLUCIANA244Nessuna valutazione finora
- Metodologias de Investigacao ExameDocumento18 pagineMetodologias de Investigacao ExameAnonymous 58DxU7CsfP100% (1)
- Como Selecionar Conteúdos de EnsinoDocumento14 pagineComo Selecionar Conteúdos de EnsinojulianacarbonieriNessuna valutazione finora
- Alda JunqueiraDocumento27 pagineAlda JunqueiramaryjanesofiaNessuna valutazione finora
- (Revisão) AULA 046 Revisada (Completa)Documento34 pagine(Revisão) AULA 046 Revisada (Completa)Marcio QueirozNessuna valutazione finora
- Cartas de NoverreDocumento3 pagineCartas de NoverreThay BrandãoNessuna valutazione finora
- Rossana Appolloni (21103815) DO SOFRIMENTO A FELICIDADE PDFDocumento209 pagineRossana Appolloni (21103815) DO SOFRIMENTO A FELICIDADE PDFLeander CesarNessuna valutazione finora
- Universidade DE SÃO Paulo Faculdade de Filosofia, Letras E Ciências Humanas Departamento de LinguísticaDocumento330 pagineUniversidade DE SÃO Paulo Faculdade de Filosofia, Letras E Ciências Humanas Departamento de Linguísticanando1706Nessuna valutazione finora
- Artigo CatarseDocumento35 pagineArtigo CatarsePriscila ChistéNessuna valutazione finora
- Anpad - Setembro 2022Documento47 pagineAnpad - Setembro 2022Marco Zinsly100% (1)
- O Corpo Fotografado - Teoria e Prática Da Fotografia - Vol - 1, António José de Brito Costa BarrocasDocumento559 pagineO Corpo Fotografado - Teoria e Prática Da Fotografia - Vol - 1, António José de Brito Costa BarrocasCésar NunesNessuna valutazione finora
- VAZQUEZ. Ética e MarxismoDocumento13 pagineVAZQUEZ. Ética e MarxismoSérgio YanaguiNessuna valutazione finora
- ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, Notas para Uma InvestigaçãoDocumento38 pagineALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, Notas para Uma InvestigaçãoVeronica GurgelNessuna valutazione finora
- Resenha ComaroffDocumento5 pagineResenha Comarofflmendes88Nessuna valutazione finora
- Brincadeiras e JogosDocumento51 pagineBrincadeiras e JogosJeffdonizettiNessuna valutazione finora
- A Tecnologia Empresarial Odebrecht Como FilosofiaDocumento16 pagineA Tecnologia Empresarial Odebrecht Como FilosofiaEvandro De Souza RamosNessuna valutazione finora
- Lingüística Cognitiva e Tradição FuncionalistaDocumento7 pagineLingüística Cognitiva e Tradição FuncionalistaGustavo PinheiroNessuna valutazione finora
- Teoria Dos SistemasDocumento4 pagineTeoria Dos SistemaspghopoNessuna valutazione finora
- Ciências PolíticasDocumento46 pagineCiências PolíticasrafadeoliveiraxNessuna valutazione finora