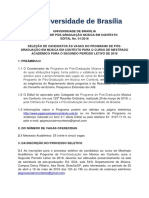Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Festa Preguica e Matulagem O Trabalho I
Caricato da
Roberto ZahluthTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Festa Preguica e Matulagem O Trabalho I
Caricato da
Roberto ZahluthCopyright:
Formati disponibili
Festa, Preguiça e Matulagem:
O trabalho indígena e as oficinas de pintura
e escultura no Grão-Pará, sécs. XVII-XVIII*
Décio de Alencar Guzmán**
Resumo: O artigo trata das condições de trabalho dos indígenas artesãos das
oficinas do Colégio Santo Alexandre (Belém do Pará), nos séculos
XVII e XVIII. Apresenta as suas técnicas, os seus materiais e os
processos criativos que deram vida e expressão à imaginária
jesuítica amazônica. Ensaio algumas respostas às perguntas: Que
sociedade influiu sobre a fantasia dos artistas que confeccionaram
estas obras? Quem eram estes artistas? Em que condições
trabalharam? Qual seu método de trabalho? Em que ocasiões estes
objetos foram mostrados? Entre as fontes de informação
analisadas contam-se as correspondências e as crônicas dos padres
jesuítas João Felipe Bettendorff e João Daniel.
Palavras-Chave: Jesuítas, Arte Mestiça, Amazônia.
Abstract: This paper reflects upon the work conditions of the indigenous
craftsmen in the workshops of Colégio Santo Alexandre (Belém
do Pará - Amazon) during the seventeenth and eighteenth
centuries. It focuses on their techniques, materials and creative
processes that gave life and expression to a jesuitic imaginary in the
amazon basin. I essay some answers to these questions: Which
society inspired the imagination of these indigenous artists that
made these arts? Who were these artists? What were their work
conditions? What was their work procedure? What were the
occasions that these objects were presented? The sources
Revista Estudos Amazônicos • vol. XIII, nº 1 (2015), pp. 01-29
examined are Jesuitical letters and their chronicles, in special those
of the fathers Bettendorff and João Daniel.
Keywords: Jesuits, Mestizo Art, Amazon Region.
Em 1999, inaugurou-se em Belém do Pará um Museu de Arte Sacra, o
primeiro deste tipo em sua história. Este Museu está acomodado num
grande edifício do século XVIII, construído para abrigar o Colégio dos
jesuítas. Além da magnífica decoração interior, o Museu guarda bela
coleção de estatuária em madeira, cuja execução das peças provavelmente
ocorreu no século XVIII.
Ao primeiro olhar, o hibridismo dos elementos iconológicos das
imagens expostas no Museu impressiona o visitante, assim como a fatura
do material com o qual são feitas as imagens exibidas. Este hibridismo não
é mera impressão. É produto da cultura e da sociedade nas quais e para as
quais se fabricaram estas imagens. Deriva também da própria condição
dos homens que as fabricaram. Este é o assunto do presente artigo. Mais
precisamente, no espaço deste artigo buscarei refletir sobre as condições
de trabalho, sobre as técnicas, os materiais e sobre o processo criativo que
deram vida e expressão à imaginária sacra amazônica na primeira metade
do século XVIII. Também me proponho a ensaiar respostas para algumas
perguntas que poderiam ocorrer ao visitante deste Museu. As perguntas
são: Que sociedade influiu sobre a fantasia dos artistas que trabalharam na
confecção destas obras? Quem criou e imaginou estas peças artísticas? Em
que condições trabalhavam estes artistas? Qual seu método de trabalho?
Para que ocasiões eram confeccionadas e como eram vistas estas peças em
Belém do Grão-Pará àquela época? Não pretendo ser exaustivo nas
respostas. Elas serão apenas esboçadas no espaço deste artigo, dado o grau
ainda incipiente de pesquisas neste domínio. Para serem aprofundadas, é
2 • Revista Estudos Amazônicos
necessária a cooperação de especialistas de diferentes ramos de
conhecimento, como, por exemplo, a antropologia estética, a história da
arte ou a química de materiais. Começamos pela configuração da
sociedade e das instituições que abraçavam o cotidiano destes artistas.
A sociedade paraense na virada do século XVII para o XVIII
No momento em que se consolidou a presença jesuítica no Maranhão
e Grão Pará, por volta de 1690, era rei de Portugal Dom Pedro II. As
mudanças da política colonial do seu reinado acompanharam as
transformações da sua política econômica em relação às outras nações
europeias e a ela se conectaram. O ouro e os diamantes de Minas Gerais
começaram a afluir para os cofres da Metrópole a partir destes anos
ocasionando a criação das Capitanias de São Paulo e Minas Gerais, além
da fundação da intendência das Minas, em 1702. Em 1695, houve forte
repressão às revoltas de escravos no nordeste, culminando com a
destruição do Quilombo dos Palmares. No Maranhão e Grão Pará, em
1686, foi promulgado o “Regimento das Missões”, documento que restringia
os poderes dos jesuítas sobre a mão de obra indígena concentrada nos
aldeamentos criados para evangelização dos nativos. Em 1693, as missões
religiosas do vale amazônico foram redistribuídas por Alvará régio,
causando novo golpe ao poder e influência dos padres de Santo Inácio: os
jesuítas tiveram sua zona de influência missionária limitada à margem
direita do rio Amazonas e seus afluentes colaterais destros. Este declínio
dos jesuítas no Grão Pará e Maranhão foi complementado com o
desaparecimento dos religiosos também na Corte, em Lisboa: a partir de
1713, o rei Dom João V escolheu pessoalmente seus confessores entre os
padres oratorianos, excluindo os inacianos como “diretores de
Revista Estudos Amazônicos • 3
consciência” reais1.
Entre os nativos, a população Tupinambá (principal etnia contatada
pelos jesuítas portugueses no litoral do Maranhão e Grão-Pará) sofreu
recomposições étnicas e transformações de identidade, misturando-se a
portugueses e outros grupos indígenas vizinhos ou trazidos para as aldeias
missionárias católicas, com quem casavam-se e tinham filhos. Escrevendo
em 1949, Florestan Fernandes considera-os por volta de 1750 da forma
seguinte:
(...) o contato com os brancos teve efeitos letais para
os Tupinambá. Primeiramente, foram desalojados
de suas posições na biosfera pelos portugueses. Em
consequência, abandonaram o litoral e as regiões
mais férteis de seu primitivo habitat. (...) Os grupos
Tupi que se fixaram no Maranhão, no Pará e na Ilha
de Tupinambarana tiveram posteriormente o
mesmo destino. Em todos estes lugares, os que
persistiram em contato com os brancos foram
exterminados lentamente. Ou então recorreram à
fuga para o sertão. Por isso, nos meados do século
XVIII sobreviveram apenas algumas centenas de
Tupinambá em todas as áreas mencionadas, sob
domínio dos portugueses. Os demais penetraram
profundamente pelo ‘hinterland’ brasileiro, sem
deixarem após si rastos históricos consistentes. 2
O processo de recomposição étnica Tupinambá constituiu-se no vale
amazônico com propriedades históricas específicas a qual denominamos
neste e em outros trabalhos de “caboclização”, ocorrido entre as décadas de
4 • Revista Estudos Amazônicos
1650 e 17203. Sendo os primeiros a tornarem-se aliados dos lusos no
século XVII, rapidamente os Tupinambás do Maranhão e do Pará foram
incorporados às aldeias de missão, primeiro dos franciscanos, depois dos
jesuítas. Aprender o nheengatu — a “língua geral” fabricada pelos
missionários — , assim como as outras mudanças de hábitos, de costumes
cotidianos, de crenças e práticas religiosas, como por exemplo: os
casamentos interétnicos, a sedentarização, o uso intensivo da agricultura
em combinação com a caça e a pesca, o comércio em larga e pequena
escala diferente do escambo praticado antes da chegada dos europeus, a
vida urbana com características cristã-ocidentais, tudo foi parte deste
processo de caboclização. Certamente, este processo não ocorreu apenas
com os Tupinambás, mas envolveu todos os povos nativos que
mantiveram contatos com os portugueses. No entanto, reciprocamente os
portugueses também se “indianizaram” no contato com os nativos. Desde
o século XVII, as necessidades da conquista e a convivência cotidiana
obrigaram igualmente os portugueses a adotarem formas e conteúdos de
vida nativa4.
Em 1720, a situação demográfica das sociedades indígenas falantes da
língua Tupinambá era de decréscimo absoluto. As epidemias de varíola e
sarampo — em especial aquelas dos anos 1621, 1649 a 1652, 1662 e 1690
—, a escravidão ilegal e sem controle, o excesso de trabalho junto às casas
e fazendas dos portugueses, a má nutrição, o alcoolismo, a destruição das
referências culturais e familiares, tudo isso desestruturou os grupos
Tupinambás que viviam entre os brancos havia já pelo menos um século.
O “desaparecimento” destes grupos se confunde com a sua “mistura” a
outros grupos nas aldeias missionárias através do processo de
caboclização, por se europeizarem ou mesmo por se africanizarem 5.
Revista Estudos Amazônicos • 5
Os jesuítas no Maranhão e Grão-Pará
Os jesuítas haviam se instalado em Belém no ano de 1653 oficialmente
autorizados pela Coroa lusitana a criar missões católicas entre os índios e
os colonos portugueses, administrados pela Província jesuítica de
Portugal. Logo após chegar de Lisboa em São Luís, o padre Antônio
Vieira, nomeado primeiro superior da Missão do Maranhão, enviou seus
companheiros João do Souto Mayor e Gaspar Fragoso à Belém, com a
incumbência de fundar um Colégio. Tratava-se de um passo obrigatório a
ser dado pelos jesuítas, pois fixar-se na cidade paraense era pré-condição
para qualquer ordem regular católica ter acesso a toda a bacia do rio
Amazonas como zona de influência missionária. Belém era porta de
entrada para o vale do Amazonas e saída para o Atlântico. Por isso, era
estrategicamente necessário aos jesuítas não permanecer limitados à cidade
de São Luís, no Maranhão. Antônio Vieira anunciava numa carta de 22 de
maio de 1653, escrita no Maranhão e enviada a Francisco Gonçalves,
Superior da Província do Brasil, que o Colégio do Pará já estava nos seus
princípios. O sítio no qual fora levantado o edifício ficava num ponto
privilegiado do pequeno núcleo urbano português. O jesuíta João Felipe
Bettendorff descreve assim a sua localização em 1660, oito anos após o
início da construção:
Para a banda do norte, bem no princípio da cidade,
onde chamavam portão os antigos, está o colégio de
Santo Alexandre dos padres da Companhia de
Jesus, virado com a portaria para a praça assaz
espaçosa. 6
Vinte anos após a edificação da igrejinha colada ao Colégio de Santo
Alexandre, a que os padres deram o nome de São Francisco Xavier,
6 • Revista Estudos Amazônicos
Bettendorff descreve o início da decoração interior da pequena igreja de
São Francisco Xavier do seguinte modo:
faltavam-lhe os retábulos para todos os altares, para
os quais, uns vinte anos depois dela feita, dei ao
Padre Reitor Bento de Oliveira quarenta e duas
couceiras de cedro precioso, largas de três palmos e
compridas de vinte sete para os fazer, correndo por
minha conta... mas não se fizeram, não por falta de
bons mestres entalhadores, mas falta de gente que
as bexigas levaram... 7.
O Colégio Santo Alexandre
A história do Colégio de Santo Alexandre é conhecida e foi narrada
por quase todos os cronistas da Companhia de Jesus no Grão-Pará — do
próprio Pe. Souto-Maior (em 1654) até o Pe. José de Morais (em 1760),
com pequenas diferenças entre elas 8. Quando João do Souto-Maior e
Gaspar Fragoso, ambos portugueses, chegaram à cidade de Belém para
fundar o Colégio o plano era de que, fazendo desta instituição um quartel
general, as missões se estenderiam para dentro dos sertões do Grão-Pará,
até os confins do vale amazônico. Entretanto, as oposições de deputados
da Câmara do Pará foram imediatas, sancionando toda e qualquer
iniciativa dos padres no sentido de instalarem-se na cidade e na região. O
medo destes deputados era o de que os padres monopolizassem o controle
da mão-de-obra indígena, assim como haviam feito em outras partes do
Brasil. Mas, a rejeição dos padres pelos moradores não acabou no episódio
da fundação do Colégio de Santo Alexandre. O anti-jesuitismo se
manifestou com grande força durante o governo de Bernardo Pereira de
Berredo, entre 1718 e 1722, auxiliado por Paulo da Silva Nunes. Ambos
Revista Estudos Amazônicos • 7
possuíam visão negativa dos padres e incitaram os moradores a
revoltarem-se contra eles. Culpavam-lhes de apossarem-se da autoridade
da Coroa portuguesa. Nunes acusava os padres de fazerem comércio com
os espanhóis ao longo do Alto Amazonas, com os holandeses no alto Rio
Negro e com os franceses na costa da Guiana. Atribuía-lhes a falta de
impedirem os portugueses de buscar trabalhadores nas aldeias de missão,
mesmo estando legalmente autorizados por lei. Denunciava que os jesuítas
punham armas de fogo nas mãos dos nativos, provocando a morte de
portugueses. Declarava que os padres encarceravam os brancos em prisões
construídas para este fim nas aldeias de missão. Finalmente, embora
desfrutando simpatia e apoio das autoridades coloniais entre 1722 até
1751, a força da Companhia de Jesus foi declinando mais e mais. No
entanto, seu poder econômico não sofreu abalos definitivos até a expulsão
e confisco dos bens, promulgados pelo Marquês de Pombal, em 1759 9.
O Colégio de Belém prosperava. O nome dado ao Colégio de Belém
foi inspirado nas relíquias de Santo Alexandre e São Bonifácio, trazidas de
Roma para a Missão do Maranhão e oferecidas pelo Papa Urbano VIII. O
primeiro núcleo edificado do Colégio começou a ser construído em 1654.
Como ficava muito próximo à baía do Guajará, que banhava toda a orla
fluvial da cidade, logo a construção foi ameaçada pela extrema umidade
que atingia a zona em que havia sido construída e ficou quase para cair
(ver mapa 1, abaixo). Diz Serafim Leite que “tirou-se-lhe a telha e cobriu-se-lhe
de pindoba”, ficando assim até 1670. A partir deste ano, iniciaram-se novos
alicerces para as grandes obras que deram início ao atual prédio do
Colégio, que abriga hoje o Museu de Arte Sacra do qual falei ao iniciar este
artigo 10.
8 • Revista Estudos Amazônicos
Mapa 1 – Excerto de mapa holandês de Belém do Pará em 1635.
Um dos reitores do Colégio, o padre Bettendorff, deixou um roteiro
das diversas fases de construção do edifício em sua Crônica. Em 1670,
construíram-se dois grandes muros: um para a banda da baía do Guajará
e outro para a rua onde circulavam os moradores do bairro central. Em
1671, Bettendorff debuxou uma planta do Colégio, que enviou para Roma.
Neste pequeno debuxo, vemos ao centro o pátio, todo rodeado de
varandas (deambulacra interiora) nos seus quatro cantos, tendo ao sul um
corredor que se abre para a praça, e ao norte um corredor entre a varanda
e os cubículos que davam para a baía do Guajará; vê-se na direção do
oriente a Igreja do Colégio11. Em 1673, tudo já estava coberto de telhas de
barro, já havia um muro de taipa de pilão, que cercava o pátio central e
suas varandas com pilões que preparavam a construção do segundo andar
do prédio. No mesmo ano, um dos irmãos coadjutores plantou uma horta
de couves e, ainda, parreiras, laranjeiras da China e flores para a Igreja. Diz
Revista Estudos Amazônicos • 9
Serafim Leite que em 1720, o Catálogo do Colégio de Santo Alexandre
apresenta-o em forma de quadra e com as últimas obras. Entre estas,
destaca-se a construção do cubículo no qual se instalara “o Irmão escultor e
os rapazes que aprendem”. O “Irmão escultor” neste ano é o tirolês João Xavier
Traer 12. Esta informação é importante. Compreendermos através dela a
grande necessidade de operários especializados no trabalho artesanal e
mecânico para obras do Colégio do Pará13.
Materiais de Construção
A cobertura das casas mais frequente em Belém na segunda metade do
século XVII era a “palha de pindoba” ou as “palmas de umbussu ou ubussu”.
Por volta de 1631, o frei Cristóvão de Lisboa comprovava que no
Maranhão e Pará a pindoba (usa o nome pindobaite) cobria as casas do
moradores além de servir a outras finalidades 14. Em 1654, o padre
António Vieira observava que ao chegar à aldeia de Mocajuba, próxima a
Cametá, encontrara os índios protestando por serem forçados a procurar
pindoba e guardar com elas as folhas de tabaco de “certa personagem”
importante na aldeia15. Bernardo Pereira de Berredo governador e
primeiro historiador oficial do Maranhão e Grão-Pará relatava que entre
1718 e 1722 os habitantes de Belém, São Luiz, Vigia, Caeté, Cametá e
outros povoados portugueses cobriam suas casas com pindoba tal como
já faziam os primeiros conquistadores da região 16. E poderíamos
multiplicar os exemplos.
Telhas no lugar de “palhas de pindoba” ou de “palmas de umbussu ou buçu”,
faziam os telhados; pedra e cal ao lado das “taipas de pilão”, das “taipas de
mão”, da palha, das varas, dos cipós, das argilas, dos seixos, dos cavacos
primitivos. Com o emprego desses materiais de maior resistência, a nova
construção do Colégio de Santo Alexandre e da Igreja de São Francisco
10 • Revista Estudos Amazônicos
Xavier inaugurava outra etapa da formação urbanística de Belém.
Demonstrava a preocupação dos padres em adotar elementos estruturais
para suas obras que lhes dessem aparência estável, sólida, mas também
monumental. As edificações jesuíticas em Belém foram as únicas a não serem
tocadas pelo gênio de António José Landi, após sua chegada em 1753. O
italiano reedificaria as Igrejas dos mercedários, dos carmelitas, de São João,
do Rosário, de Santana, concluiria os trabalhos da Catedral de Nossa
Senhora da Graça e levantaria outros edifícios públicos e particulares17.
Os caboclos artesãos no Grão-Pará
Desde 1660, António Vieira, superior da missão jesuítica no Maranhão,
pedia ao Superior Geral em Roma “Irmãos Coadjutores oficiais,
principalmente pintores, alfaiates, sapateiros, ferreiros, carpinteiros e
pedreiros”, que auxiliassem os padres nas Missões e ensinassem os índios
e mestiços “habilidosos” nos ofícios mecânicos. Com o desenvolvimento e
a expansão da colonização portuguesa no Grão-Pará ao longo do século
XVII, a produção de objetos foi prioridade nas atividades artesanais dos
trabalhadores indígenas aldeados, dos escravos negros trazidos da África
e dos mestiços de diversas linhagens, que se encontravam, sobretudo, nas
vilas e povoados coloniais do litoral. A necessidade da produção local de
objetos de uso cotidiano era o remédio para a importação dispendiosa de
ferramentas e utensílios fabricados na Europa. Foi também ao longo do
século XVII que se estabeleceu e se estruturou o sistema de missões
religiosas na Amazônia. Foi no contexto destas missões que se formaram
os artistas nativos, negros e mestiços destinados a trabalhar para a
decoração das igrejas, as obras de edificação e manutenção dos colégios e
das próprias missões. No Catálogo de 1720, do Colégio de Santo
Alexandre, já citado, encontramos vários nomes de artistas índios: entre
os aprendizes-pedreiros encontramos um índio de nome Matias, escravo
Revista Estudos Amazônicos • 11
da Fazenda de Gibrié e Caetano, um índio da Fazenda de Mamaiacú. Ao
lado destes havia africanos como: Francisco Maçus e Manuel García.
Entre os ferreiros, encontramos os índios Casimiro e Silvestre. Entre os
carpinteiros (ou “carapinas”), encontramos um certo António Guaiapi,
um tal de Raimundo Tupinambá e Mandu Gregório, todos índios, exceto
o cafuzo Mandu, escravo do Engenho de Ibirajuba. Entre os escultores,
havia os escravos indígenas Manuel, Ângelo e Faustino, da fazenda de
Gibrié. Como torneiros, havia António e Clemente, ambos escravos
indígenas de Gibrié. Havia também alfaiates como o índio Duarte, o negro
Francisco e igualmente um negro corcunda de alcunha Antonio, todos
escravos da Fazenda de Jaguari. Estes dezoito homens trabalhavam
também no Colégio dos jesuítas do Pará em 1720 18. Eram todos
catequizados e conheciam bem os hábitos, costumes e certamente a língua
dos europeus: eram já índios (provavelmente Tupinambá) misturados.
O pagamento destes artífices podia ser efetuado com aguardente, tal
como ficou registrado no momento da construção da segunda igreja de
São Francisco Xavier, em 1668. Aí foram gastos 2.000 cruzados para este
fim19. Ainda neste registro (Catálogo) encontramos a seguinte indicação:
"Além destes oficiais, que de ordinário assistem no Colégio, têm nas
fazendas outros para seu serviço, de que nos Catálogos se faz menção, e
principalmente têm canoeiros e serradores" 20.
Contudo, havia obstáculos que impediam os jesuítas de conservá-los
sob sua direção, pois no momento em que os habitantes das vilas ou os
governadores sabiam da existência de um índio “hábil” ou “talentoso”,
eles faziam qualquer negócio para atraí-los ao serviço. Porém, todos os
nativos eram “talentosos”? Como se define nesta época o “talento” dos
artífices indígenas ou caboclos?
12 • Revista Estudos Amazônicos
As “habilidades” dos caboclos
Por volta de 1767, antes de morrer, o padre João Daniel, jesuíta nascido
na freguesia de Travassos, diocese de Viseu (Portugal), terminava de
escrever um grande Tratado em seis partes sobre o Estado do Grão-Pará
e Maranhão nas masmorras de São Julião da Barra, às proximidades de
Lisboa. Neste escrito ele discorre sobre a região que conhecia
razoavelmente bem, porque havia trabalhado como missionário durante
onze anos. O título do Tratado era “O Tesouro Descoberto no Rio
Amazonas”21. Entre outras coisas, ele iniciava sua dissertação sobre as
habilidades dos índios do Grão-Pará fazendo-lhes elogios, dizendo deles:
Já é tempo de dizermos alguma coisa da grande
habilidade e aptidão dos índios da América para
todas as artes e ofícios da república, em que ou
vencem, ou igualam os mais destros europeus 22.
Segundo João Daniel, os índios possuíam qualidades que, “se
aperfeiçoadas”, poderiam inventar “obras primas” de escultura e pintura. Mas
somente: “se aperfeiçoadas”. Porque, como explica:
(...) nos mesmos matos fazem algumas curiosidades
de debuxos, e embutidos só com o instrumento de
algum dente de cotia, que não só são estimados dos
europeus, mas também claros indícios da sua grande
habilidade. 23
Este primeiro comentário do jesuíta, nos envia para a polêmica — bem
estudada por Antonello Gerbi para as colônias espanholas da América —
sobre o estatuto da “natureza” na América e a importância da noção de
Revista Estudos Amazônicos • 13
“perfectibilidade”, que plasmou tantos dos escritos e das opiniões de
intelectuais europeus dos séculos XVI ao XIX, quando se referiam aos
habitantes do Novo Mundo, à natureza que os circundava e à qual estavam
indefectivelmente associados. Inspirando-se em Aristóteles, esta noção de
“perfectibilidade” era assim definida: a invariabilidade era produto da
perfeição, a imobilidade atributo do Primeiro Motor, assim como a
mudança e a variedade são sinais do monstruoso e do imperfeito24.
Para os jesuítas, os nativos no Grão-Pará Colonial eram o próprio
retrato da indisciplina, da inconstância, da mutabilidade. Ensinar-lhes a
serem disciplinados, a aprenderem pela repetição era o desafio a cumprir:
importava imobilizar-lhes a alma movediça. De acordo com os padres, os
índios seriam civilizados quando finalmente fossem mais “constantes” e
raciocinassem “corretamente”, isto é, segundo a lógica escolástica neo-
aristotélica jesuítica sumarizada pelos Conimbricenses25.
O comentário de João Daniel incorpora a noção polêmica da
“perfectibilidade” dos índios. Ele integra esta noção no seu juízo sobre as
habilidades dos índios do Grão-Pará exercidas nas artes e ofícios dos
colégios, casas, missões e fazendas dos europeus do vale do Amazonas.
Mas, segundo ele, antes de serem aperfeiçoados, os indícios destas
habilidades prometiam obras de interesse significativo. Dentre estas
habilidades, o jesuíta identificava primeiro a notável capacidade dos índios
para imitar. A isto se juntava a rapidez no aprendizado. Não usam nem do
esforço nem da disciplina para aprender:
(...) aprendem todos os ofícios, que lhes mandam
ensinar, com tanta facilidade, destreza e perfeição,
como os melhores mestres, de sorte que podem
competir com os mais insignes do oficio; e muitos
basta verem trabalhar algum oficial na sua mecânica
14 • Revista Estudos Amazônicos
para o imitarem com perfeição. 26
João Daniel se impressionava com o “golpe de vista” que possuíam, entre
os outros talentos, estes índios artesãos, pois, de acordo com ele, não
usavam nem de medidas, nem de compasso para calcular. Bastava
mostrar-lhes algum original, ou dar-lhes a explicação da obra para que eles
as imitassem. E ainda, à capacidade de imitação, somava-se impressionante
eficácia quanto à utilização de material local para a confecção das obras.
“Olham para o madeiro, que tem diante, e já com o machado, já com a
enxó, e depoes [sic] com os mais instrumentos logo, ou com a brevidade
a dão perfeita”27.
O juízo estético pertencia-lhes, pois não apenas julgavam a qualidade
da execução dos trabalhos, mas ainda o resultado plástico dos objetos
criados:
Em uma vila de portugueses havia um índio ferreiro
e serralheiro tão insigne, que os mesmos
portugueses do mesmo ofício lhe davam não só as
primazias, mas também os votos para ser juiz do
ofício. 28
O juiz de ofício era aquele que velava pela função (officium) dentro de
um corpo social. A palavra “ofício”, no trecho citado, não possui apenas o
sentido de “cargo”, mas inclui também a definição da atividade ou
necessidade humana, que se efetua num contexto prático. Consideravam-
se habilidosos apenas quando os índios estavam nas missões dos padres
ou quando estavam a serviço dos moradores brancos, natural
prolongamento da ideia de perfectibilidade dentro do discurso colonial
sobre o trabalho dos índios. Para João Daniel, em seu próprio meio os
índios nada faziam. Ele escreve: “(...) entre si e nos seus matos não usam,
Revista Estudos Amazônicos • 15
nem exercitam ofício algum”. O que demonstram é apenas um “indício”
de sua arte.” Um “indício” a ser aperfeiçoado: todavia não criam, mas
apenas copiam29.
Trabalho e Preguiça
Sem dúvida, as habilidades manuais dos índios do Grão-Pará
impressionaram muito João Daniel. Porém, ele mesmo aponta um
elemento que lhe parecia insuportável: a preguiça dos índios. Este era,
ainda, o principal obstáculo para a realização dos trabalhos artesanais nas
missões. Obstáculo também para a disciplina do trabalho. Segundo ele,
um verdadeiro “vício”. Por isto, depois de demorados elogios à sua
destreza e habilidades quase espetaculares, o jesuíta lançava o anátema:
“Tem porém um senão, que muito os deslustra, e desacredita, e é a grande
preguiça, que os acompanha; de que nasce, que podendo fazer em suas
povoações, e casas muitas curiosidades nos seus respectivos ofícios, nada
fazem senão quando são mandados, ou muito rogados.”30
Daniel afirma que os nativos, mesmo sendo habituados ao regime de
trabalho intenso das missões e das casas dos portugueses, são acometidos
pelo “mal da preguiça”. Não podem desfazer-se deste mal, nem com a mais
firme atenção dos padres a vigiar-lhes o “tempo livre”. Nesta observação
confrontam-se duas concepções em choque sobre a noção de trabalho. A
concepção de trabalho expressa nos documentos regimentais e na
experiência missionária inaciana se definia como: a ausência relativa da
aleatoriedade; repetição; ordem; divisão; previsão; constância; fixação;
disciplina. Em uma palavra: civilização; ou em duas palavras, mais
precisamente: “civilização cristã”. Nenhum destes valores fazia parte do
cotidiano tribal entre os grupos Tupinambás, majoritariamente
empregados como escravos nas fazendas dos jesuítas. Um dos empecilhos
16 • Revista Estudos Amazônicos
encontrados pelos padres para inculcar hábitos cristãos no cotidiano dos
Tupinambás era o fato de os nativos não terem momento certo para pescar
e caçar. Eles caçavam e pescavam a qualquer hora e não faziam caso das
cerimônias católicas, todas com horas marcadas: vésperas, horas, etc. 31.
Os estudos etno-históricos sobre esta sociedade explicam que as
atividades de trabalho obedeciam aos seus regimes demográficos, às suas
possibilidades de adaptação aos quadros ecológicos microrregionais, às
suas formas e crenças religiosas, como também às suas visões de mundo
expressadas em suas mitologias. As necessidades de confecção dos objetos
de uso cotidiano estavam diretamente ligadas às formas de subsistência e
uso dos recursos ecológicos da microrregião em que se encontravam
fixados. O ócio era prezado quando os nativos não precisavam caçar ou
pescar, ou quando não careciam cultivar suas roças. A agricultura intensiva
exauria as forças. Era vital para os índios restaurar as energias com o ócio.
Mas, este ócio foi interpretado com menosprezo pelos padres católicos,
que sempre o chamaram de “preguiça”, como o fez o padre João Daniel32.
Os grupos que viveram em ambientes de várzea, como era o caso dos
Tupinambás, onde há ocorrência de madeiras maleáveis, especializaram-
se na produção de cestas de “miriti” (Mauritia flexuosa) ou outras madeiras
flexíveis. Também houve os que se especializaram na produção de
cerâmica, tecidos e pequenos móveis 33. Sobretudo, como vimos, o tempo
de trabalho nativo não era determinado pelos mesmos critérios do
trabalho entre os europeus. O elemento predominante da economia
Tupinambá consistia na produção rigorosamente indispensável ao
consumo imediato. Estes nativos não conheciam a ideia de acumulação de
utilidades visando o estoque de reservas. Em contato com esta realidade
tribal, a ação educadora dos missionários provocou misturas e hibridações,
cruzando as técnicas e materiais utilizados pelos grupos indígenas com as
utilizadas pelos oficiais mecânicos portugueses. No Grão-Pará colonial
cruzaram-se as concepções do trabalho indígena às do trabalho europeu,
Revista Estudos Amazônicos • 17
que como bem notado por Sergio Buarque de Holanda, repugnava toda
moral fundada no culto ao trabalho 34. O resultado desta interação foi uma
nova realidade no campo das artes e dos ofícios, que se propagou e se
fixou nos usos e práticas da sociedade colonial nascente. Isto é visível sob
vários ângulos.
A presença da Companhia de Jesus entre os habitantes de Belém
provocou o aparecimento de uma característica nova do trabalho artístico
entre os artífices caboclos: o cosmopolitismo do gosto e das técnicas. Não
podemos ignorar a variedade de formações e gostos artísticos que os
padres e coadjutores temporais da Companhia trouxeram consigo quando
chegaram a Belém e São Luís do Maranhão. Não eram apenas portugueses.
Entre aqueles que estavam no Colégio de Santo Alexandre se
consideramos apenas os anos entre 1690 e 1720, contamos uma dezena de
homens com nacionalidades europeias distintas. Além dos portugueses,
que eram a maioria, vemos entre eles: João Felipe Bettendorff (luxemburguês),
João Ângelo Bonomi (romano), Luiz Bucherelli (florentino), Pedro Luiz Consalvi
(italiano), Sebastião Fusco (napolitano), João Maria Gorzoni (mantovano), João
Carlos Orlandini (toscano), Jódoco Peres (suíço gemânico), Aloísio Pfeil (suíço
germânico), João Xavier Traer (tirolês) 35. Trabalhavam todos pela difusão
do catolicismo a partir do Colégio de Belém. Circulavam tanto pelos rios
do Pará como pelas ruas de Belém. Além de serem formados
intelectualmente segundo os fins missionários da Companhia de Jesus,
vários dentre eles nasceram e se educaram em lugares da Europa central e
oriental nos quais o “estilo arquitetônico monumental barroco jesuíta
romano” ainda estava em franca expansão. Havia nesses lugares uma
arquitetura sacra de pouca unidade estilística: a unidade das artes e do
gosto barroco romanos, expressões da catolicidade aristocrática, em nexo
artístico às igrejas romanas do Gesù e de São Pedro, de Borromini e de
Bernini 36.
18 • Revista Estudos Amazônicos
Portanto, não apenas o cosmopolitismo europeu trazido às margens
do rio Pará, mas igualmente um “cosmopolitismo nativo”. A troca e adoção
contínua e crescente de usos e costumes provenientes de povos diferentes,
concentrados nas aldeias missionárias ou nas vilas coloniais do Pará e
Maranhão, no século XVIII, é o que define esta expressão. Para perceber
isto recordamos que para os aldeamentos jesuíticos afluíam gentes de
todas as nações e línguas espalhadas pela bacia do rio Amazonas e seus
principais afluentes. Traziam consigo sua cultura material e imaterial: a
cerâmica, a cestaria, a plumária, o grafismo, a arquitetura, as armas, o
mobiliário, a tecelagem, as embarcações, os instrumentos musicais, os
brinquedos infantis. Além disso, traziam os cantos, as sonoridades dos
seus diferentes instrumentos musicais, as danças, as culinárias, as
mitologias, as técnicas de construção e fabricação, os saberes medicinais,
as pinturas corporais 37.
Finalmente, tudo isso compunha o patrimônio incalculável, então
guardado, transmitido, confrontado, comparado e combinado pelos
mestres-artistas mestiços aos produtos da arte europeia. O resultado desta
combinação foram os objetos e saberes mestiços, que circularam na vida
cotidiana colonial. Certamente, neste caso, é o que podemos perceber nas
festas locais e cerimônias barrocas efetuadas entre os muros do Colégio
jesuíta do Pará 38.
Os artesãos indígenas das missões eram renomados por suas
capacidades de reprodução de objetos europeus, como nos lembrou,
acima, o jesuíta João Daniel. Quando um jesuíta queria realizar algo mais
elaborado, procurava os artesãos indígenas e mestiços, como aqueles que
nomeamos acima, no lugar dos portugueses. Em 1739, por exemplo, o
padre jesuíta Antônio Aleixo, mais tarde Vice-reitor do Colégio do Pará,
encenou uma tragédia de sua autoria, “Hércules Gallicus, Religionis Vindex”
na igreja de São Francisco Xavier. O objetivo era comemorar as festas de
São Francisco Régis. A este espetáculo assistiram os pregadores
Revista Estudos Amazônicos • 19
franciscanos, carmelitas e mercedários que moravam em Belém 39. Mas,
foram os artistas indígenas que construíram o décor e confeccionaram o
figurino sob a direção dos irmãos coadjutores do Colégio de Belém. A
organização dos trabalhos foi provavelmente confiada aos irmãos João
Carneiro e Luís Correia. O primeiro era carapina (carpinteiro), arquiteto e
desenhista. Ele vivia no Colégio do Pará desde 1737, data na qual chegou
de Lisboa. O segundo era pintor e dourador, permaneceu dez anos no
Colégio do Pará (de 1732 a 1742)40.
Os objetos produzidos pelos índios, utilizados em festas, adorados nos
altares dos templos jesuítas e mesmo nas igrejas de ordens religiosas
vizinhas, que não possuíam tão bons artesãos, permaneceram: chegaram até
nós e podem ser vistos no Museu de Arte Sacra de Belém. São os vestígios
que restam das habilidades dos índios e mestiços artesãos do Grão-Pará
cuja mais bela obra seja talvez uma pequena imagem da Virgem Maria com
o menino Jesus nos braços, que faz parte deste acervo museológico. É,
talvez, imagem inspirada em mulher de rosto indígena, cuja tez morena
revela a mestiçagem em pleno momento do acontecer. É um registro. Trata-
se de uma pequena imagem de cabelos negros e olhos amendoados, como
nenhuma outra Virgem europeia poderia assemelhar-se, salvo, talvez as
Virgens esculpidas em países indígenas vizinhos como o Peru, a Bolívia
ou Equador. Salvo talvez aquelas esculpidas no oriente por artesãos
cristãos da Índia ou do Japão41.
À Guisa de Conclusão
Os colégios e residências dos jesuítas foram, provavelmente, onde se
praticou pela primeira vez o artesanato urbano no Grão-Pará colonial. Na
hierarquia interna da Companhia de Jesus havia os padres, liderando o
trabalho religioso e intelectual, e os irmãos coadjutores, que desenvolviam
20 • Revista Estudos Amazônicos
variados ofícios a serviço dos padres tanto em obrigações domésticas
(roupeiros, porteiros, despenseiros, cozinheiros) quanto nos ofícios
mecânicos (pedreiros, enfermeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, etc.).
Nos colégios e residências da Europa os padres fixavam um contrato com
trabalhadores externos e os irmãos coadjutores apenas gerenciavam o
serviço destes trabalhadores. No Grão-Pará e Maranhão a escassez dos
artesãos promoveu a demanda de irmãos oficiais encarregados de suas
respectivas especialidades, mas principalmente para ensinar o que sabiam
aos escravos indígenas caboclizados, aos negros e aos homens livres pobres
da conquista. A disputa pelos oficiais mestiços logo cresceu entre os donos
de engenhos e fazendas, os comerciantes e as autoridades políticas. A tal
ponto que o rei enviou uma correspondência ao governador do Pará, em
16 de janeiro de 1727, na qual ordenava que "nas Aldeias de Índios
houvesse sempre alguns que fossem oficiais ferreiros, tecelões,
carpinteiros e oleiros, e que não pudessem ser tirados delas por nenhuma
pessoa, de qualquer qualidade que fosse sem ordem dos Padres" 42.
Porém, mesmo com forte demanda de trabalho manual dos artesãos,
o status e o valor dos artífices, tanto caboclos quanto brancos pobres, não
sofreu acentuada mudança dentro da ordem social local. No Grão-Pará,
desde os princípios da colonização, o emprego de escravos nos ofícios de
carapinas, ferreiros, tecelões, pedreiros, sapateiros e outros, afastou a
maioria dos portugueses destas atividades mecânicas, ainda que vivessem
em extrema pobreza, sofrendo a carência de todos os gêneros de primeira
necessidade. Com as mulheres nativas a situação não era melhor.
Conhecidos são os colonos traficantes de mulheres nativas, chamados
“cunhamenas” (da língua nheengatu significa em português: marido da
mulher), que obtinham as mulheres nativas para casar em negociação com
os índios “principais” das aldeias e, depois, traficavam-nas como escravas
para outros colonos: o objetivo era que trabalhassem como domésticas ou
amas de leite43.
Revista Estudos Amazônicos • 21
Neste universo colonial, a “necessidade” ou a “obrigação” de trabalhar
com as mãos se identificou ao trabalho escravo. A atividade física
associou-se à classificação (para os trabalhadores) ou desclassificação
social (para os matulas ou vadios), tornando-se a base do preconceito
social contra o trabalho manual. O trabalho manual ou “ofícios
mecânicos” não era mais do que “coisa de escravo”. Nesta categoria, a
utilidade dos artesãos indígenas era o fator compensatório do ônus que
representavam para a Coroa portuguesa e seus colonos. Sendo úteis pelo
trabalho, contrabalançavam pelo labor sua condição de inimigos
potenciais da conquista portuguesa. Neste caso, o discurso jesuítico sobre
as habilidades artísticas dos nativos como vimos, realizava a função da
ideologia que desarticulava os trabalhadores: dava ênfase à diferença entre
os africanos e nativos e homens livres pobres, rompendo qualquer
possibilidade de conscientização sobre a importância do seu labor para a
manutenção da sociedade. Este discurso que ressaltava a preguiça, a falta
de reação, a inaptidão ao trabalho naturalmente criativo, só autenticava e
desculpava a subsistência da faina obrigatória 44.
Artigo recebido em agosto de 2015
Aprovado em setembro de 2015
22 • Revista Estudos Amazônicos
NOTAS
* Artigo originalmente apresentado no VIII Colóquio Luso-Brasileiro de História da
Arte, em Belém (PA), 6 de abril de 2011. O texto original sofreu modificações e
acréscimos graças ao diálogo criativo e crítico e às sugestões de Serge Gruzinski,
Carmen Bernand, Alessandra Russo, Patrice Giasson, Victor Serrão e aos membros
do Grupo de pesquisa HINDIA. No dicionário Houaiss “matulagem” é sinônimo de
“vadiagem”.
** Professor da Faculdade de História, Universidade Federal do Pará. Contato:
decioguz@hotmail.com
1 LOURENÇO, Maria P. M. Pedro II: o pacífico (1648-1706). Lisboa: Temas & Debates,
2010, pp. 302-312; REIS, João J. & GOMES, Flávio dos S. Liberdade por um fio: história
dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 67-69, 74-79;
BOXER, Charles R. A idade do Ouro no Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial.
Trad. Nair de Lacerda, 3ª. ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 301ss;
FRANCO, José E. O Mito dos jesuítas, no Brasil e no Oriente (sécs. XVI a XX). Lisboa:
Gradiva, 2007, vol. 1, pp. 301-309; MARQUES, João F. “Os jesuítas, confessores da
corte portuguesa na época barroca (1550-1700)”, In: Revista da Faculdade de Letras –
História, n. 12, 1995, pp. 231-270.
2 FERNANDES, Florestan. A organização social dos Tupinambá. São Paulo: HUCITEC;
Brasília: EdUNB, 1989[1949], p. 53. A constatação de Fernandes, porém, sugere a
extinção dos Tupinambá, passando a existir apenas como “remanescentes”, cujas
manifestações culturais percebeu-se, a partir do século XVIII somente como “folclore”,
ou seja, diluídas como “resíduo” na cultura do “povo brasileiro”. No entanto, a
visibilidade e existência dos índios Tupinambá após o século XVIII, embora pouco
ou quase nada estudados até agora na Amazônia, sugere a existência desses “índios
coloniais” com sua própria identidade e formas de vida, exercendo um papel ativo e
criativo no convívio com os portugueses. Deste modo, aos poucos os Tupinambá
tornaram-se “índios misturados”, num processo de recomposição étnica, territorial e
material em contexto colonial. Acerca deste assunto, ver: MONTEIRO, John M. Tupis,
Tapuias e Historiadores: estudos de história indígena e do indigenismo. Campinas: Tese de Livre-
Docência em Etnologia, UNICAMP, 2001; SPALDING, Karen. “The Colonial Indian:
Past and Future Research Perspectives”, in: Latin American Research Review, vol. 7, n. 1,
1972, pp. 47-76; OLIVEIRA, João P. de. “Uma etnologia dos ‘índios misturados’?
Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”, in: Mana, Rio de Janeiro, vol. 4,
n. 1, p. 47-77, abr. 1998.
3 Em trabalhos anteriores iniciei reflexão sobre este processo de “caboclização”. Assim,
as considerações deste artigo dão continuidade a esta reflexão e buscam trazer novos
elementos para a discussão acerca desse processo. Ver: GUZMÁN, Décio de A.
«Réseaux indiens et européens dans le commerce amazonien (16e-18e siècles) », In:
DE PRINS, Bart; STOLS, Eddy; VERBERCKMOES, Johan (org.). Brasil: Cultures and
Revista Estudos Amazônicos • 23
Economies of Four Continents. Leuven: ACCO, 2001, pp. 25-36; IDEM. “Encontros
circulares: Guerra e comércio no Rio Negro (Grão-Pará), séculos XVII e XVIII”, in:
Anais do Arquivo Público do Pará, vol. 5, n. 1, 2006, p. 139-165; IDEM. “A colonização
nas Amazônias: guerras, comércio e escravidão nos séculos XVII e XVIII”, in: Revista
de Estudos Amazônicos, v. 1, 2008, p. 103-139; IDEM. “A Primeira Urbanização:
Mamelucos, Índios e Europeus nas Cidades Pombalinas da Amazônia, 1751-1757”,
in: Revista de Cultura do Pará, v. 18, 2008, pp. 75-94; IDEM. “Mixed Indians, Caboclos
and Curibocas: Historical Analysis of a Process of Miscegenation; Rio Negro (Brazil),
18th and 19th Centuries”, in: ADAMS, C.; MURRIETA, R. S. S.; NEVES, W. A.;
HARRIS, M.. (Org.). Amazon Peasants: Political Ecology, Invisibility and Modernity in the
Rainforest. New York: Springer, 2009, p. 55-68; IDEM. Guerras na Amazônia do século
XVII: resistência indígena à colonização. Belém: Estudos Amazônicos, 2012.
4 GUZMÁN, Décio de A. “Índios misturados, caboclos e curibocas: análise histórica de
um processo de mestiçagem, Rio Negro (Brasil), séculos XVIII e XIX”, em: ADAMS,
Cristina; MURRIETA, Rui; NEVES, Walter (eds.). Sociedades caboclas amazônicas:
modernidade e invisibilidade. São Paulo: Annablume, 2006, pp. 67-80; GUZMÁN, Décio de
A. Guerras na Amazônia do século XVII: resistência indígena à colonização. Belém: Estudos
Amazônicos, 2012, pp. 32-38. Ver também: PACE, Richard. “Abuso científico do
termo 'caboclo'? Dúvidas de representação e autoridade”, in: Boletim do Museu Paraense
Emílio Goeldi - Ciênc. hum., Belém, v. 1, n. 3, pp. 79-92, dez. 2006; LIMA, Deborah de
M. “A construção histórica do termo caboclo: sobre estruturas e representações
sociais no meio rural amazônico”, em: Novos Cadernos NAEA, vol. 2, n. 2, dez. 1999,
pp. 5-32; PARKER, E. “Cabocloization: The Transformation of the Amerindian in
Amazonia, 1615-1800”, em: The Amazon Caboclo: Historical and Contemporary Perspectives.
Virginia: College of William and Mary, 1985.
5 ALDEN, D. “El Indio desechable en el Estado de Maranhão durante los siglos XVII
y XVIII”. em: América Indígena, vol. 45 (1985), pp. 427-446; SWEET, David G. The
Population of the Upper Amazon Valley: seventeenth and eighteenth centuries, M.A. thesis,
University of Wiscounsin, 1969; VIANNA, A. As Epidemias no Pará. Belém:
Universidade Federal do Pará, 1975 [1908]; NEVES, Tamyris N. “A ira de Deus e o
fogo que salta: a epidemia de bexigas no Estado do Maranhão (1695)”, in: Amazônica
– Revista de Antropologia, 5 (2): 344-361, 2013; SOUSA, Cláudia R. de. “As práticas
curativas na Amazônia Colonial: da cura da alma à cura do corpo (1707-1750)”, in:
Amazônica - Revista de Antropologia, 5 (2): 362-384, 2013; CHAMBOULEYRON, R. et al. “
‘Formidável contágio’: epidemias, trabalho e recrutamento na Amazônia colonial
(1660-1750)”, in: História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, out.-
dez. 2011, pp. 987-1004.
6BETTENDORFF, João F. Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão.
2ª. ed., Belém: SECULT, 1990, p. 22.
24 • Revista Estudos Amazônicos
7 IDEM, ibidem, p. 248. Ver também: ARENZ, Karl. “Impressionar e intimidar: arte e
evangelização jesuíticas na Amazônia seiscentista", em: Anais do XXVI Simpósio
Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011.
8 LEITE, Serafim. “O Colégio de Santo Alexandre e a Igreja de São Francisco Xavier,
de Belém do Grão-Pará: Notícia sumária da sua fundação pelos jesuítas e da escola de
escultura e pintura que nele funcionava”, em: Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 1942, nº 6, pp. 221-240; IDEM, História da Companhia
de Jesus no Brasil, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro; Lisboa: Livraria
Portugália, 1943, tomo III, pp. 208-223.
9 AZEVEDO, João Lúcio de. Jesuítas no Grão-Pará: suas missões e a colonização. Ed. fac-
símile. Belém: SECULT, 1999 [1901], pp. 164-187; LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil, Rio de Janeiro: INL/Livraria Civilização Brasileira; Lisboa:
Livraria Portugália, 1949, t. VIII, pp. 150-153; MAXWELL, K. Pombal, Paradox of the
Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pp. 82ss.
10LEITE, Serafim. “O Colégio de Santo Alexandre e a Igreja de São Francisco Xavier,
de Belém do Grão-Pará: Notícia sumária da sua fundação pelos jesuítas e da escola de
escultura e pintura que nele funcionava”, em: Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 1942, nº 6, pp. 221-240; IDEM, História da Companhia
de Jesus no Brasil, Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro; Lisboa: Livraria
Portugália, 1943, t. III, pp. 208-223.
11 Roma, ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS IESU, Cód. Bras. 27, fol. 2v.
12 Nascido a 23 de outubro de 1668, na região de Brixio (Itália). Entrou na Companhia
de Jesus a 27 de outubro de 1696. Chegou na Missão do Maranhão e Pará em 1703.
Morreu em naufrágio no mar diante da aldeia (atual cidade) de Maracanã a 4 de maio
de 1737. Foi um dos principais responsáveis pela ornamentação artística da Igreja de
Belém. Cf. LEITE, Serafim. “O Colégio de Santo Alexandre e a Igreja de São Francisco
Xavier, op. cit., p. 238. O Catálogo em questão é de 1720, conforme fixado por
MARTINS, Renata M. de A. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitetura e Arte nas Missões
Jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759). Tese Doutorado, FAU-USP, 2009, vol. II, pp. 188-
189.
13ARQUIVUM ROMANUM SOCIETATIS IESU, Brasiliensis, 27, fol. 2v; BETTENDORFF,
João F. Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão. 2ª. ed., Belém:
SECULT, 1990, pp. 234, 254-255, 295; LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus
no Brasil, Rio de Janeiro: INL/Livraria Civilização Brasileira; Lisboa: Livraria
Portugália, 1949, t. IX, pp. 165-166.
14LISBOA, Cristóvão de. História dos animais e árvores do Maranhão. Estudo, notas e
comentários de Jaime Walter et alii, Lisboa: Comissão Nacional para a Comemoração
dos Descobrimentos Portugueses; IICT, 2000, p. 328.
Revista Estudos Amazônicos • 25
15VIEIRA, Antônio. Cartas. Coord. e anotadas por João Lúcio de Azevedo, Lisboa:
INCM, 1970, vol. I, p. 353.
16 BERREDO, Bernardo P. de. Annaes Históricos do Maranhão. 3ª ed., Florença:
Tipographia Barbéra, 1905, vol. II, 63.
17 As telhas provavelmente eram de barro cozido, talvez as primeiras a serem
fabricadas para cobrir edificações em Belém; a “piondoba” (Attalea oleifera) é palavra
tupi e dá nome à palmeira que produz nozes com sementes oleaginosas; “umbussu
ubuçu ou buçu” (Manicaria saccifera), palavra do tupi “buçu” é palmeira da qual o estipe
alcança 3 a 5m de altura e 3cm de espessura. As folhas atingem 5 a 7m, e suas bainhas
secas persistem sobre o caule; o espádice é grande e ramificado, indo de 1 a 1,5m.
MEIRA FILHO, Augusto. “A capela de Santo Alexandre (1719-1969)”, em: Revista de
Cultura do Pará, ano I, nº 4, agosto/outubro 1971, Belém, pp. 107-108; MENDONÇA,
Isabel M G. António José Landi (1713/1791): um artista entre dois continentes. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003 (esp.
Capítulo VIII: “A obra de Landi no Brasil”, pp. 319-541).
18MARTINS, Renata M. de A. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitetura e Arte nas
Missões Jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759). Tese Doutorado, FAU-USP, 2009, vol. II,
pp. 196-197.
19 Arquivum Romanum Societatis Iesu, Brasiliensis, 26, fol. 54v.
20 MARTINS, Renata M. de A. Tintas da Terra, Tintas do Reino: Arquitetura e Arte nas
Missões Jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759). Tese Doutorado, FAU-USP, 2009, vol. II,
p.197.
21DANIEL, João. Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2004, vol. I, p. 341 (Capítulo 13).
22 IDEM, IBIDEM.
23 IDEM, IBIDEM.
24 GERBI, Antonello. La disputa del Nuovo Mondo: Storia di uma polemica (1750-1900).
Milano: Adelphi, 2000, pp. 37-39; PAGDEN, Anthony. The Fall of Natural Man. The
American Indian and the Origins of Comparative Ethnology. Massachussets: Cambridge
University Press, 1982, pp. 57-108; DUCHET, Michèlle. Anthropologie et histoire au siècle
des Lumières. Paris: Albin Michel, 1995, pp. 239-240, 332-334, 338-341, 419-420.
25 É do Pe. Antônio Vieira a analogia entre a natureza inconstante dos índios
amazônicos e a volubilidade da murta arbustiva, citada no “Sermão do Espírito
Santo”, pregado em São Luiz do Maranhão, na Igreja de N. S. da Luz, em 22 de junho
de 1657, por ocasião da partida dos padres da Companhia de Jesus em missão pelo
rio Amazonas. Os Conimbricenses, síntese da filosofia escolástica jesuítica, eram a fonte
principal de formação dos jesuítas e seus alunos nas Universidade portuguesas. Ver:
26 • Revista Estudos Amazônicos
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de
antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, pp. 181-264; GOMES, Pinharanda. Os
Conimbricenses. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa/ Biblioteca Breve,
1992.
26DANIEL, João. Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2004, vol. I, p. 341.
27 IDEM, ibidem, p. 342.
28 IDEM, ibidem, p. 341.
29 IDEM, ibidem, p. 342.
30 IDEM, ibidem, p. 342.
31 VIEIRA, Antônio. “Regulamento das Aldeias Indígenas do Maranhão e Grão-Pará
(1658)”, em: BEOZZO, José O (org.). Leis e Regimentos das Missões: Política Indigenista no
Brasil. São Paulo: Loyola, 1983, pp. 188-208. Empregamos o termo “tribo” tal como
definido por Maurice Godelier, distinguindo-o de “etnia”: a tribo é definida por ele
como “uma forma de sociedade que se constitui quando grupos de homens e de
mulheres reconhecidos como parentes, de modo real ou imaginário, pelo nascimento
ou por aliança, se unem e são solidários no controle de um território e se apropriam
dos recursos dele e o exploram, em comunidade ou separadamente, e que estão
dispostos a defendê-lo com armas na mão. Uma tribo é sempre identificada por um
nome próprio a ela.” A “etnia” é: “um conjunto de grupos locais que se pretendem
originários, em modo real ou imaginário, de um mesmo grupo de ancestrais tendo
vivido num passado mais ou menos distante, falam línguas concernentes à mesma
família linguística, e dividem certo número de princípios de organização social e de
representações de ordem social e cósmica, como também certos valores e normas que
regulam ou modelam a conduta dos indivíduos e dos grupos.”, Cf. GODELIER,
Maurice. Les tribus dans l’histoire et face aux États. Paris: CNRS Éditions, 2010, pp. 13 e
23-24 respectivamente.
32 FERNANDES, Florestan. A organização social dos tupinambá. São Paulo: Hucitec, 1989,
pp. 109-112; MÉTRAUX, Alfred. A religião dos tupinambás e suas relações com as demais tribos
tupi-guaranis. 2ª. ed., São Paulo: Editora Nacional/EDUSP, 1979.
33METRAUX, Alfred. La Civilisation Matérielle des Tribus Tupi-Guarani. Paris: Librairie
Orientaliste Paul Geuthner, 1928.
34HOLANDA, Sérgio B. de. Raízes do Brasil. 26ª ed., São Paulo: Companhia das Letras,
1995, p. 38.
35LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil, Rio de Janeiro: INL/Livraria
Civilização Brasileira; Lisboa: Livraria Portugália, 1949, tomos VIII e IX.
36 BAZIN, Hermann. Les palais de la foi : le monde des monastères baroques. Autriche, Alemagne
et Suisse, Belgique, Russie orthodoxe. Friboug : Office du Livre, 1981; BLAZICEK, Oldrich.
Revista Estudos Amazônicos • 27
L’art Baroque en Bohême. Trad. K. Jalínek, Praga: Artia, 1968 ; BOURK, John. Baroque
churches of Central Europe. London : Faber & Faber, 1978 ; CHARPENTRAT, Pierre.
Baroque : Italie et Europe Central. Fribourg : Office du Livre, 1964; CHAUNU, Pierre. La
civilisation de l’Europe classique. Paris: Éditions Arthaud, 1984, pp. 368-371; HEMPEL,
Eberhard. Baroque Art and Architecture in Central Europe. London : Penguin, 1965;
DACOSTA KAUFMANN, Thomas. Court, Cloister and City : The Art and Culture of Central
Europe, 1450-1800. Chicago: University of Chicago Press, 1995; DACOSTA
KAUFMANN, Th. “Circulation East to the West : Jesuit Art and Artists in Central
Europe, and Central European Jesuit Artists in the Americas”, in: IBIDEM. Toward a
Geography of Art. Chicago: University of Chicago Press, 2004, pp. 239-271; BAILEY.
Gauvin A. Art on the Jesuit Missions in Asia and Latin America (1542-1773). Toronto:
University of Toronto Press, 2001, pp. 20, 37, 51.
37 METRAUX, Alfred. La Civilisation Matérielle des Tribus Tupi-Guarani. Paris: Librairie
Orientaliste Paul Geuthner, 1928; RIBEIRO, Darcy et alii (ed.). Suma Etnológica Brasileira.
Vol. 2: Tecnologia Indígena. Org. Berta Ribeiro, Petrópolis: Vozes; Brasília, FINEP, 1986;
RIBEIRO, Darcy et alii (ed.). Suma Etnológica Brasileira. Vol. 3: Arte Índia. Org. Berta
Ribeiro, 2ª ed., Petrópolis: Vozes ; Brasília, FINEP, 1987; VIDAL, Lux (org.) Grafismo
Indígena: estudos de antropologia estética. São Paulo: Studio Nobel: EdUSP: FAPESP, 1992;
RIBEIRO, Berta & VELTHEM, Lúcia H. van. “Coleções etnográficas: documentos
materiais para a história indígena e a etnologia”, em: Cunha, Manuela C. da (org.).
História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras: Secretaria de Cultura
Municipal: FAPESP, 1992, pp. 103-112; BAUDET, Jean-Michel, « Musiques
d’Amérique tropicale: discographie analytique et critique des Amérindiens des basses
terres », em: Journal de la Société des Américanistes, 68: 149-203; WITTMANN, Luisa T.
Flautas e maracás: música nas aldeias da América portuguesa (séculos XVI e XVII).
Universidade Estadual de Campinas-Departamento de História, Tese de doutorado,
Campinas, 2011; BERNAND, Carmen. Genèse des musiques d’Amérique latine: passion,
subversion et déraison. Paris: Fayard, 2013.
38 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 3ª. ed., São Paulo: Companhia
das Letras, 1994 (esp. a 1ª. parte, “Índios e Mamelucos”); GRUZINSKI, Serge. La pensée
métisse. Paris: Fayard, 1999; GRUZINSKI, Serge. Les quatre parties du monde: histoire d’une
mondialisation. Paris: La Martinière, 2004, pp. 298-302; BAILEY. Gauvin A. Art on the
Jesuit Missions in Asia and Latin America (1542-1773). Toronto: University of Toronto
Press, 2001, pp. 22-31.
39 Analisei este caso mais detidamente em: GUZMÁN, Décio de Alencar. « Hercules
Gallicus in het Amazonegebied: exotisme en politiek van de jezuïetenspektakels
(zeventiende en achttiende eeuw) », em: WERBERCKMOES, Johan (org.). Vreemden
vertoond: opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de Spaanse Nederlanden en de Nieuwe
Wereld. Leuven: Peeters, 2002, p. 221-239.
40 LEITE, Serafim. Artes e Ofícios dos jesuítas no Brasil. Rio de Janeiro, 1953.
28 • Revista Estudos Amazônicos
41 PARÁ. SECULT. Feliz Luzitânia: Museu de Arte Sacra. Belém: SECULT, 2005
(inventário do Acervo); Sobre as virgens asiáticas ver as figuras 5, 26, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 38, 48, 69, 71 (no caderno de ilustrações) de: BAILEY. Gauvin A. Art on the Jesuit
Missions in Asia and Latin America (1542-1773). Toronto: University of Toronto Press,
2001.
42 LEITE, Serafim. Artes e Ofícios dos jesuítas no Brasil. Rio de Janeiro, 1953, p. 25.
43SWEET, David G. A Rich Realm of Nature Destroyed: the Middle Amazon Valley, 1640-
1750. Ph.D. Thesis, Madison, University of Wisconsin, 1974, vol. I, p.310; SOMMER,
Barbara A. “Cracking Down on the Cunhamenas: Renegade Amazonian Traders
under Pombaline Reform”, in: Journal of Latin American Studies, vol. 38, n. 4, 2006, pp.
767-791.
44 MARTINS, Judith. Dicionário de Artistas e Artífices dos séculos XVII e XVIII em Minas
Gerais. Rio de Janeiro: IPHAN, 1974., 2 vols.; BOSCHI, Caio C. O barroco mineiro: artes e
trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1988; MELLO E SOUZA, Laura. Os desclassificados do ouro:
a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: Graal, 1982, pp. 71-90, 215-219;
FRANCO, Maria S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. 3ª ed., São Paulo: Kairós,
1983, pp. 29-40; LARA, Silvia H. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na
América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 79-125.
Revista Estudos Amazônicos • 29
Potrebbero piacerti anche
- PAXTON R A Anatomia Do Fascismo PDFDocumento140 paginePAXTON R A Anatomia Do Fascismo PDFAnonymous eav8ywOQtHNessuna valutazione finora
- Marshall McLuhan Compreender Os Meios de Comunicação PDFDocumento19 pagineMarshall McLuhan Compreender Os Meios de Comunicação PDFMaria Drew100% (2)
- A Escola Metodica - Colecao Textos Didat PDFDocumento71 pagineA Escola Metodica - Colecao Textos Didat PDFRoberto ZahluthNessuna valutazione finora
- Bahia 1798 PDFDocumento44 pagineBahia 1798 PDFRoberto Zahluth100% (1)
- Ebook Construção Sustentável.Documento237 pagineEbook Construção Sustentável.Dominique Barros100% (2)
- Formação Permanente de Professores. Experiências IberoamericanasDocumento555 pagineFormação Permanente de Professores. Experiências IberoamericanasSocorro França86% (7)
- Filosofia Da Tecnologia Um Convite Ebook PDFDocumento236 pagineFilosofia Da Tecnologia Um Convite Ebook PDFAna Paula Pimentel100% (1)
- Acioli Volume 1Documento1.048 pagineAcioli Volume 1Roberto ZahluthNessuna valutazione finora
- Brito 001Documento36 pagineBrito 001Roberto ZahluthNessuna valutazione finora
- José Adriano de Freitas Carvalho (As 'Instruções' de D. Francisco de Portugal, Marquêsde Valença, A Seus Filhos)Documento30 pagineJosé Adriano de Freitas Carvalho (As 'Instruções' de D. Francisco de Portugal, Marquêsde Valença, A Seus Filhos)Roberto ZahluthNessuna valutazione finora
- Tierno - Formação Da Pólis e Surgimento Da Democracia Na Grécia AntigaDocumento21 pagineTierno - Formação Da Pólis e Surgimento Da Democracia Na Grécia AntigaRoberto ZahluthNessuna valutazione finora
- 9 - Homem e Habitat No Antigo Egito - Margaret BakosDocumento14 pagine9 - Homem e Habitat No Antigo Egito - Margaret BakosRoberto ZahluthNessuna valutazione finora
- A Historiografia Medieval Constituicao D PDFDocumento5 pagineA Historiografia Medieval Constituicao D PDFRoberto ZahluthNessuna valutazione finora
- Kátia de Queiroz Mattoso - Ser Escravo No BrasilDocumento135 pagineKátia de Queiroz Mattoso - Ser Escravo No BrasilRoberto Zahluth100% (4)
- Historia e Retorica Ensaios Sobre Histor PDFDocumento184 pagineHistoria e Retorica Ensaios Sobre Histor PDFRoberto ZahluthNessuna valutazione finora
- Historiografia EgitoDocumento14 pagineHistoriografia EgitoRoberto ZahluthNessuna valutazione finora
- As Relações Capitalistas e Não Capitalistas de Produção e A Permanência Da Agricultura Familiar No Século XXIDocumento12 pagineAs Relações Capitalistas e Não Capitalistas de Produção e A Permanência Da Agricultura Familiar No Século XXIMaviael FonsecaNessuna valutazione finora
- Sobre A Desconstrução Das Teorias Linguísticas - PecheuxDocumento14 pagineSobre A Desconstrução Das Teorias Linguísticas - PecheuxCarol CastroNessuna valutazione finora
- Aula 01 - Renascimento - PARTE 1 - Os PrecursoresDocumento35 pagineAula 01 - Renascimento - PARTE 1 - Os PrecursoresAna Kyzzy FachettiNessuna valutazione finora
- Teoria Aristotélica Da BelezaDocumento2 pagineTeoria Aristotélica Da BelezazitroviihNessuna valutazione finora
- MARTINS, João - Artífices Do Couro e Da Madeira Na Época Moderna Trabalho, Sociabilidades e Cultura MaterialDocumento379 pagineMARTINS, João - Artífices Do Couro e Da Madeira Na Época Moderna Trabalho, Sociabilidades e Cultura MaterialCairo Lima Oliveira AlmeidaNessuna valutazione finora
- Mestrado em Musica UnbDocumento23 pagineMestrado em Musica UnbCiro QuintannaNessuna valutazione finora
- Mesoamerica ResumoDocumento3 pagineMesoamerica ResumoJOAO VITOR OLIVEIRA DIASNessuna valutazione finora
- Indicações CPDocumento6 pagineIndicações CPMaria José RochaNessuna valutazione finora
- Maio2017 Terapia HolisticaDocumento12 pagineMaio2017 Terapia HolisticaPatricia Alessandra Fukura de AbreuNessuna valutazione finora
- Imagensdojapão 2Documento230 pagineImagensdojapão 2Greiner ChristineNessuna valutazione finora
- Alfacon Raphael Agente Da Policia Federal PF Nocoes de Administracao Luiz Rezende 1o Enc 1o Bloco 20160310221601Documento3 pagineAlfacon Raphael Agente Da Policia Federal PF Nocoes de Administracao Luiz Rezende 1o Enc 1o Bloco 20160310221601Raphael PeixotoNessuna valutazione finora
- Bases Socioantropológicas Dos Afrodescendentes e Povos Indígenas - 1 ProvaDocumento5 pagineBases Socioantropológicas Dos Afrodescendentes e Povos Indígenas - 1 ProvaMichelle BatistaNessuna valutazione finora
- Campos de Abordagem Da AntropologiaDocumento2 pagineCampos de Abordagem Da AntropologiaTuaira MauricioNessuna valutazione finora
- Parecer Sobre Novo Regime de Autonomia e Gestão Das EscolasDocumento7 pagineParecer Sobre Novo Regime de Autonomia e Gestão Das Escolasmatiasalves100% (1)
- Filosofia Tomista Na MúsicaDocumento4 pagineFilosofia Tomista Na MúsicaSTARKP2Nessuna valutazione finora
- 1 ModuloDocumento2 pagine1 ModuloWender PauloNessuna valutazione finora
- O Que É DispenssacionalismoDocumento12 pagineO Que É DispenssacionalismoRobert CollinsNessuna valutazione finora
- TCC - Os Fundamentos Teológicos Da Espiritualidade Reformada em Martyn Lloyd-Jones - Diego Santos BlancoDocumento49 pagineTCC - Os Fundamentos Teológicos Da Espiritualidade Reformada em Martyn Lloyd-Jones - Diego Santos BlancoDiego Santos BlancoNessuna valutazione finora
- BITTENCOURT MENDES - Métodos e Técnicas de Pesquisa em ComunicaçãoDocumento196 pagineBITTENCOURT MENDES - Métodos e Técnicas de Pesquisa em ComunicaçãoWashington SoaresNessuna valutazione finora
- 8 Historiadaeducacao ApostilaDocumento86 pagine8 Historiadaeducacao ApostilaAPARECIDANessuna valutazione finora
- Organizao de Eventos Apostila01Documento8 pagineOrganizao de Eventos Apostila01Rayssa da MacenaNessuna valutazione finora
- VOL I - Os Novos Tipos de FamíliaDocumento244 pagineVOL I - Os Novos Tipos de FamíliaHelp GoodcausesNessuna valutazione finora
- A Copilacam de Todalas Obras PDFDocumento12 pagineA Copilacam de Todalas Obras PDFRicardo DomingosNessuna valutazione finora
- Economia Brasileira PedroDocumento4 pagineEconomia Brasileira PedroLílian FragaNessuna valutazione finora
- Professor Da Educacao Basica Professor Regente GeografiaDocumento20 pagineProfessor Da Educacao Basica Professor Regente GeografiaPaula AbreuNessuna valutazione finora