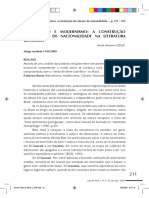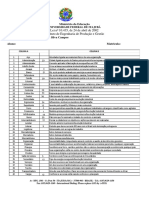Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Tese Sobre Leitura e Pontuação
Caricato da
Alessandra ValérioCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Tese Sobre Leitura e Pontuação
Caricato da
Alessandra ValérioCopyright:
Formati disponibili
Dedico este trabalho:
Aos estudantes de Letras da FURG, desejando que,
ao exercerem o direito da palavra, tornem-se sujeitos de seus
discursos e autores de suas prprias histrias.
A meus filhos, Slvia e Rafael, razo maior de minha
vida e de todo meu trabalho.
memria de minha me, que, partindo, deixou em
minha vida um silncio impossvel de ser preenchido, mas
carregado de sentidos.
AGRADECIMENTOS
A realizao de um curso de Doutorado implica o envolvimento, a dedicao e a ajuda de
muitas pessoas.
Meus agradecimentos, portanto, no visam a cumprir apenas uma obrigao
formal, mas so a expresso mais sincera de meus sentimentos ao final deste trabalho.
Agradeo ento, em primeiro lugar, e sobretudo, professora e amiga Freda Indursky.
Reconheo que orientar um trabalho dessa natureza exige, de quem assume a tarefa, muito mais do
que profundo conhecimento terico: exige dedicao para enfrentar as longas horas de leitura crtica
do trabalho; exige discernimento para julgar o que relevante ou no, apropriado ou no; exige
firmeza para exigir mudanas; exige convico para manter, ou alterar, o rumo da pesquisa em
determinados momentos; exige pacincia para discutir as dvidas; exige humildade para admitir a
teimosa convico do orientando; exige tolerncia para lidar com os momentos de ansiedade e
impacincia que, inevitavelmente, surgem durante um trabalho to longo; exige sensibilidade para,
em alguns momentos, dizer: precisas descansar um pouco, te cuida. Da Freda, recebi tudo isso.
E, por isso, sou profundamente grata.
Aos meus filhos, agradeo por aceitarem meu extremo envolvimento com o trabalho, por
compreenderem minha ausncia, por ficarem felizes com minha realizao. Slvia, agradeo por
ter dividido comigo o dia-a-dia destes anos de estudo, me oferecendo ajuda, me estimulando, me
dando colo, mas, sobretudo, abrindo mo de minha companhia, silenciosamente, em momentos que,
para ns, so muito especiais: passear sem motivo especial, escolher uma roupa nova, caminhar,
fazer compras de Natal... Ao Rafael, agradeo pelo constante carinho, pelo amor revelado nos
telefonemas dirios, e, especialmente, pela sensibilidade demonstrada quando, ao me ver totalmente
envolvida e exausta pelo trabalho naquele dia de meu aniversrio, me deu, num fim de tarde, o
mais lindo presente que eu poderia ter recebido: sua companhia em um longo e tranqilo banho de
mar.
Agradeo ao Richard, que, mais do que marido, tem sido, durante toda a minha vida, um
grande companheiro e amigo, que aceita minhas escolhas, toma para si os meus ideais, faz suas as
minhas conquistas, cuida de mim, faz com que eu me sinta especial. A ele eu pedi, muitas vezes
sem palavras, durante os anos de realizao desse curso, que entendesse meu cansao, que
esquecesse aquelas frias to desejadas, que deixasse aquela viagem para depois (mas que
compreendesse quando eu me ausentava ou viajava para um congresso), que me ouvisse falar sobre
a tese como se ele tudo soubesse sobre o assunto e como se ela fosse to importante para ele como
era para mim (Pcheux tornou-se, tambm para ele, uma assdua presena em nossa casa). A ele,
meu amor e minha gratido.
Ao meu pai, agradeo pela vida, pela formao recebida e pelo apoio constante.
Agradeo tambm a todos os meus familiares que, prximos ou distantes de mim,
acompanharam a realizao deste trabalho e me deram sempre seu incentivo.
Aos amigos que, ao se manterem presentes e ao dividirem comigo os momentos mais felizes
e os mais angustiantes desses anos, me ajudaram a carregar a carga de compromisso e de
recolhimento que um curso de Doutorado representa, meu sincero reconhecimento.
Ao Gustavo e Carolina, agradeo a torcida permanente.
Fundao Universidade Federal do Rio Grande e aos colegas do Departamento de Letras e
Artes, meu agradecimento pelo afastamento concedido.
Ao CNPQ e UFRGS, agradeo a bolsa de estudo que viabilizou a realizao desta pesquisa.
Finalmente, agradeo a Deus, que me deu foras para chegar at o fim deste trabalho.
RESUMO
Esta tese constitui-se em um estudo sobre a leitura.
Essa noo investigada atravs de textos reescritos aos quais denominamos,
genericamente, de reescritas e de dois sinais de pontuao reticncias e interrogao.
Aos textos que apresentam esses sinais de pontuao designamos de textos sinalizados.
Tais textos apresentam tambm uma outra caracterstica: so marcados pelo humor. Tal opo nos
levou a examinar outro tipo de texto, sem esses sinais de pontuao, ao qual denominamos de texto
no-sinalizado. Esse texto no apresenta tambm a marca do humor.
Nossa inteno verificar, nas reescritas, se o processo da leitura dos textos sinalizados
diferente do processo da leitura do texto no-sinalizado.
A primeira parte do estudo estabelece o referencial terico que fundamenta a anlise.
Nesta parte, evidenciamos tanto aspectos referentes epistemologia da Anlise do Discurso quanto
questes referentes leitura e sua relao com outros pontos relevantes para o desenvolvimento
da pesquisa: repetio, interpretao, heterogeneidade, silncio e autoria. Abordamos ainda aspectos
tericos sobre a pontuao e, mais especificamente, sobre os sinais de pontuao em estudo:
reticncias e interrogao.
A segunda parte apresenta os procedimentos metodolgicos que sustentam a
subseqente anlise do corpus discursivo, bem como o efetivo funcionamento do processo
discursivo da leitura atravs das reescritas. Tal anlise possibilitou a constatao de trs diferentes
processos de leitura, aos quais denominamos de releitura, reescritura e escritura, processos que
correspondem, respectivamente, manuteno, aos deslizamentos e s rupturas em relao aos
sentidos produzidos nos textos que, apenas por um efeito metodolgico, desencadeiam o processo
da leitura e das reescritas. A constatao desses trs processos de leitura nos permitiu tambm
reconhecer a existncia de diferentes formas de preenchimentos das lacunas de significao e
silncio representadas pelas reticncias e pela interrogao. Isso nos levou ainda a admitir a
possibilidade de distintos graus e tipos de autoria, os quais variam em funo do processo de
identificao que o leitor estabelece com a formao discursiva e com a posio-sujeito assumidas
pelo sujeito-autor.
A concluso procura entrelaar as noes desenvolvidas, sintetizando nossos achados.
RSUM
Cette thse porte sur la notion de lecture. Il sagit dune tude ralise sur la notion de lecture
partir de textes recrits, appels ici recritures, et de deux signes de ponctuation: les points de
suspension et le points dinterrogation.
Nous avons divis les textes en deux catgories: celle des textes signs et celle des textes nonsigns. Les textes signs contiennent les signes de ponctuation mentionns. Ils prsentent galement
une autre caractristique: ils sont marqus par lhumour. Les textes non-signs sont les textes o
napparaissent aucun des deux signes de ponctuation tudis, ni la marque de lhumour. Lobjectif
de cette recherche est de vrifier, dans les recritures, si le processus de lecture des textes signs est
diffrent du processus de lecture des textes non-signs.
La premire partie de ltude tablit le rfrentiel thorique qui pose les fondements de notre
analyse. Dans cette partie nous mettons en vidence les aspects qui ont trait lpistmologie de
lAnalyse du Discours, ainsi que les questions relatives la lecture et son rapport avec dautres
points importants pour le dveloppement de notre recherche: rptition, interprtation,
htrognit, silence et qualit dauteur. Nous abordons aussi certains aspects thoriques de la
ponctuation en nous attardant, plus spcifiqument, sur les points de suspension et dinterrogation.
La deuxime partie de la thse prsente les procds mthodologiques qui soutiennent
lanalyse du corpus discursif, ainsi que le fonctionnement du processus discursif de lecture travers
les recritures. Une telle analyse a permis de mettre en vidence trois procds diffrents de lecture
que nous nommons: relecture, recriture et criture. Ces procds correspondent, respectivement,
au mantien, aux glissements et aux ruptures par rapport aux sens produits dans les textes, lesquels,
par un simples effet mthodologique, dclanchent le processus de lecture et des recritures.
Lidentification de ces trois procds de lecture nous a galement permis de reconnatre lxistence
de diffrentes formes de remplissage des lacunes de signification et de silence, reprsentes par les
points de suspension et par les points dinterrogation. Ceci nous a encore emmene reconnatre la
possibilit de diffrents dgrs et types de qualit dauteur, lesquels varient en fonction du procd
didentification que le lecteur tablit avec la formation discursive et avec la position-sujet prises en
charge par le sujet-auteur.
La conclusion fait le point sur les notions dveloppes et synthtise lessentiel de nos
analyses.
INTRODUO
Este trabalho constitui-se em um estudo sobre a leitura e tem em sua origem um ponto de
vista que considera que a leitura um processo de produo de sentidos que envolve vrios outros
elementos alm de um autor, um texto e um leitor, o que significa dizer que, no processo discursivo
da leitura, o leitor interage no apenas com um texto e com um autor, mas com tudo aquilo que, de
fato, o constitui: a relao com os outros textos (existentes, possveis ou imaginrios), o contexto
(histrico, social, poltico e econmico) e o interdiscurso (a memria do dizer).
Diramos ento que o que nos move, inicialmente, o desejo de poder verificar, de alguma
forma, a concretizao desse processo to complexo.
isso que nos leva a optar pelo trabalho com reescritas, denominao dada, nesta pesquisa,
queles textos que so produzidos por sujeitos-leitores a partir de um texto dado. As reescritas,
portanto, constituem-se em um redizer um outro texto, o qual, por sua vez, foi produzido por um
determinado sujeito-autor.
Atravs das reescritas, acreditamos ser possvel verificar os sujeitos-leitores agindo na prtica
da leitura, o que significa levar em conta que tais sujeitos, ao reescreverem o texto, estabelecem
uma relao com aquele texto (mas no somente com ele), e com aquele autor que o escreveu (mas
no somente com ele).
Em outras palavras: implica reconhecer que os sujeitos-leitores, ao ler e reescrever um
texto, esto submetidos a certas condies que no so exatamente as mesmas a partir das quais foi
produzido aquele texto.
A leitura, nesta medida, passa a ser produo de sentidos, e no uma apreenso do que l j
estava. E a reescrita, a partir da, deixa de ser o mesmo texto repetido e passa a ser outro texto.
O que nos interessa ento verificar se e de que modo a leitura, manifesta pela reescrita, faz
circular os sentidos. Quer dizer: esperamos observar, pelas reescritas, a relao do leitor com todos
os elementos que compem o processo da leitura: autor, texto, outros textos, contexto, interdiscurso.
Isto nos leva, conseqentemente, explorao de noes tericas como a de repetio e de
interpretao.
As reescritas que esto na base deste trabalho foram produzidas por estudantes universitrios
do Curso de Letras da Fundao Universidade Federal do Rio Grande, instituio na qual atuo como
docente, desenvolvendo atividades de ensino ligadas leitura e produo de textos. A inteno,
ento, perceber como esses estudantes lem e como eles manifestam sua leitura nas reescritas.
Nosso interesse, ainda, verificar que relaes se estabelecem em todo esse processo e em
que medida as reescritas podem produzir modificaes de sentido em relao aos textos que lhes
do origem e aos quais vamos denominar de textos-origem1.
Optamos ainda por examinar essas questes, nessa pesquisa, pelo vis da pontuao, e, mais
especificamente, atravs de dois sinais especficos reticncias e interrogao aos quais
denominamos, em nosso corpus, de sinais discursivos.
Tratar os sinais de pontuao como sinais discursivos significa imaginar que o uso das
reticncias ou da interrogao instaura no discurso uma forma de silncio que no implica a falta do
que dizer, a ausncia pura e simples ou o vazio, mas que, pelo contrrio, significa.
Tais sinais de pontuao, na nossa perspectiva, colocam um sentido que no fechado pelo
autor, que no evidente, ou que, pelo menos, no expresso, e que, por isso, sinalizam, para o
leitor, um lugar propcio a movimentos de interpretao, a gestos de leitura. Dito de outra forma: as
reticncias e a interrogao so sinais discursivos que, pelo no-verbal e pelo silncio, pela ausncia
de palavras, significam.
A atribuio de sentidos s reticncias e interrogao, neste caso, pode variar de acordo com
o sujeito-leitor, que socialmente determinado e que tem suas prprias histrias de leitura. Desta
forma, imaginamos que possam ser tambm vrias as leituras possveis para um mesmo texto
sinalizado pela presena das reticncias ou da interrogao.
Para o estudo da leitura atravs desses sinais discursivos, resolvemos ainda acrescentar um
outro elemento, de natureza diferente: o humor.
Mas por que estudar o processo discursivo da leitura em textos que apresentam reticncias ou
interrogao em textos de humor, e no em outros tipos de textos?
Partimos ento da concepo de que o humor estabelece uma espcie de jogo com a realidade,
expondo, de maneira ldica, as fraquezas e as misrias humanas. Um texto de humor, nesta
perspectiva, sempre significa mais do que diz. Quer dizer: pelo texto de humor passam sentidos que
no so, necessariamente, expressos com as palavras presentes no texto.
Sabemos, no entanto, que qualquer texto permite, quando submetido ao processo da leitura, a
produo de sentidos que no esto ali, expressos.
No nosso ponto de vista, porm, o texto de humor, ao se constituir em uma forma no-sria
de tratar a realidade, parece avisar a seus leitores mais do que o texto srio que ali h algo
Quando falamos em texto-origem, estamos apenas adotando uma designao metodolgica para o texto que, tendo
sido escolhido por ns, foi utilizado como de partida para as produes dos outros textos as reescrituras pelos
estudantes. Sabemos, no entanto, que essa origem uma iluso, pois, em qualquer discurso, sempre circulam outros
discursos, outras vozes, outros textos. A origem, portanto, apenas um efeito.
mais significando, parece lembrar que preciso desconfiar das palavras, e parece convidar os
leitores a perceber aquilo que no chegou a ser dito.
Para ns, mais ou menos isso que fazem as reticncias e o ponto de interrogao: mostram
que nem tudo foi dito e convidam o leitor a preencher aquele espao, dizendo o que no foi dito.
Assim, parece fcil explicar nossa escolha: se o humor estabelece um jogo com a
imprevisibilidade como acreditamos que as reticncias e a interrogao tambm estabeleam se
ele cria um processo desmistificador que desvela o que esconde como nos parece que a leitura
das reticncias e da interrogao possa fazer se ele abre espao para a introduo de sentidos
diferentes como imaginamos que as reticncias e a interrogao tambm faam ento nos parece
interessante examinar a combinao desses elementos: sinais discursivos de pontuao reticncias
e interrogao e humor.
Ressaltamos, no entanto, que estamos dando um tratamento diferenciado a esses sinais de
pontuao e ao humor. Assim, quando dizemos que as reticncias e a interrogao so sinais
discursivos, estamos estabelecendo que, nessa pesquisa, os sinais discursivos so marcas visveis,
materializadas graficamente sob a forma de pontuao, e que o que nos interessa verificar o
funcionamento discursivo dessas marcas.
Como podemos perceber, o humor no se enquadra nessa tipologia. Portanto, no est sendo
considerado como um sinal discursivo.
Desse modo, nosso trabalho inicialmente constitui-se, de uma parte, em um estudo da leitura
materializada sob a forma de reescritas de um texto que rene o sinal discursivo das reticncias e
o humor e, de outra parte, da leitura materializada sob a forma de reescritas de um outro texto
que rene o sinal discursivo da interrogao e o humor. Aos textos com tais caractersticas estamos
denominando de textos sinalizados.
A partir de tal opo, uma outra necessidade se faz necessria: investigar o processo
discursivo da leitura em um texto que no faa uso de tais sinais discursivos reticncias ou
interrogao nem do humor. E isto nos leva ao texto que estamos denominando de nosinalizado.
Salientamos, porm, que texto no-sinalizado, neste estudo, apenas uma denominao
metodolgica que indica que tal texto no apresenta nem os sinais de pontuao que nos propomos
a examinar nem o humor.
Com isso, queremos dizer que no ignoramos o fato de que, a rigor, todo texto produz lugares
propcios interpretao, ou seja, todo texto, tal como a Anlise do Discurso o entende, portador
de marcas lingsticas. Isto significa dizer que marcas lingsticas percorrem todo e qualquer texto,
que todo texto possui uma materialidade lingstica e inevitvel que desta materialidade surjam
marcas atravs das quais os leitores penetram no discurso e no interdiscurso e, a partir da,
produzem sua leitura.
Tais marcas, portanto, atestam a relao entre sujeito e linguagem e constituem as pistas do
discurso, que, conforme nos lembra Orlandi (1993a: 54) no so detectveis mecnica e
empiricamente, no so encontradas diretamente.
por esse motivo que, ao examinar textos que apresentam reticncias ou interrogao,
preferimos falar em sinais discursivos, ao invs de marcas discursivas. Isto nos d maior liberdade
para dizer que esses sinais discursivos, por serem sinais grficos, de forma diferente do que
acontece com as marcas lingsticas, so detectveis materialmente, so visveis. Quer dizer: eles
sinalizam, materializam, para o leitor, um espao possvel para a interpretao, para a sua
interferncia. Ao passo que, em outro tipo de texto, que no faa uso desses sinais, os espaos para
interpretao so marcados, mas no so encontrados diretamente pelo leitor. Na verdade,
acreditamos que somente o trabalho discursivo da leitura e da anlise possa revelar essas
marcas.
A partir dessas posies, nossa pesquisa se desenvolve sob a linha terica da Anlise do
Discurso Francesa (AD), pois julgamos que essa perspectiva nos oferece possibilidades de examinar
os textos em relao sua exterioridade, considerando-se a: o contexto histrico-social em que so
produzidos os textos e realizada a leitura e as suas reescritas; os interlocutores em relao aos
lugares sociais que ocupam; as relaes entre os textos intertextuais e entre os discursos
interdiscursivas.
O texto, desse modo, para ns, a materialidade lingstica do discurso, e esse discurso que
nos interessa. Da no ser suficiente para ns uma anlise que se prenda ao meramente lingstico
ou ao meramente ideolgico, pois, para a AD, todos esses elementos conjugam-se na produo dos
efeitos de sentidos. Sentidos que podem variar de acordo com os leitores e os lugares em que eles se
inscrevem, e com as condies em que so produzidas as leituras.
Ao realizar este estudo, compartilhamos da concepo adotada por Orlandi (1993b) de que a
linguagem implica sempre silncio, compreendido este como o no-dito da linguagem, tendo porm
este no-dito uma significao prpria. Assim, os sentidos no so evidentes e no se fecham, pois
os sentidos jogam com o silncio, com aquilo que no dito.
Deste modo, acreditamos que a interpretao acontece justamente porque o espao simblico
representado pelos textos sinalizados pelas reticncias (conjugadas ao humor) ou pela interrogao
(conjugada ao humor) sinaliza esse no-dito, que representa uma ausncia, uma incompletude da
linguagem, evidenciando que o texto no acabado, pois pressupe o trabalho de um leitor, a
relao com o autor, com outros leitores, com outros textos, etc.
10
Pensamos ento que o silncio pode surgir pelas prprias palavras (pois ao dizer alguma
coisa, temos a possibilidade de deixar de dizer outra) ou pela ausncia, pela omisso das palavras
(pois, ao deixar de dizer, dizemos).
Finalmente, acreditamos que a produo de sentido indissocivel da relao de parfrase, ou
seja, indissocivel da repetio.
Assim, pretendemos investigar os possveis gestos de interpretao que se realizam quando
um texto passa a ser reconstrudo por seus leitores.
Com este intuito, objetivo maior desta pesquisa focar sua ateno sobre as reescritas de
determinados textos, procurando descobrir, numa relao de comparao entre aquele que
denominamos metodologicamente de texto-origem (TO) e suas reescritas, como e se so
preenchidos pelo sujeito-leitor os silncios criados pelo sujeito- autor.
O que motiva este estudo so, ento, inicialmente, os seguintes questionamentos:
a) como o leitor revela sua interpretao de um dado texto, ao escrev-lo novamente?
b) como o sujeito-leitor interpreta os silncios criados pelo sujeito-autor de um texto?
c) que marcas, no discurso interpretado, revelam o discurso inicial?
d) possvel que as reticncias e/ou a interrogao sejam pontos de deslocamento de sentido
no discurso do sujeito que reescreve um dado texto?
e) existem diferenas entre o processo discursivo da leitura de um texto sinalizado pelas
reticncias ou pela interrogao, em conjugao com o humor, e o processo discursivo da leitura de
um texto no-sinalizado e sem a presena do humor?
a partir destes questionamentos e reflexes, portanto, que o presente trabalho tem seu ponto
de origem e seu encaminhamento.
11
PRIMEIRA PARTE
FUNDAMENTOS TERICOS
12
1. DELIMITANDO O CAMPO TERICO
Neste primeiro captulo, exploramos teoricamente as noes que fundamentam esta pesquisa e
que fazem parte do quadro de referncia da Anlise do Discurso.
Deste modo, examinamos inicialmente a prpria noo de Anlise do Discurso, procurando
situar seus limites e seus avanos em relao a outras perspectivas tericas.
1.1 EPISTEMOLOGIA DA ANLISE DO DISCURSO
Quando o assunto linguagem, conforme nos lembra Orlandi (1999:15), os estudos podem
abrir-se em direes muito variadas. Podemos concentrar nossa ateno sobre a lngua enquanto
sistema de signos ou enquanto sistema de regras formais: isso que faz a Lingstica; podemos
conceber a lngua como normas de bem dizer: isso que faz a Gramtica Normativa; podemos
considerar que h muitas maneiras de significar e nos interessarmos pela linguagem de uma maneira
particular: isso que faz, por exemplo, a Anlise do Discurso (AD).
Assim, definir a Anlise do Discurso parece simples, pois, como lembra a autora, a Anlise de
Discurso, como o prprio nome indica, no trata da lngua e no trata da gramtica embora todas
essas coisas lhe interessem mas trata do discurso.
Dizer que a Anlise do Discurso trata do discurso, no entanto, na verdade, no to simples,
uma vez que o termo discurso tem sido abordado sob diversas perspectivas tericas que se
denominam teoria do discurso e, em cada uma delas, significa diferentemente.
Podemos dizer, entretanto, que h, grosso modo, duas maneiras de pensar a teoria do discurso:
como simples extenso da Lingstica o que corresponde ao espao intelectual americano ou
como sintoma de uma crise interna da Lingstica o que corresponde ao espao intelectual
europeu.
De acordo com a perspectiva terica americana, frase e texto so elementos isomrficos, o
que leva a considerar a frase como um discurso curto e o discurso como uma frase complexa. A
passagem da frase ao texto, deste modo, varia apenas em graus de complexidade. Nesta concepo,
no h uma preocupao com a instituio do sentido, mas com o modo pelo qual se organizam os
elementos que o constituem. Assim, a relao entre o lingstico e o discursivo acontece por
extenso.
13
A questo do sentido, segundo essa viso, tratada via pragmtica segundo a qual a
linguagem em uso deve ser estudada em termos de atos de fala e via sociolingstica que se
preocupa com o uso atual da linguagem.
Conforme ressalta Orlandi (1986:108), embora essas formas de encarar a linguagem
demonstrem uma certa mudana em relao grande maioria dos estudos da gramtica, no
chegam, entretanto, a produzir um rompimento, mas apenas acrescentam um outro componente
gramtica. O discurso o que se acrescenta, o que vem a mais. o secundrio. No h ruptura,
porm, porque o objeto de estudo continua sendo o fenmeno lingstico e no o sentido.
Com a escola europia de anlise de discurso diferente. Nesta perspectiva, o domnio da
semntica no pode ser concebido apenas como fazendo parte da Lingstica enquanto estudo
cientfico da lngua. Quer dizer: h, quanto ao sentido, uma relao necessria entre o dizer e as
condies de produo desse dizer.
A escola europia considera como fundamental a relao entre o discurso e a exterioridade, e
nesta relao que reside a possibilidade de se encontrarem regularidades no domnio discursivo.
da escola europia que faz parte a escola francesa de Anlise do Discurso (AD), perspectiva
terica sobre a qual se constri este estudo.
A Anlise do Discurso de linha francesa surge nos anos 60, interessada em trazer para o
mbito dos estudos lingsticos aquilo que havia sido excludo por Saussure, quando, na publicao,
em 1916, do Curso de Lingstica Geral, ao estabelecer a dicotomia lngua/fala, o autor considerou
a fala como individual, varivel e no-sistemtica e, portanto, sem interesse para a Lingstica.
A disciplina nasce sob uma conjuntura dominada pelo estruturalismo e tem no
distribucionalismo de Harris o seu ponto de partida. Com seu mtodo, Harris olha para o texto como
uma soma de frases, ou seja, como uma frase longa. Assim, estende o mtodo de anlise de
unidades menores (morfemas, frases) para unidades maiores (texto).
Podemos dizer que esse trabalho uma inspirao para o surgimento da AD, porque mostra a
possibilidade de ultrapassar as anlises que se limitam frase e porque o lugar de onde procuram
se distanciar criticamente os analistas de discurso europeus, atravs da discusso da dicotomia
lngua/fala, da elaborao do conceito de enunciao e de discurso e da reflexo sobre os processos
de significao.
Antes da Anlise do Discurso, existiram outros estudos que tinham como interesse a lngua
funcionando para a produo de sentido.
Assim, temos, por exemplo, os estudos de Michel Bral, que, em 1897, publica seu Ensaio de
Semntica, obra que acaba por coloc-lo no papel de fundador da semntica. Entre as posies
defendidas por Bral podemos fazer referncia, por exemplo, ao fato de que, para ele, a linguagem
14
se desenvolve, progride por ao do sujeito, por interveno da vontade na inteligncia. Na
concepo de Bral, o que importa so os sentidos, e a linguagem significa como instrumento da
inteligncia e interveno da vontade do homem na linguagem.
Temos tambm os formalistas russos, que, em 1915, por iniciativa do russo Roman Jakobson,
formam o Crculo Lingstico de Moscou e iniciam um estudo cientfico da lngua. Eles procuram
superar a abordagem filolgica e comeam a destacar, nos textos, uma lgica de encadeamentos
transfrsticos. Com isso, preparam o caminho para o que mais tarde vai se considerar discurso.
Mas, de todos os que precederam os estudos do discurso, citamos especialmente Bakhtin
(1992), autor que, diferentemente de Saussure, v a lngua como fruto da manifestao individual
de cada falante e valoriza a fala.
Considerar a fala conduz Bakhtin a levar em conta tambm a ideologia e a noo de signo.
Para ele, tudo que ideolgico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo.
Em outros termos: tudo que ideolgico um signo. Sem signos no existe ideologia (Bakhtin,
1992:31).
Os signos, nesta perspectiva, so objetos naturais, especficos e no existem apenas como
parte de uma realidade, mas refletem e refratam uma outra. Quer dizer: os signos podem distorcer a
realidade, ser-lhe fiel ou apreend-la de um ponto de vista especfico. O domnio ideolgico
coincide ento com o domnio dos signos, sendo eles mutuamente correspondentes. Ali onde o
signo se encontra, encontra-se tambm o ideolgico.
a partir de uma concepo como essa que Bakhtin desenvolve sua teoria sobre a
comunicao social, dizendo que a existncia do signo a materializao dessa comunicao e que
nisso que consiste a natureza de todos os signos ideolgicos.
Para o autor, o aspecto semitico e esse papel contnuo da comunicao social no aparecem
em lugar nenhum de forma mais clara e completa do que na linguagem. isso que o leva a realar o
papel da palavra como signo: A palavra o fenmeno ideolgico por excelncia. A realidade toda
da palavra absorvida por sua funo de signo (Ibidem: 36).
A partir dessa posio, Bakhtin ressalta que a palavra o material privilegiado de um tipo
especial de comunicao ideolgica: a comunicao na vida cotidiana. justamente nesse domnio
que a conversao e suas formas discursivas se situam.
Isto leva Bakhtin a afirmar que a comunicao s existe na reciprocidade do dilogo e
significa muito mais do que a simples transmisso de mensagens. Em outros termos: a comunicao
o ncleo a partir do qual Bakhtin constri a teoria do dialogismo, a qual traz para o interior dos
estudos lingsticos a questo da intersubjetividade.
15
A noo de dialogismo pode ser encontrada em Bakhtin em Problemas da potica de
Dostoivski (1981)2. Afirma ento Bakhtin:
Nos romances de Dostoivski tudo se reduz ao dilogo, contraposio dialgica enquanto centro.
Tudo meio, o dilogo o fim. Uma voz s nada termina e nada resolve. Duas vozes so o
mnimo de vida, o mnimo de existncia. (Bakhtin,1981: 223)
Martins (1990), refletindo sobre as idias de Bakhtin a respeito da obra de Dostoivski,
afirma:
Resumindo, a estrutura do romance de Dostoivski dialgica, porque as relaes que ali se
estabelecem entre os personagens so intersubjetivas, quer dizer, so relaes em que cada um
constri uma compreenso sobre si mesmo e sobre o mundo, no confronto com o outro, pelo
dilogo. Esse dilogo, desenvolvido exteriormente ou no interior da conscincia, concretiza-se
sempre pela linguagem, na forma de enunciados que se contrapem. (Martins, 1990: 22)
A concepo de dialogismo est presente ainda em A esttica da criao verbal (1992), obra
em que Bakhtin reconhece no enunciado a unidade real da comunicao verbal e no dilogo a forma
mais simples e mais clssica de realizao dessa comunicao.
Bakhtin vai dizer ento que a fala s existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados
de um indivduo: do sujeito de um discurso-fala (Bakhtin, 1992: 293). Nesta perspectiva, o
discurso se molda sempre forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e no pode existir
fora dessa forma. Assim, no importa quais sejam o seu volume ou o seu contedo, os enunciados
sempre possuem, segundo Bakhtin, fronteiras claramente delimitadas. Tais fronteiras so
determinadas pela alternncia dos sujeitos falantes, ou seja, pela alternncia dos locutores.
Isto leva Bakhtin a considerar o acabamento do enunciado. Afirma ento o autor:
Todo enunciado desde a breve rplica (monolexemtica) at o romance ou o tratado cientfico
comporta um comeo absoluto e um fim absoluto: antes de seu incio, h os enunciados dos outros,
depois de seu fim, h os enunciados-respostas dos outros (ainda que seja como uma compreenso
responsiva ativa muda ou como um ato-resposta baseado em determinada compreenso). O locutor
termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para dar lugar compreenso responsiva
do outro. O enunciado no uma unidade convencional, mas uma unidade real, estritamente
delimitada pela alternncia dos sujeitos falantes, e que termina por uma transferncia da palavra ao
outro, por algo como um mudo dixi percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor
terminou. (Ibidem: 294)
Nesta obra Bakhtin desenvolve bastante a concepo de dilogo, ressaltando que s possvel representar o homem
interior, como o entendia Dostoivski, representando a comunicao dele com um outro. Somente na comunicao, na
interao do homem com o homem, revela-se o homem para os outros ou para si mesmo.
16
Para Bakhtin, essa alternncia ocorre precisamente porque o locutor disse, ou escreveu, tudo o
que queria dizer num preciso momento e em condies precisas. E o acabamento necessrio para
tornar possvel uma reao ao enunciado.
Assim, para Bakhtin, o enunciado representa um elo na cadeia da comunicao verbal e suas
fronteiras determinam-se pela alternncia dos sujeitos-falantes. Afirma ento o autor:
Os enunciados no so indiferentes uns aos outros nem so auto-suficientes; conhecem-se uns aos
outros, refletem-se mutuamente. So precisamente esses reflexos recprocos que lhes determinam
o carter. O enunciado est repleto de ecos e lembranas de outros enunciados, aos quais est
vinculado no interior de uma esfera comum da comunicao verbal. O enunciado deve ser
considerado antes de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera:
refuta-os, confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supe-os conhecidos e, de um modo ou de
outro, conta com eles. (Ibidem:316)
Isto nos mostra, como lembra Indursky (2000a), que, para Bakhtin, os enunciados
estabelecem um dilogo constante, mas no se trata de um dilogo que possa ser representado
formalmente, uma vez que, para Bakhtin (1992:318), a inter-relao que se estabelece entre o
discurso do outro assim inserido e o resto do discurso (pessoal) no tem analogia com as relaes
sintticas existentes dentro dos limites de um conjunto sinttico simples ou complexo.
Se, por um lado, essa concepo de enunciado distancia-se de uma simples abordagem
sinttica, por outro lado, para Bakhtin, essas inter-relaes tm analogia com as relaes existentes
entre as rplicas do dilogo. A entonao que demarca o discurso do outro ento um fenmeno de
tipo particular: a transposio da alternncia dos sujeitos falantes para o interior do enunciado. As
fronteiras dessa alternncia so tnues e especficas: a expresso do locutor se infiltra atravs
dessas fronteiras e se difunde no discurso do outro... (Ibidem: 318).
por isso que, para Bakhtin, o discurso do outro possui uma expresso dupla: a sua prpria,
ou seja, a do outro, e a do enunciado que o acolhe (Ibidem: 318).
Nesta perspectiva, o enunciado um elo na cadeia da comunicao e verbal e no pode ser
separado dos elos que o determinam, por fora e por dentro, e provocam nele reaes-respostas
imediatas e uma ressonncia dialgica (Ibidem: 320).
Bakhtin salienta, no entanto, que o enunciado est ligado no s aos elos que o precedem, mas
tambm aos que lhe sucedem na cadeia da comunicao. O enunciado, desde o incio, elabora-se em
funo de uma eventual resposta e, neste sentido, o papel dos outros muito importante.
Uma concepo como essa mostra, segundo Indursky (2000a), que a noo de antecipao, tal
como concebida pela Anlise do Discurso e formulada por Pcheux (1975), j est presente em
Bakhtin.
17
Para a autora, essa dimenso do enunciado em Bakhtin nos mostra que no possvel estudlo a partir das relaes lingsticas do sistema da lngua, nem, tampouco, a partir do enunciado
tomado isoladamente (Indursky, 2000a: 74), pois o que interessa, realmente, para Bakhtin, so as
relaes entre o enunciado e a realidade, entre o enunciado e o locutor, e essas relaes no so da
ordem da lingstica.
Lemos ento em Bakhtin (1992:345) que a relao dialgica s possvel entre enunciados
concludos, proferidos por sujeitos falantes distintos. Assim, apesar de pressupor uma lngua, a
relao dialgica no existe no sistema da lngua.
A relao dialgica, neste sentido, , para Bakhtin, uma relao de sentido que se estabelece
entre enunciados na comunicao verbal. Dois enunciados quaisquer, justapostos no plano do
sentido, entabularo uma relao dialgica. Em outras palavras: a relao com o sentido sempre
dialgica (Ibidem: 350).
Assim, o crdito concedido palavra do outro, a acolhida palavra de autoridade, a busca do
sentido profundo, a concordncia (com suas infinitas graduaes e matizes), a estratificao de um
sentido que se sobrepe a outro, de uma voz que se sobrepe a outra, so, para Bakhtin, relaes
que no podem ser resumidas a uma relao puramente lgica. aqui que se encontram, na
verdade, posies, vozes.
Nesta medida, a palavra (e, em geral, o signo) interindividual. Lembra ento Bakhtin:
Tudo o que dito, expresso, situa-se fora da alma, fora do locutor, no lhe pertence com
exclusividade. No se pode deixar a palavra para o locutor apenas. O autor (locutor) tem seus
direitos imprescindveis sobre a palavra, mas tambm o ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles
cujas vozes soam na palavra tm seus direitos (no existe palavra que seja de algum). A palavra
um drama com trs personagens (no um dueto, mas um trio). representado fora do autor, e
no se pode introjet-lo (introjeo) no autor. (Ibidem: 350)
Esta concepo aproxima-se da perspectiva que adotamos, pois desmistifica a idia de que os
sentidos so construdos apenas pelo sujeito que fala e mostra que o sentido se produz na relao
dialgica entre locutor, ouvinte e todas as outras vozes que soam nas palavras, no discurso. Isto
coincide com nosso pensamento, quando consideramos a leitura como um processo que envolve no
apenas um autor e um leitor, mas tambm outros textos, outras vozes, outros discursos.
Martins (1990), examinando as idias de Bakhtin, resume de forma clara a posio do autor:
Para o autor, como vimos, ser comunicar, ser para outrem e, atravs dele, para si. Se nessa
relao com o outro que adquirimos conscincia de ns mesmos, a intersubjetividade precede
logicamente a subjetividade: no reconhecimento do outro diferente do eu, mas que o reflete, que
os indivduos se constituem em sujeitos. (Martins, 1990:18)
Essa concepo coloca a linguagem como interao social e considera o outro como quem
desempenha importante papel na constituio do significado. Tal perspectiva ainda integra o ato de
18
enunciao num contexto mais amplo, revelando as relaes entre o lingstico e o social. Em
outras palavras: tais reflexes abrem caminho para o discurso.
Examinando as relaes entre Bakhtin e a Anlise do Discurso, Indursky (2000a) afirma:
Pode-se aproximar a concepo dialgica que Bakhtin tem do discurso com a perspectiva
assumida por Pcheux ao longo da construo da Teoria do Discurso, bem como de toda a
produo terica sobre o discurso que se lhe seguiu e que o toma como objeto de estudo.
(Indursky, 2000a: 78)
A autora ressalta, no entanto, que, na Teoria do Discurso, se concebe uma perspectiva nosubjetiva da enunciao, em que o sujeito no o centro do discurso por ter sido descentrado pela
interpelao ideolgica que o entende desde-sempre afetado por uma formao ideolgica e
pelo fato de ser um sujeito dotado de inconsciente o que o faz ignorar que um sujeito interpelado
ideologicamente e lhe permite imaginar-se fonte nica do seu dizer.
Essas caractersticas estabelecem, lembra Indursky, uma distino fundamental entre a
concepo de sujeito que as duas teorias desenvolveram. Afirma ento a autora:
...embora Bakhtin admita que o signo ideolgico e que a linguagem social, sua teoria concebe
um sujeito que no interpelado ideologicamente e consciente das escolhas que estabelece. Tal
fato distingue seu sujeito do sujeito da Anlise do Discurso. (Ibidem: 78-9)
Assim, no mbito da Anlise do Discurso, o sujeito deixa de ser o centro da interlocuo, a
qual passa a no estar mais no eu ou no tu, mas no intervalo criado entre ambos. Descentrado, o
sujeito torna-se uma posio entre outras, e faz soar em seu discurso o j-dito em outro lugar, ou
seja, abre espao para o discurso-outro no interior do seu discurso.
Como podemos ver, a Anlise do Discurso, ao assumir uma perspectiva no-subjetiva da
enunciao, na qual o sujeito no o centro do discurso, ultrapassa a concepo bakhtiniana de
dialogia e de comunicao.
Todos esses trabalhos distanciam-se, de alguma forma, dos estudos tradicionais de linguagem
e da anlise de contedo, segundo a qual o que importa responder questo o que este texto quer
dizer?. Para a Anlise do discurso, no entanto, a questo que se coloca no descobrir o que o
texto quer dizer, mas trabalhar o texto para descobrir como ele significa.
Quando surge, nos anos 60, a Anlise do Discurso se constitui no espao das questes criadas
pela relao entre trs domnios disciplinares: a Lingstica, o Marxismo e a Psicanlise.
A Lingstica que tem como objeto prprio a lngua, com uma ordem prpria importante
para a AD, que procura mostrar que a relao entre linguagem, pensamento e mundo no direta,
nem se faz termo-a-termo.
19
A Anlise do Discurso pressupe ainda o legado do materialismo histrico, como nos lembra
Orlandi (1999):
...h um real da histria de tal forma que o homem faz histria mas esta tambm no lhe
transparente. Da, conjugando a lngua com a histria na produo de sentidos, esses estudos do
discurso trabalham o que vai-se chamar a forma material ( no abstrata como a da Lingstica) que
a forma encarnada na histria para produzir sentidos: esta forma portanto lingstico-histrica.
(Orlandi, 1999:19).
Por outro lado, a contribuio da Psicanlise para a AD o deslocamento da noo de
indivduo para a de sujeito, sujeito que se constitui na relao com o simblico, com a histria.
Citamos novamente Orlandi:
Desse modo, se a Anlise do Discurso herdeira de trs regies do conhecimento Psicanlise,
Lingstica, Marxismo no o de modo servil e trabalha uma noo a de discurso que no se
reduz ao objeto da Lingstica, nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco
corresponde ao que teoriza a Psicanlise. Interroga a Lingstica pela historicidade que ela deixa
de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simblico e se demarca da Psicanlise pelo
modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao
inconsciente sem ser absorvida por ele. (Ibidem: 20).
A Anlise do Discurso, assim, trabalha a confluncia desses campos de conhecimento e
constitui um novo objeto, o qual, como j referimos, o discurso. Ao eleger o discurso como seu
objeto, a AD procura compreender a lngua fazendo sentido, como trabalho simblico, parte do
trabalho social geral, que constitutivo do homem e da sua histria.
A noo de discurso relaciona-se a duas outras, tambm fundamentais para a AD: a de
formao ideolgica3 e a de formao discursiva4.
Tais noes tm origem em autores como Althusser e Foucault, sendo depois exploradas e
reformuladas pela Anlise do Discurso.
Nos prximos captulos, vamos refletir sobre essas noes.
3
A noo de formao ideolgica serve para caracterizar um elemento suscetvel de intervir como uma fora de
confrontao com outras foras na conjuntura ideolgica caracterstica de uma formao social em um dado momento.
Cada formao ideolgica constitui um conjunto complexo de atitudes e de representaes que no so nem
individuais nem universais, mas se relacionam mais ou menos diretamente a posies de classe em conflito umas com
as outras (Pcheux & Fuchs, 1975:166). Assim, pode-se dizer que o sentido no existe em si, mas determinado
pelas posies ideolgicas colocadas em jogo no processo scio-histrico em que se produzem as palavras. Quer dizer:
as palavras adquirem sentido em relao s formaes ideolgicas nas quais se inscrevem.
4
O termo formao discursiva original de Foucault e foi empregado por Pcheux (1988) para designar as formas de
organizao dos enunciados. A formao discursiva ento, para Pcheux, aquilo que numa formao ideolgica dada,
isto , a partir de uma posio dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que
pode e deve ser dito(Pcheux, op.cit.:160). a noo de formao discursiva que permite compreender o processo de
produo dos sentidos e a sua relao com a ideologia. Assim, pode-se dizer que o discurso se constitui em sentidos
porque as palavras se inscrevem em uma formao discursiva, o que significa que as palavras no tm um sentido nelas
mesmas. As formaes discursivas representam no discurso as formaes ideolgicas.
20
1.1.1 Discurso e texto
importante salientar, seguindo Pcheux (1969:82), que discurso, aqui, no est sendo
tomado como sinnimo de transmisso de informao, e, portanto, distancia-se do esquema
elementar da comunicao, o qual constitudo pelos elementos emissor, receptor, cdigo,
referente, mensagem. Assim, o discurso no se reduz a um processo em que algum, atravs de um
cdigo, fala sobre alguma coisa para algum, que decodifica a mensagem.
O discurso, antes, pressupe funcionamento5 da linguagem, e pe em relao sujeitos
afetados pela lngua e pela histria, em um complexo processo de constituio desses sujeitos e de
produo dos sentidos.
A noo de funcionamento , de acordo com Orlandi (1987:125), a atividade estruturante de
um discurso determinado, por um falante determinado, para um locutor determinado, com
finalidades especficas.
Em um discurso, deste modo, no s se representam os interlocutores, mas tambm a relao
que eles mantm com a formao ideolgica. E isto est marcado no e pelo funcionamento
discursivo.
Assim, do ponto de vista da anlise do discurso, o que importa destacar o modo de
funcionamento da linguagem, sem esquecer que esse funcionamento no integralmente
lingstico, j que dele fazem parte as condies de produo, que representam o mecanismo de
situar os protagonistas e o objeto do discurso.
Da ser possvel afirmar, juntamente com Pcheux (1969), que o discurso , antes de tudo,
efeito de sentido entre os interlocutores, os quais representam lugares determinados na estrutura da
formao social.
Tais lugares so representados nos processos discursivos em que so colocados em jogo, nos
quais funciona uma srie de formaes imaginrias que, para Pcheux, designam o lugar que os
sujeitos atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu prprio lugar e do
lugar do outro (Pcheux, 1969:82).
Pcheux, buscando instaurar os fundamentos da Anlise do Discurso francesa, e trabalhando a
relao lngua-discurso-ideologia, vai dizer ento que o discurso a materialidade especfica da
ideologia, e que a materialidade especfica do discurso a lngua.
O discurso, dessa forma, o lugar em que se observa a relao entre lngua e ideologia, e a
lngua quem produz sentidos por e para os sujeitos. Ou seja: o discurso lugar social. E o texto,
21
nesta perspectiva, passa a ser a unidade de anlise do discurso, a materialidade lingstica pela qual
se tem acesso ao discurso.
Courtine (1982:240), tratando da relao entre lngua e discurso, afirma haver uma ordem do
discurso a que ele denomina materialidade do discursivo e que distinta da ordem da lngua. Essa
materialidade discursiva consiste em uma relao determinada entre a lngua e a ideologia. O
discurso materializa o contato entre o ideolgico e o lingstico, no sentido que ele representa no
interior da lngua os efeitos de contradies ideolgicas e, inversamente, ele manifesta a existncia
da materialidade lingstica no interior da ideologia.
O discurso, nesta perspectiva, deve ser pensado em sua especificidade. A adoo de uma
concepo especificamente discursiva deve evitar reduzir o discurso anlise da lngua ou dissolvla no trabalho histrico sobre a ideologia como representao.
Em Orlandi (1987), vamos ainda encontrar o seguinte:
O que caracteriza a relao entre discurso e texto o seguinte: eles se equivalem, mas em nveis
conceptuais diferentes. Isso significa que o discurso tomado como conceito terico e
metodolgico e o texto, em contrapartida, como o conceito analtico correspondente. (Orlandi,
1987:159)
Na AD, olha-se o texto enquanto unidade significativa, isto , como unidade de anlise do
discurso. No entanto, no basta dizer que o texto uma unidade complexa de significao,
consideradas as condies de sua realizao. Ele uma unidade de anlise no formal, mas
pragmtica, ou seja, aquela em cujo processo de significao tambm entram os elementos do
contexto situacional. Considerando o texto no processo de interlocuo, podemos tom-lo como o
centro comum, a unidade que se faz no processo de interao entre falante e ouvinte, entre autor e
leitor. Desta forma, a unidade do dilogo a do texto, isto , no s da ordem de um dos
interlocutores ou do outro. interao, ou seja, todo texto supe uma relao dialgica e constituise pela ao dos interlocutores.
Indursky (2001) tambm se ocupa desse conceito:
O texto , pois, uma unidade de anlise, afetada pelas condies de sua produo, a partir da qual se
estabelecer a prtica de leitura. Em funo disso, podemos acrescentar, de imediato, que, para a
Anlise do Discurso, a organizao interna ao texto o que menos interessa. O que est em jogo para
a Anlise do Discurso o modo como o texto organiza sua relao com a discursividade, vale dizer,
com a exterioridade. (Indursky, 2001: 28)
O texto, assim, no fechado em si mesmo, mas relaciona-se com outros textos, bem como
com o contexto social, econmico, poltico e histrico em que produzido. Ou, como afirma
Orlandi (1987:180), o texto no uma unidade completa, pois sua natureza intervalar.
5
Esse funcionamento, em Anlise do Discurso, no totalmente lingstico, e dele fazem parte as condies de
produo, que representam o mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso (Pcheux, 1969: 78).
22
Desta forma, o texto incompleto, porque o discurso instala o espao da intersubjetividade,
em que o texto tomado no como objeto fechado em si mesmo, mas como constitudo pela relao
de interao que, por sua vez, o prprio texto instala. a relao com a situao e com outros textos
que lhe d um carter no acabado.
Como o texto um espao, mas um espao simblico, tem relao com o contexto e com os
outros textos. Deste modo, enquanto objeto terico, o texto no um objeto acabado. Enquanto
objeto emprico, o texto pode ser este objeto acabado, com comeo, meio e fim. No entanto, a
anlise do discurso lhe devolve a sua incompletude, ou seja, a anlise do discurso reinstala a relao
com a situao e com os interlocutores.
Pensar sobre a incompletude do texto nos conduz tambm noo de leitura e a consider-la
em relao s suas condies de produo, no esquecendo que essas condies incluem autor e
receptor.
Considerar as condies de produo da leitura ento trabalhar com a incompletude do
texto. E levar em conta a noo de intertextualidade na leitura refletir sobre o fato de que o(s)
sentido(s) de um texto passa(m) pela sua relao com outros textos, o que leva a no conceber o
texto apenas como matriz com lacunas que so preenchidas pelo leitor, mas como processo de
significao e lugar de sentidos.
nesta perspectiva, ento, que se pode considerar que a AD instaura um objeto diferente. E
a noo de texto que se coloca como nuclear para a operacionalizao dos conceitos, em termos de
anlise discursiva.
Atravs dessa noo, entendida no como uma soma de frases, mas como conceito que acolhe
o processo de interao e relao com o mundo pela e na linguagem, nos instalamos no domnio da
significao como multiplicidade e no como linearidade informativa.
Discurso e texto so, ento, como podemos observar, dois conceitos nucleares para a Anlise
do Discurso. E so fundamentais tambm para um estudo da leitura, uma vez que o texto, enquanto
unidade de anlise, a materializao do discurso, a materialidade do gesto de leitura que um
determinado sujeito-autor faz da sociedade a que pertence, da realidade que o cerca.
Nesta perspectiva, as noes de texto e discurso so tambm indispensveis para um estudo
da leitura atravs da reescrita, j que o texto da reescrita a expresso do discurso de um sujeitoleitor, do seu gesto de leitura, que se entrecruza com a voz do sujeito-autor e com todas as outras
vozes presentes naquele texto que esse sujeito reescreve: vozes de outros textos, de outros
discursos, da ideologia, etc.
Passemos agora ao exame de outras noes, tambm fundamentais para a AD e, por
conseguinte, essenciais para o desenvolvimento desse estudo.
23
1.1.2 Sujeito, ideologia e sentidos
Quando falamos em sujeito, sob a perspectiva da Anlise do Discurso, importante precisar
que no estamos falando de um sujeito emprico, coincidente consigo mesmo.
Citamos Orlandi (1999):
Ele materialmente dividido desde sua constituio: ele sujeito de e sujeito . Ele sujeito
lngua e histria, pois para se constituir, para (se) produzir sentidos ele afetado por elas. Ele
assim determinado, pois se no sofrer os efeitos do simblico, ou seja, se ele no se submeter
lngua e histria ele no se constitui, ele no fala, no produz sentidos. (Orlandi, 1999: 49)
Segundo essa concepo, nem sujeito nem sentidos so constitudos a priori, mas so
constitudos no discurso. Essa constatao traz em sua base Pcheux (1988:160), quando o autor
afirma que o sentido de uma palavra, de uma expresso, no existe em si mesmo, em sua relao
com a literalidade transparente do significante, mas se produz de acordo com as posies
ideolgicas colocadas em jogo no processo scio-histrico em que as palavras e expresses so
produzidas. isso que explica o fato de que as palavras e expresses mudam de sentido de acordo
com as posies sustentadas por aqueles que as empregam, ou seja, com referncia s formaes
ideolgicas de quem usa essas palavras e expresses.
Isto nos permite considerar o sujeito como uma posio, como um lugar que ocupa para ser
sujeito do que diz. O modo como o sujeito ocupa esse lugar no lhe acessvel, da mesma forma
que a lngua no transparente nem o mundo diretamente apreensvel. Na verdade, tudo
constitudo pela ideologia, que, podemos dizer ento, a condio para a constituio do sujeito e
dos sentidos. Quer dizer: o indivduo interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o
dizer.
A noo de interpelao do sujeito formulada inicialmente por Althusser (1992:93), para
quem s h ideologia pelo sujeito e para o sujeito. Para Althusser, a ideologia age de tal forma
que recruta sujeitos entre os indivduos (e recruta a todos) ou transforma os indivduos em sujeitos
(e transforma a todos) atravs da interpelao. Assim, o indivduo interpelado como sujeito
(livre) para livremente submeter-se s ordens do sujeito, para aceitar, portanto (livremente), sua
submisso (Ibidem:104).
Pcheux (1988), buscando esclarecer os fundamentos de uma teoria materialista do discurso,
vai ento dizer que a funo principal da ideologia a de produzir uma idia de evidncia
subjetiva, entendendo-se subjetiva como evidncias nas quais se constitui o sujeito. Assim, a
ideologia dissimula sua existncia no interior de seu prprio funcionamento.
24
Vejamos o que nos diz Pcheux:
Eis o ponto preciso onde surge, a nosso ver, a necessidade de uma teoria materialista do discurso;
essa evidncia da existncia espontnea do sujeito (como origem ou causa de si) imediatamente
aproximada por Althusser de uma outra evidncia, presente em toda a filosofia idealista da
linguagem, que a evidncia do sentido. (Pcheux, 1988:153)
Temos a uma noo de sujeito menos formal, ou seja, um sujeito da linguagem que no o
sujeito-em-si, mas tal como existe socialmente.
Considerar a interpelao do indivduo em sujeito pela ideologia nos conduz ento quilo que,
em AD, denominamos de iluso do sujeito6, aquilo que nos faz imaginar que somos a fonte do que
dizemos. Iluso porque, na verdade, os sentidos que produzimos no nascem em ns, ns apenas os
retomamos do interdiscurso.
Assim, a evidncia do sentido , na verdade, um efeito ideolgico que no nos deixa perceber
a historicidade de sua construo. Ela nos faz perceber como transparente aquilo que, de fato,
consiste em uma remisso a um conjunto de formaes discursivas. Quer dizer: as palavras recebem
seus sentidos de formaes discursivas postas em relaes. Isto o que constitui o efeito do
interdiscurso 7 (da memria8 ).
Por outro lado, a evidncia do sujeito apaga o fato de que ela resulta de uma identificao, em
que o indivduo interpelado em sujeito pela ideologia. Considerada desse modo, a ideologia no
ocultao, mas funo necessria entre linguagem e mundo.
6
Segundo Pcheux (1988:172), na FD que se constitui a iluso necessria de uma intersubjetividade falante, pela
qual cada um sabe de antemo o que o outro vai pensar e dizer, j que o discurso de cada um reproduz o discurso do
outro. Deste modo, o sujeito falante tem a iluso no s de estar na fonte do sentido o que Pcheux denomina de
iluso-esquecimento n 1 mas tambm de ser dono de sua enunciao, capaz de dominar as estratgias discursivas
para dizer o que quer iluso-esquecimento n 2. O esquecimento nmero dois da ordem da enunciao, pois, ao
falarmos, falamos de uma maneira e no de outra e, ao longo de nosso dizer, formam-se famlias parafrsticas que
indicam que o dizer sempre poderia ser outro. um esquecimento parcial, semi-consciente. J o esquecimento nmero
um da ordem do ideolgico e do inconsciente e resulta do modo como somos afetados pela ideologia.
7
Pcheux (1988:162) define o interdiscurso como o todo complexo com dominante das formaes discursivas,
dizendo que ele submetido lei de desigualdadecontradio-subordinao que caracteriza o complexo das formaes
ideolgicas. O interdiscurso constitui o exterior especfico de uma FD. o lugar no qual se constituem, por um sujeito
falante, produzindo uma seqncia discursiva dominada por uma FD determinada, os objetos de que este sujeito
enunciador se apropria para usar como objetos do seu discurso. atravs das articulaes entre esses objetos que o
sujeito enunciador vai dar coerncia a seu propsito na seqncia discursiva que enuncia, isto , no intradiscurso. ,
pois, na relao entre o interdiscurso de uma FD e o intradiscurso de uma seqncia discursiva que se situam os
processos pelos quais o sujeito falante interpelado- assujeitado em sujeito do seu discurso.
8
A noo de memria ser desenvolvida mais adiante (cap.2/seo 2.3.1.). Podemos adiantar, no entanto, que, quando
pensada em relao ao discurso, a memria tratada como interdiscurso, como aquilo que fala antes, em outro lugar,
independentemente. A memria, assim, o saber discursivo que torna possvel todo dizer e que retorna sob a forma do
pr-construdo (elemento constitutivo do interdiscurso, que designa uma construo anterior e independente, por
oposio ao que construdo na enunciao), do j-dito que est na base do dizvel, sustentando cada tomada de
palavra.
25
Como nos afirma Orlandi, a relao da ordem simblica com o mundo se faz de tal modo que,
para que haja sentido, preciso que a lngua como sistema passvel de jogo, de falhas se
inscreva na histria. Essa inscrio dos efeitos lingsticos materiais na histria a discursividade.
Podemos dizer ento que o sentido uma relao determinada do sujeito afetado pela lngua
com a histria. Isso significa que no h discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia.
Em outras palavras: a ideologia um efeito da relao necessria do sujeito com a lngua e
com a histria. a que se produz o sentido9.
A Anlise do Discurso, assim, pretende-se uma teoria crtica que trata da determinao
histrica dos processos de significao. Trabalha no com os produtos, mas com os processos e as
condies de produo da linguagem, ou seja, leva em conta a exterioridade.
Ao considerar que a exterioridade constitutiva, a AD parte da historicidade inscrita no texto,
para atingir o modo de sua relao com a exterioridade, atestada no prprio texto, em sua
materialidade.
Para a AD, conforme lemos em Orlandi (1990:35), a histria est ligada a prticas e no ao
tempo em si. No o tempo cronolgico que organiza a histria, mas a relao com o poder. Por
isso, no se procura extrair o sentido do texto, mas apreender sua historicidade, o que supe
colocar-se no interior de uma relao de confronto de sentidos.
Em termos de leitura, isso significa falar de um leitor para quem o texto no um objeto
acabado, com um sentido pr-determinado, que lhe compete descobrir. De forma contrria, esse
leitor, determinado por sua relao com a histria, confronta-se com a historicidade do texto. E, sob
tais condies, produz sua leitura.
Caracteriza-se, dessa forma, uma noo de histria que prpria da AD: a historicidade a do
texto, ou seja, sua discursividade, que no simples reflexo de fora, mas constitui-se na prpria
tessitura da materialidade do sentido e do sujeito, nos seus modos de constituio histrica. A
questo do histrico, assim, liga-se da linguagem, da cincia e do sujeito.
Lemos mais uma vez em Orlandi (1999):
O sentido assim uma relao determinada do sujeito afetado pela lngua com a histria. o
gesto de interpretao que realiza essa relao do sujeito com a lngua, com a histria, com os
sentidos. Esta a marca da subjetivao e, ao mesmo tempo, o trao da relao da lngua com a
Tudo isso tem relao direta com a questo da leitura e do leitor: J que o sentido uma relao determinada do
sujeito com a histria, natural que diferentes leitores, que mantm diferentes relaes com a histria, leiam um mesmo
texto de forma tambm diferente, ou seja, produzam sentidos diversos.
26
exterioridade: no h discurso sem sujeito. E no h sujeito sem ideologia. Ideologia e
inconsciente esto materialmente ligados. (Orlandi, 1999: 47)
Desta forma, para que a lngua faa sentido, necessrio que a histria intervenha, pela
opacidade, pela espessura material do significante. Isto ratifica, na verdade, a idia de que o sentido
no est nas palavras, no est no texto. Ou seja: o processo da leitura, pela interveno da
histria, que faz com que o texto faa sentido.
Todas essas convices nascem, como j vimos (seo 1.1.1), em Pcheux, para quem
impossvel a Anlise do Discurso sem sua ancoragem em uma teoria do sujeito. E a ideologia que
faz com que haja sujeitos. Assim, o efeito ideolgico elementar a constituio do sujeito.
Podemos finalmente dizer que a Anlise do Discurso, ao constituir-se, produz um
deslocamento em relao s teorias sociais da ideologia, articulando os domnios das Cincias
Sociais e da Lingstica. com tais deslocamentos que a Anlise do Discurso institui essa nova
conceituao de sujeito, mostrando que, em termos de linguagem, nem sujeito nem significao so
transparentes.
1.1.3 Anlise do Discurso: implicaes para o estudo da leitura
Com as reflexes realizadas na seo anterior, procuramos apresentar um esboo terico
suficiente para definir a Anlise do Discurso e apontar suas especificidades. Neste ponto, queremos
falar sobre o modo como nossa escolha terica vai se refletir nesse estudo sobre a leitura.
Uma primeira observao tem relao com o fato de que o texto, nesta abordagem terica, a
unidade de anlise, mas, antes de tudo, a materialidade do discurso; e esse discurso que nos
interessa.
O texto, assim, a materialidade de um discurso produzido por um sujeito interpelado pela
ideologia, um sujeito que uma posio, um lugar. Quer dizer: um sujeito social.
Nesta medida, o texto materializa a leitura que esse sujeito faz da realidade, desvela a sua
relao com a histria, com a ideologia.
Os sentidos que so produzidos em um texto, assim, no nascem no sujeito que o escreve
(embora ele tenha essa iluso), mas vm de sua relao com o interdiscurso, com a memria, com a
formao discursiva. Os sentidos nascem da relao de um texto com outros textos, da relao com
o contexto histrico, social, poltico. Isto significa que o texto no acabado, no fechado em si
mesmo, incompleto.
Tudo isso tem conseqncias no modo de conceber a leitura nesta perspectiva terica. E
tambm na forma de perceber esse processo de reescrita de um texto.
27
Assim, se o sujeito sujeito histria, fica evidente que essa sujeio afeta tanto aquele que
escreve (o autor) quanto aquele que l (o leitor) e reescreve (lembrando que, nessa pesquisa, ele
equivale ao leitor).
Ora, diferentes sujeitos estabelecem diferentes relaes com a histria, com a ideologia.
Portanto, autor e leitor, enquanto sujeitos distintos, no ocupam necessariamente um mesmo lugar,
uma mesma posio, no so iguais.
Desta forma, aquele texto escrito por um determinado autor (e que revela a sua relao com a
histria), ao ser tomado por um determinado leitor, que o reescreve, vai desencadear um processo
de construo de significados que vai expressar a interpelao desse leitor pela ideologia (que no
idntica ao do autor), a sua relao com a histria (que tambm no idntica a do autor), a sua
posio (que igualmente no idntica a do autor). Em outras palavras: o leitor realiza a sua leitura
a partir de seu lugar social.
A reescrita, neste sentido, a expresso de todo esse processo de leitura, desse processo de
relao de um sujeito afetado pela lngua com a histria.
Podemos dizer ento que, ao analisar textos reescritos, sob a perspectiva terica da Anlise do
Discurso, no estamos preocupados com o que eles querem dizer, mas com o modo como estes
textos significam. Isto implica que no nos ocupamos em descobrir, por exemplo, se o texto
reescrito quer dizer a mesma coisa, ou quer dizer outra coisa, em relao ao texto que lhe serviu
(para fins de anlise) de origem, mas que estamos verificando o modo como esses textos significam.
Assim, a materialidade lingstica representada pelos textos para ns um meio de ter
acesso ao discurso dos leitores que reescrevem esses textos. O que estamos procurando verificar,
ento, so os efeitos de sentido gerados pela leitura e pela reescrita de textos dados, efeitos que tm
origem em sujeitos interpelados ideologicamente e, portanto, identificados com uma determinada
formao discursiva.
Em outras palavras: estamos partindo dos textos para perceber a sua historicidade e a sua
relao com a exterioridade.
Feitas essas colocaes, passamos ento, no captulo seguinte, a examinar mais detidamente a
noo de leitura.
2. LEITURA
28
Neste segundo captulo, vamos refletir sobre a leitura, noo central nessa pesquisa e sobre a
qual muito se tem dito, a partir de perspectivas tericas distintas.
Propomo-nos ento a examinar questes que nos permitam caracterizar a noo de leitura a
partir de uma viso discursiva.
Vamos ainda trabalhar outras noes que so pontos de interesse nesse trabalho e que, para
ns, esto relacionadas noo de leitura: reescrita, repetio, interpretao, heterogeneidade,
silncio e autoria.
2.1 TRABALHANDO A NOO DE LEITURA
Nesta seo, propomo-nos a examinar algumas concepes de leitura, a fim de percorrer um
caminho que nos possibilite chegar a uma perspectiva discursiva da leitura.
2.1.1 Da decodificao atribuio de sentidos
Orlandi (1993a:7), ao desenvolver um estudo sobre a leitura, chama a ateno para o fato de
que este conceito pode ser tomado com vrios sentidos distintos.
Assim, se pensada em termos bem restritivos, a leitura pode ser vinculada alfabetizao e
adquirir o carter de estrita aprendizagem formal. Nesta perspectiva, a leitura encarada como o
aprender a ler e a escrever. O termo leitura ainda pode estar ligado construo de um aparato
terico e metodolgico de aproximao de um texto; assim, falamos nas vrias leituras de Saussure,
por exemplo.
Como podemos notar, a leitura pode ser percebida de diferentes formas, o que corresponde
assuno de diferentes concepes tericas.
Desse modo, por exemplo, vamos encontrar em Kato (1985), um conceito que relaciona
leitura a processo de decodificao e que v o texto como fonte nica do sentido.
Tal postura corresponde a uma viso mecanicista da linguagem e considera o sentido como
sendo arraigado exclusivamente s palavras e s frases.
A possibilidade de recuperar o verdadeiro sentido do texto, bem como as intenes do autor,
leva a uma concepo segundo a qual o texto considerado um produto, ou, como afirma Kato,
um conjunto de pegadas a serem utilizadas para recapitular as estratgias do autor e, atravs delas,
chegar a seus objetivos (Kato, 1985: 57).
Note-se, ento, que a ao do leitor se restringe a capturar o sentido do texto e a respeitar as
leituras autorizadas por ele.
29
Leffa (1999), ao examinar as perspectivas vigentes no estudo da leitura, faz referncia a essa
abordagem denominada de ascendente que estuda a leitura a partir da perspectiva do texto.
O autor ressalta que foi nas dcadas de 50 e 60, nos Estados Unidos, que a perspectiva do
texto predominou nos estudos da leitura. O que se queria ento era que o texto, considerado como
um intermedirio entre o leitor e o contedo, fosse transparente, ou seja, que mostrasse o contedo
da maneira mais clara possvel.
Lembra Leffa, ento:
O aspecto mais importante da leitura, nesta perspectiva textual, a obteno do contedo que
subjaz ao texto. O contedo no est no leitor, nem na comunidade, mas no prprio texto. Da que
a construo do significado no envolve negociao entre o leitor e o texto e muito menos
atribuio de significado por parte do leitor; o significado simplesmente construdo atravs de
um processo de extrao. ( Leffa, 1999:18)
Ler, nessa perspectiva, extrair um contedo, e a leitura ser tanto melhor quanto mais
contedo extrair.
Essa concepo de leitura como decodificao, centrada no texto, vai sendo abandonada, por
exemplo, por Paulo Freire (1991:11), que afirma: ... uma compreenso crtica do ato de ler, que
no se esgota na decodificao pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa
e se alonga na inteligncia do mundo.
Para Freire, assim, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura dessa
implica a continuidade da leitura daquele (ibidem:20). Em outras palavras, linguagem e realidade
relacionam-se dinamicamente, e a compreenso do texto implica a percepo das relaes entre o
texto e o contexto.
Assim, h sempre um movimento do mundo palavra e da palavra ao mundo. Nesse
movimento, a palavra flui do mundo atravs da leitura que dele se faz.
Nesta medida, a leitura da palavra no apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma
certa forma de escrev-lo ou de reescrev-lo, ou seja, de transform-lo atravs de uma prtica
consciente.
Se pensada em uma concepo ainda mais ampla, a noo de leitura ganha outros
significados.
Assim, por exemplo, lemos em Ezequiel Theodoro da Silva (1984) que, para que se efetue a
leitura, no basta decodificar as representaes indiciadas por sinais e signos, mas preciso tambm
que o leitor que assume a compreenso porte-se diante do texto, transformando-o e
transformando-se.
30
Como podemos perceber, aqui a leitura deixa de ser pensada em termos de decodificao e
passa a supor uma ao do leitor, que porta-se diante do texto, podendo, inclusive, transform-lo.
Na obra Elementos de Pedagogia da Leitura (1988), que vem somar-se outra, anteriormente
citada, o autor ressalta a necessidade de o leitor saltar para o contexto, para a intencionalidade que
determinou o texto, pois, para ele, se isso no ocorre, a leitura perde a sua validade, porque as
palavras do autor ficam fechadas em si mesmas, sem que os elementos do real sejam colocados em
relao com as experincias do leitor. Afirma ento o autor: Dessa forma, no existe a posse,
apreenso ou compreenso de idias, mas a mera reproduo alienada de palavras ou trechos
veiculados pelo autor do texto (Silva, 1988: 4).
Podemos ainda trazer para a discusso as idias de Maria Helena Martins (1991:30), que
percebe a leitura como um processo de compreenso de expresses formais e simblicas, no
importando por meio de que linguagem.
Para ela, o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expresso do fazer
humano, caracterizando-se tambm como acontecimento histrico e estabelecendo uma relao
igualmente histrica entre o leitor e o que lido.
Martins, ressaltando que as concepes vigentes de leitura podem ser sintetizadas em duas
caracterizaes (como uma decodificao mecnica dos signos ou como um processo de
compreenso abrangente, que envolve componentes emocionais, intelectuais, culturais, econmicos,
polticos), vai dizer ento que decodificar sem compreender intil e compreender sem
decodificar, impossvel (Ibidem:32).
a partir desse pensamento que Martins compartilha as idias de Paulo Freire e admite que a
leitura vai alm do texto e comea antes do contato com ele. Adotar esse ponto de vista, para a
autora, significa admitir que o leitor desempenha um papel atuante, deixando de ser mero
decodificador ou receptor passivo. Assim, o contexto em que ele atua, as pessoas com quem
convive passam a ter influncia aprecivel em seu desempenho na leitura. Isto, segundo a autora,
porque o dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situao desse texto e de seu
leitor (Ibidem:33).
Desse modo, para Martins, a leitura se realiza a partir do dilogo do leitor com o objeto lido.
Esse dilogo referenciado por um tempo e um espao, uma situao, e desenvolvido de acordo
com os desafios e as respostas que o objeto apresenta. Tambm o sustenta a intermediao com
outro(s) leitor(es).
31
Para Martins, ento, a dinmica do processo de tal ordem que considerar a leitura apenas
como resultado da interao texto-leitor seria reduzi-la consideravelmente10, a ponto de se correr o
risco de pensar que um mesmo leitor, lendo um mesmo texto, no importa quantas vezes, sempre
realizaria uma mesma leitura. Afirma Martins: No precisa ser especialista no assunto para saber o
quanto as circunstncias pessoais ou no uma dor de cabea, uma recomendao acatada ou
imposio, um conflito social podem influir na nossa leitura (Ibidem:34)11.
Refletindo ainda sobre o papel do educador na problemtica da leitura, Martins adota posio
semelhante a de Ezequiel Theodoro da Silva e diz que criar condies de leitura no implica apenas
alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. preciso mais: dialogar com o leitor sobre sua leitura,
isto , sobre o sentido que ele d ao objeto da leitura.
Na proposta de Martins, podemos verificar alguns deslocamentos em relao s demais. Desta
proposta, destacamos os seguintes pontos: a) o dilogo do leitor com o texto referenciado por um
tempo e um espao; b) um mesmo leitor, lendo um mesmo texto, no importa quantas vezes, nem
sempre realiza uma mesma leitura; c) considerar a leitura apenas como resultado da interao textoleitor seria reduzi-la consideravelmente.
Poderamos dizer que, de certa forma, esses pontos mantm contato com uma perspectiva
discursiva de leitura, sobre a qual falaremos melhor mais adiante (seo 2.1.2.). Podemos adiantar,
no entanto, que tal perspectiva tambm concebe que a leitura comea antes do texto e vai alm dele,
considera importantes as condies em que a leitura produzida (ou seja, o tempo e o contexto),
admite que diferentes leituras de um mesmo texto podem ser realizadas por um mesmo leitor, ou
por leitores diferentes, e reconhece que a leitura no se reduz interao entre texto e leitor.
Frisamos, porm, que, em uma concepo discursiva, esse dar sentidos ao texto, do qual fala
Martins, vai muito mais alm. Ou seja: a leitura no resultado apenas do trabalho de um leitor
que, num ato consciente, atribui sentidos ou capta os sentidos expressos por um autor. Em uma
perspectiva discursiva, entram em jogo muitos outros fatores no processo que a leitura.
10
Na verdade, essa seria a tendncia a que Leffa (1999) se refere como a perspectiva do leitor, ou abordagem
descendente da leitura. Nela, a leitura se realiza baseada na experincia de vida do leitor, anterior ao seu encontro com o
texto, e envolve conhecimentos lingsticos, textuais e enciclopdicos, alm de fatores afetivos. Nesta abordagem no
se fala mais em extrao, mas em atribuio de sentidos. Para Leffa, o problema desta perspectiva que o leitor passa a
ser visto como o soberano absoluto na construo do significado, pois, como o sentido no extrado, mas atribudo, o
leitor tem o poder de atribuir o significado que lhe aprouver. Para Leffa, essa perspectiva ignora os aspectos da injuno
social da leitura.
11
Essas colocaes de Martins tm relao com aquilo que, em Anlise do Discurso, chamamos de condies de
produo da leitura (voltaremos a fazer referncia a isso, na seo 2.1.2.). Mas, na perspectiva discursiva, os fatores
que fazem parte dessas condies de produo vo alm de uma dor de cabea, uma recomendao. So fatores
histricos, sociais, ideolgicos. Mais adiante, ao falarmos sobre a leitura na perspectiva discursiva, desenvolveremos
melhor essas questes.
32
Seguindo a mesma linha de Martins, encontramos Geraldi (1984), que afirma:
O autor, instncia discursiva de que emana o texto, se mostra e se dilui nas leituras de seu texto:
deu-lhe uma significao, imaginou seus interlocutores, mas no domina sozinho o processo de
leitura de seu leitor, pois este, por sua vez, re-constri o texto na sua leitura, atribuindo-lhe a sua
(do leitor) significao. (Geraldi, 1984: 80)
Como possvel notar, est presente nessas definies a concepo de leitura como
atribuio de significado, de leitor como algum que pode propor outra leitura, no prevista pelo
autor, que, sendo assim, no domina o processo da significao.
Nesta perspectiva, podemos reconhecer, embora Geraldi no fale explicitamente nisso, uma
concepo de leitura em que o texto no est pronto, acabado. No o autor, portanto, que
estabelece o sentido do texto, e o oferece aos leitores, para que esses entendam esse sentido.
Antes, so os leitores que, pelo processo da leitura, fazem o texto ganhar sentidos.
Em obra posterior, Geraldi (1993:98) vai adotar explicitamente essa concepo de texto como
objeto no acabado. Assim, o autor refere-se ao texto, por exemplo, como um objeto que aponta
tanto para o fechamento quanto para a abertura de sentidos. Ou como o produto de uma atividade
discursiva onde algum diz algo para algum (Ibidem:98).
Nesta perspectiva, lembra Geraldi:
O outro a medida: para o outro que se produz o texto. E o outro no se inscreve apenas no seu
processo de produo de sentidos na leitura, o outro insere-se j na produo, como condio
necessria para que o texto exista. porque se sabe do outro que um texto acabado no fechado
em si mesmo. Seu sentido, por maior que lhe queira dar seu autor, e ele o sabe, j na produo
um sentido construdo a dois. (Ibidem:102)
isto que leva Geraldi a dizer, ainda, que se fala em compreenso de um texto, e no em
reconhecimento de um sentido que lhe seria imanente, nico (Ibidem:103).
Uma tal concepo compartilhada por Marisa Lajolo (1982):
Ler no decifrar, como num jogo de adivinhaes, o sentido de um texto. , a partir do texto, ser
capaz de atribuir-lhe significao, conseguir relacion-lo a todos os outros textos significativos
para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da prpria vontade,
entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra no prevista. (Lajolo, 1982:59)
Como podemos notar, Lajolo considera a intertextualidade como parte do processo da leitura,
ou seja, considera como parte do processo de produo de sentidos o estabelecimento da relao
entre os textos.
Nesse processo, mais uma vez, o autor deixa de ser dono de seu texto e passa a dividi-lo
com seus leitores, que recriam seus sentidos, estabelecendo relaes com outros textos.
33
Temos novamente, aqui, uma concepo de texto no acabado, no fechado em si mesmo.
Neste sentido, a concepo de Lajolo afasta-se da noo de leitura como decodificao de sentidos e
aproxima-se de uma concepo discursiva de leitura.
Postura semelhante adotada por Angela Kleiman (1989). Para a autora, partir do princpio
de que a linguagem interao traz resultados positivos vlidos. Diz ela:
Nessa viso, o texto escrito se constitui no meio atravs do qual autor e leitor interagem, onde o
autor constri um texto, e, portanto, prope uma leitura, atravs do quadro referencial selecionado,
enquanto o leitor aceita, refuta, critica, tambm apoiado num processo seletivo que determina a
depreenso da linha temtica, a integrao das informaes num significado nico e abrangente, e
uma reao intersubjetiva. (Kleiman, 1989:18-9)
Para a autora, so vrios os aspectos que constituem a leitura, pois o ato de compreender
muito complexo e envolve uma multiplicidade de processos cognitivos que constituem a atividade
em que o leitor se engaja para construir o sentido de um texto escrito (Ibidem:9).
Encontramos ento em Kleiman a leitura sendo tomada como construo de sentidos.
Em 1993, a mesma autora define a leitura como uma prtica social que remete a outros textos
e outras leituras. Assim, afirma Kleiman: Ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ao
todo o nosso sistema de valores, crenas e atitudes que refletem o grupo social em que se deu nossa
sociabilizao primria, isto , o grupo social em que fomos criados (Kleiman, 1993:10).
De tudo que foi visto at aqui sobre a leitura, podemos dizer que h, grosso modo, trs formas
de consider-la: a) como decodificao ou extrao de sentidos; b) como construo de sentidos; c)
como atribuio de sentidos.
Como pudemos constatar, quando a leitura concebida como decodificao, ela fica centrada
no texto, que o portador de uma significao que cabe ao leitor apreender. Quando ela concebida
como construo de sentidos, fica centrada no leitor, que soberano em relao ao texto e capaz de
atribuir-lhe o sentido que desejar. No nosso ponto de vista, no entanto, nem texto nem leitor,
sozinhos, so responsveis pelos sentidos de um texto.
Por isso, preferimos falar em atribuio de sentidos, o que pressupe falar tambm em
produo de sentidos, produo que tem em sua origem um processo histrico-social.
Vamos ento procurar perceber de que forma essa concepo de leitura como produo de
sentidos contribui para uma abordagem discursiva da leitura.
2.1.2 Leitura e discursividade
Na busca de definir a leitura a partir da perspectiva terica da Anlise do Discurso, tomamos
como ponto de partida Michel Pcheux (1975), quando procurando mostrar que a produo do
34
sentido indissocivel da relao de parfrase, que a famlia parafrstica constitui o que se poderia
chamar de matriz do sentido e que no interior dessa famlia que se constitui o efeito de sentido
o autor afirma: Se nos acompanham, compreendero ento que a evidncia da leitura subjetiva,
segundo a qual um texto biunivocamente associado a seu sentido (...) uma iluso constitutiva do
efeito-sujeito em relao linguagem (Pcheux, 1975:169).
A afirmao de Pcheux vem nos falar, assim, de uma concepo de leitura que descarta a
possibilidade da decodificao do sentido, dos sentidos construdos de antemo, de sentido nico
para um texto. E nos permite pensar que uma reescrita, enquanto materializao da leitura, no pode
ser imaginada tambm como uma decodificao que conduziria reproduo de um sentido nico.
A partir de pressupostos tericos como os de Pcheux que Orlandi (1987:193) vai dizer que
a leitura o momento crtico da constituio do texto, pois o momento privilegiado do processo
da interao verbal: aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores,
desencadeiam o processo da significao.
Deste modo, na sua interao que os interlocutores instauram o espao da discursividade.
Em outras palavras, isso significa que, para Orlandi, a leitura produzida.
Para a autora, um dos pontos que levam a considerar a leitura como produzida a
problematizao do conceito de legibilidade: o que um texto legvel? O que torna um texto
legvel? A essas questes, acrescentamos outras: ser um texto legvel significa ser compreendido
por qualquer leitor, em qualquer momento? Reescrever um texto seria apenas um ato de revelar a
legibilidade do texto? Reescrever seria, para qualquer leitor, apenas repetir um texto, da mesma
maneira, demonstrando sua legibilidade?
Na nossa perspectiva, assim como para Orlandi, a legibilidade do texto est, e ao mesmo
tempo no est, no texto. Em outras palavras: a legibilidade tem pouco de objetiva e no uma
conseqncia direta da escrita. Assim, necessrio que outras questes sejam colocadas: legvel
para quem? Bem escrito para quem?
Essa forma de conceber a legibilidade, como podemos perceber, relativiza a idia de
qualidade do prprio texto e desloca o problema para a relao que se estabelece entre o texto e
quem o l. Isso, convm ressaltar novamente, exclui a possibilidade de considerar a leitura como
decodificao, como apreenso de uma informao ou de um sentido que j est dado. E, na mesma
medida, nos impede de pensar na reescrita como mera decodificao, como simples desvelamento
de um sentido preestabelecido.
Nessa perspectiva, no se considera a leitura como um produto, mas se procura observar o
processo de sua produo e, portanto, de sua significao. O leitor, ento, no apreende
simplesmente um sentido que est no texto, mas ele produz, atribui sentidos ao texto. A leitura,
35
ento, uma questo de natureza, de condies, de modos de relao, de trabalho, de produo de
sentido; enfim, de historicidade.
isso que leva Orlandi (1993a:41) a dizer que toda leitura tem sua histria, o que explica o
fato de que leituras que so possveis, para um mesmo texto, em certas pocas, no o foram em
outras, e leituras que no so possveis hoje o sero no futuro. E explica tambm o fato de que
lemos diferentemente um mesmo texto em pocas distintas e sob condies diferentes.
Nesta perspectiva, podemos pensar tambm que reescritas possveis para um texto em um
momento podem no ser possveis em outro, o que equivale a dizer, a exemplo do que diz Orlandi
sobre a leitura, que toda reescrita tem sua histria. Isto porque a reescrita tambm um efeito de
historicidade.
Assim como os sentidos tm sua histria, tambm o leitor tem sua histria de leituras. As
leituras j feitas configuram, segundo Orlandi, a compreensibilidade do texto de cada leitor
especfico.
Dessa forma, as leituras j feitas de um texto e as leituras j feitas por um leitor compem a
histria da leitura em seu aspecto previsvel (Ibidem:43). E essa previsibilidade tambm resulta da
histria, o que quer dizer que ainda do contexto histrico-social que deriva a pluralidade possvel,
e desejvel, das leituras. isso que leva Orlandi a afirmar que as leituras tm suas histrias, no
plural.
Estendendo o raciocnio, podemos afirmar ento que toda reescrita tem sua histria e que isso
deriva do fato de que todo leitor tem sua histria de leituras. A reescrita, neste sentido, a
materializao das leituras j feitas por um leitor e tem a ver tambm com o contexto histricosocial em que produzida, o que pode levar sedimentao ou pluralizao dos sentidos.
Na dinmica entre as leituras previstas para um texto e as novas leituras possveis que se
situa ento, segundo Orlandi, o difcil limite que se estabelece na relao de interao que a leitura
envolve: aquilo que o leitor no chegou a compreender, o mnimo que se espera que seja
compreendido (limite mnimo) e aquilo que ele atribui indevidamente ao texto, ou seja, aquilo que
j ultrapassa o que se pode compreender (limite mximo).
Assim, segundo Orlandi, justamente a observao da histria que pode nos levar a decidir se
uma leitura ou no uma leitura possvel (limite mximo) e/ou se ela chega a ser uma leitura
razovel (limite mnimo). Em outras palavras: uma leitura no possvel e/ou razovel em si, mas
em relao s suas histrias.
A pluralidade das leituras, desta forma, como ressalta Orlandi (1996:87), no tem relao
apenas com a leitura de vrios textos, mas, principalmente, com a possibilidade de se ler um mesmo
texto de vrias maneiras.
36
Para ns, isso pode ser traduzido pelo fato de que a relao com a histria abre possibilidades
de reescrever um mesmo texto de vrias maneiras, o que significa pensar que a reescrita pode nos
revelar os diferentes graus de interao do leitor com um determinado texto, sua relao com a
histria. Mas nos permite imaginar tambm, e isso o mais interessante para ns, que essa relao
poder lev-lo a um menor afastamento leituras previstas ou a um maior afastamento leituras
possveis do texto lido. Ou seja: nos permite sonhar com a pluralidade de sentidos nas reescritas.
justamente essa relao de posies histrica e socialmente determinadas em que o
simblico (lingstico) e o imaginrio (ideolgico) se juntam que, segundo Orlandi, constituem as
condies de produo da leitura.
E, diramos tambm, as condies de produo da reescrita.
No processo que a leitura, autor e leitor, confrontados, definem-se ento em suas condies
de produo, que compreendem fundamentalmente os sujeitos (autor e leitor),
a situao, a
ideologia, a memria, os demais textos.
Deste modo, possvel imaginar que h reescritas previstas para um texto, mas que sempre
sero possveis novas reescritas, sujeitas histria dos sentidos, s histrias (de leitura) dos leitores.
Levar em conta as condies de produo da leitura nos permite ento conceber o
funcionamento do discurso. Isto significa que a noo de funcionamento, necessariamente, remete o
discurso sua exterioridade. Essa relao com a exterioridade contexto de enunciao e contexto
scio-histrico permite entender a incompletude do texto, assim definida por Orlandi (1987):
Entendemos como incompletude o fato de que o que caracteriza qualquer discurso a
multiplicidade de sentidos possvel. Assim, o texto no resulta da soma de frases, nem da soma de
interlocutores: o(s) sentido(s) de um texto resulta(m) de uma situao discursiva, margem de
enunciados efetivamente realizados. Esta margem este intervalo no vazio, o espao
determinado pelo social. (Orlandi, 1987:194)
Considerar as condies de produo da leitura , ento, trabalhar a incompletude, essa
espcie de indeterminao do texto.
Assim, no h leituras nem reescritas previstas por um texto de modo geral, como se ele
fosse um objeto fechado em si mesmo e auto-suficiente, mas h leituras e reescritas previstas
para ele. O possvel e o razovel, em relao compreenso de um texto, definem-se quanto s
histrias da sua leitura, quanto forma de interao que o leitor estabelece, no processo da leitura.
prprio da natureza da linguagem a possibilidade desta multiplicidade de sentidos. Se, no
entanto, ocorre a sedimentao histrica dos sentidos, porque, em condies de produo
determinadas, um sentido acaba por adquirir estatuto dominante em relao aos outros.
37
Se descentralizamos o conceito de informao em relao leitura, podemos, ento, pensar o
sentido em sua pluralidade e esquecer a idia de um sentido literal, ou seja, se consideramos que o
contexto e as condies de produo so constitutivas do sentido, percebemos que a variao
inerente ao prprio conceito de sentido. Isto nos leva a abandonar a hiptese de um sentido nuclear,
mais importante hierarquicamente que os outros, e a pensar em efeitos de sentido. Os sentidos,
assim, recolocam-se a cada momento no processo que a interlocuo.
Isto nos permite considerar, acompanhando Gregolin (2001:60), que os textos so um objeto
de reconhecimento/desconhecimento cuja apario s se completa quando um leitor o insere na
ordem da histria, deslocando-o do lugar onde jaz reclamando sentidos.
Assim, o histrico traz em si mesmo uma ambigidade: porque histrico, muda; porque
histrico, permanece. Da mesma forma que h a histria das leituras, h a histria da leitura do
leitor, isto , do sujeito-leitor. E se existe a possibilidade de diferentes leituras para um mesmo texto
porque existem diferentes sujeitos-leitores, que mantm diferentes relaes com a ideologia, com
a histria.
A leitura, nesta perspectiva, pode ser concebida como um trabalho do leitor, que, enquanto
sujeito interpelado ideologicamente e determinado pelo social, lida com essa incompletude e passa a
produzir sentidos. Quer dizer: diferentes sujeitos-leitores, diferentes relaes com a histria,
diferentes formas de trabalhar a incompletude do texto resultam em diferentes leituras. E ainda:
diferentes sujeitos-leitores, diferentes relaes com a histria, diferentes processos de leitura
resultam em diferentes processos de reescrita.
Podemos dizer ento que a incompletude do texto reside no fato de que o discurso instala o
espao da intersubjetividade, o que implica que o texto visto no como fechado em si mesmo, mas
como constitudo pela relao de interao que ele mesmo instala. Interao que pressupe,
necessariamente, o confronto entre autor e leitor, ambos determinados ideologicamente e
produzindo sentidos a partir de um lugar social e sob determinadas condies. Tudo isso subentende
tambm a relao com outros textos. Em outras palavras: faz parte tambm das condies de
produo da leitura a intertextualidade.
A intertextualidade, conforme nos lembra Orlandi (1987:160), pode ser vista sob dois
aspectos: primeiro, porque se pode relacionar um texto com outros, nos quais ele nasce e para os
quais ele aponta; segundo, porque se pode relacion-los com suas parfrases (seus fantasmas), pois
sempre se pode referir um texto ao conjunto dos textos possveis naquelas condies de produo.
A intertextualidade , pois, um dos fatores que constituem a unidade do texto.
Neste estudo sobre a leitura, a intertextualidade est sendo levada em conta sob os dois
aspectos anteriormente mencionados: primeiro, porque, ao examinarmos reescritas, estamos lidando
38
com textos que materializam a relao de um texto com outro texto (aquele que estamos
considerando, metodologicamente, como texto-origem, e a partir do qual a reescrita surge);
segundo, porque, ao compararmos as reescritas, estamos procurando verificar as relaes que elas
estabelecem entre si mesmas, ou seja, estamos verificando as relaes de parfrase.
Tal tarefa nos conduz tambm ao interdiscurso, onde circulam os saberes que determinam o
discurso dos sujeitos-leitores e suas reescritas.
Assim, podemos dizer que, quando se l, considera-se no apenas o que est dito, mas
tambm o que est implcito: aquilo que no est dito, mas que tambm est significando e que
pode se apresentar de vrias maneiras; o que no est dito, mas que, de alguma forma, sustenta o
que est dito; o que est suposto para que se entenda o que est dito; aquilo a que o que est dito se
ope; outras maneiras de se dizer o que se disse e que significa com nuances distintas, etc.
Na anlise de discurso proposta por Pcheux, estaria caracterizada a a relao de sentidos.
Lemos ento em Pcheux (1969):
...tal discurso remete a outro, frente ao qual uma resposta direta ou indireta, ou do qual ele
orquestra os termos principais ou anula os argumentos. Em outros termos, o processo discursivo
no tem, de direito, incio: o discurso se conjuga sempre sobre um discurso prvio... (Pcheux,
1969:77)
Por essa relao de foras, o locutor se liga ao lugar social do qual diz, o que faz com que
aquilo o locutor diz tenha um estatuto diferente conforme o lugar que ele ocupa. Assim, o(s)
sentido(s) de um texto est (o) determinado (s) pela posio que ocupa aquele que o produz, tanto
o que o emite quanto o que o l. Nesta perspectiva, os sentidos que podem ser lidos em um texto
no esto necessariamente ali, nele, pois esses sentidos passam pela relao do texto com outros
textos.
Isso, como ressalta Orlandi (1993a:11), mostra que a leitura pode ser um processo bastante
complexo e que envolve muito mais do que habilidades que se resolvem no imediatismo da ao de
ler. Saber ler saber o que o texto diz e o que ele no diz, mas o constitui significativamente.
Nesta perspectiva, a reescrita, para ns, tambm um processo complexo, que envolve muito
mais do que apenas entender e redizer o sentido de um determinado texto. Reescrever, significa,
para um leitor, revelar, pela materializao da leitura, sua compreenso do sentido que o texto diz e
do sentido que ele no diz e, diante disso, posicionar-se como sujeito, mantendo, deslocando ou
transformando esse sentido.
A noo de intertextualidade implica ainda a relao que um texto tem com outros textos que
poderiam ter sido produzidos naquelas condies e no o foram. Assim, aquilo que poderia se dizer
39
e no se disse, em determinadas condies de produo, tambm constitui o espao de
discursividade daquelas condies.
Na verdade, podemos dizer que a relao do discurso com as formaes ideolgicas
representadas no discurso pela sua inscrio em uma formao discursiva determinada que
sustenta as suas possveis diferentes leituras.
Indursky (2001:29-30), tratando dessa questo, define a intertextualidade como a
retomada/releitura que um texto produz sobre outro texto, dele apropriando-se para transform-lo
ou assimil-lo. Assim, o processo de intertextualidade lana o texto a uma origem possvel.
noo de intertextualidade, Indursky contrape a de interdiscurso. Assim, enquanto a
intertextualidade diz respeito releitura de um texto sobre outro texto, o interdiscurso diz respeito
memria do dizer, remetendo a redes de formulaes tais que j no mais possvel identificar com
preciso, como acontece na intertextualidade, a origem de um texto, uma vez que o discurso est
disperso em uma profuso descontnua de textos, relacionando-se com formaes discursivas
diversas e mobilizando posies-sujeito igualmente diferentes. Intertextualidade e interdiscurso so
ento duas formas distintas de relao com a exterioridade que participam, igualmente, da
constituio do texto.
A conseqncia disso, para Indursky, que j no se pode pensar no texto como uma
instncia enunciativa homognea, mas, ao contrrio, como num espao discursivo heterogneo. E
tais formas de se relacionar com a exterioridade constituem, para a autora, a interdiscursividade.
Falar em reescrita a partir de tal perspectiva significa ento estar no campo do intertexto
uma vez que examinamos a relao entre textos e ir ao espao do interdiscurso uma vez que
estamos trabalhando com a memria do dizer. Desse modo, o texto que deu origem reescrita passa
a ser considerado apenas como um ponto de partida imaginrio para a produo de outros
dizeres.
Um texto com tal heterogeneidade, como nos lembra Indursky, produzido por um sujeito
interpelado ideologicamente e identificado com uma posio- sujeito inscrita em uma formao
discursiva.
A noo de posio-sujeito est presente em Pcheux (1988), para quem o lugar do sujeito
nunca vazio, mas ocupado por aquilo que ele designa de forma-sujeito12, ou sujeito de saber da
12
A designao forma-sujeito, segundo Pcheux (1988), pela qual o sujeito do discurso se identifica com a formao
discursiva que o constitui, abrange o sujeito-enunciador (sujeito do discurso ou sujeito ideolgico) e o sujeito universal
(ou sujeito do saber) na articulao entre o interdiscurso e o intradiscurso de uma FD. A forma-sujeito tende a absorver
o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece como o j-dito do intradiscurso. Assim, a
forma-sujeito realiza a incorporao-dissimulao dos elementos do interdiscurso: a unidade (imaginria) do sujeito,
sua identidade presente-passada-futura encontra aqui um de seus fundamentos.
40
FD. Para Pcheux, assim, ... pela forma-sujeito que o sujeito do discurso se identifica com a
formao discursiva que o constitui (Pcheux, 1988:167).
Essa noo tambm est presente em Courtine (1981), que afirma:
no nvel de constituio do enunciado como elemento de saber, sob a dominao do
interdiscurso, que deve ser situada a instncia do Sujeito Universal (SU), ou sujeito do saber
prprio a uma FD, referente ao lugar de onde pode-se enunciar: cada um sabe, v, diz,
compreende que... para todo sujeito enunciador que venha enunciar uma formulao a partir de
um lugar inscrito na FD. Assim, o saber prprio a uma FD formado pelo conjunto de asseres
que reenviam ao SU e marca bem que o enuncivel se constitui como exterior ao sujeito que
enuncia. (Courtine, 1981: 50)
a posio-sujeito, portanto, que revela essa relao de identificao entre sujeito
enunciador e sujeito do saber da FD. Isso significa que diferentes sujeitos, relacionando-se com o
sujeito do saber de uma mesma FD, podem ter diferentes posies-sujeito, o que acarreta diferentes
efeitos-sujeitos em seu discurso.
Assim, o sujeito produz seu texto a partir de um lugar social, assumindo uma determinada
posio-sujeito, e, ao faz-lo, constitui-se em sujeito-autor13, o qual, segundo Indursky (2001:30),
mobiliza diferentes relaes com a histria e as organiza, dando-lhes a configurao de um texto.
Ou ainda: o sujeito-autor cria o efeito-texto14.
Tal efeito-texto, alm de apresentar-se como um texto que est na origem de seu autor,
apagando os vestgios de sua interdiscursividade e demarcando-se de todos os outros textos,
apresenta-se tambm ilusoriamente como uma pea de linguagem dotada de completude. Quer
dizer: o efeito-texto resulta da iluso de que tudo o que devia ser dito foi dito, de que nada falta ou
nada sobra. Ele dotado de comeo, meio e fim. Ou ainda: apresenta-se como uma forma completa,
acabada, fechada.
O efeito-texto, desse modo, produz um fechamento15 que, por sua vez, instaura a
estabilizao dos sentidos.
Segundo Indursky (2001:4), essa uma iluso que afeta o sujeito-autor: ele esquece que os
sentidos pr-existem e imagina-se a fonte de seu dizer e de seus sentidos: ele sabe/controla/domina
13
A noo de autor desenvolvida por Foucault (1996) e retomada por Orlandi (1993a), sob a luz da Anlise do
Discurso. sobre essa base terica que Gallo (1994) desenvolve a noo de efeito-autor, que, para a autora, consiste
no efeito de realidade de um sujeito produtor de discurso.
14
Gallo (1994), fala em efeito TEXTO, que o efeito de realidade e unidade do enunciado. Para a autora, o efeito
TEXTO relaciona-se ao efeito de fechamento da linguagem, enquanto para Indursky, o efeito-texto consiste na iluso de
fechamento e estabilizao dos sentidos.
15
A noo de fechamento vem de Gallo (1994), e est relacionada a uma conteno da disperso dos sentidos, que
resulta no efeito-texto.
41
perfeita e completamente os sentidos que produziu em seu texto. Desse modo, os sentidos so o
que seu autor pretendeu que fossem, absolutamente transparentes e, como tal, se cristalizam, no
podendo nunca serem outros, produzindo o efeito de evidncia. Em sua iluso, tais sentidos so
estveis, nunca derivam, nem podem deslizar.
Dessa iluso, o sujeito-autor emerge como efeito-sujeito. E esse efeito est atravessado pelo
esquecimento da exterioridade e dos outros sentidos. , pois, sobre o efeito-texto, dotado da iluso
de homogeneidade, completude e transparncia, que se instaura a produo da leitura. E tambm
sobre esse texto que vai se constituir o sujeito-leitor, sujeito tambm interpelado ideologicamente e
identificado com uma formao discursiva.
Acreditamos que a reescrita, nesta medida, tem em sua origem um sujeito que, mesmo
sabendo que no fonte do seu dizer uma vez que ele est retomando um texto produzido por um
sujeito-autor que no ele imagina-se fonte desse sentido que, agora, est (re)construindo. Desse
modo, ele instaura o seu processo de leitura sobre um efeito-texto, e, ao fazer isso, tem a iluso de
que est produzindo os seus prprios sentidos.
Segundo Indursky, essa relao entre sujeito-leitor e sujeito-autor tem conseqncias:
Isso implica dizer que o sujeito-leitor vai ocupar uma posio-sujeito em relao quela ocupada
pelo sujeito-autor, com ela identificando-se ou no. Ou seja, o sujeito-leitor vai produzir sua leitura
desde seu lugar social e este pode ou no coincidir com o lugar social a partir do qual o sujeitoautor produziu o texto. Por conseguinte, a produo de leitura vai mobilizar, num primeiro
momento, essas duas posies-sujeito. Elas estabelecem entre si um processo de interlocuo que
travado no interior do espao simblico desenhado pelo efeito-texto. Cabe funo-leitor
concordar, identificando-se com a posio-sujeito ocupada pelo autor, ou discordar, discutir,
criticar a posio-sujeito assumida pelo sujeito-autor. Em ambos os casos, o leitor instaura o seu
prprio trabalho discursivo, a prtica discursiva da leitura. (Ibidem:5)
Assim, o sujeito-leitor entra em interlocuo com o sujeito-autor atravs do efeito-texto. E, ao
dialogar com esse efeito-texto, tem a iluso de que a nica voz com a qual ele se defronta a do
sujeito-autor. Sabemos, no entanto, e Indursky ressalta esse fato, que, em um texto, circulam muitas
vozes, ou seja, confrontam-se vrias posies-sujeito, provenientes de outros textos, de outros
discursos, de outras formaes discursivas. Isso lana o leitor em uma interdiscursividade
insuspeitada, e ele interage com todos os outros sujeitos inscritos no efeito-texto e atualizados pelo
sujeito-autor e no apenas com o sujeito-autor.
Nesta perspectiva, lembra Indursky, a produo da leitura bastante complexa e diferente de
uma interlocuo intersubjetiva que poderia ser entendida como sendo travada apenas entre as duas
posies-sujeito ocupadas pelo autor e pelo leitor; na verdade, por trs dessas duas posies, outras
posies, outras vozes, freqentemente annimas, entram em interlocuo. E isso torna essa
interlocuo heterognea.
42
Tal interdiscursividade, no entanto, no dada diretamente pelo efeito-texto, pois foi ocultada
pelo trabalho de textualizao16 produzido pelo sujeito-autor. Nesse trabalho, o interdiscurso se
atravessa e presentifica na materialidade textual sob a modalidade de uma presena ausente
(Ibidem:6).
Neste sentido, vai depender das condies de produo da leitura de cada sujeito-leitor
reconhecer essa interdiscursividade, uma vez que cada sujeito-leitor tem maior ou menor domnio
do contexto em que foi produzido o texto, cada sujeito-leitor tem sua histria de leituras, o que pode
lev-lo a identificar ou no os recortes textuais que o sujeito-autor, inconscientemente, mobilizou.
Nessa medida, cada leitor poder reconhecer ou no a interdiscursividade presente no texto e essa
histria pessoal do leitor vai determinar sua maior ou menor interao com a interdiscursividade
constitutiva do efeito-texto a ser lido.
Assim, cada sujeito-leitor, tendo sua prpria histria de leituras, pode estabelecer relaes
diversas, mobilizando uma interdiscursividade diferente daquela do sujeito-autor, o que poder
levar diferentes leitores a atriburem diferentes sentidos a um mesmo texto.
Para ns, isso significa que cada leitor, munido de sua prpria histria de leituras, pode
mobilizar uma interdiscursividade diferente e reescrever tambm diferentemente um mesmo texto.
Lembra ainda Indursky:
O sujeito-leitor aproxima-se do texto a partir de seu lugar social, de sua posio-sujeito, e o
observa luz de seu contexto scio-histrico, cultural, poltico e econmico. Mas no apenas isso.
Aborda-o igualmente ao abrigo de sua histria de leituras e de outros discursos que ressoam desde
o interdiscurso, atravessando-se em sua leitura. (Ibidem:7)
Indursky refere-se aqui memria discursiva, onde se encontram palavras j ditas, saberes
annimos e inconscientes. Munido de tudo isso, o sujeito-leitor passa a interagir com o efeito-texto
e, debatendo com ele, vai promovendo a sua desconstruo, ou seja, atravs da produo da
leitura, vai desestabilizando aquela superfcie que parecia to bem estruturada e homognea, a
reconhecendo e/ou introduzindo elementos que lhe so externos (Ibidem:7).
A produo discursiva da leitura, no entanto, para Indursky, no termina a, pois, para que se
complete o ciclo, necessrio que o texto seja recomposto. Assim, afirma a autora:
Ao preencher as brechas produzidas por sua prtica discursiva de leitura, o sujeito-leitor
reconstri o texto, d-lhe uma nova estruturao, igualmente heterognea e provisria. Esse o
trabalho discursivo do sujeito-leitor: desconstruir o efeito-texto, produzindo brechas em sua
estruturao, as quais se constituem pelo atravessamento da interdiscursividade na prtica de
leitura realizada sobre o efeito-texto. Essas brechas so preenchidas pela produo da leitura,
luz da memria discursiva. (Ibidem:8)
16
A noo de textualizao pode ser encontrada em Gallo (1994), como sendo a prtica que produz um efeito de
fechamento, que contm a disperso dos sentidos e remete ao efeito-texto.
43
Essa concepo de leitura e de sujeito-leitor, desenvolvida por Indursky, altamente
produtiva para ns, uma vez que estamos preocupados justamente com esse processo de
desconstruo e reconstruo do efeito-texto, atravs da prtica discursiva da leitura.
Para ns, a reescrita lida justamente com esse espao de identificaes e/ou disjunes que a
leitura produz, materializando esse processo de desconstruo e reconstruo do efeito-texto.
Nessa perspectiva, podemos pensar tambm nas reticncias e no ponto de interrogao que,
sendo brechas visveis, sinalizadas pelo sujeito-autor na estruturao do texto, podem induzir o
trabalho de desconstruo do efeito-texto, permitindo que, por ali, se atravesse uma
interdiscursividade e que esse atravessamento se solidifique pela reescrita.
Assim, nesse estudo, procuraremos descobrir como o sujeito-leitor interage com essas
brechas, na produo da leitura e na reconstruo do efeito-texto e luz de suas histrias de leitura
e da memria discursiva.
Todas essas reflexes nos permitem retornar noo de legibilidade proposta por Orlandi
(1993a:9), noo que d conta do fato de o texto no ser o exclusivo portador da significao.
Assim, a leitura no uma questo de tudo ou nada, de certo ou errado, mas uma questo de
trabalho, de produo de sentidos, de historicidade. , nos termos de Orlandi, uma questo de
graus. E, nessa medida, importante a noo de leitor virtual e de leitor real.
Para Orlandi, ento, h sempre um leitor virtual inscrito no texto, o qual constitudo no
prprio ato da escrita. Subjacente a esse pensamento est a noo de formaes imaginrias17: o
autor imagina um leitor e para ele dirige seu texto. Este leitor tanto pode ser um seu cmplice
quanto um seu adversrio. Deste modo, quando o leitor real l o texto, j encontra no mesmo um
leitor a constitudo, e com ele tem que se relacionar.
Eis a, portanto, nos termos de Orlandi, a relao bsica que instaura o processo da leitura: o
jogo existente entre leitor virtual e leitor real.
Isto o que, segundo a autora, nos permite pensar na leitura no como uma interao, mas
como uma relao de confronto. Quer dizer: o leitor no interage com o texto, mas com outro (s)
sujeito(s) leitor virtual, autor, etc. Reencontramos aqui tambm o pensamento de Indursky.
Na perspectiva que estamos adotando neste estudo, vamos preferir no falar em confronto,
para traduzir o processo que se desenvolve entre sujeito-leitor e texto (constitudo por um sujeitoautor e outros sujeitos). Isto porque estamos pressupondo que, nesse processo, pode haver relaes
17
Essa pode ser encontrada em Pcheux (1969:77), quando o autor afirma que um discurso sempre produzido a partir
de condies de produes dadas. Isso significa que o discurso deve ser remetido s relaes de sentido nas quais
produzido. Assim, o que funciona uma srie de formaes imaginrias que designam o lugar que destinador e
destinatrio atribuem-se cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem do seu prprio lugar e do lugar do outro.
44
de divergncia, de discordncia ou de transformaes, mas pode haver tambm relaes de
identificao e de concordncia entre sujeito-leitor e texto. Assim, preferimos falar simplesmente
em interlocuo, ou seja, preferimos pensar na leitura e na reescrita como um relacionamento
que se desenvolve entre sujeito-leitor, texto, sujeito-autor e todas as outras vozes que circulam entre
esses elementos.
A partir de tudo isso, explica-se a noo de leitura como o momento da produo da unidade
textual: leitura e sentidos constituem-se simultaneamente, num mesmo processo. Processo que se
configura de diferentes modos, dependendo da relao que se estabelece entre leitor virtual e leitor
real.
Porm, inegavelmente, faz parte do processo da leitura e da reescrita a prpria instaurao
do autor e do leitor em sua relao como sujeitos, pois sujeitos e sentidos so elementos do mesmo
processo de significao.
Assim, como nos lembra Orlandi (1993a:11), a relao entre autor/leitor/texto exclui a
possibilidade de pensarmos em: a) um autor onipotente, cujas intenes controlam todo percurso de
significao do texto; b) um texto transparente, que diz por si toda a significao; c) um leitor
onisciente, cuja capacidade de compreenso domina as mltiplas determinaes de sentidos que
jogam em um processo de leitura.
Em outras palavras: o sentido que produzimos, na leitura, no nasce nem no autor, nem no
texto, nem no leitor, mas na relao que se estabelece entre sujeitos determinados ideologicamente e
que produzem sua leitura sob determinadas condies.
Do mesmo modo, para ns, o sentido que se produz na reescrita no nasce da leitura apenas
do texto que, ilusoriamente, lhe serve de origem, mas de todas as outras leituras realizadas por
aquele sujeito-leitor, e, alm disso, de sua relao com os sentidos produzidos pelo sujeito-autor.
essa relao entre sentidos produzidos por sujeitos determinados ideologicamente que vai ditar o
rumo das reescritas, ou seja, vai estabelecer a direo dos sentidos.
So fatores como esses que vo determinar a sedimentao ou a transformao dos sentidos
veiculados pelo efeito-texto. Ou seja: vo apontar para aquilo que Orlandi denomina de leitura
parafrstica ou leitura polissmica.
Essa concepo est presente em Orlandi (1987:200) e revela que a leitura pode se efetivar de
duas formas: a) como leitura parafrstica, que se caracteriza pelo reconhecimento (reproduo) do
sentido dado pelo autor; b) como leitura polissmica, que se define pela atribuio de mltiplos
sentidos ao texto.
45
Leitura parafrstica e leitura polissmica, nesta perspectiva, dizem respeito aos limites entre o
mesmo e o diferente. E todo o funcionamento da linguagem se assenta na tenso entre esses
limites, entre esses processos.
Ao assumir a palavra, como sabemos, retomamos dizeres, mexendo na rede de filiao dos
sentidos. Ao fazer isso, criamos uma espcie de jogo entre aquilo que j foi dito e aquilo que temos
a dizer: um jogo entre o mesmo e o diferente. nesse jogo que os sentidos se sedimentam, se
solidificam. Ou se movimentam, ressignificam.
Em Orlandi (1999) vamos encontrar ento:
Os processos parafrsticos so aqueles pelos quais em todo dizer h sempre algo que se mantm,
isto , o dizvel, a memria. A parfrase representa assim o retorno aos mesmos espaos do dizer.
Produzem-se diferentes formulaes do mesmo dizer sedimentado. A parfrase est do lado da
estabilizao. Ao passo que, na polissemia, o que temos deslocamento, ruptura de processos de
significao. Ela joga com o equvoco. (Orlandi, 1999:36)
Todo discurso, assim, se faz nessa tenso entre o mesmo e o diferente. E se os sentidos podem
vir a ser outros porque a lngua sujeita falha, ao equvoco, ideologia. O sujeito, assim, ao
significar, se significa.
Se pensarmos especialmente em termos de processo discursivo da leitura e de reescrita
podemos trazer para a discusso novamente a noo de sujeito-leitor, que, como j vimos,
desconstri e reconstri os sentidos do efeito-texto. Esses sentidos, assim, podem vir a ser outros.
Mas tambm podem continuar os mesmos.
Esse sujeito-leitor, que se aproxima do texto a partir de um lugar social, determinado
ideologicamente, assumindo uma posio-sujeito, preso sua histria de leituras e a outros
discursos que ressoam do interdiscurso e atravessam a sua leitura, pode assim produzir, na reescrita,
o mesmo efeito de sentido do sujeito-autor, ou pode produzir deslocamentos ou transformaes
nesse sentido.
Para Orlandi, assim, pode variar muito, na leitura, o grau de identificao do sujeito-leitor,
indo desde um ponto mais prximo de identificao, o que o conduz a ratificar os sentidos e o que
caracteriza a leitura parafrstica at o ponto mais distante de desidentificao ou contraidentificao, o que o conduz a produzir outros e diferentes sentidos e o que caracteriza a leitura
polissmica.
Essas constataes ratificam a idia de que a leitura produzida, isto , de que h sempre ao
por parte do leitor. Mesmo na leitura parafrstica j existe inferncia. O que pode haver, isso sim,
so diferentes graus de inferncia, ou seja, a atribuio de sentidos a um texto pode variar entre a
46
leitura parafrstica e a leitura polissmica. Nessa perspectiva, tanto o reconhecimento quanto a
atribuio de sentidos inscrevem-se na produo da leitura.
Esse jogo entre parfrase e polissemia, na verdade, atesta o confronto entre o simblico e o
poltico. Assim, conforme Orlandi:
... cabe ao analista compreender como o poltico e o lingstico se interrelacionam na constituio
dos sujeitos e na produo dos sentidos, ideologicamente assinalados. Como o sujeito (e os
sentidos), pela repetio, esto sempre tangenciando o novo, o possvel, o diferente. Entre o
efmero e o que se eternaliza. Num espao fortemente regido pela simbolizao das relaes de
poder. (Ibidem:38)
Este justamente o trabalho que propomos realizar neste estudo: examinar, nas reescritas, os
movimentos dos sentidos, o tenso jogo entre parfrase e polissemia, procurando descobrir, nesse
jogo, novas possibilidades de construo de sentidos.
2.1.3 Para concluir
Aps essas reflexes, queremos ratificar algumas posies e procurar relacionar o que foi
apresentado com o objeto de nossa pesquisa, que o estudo da leitura atravs do exame de textos
produzidos a partir de um texto determinado.
Lembramos ento, mais uma vez, que, na perspectiva discursiva, a leitura produzida sob
determinadas condies, nas quais o simblico (lingstico) e o imaginrio (ideolgico) se unem.
Dessas condies de produo fazem parte os sujeitos, a situao, a ideologia, a memria
discursiva.
nesse sentido que consideramos a incompletude do texto, pois, enquanto produo de um
autor, ele no um objeto acabado, est sujeito ao de seus leitores. Assim, a cada nova leitura,
esse texto deve ser preenchido, transformado e reconstrudo.
Desse modo, nossos leitores, sendo solicitados a escrever um outro texto, a partir de um texto
determinado, esto desenvolvendo um processo de intertextualidade, ou seja, de relao com aquele
texto. Fazem isso, no entanto, determinados pelo interdiscurso, pela memria discursiva. Lanamse, pois, a um processo de interdiscursividade.
Assim, esse texto determinado, a que denominamos metodologicamente de texto-origem,
embora seja o ponto de partida para a produo de outros textos, na verdade um ponto de partida
ilusrio, pois a origem dos textos produzidos no pode ser identificada com preciso, uma vez que o
discurso uma profuso dispersa de textos e se relaciona com a formao discursiva que
determina o que pode e deve ser dito e com as posies-sujeito.
47
Os textos produzidos pelos nossos sujeitos-leitores, ento, devem nos revelar a FD em que se
inscrevem tais leitores e a forma como esses leitores se relacionam com a FD (suas posiessujeito).
H ainda outro fator a considerar: existem sempre leituras provveis para um texto, e isso se
deve ao fato de que os sentidos, assim como os sujeitos, tm sua histria, e de que alguns sentidos,
sob determinadas condies de produo, se sedimentam. Da haver uma certa previsibilidade para
as leituras.
As reescritas, dessa forma, podem nos desvelar leituras provveis e, nesse caso, estaro no
campo do mesmo. Mas, por outro lado, podem tambm exceder os limites dessa previsibilidade e
trazer o novo, o diferente para o discurso.
Tudo isso porque as leituras so produzidas por sujeitos-leitores que falam de um certo lugar
social e que, frente ao texto produzido por um sujeito-autor que tambm fala a partir de um certo
lugar social devem estabelecer diferentes relaes com esse sujeito, com seu lugar social, com
esse texto, com a interdiscursividade: de identificao, de discordncia, de crtica...
Assim, estamos lidando com diferentes leituras de um mesmo texto, que, por serem
diferentes para cada leitor, constituem-se, na verdade, em uma oportunidade para a circulao, para
o deslocamento e para a transformao dos sentidos.
Posto isso, passemos a refletir sobre a noo de repetio, numa tentativa de relacion-la
noo de leitura.
2.2 LEITURA E REPETIO
Comeamos nossa reflexo referindo-nos a Pcheux (1969:77), para quem o processo
discursivo no tem, de direito, incio, pois o discurso se conjuga sempre sobre um discurso prvio, e
o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que foi anteriormente objeto de discurso,
ressuscita no esprito dos ouvintes o discurso no qual este acontecimento era alegado.
O fato de saber que um discurso remete a outro leva Pcheux (1975:169) a afirmar que a
produo do sentido estritamente indissocivel da relao de parfrase entre seqncias tais que a
famlia parafrstica destas seqncias constitui o que se poderia chamar a matriz do sentido.
Assim, segundo Pcheux (1988:161), se uma mesma palavra, expresso ou proposio podem
receber sentidos diferentes, conforme se refiram a esta ou quela formao discursiva, porque
uma palavra no tem um sentido que lhe seria prprio, vinculado a sua literalidade. Ao contrrio,
seu sentido se constitui em cada formao discursiva, nas relaes que estabelece com outras
palavras, expresses ou proposies da mesma formao discursiva.
48
Deste modo, um efeito de sentido no preexiste formao discursiva na qual se constitui
(Ibidem:261), sendo a produo de sentido parte integrante da interpelao do indivduo em sujeito,
j que este produzido na forma-sujeito do discurso, sob o efeito do interdiscurso.
Assim, como j vimos, sob a evidncia de que realmente o indivduo (com seu nome, suas
idias e suas intenes) que produz sentidos h, segundo Pcheux, o processo de interpelaoidentificao, que produz o sujeito no lugar deixado vazio (Ibidem:159).
A questo dos sentidos instaurados pela repetio , pois, extremamente importante para a
Anlise do Discurso, tanto que, conforme nos lembram Courtine e Marandin (1981:27), sobre os
temas e reformulaes que reaparecem que a AD autoriza suas prticas de descrio e isto que ela
constitui como seu objeto, traando, no funcionamento dos discursos, as zonas de imobilidade, os
pontos de identidade.
Estas colocaes remetem-nos noo de disperso, conforme encontrada em Foucault
(1971:45), para quem o discurso formado por elementos que no esto ligados por um princpio
de unidade, mas por formas de repartio.
A idia de disperso encontrada tambm em Courtine e Marandin (1981:28), quando os
autores tratam da repetio e declaram que, se os discursos repetem-se, porque eles so
repetveis, isto , os indivduos assumem a fala reassumindo nela o que ignoram ser do j-dito.
Podemos dizer ento, a partir das colocaes de Courtine e Marandin, que diferentes sujeitosleitores, ao produzirem sua leitura, e ao assumi-la atravs da sua reescrita, repetem no o texto que,
ilusoriamente, deu origem a essa reescrita, repetem no o discurso de um sujeito-autor, mas, sob o
efeito do interdiscurso, repetem os discursos que ignoram ser da ordem do j-dito.
Citamos ainda Orlandi e Guimares (1993:53), para quem o discurso uma disperso de
textos e o texto uma disperso do sujeito. Assim, a constituio do texto pelo sujeito
heterognea, ou seja, ele ocupa vrias posies no texto. Em outras palavras, o discurso
caracterizado duplamente pela disperso: a dos textos e a do sujeito.
Isto significa dizer que o texto atravessado por vrias posies do sujeito, que correspondem
a diversas formaes discursivas.
A noo de posio-sujeito, como j frisamos anteriormente (cap.2 /seo 2.1.2.), designa a
relao de identificao entre sujeito enunciador e sujeito do saber da FD, o que explica o fato de
que diferentes sujeitos, relacionando-se com o sujeito do saber de uma mesma FD, possam assumir
diferentes posies-sujeito, produzindo diferentes efeitos-sujeitos em seu discurso.
Isso nos permite dizer que o discurso , constitutivamente, heterogneo, ou seja, o discurso
abriga tanto o contato entre diferentes formaes discursivas e suas respectivas formas-sujeito,
quanto o contato entre diferentes posies-sujeito que se inscrevem em uma mesma formao
49
discursiva. Em outras palavras: no discurso o mesmo convive com a diferena e com a divergncia,
criando espao para a contradio.
Isso explica ainda o fato de, em um mesmo texto, podermos encontrar enunciados de
discursos diversos, que derivam de vrias formaes discursivas.
Neste sentido, uma reescrita, mesmo tendo um fictcio ponto de origem o texto que lhe
serve de estmulo formada por enunciados que no vm apenas desse imaginrio texto-origem,
mas por enunciados provenientes de outros discursos, de outras formaes discursivas. Assim, a
reescrita todo um processo de leitura realizado por um determinado sujeito-leitor, interpelado
ideologicamente, inscrito em uma determinada formao discursiva, com uma determinada posiosujeito.
Tudo isso nos permite pensar que todo discurso deixa brechas e que o leitor, ao repetir, ao
(re)assumir a fala, preenche esses espaos com sua prpria leitura.
Tanto leitura quanto reescrita, nessa medida, so um trabalho do leitor, que interage com essas
brechas do discurso-outro, preenchendo-as de acordo com sua histria de leituras, com sua
formao discursiva, com sua posio-sujeito.
Nesse processo, o sujeito-leitor que reescreve assume como suas as palavras que j foram
ditas e imagina-se origem do dizer.
Entendida desta forma, a repetio pode ser considerada como o retorno do mesmo, mas que,
pelo fato de reaparecer em outro lugar e em outro tempo, outro. Quer dizer: a repetio a nfima
diferena que permite seu reconhecimento e seu esquecimento.
Deste modo, um texto pode ser objeto de vrias leituras, que variam de acordo com a
intensidade com que o mesmo retorna, reaparece. Assim, na reescrita, o reconhecimento ou o
esquecimento do discurso-outro depende do trabalho do sujeito-leitor, que pode ratificar o mesmo,
pode provocar deslizamentos em relao ao sentido que foi posto ou pode afastar-se desse sentido,
provocando rupturas, contradies.
Nesta perspectiva, o dizer no propriedade particular, as palavras no so s nossas. As
palavras significam pela histria e pela lngua. E o que dito em outro lugar tambm significa nas
nossas palavras.
Como podemos observar, o fato de que existe um j-dito que sustenta a possibilidade mesma
de todo dizer de toda escritura e de toda reescrita tem estreito relacionamento com a noo de
repetio e fundamental para que possamos compreender o funcionamento do discurso, sua
relao com os sujeitos e com a ideologia.
50
Tais consideraes nos remetem noo de memria discursiva, categoria qual j nos
referimos anteriormente (cap. 1/ seo 1.1.2.) e que, devido sua relevncia para a AD e para a
realizao desse estudo, passamos a explorar mais detalhadamente.
2.2.1 Repetio e memria
Courtine (1981) quem traz definitivamente para o mbito da AD a noo de memria,
tratando-a no dentro de uma concepo individual de um inconsciente coletivo, mas como
memria social inscrita no seio das prticas discursivas.
A memria social, como ressalta Mariani (1998)
..um processo histrico resultante de uma disputa de interpretaes para os acontecimentos
presentes ou j ocorridos, sendo que, como resultado do processo, ocorre a predominncia de uma
de tais interpretaes e um (s vezes aparente) esquecimento dos demais. (Mariani, 1998:34)
Assim, podemos dizer que um sujeito-leitor, ao realizar sua leitura e atest-la em forma de
reescrita, est submetido inconscientemente a uma memria social que o conduz a um determinado
movimento de interpretao, que, por sua vez, estabelece a predominncia de um sentido em
detrimento de outros.
Na memria social, ento, como lembra Mariani, est a garantia de um efeito imaginrio de
continuidade entre as pocas, embora tal continuidade seja constituda por lacunas (as
representaes silenciadas) e por deslocamentos inerentes ao prprio ato da repetio.
com tais lacunas, na nossa perspectiva, que interage o leitor e sobre elas que ele constri
sua leitura e reescrita. A reescrita, vista sob esse ngulo, passa a ser um trabalho de preenchimento
das lacunas e dos silncios de um sujeito-autor e, ao mesmo tempo, um espao de ao de um
sujeito-leitor, que recria essas lacunas e esses silenciamentos, provocando reiteraes ou
deslocamentos de sentidos.
Retomando Courtine, podemos dizer que o autor encontra sustentao para a noo de
memria em Foucault (1971:72-3), quando este afirma que a configurao do campo semntico
comporta formas de coexistncia, um campo de concomitncia e um domnio de memria.
Por formas de coexistncia, Foucault entende um campo de presena, isto , todos os
enunciados j formulados em algum lugar e que so retomados em um discurso a ttulo de verdade
admitida, de descrio exata, de raciocnio fundado ou de pressuposto necessrio, alm dos que so
criticados, discutidos, julgados, rejeitados ou excludos.
51
Pensando em termos de leitura e reescrita, poderamos reconhecer nesse campo de presena o
lugar onde o mesmo tende a ser mantido, onde os sentidos tendem a permanecer mais ou menos
estabilizados, isto , onde o trabalho do sujeito-leitor, na reescrita, consiste em retomar enunciados
j formulados, em no introduzir enunciados de outros discursos, de outras formaes discursivas, o
que, em suma, significa no promover a introduo de sentidos novos.
Distinto desse campo de presena, o campo de concomitncia, segundo Foucault, abrange os
enunciados que concernem a domnios de objetos inteiramente diferentes e que pertencem a tipos de
discurso totalmente diversos, mas que atuam entre os enunciados estudados, seja porque servem de
confirmao analgica, seja porque servem de premissas aceitas para um raciocnio.
Seguindo nossa linha de reflexo, esse seria o lugar dos deslizamentos de sentido, da leitura
que lida com o mesmo, mas tambm com o diferente, da reescrita que no se restringe a reproduzir
o discurso de um sujeito-autor.
Finalmente, o campo enunciativo comporta o domnio de memria, que, para Foucault, diz
respeito aos
...enunciados que no so mais nem admitidos nem discutidos, que no definem mais, em
conseqncia, nem um corpo de verdades nem um domnio de validade, mas em relao aos quais
se estabelecem laos de filiao, gnese, transformao, continuidade e descontinuidade histrica.
(Foucault, 1971:73)
Desse modo, adotando a concepo de que, na histria, um acontecimento relaciona-se a um
tempo infinito que Courtine (1981) vai introduzir a noo de memria discursiva e, com isso, vai
articular a AD com a histria. Ao adotar tal postura, conjuga os fundamentos de Foucault e
Pcheux, que postulam uma materialidade social e ideolgica para o campo enunciativo.
Para Courtine, assim, possvel, a partir do enunciado [E], referir-se memria discursiva, a
qual decorre da existncia histrica do enunciado no seio das prticas discursivas, reguladas por
aparelhos ideolgicos (Courtine, 1981:53). Desse modo, a repetio ou o apagamento dos
elementos do saber de uma FD, isto , dos enunciados, que aponta para a memria discursiva.
a partir do domnio da memria que ser caracterizada ento a formao dos enunciados e
que sero analisados os efeitos que produz, em um processo discursivo, a enunciao de uma
seqncia discursiva, podendo ser efeitos de redefinio ou transformao, mas tambm efeitos de
ruptura, de denegao do j-dito.
Isto significa, para ns, que somente a partir do domnio da memria que a leitura e a
reescrita podem ser consideradas. Quer dizer: uma seqncia discursiva s faz sentido se for tomada
em relao a um domnio de memria; conseqentemente, a reescrita de uma seqncia discursiva
tambm s constri sentido dessa maneira. Dito ainda de outra forma: somente a memria que nos
52
permite reconhecer, na leitura e na reescrita, efeitos de reproduo, de deslocamento ou de
transformao de sentidos.
Podemos dizer ento que a relao que existe entre o j-dito e o que se est dizendo a
mesma que existe entre o interdiscurso e o intradiscurso, ou ainda, entre a constituio do sentido e
a sua formulao.
Em Courtine (1982:250-1), vamos encontrar essa relao quando o autor representa a
constituio o que chamamos de interdiscurso em um eixo vertical, no qual encontraramos
todos os dizeres j ditos (e esquecidos) em uma estratificao de enunciados que, em seu conjunto,
representa o dizvel. No eixo horizontal o autor representa a formulao o que chamamos de
intradiscurso e que diz respeito ao que estamos dizendo naquele momento dado, em condies
dadas. A formulao o intradiscurso desse modo, determinada pela relao que estabelecemos
com o interdiscurso.
Podemos dizer ento, acompanhando Orlandi (1999:33), que a constituio que determina a
formulao, pois s podemos dizer (formular) se nos colocamos na perspectiva do dizvel
(interdiscurso, memria). Isso significa que todo dizer se encontra na confluncia dos dois eixos, o
da memria (constituio) e o da atualidade (formulao).
, pois, na relao do interdiscurso com o intradiscurso, na articulao do enunciado com
enunciao, que se d o efeito de memria em um discurso particular, pois uma formulao-origem
reatualizada em uma conjuntura discursiva especfica. A FD, tendo redes de formulaes em seu
interior, quando constitui seu saber prprio, constitui a memria discursiva. As formulaes-origem
derivam-se ento de um trajeto, de uma espessura estratificada de discursos, atravs do qual elas
transformam-se para surgir mais adiante, suavizam-se ou desaparecem, mesclando memria e
esquecimento.
Nesta perspectiva, podemos dizer que a leitura, atestada pela reescrita, , na verdade, esse
efeito de memria, esse movimento de reatualizao de uma formulao-origem, sua transformao,
seu desaparecimento. Movimento que revela a FD na qual se inscreve o sujeito-leitor.
concepo de Courtine sobre memria discursiva, podemos somar a de Pierre Achard
(1999) que, no texto Memria e produo discursiva do sentido, procura relacionar o papel da
memria ao estatuto dos implcitos, considerando que a estruturao do discursivo vai constituir a
materialidade de uma certa memria social.
Achard quer mostrar, com isso, que possvel colocar hipteses concernentes ao
funcionamento formal no discurso e relacionar tais hipteses com a circulao dos discursos. Para o
autor, essa relao lhe possibilita afastar-se da noo de memria em termos do que teria sido
realmente j ouvido.
53
Desse modo, vamos ver que, para Achard, a representao usual do funcionamento dos
implcitos consiste em consider-los como sintagmas cujo contedo memorizado e cuja
explicitao constitui uma parfrase18 controlada por essa memorizao, a qual repousa sobre um
consenso. Em geral, a explicitao desses implcitos no necessria a priori, essa ausncia no faz
falta, e a parfrase de explicitao aparece mais como um trabalho posterior sobre o explcito do
que como pr-condio.
Para ns, desta forma que funciona a memria discursiva quando ocorre um tipo de leitura
no qual acontece apenas reiterao de um mesmo sentido, que se sedimenta e acaba sendo repetido,
sem questionamento.
Para Pierre Achard, o que ocorre o seguinte:
Do ponto de vista discursivo, o implcito trabalha ento sobre a base de um imaginrio que o
representa como memorizado, enquanto cada discurso, ao pressup-lo, vai fazer apelo a sua
(re)construo, sob a restrio no vazio de que eles respeitem as formas que permitam sua
insero por parfrase. Mas jamais podemos provar ou supor que esse implcito (re)construdo
tenha existido em algum lugar como discurso autnomo. (Achard, 1999:13)
Isso nos permite ratificar a idia de que, quando se trata de reescrita, o texto-origem apenas
uma fico, pois o discurso reconstrudo no existe em um lugar especfico, mas um efeito de
memria que se constri sobre um imaginrio.
Atravs das reflexes que apresentamos acima, Achard desenvolve ainda a concepo
dialtica de repetio / regularizao.
Ao faz-lo, parte da problemtica sobre o sentido de uma palavra, admitindo a idia de que
o que caracteriza a palavra sua unidade, sua identidade a si mesma, que permite reconhec-la em
seus diferentes contextos. Nesse sentido, a palavra uma unidade simblica, cujo reconhecimento
se define em termos de repetio. Cada nova ocorrncia dessa unidade fornece novos contextos, que
contribuem para a construo do sentido de que essa unidade o suporte. No entanto, para atribuir
um sentido a essa unidade, preciso admitir que suas repeties esto tomadas por uma
regularidade.
Desse modo, afirma Achard:
O fechamento exercido por todo jogo de fora de regularizao se exerce na retomada dos
discursos e constitui uma questo social. Se situamos a memria do lado, no da repetio, mas da
regularizao, ento ela se situaria em uma oscilao entre o histrico e o lingstico, na sua
suspenso em vista de um jogo de fora de fechamento que o ator social ou o analista vem exercer
sobre discursos em circulao. (Achard, 1999:16)
18
A noo de parfrase ser examinada na seo seguinte (2.2.2.). Podemos adiantar, no entanto, que essa noo
relaciona-se diretamente de repetio e, em Lingstica, tem sido considerada como reformulao, como possibilidade
de dizer a mesma coisa de forma diferente. Em uma perspectiva discursiva, a parfrase a repetio que mantm o
sentido no nvel do mesmo.
54
Essa concepo adotada por Achard parece nos abrir caminho para considerar a retomada do
discurso e especificamente a reescrita no apenas como repetio, mas tambm como
regularizao. Explicando melhor, comeamos a imaginar que possa ser possvel pensar em um tipo
de escala envolvendo o processo da leitura e da reescrita, processo que iria da simples retomada ou
substituio de palavras repetio, portanto at a retomada de discursos, ou seja, uma
regularizao, que uma questo social e um efeito de memria.
Concordamos com Achard e consideramos que a regularizao se apia necessariamente
sobre o reconhecimento do que repetido. Por outro lado, uma vez que se reconhea a repetio,
preciso supor que existem procedimentos para estabelecer deslocamentos, comparaes, relaes
contextuais.
Nesta perspectiva, ou seja, segundo uma hiptese discursiva, a memria no restitui frases
efetivamente escutadas no passado, mas julgamentos de verossimilhana sobre o que reconstitudo
pelas operaes de parfrase.
A memria suposta pelo discurso, segundo Achard, ento sempre reconstruda na
enunciao, a qual deve ser tomada no como advinda do locutor, mas como operaes que regulam
a retomada e a circulao do discurso.
Assim,
...um texto dado trabalha atravs de sua circulao social, o que supe que sua estruturao uma
questo social, e que ela se diferencia seguindo uma diferenciao das memrias e uma
diferenciao das produes de sentido a partir das restries de uma forma nica. (Ibidem:17)
A memria, nesta perspectiva, no pode ser provada, mas pode ser reenquadrada por
formulaes no discurso.
As reescritas, desse modo, podem ser pensadas como enunciaes que retomam e que fazem
circular os discursos no social. So, em ltima forma, um trabalho da memria discursiva, da
memria social.
fala de Achard, acrescentamos a de Pcheux (1999):
Uma memria no poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam
transcendentais histricos e cujo contedo seria um sentido homogneo, acumulado ao modo de
um reservatrio: necessariamente um espao mvel de divises, de disjunes, de deslocamentos
e de retomadas, de conflitos, de regularizao... Um espao de desdobramentos, rplicas,
polmicas e contra-discursos. (Pcheux, 1999: 56)
Temos ento a impresso de que aquele leitor que l e apenas repete, que aquele que reescreve
e apenas repete parece permanecer sobre essa esfera plana e homognea, onde deslocamentos e
contradies no so desejados.
55
Esse nosso pensamento pode ser ratificado pelas colocaes de Mariani (1998:36), quando a
autora fala em prticas sociais de fixao da memria, nas quais se encontra entrelaado aquilo que
deve cair no esquecimento, pois o retorno de um sentido silenciado ou a irrupo de um novo
sentido pode causar uma ameaa ao que j est estabelecido. Assim, no jogo das relaes de foras
sociais, no deixar um sentido ser esquecido, formulando-o, uma forma de eterniz-lo.
Nesta perspectiva, ressalta a autora, o trabalho da memria produz uma certa previsibilidade,
dando a impresso de que nada muda. preciso notar, porm, que, embora exista uma certa
previsibilidade do pensvel, esta abalada freqentemente, seja pelo surgimento de
acontecimentos que vo deslocando os sentidos j produzidos, seja pela resignificao de
acontecimentos j fixados pela memria histrica. Afinal, no se l um mesmo texto da mesma
maneira.
Isto, para ns, aponta para o fato de que um suposto texto-origem possa desmembrar-se em
reescritas em que os sentidos so mantidos, mas tambm em reescritas em que os sentidos so
deslocados ou rompidos, aponta para a possibilidade de insero do sujeito-leitor na mesma FD do
sujeito-autor ou em uma FD diversa, aponta para a assuno da mesma posio-sujeito do autor ou
de uma posio-sujeito diferenciada.
Os sentidos silenciados, assim, podem ser ditos ou podem retornar, redirecionando os sentidos
que pareciam hegemnicos.
A memria pode ser ento entendida como a reatualizao de acontecimentos e prticas
passadas em um momento presente, sob diferentes modos de textualizao19 (Ibidem:38).
nessa medida que vemos a leitura e a reescrita, tambm com base em Indursky (2001),
como o processo de construo/desconstruo do efeito-texto, a partir do trabalho discursivo da
memria.
Pensar discursivamente a memria ento analisar as formas conflituosas de inscrio da
historicidade nos processos de significao/resignificao da linguagem.
Para Mariani, analisar o discurso sob esta perspectiva pressupe entrever os processos
discursivos atuantes na cristalizao de determinados sentidos em detrimento de outros, ou seja, dos
processos discursivos que contribuem para a homogeneizao da memria histrica.
Em uma anlise discursiva, assim, no basta apontar o sentido hegemnico, mas necessrio
considerar a relao de foras que permitiu sua hegemonia; filiar este sentido a outros com os quais
ele pode ser filiado; compreender como ele se tornou objeto para o pensamento; mapear os gestos
de resistncia.
19
Quando fala em textualizao, Mariani est se referindo produo literria, cientfica ou mtica, historiogrfica e/ou
jornalstica.
56
Mariani lembra que, na Histria e nas histrias, a costura dos acontecimentos que implica
domesticar diferenas e inseri-los em um mundo normal, sem contradies funciona de modo
a eliminar aquilo que possa ameaar a estabilidade/ homogeneidade (Ibidem:39). No entanto,
ressalta a autora, no prprio ato de repetir um mesmo sentido, j se encontra um deslocamento
produzido.
Isto, em termos de leitura, est subsumido pelo fato de que, mesmo na mais simples repetio,
h sempre uma modificao do processo discursivo, uma vez que mudam os sujeitos e mudam as
condies de produo do discurso.
Deste modo, para se pensar a memria discursiva necessrio considerar esses
subterrneos constitutivos deste mundo semanticamente normal (Ibidem:40).
Trabalhar a memria discursiva ainda, segundo Mariani, estar observando retomadas e/ou
disjunes nada pacficas, uma vez que se trata de conflitos pela regularizao20 e hegemonia de
sentidos (Ibidem:41).
Ao analista do discurso cabe ento trabalhar com a presena do interdiscurso no intradiscurso,
fazendo a anlise dessa memria presente nos enunciados que, movimentando-se entre as FDs e
reconfigurando suas fronteiras, constituem os monumentos textuais das formaes sociais em seus
diversos tempos histricos.
Isto significa, para ns, examinar, nas reescritas, os efeitos provocados pela repetio, ou seja,
verificar no intradiscurso das reescritas o interdiscurso, a FD e a posio-sujeito dos sujeitosleitores. Em outras palavras: significa verificar nas reescritas o trabalho da memria discursiva.
Resumindo, podemos dizer que trabalhar a memria discursiva compreender o imaginrio e
desautomatizar os seus efeitos.
A partir dessa reflexo, parece-nos evidente que a noo de memria fundamental nesse
estudo, uma vez que estamos nos propondo a lidar justamente com o universo da leitura e da
repetio, que, como tal, passvel de retomadas, regularizao dos sentidos, mas tambm de
rplicas, desdobramentos, disjunes, isto , desautomatizao das referidas regularizaes.
Assim, estaremos trabalhando com o discurso de leitores, que, enquanto sujeitos assujeitados
ideologicamente, repetem um texto dado, e, ao faz-lo, acionam esse espao mvel que constitui
a memria discursiva, podendo, com isso, criar em seu discurso efeitos de mesmo e/ ou diferente.
Nossa tarefa, ento, constitui-se em decidir em que medida quando mantm, deslocam ou
alteram sentidos j dados as reescritas podem ser consideradas como repetio. Quer dizer:
precisamos decidir se tanto a manuteno do mesmo quanto a introduo do diferente podem ser
denominadas de repetio e sinalizar a reescrita.
57
Na seo seguinte, passamos a explorar essa dicotomia mesmo/diferente que tambm
fundamental para ns.
2.2.2 Repetio: o mesmo e/ ou o diferente
A concepo do mesmo, ou seja, da existncia de um sentido que se mantm inalterado
atravs da repetio, est associada, nos estudos lingsticos, noo de parfrase, a qual, nos
primeiros tempos da AD (Pcheux - 69), concebida como a possibilidade de substituio de
segmentos discursivos num contexto. Tais substituies so necessariamente ndices de
equivalncia, o que significa dizer que seqncias de um domnio semntico constituem formas
semnticas equivalentes de uma mesma proposio. Neste sentido, a substituio de elementos num
determinado contexto discursivo estabelece uma relao de sinonmia entre esses elementos.
Tal noo de parfrase ainda se apresenta muito influenciada pela lingstica distribucional de
Harris e, conforme nos diz Courtine (1981:95), esse modo de considerar o fenmeno obtm como
resultados a construo de classes de equivalncia distribucionais, reinterpretadas como classes de
parfrase discursiva.
em Pcheux (1975:169) que vamos encontrar a noo de parfrase associada de produo
do sentido. Para Pcheux, no interior da famlia parafrstica que se constitui o efeito de sentido e
isso explica o fato de ser uma iluso a evidncia de uma leitura objetiva, segundo a qual um texto
biunivocamente associado a seu sentido, pois o sentido de uma seqncia s materialmente
concebvel na medida em que se reconhece esta seqncia como pertencente a esta ou quela
formao discursiva. Isto equivale a dizer que a partir da relao no interior dessa famlia que se
constitui o efeito de sentido.
Essa viso primeira de parfrase discursiva, encontrada nas formulaes iniciais da teoria da
Anlise do Discurso, calcada sobre o mesmo e considerada a partir de uma concepo em que a
formao discursiva concebida sempre como homognea, no havendo em seu interior espao
para a diferena, para a desigualdade.
Isso significa que a FD considerada como um domnio de saber que, como j referimos
anteriormente (cap.1/seo1.1.), constitudo por enunciados discursivos que, segundo Pcheux
(1988:160), regulam o que pode e deve ser dito numa conjuntura dada.
Tal concepo de formao discursiva revela, como lembra Indursky (2000c:71), que
atravs da relao com o sujeito que se chega ao funcionamento do sujeito do discurso, e nos
permite tambm seguir Pcheux (1988:161), quando o autor afirma que os indivduos so
20
Mariani est aqui retomando Pcheux e Achard.
58
interpelados em sujeitos-falantes, em sujeitos do seu discurso, pelas formaes discursivas que
representam, na linguagem, as formaes ideolgicas que lhes so correspondentes.
Essa noo de interpelao pela formao discursiva leva Pcheux a discutir as relaes entre
semntica e processo discursivo. E nesse ponto que Pcheux desvincula o sentido de sua
literalidade, ou seja, admite que as palavras no tm um sentido que lhes seja prprio, mas que seu
sentido se constitui em cada formao discursiva, nas relaes que tais palavras mantm com outras
da mesma formao discursiva. nesta perspectiva que a noo de processo discursivo passa a
designar o sistema de substituies e parfrases que funcionam entre elementos lingsticos em uma
formao discursiva dada, o que conduz a uma viso estabilizada no interior da FD.
Em outras palavras: a interpelao do indivduo em sujeito do seu discurso, realiza-se,
segundo Pcheux (Ibidem:167), pela identificao do sujeito com a formao discursiva que o
constitui. E isso se d, como j vimos anteriormente (cap.2/seo 2.1.2), atravs da forma-sujeito,
ou seja, com o sujeito histrico.
A partir dessa posio de Pcheux, Indursky (1997:215) vai dizer que a forma-sujeito que
regula o que pode e deve ser dito, mas que regula ainda o que no pode ser dito e tambm o que
pode mas convm que no seja dito no mbito de uma determinada formao discursiva.
Como podemos ver, essa concepo d formao discursiva e forma-sujeito uma aparncia
de unicidade, ratificada por Pcheux (1988:171) pela noo de tomada de posio do sujeito. Para
Pcheux, tal tomada de posio no um ato originrio do sujeito falante, mas deve ser
compreendida como
...um retorno do Sujeito no sujeito, de modo que a no-coincidncia subjetiva que caracteriza a
dualidade sujeito-objeto, pela qual o sujeito se separa daquilo de que ele toma conscincia e a
propsito de que ele toma posio, fundamentalmente homognea coincidnciareconhecimento pela qual o sujeito se identifica consigo mesmo, com seus semelhantes e com o
Sujeito. (Ibidem:172)
Neste ponto inicial da teoria, desse modo, conforme ressalta Indursky (2000c:72), s h
espao para a identificao plena que conduz homogeneidade da formao discursiva e da prpria
forma-sujeito.
No entanto, em outro momento da teoria, referida em outro captulo da mesma obra, Pcheux
(1988:215) introduz aquilo que denomina de diferentes modalidades de tomada de posio, e
que, de certa forma, desloca essa concepo inicial.
A primeira modalidade consiste, para Pcheux, em uma superposio, em um recobrimento
entre o sujeito da enunciao e o sujeito universal, de modo que a tomada de posio do sujeito
realiza seu assujeitamento sob a forma do livremente consentido. Essa superposio caracteriza, nos
termos de Pcheux, o bom sujeito. Nessa modalidade, o interdiscurso determina a formao
59
discursiva com a qual o sujeito se identifica em seu discurso, e esse sujeito sofre cegamente essa
determinao.
A segunda modalidade caracteriza, ao contrrio, o discurso do mau sujeito, discurso no qual
o sujeito da enunciao se volta contra o sujeito universal, por meio da tomada de posio, que,
nesse caso, consiste em uma separao que reflete distanciamento, dvida, questionamento,
contestao ou revolta em relao ao que o sujeito universal d a pensar. Nesse caso, ento, o mau
sujeito se contra-identifica com a formao discursiva que lhe imposta pelo interdiscurso como
determinao exterior de sua interioridade subjetiva, o que produz as formas filosficas e polticas
do discurso-contra (isto , contradiscurso) (Ibidem:216).
Como possvel perceber, essa modalidade abre espao para a diferena e para a contradio
na formao discursiva e tambm na forma-sujeito.
A essas duas modalidades, Pcheux soma ainda uma terceira: a de desidentificao, ou seja, a
de uma tomada de posio no-subjetiva, que constitui um trabalho (transformao-deslocamento)
da forma-sujeito e no sua simples anulao (Ibidem:217).
A considerao dessas modalidades, segundo Indursky (2000c:73), tem conseqncias, pois a
unicidade e a homogeneidade do sujeito ficam fortemente relativizadas, abrindo-se espao para o
trabalho na e sobre a forma-sujeito com a qual o sujeito do discurso se relaciona pelo vis da
formao discursiva que o afeta. Esse trabalho, segundo a autora, vai em dupla direo.
Assim, Indursky diz que, pela desidentificao, o sujeito do discurso no apenas diverge dos
saberes de sua formao discursiva, mas ele rompe com a formao discursiva em que se inscreve,
e, conseqentemente, com a forma-sujeito que organiza os saberes da referida FD. E isso vai lev-lo
a identificar-se com outra formao discursiva e com outra forma-sujeito. O que ocorre ento, para
Indursky, a desidentificao de uma forma-sujeito e seus saberes e a decorrente identificao
com uma outra forma-sujeito e seu domnio de saber (Ibidem:74).
Para Indursky, a noo de tomadas de posio do sujeito tem relao com a noo de
interdiscurso, definido por Pcheux (conforme vimos no cap.1/seo 1.1.2) como um todo
complexo de formaes discursivas com dominante. Ou seja, uma das formaes a dominante,
nesse complexo de formaes discursivas. E, sendo assim, sua forma-sujeito tambm a
dominante.
Assim, para a autora, a tomada de posio nas diferentes modalidades acima descritas conduz
identificao, contra-identificao ou desidentificao em relao forma-sujeito dominante.
O que significa que a terceira modalidade, a da desidentificao em relao forma-sujeito
dominante, conduz a uma operao de identificao com outra forma-sujeito no-dominante.
60
A partir da, afirma a autora:
Por analogia, pode-se pensar que, se h um complexo de formaes discursivas ligadas entre si, h
igualmente um complexo de formas-sujeito tambm ligadas entre si e a desindentificao conduz
identificao com alguma destas outras formas-sujeito, que podemos entender como secundrias.
(Ibidem:74)
Tais consideraes nos remetem a outro texto de Pcheux Remontmonos de Foucault a
Spinoza (1980) no qual o autor, retomando a reflexo sobre a noo de ideologia, afirma: Una
ideologia es no idntica a s misma, no existe sino bajo la modalidad de la divisin, y no se realiza
ms que en la contradiccin que com ella organiza la unidad y la lucha de los contrario (Pcheux,
1980:192). E o autor acrescenta mais adiante: Por lo tanto, a propsito de la ideologia se trata de
pensar la contradiccin de dos mundos en un solo, puesto que como dice Marx, lo nuevo nasce en
lo viejo, frase reformulada por Lenin: uno se divide en dos (Ibidem:195).
A partir dessa posio, Pcheux vai dizer ento:
Dentro de esas condiciones, resulta que es en la modalidad por la que se designan (en palabras y en
escritos) estas cosas a la vez idnticas y divididas, donde se especifica lo que puede continuarse
llamando formacin discursiva. (...) Si estas hiptesis tienen alguna validez, llevan necessariamente
a una transformacin de la nocin de formacin discursiva, que, por conseguiente, afecta la misma
prctica del anlisis del discurso. As, resulta imposible caracterizar una formacin discursiva
clasificndola entre otras formaciones mediante alguna tipologia. Por el contrario, hay que definir la
relacin interna que mantiene com su exterior discursivo especfico; en suma, determinar los avances
constitutivos mediante los cuales una pluralidad contradictoria, desigual e interiormente subordinada
de formaciones discursivas se organiza en funcin de los interesses puestos en juego en la lucha de
clases, en un momento dado de su desarrollo y en una formacin social dada. ( Ibidem:196)
Como podemos perceber, a partir dessa concepo de ideologia heterognea e dividida que
Pcheux admite que tambm a formao discursiva capaz de comportar em seu interior a
diferena, a diviso, a divergncia.
Tal postura compartilhada por Courtine (1982:245), quando o autor afirma que uma FD no
um nico discurso para todos, mas deve ser pensado como dois (ou mais) discursos em um s.
isto que lhe permite perceber a contradio como princpio constitutivo de toda FD.
Assim, para Courtine, uma formao discursiva uma unidade dividida, uma heterogeneidade
em relao a ela mesma. Nesta perspectiva, as fronteiras de uma FD so fundamentalmente
instveis, ou seja, no se pode traar um limite que separe o interior do exterior de seu saber, mas
trata-se de consider-la como uma fronteira que se desloca, em funo dos jogos de luta ideolgica.
Mais uma vez, temos a presente a concepo da FD como heterognea.
Essa posio retomada por Courtine (1982:51), quando o autor admite que no h um
sujeito do discurso, mas que, pelo contrrio, trata-se de considerar que existe, no seio de uma FD,
61
diferentes posies de sujeito que constituem modalidades de relao do sujeito universal ao sujeito
da enunciao, do sujeito do enunciado ao sujeito da formulao.
A partir da, Courtine vai denominar de domnio da forma-sujeito o domnio da descrio da
produo do sujeito como efeito no discurso; isso o leva a descrever o conjunto de diferentes
posies de sujeito em uma FD como modalidades particulares de identificao do sujeito da
enunciao ao sujeito do saber.
No temos mais, portanto, uma forma-sujeito dotada de unicidade.
A este respeito, ressalta Indursky (2000c):
Estamos diante de um conjunto de diferentes posies-sujeito, que evidenciam diferentes formas
de se relacionar com a ideologia, e esse elenco de posies-sujeito que vai dar conta da formasujeito. Portanto, a forma-sujeito se fragmenta entre as diferentes posies de sujeito. (Indursky,
2000c:76)
Para a autora, essa concepo de forma-sujeito dividida remete concepo de um sujeito
fragmentado entre as diferentes posies que sua interpelao ideolgica permite. Ao mesmo
tempo, essa forma-sujeito dividida abre espao no s para os saberes de natureza semelhante,
equivalente (ou seja: o parafrstico, o homogneo), mas tambm para os saberes diferentes,
divergentes ou contraditrios (ou seja: o polissmico, o heterogneo).
Desse modo, como ressalta Indursky, da convivncia com apenas o mesmo, passa-se para a
co-existncia com o diferente e o divergente. E dessas diferenas e divergncias surge uma
formao discursiva heterognea em seus saberes (Ibidem:76).
Tais modificaes, ainda segundo a autora, refletem-se no modo como o sujeito do discurso
se identifica com a formao discursiva. Afirma Indursky:
Se, inicialmente, ao identificar-se com a formao discursiva, o sujeito do discurso o fazia
diretamente com a forma-sujeito que a organizava, agora precisa identificar-se com a forma-sujeito
pelo vis de uma posio-sujeito inscrita em uma formao discursiva, pois cada posio-sujeito
representa diferentes modos de se relacionar com a forma-sujeito. (Ibidem:77)
Tudo isso nos reflete a evoluo da prpria teoria. Assim, se no incio, conforme nos lembra
Pcheux (1983:313), a existncia do outro est subordinada ao primado do mesmo, agora o
primado terico do outro sobre o mesmo se acentua (Ibidem:315). Isso significa admitir o
discurso-outro: discurso de um outro, colocado em cena pelo sujeito, ou discurso do sujeito se
colocando em cena com um outro (Ibidem:316).
Refletir sobre a evoluo das noes de formao discursiva e forma-sujeito que deixam de
ser concebidas como homogneas e passam a abrigar a diferena em seu interior nos permite
62
passar de uma concepo de parfrase concebida tambm como homognea, como o lugar somente
do mesmo para uma nova abordagem, que admite, na parfrase, a convivncia do mesmo com o
diferente.
Podemos ilustrar essa afirmao trazendo para a discusso o trabalho de Silvana Serrani
(1993:43), que, no Brasil, luz da Anlise do Discurso e dos conceitos de Pcheux e Courtine,
desenvolve um estudo sobre a repetio na discursividade e, particularmente, sobre a parfrase,
considerando-a como uma relao semntica no-estvel, que pressupe uma concepo nobinarizante do fenmeno, ou seja, diferente daquela que predomina quando se afirma, esttica e
univocamente, que duas frases so ou no so parfrases. de Serrani ainda a noo de parfrase
como ressonncia interdiscursiva de significao, entendida essa ressonncia como um efeito
de vibrao semntica mtua (Ibidem:47).
Como podemos observar, a noo de ressonncia liga a noo de parfrase idia de um
sentido que se mantm. Por conseguinte, julgamos que Serrani ainda se mantm no nvel da
parfrase como a reiterao do mesmo.
Uma noo diferente de parfrase, no entanto, desenvolvida por Courtine (1981), quando o
autor trata a parfrase discursiva como uma configurao particular, na qual duas formulaes, de
forma sinttica determinada, designam valores antagnicos em pelo menos um lugar desta estrutura.
Courtine exemplifica essa afirmao atravs da frase A violncia, no de ns que ela
vem. Repara-se, no interdiscurso, uma oposio entre dois elementos: A violncia vem dos
comunistas x A violncia vem do grande capital, manifestando, segundo Courtine, a contradio
entre dois domnios de saber de FD antagnicas (Courtine, 1981:94).
Trata-se, por isso, como j afirmamos, de uma configurao particular de parfrase
discursiva, na qual duas formulaes, de forma sinttica determinada (N1 V de N2), designam
valores semelhantes (a violncia, vir de) em certos lugares desta
estrutura
e dois valores
antagnicos em pelo menos um lugar (neste caso N2, que tem dois valores antagnicos {x/y } na
ocorrncia { comunistas / grande capital }.
Temos, ento, no interdiscurso, a presena de uma configurao de parfrase discursiva do
tipo:
[e]1=Px
[e]2=Py
Nesta configurao, [e]1 e [e]2 representam duas formulaes pertencentes a duas FD
antagnicas, P representa um contexto de formulao comum, e {x / y} representam dois valores
antagnicos assumidos em um lugar determinado do esquema sinttico das formulaes.
63
Esta configurao particular de parafrasagem discursiva P {x / y} que Courtine observa na
anlise do funcionamento contrastivo de algumas estruturas, produz, de acordo com o prprio
Courtine, algumas conseqncias, se ela for relacionada definio geral da parfrase discursiva
adiantada por Pcheux.
Assim, a definio de critrios permite mostrar, na problemtica de Pcheux, a orientao
entre dois comutveis em uma classe parafrstica determinada, e fazer apelo a um tipo de
informao que no mais discursivamente homognea ao processo discursivo estudado. Esta a
razo, no trabalho de Courtine, da construo de uma forma de corpus que permita colocar em
relao "zonas discursivamente heterogneas, quer dizer, de processos discursivos inerentes a FD
antagnicas" (Ibidem: 97).
Courtine salienta ainda que a articulao do processo discursivo no interdiscurso, vindo
determinar a configurao da parfrase discursiva no interior de um processo dado, no vai se
satisfazer com uma concepo de parfrase discursiva fundada sobre um puro princpio de
identidade. A configurao P {x / y}, ao contrrio, parece, a Courtine, relevar de um uso do
princpio de identidade que mostra a conjuno do idntico e do contraditrio: P {x / y}, com efeito,
provm da colocao em relao de duas formulaes, extradas de processos discursivos
heterogneos, um em relao ao outro, mas de forma sinttica determinada, que assumem valores
semelhantes e outros antagnicos em lugares dados desta estrutura.
Assim, segundo Courtine, o que caracteriza a classe {x / y} no contexto P a nocomutabilidade dos elementos em posio x e y no contexto de formulao P.
Essa no-
comutabilidade se d em relao a dizeres antagnicos, que pertencem a formaes discursivas
tambm antagnicas.
Tudo isso nos permite perceber que, enquanto para Pcheux a parfrase se realiza no interior
da FD (embora ele reconhea a heterogeneidade dessa FD obedecendo a um princpio de
comutabilidade), Courtine observa a parfrase no nvel do interdiscurso, ou seja, o autor abre a
possibilidade de que, na parfrase, diferentes formaes discursivas sejam postas em contato.
Assim, para que o princpio de comutabilidade se realize, necessrio um deslocamento para o
interdiscurso, onde os dizeres antagnicos convivem.
Para Courtine, ento, a articulao do processo discursivo no interdiscurso que determina a
configurao da parafrasagem discursiva no interior de um processo dado.
Refletir sobre a parfrase, sobre o mesmo e o diferente, pressupe passar ainda por Orlandi
(1987:137), onde vamos encontrar as noes de parfrase e polissemia como os dois processos
fundamentais da linguagem, sendo a parfrase considerada como o processo que mantm o homem
64
num retorno constante a um mesmo espao dizvel e a polissemia como o processo que instaura o
diferente, causando um deslocamento deste dizvel.
O processo parafrstico, nesta perspectiva, origina-se da reiterao de processos cristalizados
pelas instituies, enquanto o processo polissmico relaciona-se multiplicidade, que a prpria
condio da linguagem. Desse modo, conforme nos afirma Orlandi, a polissemia se define como
multiplicidade de sentidos e a parfrase como sendo formulaes diferentes para o mesmo sentido
(Ibidem:84).
Temos, ento, de um lado, a parfrase, como retorno constante a um mesmo dizer
sedimentado comutabilidade e, de outro, a polissemia, como tenso que aponta para o
rompimento no-comutabilidade. Esta uma manifestao da relao entre o homem e o mundo
(a natureza, a sociedade, o outro). Conflito entre o garantido e o que tem de se garantir. E a
polissemia, segundo Orlandi, justamente esta fora na linguagem que desloca o mesmo, o
garantido.
Adotar essa concepo significa, na verdade, reconhecer que a lngua dotada de equvoco e
que d origem a deslizamentos, falhas.
em Pcheux e Gadet (1984) que vamos encontrar essa noo de equvoco, definida como o
ponto em que o impossvel (lingstico) chega a unir-se com a contradio (histrica), o ponto em
que a lngua toca a histria. Nesta medida, o equvoco aparece como fato estrutural implicado pela
ordem do simblico. Os deslizamentos, assim, tm a ver com a histria, com um efeito de memria.
Em Orlandi (1999:36) vamos ainda encontrar o seguinte: A parfrase est do lado da
estabilizao. Ao passo que, na polissemia, o que temos deslocamento, ruptura de processos de
significao.
Isso significaria dizer: leitura parafrstica = estabilizao de sentidos; leitura polissmica =
ruptura. Analogicamente, poderamos considerar a existncia de uma reescrita parafrstica, que
traduziria uma estabilizao de sentidos e, por outro lado, a existncia de uma reescrita
polissmica, que levaria ruptura dos sentidos. Na nossa perspectiva, no entanto, no bem assim
que acontece, pois consideramos que possa haver espao para os deslizamentos de sentido dentro da
parfrase, e, ao mesmo tempo, acreditamos que nem toda leitura que no promova a estabilizao
conduza, necessariamente, a uma ruptura de significao. Quer dizer: para ns, esses limites so
menos precisos, mais maleveis, o que, sob a nossa tica, alarga os horizontes em relao noo
de leitura, pois no se trata mais de pensar apesar de reconhecer a tenso em uma coisa ou outra:
ou parfrase ou polissemia.
Assim, estamos partindo da idia de que a parfrase uma reescrita de um texto-origem, o
qual (embora seja uma iluso, pois sabemos que no h uma origem precisa dos sentidos) constitui-
65
se, no h como negar, em um ponto de partida para a produo de um novo texto. Quer dizer: a
parfrase nasce sempre de algo que j est escrito, de sentidos que foram organizados por um
sujeito-autor e construram um efeito-texto. sobre esse efeito-texto que o leitor trabalha e
ilusoriamente a partir dele que o leitor produz seu texto.
O que estamos imaginando ento que, para que esse novo texto se constitua em uma
parfrase do texto que o desencadeou, no necessrio que o sentido permanea nos restritos
limites do mesmo, ou seja, estamos considerando a possibilidade de a parfrase comportar
deslizamentos de sentido. Nesta medida, a parfrase poderia abrigar deslocamentos de sentidos, e,
quem sabe, at mesmo a ruptura.
interessante perceber que no considerar a possibilidade dessas rupturas de sentido tem sido
o desejo de um grande nmero de estudiosos, que, seguindo teorias diversas, sonham com o ideal de
transparncia da linguagem.
Para a Anlise do Discurso (AD), no entanto, a transparncia da linguagem no uma
preocupao, pois ela trabalha exatamente com a no-transparncia dos sentidos e da linguagem.
Ou seja: a AD considera uma concepo de lngua na qual intervm a historicidade, e, atravs dela,
o imaginrio e a opacidade. Ou, como lembra Leandro Ferreira (2000:23), uma lngua, enfim, que
no seja translcida, mas cuja espessura e densidade faam resistncia.
Esta noo de resistncia, segundo Leandro Ferreira, indica um trabalho que se situa na
margem entre a dominao que se faz da linguagem e a que ela estabelece. Em outras palavras, a
polaridade que coloca a lngua, ora como serva, ora como ama do pensamento.
Isto significa dizer que a lngua um sistema no-fechado e que os deslizamentos de sentido
no so ndices negativos, mas lugares de resistncia, onde o impossvel pode surgir.
Nessa pesquisa, reconhecer tal fato tem como repercusso admitir que a leitura e a reescrita
podem ser espao de resistncia, de trabalho com a lngua que, por ser atravessada pela
historicidade, no transparente. Reconhecer que os deslizamentos de sentido no so ndices
negativos , ainda, admitir que a leitura que no apenas reitera sentidos sempre bem-vinda, e que a
reescrita que desloca ou desestrutura o sentido estabelecido , na verdade, desejada.
Lembramos aqui Pcheux e Gadet (1984:63), quando afirmam que o que afeta e corrompe
esse princpio da univocidade da lngua no nela localizvel; a noo de equvoco, ento, que
remete ao ponto em que o impossvel (lingstico) chega a unir-se com a contradio (histrica), o
ponto em que a lngua toca a histria. Quer dizer: a irrupo do equvoco afeta o real da histria.
Para ns, isso traduz a possibilidade de que as reescritas que representam a ligao entre a
materialidade lingstica e a histria faam irromper o equvoco, ou seja, que evidenciem a
ruptura com o sentido estabelecido no texto que lhes d origem.
66
Se o equvoco afeta o real da histria, o real da lngua21, por sua vez, no est cosido s suas
bordas como uma lngua lgica: est atravessado por fissuras, atestadas pela presena de lapsos.
Esse termo real da lngua oriundo da psicanlise, tem origem em Lacan e foi
desenvolvido na lingstica por Milner (1987), em O amor da lngua.
Para Milner, o real da lngua pode ser definido como uma srie de pontos do impossvel,
marcada pelo no-todo. O acesso ao no-todo, ao impossvel, pe em evidncia o fato de que existe
pelo menos um lugar de onde se fala daquilo que no se pode falar: esse lugar o inconsciente, ou o
real da lngua.
O real da lngua, conforme nos lembra Leandro Ferreira (2000), pode ser ento assim
definido:
O real, que da ordem da lngua, se ope realidade, que da ordem social, prtica. O sintoma
mais imediato do real um impossvel inscrito igualmente na ordem da lngua. Costuma-se dizer
as palavras faltam, o que aproxima o sintoma da idia de ausncia, defeito, insuficincia,
imperfeio. (Leandro Ferreira, 2000: 26)
Leandro Ferreira, lembrando que lngua e histria constituem dois caminhos
para um
trabalho em AD, ressalta ento que por meio da noo de equvoco que possvel a lngua (ou
melhor, a alngua e o impossvel contido nela) encontrar a histria (a contradio).
Assim, para a autora, confirma-se o dito de que a AD est irremediavelmente presa entre o
real da lngua e o real da histria (ibidem:28).
Pode-se dizer, a partir da, seguindo Leandro Ferreira, que justamente a existncia de um
lugar singular, que admite a falta e a torna constitutiva da estrutura, que nos permite perceber no
equvoco, e nos fatos que ele representa, o registro do simblico que atravessa a lngua e a consagra
ao que lhe prprio.
Na nossa concepo, tudo isso aponta para o fato de que o sujeito, pela leitura e pela
reescrita pode operar sobre esses lapsos, essas fissuras, e, ao faz-lo, pode se afastar de uma
parfrase que apenas reformule o j dito. Tal tipo de parfrase estar, inevitavelmente, articulando
aquilo que no se diz (porque no se quer ou no se pode dizer) com a contradio, que histrica.
Neste sentido, as reescritas, na medida em que retomam um determinado texto e o sentido ali
posto, lidam, atravs do simblico, com esse real, que da ordem da lngua e que admite a falta, e
trabalham inevitavelmente com a possibilidade do equvoco; assim, constituem-se, potencialmente,
em uma chance para que um novo sentido irrompa, em uma oportunidade para que acontea uma
ruptura em relao ao sentido j estabelecido.
21
O real da lngua corresponde, em francs, a lalangue, o que equivale, em portugus, ao termo alngua.
67
O equvoco, nesta medida, conforme encontramos na obra O discurso: estrutura ou
acontecimento, de Pcheux (1990), aparece como fato estrutural implicado pela ordem do
simblico. O princpio , ento: h um real da lngua e um real da histria, e o trabalho do analista
justamente compreender a relao entre essas duas ordens de real. Para ns, isso implica
reconhecer, pela anlise, nas reescritas, a relao entre o real da lngua e o real da histria,
procurando detectar se, nesses textos, essa relao a mesma ou diferente da que se estabelece no
texto que, metodologicamente, estamos denominando de texto-origem.
Como podemos perceber ento, para a AD, a lngua exposta ao equvoco. Pcheux
(1990:53) afirma a este respeito: Toda descrio (...) est intrinsicamente exposta ao equvoco da
lngua: todo enunciado intrinsicamente suscetvel de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se
deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro.
Assim, para Pcheux, todo enunciado ou toda seqncia de enunciados lingisticamente
descritvel como uma srie de pontos de deriva possveis, oferecendo lugar interpretao.
A leitura, portanto, pode ser considerada como o processo em que os sentidos podem ser
sedimentados (processo que, tradicionalmente, evidencia a parfrase); pode ser concebida tambm
como o processo em que, pela resistncia, os sentidos podem deslizar para outros sentidos; ou pode
ser entendida ainda como o processo em que a lngua torna-se passvel de equvoco, fazendo os
sentidos derivar para outros, rumo ruptura. Conseqentemente, as reescritas podem ser pensadas
como o espao em que possvel captar tais sedimentaes, tais deslocamentos, tais
transformaes. Ou seja: as reescritas, como retomadas de um fictcio texto-origem, so o espao
em que se materializam as diferentes leituras e os diferentes movimentos de interpretao de
sujeitos-leitores distintos.
Refletindo tambm sobre o equvoco, Orlandi (1999:37) vai dizer: Se o real da lngua no
fosse sujeito falha e o real da histria no fosse passvel de ruptura no haveria transformao, no
haveria movimento possvel, nem dos sujeitos nem dos sentidos. Assim, justamente porque a
lngua sujeita ao equvoco e porque a ideologia um ritual com falhas que o sujeito, ao significar,
se significa. Por isso que dizemos que a incompletude a condio da linguagem: nem os sujeitos
nem os sentidos, e, portanto, nem o discurso, j esto prontos e acabados. Eles esto sempre se
fazendo, havendo um trabalho contnuo, um movimento constante do simblico e da histria.
A condio de existncia dos sujeitos e dos sentidos, , pois, constiturem-se na relao tensa
entre parfrase e polissemia. Da dizermos que os sentidos sempre podem ser outros. Todavia nem
sempre o so. Depende de como so afetados pela lngua, de como se inscrevem na histria.
Depende de como trabalham e so trabalhados pelo jogo entre parfrase e polissemia.
68
porque o discurso nunca est pronto e acabado que existe a possibilidade de vrias leituras
para um mesmo texto, de vrias reescritas. Esse o trabalho de cada sujeito-leitor: desconstruir e
reconstruir, na sua leitura, o sentido produzido por um determinado texto. A desconstruo e a
reconstruo so, ento, o reflexo de um entrecruzamento de inscries na histria, de inscries em
formaes discursivas, de assunes de posies-sujeito, de efeitos da memria.
Assim, o jogo entre o mesmo e o diferente atesta o confronto entre o simblico e o
imaginrio, pois todo dizer ideologicamente marcado na lngua, nas palavras dos sujeitos, e pela
lngua que a ideologia se materializa.
Podemos dizer ento que a tenso que constitui a leitura aquela que se desenvolve entre o
texto e o contexto histrico-social, o que nos permite conceber a leitura como um processo de
produo de efeitos de sentido. E porque o social constitutivo da linguagem que esta pode se
sedimentar, sedimentando os sentidos; mas, por ser social, a linguagem pode tambm mudar,
modificando ou transformando os sentidos.
Portanto, porque a linguagem fato social que vrias leituras so possveis para um mesmo
texto. E por isso que as reescritas podem vir a introduzir o novo, o diferente em um texto
ilusoriamente acabado, pronto.
, pois, articulao entre o mesmo e o diferente na linguagem que relacionamos o jogo entre
o mesmo e o diferente no processo da leitura.
A constatao deste jogo entre o mesmo e o diferente est em questo em todo este estudo,
uma vez que nos propomos a investigar os gestos de repetio/ leitura/ interpretao, que podem
levar sedimentao de um mesmo sentido, aos deslizamentos ou deriva dos sentidos. isso que,
pela anlise, estaremos observando nas diferentes reescritas.
2.2.3 Repetio: implicaes para o processo da leitura
A questo que se coloca, ao relacionarmos a leitura e a repetio, , para ns, a seguinte:
como acontece a inscrio do sujeito-leitor no espao do repetvel?
Para responder a essa pergunta, vamos lembrar que no espao do interdiscurso que se
constitui a exterioridade daquilo que legvel para o sujeito-leitor, na formao dos prconstrudos (o repetvel) de que sua leitura se apropria.
Assim, como ressalta Orlandi (1993a:106 ) a voz que a ressoa uma voz sem nome, pois
no h lugar para o sujeito especfico. Esse repetvel preexiste situao de enunciao e o sujeito
desta, ao produzir linguagem, se apodera dele e intervm no repetvel.
69
O repetvel, assim, na perspectiva discursiva, de modo diferente do que acontece na
lingstica, no significa redundncia, completude, mas , antes, uma sistematicidade histrica do
discurso.
Na leitura, a inscrio nesse espao do repetvel acontece pela mistura entre memria e
esquecimento. Isto porque o leitor, quando entra em contato com o texto, observa-o a partir de seu
lugar social, de sua posio-sujeito, de seu contexto social, poltico, histrico. Mas tambm o faz
luz da memria discursiva, onde, como j sabemos, esto outros textos, outros discursos, outras
leituras. Esse leitor, interpelado pela ideologia, passa ento a interargir com o texto e, ao faz-lo,
esquece o que j foi dito para que, ao identificar-se com o que diz, possa constituir-se em sujeito.
isso que faz com que ele tenha a iluso de que os sentidos que constri em sua leitura esto se
originando nele mesmo, e isso tambm que faz com que esse sujeito-leitor que reescreve imaginese a origem do que diz e tenha a iluso de que aquilo que diz s poderia ser dito com aquelas
palavras.
Sujeito-leitor e sujeito que reescreve esquecem, assim, que h outras vozes em seu discurso e
que esse discurso, portanto, no se origina neles, mas afetado pela histria.
Temos aqui, na verdade, a ambigidade do histrico e sua relao com o que muda e o que
permanece, j que a histria no transparente. Essa ambigidade a que se d entre o polissmico
(diferente) e o parafrstico (o mesmo) e que mantm a tensa e necessria relao de constituio do
discurso.
por isso que, para Orlandi, esquecer mudar e tambm no mudar. Assim como lembrar
tanto pode ser reproduzir como transformar (Ibidem:107).
Essa considerao de Orlandi nos remete a Courtine (1999:16), quando o autor, discutindo
sobre o funcionamento do discurso poltico, questiona-se sobre o que , para um sujeito enunciador
tomado nas contradies histricas do campo poltico, enunciar, manter o fio de um discurso, mas
tambm repetir, lembrar, esquecer.
Courtine vai dizer, a partir da, que um espao de repetio inscreve-se num conjunto
desnivelado de discursos por uma mistura inextricvel de memria e esquecimento, que possibilita
que uma formulao-origem derive na espessura dos discursos, trajeto no qual ela se transforma,
escondendo-se para reaparecer mais adiante, atenuando-se ou desaparecendo.
Podemos dizer ento que na relao com a memria, pelo repetvel, que os objetos do
discurso adquirem sua estabilidade referencial. O interdiscurso, assim, fornece os objetos do
discurso que sustentam a enunciao e organiza o ajuste enunciativo que constitui a formulao da
leitura pelo sujeito-leitor e, conseqentemente, da reescrita pelo sujeito que reescreve.
70
esse ajuste que cria o efeito discursivo da identificao, da constituio da subjetividade.
a que esto o sujeito-leitor e o sujeito que reescreve, os quais, constitudos por esses efeitos,
representam a injuno de duas historicidades: a histria das suas leituras e a histria de leituras do
texto, que atuam na formao de uma sua leitura especfica, em um momento dado.
Os sentidos, portanto, so muitos, mas h sempre um enuncivel exterior e preexistente e a
partir dele que cada sujeito-leitor e que cada sujeito que reescreve podem intervir.
A partir de tais pressupostos, podemos perceber as implicaes da repetio no processo
discursivo da leitura e pensar especificamente no caso dessa pesquisa, que trabalha a leitura atestada
em forma de reescritas. Isto porque essa pesquisa ocupa-se da anlise de textos que so produzidos
a partir da leitura de um outro texto o qual, apenas por uma questo metodolgica, como j
tivemos oportunidade de afirmar em momentos anteriores, estamos chamando de texto-origem.
isto que nos permite falar em reescritas e caracterizar o quadro geral desse estudo: anlise de textos
que, ao serem reescritos, revelam o processo de leitura de um sujeito-leitor.
Realizar tal tarefa luz da Anlise do Discurso implica ter a ateno voltada no para as
variaes lingsticas entre os textos entre os diversos modos de redizer o texto mas para os
efeitos de sentido oriundos da leitura e desvelados pela reescrita. Significa identificar, na reescrita,
manutenes ou transformaes de sentido em relao ao texto-origem, o que leva a leituras
parafrsticas, a leituras polissmicas ou a rupturas.
Tratar da leitura a partir da repetio significa ainda lembrar que esse leitor que reescreve o
texto pelo processo de sua leitura um sujeito interpelado ideologicamente, assim como o autor
que escreve o texto-origem. A partir disso que podemos reconhecer leitores que, interpelados
ideologicamente, estabelecem diferentes relaes com o texto-origem.
Representando esquematicamente esse processo, temos:
LEITOR A/ FDX
Posio-sujeito X
AUTOR / FDX
Posio-sujeito X
TEXTO 1
TEXTO 2
LEITOR B/FDX
Posio-sujeito Y
TEXTO 3
LEITOR C / FDY
Posio-sujeito Z
TEXTO 4
E assim por diante.
O que vemos a a representao de algumas possibilidades de reescrita. Assim, diferentes
leitores, ao repetir o texto-origem, podem, por exemplo: inscrever-se na mesma FD e assumir a
mesma posio-sujeito do autor (leitor A); inscrever-se na mesma FD, mas assumir uma posiosujeito diferente da FD do autor (leitor B); inscrever-se em uma FD diferente da FD do autor e
assumir uma posio- sujeito tambm diferente da do autor (leitor C).
71
Assim, podemos dizer que, neste trabalho, estamos examinando textos que so produzidos por
sujeitos que, a partir da leitura de um texto dado, reescrevem esse texto e produzem seus textos,
que so reflexo da inscrio desses sujeitos em uma FD, em uma posio-sujeito, na memria. Tais
sujeitos esto tambm afetados pelo esquecimento, pela iluso constitutiva do sujeito.
O que vamos procurar identificar, portanto, so as formas de relacionamento desses leitores
com o texto: ao reescrever e esquecer (os outros discursos, as outras vozes), eles mudam ou no
os sentidos encontrados? Ao reescrever e retomar (os outros discursos, as outras leituras) eles
reproduzem, transformam ou rompem os sentidos encontrados?
Estaremos ocupados ainda por outra questo: ao reescrever, os sujeitos-leitores transformamse em autores? Em que momento e quando isso acontece? Sempre? s vezes? Nunca? O que
preciso para que um sujeito que reescreve possa ser considerado autor de seu texto?
So questes que somente as anlises podero nos responder, que somente as reescritas
podero demonstrar.
2.3 LEITURA E INTERPRETAO
Pcheux (1990: 50), procurando estabelecer relaes entre descrever e interpretar, salienta que
uma descrio no uma apreenso fenomenolgica ou hermenutica na qual descrever se torna
indiscernvel de interpretar: essa concepo da descrio supe ao contrrio o reconhecimento de
um real especfico sobre o qual ele se instala: o real da lngua.
Pcheux frisa bem o uso do termo: lngua (e no linguagem, nem fala, nem discurso, nem
texto, nem interao conversacional), aquilo que colocado pelos lingistas como a condio de
existncia, sob a forma da existncia do simblico, no sentido que Lacan atribui a essa noo.
neste sentido que se pode pensar em uma pesquisa lingstica que se desloca da obsesso da
ambigidade (entendida como a lgica do ou ...ou ) para abordar o prprio da lngua atravs do
papel do equvoco, da elipse, da falta, etc.
Esse jogo de diferenas, alteraes e contradies no pode ser concebido como o
amolecimento de um ncleo duro lgico22: a equivocidade, a heterogeneidade so constitutivas da
lngua.
Orlandi (1996:9), tendo por base as reflexes de Pcheux e discutindo sobre questes ligadas
interpretao, diz que ela est presente em toda e qualquer manifestao de linguagem, pois no
22
Gadet (1978), em La Double Faille, critica uma concepo de lngua que coloque a sintaxe neste ncleo duro e
lgico, seguida por margens e bordas, com o discurso no exterior. Para a autora, o discurso no est fora, mas na prpria
concepo de lngua; o discurso, nesta perspectiva, deixa de ser considerado, tal como visto por Chomsky, como um
72
h sentido sem interpretao. Dito de outra forma: os sentidos no se fecham, no so evidentes,
mesmo que aparentem ser. Alm disso, eles jogam com a ausncia, com os sentidos do no-sentido.
Ou seja: a interpretao sempre passvel de equvoco, pois, apesar de sua vocao unicidade e ao
completo, a linguagem no tem como no conviver com a falta.
Do ponto de vista da significao, no existe relao direta do homem com o mundo, o que
significa que a relao do homem com o pensamento, com a linguagem e com o mundo no
direta. , pois, uma relao mediada. Da a necessidade da noo de discurso para compreend-la,
pois o discurso uma das instncias materiais dessa relao.
esta abertura da linguagem que Orlandi tem concebido como a abertura do simblico, a
qual tem sido tratada pela autora nos limites indecisos e tensos entre parfrase e polissemia. E isso
que lhe permite considerar a interpretao com base em Pcheux (1994) como um gesto, ou
seja, como um ato no nvel simblico.
Conceber a interpretao como um gesto nos possibilita pens-la em sua ligao com a
incompletude: a interpretao acontece porque o espao simblico marcado pela incompletude,
pelo silncio.
Essa incompletude no deve ser pensada em relao a algo que seria (ou no) inteiro, mas em
relao a algo que no se fecha. Isto porque o dizer aberto e no tem um comeo verificvel,
estando sempre em curso.
Assim, para Orlandi (1996:20), no momento em que se assume a incompletude da linguagem,
sua materialidade (discursiva), o gesto de interpretao passa a ser visto como uma relao
necessria (embora na maior parte das vezes negada pelo sujeito) e que intervm decisivamente na
relao do sujeito com o mundo (natural e social), mesmo que ele no saiba.
Tudo isso nos permite pensar nas reescritas como gestos de interpretao realizados por
sujeitos que, executando o processo da leitura, tornam-se sujeitos-reescritores e, nessa posio,
trabalham a incompletude do espao simblico representado pelos textos.
Tais colocaes nos levam, nesse ponto, a exemplo de Orlandi, a tambm resgatar Pcheux
(1994: 57), com o texto Ler o arquivo hoje, no qual o autor trata da relao existente entre leitura,
interpretao e escritura. Tomando o termo arquivo em sentido amplo, como campo de
documentos pertinentes e disponveis sobre uma questo, Pcheux fala em sistema diferencial dos
gestos de leitura, que seriam apreensveis nas prticas de leitura espontnea e reconstituveis a
partir de seus efeitos na escritura. Nesses termos, a leitura literal, enquanto apreenso do
documento, numa leitura interpretativa, j seria, para Pcheux, uma escritura. Isso nos permite
prolongamento da sintaxe. A dupla falha, ento, diz respeito ao inconsciente e a histria, que so deixados de lado
nesta concepo de lngua. Para Gadet, assim, a sintaxe faz sentido para a AD como um acesso ordem da sintaxe.
73
comear a constituir, segundo o autor, um espao polmico das maneiras de ler, ou seja, uma
descrio do trabalho do arquivo enquanto relao do arquivo com ele mesmo, em uma srie de
conjunturas, trabalho da memria histrica em perptuo confronto consigo mesmo (Ibidem:57).
Concordamos com Pcheux quando ele afirma que, mesmo a leitura literal, enquanto
apreenso do arquivo, j constitui uma leitura interpretativa; preferimos, porm pelo menos por
enquanto no denominar de escritura essa leitura literal e, por isso, usamos, em seu lugar, o termo
reescrita, para determinar, amplamente, qualquer processo de retomada do documento (que, para
ns, o que estamos denominando, metodologicamente, de texto-origem).
Esse fictcio texto-origem, na perspectiva que estamos adotando, pode ser considerado como
multidimensional, e suas diferentes formulaes suas reescritas podem ser concebidas como
novos produtos significativos. Neste aspecto, seguimos Pcheux e consideramos que a leitura
interpretativa para ns, materializada na reescrita constitui um espao polmico das maneiras
de ler.
Tal afirmao segue tambm a linha de pensamento de Gregolin (2001), quando a autora
afirma:
A interpretao no se limita decodificao dos signos, nem se restringe ao desvendamento de
sentidos exteriores ao texto. Ela as duas coisas ao mesmo tempo: leitura dos vestgios que
exibem a rede de discursos, que envolvem os sentidos, que leva a outros textos, que esto sempre
procura de suas fontes, em suas citaes, em suas glosas, em seus comentrios. Por isso, os
sentidos nunca se do em definitivo: existem sempre aberturas por onde possvel o movimento
da contradio, do deslocamento e da polmica. (GREGOLIN, op. cit.:61)
Nesta perspectiva, o texto no fechado em si mesmo e a interpretao desvela o processo de
relao do leitor com os sentidos e com a exterioridade que os constituem.
Recolocamos, ento, algumas questes formuladas por Orlandi (1996): o que muda nas
diferentes formulaes? s uma explicitao do que j estava l? So os seus possveis? O que
uma outra formulao? E acrescentamos: O que , por exemplo, colocar um final em um texto
marcado por sinais de pontuao como as reticncias e a interrogao?
Na concepo terica que estamos adotando, qualquer modificao na materialidade do texto
corresponde a um compromisso com diferentes posies de sujeito, diferentes formaes
discursivas, distintos recortes da memria, diferentes relaes com a exterioridade.
Neste sentido, conforme j frisamos, apenas no imaginrio que diferentes verses de um
mesmo texto partiriam de um texto original. Este, na verdade, constitui uma fico, ou melhor,
uma funo da historicidade, num processo retroativo, uma vez que so sempre vrios os textos
possveis de um mesmo texto. Ou seja: so sempre vrios os gestos de interpretao.
74
Assim, como lembra Orlandi, se ao significar o sujeito se significa, o gesto de interpretao
o que perceptvel ou no para o sujeito e/ou para seus interlocutores decide a direo dos
sentidos, decidindo, assim, sobre sua (do sujeito) direo (Ibidem:22).
A interpretao , nesta perspectiva, uma injuno, o que significa dizer que, face a um objeto
simblico, o sujeito se encontra na necessidade de dar sentido, isto , de construir stios de
significao, de tornar possveis gestos de interpretao.
A partir da, uma reescrita tambm uma injuno, uma vez que, frente a um texto
determinado, o sujeito passa a decidir a direo dos sentidos, reconstruindo, alterando ou
desconstruindo sentidos que foram postos por um certo sujeito-autor. Quer dizer: o sujeitoreescritor executa gestos de interpretao.
Uma concepo discursiva de ideologia estabelece que a interpretao sempre regida por
condies de produo especficas que, entretanto, aparecem como universais e eternas. E da que
resulta a impresso do sentido nico e verdadeiro.
Desse modo, um dos efeitos ideolgicos da interpretao est justamente no fato de que, no
momento mesmo em que se d, ela se nega como tal: apagam-se suas condies de produo,
desaparece o modo pelo qual a exterioridade constitui o sujeito. E a interpretao aparece como
transparncia, como o sentido j-l.
por isso que, conforme lembra Orlandi, no se pode excluir do fato lingstico o equvoco
como fato estrutural implicado pela ordem do simblico.
Nesta medida, a leitura, atestada pela reescrita, esse gesto de interpretao em que o sujeito,
atribuindo sentido s palavras de um sujeito-autor, passa a atribuir sentido s suas prprias palavras,
sob outras condies, apagando as condies em que foram produzidos os sentidos daquele fictcio
texto-origem.
O processo ideolgico, visto sob esse ngulo, no se liga falta, mas ao excesso. A ideologia
representa a saturao, o efeito de completude que, por sua vez, produz o efeito de evidncia que se
sustenta sobre o j-dito, sobre os sentidos institucionalizados, admitidos por todos como naturais.
Deste modo, na ideologia no h ocultao de sentidos, mas apagamento do processo de sua
constituio.
com esse efeito de excesso, de completude e de evidncia que lida o sujeito-reescritor
quando realiza a leitura de um texto que, ilusoriamente, est pronto, acabado23. Este sujeito no
23
Nessa pesquisa, estamos examinando reescrituras de textos em que essa aparncia de completude e de fim se dilui um
pouco, quando os sujeitos-autores terminam seus textos com reticncias ou com interrogao. Uma questo se coloca
para ns ento: ser que muda o relacionamento do sujeito-reescritor com o texto-origem, nesses casos? Ser que esse
espao em aberto permite gestos de interpretao muito mais variados do que aqueles que ocorrem quando o sujeitoautor, colocando um ponto final em seu texto, reala sua aparente completude? Essas so questes para as quais
estaremos procurando respostas.
75
participou do processo de produo dos sentidos que esto ali, aparentemente prontos, mas precisa
reeditar esses sentidos.
S existe, portanto, uma maneira de faz-lo: construir ilusoriamente a partir das palavras do
sujeito-autor seu prprio discurso, sob condies de produo diversas.
Isto ratifica a idia de que os sentidos no esto nas palavras, pois, para que a lngua faa
sentido, preciso que a histria intervenha. A este respeito, afirma Orlandi (1996):
A interpretao, portanto, no mero gesto de decodificao, de apreenso do sentido. Tambm
no livre de determinaes. Ela no pode ser qualquer uma e no igualmente distribuda na
formao social. O que a garante a memria sob dois aspectos: a) a memria institucionalizada,
ou seja, o arquivo, o trabalho social da interpretao em que se distingue quem tem e quem no
tem direito a ela; e b) a memria constitutiva, ou seja, o interdiscurso, o trabalho histrico da
constituio da interpretao (o dizvel, o repetvel, o saber discursivo). (Orlandi, 1996: 67-68)
Desta forma, a interpretao se faz entre a memria institucional (arquivo) e os efeitos da
memria (interdiscurso). Se no mbito da primeira a repetio congela, no da segunda a repetio
a possibilidade do sentido vir a ser outro, no qual presena e ausncia se trabalham, e parfrase e
polissemia se delimitam no movimento da contradio entre o mesmo e o diferente. Ou seja: o dizer
s faz sentido se a formulao se inscrever na ordem do repetvel, no domnio do interdiscurso.
2.3.1 Interpretao: implicaes para o processo da leitura
Ao concluir esta seo, gostaramos de retomar algumas idias aqui colocadas.
Inicialmente, chamamos a ateno para um fato que nos parece de fundamental importncia
para a Anlise do Discurso e que atravessa todo esse estudo, ou qualquer trabalho que se construa
sobre tal perspectiva terica: os sentidos no so evidentes, no so nicos, no esto nas palavras.
A leitura, neste sentido, no uma questo de apreenso de um significado que j est l, nas
palavras, j dado e bem evidente. E a reescrita, por conseqncia, no uma mera retomada de
sentidos, um redizer o que j est dito. Mesmo quando a reescrita revela uma leitura parafrstica,
no assim que acontece.
A interpretao, como sabemos, passvel de equvoco. Quer dizer: se os sentidos fossem
evidentes, a interpretao seria sempre a mesma, no importando por quem fosse feita, quando
fosse feita, sob que condies. Se assim fosse, diferentes sujeitos-leitores, diante do mesmo texto,
estabeleceriam com esse texto as mesmas relaes, o que significaria que as leituras seriam sempre
as mesmas e que as reescritas seriam sempre iguais.
76
Porm, o que ocorre que diferentes leitores, diante de um mesmo texto, tm diferentes
gestos de interpretao, realizam diferentes leituras (e, portanto, o reescrevem de maneira
distinta).
Desse modo, um texto que, ficticiamente, serve como ponto de partida para a produo de
reescritas o texto-origem pode ser considerado multidimensional, na medida em que est
originando novos textos, novos produtos significativos. Esses, por sua vez, tambm so
multidimensionais, pois podem dar origem a novos textos, a novos produtos significativos.
cada gesto de interpretao, realizado por leitores nicos, que decide ento a direo dos
sentidos e dos sujeitos, e que nos remete sedimentao ou transformao dos sentidos. Ou seja:
cada gesto de interpretao resulta em um processo nico de leitura, em um processo nico de
reescrita.
A interpretao, dessa maneira, determina a leitura (decide a direo dos sentidos e do sujeito)
e determinada pelas leituras (de outros textos, de outros discursos).
2.4. LEITURA E HETEROGENEIDADE
A questo do outro como constitutivo do discurso relaciona-se, sob a influncia da
psicanlise, questo do sujeito, materialmente ligado da ideologia. A este respeito, afirma
Orlandi (1990:38): a relao com o outro regula tudo, preenche tudo, explica tudo, tanto o sujeito
como o sentido.
Admitir que o discurso sempre atravessado pela presena do outro admitir, portanto, que a
heterogeneidade constitutiva do discurso.
Uma primeira evidncia se coloca a partir da: a relevncia da noo de heterogeneidade nessa
pesquisa, que trabalha no com textos, mas com discurso e, portanto, com discursos atravessados
pelo discurso-outro, ou seja, discursos heterogneos.
Pensando em termos de leitura e de reescritas, podemos reconhecer ento que, se todo
discurso heterogneo, j no discurso do sujeito-autor (responsvel, fictcia e ilusoriamente, pelo
texto-origem), h, desde sempre, a presena do discurso-outro. um discurso heterogneo,
portanto, que est servindo como ponto de partida para a produo de outros discursos, tambm
heterogneos.
Assim, possvel considerar a leitura como um cruzamento de heterogeneidades, o que, a
princpio, envolve o cruzamento do discurso do sujeito-autor (que tambm entrecruzado pelo
discurso-outro) com o discurso do sujeito-leitor (que, por sua vez, tambm est impregnado de
77
outros discursos). Como sabemos, esse processo envolve o cruzamento de formaes discursivas,
de posies-sujeito, de efeitos de memria.
So fatores como esses que determinam diferentes leituras para um mesmo texto e, por
conseqncia, diferentes efeitos de sentido nas reescritas.
Continuando nosso percurso terico, vamos perceber que essa questo do outro do discurso
abordada, na lingstica contempornea, tanto pelas teorias pragmticas quanto pelas teorias da
enunciao, do texto e do discurso.
Referimos inicialmente Jacqueline Authier-Revuz, autora que, trabalhando no campo da
Teoria da Enunciao, aborda a questo da heterogeneidade no como multiplicidade de
manifestaes que povoam o discurso, mas como condio fundante de qualquer discurso.
Para Authier, passar da considerao da lngua, concebida como ordem prpria sistema
finito de unidades e de regras de combinao considerao da fala, do discurso, abandonar um
domnio homogneo, fechado, em que a descrio da ordem do repetvel, do UM, e passar a um
campo duplamente marcado pelo NO-UM, pela heterogeneidade terica que o atravessa e pelo
carter no-repetvel da compreenso que dele se pode ter, inevitavelmente afetada pela
subjetividade e pela incompletude.
Patrick Sriot (1986) tambm se dedica problemtica da heterogeneidade e se preocupa em
saber como um texto pode comportar, a ttulo de componentes internos a este texto, elementos que
vm de outro lugar, ou qual a relao entre o texto e seu exterior.
a partir do problema da representao lingstica do fenmeno da nominalizao que Sriot
aborda esta problemtica, perguntando-se se possvel, considerando a sintaxe como um sistema
neutro e fechado, admitir que um texto pode conter na sua materialidade alguma coisa que lhe seja
outra. Uma abordagem estritamente gramatical consistiria em dar conta da passagem do
enunciado verbal nominalizao, definindo regras que produzem frases gramaticais. Sriot, no
entanto, quer saber como, a partir da nominalizao, chegar ao enunciado outro que, este sim, uma
assero completa feita em outro lugar.
Em busca destas respostas, Sriot retoma a noo de pr-construdo24, desenvolvida nos
trabalhos de Pcheux, Paul Henry e Culioli. Para ele, trata-se de enunciados simples tirados de
discursos anteriores, ou apresentados como tal (Sriot,1986:24). Esses enunciados so importados
como relaes predicativas onde cada elemento j est munido de operaes de assero efetuadas
24
A noo de pr-construdo foi introduzida por Paul Henry e revista por Pcheux & Fuchs (1975). Designa uma
construo anterior, exterior e independente, por oposio ao que construdo na enunciao. Ele marca uma relao
entre o interdiscurso, como lugar de construo do pr-construdo, e o intradiscurso, como lugar de enunciao por um
sujeito.
78
ou supostamente efetuadas em um ato de enunciao precedente que exterior ou anterior ao
discurso em questo.
Assim, o enunciado nominalizado representa a transformao de um enunciado verbal que
pr-construdo, ou seja, ele no assumido pelo sujeito enunciador, mas visto como um j-l,
preexistente ao discurso. Trata-se, ento, de um implcito que, segundo Sriot, um no-ditomostrado, em que os traos observados no enunciado permitem reconstruir, em funo das
hipteses discursivas, o todo ou uma parte do que no mencionado.
Sriot aponta diferentes tipos de pr-construdos: inicialmente, o que reenvia formalmente a
um discurso anterior (Ibidem:31); em segundo lugar, aquele que representa um jamais-dito, um
jamais-assumido, um indizvel; finalmente, aquele cujos no-ditos no tm correspondncia em
ocorrncias efetivamente assertadas.
Podemos dizer ento que as reflexes de Sriot conduzem demarcao entre lngua e
discurso, sobre a qual a lingstica no pode fazer a teoria: uma mesma seqncia sinttica, uma
mesma superfcie textual pode remeter a duas espcies profundamente diferentes de exterioridade:
intradiscurso ou extradiscurso; a separao e a articulao entre os dois no um problema
unicamente formal (Ibidem:31).
Assim, conforme lembra Indursky (1997:35), para investigar tal entrelaamento, faz-se mister
trabalhar na tenso entre o efeito de homogeneidade e a heterogeneidade fundante do discurso.
Parece-nos que fica mais fcil, agora, perceber por que estamos nos ocupando da
heterogeneidade nesse estudo. Ao trabalhar com o discurso, estamos justamente partindo da
concepo de que os discursos so marcados por diferentes dizeres, por saberes que vm de outros
lugares. Isso est contemplado na concepo de heterogeneidade. Estamos trabalhando ainda com a
idia de que, ao reescrever um texto, o sujeito tem dele uma compreenso que da ordem do norepetvel, pois, mesmo que ele mantenha o sentido sedimentado no texto-origem, ele outro sujeito,
outra a situao, so outras as condies de produo do discurso, so outras as vozes que se
fazem presente, so outros os dizeres que so trazidos tona. Quer dizer: so outros os textos
produzidos, e todos heterogneos.
As reescritas, nesta medida, no podem fugir a isso. So sempre outro texto, nascido pelo
processo de leitura de um sujeito diferente do sujeito-autor do texto-origem, sujeito esse que tem
seu discurso determinado por outros saberes, por dizeres que vm de outros lugares.
, portanto, a noo de heterogeneidade aliada, entre outras, de leitura, de repetio, de
interpretao, de silncio que nos ajuda a considerar que existe, entre os discursos, um jogo
entre a ordem do Um e do NO-UM, entre a ordem do mesmo e do diferente.
79
Desse modo, a leitura e a reescrita so a expresso desse discurso mesclado do mesmo e do
diferente, do um e do no-um. E mesmo a leitura e a reescrita que mantm o mesmo efeito de
sentido presente no texto-origem apresentam esse jogo, essa mescla.
Para finalizar essa seo, queremos dizer ainda que todas as colocaes de Authier sobre a
heterogeneidade so melhor explicitadas pela identificao que a autora faz dos tipos de
heterogeneidade. desses tipos que passamos a falar agora.
2.4.1 Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva
Authier (1982) distingue duas formas que evidenciam a alteridade no discurso, ou seja, dois
tipos de heterogeneidade: a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva.
Para Authier, as formas da heterogeneidade mostrada inscrevem o Outro na seqncia do
discurso e so lingisticamente descritveis: discurso direto, discurso indireto, aspas, glosas, etc.; a
heterogeneidade constitutiva, por sua vez, diz respeito ao fato de que, constitutivamente, no
sujeito, em seu discurso, h o Outro, sendo impossvel captar esse Outro lingisticamente.
Authier prope uma descrio da heterogeneidade mostrada como formas lingsticas de
representao de diversos tipos de negociao do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva
do seu discurso.
A heterogeneidade mostrada, que pode ser marcada ou no-marcada, da ordem da sintaxe.
Suas formas so aquelas pelas quais se altera a aparente unicidade do fio do discurso, pois elas
inscrevem o outro nesse discurso.
Essas formas representam uma negociao com as foras
centrfugas, de desagregao, da heterogeneidade constitutiva (Authier-Revuz, 1982:33). Elas
constroem, no desconhecimento da heterogeneidade constitutiva, uma representao da enunciao
que, por ser ilusria, uma proteo necessria para que um discurso possa ser mantido.
Dessa forma, essa representao da enunciao igualmente constitutiva, pois, alm do eu
que se coloca como sujeito do seu discurso, as formas marcadas da heterogeneidade mostrada confirmam esse eu, dando corpo ao discurso e dando forma ao sujeito enunciador.
O que caracteriza as formas da heterogeneidade mostrada que elas operam sobre o modo da
denegao por uma espcie de compromisso precrio que d lugar ao heterogneo e portanto o
reconhece, mas para melhor negar sua onipresena (Ibidem:33).
justamente nos lugares em que essas formas tentam encobrir essa onipresena que a
heterogeneidade se manifesta. Assim, a presena do outro emerge no discurso precisamente nos
pontos em que se insiste em quebrar a continuidade, fazendo vacilar o domnio do sujeito.
80
Segundo Authier, uma dupla designao operada pelas formas de heterogeneidade
mostrada: a de um lugar para um fragmento de estatuto diferente na linearidade da cadeia e de uma
alteridade a que o fragmento remete. A natureza dessa alteridade pode ou no ser especificada no
contexto do fragmento mencionado. Assim, em algumas formas daquilo que Authier designa por
autonmia simples25, a alteridade explicitamente especificada e remete tanto para um outro ato de
enunciao quanto para a lngua enquanto exterior ao discurso em enunciao.
Desta forma, toda compreenso, toda interpretao destas marcas requer uma especificao da
alteridade a que remetem, em funo de seu ambiente discursivo: uma outra lngua, um outro
discurso diferente, um discurso oposto, etc.
Authier demostra especial interesse pelas inumerveis formas de glosas, retoques,
comentrios sobre um fragmento da cadeia (assinalado ou no por aspas ou itlico). Segundo a
autora, essas formas especificam os parmetros, ngulos e pontos de vista atravs dos quais um
discurso pe explicitamente uma alteridade em relao a si prprio.
A considerao das aspas e do itlico como exemplos de heterogeneidade mostrada nos
remetem imediatamente para os sinais de pontuao que estamos examinando nessa pesquisa.
Assim, pensamos que as reticncias e o ponto de interrogao, mesmo no sendo marcas da
insero do discurso-outro no discurso do sujeito-autor, podem abrir um espao para a insero do
discurso-outro no discurso do sujeito-leitor. Isso porque o sujeito-autor, quando emprega as
reticncias ou a interrogao (principalmente no final dos textos), marca um lugar de interpretao
para o sujeito-leitor, parece convid-lo a entrar no discurso por aquele espao, carregando outros
saberes, outros dizeres, trazendo para aquele discurso, ilusoriamente j-construdo, o discurso-outro.
Na verdade, como se o sujeito-autor dissesse: esse discurso no est acabado, e esse sinal de
pontuao (as reticncias ou a interrogao) esto a para que voc, sujeito-leitor, interfira (iluso!)
no meu discurso.
Em outras palavras: imaginamos que tais sinais de pontuao possam funcionar, na leitura e
na reescrita, como portas de entrada atravs das quais os sujeitos-leitores vo interagir com o
texto-origem. No esquecendo que vo fazer isso determinados ideologicamente, inscritos em uma
formao discursiva, identificados com uma posio-sujeito.
Assim, por estarmos diante de sujeitos diferentes, que trazem para o seu discurso diferentes
discursos-outros, esse processo ter como resultado um discurso tambm heterogneo.
25
Na autonmia simples, a heterogeneidade que constitui um fragmento mencionado, entre os elementos lingsticos de
que faz uso, acompanhada de uma ruptura sinttica. O fragmento citado no interior de um discurso relatado direto ou
introduzido por um termo metalingstico, nitidamente delimitado na cadeia discursiva, apresentado como objeto;
extrado da cadeia enunciativa normal e remetido a outro lugar. No caso da conotao autonmica, o fragmento
81
Voltando a Authier (1982), diramos que, se, para abordar a heterogeneidade mostrada, a
autora sustenta-se em fatos da lngua, para tratar do que denomina de heterogeneidade constitutiva
do sujeito e de seu discurso a autora procura um suporte exterior lingstica e, com este fim,
apia-se tanto na problemtica do dialogismo bakhtiniano que considera o discurso como produto
da intersubjetividade quanto na psicanlise, atravs da releitura de Lacan sobre a obra de Freud.
De Bakhtin, Authier toma as reflexes sobre o princpio do dialogismo, procurando ressaltar
que o dialogismo bakhtiniano no se preocupa com o dilogo face a face, mas constitui uma teoria
da dialogizao interna do discurso. Neste sentido, as palavras so, sempre e inevitavelmente, as
palavras dos outros. Authier mostra ento que, para Bakhtin, nenhuma palavra neutra, mas
sempre carregada, ocupada, habitada, atravessada por outros discursos.
Uma reescrita, nessa medida, um discurso ocupado, atravessado pelo discurso-outro, e isso
significa que esse discurso no habitado apenas pelo discurso do sujeito-autor do texto-origem,
mas por outros discursos circulantes, por outras vozes. As palavras do outro, portanto, em uma
reescrita, no so apenas as palavras do sujeito-autor, mas so as palavras de vrios outros
discursos.
Quanto psicanlise, Authier quer mostrar que esta produz a dupla concepo de uma fala
fundamentalmente heterognea e de um sujeito dividido. Isto atesta o fato de que
...sempre sob as palavras, outras palavras so ditas: a estrutura material da lngua que permite
que, na linearidade de uma cadeia, se faa escutar a polifonia no intencional de todo discurso,
atravs da qual a anlise pode tentar recuperar os indcios da pontuao do inconsciente.
(Authier-Revuz, 1982: 28)
O que encontramos em uma reescrita, a partir dessa perspectiva, uma fala heterognea e um
sujeito dividido, que precisa lidar com as palavras do sujeito-autor, com as palavras que esto sob as
palavras do sujeito-autor, com suas prprias palavras, e com as palavras que esto sob suas prprias
palavras. A reescrita, nos parece, fruto de todo esse entrecruzamento, que da ordem do
inconsciente.
Authier relaciona essa concepo de discurso atravessado pelo inconsciente noo de
descentramento do sujeito. Quer dizer: o sujeito no uma entidade homognea exterior
linguagem, mas o resultado de uma estrutura complexa, efeito de linguagem, ou seja, sujeito
descentrado, dividido, clivado. Encontra-se aqui, mais uma vez, a teoria da iluso subjetiva da fala:
o sujeito se cr fonte do seu discurso, enquanto ele nada mais do que o suporte e o efeito desse
discurso.
mencionado ao mesmo tempo um fragmento do qual se faz uso: o caso do elemento colocado entre aspas, em itlico
ou glosado por uma incisa.
82
Podemos constatar ento, acompanhando Authier, que a autora busca ancoragem na teoria do
dialogismo bakhtiniano e na psicanlise porque ambas, sob bases distintas, questionam a imagem
de um locutor fonte consciente de um sentido que ele traduz nas palavras de uma lngua e a
prpria noo de lngua como instrumento de comunicao ou como ato que se realiza no quadro
das trocas verbais.
Podemos reconhecer nessa abordagem de Authier uma aproximao com a Anlise do
Discurso e, conseqentemente, com a concepo que estamos adotando neste estudo. Assim como
Authier, a AD considera que as palavras so produzidas por sujeitos que, determinados pelo
inconsciente, acreditam ser a fonte do que dizem, esquecendo que suas palavras so sempre
atravessadas pelas palavras do outro. Isso significa que, para a AD, a heterogeneidade constitutiva
de todo e qualquer discurso.
Essa concepo exposta por Authier-Revuz em 1982 passa a ser reformulada em seus
trabalhos posteriores.
Assim, em Htrognits et ruptures: quelques repres dans le champ nonciatif (1991:139),
a autora reconhece dois planos que impem a dimenso da heterogeneidade na enunciao: o plano
das observaes lingsticas e o plano da heterogeneidade terica.
nesse duplo plano e segundo uma dupla perspectiva esboar esquematicamente o jogo das
heterogeneidades enunciativas e articular dialogicamente uma srie de outras questes que
Authier aborda a questo das heterogeneidades e tambm das rupturas.
Neste texto, Authier-Revuz comea a falar em no-coincidncias, termo que usa para se
referir heterogeneidade.
Assim, ela aborda o campo da heterogeneidade enunciativa pela observao e descrio
sistemtica das formas meta-enunciativas (opacificantes) pelas quais, no fio do discurso, os
enunciadores dobram a enunciao de um elemento. A essas formas, a autora denomina de
heterogeneidade (ou no-coincidncia) mostrada. s formas de heterogeneidade mostrada, Authier
contrape o plano constitutivo, que da ordem no-acidental, mas estrutural, e condio de
existncia do fato enunciativo.
Nesta perspectiva, h uma dupla forma de perceber a heterogeneidade na enunciao e
Authier-Revuz salienta o jogo constante deste duplo plano: do fio do discurso e da estrutura.
Existe, assim, por um lado, o reconhecimento, ao plano do fio do discurso, de uma forma
linear de heterogeneidade, ou seja, de uma irregularidade, de uma ruptura formalmente descritvel
na cadeia. Tais acidentes inscrevem-se sobre duas vertentes: a do mais, do excesso, da ruptura do
um do fio por os dois; e a da ruptura do fio do discurso por uma espcie de buraco, de falta.
83
Essa heterogeneidade descritvel no fio do discurso pode ser observada, em termos de leitura,
naquilo que estamos denominando de sinais discursivos, ou seja, nos lugares que sinalizam uma
espcie de irregularidade em um discurso por si s heterogneo.
Para Authier, relevam do a mais, por exemplo, as construes com asteriscos, os lapsos
como irrupes de uma palavra a mais e as contradies semnticas.
Em oposio a esse a mais, Authier reconhece que h o a menos, e afirma:
De lautre ct, celui du en moins, on rencontre toute une varit de formes du trou dans la
continuit du fil, dans les ratages inventoris par F. Madray et J. Brs, dans les figures
phrastiques du silence, parcourues par M. Prandi. (Authier-Revuz, 1991:141)26
Desse modo, julgamos que possvel dizer que Authier reconhece nessas figuras reticncias
e elipse uma forma de a menos, de buraco no discurso. Acrescentaramos a essas formas de
menos no discurso reticncias e elipse o ponto de interrogao.
Mas, ao mesmo tempo, questionamos a idia de que tais formas sejam buracos no discurso,
pois essa palavra d a idia de que ali no existe nada, s um vazio. E no vemos as reticncias e a
interrogao dessa forma. Na verdade, acreditamos que um sujeito-autor, quando as emprega, diz
alguma coisa, que, de alguma forma, o seu discurso denuncia. Por isso, preferimos falar em lacunas
do discurso, e por lacunas entendemos uma falta do discurso que, ainda assim, significa.
Como podemos notar, Authier percebe essas formas de menos como uma marca de
heterogeneidade mostrada no discurso, isto , como uma maneira de introduzir o outro no discurso.
Essa postura faz eco ao pensamento que expressamos anteriormente, quando, ao ver
mencionados as aspas e o itlico, dizamos que as reticncias, assim como o ponto de interrogao,
tambm introduzem o outro no discurso.
Alm de perceber a heterogeneidade no fio do discurso, Authier-Revuz reconhece a
dimenso estrutural do heterogneo e afirma que parece relevar deste plano, por exemplo: a
heterogeneidade constitutiva do sistema lingstico, invocada por Fuchs como fonte de rupturas; as
heterogeneidades estruturais ligadas ao bilingismo; e os conflitos inconscientes no sujeito,
enquanto ele se produz como sujeito em sua enunciao, como fonte de a mais ou de a menos.
26
Essas figuras do silncio, para outro autor Michel Prandi so as reticncias e a elipse. No segundo captulo, no
qual discutimos detidamente as questes ligadas pontuao e, mais especificamente, s reticncias e ao ponto de
interrogao, examinamos as colocaes de Michel Prandi a esse respeito.
84
Para Authier, no se deve considerar as heterogeneidades/rupturas sobre o fio como meras
falhas, faltas ou defeitos de desempenho, mas, ao contrrio, deve-se reconhecer, em sua aparente
irregularidade, uma regularidade que da ordem do um/ no-um.
Aqui, a idia de buraco, referida anteriormente por Authier, parece ficar amenizada, pois a
autora percebe esse espao como uma regularidade da ordem do no-um, ou seja, como uma
possibilidade de construo de sentidos diferentes.
Nestes termos, como possvel notar, nos aproximamos de Authier.
Assim, a leitura e as reescritas passam a ser uma possibilidade de insero do no-um no
discurso do sujeito-autor, ou seja, so a chance de o discurso do sujeito-autor transformar-se.
A partir dessas reflexes, podemos dizer, resumidamente, que a idia central da
heterogeneidade constitutiva a de que, constitutivamente, no sujeito e no seu discurso est o
Outro, isto , que todo discurso encontra-se constitutivamente atravessado por outros discursos.
Deste modo, podemos considerar, seguindo Authier (1982:32), que heterogeneidade
constitutiva do discurso e heterogeneidade mostrada no discurso representam duas ordens de
realidade diferentes: a dos processos reais de constituio de um discurso e a dos processos, no
menos reais, de representao, num discurso, de sua constituio.
A leitura trabalha ento sobre essa dupla heterogeneidade: a constitutiva, que no
representada lingisticamente, e a mostrada, que representada lingisticamente. E nas reescritas, o
trabalho dessa leitura pode ser, de alguma maneira, visualizado.
Vejamos agora como Authier-Revuz trabalha a problemtica da dupla heterogeneidade em
termos de no-coincidncias.
2.4.2 Da heterogeneidade s no-coincidncias do dizer
Para falar das no-coincidncias e estudar o modo pelo qual se evidencia a negociao do
sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva, Authier-Revuz (1998) lana mo de uma outra
noo a de modalizao autonmica a qual constitui um tipo de reflexividade metaenunciativa.
Essa configurao enunciativa permite que certos enunciados, em um ponto de seu desenrolar,
apresentem o dizer como no falando por si mesmo. Nesta perspectiva, o signo, em vez de
preencher o dizer, de forma transparente, interpe-se como real, presena, objeto encontrado no
trajeto do dizer e que se impe a ele como objeto.
Assim, conforme afirma Authier, a enunciao desse signo, em vez de se realizar
simplesmente, no esquecimento que acompanha as evidncias inquestionveis, desdobra-se como
um comentrio de si mesma (Authier-Revuz, 1998:14).
85
Assim, com base em um corpus de mais de quatro mil exemplos atestados, escritos e orais,
pertencentes a diversos registros, Authier-Revuz descreve os diferentes tipos formais pelos quais a
configurao que sobrepe dois planos X e uma representao do dizer de X se realiza sobre o
fio nico do discurso.
Authier aborda ainda os fatos metaenunciativos, com o que eles implicam no que Authier
denomina de auto-representao do dizer; assim, observando uma srie de oposies, busca apoio
e especifica relaes com a descrio semitico-lingstica de Rey-Debove, a respeito das formas
da metalinguagem natural, ou seja, do poder de reflexividade das lnguas naturais. Na verdade,
Authier-Revuz aborda seu objeto terico atravs de uma articulao entre o ponto de vista semitico
de Rey-Debove e o ponto de vista enunciativo.
a considerao dos fatos metaenunciativos, com o que eles implicam na auto-representao
do dizer, e, portanto, no distanciamento interno em uma enunciao desdobrada por seu prprio
reflexo, que coloca como crucial, para Authier, a questo, a que j referimos no incio desta seo,
sobre o sujeito da linguagem e, mais especificamente, sobre o sujeito-origem (o sujeito da
psicologia e das suas variantes sociais) e o sujeito-efeito (o da psicanlise ou das teorias do
discurso).
Esta linha de fratura, como a denomina Authier, importante porque denuncia a forma de
encarar teoricamente os fatos. Assim, para a autora, quando consideramos um sujeito-origem, fonte
intencional do sentido, podemos pensar que o enunciador est em condies de se representar, de
representar sua enunciao e o sentido que ele a produz; quando, ao contrrio, como Authier o faz
efetivamente, apoiamo-nos em exteriores tericos da lingstica propriamente dita, que destituem o
sujeito do domnio do seu dizer assim a teoria do discurso e do interdiscurso desenvolvida por
Pcheux e a teoria elaborada por Lacan, de um sujeito produzido pela linguagem como
estruturalmente clivado pelo inconsciente passamos a considerar que o dizer no poderia ser
transparente ao enunciador, ao qual ele escapa, irrepresentvel, em sua dupla determinao pelo
inconsciente e pelo interdiscurso.
Mais uma vez, a concepo de Authier coincide com a da AD.
Podemos dizer, assim, como tambm o faz Teixeira (1998), que as formas de modalidade
autonmica de Authier-Revuz dividem a enunciao em dois territrios: a) o transparente, o da
coincidncia; b) o no-transparente, o da heterogeneidade, o da no-coincidncia.
Lemos ento em Teixeira:
Essas formas, enfim, remetem negociao obrigatria dos enunciadores com as nocoincidncias ou heterogeneidades que, constitutivamente, atravessam o dizer, representando ento
um ponto de no-um, um ponto problemtico na produo do sentido. (Teixeira, 1998:160)
86
As modalizaes autonmicas, dessa forma, so fatos pontuais de no-coincidncia, que
excluem o carter inquestionvel que se relaciona ao uso standard das palavras.
a partir do estudo dessas modalizaes que Authier vai falar em quatro tipos de nocoincidncias, ou de heterogeneidade.
Vejamos ento os campos de no-coincidncia ou de heterogeneidade em que o dizer se
representa como localmente confrontado com pontos em que, assim alterado, ele se desdobra:
1)
No-coincidncia interlocutiva entre os dois co-enunciadores: esta no-coincidncia
apia-se em uma concepo ps-freudiana do sujeito, no-coincidente consigo mesmo, j que
afetado pelo inconsciente.
Ela marca, para Authier, a relao fundamental entre dois sujeitos no-simetrizveis, e
remete comunicao, esta concebida como produo de um entre os enunciadores.
Na verdade, ao falar em no-coincidncia interlocutiva, Authier quer salientar que o dizer e o
sentido no so inteiramente, ou absolutamente, partilhados por enunciador e destinatrio. por isto
que eles tentam restaurar o UM de co-enunciao l onde ele parece ameaado, ou levam em conta
o no-um, marcando que as palavras que eu digo no so as suas, ou que as palavras que digo
so as suas, no as minhas.
Essa no-coincidncia de que fala Authier traduz, para ns, o fato de que um sujeito-leitor, ao
ler um texto produzido por um determinado sujeito-autor, venha a reescrever tal texto produzindo
deslocamentos de sentido ou at mesmo sentidos contraditrios em relao queles construdos por
aquele sujeito-autor27.
A reescrita, desse modo, pode atestar essa no-coincidncia entre o dizer de um sujeito-autor
enunciador e o de um sujeito-leitor destinatrio.
2)
No-coincidncia do dizer consigo mesmo: este tipo de no-coincidncia, para Authier,
constitutiva, tanto em relao ao dialogismo bakhtiniano segundo o qual toda palavra habitada
pelo discurso-outro quanto em relao teorizao do interdiscurso que, de acordo com
Pcheux, remete o eu falo aqui e agora ao algo fala em outro lugar, antes e independentemente.
Isto significa que um discurso, assinalando entre suas palavras a presena estranha de palavras
que pertencem a outro discurso, esboa em si mesmo o traado de uma fronteira interior/exterior.
Nas reescritas, essa no-coincidncia ganha forma especial quando o sujeito marca, no
discurso da reescrita, aquilo que julga ser do discurso do texto-origem. Nesse processo, ele esquece
o fato de que seu discurso tambm no seu, que atravessado pelo discurso-outro, e,
27
No-coincidncias desse tipo podero ser observadas na segunda parte dessa pesquisa, no captulo 2/ seo 2.4., e no
captulo 3/ sees 3.3. e 3.4.
87
ilusoriamente, procura estabelecer o limite entre as palavras que so do sujeito-autor e as palavras
que so suas28.
3) No-coincidncia entre as palavras e as coisas: trata-se aqui de uma dupla perspectiva: por
um lado, da impossibilidade de uma relao igualitria entre a lngua reconhecida pela lingstica
como sistema acabado de unidades discretas e as infinitas singularidades do real a nomear; por
outro lado, e em termos lacanianos, do real como heterogneo ordem simblica, ou seja, da falta
de captura do objeto pela palavra, que desemboca em uma perda inerente linguagem.
Nos textos reescritos, acreditamos que isso possa ser observado quando os leitores, ao retomar
determinado termo do texto-origem, lhe imprimem, em outros contextos e sob outras condies de
produo, sentidos distintos29.
4) No-coincidncias das palavras consigo mesmas: trata-se, neste caso, segundo Authier, da
no-reduo do equvoco do dizer a um fenmeno ldico ou acidental. Quer dizer: trata-se de
colocar a no-coincidncia como consubstancial ao jogo do que Lacan denomina lalangue e de
consagrar o sistema lingstico de unidades distintas (e os enunciados) ao equvoco de uma
homonmia generalizada.
Dentre as questes que se relacionam a este tipo de no-coincidncia, Authier coloca a do
modo pelo qual os enunciadores apreendem a diversidade dos no-um inscritos no discurso e a da
interpretao a dar, em discurso, glosa em todos os sentidos da palavra.
Isto explica o fato de que um texto possa gerar sentidos diversos, como se o sentido ali
produzido se ramificasse, produzindo leituras distintas.
Assim, o sujeito-leitor, ao tornar-se, na reescrita, enunciador de seu prprio texto, apreende
(em menor ou maior grau) os no-um do discurso do sujeito-autor, ao mesmo tempo em que
inscreve, em seu discurso, outros no-um30.
Como possvel perceber, os quatro tipos de no-coincidncias relacionam-se com exteriores
tericos, conforme foi anteriormente anunciado por Authier-Revuz: o primeiro tipo apia-se no
dialogismo de Bakhtin; o segundo apia-se tanto no dialogismo bakhtiniano quanto na noo
pcheutiana de interdiscurso; os ltimos dois so examinados sob a tica da psicanlise e
relacionam-se noo de real da lngua como espao de equvoco.
28
Um exemplo dessa no-coincidncia poder ser encontrado na segunda parte deste trabalho, seo 2.3.1.2/sd12. Ou
ainda na seo 2.3.1.3/sd18.
29
Um exemplo dessa no-coincidncia pode ser encontrado na segunda parte do estudo, captulo 3/ seo 3.3.1/ sd85.
Conforme poderemos perceber pelas anlises, quanto mais o sujeito-leitor apreende os no-um inscritos no discurso
do sujeito-autor, mais ele se afasta dos sentidos produzidos no texto-origem e produz outros no-um. As nocoincidncias, nesta perspectiva, apontam os diferentes processos discursivos de leitura, que podem ir da manuteno
ruptura dos sentidos estabelecidos.
30
88
A partir disso, afirma Authier (1998):
Essas palavras porosas, carregadas de discursos que elas tm incorporados (...), essas palavras
embutidas, que se cindem, se transmutam em outras (...), essas palavras que faltam, faltam para dizer,
faltam por dizer (...), essas palavras que separam aquilo mesmo entre o que elas estabelecem o elo de
uma comunicao, no real das no-coincidncias fundamentais, irredutveis, permanentes, com que
elas afetam o dizer, que se produz o sentido. Assim que, fundamentalmente, as palavras que dizemos
no falam por si, mas pelo Outro. (Authier-Revuz, 1998:26)
Para Authier, esse espao de no-coincidncias onde se faz o sentido, nutrido dessas
heterogeneidades, tambm aquele onde ele poderia desfazer-se, se no fosse protegido por uma
fora de coeso, de ligao, de UM que faz obter uma fala, que faz com que obter uma fala seja
fazer ter junto o que no faz outro sentido seno o de no ser um.
Tomando as palavras de Authier, podemos dizer que imaginamos que possa ser assim o
espao das reticncias e da interrogao: espao de no-coincidncias, onde se faz o sentido,
nutrido de heterogeneidades. Ou seja: espao que d lugar ao dizer do outro e onde sentidos so
produzidos pela leitura e atestados pelas reescritas.
A produo de sentidos, nesta perspectiva, fundamentalmente constituda por nocoincidncias31.
Isso, em termos de leitura e de reescrita, d conta do fato de que, quanto mais o sujeitoreescritor se afasta do sujeito-autor do texto-origem, maior a possibilidade de acontecerem as nocoincidncias de seu dizer com o dizer do sujeito-autor, sendo a reescrita marcada por
deslocamentos, transformaes e rupturas de sentidos.
Destacamos, ainda, para pux-las para nosso campo de discusses, outras palavras de Authier:
essas palavras que faltam, faltam para dizer, faltam por dizer(Ibidem:26). Perguntamos ento: no
seriam os nossos sinais de pontuao reticncias e interrogao palavras que faltam por dizer
por expressar a voz do sujeito-autor e palavras que faltam para dizer para expressar a voz do
outro, do sujeito-leitor? Perguntas que lanamos e s quais somente as anlises podero dar as
respostas.
Para finalizar, destacamos outro artigo de Authier (1994:255-6), intitulado Falta do dizer,
dizer da falta: as palavras do silncio, em que a autora afirma que, relativamente a essas nocoincidncias fundamentais nas quais se produz o dizer, os acidentes que constituem as formas de
desdobramento da enunciao de um elemento aparecem, contraditoriamente, como traos, como
31
Embora, muitas vezes, como vo comprovar nossas anlises, haja a predominncia da coincidncia entre os dizeres
produzidos pelos sujeitos-leitores e os dizer do sujeito-autor de TO.
89
emergncias reconhecidas pelo enunciador, e, ao mesmo tempo, como mscaras de um fenmeno
local, acidental (no-constitutivo) e controlado.
No pice desta contradio, que marca a tenso entre o um e o no-um, aparece a
configurao complexa da reflexividade opacificante: ela surge como uma espcie de costura
aparente, que ressalta em um mesmo movimento a falha da no-coincidncia enunciativa e sua
sutura metaenunciativa.
exatamente a uma falta de palavras que responde uma excrescncia de palavras, que o lao
meta-enunciativo vem enxertar em um fio do discurso, para a nomear a falha, abrindo o dizer, pelo
dito, sobre o que ele no diz, fazendo ressoar em outras palavras esta parte de silncio que se
experimenta nas palavras.
nessa relao de um imaginrio de coincidncia e de um real de no-coincidncia que o
sujeito se inscreve em seu discurso e isso que permite que, ao reescrever, ele movimente os
sentidos.
Queremos ainda lembrar que a concepo de heterogeneidade desenvolvida por AuthierRevuz contribuiu sobremaneira para o desenvolvimento da noo de heterogeneidade discursiva em
AD. importante lembrar, porm, que, em AD, a noo de heterogeneidade mantm estreita
relao com a de formao discursiva, tendo sido a reflexo terica sobre esta noo que
possibilitou o entendimento da heterogeneidade discursiva em AD.
Em Pcheux (1980) vamos encontrar a origem dessa relao, quando o autor afirma que no
possvel caracterizar uma FD classificando-a, atravs de uma tipologia, entre outras FDs. Para
Pcheux, preciso determinar os processos pelos quais uma pluralidade desigual de FDs organizase em funo dos interesses postos em jogo na luta de classes em um determinado momento de seu
desenvolvimento em uma formao social. As formas historicamente variveis entre discurso,
ideologia e interesse de classe so, pois, determinadas pelo jogo contraditrio das FDs, atravs de
uma srie de importaes, deslocamentos, alteraes.
a partir de uma perspectiva como essa que a heterogeneidade trabalhada em Anlise do
Discurso.
Trabalhar a heterogeneidade discursiva, portanto, conforme lembra Indursky (1997:42),
significa estabelecer relao entre o que dito na seqncia discursiva em anlise com o que dito
em outros discursos para melhor interpretar no-ditos no interior do que dito.
Assim, dizer que um discurso heterogneo significa dizer que, constitutivamente, no sujeito,
em seu discurso, h o outro. H nesta afirmao a idia de que o sujeito determinado pela sua
relao com a exterioridade, sendo um sujeito dividido. essa exterioridade que constitui, para a
AD, as condies de produo do discurso.
90
O sujeito que l, portanto, um sujeito dividido, determinado por sua relao com a
exterioridade. Esse sujeito produz sua leitura sob determinadas condies e os sentidos que constri
em seu discurso carregado do discurso-outro so determinados por essas condies.
A reescrita, neste sentido, o espelho dessa relao e, por isso, atesta o discurso desse sujeito
dividido e determinado ideologicamente.
A AD, portanto, ao ocupar-se da heterogeneidade discursiva, no pode restringir-se s formas
de heterogeneidade mostrada. Por isso, debrua-se tambm sobre a heterogeneidade que est
presente constitutivamente em todo discurso.
2.4.3 Heterogeneidade: implicaes para o processo da leitura
Diante do que acabamos de expor, podemos perceber o quanto importante tratar das
questes ligadas heterogeneidade discursiva quando se estuda a leitura.
Vimos que levar em conta a questo do outro do discurso a heterogeneidade implica
considerar que todo discurso atravessado por outros discursos. Falar em discurso, ento, significa
pensar em um campo marcado pela heterogeneidade, pela no-transparncia, pela no-coincidncia.
Em outras palavras, considerar o outro do discurso passar da ordem do UM para a ordem do
NO-UM e do no-repetvel, campo afetado pela subjetividade, pela alteridade
e pela
incompletude.
Trabalhar com a leitura tambm implica adotar pressupostos como esses, uma vez que, em
termos discursivos, a leitura nada tem de homognea ou de transparente, sendo tambm afetada pela
subjetividade, pela alteridade e pela incompletude.
Ora, se a leitura varia de acordo com o leitor, e se cada sujeito-leitor , ele prprio, constitudo
por outros discursos, a leitura , em essncia, heterognea. A leitura, nesses termos, um efeito de
sentido, isto , um efeito da subjetividade de um sujeito-leitor e da incompletude do texto lido.
porque todo discurso atravessado por outros discursos (e porque cada leitor, por ter suas
especificidades e sua histria, percebe esses discursos de diferentes maneiras) que a leitura se
realiza de modos diversos, isto , que um mesmo texto pode ser lido diferentemente por leitores
distintos.
A heterogeneidade do discurso, como espao de no-coincidncias onde se faz o sentido,
permite justamente que o sujeito-leitor inscreva sua leitura nesse espao.
A noo de heterogeneidade, portanto, conforme nos ressalta Authier (1998), tem relao com
um sujeito-efeito e no com um sujeito-origem: ele se cr fonte do seu dizer, mas apenas o suporte
desse discurso.
91
Tambm o sujeito da leitura um sujeito-efeito, o que significa que, por ser um sujeito
determinado ideologicamente, dividido, ele no resolve, no dono das leituras que faz de um
texto. Ao contrrio, a sua leitura um efeito de seu assujeitamento ideologia, memria, ao
inconsciente. E isso que nos permite falar em efeito-leitor.
Assim, na relao autor-texto-leitor, podemos dizer que um autor (sujeito ideolgico,
determinado pelo interdiscurso e filiado a uma FD) produz um discurso heterogneo, materializado
no efeito-texto. O leitor (tambm sujeito ideolgico, determinado pelo interdiscurso, filiado a uma
FD, e com sua histria de leituras), ao apropriar-se desse texto, realiza a sua leitura, produz o seu
discurso, que, por tudo isso, nico e tambm heterogneo. Assim, o discurso de um leitor no ser
igual ao produzido por outro leitor ou at mesmo pelo prprio autor, uma vez que cada um tem uma
histria e produz seu discurso sob determinadas condies.
Leitura e heterogeneidade, portanto, fundem-se, num movimento contnuo, pois sob as
palavras de um autor esto as palavras do outro, e essas palavras se cruzam com as palavras de cada
leitor, produzindo discursos sempre e cada vez mais heterogneos.
2.5 LEITURA E SILNCIO
Nesta seo, enfocamos a noo de silncio, tal como concebida por Orlandi, pois
acreditamos que essa noo fundamental em todo esse trabalho e imprescindvel para o estudo da
pontuao numa abordagem discursiva.
Comeamos ento reafirmando que a disperso constitutiva do discurso, ou seja, todo
discurso formado por elementos que no esto ligados por um princpio de unidade, mas por
formas de repartio. Em outras palavras, a disperso dos sentidos e do sujeito condio de
existncia do prprio discurso, o qual, para funcionar, toma a aparncia de unidade.
Assim, segundo Orlandi (1993b:19), tanto a disperso como a iluso da unidade so
igualmente constitutivas.
Podemos ento pensar na lngua como pr-requisito para o processo discursivo, isto , no
enquanto forma abstrata, mas em sua materialidade. Assim, a relao entre lngua e discurso
acontece atravs de recobrimentos e suas fronteiras deslocam-se constantemente.
desta noo que se origina a relao entre ideologia e produo de sentidos, pois a ideologia
nasce exatamente no ponto de encontro entre a materialidade da lngua com a materialidade
histrica. E no discurso que melhor podemos observar essa articulao, j que este constitudo
de efeito de sentidos entre os locutores, ou seja, o sentido no est em nenhum lugar, mas nas
92
relaes dos sujeitos e dos prprios sentidos. Isso s possvel porque sujeito e sentido constituemse mutuamente, pela sua inscrio no jogo das formaes discursivas.
As formaes discursivas, ento, sendo as diferentes regies que recortam o interdiscurso (o
dizvel, a memria do dizer), refletem as diferenas ideolgicas, o modo como as posies dos
sujeitos constituem sentidos diferentes.
Desta forma, segundo Orlandi, compreender o que efeito de sentido compreender a
necessidade da ideologia na constituio dos sentidos e dos sujeitos (Ibidem:21), pois da relao
regulada historicamente entre as muitas formaes discursivas que se constituem os diferentes
efeitos de sentidos entre os locutores. Sem esquecer tambm que os prprios locutores, que
representam posies de sujeito, no so anteriores constituio dos sentidos, mas se produzem
com eles.
Na nossa perspectiva, o efeito de sentido pode se instaurar tambm em decorrncia das
diferentes formas de o sujeito se relacionar com a forma-sujeito, produzindo diferentes posiessujeito no interior da mesma FD e, por conseguinte, diferentes efeitos de sentido na prpria FD. Da
resultam, ento, sentidos, e no um sentido, o que significa que a FD no unvoca e no apresenta
homogeneidade nem de sujeito nem de sentido.
Falar em efeitos de sentido, para Orlandi, ainda aceitar que se est sempre no jogo, na
relao das diferentes formaes discursivas, na relao entre diferentes sentidos. Da a necessidade
do equvoco, do sem-sentido, do sentido outro e, conseqentemente, do investimento em um
sentido (Ibidem:22).
exatamente a, segundo Orlandi, que se situa o trabalho do silncio.
Para a autora, a linguagem implica silncio, compreendido este como o no-dito visto do
interior da linguagem. O silncio no o nada, no o vazio sem histria, silncio significante.
Ele no mero complemento da linguagem, mas tem significao prpria.
Desse modo, segundo Orlandi, o silncio , para o sujeito, a possibilidade de trabalhar sua
contradio constitutiva, a que o situa na relao do um com o mltiplo, a que aceita a
reduplicao e o deslocamento que nos deixam ver que todo discurso sempre remete a outro
discurso que lhe d origem significativa (Ibidem:23).
A partir dessas reflexes, Orlandi faz uma distino entre: a) silncio fundador, que aquele
que existe nas palavras, que significa o no-dito e que d espao de recuo significante, criando as
condies para significar; b) a poltica do silncio, que se subdivide em: b1) silncio constitutivo,
que aquele que nos indica que para dizer preciso no-dizer, ou seja, uma palavra apaga
necessariamente as outras; b2) silncio local, que refere censura propriamente, ou seja, quilo que
proibido dizer em uma certa conjuntura.
93
Orlandi denomina esta distino de diferentes formas de silncio, sendo o silncio a prpria
condio de existncia da linguagem. O silncio, assim, aparece como o espao diferencial da
significao: lugar que permite linguagem significar (Ibidem:70).
Nesta perspectiva, o silncio fundador no o vazio, o sem-sentido, mas o indcio de uma
totalidade significativa. Quer dizer: o vazio da linguagem horizonte e no falta. O silncio, ento,
no est entre as palavras, mas as atravessa.
Desta forma, em face do discurso, o sujeito estabelece um lao com o silncio, pois, para
falar, o sujeito tem necessidade de silncio, um silncio que fundamento necessrio ao sentido e
que ele reinstaura falando. Assim, para Orlandi, mais se diz, mais o silncio se instala, mais os
sentidos se tornam possveis e mais se tem ainda a dizer (Ibidem:71).
O silncio fundador, ento, torna presente no s a iminncia do no-dito que se pode dizer,
mas tambm o indizvel da presena: do sujeito e do sentido. Ou seja: h injuno dos sujeitos da
linguagem em estar nos sentidos, os quais, sendo sempre um j-l, podem ser feitos de palavras
ou de silncio. E isto que faz da linguagem uma passagem incessante das palavras ao silncio e do
silncio s palavras.
Julgamos necessrio, neste ponto, fazer referncia relao apontada por Orlandi entre
silncio e implcito, pois, para a autora, essas so duas noes distintas.
A noo de implcito, conforme a encontramos em Ducrot (1972:13), permite compreender o
fato de que h modos de expresso que possibilitam deixar entender sem incorrer na
responsabilidade de ter dito, pois freqentemente se tem necessidade de dizer certas coisas e ao
mesmo tempo de poder fazer como se no as tivssemos dito, ou seja, de diz-las, mas de poder
recusar a sua responsabilidade. Assim, segundo Ducrot, o no-dito remete ao dito.
Trazendo a questo para o mbito de nossa pesquisa, que estuda a leitura e a reescrita de
textos sinalizados pelas reticncias e pelo ponto de interrogao, pensamos ser possvel dizer que
tais sinais de pontuao remetem, em certo sentido, para um dizer, entendido este como aquilo que
o autor diz, de alguma forma, por meio daqueles sinais.
Note-se, porm, que diferente do implcito de Ducrot, pois o autor do texto que emprega as
reticncias ou a interrogao no diz uma certa coisa. Ao no dizer, ao deixar uma lacuna na sua
fala, se exime (aqui, como no caso do implcito) de assumir a responsabilidade pelo dizer.
No caso das reticncias e da interrogao, portanto, julgamos mais adequado falar em silncio
e, ao decidir assim, buscamos respaldo em Orlandi (1993b:68), que afirma que o silncio no
remete ao dito, ele se mantm como tal, ele permanece silncio e significa.
94
Nesta perspectiva, as reticncias e a interrogao no remetem a um dito, mas significam por
si prprias, enquanto silncio. Silncio que repleto de sentidos: sentido que vem do autor, sentido
que vem do leitor, sentido que vem de outros textos, de outros discursos.
E por serem silncio e, paradoxalmente, significao, tais sinais de pontuao podem
desmembrar-se em direes diversas. Quer dizer: podem significar de forma diferente para sujeitos
distintos.
Voltando a Orlandi(1996b), vemos que, para a autora, a poltica do silncio se define pelo fato
de que, ao dizer algo, apagamos outros sentidos possveis, mas indesejveis, em uma formao
discursiva dada.
Assim, enquanto a poltica do silncio produz um recorte entre o que se diz e o que no se diz,
o silncio fundador no estabelece nenhuma diviso, significando por si mesmo.
Nesta perspectiva, o silncio constitutivo ento definido por Orlandi:
Determinado pelo carter fundador do silncio, o silncio constitutivo pertence prpria ordem de
produo do sentido e preside qualquer produo de linguagem. Representa a poltica do silncio
como um efeito de discurso que instaura o antiimplcito: se diz x para no (deixar) dizer y, este
sendo o sentido a se descartar do dito. o no-dito necessariamente excludo. (Orlandi,1996b:76)
Assim, por este tipo de silncio, apagam-se os sentidos que se quer evitar, os que poderiam
instalar o trabalho de uma outra formao discursiva, uma outra regio de sentidos. Ou seja, o
silncio trabalha os limites das formaes discursivas, determinando os limites do dizer.
neste nvel que funciona o silncio constitutivo, isto , o mecanismo que pe em
funcionamento o conjunto daquilo que preciso no dizer para poder dizer (ou seja, uma palavra
apaga as outras)32.
Pensando mais uma vez em nossos sinais de pontuao, diramos que, nesse caso, no isso
que acontece, pois, quando emprega reticncias ou interrogao, o sujeito-autor no usa uma
palavra que apaga as outras; ele simplesmente no emprega palavra alguma, naquele espao. Ele
suspende o discurso que, embora interrompido, significa. E com esse silncio que o leitor opera:
com esse silncio que significa, mas que ele, leitor, pode significar. , portanto, um outro tipo de
silncio que temos aqui.
32
Fazemos ainda referncia a uma outra reflexo de Orlandi sobre o silncio, a qual, no entanto, no afeta a nossa
reflexo e, por esse motivo, preferimos no inseri-la no corpo do texto. A autora aponta como parte da poltica do
silncio, o silncio local, que se constitui na interdio do dizer, e cujo melhor exemplo a censura. Para a autora, a
censura a produo do silncio sob a forma fraca, isto , uma estratgia poltica circunstanciada em relao
poltica dos sentidos: a produo do interdito, do proibido ( Ibidem: 77).
95
Assim, se o sujeito-autor no diz, no porque no pode dizer, mas porque significa mesmo
no dizendo, sinalizando um espao para o dizer do outro. No se trata, portanto, de uma interdio
ao dizer. Quer dizer: empregam-se as reticncias ou a interrogao no porque ali, naquele espao,
acontea a interdio da inscrio do sujeito em uma determinada formao discursiva. Ou seja: o
sujeito-autor das reticncias ou da interrogao no est proibido de dizer certas palavras ou de
produzir certos sentidos. Ele no diz apenas porque no precisa dizer, j que, mesmo no dizendo,
mesmo silenciando, significa.
Nesta perspectiva, o dizer do outro fica orientado por essa significao sem palavras
representada pelos sinais discursivos de pontuao.
ento sob o efeito da iluso de imaginar que est recriando sentidos que o leitor produz sua
leitura, quando, na verdade, est resignificando o silncio materializado pelas reticncias e pela
interrogao.
Na verdade, poderamos, ampliando a classificao dada por Orlandi aos tipos de silncio,
dizer que, de forma diferente do que acontece no silncio constitutivo, em que se diz x para no
(deixar) dizer y, existe um silncio sinalizado pelas reticncias e pela interrogao, em que no se
diz x para significar x.
Vamos desenvolver melhor essa reflexo mais adiante, no captulo 3. Mas podemos adiantar
que, no caso das reticncias, existe, para ns, o funcionamento de um silncio que suspende o
discurso, que passa a significar sem palavras. esse o seu funcionamento; esse fato de significar
sem palavras que provoca a ancoragem do leitor justamente nesses espaos sinalizados, que so
espaos de ao para o sujeito-leitor e para o sujeito-reescritor. A esse silncio, vamos denominar
de discurso em suspenso.
J no caso da interrogao acreditamos estar diante de um outro tipo de silncio. A
interrogao, na nossa perspectiva, provoca, de forma mais contundente do que acontece com as
reticncias, a interpelao do outro, no momento em que introduz a necessidade de responder. A
este outro tipo de silncio, vamos denominar de discurso de injuno.
Acreditamos ento que, embora sinalizado materialmente, o silncio funcione diferentemente
nas reticncias e na interrogao.
Assim, pensamos que esses novos significados, que surgem pelo processo discursivo da
leitura, estejam tambm sujeitos ao diferente funcionamento do silncio representado pelas
reticncias e pela interrogao. Se assim for, ao ler as reticncias, o leitor precisa lidar com um
excesso33 de sentidos que circulam naquele espao. nesse excesso, nessa abundncia de sentidos,
33
Eni Orlandi, em As formas do silncio (1993b) faz uso da idia de excesso quando define o silncio. Afirma a
autora: ...ao invs de pensar o silncio como falta, podemos, ao contrrio, pensar a linguagem como excesso. Note-se
96
que o leitor entra e da que ele vai tirar o seu dizer. Porm, ao ler a interrogao, o leitor lida com
um excesso de outra natureza, pois precisa agir sobre aquele espao criado especialmente para ele.
Seria um funcionamento discursivo semelhante, mas no igual, portanto. Desenvolveremos
essas idias mais adiante, na seo sobre sinais discursivos, e nas nossas anlises.
De qualquer forma, podemos dizer que, como silncio, esse espao significa por si mesmo,
mas, como exposto ao de diferentes leitores, ganha outros significados provveis, possveis.
A reflexo sobre os tipos de silncio nos possibilita avaliar a complexidade da anlise do
discurso, j que por ela possvel nos debruarmos sobre os efeitos de sentido contraditrios da
produo de sentidos na relao entre o dizer e o no-dizer. Alm disso, nos permite perceber,
conforme nos lembra Orlandi, que embora seja preciso que j haja sentido para se produzir
sentidos, estes no esto nunca completamente j-l. Eles podem chegar de qualquer lugar e eles se
movem e se desdobram em outros sentidos (Ibidem:24).
Nesta perspectiva, pensar o silncio, para Orlandi, significa :
a) problematizar questes como a da interpretao. A autora, quando relaciona silncio e
interpretao, afirma que o silncio no interpretvel, mas compreensvel (Ibidem:51).
Compreender o silncio , pois, explicitar o modo pelo qual ele significa, ou seja, no atribuir-lhe
um sentido metafrico em sua relao ao dizer, o que significaria traduzir o silncio em palavras,
mas conhecer os processos de significao que ele pe em jogo, conhecer os seus modos de
significar.
Assumindo uma tal concepo, podemos dizer que ler e reescrever um silncio sinalizado
pelas reticncias ou pela interrogao no significa, para o sujeito-leitor e reescritor, traduzir essas
lacunas em palavras, mas compreender os processos de significao que esto postos ali e, munido
de sua histria de leitor, inscrito em uma determinada formao discursiva, com uma determinada
posio-sujeito e sob o efeito da memria discursiva, produzir sentidos.
essa memria do dizer interdiscurso que possibilita, na nossa perspectiva, que o leitor
das reticncias ou da interrogao resgate os sentidos que, mesmo sem estarem expressos, podem
preencher aquele espao lacunar e repleto de significao.
b) problematizar as noes de linearidade, literalidade e completude. Discursivamente, o
sentido se faz em todas as direes. Conceitos discursivos como interdiscurso, intertexto34 e relao
que ns, no entanto, estamos justamente, de forma diversa da de Orlandi, relacionando no a linguagem ao excesso, mas
o prprio silncio, materializado pelas reticncias (e, portanto, pela ausncia de linguagem) como excesso de
significao.
34
A noo de intertexto, tal como encontrada em Maingueneau (1989:86), caracteriza o conjunto de enunciados que
uma formao discursiva efetivamente cita.
97
de sentidos atestam este fato. Alm disso, a significao no se desenvolve em uma linha reta,
mensurvel, segmentvel, pois os sentidos so dispersos.
Neste sentido, noes como as de incisa e elipse35, noes tematizadas por Haroche (1992)
e ns incluiramos aqui a noo de reticncias e de interrogao so importantes para se observar
esses problemas da linearidade e literalidade. Na reflexo gramatical, a incisa aparece como o
acrscimo contingente e a elipse como falta necessria. Ao tomarmos o silncio como fundante,
essa dissimetria se explica: o silncio assimtrico em relao ao dizer e a elipse do domnio do
silncio. A incisa evitada; os gramticos instituram a importncia do silncio e a rejeitaram, pois
o dizer precisa exatamente da falta.
sobre essa falta reticncias e interrogao que se realiza a leitura por nossos sujeitosleitores e uma de suas formas de manifestao a reescrita. Quer dizer: o sujeito-leitor age sobre o
silncio, sobre o dizer que, mesmo em suspenso, mesmo interrompido, mesmo reclamando a sua
interferncia (do leitor), significa. Mas que, por significar diferentemente para cada leitor,
possibilita que um mesmo texto (e que as mesmas reticncias ou a mesma interrogao) possa
significar tambm diferentemente para diferentes leitores.
Se isso possvel, justamente porque essas lacunas representadas pelos sinais discursivos
das reticncias e da interrogao no representam uma falta de sentido, mas uma lacuna de
significao, em que sentidos, em maior ou menor quantidade, so desde-sempre produzidos.
Acreditamos, a esta altura, que seria mais adequado denominar esse espao sinalizado para a
interferncia do leitor de lacuna significante, pois cham-la de lacuna de significao poderia dar a
falsa impresso de que ali no existe significao. Na perspectiva que estamos adotando aqui,
reticncias e interrogao so repletas de sentidos. Sentidos que so produzidos pelas vozes do
sujeito-autor, do sujeito-leitor e de vrios outros sujeitos, cujas vozes annimas ali ressoam.
A incompletude, sob este ponto de vista, como ressalta Orlandi (1993b), fundamental no
dizer e ela que produz a possibilidade do mltiplo. Ou seja: justamente o silncio que preside
essa possibilidade.
Para Orlandi, assim, quanto mais falta, mais silncio se instala, mais possibilidade de
sentidos se instala (Ibidem:49).
Acreditamos, no entanto, que, quando se trata de reticncias ou interrogao, no
exatamente assim que o silncio funciona. As anlises realizadas nos apontam que o silncio
produzido por tais sinais de pontuao, mesmo significando diferentemente para diferentes leitores,
no possibilita que esses leitores se afastem de leituras provveis ou possveis, pois essas reescritas
entram em ressonncia com a significao instaurada pelo silncio sinalizado.
98
Deste modo, diramos que, ao ler as reticncias ou a interrogao, o leitor produz uma espcie
de resgate de sentidos, ou seja, ele busca, no interdiscurso, os sentidos que, ausentes naquele
espao, podem, no entanto, preench-lo36.
Se estivermos certos, ento, um texto sinalizado pelas reticncias ou pela interrogao
lacunas significantes permite algumas possibilidades se sentidos, mas no infinitas leituras.
A falta, nesse caso, deixaria de ser assim concebida e poderia ser pensada como uma
presena-ausente37, que traz tona sentidos que circulam, em silncio (ausentes), por um espao
que, paradoxalmente, est inundado de sua presena.
Em outras palavras: a falta representada pelos sinais discursivos de pontuao no pode ser
reduzida a uma ausncia de palavras, mas a uma lacuna carregada de silncio e de significao.
Reticncias e interrogao, assim, no representam o vazio, o sem-sentido, mas so, ao contrrio,
uma totalidade significante.
2.5.1 Silncio: implicaes para o processo da leitura
Aps o que foi dito sobre o silncio, fica fcil compreender por que essa noo importante
para ns.
Falar em silncio, como vimos, pensar na incompletude constitutiva de todo discurso. Isso
tem tudo a ver com leitura, pois a partir dessa incompletude e sobre ela que o sujeito constri os
sentidos, produz sua leitura.
Assim, os sentidos que se produzem em uma leitura no nascem somente das palavras que
so ditas, mas tambm, e sobretudo, das palavras que no so ditas, dos silncios.
Compreender o modo como esses silncios significam o trabalho do leitor que, enquanto
sujeito determinado historicamente, interpreta e reconstri o efeito-texto.
E isso que vai determinar as possveis leituras do silncio marcado pelas reticncias ou pela
interrogao.
2.6 LEITURA E AUTORIA
Nesta seo, propomo-nos a refletir sobre a autoria, noo fundamental para ns, que estamos
lidando com reescritas com o intuito de descobrir se, nesse processo, a autoria acontece ou no.
35
Essas noes sero melhor especificadas no captulo 3/ seo 3.2.
36
esse resgate que, como demonstraro nossas anlises, impede que os sentidos tornem-se outros na leitura desses
sinais discursivos.
37
A idia de presena-ausncia, em relao aos sinais discursivos de pontuao, ser melhor desenvolvida no captulo
3/ seo 3.2.
99
Comecemos esta reflexo sobre autoria examinando o pensamento de Foucault (1982), em O
que um autor, texto que constitui o registro de uma comunicao apresentada pelo autor em 1969
Socit Franaise de Philosophie.
Para Foucault, a noo de autor constitui o momento forte da individualizao na histria das
idias, dos conhecimentos, das literaturas, da filosofia e das cincias. Ele no deseja, no entanto, no
texto em questo, deter-se em anlises que venham a mostrar, por exemplo, como o autor se
individualizou, como se instaurou a categoria homem-obra. Antes, o que Foucault quer examinar
a relao do texto com o autor, a maneira como o texto aponta para essa figura que lhe exterior e
anterior, pelo menos em aparncia (Foucault, 1982:34).
A partir de uma formulao de Beckett Que importa quem fala? Foucault aborda a
questo do desaparecimento do sujeito da escrita, ou seja, da figura do autor. A escrita, lembra
Foucault, um jogo ordenado de signos que se deve menos ao seu contedo significativo do que
prpria natureza do significante. Mas, ao mesmo tempo, esta regularidade est sempre sendo testada
em seus limites, em vias de ser transgredida e invertida, desdobrando-se como um jogo que vai para
alm das suas regras, extravasando-as. Na escrita, pois, no h a fixao de um sujeito numa
linguagem, mas a abertura de um espao onde o sujeito da escrita est sempre a desaparecer.
Desse modo, na escrita h o apagamento dos caracteres individuais do sujeito que escreve,
pois, por intermdio de todo o emaranhado que estabelece entre ele prprio e o que escreve, ele
retira a todos os signos a sua individualidade particular. A marca do escritor, nesta perspectiva, no
seno a singularidade de sua ausncia. Como diz Foucault, -lhe necessrio representar o papel
do morto no jogo da escrita (Ibidem:36).
Para Foucault, a noo de escrita, bem como a de obra, bloqueiam a noo de autoria.
Em relao obra, Foucault se pergunta: o que uma obra? Que elementos a compem? Uma
obra no o que escreveu aquele que se designa por autor?
As respostas para tais questes, no entanto, no so to simples, pois outras questes se
colocam: se um indivduo no fosse um autor, o que ele escreveu ou disse, o que ele deixou nos
seus papis, o que dele se herdou, poderia chamar-se obra? E ainda: ser que tudo que um autor
escreveu ou disse faz parte de sua obra? Assim, por exemplo, o que faz parte da obra de Nietzsche?
Tudo o que ele publicou, sem dvida. Seus rascunhos? Tambm. Os projetos de aforismos? Claro.
As notas de rodap? Evidentemente. Mas o que dizer de um endereo, um recibo, uma nota de
lavanderia encontrada no interior de um caderno seu: obra ou no?
a partir de reflexes como esta que Foucault vai dizer que a teoria da obra no existe e por
esse motivo que constitui uma iluso falar, por exemplo, em obras completas de um autor. Quer
dizer: no adianta pensar em deixar de lado o escritor, o autor, e estudar a obra em si mesma, pois,
100
na verdade, a concepo de obra e da unidade que ela designa so to problemticas quanto a noo
de individualidade do autor. Isso porque a disperso faz parte tanto dos textos de um escritor quanto
do prprio sujeito que escreve esses textos.
A noo de escrita, por outro lado, tambm bloqueia a verificao do desaparecimento do
autor, enquanto unidade e ser emprico no mundo. A rigor, segundo Foucault, a noo de escrita
deveria permitir no s que se dispensasse a referncia ao autor, mas tambm que se desse um novo
estatuto a essa nova ausncia. Para Foucault, necessrio pensar nas conseqncias de falar na
ausncia do autor e, ao mesmo tempo, nas lacunas, nas fissuras, nos espaos que esse
desaparecimento deixa a descoberto.
A partir da, Foucault discorre sobre os problemas que surgem pelo uso do nome do autor.
Para falar sobre tais dificuldades, Foucault inicialmente relaciona nome de autor e nome
prprio: o nome de autor um nome prprio.
O nome prprio, como ressalta Foucault, tem outras funes que no apenas as indicadoras,
pois mais que um gesto, um dedo apontado para algum. Na verdade, equivale a uma descrio.
Neste sentido, o nome prprio e o nome de autor encontram-se situados entre os plos da
descrio e da designao: tm alguma ligao com o que nomeiam, mas nem totalmente maneira
da designao, nem totalmente maneira de descrio. A ligao do nome prprio com o indivduo
nomeado e a ligao do nome de autor com o que nomeia no so isomrficas e no funcionam da
mesma maneira. Em outras palavras: o nome prprio e o nome de autor possuem caractersticas
diferentes.
Assim, se descobrimos, por exemplo, que determinadas descries atribudas a um indivduo
no so exatas, isso no implica que se altere o nome prprio que constitui a referncia desse
indivduo, ou seja, a relao de designao no afetada.
Com o nome de autor diferente, pois, se descobrimos que certo autor no escreveu aquilo
que passa por sua obra, isso certamente acarreta mudanas no funcionamento do nome de autor.
Nos termos de Pfeiffer (1995:48), sua principal funo valorativa.
Um nome de autor, portanto, no um nome como os outros, no simplesmente um
elemento de um discurso, mas exerce um papel relativamente aos discursos: assegura uma funo
classificativa, faz com que os textos se relacionem entre si.
Assim, para Foucault (1982):
O nome de um autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso: para um discurso,
ter um nome de autor, o fato de se poder dizer isto foi escrito por fulano ou tal indivduo o
autor, indica que esse discurso no um discurso quotidiano, indiferente, um discurso flutuante e
passageiro, imediatamente consumvel, mas que se trata de um discurso que deve ser recebido de
101
certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um certo estatuto. (Foucault, 1982:
45)
Nessa concepo, o nome do autor no transita, como o nome prprio, do interior do discurso
para o indivduo real e exterior que o produziu, mas bordeja os textos, recortando-os, delimitandoos. O nome do autor, assim, manifesta a instaurao de um certo conjunto de discursos e refere-se
ao estatuto desses discursos no interior de uma sociedade e de uma cultura.
Para Foucault, no entanto, nem todos os discursos so providos dessa funo-autor. Uma
carta, por exemplo, pode ter um signatrio, mas no um autor; da mesma forma, um contrato pode
ter um fiador, mas no um autor.
Para Foucault, assim, j que nem todos os discursos so providos da funo-autor, o que
revela essa funo, para Foucault, so quatro caractersticas:
Em primeiro lugar, temos a apropriao. Pode-se dizer que os textos, os livros, os discursos
deixaram de ser considerados como atos de escrever e comearam a ter efetivamente autores
quando estes se tornaram passveis de serem punidos, ou seja, quando os discursos se tornaram
transgressores. Quer dizer: a transgresso prpria do ato de escrever adquiriu a aura de um
imperativo tpico da literatura quando, no final do sculo XVIII e no incio do sculo XIX,
instaurou-se um regime de propriedade para os textos, com regras sobre os direitos de autor, sobre a
relao autores-editores, etc.
A segunda caracterstica tem a ver com o fato de que a funo-autor no se exerce de forma
universal e constante sobre todos os discursos, em todas as pocas e em todas as formas de
civilizao. Na Idade Mdia, por exemplo, os textos literrios eram recebidos, postos em circulao
e valorizados sem que se pusesse em questo a sua autoria; j os textos cientficos recebiam um
valor de verdade somente se fossem assinalados com o nome de autor. Assim, Hipcrates disse
era um indcio que dotava um discurso de valor de verdade. No sculo XVIII, de forma contrria, os
discursos cientficos passaram a ser recebidos por si mesmos, apagando-se a funo-autor, enquanto
dos discursos literrios passou-se a exigir a funo-autor, no se suportando mais o anonimato
literrio. Em suma, caracterstica da funo-autor ter fiabilidade.
Outra caracterstica que a funo-autor no se forma espontaneamente como a atribuio de
um discurso a um indivduo, mas o resultado de uma operao complexa que constri um certo ser
racional: o autor. Assim, o autor apenas uma projeo do tratamento a que submetemos os textos,
as aproximaes que operamos, os traos que estabelecemos como pertinentes.
Finalmente, a funo-autor no uma pura e simples reconstruo que se faz em segunda mo
a partir de um texto tido como material inerte. Assim, ela no reenvia para um indivduo real, mas
pode dar lugar a vrios eus simultneos, a vrias posies-sujeito que classes diferentes de
102
sujeitos podem ocupar. Em outras palavras: a funo-autor acontece na ciso entre o escritor real e
o locutor fictcio. Como lembra Pfeiffer (1995:50), na confluncia, na tenso do sujeito disperso
que o autor funciona, movimenta-se, produzindo o efeito de unidade.
Aqui encontramos um lugar para a repetio como possibilidade de criao de novos efeitos
de sentido, uma vez que, a cada vez que dizemos algo novamente, os sentidos circulam. Nesta
medida, no existe esse texto como material inerte, nem existe um texto exatamente igual a outro:
cada novo texto uma retomada de outros textos, uma assuno de diferentes posies-sujeito.
Isso nos permite pensar que, em cada novo texto, se desenvolve a funo-autor.
Outro aspecto importante a destacar no texto de Foucault diz respeito distino entre autores
e fundadores de discursividade, sendo estes ltimos aqueles que no so apenas autores, mas
que produziram algo mais: a regra de formao de outros textos. Neste sentido, eles so diferentes
de um autor de romance, por exemplo.
importante ressaltar que, para Foucault, os fundadores de discursividade tornam possvel
no apenas um certo nmero de analogias como tambm um certo nmero de diferenas, ou seja,
um certo nmero de diferenas em relao a seus textos.
Nesta perspectiva, para Foucault, eles parecem se aproximar de qualquer autor que, numa
dada cincia, introduz uma transformao fecunda. A diferena, entretanto, que o ato que funda a
cientificidade est no mesmo plano que as suas transformaes futuras e faz parte do conjunto de
modificaes que ele torna possveis. A instaurao de uma discursividade, em contrapartida,
heterognea em relao s suas transformaes ulteriores. Marx e Freud, por exemplo, so
fundadores de discursividade, pois, a partir deles, produziram-se outras teorias.
Podemos dizer ento que a instaurao de uma discursividade est ligada ruptura,
possibilidade de que, a partir de um discurso, criem-se oposies e contradies a esse discurso.
A noo de instaurao discursiva traz consigo uma outra: a de retorno s origens. Em
oposio a essa noo esto os fenmenos de redescoberta e reatualizao que se produzem
habitualmente nas cincias. Por redescoberta, Foucault entende os efeitos de analogia ou
isomorfismo que permitem que uma noo, que j foi esboada ou que desapareceu, seja retomada
de outro modo em outra teoria. A reatualizao, por sua vez, diferente: a reinsero de um
discurso num domnio de generalizao, de aplicao ou de transformao que novo para ele.
A partir dessa oposio, Foucault define o retorno s origens como um movimento que
tem a sua prpria especificidade e que caracteriza justamente as instauraes de discursividade
(Ibidem:64).
Para que haja retorno, assim, necessrio, primeiro, que tenha havido esquecimento, no
esquecimento acidental, no uma recuperao devida a alguma incompreenso, mas esquecimento
103
essencial e constitutivo. O ato de instaurao, desse modo, de tal ordem que aquilo que o
manifesta , ao mesmo tempo, o que estabelece o afastamento e o que o inverte. necessrio que
esse esquecimento seja investido em operaes precisas, que possam ser situadas e analisadas pelo
prprio retorno ao ato instaurador.
O retorno s origens dirige-se ento ao que est presente no texto, ou seja, h um regresso
ao prprio texto, em sua nudez, mas, ao mesmo tempo, h um regresso quilo que est marcado no
texto como vazio, ausncia, lacuna. O retorno deve redescobrir essa lacuna e essa falta: da o jogo
perptuo que caracteriza os retornos instaurao discursiva. Esse jogo, para Foucault, consiste, por
um lado, em dizer: isso est aqui, s preciso ler, preciso que os olhos estejam muito fechados
para que no se veja. Por outro lado, inversamente, consiste em dizer: no est nada nesta palavra,
nem naquela, nenhuma das palavras visveis diz alguma coisa sobre o que est em questo.
O que temos aqui, na verdade, o jogo constitutivo da linguagem: h o esquecimento de um
dizer para que um outro dizer que parece bvio possa instalar-se, preencher aquele espao que,
aparentemente, encontra-se vazio.
Pfeiffer (1995), analisando o texto de Foucault, ressalta:
A instaurao discursiva no est sendo considerada como uma caracterstica necessria para um
sujeito ocupar a funo-autor. A autoria no est, portanto, vinculada idia de ruptura. Essa
ruptura somente o exemplo maior e mais complexo de um processo de autoria. (Pfeiffer,
1995:51)
Todas as reflexes de Foucault (1982), desembocam, desse modo, na questo do sujeito e de
seu funcionamento. Para ele, o autor (ou a funo-autor) apenas uma das especificaes possveis
da funo sujeito, e ele deseja retirar ao sujeito (ou ao seu substituto) o papel de fundamento
originrio e de o analisar como uma funo varivel e complexa do discurso (Ibidem:70).
Assim, possvel, por exemplo, segundo Foucault, imaginar uma cultura em que os discursos
circulassem sem que a funo-autor jamais aparecesse. O anonimato, ento, evitaria perguntas
como: Quem que falou realmente? Com que autenticidade? Quais so os modos de existncia
desse discurso? De onde surgiu, como que pode circular, quem pode dele se apropriar? Quais os
lugares que nele esto reservados a sujeitos possveis? Quem pode preencher as diversas funes do
sujeito? Quer dizer: que importa quem fala??
As reflexes de Foucault so importantes para ns, e constituem, na verdade, nossas prprias
questes, uma vez que estamos lidando com o discurso de sujeitos que se apropriam de um
discurso para reproduzi-lo ou transform-lo. Lembrando que essa apropriao acontece no s em
relao ao texto-origem, mas tambm em relao ao interdiscurso. Na realidade, a questo quem
fala realmente? persegue todo nosso estudo.
104
Lembremos, no entanto, que Orlandi vai ampliar essa noo de funo-autor foucaultiana,
entendendo-a como uma funo que funciona em todo e qualquer discurso. No decorrer desse
trabalho, estaremos firmando nossas prprias posies.
Continuemos nosso caminho, examinando outro texto de Foucault (1996) A ordem do
discurso onde o autor vai dizer que existem muitos procedimentos, externos e internos, de
controle e de delimitao do discurso. Os externos funcionam como sistemas de excluso e dizem
respeito parte do discurso que pe em jogo o poder e o desejo. J os procedimentos internos dizem
respeito ao fato de que so os discursos mesmos que exercem seu prprio controle; eles funcionam
a ttulo de princpios de classificao, de ordenao, de distribuio, como se se tratasse de
submeter outra dimenso no discurso: a do acontecimento e a do acaso. Entre os procedimentos
internos, Foucault coloca o comentrio e a autoria.
Note-se que, neste texto, Foucault fala em autoria e no mais em funo-autor.
Sobre o comentrio, eis o pensamento de Foucault:
Suponho, mas sem ter muita certeza, que no h sociedade onde no existam narrativas maiores
que se contam, se repetem e se fazem variar; frmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos
que se narram, conforme circunstncias bem determinadas; coisas ditas uma vez e que se
conservam, porque nelas se imagina haver algo como um segredo ou uma riqueza. (Foucault,
1996: 22)
Aqui, Foucault se afasta um pouco de suas afirmaes anteriores e salienta que no existe
uma diviso que coloque, de um lado, a categoria dos discursos fundamentais ou criadores e, de
outro, a massa dos discursos que repetem, glosam e comentam. Isto porque muitos textos maiores se
confundem e desaparecem e, s vezes, os comentrios vm tomar o primeiro lugar.
Nesta perspectiva, para Foucault, o desnvel entre texto primeiro e texto segundo desempenha
dois papis solidrios. Por um lado, permite construir indefinidamente outros discursos: o fato de o
texto primeiro pairar acima, sua permanncia, seu estatuto de discurso sempre reatualizvel, o
sentido mltiplo ou oculto de que passa por ser detentor, a reticncia e a riqueza essenciais que lhe
atribumos, tudo isso funda uma possibilidade aberta de falar (Ibidem:25).
Desta forma, o comentrio no tem outra funo a no ser a de
...dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro. Deve, conforme um
paradoxo que ele desloca sempre, mas ao qual no escapa nunca, dizer pela primeira vez aquilo
que, entretanto, j havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, no havia
jamais sido dito. (Ibidem:25)
O comentrio, na nossa concepo, constitui um retorno s origens, termo cunhado pelo
prprio Foucault em seu texto anterior.
105
Ao comentrio, Foucault contrape o procedimento da autoria. Para ele, o autor no o
indivduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas um princpio de agrupamento do
discurso, a unidade e origem de suas significaes, o foco de sua coerncia. Quer dizer: o autor
responsvel pelo texto que produz.
Note-se que a noo de autoria, em Foucault, tem a ver com origem de significao, e,
portanto, reservada para situaes enunciativas especiais, ou seja, para as ocasies em que o texto
original, de autor, se ope ao comentrio.
Todas essas colocaes de Foucault so importantes para ns, e tm estreita relao com
nosso estudo. Pensamos, especialmente, no emprego das reticncias e da interrogao. E nos
questionamos: a leitura e a reescrita, ento, dizem sempre o que j estava l, dito silenciosamente no
texto primeiro? Os textos reescritos so comentrios? Eles podem se constituir em gestos de
autoria?
So perguntas que atravessam esse estudo e para as quais estamos buscando respostas. Com
esse objetivo, passemos a examinar mais detidamente o pensamento de Orlandi a respeito da
autoria.
Comeamos reafirmando que, em uma perspectiva discursiva, a noo de autor no se
restringe aos produtores originais da linguagem. Tambm distinta, conforme vemos em Orlandi
(1993a:77), da noo de enunciador e da de locutor38. Para a autora, das trs, a funo de autor
aquela em que o sujeito est mais afetado pelo contato com o social e suas coeres. , pois, uma
funo enunciativa do sujeito.
Segundo esta viso, o autor a funo que o eu assume enquanto produtor de linguagem. E
sendo a funo que est mais determinada pela exterioridade, a que est mais submetida s regras
das instituies.
Para Orlandi, essas diferentes funes discursivo-enunciativas revelam diferentes modos de
apagamento do sujeito, apagamento que constitutivo e que a prpria possibilidade de
transmutao do sujeito em suas mltiplas formas e funes.
Das trs funes locutor, enunciador, autor o autor aquela em que haveria maior
apagamento, pois, sendo a que mais est determinada pela representao social, nela que mais se
exerce a injuno a um modo de dizer padronizado e institucionalizado no qual se inscreve a
responsabilidade do sujeito por aquilo que diz.
Assim, da representao do sujeito como autor que mais se cobra sua iluso de ser origem e
fonte do seu discurso, e dela que se exige coerncia, unidade, no-contradio, relevncia, etc.
106
A funo-autor, ento, conforme lemos em Orlandi (1996), realiza-se toda vez que o produtor
da linguagem se representa na origem, produzindo um texto com unidade, coerncia, progresso,
no-contradio e fim. Quer dizer: o autor responde pelo que diz ou escreve, pois suposto estar em
sua origem. Deste modo, se estabelece uma relao entre sujeito/autor e discurso/texto.
Como podemos ver, Orlandi tem uma concepo de autoria diferente da de Foucault, pois, se,
para ele, a autoria no vale para tudo nem de forma constante, para Orlandi, a prpria unidade do
texto efeito discursivo que deriva do princpio da autoria. O princpio da autoria, desse modo,
necessrio para qualquer discurso, e est na origem da textualidade. Assim, um texto pode at no
ter um autor especfico, mas, pela funo-autor, sempre se imputa autoria a ele.
A noo de textualidade est presente em Halliday (1976), que afirma:
The concept of texture is entirely appropriate to express the property of being a text. A text has
texture, and this is what distinguishes it from something that is not a text. It derives this texture
from the fact that it functions as a unity with respect to its environment. (Halliday, 1976:2)
Essa noo aparece tambm em Val (1999:5): Chama-se textualidade ao conjunto de
caractersticas que fazem com que um texto seja um texto, e no apenas uma seqncia de frases.
Entre esses fatores, destacam-se: a coerncia, a coeso, a intencionalidade, a aceitabilidade, a
situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade.
Como podemos perceber, a noo de textualidade, em Orlandi, ganha um estatuto de maior
abrangncia do que em Halliday e Val, pois, em Orlandi, a textualidade no tem como condio
elementos como coeso, coerncia, etc, mas est relacionada autoria.
Uma noo mais ampliada de textualidade pode ser encontrada tambm em Guimares
(1987):
Constitui ainda o texto a representao de uma posio especfica do sujeito (a de autor) que
procura criar a iluso da unidade textual. Ao mesmo tempo em que procura criar a unidade do
sujeito. Torna-se, ento, importante, ver como a disperso constitui a textualidade pela
representao desta unidade. (Guimares, 1987:13)
Essa idia da unidade e disperso dos sentidos e do sujeito est presente tambm em um texto
que Guimares escreve em parceria com Orlandi (1993:57), onde vamos ler que a disperso e a
unidade jogam na constituio da textualidade. Trata-se, aqui, de considerar a unidade na
disperso: de um lado, a disperso dos textos e do sujeito; de outro, a unidade do discurso e a
identidade do autor.
38
Em Les Mots du Discours (1980), Oswald Ducrot define o locutor como aquele que produz as palavras no momento
da enunciao e por elas se responsabiliza. E define o enunciador como aquele a quem atribuda a responsabilidade
dos atos ilocutrios veiculados pelo enunciado do locutor.
107
Neste texto, podemos observar uma espcie de trama entre a Teoria da Enunciao e a AD,
com os autores pensando essa unidade a partir da heterogeneidade que deriva do princpio da
autoria como uma funo enunciativa. Assim, das vrias funes enunciativas do sujeito falante
locutor, enunciador39, autor a de autor aquela que o eu assume enquanto produtor de
linguagem e aquela que aparece como a mais tocada pela exterioridade, pelo contexto sciohistrico.
Eduardo Guimares (1995) trata ainda dessa questo sobre o prisma da enunciao quando ele
a define como acontecimento histrico, como acontecimento de linguagem perpassado pelo
interdiscurso, que se d como espao de memria no acontecimento. Afirma o autor, ento, que a
textualidade no diz respeito ao falante, ao sujeito falante, ser fsico. Diria respeito, por exemplo,
em termos das categorias de Ducrot, ao locutor-L40 (Guimares, 1995:65).
Para Guimares, na verdade, a textualidade diz respeito posio-autor, a qual assume como
suas as palavras que de direito so do interdiscurso. A condio para assumi-las que elas se do ao
autor no acontecimento, que se mostra como singular, esquecendo o que de memria constri o
acontecimento e, por conseguinte, o texto.
Esta , pois, a operao enunciativa fundamental para a textualidade: construir como unidade
o que disperso, produzir a iluso de um presente sem memria.
Guimares tambm fala em operaes prprias da textualidade, que, para ele, so a coeso e a
consistncia. No entanto, esses conceitos aqui adquirem uma conotao um tanto diferente daquela
com que empregada por Halliday e Val.
Para Guimares, assim, a coeso diz respeito s relaes que reenviam a interpretao de
uma forma outra, numa seqncia do texto. A consistncia diz respeito s relaes que reenviam a
interpretao de uma forma ao acontecimento enunciativo (Ibidem:65).
Nesta perspectiva, a coeso e a consistncia so procedimentos postos em funcionamento
como marca da presena de uma posio de autor. So, para Guimares, processos que suturam as
distncias, as diferentes posies prprias dos recortes interdiscursivos de um texto. E, nesta
medida, a textualidade um contraponto ao interdiscurso (Ibidem:67).
A funo de autor, desse modo, tocada de modo particular pela histria, como nos lembra
Orlandi (1996:69), que permite que o sujeito consiga formular, no interior do formulvel, e se
constituir, com seu enunciado, numa histria de formulaes. na funo-autor, portanto, que se
39
40
O locutor aquele que se representa como eu no discurso, e o enunciador a perspectiva que esse eu constri.
Ducrot (1987) distingue o locutor enquanto tal (locutor L) do locutor enquanto ser no mundo (). L o responsvel
pela enunciao, enquanto uma pessoa completa, que possui, entre outras propriedades, a de ser a origem do
enunciado.
108
torna mais visvel o efeito da historicidade inscrita na linguagem. Assim, embora o autor se
constitua pela repetio, esta parte da histria e no mero exerccio mnemnico.
Deste modo, o autor produz um lugar de interpretao no meio dos outros. E esta sua
particularidade. O sujeito s se faz autor se o que ele produz for interpretvel. Afirma Orlandi:
Porque assume sua posio de autor (se representa nesse lugar), ele produz assim um evento
interpretativo. O que s repete (exerccio mnemnico) no o faz (Ibidem:70).
Tais consideraes levam Orlandi a fazer uma distino entre: a) repetio emprica: exerccio
mnemnico que no historiciza; b) repetio formal: tcnica de produzir frases, exerccio gramatical
que tambm no historiciza; c) repetio histrica: inscreve o dizer no repetvel enquanto memria
constitutiva, saber discursivo, ou seja, interdiscurso.
Justamente porque a histria se inscreve na lngua, esta significa. Da o equvoco constitutivo
da significao, que ao mesmo tempo sistema e acontecimento. , pois, a inscrio do dizer no
repetvel histrico (interdiscurso) que traz para a questo do autor a relao com a interpretao,
pois o sentido que no se historiciza ininteligvel, ininterpretvel, incompreensvel.
Logo, a constituio do autor supe a repetio e, portanto, a interpretao.
Refletindo ainda sobre a autoria a partir da distino proposta por Jacqueline Authier entre
heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva, Orlandi afirma que a posio-autor
acontece na relao com a constituio de um lugar de interpretao definido pela relao com o
Outro (o interdiscurso) e o outro (interlocutor) (Ibidem:74).
Isso, em Anlise do Discurso, est subsumido pelo chamado efeito-leitor. assim que se
configura a determinao ideolgica da autoria: o lugar do autor determinado pelo lugar da
interpretao, ou seja, o autor se produz pela possibilidade de um gesto de interpretao que lhe
corresponde e que vem de fora. O lugar do autor, portanto, determinado pelo lugar da
interpretao. E o efeito-leitor representa, para o autor, sua exterioridade constitutiva (memria do
dizer, repetio histrica).
Desse modo, o autor fica determinado, por um lado, pelo fato de que no pode dizer coisas
que no tm sentido (sua relao com o Outro, a memria do dizer), e, por outro lado, pelo fato de
que deve dizer coisas que tenham um sentido para um interlocutor determinado (o outro, efetivo ou
virtual).
A historicidade, assim, atualiza-se na funo-autor atravs da interpretao. De um lado, a
historicidade como relao s condies de produo do dizer, que define o quem, o para quem, o
onde, etc, sob o modo das formaes imaginrias. A se confrontam a histria do dizer do autor e a
histria de leituras do leitor. De outro lado, a historicidade aparece enquanto interdiscurso, enquanto
constituio e no formulao do dizer, ou seja, como o conjunto do dizvel e do interpretvel.
109
Neste caso, o Outro no o interlocutor, mas o lugar de alteridade constitutiva, presena do outro
sentido no sentido, presena da ideologia. Desta forma, a autoria constri e construda pela
interpretao.
A noo de autoria tambm abordada por Gallo (1992), que, tratando da assuno da autoria
pelo aluno no discurso escrito, e examinando a relao entre discurso oral (D.O.) e discurso escrito
(D.E.), aborda a questo da autoria a partir da idia de um fecho para um texto.
O D.E., sendo o discurso cujo efeito de fechamento, de finalizao, tem potencialmente
um efeito-autor41 que mobilizado toda vez que um sujeito a se inscreve. J naquele que ela
denomina de Discurso da Oralidade (D.O.), o sujeito no se constitui em autor.
Assim, a figura do Autor (a funo-autor) responsvel pela produo do efeito de sentido
de fim para aquilo que era somente um fecho (Gallo, 1992:106) . Ou seja: o fecho torna-se fim
por um efeito da posio-autor, o efeito de sua unidade e de sua coerncia.
O texto42, nesta perspectiva, para Gallo, um efeito da transparncia e do fechamento na
linguagem, produto da prtica a que ela denomina de textualizao. Ele no possui uma existncia
independente da prtica de sua produo (e reproduo), sendo produzido pela prtica da
textualizao. E essa prtica pode ser mobilizada nas indefinidas vezes em que o texto ser reproduzido em novas leituras.
Como podemos perceber, a noo de textualizao, de Gallo, no coincide com a noo de
textualidade, tal como concebida por Orlandi e por Guimares. Assim, se, para Orlandi, a
textualidade tem em sua origem o princpio da autoria, necessrio a qualquer discurso, para
Guimares a textualidade um contraponto ao interdiscurso, e, para Gallo, a textualizao tem a ver
com o efeito de fechamento e transparncia do texto.
A textualizao, desse modo, na perspectiva de Gallo, deve ser compreendida como prtica
de fixao, de escriturao de um fragmento. Nesta perspectiva, no se tem jamais um texto em
si, como objeto. O que se tem um fragmento definido, estabilizado, resultado de um trabalho, um
funcionamento: a prtica de sua produo.
Gallo ressalta que existe um movimento na linguagem, que, de modo distinto dessa tendncia
estabilizadora que desemboca no texto, tem a tendncia disperso por excelncia. Disperso do
sentido e do sujeito que a se constitui. por isso que podemos dizer que o discurso no linear: ele
tem uma profundidade que se forma simultaneamente e atravs de parfrases em relao a tudo que
41
A denominao efeito-autor introduzida por Gallo, a partir das colocaes de Foucault e Orlandi sobre a funoautor.
42
Gallo emprega o termo TEXTO (com maisculas), como efeito da TEXTUALIZAO e em oposio ao texto (com
minsculas) enquanto objeto emprico.
110
construdo. Desse modo, o jogo entre o nico e o outro no interior do nvel discursivo est
sempre acontecendo.
Em sua tese de Doutorado, Gallo (1994) tambm trabalha bastante essa noo de
textualizao, mostrando que ela acontece quando o autor preenche os espaos em branco deixados
no texto, contextualizando-o, tornando pblica sua produo e fazendo seu fechamento.
A transparncia e o fechamento, no entanto, lembra Gallo, so somente efeitos. Tudo isso
explica o fato de que o momento da produo dos sentidos seja tambm o momento de um
estranhamento do sujeito em relao ao sentido construdo, pois o texto, na verdade, no comea
nem termina nele mesmo. justamente por no ser um que o texto tem sentido.
Essa noo de fechamento do texto, que tem origem em Gallo, retomada por Orlandi
(1996:76), quando ela afirma que o fechamento, que aparece como responsabilidade do autor,
necessrio, mas tambm arbitrrio, resulta dessa dupla determinao da interpretao: a formulao
est determinada pelo interpretvel referido s condies de produo e pelo interpretvel referido
ao dizvel.
O fechamento do texto , tambm, um efeito, o qual deriva da iluso interpretativa. Como no
temos acesso direto ao interdiscurso, ele se simula por efeitos na formulao, ou seja, no
intradiscurso.
Assim, se o fechamento do texto tem sua eficcia na produo do efeito de unidade, de
coerncia e no-contradio, porm pela incompletude (todo texto tem relao com outros textos,
existentes, possveis ou imaginrios) e pela disperso do sujeito (que aparece em sua
descontinuidade no texto) o autor no realiza jamais o fechamento completo do texto, deixando, ao
longo deste, pontos de deriva possveis e oferecendo lugar interpretao, ao equvoco e ao
trabalho da histria na lngua.
Voltando Gallo, podemos dizer que, para a autora, o efeito-autor que provoca, juntamente
com o efeito-texto, o fecho da textualizao.
Podemos notar, ainda uma vez, a diferena entre as posies adotadas por Orlandi e Gallo,
quando falam, respectivamente, em textualidade e textualizao.
Assim, para Orlandi, a textualidade tem relao com a funo-autor, o que no significa a
existncia de um autor especfico para o texto e que est presente em toda e qualquer produo; j
para Gallo, a textualizao, como vimos acima, est relacionada ao efeito-autor, que nem sempre
acontece. Podemos dizer que a funo-autor se d no nvel da enunciao, e o efeito-autor, no nvel
do discurso.
111
O autor, a partir da, para Gallo, o efeito resultante do espelhamento de um sujeito no texto.
E esse espelhamento produz o efeito de realidade de um sujeito, inteiro, responsvel pelo seu
dizer.
Gallo salienta ainda que a textualizao est relacionada passagem do discurso pedaggico
para o discurso da escrita (o literrio). A materializao dessa passagem se d em um evento
discursivo43, pelo confronto de FDs dominantes.
Pode-se dizer ento que a prtica da textualizao pressupe romper os limites do discurso
pedaggico e inscrever-se no discurso da escrita. a que se d a autoria. O efeito-autor, ento, o
efeito de unidade produzido pela FD dominante.
Essa noo de textualizao, introduzida na Anlise do Discurso por Solange Gallo, revista
por Indursky (2001), que afirma:
O sujeito-autor, ao reunir e reorganizar os recortes heterogneos e dispersos provenientes do
exterior, produz a textualizao desses elementos que, ao serem a recontextualizados, se
naturalizam, apagando as marcas de sua procedncia, de sua exterioridade/ heterogeneidade/
disperso. (Indursky, 2001:31)
A textualizao, assim, para Indursky, o trabalho discursivo responsvel pelo efeito de
textualidade, do qual decorre outro efeito essencial, o de homogeneidade do texto. E esse efeito
indispensvel para que o sujeito-autor se constitua.
Nesta perspectiva, para que um texto se constitua como tal, necessrio que os recortes
provenientes do exterior paream ter sido ali produzidos, de modo que as marcas da costura das
diferentes alteridades tornem-se imperceptveis. assim que se instaura a iluso da homogeneidade
e o efeito-texto se produz.
O efeito-texto, assim, apresenta-se como uma forma plana, acabada, fechada. Esse
fechamento, para Indursky, instala a estabilizao dos sentidos. E a est a iluso que afeta o
sujeito-autor: ele esquece que os sentidos preexistem e se julga a fonte do dizer, ele controla e
domina perfeitamente os sentidos que produziu em seu texto.
Desse modo, os sentidos so o que seu autor pretendeu que fossem, absolutamente
transparentes e, como tal, se cristalizam, no podendo nunca serem outros, produzindo o efeito de
evidncia. Em sua iluso, tais sentidos so estveis, nunca derivam, nem podem
deslizar(Ibidem:4). E sobre o efeito-texto, dotado da iluso de homogeneidade, que se instaura a
produo da leitura.
43
Esta denominao vem de Pcheux (1990), que mostra a congruncia entre estrutura e acontecimento discursivo na
formulao de uma nova forma-sujeito.
112
Podemos dizer, a partir da, e seguindo Gregolin (2001:76), que a instalao da autoria
problematiza a evidncia do sentido e permite pensar a complexa teia em que o sujeito se enreda,
ocupando um lugar de enunciador, ao inserir-se nas sries de falas que o precedem.
Todas essas colocaes nos permitem pensar no tema que estamos tratando nesse estudo: a
leitura de certos sinais de pontuao, como as reticncias e a interrogao. Quando emprega esses
sinais, o sujeito-autor parece trabalhar com essa iluso, na medida em que cria um lugar, em que
sinaliza, em que marca um espao para a circulao dos sentidos. como se ele dissesse: aqui
est um lugar para que os sentidos possam ser outros, um espao para os deslizamentos, para a noevidncia. Um lugar que funciona como a possibilidade de constituio de novos autores. Ou seja: o
sujeito-autor tem a iluso de controlar o que pode ser sujeito de deslocamentos.
A questo que se coloca ento a seguinte: possvel se produzir autoria atravs da reescrita
de textos sinalizados por reticncias ou interrogao?
Buscando respostas, continuamos nossa trajetria.
113
3. OS SINAIS DISCURSIVOS
Neste terceiro captulo, ainda terico, comeamos a examinar as questes referentes aos
sinais de pontuao reticncias e ponto de interrogao que, nessa pesquisa, esto sendo
considerados como sinais discursivos.
Abordamos, por isso, inicialmente, o tema da pontuao, procurando traar um breve
panorama da sua evoluo, atravs de vrios sculos. Nosso objetivo mostrar de que maneira a
pontuao vem sendo concebida nos estudos lingsticos.
Em seguida, passamos a desenvolver pontos ligados mais diretamente aos sinais de
pontuao em exame: reticncias e ponto de interrogao.
3.1. A PONTUAO: UMA BREVE HISTRIA
De acordo com Alain Rey (1997:33), na obra La ponctuation, a palavra pontuao no
aparece antes de 1530, o que corresponde poca da difuso da imprensa na Frana.
Quando se comea a examinar a histria da pontuao, suas origens, fica logo evidente que
esse tema nunca recebeu, dos gramticos, a ateno merecida.
Assim, Tournier (1980:28), por exemplo, discorrendo sobre a evoluo da pontuao desde o
sculo XV at nossos dias, afirma que, embora muitas geraes de gramticos e professores
tenham se dedicado a exprimir regras com a mxima preciso, a transmiti-las e a respeit-las,
somos obrigados a constatar que a pontuao tem suscitado um interesse muito marginal. Ela
representa um domnio onde parece ter sempre reinado uma grande confuso.
Esta concepo compartilhada tambm por Lorenceau (1980), que afirma que a histria da
pontuao no tem sido particularmente estudada o que revela, neste sentido, uma lacuna.
O mesmo pensamento expresso por Rocha (1997), que afirma:
A natureza da pontuao raramente tem sido objeto de discusso. O que a literatura em
circulao oferece sobre o assunto, em geral de carter prescritivo, ou descritivo (em menor
proporo), ainda insuficiente at para o simples usurio da escrita. Saltam vista a flutuao e
a ambigidade que cercam o uso desses sinais grficos. (Rocha, 1997:84)
114
A autora ressalta que, do ponto de vista histrico, a pontuao no apenas foi uma aquisio
tardia, como uma lenta conquista, identificada, muitas vezes, com a evoluo da prpria escrita.
A origem da pontuao remonta aos textos sagrados, feitos para serem recitados oralmente, e
apresentava-se sob a forma de indicadores para respirar na leitura em voz alta. E foi apenas na
Idade Mdia, com o surgimento da imprensa, que a pontuao se disseminou.
Segundo Rocha, a histria da pontuao abrange desde os antigos escribas, ao revisor de
texto medieval; abrange tambm o prprio status da linguagem em suas modalidades falada e
escrita, bem como a mudana nas concepes de autor e leitor, privilegiadas em diferentes
momentos da histria.
Assim, se, durante sculos, no havia segmentao nem marcas grficas de pontuao, sendo
a escrita contnua, era o leitor quem segmentava e pontuava o texto.
Para os gregos, por exemplo, o alfabeto teve incio com uma seqncia de letras seguidas,
sem espaos ou qualquer marca de pontuao. A pontuao no era posta na composio, mas
atribuda ao leitor/orador na interpretao do texto, para evitar ambigidades.
Quanto aos romanos, h informaes desencontradas: umas do conta de que ela era
razoavelmente empregada pelos copistas em casos de dificuldade de leitura, outras do a perceber
que os textos antigos de que os gramticos se ocupavam ou no eram pontuados, ou no eram bem
pontuados.
De qualquer modo, lembra Rocha, na poca clssica h aluses ao uso espordico de uma
srie de sinais de pontuao o ponto, o travesso, o hfen e o trao de unio que tinham a
funo de separar grupos de palavras. O signo mais comum era o ponto, que era usado para separar
palavras, grupos de palavras ou frases.
J na Idade Mdia, a pontuao parte dos padres adotados na Antigidade Clssica, mas os
recursos empregados sofrem um avano, sendo difundidas duas orientaes: a lgico-gramatical e
a do ritmo respiratrio.
Tournier (1980:28), dedicando-se histria da pontuao, ressalta que, sculos XV e XVI,
ns no temos as definies propriamente ditas de pontuao. Certos autores, entretanto, criam
listas de sinais e indicam seu uso. O primeiro a fazer isso, de acordo com Tournier, Jean Heylin,
em seu Compendiousus dialogus de arte punctuandi, impresso em Paris, em 1471. Tal lista
compreendia, por exemplo,
virgula ou subdistinctio (,) , colon (.), perioudus (;) e punctus
interrogativus (?).
Os mesmos sinais reaparecem, sob nomes s vezes diferentes, em outras obras e outros
autores, como, por exemplo, Lefreve dtaples (1529), Dolet (1540) e Alde Manuce Le Jeune
(1549).
115
Ao final do sculo XVI, os usos atuais dos principais signos estavam fixados, com exceo
do periodus [;] pontuao forte e do dois-pontos (situado entre nosso ponto e vrgula e o
ponto).
A partir de Alde Manuce Le Jeune, as listas oferecem um certo consenso e j aparecem, sob
a terminologia utilizada, as duas principais teorias que viro at nossos dias: aquela que considera
que a pontuao tem funo semntica, respondendo s necessidades de clareza e de lgica, e
aquela que considera que a pontuao tem funo prosdica, atribuindo-lhe um papel
principalmente respiratrio.
Quanto ao sculo XVII,
ressalta Lorenceau (1980:50): O sistema de pontuao da
Renascena no est mais em vigor e nada vem substitu-lo. A pontuao rara e pouco
diversificada. Os gramticos so mudos: a Gramtica de Port-Royal no fala nada.
preciso chegar ao sculo XVIII, lembra Lorenceau, para vir a se elaborar um verdadeiro
sistema de pontuao, que seria a base da pontuao moderna.
Tournier (1980:29) tambm pensa assim e afirma que no sculo XVIII, em Furetire, que
se encontra a primeira definio de pontuao: Observao gramatical dos lugares do discurso
onde se deve fazer as diferentes pausas, e que se marca com pontos e pequenos caracteres para
advertir o leitor. Esta frmula, lembra Tournier, alia sutilmente as concepes pausal e gramatical
da pontuao, mas, na verdade, parece ser a concepo gramatical que importa.
No sculo XVIII, assim, a teoria pausal parece ser mais expandida, mas, em vrios autores,
aparece tambm a idia de que a pontuao tem um papel lgico a ser considerado. Parece haver
mais uma simbiose equilibrada entre as duas funes do que uma real oposio.
A melhor expresso dessa concepo de pontuao se encontra, segundo Tournier, em
Beauze, para quem a escolha dos sinais depende da proporo que conveniente estabelecer entre
as pausas, e essa proporo depende da combinao de trs principais fundamentos: a necessidade
de respirar, a distino dos sentidos parciais que compem o discurso e a diferena de graus de
subordinao que convm a cada um desses sentidos parciais no conjunto do discurso. Todas essas
consideraes se aplicam, em geral, aos sinais usuais de pontuao: vrgula, ponto e vrgula,
dois-pontos, ponto. No entanto, parnteses, aspas, ponto de exclamao, reticncias e ponto de
interrogao so tratados parte.
Lorenceau (1980:50) ressalta tambm que, para Beauze, a pontuao a arte de indicar por
sinais reconhecidos as pausas que se deve fazer quando se fala. E faz referncia tambm a outras
definies, como a de Fertel, para quem a pontuao muito necessria para a ajuda daquilo que
deve fazer a leitura, seja de um manuscrito, seja de um impresso. Ela faz distinguir mais facilmente
o sentido e marca onde se deve fazer as pausas, a fim de respirar o tempo que necessrio para
116
continuar a leitura. E se refere ainda a Girard, para quem a pontuao ajuda e conduz o leitor.
Como podemos perceber, no sculo XVIII o que temos ainda uma pontuao baseada sobre o
oral, sobre o ritmo da voz.
Quando se chega ao sculo XIX, surge, pela primeira vez, segundo Tournier (1980:30), um
livro inteiro consagrado pontuao: o Tratado de pontuao, de Ricquier, de 1873, no qual se
pode observar um aumento considervel do nmero de sinais de pontuao, com a lista dos sinais
sendo singularmente enriquecida: vrgula, ponto e vrgula, dois-pontos, ponto, reticncias, ponto
de exclamao, ponto de interrogao, travesso, trao de unio, aspas, parnteses, colchetes,
apstrofo, asterisco, etc., pargrafo, chave, sublinhado. O ponto de vista defendido, no entanto, no
apresenta nenhuma originalidade em relao aos predecessores e as regras dadas para o emprego
de cada sinal so fundadas sobre a sintaxe.
Lorenceau (1980:51) acredita que esse aumento do nmero de sinais de pontuao, no sculo
XIX, seja para facilitar a leitura visual, devido ao crescimento do nmero de leitores,
conseqncia, por sua vez, do grande desenvolvimento da imprensa. isso que leva ao abandono
de uma concepo oral de pontuao para adotar uma concepo puramente gramatical e sinttica,
na qual o que conta, sobretudo, a anlise gramatical. Lorenceau confirma, deste modo, o
pensamento de Tournier: ...os gramticos desta poca no criam regras to diferentes daquelas do
sculo precedente (Ibidem., p.51).
Tendo um panorama da pontuao na Frana do sculo XIX, vejamos o que acontecia em
Portugal na mesma poca.
Consultando a Grammatica Philosophica da Lngua Portuguesa, de Jeronymo Soares
Barbosa, em sua segunda edio, datada de 1830, e publicada em Lisboa, encontramos ento o
seguinte:
A pontuao he a Arte de na escriptura distinguir com certas notas as differentes partes, e
membros da orao, e a subordinao de huns aos outros a fim de mostrar a quem l as pausas
menores e maiores, que deve fazer, e o tom e inflexo da voz, com que as deve pronunciar
(Soares, 1830:85)
Como podemos notar, o autor relaciona a pontuao s pausas, pronncia, e, portanto,
oralidade. Note-se, porm, que, no momento em que o autor faz meno aos membros da orao e
subordinao de uns aos outros, ele abre espao, embora no o mencione, para a sintaxe.
interessante observar, no entanto, que, nesta definio, a sintaxe est a servio da
pronncia, da inflexo que o leitor deve dar sua voz e, portanto, no aponta para as relaes que
as palavras, e as frases, estabelecem umas com as outras. Relaes que, como sabemos, produzem
efeitos de sentido.
117
A partir dessa definio, o autor reconhece como sinais de pontuao: os espaos em branco
entre palavra e palavra, o ponto ou simples (.), ou de interrogao (?), ou de exclamao (!), a
vrgula (,), o ponto e vrgula(;), dois pontos (:), parnteses (.......), a risca de unio(-), o viraccento
(), o trema ( ), o acento agudo ( ), o acento grave ( `) e o acento circunflexo (^).
Atravs dessa lista, podemos constatar, que, se tanto as reticncias quanto o ponto de
interrogao constam entre os sinais de pontuao da Frana do sculo XIX, o mesmo no
acontece em Portugal, onde se faz referncia ao ponto de interrogao, mas no s reticncias.
Examinando a sexta edio desta mesma Grammatica Philosophica, de Jeronymo Soares
Barbosa (1875), encontramos ainda a mesma lista, sem referncia s reticncias.
Este fato nos leva a crer que at aquela data 1875 as reticncias no constassem dos
compndios gramaticais de Portugal.
Tal referncia s reticncias vai aparecer na obra Grammatica Portugueza Elementar, de A.
Epiphanio da Silva Dias (1887), tambm publicada em Lisboa.
Nesta gramtica, a pontuao est includa no item ortografia, e sobre ela o autor afirma o
seguinte:
Alm das letras e do til, cedilha e accentos, ha ainda varios signaes que tm diversos usos. Os
mais importantes so: virgula (,), ponto e virgula (;), dois pontos (:), ponto final (.), ponto de
interrogao (?), ponto de admirao ou exclamao (!), pontos de reticencia (...), parentheses
( ( ) ), travesso ( - ), apostropho (), virgula dobrada (), risca de unio (-), ponto de abreviatura
(.) e as formas maiusculas das letras. (Dias, 1887:143)
Alm da incluso das reticncias, podemos observar outras mudanas entre essa lista e
aquela apresentada por Jeronymo Barbosa.
Assim, vemos, por exemplo, que Epiphanio da Silva Dias passa a distinguir os sinais de
pontuao dos acentos, o que no acontece em Jeronymo Barbosa. Percebemos tambm que o sinal
que era denominado de viraccento () por Jeronymo Barbosa, em Dias passa a ser denominado de
apostropho, denominao que, alis, perdura at hoje. Alm disso, Dias passa a referir-se tambm
virgula dobrada, sinal que hoje corresponde s aspas e que no havia sido mencionado por
Jeronymo Barbosa.
E chegamos ao sculo XX, perodo que, de acordo com Tournier (1980), pode ser dividido,
em termos de pontuao, em duas etapas: a primeira, ao fim dos anos 30, e a segunda, nos anos 70.
A primeira etapa marcada por congressos que apresentam uma nova corrente, influenciada
pela lingstica comparada, e que no mantida.
A segunda etapa anunciada pelas contribuies de Lydia Hirschberg, em 1964 e 1965, que
abordam a pontuao sob um ngulo notadamente cientfico, na perspectiva do tratamento
automtico das leis sintticas das lnguas naturais. Este estudo, segundo Tournier, ficou isolado.
118
Assim, o verdadeiro movimento se d mais precisamente a partir de janeiro de 1973, num encontro
realizado em Paris, sob a coordenao da Nina Catach.
Esta nova poca de reflexes tem sua origem menos em preocupaes de ordem puramente
lingstica ou gramatical do que editorial e nela se agruparam vrias contribuies de
pesquisadores que se preocuparam em dar uma definio mais precisa daquilo que se deve
entender por pontuao. No entanto, o estudo desses trabalhos, segundo Tournier, permite
classific-los, de maneira um pouco artificial, em uma pontuao lgica (o conjunto de sinais que
se pode empregar para delimitar as frases e as partes de frases a fim de facilitar a compreenso do
texto e de precisar seu sentido) ou uma pontuao prosdica (que tem a ver com o fato de que a
pontuao no tem por papel mostrar as pausas para permitir uma melhor compreenso, mas para
assegurar uma melhor compreenso que permita, conseqentemente, um melhor rendimento
prosdico).
Tambm na tentativa de definir a pontuao, afirma Cerquiglini (1997:66): Pontuar um
texto dar um toque ltimo de perfeio, a claridade transparente do sentido, o rigor arquitetural
de uma construo: policiamento e polimento.
Procurando, mais uma vez, nos afastarmos da Frana, vamos encontrar na Grammatica
Portugueza, de Julio Ribeiro (1900), a seguinte definio para pontuao:
Pontuao a arte de dividir por meio de signaes graphicos as partes do discurso que no tm
entre si ligao ntima, e de mostrar do modo mais claro as relaes que existem entre essas
partes. A pontuao para a syntaxe o que a accentuao para a lexeologia: a accentuao faz
distinguir a significao das palavras isoladas; a pontuao discrimina o sentido dos membros,
clausulas e sentenas do discurso. Os accentos so, pois, signaes lexeologicos; as notaes da
pontuao, signaes syntacticos. ( Ribeiro, 1900:316)
Nesta definio, vemos o autor tambm referir, para fazer a distino, a relao entre
acentuao e pontuao.
O autor ento define quais so os sinais de pontuao:
Doze so as notaes graphicas de pontuao: a vrgula ou comma (,); o ponto e virgula ou
semicolon (;); os dous pontos ou colon (:); o ponto final (.); o ponto de interrogao (?); o ponto
de admirao (!); os pontos de reticencia (...); a parenthesis (( )); as aspas ( ); o hyphen (-); o
travesso ( _); o paragrapho ( ). ( ibidem:316)
Note-se que, aqui (1900), o nome aspas j aparece, ao contrrio do que verificamos em A.
Epiphanio da Silva Dias (1887), em que elas eram denominadas de vrgula dobrada.
Podemos ainda citar a Grammatica Portugueza, de Joo Ribeiro (1911), obra em que a
pontuao referida como notaes sintticas.
119
Afirma ento o autor:
Notaes syntacticas so os signaes ou symbolos que auxiliam a comprehenso do discurso
escripto. Estas notaes so determinadas pelo sentido e pela necessidade de respirar, como diz
Roersch. Por isso, esto um pouco ao arbitrio do escriptor, e nem se submettem a regras
rigorosas. (Ribeiro, 1911: 343)
H algo interessante a notar nessa definio: ao contrrio do que acontece em outras j
examinadas, a pontuao deixa de ser relacionada respirao, s pausas da oralidade, e passa a
ser uma particularidade do discurso escrito. E, como podemos ver, passa-se a falar em discurso.
Diferentemente ainda dos outros autores citados, Joo Ribeiro divide os sinais de pontuao
para ele notaes sintticas em trs classes:
Uma, constituda pelos signaes proprios da pontuao, e que determinam as divises das partes
do discurso: a virgula, ponto e virgula, os dous pontos, o ponto e a alinea. A segunda classe
abrange os signaes que exprimem commoo, ou um movimento dalma, e so os pontos de
reticencia, o ponto interrogativo e o exclamativo. A terceira classe constituda por signaes
destinados clareza dos manuscriptos: taes so o hyphen, as aspas, o parenthese, etc.
(ibidem:344)
Como podemos perceber at aqui, atravs desta rpida trajetria pela histria da pontuao,
no h, nesses estudos, uma preocupao maior com os sentidos que a pontuao produz, a no ser
em termos de clareza, transparncia e boa qualidade do texto.
Na nossa perspectiva, porm, essa clareza e essa transparncia revelam um ideal que uma
iluso.
No parece haver, tambm, nenhuma preocupao com o sujeito que emprega esses sinais ou
com o sujeito que os recebe, pelo processo discursivo da leitura. como se ficasse apagado o fato
de que os sentidos produzidos por esses sinais de pontuao no so somente da competncia de
quem os emprega, mas tambm de quem os l.
Como temos dito desde o incio deste estudo, essa nossa preocupao, principalmente no
que diz respeito ao emprego das reticncias e do ponto de interrogao.
Portanto, vamos continuar nosso percurso, em busca de outros elementos que nos ajudem a
construir um campo terico adequado para que possamos examinar essas questes luz da Anlise
do Discurso.
3.2 OS SINAIS DE PONTUAO
120
O fato de falarmos em sinais de pontuao, segundo Tournier (1980:36), no mero acaso.
Assim como os demais signos lingsticos, eles so constitudos de um significante (o pontuante) e
um significado (o pontuado).
Para Tournier, tais signos de pontuao distinguem-se, porm, de outros signos: smbolos
cientficos e tcnicos, siglas, abreviaes, algarismos e nmeros. Ao contrrio desses signos, os
sinais de pontuao no remetem simultaneamente a outros significantes escritos mais elaborados,
a significantes orais e significados (ex: H2O remete ao significante escrito gua, aos
significantes orais [agadoyz] ou [agwa] e ao significado gua).
Perrot (1980:67) nos lembra ainda que a pontuao pertence escrita e no ao oral, sendo
fundada sobre um jogo de unidades discretas e tendo como propriedade fundamental o fato de que
um sinal de pontuao no se pronuncia.
A este respeito, Rocha (1997:100) ressalta, no entanto: ao lado desta propriedade em
negativo, os signos de pontuao, ao contrrio dos grafemas, tm uma significao, o que lhes
confere um valor ideogrfico.
Alm de seu carter grfico, a pontuao possui tambm uma natureza lingstica. Assim,
lembra Perrot (1980: 68) que os sinais de pontuao no esto na mesma situao das letras, que
possuem um correspondente fontico e servem para transcrever, mais ou menos bem, na
representao escrita da lngua, a cadeia dos fonemas realizados oralmente. Deste modo,
impossvel considerar que os sinais de pontuao sejam os representantes grficos de certas
propriedades da cadeia falada, se se admite que eles sejam carregados de significao,
manifestando graficamente uma ordem de significaes que, na realidade oral da lngua, seria
relacionada a essas propriedades.
Esse um dos problemas que, tambm para Catach (1980:16), a pontuao coloca, pois os
sinais de pontuao funcionam como smbolos lingsticos, entretanto no tm uma
correspondncia articulatria, o que coloca em causa nossa concepo habitual de lngua fundada
sobre os elementos chamados fonemas.
Assim, afirmando que entende por sinais de pontuao uma dezena de elementos grficos
sobrepostos ao texto vrgula, ponto e vrgula, pontos (final, de exclamao, de interrogao,
reticncias) e aqueles que ela denomina de sinais de enunciao (dois pontos, aspas, travesso,
parnteses, colchetes) Catach aponta uma srie de problemas tericos oriundos da pontuao, e
que so aproximadamente os seguintes: trata-se de um sistema de smbolos no alfabticos, mais
ou menos ideogrficos, o que no corresponde concepo habitual de nosso tipo de escrita, em
princpio calcada sobre unidades sonoras; solidamente instalados na maioria das lnguas, eles
121
funcionam um tanto universalmente, entretanto jamais so reconhecidos como tal; trata-se de
sinais lingsticos aparecidos em um momento dado da histria; eles so ligados a um sistema
segundo de comunicao, tornando-se to indispensvel quanto o primeiro, o que coloca o
problema de levar em conta esta dualidade de funcionamento lingstico e sua interao recproca;
os sinais lingsticos escapam em grande parte ao autor, so impostos a seu texto pelo gnero do
livro, pelas convenes exteriores.
Para Catach, no entanto, um dos aspectos surpreendentes da pontuao que, de forma
contrria sintaxe verbal, que s pode avanar linearmente, elemento por elemento, um nico sinal
pode levar um supra-segmento muito mais vasto, refletir sobre toda uma poro de texto,
atribuindo-lhe um ou mais valores de sentido em que as nuances podem ser infinitas: interrogao,
ironia, negao do que se diz, distanciamento, etc.
A pontuao, nesta perspectiva, dotada de vrias funes.
Assim, segundo Catach, por exemplo, tais funes podem ser expressas da seguinte maneira:
a) organizao sinttica: diz respeito separao e organizao das palavras nas frases; a
maior parte dos sinais tm essa funo e, para Catach, o valor dos sinais essencialmente
separadores nitidamente crescente: vrgula, ponto-e-vrgula (ou dois-pontos), ponto
(interrogativo, exclamativo, suspensivo leia-se reticncias final), branco da alnea, etc.
b) funo suprasegmental: diz respeito ao fato de que os sinais de pontuao devem marcar
os lugares onde se pode e se deve respirar na leitura em voz alta, e foi isto que levou os gramticos
do sculo XVIII a dizer que foi por este motivo que a pontuao foi inventada;
c) funo de complemento semntico: diz respeito possibilidade de a pontuao substituir
um elemento que no precisar ser repetido, substituir um morfema, ou permitir a estruturao ao
plano do discurso.
Tratando, da mesma forma, das funes que a pontuao pode ter, Venedina (1980:60)
reconhece, como Catach, que ela pode ter as funes sinttica e semntica, mas ignora a funo
suprasegmental e fala em funo comunicativa.
Para Venedina, ento, a funo sinttica diz respeito ordem das palavras, s palavras de
ligao e s elipses, no seu trabalho para formar a frase. Os sinais comunicativos de pontuao
ajudam a ordem das palavras e o lxico a construir a enunciao, ou seja, contribuem para uma
reorganizao da frase, visando a adaptar a materialidade sinttica aos imperativos da
comunicao. E a autora reserva aos sinais semnticos o papel de correlao direta entre a
pontuao e o sentido. Isso a leva a dividir os sinais semnticos em sinais de: a) marcao: so
diretamente ligados ao sentido, por exemplo, as maisculas e os pontos que marcam o limite
esquerdo e o limite direito da frase e as vrgulas que ajudam o leitor a se orientar no texto; b)
122
regulao: os sinais de pontuao unindo ou separando os membros da frase, fazendo entrar alguns
entre outros no mesmo segmento ou distribuindo-os nas diferentes partes da frase; c) qualificao:
aqui entram os sinais de valor modal: as aspas (que anunciam a mudana de registro, atribuindo o
segmento a um outro sujeito falante ou a um outro campo semntico), o ponto de interrogao e o
ponto de exclamao (que indicam uma modalidade no-assertiva).
Assim, para Venedina, os sinais de pontuao podem ser distribudos em trs planos
lingsticos: a vrgula, o ponto e vrgula e os dois pontos fazem parte da sintaxe construtiva; a
sintaxe comunicativa, por exprimir o valor informativo de um segmento, diz respeito s aspas, ao
travesso; j o ponto e as aspas, assim como o ponto de interrogao e o ponto de exclamao,
formam o repertrio semntico44.
Outra proposta de classificao da pontuao pode ser encontrada em Tournier (1980:36),
que divide os sinais, por exemplo, em relao ao seu raio de ao, em pontuais ou lineares. Os
pontuais se colocam em um ponto da cadeia dos sinais grficos; os lineares se manifestam sobre
toda a poro da cadeia grfica assinalada. Deste modo, ponto, vrgula, maiscula de nome prprio
e de comeo de frase seriam sinais pontuais; e itlico, negrito e sublinhado seriam sinais lineares.
O ponto de interrogao, segundo Tournier, mesmo afetando toda a frase, s se realiza ao seu final
e pontual.
Tournier prope ainda uma classificao baseada na funo bsica da pontuao, que a de
delimitar as seqncias do texto escrito em nveis sucessivos: palavras grficas; frases e partes de
frases; pargrafos e captulos; sinalizao semntica ou extralingstica (Ibidem:37).
O autor prope ento algumas categorias entre as quais destacamos: a) a pontuao da
palavra: o branco, o apstrofo e o trao de unio; b) a pontuao da frase: sinais que delimitam a
frase (ponto interrogativo, exclamativo, final, reticncias) ; c) sinais que delimitam as partes da
frase ( vrgula, dois-pontos, ponto-e-vrgula, aspas, parnteses, colchetes).
Tal forma de conceber a pontuao nos inquieta e nos remete a Fonagy (1997), quando o
autor questiona:
Como podem evoluir esses sinais artificiais encerrados entre as palavras e as frases dos textos
impressos? Esses sinais artificiais restaro como letras mortas, obedecendo a regras arbitrrias?
Ou, uma vez integrados lngua, podero se transformar em letras vivas? (FONAGY, op.
cit.:192)
Neste trabalho, conforme acreditamos que j tenha sido possvel perceber, os sinais de
pontuao especificamente, as reticncias e a interrogao so examinados em um plano que
no atingido pelos autores citados at aqui: o plano discursivo.
44
Na nossa perspectiva, caberia falar aqui tambm nas reticncias, uma vez que elas tambm tm relao direta com a
produo de sentidos.
123
Na nossa perspectiva, somente esse olhar que pode transformar e dar vida aos sinais de
pontuao. E neste sentido que esperamos que nossas reflexes possam contribuir com os
estudos lingsticos.
Diramos ento que, de tudo isso que foi dito at aqui, fica, para ns, a impresso de que uma
das funes principais da pontuao a de estabelecer vnculos, seja entre as palavras ( o caso da
vrgula, por exemplo) , seja entre as frases ( o caso do ponto), seja entre um texto e outros textos
(pensamos aqui no caso das reticncias e da interrogao empregados no final de um texto, que
abrem o caminho para a produo de um novo texto), seja entre os discursos ( mais uma vez,
estamos imaginando o emprego das reticncias e da interrogao em final de texto, na medida em
que criam a possibilidade de que um determinado discurso se transforme em outros discursos,
fazendo deslizar os sentidos).
Esse tambm parece ser o pensamento de Chacon (1998), quando, ao tratar especialmente da
pontuao em relao ao ritmo da linguagem, afirma que, nos vnculos que estabelecem entre as
seqncias de palavras, os sinais de pontuao criam relaes de sentido entre as partes que se
alternam ritmicamente por meio desses vnculos. isto que, segundo Chacon, torna possvel
prever as diferentes orientaes que a significao tomar num texto escrito (Chacon, 1998:121).
A partir da, o autor acrescenta que os sinais de pontuao desempenhariam, na escrita,
funo semelhante ao de determinados operadores lingsticos cujo papel, segundo Ducrot
(1981:178), seria o de dar uma orientao argumentativa ao enunciado.
Isto vem ao encontro do pensamento de Catach (1980), para quem um sinal de pontuao
pode se comportar na frase como um verdadeiro morfema, com o qual ele pode a todo instante
comutar: conjuno, palavra, sintagma, frase inteira. Para ela, por exemplo, na frase Helena
(estupefata). ? ...!, os sinais de pontuao poderiam ser traduzidos aproximadamente por duas
frases: Que significa isso? ou Que extraordinrio.
Para Catach, esses sinais so palavras sem palavras, verdadeiras histrias sem palavras
(Catach, 1980: 4). Ou ainda: a informao que fornecem esses sinais so como uma presenaausncia (Ibidem:17).
Uma tal definio palavras sem palavras, presena-ausncia parece se aplicar de forma
bastante adequada ao nosso estudo das reticncias e da interrogao, e ratifica a posio que
estamos adotando desde o incio deste estudo, que a de conceber tais sinais de pontuao como
carregados de significados que no chegam a ser expressos pelo sujeito-autor e que, uma vez
colocados em contato com o leitor, passam a ser por ele trabalhados.
Assim, para Catach, o grande mistrio da pontuao sua funo de colocar em cena:
semelhante a uma partitura musical, com suas notas e seus silncios, ela a voz e o gesto, ela d
124
profundidade palavra escrita, atestando que ns falamos com outras coisas alm de palavras, com
nossas mos, com todo nosso corpo.
Mas, para Catach, o mais importante, em relao pontuao, que esses sinais so
ideogrficos, ou seja, so diretamente portadores de sentido.
isso que permite consider-los como guias do sentido e luzes das palavras, o que
implica consider-los tambm como instrues para os leitores.
As colocaes de Catach nos ajudam a construir nossa prpria reflexo e a dizer que
acreditamos que existe, nas reticncias ou na interrogao, uma presena-ausncia, isto , que
existem sentidos que so produzidos sem palavras e que so trabalhados, pelo processo discursivo
da leitura, por leitores determinados ideologicamente e sujeitos ao interdiscurso, aos efeitos da
memria discursiva.
O trabalho do leitor, acreditamos, se d justamente sobre o interdiscurso, a memria do dizer,
que responsvel pelo resgate dessa presena-ausncia representada pelas reticncias ou pela
interrogao.
Neste sentido, a presena-ausncia aponta para aquilo que dito mesmo sem palavras, o que
significa que h uma memria que retorna sobre o mesmo, sobre os sentidos j produzidos45.
isso que impede, na nossa perspectiva, uma maior movimentao dos sentidos46.
Para ns, portanto, se esses sinais podem ser considerados como instrues para os
leitores, no sentido de que indicam lugares de interpretao para os leitores, abrem para eles os
caminhos para a leitura, ou seja, apontam espaos para que os leitores produzam sentidos.
Assim, se ali no existe um sentido pronto, existe, no mnimo, uma instruo para a
produo desse sentido.
A importante relao entre autor e leitor em relao ao emprego dos sinais de pontuao
tambm defendida por Chacon (1998:123), que, por um lado, afirma que os sinais de pontuao
mostram-se como marcas enunciativas do processo de escrever, revelando a atividade do
escrevente de organizar sua produo grfica e de, simultaneamente, marcar-se como sujeito da
escrita. Neste sentido, os sinais de pontuao so fundamentalmente enunciativos, pois so, j de
incio, empregados na escrita.
45
Essa presena-ausncia, essa memria que retorna sobre o mesmo, como veremos mais adiante, atravs de nossas
anlises, pode apontar tambm para um excesso de sentido e sua conseqente suspenso.
46
No incio dessa pesquisa, imaginvamos que diferentes sujeitos pudessem preencher diferentemente o espao aberto
por certos sinais de pontuao, como as reticncias. Nosso estudo, no entanto, vai demonstrar que, no nosso corpus,
esse no o lugar para as rupturas, para a instaurao de sentidos novos, mas o espao para a reiterao ou, no
mximo, para o deslizamento de sentidos.
125
Por outro lado, Chacon afirma que os sinais so tambm marcas enunciativas no sentido de
que, alm de indicarem o produtor da escrita e os atos que ele produz ao escrever, devem ser
utilizados, segundo os prprios gramticos, com a finalidade de orientarem a ao lingstica
(leitura e fala) de um outro da escrita o leitor de tal modo que seria melhor designar as pores
de texto delimitadas pela pontuao como unidades de leitura e tentar apreend-las esquecendo o
primado da sintaxe.
Nesta perspectiva, para Chacon, os sinais de pontuao indiciam o escrevente e o leitor, ou
seja, registram a atitude do escrevente de construir o seu leitor, numa situao de interlocuo
no-direta j que os interlocutores distanciam-se no espao e no tempo porm j prevista
(Ibidem:124). Nessa interlocuo mediada pelo cdigo escrito, o leitor, em um tempo futuro, deve
se transpor para o tempo e o lugar do produtor, tendo como passaporte os sinais que, de outro
tempo e de outro lugar, lhe foram enviados. a ateno a esses sinais que vai lhe permitir
recuperar o processo todo, que levou a pontuar o texto de tal modo, e, assim, recuperar os
propsitos do escrevente ao produzir o texto. Essa recuperao, segundo Chacon, intuda s
vezes pelos gramticos, quando defendem a idia de que a pontuao torna mais claros os
pensamentos de quem escreve.
Neste ponto, nos afastamos um pouco de Chacon, pois, no nosso ponto de vista, que o da
Anlise do Discurso, no interessa recuperar os propsitos do autor, ou do escrevente, se
quisermos usar os termos de Chacon. Para ns, o mais interessante, em relao aos sinais de
pontuao, perceber os efeitos de sentido que tais sinais produzem, e, alm disso, verificar de que
modo eles so lidos pelo leitor, ou seja, se os sentidos que o leitor produz a partir deles repetem,
deslocam ou transformam o sentido produzido pelo seu autor.
A pontuao, nesta medida, em um trabalho de leitura como o nosso, passa a ser considerada
no apenas em funo de quem a produz, mas tambm, e principalmente, em funo de quem a l.
E deixa de ser somente uma funo de clareza, para ser uma questo de efeitos de sentido.
O prprio Chacon vai ratificar isso em outro ponto de sua obra, quando afirma:
...os sinais funcionam como marcas de interlocues no texto escrito. Tais marcas antecipam o
interlocutor, ao mesmo tempo em que revelam o produtor da escrita, na medida em que, ao serem
utilizadas pelo escrevente para chamar a ateno do leitor, chamam igualmente a ateno para o
prprio escrevente. Em outras palavras, o prprio fato de se pontuar j a marca mais flagrante da
presena do interlocutor na produo textual: pontua-se para algum, pontua-se com a expectativa da
leitura, com a perspectiva de se fazer entender. Os sinais de pontuao, por conseguinte, fornecem
pistas para a apreenso de como se d a utilizao da linguagem, de que modo os interlocutores esto
representados nesse processo e de como o sentido construdo na atividade escrita. (Ibidem:126)
Note-se que o autor, que examina a questo sob o ponto de vista da enunciao, preocupa-se
com a questo do sentido produzido pela pontuao e at a nos aproximamos mas, de certa
maneira, sua preocupao est mais centrada no fazer-se entender e, neste ponto, nos
126
afastamos de seu pensamento, j que estamos procurando produzir uma concepo discursiva da
pontuao, o que significa considerar que o fazer-se entender uma questo de condies de
produo da leitura.
Diante de tudo que foi dito at aqui, nos parece que fica bem evidente que a pontuao
uma questo terica muito mais ampla do que se poderia imaginar, principalmente quando
comeamos a examin-la para alm dos limites da gramtica normativa. Muito mais poderia ser
dito, e vrios outros caminhos poderiam ser percorridos. Como, porm, nosso interesse maior
nessa pesquisa focalizar dois sinais de pontuao especficos reticncias e interrogao para,
atravs deles, ampliar os estudos sobre a leitura, no julgamos necessrio avanar ainda mais na
reflexo sobre a pontuao em geral.
A fim de alcanar nosso objetivo que o de examinar a pontuao a partir do ponto de
vista da produo de sentidos passamos, portanto, na seo seguinte, a ampliar nosso caminho
terico, e, para isso, vamos deter nossa ateno unicamente sobre os nossos sinais de pontuao:
reticncias e interrogao.
Antes de iniciar tal trajeto, no entanto, julgamos necessrio falar sobre nossa escolha, ou
seja, sobre os motivos que nos levaram a decidir estudar a leitura a partir das reticncias e da
interrogao.
Por que reticncias, ento?
A opo pelo exame da leitura das reticncias deve-se ao fato de que acreditamos que as
reticncias abrem, no discurso, um espao que, no nosso ponto de vista, um lugar propcio ao
do leitor. Ao sinalizar, explicitamente, um lugar em que o sentido no se completa, o sujeito-autor
parece convidar o sujeito-leitor a interferir em seu texto, em seu discurso. como se o autor
dissesse ao leitor: este o teu espao. Ao mesmo tempo, como se o sujeito-autor ignorasse que
o sujeito-leitor pode adentrar nesse discurso por outros pontos, no sinalizados dessa forma.
Este espao sinalizado pelas reticncias, desta forma, um lugar onde o outro pode se
fazer presente, ou seja, espao onde a heterogeneidade, que constitutiva de todo discurso, pode
emergir.
Assim, as reticncias sinalizam, para o sujeito-leitor, um espao propcio para que se realize
o jogo entre o um e o no-um, entre o dizer do autor e outros dizeres, entre o mesmo e o
diferente.
Nesse jogo, tanto o sujeito-autor quanto o sujeito-leitor acabam sendo vtimas da iluso de
homogeneidade: o autor acredita que aquele espao sinalizado pelas reticncias o nico lugar por
onde o leitor pode entrar em seu texto; e o leitor, entrando no texto pelas reticncias, admite que
aquele o nico espao por onde ele pode entrar. Assim, ambos autor e leitor esquecem que
127
o texto possui vrias marcas, vrios lugares no-sinalizados materialmente, atravs dos quais o
leitor pode entrar e realizar o processo discursivo da leitura. Esquecem ambos que todo texto ,
desde sempre, inundado pela presena de outras vozes, de outros textos, de outros discursos, ou
seja, que todo texto heterogneo, e que com essa heterogeneidade que eles lidam: o autor
quando produz seu texto, e o leitor quando o l e o reescreve.
O que ns queremos, ento, verificar, pelas anlises, de que maneira se d, realmente, a
leitura dessas reticncias.
E por que a interrogao?
Partimos inicialmente da idia de que a interrogao expe tambm, no discurso, um ponto
de interferncia para o leitor, de que a interrogao marca tambm um lugar de interpretao.
Nesse caso, porm, acreditamos que a relao do sujeito-leitor com o texto e com o discurso do
sujeito-autor possa ser um pouco diferente. Assim, enquanto as reticncias deixam um espao em
aberto, que pode ser percebido ou no, preenchido ou no pelo sujeito-leitor, nos parece que a
interrogao exige mais (com toda a cautela que a palavra exige possa solicitar) a ao do leitor,
em forma de resposta.
A questo ento : o sujeito-leitor lida da mesma forma ou de forma diferente com as
reticncias e a interrogao? Isso acarreta conseqncias para a leitura? Isso pode ser verificado
nas reescritas?
Questes como essas atravessam todo nosso trabalho e, no nosso ponto de vista, passam
inicialmente pela diferena, encontrada em Orlandi (1996:45), entre ordem e organizao na
lngua.
Para Orlandi, e para ns, tal distino se faz necessria quando se passa a um campo de
estudos da linguagem que reconhece a contribuio da noo de discurso. Tal diferena separa
uma concepo logicista ou sociologista da linguagem de uma tomada discursiva, em que se
reconhece a materialidade da lngua e da histria.
Podemos dizer ento que a ordem no o ordenamento imposto, nem a organizao
enquanto tal, mas a forma material.
Em uma semntica discursiva, portanto, o que interessa a ordem da lngua, enquanto
significante material, e a da histria, enquanto materialidade simblica. Existe, pois, uma relao
entre duas ordens: a da lngua, tal como a enunciamos, e a do mundo para o homem , sob a forma
da ordem institucional (social) tomada pela histria. E, como afirma Orlandi, o lugar de
observao a ordem do discurso (Ibidem: 45).
128
Assim, se sentimos a necessidade de considerar que a lngua significa porque a histria
intervm, a noo de materialidade que nos leva s fronteiras da lngua e nos permite chegar
considerao da ordem simblica, incluindo a a histria e a ideologia.
desse modo que podemos ultrapassar a noo de organizao como regra e
sistematicidade e alcanar a noo de ordem como funcionamento, falha da lngua e da
histria (equvoco, interpretao). A unidade, assim, pode ser pensada no em relao variedade
(organizao), mas em relao posio-sujeito (descentramento).
A ordem, nesta perspectiva, capaz de equvoco, de deslize, de falha, de deriva, sem perder
seu carter de unidade, de totalidade.
Pensar desse modo deixa ao analista do discurso a tarefa de trabalhar com os movimentos de
interpretao do sujeito, com sua posio na determinao da histria, e de tomar o discurso como
efeito de sentido entre interlocutores.
A esta altura, podemos voltar a nosso ponto de partida e explicar por que trazemos essas
noes de organizao e ordem da lngua para falar de pontuao.
Para ns, isso necessrio porque, de modo geral, a abordagem a partir da qual se trata de
pontuao a da norma, da regra, da sistematicidade, ou seja, a da organizao da lngua. O que
ns queremos, no entanto, no isso. O que desejamos uma abordagem discursiva da pontuao,
e, especificamente, das reticncias e da interrogao. Acreditamos que isso fica evidente quando
nos propomos a examinar tais sinais sob a tica da leitura. Nesse momento, estamos admitindo que
a leitura de tais sinais pode ser espao de deslizes, de falhas, de deriva. Em outras palavras:
estamos dizendo que o que nos interessa a ordem da lngua e que sob esse prisma que queremos
pensar as reticncias e a interrogao.
Por esse motivo, propomo-nos a investigar esses sinais de pontuao, partindo do que j foi
dito sobre eles, para ento chegar a uma nova concepo.
3.2.1 As reticncias
As reticncias so os trs primeiros passos do pensamento
que continua por conta prpria o seu caminho...
Mrio Quintana
Na tentativa de produzir uma reflexo sobre as reticncias a partir de uma perspectiva
discursiva, e, mais do que isso, sob a perspectiva da Anlise do Discurso o que justifica nossa
opo por denomin-las de sinal discursivo construmos um percurso terico no qual
examinamos o emprego desse sinal de pontuao em outras linhas tericas, pois acreditamos que
isso possa nos oferecer elementos para, mais adiante, firmarmos nossas prprias posies.
129
3.2.1.1 As reticncias e a gramtica normativa
De acordo com a gramtica normativa, as reticncias so definidas, de forma geral, como o
sinal de pontuao que marca a suspenso, a interrupo da frase ou do pensamento.
Vamos ento examinar a noo em algumas gramticas da lngua portuguesa.
Comeamos pela Grammatica Portugueza, de A. Epiphanio da Silva Dias (1887:144), que
diz o seguinte: os pontos de reticencia indico suspenso repentina do fio do discurso.
Conforme podemos notar, est a presente a concepo de reticncias como suspenso;
porm, o autor fala em suspenso do fio do discurso, o que nos parece bem interessante,
considerando a poca desse texto.
Idia semelhante est presente tambm na Grammatica Portugueza, de Jlio Ribeiro
(1900:320), onde as reticncias so assim definidas: Os pontos de reticencia indicam a
interrupo da expresso do pensamento.
Fazemos referncia tambm Grammatica Portugueza, de Joo Ribeiro (1911:346), que
afirma o seguinte sobre as reticncias: Empregam-se quando o pensamento interrompido em
meio da phrase.
Note-se que estes dois ltimos autores, Jlio Ribeiro e Joo Ribeiro, afirmam que as
reticncias indicam a interrupo do pensamento, sendo que o ltimo ainda faz uma restrio:
interrupo no meio da frase.
Citamos ainda a Gramtica Normativa da Lngua Portuguesa, de Francisco da Silveira
Bueno (1956:463), onde encontramos a seguinte definio: Empregam-se as reticncias para
indicar: 1) falta de palavras que no foram escritas; 2) suspenso do pensamento para aumento da
emoo.
Dessa definio, destacamos o emprego da expresso falta de palavras que no foram
escritas, pois isso nos leva a supor que, embora no tenham sido ditas, h palavras pairando nesse
espao. De certa forma, essa posio vem ao encontro da concepo que estamos adotando, e que
no concebe as reticncias como um buraco, como um vazio.
Salientamos mais uma vez a relao que o autor faz entre reticncias e suspenso do
pensamento; tal afirmativa faz eco a uma posio que j havamos anunciado anteriormente,
quando considervamos que certos sinais de pontuao como as reticncias marcam uma
suspenso do discurso, que abre lugar para o dizer do outro. Note-se, porm, que, na perspectiva da
gramtica normativa, essa suspenso do pensamento est ligada apenas a um aumento de
emoo, e, com isso, no concordamos.
130
Continuando nosso percurso, examinamos a Gramtica Expositiva, de Eduardo Carlos
Pereira (1957:387), e encontramos a seguinte definio: Os pontos de reticncia (...) indicam
suspenso ou interrupo do pensamento, com a entoao de quem se interrompe.
Novamente notamos o emprego do termo suspenso do pensamento nesta perspectiva
gramatical, mas salientamos que seu significado, aqui, relaciona-se idia de entoao de
interrupo. E, para ns, como j afirmamos, essa suspenso de outra natureza.
Passemos agora ao exame da Gramtica Metdica da Lngua Portuguesa, de Napoleo
Mendes de Almeida (1961:483), que afirma o seguinte: As reticncias indicam interrupo ou
suspenso do pensamento ou, ainda, hesitao ou desnecessidade de exprimi-lo. O autor d os
seguintes exemplos: Nestes paos eu ficarei segura... Depois... Se tu soubesses.... Ou ainda:
Quem conta um conto.... Ou: Se ele bom, ela...
Dessa concepo, chamamos a ateno para a expresso desnecessidade de exprimir o
pensamento. interessante isso, pois, pelos exemplos oferecidos pelo gramtico, temos a
impresso de que ele est se referindo apenas a quem conta um conto..., uma vez que esse um
provrbio, de domnio coletivo, o que tiraria de quem escreve a tarefa de diz-lo todo. Em outras
palavras, isso significa que o trabalho de compreender as reticncias fica, nesse caso, por conta do
leitor, que, se tiver conhecimento do provrbio, pode complet-lo com aumenta um ponto. Mas
ento nos perguntamos: e nos outros casos, menos evidentes, no h trabalho do leitor? E, mesmo
nesses casos mais evidentes, no haveria a possibilidade de que um leitor lesse essas reticncias de
outra forma?
Destacamos ainda, na concepo de Napoleo de Almeida, o emprego, mais uma vez, do
termo suspenso para caracterizar as reticncias, com o qual concordamos. Porm, como j
tivemos oportunidade de afirmar, consideramos que as reticncias exprimem mais do que uma
interrupo do pensamento.
Mais adiante, vamos voltar a abordar essas questes, mas, de qualquer modo, podemos
perceber que a abordagem gramatical abre caminho para que comecemos a pensar a questo sob
outro ngulo.
Vejamos agora o que diz a Moderna Gramtica Portuguesa, de Evanildo Bechara
(1975:336), sobre as reticncias: Denotam interrupo do pensamento (ou porque se quer deixar
em suspenso, ou porque os fatos se do com breve espao de tempo intervalar ou porque o nosso
interlocutor nos toma a palavra) ou hesitao em enunci-lo.
Podemos observar, nessa definio, uma relao bem clara entre suspenso e interrupo do
pensamento, o que, para ns, como j afirmamos anteriormente, no expressa devidamente a
131
suspenso que as reticncias representam, e que a suspenso do discurso do sujeito para a
interferncia do discurso do outro.
Vamos examinar ainda a Gramtica da Lngua Portuguesa, de Celso Cunha (1975:608): As
reticncias marcam uma interrupo da frase e, conseqentemente, a suspenso da sua melodia.
Para o autor, as reticncias podem ser empregadas em casos muito variados. Por exemplo:
a) para indicar que o narrador ou a personagem interrompe uma idia que comeou a
exprimir, e passa a consideraes acessrias. Ex: Talvez estejas a criar pele nova, outra cara,
outras maneiras, outro nome, e no impossvel que... J me no lembra onde estava...Ah! nas
estradas escusas. (Machado de Assis, in: Cunha, 1975:608).
b) para marcar suspenses provocadas por hesitao, dvida ou timidez de quem fala. Ex:
Sei que voc fez promessa... mas uma promessa assim... no sei... (Machado de Assis; Ibidem:
608).
c) para reproduzir, nos dilogos, no uma suspenso do tom da voz, mas o corte da frase de
um personagem pela interferncia da fala de outro. Ex: Narciso Isso demais, .../ John
Silncio! (M. Pena; Ibidem: 609).
d) para indicar que a idia que se pretende exprimir no se completa com o trmino
gramatical da frase, e que deve ser suprida com a imaginao do leitor. Ex: Um pouco mais de sol
e fora brasa / Um pouco mais de azul e fora alm. / Para atingir, faltou-me um golpe de asa... /
Se ao menos eu permanecesse aqum... (M.de S-Carneiro; Ibidem:609).
Como podemos perceber, na perspectiva de Celso Cunha, de modo geral, as reticncias so
concebidas como uma maneira de indicar que, ali, h um pensamento incompleto: a) o narrador ou
a personagem interrompe uma idia que comeou a exprimir; b) marca suspenses; c) h o corte
da frase de um personagem; d) a idia que se pretende exprimir no se completa.
Entre os usos indicados por Celso Cunha, ressaltamos novamente, em (b), o emprego do
termo suspenso relacionado apenas interrupo, hesitao de quem fala.
E chamamos a ateno tambm para o caso (d), em que ele faz aluso ao leitor dessas
reticncias, quando diz que a frase deve ser suprida com a imaginao do leitor. Acreditamos que,
aqui, a gramtica normativa parece ver um pouco mais alm, e considerar o papel do leitor na
leitura das reticncias. No pensamos, no entanto, que se trate de suprir esse espao incompleto
com simples imaginao. Para ns, so outros fatores que entram em jogo nesse processo. Mas
falaremos sobre isso mais adiante.
Celso Cunha acentua ainda que, assim como outros sinais meldicos, as reticncias tm valor
pausal, mas que esse valor varivel, porque depende do que elas expressam. Assim, quando as
reticncias indicam hesitao, dvida ou timidez de quem fala, a pausa geralmente longa; mas
132
brevssima quando, nos dilogos animados, assinalam o corte de palavra ou frase de um
interlocutor por outro.
Para ns, na verdade, essas observaes so irrelevantes, pois no estamos interessados em
saber se a pausa colocada pelas reticncias longa ou breve, pois imaginamos que as reticncias
so um espao onde circulam sentidos. E isso que nos interessa. Mas essa a concepo do
gramtico, que assinala ainda que o valor pausal das reticncias bvio quando, em dilogos, a
rplica de um personagem vem representada somente por reticncias. Nesse caso, para o autor, h
um silncio, e silncio associado a uma atitude de passividade do personagem. Por exemplo: A
grande, a minha grande preocupao, cada vez mais cuidada. No sabe? / ... / Quero
professar... (A. Peixoto; Ibidem:610).
interessante observar que somente nesse caso Celso Cunha admite que as reticncias
expressam um silncio, mas, mesmo assim, no fala em um silncio que, tendo sido criado por um
sujeito-autor, significa; pelo contrrio, quando fala em um silncio que representa uma passividade
do personagem, ficamos com a ntida impresso de que esse silncio representa um buraco, um
vazio.
Esse vem a ser, para ns, um outro ponto de afastamento da gramtica normativa, pois, na
nossa perspectiva, as reticncias sempre expressam um silncio criado por um sujeito-autor,
silncio esse que significa e vai produzir sentidos para um sujeito-leitor.
Finalmente, Cunha chama a ateno para o fato de que no se deve confundir as reticncias
com os trs pontos que se empregam, como simples sinal tipogrfico, para indicar que foram
suprimidas palavras no incio, no meio ou no fim de uma citao.
Essa, no entanto, no a posio expressa por Rocha Lima, na Gramtica Normativa da
Lngua Portuguesa (1972), onde ele diz que as reticncias servem para indicar, nas citaes, que
foram suprimidas algumas palavras. Para o autor, isso acontece quando, ao transcrevermos um
trecho longo, no o apresentamos integralmente, omitindo o que no interesse imediatamente aos
nossos propsitos. Usadas no incio da citao, servem para mostrar que o lano transcrito
pertence a uma frase que no foi copiada desde o princpio. Por isso, comea-se com letra
minscula. Usadas no fim, so sinal de que o termo da citao no coincide com o fim da frase de
onde ela foi tirada.
Para a concepo de reticncias que estamos adotando nesse estudo, til e adequada a
distino feita por Celso Cunha, pois, para ns, as reticncias, sendo um sinal no discurso do
sujeito-autor, so um lugar de interpretao para o sujeito-leitor. No nos parece, no entanto, ser
esse o caso referido por Rocha Lima desses trs pontos colocados no incio ou no fim de uma
citao, uma vez que ali, ao mesmo tempo que apontam que falta alguma coisa, as reticncias
133
apontam que essa falta da competncia daquele que est sendo citado. Na verdade, esses trs
pontos so uma falta, mesmo, e no uma lacuna de significao, que esteja ali para ser trabalhada e
preenchida pelo sujeito-leitor.
Alm de conceber as reticncias como uma forma de indicar uma supresso em uma citao,
Rocha Lima as relaciona tambm, assim como faz Celso Cunha, a um outro emprego: para indicar
uma interrupo violenta da frase, que fica truncada ou incompleta.
E d o seguinte exemplo:
Trinta e oito contos, disse ele./ Am?... gemeu o enfermo. / O sujeito magro aproximou-se da
cama, pegou-lhe na mo, sentiu-a fria. Eu acheguei-me ao doente, perguntei-lhe se sentia alguma
cousa, se queria tomar um clice de vinho./ : No... quar... quaren... quar... / Teve um acesso de
tosse e foi o ltimo. (Machado de Assis, in: Lima, 1972:250).
Mais uma vez, interessante observar a concepo da gramtica normativa, presente tambm
em outros gramticos, e que nos fala em frase incompleta. Podemos dizer ento que, para ns, as
reticncias realmente so a indicao de um pensamento incompleto. Essa incompletude, no
entanto, no diz respeito a algo que ficou faltando, que no se conseguiu dizer, no vazio. Essa
incompletude , para ns, constitutiva de todo discurso e, nesse caso especfico, marcada pelas
reticncias. Assim, essa incompletude existe no porque no se conseguiu dizer, mas porque no se
quis dizer. outra concepo, portanto.
Tal viso aproxima-se mais de um outro emprego das reticncias, apontado pelo mesmo
Rocha Lima: para indicar, no fim de uma frase gramaticalmente completa, que o sentido vai alm
do que ficou dito. Nesses termos, as reticncias, nos termos do autor, tm grande poder de
sugesto. Ex: Olha a vida, primeiro, longamente, enternecidamente. Como quem a quer
adivinhar... (Ronald de Carvalho; Ibidem:251).
Quer dizer: h algo que as reticncias no chegam a dizer, que vai alm do dito. Mais uma
vez, reconhecemos a, embora a gramtica normativa no o faa, um espao para a ao do leitor, a
quem vai caber o trabalho de compreender o que est alm do dito. Embora tambm no
consideremos que seja s esse o trabalho do leitor.
Finalmente, apontamos um outro emprego das reticncias, segundo Rocha Lima: para indicar
que o pensamento enveredou por caminho imprevisto, inesperado, decaindo, geralmente, para o
chiste ou para a ironia. Ex: Quanto moo elegante e perfumado/ Que anda, imponente, de
automvel... fiado / Porque lhe faltam nqueis para o bonde.(Bastos Tigre; Ibidem:251).
Na verdade, nos parece que, nesses exemplos, no so exatamente as reticncias que marcam
a ironia, que no o que no foi dito que significa, mas aquilo que foi dito e que aponta uma
contradio: andar imponente de automvel, mas no ter dinheiro nem para o bonde; ter um belo
perfil, mas ter um nariz exageradamente grande.
134
Acreditamos, no entanto, que elas podem exercer essa funo no discurso, sim, e esperamos
mostrar isso em outro momento.
Encontramos ainda referncia a vrios outros usos para as reticncias. Por exemplo: para
dizer exatamente o contrrio do que a palavra expressa. Ex: Ele era muito, muito... feliz ... (Barros,
1981:59); ou ainda: para denotar esquecimento real ou fictcio de alguma palavra. Ex: Eu ia dizer
que ... que ela se chamava ... No me lembro... (Ibidem:59).
Mais uma vez, temos a impresso de que as reticncias so relacionadas a uma falta, a um
vazio, concepo com a qual no concordamos.
Do que foi visto, podemos ento constatar que, na grande maioria dos casos, a gramtica
normativa contenta-se a perceber as reticncias, basicamente, como um sinal de pontuao que
indica uma suspenso da voz, uma interrupo do pensamento, uma hesitao, uma falta. E a
relacionar o seu significado a quem as emprega.
No vemos nessa abordagem da gramtica normativa, porm, nada que nos permita
relacionar as reticncias, de forma efetiva, a um movimento de interpretao, a uma tomada de
posio do sujeito. No mximo, fala-se em imaginao do leitor. Mas no se considera, nem de
longe, que esse leitor determinado historicamente, interpelado ideologicamente. No se
reconhece nas reticncias um espao passvel de falha, de equvoco.
Podemos entender ento por que tal concepo, que diz respeito organizao da lngua e
no sua ordem, no nos suficiente.
Procuremos ento percorrer outros caminhos.
3.2.1.2 As reticncias em uma perspectiva textual
A reflexo que passamos a construir aqui se inicia com um artigo de Michel Prandi (1991),
denominado Figures Textuelles du silence: lexemple de la rticence, o qual faz parte da obra
intitulada Le sens et ses htrognits, organizada por Herman Parret.
Para Prandi, as figuras do silncio, como todo objeto lingstico, adquirem seu valor e sua
identidade em funo do nvel de anlise onde elas so tematizadas: na estrutura gramatical, da
frase ou da breve seqncia, ou na troca de mensagens, na comunicao.
A passagem das unidades gramaticais notadamente da frase s unidades comunicativas
aos textos e aos discursos caracteriza-se por uma ruptura de pertinncias. Se a frase apresenta
uma estrutura sinttica e uma estrutura semntica interna, o discurso, por sua vez, caracteriza-se
por um trabalho de interpretao situacional. Assim, diz Prandi: No contexto discursivo, o
135
silncio se transforma de constituinte vazio da estrutura em ingrediente positivo da comunicao:
como todo sinal, o silncio tem um valor uma interpretao (Prandi, 1991:156).
Prandi considera que o silncio pode ser representado por figuras gramaticais e por figuras
textuais. A que se aproxima mais de um tipo ideal de figura gramatical do silncio , segundo o
autor, a elipse. E a que se aproxima mais de um tipo ideal de figura especificamente textual , para
ele, a reticncia .
Como podemos perceber, Prandi estabelece uma forma de distino entre elipse e
reticncias, na medida em que pensa na primeira como figura gramatical e na segunda como figura
textual. So dois nveis diferentes de ocorrncia, portanto.
Tal concepo nos faz resgatar uma afirmao de Jacques Drillon, referida por Cyril
Vekenna na abertura do livro La ponctuation (1997:18), j referido anteriormente, na seo 3.1:
todos os sinais de pontuao so atalhos; todos, sem exceo, so a marca de uma elipse.
Assim, colocam-se, desde j, para ns, algumas indagaes: reticncias e elipse se opem?
Podem as reticncias e a interrogao serem consideradas como elipses, j que so sinais de
pontuao?
A fim de procurar respostas, vamos abrir um parnteses em nosso caminho terico sobre as
reticncias e refletir um pouco sobre a elipse. Em um primeiro momento, vamos examin-la, como
o fizemos com as reticncias, a partir da perspectiva da gramtica normativa. Em seguida,
procuraremos enfocar outras abordagens.
3.2.1.2.1 A elipse e a gramtica normativa
Comeamos dizendo que, segundo a gramtica normativa, a elipse , em linhas gerais,
definida como a figura de sintaxe ou de construo que supe a supresso de um termo da frase.
Na Grammatica Portugueza (1900:326), de Julio Ribeiro, vamos encontrar a seguinte
definio para a elipse: Consiste a ellipse na suprresso de uma ou mais palavras faceis de
subentenderem-se. Ex: Ordeno que saias daqui. Conforme o gramtico, neste exemplo a
supresso dos pronomes eu e tu que constitui a elipse.
Definio equivalente a esta encontramos na Gramtica Normativa (1956:296), de Francisco
da Silveira Bueno: Consiste este figura em subentendermos palavras que facilmente podem ser
encontradas. Ex: O nosso ndio errante vaga; mas, por onde quer que v, os ossos dos seus
carrega.
De acordo com Silveira Bueno, as elipses podem ser de trs espcies: do sujeito, do
predicado e do conectivo. O gramtico define ainda como zeugma a elipse de um termo j
136
existente na frase anterior e d o seguinte exemplo: No ltimo lugar ps a arte e no princpio
(ps) o conselho.
Na Gramtica Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira (1957:255), temos tambm uma
definio semelhante para a elipse: Elipse a figura de sintaxe que consiste na supresso de
termos facilmente subentendidos.
Tambm em Napoleo Mendes de Almeida (1961:400), vamos encontrar uma definio para
a elipse: Assim se denomina o caso em que um dos termos da frase no vem expresso, sendo, ao
mesmo tempo, facilmente subentendido. O gramtico aponta ainda os vrios casos de elipse: a)
do sujeito. Ex: No posso sair = Eu no posso sair; b) do verbo. Ex: No mar (h) tanta tormenta e
(h) tanto dano!; c) da ligao. Ex: Alumia minhalma, no se cegue no perigo em que est = para
que no se cegue.
Celso Cunha (1975:575) tambm define a elipse: Elipse (do grego lleipsis, falta,
insuficincia ) a omisso, espontnea ou voluntria, de um termo que o contexto ou a situao
permitem facilmente suprir.
O autor tambm fala em elipses do sujeito (Ex: Ternura foi se embalando, se embalando.
Adormeceu. Queria esperar a hora do desastre para se defender... - A.M. Machado) do verbo (Ex:
Jorge releu o escrito, e ora o achava claro demais, ora obscuro Machado de Assis ), da
preposio de antes da integrante que introduz as oraes objetivas indiretas e as completivas
nominais (Ex: No me lembro que tenha chorado; ganhava sempre as apostas. G. Amado), da
conjuno integrante que ( Ex: Ao cabo de cinco dias, minha me amanheceu to transtornada
que ordenou me mandassem buscar no seminrio. Machado de Assis).
O autor afirma ainda que a elipse pode ser usada como processo estilstico e que, nesses
casos, seus efeitos so apreciveis. Por exemplo: a) na descrio esquemtica de ambientes, de
estados de alma, de perfis (Ex: Na copa, o rumor de torneiras abertas e de vidros se quebrando.
Correria e pnico- A. M. Machado); b) em anotaes rpidas, como as de um dirio ntimo (Ex:
10 de maio. Noite escura. Duros passos. C. Meireles); c) na enunciao de processos
condensados, provrbios, ditos sentenciosos ou irnicos (Ex: Maus pensamentos, m sade...
A. Peixoto); d) nas enumeraes, onde a inexistncia do artigo costuma sugerir as idias de
disperso, de acumulao (Ex: Colheria tudo, plantas, lendas, cantigas, locues. Machado de
Assis).
Celso Cunha faz ainda referncia zeugma, definindo-a como uma das formas da elipse.
Afirma ele que a zeugma consiste em fazer participar de dois ou mais enunciados um termo
expresso em apenas um deles. E d como exemplo: Rubio fez um gesto, Palha outro; mas quo
diferentes!, de Machado de Assis.
137
Citamos tambm Celso Luft (1978:87), que define desse modo a elipse: Omisso de um
termo sinttico, presente no esprito.
Luft fala tambm em elipse do sujeito, quando este vem marcado na desinncia verbal (Ex:
Leio muito, escrevo bastante.). Refere-se tambm elipse de termo j expresso, dizendo que
obrigatria (Ex: Minha casa mais nova que a (a casa) de Jos). Finalmente, define tambm
como zeugma a elipse do verbo anteriormente expresso (Ex: Pedro trabalha mais do que Paulo
(trabalha).
Definies muito semelhantes a essas podem ser encontradas em vrias outras gramticas.
Temos, por exemplo, em Savioli (1983:405): Omisso de um termo que no foi enunciado
anteriormente na frase. Ou em Leme (1981:212): Supresso de uma ou mais palavras que no
so indispensveis ao entendimento da frase. Ou em Barros (1985:259), que diz que a elipse
consiste na omisso de um termo em sua forma, mas presente em seu sentido e por este
enunciado.
Como podemos constatar, na gramtica normativa a elipse tratada, em linhas gerais, como
uma falta facilmente recupervel. Essa falta, no entanto, tem uma finalidade, expressa muito
claramente por Celso Cunha:
O empenho de maior expressividade leva-nos, com freqncia, a lacunas, a superabundncias, a
desvios nas estruturas frsicas tidas por modelares. Em tais construes a coeso gramatical
substituda por uma coeso significativa, condicionada pelo contexto geral e pela situao.
(Cunha, 1975:575)
Quer dizer: o emprego da elipse visa a uma maior expressividade das frases. A elipse, nesses
termos, tem como finalidade maior evitar a redundncia, a ambigidade. Ou seja: conceber a elipse
sob tal abordagem significa pensar que aquilo que no chegou a ser dito, que aquilo que foi
omitido, est presente ali, sem margem de erros ou desvios, pois facilmente recupervel pelo
contexto.
E se isso acontece porque a elipse aqui fica no mbito do estritamente gramatical, do
lingisticamente correto. Vamos ento a examinar a concepo adotada por Prandi sobre a elipse, a
fim de verificar se h mudanas significativas entre as abordagens.
3.2.1.2.2 A elipse em uma perspetiva textual
Prandi (1991) afirma que, sob a etiqueta da elipse rene-se uma massa heterognea de
fenmenos de supresso, unificados por algumas propriedades comuns: considerado a partir de
138
uma frase modelo, o enunciado elptico caracteriza-se pela supresso de um ou mais segmentos;
sendo regulamentada pela gramtica, a supresso elptica no compromete a boa formao ou a
aceitabilidade do enunciado; os segmentos suprimidos so integralmente recuperveis, tanto em
termos de identidade lexical, como em valor funcional.
No quadro da frase, segundo Prandi, a elipse qualifica-se negativamente como realizao
vazia de uma categoria formal e funcional dada. No quadro do discurso, entretanto, a elipse
adquire uma identidade positiva: graas aos elos anafricos ou catafricos que ela mantm com
seus antecedentes dentro do contexto, a elipse transforma-se, de simples ausncia, em fator
fundamental da coeso textual. Essa metamorfose da elipse, para Prandi, um sinal revelador da
dupla natureza do contedo dos enunciados, ao mesmo tempo significado complexo, articulado e
sinal de mensagens simples integradas em um dado texto.
Como possvel perceber, Prandi, embora assumindo uma abordagem textual, no se afasta
da noo de elipse como um fato gramatical, responsvel pela boa qualidade do texto.
Realizado esse exame da noo de elipse, voltemos a examinar a noo de reticncias, da
forma como o faz Prandi.
3.2.1.2.3 Voltando s reticncias
Prandi (1991) afirma que, ao contrrio da elipse, as reticncias se caracterizam, em primeiro
lugar, pelo no-recobrimento dos contedos suprimidos. Ao invs de retirar do contexto, como a
elipse, os dados semnticos que ela subtrai expresso, as reticncias dirigem-se diretamente ao
interlocutor, a seu poder de interpretao autnoma. Assim, elas possibilitam traduzir em
mensagem uma verdade vazia de significado.
Assim, se a elipse demanda a reintegrao de um elemento semntico desprovido de
expresso, mas recupervel no contexto, as reticncias demandam a interpretao de uma inteno
comunicativa sem expresso.
Ns discordamos de Prandi, pois, para ns, as reticncias no se reduzem a apontar uma
verdade vazia de significado, uma inteno comunicativa sem expresso. Ao contrrio,
acreditamos que, ao empregar as reticncias, o sujeito-autor oferece ao interlocutor, de alguma
forma, pelas pistas presentes em seu discurso, uma possibilidade de leitura para essas reticncias.
Quer dizer: de alguma maneira, mesmo no estando dito, h um sentido que j est l, sendo dito.
Assim, cada sujeito-leitor, quando retoma um texto com reticncias, pode lidar
diferentemente com esse sentido e isso que vai determinar, na nossa concepo, as provveis e
diferentes leituras dessas reticncias.
139
Prandi lembra tambm que a distino entre elipse e reticncias, sobre a fronteira entre
estrutura semntica dos enunciados e interpretao de mensagens, sublinhada pela retrica
clssica47. Nesta perspectiva, de forma distinta do que para Haroche (1992), a elipse
transparente e a reintegrao dos contedos no expressos automtica. Afirma Prandi que
nenhum trabalho especfico de interpretao demandado para suprir uma estrutura falha, pois a
reintegrao dos contedos suprimidos um fato de construo, e no pode ser assimilado a um
processo de interpretao.
Tambm discordamos disso, pois, se fosse transparente, toda e qualquer elipse (e pensamos
tambm nas reticncias) seria lida e reescrita da mesma forma, ou seja, todo e qualquer sujeitoleitor, ao se deparar com uma elipse (e com as reticncias) produziria o mesmo sentido, inscrito em
uma mesma FD, assumindo uma mesma posio-sujeito. Sabemos (e veremos mais adiante
segunda parte/captulo 2) que pode no ser assim.
A colocao das reticncias em um plano semelhante a este, segundo Prandi (1991:160) as
situam imediatamente ao nvel da interao discursiva entre locutor e destinatrio de uma
mensagem de interpretao.
Desta forma, as reticncias no se configuram como uma supresso recupervel, garantida
pela gramtica. Interpretar as reticncias, para Prandi, no se reduz, ento, recuperao de um
segmento suprimido, mas trata-se, ao contrrio, da extrao de uma mensagem diretamente de um
vazio, de um contedo irreversvel, de um silncio absoluto.
Esta concepo de reticncias permite, ento, que elas sejam vistas como uma ocorrncia que
proporciona ao interlocutor a possibilidade de interferir diretamente na construo da mensagem,
de interpretar um silncio, sendo este, segundo Prandi, um silncio absoluto.
Como podemos perceber, Prandi abre um espao para a interveno do interlocutor na
construo do sentido expresso pelas reticncias. Mas, ao faz-lo, considera que esse sentido brota
de um silncio absoluto. Discordamos disso. Para ns, no se trata de um silncio absoluto, pois,
se assim fosse, esse silncio seria impenetrvel. E no , pois, pelas pistas presentes no discurso,
esse silncio, de alguma forma, fala. E, ao cruzar-se com as vozes de diferentes interlocutores,
constri sentidos (semelhantes ou deslocados).
Nesta perspectiva, as reticncias falam, ou seja, fazem sentido para o sujeito-leitor que
com elas entra em contato. E o fato de poderem significar diferentemente para diferentes leitores
indicam que no so um vazio.
47
Prandi, ao tecer estes comentrios, baseia-se em: Fontanier, P. (1968) Les figures du discours, Paris. Runit: Manuel
classique pour ltude des tropes (1821,4 ed.1830) et Trait gnral des figures de discours autres que les tropes
(1827).
140
Outro autor que aborda as reticncias a partir de uma perspectiva textual Fonagy (1997), j
referido anteriormente neste captulo/ seo 3.2.
O autor afirma que existe uma relao de sinonmia entre alguns sinais de pontuao. Assim,
por exemplo, dois signos, o ponto final e a maiscula, so, para ele, complementares; j a escolha
entre ponto ou ponto de interrogao distintiva. Assim, Fonagy afirma:
Um outro caso de sinonmia me parece mais instrutivo: aquele dos grafemas de incompletude: [ - ]
e [ ... ] . Todos os dois marcam o carter inacabado do enunciado. Um enunciado pode ser
interrompido e ficar gramaticalmente incompleto, ou, em outro caso, o enunciado gramaticalmente
completo no exprime tudo o que o locutor queria dizer. Nos dois casos, o escritor pode se servir
de um ou outro sinal. (Fonagy, 1997:195-6)
O autor ressalta, no entanto, que, apesar da sinonmia entre os dois grafemas, a escolha do
escritor no fruto do acaso. E afirma:
As [ ... ] parecem refletir a extino gradual da voz; a marca [ - ] coloca um fim brusco. As [ ... ]
so associadas a uma atitude hesitante ou um silncio embaraoso; o [ - ] a uma atitude categrica,
cortante e tendendo a interromper a fala. (Ibidem:196)
Fonagy denomina esses sinais reticncias e travesso de traos de suspenso. Tal
denominao se aproxima da nossa discurso em suspenso j referida no captulo 2/ seo 2.5.
Podemos observar que essa abordagem diferente da concepo puramente gramatical. Aqui
se fala em incompletude, em carter inacabado do enunciado. E, embora esses termos no
estejam sendo empregados com o mesmo sentido em que so tomados em uma abordagem
discursiva, alargam a perspectiva terica sobre as reticncias.
Vamos finalizar essa seo reafirmando ento que as reticncias, para ns, podem ser
pensadas como uma forma de silncio no discurso, silncio que significa por si mesmo, e que no
precisa ser traduzido em palavras. Assim, se o sujeito-leitor, ao se deparar com as reticncias,
trabalha aquela lacuna com suas palavras, isso no significa que ele esteja traduzindo o silncio do
sujeito-autor ou revelando os sentidos construdos por esse sujeito, mas, ao contrrio, denota que
ele est lidando com aquela incompletude (sinalizada) e construindo seus prprios sentidos.
Acreditamos, assim, que a elipse no somente uma figura gramatical, e que tambm as
reticncias no so uma figura textual. Na verdade, pensamos que a elipse e as reticncias devem
ser pensadas como fatos de discurso, que, como tal, abrem lugar para o dizer do outro.
Neste sentido, tanto elipse quanto reticncias so, por excelncia, espaos de produo de
sentidos, de produo de leitura, de tomada de posio do sujeito.
Nessa medida, no seria possvel, ao invs de distinguir, aproximar reticncias e elipse?
Vamos continuar nosso percurso, em busca de sustentao terica para nossas suposies.
141
3.2.1.3 As reticncias e a Enunciao
Para esta breve reflexo, tomamos como ponto de partida o pensamento de Ducrot
(1972:14), quando o autor faz referncia quilo que ele denomina de procedimentos de
implicitao, e os distribui em duas categorias principais, distinguindo aqueles que se
fundamentam no contedo do enunciado e aqueles que jogam com a enunciao.
Na primeira categoria, Ducrot inclui o caso em que no queremos assinalar os fatos de modo
explcito, o que nos faz apresentar, em seu lugar, outros fatos que podem aparecer como causa ou
conseqncia necessrias dos primeiros. Assim, dizemos, por exemplo, que o tempo est bom para
fazermos entender que vamos sair; ou falamos do que vimos para fazer saber que samos.
Tais procedimentos apiam-se, portanto, na organizao interna do enunciado. Este modo de
implicitao pode ser ento colocado da seguinte maneira, para Ducrot:
Resume-se em deixar no-expressa uma afirmao necessria para a completude ou para a
coerncia do enunciado, afirmao qual a sua prpria ausncia confere uma presena de um tipo
particular: a proposio implcita assinalada e apenas assinalada por uma lacuna no
encadeamento das proposies explcitas. Ela tem uma existncia indiscutvel, j que a prpria
lacuna indiscutvel, mas tal existncia permanece sempre oficiosa e objeto possvel de
desmentido na medida em que s o destinatrio, e no o locutor, chamado para preencher essa
lacuna. (Ducrot, 1972:16)
No podemos, diante de uma afirmao como esta de Ducrot, deixar de estabelecer relaes
com os sinais de pontuao e, muito especialmente, com as reticncias.
Assim, diramos, por exemplo, retomando os termos de Ducrot, que possvel pensar nas
reticncias como uma afirmao no-expressa, como uma ausncia que confere uma presena
de tipo particular, como uma lacuna de existncia indiscutvel. No entanto, diramos, por
outro lado, que no possvel imaginar que as reticncias, ao serem preenchidas, ou seja, ao se
tornarem um tipo de afirmao expressa, possam conferir ao enunciado uma completude, e
isto porque, na nossa perspectiva, a incompletude fundante de todo dizer e s por efeito de
iluso que se pode pensar que nosso dizer completo. Da mesma forma, no consideramos que
esse tipo de lacuna seja preenchido apenas pelo destinatrio, pois, para ns, o preenchimento dessa
lacuna se faz pelo atravessamento de vrias vozes: a voz do locutor, a voz do destinatrio e vrias
outras vozes annimas, que vm de outros tempos e de outros lugares.
Por tudo isso, acreditamos que as reticncias
no possam ser consideradas como um
implcito ao nvel do enunciado, apenas. Vejamos ento o que diz Ducrot sobre o implcito da
enunciao.
142
Para Ducrot, essa segunda classe de implcito pode ser definida se fizermos intervir, ao lado
do contedo do enunciado, o prprio fato da enunciao. Com isso, chegaremos ao que o autor
denomina de subentendidos do discurso. Afirma ento Ducrot: Aqui, o implcito no deve ser
procurado no nvel do enunciado, como um prolongamento do nvel explcito, mas num nvel mais
profundo, como uma condio de existncia do ato de enunciao (Ibidem:17).
Segundo Chacon (1998), as reticncias se enquadrariam neste tipo de implcito, e, ao afirmar
isso, o autor toma por base a gramtica normativa, onde se encontra que as reticncias devem ser
preenchidas com a imaginao do leitor ou devem ser deixadas por sua conta.
Deste modo, para Chacon, os procedimentos de implicitao feitas pelo emprego de
reticncias so da ordem dos subentendidos do discurso, uma vez que
... sugerem fatos que seriam mais prprios s circunstncias da enunciao mais
especificamente, ao preenchimento de sentidos, que, provenientes da prtica inter-semitica da
oralidade, seriam representados na escrita pelo jogo que a pontuao estabeleceria entre o dito
(por palavras escritas) e o no-dito (mas significativo que se poderia representar na oralidade).
(Chacon, 1998:118)
No nosso ponto de vista, consideramos que esse segundo tipo de implcito de Ducrot se
aproxima mais da concepo de reticncias que estamos perseguindo do que o implcito do
enunciado, pois consideramos que as reticncias so o espao de um no-dito. Entretanto, parece
que essa concepo tambm no nos satisfaz, na medida em que, para ns, esse no-dito no da
ordem do implcito, mas do silncio. Quer dizer: no se trata de considerar que, nas reticncias,
existe um sentido, no-dito, que deve ser procurado num nvel mais profundo. Na verdade,
acreditamos que o sentido das reticncias no deva ser procurado, mas produzido. E por isso que
temos dito, desde o incio, que isso uma questo de leitura.
necessrio ir adiante, portanto.
3. 2.1.4 Em busca de uma concepo discursiva das reticncias
Na tentativa de construir uma reflexo terica que aborde o tema das reticncias sob uma
perspectiva discursiva, percorremos um caminho que passa pela noo de elipse.
Assim, examinamos ambas as noes elipse e reticncias sob dois ngulos: o gramatical
e o textual.
Vamos ento iniciar essa seo com uma reflexo sobre a elipse a partir de uma abordagem
discursiva, para, depois, procurar refletir sobre as reticncias a partir da mesma tica.
3.2.1.4.1 Elipse e discurso
143
Em Claudine Haroche (1992), vamos encontrar uma reflexo sobre o papel da determinao
na gramtica. Com esse propsito, a autora centra sua anlise naquilo que, para ele, so os dois
plos limites da gramtica: a elipse e a incisa.
Para Haroche, elipse e incisa aparecem como formas possveis de ruptura da linearidade do
discurso e, portanto, como possibilidades de ambigidades, que s o princpio da determinao
pode descartar.
A autora ressalta o papel redutor que a gramtica, desde o sculo XVI, tem dado questo.
Lembra a autora que at Sanctius, que foi designado o terico da elipse, v nesta apenas um
processo de substituio, sendo apenas a falta de uma ou vrias palavras necessrias a uma
construo legtima. Assim, longe de se constituir como fonte de ambigidade ou de
indeterminao, a elipse aparece, desde o sculo XVI at os nossos dias, como um processo de
substituio e de esclarecimentos que se inscrevem na ordem da completude da gramtica.
Em outras palavras: para entender uma elipse, basta recuperar os elementos que faltam.
Haroche lembra ento que, embora no se possa definir a compreenso de um enunciado
como sendo especfica ou estritamente da alada da gramtica, esta atividade no deixa de fazer
parte dela.
Assim, para Haroche:
Compreender um enunciado implica a possibilidade de reformular, de parafrasear, logo, de certo
modo, de lhe acrescentar algo, o que necessita, conseqentemente, da interveno de elementos
implcitos, suscetveis de introduzir, ento, uma ambigidade. (Haroche, 1992:115)
Com esse pensamento, abre-se um espao para pensar na elipse como uma possibilidade de
se produzirem diferentes leituras para um mesmo enunciado, e, por extenso, diversos modos de
redizer esse enunciado.
A gramtica, porm, ignora o papel da ambigidade e a separa sistematicamente do
implcito, procurando limit-lo a um fato de sintaxe. Desta forma, ressalta Haroche, a gramtica
se esfora em demonstrar o carter linear do discurso e da frase, delimitando seu funcionamento
global pela elipse, concebida ento como uma falta necessria e a incisa como um acrscimo
contingente (Ibidem:116).
Podemos dizer ento, seguindo Haroche, que a noo de elipse constitui o ponto fraco do
edifcio conceptual da sintaxe. Ela coloca o problema de uma teoria da articulao da gramtica
com seu exterior, mas ao mesmo tempo a especificidade desta. Afirma Haroche: Enunciado
formalmente incompleto, mas do qual a lingstica pressupe o carter acabado do ponto de vista
do sentido, a elipse o ponto em que se encontram lingstica e ideologia (Ibidem:117).
144
Acreditamos ser lcito imaginar ento que tanto a leitura quanto o ato de redizer uma elipse
podem revelar esse processo em que o sujeito, ilusoriamente, busca completar esse enunciado
formalmente incompleto. E se faz isso porque reconhece, inconscientemente, que esse enunciado
no est acabado do ponto de vista do sentido. preciso ento que ele, sujeito assujeitado
ideologicamente, recupere, de alguma forma, o sentido que, para ele, cabe naquele lugar.
Imaginamos que um processo semelhante se desenvolve quando um leitor se depara com as
reticncias.
E respaldamos nossa reflexo em outras questes postas por Haroche: com a elipse
estaramos tratando com um excedente de valor, com uma complexidade maior do formalismo
lingstico? No se trataria, nesta falha, da emergncia do sujeito que se tentaria repelir? Na elipse,
o desejo do sujeito no encontraria seu jeito de dizer?
Tradicionalmente, salienta Haroche, a compreenso de uma frase no poderia realmente
constituir um problema de gramtica, j que esta funciona ao nvel de enunciados gramaticalmente
corretos, ou seja, compreensveis e explcitos.
Considerar a elipse ou a incisa como possibilidade de ambigidade , na nossa perspectiva,
admitir que uma elipse ou uma incisa tm relao direta com a incompletude do discurso e que,
por isso, podem estar ligadas a diferentes leituras, diferentes reescritas.
Sob este ponto de vista, portanto, a elipse deixa de ser uma falta, uma realizao vazia, e
passa a ser relacionada incompletude do texto e do discurso, incompletude que pode ser objeto
de uma reelaborao.
Nesta perspectiva, acreditamos que ler e redizer ou reelaborar uma elipse deixa de ser o
mero preenchimento de uma falta, a simples recuperao de um vazio, e passa a expressar a
relao de um sujeito-leitor com a incompletude do texto e do discurso. No se trata ento de
transformar uma falta, um silncio em palavras, mas de operar com a incompletude, de reelaborar
o discurso, a partir de uma posio-sujeito inscrita em uma determinada formao discursiva.
algo semelhante que imaginamos que possa acontecer com as reticncias, que, na nossa
perspectiva, so sinais explcitos de incompletude e, portanto, espao de relao do sujeito com
essa incompletude e com o silncio.
A concepo de que a elipse relaciona-se incompletude do dizer tambm compartilhada
por Indursky (1990), quando a autora estuda os efeitos causados por construes passivas no
relatrio do Dr. Pinotti, chefe da equipe mdica que assistiu o Presidente Tancredo Neves.
Neste estudo, a autora admite a existncia de duas modalidades de elipse, de natureza
diversa, que apontam para a incompletude da linguagem: a elipse lingstica e a elipse discursiva.
145
A elipse lingstica, para Indursky, relaciona-se a uma implicitao48, atravs da qual omitese uma referncia recupervel atravs do cotexto49. J a elipse discursiva relaciona-se a uma
indeterminao, a qual promove uma lacuna que aponta para um funcionamento discursivo
instaurado pelo encontro do lingstico com o no-lingstico.
A elipse lingstica estabelece a indeterminao ao nvel do enunciado. J a elipse
discursiva, sendo definitiva, instaura o modo de indeterminao50 ao nvel do discurso.
Afirma Indursky:
Como se v, esta uma das fronteiras entre sintaxe e discurso. O funcionamento dessas duas
modalidades radicalmente diverso, pois o modo da indeterminao confere ao falante a
possibilidade de silenciar, de no se expor, desobrigando-se de assumir a responsabilidade pelo
no-dito. (Indursky, 1990:35)
Indursky, ento, ratifica a noo de elipse como uma lacuna necessria para que o dizer fique
indeterminado, sendo esse dizer o que remete ao espao de liberdade do sujeito51.
assim que percebemos o emprego das reticncias: um modo de silenciamento, que
desobriga o sujeito-autor de se expor e lhe possibilita no dizer (dizendo).
Seguindo o raciocnio de Indursky, diramos ento que acreditamos que a leitura e a reescrita
das reticncias nos desvelam essa liberdade do sujeito, que, inscrito em uma determinada FD e
assumindo uma determinada posio-sujeito, ao lidar com a incompletude do discurso, acaba,
paradoxalmente, por se expor e por assumir a responsabilidade que o sujeito-autor no assumiu: a
responsabilidade pelo dito.
48
Por modalidade de implicitao, Indursky entende os casos de construes passivas em que os agentes so omitidos,
mas podem ser facilmente recuperados pelo cotexto.
49
Por cotexto entende-se as relaes no lineares que se estabelecem entre os diferentes enunciados do texto. Segundo
Parret (1988: 17), o cotexto funciona como um contexto de descodificao.
50
A indeterminao do agente remete a questes de natureza polifnica. No enunciado Deve-se ressaltar que a
histria clnica...vem de um perodo que precede primeira interveno cirrgica, por exemplo, distingue-se o autor,
que assina o relatrio, de outras figuras enunciativas. Pode-se ento questionar quem est ressaltando tal fato: Dr.
Pinotti? Equipe de Braslia que realizou a primeira cirurgia? Tais indeterminaes no podem ser preenchidas ao nvel
do cotexto, pois so indeterminaes definitivas. Este o caso da indeterminao discursiva, instaurada pela elipse
discursiva.
51
Encontramos nas reflexes de Indursky sobre a elipse alguns pontos de aproximao com a nossa concepo de
reticncias, pois consideramos que esse sinal de pontuao aponta para a incompletude da linguagem. Tambm vemos
as reticncias como uma lacuna que permite ao falante silenciar, ao mesmo tempo que remete ao espao de liberdade
do sujeito que l essas reticncias. No temos certeza, porm, se as reticncias funcionam como uma indeterminao
discursiva, pois, se assim fosse, esse seria o espao em que qualquer sentido poderia ser produzido, em que a liberdade
do sujeito encontraria plenamente seu lugar, ou seja, em que qualquer sentido poderia surgir. E, como vo demonstrar
nossas anlises, no isso que acontece. Preferimos, portanto, pelo menos por enquanto, dizer apenas que as
reticncias so marca de incompletude do discurso.
146
Poderamos dizer ento que esse dizer, que opera
sobre a incompletude, funciona,
discursivamente, como um acrscimo, como uma incisa?
Verificar essas questes, no processo discursivo da leitura, a tarefa que nos impomos nesse
estudo.
3.2.1.4.2 Reticncias e discurso
Iniciamos nossa trajetria analisando o pensamento de Maingueneau (1986) sobre as
reticncias, as quais, para ele, possuem um estatuto bem singular: elas podem interromper um
enunciado em qualquer lugar, independentemente das divises sintticas ou semnticas.
As reticncias, para o autor, tm como funo marcar no enunciado o lugar de um branco
virtual (Maingueneau, 1986:77).
Assim, o valor das reticncias que elas figuram onde esse branco ilegtimo, isto , onde
surge uma fenda que no marca nem o incio nem o fim do enunciado completo.
Segundo Maingueneau, as reticncias possuem duas funes: a) elas garantem a unidade
enunciativa da seqncia para alm das descontinuidades locais que podem afet-la; b) elas
indicam o lugar do elemento omitido, de maneira a retirar do autor do texto escrito a
responsabilidade de ter produzido uma seqncia deficiente, transgredindo as regras de bom
funcionamento lingstico. Mostrando que a enunciao est rompida, o escritor preserva assim a
exigncia de completude.
At aqui, nos parece que Maingueneau est preocupado somente com a eficaz elaborao do
enunciado, com o bom funcionamento lingstico. Alm disso, o autor parece admitir a
possibilidade de um enunciado se apresentar acabado, completo.
Mas, continuando, lembra Maingueneau que a significao das reticncias pode ser sutil, se
considerarmos que elas podem ser associadas a um enunciado que no apresenta uma fenda
perceptvel. Neste caso, longe de normalizar uma transgresso visvel, elas a criam onde o leitor
no a supunha. E revelam ento ao leitor que sua interpretao deve passar alm da completude
aparente.
Como podemos perceber, neste ponto Maingueneau esclarece que a completude do
enunciado apenas aparente e, ao colocar sobre o leitor a tarefa de interpretar as reticncias,
ultrapassa uma concepo meramente normativa.
Assim, para Maingueneau, as reticncias colocam um tipo de excesso de sentido sobre o
enunciado, que surge especialmente no emprego irnico desse sinal de pontuao. Mas no so
tanto as reticncias que marcam a ironia; o leitor somente v que o enunciado incompleto se ele
147
interpretado sem esses pontos, que constroem uma espcie de alm interpretativo. Trata-se ento
de uma espcie de instruo de decodificao que, no caso da ironia, permite definir, quando se
adota um quadro polifnico, uma distoro entre o locutor e o enunciador colocados em cena na
fala.
interessante essa posio de Maingueneau, pois aponta para algo que at aqui no
havamos encontrado: uma diferena em relao aos efeitos do emprego das reticncias.
Assim, ao invs de estarem relacionadas, como em Prandi (1991), falta, ao vazio, a um
silncio absoluto, em Maingueneau as reticncias apontam para um excesso de sentido, para um
alm interpretativo, para uma instruo de decodificao.
A opinio de Maingueneau, de certa forma, se assemelha nossa, quando consideramos as
reticncias como sinais do discurso. Sinais no de decodificao, mas sinais discursivos que
apontam para a relao interlocutor/leitor, que sinalizam lugares de interpretao, espaos de
construo dos sentidos.
Nestes termos, em nossa opinio, as reticncias constituem-se, paradoxalmente, em lacunas
repletas de significao, ou seja, lacunas significantes. Cabe ao sujeito, na leitura e na reescrita,
num entrecruzamento com os sentidos (no-ditos) do sujeito-autor, preencher tais lacunas com
os seus sentidos que vm da sua formao discursiva, da sua posio-sujeito, do efeito de
memria a que est submetido.
Acreditamos tambm que as reticncias, quando empregadas juntamente com a ironia,
sinalizam mais o discurso do que os outros usos das reticncias. Eis porque optamos, nessa
pesquisa, por analisar esses sinais em textos de humor.
Isto porque o humor, ao expor o no-estabelecido, o no-aceito, por si s, parece colocar
para o interlocutor um excesso de sentidos: o que , o que poderia ser, o que deveria ser.
com esse excesso, acreditamos, que o sujeito-leitor (e, portanto, o sujeito-reescritor) lida, e
sobre ele que produz sentidos, podendo reproduzi-los, desloc-los.
As reticncias, para Maingueneau, possuem ainda um estatuto contraditrio: de um lado, elas
pulverizam as formas de continuidade sinttica e textual, fazendo que as linhas de ruptura passem
aos lugares mais improvveis; de outro lado, elas asseguram a continuidade, a transio entre
segmentos que so recortados para formar os elementos de um mesmo movimento enunciativo.
Instaurao de fendas mltiplas, as reticncias so ento, para Maingueneau, o que permite
reenviar presena de um sujeito invasor. O texto entrecortado se torna ento uma enunciao
ostentatria, onde o sujeito, sobre as runas que o atravessam, se exibe em seu gesto entonativo. O
enfraquecimento do lao sinttico, sob a presso da elipse, faz par, assim, com um
superinvestimento nas marcas de subjetividade.
148
Esse sujeito que Maingueneau denomina de invasor, representa, para ns, de forma distinta,
o sujeito-leitor que opera sobre as reticncias, reconstruindo os sentidos, exibindo-se num gesto de
interpretao. A reescrita, ento, mostra no uma invaso, mas essa exibio, e desvela o gesto de
interpretao do sujeito.
Podemos notar ento que, para Maingueneau, as reticncias representam uma elipse, de
forma bem diferente do que considera Prandi (1991), para quem elipse e reticncias so coisas
distintas: a elipse figura gramatical e as reticncias, figura textual.
Comparando a concepo de reticncias presente em Prandi e em Maingueneau, podemos
perceber ainda outras diferenas, pois, enquanto Prandi fala em vazio, em silncio absoluto,
Maingueneau fala em uma espcie de branco virtual. Quer dizer: Maingueneau reconhece nas
reticncias a presena de um espao que, na verdade, no vazio.
Isso reforado quando Maingueneau v nas reticncias um excesso de sentido,
principalmente quando so empregadas em construes irnicas. Quer dizer: se pode haver
excesso, porque h sentido.
Dessa forma, podemos reconhecer, na perspectiva de Maingueneau, um campo terico mais
amplo do que o de Prandi, se tivermos em vista um estudo discursivo das reticncias. Mas esse
campo ainda no nos parece suficiente, se o objetivo for como o nosso estudar a leitura sob o
vis das reticncias e sob a tica da Anlise do Discurso de linha francesa.
Portanto, vamos buscar mais elementos que sustentem nossa proposta.
3.2.1.4.3 Reticncias e Anlise do Discurso
Retomando, de forma geral, o que vimos at aqui, podemos dizer que, para a gramtica
normativa conforme seo 3.2.1.1. as reticncias so, de forma geral, um sinal de pontuao
que indica a suspenso, a interrupo do pensamento. Como vimos, no mximo fala-se que esse
espao deve ser suprido com a imaginao do leitor.
Na perspectiva textual assumida por Michel Prandi (1991) conforme seo 3.2.1.2. o
autor concebe as reticncias como uma figura textual do silncio, que se dirige ao poder de
interpretao do interlocutor, o qual pode traduzir em verdade uma mensagem vazia de significado,
uma inteno comunicativa sem expresso.
J Maingueneau (1996) conforme seo 3.2.1.4.2. afirma que as reticncias marcam no
enunciado um branco virtual, que indica o lugar do elemento omitido no enunciado, preservandolhe a exigncia de completude. O autor vai mais alm, e reconhece nas reticncias um excesso de
sentido, principalmente quando elas so empregadas com a ironia.
149
Essas concepes, principalmente as duas primeiras, ocupam-se (como tambm o fazemos)
da figura do leitor, de seu poder de interpretao das reticncias.
Refletindo sobre as reticncias a partir da perspectiva terica da AD, queremos, porm,
chamar a ateno inicialmente para o fato de que h um produtor dessas reticncias, que suspende
o seu discurso e, ao faz-lo, abre lugar para o dizer do outro. No nosso estudo, esse produtor o
sujeito-autor do texto-origem.
Diramos ento que o produtor do texto-origem, ao suspender o discurso, ancora seu excesso
de dizer, seu excesso de significao, no interdiscurso.
Nesta perspectiva, as reticncias, no texto-origem, so lugares em que o sujeito do discurso
deixa entrever que h discurso antes, concomitante, sempre j-l, e que seu discurso uma
formulao pessoal e possvel do j dito.
Podemos dizer ento que as reticncias so como uma flecha que aponta o interdiscurso e
esse gesto do produtor do texto-origem para significar: tudo isso que vocs j sabem e eu no
preciso repetir.
A partir da, podemos pensar no leitor dessas reticncias.
Reportamo-nos ento a Pcheux (1988:172), quando o autor define a formao discursiva
como o espao de reformulao-parfrase onde se constitui a iluso necessria de uma
intersubjetividade falante pela qual cada um sabe de antemo o que o outro vai pensar e dizer.
Pcheux frisa:
Vamos precisar o funcionamento dessa iluso no espao de reformulao-parfrase que
caracteriza uma formao discursiva: ao falar de intersubjetividade falante, no estamos
abandonando o crculo fechado da forma-sujeito; bem ao contrrio, estamos inscrevendo nessa
forma-sujeito, a necessria referncia do que eu digo quilo que um outro pode pensar, na medida
em que aquilo que eu digo no est fora do campo daquilo que eu estou determinado a no dizer.
Ao empregar expresses como eu poderia, estou determinado a, estamos designando o setor
subjetivo das virtualidades, das finalidades, das intenes, das reticncias, das recusas, etc.
(Ibidem:173)
Essa reflexo de Pcheux vem ratificar nossa convico de que as reticncias sinalizam um
espao de virtualidades, de sentidos possveis. Mas refora tambm nossa hiptese de que esse
espao no abre para qualquer coisa, pois os sentidos que so produzidos ali no esto fora do
campo daquilo que possvel dizer.
Por isso, no queremos falar, como o faz a gramtica normativa, em suprir o espao das
reticncias com a imaginao do leitor. Antes, queremos dizer que o sujeito que preenche esse
espao lacunar o faz determinado ideologicamente, inscrito em uma formao discursiva,
assumindo uma certa posio-sujeito. E, por este motivo, preenche esse espao de uma forma e
150
no de outra, produz um certo sentido e no outro. No se trata, portanto, de imaginao, mas de
determinao ideolgica. Determinao que acaba por delimitar os sentidos.
Tal lacuna, no entanto, no significa um vazio de significado, como afirma Prandi, mas, ao
contrrio, expressa um silncio, que constitutivo da prpria linguagem e que significa por si
mesmo, conforme pudemos constatar no captulo 2/seo 2.5. com Orlandi (1993b).
Nesta perspectiva, as reticncias no so um vazio, uma comunicao sem expresso. So
um espao lacunar, sim, mas um espao carregado de significao.
Tal espao, para ns, no tem a funo, como afirma Maingueneau, de, ao indicar que ali
alguma coisa foi omitida, preservar a boa formao do enunciado. No nosso ponto de vista, quando
o sujeito-autor emprega as reticncias, no porque no tenha conseguido completar o que queria
dizer. No se trata, portanto, de manter a organizao do enunciado. Antes, ao indicar que algo foi
suprimido, as reticncias cumprem outra funo: abrem espao para o dizer do outro, marcam para
o sujeito um lugar de interpretao, de interferncia.
As reticncias, consideradas desta perspectiva, colocam ento um sentido que no fechado
pelo autor, que no evidente, ou que, pelo menos, no expresso.
A atribuio de sentidos s reticncias, portanto, uma questo de leitura.
Nesses termos, os sentidos atribudos s reticncias tm relao direta com o sujeito-leitor,
sujeito que socialmente determinado e que tem suas prprias histrias de leitura. isso que, no
nosso entender, permite que sejam possveis vrias leituras (mas no qualquer uma) para um
mesmo texto com reticncias.
Ampliando nosso raciocnio, diramos que, se so possveis vrias leituras para as
reticncias, so possveis tambm vrias formas de reescrev-las, de rediz-las. Ou seja: diferentes
leitores, lendo diferentemente as reticncias, vo rediz-las tambm diferentemente.
Em outras palavras: acreditamos que as reticncias geram, nas reescritas dos textos,
diferentes gestos de interpretao.
Examinemos novamente, agora, a distino elipse/reticncias, apresentada por Prandi (1991)
e que, como vimos, na seo 3.2.1.2., trata a elipse como figura gramatical do silncio e considera
as reticncias como figura textual do silncio. Existe a, pois, uma separao entre as duas.
Pensar sobre a elipse como fato gramatical significa conceber a elipse como uma figura que
possibilita a quem escreve omitir alguma coisa sem ferir a boa formao de um enunciado, uma
vez que os contedos omitidos podem ser recuperados. E pensar sobre as reticncias como figura
textual implica supor que esses contedos no so recuperveis gramaticalmente, mas que isso no
fere a formao do enunciado, pois o interlocutor pode recuperar, pela sua interpretao, esses
contedos.
151
Em ambos os casos, parece que Prandi preocupa-se com a organizao da lngua, e no com
a ordem da mesma. E dessa ordem que queremos nos ocupar. Ou seja: queremos ultrapassar a
noo de organizao da lngua, como regra e sistematicidade, e chegar ao funcionamento e falha
da lngua e da histria, pois isso que nos permite colocar em jogo as noes de equvoco e
interpretao.
Desse modo, nos mais conveniente retomar as consideraes de Haroche (1992)52, quando
a autora, tratando da elipse, afirma que esta no uma falta, uma realizao vazia, mas, antes,
um lugar de emergncia do sujeito, lugar em que se encontram lingstica e ideologia, sinal da
incompletude do discurso.
Frente a essas colocaes, retomamos tambm o pensamento de Indursky (1990), para quem
h dois tipos de elipse que remetem para a incompletude da linguagem: a lingstica e a discursiva,
sendo esta ltima uma indeterminao do discurso, que desobriga o sujeito de dizer, de assumir a
responsabilidade pelo dizer.
Tais reflexes abrem caminho para que pensemos sobre as reticncias como incompletude do
discurso, ou seja, como a sinalizao de um espao em que o dizer no est completo. E esse
fato, o do dizer no estar completo, que possibilita que, naquele espao de incompletude
materializado pelas reticncias, sejam produzidos sentidos diferentes.
Isto nos permite usar os termos de Catach (1980) conforme captulo 3/seo 3.2 e dizer
ainda que as reticncias expressam uma presena-ausncia, o que nos leva a consider-las
tambm como palavras sem palavras, como guias do sentido.
Nestes termos, as reticncias representam uma (presena)-ausncia e revelam uma
incompletude pois sinalizam que naquele espao cabem sentidos que no chegaram a ser
expressos mas revelam, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, um excesso de sentido53, um alm
interpretativo, pois apontam para sentidos produzidos pelo sujeito-autor. Esse excesso de sentidos,
que o produtor do texto-origem no diz, dizendo, est, portanto, no interdiscurso. As reticncias,
assim, mostram que cabe ao leitor compreender o modo como esses sentidos significam.
Neste sentido, a leitura das reticncias se constitui em um acrscimo, em um a mais, que, por
sua vez, tambm vem do interdiscurso; desta vez, porm, o sujeito que produz essa operao j o
sujeito-leitor. E isso nos possibilita conceber a leitura das reticncias como uma incisa.
Esse a mais que se acrescenta pela leitura, representa ento um preenchimento, que pode ser
a explicitao dos sentidos que j esto l, sem palavras, produzidos pelo autor, ou a produo dos
52
53
Tais consideraes, bem como as de Indursky (1990) podem ser encontradas neste mesmo captulo/seo 3.2.1.4.1.
Estamos retomando aqui os termos de Maingueneau (1996).
152
sentidos possveis mas no inesperados de ocuparem aquele espao de incompletude discursiva
materialmente sinalizada.
Podemos, neste ponto, estabelecer algumas relaes entre reticncias, elipse e incisa.
Assim, diramos que a elipse pertence ao texto-origem e ao sujeito do discurso. J a incisa
pertence ao leitor e a tudo que ele produz.
As reticncias, nesta perspectiva, podem ser concebidas como o lugar onde esses dois
sujeitos se encontram, nos dois extremos desse processo: o primeiro o sujeito-autor na
produo do texto e sobre elipses; o segundo o sujeito-leitor na produo da leitura e sobre
incisas. Os dois processos, lembremos, ancoram-se no interdiscurso.
Tudo isso nos permite imaginar que o processo discursivo da leitura das reticncias possa
produzir diferentes formas de relacionamento do sujeito-leitor com a incompletude do discurso, o
que nos leva, conseqentemente, a considerar tambm a existncia de diferentes formas de
preenchimento dessa incompletude.
Em outras palavras: havendo a manuteno, pelo sujeito-leitor, do sentido sinalizado pelo
sujeito-autor quando ele usa as reticncias, estaramos diante de um relacionamento com a
incompletude diferente daquele que poderia acontecer se, por exemplo, o sujeito-leitor fizesse
deslizar os sentidos produzidos pelo sujeito-autor. Da mesma forma, um menor ou um maior
deslizamento de sentido na leitura das reticncias poderia nos indicar tambm uma forma distinta
de relacionamento com a incompletude do discurso, indicando que os sentidos ali produzidos vm
da mesma FD ou de uma FD diferente.
Estendendo nosso raciocnio, diramos ainda que, nesses diferentes casos manuteno do
sentido, pequeno deslizamento, maior deslizamento estaramos diante de diferentes formas de
preenchimento do espao lacunar materializado pelas reticncias.
Assim, se podem ser consideradas como sinal, como sinalizao de incompletude, somente
porque estamos pensando em termos de leitura.
Quer dizer: as reticncias marcam, apontam, sinalizam, para um sujeito-leitor, um lugar
possvel de entrada no discurso, um espao propcio interpretao. Elas sinalizam a incompletude
do dizer e convidam o sujeito-leitor a interagir com essa incompletude, sob a ao da ideologia.
Em outras palavras: as reticncias so um espao discursivo de produo de sentidos. Elas
so um sinal do silncio do discurso, pontos por onde os sentidos podem deslizar.
No
acreditamos, porm, que, nesse espao de silncio, os sentidos possam vir a ser outros.
Diramos ainda que esse silncio, de modo peculiar, no instaurado por palavras, isto , ele
no existe nas palavras, significando o no-dito, nem surge quando, ao dizer algo, apagamos outros
sentidos possveis. Esse silncio est ligado exatamente ausncia de palavras, que
153
presentificada pelo uso das reticncias. Essa ausncia, no entanto, como j frisamos, no significa
carncia, vazio, mas a desobrigao de dizer, por causa do excesso de sentido e pela intuio da
incompletude da linguagem.
Neste sentido, as reticncias so uma falta necessria e conveniente, pois, ao no-dizer,
dizem. E mais: ao no dizer, deixam espao para o dizer do outro, dando lugar a gestos de
interpretao. assim que as reticncias instauram, e sinalizam, o silncio do sujeito do discurso.
Silncio que, como j referimos anteriormente captulo 2/seo 2.5 , para ns, um discurso
em suspenso, ou seja, o sujeito-autor silencia, suspende seu discurso, e d lugar ao dizer do
outro.
Um silncio de tal ordem discurso em suspenso significa por si mesmo, permanece
como suspenso e significa. Seu preenchimento, nesta perspectiva, no significa a traduo do
silncio em palavras, mas a indicao, pelo sujeito-leitor, de sua compreenso do modo como
aquela suspenso significa, isto , de sua relao com a incompletude da linguagem e de sua
ancoragem no interdiscurso.
A reescrita de textos sinalizados pelas reticncias, nesta medida, o espao onde se realizam
esses gestos de interpretao. Quer dizer: a reescrita a materialidade da leitura. Ela desvela esse
processo complexo em que o sujeito-leitor lida com a incompletude do discurso e, ilusoriamente,
procura completar esse discurso, tenta preencher suas brechas. Ao faz-lo, imagina-se a fonte de
um novo dizer, e esquece que produz um discurso tambm dotado de incompletude.
Reescrever um texto com reticncias, assim, significa, para o sujeito-leitor, estabelecer uma
relao com a incompletude (sinalizada) do dizer. O texto reescrito, neste sentido, passa a ser a
expresso mais visvel, mais palpvel desse processo fictcio e ilusrio de preenchimento das
brechas do discurso, sinalizadas pelas reticncias pelo sujeito-autor. Lembremos que esse processo
tem em sua origem um sujeito-leitor, assujeitado ideologicamente, que procura realizar o sentido
que ele prprio constri a partir da sua relao com aquele texto.
Podemos falar ento em ler/ reescrever as reticncias, o que no significa preencher uma
falta ou recuperar um vazio, mas realizar um trabalho sobre a incompletude do texto.
No se trata ento, voltamos a frisar, para o sujeito que l/reescreve, de transformar um
silncio em palavras, mas de operar com a incompletude sinalizada pelas reticncias, de retomar o
discurso a partir da sua posio-sujeito. Posio essa que, orientada pelos sinais discursivos das
reticncias, pela incompletude ali expressa, pode acabar sendo a mesma do sujeito-autor.
neste sentido que reafirmamos que a leitura/reescrita das reticncias revela a liberdade do
sujeito, que, inscrito em uma determinada FD e assumindo uma determinada posio-sujeito, lida
154
com a incompletude do discurso e termina assumindo a responsabilidade pelo dito,
responsabilidade que o sujeito-autor do texto (e das reticncias) no assumiu:
bom lembrar, no entanto, que, mesmo sem estar expresso, o dizer do sujeito-autor, de
alguma forma, paira sobre as reticncias. Quer dizer: o texto, com suas pistas, vai nos revelando a
posio-sujeito do autor e, com isso, as reticncias produzem sentidos. com esse sentido
imaginrio que, em primeiro lugar, o sujeito-leitor se depara.
Isso significa, na nossa perspectiva, que no existe nas reticncias um silncio absoluto, onde
caberia qualquer coisa. Se o silncio fosse absoluto, seria inatingvel, e no haveria lugar para a
ao do sujeito-leitor.
Assim, podemos dizer que as reticncias so um silncio que fala. E com a voz desse
silncio que o sujeito-leitor e o sujeito que reescreve se relacionam: harmonizando-se,
questionando.
As reticncias so, neste sentido, como j afirmamos anteriormente, lacunas repletas de
significao. O sujeito-leitor, ao reescrev-las, num entrecruzamento com os sentidos (no-ditos)
do sujeito-autor, preenche esses espaos, determinado ideologicamente, com os seus sentidos.
O sujeito-leitor e o sujeito-reescritor, nesta medida, no so invasores, pois no esto
entrando no territrio alheio, no esto apropriando-se do dizer do outro. Ao contrrio, quando
penetra no discurso pelo espao sinalizado pelas reticncias, e reescreve, o sujeito-leitor est num
terreno que j no pertence mais ao sujeito-autor, mas que passa a ser o seu espao (sabendo-se
que isso uma iluso, pois o sujeito nunca est sozinho, e nunca dono do seu dizer). Se esse
espao pode ser considerado como sendo do sujeito-leitor porque ali que ele se mostra, se
exibe, em seu gesto de interpretao, porque o espao de emergncia do sujeito-leitor, espao em
que este pode ser apreendido.
Eis a reflexo que construmos, em um primeiro momento, sobre uma concepo discursiva
das reticncias. Esperamos, no entanto, ampliar essas questes atravs de nossas anlises.
Passemos agora a refletir sobre o outro sinal de pontuao em estudo: o ponto de
interrogao.
3.2.2 O ponto de interrogao
O cara que inventou o ponto de interrogao, esse sim,
pode dizer que acabou com todas as dvidas
Millr Fernandes
Procurando traar o mesmo caminho percorrido no estudo das reticncias, vamos examinar o
ponto de interrogao inicialmente sob a tica da gramtica normativa.
155
Em um segundo momento, propomo-nos a construir uma reflexo sobre a interrogao em
uma perspectiva discursiva.
3.2.2.1 O ponto de interrogao e a gramtica normativa
De acordo com a gramtica normativa, o ponto de interrogao definido, de modo geral,
como o sinal que se utiliza no fim de uma orao para indicar uma pergunta direta.
Comeamos ento nosso percurso terico examinando a Grammatica Philosophica da
Lingua Portugueza, de Jeronymo Soares Barboza (1830), que afirma o seguinte:
Toda a orao, que faz sentido perfeito, e grammaticalmente independente de outra, quer seja
pequena, quer grande, quer conste de huma so proposio, quer de muitas; tem hum ponto
simples no fim: se he simplesmente enunciativa. O que aqui mesmo se v. Se a orao porm no
affirmar simplesmente, mas perguntar alguma couza; tem ponto de interrogao, como: Quem fez
o Ceo e a Terra? (Barboza,1830:86)
Semelhante posio adotada na Grammatica Portugueza Elementar, de A. Epiphanio da
Silva Dias (1887:144): O ponto de interrogao, pelo seu nome indica o fim para que serve.
Tambm Jlio Ribeiro (1900:319), com sua Grammatica Portugueza, define o ponto de
interrogao: O ponto de interrogao pe-se no fim das sentenas interrogativas. Ex: Como
passa?. O autor acrescenta ainda algumas observaes e lembra que, muitas vezes, o verbo est
em forma interrogativa sem que haja interrogao no pensamento e, neste caso, no se usa o ponto
de interrogao. E d o seguinte exemplo: Fazem-lhe a menor observao, zanga-se.
Fazemos referncia tambm a Joo Ribeiro (1911:346), que, na Grammatica Portugueza,
define assim o ponto de interrogao: Colloca-se no fim de uma interrogao (excepto no
discurso indirecto): Queres ir?.
Lembramos ainda Francisco da Silveira Bueno, em sua Gramtica Normativa da Lngua
Portuguesa (1956), que define da seguinte maneira o ponto de interrogao:
Emprega-se, como o nome diz, para fazer uma pergunta, uma interrogao. Ex: Que mais queres,
Sio? E, entre os bosques sombrios, o meu colar de cem cidades deslumbrantes? (Bilac, Poesias,
in: Bueno, 1956:464)
Em Eduardo Carlos Pereira (1957: 385-6), encontramos o seguinte: O ponto de interrogao
uma notao colocada no fim da sentena para indicar uma pergunta direta, com entoao
apropriada: Por que no partistes? Perguntou o cavaleiro.
156
Said Ali (1965), por sua vez, ao discorrer sobre a interrogao, afirma:
Inconfundvel com a sentena expositiva, de que se utiliza o indivduo falante para transmitir seus
pensamentos a outrem, a frase que ele lhe dirige sob a forma de pergunta, quer proferida
isoladamente, quer em meio a um discurso. Percebe-a o ouvinte logo pela tonalidade mais alta
que, em frase de certa extenso, costuma ser mais notria no fim, ao contrrio das frases
expositivas, as quais em geral terminam por uma nota mais grave. Confrontem-se: Chove e
Chove?, Ficars e Ficars?. ( Said Ali, 1965:250)
Em Napoleo Mendes de Almeida (1961: 482), encontramos tambm uma definio para
esse sinal de pontuao: Ponto de interrogao o sinal que se coloca no fim de uma orao para
indicar uma pergunta direta. Ex: Quem quer ir?.
Bechara (1991) tambm ocupa-se do ponto de interrogao: Pe-se no fim da orao
enunciada com entoao interrogativa. Ex: Esqueceu alguma cousa? perguntou Marcela de p, no
patamar (Machado de Assis, Brs Cubas, in: Bechara, 1991:335).
Em Celso Cunha (1975), temos ainda: o sinal que se usa no fim de qualquer interrogao
direta, ainda que a pergunta no exija resposta. Ex: Quem sou? Para onde vou? Qual a minha
origem? (A. dos Anjos. In: Cunha, 1975:603).
interessante observar que Celso Cunha, ao contrrio dos demais gramticos, levanta a
possibilidade de a interrogao no exigir uma resposta, o que nos sugere que haveria casos em
que o interlocutor solicitado e casos em que nada se espera dele.
O gramtico refere-se ainda a outra situao envolvendo a interrogao: casos em que a
pergunta envolve dvida, e nos quais se costuma fazer uso de reticncias e ponto de interrogao.
Por exemplo: Se sou alegre ou triste?... Francamente, no o sei.(F. Pessoa, Ibidem: 603).
As gramticas costumam ainda apontar os casos em que o ponto de interrogao pode ser
empregado. Temos ento, por exemplo:
1) Aparece, por vezes, entre parnteses, como frase intercalada. Ex: Ao acabarem todos / s
resta ao homem / (estar equipado?) / a difcil e desagradvel viagem / de si a si mesmo. (Carlos
Drumomd de Andrade. In: Barros, 1991: 57).
2) No raramente combina-se com o ponto de exclamao e/ou reticncias. Ex: Eu me
recolherei um minuto e escreverei: Onde est a volpia?... ( V. Moraes. In: Barros, 1991:57).
3) Nas perguntas que denotam surpresa, ou naquelas que no tm endereo nem resposta,
empregam-se por vezes combinados o ponto de interrogao e o ponto de exclamao. Ex: Quem
que no conhece Coimbra?!!! (Branquinho da Fonseca. In: Cunha & Cintra, 1985:638).
4) Colocao do ponto de interrogao entre parnteses, para indicar dvidas ou ironia. Ex:
... e remeta ao escalo / que, no Palcio da Guerra / estuda, de lei na mo, / o que diz uma cantora
/ dentro (?) da Constituio (C. D. Andrade. In: Barros:58).
157
Praticamente todos esses manuais sobre a lngua frisam que o ponto de interrogao no
deve ser empregado em perguntas indiretas, nas quais deve-se usar o ponto final.
Eis a, em linhas gerais, o que se encontra sobre o ponto de interrogao. Passemos agora a
refletir sobre outras possibilidades.
3.2.2.2 O ponto de interrogao e a enunciao
Para refletir sobre a interrogao a partir da perspectiva terica da enunciao, tomamos
como ponto de referncia a filosofia analtica, que trata a linguagem como ao e que estabelece
uma linha de filiao ao pensamento de Wittgenstein, para quem o sentido de uma palavra seu
uso na linguagem, ou seja, o sentido de uma palavra so seus usos nos jogos de linguagem de que
participa.
Austin, no entanto, o primeiro e principal formulador da Teoria dos Atos de Fala, atravs
da obra Quando dizer fazer, que data de 1962, e na qual o autor, pelo estudo da oposio entre o
que denomina de performativos e constatativos, procura verificar em que medida dizer alguma
coisa fazer algo.
Antes de Austin, a linguagem era considerada como um conjunto de afirmaes sobre fatos
de um mundo real ou possvel, e, assim, a referncia era a sua funo principal. Nesta perspectiva,
o objetivo dos estudos lingsticos era observar a veracidade ou a falsidade dos enunciados que,
quando falhavam em sua tarefa de referir, eram considerados como sem-sentido.
Em uma segunda fase de seu trabalho, Austin supera essa dicotomia e introduz a noo de
ato ilocucional, com a qual caracteriza todos os enunciados. Assim, atribui a todos eles, alm de
uma significao que inclui referncia, um valor que se liga convencionalmente s palavras e que
se expressa no contexto de um discurso.
O ato ilocucional consiste em fazer alguma coisa quando se diz alguma coisa. Em um ato
ilocucional, portanto, sempre que se diz algo, em determinadas condies, realiza-se uma ao
convencionalmente ligada ao que se diz. Nesse sentido, so atos ilocucionrios, por exemplo: dar
uma informao, pronunciar uma sentena, anunciar uma sentena, perguntar ou responder a uma
pergunta.
Sob esta perspectiva, a interrogao considerada como um ato que se realiza ao se dizer
algo. Neste sentido, diramos que, ao ser proferida, a pergunta realiza o ato de produzir um efeito,
que o de criar o compromisso da resposta.
Os conceitos introduzidos por Austin tiveram vrios desdobramentos na filosofia da
linguagem, e um deles pode ser encontrado em Searle, em Os Atos de Fala (1981). Nesta obra,
158
Searle distingue trs tipos de atos de linguagem: a) enunciar palavras; b) referir e predicar; c)
afirmar, dar uma ordem, perguntar. Ao primeiro tipo Searle denomina de atos de enunciao; no
segundo tipo, que Searle denomina de atos proposicionais, esto includos o ato da referncia, pela
qual o locutor indica algo particular, e o ato da predicao, pela qual o locutor predica algo a
respeito do objeto particularizado pela referncia; e ao terceiro tipo, Searle denomina de atos
ilocucionais, conforme o faz Austin.
Nesta perspectiva, vrios atos proposicionais diferentes podem ser realizados dentro do
mesmo ato ilocucional. Por exemplo: a) Joo saiu (afirmao); b) Joo saiu? (pergunta); c)
Saia, Joo! (ordem). Nestes enunciados, o ato ilocucional, cada um de um modo diferente,
engaja o locutor com relao verdade da proposio: em (a), se afirma que a proposio
diferente; em (b) pergunta-se se a proposio verdadeira; em (c), se coloca a questo da verdade
futura sobre a sada de Joo.
Eis, em linhas bem gerais, uma abordagem enunciativa da interrogao. Passemos agora a
examinar a interrogao sob o ponto de vista discursivo.
3.2.2.3 O ponto de interrogao em uma perspectiva discursiva
Como j afirmamos anteriormente, concebemos a interrogao tambm como um espao de
interpretao, de ao para o sujeito-leitor.
Ao afirmar isso, tomamos como ponto de referncia Pcheux (1990:53), quando o autor
afirma: Todo enunciado, toda seqncia de enunciados , pois, lingisticamente descritvel como
uma srie (lxico-sintaticamente determinada) de pontos de deriva possveis, oferecendo lugar
interpretao.
E Pcheux acrescenta:
Por outro lado, dizer que toda descrio abre sobre a interpretao no necessariamente supor
que ela abre sobre no importa o que: a descrio de um enunciado ou de uma seqncia coloca
necessariamente em jogo (atravs da deteco de lugares vazios, de elipses, de negaes e
interrogaes, mltiplas formas de discurso relatado...) o discurso-outro como espao virtual de
leitura desse enunciado ou dessa seqncia. (Ibidem:54)
Note-se que Pcheux concebe os lugares vazios, as elipses e as interrogaes como espaos
em que se coloca em jogo o discurso-outro. Tal afirmao ratifica a posio que estamos
defendendo em todo esse trabalho.
159
E mais: ao considerar o discurso-outro como espao virtual de leitura do enunciado, o
autor nos permite reforar a concepo de que o espao vazio marcado pelas interrogaes lugar
de produo de sentidos.
Nesta medida, reafirmamos que um espao vazio, sinalizado por uma interrogao, , para
ns, diferentemente das reticncias, um espao de significao que introduz uma injuno
resposta: no d para no responder...
Trata-se, portanto, de uma incompletude: no uma incompletude que, ao materializar uma
lacuna de silncio, convida o leitor a preencher aquela lacuna por perceber que ali h um discurso
em suspenso, como acontece com as reticncias; essa incompletude convida os leitores a
preencherem aquela lacuna porque reclama por uma injuno quele discurso sinalizado como
incompleto.
assim que percebemos a interrogao, mas frisamos, no entanto, que, para ns, esse espao
no vazio, mas representa uma lacuna significante em que podem ser produzidos vrios sentidos,
mas (assim como as reticncias) no qualquer sentido.
Temos ento uma situao semelhante a que verificamos com as reticncias: a interrogao
remete a um trabalho do sujeito-autor e a resposta, a um trabalho do sujeito-leitor.
Acreditamos que a interrogao, como as reticncias, sinaliza um espao que no parece
pertencer mais ao sujeito que a produz. Ou seja: ao sinalizar seu discurso com o ponto de
interrogao, o sujeito assim como nas reticncias tambm deixa de dizer algo, mas, ao mesmo
tempo, indica que esse espao no mais dele, e sim do seu interlocutor. A diferena que, na
interrogao, essa indicao do espao do outro mais forte, isto , a interpelao do outro mais
contundente.
Por isso, dizemos que a interrogao instaura um tipo de silncio diferente, ao qual
denominamos de discurso de injuno.
Por meio desse silncio, o sujeito abdica do direito de preencher esse espao, sinalizando-o
pela interrogao; esse espao, no entanto, continua a pertencer-lhe, mas de uma forma diferente,
pois a interrogao o gesto atravs do qual o sujeito-autor associa o leitor ao seu espao
enunciativo e a ele que cabe dar seqncia enunciao.
Trata-se, portanto, de um espao que o sujeito-autor delimita com clareza, o que revela sua
iluso de que o leitor assume a interpretao apenas quando convidado. Nos demais casos,
ilusoriamente, o autor acredita que o espao de preenchimento dos sentidos lhe pertena com
exclusividade, j que tudo j est dito e ao leitor cabe apenas ler, isto decodificar. Esta a
grande iluso do sujeito-autor: a de controlar os sentidos do texto que produz.
Interrogao e reticncias so, portanto, o espao nfimo que o autor destina ao leitor.
160
Diramos ento, inicialmente, que o que distingue as reticncias da interrogao o fato de
que as reticncias representam um excesso de significao, e, pelo fato de serem excessivas, o
autor abdica de dizer, suspende o discurso e, ao no dizer, significa e o sujeito-leitor l. J a
interrogao representa um excesso de outra ordem, um lugar de significao que fica vago em
inteno direta ao leitor e, por isso, a injuno que a interrogao estabelece em relao ao outro
mais forte.
Desse modo, na origem, na escritura, ambos os sinais de pontuao reticncias e
interrogao so da alada do autor. Mas no processo da leitura h diferenas, pois, nas
reticncias, o sujeito-leitor opera j sobre um excesso de significao produzido pelo sujeito-autor,
enquanto na interrogao o sujeito-leitor age sobre um lugar que fica vago especialmente para ele54
e que o joga para o interdiscurso.
De qualquer forma, ambos os sinais de pontuao reticncias e interrogao criam uma
lacuna no discurso, um espao de ao para o leitor que, em movimentos de interpretao, podem
preencher esses espaos.
Assim, podemos dizer que a interrogao tambm sinal de incompletude do discurso, uma
vez que inscreve nesse discurso um espao lacunar.
Em outras palavras, a interrogao tambm instaura uma forma de silncio no discurso. Ser,
porm, que esse silncio significa por si mesmo, como julgamos que acontece nas reticncias?
Ser que a interrogao, sendo espao de deslizamentos, tambm espao para a transformao
dos sentidos?
Dissemos anteriormente que as reticncias so uma falta necessria e conveniente que, ao
no dizer, dizem. Elas expressam, para o sujeito-autor, uma desobrigao de dizer. Desse modo,
podem ser consideradas como um silncio que significa por si mesmo, que diz, que comporta a voz
do sujeito-autor. Como afirmamos anteriormente, trata-se de um discurso em suspenso, ou seja,
um silncio que suspende a voz do sujeito-autor para que a voz do sujeito-leitor, do outro, tenha
lugar. O sujeito-autor, assim, ao empregar as reticncias, parece disfarar a incompletude de seu
dizer: ele no diz, mas, de alguma forma (pelas reticncias), diz.
A interrogao tem um efeito diferente, pois ela no significa, para o sujeito-autor, uma
desobrigao de dizer (como as reticncias), mas significa, para o sujeito-leitor, uma obrigao de
dizer.
54
No incio dessa pesquisa, julgvamos que, diante da uma interrogao, o sujeito-leitor poderia sentir-se mais
liberados para produzir significao e romper com os sentidos estabelecidos, trabalhando o lugar da autoria. Nossas
anlises, no entanto, nos revelam que essa liberdade apenas um efeito, pois, como acontece no emprego das
reticncias, os sentidos j ficam meio determinados, e isso acaba funcionando como uma barreira para o processo de
ruptura.
161
A partir desta perspectiva, pensamos que o ponto de interrogao um silncio que fala por
si mesmo, na medida em que, pelas pistas presentes no texto, permite reconhecer o sentido que est
sendo construdo pelo sujeito-autor; mas, de forma paradoxal, esse silncio parece no dizer nada,
parece ser um vazio completo, que s poderia ser preenchido pela interferncia do interlocutor.
Para ns, portanto, a interrogao instaura no discurso uma forma de silncio que significa
no a falta do que dizer, mas uma opo por no dizer.
Isso nos permite imaginar que a interrogao, na produo, diferentemente do que ocorre
com as reticncias, no se ancora no interdiscurso, mas mobiliza o dizer do outro; esse sim, na
leitura, se ancora no interdiscurso.
Teramos uma espcie de assuno da incompletude do dizer pelo sujeito-autor, que,
ilusoriamente, sinaliza, delimita no seu discurso o ponto de interpelao do sujeito-leitor. como
se ele dissesse: a partir desse ponto, o sentido teu, e no meu.
Neste sentido, diramos que, enquanto as reticncias colocam um sentido que parece no ser
fechado ou evidente, mas previsvel, a interrogao abre um espao para um sentido que parece ser
totalmente aberto e imprevisvel, mas, que, na verdade, obedece tambm a uma previsibilidade.
Isto porque, tanto nas reticncias quanto na interrogao, o sentido construdo sob
determinadas condies e, em ambos os casos, os sentidos que se constroem manifestam um
cruzamento de discursos: do autor, do leitor, de outras posies-sujeito, de outras formaes
discursivas.
Desse modo, no qualquer sentido que pode preencher uma lacuna como a das reticncias
ou a da interrogao. E isso porque o discurso carregado de pistas que vo construindo os
sentidos, que indicam a posio-sujeito assumida por aquele que se imagina (iluso!) a origem
daquele dizer. Ou seja: o sentido construdo pelas reticncias ou pela interrogao no est apenas
nesses sinais de pontuao, mas em todo o texto em que elas so empregadas.
O resgate desses sentidos, da presena do sujeito-autor, ento realizado pela leitura, e
revelado pela reescrita do texto.
nestes termos que estamos pensando sobre a interrogao, isto , em termos de leitura, de
ao por parte do sujeito-leitor. A atribuio de sentidos interrogao, portanto, tambm uma
questo de leitura.
Desse modo, possvel imaginar que diferentes leitores leiam diferentemente uma mesma
interrogao. Quer dizer: lcito supor que, munidos de histrias de leituras distintas e
determinados
ideologicamente,
diferentes
leitores
operem
diferentemente
indeterminao do discurso, preenchendo diferentemente esse espao.
sobre
essa
162
Assim, so possveis tambm diferentes reescritas para um mesmo ponto de interrogao,
isto , diferentes gestos de interpretao, diferentes movimentos de leitura. A reescrita de um texto
com interrogao, nesta medida, tambm a manifestao, a materialidade da leitura.
Nestes termos, acreditamos que seja possvel aproximar o ponto de interrogao, assim como
as reticncias, da noo de elipse discursiva, porque ele revela uma lacuna, uma incompletude do
dizer.
Reescrever um texto que apresenta interrogao, portanto, tambm uma forma de lidar com
a incompletude do dizer. E de evidenciar a liberdade do sujeito que, inscrito em uma determinada
formao discursiva e assumindo uma determinada posio-sujeito, preenche aquele espao com
sentidos que, de alguma maneira, foram postos ali, embora no dotados de uma forma material.
o leitor, portanto, que l os sentidos e os materializa.
Ao responder interrogao, desse modo, o sujeito-leitor constri a sua leitura, produz os
seus sentidos.
Ao finalizar essa seo, queremos ressaltar que o que aqui foi apresentado fruto de uma
reflexo apenas inicial sobre o ponto de interrogao e sua relao com o processo discursivo da
leitura, pois refletir sobre a interrogao a partir da perspectiva discursiva caminhar em terreno
essencialmente novo. Na verdade, estamos ainda no plano das conjecturas. Esperamos, porm,
com nossas anlises, ampliar esse quadro terico e apresentar, na parte final deste estudo,
concluses mais decisivas.
163
SEGUNDA PARTE
DA TEORIA PRTICA
1. PREPARANDO A ANLISE
Como j afirmamos anteriormente, este estudo enquadra-se na perspectiva terica da Anlise
do Discurso. Expor a metodologia que norteia um trabalho de anlise, em AD, no entanto, significa
explicitar que a metodologia se constri num movimento contnuo e permanente entre teoria e
prtica.
Neste captulo, portanto, examinaremos os princpios gerais que norteiam este trabalho de
pesquisa.
164
1.1 PRINCPIOS TERICOS
Podemos dizer, inicialmente, que a AD busca construir um mtodo de compreenso dos
objetos e, por isso, procura tratar dos processos de constituio do fenmeno lingstico e no s de
seu produto. Assim, embora pressuponha a metodologia lingstica, a AD no deixa de considerar o
histrico e o ideolgico inscritos no objeto de anlise.
A AD, assim, trabalha um objeto inscrito na relao da lngua histria. E isso nos coloca, de
um lado, o conceito de formao discursiva e, de outro, a distino entre processo discursivo e base
lingstica55 . Desta forma, se os processos discursivos constituem a fonte da produo dos efeitos
de sentido no discurso, a lngua, pensada como uma instncia relativamente autnoma, o lugar
material onde se realizam os efeitos de sentido.
possvel considerar ento que a AD no um nvel diferente de anlise, mas um ponto de
vista diferente, o que implica tambm a metodologia.
Duas passagens se fazem ento, quando se faz Anlise do Discurso: em termos de operao,
da segmentao para o recorte; em termos de unidades, da frase para o texto. Abandona-se o
domnio da distribuio de segmentos por uma bem menos objetiva relao das partes com o todo.
E a se define o recorte.
O recorte, de acordo com Orlandi (1987:139), uma unidade discursiva: fragmento
correlacionado de linguagem - e situao. O recorte pedao, j que a incompletude a condio
da linguagem. Com isso, apaga-se o limite que separa o meu dizer e o do outro.
O texto, assim, o todo que organiza os recortes, e que tem compromisso com as condies
de produo, com a situao discursiva. Essa situao instaura um espao entre enunciados
efetivamente organizados, espao que no vazio, mas social.
Ao de-centralizar o conceito de informao, em favor do de interao e de confronto entre
interlocutores no prprio ato da linguagem, somos levados a pensar no sentido em sua pluralidade.
Deste modo, no se mantm a noo de um sentido literal em relao aos outros sentidos, ou seja,
os efeitos de sentido que se constituiriam no uso da linguagem. No h ento um centro, que o
sentido literal, e suas margens, que so os efeitos de sentido. S h margens, isto , todos os
sentidos so possveis e, em certas condies de produo, h a dominncia de um deles. O sentido
literal, assim, um efeito discursivo.
55
O conceito de base lingustica explica o fato de a lngua aparecer como a base comum de processos lingsticos
diferentes.
165
Quando decidimos estudar essas questes, como j afirmamos na introduo desta pesquisa,
optamos por trabalhar com reescritas e decidimos tambm que os nossos produtores de textos
seriam os estudantes do Curso de Letras da Fundao Universidade Federal do Rio Grande.
O que norteou essa escolha foi a seguinte questo: em que medida um estudante universitrio,
que solicitado a reescrever ou a criar um novo texto, poderia ser considerado autor de seu texto?
Essa autoria aconteceria sempre? No aconteceria nunca? Haveria limites para sua existncia?
Responder a tais questes nos conduzia a pensar, como j fizemos na primeira parte desse
estudo, que o autor a representao do sujeito da qual se cobra coerncia, respeito aos padres
estabelecidos, progresso, relevncia, originalidade, unidade. Todas essas exigncias fazem parte do
jogo no qual o estudante se insere quando comea a escrever. O que preciso ento para que ele
saia da posio de estudante e assuma a posio de autor? Isso possvel?
A resposta para essa questo passa pela noo de autoria, anteriormente explorada (na seo
2.6.): para que o sujeito se coloque como autor, necessrio que ele estabelea uma relao com a
exterioridade, ao mesmo tempo em que ele se remete sua prpria interioridade. Quer dizer:
necessria sua insero na cultura, no contexto histrico-social.
Em busca de nossas respostas, tomamos ento alguns posicionamentos a respeito da relao
aluno/ escola/ autoria.
Partimos ento das colocaes de Orlandi (1993a:79), quando a autora afirma que, para o
aluno se representar como autor, preciso que ele assuma, na instituio-escola e fora dela, esse
papel social, na sua relao com a linguagem: constituir-se e mostrar-se como autor.
Isso significa que, para constituir-se autor, o aluno precisa passar da multiplicidade de
representaes possveis do sujeito, enquanto enunciador, para a organizao dessa disperso num
todo coerente com que se representa o autor, responsvel pela unidade de seu discurso.
Como podemos notar, Orlandi alarga o caminho definido por Foucault, em que ele restringe a
noo de autor aos produtores originais de linguagem.
Tambm Gallo (1994) amplia essa questo, mostrando que, pelo fato de a escola ser marcada
pelo funcionamento do discurso pedaggico56, os alunos no tm acesso ao processo da
textualizao. No entanto, a autora acrescenta que, quando a textualizao praticada na escola, ela
se torna uma possibilidade de acesso ao autor dentro da mesma. Para isso, a escola deve abrir-se
em direo a seu exterior, onde as posies discursivas que podem produzir o efeito-autor no so
56
Para Gallo (1992), o discurso pedaggico aquele produzido na escola, na relao professor/aluno. Para a autora, a
escola constitui o lugar de dois tipos de discurso: o Discurso da Oralidade (D.O.) e o Discurso da escrita (D.E.). O D.E.
aquele cujo efeito de fechamento, de finalizao. E o D.O. aquele cujo efeito de permanente ambigidade e de
permanente abertura.
166
recalcadas. Nesta perspectiva, portanto, nem a prtica de textualizao, nem o efeito-autor, nem o
efeito-texto so dependentes da escola para acontecerem.
Assim, a textualizao depende, na verdade, de que o sujeito se reconhea como sujeito do
discurso onde ele se inscreve, sendo esse discurso no circular ou avaliativo, como o caso do
discurso pedaggico.
As perspectivas adotadas por essas autoras nos permitem pular para a nossa questo:
produo de textos por estudantes universitrios, em uma situao na qual no existe a relao
professor/aluno, mas apenas um convite para participar de uma pesquisa (embora a solicitao
esteja sendo feita por um professor, e para pessoas que so alunos). Quer dizer: nesse processo, os
estudantes sabem que no sero avaliados, que no haver certo ou errado para o que escreverem,
que seus textos no sero ligados a seus nomes (pois o solicitante, na maioria dos casos, no os
conhece), e que possivelmente no tero sequer o retorno de seu trabalho.
Em outras palavras: perdem-se aqui as caractersticas do discurso pedaggico. Alm disso,
camos fora dos limites da escola e entramos no espao da universidade.
Fazemos referncia ainda posio de Indursky (1999), quando a autora, discorrendo sobre a
prtica discursiva da leitura, afirma que possvel criar situaes que facultem aos alunos produzir
movimentos de leitura, desconstruir o efeito-texto e construir um novo efeito-texto, que no mais
idntico ao anterior.
isso que, para Indursky, pode fazer o sujeito-leitor aluno emergir da prtica discursiva da
leitura como um sujeito-autor, que historiciza e produz sentidos, que resignifica os textos, tomados
na fugaz provisoriedade do efeito-texto e seus possveis efeitos de sentido (Ibidem:9).
A partir dessas reflexes julgamos que podemos responder questo que colocamos no incio
deste captulo: possvel que o aluno para ns, o estudante se torne autor, se considerarmos a
autoria como um movimento de resignificao, de historizao de sentidos. Assim, mesmo no
tendo um nome de autor, mesmo no sendo obrigatoriamente o produtor original de linguagem,
como entende Foucault, possvel o estudante ser autor.
Desse modo, possvel considerar tambm a relao entre a leitura e a autoria, ou seja,
possvel pensar que o estudante, quando l o texto-origem, assume inicialmente uma funo-leitor,
mas, pela reescrita, pode vir a assumir a posio-autor.
Com isso estamos querendo dizer que a prtica discursiva da leitura, pelo processo da
reescrita, pode produzir autoria. Mesmo dentro da universidade.
No entanto, a partir da, uma outra pergunta se coloca: e o aluno que repete, que apenas
reescreve, pode ser autor? Esse aluno ser sempre autor? Nunca? s vezes?
167
Como podemos notar, essas so as questes para as quais buscamos respostas. Respostas que
somente nossas anlises podem nos oferecer.
Finalizando essa seo, diramos que, quando se trata de AD, no h modelos que se apliquem
de modo indiferenciado a todo e qualquer trabalho. A metodologia, assim, construda sempre na e
pela prpria prtica terico-analtica.
Na seo seguinte, ento, passamos a apresentar os procedimentos metodolgicos que
nortearam nossas anlises.
1.1 PRINCPIOS METODOLGICOS
Foram as indagaes que nortearam este estudo que determinaram os princpios
metodolgicos necessrios anlise do discurso que constituiu nosso corpus discursivo.
Partimos, no entanto, mais uma vez, de um referencial terico e nos baseamos em Courtine
(1981:24), quando ele afirma que, em AD, parte-se de um universal discursivo, entendido como um
conjunto potencial de discursos que podem ser objeto de anlise, para se estabelecer um campo
discursivo de referncia, constitudo por um tipo especfico de discurso.
Neste estudo, o tipo de discurso que focalizamos foi o discurso de cunho poltico que circula
em textos da atualidade. Este o nosso campo discursivo.
Nosso trabalho teve ento como origem a seguinte exigncia: analisar reescritas de um texto
que empregasse as reticncias e de outro que empregasse o ponto de interrogao. Esse
procedimento teve em sua base a hiptese de que o emprego de certos sinais de pontuao gera
silncios no discurso do sujeito-autor, os quais possibilitam ao sujeito-leitor diferentes gestos de
interpretao. A esses textos, conforme j afirmamos na introduo, denominamos de textos
sinalizados.
Decidimos ainda que tais sinais de pontuao seriam examinados em textos de humor. Foram
esses os critrios que conduziram escolha dos textos Experincia Nova uma crnica de Lus
Fernando Verssimo, da obra Novas Comdias da Vida Privada (anexo 1) e
Arc e os
economistas um texto selecionado da revista Veja, constitudo por um dilogo entre um
marciano e um terrqueo (anexo 2).
Em contrapartida, decidimos analisar reescritas de outro texto que no fizesse uso desses
sinais de pontuao, ao qual denominamos de texto no-sinalizado. Isso nos levou, por
conseqncia, a decidir que o texto no-sinalizado pelas reticncias ou pela interrogao tambm
no deveria ser de humor. Da nossa escolha pelo texto A grande fogueira um texto extrado do
jornal Zero Hora (anexo 3).
168
A cada um dos textos escolhidos, denominamos, exclusivamente com fins metodolgicos, de
texto-origem (que representamos por TO).
O nosso primeiro movimento de anlise consistiu no exame desses textos. Na nossa
perspectiva, esse primeiro passo era imprescindvel para que, mais adiante, ao analisar as reescritas,
pudssemos estabelecer as variaes de sentido que aconteciam em relao ao texto que,
ilusoriamente, estava funcionando como origem do novo texto.
A anlise dos textos-origem foi dividida em blocos discursivos. No caso dos textos
sinalizados, o bloco discursivo corresponde ocorrncia do enunciado que apresenta o sinal
discursivo em exame. Assim, no texto sinalizado pelas reticncias, cada bloco discursivo
constitudo por um enunciado que apresenta reticncias e, no caso do texto sinalizado pela
interrogao, cada bloco discursivo constitudo por um enunciado que apresenta interrogao. J
nos textos no-sinalizados, os blocos discursivos so constitudos por alguns enunciados que,
enquanto analistas, julgamos que poderiam nos apontar os efeitos de sentido produzidos naquele
texto. Salientamos, no entanto, que, ao examinar esse texto no-sinalizado, no buscamos a
exaustividade, ou seja, no pretendemos dar conta de todos os efeitos de sentidos construdos pelo
sujeito-autor, o que nos desobriga de analisar todos os enunciados ali presentes.
Em ambos os casos, portanto, seja no exame dos blocos discursivos dos textos sinalizados,
seja no exame dos blocos discursivos dos textos no-sinalizados, procuramos identificar a posiosujeito assumida pelo sujeito-autor do texto-origem, a fim de, mais tarde, na anlise do nosso corpus
discursivo, poder estabelecer as relaes entre os sentidos produzidos no texto-origem e nas suas
reescritas.
Uma vez delimitado o espao discursivo, o segundo passo da pesquisa consistiu na coleta
daquilo que denominamos retomadas de TO (produzidas sob o comando reescreva o texto lido),
e daquilo que denominamos de novos textos (produzidos a partir do comando produza um novo
texto a partir do texto lido). Tal distino teve como objetivo verificar se, a partir dos diferentes
comandos, as leituras poderiam enveredar por caminhos distintos. O resultado dessa coleta foi a
construo de um corpus experimental, de acordo com os termos de Courtine (1981:26). Tal corpus
foi constitudo pela comparao entre os vrios textos, ou seja, pela comparao entre o que
denominamos metodologicamente de texto-origem e as suas diferentes reescritas.
A partir da, efetuou-se a construo do nosso corpus discursivo, que, ainda de acordo com os
termos de Courtine pode ser considerado um corpus complexo.
Para Courtine, as seqncias discursivas podem receber uma organizao segundo um plano
estruturado em um certo nmero de dimenses, o que vai dar uma forma ao corpus discursivo. Essa
forma pode ser representada como uma combinao simples ou como uma combinao complexa
169
de algumas dimenses, cada uma representando a oposio de duas restries possveis na srie de
homogeneizaes que formam o corpus. Por exemplo: um corpus constitudo por uma seqncia
discursiva ou por vrias seqncias; um corpus constitudo de seqncias discursivas produzidas
por um locutor ou por vrios locutores; um corpus constitudo por seqncias discursivas
produzidas a partir de posies ideolgicas homogneas ou heterogneas.
Podemos afirmar ento, a partir das colocaes de Courtine, que nosso corpus complexo, na
medida em que combina vrias dessas dimenses, ou seja, rene vrias seqncias discursivas,
produzidas por vrios locutores, com posies ideolgicas heterogneas.
A formao do nosso corpus discursivo, assim, se realizou pela coleta de seqncias
discursivas representativas do corpus experimental.
O critrio de seleo foi determinado pela presena de pistas capazes de revelar os possveis
gestos de interpretao dos sujeitos-leitores. Tais pistas, no caso dos textos sinalizados, nos
apontavam os sentidos produzidos pela leitura e reescrita das reticncias ou da interrogao. E, no
caso do texto do texto no-sinalizado, as pistas nos conduziam aos sentidos produzidos pela leitura
e reescrita de vrios enunciados de TO.
As seqncias discursivas, assim, provm das reescritas do texto-origem. Nos textos
sinalizados, como j frisamos, os enunciados escolhidos como ponto de partida da anlise foram
aqueles que faziam uso dos sinais de pontuao em estudo. Nos textos no-sinalizados, a extrao
dessas seqncias discursivas estabeleceu uma relao com enunciados que, de uma forma mais
evidente ou menos explcita, remetiam a TO.
As seqncias discursivas foram organizadas, de acordo com os objetivos da anlise, em
recortes discursivos, os quais, como j referimos na primeira seo deste captulo, so uma
unidade discursiva, um pedao que revela a incompletude da linguagem.
Neste trabalho, os recortes foram organizados a partir da posio-sujeito assumida pelos
sujeitos-leitores nas reescritas, considerando essa posio em relao posio-sujeito assumida
pelo sujeito-autor de TO.
Uma posio-sujeito, conforme j referimos anteriormente, na primeira parte deste estudo
(captulo 2/seo 2.1.2./leitura e discursividade), designa, segundo Courtine (1981), a relao de
identificao entre sujeito enunciador e sujeito do saber de uma FD. Isto explica que diferentes
sujeitos, relacionando-se com o sujeito do saber de uma mesma FD, possam assumir diferentes
posies-sujeito.
Assim, as diferentes posies-sujeito, ou seja, as diferentes formas de identificao dos
sujeitos-leitores com o sujeito do saber de uma determinada formao discursiva, que
determinaram, em nossas anlises, a constituio dos recortes discursivos.
170
No caso dos textos sinalizados, produzimos ento os seguintes recortes discursivos,
distribudos em duas sees da anlise, que refletem os resultados obtidos na investigao.
- LEITURA E RELEITURA: a funo-autor
RECORTE 1 : a manuteno do mesmo
- LEITURA E REESCRITURA: da funo-autor posio-autor
RECORTE 2: comeando a deslocar os sentidos
RECORTE 3: deslocando mais os sentidos
Os recortes discursivos, por sua vez, foram divididos em grupos discursivos. Os grupos, para
ns, so a reunio das retomadas ou dos novos textos produzidos a partir dos textos sinalizados
pelas reticncias ou pela interrogao.
Assim, no primeiro grupo, temos as seqncias discursivas representativas das retomadas
produzidas a partir do texto sinalizado pelas reticncias; no segundo grupo, reunimos seqncias
discursivas representativas dos novos textos produzidos a partir do mesmo texto sinalizado pelas
reticncias; o terceiro grupo rene seqncias discursivas representativas das retomadas produzidas
a partir do texto sinalizado pela interrogao; e no quarto grupo, reunimos seqncias discursivas
representativas dos novos textos produzidos a partir do mesmo texto sinalizado pela interrogao.
Isso nos levou ento ao seguinte, nos trs primeiros recortes:
GRUPO 1: reticncias e retomadas
GRUPO 2: reticncias e novos textos
GRUPO 3: interrogao e retomadas
GRUPO 4: interrogao e novos textos
Nos grupos discursivos, as seqncias foram reunidas em blocos discursivos. O critrio de
constituio dos blocos discursivos foi trabalhar com os enunciados que, em TO, viessem
sinalizados ou pelas reticncias ou pela interrogao.
Em cada bloco discursivo, reunimos um nmero mximo de trs seqncias discursivas,
representativas das reescritas desses enunciados sinalizados.
J no caso dos textos no-sinalizados, produzimos os seguintes recortes discursivos,
distribudos em trs sees da anlise, que tambm refletem os resultados obtidos na investigao:
- LEITURA E RELEITURA: a funo-autor
RECORTE 4 : a manuteno do mesmo
- LEITURA E REESCRITURA: da funo-autor posio-autor
RECORTE 5: a identificao com a ordem social
RECORTE 6: a identificao com o conformismo
RECORTE 7: a identificao com os menos favorecidos
- LEITURA E ESCRITURA: da posio-autor ao efeito-autor
171
RECORTE 8: a inscrio no discurso da ordem social
RECORTE 9: a suave inscrio no discurso dos menos favorecidos
RECORTE 10: a forte inscrio no discurso dos menos favorecidos
Estes recortes discursivos foram tambm divididos em blocos discursivos. A constituio dos
blocos discursivos teve por critrio reunir seqncias discursivas que demonstrassem a forma de
acesso dos leitores a TO, ou seja, seqncias que revelassem atravs de qual enunciado os leitores
entravam no texto-origem para realizar o processo da leitura.
Em cada bloco discursivo, reunimos tambm um nmero mximo de trs seqncias
discursivas, representativas das retomadas desses enunciados.
Foram, pois, as seqncias discursivas, reunidas a partir de nossos objetivos, que organizaram
os recortes e suas subdivises e que constituram o corpus discursivo de nosso estudo. Esses
recortes, portanto, foram estabelecidos na e pela prpria anlise.
Feitas essas observaes de ordem metodolgica, passamos em seguida aos procedimentos de
anlise propriamente ditos, iniciando pelo exame dos textos sinalizados.
2. O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE TEXTOS SINALIZADOS
Neste captulo, passamos a desenvolver, de fato, os procedimentos gerais de anlise dos textos
que estamos denominando de sinalizados, isto , dos textos que apresentam os sinais discursivos de
pontuao reticncias e interrogao que consideramos como lugares de interpretao que, no
nosso entender, conduzem e influenciam a leitura dos sujeitos-leitores.
172
Nesse estudo, examinamos esses sinais discursivos em sua conjugao com o humor, ou seja,
optamos por analisar reescritas de textos sinalizados pelas reticncias ou pelo ponto de interrogao
em textos de humor.
Tal escolha deve-se ao fato de imaginarmos que o emprego dos sinais discursivos da
pontuao, aliados ao humor, possam trazer resultados interessantes em termos de leitura.
Por este motivo, iniciamos este captulo, essencialmente prtico, com uma reflexo, ainda de
cunho terico, sobre o humor, pois julgamos que isso seja necessrio para o bom desenvolvimento
das anlises.
Em um segundo momento, vamos proceder ao exame daqueles textos que denominamos de
texto-origem (TO).
Em seguida, passamos a nos deter na anlise dos textos produzidos pelos estudantes
universitrios.
2.1 O HUMOR: BREVES CONSIDERAES TERICAS
Nesta seo, vamos refletir um pouco sobre o humor, o que nos leva a passar tambm por
questes relacionadas comicidade, ao riso e ironia. Vamos ainda tecer algumas consideraes
sobre o humor poltico, j que esse tipo de humor que encontramos nos textos que analisamos
posteriormente.
2.1.1. O humor e o cmico
No Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa57, de Aurlio Buarque de Holanda (1986:909),
vamos encontrar a seguinte definio para o humor: veia cmica, graa, esprito; capacidade de
perceber, apreciar ou expressar o que cmico ou divertido.
Note-se que, por definio, humor e comicidade no so a mesma coisa, sendo o cmico o
burlesco, aquilo que faz rir porque engraado ou ridculo, e o humor a capacidade de apreciar ou
expressar o que cmico.
Tal concepo de humor est presente em Freud (1969) que, ao realizar um estudo sobre os
chistes58, reconhece no humor uma das (entre vrias) espcies do cmico, ou seja, o autor reconhece
um parentesco essencial entre os dois.
57
No fazemos referncia a todos os sentidos encontrados para a palavra humor, mas apenas aqueles que satisfazem a
nossos objetivos nessa pesquisa, que o definir o humor que encontrado nos textos e que tm como efeito a obteno
do riso.
58
Freud, ao estudar os chistes, considera-os como constitudos pelos mesmos traos da linguagem dos sonhos, a
linguagem do inconsciente.
173
Bergson (1980:10), tambm discorrendo a respeito do cmico, vai dizer que no existe
cmico fora do que propriamente humano. Assim, salienta Bergson, uma paisagem poder ser
bela, graciosa, sublime ou feia, mas nunca ser risvel. Da mesma forma, poderemos rir de um
animal, mas somente se surpreendermos nele uma atitude de homem ou uma expresso humana.
Assim, se alguns definiram o homem como um animal que sabe rir, para Bergson, o homem poderia
ter sido definido como um animal que faz rir, porque se isso acontece com qualquer outro animal ou
objeto inanimado justamente por sua semelhana com o homem.
Propp (1992:37), analisando o pensamento de Bergson sobre o fato de o cmico estar ligado
ao humano, chama a ateno para o fato de que isso j havia sido expresso antes. Afirma Propp:
Quase cinqenta anos antes de Bergson, Tchernichvski, por exemplo, j o expressara: na natureza
inorgnica no h lugar para o cmico.
Voltando a Freud, observamos que o autor afirma que um dos maiores obstculos para a
realizao do cmico aquilo que ele chama de liberao de afetos aflitivos. Vejamos o que diz
Freud:
O cmico sofre interferncia se a situao, da qual deve se desenvolver, origina, ao mesmo tempo,
a liberao de um forte afeto. Em tal caso, uma descarga da diferena operativa , via de regra,
fora de questo. Os afetos, disposio e atitude do indivduo em cada caso particular, fazem
compreensvel que o cmico surja e se esvaia de acordo com o ponto de vista de cada pessoa
particular, s havendo, em casos excepcionais, um cmico absoluto. (Freud, 1969:248-9)
Assim, para Freud, o sentimento cmico nasce com mais facilidade em casos mais ou menos
indiferentes, onde no estejam envolvidos fortemente sentimentos e interesses. Quando, por
exemplo, se produz algum dano, quando a estupidez leva maldade ou o desapontamento causa
dor, a possibilidade de um efeito cmico chega ao fim. Isso acontece quando algum no consegue
evitar tal desprazer, sua vtima ou obrigado a compartilh-lo. Porm, para uma pessoa no
envolvida, a situao contm tudo que necessrio para a obteno de um efeito cmico.
A partir dessa constatao, Freud define o humor:
O humor um meio de obter prazer apesar dos afetos dolorosos que interferem com ele; atua como
um substitutivo para a gerao desses afetos, coloca-se no lugar deles. As condies para seu
aparecimento so fornecidas se existe uma situao na qual, de acordo com nossos hbitos usuais,
devamos ser tentados a liberar um afeto penoso e ento operam sobre estes motivos que o
suprimem in statu nascendi. Nos casos ora mencionados a pessoa que vtima da ofensa, dor, etc.
pode obter um prazer humorstico, enquanto a pessoa no envolvida ri sentindo um prazer cmico.
O prazer do humor, se existe, revela-se no podemos dizer de outra forma ao custo de uma
liberao de afeto que no ocorre: procede de uma economia na despesa de afeto. (Ibidem:257)
174
Nesta perspectiva, entre as espcies do cmico, o humor a mais facilmente satisfeita, e
completa seu curso dentro de uma nica pessoa, ou seja, a participao de alguma outra pessoa nada
lhe acrescenta. Do mesmo modo, possvel guardar a fruio do prazer humorstico sem sentir
obrigao de comunic-lo.
Para Freud, no fcil dizer o que acontece em uma pessoa quando o prazer humorstico
gerado. Ele diz que possvel, porm, analisar a questo a partir dos casos em que o humor
comunicado ou compartilhado.
Ele cita ento um exemplo: um vagabundo, em seu caminho para a execuo, pede um leno
para cobrir a garganta, para no apanhar um resfriado precauo louvvel em outras
circunstncias, mas suprflua naquele momento. Para Freud, h nesta blague uma magnanimidade
na forma tenaz com que o homem agarra-se a seu habitual, recusando tudo que possa destruir esse
eu e lev-lo ao desespero. Essa espcie de grandeza de humor, para Freud, aparece nos casos em
que nossa admirao no inibida pelas circunstncias da pessoa humorstica.
Vejamos outro exemplo dado por Freud59: o bandido que se envolvera em uma conspirao
contra seu rei, Carlos I da Espanha, caindo em mos do inimigo, prev que seu destino perder a
cabea. Esse conhecimento prvio no o impede de dar-se a conhecer como um Grande Herdeiro da
Espanha, declarando que no tem inteno de renunciar aos privilgios que lhe so devidos. Um
Grande da Espanha tinha o direito de manter-se coberto perante seu senhor real e ento ele diz:
nossas cabeas tm o direito de tombar cobertas diante de ti.
Isso, segundo Freud, humor em grande escala e, se quando o ouvimos, no rimos, porque
nossa admirao sobrepuja o prazer humorstico. J no caso do vagabundo que recusa a resfriar-se
no trajeto da execuo, rimos francamente, pois nossa compaixo inibida quando compreendemos
que o diretamente interessado no se preocupa com a situao. Em conseqncia disso, a despesa
com a compaixo, j preparada, torna-se inutilizvel e podemos descarreg-la, rindo.
Essa economia de compaixo , para Freud, uma das mais freqentes formas do prazer
humorstico, sendo que as espcies de humor variam de acordo com a natureza da emoo
economizada em favor do humor: compaixo, raiva, dor, ternura, etc.
Em outros termos, o humor, na perspectiva freudiana, uma das formas possveis de liberao
de tenses ou de depreciao. Assim, se existem na sociedade mecanismos de poder e sistemas de
coeres que regulam aquilo que os indivduos podem ou devem fazer, aquilo que podem ou devem
pensar, o humor funciona como uma maneira de burlar esses mecanismos, como um afrouxamento
desses sistemas.
59
O exemplo refere-se obra Hernani, de Vtor Hugo.
175
So semelhantes as posies de Freud e Bergson (1980:11), que afirma: Dir-se-ia que o
cmico no pode produzir a sua vibrao seno caindo numa superfcie da alma bastante uniforme,
bastante calma. A indiferena seu meio natural. O riso no tem maior inimigo do que a emoo.
Com isso, Bergson no quer dizer que no se possa rir de uma pessoa que nos inspire, por
exemplo, piedade ou afeio. Neste caso, precisamos esquecer por alguns instantes essa afeio,
fazer calar essa piedade. Para o autor, uma sociedade de puras inteligncias talvez j no chorasse,
mas rir, ainda riria; a passo que almas sempre igualmente sensveis, no conheceriam o riso.
Desse modo, para Bergson, o cmico, para produzir o seu efeito, exige algo como uma
anestesia momentnea do corao. Ou seja: o cmico dirige-se inteligncia pura. Essa
inteligncia, porm, deve viver em contato com outras inteligncias, o que significa dizer que, se
vivssemos isolados, seramos privados do cmico. Neste sentido, o cmico, para Bergson,
necessita de um eco, uma espcie de repercusso que no vai at o infinito, mas que se move no
interior de um crculo, to largo quanto se quiser, mas fechado.
Em outras palavras: o nosso riso sempre o riso de um grupo. Afirma ento Bergson:
Certamente j vos aconteceu, num comboio ou numa mesa de hotel, ouvir viajantes que contam
histrias que para eles devem ser cmicas, visto que se riem com vontade. Tambm, como eles,
vs rireis delas se fsseis da mesma sociedade, mas, como no sois, no tendes vontade nenhuma
de rir. (Ibidem:12-3)
Quer dizer: o riso sempre pressupe entendimento prvio e cumplicidade com aqueles que
riem, reais ou imaginrios. A funo do riso, portanto, social, e para compreend-lo preciso
localiz-lo no seu meio natural que a sociedade.
Podemos relacionar essas afirmaes ao pensamento de Propp (1992:31), quando o autor
afirma: A dificuldade est no fato de que o nexo entre o objeto cmico e a pessoa que ri no
obrigatrio nem natural. L, onde um ri, outro no ri. A causa disso, segundo Propp, reside em
condies de ordem histrica, social, nacional e pessoal, na medida em que cada poca e cada povo
possui seu prprio e especfico sentido de humor e de cmico, que s vezes incompreensvel e
inacessvel em outras pocas.
Para ns, isso pode ser traduzido pelo fato de que os sentidos e o humor se produzem sob
determinadas condies histricas, polticas, econmicas e sociais e que a compreenso desses
sentidos e desse humor tambm se d sob diferentes condies de produo. por isso que
diferentes sujeitos, em diferentes pocas, e sob condies de produo diversas, podero rir, ou no,
a partir de um pretenso objeto de comicidade e de humor.
176
Tal concepo se reflete no pensamento de Cattelan (2001:134), quando afirma que o humor
uma forma de fazer brotar o entalado na garganta, que encontra nele prprio um mecanismo de,
no seriamente, dizer o que deve ser dito. Ele a forma de dizer de forma no sria ou oficiosa.
por isso que, para o autor, no riso est uma forma de os sentidos serem deslocados e a
histria ser construda, o que d ao humor um poder criador de novas representaes sociais que,
latentes ou ditas, deslocam as cristalizaes aparentemente bem assentadas.
Refletindo tambm sobre o aspecto social do riso, e relacionando-o ao cmico, Bergson
(1980) vai dizer que o cmico aquela face, aquela rigidez do indivduo pela qual ele se parece
com a simples coisa. Assim, o riso exprime uma imperfeio individual ou coletiva que pede
correo imediata. O riso este corretivo. O riso um certo gesto social que sublinha e reprime
uma certa distrao especial dos homens e dos acontecimentos (Bergson, 1980:74).
Em outro ponto de sua obra, o autor ratifica essa posio: ... o cmico exprime, antes de
tudo, uma certa inadaptao particular da pessoa sociedade (Ibidem:109). Assim, a comdia s
comea naquele ponto em que a pessoa de outrem deixa de nos comover. E comea com o que se
poderia chamar a rigidez vida social (Ibidem:110). Deste modo, sempre um pouco humilhante
para quem objeto dele, o riso , verdadeiramente, uma espcie de assoada social (Ibidem:111).
Considerar o riso como gesto social nos permite dizer que o humor no existe por si prprio,
mas depende de um gesto social de interpretao, ou seja, para que ele se realize, necessrio que
se recuperem as condies de sua produo.
Mais adiante, Bergson vai dizer ainda:
O riso , antes de tudo, uma correo. Feito para humilhar, deve dar pessoa que objeto dele
uma impresso penosa. Atravs dele se vinga a sociedade das liberdades praticadas para com ela.
No atingiria o seu fim se trouxesse a marca da simpatia ou da bondade. (Ibidem:155)
Novamente, encontramos correspondncia entre o pensamento de Bergson e de Propp
(1992:44), que afirma: ... o riso a punio que nos d a natureza por um defeito qualquer oculto
ao homem, defeito que se nos revela repentinamente . Quer dizer: a comicidade repousa nas
fraquezas e nas misrias humanas.
Esse pensamento ratificado por Propp, quando o autor lembra que o homem possui certo
instinto do devido, do que ele considera como normas, as quais se referem tanto ao aspecto exterior
do homem quanto norma da vida moral e intelectual. O riso, nesse sentido, revela as faltas de
correspondncia, os desvios da norma.
Existem, segundo Propp, normas de conduta social que se definem em oposio quilo que se
reconhece como inadmissvel e inaceitvel, e essas normas so diferentes para diferentes pocas,
177
diferentes povos e ambientes sociais diversos. Desse modo, toda coletividade possui, segundo
Propp, algum cdigo no escrito que abarca tanto os ideais morais como os exteriores e aos quais
todos seguem espontaneamente. Assim, a transgresso desse cdigo no escrito ao mesmo tempo
a transgresso de certos ideais coletivos ou normas de vida, ou seja, percebida como defeito, e a
descoberta dele, como tambm nos outros casos, suscita o riso (Ibidem:60).
Nesta perspectiva, ser cmica a manifestao de tudo aquilo que no corresponde a essas
normas. E quanto mais exaltadas as diferenas, mais provvel a comicidade.
Isto ratifica a nossa posio quanto ao fato de considerar o humor como um gesto social de
interpretao, ou seja, a atribuio de sentidos a essas diferenas uma questo de condies de
produo: a diferena s faz sentido para quem conhece o mesmo, a norma. , portanto, uma
questo de leitura, de interpretao.
O efeito de comicidade pode surgir ainda, segundo Bergson, atravs de certos processos,
como a repetio, a inverso, a interferncia e a transposio.
No caso da repetio, trata-se de uma combinao de circunstncias que se repetem
exatamente da mesma maneira vrias vezes, levando ao riso. O autor d um exemplo: se encontro
um dia na rua um amigo que no via h muito tempo, a situao nada tem de cmico. Mas se volto
a encontr-lo no mesmo dia vrias vezes, acabamos por rir da coincidncia.
J a inverso, para Bergson, diz respeito cena que faz com que a situao se modifique e os
papis se invertam. Por exemplo: o acusado passa a pregar moral ao juiz, a criana passa a dar
lies aos pais; enfim, inverso tudo que cabe na rubrica mundo s avessas e que faz surgir o
riso.
Em termos da Anlise do Discurso, estaramos no campo da reversibilidade, ou troca de
papis entre os interlocutores do discurso. Nesta linha terica, quanto maior a reversibilidade, ou a
inverso de papis, maior a possibilidade de o discurso ir na direo do ldico, da polissemia, onde
os sentidos deslizam, tornam-se outros. E essa , para ns, a condio do humor. Nesta medida, o
humor um agente de desestabilizao, de liberao. Isto nos permite pensar no humor como o
lugar dos deslizamentos e das transformaes de sentido, como o espao onde a ideologia
dominante questionada ou abandonada.
A interferncia, por sua vez, acontece quando se d mesma frase dois significados
independentes que se sobrepem. Existem vrios meios de se obter a interferncia e um deles o
trocadilho. Mas ela diz respeito ao jogo de palavras de modo geral, em que se aproveita a
diversidade de sentido que uma palavra pode tomar, sobretudo na sua passagem do sentido prprio
ao sentido figurado.
178
Mais profundo que a interferncia, segundo Bergson, o cmico da transposio, que pode
ser assim definido: obter-se- um efeito cmico transpondo a expresso natural de uma idia num
outro tom. Tomando, por exemplo, o tom familiar e o tom solene, e fazendo a transposio entre
eles, tem-se o cmico.
Assim, a transposio do tom solene em tom familiar gera a pardia. Segundo Bergson, foi o
cmico da pardia que sugeriu a alguns filsofos a idia de definir o cmico em geral pela
degradao. Nesta perspectiva, o risvel surge quando nos apresentam uma coisa, at ento
respeitada, como vil e medocre.
J a transposio do tom familiar para o solene pode se dar, por exemplo, em relao ao valor
das coisas. Exprimir em termos de honestidade uma idia desonesta ou pegar uma situao
escabrosa ou vil e descrev-la em termos de respeitabilidade, geralmente cmico.
Bergson ressalta, no entanto, que a intensidade do efeito da transposio no depende de sua
extenso. s vezes, uma palavra basta, contanto que essa palavra nos deixe entrever um sistema de
transposies aceitas num certo meio ou nos revele uma organizao moral da imoralidade. O autor
d o exemplo de uma pea de Gogol, em que um alto funcionrio observa a um de seus
subordinados: Ests a roubar demais para um funcionrio de tua categoria.
Um outro tipo de transposio, para Bergson, a que se d entre o real e o ideal, entre o que
e o que deveria ser. Neste caso, a transposio pode se fazer em duas direes inversas:
Umas vezes falar-se- naquilo que devia ser, fingindo que se acredita que precisamente o que :
nisto consiste a ironia; outras vezes, pelo contrrio, descreve-se minuciosamente e
meticulosamente o que , fingindo acreditar que isso que as coisas deviam ser: este, na maior
parte das vezes, o processo do humor. O humor, assim definido, o inverso da ironia. Um e outro
so formas de stira, mas a ironia de natureza oratria, ao passo que o humor tem qualquer coisa
de mais cientfico. Acentua-se a ironia deixando-nos arrebatar cada vez mais pela idia do bem
que deveria reinar... Acentua-se o humor, pelo contrrio, descendo cada vez mais ao interior do
mal real, para notar as suas particulariedades com uma mais fria indiferena. (Ibidem:102-3)
a partir dessas colocaes que Bergson vai dizer que o humorista um moralista disfarado
de sbio, qualquer coisa como um anatomista que s fizesse dissecaes para nos aborrecer.
Uma distino entre humor e ironia tambm adotada por Garcia (2000), em um trabalho que
se constitui sob a perspectiva terica da Anlise do Discurso. Afirma a autora:
O que ocorre ento no processo discursivo irnico a reconfigurao ou o rearranjo dos elementos
de saber de uma FD, subvertendo a hegemonia existente no fio discursivo (ou na
interdiscursividade), mudando o j-dito, o j-estabelecido discursivamente. J no discurso
humorstico no haveria troca de dominncia entre os sentidos, apenas desqualificao do
discurso-outro (efeito ou impresso de jocosidade). (Garcia, 2000: 76-7)
179
A esta altura, gostaramos de firmar algumas posies. Em primeiro lugar, no pretendemos
aprofundar a discusso nem sobre o humor nem sobre a ironia, uma vez que tais questes no
constituem, de fato, nosso objeto de estudo. Se trazemos essas noes porque julgamos que isso
seja pertinente para o nosso trabalho. Mas, como nosso objetivo maior estudar a leitura de certos
sinais discursivos reticncias e interrogao em textos de humor e no o humor em si, no
consideramos necessrio entrar a fundo nessas questes.
No entanto, reconhecemos que nem todo humor se constri sobre a ironia, a qual, para ns, se
constitui em uma das formas de produzir humor. Desta forma, neste estudo, preferimos falar em
humor ou at mesmo em humor irnico, o que nos afasta de uma distino que separa um do outro,
mas que, de certa forma, e em alguns casos, os aproxima.
Pensamos que sobre esse tipo de humor que se produz, essencialmente, um outro tipo de
humor: o humor poltico.
com esse tipo de humor que trabalhamos nessa pesquisa. E sobre ele que vamos refletir
um pouco em seguida.
2.1.2 O humor poltico
Ao falarmos em humor poltico, estamos obviamente considerando que existem vrias formas
de fazer humor, ou seja, que nem todo humor se constri da mesma forma.
Assim, como bem afirma Possenti (1998:109), se o humor nem sempre crtico, certamente
o o humor poltico.
Possenti, ao realizar anlises de piadas a partir de uma abordagem lingstica, ressalta que as
piadas polticas so transitrias, pois exploram caractersticas especficas de determinados polticos
ou de etapas da histria pelas quais passa um pas ou um governo.
Para o autor, existem piadas que criticam a prpria poltica, ou seja, a classe dos polticos
como um todo, sem tomar a particularidade dos diferentes regimes ou personalidades envolvidos.
Existem tambm as piadas que criticam determinada concepo de poltica, atribuda a um povo, a
uma sociedade. E, finalmente, existem as piadas que particularizam seus temas, e que criticam, por
exemplo, a ditadura, a falta de liberdade.
Na perspectiva que estamos adotando, o humor poltico tomado em um sentido bem amplo,
e compreende todo o discurso que, ao expor a sociedade com todas suas mazelas, com todos os
seus defeitos brinca com isso.
180
Para ns, h no humor poltico uma espcie de jogo entre uma realidade e uma possibilidade,
entre um mundo estabelecido e um mundo que procura se estabelecer, entre o que e o que poderia
ser.
Diramos que o humor poltico, nesse jogo paradoxal, trabalha com os sentidos aceitos, com a
ideologia dominante, no para institu-los, mas justamente para repeli-los, para transform-los.
Como possvel perceber, estamos no mbito do que Freud denomina simplesmente de
humor. Acreditamos, porm, como j afirmamos, que nem todo humor possui essas caractersticas
que estamos atribuindo ao humor poltico.
Vejamos alguns exemplos de piadas encontradas em Possenti:
1 ) - Qual o vento que os cachorros mais temem?
- Furaco.
2) Um condutor diz a um passageiro de um trem vazio, que, em um dia de chuva, est sentado sob uma goteira:
- Quer trocar de lugar?
- Trocar? Mas com quem?
Esses so exemplos de piadas baseadas nas palavras, conforme ressalta Possenti. Na nossa
perspectiva, elas no apresentam o jogo paradoxal entre uma ideologia dominante e uma ideologia
que procura se estabelecer, entre um mundo fixado e um mundo possvel, entre uma realidade
suportada e uma realidade desejada. E esse jogo que, para ns, caracteriza o humor poltico.
Tais piadas apresentam, podemos dizer, um tipo de humor mais ingnuo, se usarmos o termo
com todo o cuidado que ele requer. Tal tipo de humor acontece, como j vimos, quando se trabalha
sobre as fraquezas humanas: a ingenuidade, a burrice, as deficincias fsicas, os esteretipos, o
desconhecimento. Neste caso, o humor no tem especificamente o objetivo de denunciar a
realidade, mas de brincar com a mesma, criando comicidade. Assim, por exemplo, quando
encontramos o humor construdo a partir da imagem do portugus pouco inteligente, dificilmente
vamos reconhecer a uma forma agressiva de preconceito, mas o emprego de um esteretipo que
tem como funo provocar o riso.
J o humor poltico trabalha com outro material: as injustias sociais, os preconceitos, a
corrupo, a esperteza, a falta de competncia, as desigualdades, os desmandos. Neste caso, quando
lemos um texto que faz humor mostrando uma situao de corrupo vivida por um poltico, por
exemplo, podemos reconhecer a uma forma de denncia da realidade. J no se trata de uma
simples brincadeira, mas de um alerta que parece lembrar ao leitor: essa uma realidade no
desejada, que deveria ser transformada.
Diramos ainda que o humor poltico aquele que lida com um tipo de riso que Propp
(1992:171) denomina de riso de zombaria. Esse riso est sempre ligado comicidade, a qual
181
costuma estar associada ao desnudamento de defeitos, manifestos ou secretos, daquele ou daquilo
que suscita o riso.
Para Propp, necessrio que se cumpram certas condies para que a comicidade e o riso se
realizem. A primeira diz respeito ao fato de que quem ri tem algumas concepes do que seria justo,
moral, correto, ou, antes, um certo instinto completamente inconsciente daquilo que, do ponto de
vista das exigncias morais, considerado justo e conveniente. A segunda condio observar que
no mundo nossa volta existe algo que contradiz esse sentido de certo que est dentro de ns e no
lhe corresponde. A contradio entre esses dois princpios a condio fundamental para o
nascimento da comicidade.
Em outras palavras, o cmico determinado pela presena de algo baixo, menor, defeituoso.
E, na verdade, esses defeitos reduzem-se, na maioria das vezes, a faltas de ordem moral ou
espiritual.
O riso de zombaria, nesta medida, nasce sempre do desmascaramento de defeitos da vida
interior do homem defeitos morais. Em alguns casos, os defeitos so visveis por si mesmos e no
precisam ser desmascarados: as pequenas intrigas, o marido acachapado pela mulher, a estupidez
evidente. Na maioria dos casos, porm, no isso que ocorre. Os defeitos esto escondidos e
precisam ser desmascarados. Diz Propp:
O riso surge quando a esta descoberta se chega de repente e de modo inesperado, quando ela tem o
carter de uma descoberta primordial e no de uma observao cotidiana e quando ela adquire o
carter de um desmascaramento mais ou menos repentino. (Ibidem:175)
Romualdo (2000: 45), realizando um estudo sobre a charge, afirma que a charge destrona os
poderosos e busca revelar o que est oculto em fatos, personagens e aes polticas. Diramos que
isto o que acontece com o humor poltico, do qual a charge um timo exemplo.
Desse modo, partindo de como a realidade, o autor do humor poltico lembra ao leitor que
ela poderia ser diferente. Com isso, o humor poltico escancara a sociedade, expe seus defeitos,
suas falhas. E, ao faz-lo, traz tona uma outra sociedade, melhor, mais digna, menos corrupta,
mais justa, mais eficiente. Uma sociedade desejada.
Acreditamos que as reflexes aqui esboadas sejam suficientes para nos oferecer um breve
panorama terico sobre o humor. E que bastem tambm para justificar nossa escolha de analisar as
leituras e as reescritas dos sinais discursivos da pontuao reticncias e interrogao em textos
de humor.
Para ns, parece extremamente interessante observar que efeito produzem esses sinais
discursivos da pontuao que parecem esconder alguma coisa, no sentido de que deixam algo a
182
dizer em textos que, por sua natureza, trabalham com verdades escondidas, estabelecem um jogo
entre mundos reais e mundos possveis ou imaginrios, buscam revelar o que est oculto.
Assim, passamos em seguida anlise propriamente dita dos textos sinalizados, ou seja, dos
textos que apresentam os sinais discursivos reticncias e interrogao utilizados em textos de
humor.
2.2 O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO TEXTO-ORIGEM
Nesta seo, examinamos o funcionamento discursivo do texto que funcionou como ponto de
partida ao qual denominamos de texto-origem para a produo dos textos pelos estudantes
universitrios.
2.2.1 Texto-origem e reticncias
O texto em exame, Experincia Nova, de Lus Fernando Verssimo, apresenta uma situao
de interlocuo entre um delegado e um indivduo que pego roubando galinhas.
interessante observar que, no incio do dilogo, existe uma evidente relao de assimetria
entre os sujeitos do discurso, uma vez que um o delegado representa a lei, o poder, e, portanto,
uma condio de superioridade, e o outro o ladro a infrao, a submisso e, portanto, uma
condio de inferioridade.
O texto nos aponta, portanto, a construo de duas posies-sujeito antagnicas nesse
discurso. A anlise norteada pelo exame dos lugares sinalizados pela presena das reticncias, que
so encontrados nos seguintes enunciados:
1)
2)
3)
Que grande pilantra...
Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do galinheiro te pega...
Sim, mas primrio, e com esses antecedentes...
Procuramos realizar a leitura mais objetiva possvel de TO, sabendo, no entanto, que isso
no possvel, pois nossa anlise j se constitui, ela mesma, em um efeito-leitor.
Por conseguinte, gostaramos de considerar tal seo da anlise apenas como um primeiro
contato com os meandros do texto Experincia Nova, o que tem como objetivo chamar a ateno
para aspectos que, enquanto leitores, julgamos importantes em TO.
Assim, pensamos em verificar em que medida pode haver, no texto, pistas que direcionam a
uma determinada leitura, ou seja, a uma leitura provvel desse texto e das reticncias nele
existentes.
BLOCO 1: QUE GRANDE PILANTRA...
183
possvel observar, em TO, vrias pistas que nos permitem procurar compreender esse
enunciado sinalizado pelas reticncias.
Comearamos dizendo ento que TO nos revela uma assimtrica relao de foras entre os
protagonistas do discurso representados pelo delegado e pelo ladro e que isso tem a ver com os
lugares sociais da interlocuo.
Assim, embora haja alternncia entre os interlocutores, atravs do dilogo, um deles dirige o
discurso, atribuindo a si mesmo um lugar de superioridade e, com isso, coloca o outro em uma
conseqente posio de inferioridade e submisso.
Caracteriza-se assim uma FD em que o que pode e deve ser dito que os que so mais fortes
dominam e que os que so mais fracos so dominados. Esta FD comporta, portanto, duas posiessujeito: a posio-sujeito 1, que a da legalidade e do poder, e que assumida em TO pelo
delegado; e a posio-sujeito 2, que a da ilegalidade e da submisso, e que assumida em TO pelo
ladro de galinhas.
Acreditamos, assim, que o espao lacunar representado pelas reticncias, em Que grande
pilantra..., possa ser lido a partir das pistas oferecidas por TO (Pior. Venda de artigo roubado.
Concorrncia desleal com o comrcio estabelecido. Sem-vergonha! ou Mas eram as mesmas
galinhas, safado! ), com um efeito de sentido equivalente a Que vagabundo, safado, semvergonha.
No entanto, o narrador de TO nos aponta uma outra leitura possvel, quando declara: Mas j
havia um certo respeito no tom do delegado.
Na verdade, isso denota que a posio-sujeito representada pelo delegado apresenta-se
dividida entre duas formas possveis de relacionar-se com a FD dominante: uma admite que ladro
vagabundo, pilantra, sem-vergonha, safado e outra admite que esse tipo de ladro merece
respeito, porque no um simples ladro de galinhas, igual a todos os outros, mas esperto,
malandro.
Temos aqui a configurao da parfrase discursiva, segundo os termos de Courtine (1981:94),
ou seja, a contradio entre dois domnios de saber de formaes discursivas antagnicas, ou, em
outras palavras, uma reformulao do dizer que constri redes de formulaes do dito.
Essa oposio entre duas posies-sujeito remete ao interdiscurso e caracteriza enunciados
divididos, ou seja, a presena de saberes antagnicos em um mesmo enunciado discursivo.
Assim, temos:
[e] 1 =
Px
[e] 2 =
Py
184
Nessa configurao, [e]1 e [e]2 representam, no interdiscurso, duas formulaes pertencentes
a duas FDs antagnicas, e x (pilantra) e y (merece respeito) representam dois valores antagnicos
assumidos em um lugar das formulaes, ou seja, (x) e (y) representam os limites entre o que seria
formulvel na FDX e o que seria formulvel na FDY.
Assim, essa posio-sujeito reformula esse dizer que j est dito que ladro pilantra,
safado e constri uma outra formulao para esse dito ladro safado, mas merece respeito
(porque esperto).
Essa reformulao, assim, remete, para duas formaes discursivas antagnicas: em uma o
que pode e deve ser dito que ladro pilantra; em outra, o que pode e deve ser dito que ladro
merece respeito.
A representao de tais limites em um mesmo enunciado discursivo acaba, portanto,
caracterizando um enunciado heterogneo.
Passemos ao outro enunciado.
BLOCO 2: AINDA BEM QUE TU VAI PRESO. SE O DONO DO GALINHEIRO TE PEGA...
Pensamos ser possvel reconhecer aqui, novamente, um contraste entre as duas posiessujeito j sinalizadas anteriormente: a posio-sujeito 1,
do poder, e a posio-sujeito 2, da
submisso.
A posio-sujeito 2 ocupada pelo sujeito representado pelo ladro de galinhas. E a posiosujeito do poder ocupada tanto pelo delegado quanto pelo dono do galinheiro.
Isto pode ser verificado por uma espcie de jogo entre duas ordens: a da realidade (tu vai
preso) e a do imaginrio (se o dono do galinheiro te pega...).
A ordem da realidade refora a posio do poder. A ordem do imaginrio, no entanto,
representada pelas reticncias, que instauram um silncio no discurso do sujeito representado pelo
delegado de TO e conferem ao sujeito representado pelo dono do galinheiro a mesma posio de
poder.
Isto fica bem evidente quando examinamos a expresso ainda bem, que evidencia que a
punio dada ao infrator pelo dono do galinheiro seria muito pior do que a prpria priso.
Na verdade, esse enunciado evidencia duas formas possveis de o sujeito relacionar-se com
uma mesma FD, que comporta cumprir a lei, mas que, ao mesmo tempo, concebe sentir simpatia e
respeito pelo pilantra.
185
As reticncias, desse modo, trazem para esse discurso o discurso-outro, que reconhece que a
lei deve ser cumprida e que ladro deve ser punido. Neste sentido, as reticncias so espao de
heterogeneidade em TO.
Por outro lado, esse jogo entre realidade e imaginrio traz tambm o humor para TO.
Ao afirmar isso, retomamos as colocaes de Garcia (2000:77), quando a autora concebe o
discurso irnico como reconfigurao ou rearranjo dos elementos de saber de uma FD, que subverte
a hegemonia existente na interdiscursividade e muda o j-dito, o j-estabelecido discursivamente.
isso que acontece aqui: mostrar uma forma de sociedade em que ladres espertos so
respeitados parece ser uma forma de o sujeito-autor chamar a ateno para a realidade e para a
necessidade de mudar isso que j est estabelecido.
Assim, o sujeito-autor produz TO com humor irnico no momento em que alude a esse
discurso-outro (que diz que a lei deve ser sempre cumprida) e o desqualifica pela voz do delegado.
A posio-sujeito representada pelo delegado, portanto, inscreve-se nesta FD heterognea e
identifica-se com uma posio de simpatia pelo infrator, pelo fato de ele ser esperto.
O silncio representado pelas reticncias em Se o dono do galinheiro te pega..., significa,
portanto. E as pistas presentes no discurso nos permitem compreend-lo.
Tudo isso vai nos revelando que as reticncias no constituem, como nos queria fazer supor
Prandi (1991), um vazio de significado.
BLOCO 3: SIM, MAS PRIMRIO, E COM ESSES ANTECEDENTES...
com este enunciado sinalizado pelas reticncias que o sujeito-autor de TO produz o efeito
de fechamento em seu texto.
Ao falarmos em fechamento, estamos tomando emprestado o termo usado por Solange Gallo
(1994), quando a autora fala em efeito de finalizao, presente num discurso que tem
potencialmente um efeito-autor, dentro da prtica a que ela denomina de textualizao.
Em TO, esse efeito de fechamento produzido, paradoxalmente, sobre as reticncias, que
parecem constituir uma lacuna, parecem sinalizar para algo que ficou faltando.
Assim, a presena das reticncias no final do texto, poderia nos fazer supor, conforme nos
dizia Prandi (1991), uma ausncia, um vazio, uma total falta de significao.
No entanto, no pensamos assim. Para ns, o texto nos permite compreender o modo como
essas reticncias funcionam nesse discurso.
Examinemos por exemplo a negao presente no enunciado que antecede o enunciado em
anlise e que precede a ltima fala do delegado O que isso, Excelncia? O senhor no vai preso,
no.
186
Acreditamos, seguindo Indursky (1997:213), que a negao marca a presena de um prconstrudo como vestgio mais ou menos evidente do interdiscurso no discurso em anlise. Isso
significa que a negao um dos processos de internalizao de enunciados oriundos de outros
discursos. (...). Como dissemos, essa construo evidencia a presena do discurso-outro. Em
outras palavras: a negao marca de heterogeneidade discursiva.
Assim, a negao evidencia outra posio-sujeito que diz: tu vais preso. Como pudemos
constatar, esse era o discurso do delegado, no incio do texto.
Esse enunciado O senhor no vai preso, no, portanto, representa um sujeito dividido entre
aquilo que deveria ser (tu vais preso) e aquilo que (tu no vais preso), ou seja, um sujeito dividido
entre duas posies-sujeito inscritas em FDs antagnicas.
O prprio texto nos oferece as pistas que levam identificao dessa diviso entre posiessujeito, e isso est relacionado aos tais antecedentes: especulo com dlar; invisto no trfico de
drogas; comprei alguns deputados, dois ou trs ministros; superfaturo preos; sou trilionrio;
sonego Imposto de Renda; deposito dinheiro ilegalmente no exterior .
Assim, embora o senso comum mostre que os ladres de galinha vo para a cadeia, o que se
v aqui que o ladro de galinhas especial, de colarinho branco, no vai.
Podemos pensar ento que as reticncias permitem que o interdiscurso se atravesse na
atribuio dos sentidos e que produza sentidos que, em uma outra regio do interdiscurso, no
seriam produzidos, porque seriam diferentes as condies de sua produo, porque esses sentidos
seriam produzidos sob outro efeito da memria discursiva.
Essa contradio faz surgir tambm o efeito de humor e de ironia no discurso, pois, ao dizer
uma coisa (o senhor vai preso), esse sujeito acaba dizendo justamente outra coisa (o senhor no
deve ir preso). Assim, o humor, na medida em que mobiliza esse jogo entre discursos opostos,
introduz o discurso-outro, acentua a posio-sujeito do autor.
Todos os fatores apontados contribuem para a construo de uma leitura para esse enunciado
com reticncias. E isto nos permite dizer que o silncio representado pelas reticncias significa.
Acreditamos, no entanto, que esse silncio possa ser ressignificado pela interferncia do
sujeito-leitor.
Podemos pensar ento que esse sinal da pontuao, conjugados ao humor, funcione, para o
sujeito-leitor, como uma porta de entrada, como uma forma de acesso ao texto. Porta pela qual
esse leitor pode entrar ou no, determinando sua leitura, revelando sua posio-sujeito,
ressignificando esse silncio.
187
Neste sentido, acreditamos que as reescritas de um texto podem revelar essas entradas, isto
, a leitura e a interpretao dos sujeitos-leitores. A reescrita do texto, ento, vai desvelar esse
processo e apontar a manuteno ou a transformao dos sentidos.
Neste sentido, o emprego das reticncias assinala um espao de interpretao, ou seja, abre
um espao para o dizer do outro. E, nessa medida, constitui-se em possibilidades de diferentes
leituras.
Vejamos agora como se d o funcionamento discursivo da interrogao no texto escolhido
como origem para a produo de textos pelos universitrios.
2.2.2 Texto-origem e interrogao
Na execuo desta anlise, partimos da concepo de que o ponto de interrogao, ao criar um
espao que prev uma resposta, abre um espao de interpretao, a ser preenchido pelo ouvinte. A
interrogao, nesta perspectiva, um sinal discursivo explcito, um lugar visvel deixado no texto
para interpretao. uma brecha aberta para a ao do leitor.
O texto em exame Arc e os economistas apresenta uma situao de interlocuo entre
um marciano, que vem regularmente Terra para ver se vale a pena Marte investir aqui, e um
terrqueo.
possvel observar que o dilogo criado pelas perguntas e respostas entre os interlocutores, a
exemplo do que foi constatado no texto Experincia Nova, revela uma relao assimtrica entre
os protagonistas do discurso.
Assim, enquanto o terrqueo personifica a voz daquele que sabe das coisas, que est
acostumado com a situao do pas, a voz do marciano surge como a personificao daquele que
no consegue entender a realidade do pas visitado.
A fim de entender o funcionamento discursivo da interrogao, seguimos os mesmos passos
adotados no trato com as reticncias e procuramos verificar em que medida as perguntas presentes
no texto colaboram para a formao dos sentido.
Passemos ento ao exame dos enunciados.
BLOCO 1: O QUE FAZEM OS ECONOMISTAS? FAZEM ECONOMIA?
Comeamos nossa anlise observando o ponto de interrogao e notando que, ao ser
empregado pelo marciano, ele cria, para o terrqueo, uma necessidade, uma obrigao: a de
responder. Quer dizer: o terrqueo precisa trabalhar aquele espao que fica aberto.
188
A resposta, assim, surge para preencher esse espao: Claro que no, Arc. Fazer economia
qualquer um pode fazer. Basta gastar menos... Os economistas se dedicam a importantes estudos
sobre a conjuntura econmica de um pas, at do mundo: produo, consumo, arrecadao, dficits
e supervits.
A interrogao, nesse sentido, sinaliza o discurso, obriga o leitor a realizar um gesto de
interpretao, a expressar a sua leitura. Sem esse gesto, o discurso no se desenvolve, estaciona.
Vamos ento observar de que forma esse trabalho vai ocorrendo no texto em anlise.
Podemos perceber, neste enunciado, um jogo entre duas posies-sujeito contrrias inscritas
em uma mesma FD.
Temos, ento, a posio-sujeito 1, a do conhecimento, e a posio-sujeito 2, a do
desconhecimento. A posio-sujeito 1 assumida pelo terrqueo, e a posio-sujeito 2 assumida
pelo marciano.
Tal oposio surge atravs do jogo de palavras economista/economia empregado pelo
sujeito que assume a posio-sujeito 2.
Note-se que o emprego da negao Claro que no, Arc dada como resposta pergunta
O que fazem os economistas? Fazem economia?, marca de heterogeneidade discursiva nesse
discurso. Ou seja, ao negar, o sujeito representado no texto pelo terrqueo, traz para seu discurso
uma outra voz que admite que, como qualquer outra pessoa, os economistas deveriam fazer
economia. Desse modo, ele completa a negao com a expresso fazer economia qualquer um faz,
basta gastar menos.... Ou seja: qualquer um, menos os economistas.
interessante observar, nesse enunciado, o emprego das reticncias: basta gastar menos....
Ao empregar tal sinal de pontuao em um texto j sinalizado pelas interrogaes, o sujeito-autor
cria uma superposio de sinais discursivos, de lacunas a serem preenchidas pela prtica discursiva
da leitura.
E nos permite produzir, nesse lugar, pelo menos um efeito de sentido: os economistas gastam
muito, ao contrrio de qualquer um, ou seja, ao contrrio do resto da populao brasileira.
Esse uso dos sinais de pontuao acaba construindo ainda um outro efeito em TO: o do
humor. Cria-se ento uma espcie de jogo entre posies ideolgicas, que presentifica o
interdiscurso nesse texto, ou seja, que traz o discurso-outro, mas apenas para desconsider-lo.
Passemos ao segundo enunciado.
BLOCO 2: ENTENDE?
Aqui, o jogo entre pergunta e resposta (No. Isso tudo serve para qu? Por exemplo, melhora
a vida da populao brasileira?) ratifica a assimetria entre os protagonistas do discurso e, com isso,
189
a oposio entre conhecimento e desconhecimento, o que equivale, como vimos anteriormente, a
uma oposio entre duas posies-sujeito.
Ao mesmo tempo, esse jogo tambm marca de heterogeneidade discursiva, ou seja, o
sujeito-autor traz para o seu discurso, atravs da posio-sujeito representada pelo marciano, o
discurso-outro, em que fazer estudos sobre a conjuntura econmica de um pas, at do mundo:
produo, consumo, arrecadao, dficits e supervits, no to importante para dispensar os
economistas de fazerem economia, como todo mundo faz.
Mas h algo mais aqui, pois o marciano complementa sua resposta com outra pergunta: Isso
tudo serve para qu? Por exemplo, melhora a vida da populao brasileira?
Tal questionamento ratifica o atravessamento do interdiscurso em TO, pois expe um outro
saber, um discurso-outro: esse trabalho serve para muita coisa, esses estudos melhoram a vida da
populao brasileira.
Ao mobilizar esse discurso-outro, que no corresponde realidade, o sujeito representado
pelo marciano acaba por revelar uma sociedade feita de desigualdades, em que alguns so
privilegiados e outros, no.
Quer dizer: com a amostra desse desconhecimento, o sujeito representado pelo marciano fala
da maior parte do povo brasileiro, que tambm no sabe o que so os economistas, para que servem,
e que tambm no entende por que motivo realizar importantes estudos torna essas pessoas to
diferentes do outro. Nesta perspectiva, o marciano pode ser pensado como uma caricatura do povo
brasileiro.
Esse discurso-outro, no entanto, introduzido em TO de uma forma no-sria, ou seja, esse
discurso no introduzido para ser valorizado, mas, ao contrrio, para ser desconsiderado.
essa contradio tratar de um assunto srio de modo no-srio que cria o efeito de
humor em TO.
Vamos ento ratificando nossa posio quanto ao fato de que a interrogao realmente lugar
de produo de sentidos, de interferncias, de heterogeneidade.
BLOCO 3: ISSO TUDO SERVE PARA QU? POR EXEMPLO, MELHORA A VIDA DA
POPULAO BRASILEIRA?
Podemos perceber, nesse bloco, novamente, as duas posies-sujeito reconhecidas nos blocos
anteriores: uma revela o desconhecimento e identificada posio-sujeito ocupada pelo marciano
(Isso tudo serve para qu? Por exemplo, melhora a vida da populao?); a outra revela o
190
conhecimento, surge pelo vis da resposta, e identificada posio-sujeito em que se inscreve o
terrqueo (T difcil, hein, marciano? Eu disse importantes estudos, entendeu? Por exemplo,
fazem previses sobre o futuro da economia...).
Como j afirmamos anteriormente, a pergunta realizada pelo marciano refora a construo da
caricatura do povo brasileiro, que no entende para que servem os estudos dos economistas, se esses
no forem para melhorar a vida da populao. Quer dizer: ele no entende o bvio.
significativo o emprego das aspas em importantes estudos, marca da heterogeneidade
desse discurso, na medida em que evidencia o confronto entre as duas posies-sujeito. Desse
modo, a posio-sujeito do conhecimento identifica-se com: realizar importantes estudos = ocuparse da conjuntura econmica do pas = fazer previses para o futuro; e a posio-sujeito do
desconhecimento identifica-se com: fazer estudos que no interessam = no trazer melhores
condies de vida para o povo.
Essa segunda posio-sujeito evidencia o discurso-outro, que entra pelo vis do interdiscurso,
onde convivem esses dizeres antagnicos.
possvel dizer tambm que a interlocuo constri um jogo de pergunta e resposta que
parece no cumprir, de fato, a sua funo, uma vez que, nesse jogo, cabe ao interrogado a obrigao
de dar uma resposta, e ele no faz isso.
Assim, como j vimos acontecer anteriormente, o jogo parece ser apenas aparente,
incompleto, pois o interlocutor responde s perguntas do locutor com outras perguntas. Desse
modo, o enunciado T difcil, hein? Eu disse importantes estudos, entendeu?, corresponderia,
na verdade, a dizer voc no est entendendo, mas no uma resposta, um esclarecimento que
diga, afinal, se isso tudo melhora a vida da populao brasileira.
Neste sentido, poderamos pensar que, nesse caso, o sujeito que representa o conhecimento
no trabalha, efetivamente, o espao de interpretao sinalizado pela interrogao. Em outras
palavras: poderamos pensar que, com suas respostas (em forma de pergunta) o interlocutor silencia,
no diz.
Note-se, ainda, que o terrqueo conclui a sua fala com reticncias. Ou seja: ele abre uma nova
lacuna em seu dizer, que j estava sinalizado pela lacuna da interrogao. E um novo silncio
criado no discurso. Entretanto, sabemos que esses silncios significam. E que, ao no dizer e por
no dizer ao criar outros espaos sinalizados de interpretao em seu discurso, o sujeito diz. E
mais: ao no responder, ao no dizer, ele remete ao discurso-outro (em que os estudos dos
economistas melhoram a vida da populao), e, com isso, ratifica a oposio entre posies-sujeito
contrrias nessa FD.
191
Diramos ainda que as perguntas do sujeito representado pelo marciano tm um tom de falsa
ingenuidade, de um fictcio desconhecimento. Portanto, o discurso desse sujeito (que desconhece a
realidade brasileira) revela, paradoxalmente, uma dose maior de conhecimento do que o discurso do
sujeito representado pelo terrqueo (que sabe tudo sobre essa mesma realidade).
E esse jogo de contradies d um efeito de humor nesse discurso.
Desse modo, diramos que, com a resposta t difcil, hein, marciano?, o terrqueo, alm de
no explicar para que servem esses estudos, constri o sentido de que, na verdade, isso no melhora
a vida da populao.
Passemos anlise do outro enunciado.
BLOCO 4: E ACERTAM?
A resposta para tal pergunta, em TO, : Nunca. Mas no isso que interessa. Ao estudar os
movimentos da economia, eles elaboram tendncias para o futuro...
A oposio entre duas posies-sujeito mantm-se nesse bloco e aqui realada pelo emprego
do mas no enunciado Nunca. Mas no isso que interessa.
O que constatamos ento uma oposio entre posies-sujeito contraditrias. Temos ento a
posio-sujeito 1, em que construdo o sentido de que os economistas nunca acertam, e a posiosujeito 2, em que construdo o sentido de que isso no interessa.
Na verdade, essa oposio remete a duas FDs antagnicas: uma admite dizer que os
economistas no acertam; a outra admite dizer que isso no interessa.
Vemos, ento, mais uma vez, a caracterizao de um enunciado dividido:
(x) os economistas no acertam
P=
(y) isso no interessa
O enunciado no acertam, mas isso no interessa, assim, pe em cena saberes antagnicos
em um mesmo enunciado discursivo, ou seja, manifesta os limites entre o que seria formulvel na
FDX e o que seria formulvel na FDY.
As perguntas do marciano, no entanto, inserem nesse discurso um discurso-outro, o que nos
permite pensar que as duas posies-sujeito presentes no discurso, inscritas em FDs antagnicas,
possam ser assim concebidas: posio-sujeito 1: no interessa que os economistas nunca acertem;
posio-sujeito2: deveria interessar, eles deveriam acertar. Fica fcil depreender, pelas pistas
oferecidas at aqui pelo discurso, que a posio-sujeito 1 corresponde ao sujeito representado pelo
terrqueo e que a posio-sujeito 2 corresponde ao sujeito representado pelo marciano (e que a
caricatura da maioria do povo brasileiro).
192
Salientamos ainda que esse jogo entre pergunta (que indaga o bvio) e resposta (que no
confirma esse bvio), que remete a um discurso-outro, cria um efeito de jocosidade, de
desqualificao desse discurso.
BLOCO 5: DESCULPE A INSISTNCIA, MAS ISSO SERVE PARA QU?
Com esta pergunta, o sujeito-autor produz o efeito de fechamento de seu texto e ratifica a
oposio entre as duas posies-sujeito j referidas anteriormente.
A primeira posio a do conhecimento, assumida pelo sujeito representado pelo terrqueo,
o qual a expresso de apenas uma pequena parte do povo, e identifica-se com um saber em que os
estudos dos economistas no so teis, no melhoram a vida do povo; a segunda posio a do
desconhecimento, assumida pelo sujeito representado pelo marciano, o qual a representao da
maior parte da populao brasileira, e identifica-se com um saber em que os estudos dos
economistas deveriam ser teis, deveriam melhorar a vida do povo.
H ainda nessa pergunta algo especial: por ser colocada no final do texto, ela fica sem
qualquer tipo de resposta. Quer dizer: esse espao sinalizado de interpretao fica aberto, sem a
interferncia de nenhum dos protagonistas do discurso.
Ser, portanto, um espao vazio de significao? Uma lacuna de sentido? Um nada?
Na nossa perspectiva, no. Para ns, esse espao vai sendo trabalhado pelo sujeito-autor em
seu texto, pelo jogo entre perguntas e respostas, pelo contraste entre posies-sujeito contrrias,
pela presena do discurso-outro, pelo humor.
Esse humor criado pelo jogo entre perguntas (posio-sujeito 2, do desconhecimento) e
respostas (posio-sujeito 1, do conhecimento), o que insere o discurso-outro nesse discurso. Esse
discurso-outro vem pelo vis do desconhecimento, da (falsa) ingenuidade, que o que permite
perguntar o bvio.
Podemos dizer ento que o humor atravessa o interdiscurso em TO, e evidencia um contraste
entre diferentes posies, entre distintas formas de os sujeitos se relacionarem com a FD em que se
inscrevem.
Esse espao da interrogao, portanto, no vazio de significao. Ele significa. E isso que
nos revela a posio-sujeito do autor; esse discurso-outro, que fica subjacente voz do sujeito
representado pelo marciano, e que fica suspenso atravs da interrogao, diz aquilo que o sujeitoautor no chega a dizer.
Isto no quer dizer, no entanto, que, ao ser tomado por outros sujeitos, esse espao da
interrogao deva ser trabalhado assim.
193
Quando sinaliza o discurso com a interrogao, o sujeito-autor (apesar de j haver, de alguma
forma, dito alguma coisa nesse espao) cria um silncio no seu discurso (um silncio que
significa), e se exime da responsabilidade de dizer. Ele passa para o sujeito-leitor essa
responsabilidade, a obrigao de dizer. So os gestos de leitura dos sujeitos-leitores, portanto, que
podero completar essa lacuna significante representada pela interrogao.
Realizado esse primeiro contato com os textos-origem textos sinalizados pelas reticncias e
pelo ponto de interrogao, em textos de humor que do origem aos textos dos estudantes
universitrios, passamos ento ao exame dessas produes.
2.3 LEITURA E RELEITURA : A FUNO-AUTOR
Passamos a analisar aqui as reescritas dos textos-origem. Isto implica examinar os textos
produzidos pelos estudantes tanto a partir do comando reescreva o texto lido, quanto a partir do
comando escreva um novo texto a partir do texto lido, aos quais denominamos de novos textos.
Nesta seo, portanto, vamos estar trabalhando tanto com seqncias discursivas extradas das
retomadas e dos novos textos produzidos a partir do texto Experincia Nova, quanto com
seqncias discursivas extradas das retomadas e dos novos textos produzidos a partir do texto Arc
e os economistas. O primeiro sinalizado pelas reticncias; o segundo, pela interrogao.
O que caracteriza essa seo a construo de um efeito de sentido que mantm o dizer no
nvel do mesmo, da reiterao do sentido criado em TO.
A anlise leva ento elaborao do primeiro recorte discursivo.
2.3.1 Recorte 1: a reiterao do mesmo
Este recorte discursivo constitudo pelas seqncias discursivas representativas da posiosujeito que revela a assuno, pelos sujeitos-leitores, da mesma posio-sujeito do autor, tanto no
que diz respeito s retomadas de TO quanto no que diz respeito produo de novos textos a partir
de TO.
O recorte est subdividido em grupos discursivos que refletem a reunio das retomadas e
dos novos textos produzidos a partir do texto com reticncias e a reunio das retomadas e dos novos
textos produzidos a partir do texto com interrogao e em blocos discursivos nos quais
examinamos as seqncias discursivas que remetem aos enunciados que esto sendo retomados
pelos sujeitos-leitores.
2.3.1.1 Grupo 1 : reticncias e retomadas
194
Esse grupo discursivo est constitudo pelas seqncias discursivas que surgiram a partir do
comando reescreva o texto lido.
O grupo est subdividido em blocos discursivos, em que o enunciado remete a TO, e as
seqncias discursivas remetem s retomadas desse enunciado de TO.
BLOCO 1: QUE GRANDE PILANTRA...
RETOMADAS:
Sd1: Seu pilantra! Ladro inteligente merece respeito!
Sd2: Que grande safado, s que muito esperto.
Sd3: Seu sem-vergonha! Que imaginao frtil, hein?
Este bloco discursivo retoma a assimtrica relao de foras, presente em TO, entre os
protagonistas do discurso. Assim, vemos um dos interlocutores o sujeito representado pelo
delegado dirigir o discurso, atribuindo a si mesmo o lugar social da superioridade e atribuindo a
seu interlocutor o ladro de galinhas o lugar social da inferioridade.
Com isso, os sujeitos-leitores caracterizam tambm uma FD em que se verificam a posiosujeito do poder (assumida pelo sujeito representado pelo delegado) e a posio-sujeito da
submisso (assumida pelo sujeito representado pelo ladro de galinhas).
Tais seqncias, portanto, estabelecem um efeito de ressonncia com o mesmo bloco de TO,
ou seja, o efeito de sentido criado nas retomadas pelos sujeitos-leitores o mesmo que se cria em
TO quando o sujeito-autor emite o enunciado que grande pilantra....
Esse efeito de ressonncia pode ser traduzido tambm como um espao de coincidncias do
dizer, ou seja, como um espao em que o dizer e o sentido so amplamente partilhados por
enunciador (sujeito-autor) e destinatrio (sujeito-leitor). Assim, vemos o sentido de pilantra ser
retomado atravs de safado, sem-vergonha, nos revelando uma coincidncia entre as palavras e as
coisas que elas significam.
Alm disso, nesse bloco discursivo, podemos notar tambm um efeito de sentido que mostra a
correspondncia entre ser pilantra e ser esperto, possuir inteligncia, imaginao frtil e merecer
respeito.
Isso indica que os sujeitos-leitores, ao se identificarem com uma das posies-sujeito que
circulam em TO, produzem textos tambm heterogneos, carregados de posies-sujeito oriundas
de formaes discursivas diversas. Assim, encontramos um dizer em que cabe uma avaliao
negativa para o ladro de galinhas (ladro, pilantra, safado), mas tambm um dizer em que cabe
uma avaliao positiva para esse ladro (esperto, inteligente, tem imaginao frtil, merece
respeito).
195
Reconhecemos aqui, como em TO, a caracterizao de enunciados divididos, por meio dos
quais se associam saberes antagnicos em um mesmo enunciado discursivo.
Assim, temos:
(x) pilantra
Sd1: P =
(y) inteligente, merece respeito
(x) safado
Sd2: P=
(y) esperto
(x) sem-vergonha
Sd3: P=
(y) imaginao frtil
Nesses enunciados, (x) representa o que seria formulvel na FDX: ladro = pilantra, safado,
sem-vergonha; e (y) representa o que seria formulvel na FDY : ladro = inteligente, esperto,
imaginao frtil, merece respeito.
Desse modo, podemos dizer que os sujeitos-leitores, assim como o sujeito-autor de TO,
constroem redes de formulaes do dito, que retomam o dito de TO. Quer dizer: os sujeitos-leitores
retomam, tal como ocorre em TO, um dizer em que cabe ladro = pilantra, safado, sem-vergonha e
o reformulam dizendo ladro = inteligente merece respeito, esperto, tem imaginao frtil.
Em funo disso, estamos inclinados a pensar que, ao recriar tal rede de formulaes, esses
sujeitos-leitores acabam, paradoxalmente, por criar uma famlia parafrstica que retoma o mesmo
produzido em TO, assemelhando-se parfrase lingstica, em que o mesmo sentido produzido.
Acreditamos ento ser possvel pensar que tais reformulaes so muito mais do nvel
intradiscursivo, ou seja, alteraes na materialidade do enunciado, do que do nvel interdiscursivo,
ou seja, parfrases discursivas. Tais alteraes, portanto, remetem ao processo discursivo e no ao
interdiscurso.
Tal concepo nos levaria a considerar, em princpio, a existncia da parfrase intradiscursiva,
na qual os sujeitos-leitores constroem redes de reformulaes do dito que remetem principalmente
ao intradiscurso, mantm o sentido no nvel do mesmo e inscrevem-se na mesma FD de TO.
Tais afirmaes so, por enquanto, apenas conjecturas, que esperamos ir firmando com as
anlises.
Continuando nossa anlise, e voltando nossa ateno para o uso das reticncias pelo sujeitoautor, podemos dizer ento que o espao sinalizado pelas reticncias , nesse bloco, trabalhado
pelos sujeitos-leitores com um dizer que da mesma ordem do dizer de TO.
196
Isto significa reconhecer a assuno, pelos sujeitos-leitores, da mesma posio-sujeito
assumida pelo sujeito-autor de TO, e, conseqentemente, a criao de um efeito de ressonncia de
sentido entre TO e essas retomadas .
Passemos anlise do bloco seguinte.
BLOCO 2: SE O DONO DO GALINHEIRO TE PEGA ...
RETOMADAS:
Sd4: Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do galinheiro te pega acaba te dando um tiro.
Sd5: Felizmente tu vais preso. Se o dono do galinheiro te pega, ele vai te surrar at a morte.
Sd6: Ainda bem que tu vai preso. Se o dono te pega ele te arranca o pescoo.
Esses sujeitos-leitores retomam a distino entre duas posies-sujeito: a do poder (assumida
pelo delegado, que diz tu vai preso, e pelo dono do galinheiro, que pode punir o ladro) e a da
submisso (assumida pelo ladro de galinhas, que tem como opes ser preso pelo delegado ou ser
pego pelo dono do galinheiro).
Podemos reconhecer a retomada do jogo entre fatos de duas ordens: a ordem da realidade e da
ordem do imaginrio.
Como constatamos anteriormente, TO trabalha a ordem da realidade (tu vai preso) e se
abstm de mexer com a ordem do imaginrio, colocando em seu lugar as reticncias (se o dono do
galinheiro te pega...).
justamente com a ordem do imaginrio que os sujeitos-leitores operam e, realizando gestos
de interpretao, substituem a lacuna de significao posta pelo sujeito-autor de TO atravs das
reticncias por expresses como acaba te dando um tiro, ele vai te surrar at a morte, te arranca o
pescoo.
O sentido que surge aqui, no entanto, estabelece uma ressonncia de significao com o
sentido presente em ainda bem que tu vai preso, onde fica implcito que a punio do dono do
galinheiro, ao descobrir-se lesado, seria muito pior que a priso. Da o aparecimento de acaba te
dando um tiro, ele vai te surrar at a morte, te arranca o pescoo. Quer dizer: os sujeitos-leitores
compreendem a lacuna, preenchem esse espao e mantm o sentido de TO.
Tal leitura dos sujeitos-leitores vem ratificar a posio que defendemos na primeira parte
desse estudo seo 3.2.1. quanto ao fato de que trabalhar o espao das reticncias no significa
traduzir o silncio em palavras, uma vez que o silncio significa por si mesmo. por significar por
si mesmo, portanto, que esse espao pode ser compreendido e preenchido. Mais do que isso: os
diferentes preenchimentos constituem uma famlia parafrstica e remetem para o processo
discursivo.
Essa significao no independente do sujeito, no entanto. E por isso que diferentes
leitores lidam com esse espao de diferentes formas.
197
Completar esse silncio representado pelas reticncias com te d um tiro, ou com te surra at
a morte, ou com te arranca o pescoo, no entanto, no causa, em termos discursivos, nenhuma
diferena, pois, sendo o discurso efeito de sentidos, permanecemos, com tais formulaes, no
espao do mesmo.
Reconhecemos, assim, nessa manuteno de sentido, uma coincidncia entre o dizer do
sujeito-autor de TO e o dizer dos sujeitos-leitores, o que significa dizer que a coincidncia entre as
palavras e as coisas que elas significam que preserva, entre o texto-origem e as suas retomadas, o
mesmo efeito de sentido.
O emprego de expresses como ainda bem e felizmente revela tambm a inscrio dos
sujeitos-leitores na mesma FD heterognea em que se inscreve TO e revela tambm textos
heterogneos, que comportam um dizer como tu vai preso, mas que admite tambm um dizer como
ainda bem que no vais ser castigado pelo dono do galinheiro.
E revela tambm que os sujeitos-leitores trabalham o humor presente em TO, pois, ao dizer
no vais ser castigado, eles, como ocorre em TO, aludem a um discurso-outro que diz tu deverias
ser castigado. Quer dizer: esse discurso-outro fica circulando em TO, sem ser dito, mas opondo-se
ao discurso que dito, relativizando-o, deslocando o sentido dominante. essa presena-ausncia
que acaba criando o efeito de humor no discurso.
O humor presente em TO, dessa forma, permanece presente tambm nos textos produzidos
pelos estudantes.
Podemos dizer ento que os sujeitos-leitores, nesse bloco, assumem a mesma posio-sujeito
do sujeito-autor de TO, na medida em que, pelo vis do humor e da ironia, procuram desconstruir o
sentido segundo o qual seria bom que o ladro escapasse ileso.
Assim, reconhecemos tambm nesse bloco discursivo uma relao de parfrase com o bloco 2
de TO, ou seja, uma ressonncia de significao, a manuteno de um mesmo efeito de sentido, a
identificao dos sujeitos-leitores com a mesma matriz de sentido construda pelo sujeito-autor do
texto Experincia Nova.
Vejamos o bloco seguinte.
BLOCO 3 : SIM. MAS PRIMRIO, E COM ESSES ANTECEDENTES ...
RETOMADAS:
Sd7: Sim, mas primrio e com esses antecedentes a gente pode dar um jeitinho brasileiro e no
coloc-lo atrs das grades, porque neste pas quem tem dinheiro jamais poder viver uma experincia
dessas.
198
Sd8: Sim, mas primrio e com esses antecedentes, no posso prend-lo, o senhor sabe como , no
nosso pas s cumpre pena um ladrozinho que rouba para matar a fome de seus filhos. Jamais
algum com seu poder e sua inteligncia, Excelncia.
Sd9: No, o senhor no vai preso, pois primrio e com todos esses antecedentes no tenho
condies, perderei meu emprego. Deixa assim. V embora dessa delegacia e diga que nunca
conversamos antes.
Como podemos notar, ao retomar o texto, os sujeitos-leitores, num gesto de interpretao,
num processo de leitura das reticncias, acabam por dizer aquilo que est l em TO, de alguma
forma, mas que no chega a ser dito pelo sujeito-autor: que se o ladro fosse um simples
ladrozinho de galinhas, um pobre que roubasse para matar a fome, ele seria preso, sim.
Na verdade, esse saber est no interdiscurso, que se atravessa na leitura dos sujeitos-leitores,
quando eles reescrevem, da mesma que se atravessa na leitura do sujeito-autor quando ele escreve o
texto-origem.
Diramos que esses leitores, ao reescreverem o texto-origem, apropriam-se de um j-l que
est na formao discursiva em que se inscreve o sujeito-autor e, ao faz-lo, acabam por se
inscrever na mesma FD e manter o sentido no nvel do mesmo.
Assim como acontece no bloco 3 de TO, a negao presente em no coloc-lo nas grades,
em no posso prend-lo e em o senhor no vai preso revela tambm que esse enunciado
remete a FDs antagnicas, ou seja, que nesse enunciado convivem dizeres divergentes.
Quer dizer: em uma FD, pode e deve ser dito que ladro deve ser preso, para ser colocado
atrs das grades; em outra FD, pode e deve ser dito que ladro importante no pode ser preso.
E isso que possibilita que o sujeito representado pelo delegado saia da posio-sujeito do
poder que ocupava em relao ao ladro de galinhas e passe a ocupar a posio-sujeito da
submisso ( em relao ao ladro importante). Como acontece em TO.
No processo de leitura e retomada de TO, os sujeitos-leitores lanam mo ainda de
esteretipos, os quais, conforme afirma Leandro Ferreira (1993:69), em seu artigo A antitica da
vantagem e do jeitinho na terra em que Deus brasileiro (o funcionamento discursivo do clich no
processo de constituio da brasilidade), so enunciados que se apresentam como evidncias,
indistintamente repetidas e consensualmente aceitas.
Tais enunciados, reafirmamos, vm do interdiscurso, e fazem parte do senso comum, daquilo
que todo mundo sabe e aceita.
Assim, encontramos, na sd7, o clich jeitinho brasileiro, bem como, na sd8, a meno ao
esteretipo no Brasil, s pobre vai preso.
O clich, conforme Leandro Ferreira, est impregnado na memria do dizer, na memria
social, como marca constitutiva da identidade. No clich jeitinho brasileiro, segundo a autora, a
marca do diminutivo opera uma significao, apontando uma cumplicidade do sujeito do discurso.
199
A palavra jeitinho parece mobilizar sentidos que atravessam uma tnue linha da moralidade, da
tica, que se confunde com esperteza, malandragem.
Tambm o clich no Brasil, s pobre vai preso indefinidamente repetido e aceito e
considerado representativo do modo de funcionamento da justia brasileira.
Chamamos a ateno novamente para a negao contida em no posso prend-lo (sd8) e em
o senhor no vai preso (sd9). Como j afirmamos anteriormente segunda parte/cap.2/seo
2.2.1./bloco 3 com base em Indursky (1997), essas negaes marcam a presena de um prconstrudo como vestgio mais ou menos evidente da presena do interdiscurso no intradiscurso.
Assim, quando apresentam um delegado que diz que o ladro no vai preso, que diz que no
pode prend-lo, os sujeitos-leitores trazem para seu discurso o discurso-outro, ou seja, uma voz que
admite que o criminoso deve ser preso. essa realidade que o clich contraria: pode-se dar o
jeitinho brasileiro, pois s pobre vai preso no Brasil.
Essa uma forma de os sujeitos-leitores trazerem o humor presente em TO tambm para seu
discurso. Ou seja: eles desconstroem o senso comum, o discurso-outro e, com isso, criam um efeito
de humor e ironia.
Assim, se o senso comum mostra que ladres de galinha vo para a cadeia, esses sujeitosleitores expressam aquilo que o sujeito-autor de TO no chega a dizer em seu discurso: quando o
ladro especial, quando tem colarinho branco, quando tem bons antecedentes (compra
ministros, sonega impostos, pratica trfico de drogas, etc.), ele no punido.
Tudo isso nos leva a dizer que esses sujeitos-leitores, ao retomarem TO, operam sobre as
reticncias, preenchendo essa lacuna na mesma direo de sentido a imprimida pelo sujeito-autor
de TO.
Como j frisamos, eles no traduzem em palavras o silncio expresso por esse sinal de
pontuao, mas compreendem o modo como ele significa e, atravs da retomada, ao reescreverem o
texto, dizem aquilo que o sujeito-autor silenciou ao suspender seu discurso. Ao fazer isso, criam um
efeito de ressonncia de sentido com o bloco 3 de TO, ou seja, estabelecem com aquele bloco
discursivo uma relao parafrstica, inscrevendo-se na mesma matriz de sentido.
O gesto de interpretao desses sujeitos-leitores, portanto, apesar de interpretar o espao
lacunar representado pelas reticncias, no chega a ocasionar mudanas de sentido em relao a TO.
2.3.1.2 Grupo 2: reticncias e a produo de novos textos
Neste ponto, passamos a deter nossa ateno sobre os textos que surgiram a partir do
comando produza um novo texto a partir do texto lido.
200
A anlise norteada por questes como: nos textos sinalizados pelas reticncias, o leitor, ao
produzir um novo texto, trabalha esses espaos de interpretao? Como o leitor lida com o humor
presente em TO, ao escrever um novo texto? Os sentidos gerados so os mesmos encontrados nas
retomadas?
No julgamos necessria a subdiviso desse grupo em blocos discursivos, uma vez que, ao
obedecerem ao comando produza um novo texto, os sujeitos-leitores, ao contrrio do que
acontece nas retomadas, no mantm uma relao direta, par a par, com os trechos em que ocorrem
as reticncias.
Passemos ento s seqncias.
NOVOS TEXTOS:
Sd10: S existe priso para os pobres, os quais, na maioria das vezes, roubam para sobreviver. J os
grandes ladres, isto , os inteligentes que roubam, traficam e cometem grandes corrupes, como o
prefeito de So Paulo, Celso Pitta, que roubou e traiu sua cidade em benefcio prprio e de outros
corruptos, no vo para a cadeia, pois conseguem comprar os que iro julg-los e conseguem sair
impunes de todas as suas falcatruas.
Sd11: assustadora a cara de pau de nossos governantes, como, por exemplo, nosso ex-presidente
Fernando Collor de Mello, que roubou, sonegou impostos, e agora, onde se encontra? Na cadeia? No,
nos States da vida, no maior conforto, enquanto que aquele que rouba na feira, nos supermercados ou
at mesmo nos galinheiros, que rouba para sua sobrevivncia, est apanhando da polcia dentro de uma
cadeia qualquer. Infelizmente vivemos em um pas de terceiro mundo, onde quem tem mais pode mais
e domina quem tem menos, vencendo a punio e a falta de atitude das grandes autoridades.
Sd12: A ltima frase do texto deixa transparecer toda hipocrisia e corrupo que h por trs de
nossos doutores e senhores da lei e da poltica. Sempre se d um jeitinho para um pilantra que
nunca havia sido pego, mas que tem muito dinheiro a ponto de ter antecedentes to influentes e que
jamais (por maior que fosse o roubo) apareceu nas negras colunas de um jornal como ladro.
Como podemos perceber, o efeito de sentido criado pelas seqncias discursivas que surgem
atravs do comando produza um novo texto a partir do texto lido, no diferente do efeito criado
pela retomada de TO.
Constatamos tambm aqui, da mesma forma que no grupo 1, a apresentao, pelos sujeitosleitores, das duas posies-sujeito divergentes j sinalizadas tambm em TO: a do poder e a da
impotncia que leva submisso.
Os sujeitos-leitores mostram, assim como o sujeito-autor de TO, que essas posies so
relativas, pois podem ser ocupadas por sujeitos diferentes. Assim, a posio-sujeito do poder pode
ser ocupada por uma autoridade, mas pode ser ocupada tambm por criminosos ricos e importantes,
que praticam ilegalidades, mas que, por causa do dinheiro ou da influncia que possuem, no
ocupam a posio de submisso, que pertence ao bandido pobre. E a posio-sujeito da submisso
pode ser ocupada por um ladro de galinhas, mas pode ser ocupada tambm por um delegado
corrupto.
201
Dessa forma, os sujeitos-leitores produzem textos heterogneos, que admitem falar em priso
para quem rouba, mas que aceita tambm dizer que ladres importantes, ricos, doutores, senhores
da lei e da poltica, que praticam corrupo, grandes roubos e falcatruas, no podem ser presos,
que para estes se d um jeitinho.
Como podemos notar, os sujeitos-leitores, num gesto de interpretao, da mesma forma que
acontece no grupo 1, acabam dizendo aquilo que no chegou a ser dito pelo narrador de TO: com
antecedentes como esses (roubo, sonegao, trfico, etc.) ningum vai preso, pois, no Brasil, cadeia
s para pobre.
Esse jogo entre posies-sujeito contrrias , portanto, marca da heterogeneidade dos textos
produzidos pelos estudantes, textos que esto repletos de posies-sujeito oriundas de FDs diversas.
Essa heterogeneidade ganha destaque, na sd12, quando o leitor marca, entre as suas, aquilo
que considera ser as palavras do sujeito-autor e diz: senhores, doutores, antecedentes.
Temos a um exemplo a que j referimos na primeira parte desse estudo, cap.2/seo 2.4.2.
de uma heterogeneidade a que Authier (1998) trata como no-coincidncia entre o dizer e as
coisas.
Assim, ao assinalar a presena estranha de palavras que pertencem ao discurso-outro, esse
sujeito-leitor esboa em si mesmo o traado de uma fronteira entre o interior (o seu discurso) e o
exterior (o discurso do sujeito-autor).
Esse jogo responsvel tambm pelo humor, pela relativizao do sentido dominante.
Esses leitores tambm lanam mo de esteretipos, como o do jeitinho brasileiro, j referido
anteriormente, trazendo para o discurso o efeito de sentido, repetido e aceito, de que no Brasil no
se faz justia com aqueles que tm poder e dinheiro. Para estes, d-se um jeitinho e tudo se
resolve.
Percebemos tambm, nas sd10 e 11, que os sujeitos-leitores trazem para seus textos os nomes
de Fernando Collor de Mello e de Celso Pitta, para ilustrar a corrupo e a impunidade corrente
entre os polticos.
O que temos, aqui, na verdade, o atravessamento do interdiscurso na leitura e na produo
desses novos textos. Quer dizer: os leitores, num trabalho da memria, buscam no interdiscurso os
saberes que lhes permitem produzir sua leitura, em que o que pode e deve ser dito que criminosos
e ladres devem ir para a cadeia, mas que pode ser dito tambm que, no Brasil, s pobre vai preso.
2.3.1.3 Grupo 3: interrogao e retomadas
202
Neste grupo discursivo, vamos analisar as seqncias discursivas que foram produzidas sob o
comando de retomada do texto Arc e os economistas, texto sinalizado pela interrogao, que,
tambm aqui, aparece em um texto de humor.
Mais uma vez, os blocos discursivos so constitudos pelas ocorrncias que no TO apresentam
o sinal de pontuao em exame e que so retomadas pelos sujeitos-leitores.
BLOCO 1: O QUE FAZEM OS ECONOMISTAS? FAZEM ECONOMIA?
RETOMADAS:
Sd13: No, absolutamente no. Os economistas no fazem economia, eles a estudam.
Sd14: Eles estudam a situao econmica do pas, como, por exemplo, o consumo, as arrecadaes,
as dvidas.
Sd15: No. Fazem estudos sobre a economia do pas e do mundo, analisando o sistema de
investimentos para o futuro, se baseando nos clculos do passado.
possvel constatar, nesse bloco discursivo, da mesma forma que notamos em TO, uma
relao assimtrica entre os protagonistas do discurso, com um dos sujeitos representado pelo
terrqueo colocando-se em posio de superioridade, isto , daquele que sabe, em relao ao outro
representado pelo marciano, aquele que no sabe.
Isso evidencia, tambm no discurso dos sujeitos-leitores, duas posies-sujeito: a do
conhecimento assumida pelo terrqueo e a do desconhecimento assumida pelo marciano.
Aqui, como em TO, isso surge pelo jogo entre as palavras economia/ economista. Uma
posio-sujeito, a do conhecimento, identifica-se com economista no faz economia, estuda a
economia; e a outra, a do desconhecimento, pelo vis da pergunta, remete para economista faz
economia.
Reconhecemos tambm nos textos dos sujeitos-leitores a marca da heterogeneidade
discursiva, materializada atravs da negao. Da mesma forma que ocorre em TO, esses leitores
trazem para seu discurso o discurso-outro, oriundo de uma FD diversa, que se identifica com um
saber em que os economistas fazem economia.
Ao deixarem transparecer esse discurso-outro, os sujeitos leitores expem, de uma forma
ldica, um sentido contrrio ao que est sendo dito, e, com isso, criam tambm, como em TO, um
efeito de humor na retomada.
Na verdade, ento, o que se constata na retomada desse enunciado pelos sujeitos-leitores
que eles preservam o efeito de sentido encontrado no texto-origem. TO e retomadas, portanto, esto
em relao parafrstica.
BLOCO 2: OS ECONOMISTAS SE DEDICAM A IMPORTANTES ESTUDOS... ENTENDE?
RETOMADAS:
Sd16 : No.
203
A seqncia discursiva desse bloco retoma e ratifica a relao assimtrica que se desenvolve
entre os interlocutores de TO.
No exame dos textos produzidos, foi possvel observar que os estudantes, na sua esmagadora
maioria, retomam a resposta no. Quando no fazem isso, simplesmente passam diretamente da
pergunta entende? para a outra questo isso melhora a vida das pessoas?.
Estamos, mais uma vez, no campo da coincidncia entre o dizer do sujeito-autor e o dizer do
sujeito-leitor, ou seja, no campo da manuteno de sentido.
A negao, aqui, da mesma forma que em TO, marca de heterogeneidade discursiva, pois
traz para esse discurso (que diz que fazer economia uma coisa, estudar a economia outra; que
diz que economia qualquer um faz, e com isso, pe os economistas em uma classe especial de
pessoas, j que no fazem economia) o discurso-outro (em que nada disso admitido). Negar,
ento, uma forma de refutar esse discurso-outro.
Assim, podemos dizer que a retomada dessa pergunta leva construo do mesmo efeito de
sentido verificado em TO: uma falsa ingenuidade por parte do sujeito que representa o marciano, a
apresentao de uma caricatura do povo brasileiro, o desvelamento de uma desigualdade entre os
sujeitos.
Isto significa que os sujeitos-leitores, ao lidar com o espao lacunar expresso pelo ponto de
interrogao, assumem a mesma posio que o sujeito-autor de TO, inscrevendo seus dizeres na
mesma matriz de sentido do texto que ilusoriamente lhes deu origem.
Em outras palavras: eles tm um gesto de interpretao semelhante ao do sujeito-autor, o que
denota a identificao com a mesma FD, com a mesma famlia parafrstica. Na verdade, esse gesto
revela a identificao com um j-l da FD, o que faz com que autor e leitor mantenham o dizer no
nvel do mesmo.
BLOCO 3: ISSO TUDO SERVE PARA QU? POR EXEMPLO, MELHORA A VIDA DA
POPULAO?
RETOMADAS:
Sd17: T difcil, hein, marciano? Eles fazem previso sobre o futuro da economia.
Sd18: P, marciano. Eu falei estudam profundamente. Os economistas prevem o destino da
economia.
Sd19: Puxa, Arc! Que dificuldade! Eu disse que eles fazem pesquisas e estudos.
Nesse bloco discursivo, evidenciamos, novamente, as duas posies-sujeito: a do
conhecimento e a do desconhecimento. Mantm-se, com isso, a assimetria entre os protagonistas do
discurso. E acaba sendo retomado o sentido expresso em TO quando do aparecimento desse
enunciado com interrogao.
204
Assim, vemos o sujeito representado pelo terrqueo esquivar-se da resposta, utilizando outra
pergunta. Com isso, foge responsabilidade que o seu interlocutor est lhe impondo de dizer se os
estudos dos economistas melhoram a vida da populao.
Esse procedimento, como j constatamos em TO, acaba gerando o efeito de sentido contrrio:
isso no melhora a vida da populao.
Podemos perceber, mais uma vez como j aconteceu nesse mesmo captulo/
seo2.3.1.2./sd12 uma no-coincidncia entre o dizer e as coisas, isto , uma marca de
heterogeneidade discursiva, quando o sujeito-leitor assinala, pelas aspas, a presena de um dizer
que, para ele, vem do sujeito-autor: estudam profundamente (note-se que, nesse resgate, o leitor
transforma importantes estudos em estudam profundamente).
Tudo isso d um tom de humor e ironia ao discurso, na medida em que, atravs de uma
espcie de brincadeira a pergunta do bvio trata de coisas srias.
Verificamos ento, mais uma vez, a manuteno de um mesmo efeito de sentido em relao
ao texto-origem.
Isso significa tambm que, nesse bloco, a interpretao do espao lacunar criado pela
interrogao a mesma que ocorre em TO. Quer dizer: esses sujeitos-leitores completam esse
espao com o mesmo sentido verificado em TO, e inscrevem seus dizeres na mesma matriz de
sentido do suposto texto-origem.
BLOCO 4 : E ACERTAM?
RETOMADAS:
Sd20: Nunca, mas no interessa isso, o importante estudar os movimentos da economia, elaborando
uma tendncia para o futuro.
Sd21: No, s que isso no importa. O importante que eles estudem o que est acontecendo no diaa-dia da economia e que criem modificaes para o futuro.
Sd22: No. O interessante para os economistas avaliar o que aconteceu, para terem uma prvia do
futuro da economia.
Podemos reconhecer aqui, novamente, uma oposio entre diferentes posies-sujeito
conflitantes nesses textos: uma posio-sujeito identifica-se com um dizer em que no importante
que os economistas acertem; uma outra posio-sujeito identifica-se com um dizer em que isso
importante. A primeira posio-sujeito assumida pelo sujeito representado pelo terrqueo, e a
segunda posio-sujeito identificada ao sujeito representado pelo marciano.
E, na medida em que o sujeito-leitor vai se identificando com o marciano, representao da
maioria do povo brasileiro, ele vai firmando tambm sua posio-sujeito de leitor, que a mesma
do sujeito-autor de TO.
H, novamente, uma manuteno de sentido em relao a TO, ou seja, a inscrio dos
sujeitos-leitores na mesma matriz de sentido em que se inscreve o sujeito-autor de TO.
205
Podemos dizer ainda que esses sujeitos-leitores manifestam o mesmo gesto de leitura e de
interpretao verificado em TO, ao operar sobre o espao de significao expresso pela
interrogao; quer dizer: eles preenchem essa lacuna com o mesmo efeito de sentido construdo em
TO.
BLOCO 5: DESCULPE A INSISTNCIA, MAS ISSO SERVE PARA QU?
RETOMADAS:
Sd23: Entendi. Analisam fatos passados para fazerem uma previso do que no acontecer. Perdoeme, mas qual a finalidade?
Sd24: Ser que ainda no se conscientizaram de que isso de nada serve para o progresso do pas?
Sd25: O marciano termina por acreditar (a exemplo de muitos terrqueos) na inutilidade das funes
de um economista nos tempos atuais.
Neste bloco discursivo, constatamos que os sujeitos-leitores enveredam por dois caminhos ao
operar com a interrogao final de TO: ou retomam o enunciado interrogativo (sd23), ou respondem
pergunta (sd24 e sd25). No segundo caso, respondem pergunta com termos como nada,
inutilidade. Isso poderia nos levar a pensar que somente no segundo caso (quando respondem), os
sujeitos-leitores interpretam a interrogao, procurando (constitudos por uma iluso que os faz
imaginar que o discurso pode ser completo) dar-lhe uma resposta.
No nosso ponto de vista, porm, nos dois casos eles operam com a interrogao, com uma
diferena: quando respondem pergunta com outra pergunta, fazem o que o sujeito-autor de TO
fez, ou seja, sinalizam um lugar de interpretao em seu discurso, criam uma lacuna a ser
preenchida com a leitura de seus leitores, e, com isso, se eximem da responsabilidade de dizer;
quando respondem pergunta com nada ou inutilidade, eles, de forma diferente do que acontece
em TO, dizem o que o sujeito-autor no chegou a dizer, ao suspender seu discurso pelo vis da
interrogao.
Em ambos os casos, porm, os sujeitos-leitores preservam o sentido encontrado em TO: o
trabalho dos economistas no serve para nada.
Temos, portanto, ainda uma leitura parafrstica e a assuno, pelos sujeitos-leitores, da
mesma posio-sujeito construda em TO.
Passemos agora anlise do grupo discursivo seguinte, formado a partir dos textos que
surgiram sob o comando produza um novo texto .
2.3.1.4 Grupo 4: interrogao e a produo de novos textos
Este grupo discursivo constitudo por seqncias discursivas oriundas de textos produzidos
sob o comando produza um novo texto a partir do texto Arc e os economistas.
206
NOVOS TEXTOS:
Sd26: Os economistas so vistos aqui como no sendo teis economia do pas, pois, se o trabalho
deles somente estudar a conjuntura econmica do pas, no melhorando em nada a vida da
populao, ento para que servem os economistas? Se pelo menos as tendncias que eles elaboram
dessem certo, j seria importante. No entanto, at o presente, eles no conseguem melhorar ou resolver
os problemas de nosso povo. Assim, so totalmente inteis para ns.
Sd27: Fica constatado que os economistas, na verdade, no tm utilidade alguma, j que no
conseguem auxiliar a populao em suas reas carentes e fazem previses sobre o futuro que no se
confirmam.
Sd28: O extraterrestre chega incrvel concluso de que os economistas no servem para nada.
O que percebemos aqui a manuteno do mesmo efeito de sentido encontrado em TO e nas
demais retomadas de TO.
Assim, podemos ainda notar um contraste entre duas posies-sujeito conflitantes: uma
posio-sujeito identifica-se com um dizer em que economistas s estudam, elaboram tendncias
que no do certo, no melhoram a vida da populao, no servem para nada; a outra posiosujeito inscreve-se num dizer em que os estudos dos economistas trazem solues, as suas
previses do certo, melhoram a vida da populao, os estudos servem para muita coisa.
Como j dissemos anteriormente, a primeira posio-sujeito assumida pelo sujeito
representado pelo marciano, e a segunda posio-sujeito aquela com que se identifica o sujeito
representado pelo terrqueo.
Podemos dizer ento que, da mesma forma que acontece nas retomadas de TO, nesses novos
textos, os sujeitos-leitores assumem a posio-sujeito 1, identificando-se com o marciano, ou seja,
com o povo brasileiro.
Os textos desses sujeitos-leitores, portanto, mantm uma relao parafrstica com
TO,
mantendo o dizer estabilizado no nvel do mesmo.
2.3.1.5 Recorte 1: algumas consideraes
O exame do recorte 1, que acabamos de analisar, nos permite dizer que esse o espao da
manuteno do sentido.
Ao afirmar isso, estamos tendo em mente que os textos produzidos pelos estudantes reiteram
o efeito de sentido verificado nos textos-origem: Experincia Nova e Arc e os economistas.
Em outras palavras: os sujeitos-leitores inscrevem-se na mesma matriz de sentido em que se
inscreve o sujeito-autor de TO e identificam-se com a mesma posio-sujeito.
Levando em conta que os textos-origem so sinalizados pela presena das reticncias ou da
interrogao, ou seja, que lidam com o no-dito, vimos que os sentidos ali produzidos podem ser
percebidos, no entanto, pelos sujeitos-leitores. E com esses sentidos que os sujeitos-leitores se
identificam e produzem seus prprios textos.
207
Assim, ao tomarem os efeitos-textos que constituem os textos-origem, para reconstru-los,
acabam por dizer aquilo que no havia sido dito, que havia ficado circulando sob as reticncias e
sob a interrogao.
Pensar sobre esse processo nos faz levar em conta alguns aspectos. Lembramos ento que um
sujeito-autor, quando estrutura seu texto, o faz sob a iluso de que est construindo uma superfcie
textual plana, homognea, completa e transparente. assim que se produz o efeito-texto, o qual,
como nos afirma Indursky (2001: 33), resulta da iluso de que tudo o que devia ser dito foi dito,
nada faltando e nada sobrando.
O que pensar, porm, sobre um autor que usa reticncias ou interrogao no seu texto? E
mais: que termina seu texto com esses sinais de pontuao?
Podemos imaginar ento que essa seria uma maneira de o sujeito-autor tentar driblar essa
iluso, ou seja, uma forma de o sujeito- autor mostrar que ali nem tudo foi dito, que est faltando
alguma coisa que cabe ao leitor dizer.
Acreditamos, porm, que, mesmo nesse caso, mantm-se a iluso constitutiva do sujeito, a
iluso de que os sentidos que cabem naquele espao, naquela lacuna, esto ali, permeando o
texto, e que a leitura vai se realizar nessa direo.
Em outras palavras: o sujeito-autor constri esse efeito-texto e, mesmo sinalizando sua
incompletude na materialidade lingstica, imagina-o completo, imagina-se dono do seu dizer.
Nesta perspectiva, esse primeiro recorte corresponderia a tal expectativa, na medida em que
os sujeitos-leitores reconstituem o efeito-texto criando um efeito de sentido idntico ao do textoorigem.
Assim, nesse primeiro recorte discursivo, os sentidos so, realmente, o que os sujeitos-autores
de TO parecem ter pretendido que fossem, mesmo que tenham sinalizado materialmente seus textos
com lacunas, com espaos deixados em aberto.
A partir da, podemos pensar nessas lacunas no como uma mera ausncia, mas, retomando os
termos de Catach (1980), como uma presena-ausente, uma vez que so o espao de dizeres que,
no tendo sido ditos, dizem.
Ausncia de palavras e presena de sentidos, portanto. Presena percebida pelos leitores que,
intimidados por ela, rendem-se e reproduzem os sentidos j postos.
isso que permite que os sentidos no deslizem, no derivem, permaneam estveis.
Uma tal presena-ausncia, nesta perspectiva, pode ser concebida como um excesso de
sentido, expresso a que j nos referimos anteriormente (cap. 3), que vem de Maingueneau (1986) e
com a qual o autor define as reticncias.
208
Para ns, assim, ambos os sinais discursivos reticncias e interrogao no representam
uma falta, um vazio, mas justamente esse excesso de sentido, na medida em que, conjugados ao
humor, sinalizam os sentidos que cabem naquele espao e orientam, para o sujeito-leitor, o processo
discursivo da leitura.
2.3.2 Leitura e releitura: o espao da manuteno do sentido
Como foi possvel observar pelas anlises realizadas nesta seo, os sujeitos-leitores, ao
reescreverem o texto-origem, produzem uma manuteno do sentido naquele texto. Essa
manuteno se d por uma espcie de reconstruo da materialidade lingstica, com os sujeitosleitores executando substituies praticamente de nvel lexical (Por exemplo, em Experincia
Nova: pilantra/safado/sem-vergonha; esperto/imaginao frtil/inteligente; te d um tiro/te arranca
o pescoo. Ou em Arc e os economistas: t difcil, hein?/que dificuldade!; isso no interessa/isso
no importa; no serve para nada/inutilidade).
Mesmo quando operam sobre as lacunas deixadas pelas reticncias ou pela interrogao, os
sujeitos-leitores ou buscam formulaes j presentes em TO, ou fazem reformulaes desses
dizeres.
Isto nos revela um espao de coincidncias entre o dizer e as coisas, ou seja, nos aponta a
coincidncia entre o dizer do sujeito-autor de TO e os sujeitos-leitores que retomam esse texto.
Tal fato nos permite lembrar a relao de repetio existente entre o discurso dos sujeitosleitores e o do sujeito-autor, relao, alis, que no exclusiva desses textos e desses discursos, mas
que est sempre presente, como vimos na seo 2.2, entre todos os discursos.
A esta repetio que, pelo processo da leitura e da reescrita, mantm iguais os sentidos
produzidos em TO, produzindo-se essencialmente sobre o intradiscurso, vamos denominar de
repetio lingstico-discursiva.
Assim, para ns, esse tipo de repetio, embora discursiva, se d especialmente sobre a
materialidade lingstica e, por este motivo, faz com que os sentidos mantenham-se os mesmos, ou
seja, faz com eles se encaminhem na mesma direo dos sentidos produzidos em TO.
Reconhecemos ainda, seguindo a terminologia de Serrani (1993), ressonncias em torno de
unidades especficas, que dizem respeito ao funcionamento parafrstico, por exemplo, de unidades
como itens lexicais e frases.
A noo de ressonncia, na verdade, a prpria definio de parfrase para a autora, para
quem h parfrase quando podemos estabelecer entre as unidades uma ressonncia
209
interdiscursiva de significao, que tende a construir a realidade (imaginria) de um sentido
(Serrani, 1993:47).
Como podemos notar, para Serrani a parfrase sempre do nvel do interdiscurso. A partir de
nossas anlises, no entanto, estamos inclinados a perceber esses fatos discursivos de uma maneira
um pouco diferente.
Assim, vamos dizer que esse primeiro recorte o campo da parfrase intradiscursiva, de
uma parfrase em que o sujeito-leitor colhe, no interdiscurso, enunciados que entram em
ressonncia de sentido com o j-dito em TO. Tais ressonncias se do em torno de unidades
lexicais, em torno de frases. Trata-se de ressonncias localizveis, que retomam um j-dito da
formao discursiva e que fazem com que o dizer permanea o mesmo.
No estamos afirmando, no entanto, que temos parfrases puramente sintticas, como
lembrava Pcheux (1988:290) ao opor esse tipo de parfrase parfrase histrico-discursiva.
Para ns, mesmo essa parfrase que trabalha principalmente o intradiscurso, que reitera
sentidos, que inscreve os sujeitos-leitores na mesma FD do sujeito-autor, com a assuno de uma
mesma posio-sujeito histrico-discursiva.
Essa parfrase, para ns, revela ento gestos interpretativos dos sujeitos-leitores, ou seja,
movimentos de interpretao que, por reproduzirem os sentidos, mantm esses sentidos no nvel do
mesmo.
Diramos ento que esses sujeitos-leitores constroem, luz do interdiscurso, parfrases
intradiscursivas que so da ordem do comentrio.
Ao afirmar isso, estamos tomando por base, como j o fizemos na primeira parte desse estudo,
o pensamento de Foucault, em seu texto de 1970 A ordem do discurso no qual ele afirma que o
comentrio no tem outra funo a no ser a de dizer enfim o que estava articulado
silenciosamente no texto primeiro (Foucault, 1970:25).
E Foucault completa dizendo que o
comentrio, num paradoxo, deve dizer, pela primeira vez, aquilo que, entretanto, j havia sido dito,
e repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, no havia jamais sido dito (Ibidem:25).
justamente isso que acontece aqui: os sujeitos-leitores, ao instaurar o seu trabalho
discursivo, e identificarem-se plenamente com a posio-sujeito ocupada pelo sujeito-autor, dizem,
pela primeira vez, aquilo que j havia sido significado pelo vis das reticncias ou da interrogao.
E repetem aquilo que, no entanto, as reticncias ou a interrogao no havia dito.
Esse dizer enfim o que j estava articulado no texto primeiro ratifica o ponto de vista que
defendemos anteriormente, segundo o qual reticncias e interrogao representam uma presenaausncia, um excesso de sentido.
210
Em outras palavras: as reticncias e a interrogao materializam o silncio, a incompletude do
discurso. E esta sua propriedade.
Os sujeitos-leitores, desta forma, pelo processo da leitura, dizem enfim o sentido que j est
produzido pelas reticncias e pela interrogao, compreendem o sentido que por um efeito de
iluso falta, mas que, paradoxalmente, est to presente que chega a ser resgatado.
Podemos dizer ento que os textos produzidos pelos estudantes demonstram que variam as
propriedades desses sinais de pontuao, mas que o processo da leitura dessa incompletude e desse
silncio semelhante.
Tomando emprestado os termos de Foucault (1971:63), acreditamos ainda que seja possvel
afirmar que essas reescritas sejam uma redescoberta do texto-origem, ou seja, que esses textos
permitem que o sentido j esboado em TO seja retomado no momento de reescrever o texto.
Assim, esses sujeitos-leitores, ao dialogarem com o efeito-texto que constitui TO,
estabelecem com ele uma relao de plena identificao: inscrevem-se na mesma FD, identificamse com a mesma posio-sujeito, (re)constroem os mesmos sentidos.
Esses sujeitos-leitores poderiam ser chamados, tomando os termos de Pcheux (1988), de
bons sujeitos, uma vez que h um recobrimento entre seu dizer e o dizer do sujeito-autor; quer
dizer: na tomada de posio, os leitores deixam-se assujeitar sob a forma do livremente
consentido e produzem os mesmos efeitos de sentido produzidos pelo sujeito-autor do textoorigem.
O que propomos ento falar em releitura neste recorte. Por releitura, queremos designar
ento esse processo em que um sujeito-leitor, ao retomar, ao reescrever um determinado texto, faz
a manuteno do sentido, inscrevendo-se na mesma matriz de sentido de TO. Quer dizer: a
releitura revela, em relao a TO, o mesmo processo histrico-discursivo, o mesmo trabalho de
memria, o mesmo processo discursivo.
A esses sujeitos-leitores que fazem uma releitura de TO, entendemos que se limitam a
exercer a funo-leitor.
Vamos dizer ento, seguindo a terminologia de Orlandi (1996), que esses sujeitos-leitores
desempenham a funo-autor, uma vez que, enquanto produtores de linguagem, representam-se em
sua origem, (re)produzindo um texto com unidade, coerncia e progresso. Mas, como se limitam a
reproduzir, a reformular o dizer de TO, inscrevendo-se na mesma FD do sujeito-autor, assumindo a
mesma posio-sujeito, reiterando o mesmo sentido, ou seja, como seus textos so da ordem do
comentrio, entendemos que limitam-se a exercer a funo-leitor.
E salientamos que isso ocorre tanto nas retomadas quanto nos novos textos, isto , tanto
sob o comando reescreva o texto lido quanto sob o comando produza um novo texto.
211
A nica diferena que constatamos foi que, quando retomam, os sujeitos-leitores mantm
tambm o discurso humorstico de TO, mas, quando so solicitados a produzir novos textos, os
sujeitos-leitores abandonam esse tipo de discurso.
Quer dizer: quando retomam, eles aceitam adotar um discurso no-srio para tratar de coisas
srias. Vemos a a influncia do comando reescreva. Temos a impresso de que essa solicitao
soou para os estudantes com a seguinte conotao: escreva novamente esse texto, lembrando que
ele no teu. E isso fez com que eles mantivessem, inclusive, o tom humorstico. No entanto, ao
receberem o comando produza um novo texto, isso parece ter sido como um sinal verde: o texto
passa a ser teu. E isso pode t-los levado a abandonar o humor e a tecer crticas, posicionando-se
sobre o que haviam lido.
Na verdade, acreditamos que, pelo fato de o discurso de humor ser um discurso no-srio, a
ordem reescreva leva a grande maioria dos leitores a reescrever o humor, esse discurso nosrio. Por outro lado, o comando de produzir um novo texto parece conduzir ao discurso srio, ao
texto argumentativo, ou seja, parece libertar os leitores do compromisso presente em reescrever.
Sendo assim, grupo 1 (retomadas) e grupo 2 (novos textos), alm de se constiturem em
parfrases de TO, esto tambm em relao parafrstica entre si. Isto significa que o gesto
interpretativo realizado pelos sujeitos-leitores do grupo 2 o mesmo realizado pelos sujeitosleitores do grupo 1.
Repetir os sentidos, manter-se na mesma FD, assumir a mesma posio-sujeito no significa,
no entanto, no operar sobre a lacuna representada pelas reticncias ou pela interrogao.
Desse modo, se diferentes sujeitos-leitores constroem os mesmos sentidos na leitura das
reticncias e da interrogao, e se esses sentidos so os mesmos que foram construdos pelo
sujeito-autor, isso apenas revela uma total identificao entre esses sujeitos, uma mesma relao
com a histria.
Isso nos permite afirmar que eles realizam um preenchimento da lacuna significante
representada pelas reticncias ou pela interrogao, que eles executam um trabalho sobre os sinais
de pontuao. Quer dizer: eles completam esse espao.
O que no significa que eles traduzam o silncio em palavras, mas que compreendem o modo
como esse silncio significa e, ento, trabalham esse espao, dizendo o que o silncio j significava.
Vamos ento dizer que, nesse processo discursivo da leitura a que denominamos de releitura,
os sujeitos-leitores produzem preenchimentos discursivos que se constituem apenas como um a
mais ao que o sujeito-autor disse.
Na nossa concepo, esse acrscimo pode ser definido como uma incisa.
212
A incisa, nesta perspectiva, representa um preenchimento do silncio materializado pelas
reticncias ou pela interrogao, e este preenchimento revela a forma como os leitores
compreendem esse silncio.
A este tipo de preenchimento, que ocorre na releitura e na parfrase intradiscursiva,
denominamos de preenchimento intradiscursivo.
E a este tipo de incisa, denominamos de incisa intradiscursiva.
Uma ressalva, no entanto, se faz necessria: intradiscursivo(a), aqui, apenas o efeito, pois
sabemos que esse a mais vem sempre do interdiscurso, estando determinado pelo dizer da FD, ou
seja, pela regio do interdiscurso onde o texto-origem se inscreve.
Passemos seo seguinte, onde vamos verificar um processo discursivo de leitura diferente
deste que acabamos de mostrar.
2.4 LEITURA E REESCRITURA: DA FUNO-AUTOR POSIO-AUTOR
Esta seo constituda por dois recortes que evidenciam deslocamentos de sentido em
relao a TO. Em cada um desses recortes, constatamos um efeito de sentido diferente em relao a
TO.
Cada recorte constitudo por grupos discursivos que evidenciam as questes que esto sendo
colocadas em pauta nesse momento da anlise.
Os grupos discursivos so formados por blocos discursivos que renem um nmero mximo
de trs seqncias discursivas que so representativas das retomadas dos enunciados sinalizados
pelas reticncias ou pela interrogao e os deslocamentos de sentido em relao a TO.
2.4.1 Recorte 2 : comeando a deslocar os sentidos
Neste recorte, examinamos seqncias discursivas que revelam a assuno, pelos sujeitosleitores, de uma posio-sujeito diferente daquela encontrada no recorte 1.
Isso significa que tais seqncias no correspondem exatamente mesma posio-sujeito do
sujeito-autor de TO, tal como ocorre no recorte 1.
2.4.1.1 Grupo 1: reticncias e retomadas
Neste grupo discursivo, analisamos as seqncias que foram obtidas a partir do comando
reescreva o texto Experincia Nova.
Os blocos discursivos, como j referimos anteriormente, correspondem s ocorrncias dos
enunciados que apresentam o sinal de pontuao em exame, isto , as reticncias.
213
BLOCO 1: QUE GRANDE PILANTRA...
RETOMADAS:
Sd29: Mas tu s um grande pilantra, mentiroso e safado.
Sd30: Mas que grande falsrio, 171 poderoso!
Sd31: Mas muita cara-de-pau, tu s mesmo um grande sem-vergonha, sem carter!
Podemos afirmar que essas seqncias discursivas, como acontece em TO e no recorte 1,
revelam uma relao de desigualdade entre os protagonistas do discurso, o que nos possibilita falar
em duas posies-sujeito: a do poder e a da submisso. A primeira assumida pelo sujeito
representado pelo delegado (que acusa o ladro); a segunda, pelo sujeito representado pelo ladro
de galinhas (que procura defender-se).
Esse bloco nos mostra ento como os sujeitos-leitores trabalham a lacuna significante
representada pelas reticncias, criando uma famlia parafrstica: mentiroso, safado, falsrio, carade-pau, sem-vergonha, sem carter, 171 poderoso. Todos esses termos retomam a palavra pilantra,
usada pelo sujeito-autor de TO, e nos revelam uma coincidncia entre as palavras e as coisas que
elas representam, o que produz um mesmo efeito de sentido nesse discurso.
Note-se, no entanto, que, de forma diversa do que constatamos no bloco 1 de TO e no bloco 1
do recorte 1, esses sujeitos-leitores no acrescentam a esse julgamento a idia de esperteza, de
malandragem. Pelo contrrio, restringem-se a acusar o ladro.
Isto significa que, nesse bloco, os sujeitos-leitores mantm-se no espao da FD em que o que
pode e deve ser dito que ladro pilantra, safado, sem-vergonha, etc.
Isso denota um deslocamento em relao ao sentido constatado no bloco 1 de TO e no bloco 1
do recorte 1, e uma mudana em relao posio-sujeito assumida pelos sujeitos-leitores que,
atravs de seus textos, revelam a sua leitura de TO.
Vamos ao enunciado seguinte.
BLOCO 2 : AINDA BEM QUE TU VAI PRESO. SE O DONO DO GALINHEIRO TE PEGA...
RETOMADAS:
Sd32: - Imagine o senhor se um grosso desses te d uns tiros, talvez nem pudssemos defend-lo.
Esta seqncia discursiva, da mesma forma que acontece em TO e no recorte 1, pe em pauta
duas ordens: a do real (tu vai preso) e a do imaginrio ( se o dono do galinheiro te pega...).
Enquanto no bloco 2/grupo 1/recorte 1 vamos os sujeitos-leitores completarem o espao de
significao sinalizado pelas reticncias com expresses do tipo te d um tiro, te surra, te arranca o
pescoo, aqui temos um sujeito-leitor que afirma talvez nem pudssemos defend-lo.
fcil reconhecer aqui uma outra forma de relacionamento com a mesma FD, que, embora
prevendo punio para o infrator (te d uns tiros), demonstra at uma certa preocupao em
proteg-lo.
214
O emprego da expresso um grosso desses tambm significativo nesse discurso, pois
revela, por parte do sujeito-leitor que reescreve TO, um outro modo de conceber aquele que, afinal
de contas, estava sendo lesado.
Temos, ento, um desvio de sentido, se compararmos este bloco com TO ou com aquele que
examina as retomadas do mesmo enunciado no recorte 1.
Na nossa perspectiva, estamos no campo no mais das coincidncias, mas das nocoincidncias do dizer, ou seja, daquilo que leva o sentido a no ser mais exatamente o mesmo.
Reconhecemos nesse uso, mais uma vez, um atravessamento do interdiscurso, com a insero
de um saber que avalia negativamente aquele que tem seu direito violado; um outro modo de ver a
realidade, o que demonstra um deslocamento na identificao com a matriz de sentido em que se
inscreve TO.
Consideramos ento que a posio-sujeito revelada nesse bloco no aquela assumida pelo
sujeito-autor de TO, e, portanto, na nossa perspectiva, essa seqncia revela um deslocamento de
sentido nesse universo discursivo.
Isto nos permite dizer que o trabalho de interpretao das reticncias est levando, aqui, a um
deslocamento de sentido em relao a TO.
Temos, pois, uma outra leitura para as reticncias.
BLOCO 3: SIM, MAS PRIMRIO, E COM ESSES ANTECEDENTES...
RETOMADAS:
Sd33: Sim, mas voc primrio. Deixa para l. Alis, por que voc no aproveita a poca que estamos e se
candidata a vereador? Meu voto ser certo.
Sd34: De maneira alguma, talvez possamos, inclusive, jantar juntos (um frango assado) e trocar ensinamentos
e experincias novas, afinal de contas, temos muito em comum.
Sd35: Que isso, amigo? Eu pensei que fosse um estorvo na sociedade, mas vejo que algum que faz algo
para crescer e gente assim que precisamos ter por perto. Eu at lhe perguntaria se j tem algum do meu meio
para cuidar da sua segurana pessoal.
Neste bloco discursivo tambm encontramos um efeito de sentido diferente daquele verificado
no bloco3/grupo 1 de TO e no bloco 3/grupo 1 do recorte 1.
Esse novo efeito de sentido surge quando, num processo de leitura e retomada de TO, os
sujeitos-leitores apresentam a posio-sujeito do poder (representada pelo delegado), oscilando
entre duas FDs contrrias: uma, que comporta um dizer que revela o lugar que o delegado deveria
ocupar (aplicando a lei, fazendo funcionar a justia, prendendo ladres e corruptos), e outra, que
comporta um dizer que revela a posio que ele efetivamente ocupa (deixando para l, dizendo que
tem muito em comum com o ladro corrupto, oferecendo-se a ele como seu segurana, sugerindo
que o ladro se candidate a vereador, pois seu voto ser certo ).
Quer dizer: h nos textos um jogo entre a posio que um representante da lei deveria ocupar
( prendendo ladres e corruptos, votando em candidatos honestos e srios) e a posio que esse
215
representante da lei se prope a ocupar ( fazendo vista grossa para os erros do infrator, votando em
um candidato desonesto).
Tal jogo introduz tambm nesse discurso uma terceira posio-sujeito: a do esperto.
Mostrar esse jogo, acreditamos, um meio encontrado pelos sujeitos-leitores de denunciar a
situao brasileira. E ainda uma forma de os sujeitos-leitores trabalharem o humor presente em
TO, operando tambm com humor sobre a lacuna significante representada pelas reticncias.
Assim, enquanto em TO o sujeito-autor deixa em aberto esse espao, enquanto no bloco
3/grupo1/recorte 1, os sujeitos-leitores operam sobre esse espao e o preenchem com a constatao
sobre a realidade brasileira no Brasil s pobre vai preso, para rico se d um jeitinho neste
bloco os sujeitos-leitores apontam para a possibilidade de que a corrupo seja vista com simpatia
por aqueles que deveriam combat-la. Tanto que empregam expresses como talvez possamos
jantar juntos e trocar ensinamentos, temos muito em comum.
Surge um novo efeito de sentido nesse bloco e nesse grupo discursivos: o de que a corrupo,
pela possibilidade de ganhar dinheiro fcil, atrai at aqueles que so encarregados de combat-la, ou
seja, a possibilidade de o poder aliar-se corrupo.
Este efeito de sentido no o mesmo encontrado em TO e, portanto, podemos dizer que os
sujeitos-leitores deslocam o seu sentido. O discurso, no entanto, inscreve-se na mesma matriz de
sentido.
, portanto, um processo de leitura diferente daquele que se realiza no mesmo bloco do
recorte 1. Essa uma leitura atravessada pelo interdiscurso. Assim, enquanto no recorte 1 os
sujeitos-leitores retomavam os enunciados e os reproduziam, apenas preenchendo-os com dizeres
que, de alguma forma, j estavam significados em TO, nesse bloco 3 os sujeitos-leitores no
retomam o enunciado dessa forma, mas nele encontram pontos de fuga para sarem em direo ao
interdiscurso e, por esse mesmo ponto, retornarem ao enunciado.
Diramos ento que esses pontos de fuga esto materializados, esto sinalizados, no texto do
sujeito-autor, pelas reticncias.
Assim, por exemplo, os sujeitos-leitores saem do texto pela lacuna significante das
reticncias, vo ao interdiscurso e, ao invs de reafirmarem o sentido de TO (no Brasil, s pobre vai
preso), retornam com um dizer do tipo deixa para l, candidate-se a vereador, meu voto ser
certo ou com outro como vamos jantar juntos, trocar ensinamentos.
Mais uma vez, constatamos que a no-coincidncia entre os dizeres fonte de deslocamentos
de sentidos.
216
, pois, atravs desses pontos de deriva que os sujeitos-leitores realizam diferentes trabalhos
de interpretao e diferentes movimentos de leitura, sem, no entanto, se identificarem com outra
matriz de sentido.
Portanto, nesse caso, esse espao das virtualidades, das reticncias, como nos diz Pcheux
(1988, p.173), mostra que aquilo que dizemos no est fora do campo daquilo que no podemos
dizer. E por isso que, aqui, no acontecem rupturas de sentido.
2.4.1.2 Grupo 2: reticncias e a produo de novos textos
Neste grupo discursivo, examinamos seqncias discursivas que surgiram a partir do
comando produza um novo texto a partir do texto Experincia Nova .
NOVOS TEXTOS:
Sd36: A corrupo atuante entre as pessoas. No caso dos delegados, dos ministros, dos deputados, estas
pessoas querem sempre mais, deixando-se levar pela ambio, e no levando em conta seu carter, sua
dignidade, seus valores. O importante subir na vida, no importando a que preo.
Sd37: Todos os dias vemos, atravs dos meios de comunicao, a prtica da corrupo que reina no pas. Ao
que parece o esquema da corrupo abrange quase tudo e todos, e fica difcil distinguir quando ela fruto da
necessidade ou da ganncia.
Estas seqncias discursivas, como podemos perceber, mantm o mesmo efeito de sentido
verificado no grupo 1 deste recorte 2: a corrupo dos polticos, homens da lei e pessoas ricas e
importantes, mas tambm dos delegados.
Mais uma vez h um contraste entre duas posies-sujeito: a que essas pessoas deveriam
ocupar (sendo honestos) e a que efetivamente ocupam ( sendo corruptos).
interessante observar, porm, que, ao produzir um novo texto, da mesma forma que
acontece em Experincia Nova, os sujeitos-leitores, apesar de lidarem com o humor presente em
TO, no produzem humor. Os textos produzidos, nesse caso, revelam a leitura dos sujeitos-leitores
atravs de um texto que podemos chamar de srio, em que os sujeitos-leitores expressam sua
opinio.
Explicando: o humor presente em TO desqualifica, como j referimos, o discurso-outro. Ao
retomar TO, e empregar tambm o humor, os sujeitos-leitores ressignificam essa desqualificao, e,
com isso, recriam, para seus leitores, os pontos de entrada para a leitura, possibilitam novos gestos
de interpretao, recriam os pontos de deslizamentos do discurso.
Pelo contrrio, os sujeitos-leitores que, ao produzirem novos textos, deixam o humor de lado,
retiram de seus textos os sinais discursivos reticncias e o humor, pontos atravs dos quais
tiveram acesso ao interdiscurso.
217
Mais uma vez, vemos aqui uma influncia do comando recebido pelos estudantes: reescreva
parece conduzi-los a retomar o humor, o discurso no-srio sobre o qual se constitui TO; por outro
lado, produza um novo texto parece conduzi-los na direo do discurso srio, do texto
argumentativo, o que faz com que o discurso no-srio do humor seja posto de lado.
De qualquer modo, podemos dizer que existe entre os grupos 1 e 2, do recorte 2, uma relao
parafrstica, o que significa que, seja ao reescrever TO, seja ao produzir um novo texto, os sujeitosleitores recriam o mesmo efeito de sentido. Esse sentido, porm, no produz a mesma relao
parafrstica verificada nos grupos 1 e 2 do recorte 1, onde se retomava exatamente o mesmo sentido
de TO.
Assim, podemos reconhecer nesse recorte um deslocamento de sentidos, uma nova leitura
para TO. E tambm uma nova leitura para os sinais discursivos as reticncias e para o humor.
2.4.1.3 Grupo 3: interrogao e retomadas
Este grupo discursivo constitudo por seqncias discursivas que geram um efeito de sentido
diferente daquele encontrado no mesmo grupo do recorte anterior.
Adotando o mesmo procedimento metodolgico, subdividimos o recorte em blocos
discursivos, que correspondem s perguntas encontradas em TO.
BLOCO 1: O QUE FAZEM OS ECONOMISTAS? FAZEM ECONOMIA?
RETOMADAS:
Sd38: Eles so pessoas de poder poltico em nosso meio e se dedicam a estudos muito importantes sobre a
conjuntura econmica do pas. Economia, faz o povo.
Sd39: Claro que no, Arc. Economia faz o povo. A grande camada da populao chamada Brasil mal est
ganhando para alimentar sua famlia, pois o pior drama social depois do desemprego o valor do salrio
mnimo.
Sd40: Claro que no, Arc, pois eles no precisam fazer economia, j que ganham um salrio muito bom.
Podemos observar que, nesse bloco, os sujeitos-leitores ampliam o sentido que est em TO
onde lemos que os economistas no fazem economia e que qualquer um pode fazer, basta gastar
menos.
interessante notar tambm que os sujeitos-leitores associam economistas a polticos, a
pessoas de poder poltico. Ao fazer isso, relacionam todos os economistas a outros economistas que
exercem cargos pblicos.
Na verdade, esse discurso subjacente que concebe negativamente as pessoas que exercem
cargos pblicos que determina o discurso dos sujeitos-leitores, e faz com que eles no distingam
uns economistas dos outros, isto , que todos sejam avaliados da mesma forma.
Desse modo, esses sujeitos-leitores acabam dizendo aquilo que no estava dito em TO e
criam um deslocamento em relao ao sentido que estava l (sem transform-lo, no entanto).
218
Podemos reconhecer ento, nesse discurso, da mesma forma que no bloco 1/grupo 3/recorte 1,
o contraste entre duas posies-sujeito contrrias: a primeira posio-sujeito identifica-se com um
dizer que reconhece que economistas no fazem economia, que so pessoas de poder poltico, que
ganham um salrio muito bom, que no precisam fazer economia, que economia faz o povo; a
segunda posio-sujeito identifica-se com um dizer que admite que economistas devem fazer
economia, que a populao deve ganhar bem, que o salrio mnimo deve ser melhor, que no deve
haver desemprego.
A primeira posio-sujeito a do conhecimento assumida pelo sujeito que representa o
terrqueo, que quem comea a deslocar o sentido posto em TO e no recorte 1. Ela revela, na
concepo desse sujeito, aquilo que . J a segunda posio-sujeito a do desconhecimento
desvela (embora no explicite) aquilo que, ao perguntar coisas aparentemente bvias, o sujeito
representado pelo marciano imagina que deveria ser.
O contraste entre o que e o que deveria ser coloca ento um jogo entre
posies-sujeito
antagnicas e marca a heterogeneidade desses textos, ou seja, traz, para o discurso dos sujeitosleitores, o discurso-outro, proveniente do interdiscurso.
O que temos ento novamente um atravessamento do interdiscurso: os sujeitos-leitores no
retomam o enunciado de TO ( O que fazem os economistas? Fazem economia? - Claro que no,
Arc. Fazer economia qualquer um pode fazer, basta gastar menos. Os economistas se dedicam a
importantes estudos sobre a conjuntura econmica do pas) , mas localizam nesse enunciado
pontos de fuga para o interdiscurso e de l retornam com outros elementos, que provocam
deslizamentos de sentido em relao a TO.
Desse modo, por exemplo, trazem do interdiscurso um dizer que reconhece que quem faz
economia, realmente, o povo, que ganha mal, sofre as conseqncias do desemprego, etc.
Essa leitura, portanto, no a mesma que realizaram os sujeitos-leitores de R1, que se
inscreveram na mesma matriz de sentido de TO e mantiveram o mesmo efeito de sentido. Essa
leitura atravessada pelo interdiscurso tambm se mantm na mesma FD, mas cria um efeito de
sentido diferente daquele.
Isso nos lembra Pcheux (1990:53), quando o autor afirma que todo enunciado, ou toda
seqncia de enunciados lingisticamente descritvel como uma srie de pontos de deriva
possveis, oferecendo lugar interpretao. mais ou menos isso que vemos aqui: os enunciados de
TO oferecendo lugar interpretao, sendo pontos de deslizamentos de sentido nos textos dos
sujeitos-leitores.
Mas diramos mais, e, para isso, voltamos a Pcheux, quando o autor refere-se interrogao
como um exemplo de lugar que coloca em jogo o discurso-outro, como espao virtual de leitura.
219
assim que estamos considerando esse processo: a interrogao, presente em TO e retomada
nos textos dos estudantes, abre espao para que o discurso-outro, proveniente do interdiscurso,
possa entrar no discurso dos sujeitos-leitores.
Nesse movimento de vai e vem, os sentidos deslizam, alteram-se.
Podemos ento, como vimos fazendo, reconhecer na interrogao um ponto de deslizamento
do discurso, um espao que oferece lugar interpretao, um espao virtual de leitura.
Diferentemente do que se poderia supor, porm, esse espao no abre para, usando os termos
de Pcheux, um no importa o que. Na verdade, esse lugar traz para a cena o discurso-outro, a
memria histrica, o real scio-histrico. Ou seja: d-se o atravessamento da leitura pelo
interdiscurso nesse lugar sinalizado de deslizamento.
isso que permite, pois, que os sujeitos-leitores operem sobre esse espao da interrogao,
preenchendo-o,
criando um sentido que relaciona os economistas aos homens pblicos e, assim
sendo, julgando-os negativamente.
A interrogao, nesta medida, um espao por onde podem deslizar os sentidos, onde
deslocamentos so possveis. ento, neste sentido, um espao virtual de leitura.
BLOCO 2: OS ECONOMISTAS SE DEDICAM A IMPORTANTES ESTUDOS. ENTENDE?
Em todos os textos analisados, no encontramos nenhuma seqncia discursiva que, sendo
uma retomada desse enunciado, fosse representativa de um deslocamento de sentido em relao ao
recorte 1, ou melhor, que apontasse um deslocamento da posio-sujeito verificada no recorte 1.
Este fato, no entanto, no significa que os sujeitos-leitores no tenham lido essa
interrogao, mas que eles mantm aqui o sentido verificado em R1: o marciano no entende a
realidade brasileira.
Na verdade, no poderia ser diferente, pois o efeito de sentido que se verifica em todo esse
recorte 2 se constri sobre essa falta de compreenso do sujeito, representado pelo marciano, sobre
a realidade brasileira.
Assim, bastaria repetirmos as seqncias j analisadas. Para evitar redundncia, no o
faremos.
BLOCO 3: ISSO TUDO SERVE PARA QU? POR EXEMPLO, MELHORA A VIDA DA
POPULAO?
RETOMADAS:
Sd41: No. O povo e o pas esto em segundo plano.
Sd42: Que nada! O povo quem sofre, pois quando os economistas calculam que as despesas de um pas esto
altas, aumentam os impostos.
Sd43: No, a melhoria da vida da populao no est includa como importantes estudos.
220
Neste bloco, reitera-se o sentido expresso pelas seqncias discursivas anteriores. Isso pode
ser observado, mais uma vez, pelo contraste entre duas posies-sujeito em uma mesma formao
discursiva: a primeira posio-sujeito a do conhecimento assumida pelo sujeito representado
pelo terrqueo, que diz que o povo est em segundo plano, que o povo sofre, que o povo no est
includo nos importantes estudos, que a vida do povo no melhora; j a segunda posio-sujeito a
do desconhecimento identificada com o marciano, revela o discurso-outro: o povo deveria estar
em primeiro plano, o povo no deveria sofrer, os estudos dos economistas deveriam ser teis para
o povo, a vida do povo deveria estar melhor.
Cria-se ento, atravs da pergunta do bvio, um jogo entre o que ( e que se identifica com a
primeira posio-sujeito) e o que deveria ser.
Podemos notar que o deslocamento de sentido em relao a TO e ao recorte 1 surge atravs da
fala do sujeito que representa o conhecimento, dizer que s pode entrar no discurso desses sujeitosleitores pelo vis da interrogao.
a interrogao que abre espao para que o sujeito v ao interdiscurso e de l retorne com um
dizer do tipo o povo quem sofre, o povo est em segundo plano. E, nesse movimento, ele
desloca o sentido j posto em TO e reiterado no recorte 1.
Podemos dizer ento que h uma no-coincidncia entre esse dizer e o dizer de TO, e isso
que faz com que se movimentem os sentidos produzidos no texto-origem.
Mais uma vez, portanto, a interrogao espao de deslizamento nesse discurso.
BLOCO 4 : ENUNCIADO 4: E ACERTAM?
RETOMADAS:
Sd44: At agora, marciano, as previses e os resultados ficam s no papel, o povo ainda no viu nenhuma
soluo para os problemas que tanto os afligem.
Relembremos, para anlise desse bloco, aquilo que foi dito sobre o bloco 4, no recorte 1 (o
que significa pensar tambm em TO).
L, como vimos, os sujeitos-leitores mostravam a assuno, pela posio-sujeito que
representa o terrqueo, de uma posio que remetia ao seguinte saber: os economistas nunca
acertam suas previses, mas isso no interessa. No isso que encontramos aqui, onde o sujeito
representado pelo terrqueo assume outra posio, que remete a um saber diferente daquele. Isto
pode ser constatado quando ele diz que o povo ainda no viu nenhuma soluo para os problemas
que tanto os afligem, ou seja, solues so aguardadas e desejadas. Em outras palavras: os
economistas nunca acertam, mas isso no bom, desejvel que eles acertem.
Como podemos perceber, h aqui uma outra no-coincidncia entre o dizer do sujeito-autor de
TO e o dizer do sujeito-leitor, o que revela uma outra interferncia do interdiscurso, um outro
trabalho discursivo de leitura.
221
Novamente, o ponto de interrogao espao de deslizamentos de sentido, mas no um
espao onde cabe um no importa o qu, conforme os termos de Pcheux (1990:54). Quer dizer:
esse saber cabe nesse espao, preenche essa lacuna significante, porque ressoa em nvel
interdiscursivo, porque constri um efeito de sentido possvel nesse universo de repetio.
Por isso, esse dizer pode entrar pela porta aberta pela interrogao, e redizer, ressignificar o
que havia sido significado em TO.
BLOCO 5: DESCULPE A INSISTNCIA, MAS ISSO SERVE PARA QU?
RETOMADAS:
Sd45: Para estudar, analisar...
Esse bloco discursivo corresponde retomada, pelo sujeito-leitor, da pergunta com que o
sujeito-autor fecha seu texto.
Ao falarmos em fechamento, estamos novamente tomando o termo usado por Solange Gallo
(1994), quando a autora fala em efeito de finalizao, presente num discurso que tem
potencialmente um efeito-autor, dentro da prtica a que ela denomina de textualizao.
Notemos, porm, que, em TO, esse efeito de finalizao construdo, paradoxalmente,
atravs de uma lacuna significante. Quer dizer: um fechamento a ser trabalhado pela prtica
discursiva da leitura. E como um espao de interpretao, , por excelncia, um lugar propcio
para a produo e para os deslizamentos de sentidos.
E exatamente isso que vemos ocorrer aqui, quando esse sujeito-leitor abandona o sentido
sugerido em TO, e dito no recorte 1 (esses estudos no servem para nada), e preenche essa lacuna
com outro sentido: serve para estudar, analisar... .
Como podemos perceber, ocorre uma no-coincidncia entre os dizeres, h um deslizamento
de sentido, que vem atravs do sujeito representado pelo terrqueo, que ocupa a posio-sujeito do
conhecimento.
interessante observar o emprego de reticncias na fala desse sujeito-leitor, pois elas abrem,
nesse texto, um novo espao de interpretao, um outro ponto de deslizamento. Ou seja: um espao
sinalizado para o trabalho dos leitores desse texto que surgiu pela retomada de TO, tambm
sinalizado. Quer dizer: esse sujeito-leitor reescreve a interrogao em forma de reticncias.
Tal gesto de interpretao nos demonstra a aproximao desses dois sinais discursivos na
prtica discursiva da leitura. E contribui para justificarmos a reunio desses dois sinais de
pontuao nesse trabalho, pois confirma nossa hiptese inicial de que ambos os sinais de pontuao
reticncias e interrogao so espaos sinalizados que possibilitam os deslizamentos nos textos.
Tanto so que o leitor se permite substituir um pelo outro, sinalizando, em seu prprio texto, a
exemplo de TO, um novo espao de interpretao.
222
No podemos dizer, ento, como se completaria esse espao, como se preencheria essa
lacuna. Cada leitor dessa retomada pode derivar diferentemente, embora no para qualquer lugar,
pois, como vimos, essas lacunas significantes sempre apontam para uma determinada direo dos
sentidos.
Assim, podemos dizer que esse bloco nos revela um deslizamento de sentido em relao a TO
e ao recorte 1.
2.4.1.3 Grupo 4: interrogao e a produo de novos textos
Neste grupo discursivo, examinamos seqncias discursivas que surgiram a partir do
comando produza um novo texto a partir do texto Arc e os economistas .
NOVOS TEXTOS:
Sd46: A insistncia em prever rumos da economia e os constantes erros cometidos vm contribuindo para
aumentar a desiluso das pessoas perante esses profissionais. H nessas previses uma considervel
irresponsabilidade. Interesses privados prevalecem sobre o interesse do povo, da massa trabalhadora. Previses
econmicas esto servindo para desacreditar esses profissionais.
Sd47: Os economistas brasileiros desempenham uma funo considerada, pelo governo, muito importante. As
pessoas que desempenham essa funo recebem uma ajuda de custo, uma quantia satisfatria do governo.
Enquanto o governo ajuda os economistas financeiramente, com casa e comida, muitas pessoas que vivem nas
ruas, pedindo esmolas e o que comer, recebem apenas a ajuda da comunidade em que este indivduo se encontra.
O trabalho que os economistas desempenham no satisfatrio, porque no resolve e nem melhora o problema
da economia. Cada vez h mais notcias de misria, fome, crianas desnutridas e pessoas vivendo em condies
desumanas. Nesta injusta vida, para os que tm pouco, menos ainda, e para os que tm alguma coisa ou muito,
mais um pouco para ajudar. Que economia esta, que custa caro, e no coloca comida no prato de quem est
com fome?
Na busca da compreenso desse bloco, encontramos no discurso pistas que nos mostram um
contraste que os sujeitos-leitores criam entre os economistas e o povo. Assim, na caracterizao dos
economistas, temos: erros, irresponsabilidade, interesses privados, ajuda de custo, quantia
satisfatria, tm muito, recebem mais; e, na caracterizao do povo, temos: vive nas ruas, pede
esmolas, misria, fome, crianas desnutridas, tm pouco, recebe menos.
Tal contraste nos permite reconhecer nesses textos, mais uma vez, uma oposio entre duas
posies-sujeito divergentes na mesma FD. Temos ento a posio-sujeito do conhecimento,
assumida pelo sujeito representado pelo terrqueo, e a posio-sujeito do desconhecimento,
assumida pelo sujeito representado pelo marciano.
Uma vez que o marciano representa nesse discurso a figura do desconhecimento sobre a
realidade brasileira, os sujeitos-leitores, assim como acontece em TO, imputam a ele a
responsabilidade de apontar o que seria desejvel.
223
O efeito de sentido criado na produo de um novo texto a partir de TO , ento, nesse grupo,
o mesmo encontrado na retomada daquele texto: os interesses dos economistas esto acima dos
interesses do povo, que sofre, ganha mal, convive com o desemprego e a misria.
Esse sentido entra nesse discurso pelo vis do interdiscurso. Assim, os sujeitos-leitores,
embora no retomem os enunciados de TO, localizam, naqueles enunciados, pontos de fuga, atravs
dos quais vo ao interdiscurso e de l retornam com outros elementos: os economistas recebem
ajuda de custo, so irresponsveis, o povo passa fome, o povo vive na misria, etc.
So essas no-coincidncias entre os dizeres, so esses elementos provenientes do
interdiscurso que reconstroem, nos novos textos produzidos pelos estudantes, o efeito-texto que
constitua TO.
Note-se ainda que, ao serem solicitados a produzir outro texto a partir de TO, os sujeitosleitores operam sobre o sinal discursivo da interrogao (e sobre todas elas, no s com a
interrogao final), porm no reproduzem o humor em seus prprios textos.
Quer dizer: os sujeitos-leitores, nesse caso, interpretam o humor de TO, mas no o colocam
em seus textos.
Isto parece nos mostrar, mais uma vez, que, ao serem solicitados a produzirem um novo
texto, os sujeitos-leitores parecem sentir-se mais donos dos textos que produzem, e preferem
ento adotar uma forma sria para tratar de assuntos srios.
Em outras palavras: o comando produza um novo texto desobriga os sujeitos-leitores de
retomarem, de reescreverem o humor presente em TO, e conduz ao discurso srio, ao texto
argumentativo.
2.4.1.5 Recorte 2: algumas consideraes
O exame das seqncias discursivas desse recorte nos leva a considerar esse espao como o
dos deslizamentos de sentido.
Com isso, queremos dizer que os textos produzidos pelos estudantes alteram o sentido
construdo em TO. Tal transformao no suficiente, no entanto, para que ocorra uma mudana de
formao discursiva, ou seja, para que possamos dizer que os sujeitos-leitores identificam-se com
uma matriz de sentido diferente daquela com que se identifica o sujeito-autor de TO.
Diramos ento que esses sujeitos-leitores, ao reescreverem TO, mantm-se na mesma FD,
mas assumem uma posio-sujeito diferente da posio-sujeito do autor de TO. E tambm uma
posio-sujeito diferente daquela assumida pelos sujeitos-leitores do recorte 1.
A esse processo discursivo de leitura vamos denominar de reescritura.
Esse um espao de no-coincidncias, portanto.
224
Considerando o fato de que os textos-origem so sinalizados por reticncias ou por
interrogao, podemos dizer que esses sujeitos-leitores tambm trabalham esse espao, preenchendo
essa lacuna significante. No entanto, fazem isso de modo diferente do que fizeram os sujeitosleitores no recorte 1.
Assim, enquanto aqueles sujeitos-leitores
trabalhavam tais sinais a
partir dos sentidos
construdos em TO, esses sujeitos-leitores trabalham esses sinais produzindo sentidos que no so
exatamente aqueles que encontramos em TO. Com isso, mostram que outros sentidos cabem
naquele espao.
Desse modo, vemos, por exemplo, um sujeito-leitor operar sobre as reticncias presentes em
Sim, mas primrio, e com esses antecedentes... produzindo sentidos como: Deixa para l. Alis,
porque voc no aproveita a poca em que estamos e se candidata a vereador? Meu voto ser
certo ou De maneira alguma, talvez possamos inclusive jantar juntos e trocar ensinamentos,
afinal, temos muito em comum .
Como possvel perceber, o sentido que surge nessas seqncias diferente daquele que
surge no recorte 1, onde os sujeitos-leitores dizem, por exemplo: Com esses antecedentes, a gente
pode dar um jeitinho e no coloc-lo atrs das grades, por que neste pas quem tem dinheiro
jamais poder viver uma histria dessas ou No nosso pas s cumpre pena ladrozinho que
rouba para matar a fome de seus filhos. Jamais algum com seu poder, Excelncia .
Note-se que, em ambos os recortes, evidencia-se a corrupo e a impunidade que so comuns
no Brasil. No primeiro caso, porm, os sujeitos-leitores limitam-se a constatar a realidade, o que, de
certa forma, j havia sido feito em Experincia Nova. Neste recorte 2, no entanto, os sujeitosleitores vo um pouco alm e mostram que a corrupo atrai tambm queles que, tendo o dever de
combat-la, acabam por ela seduzidos.
Com isso, desloca-se o sentido presente em TO e no recorte 1. E isso acontece tambm com
as retomadas do texto Arc e os economistas.
Estamos, portanto, diante de uma nova forma de preenchimento da incompletude
materializada pelos sinais discursivos de pontuao.
O que verificamos ento so preenchimentos discursivos que, da mesma forma que
verificamos no recorte 1, revelam-se como um a mais ao que o autor disse. No entanto, tais
preenchimentos, pelo fato de fazerem deslizar os sentidos produzidos em TO, e por permitirem o
atravessamento do interdiscurso no processo discursivo da leitura, so de uma ordem diversa
daqueles verificados no recorte 1.
Vamos denomin-los ento de preenchimentos discursivos. E, a esse acrscimo que eles
representam, vamos denominar de incisas discursivas.
225
Desse modo, constatamos que os sinais discursivos da pontuao so um espao onde os
sentidos podem
deslizar. Mas, pelo menos at aqui, vemos que esses sinais no levaram
transformao dos sentidos.
Isso vem ratificar nossa concepo de que reticncias e interrogao
significam por si
mesmos, no significam a mesma coisa para todos, mas tambm no significam qualquer coisa.
isso que leva diferentes leitores a lerem esses sinais de forma diversa, mas no os leva a romperem
com a FD dominante, uma vez que operam sobre os sinais submetidos ao efeito da memria
discursiva, do interdiscurso.
Isto nos ajuda tambm a comprovar nossa intuio inicial, quanto ao fato de que os sinais
discursivos da pontuao, conjugados ao humor, abrem espao para interpretaes diversas. Assim,
enquanto alguns sujeitos-leitores lidam de uma forma com o humor presente em TO (recorte 1)
outros leitores de TO lidam com esse humor de uma outra forma (recorte 2), e comeam a deslocar
os sentidos j construdos.
A conjugao desses sinais reticncias ou interrogao com o humor causa ento efeitos
diferentes.
Assim, como pudemos perceber pelas anlises, quando os leitores reescrevem TO, eles entram
em TO atravs dos espaos sinalizados pela pontuao e mantm o humor. Quando, porm, eles
escrevem um novo texto, afastam-se desses sinais de pontuao, trabalham TO de uma forma
mais global e deixam de fora tambm o humor.
Resumindo, diramos ento que esse recorte 2 o espao das leituras que inscrevem os
sujeitos-leitores na mesma matriz de sentido em que se inscreve o sujeito-autor de TO, com alguma
manuteno e com pequenos deslizamentos de sentido.
Salientamos, no entanto, que os deslizamentos so pequenos. A rigor, diramos que trazem o
diferente para junto do j posto.
Vejamos agora o que acontece no recorte seguinte, onde constatamos um processo de leitura
semelhante, mas, ao mesmo tempo, diferente deste verificado no recorte 2.
2.4.2 Recorte 3 : deslocando mais os sentidos
Neste recorte, examinamos seqncias discursivas que revelam a assuno, pelos sujeitosleitores, de uma posio-sujeito diferente daquelas encontradas no recorte 1 e no recorte 2.
226
2.4.2.1 Grupo 1: reticncias e retomadas
Este grupo discursivo constitudo pelas seqncias discursivas que surgiram a partir do
comando reescreva o texto Experincia Nova.
O grupo, mais uma vez, est subdividido em blocos discursivos, que refletem a retomada dos
enunciados sinalizados pelas reticncias.
BLOCO 1: ENUNCIADO QUE GRANDE PILANTRA...
No encontramos nenhuma retomada deste enunciado que seja diferente das que j foram
citadas nos recortes anteriores.
Conclumos ento que esse enunciado, interior ao texto, desliza, em nosso corpus de anlise,
apenas em dois sentidos: o que associa pilantra a esperto, inteligente, e o que associa pilantra a
safado, sem-vergonha.
O primeiro sentido, como pudemos constatar, o de TO; o segundo um deslocamento em
relao a TO.
BLOCO 2 : ENUNCIADO SE O DONO DO GALINHEIRO TE PEGA...
RETOMADAS:
Sd48: O delegado disse que ele teve sorte de a polcia o ter achado antes que o dono do galinheiro, j pensando
em uma boa proposta de negcios.
Sd49: Se o dono do galinheiro te pega, negocia ou devolve o roubo.
Sd50: Exclamou que era bom que ele estivesse sendo preso porque, caso fosse pego, poderia ser morto, ou
ento, seria admitido pelo dono do galinheiro como administrador.
Nesse bloco discursivo, vemos aumentar no discurso dos sujeitos-leitores a possibilidade de o
sujeito representado pelo delegado e o sujeito representado pelo dono do galinheiro mudarem de
lugar social. Quer dizer: tanto o delegado, quanto o dono do galinheiro, que representam a
legalidade, podem vir a abandonar esse lugar social e assumir outro, o da ilegalidade, da infrao.
Examinemos as retomadas:
Sd49: Se o dono do galinheiro te pega, negocia ou devolve o roubo ;
Sd50: Caso fosse pego, poderia ser morto, ou ento, seria admitido pelo dono do galinheiro como
administrador
O que constatamos aqui uma oposio entre dois elementos, no interdiscurso. Em outras
palavras: temos novamente a configurao da parfrase discursiva, segundo os termos de Courtine
(1981:94), ou seja, a contradio entre dois domnios de saber de FD antagnicas: devolve o
roubo/mata x negocia/contrata como administrador.
essa configurao que faz surgir o efeito de sentido que aponta para a aceitao da
desonestidade e da corrupo como uma alternativa vivel e at desejvel.
227
Os sujeitos-leitores operam sobre o humor presente em TO atravs dessa heterogeneidade,
que traz o discurso-outro (que prev a punio para ladres e corruptos) para refut-lo, levantando
outras hipteses (proposta de negcio, ser contratado como administrador).
Desse modo, esses sujeitos-leitores renem, em um mesmo enunciado, aquilo que foi dito no
bloco2/grupo1/recorte 1 (o dono do galinheiro te d um tiro, s pobre vai preso) e no bloco 2/grupo
1/recorte 2 (um grosso poderia dar um tiro no ladro, as pessoas querem subir na vida a qualquer
preo). Aquilo que em TO, no recorte 1 e no recorte 2 no podia nem devia ser dito (embora
sugerido), aqui dito.
Ao dizer deste modo, os sujeitos-leitores produzem uma no-coincidncia entre seu dizer e o
dizer do sujeito-autor do texto-origem, e deslocam o sentido l produzido. E, pelo fato de a nocoincidncia ser maior do que as que verificamos no recorte 2, maior tambm o deslizamento de
sentido neste recorte.
Na nossa perspectiva, isso ratifica tambm uma terceira posio-sujeito nesse discurso: a
posio-sujeito do esperto, que uma mistura das duas posies verificadas anteriormente, a do
poder (representada pelo delegado e pelo dono do galinheiro) e a da infrao, da ilegalidade
(representada pelo ladro de galinhas e pelo ladro importante).
Acreditamos que esse um efeito de sentido novo nesse universo de repetio, que surge
porque os sujeitos-leitores relacionam-se diferentemente com a mesma FD, com a mesma matriz de
sentido.
Isso se deve a um trabalho da memria discursiva, a um atravessamento do interdiscurso na
leitura: a corrupo um fato que acontece em todos os nveis da sociedade, um saber prconstrudo, e, por isso, os sujeitos-leitores buscam esse saber no interdiscurso e dele se apropriam.
Ao fazer isso, geram transformaes de sentido em relao a TO.
Este , igualmente, um movimento de deslizamento, que conduz a uma mudana de posiosujeito, a partir da qual tais sentidos podem modificar-se mais fortemente e dizer o que at ento
no podia ser dito.
BLOCO 3: - SIM. MAS PRIMRIO, E COM ESSES ANTECEDENTES...
RETOMADAS:
Sd51: O que isso, Excelncia? O senhor no vai ser preso, primrio, alm do mais voc pode me conceder
uma parte do seu lucro, e o assunto termina aqui.
Sd52: Sim. Mas primrio e com esses antecedentes que o senhor tem, no se discute. Eu posso dar o famoso
jeitinho brasileiro, para que Vossa Excelncia saia dessa limpo. Basta que o senhor me coloque no negcio. O
senhor me d uma participao nos lucros.
Sd53: O delegado acaba concluindo que o rapaz tem razo e decide no prend-lo, alm do mais acaba entrando
no ramo. O delegado acaba seu cmplice, e tem as grandes vantagens que todo e qualquer brasileiro nos dias de
hoje gostaria de ter: ganhar milhes sem trabalhar e no precisar roubar diretamente. Isto como vida de
poltico.
228
Neste bloco discursivo, vemos ser ratificado o novo efeito de sentido no trabalho dos sujeitosleitores sobre as reticncias, com a concretizao do que vinha sendo apenas sugerido: a
possibilidade de a lei ser deixada de lado pelas autoridades quando h chance dessas pessoas
ganharem dinheiro (voc pode me conceder uma parte do seu lucro, me coloque no negcio, entrar
no ramo, cmplice).
O sujeito representado pelo delegado, aqui, portanto, assume outra posio-sujeito, a do
esperto que se alia corrupo sem perder a posio de poder.
Com isso, os sujeitos-leitores ampliam as fronteiras da FD, na qual se inscrevem tambm os
sujeitos-leitores de TO, do recorte 1 e do recorte 2 em que o que pode e deve ser dito que no
Brasil s pobre vai preso, que ladro rico, poderoso e esperto merece respeito, que a possibilidade
de ganhar dinheiro fcil atrai os representantes da lei.
Mais uma vez, vemos a heterogeneidade desses textos, que nos apresentam sujeitos divididos
entre um domnio de saber onde o aceitvel dizer o senhor no vai preso ou isso no se
discute e um discurso-outro, pertencente a outro domnio de saber, onde o aceitvel dizer o
senhor vai preso e isso se discute, sim.
Esse jogo tem tambm como efeito o humor, a ironia, na medida em que descarta esse
discurso-outro, em que escapa reafirmao do sentido dominante na FD, desautorizando esse
sentido.
uma outra forma de interpretar o espao lacunar das reticncias, portanto.
Esse novo gesto de leitura, como podemos perceber, mostra um deslizamento muito mais
intenso do que aquele constatado no recorte 2, onde, no entanto, ele tambm ocorre.
Isto nos leva a considerar a existncia de diferentes graus de deslizamento dos sentidos, uma
vez que ele pode conduzir a menores ou a maiores afastamentos em relao ao texto-origem, sem
ocasionar mudana de formao discursiva.
Isso acontece porque o deslizamento est associado a mudanas de sentido e tais sentidos vm
do interdiscurso.
Assim, nesse grupo discursivo, e nesse recorte, a mudana de sentido bem maior do que a
do recorte 2, pois acaba dizendo aquilo que no chega a ser dito em TO ou no recorte 1, e que
apenas sugerido no recorte 2.
Mas, mesmo assim, por maior que seja, esse deslizamento no chega a ocasionar mudana de
FD, pois, na nossa perspectiva, todos esses dizeres, embora conflitantes, convivem em um mesmo
espao do interdiscurso, e esto ligados a um trabalho da memria discursiva que retrata a realidade
brasileira.
229
2.4.2.2 Grupo 2: reticncias e a produo de novos textos
Este grupo discursivo formado por seqncias discursivas que surgiram a partir do comando
produza um novo texto a partir do texto Experincia Nova.
NOVOS TEXTOS:
Sd54: Ao perceber que os marginais so grandes traficantes e comandam milhares de aes violentas, muitas
com o fim de arrancar dinheiro de membros da sociedade, isso sim interessa aos nossos defensores pblicos, que
comeam a chamar os marginais de excelncia e do liberdade de dinheiro e de status. Ento quando percebem
que os caras tm intimidade com polticos sem carter, a sim ficam mais interessados em libert-los, a fim de
participar de suas quadrilhas.
Sd55: Um bandido tem muito mais poder do que a polcia, o que faz qualquer policial babar frente a uma
proposta tentadora de algum criminoso.
Neste bloco, ratifica-se o efeito de sentido que admite que representantes da ordem podem
aliar-se corrupo, sentido que foi verificado no grupo 1/recorte 3. Os textos nos oferecem pistas
desse sentido: a fim de participar de suas quadrilhas, o policial babar frente a uma proposta
tentadora.
Esse grupo, portanto, mostra a assuno, pelos sujeitos-leitores, da mesma posio-sujeito
assumida pelos sujeitos-leitores no grupo 1/recorte 3, e uma posio diversa da assumida pelos
sujeitos-leitores de TO e do recorte 1.
Mais uma vez, no entanto, esses sujeitos-leitores, ao serem solicitados a produzir um novo
texto a partir de TO, operam sobre o humor presente naquele texto, mas no produzem humor em
seus textos.
Isto, como j vimos, tem a ver com o tipo de comando que d origem aos textos: quando o
comando reescreva, os leitores reconstituem as formulaes marcadas o que implica
reescrever as reticncias ou as interrogaes e o humor; quando o comando produza um novo
texto, no entanto, os leitores sentem-se mais vontade para trabalhar TO, e, ento, abandonam os
sinais discursivos e o humor, que permitia tratar coisas srias de forma no-sria, e optam por
abordar esses temas srios de forma tambm sria.
Tal procedimento contribui para nos provar que, ao reescrever esse tipo de texto, os sujeitosleitores agem tanto sobre os sinais discursivos (reticncias ou interrogao), quanto sobre o humor,
retomando-os, abandonando-os ou transformando-os.
2.4.2.3 Grupo 3: interrogao e retomadas
Este grupo discursivo formado por seqncias discursivas que geram um efeito de sentido
diferente daquele encontrado em TO e no grupo 3/ recorte 1 e no grupo 3/recorte 2.
BLOCO 1 : O QUE FAZEM OS ECONOMISTAS? FAZEM ECONOMIA?
230
RETOMADAS:
Sd56: Arc, assim: os economistas estudam a conjuntura econmica do mundo para mostrar que entendem de
economia, para receberem promoes por seus importantes estudos e tambm para serem aplaudidos. Ah! O
mais importante: para enganarem a populao com palavras bonitas sobre economia. Assim, o povo no reclama
da inflao, dos altos salrios dos prprios economistas do governo, da corrupo, etc.
Sd57: Claro! Todos economizam o seu tempo para criarem estratgias a fim de elegerem-se polticos
(ministros e at presidentes).
Sd58: Sim, claro que sim. Nos garroteiam at o ltimo n do sisal. Todos eles a servio do neoliberalismo FHC.
Todos nos delitos de uma nova escola (arcaico-futurista). Sabem tudo a respeito do que no devemos nos atrever
a pensar muito menos em economia.
Este bloco discursivo ainda evidencia a assimetria entre os protagonistas do discurso, presente
em TO, no recorte 1 e no recorte 2. Isso nos leva novamente a duas posies-sujeito: a do
conhecimento assumida pelo sujeito representado pelo terrqueo e a do desconhecimento
assumida pelo sujeito representado pelo marciano.
Tais posies so reveladas atravs de pistas presentes nos textos e que nos do o seguinte,
para a posio-sujeito 1: os economistas estudam para receber promoes, serem aplaudidos, criar
estratgias e se elegerem polticos, estar a servio do neoliberalismo de FHC, apertar e enganar
o povo; e para a posio-sujeito 2: os economistas deveriam fazer economia.
Como j temos afirmado, essa posio-sujeito 2 entra pelo vis do discurso-outro, na fala do
sujeito representado pelo marciano, que , na verdade, uma caricatura da maioria do povo brasileiro,
discurso que nos diz que os economistas deveriam fazer economia, que no deveriam estar
preocupados em receber promoes, em serem aplaudidos, que no deveriam enganar a populao.
Neste bloco, porm, temos algo diferente: ao invs de responderem pergunta do marciano
O que fazem os economistas? Fazem economia? com um no, como acontecia anteriormente,
esses sujeitos-leitores dizem claro, sim, claro que sim.
Reconhecemos aqui um discurso altamente irnico, e tomamos as afirmaes de Garcia
(2000:77), quando a autora afirma que, quando ocupa uma posio em contraponto ldico a outras,
o sujeito irnico nos faz desconfiar do bvio, da literalidade e da transparncia da linguagem, de
uma aparente e enganosa simplicidade ou correspondncia entre as palavras e as coisas.
Na nossa perspectiva, isso que ocorre aqui: os sujeitos-leitores, ao afirmarem sim, claro que
sim, contrapondo-se o sujeito-autor e aos outros sujeitos-leitores, que dizem no, nos fazem
desconfiar da transparncia e da literalidade dessa resposta e desse sentido. Transparncia que os
prprios sujeitos-leitores encarregam-se de desfazer quando completam seus textos falando em
promoes, estratgias, etc.
Mais uma vez, observamos uma no-coincidncia entre os dizeres, entre os sentidos
produzidos no texto-origem e nas suas retomadas.
um novo efeito de sentido que notamos aqui, portanto. E, se esse novo efeito surge,
porque a interrogao, como j dissemos, um espao aberto para o deslizamento.
231
Assim, essa ausncia-presena, representada pelo espao lacunar e significante da
interrogao, que permite que os sujeitos-leitores saiam do texto-origem e busquem no interdiscurso
um domnio de saber diverso, e que introduzam esse saber de forma irnica, fazendo seus prprios
leitores desconfiarem da literalidade de suas palavras.
A interrogao, portanto, espao propcio para esses movimentos de leitura.
BLOCO 2 : ENTENDE?
RETOMADAS:
Sd59: Mas que bom! Ento na Terra no existem problemas com a economia. Nenhum pas tem dificuldade
com a rea econmica. Todos esto vivendo muito bem.
Sd60: Se entendi bem, eles tm todo controle de tudo. Os brasileiros esto tranqilos quanto situao, pois,
de certo, os economistas procuram equilibrar tudo para que vocs no fiquem prejudicados.
Vamos refletir, neste bloco discursivo, sobre as duas posies-sujeito que constatamos at
aqui no discurso dos sujeitos-leitores: posio-sujeito 1 (a do conhecimento) e posio-sujeito 2 (a
do desconhecimento). A primeira, assumida pelo terrqueo; a segunda, pelo marciano.
Em TO, e nos outros recortes, a resposta dada a essa interrogao era sempre no. Aqui, de
forma contrria, o marciano procura mostrar que compreende a realidade brasileira. Existe,
portanto, uma no-coincidncia entre esses dizeres.
Isso se d pelo vis da ironia. Quer dizer: afirmando, de modo geral, que na Terra no
existem problemas com a economia e que todos esto vivendo muito bem, os sujeitos-leitores nos
fazem desconfiar da obviedade dessas afirmaes e depreender da justamente o contrrio.
E se isso acontece, porque estamos sob o efeito da memria discursiva, do interdiscurso,
onde convivem esses dizeres contraditrios e FDs antagnicas.
Esse humor irnico, dessa maneira, atravessa na leitura esse outro dizer que contrrio ao que
est sendo afirmado. A ironia presente nessas sd, neste sentido, reconfigura esse interdiscurso e
coloca em contato essas FDs antagnicas: numa, o que pode e deve ser dito que os economistas
fazem um bom trabalho, e resolvem os problemas da populao; na outra, que eles no fazem nada
certo, no tm controle de nada.
Assim, a ironia introduz essa outra formao discursiva pelo vis do discurso-outro, que,
mesmo no tendo sido dito, compreendido.
Temos ento um deslocamento de sentido nesse bloco discursivo, em relao aos mesmos
blocos dos outros recortes, o que nos leva a reafirmar que os sujeitos-leitores preenchem o espao
lacunar representado pela interrogao, e que o fazem sob a ao do interdiscurso.
Por isso, vemos tambm que, nesse espao, mesmo quando os sentidos deslizam, no vo em
direes to imprevisveis assim, pois esto sempre sob a determinao da memria discursiva, do
interdiscurso e sob o efeito da ironia que, ao mesmo tempo que diz, desqualifica o que est dizendo.
232
BLOCO 3: ISSO TUDO SERVE PARA QU? POR EXEMPLO, MELHORA A VIDA DA
POPULAO?
RETOMADAS:
Sd61: Sim, isso tudo tem serventia. Nos arremessa dia-a-dia contra a cerca do campo de concentrao (lembra
daquele criado pelo Adolph?)
Sd62: Ah! Ento os economistas so responsveis pela melhoria de vida da populao. Muito bem! respondeu
o ET todo satisfeito.
Sd63: Somente da populao de parentes e amigos que trabalharo em seu gabinete. Porque a populao que
realmente o elegeu, confiante em suas promessas, essa morrer de fome e doente, por causa dos seus desvios de
verba.
Neste bloco, repete-se a ironia e o efeito de sentido verificado no bloco anterior.
Na verdade, essa ironia aqui uma forma de acesso heterogeneidade da FD em que se
inscreve esse discurso e heterogeneidade desses textos, carregados de posies-sujeito oriundas de
FDs diversas.
O humor, assim, em sua forma irnica, atua espao de deslizamento, pois possibilita que por
ali os sentidos se alterem.
Desse modo, os sujeitos-leitores interpretam o humor presente em TO (com o marciano
perguntando, com uma fictcia ingenuidade, se o trabalho dos economistas melhora a vida da
populao) e, a partir dele, produzem humor em seus prprios textos (com o terrqueo dizendo que
sim, e deixando o marciano todo satisfeito).
Ao produzir esses textos, por outro lado, permitem que seus leitores, submetidos a um
trabalho da memria discursiva, desconstruam o sentido que est sendo dito e reconstruam-no
novamente, num verdadeiro trabalho de produo de leitura.
Note-se, ainda, que esse trabalho se realiza atravs da conjugao do humor irnico com o
sinal discursivo da interrogao, pois este que, definindo um lugar para a interferncia dos
leitores, funciona como forma de acesso construo de humor nos seus textos.
Na sd63, temos ainda algo diferente, com a resposta somente da populao de parentes e
amigos que trabalharo em seu gabinete. Na verdade, isso equivale a um no, que, mesmo no
sendo dito, introduz no discurso um novo efeito de sentido: os economistas agem somente em
benefcio prprio.
Ratifica-se, com isso, a heterogeneidade desse discurso, que pe em contraste FDs
antagnicas. Esse contraste acaba por inserir nesse discurso o discurso-outro, que diz que os
economistas deveriam melhorar a vida da populao.
Essa sd nos demonstra ento, mais uma vez, que a interrogao uma porta de acesso para os
sujeitos-leitores, que fazem um movimento de ida ao interdiscurso, de onde trazem outros saberes
que se cruzam com os dizeres j-postos pelo sujeito-autor, com isso ocasionando, em suas voltas
aos prprios textos, deslocamentos de sentido em relao a TO.
233
BLOCO 4 : E ACERTAM?
RETOMADAS:
Sd64: Em cheio, pois amarrados at os cabelos, cegos e mudos, chutar as nossas bundas virou sobremesa para o
Pedro Malan.
Sd65: Pedro Malan: - ... Quer dizer... At agora no, mas um dia conseguiremos. Se So Tom nos ajudar.
Arc: - Pensando bem, acho que vou tentar convencer meus governantes a investirem na Lua. Pelo menos ela
serve para inspirar os namorados, os amantes, os poetas.
Pedro Malan: - Calma a. Se voc nos conseguir um investimento, talvez saia a uma propina por baixo do pano.
O exame desse bloco discursivo torna cada vez mais evidente para ns a concepo de que o
texto no fechado em si mesmo, pois ele estabelece relao com outros textos e com outros
discursos.
Assim, conforme nos afirma Indursky (2001:29), a leitura pressupe relaes contextuais, que
remetem o texto para o contexto scio-econmico, poltico, cultural e histrico em que produzido,
determinando as condies de sua produo. Mas a leitura pressupe tambm, como lembra a
autora, relaes interdiscursivas, que aproximam o texto de outros discursos.
No processo discursivo da leitura, tais relaes apresentam-se imbricadas, pois as relaes
contextuais remetem para o interdiscurso. Quer dizer: so as relaes que o sujeito-leitor estabelece
com o contexto (scio-histrico, poltico, econmico e social) que o remetem, no processo da
leitura, para uma determinada regio do interdiscurso e no outra, que o submetem a um efeito da
memria e no outro, que aproximam seu texto de certos discursos e no de outros.
exatamente isso que vemos acontecer aqui, quando os sujeitos-leitores remetem o texto
Arc e os economistas para o contexto social do qual fazem parte e relacionam os economistas
que no texto-origem so referidos de modo geral a Pedro Malan, ministro da economia.
Temos ento um atravessamento do interdiscurso na prtica discursiva da leitura, ou seja, o
interdiscurso se faz presente na materialidade dessas retomadas sob a forma de uma presena que
estava ausente, mas que, por um efeito da memria discursiva, pode ser resgatada.
o interdiscurso que permite que esses leitores atribuam um sentido diferente a TO, e que
caracterizem de forma muito negativa a atuao dos economistas, personificados por Pedro Malan.
tambm esse interdiscurso que se atravessa que os leva a falar em propina por baixo do
pano. Ao fazer isso, os leitores vo desconstruindo o efeito-texto, vo desmascarando o trabalho
de textualizao que estava oculto sob TO. Em outras palavras: vo dizendo aquilo que, no tendo
sido dito em TO, pode, no entanto, ser compreendido e dito na retomada.
E, se isso pode ser dito, justamente porque a leitura produzida sob certas condies, das
quais fazem parte, como j afirmamos anteriormente, o contexto social, poltico, econmico. Ora,
num pas como o Brasil, em que todos os dias se ouvem notcias de corrupo, de favorecimentos,
de polticos que se vendem, justificvel que surja uma leitura como essa.
234
Desse modo, os sujeitos-leitores reconstroem o efeito-texto atravs da prtica discursiva da
leitura.
Constatamos ento, mais uma vez, que a interrogao espao de deslizamento. Como
vimos, essa lacuna a origem de todo esse processo de desconstruo e reconstruo do efeitotexto, num movimento que vai de TO retomada.
A interrogao, que em TO constri o discurso irnico, na medida em que questiona o bvio,
abre espao para uma ressignificao desse discurso irnico, com o deslizamento para outro efeito
de sentido.
Desse modo, a nova materialidade textual torna presente uma ausncia que, paradoxalmente,
significa.
BLOCO 5 : DESCULPE A INSISTNCIA, MAS ISSO SERVE PARA QU?
Nesse bloco discursivo, trabalhamos com retomadas em que a interrogao final de TO
abandonada e com os efeitos de sentido que aparecem em seu lugar.
RETOMADAS:
Sd66: Arc: Eu quero fazer um estudo sobre o que est acontecendo agora, para que no acontea novamente
no futuro!
Terrqueo: Tudo bem, mas lhe aviso uma coisa: voc far isso sozinho, pois os interesses dos economistas
daqui so outros, falou?
Sd67: Arc: Agora eu entendi. So eles ento que ajudam a roubar o dinheiro de vocs e depois eles tm como
trabalho rever os prejuzos.
Nesse bloco discursivo, vemos novamente que os estudantes, ao exercerem a funo de
sujeitos-leitores, deslocam o sentido de TO, e, com isso, criam tambm uma modificao em
relao posio-sujeito assumida pelo sujeito-autor daquele texto-origem.
Quer dizer: eles no chegam a se contrapor posio-sujeito assumida pelo sujeito-autor de
TO, mas assumem uma posio diferenciada, no momento em que identificam os economistas
como ladres, como profissionais que roubam, que tm outros interesses.
Assim, essa pergunta, com que o sujeito-autor de TO fecha seu texto, construindo o efeitotexto e o efeito de textualizao, novamente espao de deslizamento no texto-origem, e permite a
construo de um outro efeito-texto. , pois, a interrogao que permite que os sujeitos-leitores
saiam do texto-origem em direo ao interdiscurso e que, de l retornando com outros saberes,
estejam prontos para escreverem seus textos, com um efeito de sentido diferente daquele criado no
texto-origem.
2.4.2.4 Grupo 4: interrogao e a produo de novos textos
235
Neste grupo, examinamos seqncias discursivas que surgiram a partir do comando produza
um novo texto a partir do texto Arc e os economistas.
Em nossas anlises, pudemos constatar que os sujeitos-leitores, quando criam o efeito de
sentido verificado nesse terceiro recorte, preservam a mesma estrutura formal, inclusive mantendo
as mesmas perguntas, mas mudam os protagonistas do discurso. Decidimos ento examinar algumas
dessas ocorrncias, seguindo a mesma metodologia usada at aqui, ou seja, a diviso do recorte em
blocos discursivos.
BLOCO 1: O QUE FAZEM OS ECONOMISTAS? FAZEM ECONOMIA?
NOVOS TEXTOS:
Sd68: Claro que no, Arc. Os governantes esto interessados no bem estar deles prprios. Quando vai aumentar
seus salrios, Quantos carros, quantas casas vo poder comprar, Quantas viagens (sem gastar nenhum dinheiro
deles) vo poder fazer, Quanto eles tm em suas contas bancrias, entende?
Sd69: Fazer poltica qualquer um pode fazer. Basta falar bonito e mentir bem. Os polticos se dedicam a
importantes obras superfaturadas e a CPI, que sempre acaba em nada, entende?
Como podemos observar nesse bloco discursivo, os sujeitos-leitores, ao receberem o comando
produza um novo texto, produzem um gesto de leitura diferente daquele que produziram os outros
sujeitos-leitores a partir da mesma solicitao.
Assim, temos visto que, sob esse comando, os sujeitos-leitores abandonam a estrutura formal
de TO, e, ao fazer isso, deixam de lado tanto os sinais discursivas da pontuao quanto o humor.
Aqui, de forma diferente, os sujeitos-leitores preservam o sinal da interrogao e reproduzem o
humor.
No entanto, essa manuteno ocorre por um caminho diferente, pois os leitores mantm a
interrogao e o humor para poder realizar, efetivamente, aquilo que vinha sendo sinalizado de
forma mais branda nos outros textos: os economistas se confundem com os polticos, com os
governantes.
Podemos dizer ento que esse bloco nos revela um atravessamento do interdiscurso que
produz o mesmo efeito de sentido verificado no bloco 1/grupo 3 desse terceiro recorte. Quer dizer:
os leitores trazem do interdiscurso esse saber que reconhece os economistas como pessoas que
agem pensando somente nos seus prprios interesses, que mentem, que so corruptas.
Se os sujeitos-leitores assumem a identificao dos economistas com os polticos e
governantes brasileiros, isso no suficiente, no entanto, para que ocorra uma transformao do
sentido de TO, e esses leitores inscrevem-se no mesmo efeito de sentido produzido nas demais
retomadas deste recorte.
Essa manuteno de sentido ocorre, paradoxalmente, pelo preenchimento da lacuna
constituda pela interrogao, mas tambm por um movimento de reproduo dessa lacuna. Tal
reproduo abre, nos novos textos, novos espaos para a interferncia de outros possveis leitores.
236
BLOCO 2: ENUNCIADO ENTENDE?
Ao produzirem novos textos, esse enunciado no cria um deslocamento de sentido diferente
daqueles que j foram analisados.
Por esse motivo, no vamos analisar nenhuma seqncia discursiva nesse bloco.
BLOCO 3: ISSO TUDO SERVE PARA QU? POR EXEMPLO, MELHORA A VIDA DA
POPULAO?
NOVOS TEXTOS:
Sd70: T difcil, hein, marciano? Eu disse importantes assemblias, entendeu? Por exemplo, decidem se o
dinheiro vai para a construtora do primo do deputado Fulano de Tal, ou vai para o cunhado do deputado
Beltrano de Tal, que tambm tem construtora...
Este bloco discursivo nos demonstra, mais uma vez, que o texto no um objeto acabado,
mas que se relaciona com um contexto histrico, social, poltico e econmico, que se relaciona
tambm com outros textos, e que mantm contato ainda com o interdiscurso. Assim, os textos
variam de acordo com as condies em que so produzidos.
A mesma coisa acontece com a leitura, ou seja, a leitura varia de acordo com as condies em
que produzida. E essas condies tm relao com o domnio que o sujeito-leitor possui do
contexto em que foi produzido o texto.
Assim, se nesse bloco, e nesse recorte, h uma maior no-coincidncia entre os sentidos
produzidos em TO e os novos textos, se os sentidos deslizam mais do que nos blocos e recortes
anteriores, isso se deve ao fato de que os leitores aqui demonstram um maior conhecimento do
contexto em que se insere o texto Arc e os economistas e, ao reescrev-lo, buscam no
interdiscurso novos elementos que alteram as suas condies de produo e deslocam o sentido
produzido em TO ( e nas demais retomadas).
esse trabalho do interdiscurso, esse efeito da memria discursiva que faz ento com que os
sujeitos-leitores falem em dinheiro desviado para a construtora do primo do deputado Fulano de
Tal, numa clara aluso a escndalos ocorridos no pas, trazendo cena a corrupo e o nepotismo
que fazem parte da vida de muitos governantes brasileiros.
Esse gesto de leitura surge, mais uma vez, atravs do trabalho sobre o sinal discursivo da
interrogao e sobre o humor .
Assim, o sujeito-leitor parafraseia a pergunta Por exemplo, melhora a vida da populao?
por Por exemplo, o dinheiro pblico bem aplicado? e, por meio desse jogo, introduz o
discurso-outro, em que melhorar a vida da populao supe, por exemplo, aplicar bem o dinheiro
pblico. Como a resposta continua sendo uma outra pergunta, como em TO t difcil, hein,
marciano? o sujeito-leitor acaba reproduzindo o efeito irnico em seu texto.
237
O humor irnico, assim, nasce desse processo de desvalorizao do discurso-outro, que
introduzido pela voz do marciano, sujeito que representa, nesse discurso, o desconhecimento sobre
a realidade brasileira, e que, justamente por ocupar essa posio, pode perguntar o bvio e
denunciar aquilo que julga como incoerncias.
O sinal discursivo da interrogao e o humor, desse modo, so novamente espao de
deslizamentos, de deslocamentos de sentido.
BLOCO 4: E ACERTAM?
NOVOS TEXTOS:
Sd71: Chegam. Mas isso no importante. O importante que, no final das contas, ningum saia de bolso
vazio...
Neste bloco, podemos perceber, tanto em TO, quanto no novo texto, um contraste entre
posies-sujeito distintas.
Temos ento o seguinte:
1) TO : Nunca. Mas no isso que interessa
2) Sd71: Chegam. Mas isso no importante.
Nesses enunciados, a conjuno mas reala o jogo entre posies-sujeito diversas.
Tal confronto pode ser melhor compreendido se prestarmos ateno ao fato de que as
expresses nunca e chegam constituem, respectivamente, as respostas para as perguntas e
acertam? e e chegam a alguma concluso?.
Quer dizer:
1)
Os economistas nunca acertam
mas
A
2) Os economistas chegam a concluses,
A
no isso que interessa;
B
mas
isso no importante.
B
Essa caracterizao evidencia a heterogeneidade de cada um desses enunciados, onde A
remete a uma posio-sujeito e B remete outra posio-sujeito.
Indo mais adiante na anlise desses textos, vamos verificar no s a heterogeneidade que
existe neles, mas tambm a heterogeneidade que existe entre eles.
Assim, se em TO temos: Ao estudar os movimentos da economia, eles elaboram tendncias
para o futuro..., no novo texto temos: O importante que, no final das contas, ningum saia de
bolso vazio....
Ao reescrever TO, assim, esse sujeito-leitor busca no retomar o enunciado tal e qual estava
no texto-origem, mas localiza, nesse enunciado, um ponto de fuga e, por esse ponto, sai para o
interdiscurso e de l retorna com esse outro enunciado discursivo: o importante ningum sair de
bolso vazio.
238
E esse movimento de ida e volta ao interdiscurso que acaba deslocando o sentido j posto
em TO.
Tal movimento nasce, porm, no humor irnico e na interrogao presentes em TO, que,
funcionam naquele texto como portas que se abrem para o sujeito-leitor entrar no texto, abrem-se
para ele sair para o interdiscurso e tornam-se a abrir para que ele retorne com novos sentidos.
Espao de deslizamento, portanto.
importante observar tambm que esses sujeitos-leitores concluem essa seqncia, da mesma
forma que acontece com o enunciado de TO, com reticncias.
Interessante isso, pois as reticncias, enquanto lacuna significante, so retomadas no novo
texto para inscrever um espao lacunar sobre um outro espao lacunar. E, alm disso, a retomada
das reticncias ajuda a desviar um sentido que, tendo sido produzido numa lacuna, a rigor, no foi
dito.
Estranho e revelador jogo, esse. Estranho, porque reconstri o que, de fato, no havia sido
totalmente construdo. E revelador, porque prova que essas lacunas no s so percebidas pelos
sujeitos-leitores, mas tambm trabalhadas, e, freqentemente, transformadas.
BLOCO 5: DESCULPE A INSISTNCIA, MAS ISSO SERVE PARA QU?
NOVOS TEXTOS:
Sd72: Desculpe, mas continuo sem entender como essas coisas acontecem por aqui. Como eles esto no
poder?
Sd73: Entendi. Eles roubam e enganam e sempre saem bem. Ento a poltica serve para qu? Para encher os
prprios bolsos?
Neste bloco discursivo, os sujeitos-leitores ratificam o efeito de sentido que vinha sendo
produzido nos blocos anteriores: o de que os polticos e governantes (que esto sendo equiparados
aos economistas) s agem em causa prpria, roubando e enchendo os prprios bolsos.
Assim, mantm-se em relao parafrstica com o grupo 3 desse terceiro recorte, ao mesmo
tempo que se afastam um pouco mais do sentido produzido em TO.
interessante observar ainda que, ao reconstrurem
o efeito-texto com a troca dos
protagonistas do discurso, os sujeitos-leitores mantm o questionamento final do texto. Quer dizer:
em nenhum dos novos textos produzidos, eles respondem pergunta de TO, mas, ao contrrio,
elaboram novas interrogaes. Com isso, eles sinalizam tambm em seus textos espaos lacunares
significantes que se constituem em um lugar de interpretao para os seus possveis sujeitosleitores.
Cremos ser possvel dizer tambm que esses leitores, ao substiturem uma pergunta por outra,
demonstram perceber que lacunas significantes so um lugar de atribuio de sentidos, podem
funcionar como espao de deslizamentos. E, por isso, deixam aberto aquele espao para que seus
239
leitores possam, assim como eles esto fazendo, interpretar aquela lacuna e atribuir-lhe outros
sentidos.
Da mesma forma, vemos que os leitores interpretam o humor de TO e o reproduzem em seus
prprios textos, produzindo a uma interdiscursividade entre seus textos e TO.
Diramos ento que vemos acontecer uma superposio de sinais discursivos, com
interrogaes superpondo-se a outras interrogaes. Alm disso, temos ainda o humor se
superpondo ao prprio humor.
Eis o trabalho que leva ao deslocamento de sentidos.
2.4.2.5 Recorte 3: algumas consideraes
Esse recorte, como o recorte 2, evidencia deslocamentos de sentido em relao a TO e ao
recorte1. Tais deslizamentos, porm, so mais fortes do que os verificados no recorte 2.
Essa constatao nos permite reconhecer, nesse recorte, a assuno, pelos sujeitos-leitores, de
uma nova posio-sujeito, diferente das anteriormente analisadas.
Assim, por exemplo, vemos esses sujeitos-leitores, nas novas formulaes de Experincia
Nova, falarem em negcios, em participao nos lucros, em ganhar uma parte do lucro, em
entrar no ramo. E, em Arc e os economistas, vemos os sujeitos-leitores falarem em enganar a
populao, em receber propinas, em roubar, em favorecer parentes, etc.
possvel notar a um sentido diferente dos sentidos j verificados at ento, em TO e nos
outros recortes. Se, naqueles casos, havia constatao da realidade, ou aluso ao fato de que a
corrupo circula em vrias camadas da sociedade, e que praticada por aqueles que tm poder e
que deveriam estar ocupados em melhorar a situao do pas, nesse recorte 3, esse sentido se
instala. Assim, vemos um delegado fazendo propostas explcitas ao suposto ladro de galinhas, e
vemos um economista personificado por Pedro Malan oferecer propina a seu interlocutor.
Este tambm um espao de no-coincidncias.
Podemos dizer ento que, ao operar sobre as lacunas significantes, sobre o silncio
materializado pelas reticncias ou pela interrogao, esses sujeitos-leitores no dizem mais somente
o que j pairava sobre as reticncias ou sobre a interrogao, mas sua leitura desliza para outros
sentidos.
Assim, devido sua inscrio ideolgica, distinta da do sujeito-autor e da dos leitores do
recorte 1 e 2, esses leitores produzem outros sentidos, e no trabalham com uma incompletude
impregnada apenas de significados previsveis. Essa incompletude, na nossa perspectiva, da
ordem da elipse discursiva. Por isso, o leitor opera com sentidos que vm de uma diferente regio
240
do interdiscurso e faz deslizar os sentidos, assim como outro leitor poderia desliz-los em outra
direo.
A leitura produz ento preenchimentos interdiscursivos, ou seja, preenchimentos que
nascem em uma diferente regio do interdiscurso, o que instaura, em relao a TO, deslizamentos
de sentido mais fortes e sentidos menos previsveis.
Neste sentido, podemos dizer tambm que a leitura produz incisas interdiscursivas, ou seja,
um a mais que a leitura produz, e que vem de uma regio diferente do interdiscurso, produzindo
fortes deslizamentos de sentido.
Em suma: neste recorte 3, temos outros efeitos de sentido, uma outra posio-sujeito. Porm,
no cremos que seja possvel reconhecer aqui uma outra formao discursiva. Na nossa perspectiva,
estamos no mbito da mesma FD em que se inscreve o sujeito-autor de TO e os demais leitores,
em que o que pode e deve ser dito que, no Brasil, a corrupo e a impunidade rolam soltas entre
os polticos, entre os ricos e poderosos. Embora, pelo que podemos perceber no discurso dos
sujeitos-leitores, isso no seja o desejvel. Da a presena da ironia presente nesse discurso do
recorte 3; ou seja, mostrar essa realidade, sem meias palavras, uma forma de os sujeitos-leitores a
desqualificarem.
Assim, acreditamos que, submetidos ao efeito da memria discursiva, esses leitores acabam
por construir esses efeitos de sentidos.
Diramos ento que, nesse recorte, os sujeitos-leitores tambm operam sobre o sinal
discursivo da pontuao e sobre o humor e, a partir disso, constroem outros sentidos.
Feitas essas consideraes sobre o recorte 3, passemos ento a refletir sobre o que nos permite
concluir a anlise dos dois recortes (2 e 3) analisados nessa seo, que apontam deslocamentos de
sentido em relao aos textos-origem.
2.4.3 Leitura e reescritura : o espao dos deslizamentos de sentido
Esta seo rene dois recortes: recorte 2 e recorte 3.
No recorte 2, esto reunidas as seqncias discursivas que refletem algum deslizamento de
sentido em relao a TO.
No recorte 3, esto reunidas as seqncias discursivas que demonstram, em relao a TO, um
deslocamento de sentido maior do que o verificado no recorte 2.
Isto nos demonstra que a reescrita pode produzir diferentes graus de deslizamento dos
sentidos.
241
O exame das seqncias discursivas desses dois recortes discursivos nos permite dizer,
portanto, que esse o espao, nos textos dos sujeitos-leitores, das no-coincidncias entre o dizer
do texto-origem e o dizer dos textos produzidos pelos estudantes.
Assim, quanto maior a no-coincidncia, maior o deslizamento de sentido, como provam os
recortes 2 e 3.
Com isso, estamos querendo dizer que os sujeitos-leitores, ao reescreverem os textos-origem,
deslocam para mais ou para menos os sentidos que haviam sido construdos por seus sujeitosautores.
Falar em deslizamentos de sentido implica reconhecer, ento, que esses leitores assumem
posies-sujeito distintas daquela assumida pelo sujeito-autor de TO. Mas, na nossa perspectiva,
implica reconhecer tambm a inscrio em uma mesma formao discursiva. Isto porque, para
ns, falar em mudana de FD significa falar em transformao e ruptura de sentidos. E no isso
que constatamos at aqui.
Diramos ento que esses sujeitos-leitores, assim como aqueles que realizam o processo de
leitura denominado de releitura, produzem gestos interpretativos. Tais gestos, embora desloquem
os sentidos, o que no ocorre na releitura, no so suficientes, no entanto, para transformar esses
sentidos.
Tudo isso nos leva a considerar esse domnio como o da reescritura. Quer dizer: para ns, a
reescritura revela um processo de leitura em que os sujeitos-leitores deslocam sentidos j postos,
mas no mudam de formao discursiva.
Na reescritura, dessa forma, os sujeitos-leitores se afastam das reformulaes (que ocorrem
no recorte 1) e dirigem-se a formulaes, vo bem mais alm do que a realizao de um trabalho de
reconstruo da materialidade lingstica e passam a interagir com o interdiscurso.
Podemos dizer ento que as reescrituras, ao retomarem os textos-origem, constituem-se
tambm em parfrases discursivas (em sentido amplo). Mas, de forma diferente do que acontece na
releitura, onde os leitores trabalham muito o intradiscurso e as parfrases so intradiscursivas a
reescritura, na nossa concepo, produz parfrases discursivas (em sentido restrito) em que o
interdiscurso se atravessa no intradiscurso e a ele se superpe.
Nesse atravessamento do interdiscurso, verifica-se um novo trabalho da memria discursiva,
que conduz, usando os termos de Pcheux (1988) a uma relao de desidentificao do sujeito da
enunciao com o sujeito universal. Tal desidentificao leva a um deslocamento da forma-sujeito,
mas no produz sua anulao, o que permite aos leitores discordar mais ou menos do sujeitoautor, mas no contrapor-se totalmente a ele.
242
Acreditamos que o humor contribui para esse atravessamento do interdiscurso no trabalho
com os sinais discursivos de pontuao. Isto porque o humor, sendo uma forma de anlise crtica da
realidade, traz em si mesmo a possibilidade de fazer os sentidos deslizarem.
por isso que acreditamos ser possvel considerar o humor como marca discursiva, ou seja,
como uma marca que no localizvel em um lugar especfico, que no ganha uma forma material,
mas que permeia todo o texto e aponta a direo dos sentidos.
Assim, no momento em que o sujeito-autor sinaliza seu discurso marcado pelo humor com as
reticncias
ou com a interrogao, esse discurso torna-se terreno altamente propcio para os
deslizamentos de sentido, embora eles nem sempre ocorram, como pudemos constatar no recorte 1.
Nestes termos, tanto a marca discursiva do humor quanto os sinais discursivos de pontuao
so pontos que favorecem os deslizamentos no discurso.
Desse modo, entendemos que essas reescrituras, que produzem tanto alguma manuteno
quanto algum deslizamento de sentido, podem ser entendidas como parfrases discursivas com
caractersticas de glosa60.
Podemos dizer ento que, nessas parfrases, o interdiscurso se projeta no intradiscurso, sendo
essa projeo que conduz reescritura e aos deslizamentos de sentido.
Diramos ento que, quando interage com o efeito-texto que constitui o texto-origem, como
nos lembra Indursky (2001), o sujeito-leitor estabelece uma relao com o sujeito-autor, e tambm
com outras vozes invisveis, mas ali presentes. Isso constitui a interdiscursividade, que no
mostrada pelo efeito-texto, mas que nele se inscreve pelo vis do trabalho de textualizao
produzido pelo sujeito-leitor.
essa interdiscursividade que se atravessa na materialidade textual, e possibilita que se
produzam, nas reescrituras, efeitos de concordncia ou discordncia em relao aos sentidos j
construdos pelo sujeito-autor.
Assim, o interdiscurso se projeta sobre o efeito-texto criado pelo sujeito-autor e introduz, nos
textos dos sujeitos-leitores, outros efeitos de sentidos, que j no so os mesmos efeitos de sentido
l verificados. O efeito-texto ento reconstrudo pelos sujeitos-leitores.
No podemos esquecer, no entanto, que o efeito-texto que d origem a esse processo (TO)
sinalizado pela ausncia, pelas lacunas significantes representadas pelas reticncias ou pela
interrogao.
60
A noo de glosa est sendo retomada de Serrani (1993) e pode ser entendida como uma atividade de reformulao,
que se apresenta como explicao, desconstruo do enunciado-fonte, e parece ter a finalidade especfica de esclarecer
o sentido, no tendo que estar, necessariamente, na mesma seqncia lingstica. Para Serrani, o que distingue
reformulao, glosa e parfrase o fato de corresponderem a nveis diferentes de anlise: a reformulao corresponde
ao nvel do intradiscurso, a glosa situa-se na passagem entre o intra e o interdiscurso, e a parfrase do nvel do
interdiscurso.
243
Essa ausncia, no entanto, pode ser pensada como uma presena-ausente, uma vez que, sob
essa ausncia, est o interdiscurso. por isso que, nas novas formulaes de TO, essa no-presena
se faz presente pelo atravessamento do interdiscurso. E isso que faz surgir as reescrituras.
Podemos ento precisar a diferena entre a releitura e a reescritura. Na releitura, embora
tambm exista interdiscursividade, embora no se possa desprezar a presena do interdiscurso, os
sujeitos-leitores apenas retomam os sentidos produzidos pelo sujeito-autor. Eles limitam-se a ler,
pelos olhos do sujeito-autor, a realidade, a sociedade. Na reescritura, de modo distinto, os sujeitosleitores, embora no cheguem a contrapor-se ao sujeito-autor, produzem sentidos que divergem do
sentido de TO, sentido que, tendo surgido pelo vis das reticncias ou da interrogao, no havia
sido explicitado.
Na reescritura, portanto, podemos reconhecer, na reescrita de TO, um processo histricodiscursivo diferente daquele revelado pelo sujeito-autor, o que equivale a um outro trabalho da
memria discursiva.
isto que nos permite considerar que, na reescritura, h um tipo de repetio diferente
daquele que acontece na releitura. Assim, vamos dizer que essa repetio discursiva, e no
apenas lingstico-discursiva, como ocorre na releitura. Por conseguinte, releitura e reescritura
esto na origem de textos que se inscrevem em diferentes redes de formulaes.
Mas voltamos a frisar: embora o sujeito-autor marque seu texto com lacunas visveis as
reticncias e a interrogao (o que poderia nos levar a pensar que, se ele no disse, no podemos ter
certeza do que ele diria ou no diria ali) as pistas presentes em seu texto nos levam a deduzir pelo
menos uma das leituras possveis para aquele texto. Embora saibamos que ele poderia colocar outro
sentido ali, nada nos permite, porm, afirmar qual seria esse sentido. Quer dizer: no podemos
determinar se o sentido criado pelo sujeito-autor seria outro. Desse modo, s podemos lidar com o
que ele nos oferece.
Parece haver a, ento, uma espcie de paradoxo: embora o sujeito-autor crie em seu texto um
espao para a ao do leitor, que parece remeter a mltiplos sentidos, acabamos percebendo que o
sentido que est ali, permeando o texto, permanece no nvel do mesmo.
Isto, porm, o interessante na leitura desses sinais: espao de interpretao, eles podem ser
traduzidos como o espao de liberdade do leitor, que pode, ali, construir sentidos. Ou no.
Na releitura, temos a impresso de que isso que acontece: os sujeitos-leitores parecem no
produzir sentidos, mas, ao contrrio, parecem reproduzir os sentidos atribudos , em TO, ao humor,
s reticncias e interrogao. Sentidos que j estavam ali significados.
244
Na reescritura, pelo contrrio, os sujeitos-leitores evidenciam que produzem novos sentidos,
na medida em que deslocam os sentidos de TO. Sentidos que poderiam estar ali, mas que no
haviam surgido at ento.
isto que nos permite considerar que existem diferentes formas de lidar com a incompletude
materializada pelas reticncias ou pela interrogao, ou seja, existem diferentes tipos de
preenchimento da incompletude.
Na releitura, como afirmamos anteriormente (seo 2.3.1.5. e 2.3.2.), onde os deslizamentos
so pequenos em relao a TO, esse preenchimento pode ser denominado de intradiscursivo,
embora, com essa designao, no estejamos desprezando o fato de que o preenchimento sempre
discursivo (em sentido amplo), uma vez que sempre vem do interdiscurso.
Assim, se podemos cham-lo de intradiscursivo no sentido de que esse preenchimento se faz
essencialmente sobre a materialidade lingstica, na medida em que o leitor assume como suas as
palavras do autor, com ele identificando-se totalmente.
J na reescritura, o sujeito-leitor preenche as reticncias e a interrogao com novos efeitos
de sentidos, que so deslizamentos em relao a TO. Quer dizer: os preenchimentos so de outro
tipo: o que denominamos de preenchimentos discursivos (em sentido restrito).
Tudo isso nos permite reconhecer que, na reescritura, o sujeito-leitor exerce a posioleitor, na medida em que no apenas retoma o sentido produzido pelo sujeito-autor, mas passa a
estabelecer com ele uma relao maior, deslocando os sentidos que ele, enquanto suposta origem
do discurso, teria criado.
Diramos tambm que os sujeitos-leitores, ao produzirem tais deslizamentos, assumem uma
posio-autor, na medida em que passam a assumir como suas as palavras do interdiscurso e as
projetam sobre uma materialidade textual, que, ficticiamente, tem uma outra origem.
Podemos ento identificar, entre esses textos reescrituras e os outros textos produzidos
pelos estudantes e anteriormente analisados na seo 3.2. releituras diferentes graus de
autoria.
Assim, vamos dizer que, na releitura, h um grau zero de autoria.
Ao escolher essa denominao grau zero estabelecemos relao com o que diz Barthes
(1953:14), em O grau zero da escritura, quando afirma que a escritura atravessou todos os estados
de uma sociedade progressiva: primeiro objeto de um olhar, depois de um fazer, e enfim um
assassnio, ela acaba por atingir um ltimo avatar, a ausncia. Assim, nas escrituras neutras, as quais
ele chama de o grau zero da escritura, pode-se discernir, segundo Barthes, o prprio movimento
de uma negao e a impotncia para realiz-lo.
245
Assim, por grau zero de autoria, estamos designando essa autoria neutra, de reproduo
de sentidos, de ausncia de tomada de posio, de identificao, de repetio lingstico-discursiva.
O grau zero de autoria, portanto, um processo de autoria em que o sujeito-leitor mantm a
mesma posio-sujeito e se inscreve na mesma FD do sujeito-autor de TO.
J em relao reescritura, vamos dizer que acontece um grau intermedirio de autoria,
ou seja, um grau de autoria em que o sujeito-leitor afasta-se um pouco dos sentidos produzidos pelo
sujeito-autor de TO, mas no o suficiente para causar rupturas com aqueles sentidos.
Temos ento um processo de autoria em que o sujeito-leitor assume uma posio-sujeito
diferente, mas continua a se inscrever na mesma FD do sujeito-autor de TO.
Lembramos ainda Foucault (1982:64), j referido anteriormente na primeira parte desse
estudo cap.2/seo 2.6. quando o autor fala em reatualizao, ou seja, na reinsero de um
discurso em outro domnio.
Trazendo essa designao para nosso campo de investigao, diramos ento que a
reescritura o espao da reatualizao, ou seja, de um processo discursivo de leitura que produz
deslizamentos de sentidos em relao aos sentidos produzidos no texto que, ilusoriamente, funciona
como origem de um outro texto.
Estamos diante, pois, de diferentes formulaes, inscritas em redes de formulaes onde os
sentidos podem manter-se estveis ou produzir deslocamentos.
Feitas essas consideraes, passamos, no captulo seguinte, a examinar o funcionamento de
outro tipo de texto, que no apresenta nem os sinais discursivos de pontuao em estudo
reticncias e interrogao nem a marca discursiva do humor. A este tipo de texto, como
afirmamos na introduo deste trabalho, denominamos de no-sinalizado.
3. O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE TEXTOS NO-SINALIZADOS
Neste captulo, propomo-nos a examinar o texto que estamos considerando nessa pesquisa
como no-sinalizado, ou seja, o texto que no apresenta os sinais grficos que, na nossa perspectiva,
funcionam como lugares de interpretao que influenciam a leitura dos sujeitos-leitores.
246
Voltamos a frisar, no entanto, que tal denominao essencialmente metodolgica e que no
implica considerar que o texto que vai ser objeto de exame seja desprovido de marcas discursivas.
Sabemos, como j afirmamos anteriormente, que todo e qualquer texto marcado, isto , que
marcas lingsticas percorrem todo e qualquer texto. Portanto, natural que, na materialidade
lingstica, surjam marcas que possibilitem o trabalho de sada dos leitores em direo ao
interdiscurso.
Nestes termos, o texto que ora nos propomos a analisar desprovido dos sinais discursivos
representados pelos sinais grficos das reticncias e da interrogao, mas no desprovido de marcas
discursivas.
No vamos nos preocupar aqui, da mesma forma, com o humor, uma vez que nosso interesse
era examin-lo em sua conjugao com as reticncias e a interrogao. Por isso, escolhemos para
anlise um texto que no faa uso do humor, ou seja, um texto que trate coisas srias de forma
sria, ao invs de tratar de coisas srias de forma no-sria.
Na execuo dessa anlise, preservando os procedimentos metodolgicos adotados, fazemos
inicialmente o exame de TO e, num segundo momento, o exame dos textos produzidos a partir dele.
3.1 O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO TEXTO-ORIGEM
Nesta seo, examinamos o texto A ameaa da grande fogueira, considerado neste estudo
como texto-origem (TO), isto , o texto a partir do qual outros textos sero produzidos.
Ele concebido como um texto no-sinalizado, ou seja, como um texto que no possui
aqueles sinais de pontuao reticncias e interrogao que convidam interpretao do leitor.
O texto em questo um editorial, publicado no jornal Zero Hora, de 05 de maio de 2000,
escrito por um professor universitrio, e trata, a grosso modo, da situao assustadora em que se
encontra o Brasil neste momento. No desenvolvimento desse tema, o sujeito-autor traz tona
algumas questes que, na sua perspectiva, tm relao com tal situao.
Nosso objetivo, neste momento, examinar a posio-sujeito do sujeito-autor de TO. Essa
posio vai sendo evidenciada em TO em vrios enunciados. Vejamos:
BLOCO 1 :
H uma grande fogueira sobre o solo ptrio, construda com as melhores lenhas da floresta: o MST..., a
criminalidade..., a engrenagem da corrupo..., as manchas do desemprego..., a enorme insatisfao das classes
mdias com a deteriorao dos servios pblicos..., a inrcia dos poderes pblicos....
Nesse bloco, podemos perceber que o sujeito-autor inicia seu texto pelo emprego da metfora
a grande fogueira, e, com isso, cria o efeito de sentido de que h uma grande crise no Brasil. Os
componentes dessa crise, representados tambm por uma metfora as melhores lenhas da floresta
247
so o MST, a criminalidade, a corrupo, o desemprego, a insatisfao da classe mdia com a
deteriorao dos servios pblicos e com a inrcia dos poderes pblicos.
Na nossa perspectiva, essas metforas funcionam como pistas no texto desse sujeito-autor,
denunciando a sua posio-sujeito.
Assim, ao apresentar no mesmo nvel, como lenhas da fogueira, a criminalidade, a corrupo,
etc., e o MST, o sujeito-autor comea a marcar sua posio, que a de quem considera o MST
como um mal, como um prejuzo para a nao, como algo que pode queimar a todos ns.
Como acreditamos que a metfora funcione como pista nesse discurso, julgamos interessante
tecer algumas consideraes tericas a respeito do assunto.
Salientamos, no entanto, que essa exposio no pretende, de forma alguma, esgotar
teoricamente o tema, j que ele no o centro da ateno neste trabalho. Assim, faremos uma
brevssima exposio, que apenas nos auxilie em nossos procedimentos posteriores de anlise.
3.1.1 A metfora: breve consideraes tericas
Em linhas gerais, a metfora tem sido estudada, nos limites da Semntica, como linguagem
figurada, o que implica conceb-la, grosso modo, como um desvio do sentido literal das palavras.
Em Castim (1988:86), lemos, por exemplo, que a metfora a mudana de significao
prpria da palavra.
J Dubois (1974:151) diz que a metfora no propriamente uma substituio de sentido, mas
uma modificao do contedo semntico de um termo. Essa modificao resulta da conjuno de
duas operaes de base: adio e supresso de semas. No exemplo proposto por Dubois O homem
um canio pensante h uma zona de interseco entre o homem e o canio: a fragilidade; nessa
zona, opera-se uma transferncia de semas atravs da supresso e da adio. Dessa operao, resulta
a metfora.
Muitos exemplos e definies semelhantes poderiam ser encontrados em livros de semntica
ou em compndios escolares. Preferimos, no entanto, buscar outras concepes, que nos ajudem a
perceber a noo sob ngulos diferentes.
Comeamos ento por Paschoal (1990), que estuda a metfora em sua relao com a
interpretao. Em busca de seu objetivo, a autora lana mo de uma reflexo de Fraser (1979: 173),
a que tambm fazemos referncia.
Para Fraser, o importante saber at que ponto a interpretao de uma expresso metafrica
predizvel com base somente nas propriedades lingsticas do enunciado. Nesta perspectiva,
questiona-se o autor: se o enunciado metafrico for dado fora do contexto, os locutores estaro de
248
acordo em relao interpretao mais provvel? E quando os locutores no estiverem de acordo,
sero as diferenas explicveis em termos de caractersticas pessoais, tais como idade, educao,
sexo, conhecimento cultural ou outras caractersticas? E quando h concordncia, podemos
especificar as propriedades que do origem a essa concordncia e, nesse caso, tais propriedades so
parte da caracterizao lingstica da sentena usada, ou mais um componente do sistema de crena
dos usurios?
Como podemos perceber, Fraser preocupa-se com os locutores, quando pensa na metfora.
Para ns, no entanto, o importante deslizar da noo de locutor para a de leitor, ou seja, o que nos
interessa refletir sobre a interpretao da metfora como um trabalho do leitor, como uma prtica
de leitura.
Do mesmo modo, as diferenas, que ele traduz em termos de caractersticas pessoais, como
idade, cultura, educao, etc., representam, na perspectiva que estamos adotando, mais do que
diferenas pessoais, mas variaes nas condies de produo e nas condies de interpretao da
metfora. O que nos remete, conseqentemente, s condies de produo da leitura.
Paschoal, a partir das afirmaes de Fraser, vai ento ressaltar que, mesmo admitindo o
carter contextual da significao metafrica, ainda restam muitos problemas.
Para a autora, o principal problema diz respeito prpria ao do contexto. Assim, lembra
Paschoal:
necessrio, antes de mais nada, discernir de um lado a ao do texto (oral ou escrito) e, de outro,
a ao do que poderia ser denominado contexto de interpretao, o qual seria constitudo pelo
conhecimento prvio do leitor, pelo contexto scio-histrico no qual ele est inserido e por outras
caractersticas do leitor que venham a se revelar pertinentes. (Paschoal, 1990:116)
Este conhecimento prvio, a que Paschoal se refere, ns, filiados a AD, preferimos tratar em
termos de memria discursiva, pr-construdo e interdiscurso. Quer dizer: para ns, a interpretao
no se d sobre um conhecimento prvio, mas por uma determinao do interdiscurso e por um
efeito da memria discursiva.
Novamente, podemos reconhecer, nas colocaes de Paschoal, e naquilo que ela traduz por
contexto de interpretao, um caminho para tratar das condies de produo da metfora e das
condies de produo da leitura.
possvel dizer ento que a preocupao maior de Paschoal com o processo de
compreenso da metfora. Tanto que ela se coloca vrias questes: como o leitor percebe que deve
interpretar um enunciado metaforicamente? Que pistas lingsticas fornece o autor para indicar ao
leitor que ele deve realizar uma interpretao metafrica? Tendo percebido que o enunciado deve
ser interpretado metaforicamente, como o leitor constri o significado metafrico?
249
Para a autora, portanto, na compreenso de uma metfora, necessrio considerar o papel do
texto e o papel do leitor (Ibidem:117).
Para ns, que estamos estudando a leitura, so interessantes esses questionamentos, pois eles
tiram a metfora do lugar em que normalmente colocada como linguagem que foge ao sentido
literal e a desloca para o lugar da interpretao, da relao entre autor e leitor.
No entanto, na nossa perspectiva, esse um processo que vai alm da compreenso, pois
envolve o processo discursivo de produo da leitura. Desse processo, conforme j tivemos a
oportunidade de afirmar em momentos anteriores desse estudo, no fazem parte apenas o autor e o
leitor, mas vrios outros fatores, e, entre eles, a relao com outros textos e a determinao do
interdiscurso.
No estamos preocupados, tambm, em descobrir como o leitor percebe o enunciado
metafrico ou como ele constri uma metfora, mas em descobrir os efeitos de sentido que a leitura
de uma metfora pode produzir.
Uma concepo de metfora que leva em conta aquele que a recebe pode ser encontrada
tambm em Davidson (1992:35): A metfora o trabalho de sonho da linguagem e, como todo
trabalho de sonho, sua interpretao recai tanto sobre o intrprete como sobre seu criador.
Para Davidson, assim, exceto quanto a uma questo de grau, uma metfora no se diferencia
de uma transao lingstica rotineira, j que toda comunicao atravs da palavra supe a interao
da construo inventiva e da interpretao inventiva. Nesta perspectiva, o que uma metfora
acrescenta ao comum uma realizao que no usa recursos semnticos, alm daqueles de que
depende o comum.
A tese de Davidson, ento, a de que as metforas significam aquilo que as palavras
significam em sua interpretao literal, e nada mais do que isso. Em outras palavras: a metfora,
alm do seu sentido literal, no tem um outro sentido.
Para ns, difcil aceitar uma concepo como essa, uma vez que no admitimos a existncia
de um sentido literal para as palavras, para os enunciados. Alm disso, acreditamos que as palavras
s adquirem sentido em relao formao discursiva em que se inscrevem, o que explica o fato de
que uma mesma palavra ou uma mesma expresso possa receber sentidos diferentes em formaes
discursivas distintas.
Estendendo esse raciocnio, diramos que uma metfora s adquire sentido em relao a uma
formao discursiva. Tal concepo nos permite acreditar que uma metfora possa significar
diferentemente para diferentes leitores, ou seja, que uma mesma metfora possa dar origem a
leituras diversas. Nas anlises realizadas, cremos que ser possvel ilustrar essa afirmao.
Voltando a Davidson, encontramos no autor outra idia que nos chama a ateno. Vejamos:
250
Concordo com a opinio de que as metforas no podem ser parafraseadas, mas acredito que isso
no seja em razo de as metforas dizerem algo novo demais para ser expressado literalmente, mas
sim por no existir nada para ser parafraseado. A parfrase, quer seja possvel ou no, apropriada
para o que dito; tentamos, na parfrase, diz-lo de outra maneira. Mas, se estou certo, a metfora
no diz nada alm do significado literal. ( Ibidem:36)
H, nesta afirmao, vrios pontos de que discordamos: primeiro, no concordamos que uma
metfora no possa ser parafraseada, uma vez que ela produz um sentido, e, sendo assim, esse
sentido pode ser mantido (como pode deslizar ou transformar-se, e, para ns, ainda ser parfrase);
segundo, no concordamos que no haja nada para ser parafraseado, pois, se h sentido, existe a
possibilidade da manuteno (assim como a possibilidade do deslizamento ou da transformao)
desse sentido; terceiro, no concordamos que a parfrase seja apropriada apenas para o que dito,
pois acreditamos que, pela parfrase, possam ser retomados sentidos que esto ditos e sentidos que
no chegam a ser ditos; e quarto, no concordamos que a metfora traduza um sentido literal.
De qualquer forma, consideramos interessante a perspectiva atravs da qual o autor olha para
a metfora, que a de relao com a repetio, com a parfrase.
Mas em Pcheux (1988) que vamos encontrar apoio para as nossas convices a respeito da
metfora. Comecemos por relembrar uma afirmao do autor:
Um efeito de sentido no preexiste formao discursiva na qual se constitui. A produo de
sentido parte integrante da interpelao do indivduo em sujeito, na medida em que, entre outras
determinaes, o sujeito produzido como causa de si na forma-sujeito do discurso, sob o efeito
do interdiscurso. (Pcheux, 1988:261)
isso que leva Pcheux a dizer que a interpelao do indivduo em sujeito se realiza pela
identificao do sujeito com a formao discursiva que o domina, identificao na qual o sentido
produzido como evidncia do sujeito e, simultaneamente, o sujeito produzido como causa de si.
Deste modo, para Pcheux, no non-sens das representaes, que no se mostram para
ningum, que se configura o lugar do sujeito que toma posio em relao a essas representaes,
aceitando-as, colocando-as em dvida ou rejeitando-as.
A partir dessa colocao que Pcheux vai lembrar Lacan e sua definio de metfora: uma
palavra por outra, a metfora se localiza no ponto preciso em que o sentido se produz no non-sens.
, portanto, sobre essa concepo de metfora que se baseia o pensamento de Pcheux
quando ele diz que uma palavra, uma expresso ou uma proposio no tm um sentido que lhes
seria prprio, preso sua literalidade. E nem tm sentidos variveis a partir dessa literalidade, por
meio de uma combinatria lgico-lingstica que domaria sua ambigidade, construindo os
diferentes casos possveis, do modo que proposto pela gramtica gerativa: o sentido sempre uma
251
palavra, uma expresso ou uma proposio por uma outra palavra, uma outra expresso ou
proposio; e esse relacionamento, essa transferncia (meta-phora), pela qual elementos
significantes passam a se confrontar, revestindo-se de um sentido, no poderia ser predeterminada
por propriedades da lngua. Isto seria admitir que os elementos significantes j esto, enquanto tais,
dotados de sentido, que tm sentido ou sentidos antes de ter um sentido.
Assim, para Pcheux, o sentido existe exclusivamente nas relaes de metfora (realizadas em
efeitos de substituio, parfrases) das quais certa formao discursiva vem a ser historicamente o
lugar mais ou menos provisrio: as palavras, expresses e proposies recebem seus sentidos da
formao discursiva qual pertencem. Simultaneamente, a transparncia do sentido que se constitui
em uma formao discursiva mascara a dependncia dessa formao em relao ao interdiscurso.
Neste sentido, para Pcheux, a metfora, constitutiva do sentido, sempre determinada pelo
interdiscurso, isto , por uma regio do interdiscurso (Ibidem:263).
E Pcheux ressalta que o interdiscurso nunca intervm como uma globalidade, como um
todo onipresente em sua causalidade homognea, mas, antes, marcado pelo que ele denomina de
lei de no-conexidade. Nesta medida, o que torna possvel a metfora o carter local e
determinado do que cai no domnio do inconsciente, enquanto lugar do Outro, onde se situa a cadeia
do significante que comanda tudo o que vai poder se presentificar do sujeito e do sentido.
Desse modo, a formao discursiva, por ser o lugar onde ocorre essa transferncia
representada pela metfora, no poderia ser a causa, porque o sentido no se engendra a si prprio,
mas se produz no non-sens.
Uma tal concepo retomada por Orlandi (1999:53), que lembra que o sujeito significa
sempre em condies determinadas, impelido, de um lado, pela lngua, e, de outro, pelo mundo,
pela sua experincia, pela memria discursiva, por um saber/poder/dever dizer, em que os fatos
fazem sentido por se inscreverem em formaes discursivas que representam no discurso as
injunes ideolgicas. , pois, sujeito falha e ao acaso, mas tambm regra e necessidade, que o
sujeito (se) significa. Assim, se os sentidos podem ser os mesmos, tambm podem escorregar,
derivar, para outros sentidos, para outras posies. Assim, para Orlandi, a deriva, o deslize o
efeito metafrico, a transferncia, a palavra que fala com outras (Ibidem:53).
, pois, entre a regra e o jogo, entre a necessidade e o acaso, entre o sedimentado e o a se
realizar, entre simblico e imaginrio, que o sujeito e o sentido se repetem e se deslocam.
Assim, o equvoco, o non-sens, o irrealizado tem no processo polissmico, na metfora, a sua
realizao.
Pelas posies tericas assumidas at aqui, parece ser evidente que as colocaes de Pcheux
e Orlandi a respeito da metfora podem ser por ns compartilhadas, pois, como frisamos
252
anteriormente, consideramos que a metfora s pode ser considerada a partir da formao
discursiva.
Neste trabalho, no entanto, queremos deslocar um pouco essa questo para o mbito da
leitura, ou seja, desejamos verificar se a metfora funciona realmente como uma pista discursiva,
que orienta a produo dos sentidos.
Voltemos ento s nossas anlises.
BLOCO 2:
As massas dispersas agem e reagem em funo de impactos sobre elas. Acionam o instinto de sobrevivncia
quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao e formao de
opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em funcionamento sua capacidade
organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a violncia, que fruto da misria social
que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade social, que, por sua vez, decorrente de um
sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de oportunidades. O dado recente: o 1% mais rico da
populao ganha mais que os 50% mais pobres. Portanto, a situao remete para a responsabilidade do governo.
Ao apontar os governos, os grupamentos organizados da sociedade as massas dispersas como
agentes da crise, o sujeito-autor vai ratifica o efeito de sentido que surgiu no outro enunciado.
Por massas dispersas, o autor designa pessoas em geral, membros da populao que agem
quando se sentem ameaados, e acionados pelo instinto de sobrevivncia. Com isso, a conotao
negativa conferida a essas massas parece ser um pouco atenuada.
J quando se refere aos grupos organizados, o autor refora a negatividade, pois os identifica
a plos de mobilizao, formadores de opinio e violncia. Note-se a o enunciado dividido:
(x) os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao
P=
(y) eles precisam de um motivo, um discurso
A partir da, o sujeito-autor vai dizer que quem d esse motivo, essa causa, esse discurso para
os grupos organizados o governo, que representa um sistema democrtico incapaz de
proporcionar igualdade de oportunidades.
Quer dizer: neste enunciado, (x) remete para uma posio-sujeito: os grupos organizados so
plos de mobilizao, formadores de opinio, agem com violncia. E (y) remete para outra posiosujeito: o governo responsvel porque, ao dar motivos, cria condies para que esses grupos se
organizem e implantem a violncia no pas.
Podemos perceber ento que o enunciado a situao remete para a responsabilidade do
governo no indica uma posio de rejeio ao governo e de simpatia com os grupos organizados
ou de condescendncia com a violncia, mas, pelo contrrio, funciona como um alerta, para mostrar
que o governo est contribuindo para a fogueira, ao oferecer motivos para a violncia.
Deste modo, o sujeito-autor vai definindo sua posio-sujeito.
BLOCO 3:
253
... o Movimento dos Sem-Terra, que expande ondas de presso e violncia por 20 Estados... Os sem-terra
querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto exagerando quando invadem prdios pblicos. Um
Estado democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Mas no se pode esquecer que eles
agem em funo de uma causa.
Podemos perceber, nesse enunciado, que o sujeito-autor de TO ocupa uma posio-sujeito a
partir da qual ele analisa e interpreta o MST e o Estado.
Tal posio pode ser compreendida quando se analisa o enunciado dividido, em que se
associam saberes em conflito: Eles exageram quando invadem prdios pblicos. Mas no se pode
esquecer que agem por uma causa. A conjuno mas que cria essa diviso, que nos faz ter o
seguinte:
(X) exageram quando invadem prdios pblicos
P=
(Y) agem por uma causa
Nesta interpretao contrastiva, como j afirmamos em outros momentos da anlise, (x) e (y)
representam os limites entre o que formulvel na FDX que contra o MST e o que
formulvel na FDY que favorvel ao MST.
Embora remetam a diferentes formaes discursivas, ambas as formulaes referem-se ao
sujeito-autor de TO e constituem a sua interpretao sobre o MST. Isto continua a nos apontar a
discordncia do sujeito-autor com o movimento.
interessante observar como essa discordncia aparece em outro enunciado: Um Estado
democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Nesse enunciado, a
negao traz para esse discurso o discurso-outro, que admite que aceitar os sem-terra aceitar o
imprio da desordem e da ilegalidade, o que, na verdade, vem de outro lugar e de outro tempo: isso
faz ressoar no texto o discurso dos militares, que condenavam a desordem e a ilegalidade. Aqui,
esse discurso assumido pelo sujeito-autor de TO, o que significa que assim que ele v o MST.
Assim, embora formule o enunciado (y) agem por uma causa as pistas presentes em seu
texto nos permitem reconhecer um discurso produzido por um sujeito que tem uma posio
ideolgica que no se identifica com a causa do MST nem com seu modo de ao, pois lhe faz
crticas (expande ondas de presso e violncia) e o coloca numa posio de risco para a sociedade
(ele um dos elementos da fogueira).
Deste modo, ao produzir o enunciado agem por uma causa, o sujeito-autor faz o jogo do
politicamente correto, ou seja, faz que aceita a demanda do MST, porque isso o que convm
aparentar. Desse modo, recalca o fato de que, na realidade, no aceita a causa do MST, porque isso
prprio de sua FD, porque politicamente correto mostrar-se simpatizante com a causa pela qual
o MST luta. Mas, de fato, no concorda com suas prticas, com os modos de presso que o MST
usa.
254
Portanto, acreditamos que a posio-sujeito do sujeito-autor de TO de rejeio ao MST e
sua causa, mas de uma rejeio controlada pelo jogo do politicamente correto.
Borges (1996) reflete acerca desse jogo do politicamente correto, lembrando que este
fenmeno comeou a se disseminar a partir dos anos 80 e teve como ponto de irradiao os Estados
Unidos.
O autor considera o movimento como prtica discursiva relacionada a um momento histrico
definido, no qual assiste-se tentativa de institucionalizar um conjunto de regras ou normas,
visando promover o reordenamento das relaes entre os diversos segmentos da sociedade
(Borges, op. cit.:109).
Esse reordenamento orientado por uma prtica tica que imbuda de maniquesmo, j que
submetida dicotomia correto/incorreto. Desse reordenamento e dessa tica deriva um complexo
de posturas que tem como atribuio funcionar como um aparelho normatizador das prticas
sociais, principalmente no que se refere ao exerccio de um controle explcito da prtica linguajeira,
a fim de que se evitem os comportamentos lingsticos estigmatizantes.
Assim, podemos entender melhor o funcionamento do enunciado Exageram quando invadem
prdios pblicos, mas agem por uma causa, no qual o leitor, ao referir-se aos sem-terra, controla
sua prtica linguajeira, evitando demonstrar um comportamento preconceituoso, estigmatizante.
Para Borges, o movimento pelo politicamente correto conjuga duas vertentes de matiz
autoritrio: a) uma espcie de guia orientador quanto forma de conter hbitos que possam ser
considerados preconceituosos; b) funciona como um parmetro censrio, pois faz uso de presso
social para enquadrar, em posio de oprbio, os que incorrem em atitudes que atentam contra o
que se auto-legitima como politicamente correto.
De qualquer maneira, o politicamente correto institui-se como vigilncia e patrulhamento, que
silencia, no no-dito, as origens scio-histricas daquilo que deseja modificar.
Segundo Borges, so muitas as maneiras pelas quais o politicamente correto pode ser
interpretado, e, entre elas, temos: a) reao poltica para proteger o direito daqueles que
historicamente vm sendo discriminados por segmentos de maior poder (acreditamos que isso
acontece com o autor de TO e com o leitor desse bloco discursivo, quando se referem polidamente
aos sem-terra, segmento da sociedade que reivindica direitos, mas que no tem poder; no seria de
bom tom, portanto, discrimin-los, ofend-los); b) prtica censria que pe em evidncia
comportamentos socialmente reprovveis (mais uma vez, pensamos no caso dos sem-terra,
lembrando que tanto o sujeito-autor quanto o leitor colocam em evidncia o comportamento
reprovvel invadir prdios pblicos sem, no entanto, crucific-los por isso); c) tica que se
constitui pela reformulao da linguagem, coibindo certas expresses de nomeao, literais ou
255
metafricas, dadas como discriminatrias, como negro, por exemplo (trazendo essa questo para o
caso analisado aqui, diramos que o jogo do politicamente correto impede que o autor ou o leitor
empreguem determinadas expresses, como desordeiros ou baderneiros, para se referirem aos semterra).
Borges ressalta, assim, que o discurso dos militantes da tica do politicamente correto lida
sempre com uma rede de valores e atitudes socialmente constitudos. Mas, ao mesmo tempo, lembra
o seguinte:
Propor a simples substituio de um termo marcado, ou de formas genricas, por um sinnimo,
um eufemismo ou expresso descritiva, como tem sido propugnado pelos adeptos desse
movimento, apesar de pr em evidncia certos efeitos de sentido, sintomas de preconceitos, no
resolve o problema das assimetrias sociais, antes, o dissimula. Substituir a palavra, sem alterar a
arquitetura discursiva que sustenta o seu sentido, no altera as relaes de significncia que esta
mantm com o complexo histrico de valores e atitudes prprios de uma sociedade. (Ibidem:111)
Deste modo, no adianta substituir negro por afro-x ou branco-x. Tambm no basta
proscrever o uso de negro, se no se proscreve, por simetria, o uso de branco, para referir-se a
pessoas. E nenhuma das duas alternativas se revelar frutfera se os fatores scio-histricos, que
sustentam o magma de sentidos dessas palavras, forem mantidos.
E isto porque, sabemos, e o lembra Borges, as palavras, isoladamente, no so o(s) sentido(s)
de que esto possudas. Isso acontece mediante um processo scio-histrico. Ou seja: os sentidos
so constitudos pela materialidade histrico-social. Por isso, a simples troca de palavras no anula
o sentido, pois este deslizar para a palavra eleita.
Isto, para ns, pode ser ilustrado pelo fato de que, mesmo dizendo mas agem por uma
causa, tanto o sujeito-autor quanto o leitor deixam escorregar para essa formulao o sentido
expresso em exageram quando invadem prdios pblicos. E, com isso, o jogo do politicamente
correto denunciado.
Continuemos ento nossas anlises, procurando como, e se, isso se d nos blocos e recortes
seguintes.
BLOCO 4:
A violncia grassa nas cidades. O desemprego tem muito a ver com isso. Portanto, a poltica monetarista,
comandada a ferro e fogo pelo xerife da economia, Pedro Malan, sob a aprovao de Fernando Henrique
Cardoso, tem relao direta com a violncia e o estado de insegurana social. As chacinas em srie nas grandes
cidades, as rebelies de menores na Febem, em So Paulo, e os assaltos que se multiplicam por toda a parte se
devem, ainda, fragilidade das polticas pblicas.
Nesse bloco discursivo, podemos observar que o sujeito-autor ocupa uma posio-sujeito a
partir da qual ele analisa a questo da violncia.
Assim, a violncia relacionada a um estado de insegurana social, que tem suas origens nas
chacinas, nas rebelies dos menores da Febem e nos assaltos.
256
Mais uma vez, nos parece que o sujeito-autor marca sua posio-sujeito, na medida em que,
ao mostrar a violncia como causa da insegurana, mostra-se, conseqentemente, contra os agentes
dessa violncia.
Assim, o jogo do politicamente correto continua, quando o autor joga sobre os ombros do
governo a responsabilidade pela fragilidade das polticas pblicas, que a causa do desemprego, e
por via de conseqncia, da violncia. Quer dizer: por haver um motivo para a violncia, ele no
chega a condenar abertamente os que a praticam.
Deste modo, a idia de que h uma causa para a violncia continua presente, mas isso no
leva o sujeito-autor a solidarizar-se com aqueles que a cometem, nem o impede de imputar s
formas de violncia a responsabilidade pela insegurana da populao.
BLOCO 5:
A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de autoridade. Ela aumenta suas
taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos. As conseqncias so graves para a
democracia brasileira. A insatisfao acaba abrigando movimentos contestatrios com feio autoritria, sob a
complacncia social. Ou seja, a populao, por falta de crena na autoridade constituda, sente-se motivada a
apoiar lideranas ou movimentos que ultrapassam os limites legais para defender seus interesses.
Este bloco discursivo continua a nos revelar a posio-sujeito assumida pelo sujeito-autor
deste texto.
Assim, ao falar em movimentos contestatrios com feio autoritria e ao referir-se a
movimentos que ultrapassam os limites legais para defender seus interesses, o autor cria em seu
texto uma indeterminao, na medida em que no chega a explicitar que movimentos so esses.
De qualquer maneira, fica claro que tais movimentos so identificados desordem, que
surgem por causa da ausncia de leis e da falta de autoridade, deixando a populao indignada e
descrente. O efeito de sentido ento o seguinte: se a populao acaba apoiando esses movimentos,
apenas porque est insatisfeita e descrente nos polticos, e no porque compreenda as suas causas.
O sujeito-autor ainda complementa: as conseqncias so graves para a democracia
brasileira. Ou seja: o apoio a movimentos de contestao, para o autor, ferem a democracia.
Diramos ento que o sujeito-autor marca sua posio-sujeito: reconhece que o governo no
competente, que isso leva a populao a demonstrar sua indignao, mas, nem por isso, chega a
apoiar esses movimentos de contestao.
BLOCO 6:
O governo, neste momento, est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo nos primeiros gravetos.
Poder at ser bem sucedido. Mas no ter como desarmar a fogueira, que continuar crescendo at o dia em que
faltar lenha. E, enquanto ela estiver montada, ser um convite para os fogueteiros de planto. Que podero
provocar incndios capazes de devastar a cultura da estabilidade econmica que germinou sob os auspcios do
Real.
257
Podemos observar, nesse bloco, que o sujeito-autor retorna s metforas iniciais, e cria outras,
para reafirmar sua posio-sujeito: bombeiro, apagar o fogo, primeiros gravetos, desarmar a
fogueira, lenha, fogueteiros de planto, incndios.
Assim, a metfora bombeiro, identificada ao governo, serve para designar aquele que est
tentando salvar a situao, controlando a crise e a violncia; a metfora lenha retoma o texto em seu
incio: corrupo, desemprego, MST; j a metfora fogueteiros de planto serve para designar
aqueles que podem piorar a situao de violncia do pas. Na nossa opinio, essa outra
indeterminao usada pelo autor, pois ele no especifica quem so os tais fogueteiros de planto,
deixando ao leitor a tarefa de preencher, ou no, essa indeterminao.
Note-se ainda o enunciado dividido: O governo, neste momento, est tentando agir como
bombeiro para apagar o fogo nos primeiros gravetos. Poder at ser bem sucedido. Mas no ter
como desarmar a fogueira que continuar crescendo at o dia em que faltar lenha.
Temos aqui o seguinte:
(x) o governo apaga o fogo nos gravetos
P=
(y) o governo no consegue desarmar a fogueira
Nesse contraste, (x) remete para uma FD em que o que pode e deve ser dito : o governo,
apesar dos problemas, est tentando fazer a sua parte; e (y) remete para a mesma FD, em que o que
pode e deve ser dito : o governo no consegue dar conta da fogueira, incompetente para acabar
com essa fogueira que vai consumir com todos.
A juno desses dois enunciados que divergem no mesmo enunciado denuncia um discurso
heterogneo e um sujeito dividido entre posies diversas.
Assim, o sujeito-autor de TO, embora apresente um discurso dividido entre posies
discursivas conflitantes, produz um texto que denuncia sua posio-sujeito, detectvel atravs das
pistas ali presentes, e que se revela contrria a um governo que no consegue resolver os problemas
da nao.
Realizado esse exame do texto A grande fogueira, passemos agora anlise das seqncias
discursivas que constituem as reescritas desse texto.
3.2 LEITURA E RELEITURA: A FUNO-AUTOR
Nesta seo, examinamos as seqncias discursivas oriundas de textos que revelam a
manuteno do sentido encontrado em TO.
Na manuteno desse sentido, os sujeitos-leitores retomam TO por caminhos diferentes, os
quais, de forma contrria ao que ocorre nos textos sinalizados, no esto previamente apontados no
258
texto como lugares propcios interpretao. Assim, os leitores localizam, em TO, vrias portas
que se constituem, na verdade, em acesso para o trabalho discursivo de produo da leitura.
Esses acessos funcionam como portas de entrada em TO, mas, ao mesmo tempo, como
portas de sada para o interdiscurso. Quer dizer: por esses acessos que os sujeitos-leitores
penetram em TO e por eles que eles saem em direo ao interdiscurso, de l retornando com
saberes annimos para o seu prprio texto.
Assim, o saber que os leitores trazem para dentro de seus textos proveniente do
interdiscurso, mas esse saber, ao se linearizar no texto produzido pelo leitor, perde este vnculo
com o interdiscurso e passa a ressoar ilusoriamente em relao a TO, e no em relao ao
interdiscurso.
A reescritura, dessa forma, vai se constituir na materialidade desse movimento de ida e volta
ao interdiscurso, como materializao dessas portas de acesso.
As seqncias discursivas, portanto, vo atestar, nesta seo, esse movimento que promove a
manuteno dos sentidos.
Tais seqncias constituem o nosso quarto recorte discursivo.
3.2.1 Recorte 4: a manuteno dos sentidos
Este recorte o espao da manuteno do sentido nas reescritas.
Assim vemos, por exemplo, o enunciado ... a criminalidade monstruosa, que deixa marcas
cada vez mais sanguinolentas, principalmente nos centros urbanos... ser retomado como: Atravs
dos meios de comunicao recebemos, quase todos os dias, notcias sobre a violncia no pas:
assaltos, arrombamentos, seqestros, invases, entre outros crimes que nos deixam preocupados
com o rumo que est tomando a situao.
Ou como O Brasil um dos pases com maior
ndice de assaltos do mundo. Hoje em dia, ningum est seguro, nem em plena luz do dia os
assaltantes deixam de agir.
monstruosa
Preserva-se a o mesmo sentido de TO, com a criminalidade
sendo traduzida por
assaltos, arrombamentos, seqestros, invases, ou seja, os
sujeitos-leitores trocam uma palavra pela outra, uma expresso pela outra, mas continuam no nvel
do mesmo.
Fazemos referncia ainda ao enunciado H uma grande fogueira sobre o solo ptrio,
construda com as melhores lenhas da fogueira: (...) a engrenagem da corrupo, com ramificaes
por todo o territrio e que est sendo desvendada pela CPI do Narcotrfico..., onde o tema da
corrupo um acesso a TO para alguns sujeitos-leitores. Esse enunciado retomado ento do
seguinte modo: A corrupo dos que possuem o poder poltico vem crescendo gradativamente e,
259
por mais triste que possa parecer, no se v perspectivas de sanar tamanho descontrole. Quase que
diariamente nos deparamos com informativos da abertura de uma nova CPI, porm so raras as
vezes que somos notificados de que alguma foi bem sucedida. Vivemos num pas em que comum
ouvir que fulano foi assassinado pela polcia sem motivo aparente, que prefeito desviou tantos
milhes da verba que deveria ser destinada para uma determinada instituio, ou ainda que
algum foi executado por denunciar corrupo. Todos esses enunciados, na nossa perspectiva,
devem-se a um efeito de memria, a uma determinao do interdiscurso, que impede que qualquer
leitor possa pensar em uma realidade diferente para o Brasil neste momento.
Isso nos aponta inicialmente que, quando um texto no sinalizado
por lugares que
convidem os leitores a realizar o seu processo de leitura, que o que ocorre quando so usados os
sinais de pontuao que estudamos nos captulos anteriores reticncias e interrogao os
sujeitos-leitores entram no texto por lugares diversos e no previstos, ou seja, tm mltiplas
formas de acesso ao trabalho discursivo de produo da leitura. Isto demonstra que o trabalho da
leitura no idntico para todos os leitores e que a leitura no um processo linear, pois, se assim
fosse, todos elegeriam as mesmas portas de acesso ao interdiscurso e l recuperariam os mesmos
saberes para a produo de sua leitura.
Feitas essas primeiras consideraes, passamos anlise dos blocos discursivos deste recorte
4, que podem nos mostrar mais claramente o processo de leitura que conduz manuteno de
sentido.
BLOCO 1 :
TO: H uma grande fogueira sobre o solo ptrio.
NOVOS TEXTOS:
Sd74: O pas no qual vivemos encontra-se em permanente tenso. Quase a totalidade do povo brasileiro vive
envolvida em tenses de ordem social, educacional, econmica. uma bomba-relgio, prestes a explodir a
qualquer momento.
Sd75: Paira sobre nosso pas uma ameaadora nuvem de fumaa, na qual esto submersos os mais violentos
nveis de uma violncia que gera insegurana na populao.
Sd76: Todos sabem que o pas est pegando fogo...
Podemos verificar, nessas seqncias discursivas, que os sujeitosleitores entram em TO pela
metfora a grande fogueira e, atravs dela, vo para o interdiscurso, de onde retornam para
produzir, em seus textos, outras metforas que mantm o mesmo efeito de sentido daquele textoorigem.
Assim, a grande fogueira passa a ser reescrita como bomba relgio, nuvem de fumaa, pas
pegando fogo. Tais metforas revelam a substituio de uma palavra pela outra, de uma expresso
260
por outra, de uma metfora pela outra, mas no alteram o sentido posto em TO. Quer dizer: o
sentido permanece no nvel do mesmo.
Evidencia-se, ento, nas reescritas, entre as metforas, uma coincidncia de sentido.
Isto vem ratificar a concepo defendida por Pcheux, e da qual partilhamos, de que a
metfora determinada pelo interdiscurso, ou seja, por uma regio do interdiscurso.
Assim, podemos dizer que as metforas produzidas nas retomadas de TO, pelo processo
discursivo da leitura, evidenciam um sujeito que se filia mesma regio do interdiscurso a que se
filia o sujeito-autor do texto-origem.
Aqui, portanto, o efeito metafrico no produz nem o deslize nem a deriva dos sentidos, mas a
sua manuteno.
A metfora, portanto, ao contrrio do que afirma Davidson, pode ser parafraseada.
BLOCO 2:
TO: As massas dispersas agem e reagem em funo de impactos sobre elas. Acionam o instinto de
sobrevivncia quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao e
formao de opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em funcionamento sua
capacidade organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a violncia, que fruto da
misria social que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade social, que, por sua vez,
decorrente de um sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de oportunidades. O dado recente: o
1% mais rico da populao ganha mais que os 50% mais pobres. Portanto, a situao remete para a
responsabilidade do governo.
NOVOS TEXTOS:
Sd77: J so conhecidos de todos os problemas que integram nosso pas h muito tempo, e que so decorrentes
da grande desigualdade social. So vrias as manifestaes resultantes desse fato, como o desemprego, a
corrupo (que impera no Brasil), o movimento dos Sem-Terra. E possvel citarmos inmeras outras, mas todas
sempre acabam gerando o mesmo resultado: a violncia, tanto fsica quanto psicolgica. Ela a grande
causadora do caos que aqui se instalou. Os governantes nada fazem para mudar essa situao.
Conseqentemente, a populao quem sofre com isso. O Estado o grande culpado, por no proporcionar a
igualdade de oportunidades.
Tambm aqui o sujeito-leitor penetra em TO pela metfora a grande fogueira, mas, ao invs
de produzir outra metfora, como vimos ocorrer no bloco 1, o leitor parece querer explicar o que
essa fogueira significa e quais as suas conseqncias.
De qualquer forma, podemos dizer que, mais uma vez, a metfora funciona como pista no
discurso do sujeito-autor, uma vez que os leitores produzem sentidos a partir dela.
Desse modo, atravs desse enunciado, o sujeito-leitor entra em TO e, por ele, sai em direo
ao interdiscurso. Esse movimento se d sob um efeito da memria discursiva, que faz com que o
sujeito-leitor retorne do interdiscurso determinado pelo mesmo efeito de sentido que foi produzido
pelo sujeito-autor de TO. Nesse retorno, tendo realizado o seu processo de leitura, o sujeito-leitor
est pronto para escrever seu prprio texto, sem, no entanto, alterar o sentido do texto que deu
origem a esse movimento.
Assim, embora o sujeito-leitor traga outros saberes do interdiscurso, esses saberes apenas
ratificam o sentido produzido em TO. Ou seja: ele traz outros enunciados que so diferentes formas
261
de dizer o mesmo que TO j havia dito. por isso que no h um estranhamento em relao ao dito
em TO e ao dito no novo texto.
Tudo isso nos permite reconhecer, entre esse bloco e TO, uma relao de parfrase, qual
denominaremos, da mesma forma que o fizemos quando da anlise dos textos sinalizados (cap.2/
seo Leitura e Releitura/ recorte 1), de parfrase intradiscursiva; ou seja, trata-se de uma parfrase
em que se mantm inalterado o sentido em relao ao texto que desencadeia o processo da reescrita,
e na qual isso se d pela reformulao da materialidade lingstica dos enunciados. Nessa parfrase,
so colhidos, no interdiscurso, enunciados que entram em ressonncia de sentido com o j dito por
TO, o que faz com que haja uma identificao do sujeito-leitor com a posio-sujeito em que se
inscreve o sujeito-autor.
BLOCO 3:
TO: ... o Movimento dos Sem-Terra, que expande ondas de presso e violncia por 20 Estados... Os sem-terra
querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto exagerando quando invadem prdios pblicos. Um
Estado democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Mas no se pode esquecer que eles
agem em funo de uma causa.
NOVOS TEXTOS:
Sd78: O Movimento dos Sem-Terra um dos exemplos da fragilidade em que o governo se encontra. Eles
exageram quando invadem prdios pblicos e montam a desordem no pas, mas agem em funo de uma causa.
Sd79: A cada dia aumenta o nmero de sem-terra e, entre eles, muitas vezes, h pessoas que se aproveitam da
situao, montando a desordem no pas e exagerando quando invadem prdios pblicos, embora hajam em
funo de uma causa.
O efeito de sentido construdo por esses sujeitos-leitores, da mesma forma que o efeito de
sentido construdo em TO, tem origem em um enunciado dividido, em que se associam posiessujeito em conflito, que remetem a FDs diversas.
Assim, temos, na sd78:
(x) exageram quando invadem prdios pblicos, montam a desordem no pas
P=
(y) agem em funo de uma causa
Assim como acontece em TO, os enunciados (x) e (y), embora remetam a diferentes
formaes discursivas, referem-se ao sujeito que os formulam e revelam a sua interpretao sobre o
MST. Nesse movimento de leitura, ento, reconhecemos um sujeito com uma posio ideolgica
que no se identifica com o MST, e que tambm traz para seu discurso, assim como o sujeito-autor,
a idia de desordem, que, como j afirmamos anteriormente, vem de outro tempo, de outro lugar e
de outro discurso, que o discurso dos militares, que passa a ressoar nesse discurso.
Tambm na sd79 os leitores mantm o sentido que identifica o MST desordem. Assim, o
sujeito-leitor entra pelo enunciado dividido, que funciona como marca no discurso do sujeito-autor,
e produz outro enunciado dividido: montando a desordem no pas e exagerando quando invadem
prdios pblicos, embora ajam em funo de uma causa.
O que temos a a releitura de TO:
262
(x) montam a desordem, exageram quando invadem prdios pblicos
P=
(y) agem em funo de uma causa
Como j tivemos a oportunidade de afirmar, nesta interpretao contrastiva, (x) e (y) remetem
a diferentes posies-sujeito, inscritas em uma mesma formao discursiva. E isto produz, no novo
texto, a manuteno do sentido de TO.
O que vemos aqui, na verdade, os leitores desfazerem o jogo do politicamente correto
institudo em TO e acabarem dizendo o que pode, mas no deve ser dito. Ou seja: eles so menos
sutis do que o sujeito-autor.
Temos ento uma parfrase entre esse bloco e TO. Nessas parfrases, embora o interdiscurso
se atravesse nos novos textos, o processo discursivo de produo da leitura se d principalmente
entre o intradiscurso e TO, sobre a materialidade lingstica do novo texto em sua relao com TO.
Isso nos leva a considerar essas parfrases como intradiscursivas, ou seja, como ressonncias de
sentido entre as seqncias produzidas pelos sujeitos-leitores e o texto-origem. Nessas ressonncias,
os novos dizeres provm do interdiscurso, mas provocam a iluso de trabalharem apenas com o
texto-origem, devido manuteno de sentido.
Se pensarmos nas parfrases intradiscursivas aqui e naquelas produzidas pelo processo
discursivo da leitura dos textos sinalizados, podemos dizer que o que as diferencia apenas o ponto
pelo qual o leitor penetra no texto: no caso dos textos sinalizados, o ponto de entrada j est
indicado em TO; no caso dos textos no-sinalizados, esse ponto no est indicado, e o leitor, sem se
aperceber, penetra por este e no por outro ponto de fuga. E esta definio do ponto de entrada j
faz parte da produo de leitura do leitor.
Nesta medida, o processo de produo de leitura que varia: o leitor pode aceitar os sinais
deixados pelo autor como os espaos de sada em direo ao interdiscurso ou definir por si mesmo
quais sero tais espaos de fuga. Assim, o que varia, na leitura, o fato de entrar por sinais, por
portas produzidas pelo autor, ou entrar por portas construdas pelo prprio leitor. Diramos
ento que, no caso dos textos no-sinalizados, a produo da leitura j comea por esta construo
que no est dada pelo sujeito-autor de TO; j no caso dos textos sinalizados, em que a forma de
acesso ao texto j est dada, a produo da leitura comea pela entrada no interdiscurso, se o leitor
aceita esses sinais como pontos de fuga.
BLOCO 4:
TO: A violncia grassa nas cidades. O desemprego tem muito a ver com isso. Portanto, a poltica monetarista,
comandada a ferro e fogo pelo xerife da economia, Pedro Malan, sob a aprovao de Fernando Henrique
Cardoso, tem relao direta com a violncia e o estado de insegurana social. As chacinas em srie nas grandes
cidades, as rebelies de menores na Febem, em So Paulo, e os assaltos que se multiplicam por toda a parte se
devem, ainda, fragilidade das polticas pblicas.
NOVOS TEXTOS:
263
Sd80: As grandes massas, sentindo o efeito do desemprego, captam a inoperncia por parte das instituies e
dos polticos e vo perdendo, assim, a esperana de uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, buscam a
sobrevivncia a qualquer preo, mesmo que seja atravs da ilegalidade, pois a cinzenta nuvem da desigualdade
social instalou-se de forma a permanecer por tempo indeterminado no seio desta sociedade.
O que acontece aqui a mesma coisa que no bloco anterior: os sujeitos-leitores entram em
TO por esse enunciado, que para eles funciona como um ponto de fuga em direo ao interdiscurso,
e voltam por esse mesmo ponto, realizando o seu processo discursivo de leitura.
Ao fazer isso, os sujeitos-leitores, da mesma forma que faz o sujeito-autor de TO, colocam em
relao direta a violncia e o desemprego, responsabilizando o governo pela sua ocorrncia. Com
isso, retomam tambm o jogo do politicamente correto iniciado pelo sujeito-autor em TO.
Nesse processo de retomada, o sujeito-leitor apaga aquilo que referido no texto-origem
como chacinas, rebelies e assaltos e fala em ilegalidade e meios de conseguir a sobrevivncia a
qualquer preo. Na nossa perspectiva, este um outro meio de dizer aquilo que estava dito em TO.
E um modo de o sujeito-leitor marcar sua posio-sujeito, que no de apoio nem a esses meios
nem a seus agentes.
Podemos dizer ento que esse sujeito-leitor, ao realizar o processo discursivo da leitura,
assume a mesma posio-sujeito do sujeito-autor de TO. Desse modo, seu texto estabelece com o
texto-origem uma relao de parfrase intradiscursiva.
BLOCO 5:
TO: A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de autoridade. Ela aumenta
suas taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos. As conseqncias so graves para
a democracia brasileira. A insatisfao acaba abrigando movimentos contestatrios com feio autoritria, sob a
complacncia social. Ou seja, a populao, por falta de crena na autoridade constituda, sente-se motivada a
apoiar lideranas ou movimentos que ultrapassam os limites legais para defender seus interesses.
NOVOS TEXTOS:
Sd81: Este fogo conseqncia do acmulo de injustias perante a populao brasileira, que anda desiludida e
revoltada com o imprio da desordem e da ilegalidade. E, com tudo isso, ela vai se afastando cada vez mais da
poltica, do governo, porque j no h mais crena, ningum acredita nos polticos. E isto vai ocasionando
revoltas, e assim formando movimentos que ultrapassam os limites legais.
Sd82: Na avaliao de todos esses ndices causadores da desestabilizao econmica e social, o fator que causa
mais preocupao o risco que est correndo a nossa democracia. Em toda e qualquer sociedade, sempre houve
oportunistas de planto, por isso receamos que aquela nuvem negra e carregada em forma de regime militar, v
se aproveitar discretamente da situao, para tomar as rdeas da nao.
Esse bloco discursivo nos revela que os sujeitos-leitores entram em TO por esse enunciado,
retomando o efeito de sentido ali produzido.
Note-se, por exemplo, na sd81, que h uma coincidncia entre o dizer de TO e o dizer do
novo texto, quando se fala em desordem e movimentos que ultrapassam os limites legais. Essa
264
coincidncia produz um mesmo efeito de sentido nos dois textos: um valor negativo para esses
movimentos.
Alm disso, o sujeito-leitor mantm a indeterminao de TO, pois no explicita que
movimentos so esses. Neste sentido, podemos dizer que a indeterminao tambm marca o
discurso do sujeito-autor e porta de acesso para os leitores entrarem em TO.
Lembremos, no entanto, que, no texto-origem, a expresso imprio da desordem e da
ilegalidade usada em referncia aos sem-terra. Quer dizer: o leitor entra em TO pelo
enunciado que faz referncia a movimentos contestatrios com feio autoritria e puxa para
c um dizer presente em um outro enunciado. Este o meio de o sujeito-leitor explicitar que, para
ele, os sem-terra esto associados a esses movimentos e tambm violncia, desordem,
ilegalidade.
Com isso, ele ratifica sua posio-sujeito, que mesma do sujeito-autor de TO: ele reconhece
os erros do governo, mas, nem por isso, apia a violncia e a desordem.
Chamamos a ateno, ainda, para o emprego da metfora no novo texto: este fogo. Note-se
que o sujeito-leitor produz essa metfora a partir de um enunciado em que o sujeito-autor no a
emprega.
Empregar essa metfora, nos parece, uma forma de o sujeito-leitor manter o sentido
produzido em TO, uma vez que ela traduz a mesma idia presente no texto-origem: de destruio,
devastao da populao brasileira.
E, na nossa perspectiva, esse emprego demonstra tambm que a metfora realmente marca
o discurso, funcionando como porta de acesso para o processo discursivo da leitura.
Na sd82, vemos tambm que o leitor entra em TO por esse enunciado que alerta para as
graves conseqncias que a descrena do povo em relao ao governo podem trazer para a
democracia: os movimentos de contestao com feio autoritria. Por esse enunciado, o leitor sai
para o interdiscurso, de onde retorna com um dizer diferente: os riscos, que causam preocupao,
so a possvel transformao da democracia em regime militar, ou seja, em ditadura.
Na nossa perspectiva, isso demonstra que o sujeito-leitor no se afasta do sentido produzido
naquele texto-origem, pois ambos, autor e leitor, temem pela democracia, temem pelo que, como
ressalta o leitor, so ndices causadores da desestabilizao econmica e social, e que podem levar
a uma mudana drstica no pas. A diferena que o leitor assume que a democracia pode
descambar para um regime militar e o sujeito-autor, no. Ou seja: o leitor deixa de lado o jogo do
politicamente correto presente em TO e explicita o que l ficou apenas implcito.
265
Note-se ainda que o leitor tambm lana mo de metforas nuvem negra e carregada; tomar
as rdeas da nao que revelam uma no-coincidncia entre o dizer e as coisas, para definir sua
posio em relao ao regime militar.
Isto nos mostra novamente que a metfora, em TO, funciona como marca do discurso, uma
vez que os leitores percebem as metforas utilizadas pelo sujeito-autor e as reescrevem ou
produzem novas metforas. E nos revela que a metfora tambm pode ser lugar de deslizamentos de
sentido.
Isto nos faz retomar a afirmao de Pcheux (1988:161), que diz respeito ao fato de que as
palavras ou expresses no tm um sentido que lhes seria prprio, mas que as palavras ou
expresses recebem seu significado na formao discursiva em que so produzidas, submetidas a
um efeito da memria discursiva.
por isso que esses leitores, sujeitos histria e ao interdiscurso, acabam produzindo a nova
metfora nuvem carregada de fumaa para trazer tona o medo de que se instale no pas,
novamente, o regime militar. um efeito da memria discursiva que percebemos aqui, efeito que
produzido pelo emprego da metfora e que mantm os leitores na mesma FD do sujeito-autor do
texto-origem.
Podemos dizer ento, mais uma vez, que existe uma relao de parfrase intradiscursiva entre
TO e esses novos textos, com uma processo da leitura que revela a manuteno do mesmo.
BLOCO 6:
TO: O governo, neste momento, est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo nos primeiros gravetos.
Poder at ser bem sucedido. Mas no ter como desarmar a fogueira, que continuar crescendo at o dia em que
faltar lenha. E, enquanto ela estiver montada, ser um convite para os fogueteiros de planto. Que podero
provocar incndios capazes de devastar a cultura da estabilidade econmica que germinou sob os auspcios do
Real.
NOVOS TEXTOS:
Sd83: O governo tenta apagar os gravetinhos, enquanto a chama maior vai destruindo e devastando tudo, ou
seja, o pouco que resta de dignidade humana.
Podemos observar que esse sujeito-leitor, como j aconteceu anteriormente, retoma a
metfora da fogueira para caracterizar a crise brasileira, e entra em TO atravs dela e desse
enunciado dividido. Assim, o leitor fala em apagar os gravetinhos, em chama maior que vai
destruindo e devastando tudo.
Como podemos perceber, a metfora funciona de modo a manter o sentido j posto no textoorigem pelo sujeito-autor.
Diramos ainda que esse sujeito-leitor se identifica com o enunciado dividido presente em TO,
e produz o mesmo efeito de sentido que se produz naquele texto: o governo quer solucionar a crise,
mas a violncia impede que isso acontea.
266
Existe, portanto, entre o texto-origem e esse texto, um efeito de ressonncia de sentido, que se
produz principalmente sobre a materialidade lingstica, o que nos permite falar em parfrase
intradiscursiva entre os textos.
3.2.1.1 Recorte 4: algumas consideraes
Esse recorte o espao da manuteno do sentido, ou seja, os textos produzidos pelos
sujeitos-leitores reiteram o efeito de sentido encontrado em TO.
Com isso, queremos dizer que os sujeitos-leitores inscrevem-se na mesma matriz de sentido
que o sujeito-autor de TO e identificam-se com a mesma posio-sujeito com a qual se identifica
aquele sujeito-autor.
Podemos dizer ainda que os sujeitos-leitores reconstituem o efeito-texto, reproduzindo o
mesmo efeito de sentido que havia sido criado em TO.
, pois, um espao de coincidncias entre os sentidos.
Nesses termos, nesse recorte 4 os sentidos no deslizam, no derivam, permanecem estveis.
Da mesma forma que vimos acontecer nos textos sinalizados, essa manuteno de sentido se
d por uma espcie de reformulao da materialidade lingstica, ou seja, os sujeitos-leitores, ao
fazerem movimentos de ida ao interdiscurso, e de volta ao texto-origem na produo de sua leitura,
colhem, no interdiscurso, enunciados que entram em ressonncia de sentido com o j dito de TO.
Assim, esses novos textos esto carregados de ressonncias intradiscursivas, ou seja, de
substituies de palavras, de alteraes de expresses usadas em TO. Na verdade, esses sujeitosleitores praticamente reproduzem o texto-origem, na medida em que se limitam a dizer, de outra
forma, o que j estava dito em TO.
3.2.2. Leitura e Releitura: o espao da manuteno dos sentidos
As anlises realizadas nesta seo nos revelaram, assim como vimos acontecer com os textos
sinalizados, que as reescritas podem criar o espao da reiterao do sentido do texto-origem.
Como foi possvel perceber, a metfora e o enunciado dividido desempenham papel
significativo para essa manuteno de sentido. No caso da metfora, porque os leitores ou as
reescrevem (criando outras metforas com sentido semelhante ao produzido em TO), ou produzem
metforas onde no as havia em TO, reproduzindo, porm, o sentido l posto. No caso do enunciado
dividido, porque os leitores entram em TO pelo enunciado dividido, identificando-se com a mesma
posio com a qual se identifica o sujeito-autor.
267
Vimos ainda que tambm a indeterminao presente em TO pode funcionar como meio de
acesso dos leitores quele texto.
Nesta medida, metfora, enunciado dividido e indeterminao podem ser considerados, nesse
texto no-sinalizado pelos sinais discursivos da pontuao (reticncias e interrogao), como
marcas discursivas que, embora de forma diferenciada dos sinais discursivos, orientam o processo
de entrada dos sujeitos-leitores no texto e sua sada para o interdiscurso.
Neste caso, conforme pudemos constatar, esse movimento de ida e volta proporciona a
estabilizao dos sentidos postos em TO.
Podemos ento considerar que este recorte 4 dos textos no-sinalizados, , como o recorte 1
dos textos sinalizados, o espao da parfrase intradiscursiva.
Acreditamos ainda que essas parfrases, do mesmo modo que consideramos na anlise dos
textos sinalizados, tenham caractersticas de comentrio, em termos foucaultianos. Ao afirmar isso,
estamos firmando uma posio que admite o comentrio como um processo de retomada em que se
pode dizer, de outra forma, aquilo que havia sido dito no texto primeiro.
E, ainda tomando emprestado outro termo de Foucault (1982:63), podemos dizer que esses
textos se constituem em redescobertas de TO, ou seja, em um processo discursivo de leitura que
permite que sentidos que j foram l esboados sejam aqui retomados de outro modo, com outras
palavras.
Vamos dizer ento que esses sujeitos-leitores, ao instaurarem o processo discursivo da leitura,
estabelecem com o efeito-texto que constitui TO a seguinte relao: inscrevem-se na mesma FD do
sujeito-autor de TO, identificam-se com a mesma posio-sujeito, e reconstroem os mesmos
sentidos.
Podemos ento reafirmar a posio adotada na anlise dos textos sinalizados e dizer que esses
sujeitos-leitores realizam gestos interpretativos, entendidos como movimentos de interpretao
que reiteram o sentido produzido em TO e mantm os sujeitos-leitores na mesma FD do sujeitoautor.
Tal processo de leitura nos parece evidenciar aquilo que Pcheux (1988:215) denomina de
relao de identificao, que produz o bom sujeito e reflete uma superposio, um
recobrimento entre o leitor e o sujeito universal, de tal forma que a tomada de posio do sujeitoleitor realiza seu assujeitamento sob a forma do livremente consentido; isso significa que o leitor
se identifica, plena e cegamente, com a formao discursiva do sujeito-autor.
Podemos, assim, como fizemos na anlise dos textos sinalizados (seo 2.3.2), falar em
releitura nesse recorte. Com isso, queremos reafirmar nossa posio e reconhecer na releitura um
processo em que o sujeito-leitor, quando reescreve um determinado texto, inscreve-se na mesma
268
matriz de sentido em que se inscreve o sujeito-autor daquele texto, e promove a manuteno dos
sentidos.
Nesses termos, a releitura revela o mesmo processo histrico-discursivo e o mesmo trabalho
da memria que se presentifica no texto-origem. E isso nos permite falar, novamente como o
fizemos na anlise dos textos sinalizados, em repetio lingstico-discursiva, ou seja, em uma
repetio que se d essencialmente sobre a materialidade lingstica, fazendo com que os leitores
produzam exatamente os mesmos efeitos de sentido que o sujeito-autor de TO.
Podemos considerar tambm que esses sujeitos-leitores, da mesma forma que vimos acontecer
nas reescritas dos textos sinalizados, limitam-se a exercer a funo-leitor e a desempenhar a
funo-autor, j que, enquanto produtores de linguagem, apresentam-se na origem de seus textos,
mas, ao mesmo tempo, restringem-se a reformular o dizer de TO, inscrevendo-se na mesma
formao discursiva do sujeito-autor, assumindo a mesma posio-sujeito e reiterando os sentidos j
produzidos.
Assim, vamos dizer que encontramos aqui, da mesma forma que nos textos sinalizados, um
grau zero de autoria, isto , um processo de autoria em que h apenas a reproduo dos sentidos e
uma relao de identificao plena com os sentidos produzidos em TO.
3.3. LEITURA E REESCRITURA: DA FUNO-AUTOR POSIO-AUTOR
Nesta seo, examinamos as seqncias discursivas que refletem deslizamentos de sentido em
relao a TO.
A reunio dessas seqncias obedece ao mesmo critrio metodolgico adotado na anlise dos
textos sinalizados, o que significa dizer que tais seqncias esto reunidas em funo das posiessujeito assumidas pelos leitores.
Isto nos leva criao de diferentes recortes discursivos nesta seo, que correspondem s
diferentes posies-sujeito com as quais os sujeitos-leitores se identificam quando fazem deslizar os
sentidos produzidos em TO.
3.3.1 Recorte 5 : A identificao com a ordem social
Aqui, os sujeitos-leitores fazem deslizar os sentidos produzidos em TO, ou seja, o sentido no
se mantm exatamente o mesmo de TO, mas permanece na mesma FD. Ao criar esse deslizamento,
os leitores comeam a assumir posies e se identificam com uma posio-sujeito que se coloca ao
269
lado da ordem na sociedade, o que produz, conseqentemente, um efeito de desvalorizao daqueles
que procuram prejudicar essa ordem.
Vejamos como isso acontece.
BLOCO 1:
TO: H uma grande fogueira sobre o solo ptrio, construda com as melhores lenhas da floresta: o MST..., a
criminalidade..., a engrenagem da corrupo..., as manchas do desemprego..., a enorme insatisfao das classes
mdias com a deteriorao dos servios pblicos..., a inrcia dos poderes pblicos...
NOVOS TEXTOS:
Sd84: Embora toda essa situao catica tenha fortes bases para a sua instaurao, no se justifica a desordem
social e a violncia que vem se agravando cada vez mais.
Neste bloco discursivo, vemos que o sujeito-leitor entra em TO pela metfora a grande
fogueira, traduzindo-a por situao catica e mantendo o mesmo efeito de sentido do textoorigem. Quer dizer: ao reescrever essa metfora, e dizer que h fortes motivos para a sua
instaurao, o leitor reconhece como legtimos os elementos dessa crise, os quais so apontados
pelo sujeito-autor de TO.
Mais uma vez, portanto, podemos dizer que a metfora funciona como marca discursiva, ou
seja, como meio de acesso dos leitores ao interdiscurso.
O sentido desliza, no entanto, quando, no novo texto, o sujeito-leitor identifica esses
elementos desordem social e afirma que, para ele, isso no se justifica.
Note-se que, ao falar em desordem, o leitor est retomando o termo empregado pelo sujeitoautor em outro enunciado: Os sem-terra querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto
exagerando quando invadem prdios pblicos. Um Estado democrtico no pode aceitar o imprio
da desordem e da ilegalidade.
No nosso ponto de vista, ao referir desordem, mas no aos sem-terra, como acontece em
TO, o sujeito-leitor cria uma espcie de indeterminao em seu texto, o que no nos impede, no
entanto, de imaginar que exista essa relao.
Assim, essa seqncia revela a posio-sujeito assumida pelo sujeito-leitor, que de um certo
endurecimento em relao ao uso da violncia e da desordem, o que nos aponta tambm para uma
espcie de preconceito para com aqueles que fazem uso desses meios.
BLOCO 2:
TO: As massas dispersas agem e reagem em funo do impacto sobre elas. Acionam o instinto de
sobrevivncia quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao e
formadores de opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em funcionamento
sua capacidade organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a violncia, que fruto da
misria social que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade social, que, por sua vez,
decorrente de um sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de oportunidades.
NOVOS TEXTOS:
Sd85: A democracia permite e at exige manifestaes populares, mas as que temos assistido nos ltimos dias
esto sendo desviadas para o caminho da baderna e as suas verdadeiras causas acabam sendo mascaradas. Tanto
270
governo quanto manifestantes colaboram para que essas legtimas armas democrticas mostrem seu lado mais
cruel, a manipulao das massas, onde sem causas esto sempre prontos a jogarem a primeira pedra.
Sd86: Devemos analisar o que h por trs de movimentos de protestos e verificar se realmente querem mudar a
situao ou apenas incendiar o povo com suas idias. Devemos protestar, sim, vivenciar a democracia, mas ao
lado de quem quer uma vida melhor para todos e no somente se promover s custas dos problemas enfrentados
por pessoas j to desesperanadas e massacradas.
Sd87: O povo tem todo o direito de indignar-se e no deve ser neutro. Porm, sabe-se que existe muita gente
que motiva a reivindicao atravs de maneiras absurdas e cruzam os braos para assistir os outros fazendo por
eles. obvio que somente criticar no basta, necessrio agir. No entanto, violncia gera violncia. Ento tentar
combater o que nos fere, ferindo, totalmente incoerente. O brasileiro precisa buscar meios que no o igualem a
esse sistema hipcrita. Que tal comeando pelo prprio voto?
Podemos observar que esses sujeitos-leitores retomam o enunciado dividido de TO e, atravs
dele, produzem outros enunciados divididos, que vo apontar os deslizamentos de sentido entre os
textos.
Deste modo, mais uma vez percebemos no enunciado dividido uma marca discursiva que, ao
revelar a posio do sujeito-autor, funciona, no processo discursivo da leitura, como porta de acesso
para os leitores.
Em TO, temos:
(x) os grupos organizados so plos de mobilizao
P=
(y) os grupos organizados usam de violncia
Vamos ver os enunciados divididos que surgem nos novos textos:
(x) a democracia permite manifestaes populares
sd85: P =
(y) as manifestaes populares so desviadas para a baderna
(x) os protestos querem a mudana
sd86: P =
(y) os protestos querem incendiar o povo com suas idias
(x) devemos protestar, vivenciar a democracia
sd87: P=
(y) no devemos protestar ao lado dos que querem se promover
(x) o povo tem direito de se indignar, no ser neutro
sd87: P =
(y) muitos motivam a reivindicao de maneira absurda
(x) necessrio agir
sd87: P =
(y) violncia gera violncia
Como podemos perceber, tanto em TO quanto nos novos textos, os enunciados divididos
representam os limites entre dizeres que so formulveis em uma FDX.
Assim, esta FD comporta dizer o seguinte: os grupos organizados so plos de mobilizao;
a democracia permite manifestaes populares; os protestos querem a mudana; devemos
271
protestar, vivenciar a democracia; o povo tem direito de indignar-se, no ser neutro; necessrio
agir.
Mas comporta tambm outro dizer: os grupos organizados usam de violncia; as
manifestaes populares so desviadas para a baderna; os protestos querem incendiar o povo
com suas idias; no devemos protestar ao lado daqueles que querem se promover; muitos
motivam a reivindicao de maneira absurda; violncia gera violncia.
Deste modo, podemos dizer que estas falas revelam o discurso desta FD sobre uma outra FD
a FDY na qual se inscrevem os membros do MST. Ou seja: esses dizeres no se identificam com
o dizer do MST, mas mostram a forma como esses sujeitos-leitores concebem o MST. um
discurso sobre o MST, mas no o discurso do MST.
Assim como o sujeito-autor de TO, esses leitores assumem ento uma posio-sujeito que
contrria s manifestaes, que, para eles, geram violncia. Isto significa, na verdade, que os
leitores lem a partir da posio-sujeito assumida pelo sujeito-autor de TO, com ela identificandose. Em outras palavras: os sujeitos-leitores, ao reconhecerem no enunciado dividido uma porta de
acesso a TO, e ao reescreverem esse enunciado dividido, identificam-se com a mesma parte do
enunciado com que se identifica o sujeito-autor.
Os sentidos deslizam, no entanto, porque o sujeito-autor, ao fazer o jogo do politicamente
correto, no chega a assumir tudo aquilo que os leitores assumem: as verdadeiras causas das
manifestaes so mascaradas, existe a manipulao das massas, existem sem causas que querem
sempre jogar a primeira pedra, alguns cruzam os braos e s assistem os outros fazerem por eles,
etc.
Isto nos mostra que, nas reescritas, o diferente o sentido que no fora antes produzido
explicitamente convive com o mesmo o sentido j posto em TO. O que os leitores fazem ento
explicitar os implcitos de TO, mantendo-se, no entanto, na mesma FD do sujeito-autor.
Todos esses novos dizeres so atravessamentos do interdiscurso na leitura, assim como o a
referncia baderna, que, como j referimos anteriormente, vem de outro lugar, que o discurso da
poca da ditadura.
Esse deslizamento de sentido produz, como possvel observar, um efeito de endurecimento
em relao aos sentidos postos em TO, na medida em que, pela identificao com a ordem, trata os
mesmos fatos com maior rigor, cobra mais. Tanto que, pela tamanha rejeio violncia, o sujeitoleitor da sd87 acaba sugerindo uma alternativa o voto para escapar daquilo que denomina de
sistema hipcrita. Com isso, o leitor aponta para o sentido de que o povo no sabe votar saber
que vem de outro lugar, da FD militar e sugere que as pessoas parem de votar em polticos
ineficientes.
272
Podemos dizer, ento, mais uma vez, que existem deslocamentos de sentido nas retomadas de
TO, e assuno de diferentes posies-sujeito pelos leitores, apesar desses leitores se inscreverem
na mesma FD do autor.
3.3.1.1 Recorte 5: algumas consideraes
Conforme foi possvel constatar, este recorte, assim como os recortes 2 e 3, referentes aos
textos sinalizados, revela deslizamentos de sentido em relao a TO, ou seja, a identificao dos
sujeitos-leitores com uma posio-sujeito diferente daquela assumida pelo sujeito-autor de TO.
Assim, ao assumir essa posio-sujeito diferente, os leitores deixam de apenas reiterar o
sentido de TO, e passam a afastar-se um pouco daquele texto-origem, com o atravessamento do
interdiscurso no processo discursivo da leitura. Isto lhes permite, por exemplo, relacionar os
movimentos de contestao baderna, incluindo o discurso dos militares, que vem de outra poca e
de outro lugar, em seu discurso.
Assim, esses deslizamentos de sentido revelam uma rgida viso da sociedade, na qual deve
imperar a ordem, o que leva os leitores a assumir um certo preconceito, entendido aqui como uma
concepo unilateral dos fatos, que faz com que os leitores se identifiquem com julgamentos e
crticas pr-estabelecidas.
Deste modo, este recorte estabelece com TO uma relao de parfrase discursiva, ou seja,
revela um processo discursivo da leitura em que ocorrem deslizamentos de sentido dentro de uma
mesma formao discursiva.
3.3.2 Recorte 6: a identificao com o conformismo
Este recorte evidencia deslizamentos de sentidos e a identificao dos sujeitos-leitores com
uma outra posio-sujeito, diferente da posio assumida pelos leitores dos demais recortes.
Tais deslizamentos tomam a direo de um certo conformismo, o que significa dizer que os
sujeitos-leitores, ao reescreverem TO, e alterarem os sentidos, mantendo-se na mesma FD do
sujeito-autor, mostram-se menos incisivos e menos decididos a transformar a situao que
constatam.
BLOCO 1:
TO: As massas dispersas agem e reagem em funo de impactos sobre elas. Acionam o instinto de
sobrevivncia quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao e
formao de opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em funcionamento sua
capacidade organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a violncia, que fruto da
misria social que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade social, que, por sua vez,
decorrente de um sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de oportunidades. O dado recente: o
1% mais rico da populao ganha mais que os 50% mais pobres. Portanto, a situao remete para a
responsabilidade do governo.
273
NOVOS TEXTOS:
Sd88: A violncia no resolve nada, preciso haver uma conscientizao geral, para tirar o pas dessa situao
catastrfica.
Nesse bloco discursivo, o sujeito-leitor identifica-se com a posio-sujeito que contrria
violncia, e desliza o sentido quando fala em conscientizao geral, deixando de dizer que a
responsabilidade do governo, como acontece em TO, e deixando tambm de responsabilizar os
movimentos de contestao, o MST, etc.
Para ns, o efeito de conformismo se deve ao fato de que o sentido que se produz aqui vai na
direo oposta quele que se produz na seo anterior, onde os leitores endurecem o jogo e tornamse mais severos em seus posicionamentos. Aqui, h uma espcie de abrandamento desse sentido e
do sentido de TO, e o leitor acaba falando apenas em conscientizao.
Isto nos leva a reconhecer entre esse texto e o texto-origem, assim como acontece na seo
anterior, uma relao de parfrase discursiva, ou seja, a assuno de uma posio-sujeito diferente,
o que equivale ainda a falar em deslizamento de sentido na mesma FD.
BLOCO 2:
TO: A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de autoridade. Ela aumenta
suas taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos. As conseqncias so graves para
a democracia brasileira. A insatisfao acaba abrigando movimentos contestatrios com feio autoritria, sob a
complacncia social. Ou seja, a populao, por falta de crena na autoridade constituda, sente-se motivada a
apoiar lideranas ou movimentos que ultrapassam os limites legais para defender seus interesses.
NOVOS TEXTOS:
Sd89: O povo est descrente, no sabe mais em quem acreditar, pois a lama da corrupo e da anarquia tomou
conta do pas. O povo brasileiro est cansado e envergonhado de tudo e de todos, no sabe mais o que fazer, o
jeitinho brasileiro no est mais funcionando. O que resta para o povo ter f, pois s com f para suportar
todo esse caos.
Sd90: Frente a um pas mergulhado em crises, temos que ter esperana de que algo vai acontecer para melhorar
a situao atual, pois no podemos conviver com tantas desordens.
Tambm nesse bloco discursivo, os leitores produzem um efeito de sentido que vai na direo
do conformismo, da falta de ao. Assim, eles passam a falar em f, esperana. Quer dizer: eles
entram em TO por esse enunciado e saem para o interdiscurso de onde retornam com um dizer
diferente do dizer j produzido.
Observamos, na sd90, mais uma vez, uma indeterminao, quando o leitor diz que
precisamos ter esperana de que algo vai acontecer para melhorar a situao do pas. Com isso, ele
se exime de explicitar o que deve ser feito, bem como o que pode acontecer. Na nossa perspectiva,
esse leitor, assim, como o leitor da sd89, assume o jogo do politicamente correto iniciado pelo
sujeito-autor de TO.
Por isso, podemos falar em deslizamento de sentido e parfrase discursiva, ou seja, de um
processo de leitura em que h um atravessamento do interdiscurso que faz deslizar os sentidos, ou
seja, que aponta para uma posio-sujeito que no antagoniza com a do sujeito-autor ou com a dos
demais leitores, mas que cria diferenas nos efeitos de sentidos produzidos nos novos textos.
274
BLOCO 3:
TO: O governo, neste momento, est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo nos primeiros
gravetos...
NOVOS TEXTOS:
Sd91: Pensamos que no existe uma frmula mgica para solucionar a crtica situao brasileira, no entanto,
alguns valores morais poderiam ser resgatados, com o instinto de nao mais valorizado, acima dos interesses
individuais.
Sd92: Nos sentimos amarrados e sem perspectiva de um futuro melhor, esperando que acontea um milagre e
torcendo para que este no demore.
Fica mais evidente, aqui, a diferena entre o efeito de sentido produzido por essas seqncias
e por outras, analisadas anteriormente em outros recortes.
Note-se, por exemplo, que, na sd92, o leitor se diz amarrado e sem perspectiva de um futuro
melhor, o que denota uma forma de entregar-se sorte, sem tentar mud-la. E isso ratificado
pelo sentido expresso em torcer por um milagre e, ainda mais, ficar esperando por esse milagre.
Assim, se, quando, em TO, ao dizer que o governo est tentando conter a crise o sujeito-autor
se identifica com essa posio de quem procura uma soluo, aqui, de forma diferente, os sujeitosleitores assumem uma posio de quem nada faz, apenas espera e prope que se resgatem valores
morais.
Deste modo, podemos dizer que os leitores se identificam com TO quando se mostram
preocupados com a crise brasileira e com suas causas, mas se afastam um pouco daquele textoorigem quando demonstram tal passividade.
interessante observar ainda que esses leitores entram em TO pela metfora que relaciona o
governo a bombeiro que tenta apagar o fogo e que, embora sem produzir uma nova metfora, a
partir da que fazem deslizar o sentido.
H deslizamentos de sentido, portanto, e uma relao de parfrase discursiva entre TO e esses
novos textos.
3.3.2.1 Recorte 6: algumas consideraes
Como vimos, esse recorte revela outros deslizamentos de sentido em relao a TO, ou seja,
a identificao dos sujeitos-leitores com uma posio-sujeito diferente daquela assumida pelo
sujeito-autor de TO e com uma posio-sujeito assumida por outros leitores.
Esses deslizamentos de sentido, de forma distinta do que acontece em TO e nos demais
recortes, revelam um tipo de leitor que se mostra aborrecido com a situao em que se encontra o
pas, mas que tambm no se revela disposto a mudar tal situao.
isso que nos leva a falar em efeito de conformismo, de resignao.
275
Deste modo, este recorte tambm estabelece com TO uma relao de parfrase discursiva,
ou seja, revela um processo discursivo da leitura em que ocorrem deslizamentos de sentido,
assuno de uma posio-sujeito diferente, dentro de uma mesma formao discursiva.
3.3.3 Recorte 7: a identificao com os menos favorecidos
Neste recorte, examinamos algumas seqncias discursivas que revelam deslizamentos de
sentido que mantm os sujeitos-leitores na mesma FD do autor de TO, ou seja, que indicam a
identificao dos leitores com uma posio-sujeito diferente da posio assumida pelo sujeito-autor.
Com isso, queremos dizer que os sentidos produzidos por esses leitores no se identificam com os
sentidos produzidos pelo sujeito-autor, embora permaneam nos limites da mesma formao
discursiva.
Assim, se, em TO, o autor assume a posio do politicamente correto, nessas reescritas os
leitores assumem uma posio de identificao com o povo, com aqueles que so menos
favorecidos, com aqueles que sofrem as conseqncias dos atos do governo e com aqueles que so
discriminados.
BLOCO 1:
TO: ... o Movimento dos Sem-Terra, que expande ondas de presso e violncia por 20 Estados... Os sem-terra
querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto exagerando quando invadem prdios pblicos. Um
Estado democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Mas no se pode esquecer que eles
agem em funo de uma causa.
NOVOS TEXTOS:
Sd93: Ultimamente o que mais tem sido notcia so as invases de terras e prdios por trabalhadores em greve
ou por cidados sem terra, sendo estes aqueles que mais tem causado desordem por lutarem por seus direitos.
Essas pessoas, por no serem entendidas, precisam chamar a ateno, principalmente dos governantes, e acabam
cometendo delitos, dos quais elas prprias so vtimas.
Sd94: Os recursos polticos aos quais os sem-terra podiam recorrer no resolveram o problema deles. Ento, o
que fazer? Quando no h mais nada legal ou dentro dos limites ticos a ser feito, essa sociedade insatisfeita e
ignorada extrapola, caindo numa armadilha. Isto se d na medida em que eles no so mais vistos como vtimas,
nem suas causas so encaradas como justas, por parte daqueles que no vivenciam o problema. Os sem-terra no
so mais os coitados, injustiados pelo governo, merecedores de uma reforma agrria; eles so arruaceiros,
desordeiros. Perderam a credibilidade, essas pessoas. Caram na armadilha de completar o ciclo do descaso, ao
responder a ele com transgresso. E isto conveniente para o governo, pois a prpria sociedade os v com
desprezo e descaso.
Neste bloco discursivo, encontramos leitores que, ao ocupar uma posio-sujeito a partir da
qual analisam e interpretam o MST e o Estado, no ocupam a mesma posio do sujeito-autor de
TO, embora mantenham-se na mesma formao discursiva.
No texto-origem, como j vimos anteriormente, o sujeito-autor no se identifica com o MST e
lhe faz crticas, dizendo que o Estado no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade,
mesmo que eles hajam por uma causa.
276
Aqui, os leitores produzem um dizer dividido entre essa posio que desfavorvel ao MST
(o que os leva a retomar o sentido de desordem, a falar em delitos, a reconhecer que os sem-terra
no fazem nada legal ou dentro dos limites ticos, que eles extrapolam) e uma outra posio que
simptica ao MST (e que os leva a falar em direitos, a dizer que eles precisam chamar a ateno,
que eles so vtimas, que eles no so atendidos e que, por isso, acabam caindo numa armadilha).
Na verdade, isto nos mostra que os leitores, ao reescreverem TO, embora no produzam
enunciados divididos, identificam-se com uma parte do enunciado dividido produzido pelo sujeitoautor, ou seja, com a parte que simptica ao MST. isso que no os deixa criticar o MST, mas os
leva a reconhecer que, se eles agem ilegalmente, porque o Estado lhes d motivos.
Esses sujeitos-leitores, portanto, fazem deslizar os sentidos em direo a uma posio-sujeito
que no idntica a do sujeito-autor, embora no se inscreva em uma FD divergente.
Nesse processo de leitura, portanto, h um atravessamento do interdiscurso que introduz, nos
novos textos, novos efeitos de memria e novos dizeres.
BLOCO 2:
TO: Que podero provocar incndios capazes de devastar a cultura da estabilidade monetria que germinou sob
os auspcios do Real .
NOVOS TEXTOS:
Sd95: Paira sob nosso pas uma ameaadora nuvem de fumaa, na qual esto submersos os mais violentos
nveis de uma violncia que gera insegurana na populao. Essa ameaa incontrolvel tem um slido alicerce
que se edificou com a criao do real e a insistncia de se manter a estabilidade dessa moeda.
Sd96: Atravs do texto, podemos constatar que um dos fatores surgiram por causa do plano real. Nesse plano
que Fernando Henrique traou, tentando fazer de uma nova moeda em nosso pas esperana para os brasileiros.
Talvez. Mas foi a partir da que tudo comeou a mudar, no melhorou, talvez, com o tempo, piorou.
Neste bloco discursivo, vemos que os sujeitos-leitores abrem uma outra porta para entrarem
em TO e, atravs dela, fazerem circular os sentidos.
Assim, na sd95, por exemplo, o leitor entra pela metfora que associa a crise brasileira a um
incndio e mantm esse sentido atravs de outra metfora: uma ameaadora nuvem de fumaa.
No entanto, eles deslocam o sentido posto em TO atravs de estabilidade monetria que
germinou sob os auspcios do Real o que significa admitir que o real trouxe estabilidade
econmica e, portanto, foi bom para o pas e produzem sentidos diferentes atravs de: essa
ameaa se edificou com a criao do real e a insistncia em manter a estabilidade dessa moeda e
por causa do plano Real tudo comeou a mudar, talvez piorou o que significa admitir que,
embora tenha gerado estabilidade econmica, o Real no trouxe os benefcios que deveria ter
trazido.
Os sentidos se deslocam, por conseguinte. E vo na direo contrria dos sentidos produzidos
pelo sujeito-autor de TO, ou seja, revelam a assuno de posies-sujeito diferentes em uma mesma
FD.
277
3.3.3.1 Recorte 7: algumas consideraes
Tambm esse recorte, como foi possvel perceber, revela outros deslizamentos de sentido
em relao a TO, ou seja, aponta a identificao dos sujeitos-leitores com uma posio-sujeito
diferente daquela assumida pelo sujeito-autor de TO e com uma posio-sujeito assumida por
outros leitores.
Esses deslizamentos de sentido, de forma distinta do que acontece em TO e nos demais
recortes, revelam um tipo de leitor que se identifica com os menos favorecidos e com as minorias,
justificando aquelas aes que so criticadas por outros leitores e pelo prprio sujeito-autor de TO.
Assim, este recorte tambm estabelece com TO uma relao de parfrase discursiva, ou
seja, revela um processo discursivo da leitura em que ocorrem deslizamentos de sentido o que
implica falar na assuno de uma nova posio-sujeito dentro de uma mesma formao
discursiva.
3.3.4 Leitura e Reescritura: o espao dos deslizamentos de sentido
Esta seo, como pudemos constatar, rene trs recortes discursivos recortes 5, 6 e 7 que
revelam deslizamentos de sentido em relao a TO.
No recorte 5, esto reunidas as seqncias discursivas que refletem um deslizamento de
sentido que vai na direo de uma identificao dos leitores com o poder e com a manuteno da
ordem.
No recorte 6, esto reunidas as seqncias discursivas que revelam a identificao dos
leitores com o discurso do conformismo e da aceitao.
Finalmente, no recorte 7 encontramos as seqncias discursivas que refletem a identificao
dos leitores com aqueles que so menos favorecidos, com aqueles que representam as minorias que
se insurgem contra o poder que se impe de forma autoritria, desrespeitando os direitos daqueles
que no tm esse poder.
Quando admitimos que essa seo revela deslizamentos de sentido, estamos afirmando,
conseqentemente, que os sujeitos-leitores, ao reescreverem TO, no permanecem apenas no nvel
do mesmo, mas que comeam a introduzir, nos textos que produzem, tambm o diferente.
Dito de outra forma: estamos considerando que esses sujeitos-leitores assumem posiessujeito diferentes daquela assumida pelo sujeito-autor do texto-origem, mas que se inscrevem na
mesma formao discursiva desse sujeito. por isso que fazem deslizar os sentidos, mas no os
transformam.
278
Podemos considerar, assim, que esses leitores tambm realizam gestos interpretativos, ou
seja, movimentos de interpretao que, embora faam deslizar os sentidos produzidos em TO, no
os transformam.
Estamos ento, mais uma vez, assim como aconteceu na anlise dos textos sinalizados, no
domnio da reescritura, ou seja, de um processo discursivo de leitura que desloca sentidos j
postos, mas dentro de uma mesma formao discursiva.
No processo da reescritura dos textos no-sinalizados, de forma semelhante ao que
acontece na reescritura dos textos sinalizados, os sujeitos-leitores no se limitam a reformulaes
da materialidade lingstica, mas passam a agir ativamente com o interdiscurso.
isso que nos permite dizer que as reescrituras se constituem em parfrases discursivas,
isto , em parfrases em que o interdiscurso, pelo processo discursivo da leitura, se atravessa no
intradiscurso.
Como pudemos perceber pelas anlises, esse atravessamento do interdiscurso se d, muitas
vezes, pela entrada dos leitores em TO atravs de metforas, negaes enunciados divididos.
isto que nos permite reconhecer as metforas, as negaes, as indeterminaes e os
enunciados divididos como marcas discursivas. Quer dizer: so marcas que so produzidas pelo
sujeito-autor, e que, embora no sejam por ele sinalizadas como acontece com os sinais de
pontuao (reticncias e interrogao), que sinalizam, para os leitores, lugares de acesso a TO so
percebidas e interpretadas pelos sujeitos-leitores, que, a partir delas, deslocam
sentidos j
produzidos.
Isso nos mostra claramente que tais marcas no possuem um sentido, mas que adquirem
sentido na formao discursiva em que se inscreve o sujeito que as produz. por isso que diferentes
sujeitos lem de maneira distinta a mesma marca discursiva produzida em TO, mantendo o seu
sentido (como vimos acontecer no recorte 4), ou fazendo esse sentido deslizar (como vimos
acontecer nos recorte 5,6 e 7).
Tais marcas discursivas, desse modo, so representaes determinadas pelo interdiscurso e
denunciam, no processo discursivo da leitura, a tomada de posio dos sujeitos-leitores, mostrando
se eles aceitam essas representaes ou se deslocam o seu sentido.
Podemos dizer ento, como j o fizemos anteriormente, que, nessas parfrases aqui
examinadas, o interdiscurso se projeta no intradiscurso, sendo tal projeo que conduz s
reescrituras e aos deslocamentos de sentido.
Essa projeo, que se d sobre o efeito-texto criado pelo sujeito-autor de TO, introduz, nos
novos textos, outros efeitos de sentido, diversos daqueles encontrados em TO. Quer dizer: o efeitotexto reconstrudo pelos leitores.
279
Deste modo, enquanto na releitura os sujeitos-leitores apenas repetem o texto-origem, lendo
a realidade atravs dos olhos do sujeito-autor, na reescritura os leitores produzem sentidos que
divergem dos sentidos produzidos em TO, embora no cheguem a contrapor-se a eles.
A reescritura, assim, constituindo-se em um redizer de TO, estabelece um processo
histrico-discursivo diferente do revelado pelo sujeito-autor, o que corresponde a um diferente
trabalho da memria discursiva.
Podemos reafirmar ento a posio adotada na anlise dos textos sinalizados e dizer que
temos aqui uma repetio discursiva (em sentido restrito).
Tomando os termos de Pcheux (1988), quando o autor examina os desdobramentos que a
interpelao do sujeito pode ocasionar, estamos, da mesma forma que constatamos na anlise dos
textos sinalizados,
no campo daquilo que ele denomina de desidentificao do sujeito da
enunciao com o sujeito universal da FD.
Essa relao de desidentificao leva a um deslocamento da forma-sujeito, mas no sua
anulao. E essa desidentificao que permite aos leitores discordar do sujeito-autor, mas no
contrapor-se a ele.
Isto significa, em outras palavras, que os sujeitos-leitores assumem uma posio-sujeito
diferente da assumida pelo sujeito-autor e que, ao fazer isso, fazem deslizar os sentidos j postos.
Esse deslizamento, contudo, no suficiente para causar uma ruptura, uma transformao dos
sentidos produzidos em TO, e, portanto, a desidentificao com a forma-sujeito no chega a
ocasionar a mudana de formao discursiva.
Podemos ento dizer, mais uma vez, que, nas reescrituras, os sujeitos-leitores exercem a
posio-leitor, o que significa dizer que eles no se restringem a dizer de novo, com outras
palavras, o que o sujeito-autor j havia dito, mas que passam a introduzir novos sentidos, ou seja,
passam a fazer deslizar os sentidos que o sujeito-autor havia produzido no texto-origem. Isto
significa, em outros termos, que os leitores identificam-se com uma posio-sujeito diferente da do
sujeito-autor.
Ao produzirem tais deslizamentos, esses sujeitos-leitores assumem tambm uma posioautor, ou seja, mudam de posio-sujeito, passam a assumir como suas as palavras do
interdiscurso e as projetam sobre a materialidade textual que, ilusoriamente, tem TO na sua origem.
O grau de autoria da reescritura, portanto, da mesma forma que o verificado nas
reescrituras dos textos sinalizados, um grau intermedirio, ou seja, um processo de autoria
em que os sujeitos-leitores assumem uma posio-sujeito diferente da do sujeito-autor, mas
permanecem na mesma FD.
280
Utilizando, mais uma vez, os termos de Foucault (1982:64), diramos que esse lugar de
deslizamentos de sentido o espao da reatualizao.
Por reatualizao, entendemos ento esse processo de leitura que produz, na mesma FD,
mudana de posio-sujeito e, conseqentemente, deslizamentos de sentidos em relao aos
sentidos produzidos em outro discurso, o do texto-origem.
3.4 LEITURA E ESCRITURA: DA POSIO-AUTOR AO EFEITO-AUTOR
Esta seo constituda por seqncias discursivas que evidenciam rupturas de sentido em
relao ao texto-origem. Tais rupturas revelam a inscrio do discurso dos leitores em outro
domnio de saber, ou seja, em outra formao discursiva, distinta da FD do autor.
Essa seo, assim, o espao das transformaes de sentido, o que nos permite falar tambm
em assuno de diferentes posies-sujeito, s que, desta vez, inscritas em outro domnio de saber,
em outra FD.
Constatamos que os sujeitos-leitores, ao reescrever TO, produzem rupturas em duas direes
diferentes, o que nos revela a inscrio desses leitores em duas outras formaes discursivas,
distintas daquela em que se inscrevem o sujeito-autor de TO e outros leitores desse texto.
Vejamos ento.
3.4.1 Uma formao discursiva conservadora
Nesta seo, reunimos seqncias discursivas que revelam a inscrio dos sujeitos-leitores em
uma formao discursiva diferente daquela em que se inscreve o sujeito-autor de TO.
Aqui, o que pode e deve ser dito , por exemplo, que a populao responsvel por seus
prprios infortnios e pela desordem social que se instalou no pas.
Uma tal viso da sociedade conduz os leitores a sugerirem solues bastante radicais e
equivocadas.
Por isso, denominamos esse espao de FD conservadora.
Os efeitos de sentido produzidos constituem, para ns, o oitavo recorte discursivo, no qual
analisamos as seqncias discursivas, reunidas em blocos discursivos.
3.4.1.1 Recorte 8: a inscrio no discurso da ordem social
281
Este recorte o espao das rupturas de sentido que produzem efeitos de sentido que revelam a
identificao desses leitores com o discurso da manuteno da ordem na sociedade e,
conseqentemente, a identificao com uma concepo negativa sobre aqueles que, de alguma
maneira, perturbam essa ordem.
BLOCO 1 :
TO: ... o Movimento dos Sem-Terra, que expande ondas de presso e violncia por 20 Estados... Os sem-terra
querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto exagerando quando invadem prdios pblicos. Um
Estado democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Mas no se pode esquecer que eles
agem em funo de uma causa.
NOVOS TEXTOS:
Sd97: Infelizmente, o nosso pas se transformou no bero da desordem e da impunidade. Os sem-terra, como o
nome diz, no tm terras para trabalhar, fazem movimentos desordeiros e o pior que so comandados por
pessoas que nem so to pobres assim, pois j foi comprovado que muitos deles possuem terras, carros e at
criao de animais.
Sd98: Para mim, nosso pas mais parece um vulco em pronto estado de erupo, e os movimentos dos semterra nada mais do que um abuso a um pas desgovernado, e encontra-se atrs dos sem-terra gente muito bem
esclarecida e com interesses muito maiores do que os alegados, esse movimento nada mais do que um jogo de
interesses. Concordo que se troque terra improdutiva (e entenda-se por terra improdutiva aquela terra que no
ou ainda no foi trabalhada) por mo-de-obra qualificada, d-se auxlio a essa gente e que cobrem tambm o
fruto dessa terra. O que eu no concordo que cada cidado pague seus impostos e um grupo desses invada
terras e propriedades em nome de um movimento e exijam terras, mesmo que para tanto tenham que submeter-se
a perder a vida e das suas crianas. Que pas esse? Onde iremos parar e, quando a panela de presso explodir e
esse vulco entrar em erupo, ento juntaremos os cacos que sobrarem e comearemos tudo de novo. Por que
no prevenir agora?
Este bloco nos mostra que os sujeitos-leitores entram em TO por este enunciado que fala
sobre os sem-terra e que, atravs dele, saem para o interdiscurso, de onde retornam para produzir
seus textos com saberes que acabam por dizer aquilo que no chegou a ser dito em TO.
Como j tivemos oportunidade de afirmar, h, em TO, um enunciado dividido (Exageram
quando invadem prdios pblicos, mas agem em funo de uma causa), em que se associam
saberes em conflito, que remetem a FDs diversas. Como j dissemos, embora introduza, atravs da
conjuno, o enunciado agem em funo de uma causa, o sujeito-autor marca sua posio-sujeito,
que no de simpatia para com os sem-terra, ou seja, que de identificao com a primeira parte do
enunciado, que assegura a manuteno da ordem.
Vimos tambm, nos recortes anteriormente analisados, os sujeitos-leitores mobilizarem os
dois enunciados e identificarem-se mais ou com a primeira parte do enunciado dividido (o que
caracteriza o deslizamento e a identificao com a mesma posio-sujeito do autor) ou mais com a
segunda parte do enunciado (o que caracteriza o deslizamento e a identificao com uma posiosujeito diferente da do sujeito-autor), mas sempre permanecendo na mesma formao discursiva do
autor.
Neste recorte a situao diferente. Podemos perceber que esses sujeitos-leitores no
mobilizam mais a segunda parte do enunciado (agem em funo de uma causa), mas passam a
282
identificar-se totalmente apenas com a segunda parte (exageram quando invadem prdios pblicos).
a partir desse enunciado que eles produzem sentidos que identificam o movimento dos sem-terra
impunidade, a abuso, a jogo de interesses e seus integrantes passam a ser caracterizados como
desordeiros.
Na nossa concepo, esses leitores identificam-se to fortemente com a primeira parte do
enunciado dividido mobilizado pelo sujeito-autor, que acabam por dizer aquilo que l no chega a
ser dito, e, com isso, mudam de formao discursiva.
Assim, enquanto em TO o enunciado dividido revela um discurso politicamente correto,
nesses textos, os leitores, ao se identificarem apenas com uma parte do enunciado, do claras pistas
da transformao de sentido, uma vez que no vem nada de positivo, mas s de negativo, nos
movimentos sociais. Para esses leitores, tais movimentos no devem ter lugar, pois funcionam como
combustvel que vai fazer detonar a ordem social e a prpria sociedade.
Novamente constatamos, assim, que o enunciado dividido funciona como marca nesse
discurso, sendo lugar de movimentao de sentidos.
Note-se ainda, na sd97, em pessoas que nem so to pobres assim..., que, pela negao, o
sujeito-leitor traz para seu discurso o discurso-outro, o j-dito: os sem-terra devem ser pobres, j
que esto reivindicando terras. Ao negar isso, o sujeito-leitor desqualifica essas pessoas e sua causa.
Essa desqualificao ento reafirmada na segunda parte do enunciado: ... pois possuem terras,
carros, e at criao de animais. O emprego do advrbio de intensidade at significativo, na
medida em que coloca em evidncia, justamente para desqualificar, o fato de os sem-terra
possurem criao de animais, pois isso pressupe ter bens, patrimnio, no ser necessitado e
desprovido da sorte. Com isso, o sujeito-leitor refora sua posio e diz que os sem-terra so
desordeiros.
Na verdade, mudam aqui as condies de produo do dizer: o sujeito-autor de TO um
professor universitrio, que se predispe a escrever de forma sria em um jornal como a Zero
Hora, que no assume uma posio contra o governo e, por conseqncia, no apia os atos dos
sem-terra; sob tais condies, no se deve dizer certas coisas. J os estudantes, livres dessas
determinaes, e livres at mesmo do julgamento/ avaliao de um professor, podem se dar ao luxo
de dizer o que desejam, o que sentem, revelando a FD com que se identificam.
Na nossa perspectiva, o fato de ficarem libertos de certos sinais discursivos (estamos
fazendo referncia aos sinais de pontuao reticncias e interrogao) contribui tambm para que
possam fazer outros gestos de interpretao e consigam pular para outra formao discursiva.
BLOCO 2:
283
TO: As chacinas em srie nas grandes cidades, as rebelies de menores na Febem, em So Paulo, e os assaltos
que se multiplicam por toda a parte se devem, ainda, fragilidade das polticas pblicas.
NOVOS TEXTOS:
Sd99: Temos os menores da Febem, uma massa de moleques de rua, que passam o dia confinados em quatro
paredes sem ter o que fazer e, quando arrumam, o resultado tudo quebrado e queimado, mas quem paga no
so eles, com o suor do trabalho, e sim os trabalhadores, que mal sustentam seus filhos, mas pagam os impostos
para sustentar esses malandros.
Podemos perceber, nesse bloco discursivo, que o sujeito-leitor identifica-se com uma posiosujeito a partir da qual ele analisa os menores da Febem.
Note-se que essa posio inscreve-se em uma FD diferente da FD em que se inscreve o dizer
de TO, pois, embora em o sujeito-autor no demonstre apoio a esses menores, reconhece que suas
rebelies so uma conseqncia da fragilidade das polticas pblicas. No h nada em TO, porm,
que nos permita ler o sentido que lemos aqui: que os menores da Febem so malandros, moleques
de rua que no tm o que fazer. E no haveria lugar para esse dizer na FD em que se inscreve o
autor. Como j ressaltamos, a FD em que ele se inscreve a do politicamente correto, em que no
se deve, ou no convm, dizer determinadas coisas.
O dizer desses estudantes, portanto, sai dessa FD e migra para outra, onde se pode dizer tudo
isso.
BLOCO 3:
TO: A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de autoridade. Ela aumenta
suas taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos. As conseqncias so graves para
a democracia brasileira. A insatisfao acaba abrigando movimentos contestatrios com feio autoritria, sob a
complacncia social. Ou seja, a populao, por falta de crena na autoridade constituda, sente-se motivada a
apoiar lideranas ou movimentos que ultrapassam os limites legais para defender seus interesses.
NOVOS TEXTOS:
Sd100: Nosso pas , at pouco tempo, vivia sob forte represso, proveniente do regime militar. A ditadura era a
chave-mestra de um regime autoritrio. O Brasil perdeu-se quase por completo a partir do momento em que a
democracia foi considerada como modelo de governar, dando liberdade aos governados, ou seja, o povo expressa
seus sentimentos e opinies quase sem censura. Antigamente claro que na poca da ditadura militar o povo
era coibido de certos tipos de manifestaes pblicas, sofrendo inclusive punies se seus atos ferissem as
regras estipuladas pelos governantes ditadores. Aps esse regime militar, com a instaurao da democracia, o
que parecia ser um grande passo para o progresso, comeou a gerar momentos de ingovernabilidade. O povo no
estava preparado para fazer uso dessa democracia, e a conseqncia disso a crise que atualmente vive o Brasil.
Democracia? Sim, quando usada com sapincia traz excelentes resultados vida da sociedade. Mas, quando
usada inescrupulosamente, sem limites, traz somente tristezas e a degradao de um povo.
Sd101: Tendo o Brasil sado recentemente de um longo perodo de ditadura militar, vivemos hoje sob um
regime democrtico capenga. A democracia se apresentou como o caminho que poria fim corrupo e
violncia, e efetuaria uma distribuio de renda mais justa. O que temos visto, no entanto, o crescimento do
fosso entre os mais ricos e os mais pobres. o recrudescimento da violncia e a instituio da Lei de Gerson. As
CPIs acabam em pizza e, quando um colarinho branco preso, logo solto. A democracia conviver com o
furto novo com desculpas velhas. Eu quero a ditadura de volta, porque a barriga no pode esperar e a ditadura
um regime de exceo para se constituir um estado melhor.
Neste bloco discursivo, vemos que os sujeitos-leitores entram em TO por esse enunciado que
fala em democracia e, por ele, saem para o interdiscurso, de onde, pela prtica discursiva da leitura,
retornam para produzir seus textos inscritos em uma FD diferente daquela em que se inscreve o
sujeito-autor de TO.
284
Assim, duas formaes discursivas so postas em contraste nesse discurso quando os leitores
falam em democracia. Uma FDX, em que a democracia vista como um regime que d liberdade
aos governados, em que o povo expressa suas opinies quase sem censura, como um caminho para
pr fim corrupo e violncia, para uma distribuio de renda mais justa, como um sistema que
traz excelentes resultados para a sociedade. Mas h uma outra FD, a FDY, em que a democracia
considerada como sinnimo de ingovernabilidade, de crise, de tristeza e degradao de um povo,
como um meio de crescimento do fosso entre ricos e pobres, de recrudescimento da violncia,
como instituio da lei de Gerson, como furto novo com desculpas velhas.
Por sua vez, a ditadura tambm concebida a partir de formaes discursivas diferentes. Em
uma FD, a FDX, a ditadura um regime autoritrio, sinnimo de represso, censura, regras,
punies, proibies de manifestaes pblicas. Na outra FD, a FDY, a ditadura um regime de
exceo para um Estado melhor.
Esses sujeitos-leitores, como podemos perceber, inscrevem-se na FDY, em que o que pode e
deve ser dito que a democracia um regime de governo que gera a tristeza e a degradao de um
povo, enquanto a ditadura um regime de exceo para um Estado melhor.
Na nossa perspectiva, embora no se inscreva nessa FD, TO revela o discurso de um sujeito
que assume uma posio ideolgica que possibilita que os leitores leiam o texto assumindo essa
posio. Isto se d pelo vis das pistas presentes no texto e das marcas (como os enunciados
divididos) que convidam os leitores a tomar posio.
Assim, por exemplo, a aluso desordem causada pelos movimentos de contestao, entre
eles o MST, e que a retomada de um discurso da poca do regime militar, acaba levando o leitor,
na sd101, a dizer: eu quero a ditadura de volta.
Trata-se, pois, de um processo discursivo de leitura diferente dos realizados pelos outros
leitores de TO, e da inscrio em uma FD bastante conservadora.
3.4.1.2 Recorte 8: algumas consideraes
Este recorte discursivo nos revela sujeitos-leitores que, ao reescreverem o texto-origem,
produzem efeitos de sentido diferentes daqueles verificados em TO e nas reescritas anteriormente
analisadas.
Tais efeitos de sentido constroem a imagem de leitores que se preocupam muito com a
manuteno da ordem na sociedade, o que os leva a articularem conceitos pr-estabelecidos e
julgamentos unilaterais.
285
Assim, podemos dizer que esses leitores rompem com o sentido estabelecido em TO, j que
eles se inscrevem em uma FD diferente da FD em que se inscreve o sujeito-autor e tomam
posies.
interessante observar que, em TO, o que move o autor o medo dos regimes autoritrios,
para os quais no deseja retornar. Nesta medida, os movimentos contestatrios representam uma
ameaa que pode conduzir a esse retorno. Ao reescreverem TO, esses leitores acabam por fazer
justamente o movimento oposto: os movimentos contestatrios so sndrome de mal-estar social e,
para resolver essa situao, preciso voltar ditadura.
Assim, podemos dizer que acontece aqui um processo de escritura, ou seja, um processo
discursivo de leitura que provoca fortes movimentos de transformao e ruptura de sentidos.
Isto nos permite reconhecer nesse recorte um efeito-autor, isto , um processo de leitura em
que o leitor, pela tomada de posio, se desidentifica com a FD do autor. Ao desidentificar-se com
essa FD, identifica-se com outra FD, com outra forma-sujeito, com outra posio-sujeito.
Neste sentido, podemos falar em parfrase interdiscursiva entre TO e os textos analisados
nesse recorte, ou seja, em uma parfrase em que o interdiscurso se atravessa e se interpe na leitura
de tal forma que o dizer, transformado, no cabe mais na formao discursiva que, ilusoriamente,
lhe deu origem, e precisa deslocar-se para outra formao discursiva.
3.4.2 Uma formao discursiva no-conservadora
Nesta seo, reunimos seqncias discursivas que tambm revelam a inscrio dos sujeitosleitores em uma formao discursiva diferente daquela em que se inscreve o sujeito-autor de TO.
Aqui, porm, o que pode e deve ser dito muito diferente dos dizeres que constatamos no
recorte anterior, pois encontramos leitores que fazem um exame mais crtico de toda a situao
social, despindo-se de preconceitos e pr-julgamentos.
uma outra viso da sociedade, portanto, que conduz os leitores a buscarem solues com
vistas a uma sociedade mais justa e menos desigual. Por isso, denominamos esse espao de FD
no-conservadora.
Os efeitos de sentido produzidos pela inscrio nessa FD, no entanto, revelam a assuno,
pelos sujeitos-leitores, de duas posies-sujeito um pouco distintas. E esse fato que nos leva
construo de mais dois recortes discursivos: o recorte 9 e o recorte 10.
286
3.4.2.1 Recorte 9: a suave inscrio no discurso dos menos favorecidos
Este recorte nos revela leitores que, ao se inscreverem em uma FD diferente da do sujeitoautor de TO, o fazem de uma maneira que denominamos de suave, o que para ns representa uma
inscrio menos radical do que aquela que vamos constatar no recorte 10.
BLOCO 1 :
TO: H uma grande fogueira sobre o solo ptrio, construda com as melhores lenhas da fogueira ... a enorme
insatisfao das classes mdias com a deteriorao dos servios pblicos...
NOVOS TEXTOS:
Sd102: Os servidores pblicos esto se tornando uma raa em extino, cada vez mais diminui o padro de
vida dessa classe, pois h seis anos sobe vergonhosamente o custo de vida, e os salrios desses continuam
sempre congelados, mesmo com o salrio mnimo passando por subas; e o que ainda pior, sofrem cortes de
verbas, pois lhe so tirados percentuais de causas ganhas judicialmente.
Sd103: Os funcionrios pblicos esto revoltados, porque seus salrios esto congelados h seis anos e s so
reajustados os salrios dos governantes, como se as coisas s subissem para eles.
Neste bloco discursivo, podemos notar que os leitores, ao escreverem seus textos, deslizam de
servios pblicos para servidores pblicos ou por funcionrios pblicos.
Isto denota, em relao ao texto-origem, um deslizamento de sentido que vai em uma direo
contrria posio assumida pelo sujeito-autor de TO. Ou seja: ao fazer essa mudana, os sujeitosleitores afastam-se do sentido j produzido, pois o lugar de onde fala o sujeito-autor o de quem
assume que os servios pblicos esto deteriorados e talvez devam ser privatizados, e, portanto, no
um lugar de defesa dos servidores pblicos. E justamente essa posio-sujeito que os leitores
ocupam.
Tais seqncias, portanto, revelam uma identificao dos leitores com os servidores pblicos,
e no isso que constatamos em TO.
Nestes termos, possvel falar em um deslizamento de sentidos to intenso que faz com que
os leitores mudem de FD em relao ao sujeito-autor. Na verdade, esses leitores so contra falar dos
servios pblicos, porque so contra a poltica de privatizao e contra a poltica de sucateamento
do servio pblico.
Estamos em outra FD, portanto.
BLOCO 2:
TO: As massas dispersas agem e reagem em funo do impacto sobre elas. Acionam o instinto de
sobrevivncia quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao e
formadores de opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em funcionamento
sua capacidade organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a violncia, que fruto da
misria social que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade social, que, por sua vez,
decorrente de um sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de oportunidades. O dado recente: o
1% mais rico da populao ganha mais que os 50% mais pobres. Portanto, a situao remete para a
responsabilidade do governo.
NOVOS TEXTOS:
Sd104: Atualmente, ao lermos um jornal ou ligarmos a televiso, deparamo-nos com situaes de extrema
violncia, em todos os mbitos da sociedade. Os cidados, em geral, esto mergulhados nessa situao. Isto se
deve, na maioria das vezes, disparidade social, ou seja, nem todos tiveram ou esto tendo as mesma
287
oportunidades. Assim, enquanto uma pequena parcela da sociedade retentora de verdadeiras fortunas, os
demais vivem , digo, sobrevivem em situaes altamente precrias. Esta falta de igualdade de oportunidades
gera graves problemas sociais, como a mo-de-obra despreparada, que no consegue acompanhar as exigncias
do mercado. Desta forma, surge o desemprego, fator de maior influncia nessa cadeia, pois uma pessoa que no
consegue se manter de forma digna estar fortemente predisposta a envolver-se em situaes de violncia. a lei
do mais forte!
Como podemos perceber, esse sujeito-leitor entra em TO por esse enunciado e, atravs dele,
produz o seu texto, no qual vemos ressoar, no intradiscurso, termos como violncia, disparidade
social. No entanto, nesta sd104 ocorre uma identificao com uma posio-sujeito diferente daquela
assumida pelo sujeito-autor, na medida em que o sujeito-leitor passa a demonstrar simpatia pelo
povo, ou seja, por aqueles que sofrem o arrocho salarial oriundo da misria social, da m
distribuio de renda. isso que o leva a afirmar coisas como a lei do mais forte, referindo-se a
necessidade que leva as pessoas a tornarem-se predispostas a envolverem-se em situaes de
violncia.
Deste modo, o sujeito-leitor identifica-se com uma posio-sujeito diferente daquela com a
qual se identifica o sujeito-autor de TO, e, ao assumir tal posio, provoca uma ruptura em relao
aos sentidos produzidos no texto-origem.
Esse movimento de afastamento de TO, na nossa perspectiva, pode ser traduzido como um
deslizamento de sentidos muito intenso. To intenso que no pode ser mais denominado de
deslizamento; para ns, portanto, esse deslizamento passa a representar um movimento de deriva
dos sentidos. Assim, ao inscrever-se, de forma suave e no muito radical, em uma FD diferente
daquela em que se inscreve o sujeito-autor de TO, o leitor rompe com os sentidos ali produzidos e,
nesse movimento to forte de afastamento, provoca a deriva desses sentidos.
Podemos falar, portanto, em parfrase interdiscursiva, ou seja, em deriva de sentidos, com
atravessamento do interdiscurso no processo da leitura.
BLOCO 3:
TO: A violncia grassa nas cidades. O desemprego tem muito a ver com isso. Portanto, a poltica monetarista,
comandada a ferro e fogo pelo xerife da economia, Pedro Malan, sob a aprovao de Fernando Henrique
Cardoso, tem relao direta com a violncia e o estado de insegurana social.
NOVOS TEXTOS:
Sd105: A vida de milhares de famlias pobres do Brasil est se transformando num caos. Tudo por causa dos
governantes responsveis pela atual crise de desemprego no pas. difcil a rotina de um chefe de famlia que
mora numa pequena casa alugada, tem filhos e vive desempregado. Como esse homem, existem muitos
espalhados pelo pas e para sobreviverem e garantirem o dinheiro para seu sustento so capazes at de roubar,
entrarem para a marginalidade, e isso que acontece nos bairros mais pobres das grandes cidades. Em
conseqncia desse triste fim das famlias brasileiras que se originam os crimes como os seqestros e os
assassinatos. Est bem claro que a culpa no totalmente da estrutura humilde da famlia, pois existem outros
responsveis. So eles os prefeitos, governadores, e o prprio Presidente da Repblica, que, mesmo eleitos pelo
povo, no valorizam e nem criam novas e boas oportunidades de emprego para quem mais precisa.
Sd106: Muitas vezes, motivado pelo desespero, o chefe de famlia deixa seus valores de lado e obriga-se a
cometer certos exageros para garantir a sua sobrevivncia e a de sua famlia. Toda essa violncia, que tanto nos
assusta, nada mais do que o reflexo das diferenas sociais e do descaso que o governo tem em relao ao povo
brasileiro.
288
Em TO, este enunciado, como vimos, encaixa-se perfeitamente no jogo do politicamente
correto, ou seja, o sujeito-autor reconhece que a violncia uma conseqncia do desemprego,
que, por sua vez, conseqncia de uma poltica ineficiente, mas no assume uma posio definida
e clara a favor de um ou contra o outro.
Aqui, os leitores deixam de lado esse jogo da falsa neutralidade, retomam o sentido posto em
TO (o que os leva a dizer que o Brasil est um caos por causa dos governantes, que existem
diferenas sociais, que o governo tem descaso em relao ao povo, etc.) e assumem uma
identificao com o povo (o que os leva a falar em sobrevivncia, a admitir que o chefe de famlia
s vezes precisa roubar para o sustento, a deixar bem claro que a culpa no da estrutura humilde
da famlia, a dizer que o chefe de famlia obriga-se a cometer certos exageros, etc.).
Note-se que os leitores no assumem uma posio que favorvel ao roubo, aos delitos, mas
uma posio de quem compreende os motivos que levam as pessoas a agirem assim. Nesta medida,
identificam-se com a populao, coisa que o sujeito-autor no faz.
Por isso, podemos falar em deslizamentos de sentido que conduzem a uma mudana de
formao discursiva. E podemos considerar tambm a existncia da parfrase interdiscursiva, ou
seja, de um processo de leitura em que o interdiscurso se atravessa de tal modo que faz derivarem
os sentidos j produzidos.
BLOCO 4:
TO: A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de autoridade. Ela aumenta
suas taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos. As conseqncias so graves para
a democracia brasileira. A insatisfao acaba abrigando movimentos contestatrios com feio autoritria, sob a
complacncia social. Ou seja, a populao, por falta de crena na autoridade constituda, sente-se motivada a
apoiar lideranas ou movimentos que ultrapassam os limites legais para defender seus interesses.
NOVOS TEXTOS:
Sd107: O governo, que, numa tentativa frustrada de comemorar os 500 anos, fez uma festinha particular para os
gringos, barrando na porta os verdadeiros donos da festa, viu o tiro sair pela culatra e acabou colaborando com
alguma munio para que o estopim das manifestaes tivesse seu incio. Com essa atitude, ele tentou mascarar a
realidade, jogando para baixo do tapete o seu fracasso nas polticas sociais e, o mais srio, feriu um dos alicerces
da democracia: tentou tapar a boca dos insatisfeitos. Se no lhes foi permitido falar, houve quem se achou no
direito de quebrar, fazer e acontecer.
Sd108: Desamparado, o povo brasileiro corre em diversas direes e tenta desesperadamente fazer com que seu
grito de medo e dor seja ouvido. Nesse cenrio, encontramos um pas que est ameaado pela violncia, gerada
pela insegurana, pelo medo e pela angstia de no ser ouvido. Dessa forma, milhares de brasileiros tentam
encontrar solues para problemas que no foram criados por eles. A violncia comea a surgir como vlvula de
escape e tambm como nico meio de chamar a ateno para problemas que enfrentamos.
Sd109: Os que se sentem deixados de lado nas polticas sociais vem o governo usar a fora para reprimir as
manifestaes e manter a democracia e acabam sentindo-se no direito de erguer uma bandeira qualquer e sair
sem leno nem documento para a rua, local legtimo da manifestao popular e democrtica.
Neste bloco discursivo, os leitores fazem deslizar os sentidos quando mudam o foco da crtica
(que no texto-origem est sobre os grupos que usam de violncia) para o governo. Esse movimento
conduz a uma outra FD.
289
Assim, os leitores passam a dizer, com um forte tom de crtica, por exemplo: o governo fez
uma festinha particular para os gringos, o governo barrou na porta os verdadeiros donos da festa,
o governo colaborou para que as manifestaes tivessem incio, o governo tentou mascarar a
realidade, o governo jogou para baixo do tapete o seu fracasso nas polticas sociais, o governo
feriu um dos alicerces da democracia, o governo tentou tapar a boca dos insatisfeitos, o governo
usa a fora para reprimir as manifestaes, o governo tenta manter a democracia fora (note-se
nessa expresso o emprego das aspas, que traz para esse discurso o discurso-outro, em que manter
a democracia no usar a fora).
Na mesma proporo que responsabilizam o governo, os leitores passam a tirar a
responsabilidade pela violncia dos ombros daqueles que seriam seus agentes, e passam a produzir
outros dizeres, que vm de outra regio do interdiscurso: se as pessoas no podem falar, acham-se
no direito de quebrar, fazer e acontecer; os que so deixados de lado nas polticas sociais, sentem-se
no direito de erguer uma bandeira e sair para a rua; a rua o local legtimo da manifestao popular
e democrtica.
H a um atravessamento do interdiscurso no processo da leitura que afasta o sentido
produzido do sentido de TO. Assim, ao identificar-se com os insatisfeitos e com sua causa, os
leitores mudam de FD. J no possvel pensar, ento, que esses leitores se identificam com a
posio do autor, a qual foi capaz de gerar discursos que falam em desordem e baderna. O que
temos aqui outra posio-sujeito, produzida em outra formao discursiva.
Assim, vemos tambm o leitor da sd108 retomar de TO o sentido de que o povo se sente
descrente e diz que o povo se sente desamparado; da mesma forma, assim como em TO, cria o
sentido de que esse estado de coisas acaba gerando violncia. Por outro lado, de forma diferente do
que acontece em TO (onde o autor relaciona a violncia a movimentos contestatrios de feio
autoritria e a movimentos que ultrapassam os limites legais), esse leitor justifica a violncia e
passa a produzir sentidos a partir de expresses como tentam encontrar solues, vlvula de escape,
nico meio de chamar a ateno.
Em outras palavras: o leitor identifica-se com uma posio-sujeito de aceitao e, ao mesmo
tempo, de justificativa em relao violncia, embora no a estimule. uma posio-sujeito que
vai na direo contrria posio assumida pelo sujeito-autor de TO, e, por isso, uma outra
posio-sujeito, dentro de uma outra FD.
Mais uma vez, portanto, encontramos leitores que tomam posio, que se inscrevem em uma
FD diferente da do sujeito-autor, pois o seu dizer no pode conviver com uma FD que diz que a
democracia no pode abrigar a luta.
290
3.4.2.2 Recorte 9: algumas consideraes
Neste recorte discursivo encontramos leitores que, ao reescreverem o texto-origem, produzem
derivas de sentido que acabam por ocasionar uma mudana de formao discursiva.
Os sujeitos-leitores revelam uma forte identificao com os menos favorecidos, com o povo.
No entanto, inscrevem-se nessa nova FD de forma no-radical, sem sugerir solues muito
drsticas. Por isso, optamos por dizer que eles rompem com o sentido posto em TO de maneira
suave.
No recorte seguinte, vamos notar que essa inscrio pode acontecer de maneira mais
contundente.
Passemos ento anlise do nosso ltimo recorte discursivo.
3.4.2.3 Recorte 10: a forte inscrio no discurso dos menos-favorecidos
Constatamos aqui uma ruptura de sentidos que vai numa direo bastante prxima, embora
mais radical, da verificada no recorte anterior. Isso constri tambm uma outra imagem de
sociedade, muito menos preconceituosa, e uma outra imagem de leitor, que, por se identificar
fortemente com as classes menos favorecidas e por reconhecer as causas dos problemas brasileiros,
acaba analisando a situao de uma outra maneira.
Vejamos ento.
BLOCO 1:
TO: ... o Movimento dos Sem-Terra, que expande ondas de presso e violncia por 20 Estados... Os sem-terra
querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto exagerando quando invadem prdios pblicos. Um
Estado democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Mas no se pode esquecer que eles
agem em funo de uma causa.
NOVOS TEXTOS:
Sd110: Aventureiros, existem. Sem-terra que nunca viram um pedao de terra, tambm. Mas h a fome. E
outras tantas coisas para mudar! Sabemos que a sada a educao, e a reeducao. Porm, educar um
processo paulatino. O faremos. Mas agora no podemos esperar!
Nesse bloco discursivo, o sujeito-leitor entra em TO pela marca discursiva do enunciado que
fala nos sem-terra e, atravs dele, sai para o interdiscurso, de onde retorna para seu texto
identificando-se com uma nova formao discursiva, diferente da FD com a qual se identifica o
sujeito-autor de TO.
Esse sujeito-leitor, ento, produz uma outra marca discursiva, um outro enunciado dividido,
que pode ser assim representado:
(x) podemos mudar atravs da educao
P=
(y) no podemos esperar
291
Nesse enunciado, (y), atravs da negao, remete ao discurso-outro, em que se tem podemos
esperar, ou seja, remete para o dizer do sujeito-autor, que se nega a aceitar o imprio da desordem
e da ilegalidade e pe nos ombros do governo a responsabilidade de encontrar uma soluo para o
problema.
Este sujeito-leitor, de forma contrria, ao dizer no podemos esperar, inclui-se entre
aqueles que devem achar a soluo, e diz que isso deve ser feito em seguida. O efeito de sentido,
aqui, outro, e remete para aquilo que TO refuta: a conquista dos direitos, mesmo que isso possa
ferir a ordem.
O emprego desse ns nos faz lembrar Benveniste (1991), quando o autor, estudando as
relaes de pessoa no verbo, ressalta que, na grande maioria das lnguas, o plural pronominal no
coincide com o plural nominal. Afirma Benveniste: Se no pode haver vrios eus concebidos
pelo prprio eu que fala, porque ns no uma multiplicao de objetos idnticos, mas uma
juno entre o eu e o no-eu, seja qual for o contedo desse no-eu. A presena do eu
constitutiva do ns (Benveniste, 1991:256).
A partir dos estudos de Annie Geffroy (1985:6), no entanto, essa viso se amplia, quando a
autora afirma que o ns a primeira encarnao lingstica do mais de um, passando a
relacion-lo aos problemas do lugar social e da passagem do sujeito falante para sujeito poltico, e a
v-lo como lugar de ideologia.
Geffroy considera ento a existncia do ns inclusivo em que o eu se faz presente e do ns
exclusivo do qual o eu no participa.
Indursky (2000b), analisando o discurso sobre o MST, examina a funo desse ns,
mostrando que essa a forma de representao do sujeito poltico: enunciar ns de forma
inclusiva, elegendo a si e aos seus representados, como o que constitui a referncia a esse ns.
O emprego da primeira pessoa do plural, portanto, marcante nessa seqncia, pois mostra
que o leitor, ao incluir-se entre aqueles que devem mudar a situao do pas o povo atesta sua
plena identificao com esse povo e com sua luta.
Trata-se ento de um rompimento com o sentido estabelecido e, portanto, de uma outra
formao discursiva.
BLOCO 2:
TO: As massas dispersas agem e reagem em funo de impactos sobre elas. Acionam o instinto de
sobrevivncia quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de mobilizao e
formao de opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em funcionamento sua
capacidade organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a violncia, que fruto da
misria social que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade social, que, por sua vez,
decorrente de um sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de oportunidades. O dado recente: o
292
1% mais rico da populao ganha mais que os 50% mais pobres. Portanto, a situao remete para a
responsabilidade do governo.
NOVOS TEXTOS:
Sd111: Vivemos em um pas cujo sistema poltico-administrativo diz ser democrtico, quando, na verdade,
um sistema ditatorial e elitista, no qual a grande maioria da populao no tem as mnimas condies de ter uma
vida digna, tais como: sade, alimentao, habitao e educao direitos assegurados por lei que so
diariamente desrespeitados no tendo tambm o direito de participar de maneira significativa das decises do
alto escalo de Braslia. O que acontece que em um pas democrtico, ironicamente, um pequeno grupo
decide o destino da populao, sem muitas vezes sequer conhec-la.
Sd112: Vivemos em um pas democrtico. Ser mesmo? No sei precisar h quanto tempo escuto essa palavra
democracia da qual possvel subentender-se liberdade de expresso, direito ao voto, igualdade social e
vrios outros significados que, de acordo com o ideal de cada um, acabam se atrelando a ela. , certamente
cresci numa sociedade democrtica, onde todos deveriam ser iguais perante a lei, onde no haveria
desemprego, fome, falta de moradia, onde a polcia exercesse seu papel e no teramos por a tanta
marginalidade, assaltos, fugas e rebelies de presos. (...) Resultados, sim, da no-democracia.
Sd113: Se refletirmos um pouco, parece que a nossa democracia (que deveria assegurar direitos iguais a todos)
tem apenas ttulo, escondendo sistemas antigos de governo, onde o ru tirano e a nobreza vivem s custas do
sacrifcio de muitos.
Esse bloco nos mostra que os sujeitos-leitores entram por esse enunciado em TO e retomam a
idia que relaciona sistema democrtico a igualdade de oportunidades. isso que lhes permite falar,
por exemplo, em direitos assegurados por lei, igualdade social, direitos iguais a todos, todos iguais
perante a lei. No entanto, esse mesmo enunciado que lhes proporciona, ao mesmo tempo,
produzir outros dizeres: a grande maioria da populao no tem as mnimas condies de ter uma
vida digna, os direitos assegurados por lei so diariamente desrespeitados, um pequeno grupo
decide o destino da populao, h desemprego, fome, falta de moradia, marginalidade, assaltos,
fugas e rebelies de presos.
Com isso, os sujeitos-leitores mudam de posio-sujeito e de FD, pois aqui eles passam a
identificar-se com o povo e no com o governo e, desta maneira, deixam de identificar-se tambm
com TO e de inscrever-se na formao discursiva do sujeito-autor daquele texto.
Assim, esses leitores tornam-se mais crticos ao falar em democracia e deslizam o sentido
produzido em sistema democrtico incapaz,
colocando em dvida
(Vivemos em um pas
democrtico. Ser mesmo?), ou negando (no-democracia, esconde sistemas antigos de governo,
sistema ditatorial e elitista) a existncia da democracia no Brasil.
Desta forma, criam um lugar de questionamento, lugar que inexiste em TO, pelo menos em
relao ao governo, pois, se existe questionamento em TO, para pr em questo as aes do povo
e dos menos-favorecidos, que acendem uma fogueira no pas com suas demandas.
Desse modo, o processo discursivo da leitura rompe, mais uma vez, os sentidos, e estabelece
uma parfrase interdiscursiva entre o texto-origem e as suas reescritas, na medida em que os leitores
transformam o sentido j posto, identificando-se plenamente com uma das posies-sujeito
mobilizadas pelo sujeito-autor de TO.
BLOCO 3:
293
TO: As conseqncias so graves para a democracia brasileira.
NOVOS TEXTOS:
Sd114: O caos est crescendo, a violncia, a desigualdade social, mas nada se faz para a reverso de tal quadro,
pois, infelizmente, h quem ganhe com tudo isso. Se refletirmos um pouco, parece que a nossa democracia (que
deveria assegurar direitos iguais a todos), tem apenas ttulo, escondendo sistemas antigos de governo, onde o rei
tirano e a nobreza vivem s custas do sacrifcio de muitos. Enquanto isso, esperamos (e tememos) por novas
revolues e todas as conseqncias que elas trazem.
Podemos perceber, nesse bloco discursivo, que o sujeito-leitor, at certo ponto, retoma o
efeito de sentido produzido em TO. Isto porque, de certo modo, identifica-se com a posio-sujeito
assumida pelo sujeito-autor, quando retoma, por exemplo, atravs de a nossa democracia deveria
assegurar direitos iguais a todos, o sentido produzido em TO por sistema democrtico incapaz de
proporcionar igualdade de oportunidades; ou quando reescreve o enunciado o 1% mais rico da
populao ganha mais que os 50% mais pobres como o rei tirano e a nobreza vivem s custas
do sacrifcio de muitos.
Com isso, o sujeito-leitor introduz o mesmo ( produzido em TO) em seu texto e em seu
discurso. No entanto, o leitor rompe com o sentido de TO, e introduz o diferente nesse discurso,
quando produz o enunciado ...esperamos por novas revolues e todas as conseqncias que elas
trazem. Com isso, ele deixa de identificar o povo apenas ao sacrifcio e passa a identific-lo
tambm idia de revoluo.
O sentido de revoluo, em linhas gerais, nos aponta o seguinte: rebelio armada, revolta,
conflagrao; transformao radical e, por via de regra, violenta, de uma estrutura poltica,
econmica e social; qualquer transformao violenta de uma forma de governo(cf. Novo
Dicionrio Aurlio, 1986:1507).
A partir da, podemos dizer que esse sujeito-leitor assume uma posio que deseja uma
transformao radical da estrutura poltica, econmica e social do pas, mesmo que essa mudana
precise ser conquistada atravs da revolta ou da violncia. por isso que ele diz tambm que teme
essa revoluo.
Ao produzir esse sentido, o leitor inscreve seu dizer em uma formao discursiva que no
mais a do sujeito-autor, pois, como vimos anteriormente, a soluo, para ele, responsabilidade do
governo, e no dos que incitam a violncia e a quem ele denomina de fogueteiros de planto.
Acontece, portanto, uma ruptura de sentido, que vai na direo oposta da ruptura verificada
em TO e no recorte 8, na medida em que esse dizer no se identifica mais com o discurso da ordem,
mas com o discurso dos menos favorecidos na sociedade.
BLOCO 4:
TO: A violncia grassa nas cidades. O desemprego tem muito a ver com isso. Portanto, a poltica monetarista,
comandada a ferro e fogo pelo xerife da economia, Pedro Malan, sob a aprovao de Fernando Henrique
Cardoso, tem relao direta com a violncia e o estado de insegurana social.
NOVOS TEXTOS:
294
Sd115: Podemos constatar, sem muito esforo, que uma vez que o cidado no possui um emprego que possa
garantir uma vida digna para sua famlia, esse possivelmente precisar encontrar outros meios de faz-lo, j que
no lhe restam alternativas. Sem encontrar outras solues, muitos desses cidados ou partem para o crime, ou
partem para o trfico de drogas, ou partem, simplesmente, para o abandono nas ruas.
Mais uma vez, podemos perceber a mudana de posio-sujeito e de formao discursiva,
pois o leitor se desidentifica totalmente com o governo (que no d emprego que garanta uma vida
digna para o cidado e sua famlia) e passa a se identificar totalmente com os menos favorecidos,
os desempregados, o povo.
essa relao de identificao que lhe possibilita dizer que, ao desempregado, no lhe restam
alternativas, que eles precisam encontrar outros meios (crimes, trfico de drogas, etc.).
Note-se que aqui desaparece a crtica queles que usam esses outros meios, o que no
significa pregar o crime ou o trfico, mas significa reconhecer, admitir e aceitar que so as nicas
alternativas que restam para alguns.
uma posio totalmente diferente da assumida pelo sujeito-autor de TO, e revela leitores
que sofrem uma outra determinao ideolgica e que se inscrevem em uma outra matriz de sentido.
BLOCO 5:
TO: A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de autoridade. Ela aumenta
suas taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos.
NOVOS TEXTOS:
Sd116: O povo todo chora, como choram as crianas, as desgraas deste nosso pas. Este senhor Fernando
Henrique, que se fez presidente, no nada coerente com as necessidades de sua nao. Que fazer? Aceitar
cordatamente que no! E se meios no existem de imediato, por que no invadir, tomar, pilhar? Se a lei se
baseia em desmandos, se aqueles que, pelo sufrgio universal se alaram no direito e que tm por dever
defender os interesses do pas e da coletividade, no o fazem, apenas defendem suas vaidades e suas ganncias,
por que no pode o povo agir por seus meios?.
Sd117: A populao acaba ficando sem referentes, sem exemplos e, sobretudo, fica sem ter a quem se queixar
pelos danos sofridos, descrentes e sem esperanas. A nica coisa que ainda lhe resta sair s ruas e exercer o
direito da democracia. Protestar, reivindicar, exigir seus direitos de sobrevivncia dentro do seu pas.
Sd118: O povo precisa protestar, gritar, manifestar muito mais a sua insatisfao em relao ao governo atual,
para que eles vejam que ns no estamos nem um pouco satisfeitos e nem conseguindo sobreviver desordem e
desigualdade num pas to rico em tudo e to mal administrado.
Neste bloco discursivo, os leitores transformam os sentidos produzidos em TO quando
passam a se identificar com uma posio-sujeito em que aceita aes como invadir, tomar, pilhar,
agir por seus meios, sair s ruas, exercer o direito da democracia, protestar, gritar, reivindicar,
exigir seus direitos, manifestar muito mais a insatisfao.
Quer dizer: para esses leitores, as solues esto justamente onde no esto para o sujeitoautor, que se mostra contrrio violncia, mesmo nos casos em que as pessoas agem por uma
causa.
Essa transformao passa tambm pela desidentificao dos leitores com o governo, que eles
relacionam a desmandos, a vaidades e a ganncias e do qual cobram que deveria defender os
interesses do pas, mas no o faz.
295
Isto nos revela uma plena identificao dos leitores com a populao, que, para eles, pode agir
por seus prprios meios.
Note-se, inclusive, que, na sd118, o leitor chega a usar, como j vimos acontecer antes(nesta
mesma seo/bloco 1/sd110), o pronome ns: O povo precisa protestar... para que eles vejam que
ns no estamos nem um pouco satisfeitos.... Como podemos observar, o leitor primeiramente se
refere ao povo e, em seguida, passa a usar o pronome ns, de primeira pessoa, de forma inclusiva,
que , ento, a marca lingstica da plena identificao do leitor com esse povo.
Esta forma de identificao no ocorre nos outros recortes, nem em TO.
Vemos ento que esse ns inclusivo empregado pelo sujeito-leitor o modo dele se
identificar com o povo, o que equivale a dizer: eu fao parte do povo.
Assim, o povo no mais algo externo (ele), a que o sujeito-autor de TO se refere. O povo
tambm no remete referncia que dele fazem vrios leitores, quando o tomam como um ele,
um no-eu, que baderneiro e arruaceiro, e com o qual no se identificam. Aqui o povo a
referncia com a qual o leitor se identifica (ns/eu), dele fazendo parte.
Esse, portanto, o modo de o sujeito-leitor incluir-se entre aqueles que devem protestar e
exigir seus direitos. E a maneira dele representar sua posio-sujeito, que diferente da do sujeitoautor.
Deste modo, esses sujeitos-leitores inscrevem-se em uma FD diferente da FD do sujeito-autor,
e rompem com os sentidos postos em TO.
BLOCO 6:
TO: O governo, neste momento, est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo nos primeiros gravetos.
Poder at ser bem sucedido. Mas no ter como desarmar a fogueira, que continuar crescendo at o dia em que
faltar lenha. E, enquanto ela estiver montada, ser um convite para os fogueteiros de planto. Que podero
provocar incndios capazes de devastar a cultura da estabilidade econmica que germinou sob os auspcios do
Real.
NOVOS TEXTOS:
Sd119: desejo do povo que essa fogueira queime e destrua todo material necessrio para que o solo seja bem
preparado, queimando at o topo. Se, a partir dessa fogueira, conseguirmos transformar em uma grande
queimada, do Oiapoque ao Chu, certamente teremos muitas perdas, principalmente nas classes inferiores,
entretanto, com certeza, nosso solo estar em melhores condies, no para dois anos ou duas safras, mas para a
eternidade. Pode parecer utopia, mas todos queremos assim.
Sd120: O povo est cansado, mas ainda tem foras. A dignidade e a igualdade no so sonhos, algo possvel
de ser alcanado. Estamos submetidos a uma crise real, com efeitos reais e conseqncias que devastam a vida.
preciso que tenhamos fora para lutar e acreditar que existe algo que podemos fazer para mudar. como diz o
velho ditado: A unio faz a fora. E tudo possvel para quem acredita.
Sd121: Como pedir ao povo que mantenha a ordem, se aqueles que os governam so desordeiros? Como pedir
ao assalariado para ter calma, se seu salrio dividido com pessoas que ele nem conhece? Realmente ser difcil
manter a ordem neste pas.
Neste bloco, mais uma vez, temos sujeitos-leitores que se contrapem ao dizer do sujeitoautor de TO, ou seja, que falam de uma outra formao discursiva.
296
Podemos observar que, na transformao dos sentidos, os leitores entram por esse enunciado e
pela metfora, no para repeti-la ou para reafirmar seu sentido, mas para produzir uma nova
metfora, que instala um novo efeito de sentido. Assim, enquanto temos, em TO, a metfora o
governo est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo nos primeiros gravetos, na sd119
temos a metfora desejo do povo que essa fogueira queime e destrua todo material necessrio
para que o solo fique bem preparado.
Como podemos perceber, h, entre essas metforas, um significativo contraste de sentidos,
pois, enquanto a primeira metfora o governo tenta agir como bombeiro para apagar o fogo
remete para uma posio-sujeito que revela pacincia para com o governo e uma certa
conformidade com os fatos, a outra metfora desejo do povo que a fogueira queime e destrua
tudo remete para uma posio-sujeito contrria, de inconformismo e de luta.
Assim, o sujeito-autor de TO, ao produzir a primeira metfora, imputa apenas ao governo a
responsabilidade pela resoluo da crise, pois isso suficiente para manter o jogo do politicamente
correto assumido por ele desde o incio do texto. O sujeito-leitor, no entanto, livre desse jogo, pode
assumir outro dizer, e, por isso, ao recriar a metfora, coloca nos ombros do povo a
responsabilidade de reverter a situao, e diz que o povo deseja a mudana.
interessante observar ainda, na metfora criada pelo sujeito-leitor, o emprego da palavra
tudo. O emprego deste pronome parece conferir ao discurso do leitor uma indeterminao, ou seja,
parece deixar em aberto o que seria esse tudo. No entanto, o prprio discurso vai nos orientando em
direo ao efeito de sentido a produzido.
Percebemos, ento, outras metforas solo bem preparado, solo em melhores condies
que nos impedem de pensar que aquilo que o leitor deseja a destruio pela destruio, a pura
desordem. Na verdade, essas metforas parecem nos empurrar para TO, onde o sujeito-autor lembra
que as lenhas da fogueira so, por exemplo, a criminalidade, a corrupo, o desemprego, a
violncia, a misria, as injustias, as disparidades sociais.
A partir da, parece que a indeterminao se suaviza e o tudo produz efeito de sentido.
Tudo isso nos aponta posies-sujeito opostas, inscritas em FDs antagnicas.
E isto nos mostra, mais uma vez, que a metfora funciona como marca no discurso do sujeitoautor, discurso esse no-sinalizado pelas reticncias ou pela interrogao. Alm disso, constatamos
que, no processo discursivo da leitura, a metfora funciona como lugar de transformao de
sentidos, ou seja, como ponto em que os sentidos deslizam tanto que chegam a tornar-se outros.
Os leitores operam tambm sobre outra marca discursiva: o enunciado dividido de TO (O
governo poder ser bem sucedido, mas no ter como desarmar a fogueira), produzindo novos
enunciados divididos. Vamos ver:
297
(x) a fogueira far muitas perdas
Sd119: P =
(y) a fogueira deixar o solo em melhores condies
(x) resolver a crise uma utopia
sd119: P =
(y) todos ns queremos resolver a crise
(x) o povo est cansado
sd120: P =
(y) o povo ainda tem foras
Note-se que, em TO, o enunciado dividido rene um dizer que remete a uma FD em que o que
pode e deve ser dito que o governo pode solucionar a crise, e um outro dizer, que remete a outra
FD, na qual o que pode e deve ser dito que o governo no poder resolver a crise, porque os seus
agentes (os fogueteiros de planto) no permitem.
Sabemos, embora o sujeito-autor use uma indeterminao, que, entre esses fogueteiros, esto
o MST, as massas dispersas, os menores da Febem, etc. Ou seja: so esses que impedem que a crise
brasileira se resolva.
Ao produzir outros enunciados divididos, os leitores no se identificam, de fato, com nenhum
desses dizeres, mas com dizeres diferentes (em que no mais o governo quem quer resolver a
crise, mas o povo), com outra posio-sujeito oriunda de FD uma diversa, que se desidentifica
totalmente com a FD em que se inscreve o sujeito-autor de TO quando produz enunciados como o
governo no consegue resolver a crise por causa dos fogueteiros de planto.
Eles passam ento a produzir outros dizeres, oriundos de uma FD antagnica, na qual os
desordeiros no so mais os sem-terra, o povo ou os desempregados, mas aqueles que governam o
pas (conforme sd121: como pedir ao povo que mantenha a ordem, se aqueles que os governam
so desordeiros?).
Ao produzir essa leitura, o sujeito-leitor cria um contraste entre dois tipos de desordeiros, e
isso produz efeitos de sentido que se contrapem. Assim, quando se diz (como em TO ou no recorte
8) que os desordeiros so os sem-terra, os desempregados, o povo, o efeito de sentido que se produz
de crtica s aes desses sujeitos, que promovem a violncia e o caos social. Quando, porm, se
diz que a desordem vem dos prprios governantes, que so incompetentes, o efeito de sentido
exatamente oposto: no se critica mais as aes dos sem-terra e do povo que, lesados, agem em
defesa de seus direitos, mas se passa a justificar essas aes.
Como podemos notar, isso demonstra uma posio de total desidentificao com o discurso
da ordem social, cuja representao est no governo, e uma total identificao com o discurso dos
menos-favorecidos, cuja representao est no povo.
298
Assim, esses leitores produzem um efeito de sentido que, ao invs de desejar apagar a
fogueira, ou seja, conter aqueles que desejam a mudana, desejam exatamente o oposto: que a
fogueira queime e destrua tudo, ou seja, que a soluo seja a imposio da vontade do povo, mesmo
que isso venha atravs da violncia.
Podemos dizer ento que, na sd119, ao produzir essa nova metfora, o leitor acaba por
imprimir ao termo fogueira um sentido totalmente antagnico quele com que foi empregado pelo
sujeito-autor. Assim, se em o governo est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo...
mas no ter como desarmar a fogueira..., o termo fogueira remete desordem, baguna
provocada pelos sem-terra e pelos movimentos de contestao, em desejo do povo que a
fogueira queime e destrua tudo... esse mesmo termo produz o efeito de sentido oposto: a fogueira,
aqui, a luta justa (e no a desordem), a busca pela ordem e pela justia social.
Assim, enquanto em uma metfora a ordem social significa ausncia de movimentos de
reivindicao (considerados como baderna), na outra metfora a ordem social significa ausncia de
corrupo, de imoralidade e desgoverno, e, sobretudo, justia social.
Diramos ento que essa FD mais no-conservadora, na medida em que nela h espao para
acreditar que o pas possa ficar melhor. sob essa nova determinao ideolgica que os leitores
dizem ento: a fogueira deixar o solo em melhores condies, todos ns queremos resolver a crise,
o povo ainda tem foras.
Em outras palavras: os sentidos que se produzem aqui vo na direo oposta dos sentidos
produzidos em TO e nos outros recortes, em que uma parcela do prprio povo era responsabilizada
pela situao brasileira.
Trata-se, portanto, de uma FD diferente daquela em que se inscreve o sujeito-autor de TO.
Uma FD em que se revelam leitores mais maduros, mais otimistas e mais dispostos a lutar por um
pas melhor. E que lhes permite dizer: a unio faz a fora ou ainda tudo possvel para quem
acredita.
3.4.2.4 Recorte 10: algumas consideraes
Este recorte discursivo nos revela leitores que reescrevem o texto-origem produzindo efeitos
de sentido antagnicos queles anteriormente verificados, pois encontramos aqui sujeitos-leitores
que se identificam plenamente com uma sociedade que luta por seus direitos, que reivindica e que
protesta, em nome de uma vida mais digna e mais justa.
299
Deste modo, podemos dizer que esses leitores, assim como aqueles que produziram as
seqncias examinadas no recorte 9, rompem com o sentido de TO, revelando uma identificao
com os menos favorecidos. A diferena que os leitores do recorte 10 assumem uma posiosujeito diferente daquela assumida pelos leitores do recorte 9: estes so mais suaves, mais calmos;
aqueles, so mais duros, mais radicais.
Com isso, tanto os leitores do recorte 10, quanto os do recorte 9, inscrevem-se em uma
formao discursiva antagnica em relao quela em que se inscreve o sujeito-autor de TO.
Consideramos tambm que esses sujeitos-leitores rompem com o sentido estabelecido no
recorte 8, assumindo posies que so rejeitadas por aqueles sujeitos-leitores. Por isso, a FD em que
se inscrevem esses leitores distinta da FD em que se inscrevem os leitores do recorte 8. E
diferente da FD em que se inscreve o sujeito-autor de TO.
Podemos dizer ento que este recorte concretiza aquilo que, no recorte 7, era apenas
identificao; quer dizer: enquanto os leitores do recorte 7 apenas se identificavam com o discurso
dos menos favorecidos, permanecendo, no entanto, na mesma FD do sujeito-autor (em que no
pode e no deve ser dito que necessrio lutar, reivindicar), esses leitores do recorte 10 (assim
como, de maneira mais suave, os leitores do recorte 9) inscrevem-se de fato nesse discurso e, ao
faz-lo, rompem com a FD do autor, passando a identificar-se com uma outra FD (na qual o que
pode e deve ser dito que preciso lutar pelo que se acredita, preciso reivindicar, quando preciso,
mesmo que isso seja penoso e difcil).
Por isso, passamos da reescritura (identificao com o discurso dos menos favorecidos e, por
isso, com uma FD diferente da do sujeito-autor) no recorte 7, para a escritura (inscrio no
discurso dos menos favorecidos e, por isso, inscrio em outra FD) no recorte 10 (essa inscrio
tambm ocorre, de forma mais branda, no recorte 9).
Podemos ento reconhecer nesse recorte um efeito-autor, entendido como um processo de
leitura em que o leitor, pela tomada de posio, se desidentifica com a FD que afeta TO e estabelece
um processo de produo de autoria que instaura outros sentidos.
O efeito-autor, portanto, est relacionado ruptura de sentidos. Quando essa ruptura no
ocorre, como vimos pelas nossas anlises, o processo discursivo da leitura pode dar origem apenas a
uma funo-autor o que ocorre no processo da leitura a que denominamos de releitura, onde
h a manuteno dos sentidos produzidos em TO (recortes 1e 4) ou a uma posio-autor o
que ocorre no processo da leitura a que denominamos de reescritura, onde se verificam os
deslizamentos de sentido em relao a TO (recortes 2,3, 5, 6 e 7).
300
possvel ainda considerar que existe, entre TO e esses textos, uma relao de parfrase
interdiscursiva, isto , uma parfrase em que o interdiscurso se atravessa e se interpe na leitura, o
que causa ruptura de sentidos e mudana de formao discursiva.
3.4.3 Leitura e escritura : o espao das rupturas
Nesta seo, como possvel perceber, reunimos os recortes 8, 9 e 10.
No recorte 8, agrupamos as seqncias discursivas que revelam uma ruptura com o sentido
posto em TO, e vimos que essa ruptura implica a inscrio no discurso da manuteno da ordem
social, o que, por sua vez, mostra uma total identificao dos leitores com o discurso do poder.
No recorte 9 e 10, agrupamos as seqncias discursivas que revelam tambm uma ruptura
com o sentido posto em TO, mas esse rompimento, de forma contrria ao que se verifica no recorte
8, implica a inscrio dos leitores em uma FD que privilegia os menos favorecidos e, por
contrapartida, rejeita o poder autoritrio, as desigualdades, o conformismo. Nesse recorte 9, como
vimos, essa inscrio ocorre de maneira suave. No recorte 10, de forma um pouco diferente, essa
inscrio acontece de forma radical. Isto nos levou a considerar a existncia de posies-sujeito
diferentes dentro desta mesma FD.
A anlise desses recortes nos possibilita afirmar, portanto, que esse o espao das rupturas,
da instaurao do diferente nesse universo de repetio.
Assim, diramos que esse o espao em que os sujeitos-leitores deixam de se identificar com
a formao discursiva que imposta pelo interdiscurso em TO, o que constitui um trabalho de
transformao da forma-sujeito, ou seja, de inscrio em outra FD.
Para ns, falar em escritura, por conseguinte, significa falar em rupturas, em
transformao de sentidos, em inscrio dos leitores em uma nova formao discursiva.
Ao definir desta maneira a escritura, gostaramos de fazer referncia a Barthes (1953), para
quem a escritura uma realidade formal que se situa entre a lngua e o estilo.
Assim, enquanto lngua e estilo so dados antecedentes a toda problemtica da linguagem,
constituindo o produto natural do tempo e da pessoa biolgica, a escritura, em toda e qualquer
forma literria, para Barthes, a escolha geral de um tom, de um etos, por assim dizer, e
precisamente nisso que o escritor se individualiza claramente porque nisso que ele se engaja
(Barthes, 1953:23).
Desta forma, a identidade formal do escritor s se estabelece realmente fora da instalao das
normas da gramtica e das constantes do estilo, no ponto em que o contnuo escrito vai tornar-se um
301
signo total, a escolha de um comportamento humano, ligando a fala do escritor ampla histria de
outrem.
Se lngua e estilo so foras cegas, a escritura , portanto, um ato de solidariedade; se lngua e
estilo so objetos, a escritura uma funo, a relao entre a criao e a sociedade. A escritura, para
Barthes, enfim, a linguagem literria transformada por sua destinao social, a forma
apreendida na sua inteno humana e ligada assim s grandes crises da histria (Ibidem:23).
A partir dessa concepo, Barthes considera a existncia, em escritores diferentes, de uma
mesma escritura ou de escrituras diferentes.
Por uma mesma escritura Barthes entende, por exemplo, uma linguagem carregada da mesma
intencionalidade, a aceitao de uma mesma ordem de convenes, o uso dos mesmos reflexos
tcnicos. H escrituras, no entanto, que apresentam, por exemplo, o tom, o fluxo verbal, o fim e a
moral diferentes e, por isso, so igualmente diferentes.
Para Barthes, portanto, a escritura , essencialmente, a moral da forma, a escolha da rea
social no seio da qual o escritor decide situar a natureza de sua linguagem (Ibidem:24). Para o
escritor, no se trata, porm, de escolher o grupo social para o qual ele escreve, pois sua escolha
de conscincia e no de eficcia. Sua escritura constitui uma maneira de pensar a literatura, no de
difundi-la.
Nestes termos, a escritura uma realidade ambgua, pois, por um lado, nasce de uma
confrontao do escritor com a sociedade, e, por outro lado, por uma espcie de transferncia
mgica, ela remete o escritor, dessa finalidade social, para as fontes instrumentais de sua criao.
De acordo com Barthes, ento, a escolha e a responsabilidade de uma escritura designam uma
liberdade, mas essa liberdade no tem os mesmos limites conforme os diferentes momentos da
histria. Quer dizer: no dado ao escritor escolher sua escritura numa espcie de arsenal
intemporal das formas literrias; ao contrrio, sob a presso da histria e da tradio que se
estabelecem as escrituras de um escritor. Existe assim uma histria da escritura.
Essa histria, no entanto, dupla, segundo Barthes: no momento em que a histria prope
uma nova problemtica da linguagem, a escritura continua cheia da lembrana de seus usos
anteriores, j que a linguagem nunca inocente, e as palavras tm uma memria segunda que se
prolonga misteriosamente em meio s significaes novas.
A escritura, assim, precisamente esse compromisso entre uma liberdade e uma lembrana.
Diz ento Barthes:
Hoje, posso sem dvida escolher para mim esta ou aquela escritura, e nesse gesto afirmar minha
liberdade, pretender um frescor ou uma tradio; j no posso mais desenvolv-la numa durao
sem tornar-me pouco a pouco prisioneiro das palavras de outrem e at de minhas prprias
palavras. Uma remanescncia obstinada, vinda de todas as escrituras precedentes do passado
mesmo de minha prpria escritura, cobre a voz presente de minhas palavras. (Ibidem:26)
302
Como liberdade, diz Barthes, a escritura ento apenas um momento, mas um dos momentos
mais explcitos da histria, j que, para ele, a histria antes de tudo uma escolha e os limites dessa
escolha. Porque deriva de um gesto significativo do escritor, a escritura aflora a histria, muito mais
do que qualquer outro corte da literatura.
Podemos reconhecer, na concepo de escritura de Barthes, alguns pontos de contato e, ao
mesmo tempo, de afastamento em relao teoria da AD e em relao nossa prpria concepo de
escritura.
Assim, se acreditamos, por exemplo, que a escritura tem uma histria, no acreditamos, no
entanto, que a histria seja uma escolha. Na nossa perspectiva, a histria se impe ao escritor, que a
ela se submete, sem perceber, sem ter conscincia disso.
Na nossa perspectiva, portanto, e parece que assim mostram nossas anlises, o sujeito no
escolhe a escritura, mas pego, e denunciado, por ela. Quer dizer: quando o sujeito, ao ler e
reescrever, rompe com os sentidos, isso no fruto de uma escolha, mas de uma determinao
ideolgica. Ele apanhado pelo interdiscurso, pela memria do dizer, e isso se reflete e se
materializa no ato de reescrever.
Deste modo, a escritura no apenas um momento, mas todo um processo que envolve
outros textos, outros discursos, a histria de leituras do leitor e a sua determinao pela histria,
que, para ns, tambm no uma escolha.
Nesta medida, a escritura, para ns, embora estabelea um rompimento com sentidos j
estabelecidos, no representa, como para Barthes, uma liberdade. Essa liberdade apenas um efeito,
uma iluso, uma vez que o sujeito desde-sempre sempre assujeitado, determinado
ideologicamente.
Estamos querendo dizer que o processo da escritura acontece sob determinadas condies de
produo, das quais a histria faz parte, e que essas condies no so escolhidas, mas so
determinadas e refletidas na escritura.
Nesta perspectiva, nas reescritas, na nossa concepo, que reside a possibilidade de o
sentido vir a ser outro, nelas que pode acontecer a transformao dos sentidos, porque o sujeito
que reescreve est igualmente determinado e tal fato se reflete em sua reescrita.
Parece claro, ento, que nossa concepo de escritura diferente da de Barthes. Para ns, a
escritura s acontece quando o processo discursivo de leitura possibilita que os leitores rompam
com o sentido estabelecido, instaurem novos sentidos e mudem de FD.
Desse modo, a escritura, na nossa perspectiva, implica um movimento de rompimento com a
FD e com os sentidos do texto que constituem TO, mas, ao mesmo tempo, pressupe um
movimento de identificao com outra FD e com outros sentidos, que no so os de TO.
303
Assim, na base da escritura h um processo de ruptura, de deriva de sentidos, que
justamente o que marca a instaurao do efeito-autor, ou seja, a instaurao de um grau avanado
de autoria.
O processo de leitura que conduz escritura, portanto, por produzir transformaes de
sentido, por causar rupturas em relao aos sentidos estabelecidos em TO, por marcar um processo
de deriva dos sentidos, pode ser considerado no apenas como um gesto interpretativo que mantm
na releitura ou desloca na reescritura os sentidos de TO, mas como um evento
interpretativo.
A escritura proporciona, assim, a criao de parfrases interdiscursivas, ou seja, de
parfrases em que o interdiscurso se atravessa na leitura e se sobrepe de tal forma que os sentidos
no cabem mais na FD em que se inscreve o texto que deu, ilusoriamente, origem ao processo. A
parfrase interdiscursiva, desta forma, revela leitores que se identificam com outra regio do
interdiscurso, com outra formao discursiva, com outra rede de formulaes.
Estamos ento no campo da repetio a que vamos denominar de repetio interdiscursiva,
que, para ns, representa o processo de leitura em que o interdiscurso se atravessa e se sobrepe ao
intradiscurso de tal forma que os sentidos acabam por tornarem-se outros e o dizer dos sujeitosleitores acaba inscrevendo-se em outra formao discursiva.
Isto implica reconhecer que esses sujeitos-leitores esto submetidos a um diferente efeito da
memria discursiva, e isso que lhes permite contra-identificar-se com os sentidos produzidos em
TO.
Ao fazer essa afirmao, estamos retomando as colocaes de Pcheux (1988:215) sobre o
mau sujeito, que produz um discurso que se volta contra o sujeito universal da FD por meio de
uma tomada de posio, que consiste em uma separao, uma contestao com relao ao que o
sujeito universal lhe d a pensar.
Na escritura, portanto, h lugar para esse mau sujeito, o qual, pelo processo discursivo da
leitura, se contrape forma-sujeito em que se inscreve TO e passa a se identificar com uma outra
forma-sujeito, ou seja, o leitor mau-sujeito se contra-identifica com a formao discursiva que lhe
imposta pelo interdiscurso como determinao exterior (e materializada em TO) e produz o
discurso-contra, ou o contra-discurso. Esse discurso-contra, no entanto, tambm vem do
interdiscurso, mas, como no existe lugar para ele na FD na qual se inscreve o sujeito-autor de TO
(que, ilusria e paradoxalmente, deu origem a esse dizer), esse discurso-contra passa a se inscrever
em outra FD, sendo esta tambm, por sua vez, uma determinao do interdiscurso.
Assim, podemos dizer o seguinte:
304
a) o processo de leitura que produz a manuteno dos sentidos de TO e inscreve os leitores
na mesma FD do autor revela uma relao de identificao desses leitores com a FD do sujeitoautor e com os sentidos produzidos em TO, ou seja, as reescritas desses leitores se inscrevem na
mesma matriz de sentidos, na mesma rede de formulaes;
b) o processo de leitura que provoca os deslizamentos de sentido de TO, remetendo a um
questionamento, a uma diferena, uma discordncia, inscrevendo os leitores, porm, na mesma FD
do sujeito-autor, revela uma relao de desidentificao desses leitores com a FD do autor e com
os sentidos produzidos em TO;
c) o processo de leitura que produz a ruptura com os sentidos de TO, inscrevendo os leitores
em uma FD diferente da do autor, revela uma relao de contra-identificao desses leitores com a
FD do sujeito-autor e com os sentidos produzidos em TO, e, conseqentemente, a identificao
com uma outra FD, ou seja, as reescritas se inscrevem em outra matriz de sentidos, em outra rede
de formulaes.
O mais interessante, para ns, no entanto, no apenas constatar que acontecem rupturas de
sentido, e que se produz um contra-discurso, mas verificar que tais transformaes de sentido
ocorrem nas reescritas do texto no-sinalizado, j que o mesmo no acontece nas reescritas dos
textos sinalizados pelas reticncias ou pela interrogao.
Dito de outra forma: quando o autor no sinaliza no seu texto lugares de acesso para a leitura
e para a interpretao como acontece quando so empregados os sinais de pontuao em estudo
os sujeitos-leitores entram no texto por outros lugares que eles prprios estabelecem e por
outras marcas que o autor produz, mas no sinaliza e produzem novos sentidos.
No nosso ponto de vista, justamente a ausncia de uma sinalizao por parte do sujeito-autor
que permite que os leitores possam liberar-se de uma FD para inscrever-se em outra e produzir
outros sentidos, transformando aqueles j produzidos.
Como pudemos perceber atravs das anlises, a ausncia de sinais discursivos no implica a
ausncia de marcas discursivas. Tais marcas, embora no sejam sinalizadas graficamente, como
acontece com as reticncias e a interrogao, tambm denunciam a posio-sujeito do autor e
orientam os leitores no processo da leitura.
Assim, por exemplo, a metfora, a negao, o enunciado dividido e at mesmo a
indeterminao marcam o discurso do sujeito-autor de TO, e, por isso, so espao propcio
manuteno, aos deslizamentos ou transformao dos sentidos. Quer dizer: so lugar de
interpretao.
305
Nesses espaos, os sujeitos podem produzir maiores movimentos de leitura, desidentificandose com uma formao discursiva porque identificam-se com outra.
Atribumos esse maior movimento, ainda, ao fato de o texto tratar de um assunto srio de
forma sria, ou seja, ao fato de o texto no-sinalizado tambm no fazer uso do humor, como
acontece nos nossos textos sinalizados pelas reticncias ou pela interrogao.
Ao afirmar isso, queremos dizer que o humor, quando estabelece uma espcie de brincadeira
com a realidade, sugerindo mais do que diz, conduz os leitores a operar sobre esses sentidos que
no chegam a ser ditos, mas que, de alguma forma, esto ali, circulando sob as palavras do autor.
Assim, quando o leitor real do texto de humor coincide com o leitor virtual, esse leitor percebe que
ali h um jogo entre sentidos estabelecidos e no-estabelecidos, e, a partir da, produz a sua leitura.
Nesse movimento, produz outro texto de humor ou um texto srio.
De qualquer forma, a presena dos sinais discursivos da pontuao e o emprego do humor
parecem restringir os limites do diferente, nos textos produzidos pelos estudantes. Mas isso no
ocorre nos textos no-sinalizados, onde os leitores desidentificam-se com o texto-origem e rompem
com os sentidos ali produzidos. Neste afastamento, nesta ruptura, os sentidos transformam-se, e o
diferente ganha espao.
Neste sentido, estamos no campo daquilo que Foucault (1969:63) denomina de retorno s
origens e que caracterizado como uma instaurao de discursividade, que estabelece o
afastamento e inverte, numa espcie de retorno quilo que est marcado no texto como vazio,
ausncia, lacuna. uma espcie de jogo: isto est aqui, preciso ler; por outro lado, nada est
nessas palavras, nenhuma das palavras visveis diz o que est em questo. Isto traduz, na verdade, a
liberdade de que falvamos acima, ou seja, a possibilidade de produzir sentidos sobre o que est ali
e sobre o que no est ali.
Trazendo essa questo para o nosso campo de interesse, diramos ento que, pelo retorno s
origens, produzem-se sentidos a partir de marcas no-visveis, no-sinalizadas pelo sujeito-autor,
mas percebidas pelos sujeitos-leitores que, entrando no texto por essas marcas, dizem o que no
estava significado naquelas palavras.
Processo bem diferente acontece na releitura, em que, utilizando os termos de Foucault
(1982:63) como o fizemos nas sees 2.3.2 e 3.2.2. desta segunda parte vamos dizer que ocorre
uma redescoberta, ou seja, efeitos de analogia que permitem que aquilo que j foi esboado seja
retomado de uma outra forma. E bem diferente tambm da reescritura, onde, ainda tomando
emprestado os termos de Foucault, dizemos que ocorre uma reatualizao, isto , a reinsero do
discurso em outro domnio, o que pode ser traduzido, para ns, por deslocamento de sentido em
relao ao discurso revelado no texto-origem.
306
Note-se que o retorno s origens s acontece quando o processo discursivo da leitura se d a
partir de um texto no-sinalizado, ou seja, s ocorre quando as marcas do discurso do sujeito-autor
so imperceptveis. Isto nos mostra que, apesar de serem dotadas de uma certa invisibilidade pois
no so dadas a ver, como o so os sinais de pontuao essas marcas so percebidas pelos leitores.
Assim, o sujeito-leitor, agindo sobre essas marcas, abre suas prprias portas para entrar no
texto-origem e para, atravs delas, sair para o interdiscurso, de onde retorna com dizeres que
rompem com o dizer estabelecido naquele texto.
Que fique claro, ento: embora nem sempre o processo da leitura do texto no-sinalizado
produza um rompimento, no nosso corpus somente nesse tipo de texto que a leitura leva ruptura
com a FD em que se inscreve TO. Isso nos permite ratificar a posio j defendida anteriormente,
no captulo 2, desta segunda parte, e dizer que os sinais discursivos de pontuao reticncias e
interrogao conjugados ao humor, de forma diferente do que poderia parecer, no so um espao
propcio a rupturas de sentido, o que equivale a dizer que a leitura desses sinais de pontuao em
textos de humor conduz os leitores por caminhos diversos, mas no os impulsiona para a
transformao dos sentidos que ali esto postos.
E se isso ocorre, como vimos atravs da anlise dos textos sinalizados (segunda parte/cap.2),
porque os leitores, ao lerem TO, acabam operando, no caso das reticncias, sobre o excesso de
sentido ali produzido e que, por ser excessivo, suspenso e significa; e, no caso da interrogao,
sobre a interpelao que lhe imposta e que produz uma injuno ao dizer.
De forma contrria, o texto no-sinalizado por esses sinais discursivos (mas marcado, como
todo e qualquer texto) que cria condies para que o leitor possa romper com os sentidos, sentindose livre, inclusive, para mudar de formao discursiva.
neste momento que outras vozes, muito diferentes (embora nem sempre entusiasmantes,
como se viu no recorte 8) passam a se fazer ouvir.
Todas essas vozes, refletidas nos textos produzidos, revelam, acima de tudo, as vozes dos
estudantes universitrios e, mais especificamente, as vozes dos estudantes de Letras da FURG.
sobre a produo desses estudantes que passamos a refletir um pouco ao final desse estudo.
4. DA LEITURA PRODUO DE TEXTOS NO CONTEXTO UNIVERSITRIO
Como foi possvel observar, todo esse estudo teve como ponto de partida uma atividade que
envolveu estudantes graduandos de Letras da FURG em uma prtica de leitura que se fundiu
com a produo de texto. Isso significa que, tendo como ponto de partida um determinado texto, os
307
estudantes foram motivados a exercer a prtica discursiva da leitura e a revelar essa leitura atravs
da produo de seus prprios textos.
Ao adotar tal metodologia de trabalho, e ao enquadrar esta pesquisa na perspectiva da Anlise
do Discurso, tnhamos em mente uma determinada concepo de leitura e uma certa concepo de
produo textual, e, conseqentemente, estava bem claro, para ns, sob que perspectiva no
queramos tratar a questo.
Pereira (2000), discutindo sobre a relao entre leitura e produo textual, afasta-se de uma
concepo que nos ajuda a definir de que modo no queramos abordar tais temas: De leitura como
um mero ato de decodificao de realidades textuais e produo como o resultado sempre esperado
de um conhecimento previsto, suportando de novo, no mximo, uma elucidao a mais, que
reafirme a perspectiva adotada (PEREIRA, 2000:71-2).
Conforme lembra o autor, uma tal idia de leitura e produo vai ao encontro, por exemplo,
da lingstica textual, que se centra em noes-chave como coeso e coerncia, que privilegiam o
estudo das prprias estruturas sintticas de argumentao e de construo do sentido no texto,
trabalhando mecanismos de constituio textual , organizao do texto, etc.
Sem pretender desqualificar uma tal abordagem, nos propusemos, no entanto, a refletir sobre
leitura e produo textual a partir de um outro lugar: o que considera que a leitura produo de
sentidos, e que a produo de texto a materializao dos sentidos produzidos pela prtica da
leitura.
Neste sentido, cada produo de texto a manifestao nica e intransfervel da prtica da
leitura de um sujeito que assujeitado ideologicamente e que assume uma determinada posio em
uma dada formao discursiva.
Pereira afirma ainda:
Aquilo que seria uma leitura como produo seria, pois, aquilo que vai na linha mesmo em que o
sujeito-leitor, num ato pessoal e com uma especificidade, assume a leitura como um ato seu,
intransfervel, e da se insere numa cadeia de sentidos, gerando novos sentidos, singularizando-se.
(Ibidem:72)
Neste sentido, para Pereira, tanto a leitura quanto a produo dependem do sujeito-leitor, que,
num ato pessoal, assume posies frente a um texto dado.
Como podemos perceber, este leitor parece ser muito singular, muito particularizado.
Entretanto, para ns, que, conforme afirmamos ao longo desse estudo, consideramos a leitura
como um processo discursivo, o leitor no tomado em sua individualidade. Na verdade, ele um
sujeito que representa uma posio a partir de uma formao discursiva na qual se inscreve e no
interior da qual assume, ento, uma determinada posio-sujeito.
308
Como vimos, nesse movimento de inscrio em uma FD que o sujeito inicia sua prtica
como leitor. E o exerccio dessa prtica que pode lev-lo a constituir-se como autor.
Assim, a tomada de posio do sujeito que vai definir sua inscrio na FD do autor ou sua
inscrio em uma outra formao discursiva. E isso que vai determinar a direo dos sentidos, que
podem, pelo processo discursivo da leitura, ser mantidos, deslocados ou transformados.
Tudo isso nos leva a refletir mais um pouco sobre o leitor, procurando, desta vez, considerar
esse leitor especfico o estudante de Letras que, inserido em um contexto particular o contexto
universitrio produziu os textos sobre os quais realizamos nossas anlises.
4.1 O leitor/ produtor de textos
Nesta seo, refletimos um pouco sobre esse leitor estudante de Letras da FURG que, no
nosso trabalho, tambm produtor de textos. Tal tentativa no tem como objetivo construir uma
imagem que revele idade, sexo, profisso ou nvel social desses estudantes, mas refletir, a partir das
observaes realizadas, sobre os leitores reais dos textos que escolhemos para nossa pesquisa, sobre
as relaes que eles estabeleceram com tais textos e com os sentidos que, pelas reescritas,
produziram.
Em captulo anterior, frisamos e reafirmamos agora que nossa pesquisa no trabalha com
o discurso pedaggico, o qual se caracteriza essencialmente por ser um discurso produzido em
situao de ensino e por envolver a relao professor/aluno.
Como pudemos perceber, no isso que ocorre aqui. Embora a situao envolva alunos,
trata-se de um caso especial, de pesquisa, em que no existe a possibilidade de cobrana ou de
atribuio de nota para as produes textuais. Da a razo de falarmos sempre em estudantes, e no
em alunos.
No podemos deixar de considerar, no entanto, que os textos foram escritos em uma
instituio de ensino e em uma sala de aula, e isso que nos leva a falar em contexto universitrio.
Tal fato nos permite estabelecer uma relao com a questo do leitor no contexto escolar tal
como o faz Nunes (1998), ao considerar a forma histrica do leitor brasileiro nesse contexto e
estender essa reflexo para o leitor brasileiro no contexto universitrio.
Nunes parte das colocaes de Orlandi, em Discurso e Leitura, j referidas por ns
anteriormente (primeira parte/cap.2/seo2.1.2), sobre a histria do sujeito-leitor e a histria de
leituras, e lembra que todo leitor tem sua histria de leituras e que, por isso, apresenta uma relao
especfica com os textos e com a sedimentao dos sentidos, de acordo com as condies de
309
produo da leitura em pocas determinadas. Nesta perspectiva, o sujeito se constitui como leitor
dentro de uma memria social de leitura. Assim, afirma Nunes:
...conforme a conjuntura mundial, nacional, regional, mudam as determinaes histricas que
condicionam a leitura. Depois, h as formas de variao determinadas pela historicidade dos
sentidos, por sua sedimentao histrica, assim como por relaes de intertextualidade... (NUNES,
1998:25).
O autor salienta ainda que devemos levar em conta os traos discursivos que, ao longo de
nossa histria, tm formado o corpo social de uma memria de leitura, ou seja, aquilo que permite
que o leitor brasileiro restabelea os implcitos, os no-ditos, os esteretipos. Isto pressupe levar
em conta um conceito de memria tambm j referido anteriormente no como um espao pleno
e homogneo, mas como um espao de disjunes, deslocamentos, retomadas, conflitos,
regularizaes, desdobramentos, rplicas, polmicas e contra-discursos. So ento os jogos de fora
que, desde a poca da colonizao at nossos dias, instauram, por um lado, a regularizao e a
estabilizao e, por outro lado, a desregularizao e a perturbao das redes de no-ditos na leitura.
Podemos dizer ento que esta memria de leitura, que afeta o leitor brasileiro, constitui
tambm o leitor no contexto escolar (e, na nossa perspectiva, no contexto universitrio), e que esses
leitores produzem um discurso que oscila entre o discurso escolar (ou o discurso universitrio) e
outros discursos que nele intervm.
Nesse contexto escolar (e universitrio), a leitura funciona como uma espcie de julgamento
ou de avaliao do que lido, ou seja, a leitura do aluno constantemente julgada pelo professor.
essa avaliao que regula imaginariamente o procedimento dos alunos, os quais, para obterem boas
notas, devem seguir estratgias de leitura adequadas aos professores, ao sistema escolar. Assim,
eles vo construindo seu modo de ler e de mostrar essa leitura, eles vo se constituindo enquanto
sujeito-aprendiz (Ibidem:31).
Existe, portanto, um corpo de saber fixo, anterior ao momento da interpretao, um espao
regulamentado que o aluno deve ter a sensibilidade de encontrar, recuperando os sentidos j
postos.
Em tal contexto, no raro os alunos deixarem falar a leitura do professor, pois provar que
leu significa silenciar a prpria leitura e aderir leitura do outro, sem um distanciamento crtico
(Ibidem:32).
Isto o que acontece na escola (e na universidade) quando se ignora que o leitor real tem uma
histria e um posicionamento frente a outras leituras.
310
Pedro de Souza (1998:128), estudando as prticas de ensino de leitura aplicadas no mbito da
universidade, ressalta que a constituio de um perfil de leitor na universidade equivale
historicamente a procedimentos de controle, seleo, organizao e redistribuio.
Ao afirmar isso, Pedro de Souza est, na verdade, retomando Foucault (1996:9), quando o
autor afirma que em toda sociedade a produo do discurso ao mesmo tempo controlada,
selecionada, organizada e redistribuda por certo nmero de procedimentos que tm por funo
conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatrio, esquivar sua pesada e
temvel materialidade.
Para Foucault, a sociedade possui determinados mecanismos de excluso, dos quais o mais
evidente a interdio: sabe-se que no se tem o direito de dizer tudo, que no se pode falar de tudo
em qualquer circunstncia, que qualquer um no pode falar de qualquer coisa.
Assim, conforme lembra Pedro de Souza (1998), de acordo com a poltica pedaggica
vigente, a produo acadmica pressupe uma determinada posio de leitor, fora da qual no se
produz nem reproduz leituras e escritas destinadas a alimentar a construo do saber.
O que se percebe, ento, segundo os termos de Souza, uma espcie de efeito de ausncia.
Quer dizer: o leitor representa um espao ou uma funo vazia. Afirma o autor: As regras de
construo desse lugar vazio j esto dadas pelo discurso que determina como pode e no pode ser
o leitor de textos expostos leitura no contexto acadmico (Souza, 1998:129).
Deste modo, no h leitores para os textos acadmicos, tericos ou dissertativos que
circulam no espao da universidade.
Na nossa perspectiva, isto nos permitiria pensar que essa posio de leitor ocupada pelo aluno
universitrio dificilmente cria espao para o diferente, o novo, a ruptura de sentidos j estabilizados.
Ou seja: a pressuposio desse lugar vazio que permite que, no contexto acadmico, os discursos
mantenham-se estabilizados, iguais.
Como pudemos constatar, entretanto, esse lugar de leitor no permanece sempre vazio.
possvel preencher esse espao, pela prtica discursiva da leitura. Com isso, queremos dizer que
diferentes leitores, ao redizerem um mesmo texto, assumem posies-sujeito diversas, inscrevendose de maneira distinta na mesma formao discursiva do sujeito-autor ou, at mesmo, mudando de
FD. Com isso, preenchem de modo diferente o lugar de leitor e, ao faz-lo, produzem tambm
diferentes processos de leitura e de autoria.
Acreditamos que esse trabalho nos fornece condies, ento, de tentar responder ao
questionamento de Souza: como acontece, no contexto universitrio, a construo do leitor com o
perfil adequado aos circuitos de circulao do saber, aos movimentos de circulao e deslizamentos
dos sentidos?
311
Pensar essa questo a partir da Anlise do Discurso significa, em primeiro lugar, considerar o
leitor como uma posio de sujeito historicamente determinada. Alm disso, significa adotar uma
estratgia analtica que permita delinear o ponto de emergncia de uma modalidade de sujeito-leitor.
Esse ponto de emergncia equivale configurao histrica de um espao de interpretao, ou, nos
termos de Pcheux, uma espcie de hiato em que se abriga uma tenso entre os sentidos presentes
no texto (e que, por isso, devem ser lidos) e os que se impem ao texto de fora (e que, por isso,
devem ser controlados).
Assim, segundo Souza (1998:136), se o lugar do leitor est vazio, o seu preenchimento,
mediante a relao dos textos com sua exterioridade, que far emergir o perfil do leitor na
universidade.
Em outras palavras: somente um leitor que possa articular os sentidos presentes no texto com
os seus sentidos, com a sua histria de leituras (leituras que so exteriores ao texto) e com o
interdiscurso pode preencher esse lugar vazio e construir, efetivamente, um perfil de leitor
universitrio.
Essa reflexo nos leva a pensar especificamente naqueles que produziram os textos que foram
objeto de nossas anlises: os estudantes de Letras da FURG. E nos perguntamos ento: esses
estudantes preencheram esse lugar vazio de leitor? Esses estudantes construram, com suas leituras,
um perfil de leitor universitrio?
Nossas anlises mostram que alguns no preencheram esse lugar, mas outros, sim. Com isso,
queremos dizer que alguns estudantes aqueles que apenas reproduziram os sentidos j produzidos
pelo sujeito-autor de TO no ocuparam, de fato, o espao de leitor que lhes estava sendo
oferecido; outros, no entanto aqueles que fizeram deslizar os sentidos, pelo atravessamento do
interdiscurso, ou aqueles que romperam com os sentidos estabelecidos transformaram o lugar
vazio de leitor em um espao de trabalho com os sentidos.
Ao entrarem em contato com os textos sugeridos, esses estudantes que ocuparam o lugar de
leitor passaram a estabelecer relaes com a exterioridade e a evidenci-las em seus prprios textos,
materializao de suas leituras. E passaram a articular os seus sentidos, as suas histrias de leituras
e o interdiscurso com os sentidos dos textos-origem, produzindo sentidos.
O preenchimento desse lugar de leitor, portanto, no se deu da mesma maneira para todos os
estudantes, pois, nesse processo, alguns se agarraram mais aos sentidos presentes no texto-origem,
enquanto outros se afastavam desses sentidos, deslocando-os, e outros iam mais alm, rompendo
com esses sentidos.
312
Assim, diramos que quanto mais se afastavam do texto-origem, mais os estudantes
preenchiam o lugar de leitor. Ou, dito de uma outra forma: quanto mais se afastavam do textoorigem, mais preenchiam o lugar de leitor, e mais produziram autoria.
Em outras palavras: no processo da leitura, constatamos diferentes formas de preenchimento
da incompletude do discurso, e isso tem relao direta com os diferentes modos de preenchimento
do lugar de leitor e com a produo de autoria.
Assim, ao tomarmos os diferentes textos produzidos a partir dos textos-origem, pudemos
observar que alguns leitores preenchiam muito pouco esse lugar, enquanto outros o preenchiam um
pouco mais, e outros o preenchiam totalmente, chegando a mudar de formao discursiva.
Pensamos ento em verificar em que proporo esses diferentes lugares eram trabalhados pelo
processo da leitura, pois acreditamos que isso poderia nos fornecer uma melhor viso desse
processo.
Assim, resolvemos verificar os percentuais de ocorrncia das diferentes funes de autoria no
processo da leitura e reescrita.
Embora essa no seja uma abordagem prpria da AD, acreditamos que possa ser interessante
e til para a construo do perfil desse nosso leitor/ estudante de Letras.
Assim, encontramos para os textos sinalizados, por exemplo, os seguintes ndices:
TEXTO 1: EXPERINCIA NOVA
Em nossas anlises, examinamos 170 reescritas desse texto.
I - ENUNCIADO 1: QUE GRANDE PILANTRA...
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
52%
16%
0%
32%
II ENUNCIADO 2: SE O DONO DO GALINHEIRO TE PEGA...
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
49%
1%
2%
48%
III- ENUNCIADO 3: SIM, MAS PRIMRIO, E COM ESSES ANTECEDENTES...
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
89%
7%
4%
0%
313
Vamos representar de outra forma esses resultados, identificando os enunciados por (E), os
recortes por (R), e a ausncia de retomada do enunciado por s/r. Temos ento:
Manuteno
Releitura
Funo-autor
Recorte 1
E1
E2
E3
52%
49%
89%
Deslizamentos
Reescritura
Posio-autor
Recorte 2
16%
1%
7%
Recorte 3
0%
2%
4%
S/R
32%
48%
0%
Este grfico nos mostra que, em nosso corpus, a reescrita de um enunciado com reticncias
conduz, predominantemente, manuteno dos sentidos produzidos em TO. Em outras palavras,
isto significa que encontramos, na maioria das vezes, o processo discursivo da leitura denominado
de releitura e que os sujeitos-leitores ocupam, na maior parte das vezes, apenas a posio de
sujeitos-leitores e a funo-autor.
Essa manuteno de sentido, como podemos constatar, esmagadora 89% dos casos
quando se trata da retomada do enunciado com o qual o sujeito-autor d o efeito de fechamento a
seu texto, ou seja, no enunciado com que o sujeito-autor finaliza TO.
Neste caso, 89% dos sujeitos-leitores mantm o sentido j produzido em TO pelo enunciado
3, enquanto 7% fazem esse sentido deslizar um pouco e apenas 4% o deslocam um pouco mais.
Quer dizer: apenas 11% dos leitores realizam o processo discursivo de leitura da reescritura e
ocupam a posio-autor quando reescrevem TO.
interessante tambm observar que, enquanto a retomada dos enunciados com reticncias no
interior do texto pode no ocorrer (32% dos leitores no retomam o enunciado 1 e 48% no
retomam o enunciado 2), essa retomada sempre ocorre quando se trata do ltimo enunciado, isto ,
do enunciado com o qual o autor termina seu texto.
Isto nos mostra que, ao reescrever, a totalidade dos leitores compreende que ali o discurso foi
suspenso, que aquele um espao de interpretao. Por isso, 100% desses leitores assumem
inconscientemente a tarefa que lhes oferecida, retomam esse enunciado e interpretam aquele
silncio, mostrando como esse silncio significa. E, ao fazer isso, revelam que o silncio
representado pelas reticncias significa, para eles em 89% dos casos o mesmo que significa
para o sujeito-autor.
314
Esta constatao nos prova que o espao lacunar representado pelas reticncias no lugar
onde qualquer sentido possa ser produzido, mas, ao contrrio, nos mostra que h sentidos que
ficam pairando sobre esse espao, sentidos que o leitor parece apenas resgatar.
Vejamos como isso se d no texto sinalizado pela interrogao.
TEXTO 2: ARC E OS ECONOMISTAS
Em relao a esse texto, nosso corpus foi constitudo por 140 reescritas.
I - ENUNCIADO 1: O QUE FAZEM OS ECONOMISTAS? FAZEM ECONOMIA?...
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
68%
5%
2%
25%
II ENUNCIADO 2: ENTENDE?
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
57%
0%
2%
41%
III- ENUNCIADO 3: ISSO SERVE PARA QU? MELHORA A VIDA DA POPULAO?
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
50%
5%
4%
41%
IV- ENUNCIADO 4: E ACERTAM?
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
52%
1%
2%
45%
V- ENUNCIADO 5: DESCULPE A INSISTNCIA, MAS ISSO SERVE PARA QU?
1- manuteno do sentido (recorte1):
2- comeando a deslocar os sentidos (recorte2):
3- deslocando mais os sentidos (recorte 3):
4- sem retomada do enunciado:
Representando de outra forma, temos:
76%
1%
2%
21%
315
E1
E2
E3
E4
E5
Manuteno
Releitura
Sujeito-leitor
Recorte 1
68%
57%
50%
52%
76%
Deslizamentos
Reescritura
Posio-autor
Recorte 2
Recorte 3
5%
2%
0%
2%
5%
4%
1%
2%
1%
2%
S/ R
25%
41%
41%
45%
21%
Este grfico nos mostra que, em nosso corpus, a retomada de um enunciado com interrogao
tambm conduz, predominantemente, manuteno dos sentidos produzidos em TO, ou seja, nos
revela que o processo discursivo da leitura predominante a releitura e que os leitores, na maioria
das vezes, assumem apenas a posio de sujeito-leitor e a funo-autor.
Assim, 68% dos leitores mantm o sentido produzido pelo enunciado 1 em TO, 57% mantm
o sentido do enunciado 2, 50% mantm o sentido do enunciado 3, 52% mantm o sentido do
enunciado 4, e 76% mantm o sentido do enunciado 5.
Tambm aqui, como podemos notar, a manuteno de sentido maior 76% quando se
trata da retomada do enunciado com o qual o sujeito-autor d um efeito de fechamento em seu
texto, ou seja, no enunciado com o qual o sujeito-autor termina seu texto.
Isto, de forma semelhante ao que verificamos nas reescritas do texto com reticncias, nos
mostra que, ao reescrever um texto com interrogao no final, a maioria os leitores compreende
que aquele um espao de interpretao, um lugar de injuno ao dizer e que esse espao lhes
diretamente dirigido, para que, ao preench-lo, produzam sentidos que no chegaram a ser
expressos e que parecem faltar para que o sentido por um efeito de iluso se complete.
Por isso, 79% desses leitores retomam esse enunciado e interpretam aquele silncio
representado pela interrogao, mostrando como tal silncio significa.
E, ao fazer isso, revelam que o silncio representado pela interrogao significa, para eles
em 76% dos casos o mesmo que significa para o sujeito-autor.
Observamos tambm que, aqui, os ndices de deslizamento so menores do que aqueles
verificados nas reescritas dos enunciados com reticncias.
Desta forma, se, naquele caso, chegamos a verificar um deslizamento de at 16% (no recorte
2, onde os deslizamentos so pequenos) e de 7% (no recorte 3, onde o deslizamento um pouco
maior), aqui os deslizamentos no passam da marca de 5% no recorte 2 e de 4% no recorte 3.
Isto significa que o processo discursivo de leitura a que denominamos de reescritura menos
freqente na retomada do texto com interrogao do que no texto com reticncias.
316
Esse fato nos permite pensar que, em nosso corpus, o silncio instaurado pelo discurso em
suspenso e representado pelas reticncias mais propcio aos deslizamentos de sentido do que o
silncio instaurado pelo discurso de injuno representado pela interrogao.
Podemos notar tambm outra diferena entre a reescritura dos textos sinalizados pelas
reticncias e sinalizados pela interrogao. No primeiro caso, como j vimos, o ltimo enunciado de
TO retomado em 100% das reescritas. O mesmo no ocorre, porm, com o texto sinalizado pela
interrogao, em que 21% dos leitores no retomam o ltimo enunciado.
Assim, podemos dizer novamente que, em nosso corpus, o discurso em suspenso
representado pelas reticncias conduz mais os leitores a manifestarem sua interpretao do que o
discurso de injuno representado pela interrogao.
Todas essas constataes nos provam ainda que o espao lacunar representado pela
interrogao, assim como aquele representado pelas reticncias, no lugar onde qualquer
sentido possa ser produzido, e por isso que os leitores, em sua maioria, acabam retomando os
sentidos produzidos em TO.
Vejamos, finalmente, como se d a produo de sentidos na reescrita do texto no-sinalizado.
TEXTO 3 : A GRANDE FOGUEIRA
Nossas anlises contaram com 110 reescritas desse texto.
I ENUNCIADO 1: H uma grande fogueira sobre o solo ptrio, construda com as melhores lenhas da
floresta: o MST..., a criminalidade..., a engrenagem da corrupo..., as manchas do desemprego..., a enorme
insatisfao das classes mdias com a deteriorao dos servios pblicos..., a inrcia dos poderes
pblicos....
1- Incidncia de retomadas do enunciado:
2- Manuteno do sentido (Recorte 4):
3- Deslizamentos:
Identificao com o discurso da ordem social (recorte 5):
Identificao com o conformismo (recorte 6):
Identificao com os menos favorecidos (recorte 7):
4- Rupturas:
Inscrio no discurso da ordem social(recorte 8):
Suave inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 9):
Forte inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 10):
67%
94%
2%
0%
0%
0%
4%
0%
II ENUNCIADO 2: As massas dispersas agem e reagem em funo de impactos sobre elas. Acionam o
instinto de sobrevivncia quando se sentem ameaadas. Os grupos organizados funcionam como plos de
mobilizao e formao de opinio. Mas precisam de um motivo, uma causa, um discurso, para colocar em
funcionamento sua capacidade organizatria. Nessa equao, os componentes causais apontam para a
317
violncia, que fruto da misria social que deriva da extrema concentrao de renda e da disparidade
social, que, por sua vez, decorrente de um sistema democrtico incapaz de proporcionar igualdade de
oportunidades. O dado recente: o 1% mais rico da populao ganha mais que os 50% mais pobres.
Portanto, a situao remete para a responsabilidade do governo.
1- Incidncia de retomadas do enunciado:
2- Manuteno do sentido (Recorte 4):
3- Deslizamentos:
Identificao com o discurso da ordem social (recorte 5):
Identificao com o conformismo (recorte 6):
Identificao com os menos favorecidos (recorte 7):
4- Rupturas:
Inscrio no discurso da ordem social(recorte 8):
Suave inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 9):
Forte inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 10):
27%
74%
13%
0%
0%
0%
9%
4%
III ENUNCIADO 3: ... o Movimento dos Sem-Terra, que expande ondas de presso e violncia por 20
Estados... Os sem-terra querem terra, crdito, uma reforma agrria justa. Esto exagerando quando invadem
prdios pblicos. Um Estado democrtico no pode aceitar o imprio da desordem e da ilegalidade. Mas no
se pode esquecer que eles agem em funo de uma causa.
1- Incidncia de retomadas do enunciado:
2- Manuteno do sentido (Recorte 4):
3- Deslizamentos:
Identificao com o discurso da ordem social (recorte 5):
Identificao com o conformismo (recorte 6):
Identificao com os menos favorecidos (recorte 7):
4- Rupturas:
Inscrio no discurso da ordem social(recorte 8):
Suave inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 9):
Forte inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 10):
19%
50%
0%
0%
31%
13%
0%
6%
IV ENUNCIADO 4: A violncia grassa nas cidades. O desemprego tem muito a ver com isso. Portanto, a
poltica monetarista, comandada a ferro e fogo pelo xerife da economia, Pedro Malan, sob a aprovao de
Fernando Henrique Cardoso, tem relao direta com a violncia e o estado de insegurana social. As
chacinas em srie nas grandes cidades, as rebelies de menores na Febem, em So Paulo, e os assaltos que se
multiplicam por toda a parte se devem, ainda, fragilidade das polticas pblicas.
1- Incidncia de retomadas do enunciado:
31%
2- Manuteno do sentido (recorte 4):
65%
3- Deslizamentos:
Identificao com o discurso da ordem social (recorte 5):
0%
Identificao com o conformismo (recorte 6):
0%
Identificao com os menos favorecidos (recorte 7):
0%
4- Rupturas:
Inscrio no discurso da ordem social(recorte 8):
4%
Suave inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 9):
22%
Forte inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 10):
9%
V ENUNCIADO 5: A populao se sente cercada pela desordem, pela ausncia de leis, pela falta de
autoridade. Ela aumenta suas taxas de indignao e descrena. E se afasta cada vez mais dos polticos. As
conseqncias so graves para a democracia brasileira. A insatisfao acaba abrigando movimentos
contestatrios com feio autoritria, sob a complacncia social. Ou seja, a populao, por falta de crena na
318
autoridade constituda, sente-se motivada a apoiar lideranas ou movimentos que ultrapassam os limites
legais para defender seus interesses.
1- Incidncia de retomadas do enunciado:
2- Manuteno do sentido (Recorte 4):
3- Deslizamentos:
Identificao com o discurso da ordem social (recorte 5):
Identificao com o conformismo (recorte 6):
Identificao com os menos favorecidos (recorte 7):
4- Rupturas:
Inscrio no discurso da ordem social(recorte 8):
Suave inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 9):
Forte inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 10):
52%
64%
0%
8%
0%
0%
4%
24%
VI ENUNCIADO 6: O governo, neste momento, est tentando agir como bombeiro para apagar o fogo
nos primeiros gravetos. Poder at ser bem sucedido. Mas no ter como desarmar a fogueira, que continuar
crescendo at o dia em que faltar lenha. E, enquanto ela estiver montada, ser um convite para os fogueteiros
de planto. Que podero provocar incndios capazes de devastar a cultura da estabilidade econmica que
germinou sob os auspcios do Real.
1- Incidncia de retomadas do enunciado:
2- Manuteno do sentido (recorte 4):
3- Deslizamentos:
Identificao com o discurso da ordem social (recorte 5):
Identificao com o conformismo (recorte 6):
Identificao com os menos favorecidos (recorte 7):
4- Rupturas:
Inscrio no discurso da ordem social(recorte 8):
Suave inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 9):
Forte inscrio no discurso dos menos favorecidos (recorte 10):
12%
0%
0%
20%
20%
0%
0%
60%
Reunindo os enunciados, temos a seguinte representao:
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Manuteno
Deslizamentos
Releitura
Reescritura
Funo-autor
Posio-autor
R4
R5
R6
R7
94%
2%
74%
50%
31%%
65%
8%
20% 20%
Rupturas
Escritura
Efeito-autor
R8
R9 R10
4% 9% 4%
13%
6%
4%
22% 9%
4%
24%
60%
S/R
33%
73%
81%
69%
48%
88%
O grfico nos mostra que, tambm no caso das reescritas do texto no sinalizado, a
manuteno do sentido de TO expressiva: 94% no enunciado 1, 74% no enunciado 2, 50% no
enunciado 3, 65% no enunciado 4, e 64% no enunciado 5. Porm, de forma diferente do que
encontramos nos textos sinalizados, a ocorrncia de deslizamentos de sentido bem maior. Quer
dizer: o processo discursivo da leitura, quando se trata de texto no-sinalizado, produz mais
319
reescrituras, e os leitores assumem mais a posio-autor do que quando reescrevem um texto
sinalizado.
Assim, por exemplo, vemos 13% dos leitores deslizarem o sentido do enunciado 2,
identificando-se com o discurso da ordem social; vemos 20% dos leitores deslizarem o sentido do
enunciado 6, identificando-se com um conformismo que no est presente em TO; vemos 31% dos
leitores deslizarem o sentido do enunciado 3, identificando-se com o discurso dos menos
favorecidos. Se considerarmos que a reescritura dos textos sinalizados pelas reticncias e pela
interrogao geraram deslizamentos, em mdia, de 5%, isso bem significativo.
Alm disso, podemos observar que o processo discursivo da leitura do texto no-sinalizado
abre espao para as rupturas de sentido, coisa que no verificamos, em nenhum momento, nos
textos sinalizados.
Assim, esse processo de leitura e de reescrita possibilita o surgimento do processo discursivo
a que denominamos de escritura, e que exclusivo, em nosso corpus, do texto no-sinalizado.
Deste modo, vemos, por exemplo, o rompimento de sentido que inscreve os leitores no
discurso da ordem social recorte 8 acontecer em dois casos: 13% dos leitores rompem com o
sentido de TO quando reescrevem o enunciado 3 e 4% rompem com o sentido quando reescrevem o
enunciado 4.
De forma semelhante, o rompimento de sentido que vai na direo de uma suave inscrio dos
leitores no discurso dos menos favorecidos recorte 9 acontece em 4% dos casos no enunciado
1, em 9% dos casos no enunciado 2, em 22% dos casos no enunciado 4, e em 4% dos casos no
enunciado 5.
Mas no recorte 10, que rene as rupturas de sentido que vo na direo da forte inscrio
dos leitores no discurso dos menos favorecidos, que encontramos os maiores percentuais: 4% no
enunciado 2, 6% no enunciado 3, 9% no enunciado 4, 24% no enunciado 5, e 60% no enunciado 6.
Quer dizer: os leitores entram por esses enunciados no-sinalizados pelos sinais discursivos
de pontuao, nem marcados pelo humor, e, atravs deles, saem para o interdiscurso, de onde
retornam com outros dizeres, que j no cabem mais na mesma FD do sujeito-autor de TO.
Deste modo, acabam produzindo rupturas de sentido, desencadeiam o processo discursivo da
leitura que denominamos de escritura, e produzem o efeito-autor.
A questo que se colocava na introduo desse estudo se o lugar de autoria pode ser
preenchido no mbito da universidade parece encontrar ento sua resposta: a universidade pode
ser lugar de autoria, sim.
Mas, como pudemos observar, a autoria no um processo que se realiza da mesma maneira
para qualquer sujeito, a autoria no uma questo de tudo ou nada. Em outras palavras, a autoria
320
pode acontecer em maior ou menor grau, de acordo com o maior ou menor preenchimento desse
lugar de leitor universitrio.
Assim, o estudante que reproduz o que leu, assumindo como suas as palavras do autor do
texto-origem, que desempenha apenas a funo-leitor, pouco preenche o lugar de leitor e produz um
grau zero de autoria: isso, como vimos, acontece bastante, tanto no processo da leitura de textos
sinalizados quanto no processo da leitura do texto no-sinalizado.
Na realidade, isso nos mostra um grande grau de acomodao desses leitores, que se
contentam em reproduzir sentidos. Mas, sobretudo, nos alerta para outro fato: talvez esse tenha sido
o modo como a escola (e a universidade) formaram esses estudantes: como bons reprodutores de
sentido.
Vimos tambm que o estudante que desloca os sentidos do texto-origem, ocupando uma
posio-leitor, preenche mais o seu lugar de leitor e produz mais autoria: como observamos, isso
ocorre mais no processo discursivo da leitura do texto no-sinalizado do que na leitura dos textos
sinalizados.
Finalmente,
o estudante que rompe com os sentidos postos no texto-origem, preenche
definitivamente o seu lugar de leitor e produz o efeito-autor, ou seja, produz o seu lugar de autoria:
como verificamos, em nosso corpus, somente o processo discursivo da leitura do texto nosinalizado possibilita que isso acontea.
Embora no seja a tnica geral, possvel constatar que a autoria pode, portanto, se produzir
nos bancos universitrios.
No esqueamos, porm, que no foram sujeitos ocupando a posio de alunos que
produziram essa autoria, mas sujeitos que ocupavam um lugar social diferente: eram estudantes
sendo convidados a serem parte fundamental de uma pesquisa. Nessa condio, sabiam que no
seriam avaliados por seus erros, julgados por suas convices ideolgicas, crucificados por
assumirem posies antagnicas ao texto que liam. Talvez isso tenha representado a possibilidade
para a ruptura com os sentidos estabelecidos, a liberdade para a produo de autoria.
Ser que esses mesmos estudantes, ocupando a posio de alunos, produziriam tambm essas
rupturas? Ser que eles produziriam autoria?
Para qualquer um que trabalhe com linguagem, e com a linguagem dos alunos, algo para
pensar e investigar.
321
CONCLUSO
Esta pesquisa teve como centro de interesse o estudo da leitura atravs de uma das formas
possveis de sua manifestao: a reescrita.
A execuo do trabalho pautou-se em alguns questionamentos, explicitados na introduo, e
seguiu um roteiro que compreende o referencial terico que sustenta o estudo, os procedimentos
322
metodolgicos que norteiam a anlise e o exame efetivo de textos que se constituram em reescritas
de trs textos especficos: Experincia Nova, Arc e os economistas, e A grande fogueira.
Decidimos tambm examinar a leitura e a reescrita em textos que apresentassem dois sinais de
pontuao especficos: reticncias e interrogao. Esses so os textos a que denominamos de
sinalizados.
Optamos ainda por investigar esses sinais em textos que apresentassem outra caracterstica:
serem textos de humor.
Tal escolha nos imps uma outra deciso: analisar reescritas de um texto que no apresentasse
nem tais sinais de pontuao nem o humor. A esse texto denominamos de no-sinalizado.
A partir de nossas anlises, pudemos ento constatar que nosso corpus, constitudo por
reescritas de textos que fazem uso das reticncias ou do ponto de interrogao, conjugados ao
humor textos sinalizados e por reescritas de textos que no apresentam esses sinais de
pontuao textos no-sinalizados revela ser o campo da parfrase, entendida aqui como o
espao que rene reformulaes de um mesmo dizer, na mesma FD ou em FDs distintas, com
assuno de uma mesma posio-sujeito ou de posies-sujeito diferentes.
Na anlise dos textos sinalizados, verificamos dois tipos de parfrase na ordem do discurso,
que correspondem s duas maneiras de reescrever, de retomar o texto-origem.
Assim, denominamos de parfrase intradiscursiva com caractersticas de comentrio
queles textos que, na leitura e na reescrita do texto sinalizado, inscrevem os sujeitos-leitores na
mesma matriz de sentido em que se inscreve o sujeito-autor daquele texto. Este tipo de parfrase
corresponde prtica discursiva de leitura a que denominamos de releitura.
Ao segundo tipo de parfrase denominamos de parfrase discursiva com caractersticas de
glosa, o que corresponde aos textos que, na leitura e reescrita de TO, inscrevem os sujeitos-leitores
na mesma matriz de sentido em que se inscreve o sujeito-autor, mas acusam alguma manuteno e
algum deslizamento de sentido em relao ao texto-origem. Este tipo de parfrase corresponde
prtica discursiva da leitura a que denominamos de reescritura.
Nesse tipo de parfrase a reescritura pudemos verificar ainda que os sentidos, mesmo
no sendo transformados, podiam derivar em duas direes diferentes. Isso nos levou a outra
constatao: a de que possvel considerar a existncia de diferentes graus de deslizamentos de
sentido, ou seja, possvel dizer que, pela prtica discursiva da leitura e da reescrita de textos
sinalizados pelos sinais discursivos das reticncias e da interrogao, conjugados ao humor,
diferentes leitores podem produzir efeitos de sentidos diferentes, em menor ou maior grau,
assumindo diferentes posies-sujeito, mas sem romperem com o sentido dominante, sem mudarem
de formao discursiva.
323
Perceber que os sujeitos-leitores atuavam sobre as reticncias ou sobre a interrogao
ratificou nossa concepo inicial de que tais sinais de pontuao so lacunas discursivas, e que,
enquanto sinais da incompletude do discurso, so compreendidos como silncio pelos leitores, que
acabam por interpretar esse silncio.
Dessa forma, podemos dizer que as lacunas so da ordem da produo do discurso, so da
responsabilidade de quem as produz, ou seja, so da ordem do sujeito-autor. O preenchimento
dessas lacunas, no entanto, da ordem da leitura e da responsabilidade do sujeito-leitor.
Vimos ento que a conjugao desses sinais discursivos de pontuao reticncias e
interrogao com a marca discursiva do humor, na reescrita, possibilita que os sentidos se
mantenham iguais ou deslizem, mas no possibilita que os sentidos se transformem, no contribui
para que haja a ruptura com esses sentidos e a inscrio dos sujeitos-leitores em uma outra matriz
de sentido.
E, se isso ocorre, porque, ao empregar as reticncias ou a interrogao, conjugados ao
humor, o sujeito-autor produz sentidos que ficam pairando sobre esses sinais de pontuao. Quer
dizer: de uma certa forma, a direo dos sentidos j est dada. E por isso que os leitores apenas
resgatam, em maior ou menor grau, esses sentidos.
Podemos dizer ento que mudam as propriedades discursivas desses sinais as reticncias so
um discurso em suspenso, a interrogao um discurso de injuno mas o processo de sua
leitura semelhante, variando apenas as formas de preenchimento da incompletude e do silncio
que esses sinais representam.
Dessa forma, tais sinais discursivos, nesse corpus, so possveis espaos de manuteno ou de
deslizamento de sentidos, o que significa dizer que so fontes de diferentes gestos de interpretao.
Mas no de rupturas, no de deriva.
No processo da leitura a que denominamos de releitura, ento, os leitores, ao lidarem com as
lacunas representadas pelas reticncias ou pela interrogao sinais da incompletude do discurso
reproduzem os sentidos do texto-origem, operam mais sobre a materialidade lingstica e acabam
por dizer aquilo que o autor no precisou dizer, porque disse sem dizer.
Na releitura, portanto, dizemos que os leitores produzem preenchimentos discursivos, que se
constituem somente como um a mais ao que o autor disse.
Para ns, esse a mais que se acrescenta pelo processo de produo da leitura representa uma
incisa, ou seja, um preenchimento da lacuna significante materializada pelas reticncias ou pela
interrogao, preenchimento que representa a forma como os leitores compreendem o silncio
instaurado por tais sinais discursivos de pontuao.
324
Neste caso, que o da releitura, da parfrase intradiscursiva, denominamos o
preenchimento de preenchimento intradiscursivo, ou seja, uma incisa intradiscursiva.
Ressaltamos, no entanto, que intradiscursivo, aqui, o efeito, pois esse a mais vem de um
lugar extratextual, ou seja, vem do interdiscurso. O intradiscursivo, portanto, est determinado
pelo dizer da FD, isto , est determinado pela regio do interdiscurso onde TO se inscreve.
J na prtica discursiva da leitura e da reescritura esses sinais possibilitam que o
interdiscurso se atravesse no texto dos sujeitos-leitores, mas no criam muitas condies na
medida em que apontam para um sentido j construdo pelo sujeito-autor por meio de uma
desqualificao e desconsiderao com o discurso-outro para que esses sujeitos-leitores
modifiquem o sentido estabelecido.
A prtica discursiva da reescritura, como vimos, revela ainda dois processos.
No primeiro processo,
ao realizar os preenchimentos das lacunas materializadas pelas
reticncias ou pela interrogao, os leitores produzem pequenos deslizamentos de sentidos. Esses
preenchimentos discursivos se revelam tambm como um a mais ao que o autor disse, isto ,
como incisas, mas, como permitem o atravessamento do interdiscurso no processo da leitura, os
denominamos de incisas discursivas.
No segundo processo, ao efetuar os preenchimentos das lacunas materializadas pelas
reticncias ou pela interrogao, os leitores produzem fortes deslizamentos de sentidos. Assim, o
leitor no diz apenas o que j pairava sobre as reticncias, mas, pela sua inscrio ideolgica, a sua
leitura deriva para outros sentidos, de forma que ele no trabalha com uma incompletude repleta
de sentidos previsveis.
Neste caso, podemos dizer que a incompletude da ordem da elipse discursiva. Quer dizer: o
leitor lida com uma incompletude da ordem da elipse, com sentidos que vm de uma regio diversa
do interdiscurso, e ento desliza os sentidos em uma direo, da mesma forma que um outro leitor
poderia desliz-los numa outra direo de sentidos.
Como foi possvel observar, no captulo 4, esses deslizamentos de sentido no so muito
freqentes.
No texto sinalizado pelas reticncias, por exemplo, h um percentual de, no mximo, 16%
para os pequenos deslizamentos e de, no mximo, 4% para os deslizamentos maiores. E no texto
sinalizado pela interrogao esse percentual diminui para, no mximo, 5% para os pequenos
deslizamentos e, no mximo, 4% para os maiores deslizamentos.
A prtica discursiva da reescritura, portanto, revela um processo em que o sujeito-leitor, ao
interagir com o efeito-texto que constitui o texto-origem, estabelece uma forte relao com o
sujeito-autor e com as outras vozes, invisveis, mas presentes ali. Nessa relao, o interdiscurso se
325
projeta sobre o efeito-texto produzido pelo sujeito-autor e, embora introduza outros efeitos de
sentido, fazendo deslizar os sentidos de TO, isso no suficiente para que os sentidos l produzidos
sejam transformados, no suficiente para que acontea uma ruptura de significao.
Assim, se eles dizem, acabam dizendo o que, de alguma maneira, j significava. Quer dizer:
os leitores dizem, de maneiras diferentes, os sentidos que j podiam, de alguma maneira, estar
inscritos naquele silncio, naquela lacuna significante.
Estranho jogo esse, que limita o que, a princpio, parecia ser infinito.
J na anlise dos textos no-sinalizados, verificamos trs tipos de parfrase na ordem do
discurso, que correspondem s trs maneiras de reescrever, de retomar o texto-origem.
Assim, da mesma forma que fizemos com os textos sinalizados, denominamos de parfrase
intradiscursiva com caractersticas de comentrio queles textos que, na leitura e na reescrita do
texto no-sinalizado, inscrevem os sujeitos-leitores na mesma matriz de sentido em que se inscreve
o sujeito-autor daquele texto. Este tipo de parfrase corresponde tambm prtica discursiva de
leitura a que denominamos de releitura.
Ao segundo tipo de parfrase, seguindo a terminologia empregada na anlise dos textos
sinalizados, denominamos de parfrase discursiva com caractersticas de glosa, o que
corresponde aos textos que, na leitura e reescrita de TO, inscrevem os sujeitos-leitores na mesma
matriz de sentido em que se inscreve o sujeito-autor, mas acusam alguma manuteno e alguns
deslizamentos de sentido em relao ao texto-origem. Este tipo de parfrase corresponde prtica
discursiva da leitura a que denominamos de reescritura.
Ao terceiro tipo de parfrase, denominamos de parfrase interdiscursiva, na qual
encontramos os textos que, na leitura e reescrita do texto-origem, inscrevem os sujeitos-leitores em
uma matriz de sentido diferente daquela em que se inscreve o sujeito-autor, ou seja, inscrevem os
textos em outra formao discursiva. Este tipo de parfrase corresponde prtica discursiva da
leitura a que denominamos de escritura e, como pudemos perceber, s acontece, nesse corpus de
estudo, na reescrita de textos no-sinalizados.
Como podemos perceber pelas anlises e pelos grficos apresentados no captulo 4, mesmo
nos textos no-sinalizados, essa no a tnica, ou seja, o processo da leitura que produz a
escritura muito menos freqente do que os demais processos, o da releitura e o da reescritura.
A leitura, ento, produz preenchimentos interdiscursivos e incisas interdiscursivas.
De preenchimentos interdiscursivos, designamos ento aqueles preenchimentos que,
produzidos por sujeitos-leitores que por estabelecem uma relao de contra-identificao com a
formao discursiva em que se inscreve o dizer de TO, inscrevem-se em uma outra regio do
interdiscurso, em uma outra matriz de sentido, em uma outra FD.
326
No se trata mais de um preenchimento que reproduz o dizer de TO como acontece na
releitura nem de um preenchimento que desloca esse dizer, sem, contudo, mudar de FD como
acontece na reescritura.
O preenchimento interdiscursivo rompe com o dizer e com a FD em que se inscreve TO.
A incisa interdiscursiva, nesta medida, representa um a mais que preenche, que se
acrescenta ao dizer do sujeito-autor, mas um a mais que vem de outro lugar, de outra regio do
interdiscurso.
Constatamos, dessa forma, que a parfrase interdiscursiva, ou seja, a escritura, o espao,
nesse corpus de estudo, da deriva. Ou seja: o espao das rupturas, das transformaes dos
sentidos.
Tais rupturas de sentido no acontecem quando os sujeitos-leitores reescrevem o texto
sinalizado pelas reticncias ou o texto sinalizado pela interrogao.
Este fato nos mostrou que tais sinais de pontuao, ao invs de instalarem uma liberdade sem
limites uma vez que silenciam, que deixam de dizer, abrindo espao para que o dizer do outro se
instale acabam por ser o lugar do mesmo, ou, no mximo, de deslizamentos de sentido.
Como possvel perceber, estamos estabelecendo limites que separam os deslizamentos da
deriva dos sentidos. Para ns, os deslizamentos constituem-se em alteraes dos sentidos de TO,
mas no em sua transformao. Nesta perspectiva, as mudanas de sentidos os deslizamentos
inscrevem-se na mesma matriz de sentido, na mesma FD do sujeito do discurso, enquanto que as
rupturas a deriva inscrevem-se em outra matriz de sentido, em uma FD diferente.
Assim, diramos que tais sinais de pontuao criam a iluso de uma liberdade que, de fato,
no existe, pois a ausncia de palavras est impregnada de sentidos. O sujeito-leitor parece
compreender esse paradoxo, e isso o inibe, o impede de romper com os sentidos ali postos, de
produzir transformaes, de inscrever-se em uma formao discursiva diferente daquela em que se
inscreve o sujeito-autor. O mximo que ele se permite, ento, fazer com que os sentidos deslizem,
mas na mesma FD.
Diante disso, somos levados a admitir que a presena de tais sinais de pontuao, ao sinalizar
materialmente um lugar de acesso do leitor ao texto, orienta no s os pontos de entrada no texto
como a interpretao, e propicia a manuteno dos sentidos.
Como vimos, o humor sobre o qual se constituem esses textos tambm contribui para que isso
ocorra. E isso porque o humor ao estabelecer uma espcie de brincadeira com a realidade j
aponta para outros sentidos, sentidos a mais, que ficam subjacentes ao texto. Quer dizer: prprio
do humor querer dizer algo a mais do que est sendo dito, colocar em jogo mundos distintos,
desqualificar o discurso-outro.
327
Desse modo, quando o humor empregado em conjugao com as reticncias ou a
interrogao, parece saltar aos olhos do leitor que aquele lugar sinalizado o lugar onde esses
sentidos produzidos pelo humor circulam, que o espao onde eles se fazem presentes.
ento com esses sentidos que o leitor opera e com eles que ele cruza os seus sentidos,
produzindo a leitura. O que acontece, ento, na maior parte dos casos, que os leitores resgatam
esse sentido, pelo vis da pontuao, e, ao faz-lo, mantm reproduzindo o sentido de TO, agindo
principalmente sobre a materialidade lingstica ou deslizam produzindo alteraes de sentidos,
menores ou maiores, com atravessamento do interdiscurso os sentidos j produzidos, sem,
contudo, produzir rupturas ou mudar de FD.
Quando se trata de reescrever um texto no-sinalizado por tais sinais discursivos, no entanto,
pudemos observar que os sujeitos-leitores entram no texto por lugares diversos e no previamente
determinados e, por meio deles, saem para o interdiscurso, de onde retornam, produzindo sua
leitura.
No caso analisado, vimos que os leitores saem para o interdiscurso atravs de negaes,
metforas, enunciados divididos, indeterminaes. Tais ocorrncias funcionam discursivamente
como um vis para que os leitores firmem sua posio-sujeito, assumam sua tomada de posio. Por
isso, fomos levados a consider-las como marcas discursivas.
As marcas discursivas, na perspectiva que adotamos, so de uma ordem diferente da dos
sinais discursivos, que so representados pelos sinais de pontuao e podem ser visualizados no
texto, pois se constituem a partir de uma materialidade grfica que expe esses sinais ao olhar de
todos os leitores. No h como no perceb-los, portanto (embora nem todos os leitores os
percebam da mesma forma). As marcas discursivas, ao contrrio, no so denunciadas pelo sujeitoautor. Elas esto ali, mas depende do sujeito-leitor perceb-las ou no.
As marcas discursivas, desse modo, espalham-se pelo texto, sem nada que denuncie sua
presena. somente pelo processo da leitura, pelo trabalho nico de cada leitor, que elas emergem,
que elas se revelam como lugar de produo de sentidos. Sentidos que se mantm, que se deslocam,
mas que tambm podem se transformar, ocasionando rompimentos, rupturas na rede de
significaes materializada pelas reescritas.
Tais rupturas, ressaltamos novamente, no ocorrem, em nosso corpus de estudo, no processo
da leitura de textos sinalizados pelas reticncias ou pela interrogao, o que nos permite reafirmar
que tais sinais discursivos, conciliados ao humor, ao invs de abrirem espao para qualquer coisa,
apontam certos sentidos para os leitores e acabam funcionando discursivamente como barreiras para
as transformaes, para o acesso mais livre dos leitores ao texto.
328
A ausncia desses sinais e da marca discursiva do humor, ao contrrio, permitem que os
leitores entrem em TO por pontos no previsveis, no estabelecidos a priori. O leitor, diante dessa
maior liberdade, torna-se capaz de produzir rupturas, de criar sentidos que no haviam sido criados
pelo sujeito-autor, de produzir nveis mais elevados de autoria.
Queremos ressaltar ainda que todos os tipos de parfrase a que nos referimos aqui
intradiscursiva, discursiva e interdiscursiva so formas de repetio. E, ao dizer isso, acreditamos
que se torna evidente que, na nossa perspectiva, a repetio e a parfrase no significa apenas
dizer a mesma coisa de uma outra forma, o que implicaria sempre a manuteno do sentido. Quer
dizer: para ns, h repetio e parfrase mesmo quando ocorrem os deslizamentos e as
transformaes do sentido.
Tal posio nos afasta de uma abordagem lingstica de parfrase e nos aproxima de Courtine
(1981), que concebe a parfrase como uma configurao particular que abriga a contradio entre
dois domnios de saber de FDs antagnicas, ou seja, a reformulao do dizer que constri redes de
formulao do dito. Em outras palavras: para Courtine, a parfrase suporta uma oposio entre
posies-sujeito que remete ao interdiscurso e caracteriza os enunciados divididos, isto , a
presena de saberes antagnicos em um mesmo enunciado discursivo.
Assim, a parfrase, para ns, assim como para Courtine, no implica sempre a reproduo de
um mesmo dizer e de uma mesma posio-sujeito, mas aceita os deslizamentos e a deriva dos
sentidos e permite a oposio entre posies-sujeito oriundas de uma mesma formao discursiva
ou de formaes discursivas diferentes.
Com isso, ratificamos tambm um pressuposto terico da Anlise do Discurso que tem na
noo de repetio um dos seus principais fundamentos e segundo o qual toda repetio significa
diferentemente, pois ela se d sempre sob condies de produo diversas.
Diante disso, reconhecemos nas reescritas, tanto dos textos sinalizados quanto dos textos nosinalizados, trs tipos de repetio: a repetio que mantm sentidos j postos, a repetio que
desloca sentidos, e a repetio que transforma esses sentidos.
No primeiro caso, temos a repetio lingstico-discursiva, que, para ns, pode ser definida
como a repetio que, mesmo sendo discursiva, se produz, essencialmente, sobre o intradiscurso,
sobre a materialidade lingstica, e que, por isso, faz com que os sentidos vo na mesma direo de
TO, ou seja, a repetio que no produz novos sentidos, que os mantm inalterados, puramente no
nvel do mesmo.
Esse o caso da parfrase intradiscursiva e do processo discursivo da leitura denominado
de releitura.
329
No segundo caso, temos a repetio discursiva, que, na nossa concepo, pode ser definida
como a repetio em que o interdiscurso se atravessa na leitura, provocando deslizamentos de
sentido, mas que inscreve os leitores na mesma matriz de sentido do sujeito-autor. Assim, os
deslizamentos alteram as formulaes, mas no rompem com os sentidos produzidos em TO.
o caso da parfrase discursiva e do processo discursivo da leitura a que denominamos de
reescritura.
No terceiro caso, temos a repetio interdiscursiva, que definimos como a repetio em que
o interdiscurso se atravessa e se sobrepe de tal forma ao intradiscurso que os sentidos derivam e
acabam por se transformar, por se tornarem outros. Neste caso, os dizeres dos leitores no cabem
mais na mesma FD do sujeito-autor, e eles, ento, pulam para outra formao-discursiva.
o que denominamos de parfrase interdiscursiva e de escritura.
Os diferentes tipos de repetio constituem-se, assim, em diferentes processos de leitura, ou
seja, em diferentes formas de os sujeitos-leitores retomarem o texto-origem e, ao mesmo tempo,
manifestam as formas como os sujeitos se relacionam com a escrita.
A partir disso, vamos dizer ento que, em nosso corpus, tanto a repetio lingsticodiscursiva representada pela parfrase intradiscursiva e pela releitura, quanto a repetio
discursiva representada pela parfrase discursiva e pela reescritura, quanto a repetio
interdiscursiva representada pela parfrase interdiscursiva e pela escritura revelam
movimentos de interpretao dos sujeitos-leitores que, ao reescreverem o texto-origem, mantm,
deslizam ou rompem com os sentidos produzidos em TO. Tais tipos de parfrase mostram o modo
como a escrita produzida e como ela se inscreve nas redes discursivas de formulao.
Mas, para ns, esses movimentos, por serem de natureza diferente, imprimem efeitos tambm
diferentes interpretao.
Assim, vamos dizer que os processos discursivos de leitura denominados de parfrase
intradiscursiva releitura e de parfrase discursiva reescritura por somente manterem (no
primeiro caso) ou deslizarem (no segundo caso) os sentidos, sem ocasionarem rupturas em relao a
TO, podem ser considerados como gestos interpretativos.
O gesto interpretativo, dessa forma, revela a assuno, pelos sujeitos-leitores, de um grau
inicial de autoria na releitura ou de um grau intermedirio na reescritura de autoria. Mas
no os afasta totalmente de TO.
Assim, no gesto interpretativo representado pela releitura o sujeito-leitor assume somente a
funo-autor, que, para ns, representa o leitor que apenas retoma sentidos j postos,
reproduzindo-os e com eles identificando-se plenamente. Ao fazer isso, ele toma como suas as
palavras do sujeito-autor, que representa aquele que, apenas por um efeito de iluso, est na origem
330
do texto que desencadeia o processo discursivo da leitura. Esse leitor que assume a funo-autor,
portanto, inscreve-se na mesma formao discursiva e assume a mesma posio-sujeito desse
sujeito-autor. Ao fazer isso, produz apenas um nvel inicial de autoria. Esse um dos modos de
inscrever-se nas redes discursivas de formulao, presentes no interdiscurso.
Processo semelhante acontece no gesto interpretativo representado pela reescritura, em que
o sujeito-leitor assume a posio-autor, que, na nossa concepo, representa o sujeito-leitor que,
produzindo um nvel intermedirio de autoria, retoma os sentidos produzidos pelo sujeito-autor e os
desloca, identificando-se com uma outra posio-sujeito, mas se mantendo na mesma FD desse
sujeito-autor. Esse outro modo de inscrever-se nas redes discursivas de formulao.
Por outro lado, o processo discursivo de leitura denominado de parfrase interdiscursiva
escritura por produzir transformaes, rupturas de sentido em relao a TO (o que implica a
mudana de formao discursiva), pode ser concebido como um evento interpretativo.
O evento interpretativo, portanto, representa, para ns, a possibilidade de que os sujeitosleitores produzam o efeito-autor, isto , que produzam um elevado nvel de autoria, saindo da
posio de meros reprodutores de sentido, tomando posies, produzindo contra-discursos,
causando rupturas, inscrevendo-se em outras matrizes de sentido. E este, seguramente, ainda um
modo distinto de inscrever-se nas redes discursivas de formulao.
Desta forma, no evento interpretativo que representa o processo de leitura de TO que resulta
em uma escritura, o efeito de sentido produzido pela retomada no mais o mesmo, no mais um
deslizamento de TO, mas outro sentido. Por isso, os sentidos produzidos por este tipo de leitura
no cabem mais na formao discursiva na qual se inscreve o sujeito-autor do texto que,
ilusoriamente, deu origem a todo esse processo.
Tudo isso nos permite reconhecer, nesse corpus de estudo, diferentes graus de autoria, que
decorrem dos diferentes trabalhos discursivos de leitura e de escrita.
A autoria, para ns, portanto, no uma questo de tudo ou nada, mas de graus, e varia em
funo da forma com que o sujeito-leitor, pela reescrita, revela sua tomada de posio em relao ao
texto que l, sua forma de inscrio nas redes de formulao e o modo como reescreve.
Assim, o sujeito-leitor que faz uma repetio lingstico-discursiva, que produz uma
releitura, e assume apenas a funo-autor, produz um grau zero de autoria.
J o leitor que faz uma repetio discursiva, que produz uma reescritura, assumindo uma
posio-autor, produz um grau intermedirio de autoria.
E, finalmente, o sujeito-leitor que faz uma repetio interdiscursiva, criando uma escritura
e um efeito-autor, produz um grau avanado de autoria.
331
Ao falarmos em graus de autoria, estamos levando em conta o fato de que os textos
produzidos pelos sujeitos-leitores nascem, embora ilusoriamente, em outro texto. Quer dizer: alm
de todos os outros textos e de todos os outros discursos que permeiam os textos e o discurso dos
sujeitos-leitores, no h como no considerar que existe um outro texto, bem especfico, que est na
base do processo da reescrita. Ou seja: os textos aqui analisados no surgem por iniciativa de
leitores que, munidos somente de suas histrias de leituras, resolvem produzir um texto. Nossos
textos so retomadas, tm um ponto de partida concreto (embora isso constitua uma iluso). Desse
modo, no podemos tom-los, ao considerar sua autoria, da mesma forma que tomamos, por
exemplo, os textos que deram incio s reescritas.
Por isso, consideramos adequado falar em graus de autoria, que correspondem a diferentes
graus de leitura: grau inicial de autoria = releitura; grau intermedirio de autoria = reescritura; grau
avanado de autoria = escritura.
Procurando fazer um resumo de todas as nossas concluses, podemos chegar ento a um
quadro representativo. Temos ento, para os textos sinalizados:
Portas de acesso a TO
Relao com o sentido de TO
Parfrase
Preenchimentos
Incisas
Repetio
Interpretao
Grau de autoria
Tipo de autoria
RELEITURA
Sinais
discursivos
pontuao
Manuteno
de
Intradiscursiva
Intradiscursivos
Intradiscursivas
Intradiscursiva
Gesto interpretativo
Zero
Funo-autor
REESCRITURA
Sinais
discursivos
pontuao
Deslizamentos
(pequenos ou grandes)
Discursiva
Discursivos
de
Discursivas
Discursiva
Gesto interpretativo
Intermedirio
Posio-autor
Podemos ento reafirmar, atravs desse quadro, que, quando reescrevem os textos sinalizados,
os leitores produzem a manuteno do sentido releitura e, no mximo, deslizamentos de
sentido reescritura.
Mas, como demonstraram nossas anlises, no isso que acontece com os textos nosinalizados. Vejamos:
2) TEXTOS NO-SINALIZADOS:
RELEITURA
REESCRITU
RA
ESCRITURA
332
Portas
de
acesso a TO
Marcas
discursivas
Relao
Marcas
discursivas
Manuteno
com o sentido de
Marcas
discursivas
Rupturas
Deslizamentos
TO
Parfrase
Intradiscursiva
Preenchime
Intradiscursivos
ntos
Discursiva
Interdiscursiva
Interdiscursivos
Discursivos
Incisa
Intradiscursiva
Discursiva
Interdiscursiva
Repetio
Intradiscursiva
Discursiva
Interdiscursiva
Interpreta
Gesto
Gesto
Evento
interpretativo
Grau
de
Zero
autoria
Tipo
interpretativo
interpretativo
Avanado
Intermedirio
de
Funo-autor
autoria
Posio-
Efeito-autor
autor
Atravs desse quadro, podemos ratificar a concepo de que, quando reescrevem o texto nosinalizado, os leitores conseguem romper com os sentidos estabelecidos em TO e alcanar um outro
processo discursivo de leitura: a escritura.
Todas essas constataes, fruto de nossas anlises, nos permitem, finalmente, reafirmar que a
leitura um processo de reproduo e de produo de sentidos.
Ao analisar textos produzidos por sujeitos-leitores, esperamos ter demonstrado, que, nesse
processo, esses sujeitos determinados ideologicamente, submetidos a um efeito da memria
discursiva, e munidos de suas histrias de leituras pelo processo discursivo da leitura, determinam
a direo dos sentidos em seu trabalho discursivo de leitura.
Ao finalizar esta tese, esperamos ter abordado questes relevantes para aqueles que se
interessam teoricamente por texto e por leitura, e, principalmente, para aqueles que estudam essas
questes sob a perspectiva terica da Anlise do Discurso.
Ao escolher trabalhar com a pontuao sob tal perspectiva terica, sabamos que estvamos
entrando em terreno novo, estranho Anlise do Discurso, e, portanto, que teramos um caminho
difcil pela frente.
333
Optar pela pesquisa desses sinais de pontuao em textos reescritos por estudantes constitua
um outro desafio. A realizao do trabalho, no entanto, medida que desvendava os segredos dos
textos, da leitura e da escrita, nos dava a certeza de ter escolhido um bom campo para estudo.
Espero, assim, que este estudo assim como vrios outros, realizados em todos os cantos do
pas, por professores que, como eu, no abandonam seu idealismo possa servir ao fim que se
prope: fazer avanar a pesquisa e produzir conhecimento.
Espero, ainda, que o futuro me permita encontrar estudantes menos descrentes em relao
realidade, menos pessimistas com o futuro do pas.
Mas desejo, principalmente, encontrar estudantes que se assumam como leitores e que ousem
desafiar a reproduo, enveredando-se pelo caminho da produo da leitura e do avanado nvel de
autoria e capazes de inscreverem seus textos no campo da escritura.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE LETRAS
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM LETRAS
REA DE CONCENTRAO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM
DA RELEITURA ESCRITURA
UM ESTUDO DA LEITURA PELO VIS DA PONTUAO
334
Marilei Resmini Grantham
Dra. Freda Indursky
Orientadora
Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Letras da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito para a
obteno do ttulo de Doutor em Estudos de Linguagem.
Porto Alegre
2001
BIBLIOGRAFIA
ACHARD, Pierre. Memria e Produo Discursiva do Sentido. In: ACHARD, Pierre [et al.] O
papel da memria Campinas, So Paulo: Pontes, 1999, p. 11-22.
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideolgicos de Estado. 6. Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
AUTHIER- REVUZ, Jacqueline. Htrognit montre et htrognit constitutive; lments
pour une approche de lautre dans de discours. DRLAV, Revue de Linguistique, n.26, 1982,
p.91-151.
_________. Heterogeneidade(s) enunciativa(s). Cadernos de Estudos Lingsticos, Campinas, n
19, jul/dez 1990, p. 25-42.
335
_________. Htrognits et ruptures. Quelques repres dans le champs nonciatif. In: PARRET,
Herman. Le sens et ses htrognits. Paris: ditions du Centre de la Recherche Scientifique,
1991.
_________. Falta do dizer, dizer da falta: as palavras do silncio. In: ORLANDI, Eni . [et al.].
Gestos de leitura: da histria do discurso. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1994, p.253277.
_________. Palavras Incertas: as no coincidncias do dizer. Campinas, SP: Editora da
UNICAMP, 1998.
AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer fazer. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1990.
BAKHTIN, Mikhail. Problemas da potica de Dostoivski. Rio de Janeiro: Ed. ForenseUniversitria, 1981.
__________. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 6 ed. So Paulo: Editora Hucitec, 1992.
__________. Esttica da Criao Verbal. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
BARTHES, Roland. O Grau Zero da Escritura. So Paulo: Editora Cultrix, 1953.
BERGSON, Henri. O Riso: ensaio sobre o significado do cmico. Lisboa: Guimares Editores,
1980.
BORGES, Luiz C. A busca do inencontrvel: uma misso politicamente (in)correta. Caderno de
Estudos Lingsticos, Campinas, (31), Jul/Dez. 1996, p. 109-125.
BREAL, Michel. Ensaio de Semntica: cincia das significaes. So Paulo: EDUC, 1992.
CASTIM, Fernando. Princpios bsicos de Semntica. Recife: FASA, 1983.
CATACH, Nina. Prsentation. Langue Franaise, v.45, fev. 1980, p. 3-7.
________. La Ponctuation. Langue Franaise, v.45, fev. 1980, p. 16-27.
CATTELAN, Joo Carlos. Mattrix!? In: GREGOLIN, Maria do Rosario & BARONAS, Roberno
(org.). Anlise do Discurso: as materialidades do sentido. So Carlos, So Paulo: Claraluz,
2001, p. 125-143.
CERQUIGLINI, Bernard. Les signes obscurs du folio. In: La Ponctuation. Journes de
LAssociation Freudienne Internationale. n 18, 14 -15 de junho de 1997, p.63-68.
CHACON, Loureno. Ritmo da Escrita: uma organizao do heterogneo da linguagem. So Paulo:
Martins Fontes, 1998.
COURTINE, Jean Jacques. Analyse du discours politique. Langages, Paris: Larousse, v.62, 1981, p.
0-128.
_________. Dfinition dorientations thoriques et construction de procdures en analyse du
discours. Philosophiques, v.9. n.2, 1982, p.239-64.
_________. O Chapu de Clmentis. In: INDURSKY, Freda & LEANDRO FERREIRA, Maria
Cristina. Os mltiplos territrios da Anlise do Discurso. Porto Alegre: Editora Sagra
Luzzatto,1999, p.15-22.
COURTINE, J.J. & MARANDIN, J.M. Quel objet pour lanalyse du discours? In: Matrialits
discursives. Colloque lUniversit Paris X-Nanterre (1980). Lille: Presses Universitaires de
Lille, 1981.
DAVIDSON, Donald. O que as metforas significam. In: SACKS, Sheldon. Da Metfora. So
Paulo, EDUC, Pontes, 1992, p.35-52.
DUBOIS, Jean [et al.]. Retrica Geral. So Paulo: Cultrix, 1974.
DUCROT, Oswald. Princpios de Semntica Lingstica (dizer e no dizer).So Paulo: Cultrix,
1972.
_________. Les mots du discours. Paris: Ed. De Minuit, 1980.
_________. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987.
FONAGY, Ivan. Pour une smantique des signes de ponctuation. In: La Ponctuation. Journes de
LAssociation Freudienne Internationale, n 18, 14 -15 de junho de 1997, p.191-209.
FOUCAULT, Michel. Arqueologia do Saber. Petrpolis: Vozes,1971.
_________. A ordem do discurso. 3 ed. So Paulo: Edies Loyola, 1996.
336
_________. O que um autor? Lisboa: Ed. Passagens, 1982.
FRASER, B. The interpretation of novel metaphors. In: ORTONY, A. Metaphor and thought.
Cambridge: Cambridge University Press, 1979, p. 92-123.
FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler: em trs artigos que se completam. 26 ed. So Paulo:
Cortez: Autores Associados, 1991.
FREUD, Sigmund. Os chistes e sua relao com o inconsciente. Rio de Janeiro: Editora Imago,
1969.
GADET, Franoise. La double faille. In: Actes du Coloque de Sociolinguistique de Rouen, 1978.
GALLO, Solange Leda. Discurso da Escrita e Ensino. Campinas, So Paulo: Editora da Unicamp,
1992.
___________. Texto: como apre(e)nder essa matria?1994. Tese(Doutorado em Lingstica).
UNICAMP, Campinas, So Paulo.
___________. O que textualizao? Universidade do Sul de Santa Catarina, 1999 (no
publicado).
GARCIA, Tirza Myga. O funcionamento da comparao no discurso irnico de Luis Fernando
Verssimo. 2000. Dissertao (Mestrado em Estudos da Linguagem). UFRGS, Porto Alegre.
GERALDI, Joo Wanderley. O texto na sala de aula. 2 ed. Cascavel : ASSOESTE, 1984.
___________. Portos de passagem. 2 ed. So Paulo: Martins Fontes,1993.
GREGOLIN, Maria do Rosario Valencise. Sentido, sujeito e memria: com o que sonha nossa v
autoria? In: GREGOLIN, Maria do Rosario & BARONAS, Roberno (org.). Anlise do
Discurso: as materialidades do sentido. So Carlos, So Paulo: Claraluz, 2001, p. 60-78.
GUIMARES, Eduardo. Texto e Argumentao. Campinas, SP: Pontes, 1987.
___________. Os Limites do Sentido: um estudo histrico e enunciativo da linguagem. Campinas,
SP : Pontes, 1995.
HALLIDAY, M. A. K. Cohesion in English. Londres: Longman, 1976.
HAROCHE, Claudine. Fazer dizer, querer dizer. So Paulo: Hucitec, 1992.
HENRY, Paul. A ferramenta imperfeita: lngua, sujeito e discurso. Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 1992.
INDURSKY, Freda. Relatrio Pinotti: O jogo polifnico das representaes no ato de argumentar.
IN: GUIMARES, Eduardo. Histria e Sentido na Linguagem. So Paulo: Pontes, 1989,
p.93-128.
__________. A fala dos quartis e as outras vozes: uma anlise do discurso presidencial da terceira
repblica brasileira. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997.
__________. A prtica discursiva da leitura. In: ORLANDI, Eni. (org.). A leitura e os leitores.
Campinas, SP: Pontes, 1998, p.189-200.
__________. Reflexes sobre a linguagem: da Bakhtin Anlise do Discurso. In: Lngua e
Instrumentos Lingsticos, n 4/5. Campinas, So Paulo: Pontes Editores, 2000 (a), p.69-88.
__________. A funo enunciativa do porta-voz no discurso sobre o MST. In: Alea: estudos
Neolatinos. Programa de Ps-Graduao em Letras Neolatinas, Faculdade de Letras, UFRJ,
v.2, n.2. Rio de janeiro, 2000 (b), p.17-26.
_________. A fragmentao do sujeito em anlise do discurso. In: INDURSKY, Freda &
CAMPOS, Maria do Carmo. Discurso, memria, identidade. Porto Alegre: Editora Sagra
Luzzatto, 2000 (c), p.70-81.
__________. Da heterogeneidade do discurso heterogeneidade do texto e suas implicaes no
processo da leitura. In: PEREIRA, Aracy Ernest & FUNCK, Susana Borno. Leitura e Escrita
como prticas discursivas. Pelotas: EDUCAT, 2001, p.27-42.
KATO, Mary. O aprendizado da leitura. So Paulo, Martins Fontes, 1985.
KLEIMAN, Angela. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas, SP: Pontes, 1989.
_________.Oficina de Leitura: teoria e prtica. Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade
Estadual de Campinas, 1993.
337
LAJOLO, Marisa. O texto no pretexto. In: ZILBERMAN, Regina (org.) Leitura em crise na
escola: as alternativas do professor. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1982, p.51-62.
LEANDRO FERREIRA, Maria Cristina. A antitica da vantagem e do jeitinho na terra em que
Deus brasileiro (o funcionamento discursivo do clich no processo de constituio da
brasilidade). In : ORLANDI, Eni. Discurso Fundador; a formao do pas e a construo da
identidade nacional. Campinas: Pontes, 1993.
_________. Da ambigidade ao equvoco: a resistncia da lngua nos limites da sintaxe e do
discurso. Porto Alegre: Ed. Universidade, UFRGS, 2000.
LEFFA, Vilson. Perspectivas no estudo da leitura: texto, leitor e interao social. In: Leffa, Vilson
& PEREIRA, Aracy E. O ensino da leitura e produo textual. Pelotas: Educat,1999, p.13-38.
LORENCEAU, Annette. La ponctuation au XIX sicle. In: Langue Franaise, v.45, fev. 1980, p.
50-59.
MAINGUENEAU, Dominique. Le langages en suspens. DRLAV, 34-35, 1986, p. 77-94.
__________. Novas Tendncias em Anlise do Discurso. Campinas, SP : Pontes : Editora da
UNICAMP, 1989.
MARIANI, Bethania. O PCB e a imprensa; os comunistas no imaginrio dos jornais (1922-1989).
Campinas: Editora da Unicamp, Rio de Janeiro: Revan, 1998.
MARTINS, Eleni Jacques. Enunciao e Dilogo. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.
MARTINS, Maria Helena. O que leitura. So Paulo: Editora Brasiliense, 13 ed., 1991.
MILNER, Jean-Claude. O amor da lngua. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1987.
NUNES, Jos Horta. Aspectos da forma histrica do leitor brasileiro na atualidade. In: ORLANDI,
Eni. (org.). A leitura e os leitores. Campinas, SP: Pontes, 1998, p.25-46.
ORLANDI, Eni. A Anlise do Discurso: algumas observaes. In: D.E.L.T.A., vol.2, n 1, 1986,
p.105-126.
________. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. So Paulo: Brasiliense, 1987.
________. Terra Vista: discurso de confronto: velho e novo mundo. So Paulo:
Cortez, Ed. Unicamp, 1990.
________. Discurso e Leitura. 3 ed. So Paulo: Cortez: Campinas, SP. Editora da Universidade
Estadual de Campinas, 1993 (a).
________. As formas do silncio: no movimento dos sentidos. 2 ed. Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 1993 (b).
________. Interpretao; autoria, leitura e efeitos do trabalho simblico. Petrpolis, RJ : Vozes,
1996.
____________. A leitura e os leitores. So Paulo: Pontes, 1998.
____________. Anlise de Discurso: princpios e procedimentos. Campinas, So Paulo, 1999.
ORLANDI, Eni & GUIMARES, Eduardo. Unidade e disperso: uma questo do texto e do
sujeito. In: ORLANDI, Eni. Discurso e Leitura. So Paulo: Cortez; Campinas, SP. Editora da
Universidade Estadual de Campinas, 1993, p-53-73.
PASCHOAL, Maria Sofia Zanotto de. Em busca da elucidao do processo de compreenso da
metfora. In: PONTES, Eunice. A metfora. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990, 115130.
PARRET, Herman. Enunciao e Pragmtica. Campinas: Editora da UNICAMP,1988.
PCHEUX, Michel (1969). Anlise Automtica do Discurso (AAD-69). In: GADET & HAK (org).
Por uma anlise automtica do discurso. Campinas: Ed. Unicamp, 1990, p.61-162.
_________. A Anlise de Discurso: trs pocas (1983). In: GADET & HAK (org). Por uma anlise
automtica do discurso. Campinas: Ed. Unicamp, 1990, p.311-318.
_________. Remontmonos de Foucault a Spinoza. In: El discurso poltico. Universidad Nacional
Autonoma de Mxico & Editorial Nueva Imagen. Mxico, 1980, p.181-200.
__________. Semntica e Discurso: uma crtica afirmao do bvio. Campinas: Ed. Unicamp,
1988.
338
_________. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, Eni. Gestos de Leitura: da histria no discurso.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1994, p.55-66.
_________. O Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas, SP: Pontes, 1990.
__________. Papel da memria. In: ACHARD, Pierre [et al]. Papel da memria. Campinas, SP:
Pontes, 1999, p.49-58.
PCHEUX & FUCHS (1975). A propsito da Anlise Automtica do Discurso. In : GADET &
HAK (org). Por uma anlise automtica do discurso. Campinas: Ed. Unicamp, 1990, p.163252.
PCHEUX, Michel. & GADET, Franoise. La Lengua de nunca acabar. Mxico: Fondo de Cultura
Econmica, 1984.
PFEIFFER, Claudia Regina Castellanos. Que autor esse? 1995.Dissertao (Mestrado em
Lingstica), UNICAMP, Campinas, SP.
PEREIRA, Siblius Cefas. Leitura como produo. In: Cadernos de Estudos Lingsticos,
Campinas, (38), Jan/jun. 2000, p. 71-78.
PERROT, Jean. Ponctuation et fonctions linguistiques. In: Langue Franaise, v.45, fev. 1980, p.
67-76.
POSSENTI, Srio. Os humores da lngua: anlises lingsticas de piadas. Campinas, SP: Mercado
de Letras, 1998.
PRANDI, Michel. Figures Textuelles du Silence: lexemple de la rticence. In : PARRET, Herman.
Le sens et ses htrognits. Paris: ditions du Centre de la Recherche Scientifique, 1991,
p.155-173.
PROPP, Vladmir. Comicidade e Riso. So Paulo: Editora tica, 1992.
REY, Alain. La Pratique de la ponctuation. In: La Ponctuation. Journes de LAssociation
Freudienne Internationale. n 18, 14 -15 de junho de 1997, p. 31-37.
ROCHA, Ita Lerche Vieira. O sistema de pontuao na escrita ocidental: uma retrospectiva. In:
D.E.L.T.A, vol. 13, n 1, 1997, p.83-117.
RODRIGUEZ, Carolina. Sentido, interpretao e histria. In: ORLANDI, Eni.(org.). A Leitura e os
Leitores. Campinas, SP: Pontes, 1998, p.47-58.
ROMUALDO, Edson Carlos. Charge jornalstica: intertextualidade e polifonia: um estudo de
charges da Folha de So Paulo. Maring: Eduem, 2000.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Lingstica Geral. So Paulo: Cultrix, 1993.
SEARLE, John. Os atos de fala. Coimbra: Livraria Almedina, 1981.
SRIOT, Patrick. Langue russe et discours politique sovitique: analyse des nominalisations.
Langages, Paris, Larousse. V.81, mars, 1986, p.11-42.
SERRANI, Silvana. A linguagem na pesquisa sociocultural: um estudo da repetio na
discursividade. So Paulo, Campinas: Ed. Unicamp, 1993.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler. 3 ed. So Paulo: Cortez: Autores Associados, 1984.
_________. Elementos de Pedagogia da leitura. So Paulo: Martins Fontes, 1988.
SOUZA, Pedro de. No excesso de leitura a deflao do leitor. In: ORLANDI, Eni. A Leitura e os
leitores. Campinas, SP: Pontes, 1998, p.127-138.
TEIXEIRA, Terezinha Marlene Lopes. A presena do outro no UM. 1998. Tese (Doutorado em
Letras), PUCRS, Porto Alegre, RS.
TOURNIER, Claude. Historie des ides sur la ponctuation. In: Langue Franaise, v.45, fev. 1980,
p. 28-40.
VAL, Maria da Graa Costa. Redao e Textualidade. 2 ed. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
VENEDINA, L. G. La triple fonction de la ponctuation dans la phrase: syntaxique, communicative
et smantique. In: Langue Franaise, v.45, fev. 1980, p. 60-66.
TEXTOS:
339
VERSSIMO, Lus Fernando. Comdias da vida pblica: 226 crnicas datadas. Porto Alegre:
L&PM, 1995.
REVISTA VEJA, 28 de julho de 1999.
ZERO HORA, 05 de maio de 2000.
GRAMTICAS:
ALMEIDA, Napoleo Mendes de. Gramtica Metdica da Lngua Portuguesa. 13 ed. So Paulo:
Editora Saraiva, 1961.
BARBOZA, Jeronymo Soares. Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza. 2 ed. Lisboa:
Typographia da Academia Real das Sciencias, 1830.
__________. Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza. 6 ed. Lisboa: Typographia da
Academia Real das Sciencias, 1875.
BARROS, Enas Martins de. Gramtica da Lngua Portuguesa. 2 ed. So Paulo: Atlas,1991.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramtica Portuguesa. 19 ed. So Paulo: Companhia Editora
Nacional,1975.
BUENO, Francisco da Silveira. Gramtica Normativa da Lngua Portuguesa. 4 ed. So Paulo:
Editora Saraiva, 1956.
CUNHA, Celso Ferreira da . Gramtica da Lngua Portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro: FENAME,
1975.
CUNHA, Celso & CINTRA, Lus F. Nova gramtica do portugus contemporneo. 2 ed. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
DIAS, A. Epiphanio da Silva. Grammatica Portugueza Elementar. Lisboa: Livraria Escolar, 1887.
LEME, Odilon Soares. Assim se escreve...Gramtica Assim escreveram... Literatura. So Paulo:
EPU, 1981.
LIMA, Rocha. Gramtica Normativa da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1972.
LUFT, Celso Pedro. Moderna Gramtica Brasileira. 2 ed. Porto Alegre: Editora Globo, 1978.
PEREIRA, Eduardo Carlos. Gramtica Expositiva. 106 ed. So Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1957.
RIBEIRO, Jlio. Grammatica Portugueza. 6 ed. So Paulo: Typographia da C. Industrial de So
Paulo, 1900.
RIBEIRO, Joo. Grammatica Portugueza. 16 ed. So Paulo: Livraria Francisco Alves, 1911.
SAID ALI, M. Gramtica Histrica da Lngua Portuguesa. So Paulo: Melhoramentos, 1965.
SANTOS, Volnyr. Portugus Contemporneo: gramtica, interpretao de textos. 3 ed. Porto
Alegre : Sagra, 1988.
SAVIOLI, Francisco Plato. Gramtica em 44 lies. So Paulo: tica, 1983.
DICIONRIO:
HOLANDA, Aurlio Buarque de. Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1986.
340
Potrebbero piacerti anche
- Letramento e Alfabetização PnaicDocumento43 pagineLetramento e Alfabetização PnaicAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Letramentos Pelo MundoDocumento28 pagineLetramentos Pelo MundoAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Análise Dos RelatóriosDocumento7 pagineAnálise Dos RelatóriosAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- A Roupa Nova Do ImperadorDocumento2 pagineA Roupa Nova Do ImperadorAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Comunicação Na OrgDocumento8 pagineComunicação Na OrgJoão Lucio de Souza Jr.Nessuna valutazione finora
- Comunicação empresarial x organizacionalDocumento22 pagineComunicação empresarial x organizacionalmarcelinoselvaNessuna valutazione finora
- Estrutura texto jornalístico O Globo impresso digitalDocumento17 pagineEstrutura texto jornalístico O Globo impresso digitalRuy RochaNessuna valutazione finora
- Ensino da oralidade, leitura e escrita no ciclo de alfabetizaçãoDocumento114 pagineEnsino da oralidade, leitura e escrita no ciclo de alfabetizaçãoEspírito Santo de Deus100% (1)
- C Slides Tecnicas de Comunicacao e Oratoria PDFDocumento40 pagineC Slides Tecnicas de Comunicacao e Oratoria PDFAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Elaborar CurriculoDocumento6 pagineElaborar CurriculoRicardo JunioNessuna valutazione finora
- Elementos da comunicação - exercícios práticosDocumento6 pagineElementos da comunicação - exercícios práticosGiomara Silva88% (32)
- C Slides Tecnicas de Comunicacao e OratoriaDocumento40 pagineC Slides Tecnicas de Comunicacao e OratoriaAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Comunicação Na Segurança Do TrabalhoDocumento52 pagineComunicação Na Segurança Do TrabalhoAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- 1 - Estrutura Trabalho Acadêmico - Alterado 2015Documento47 pagine1 - Estrutura Trabalho Acadêmico - Alterado 2015Leandro Wallace MenegoloNessuna valutazione finora
- A internet está quebrando a noção do conhecimento monopolizadoDocumento3 pagineA internet está quebrando a noção do conhecimento monopolizadoAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Critérios de Correção de Produção de TextosDocumento1 paginaCritérios de Correção de Produção de TextosAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Identidade social e discursivaDocumento13 pagineIdentidade social e discursivaAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Critérios de Correção de Produção de TextosDocumento1 paginaCritérios de Correção de Produção de TextosAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Apostila Português InstrumentalDocumento51 pagineApostila Português InstrumentalPaula Oliveira100% (1)
- Artigo Suicidio 2Documento7 pagineArtigo Suicidio 2Alessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Sylvia PlathDocumento3 pagineSylvia PlathAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Texto OleeeeaDocumento20 pagineTexto OleeeeaLucas LimaNessuna valutazione finora
- 1988 - Velloso - A Literatura Como Espelho Da NacaoDocumento25 pagine1988 - Velloso - A Literatura Como Espelho Da NacaoCamila Kézia FerreiraNessuna valutazione finora
- A Máquina Do Mundo e A Árvore Da VidaDocumento11 pagineA Máquina Do Mundo e A Árvore Da VidaAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Critica Literaria Questoes e PerspectivasDocumento13 pagineCritica Literaria Questoes e PerspectivasAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Construção do cânone nacional na literatura brasileiraDocumento13 pagineConstrução do cânone nacional na literatura brasileiraAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Nacional Is MoDocumento29 pagineNacional Is MoAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Os Estudos Culturais e A Critica Literaria No BrasilDocumento20 pagineOs Estudos Culturais e A Critica Literaria No BrasilmchagutNessuna valutazione finora
- Plano de Atividade Docente - Alessandra Cristina ValérioDocumento3 paginePlano de Atividade Docente - Alessandra Cristina ValérioAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Falo Somente Com o Que FaloDocumento8 pagineFalo Somente Com o Que FaloAlessandra ValérioNessuna valutazione finora
- Porcentagem no dia a diaDocumento4 paginePorcentagem no dia a diaCatimbó Zé PilintraNessuna valutazione finora
- Administrativa com experiência em vendas e RH busca oportunidadeDocumento1 paginaAdministrativa com experiência em vendas e RH busca oportunidadedeboraNessuna valutazione finora
- Lista de exercícios de produtos notáveis e fatoraçãoDocumento3 pagineLista de exercícios de produtos notáveis e fatoraçãoJulia RodriguesNessuna valutazione finora
- A diversidade nos uneDocumento2 pagineA diversidade nos uneCecilia Oliveira SoaresNessuna valutazione finora
- Enfrentando medos e encontrando esperançaDocumento3 pagineEnfrentando medos e encontrando esperançaadenilson oliveiraNessuna valutazione finora
- Terror em Cabo DelgadoDocumento150 pagineTerror em Cabo DelgadoAngelo Matavel100% (1)
- Desenvolvimento de Material Didático: Planejando As Disciplinas de Encaixe, Risco e CorteDocumento1 paginaDesenvolvimento de Material Didático: Planejando As Disciplinas de Encaixe, Risco e CorteRosiane SerranoNessuna valutazione finora
- Lia Faria Ideologia e Utopia Nos Anos 60Documento180 pagineLia Faria Ideologia e Utopia Nos Anos 60Alcione NawroskiNessuna valutazione finora
- Boletim de Estudos Clássicos - 62Documento198 pagineBoletim de Estudos Clássicos - 62LeoNessuna valutazione finora
- Manual de Economia Política da URSSDocumento356 pagineManual de Economia Política da URSSSarah Barroso100% (1)
- População mundial: distribuição, teorias e questõesDocumento3 paginePopulação mundial: distribuição, teorias e questõesRobson Pontes0% (1)
- Gerando Números Aleatórios e RecursividadeDocumento14 pagineGerando Números Aleatórios e RecursividadeDiego LopesNessuna valutazione finora
- Ensino Fudamental Anos Iniciais Pet - 300 - Anos MGDocumento55 pagineEnsino Fudamental Anos Iniciais Pet - 300 - Anos MGLuciana AlvesNessuna valutazione finora
- Apostila Turtelli RelatorioDocumento1 paginaApostila Turtelli RelatorioVinicius AlmeidaNessuna valutazione finora
- Resenha Crítica Do Texto Dormi Aluno Acordei ProfessorDocumento3 pagineResenha Crítica Do Texto Dormi Aluno Acordei ProfessorMychael Jales100% (1)
- Síndrome de DownDocumento24 pagineSíndrome de DownSonia RochaNessuna valutazione finora
- PMERJ divulga escalas e serviços de abrilDocumento66 paginePMERJ divulga escalas e serviços de abrilCintia Miguel100% (2)
- Redes de drenagem e órgãos inovadoresDocumento199 pagineRedes de drenagem e órgãos inovadoresalexNessuna valutazione finora
- Resumo de Sistema de Apoio A DecisãoDocumento3 pagineResumo de Sistema de Apoio A DecisãoAndré Campos Rodovalho100% (2)
- Historia e Memoria: Imigração Italiana No Sul Do Estado Do Espírito Santo, Victor Salaroli (Et All)Documento64 pagineHistoria e Memoria: Imigração Italiana No Sul Do Estado Do Espírito Santo, Victor Salaroli (Et All)Victor S. S. do Nascimento100% (1)
- O Racismo Sob A Perspectiva Da Psicologia SocialDocumento15 pagineO Racismo Sob A Perspectiva Da Psicologia Socialdiomezio100% (1)
- Desafios do profissional de secretariado executivo na era digitalDocumento44 pagineDesafios do profissional de secretariado executivo na era digitalGuilherme NogueiraNessuna valutazione finora
- Um General Conservador: Manuel Felizardo de Souza e Mello e A Modernização Do Exército Nos Debates No Senado e No Conselho de Estado em 1850 - Carlos Eduardo de Medeiros GamaDocumento15 pagineUm General Conservador: Manuel Felizardo de Souza e Mello e A Modernização Do Exército Nos Debates No Senado e No Conselho de Estado em 1850 - Carlos Eduardo de Medeiros GamatemporalidadesNessuna valutazione finora
- Avaliação de Matematica 2º Ano - 3 Bimestre PDFDocumento1 paginaAvaliação de Matematica 2º Ano - 3 Bimestre PDFMychely Maia ReisNessuna valutazione finora
- A história de Zumbi e as contribuições dos negros para a cultura brasileiraDocumento4 pagineA história de Zumbi e as contribuições dos negros para a cultura brasileiraRosana CarvalhoNessuna valutazione finora
- Educação, Linguagens e Ensino: saberes interconstitutivos vol. 4Documento563 pagineEducação, Linguagens e Ensino: saberes interconstitutivos vol. 4Pamella Rochelle OliveiraNessuna valutazione finora
- Plano de Negócios - GESTÃO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE AVIÕESDocumento82 paginePlano de Negócios - GESTÃO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE AVIÕESPaulo Afonso da SilvaNessuna valutazione finora
- A Gata Mascarada I - Wanju Duli PDFDocumento268 pagineA Gata Mascarada I - Wanju Duli PDFFelipe BoinNessuna valutazione finora
- Psicologia Escolar, políticas públicas e desafios educacionaisDocumento21 paginePsicologia Escolar, políticas públicas e desafios educacionaisIzabelli Oliveira FerreiraNessuna valutazione finora
- 2 Simulado Unesp Geografia 18 04Documento13 pagine2 Simulado Unesp Geografia 18 04MarceleNessuna valutazione finora