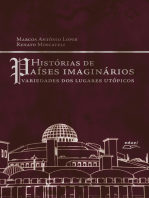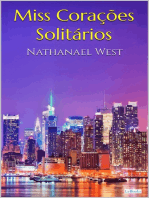Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Jacques Rancière. As Palavras Da Historia.
Caricato da
Luiz Bruno DantasCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Jacques Rancière. As Palavras Da Historia.
Caricato da
Luiz Bruno DantasCopyright:
Formati disponibili
AS PALAVRAS DA HISTRIA
Jacques Rancire
Traduo: Eloisa de Arajo Ribeiro
Esta noite farei a arqueologia de uma narrativa singular, tirada de um
livro de histria, mais exatamente do livro exemplar da "nova histria"
1
.
No ltimo captulo de La Mediterrane, logo antes da concluso, Fer-
nand Braudel nos conta um acontecimento: a morte de Filipe II.
Conta-nos, ou melhor, nos diz por que no o contou:
(1) Este texto, extrado de
um livro que ser publi-
cado com o mesmo ttulo,
foi pronunciado nas Con-
frences du Perroquet,
em Paris, no dia 5 de ju-
nho de 1989.
No citamos em seu devido lugar um acontecimento no entanto sensa-
cional que correu mares e mundo: a morte do rei Filipe II, no dia 13 de
setembro de 1598.
Ele nos conta algo que no nos contou em "seu" lugar, uma cena que
deveria escandir, parar a narrativa, mas no o fez.
Precisamente porque, as mil e tantas pginas que precedem foram es-
critas para nos dizer: a parada no ocorreu. Esse rumor que correu mares e
mundo no remete a qualquer acontecimento da histria deles, a histria do
abalo que desloca o corao do mundo do Mediterrneo para a Atlntico.
Entretanto a razo pela qual Braudel no falou desse acontecimento
em seu devido lugar a mesma que agora o obriga a falar dele fora de lu-
gar, em um no-lugar que passa a ser o lugar desse gnero de acontecimento.
Deslocar o acontecimento, coloc-lo no final, beira do vazio ou do
abismo que separa o livro de sua concluso, tambm fazer dele uma me-
tfora. Compreendemos que a morte deslocada de Filipe metaforiza a morte
de uma certa histria, a dos acontecimentos e dos reis. O acontecimento te-
rico que fecha o livro o seguinte: a morte do rei no mais um acontecimen-
to. A morte do rei significa que os reis morreram como foras da histria.
preciso, no entanto, contar esse no-acontecimento. preciso con-
tar a morte de um rei como morte da figura real da histria. esta morte, a
131
AS PALAVRAS DA HISTRIA
morte nesse sentido que o historiador nos conta: no o tornar-se-cadver do
rei, mas seu tornar-se-mudo.
Com efeito, o rei morto no desfecho do livro no um rei em seu lei-
to de morte. um rei sentado no trono ou em seu escritrio. ali que ele
condenado morte, persuadido de no falar, de no ter nada a dizer. Morto
como a letra, mudo como o quadro a cuja solenidade tola o Fedra opunha o
discurso vivo.
Eis, portanto, o retrato do rei representando:
Historiadores, ns o abordamos mal: como os embaixadores, ele nos re-
cebe com a mais fina das cortesias, nos escuta, responde em voz baixa,
muitas vezes ininteligvel, e nunca nos fala de si mesmo.
Um rei mudo, portanto. Simplesmente, esse mutismo no expresso
pelo historiador seno com a condio de ele prprio entrar em cena, de ser
recebido ao lado desse personagem que Lucien Febvre se empenhou em ti-
rar da histria: o embaixador, o homem dos relatrios diplomticos que eram
o tesouro da velha histria, a histria-crnica.
Eis agora o rei diante de sua mesa, leitor diante de sua mesa de traba-
lhador, anotando os relatrios com sua escrita rpida, poderamos dizer, co-
mo bons platnicos, com sua escrita muda. O que ele anota sem duvida o
material da velha histria: relatrios diplomticos sobre os acontecimentos
das cortes e os humores dos reis. Traado assim o retrato do rei, como no re-
conhecer tambm o retrato do velho universitrio, Seignobos ou qualquer
outro saco de pancadas da nova histria:
No um homem de grandes idias. Ele v sua tarefa numa intermin-
vel sucesso de detalhes. Nem uma sequer de suas notas que no seja um
fato preciso, uma ordem, uma observao, ou at mesmo a correo de
um erro de ortografia ou de geografia. Jamais traou sua pena idias ge-
rais ou grandes planos. No creio que a palavra Mediterrneo tenha al-
gum dia passado por sua cabea com o contedo que ns lhe concede-
mos, tampouco fez surgir nossas imagens habituais de luz e gua azul.
Deixemos por enquanto de lado a luz e a gua azul e concentremo-
nos naquilo que apresentado nesta cena: um retrato, o de um personagem
no qual reconheceremos a bel prazer o rei ou o historiador. Tal personagem,
que se deixou de lado, um homem de letras ou de ofcios, um mudo cuja
mudez manifesta-se particularmente no fato de ele no saber o que o mar sig-
nifica.
Aqui poderamos ler a simples metfora de um deslocamento da his-
tria dos reis para a do mar entendendo com isso a histria da civilizao
132
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
material, dos espaos de vida, das longas duraes e da vida das massas. No
entanto, dois elementos vm complicar essa cena de adeus e transform-la
num quebra-cabea ao qual faltam algumas peas.
em primeiro lugar a presena do historiador no quadro o histori-
ador que recebido, que interroga o rei, d voltas em torno da escrivaninha,
debrua-se sobre aquele que escreve e, at mesmo, em outras ocasies, sen-
ta-se sem constrangimento na poltrona e diante dos papis do soberano.
Diro que tudo isso mera figura de estilo. Mas por que a histria eru-
dita deve ter um estilo? Ou antes, o que significa aqui estilo? Poderamos en-
tremear aqui a observao de Paul Ricoeur: criticar a histria-narrativa no se-
ria colocar a construo da histria ao lado da construo literria, da narra-
tiva de fico? E como evitar pensar o lugar desse gnero de figurao na eco-
nomia dessa construo?
Em literatura, sabemos, as olhadelas indiscretas nas escrivaninhas dos
reis ou dos ministros tm como intuito procurar cartas roubadas, ou seja, car-
tas que se escondem expondo-as, que escondem o que mostram. Remeto
aqui a Edgar Alan Poe, claro, como tambm aos comentrios de Jacques La-
can e de Jean-Claude Milner.
Haveria algum segredo escondido/exposto nessas cartas que o rei
anota? Ns as chamamos de cartas de embaixadores. Porm no prefcio, l
onde o autor nos expe os limites e as armadilhas da histria dos aconteci-
mentos, um estranho inciso vem turvar essa identificao e atribuir ao rei sin-
gulares leituras:
No sculo XVI, depois da verdadeira Renascena, vir a renascena dos
pobres, dos humildes, obstinados em escrever, em se contar, em falar dos
outros. Essa preciosa papelada bastante deformadora, ela invade o
tempo perdido, toma nele um lugar fora da verdade. para um mundo
bizarro, ao qual faltaria uma dimenso, que o historiador, leitor dos
papis de Filipe II, sentado em seu lugar, ser transportado.
Temos, portanto, no apenas o discurso da cincia contra a crnica
dos prncipes e dos embaixadores. Entre o rei e seu historiador e em todos
os sentidos da preposio: intervalo, conflito, cumplicidade h essa "pre-
ciosa papelada" que a papelada dos pobres.
Como compreender tal papelada? Sua presena sobre a mesa real? Sua
relao com o mutismo e a morte dos reis? Com a cientificidade ou a no-ci-
entificidade da histria?
A hiptese defendida esta noite ser a seguinte: a revoluo do discur-
so histrico a condenao morte cientfica do rei uma resposta es-
pecfica a uma primeira condenao morte, sua morte como produtor de
papelada. O rei morre em primeiro lugar por causa dessa papelada dos po-
bres que se amontoou em sua mesa, espalhada sobre a superfcie de exerc-
cio de sua majestade.
133
AS PALAVRAS DA HISTRIA
Tal morte s foi conceitualizada por um filsofo meio sculo depois
da tranqila morte do rei Filipe II, em dois textos que enquadram a morte vio-
lenta do rei Carlos I. Nos captulos do De Cive e do Leviat consagrados s
causas de sedio, Hobbes introduz, com efeito, no mbito tradicional de
um pensamento da stasis, dos desequilbrios e das doenas do corpo poltico
uma dramaturgia totalmente nova. Esta tem dois traos distintivos.
Antes de mais nada, o problema j no o da passagem de um regi-
me a outro, o da comparao entre boas e ms formas de governo. O proble-
ma de vida ou morte, de conservao ou dissoluo do corpo poltico co-
mo tal. Ora, e este o segundo trao, as causas de morte para o corpo polti-
co no so mais conflitos de classe ou desequilbrios na repartio dos pode-
res. So antes opinies, questes de palavras e de frases. O corpo poltico
ameaado por palavras e frases que se ouvem aqui e ali, em qualquer parte,
por exemplo, "deve-se escutar mais a voz da conscincia do que a da autori-
dade", ou ainda, " justo acabar com os tiranos", frases de pregadores interes-
sados que encontram em demasia ouvidos complacentes. A doena da pol-
tica a doena das palavras. H palavras demais, palavras que nada desig-
nam a no ser, precisamente, alvos contra os quais elas armam o brao dos
assassinos.
Consideremos, por exemplo, a palavra tirano ou dspota. "Tirano"
no , de fato, o nome de nenhuma classe, de nenhuma propriedade. O pre-
tenso dspota, a cuja morte se clama, um prncipe legtimo, ao qual deve-
se obedecer, ou um usurpador. E um usurpador no um mau prncipe con-
tra o qual a revolta seria autorizada. simplesmente um inimigo com o qual
tem-se uma relao de guerra, e no uma relao poltica. Dspota ou tirano
so nomes ilegtimos, nomes usurpados. No so o nome de ningum.
A poltica, para Hobbes, est doente desses nomes sem referencial,
dessas frases que no tm motivos de existir, mas ganham corpo por duas ra-
zes, graas a duas cumplicidades. A primeira a dos homens do verbo en-
carnado, esses predicatores que acham cmodo chamar dspota ou tirano
simplesmente aqueles que se opem expanso de sua religio, esses "epi-
lticos" que encontram no livro da f os aplogos ou as profecias prprias
para recrutar os simples. A segunda a dos textos que do vida e consistn-
cia figura do dspota, esses textos antigos cheios de histrias de dspotas,
de teorias da tirania e suas desgraas, histrias e poemas em honra dos tira-
nicidas que sustentam a outra grande doena do corpo poltico, a hidrofobia.
A "papelada dos pobres" a seguinte: as vozes e escrituras parasitas
que sobrecarregam o corpo do soberano o verdadeiro corpo do povo
de um fantasma feito de palavras sem corpo o fantasma de um ser que
deve ser morto e conferem assim multido dispersa dos "qualquer um"
os atributos do corpo poltico. A mesma iluso, com efeito, destina ao corpo
do rei uma palavra vazia (dspota) e d multido um nome que no con-
vm seno ao soberano, o nome de povo.
Talvez seja preciso, para compreender essa doena das palavras, en-
veredar por mais um desvio. No segundo captulo de Mimesis, Auerbach
ope duas maneiras de falar do povo, ou antes, de fazer falar esse "ausente
134
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
da histria": de um lado Tcito contando a revolta das legies de Pannia, do
outro o Evangelho de Marcos, que relata a renegao de So Pedro.
Tcito faz-se o porta-voz paradoxal do instigador da revolta, o legio-
nrio Percnio. Ele compe o quadro evocador e a argumentao rigorosa
das durezas da vida militar que justificam a revolta. Mas antes mesmo de dar
as primeiras pinceladas, de passar sua pena a Percnio, ele desqualifica o ora-
dor real, pe sua fala "fora da verdade". Ele deu, com efeito, revolta sua ra-
zo suficiente: a morte do imperador, o tempo de suspenso dos exerccios
que ela acarreta, o cio dos soldados, em suma, uma vaga que um persona-
gem feito para isso preenche: Percnio, antigo chefe de claque que se apro-
veita disso para montar seu teatro.
Em suma, antes de apresentar as razes, Tcito indicou que no pre-
cisavam ser procuradas. Antes de fazer Percnio falar, ele o caracterizou co-
mo algum que no devia falar. Tanto assim que no Percnio que fala, no
a voz dos simples soldados que se faz ouvir. Tcito que escreve um dis-
curso rebuscado demais para que Percnio algum seja capaz um dia de pro-
nunci-lo. Ele o faz no mbito de uma tradio retrica da imitao que pre-
tende que no intuito de pitoresco do relato e de exemplificao moral se faa
falar personagens de dignidades diversas que, postas em seu devido lugar,
so ao mesmo tempo elevadas dignidade literria.
A essa anulao retrica que suprime uma voz, que a desencarna, Au-
erbach ope o realismo da cena de renegao de Pedro, contraponto da cru-
cificao. Essa mistura de gneros vedada a Tcito permite, segundo
ele, representar algo que a literatura antiga no podia figurar, algo que vai
alm da literatura e das divises de estilos e de condies que ela pres-
supe: o nascimento de um movimento espiritual nas profundezas do povo.
Ora, Hobbes discerne o ponto de encontro dessas duas maneiras de
falar e de fazer falar, o momento em que o verbo que se encarna e a retrica
que desencarna acumulam seus poderes em que a verdade feita carne da
cruz e a mentira da mimesis compem a cena extravagante de uma poltica
do pobre que tira sua legitimidade em parte do cu, em parte dos antigos
onde o primeiro Percnio ou o primeiro Pedro a aparecer posicionado co-
mo emissor ou receptor legtimo de um discurso do povo ornado com profe-
cias de Ezequiel, ou de discursos de Tcito, ou at mesmo com uma mistura
dos dois, com imitaes e subimitaes dos dois. A revoluo moderna an-
tes de tudo a seguinte: a revoluo dos filhos do Livro, daqueles que renem
os poderes da imitao e da profecia. Revoluo da papelada pela qual a le-
gitimidade real e o princpio da legitimidade poltica encontram-se desfeitos,
despedaados na multiplicidade das falas e dos faladores que vm atualizar
outra legitimidade, a legitimidade fantasmtica do povo surgida das entreli-
nhas da escritura testamentria ou da de Tcito. Tal , no tempo de Filipe II e
de Hobbes, a papelada dos monarcomacas, dos soldados de Deus e dos apai-
xonados pela antigidade. Assim multiplicam-se os focos de palavra "legti-
ma" e, ao mesmo tempo, os repertrios e os dicionrios que permitem mudar
os nomes, construir argumentaes e figuraes que fazem aparecer em tal
ou tal lugar, sob tais ou tais traos, o despotismo ou a liberdade.
135
AS PALAVRAS DA HISTRIA
O mal poltico, para Hobbes e para a tradio que ele abre, identifica-
se com o seguinte: a proliferao dos nomes que vm de alhures e de toda
parte, dos nomes que no se assemelham ao que , que matam porque so
mal empregados empregados por pessoas que no deveriam manej-los,
que os leram em textos que falam de coisas bem diferentes.
Tal a morte do rei como produtor de papelada, essa operao sobre
o corpo da majestade real, menos dramtica que o parricdio ou o sacrilgio
que torna louco ou que a desencorporao do corpo duplo do rei, produto-
ra de um social dilacerado: uma redistribuio dos atributos reais, sua disper-
so sobre toda a superfcie de uma comunidade indeterminada.
A experincia primeira da revoluo moderna, tal como Hobbes a en-
contra sem nome-la, a dos nomes flutuantes, nomes sem corpo, da multi-
plicidade dos homnimos e das figuraes que no se assemelham a nada e
encontram um meio de figurar em toda parte. Hobbes designa tal desordem
da poltica como idntica a uma desordem do saber. O mal a que a revoluo
deu incio idntico ao que surge no discurso da metafsica mal das pala-
vras s quais idia alguma est ligada. Hobbes estabelece assim uma aliana
entre o ponto de vista da cincia e o ponto de vista do lugar real. Esta figura
conceitual, que proponho chamar de real-empirismo, vai nutrir, atravs de
Burke e sua crtica inaugural dos Direitos do homem como direitos "metafsi-
cos", toda uma tradio do saber social: a que convoca as palavras para fazer
com que confessem a consistncia ou a inconsistncia do que dizem, para
mostrar a inexatido, a homonimia ilusria que a cada vez caracteriza as pa-
lavras pelas quais os reis e as realezas so processados.
Hoje em dia esta tradio ainda continua viva na crtica "revisionista"
da Revoluo Francesa. E os compatriotas de Hobbes e de Burke tornaram-
se peritos em denunciar a inadequao de todas as palavras revolucionrias.
Desse modo, dizem, os "direitos feudais" so impropriamente assim chama-
dos. So, na verdade, direitos senhoriais exclusivos de toda dependncia re-
al, direitos de propriedade freqentemente comprados por burgueses etc. E,
pouco a pouco, todos os nomes, a comear pelos de nobreza, de clero e de
terceiro Estado, vem-se corrigidos. Demonstra-se que no so mais que clas-
sificaes jurdicas que, bem antes de 1789, tinham deixado de ter "a menor
relao" com as realidades sociais.
Desse modo pode-se fazer uma limpeza na "preciosa papelada",
operar uma crtica generalizada da homonimia fatal que faz com que algu-
ma coisa em geral se passe. A frmula geral dessa cincia social identifica-
se com a frmula geral do revisionismo: nada do que aconteceu se asseme-
lha ao que foi dito. Donde a conseqncia pode ser facilmente deduzida:
no aconteceu absolutamente nada, a no ser, precisamente, o crime de ter
querido fazer ser fora, com palavras e metafsica, o que no tinha moti-
vos para ser.
A esto fundadas a equivalncia epistemolgica e a intermutabilida-
de poltica de dois argumentos. O primeiro diz que no houve Revoluo
Francesa, j que a centralizao poltica da nao j tinha sido operada pelos
reis e que as relaes de propriedade no sofreram mudanas. O segundo diz
136
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
que ela no foi seno o abismo do Terror, onde, de antemo, toda a epca
das revolues e dos socialismos modernos se afundou.
O problema que a histria tambm est ameaada de se afundar nes-
se abismo. Pois a sina da histria como figura discursiva est ligada a esse m-
nimo: que alguma coisa s vezes acontea. E alguma coisa s vezes acontece
na medida em que as palavras no correspondem s coisas, em que indiv-
duos e grupos discutem por causa de nomes como nobreza ou direitos feudais
que "no tm relao" com nenhuma realidade social. Ora, uma cincia con-
cebida conforme o modelo real-empirista no pode tender a qualquer anula-
o de seu objeto, como testemunha o pesar expresso por um dos mestres
dessa escola: que nos falta para analisar os conflitos de classe reais da Revolu-
o Francesa o olhar de um socilogo contemporneo do acontecimento
um socilogo que nos diria, nos teria dito, quais eram, na verdade, os grupos
que se enfrentavam sob os nomes e as mscaras da revoluo poltica.
Tal socilogo anacronicamente contemporneo a figura burlesca de
um cratilismo do saber social, o carabineiro que sempre chega tarde demais
para assumir a funo do legislador primitivo que tornaria que deveria ter
tornado as palavras semelhantes s coisas que designam, assegurando as-
sim a paz social com a ordem justa do saber.
Parece, pois, que a via de uma histria que no uma invocao de
uma sociologia impossvel passa por uma outra maneira de tratar o excesso
das palavras, a morte do rei como produtor de papelada. Ela passa por uma
outra teoria da verdade das palavras, uma outra organizao das relaes en-
tre o mesmo e o outro.
Proponho ver esta outra maneira fundada e exemplificada ao mesmo
tempo numa passagem de Michelet, o relato da Fte de Ia Fdration. Fte
de Ia Fdration , com efeito, a morte no regicida, a morte republicana do
rei, a disperso dos atributos reais sobre o corpo da nao. E a que para Mi-
chelet aparece, no sentido forte, o sentido da revoluo no a Bastilha des-
truda, mas o novo objeto de amor, a ptria.
Como falar desse acontecimento? Michelet parece nos dar a resposta:
A maioria das federaes contaram elas prprias sua histria.
E prossegue assim:
Verdadeiros monumentos da fraternidade nascente, duraro para
sempre e vo testemunhar os sentimentos de nossos pais, seus arrebata-
mentos quando pela primeira vez viram a face amada da ptria.
Os monumentos, portanto, duraro para sempre, as cartas de amor
ptria vo falar, testemunhar. Ficamos esperando as aspas que vo introduzir
kkhi
137
AS PALAVRAS DA HISTRIA
ao menos uma amostra significativa de seu contedo e tom. Ora, contedo
algum ser mostrado. Em vez de mostr-los Michelet vai fazer duas coisas. Em
primeiro lugar vai se mostrar lendo cartas.
Encontrei tudo isso inteiro, ainda ardendo como se fosse ontem, passa-
dos sessenta anos quando recentemente abri esses papis que poucos le-
ram.
O historiador atesta que praticou um ato singular, abriu o armrio, leu
cartas. Em seguida vai nos dizer o que so no o que contm, e sim o que
so: cartas de amor. "Visivelmente, nos diz, o corao fala." Essa visibilidade,
porm, s existe para ele. O que ele nos mostra apenas aquilo que faz com
que ele as veja como cartas de amor; no seu contedo, mas sua apresentao.
O detalhe material os preocupou muito, nenhuma escrita era bela o bas-
tante, nenhum papel bastante magnfico, sem falar das suntuosas fitas
tricolores para amarrar os cadernos.
O que designa tais cartas como cartas de amor no o que elas di-
zem. As cartas de amor nunca falam de amor. Os patriotas de vilarejo so
como os jovens que o amor encontra ou torna inexperientes. Repetem es-
teretipos, frases de romances, bilhetes amorosos emprestados de outros.
Por isso o historiador no vai cit-las. Mas tambm no vai reescrev-las,
como Tcito para o discurso de Percnio. Entre a retrica aristocrtica e o
real-empirismo ele vai definir uma terceira via, uma nova maneira de tratar
a palavra do outro. Essa terceira via, esse saber histrico democrtico, vai
ser fundado em duas operaes aparentemente modestas no que diz res-
peito s cartas de amor.
Primeiramente, ele nos "faz v-las", ou seja, ele se faz ver por ns co-
mo aquele que as segura, segurou na mo, podendo atest-lo pela cor das fi-
tas, essa cor do verdadeiro que o rei Filipe II no podia imaginar, confessan-
do-se assim inferior ao sentimento que o atravessava.
Em segundo lugar, ele nos diz "o que elas dizem": no o contedo,
mas o poder que faz com que sejam escritas, que se expressa nelas. O histo-
riador vai fazer com que se veja esse poder que o verdadeiro contedo das
cartas, vai encen-lo num relato. Guardadas novamente no armrio, as cartas,
cujas fitas ele exaltou, sero substitudas por um relato, o relato da festa, no
esta ou aquela, em tal ou tal lugar, mas a Festa em sua essncia representada:
o campo no tempo da colheita, o povo inteiro reunido em torno dos smbo-
los da vida, do crescimento e da morte: o recm-nascido, flor viva entre as es-
pigas da colheita que faz seu juramento cvico por intermdio de sua me; o
velho que preside, rodeado de crianas e tendo todo o povo como filho; as
138
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
moas, coroa de flores ou multido de vestido branco, uma delas pronuncia
algumas palavras nobres e encantadoras, que nada dizem a no ser que elas
faro os heris de amanh.
Michelet inventa aqui uma soluo nova para o excesso revolucio-
nrio das palavras. Inventa a arte de faz-las falar fazendo-as silenciar. Na
automostrao do historiador segurando as cartas e na substituio da ex-
posio do contedo delas pelo relato da festa, uma operao bem precisa
se efetua. Podemos caracteriz-la recorrendo velha oposio platnica da
mimesis e da diegesis. Tal operao de escritura, que ao mesmo tempo
uma poltica, consiste em destronar a mimesis, em encade-la no curso da
diegesis, do relato. L onde se esperava uma carta, l onde Tcito refazia o
discurso, l onde os oradores eruditos ou autodidatas do povo imitam, por
sua vez, Tcito, nos proposto um relato. E a verdade desse relato est fun-
dada na reserva de sentido das cartas exibidas e guardadas. Porm tal reser-
va de sentido nos remete aos verdadeiros locutores: no os escritores pbli-
cos, os sbios ou os mestres-escolas de vilarejo que se encarregam de redi-
gir as cartas dos iletrados, mas as potncias da vida do nascimento, do
crescimento e da morte , as potncias de um sentido que fala mais dire-
tamente nos quadros reconstitudos do historiador do que em suas cartas de
amor por demais conscienciosas.
No que os oradores falem mal, que seja preciso limpar a inexatido
de suas palavras at o limite onde a pgina se torna branca. assero real-
empirista, Michelet ope uma outra: os oradores no falam mal, simplesmen-
te no sabem o que dizem. Ignoram o que os faz falar, o que fala neles. O pa-
pel do novo saber o de liberar essa voz.
Ilustremo-lo pelo retrato do orador mrtir lions, Chalier. Desse ora-
dor, como de muitos outros, Michelet no nos relata discurso algum, somen-
te seu testamento, sua palavra de morto. Alis, nos diz ele, esse profeta ou
esse bobo no um homem que fala, e sim uma cidade.
a queixa furiosa de Lyon. Aprofunda lama das ruas negras, at ento
muda, ganhou voz nele; nele a fome e as velhas; nele a criana aban-
donada, nele a mulher desonrada. Tais vozes, cantos, ameaas, tudo is-
so chama-se Chalier.
Que no se diga destas linhas como tambm no da recepo de
Fernand Braudel na corte de Filipe II que so s literatura. Ou ento, que
se diga o que literatura aqui quer dizer: uma srie de substituies: da diege-
sis mimesis, da carta ao relato, da voz emprestada s vozes que falam atra-
vs dela. E vejamos que tal dispositivo literrio de substituies tambm a
resposta a uma exigncia cientfica, questo: como falar na verdade da re-
voluo dos filhos do Livro? Como falar na verdade dos oradores? Como mar-
car o intervalo entre o que se diz e o que dito sem que tal intervalo seja o sim-
ples no-lugar da palavra confrontada coisa?
139
AS PALAVRAS DA HISTRIA
A resposta dada no relato que substitui a carta pelo quadro. O rela-
to relato daquele que sabe, que teve as cartas nas mos, que segurando-as
e guardando-as no armrio para deixar falar a lama das cidades ou o vilarejo
florido teve acesso reserva do sentido.
S h nos foi ensinado cincia do escondido. Mas no entenda-
mos com isso simplesmente que o historiador esconde as cartas e fecha o ar-
mrio para assegurar o privilgio do erudito que apodera-se da voz e do sa-
ber do povo. Guardar as cartas que sempre dizem mal o que significam re-
tirar no a carne viva do povo, e sim sua ausncia de carne, retirar a ausncia
ou a traio que est no cerne da mais sincera carta de amor essa traio
que simplesmente o fato de que atrs das palavras no h seno palavras,
essa traio que a literatura expe.
Quando falo de literatura penso particularmente nessas cartas de amor
polticas que percorrem a Cavalaria Vermelha, de Babel, textos onde o escri-
tor combatente Isaac Babel imita as cartas de amor ptria sovitica de cos-
sacos do Kuban, que por sua vez imitam os editoriais que Isaac Babel ou al-
gum de seus congneres assina na Cavalaria Vermelha, engendrando assim
uma dupla suspeita literria (quem fala?) e poltica (quem ama realmente,
e no em palavras, a ptria sovitica?).
Compreende-se, pois, que a operao literria de Michelet visa exa-
tamente fechar as portas literatura, isto , possibilidade que palavras, que
no remetem seno a outras palavras, exponham a traio, possibilidade
que as palavras sejam apenas palavras.
A operao da carta roubada assegura que as palavras nunca so
"apenas palavras". No h palavras sem corpo, nomes de nada ou de nin-
gum. Todo o problema , ao contrrio, o de dar s palavras no seu refe-
rente, e sim sua voz, o corpo ao qual elas pertencem. O duplo relato subs-
titudo carta roubada o relato do erudito e o quadro da festa asse-
gura o objeto da histria contra qualquer traio, colocando em cena uma
dupla autoridade.
, em primeiro lugar, a autoridade do erudito, do homem de arquivos,
que est na origem da cincia, que transforma a carta sempre enganadora em
reserva exata de saber. Mas tambm a autoridade de um novo partidrio,
esse partidrio singular que o erudito faz falar fazendo com que ele se cale,
transformando-o em testemunha muda daquilo que de outra maneira nunca
seria conhecido como algo que fala e como origem de sentido.
A testemunha muda, a que fala como muda e empresta assim sua voz
ao que nunca falou, no simplesmente a fico romntica do visionrio Mi-
chelet. o mito fundador de outra racionalidade do saber social, o mito fun-
dador do relato que uma cincia.
Falar de mito no obriga evocar aqui nenhum apetrecho panteonesco,
moda antiga ou romntica. Quero tratar Michelet no como um mago ro-
mntico, um organizador de fantasmas, e sim como o autor daquilo que antes
era chamado um corte epistemolgico. Mitologia pode, portanto, ser traduzi-
da aqui mais precisa e sobriamente por relato-cincia, o relato que um logos;
o relato que apresenta as razes, a razo que se d na forma de relato.
140
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
A possibilidade de um tal relato, com a encenao da testemunha mu-
da e seu intrprete, supe apenas uma teoria determinada do sujeito que fala,
uma teoria das relaes entre o sujeito, o saber, a palavra e a morte. Supe,
em suma, uma certa idia de psicanlise.
Michelet resume tal idia em uma idia que diz tudo: o historiador
um dipo, mas um dipo bem particular: no o decifrador cego do enigma
que traz sua perda, mas o decifrador do enigma que matou os outros por no
terem sabido decifr-lo; no o assassino de seu pai, mas libertador de sua
me, libertador da maternidade do sentido.
, exatamente, um dipo psicanalista que se instala numa pgina do
Dirio datado de janeiro de 1842. dipo figura ali como o mdico das almas,
das almas no sentido antigo, ou seja, as sombras do inferno. Tais sombras
morreram, com efeito, por no terem sabido o que diziam.
Morremos ainda gaguejando. o que atestam nossas tristes crnicas.
No tnhamos atingido o soberano atributo do homem, a voz distinta,
articulada, a nica que explica, consola enquanto explica. E se tivsse-
mos tido uma voz, teramos dito a vida? No o soubemos.
Acalmar o tumulto das vozes a desordem da poltica e do saber
acalmar a morte, acalmar a multido daqueles que morreram disso: que o
fato de viver implica no saber o que a vida, que o fato de falar implica no
saber o que se diz.
Para liberar as almas do peso dessa ignorncia preciso:
...um dipo que lhes explique seus prprios enigmas cujo sentido elas no
tiveram, que lhes ensine o que queriam dizer suas palavras, seus atos que
elas no compreenderam [...] preciso mais, preciso ouvir as palavras
que nunca foram ditas, que permaneceram no fundo dos coraes.
preciso fazer falar os silncios da histria, essas terrveis pausas onde ela
no diz mais nada e que so justamente seus tons mais trgicos.
Uma certa idia do inconsciente identifica-se assim com uma certa
idia da morte. O inconsciente no seno a falta desse saber da vida que
sempre falta ao ser vivo cativo da palavra.
Acalmar os mortos, reconduzir ao tmulo aqueles que morreram por
no saber o que toda vida ignora a voz que nela fala necessariamen-
te a obra de algum que deve ter ele prprio passado pela morte, esse rio
que o historiador nos diz ter tantas vezes atravessado e reatravessado em
prol daqueles que lhe dizem "aceitamos a morte em troca de uma linha sua".
Deixo de lado o aspecto necrfilo j bem comentado, a paixo de Michelet
por cadveres e tmulos, para me ater quilo que o centro da questo: a
141
AS PALAVRAS DA HISTRIA
identificao, em prol da cincia, entre uma teoria da morte e uma teoria da
passagem das vozes, a maneira pela qual a cincia inclui a morte como bar-
ra da ausncia e ao mesmo tempo como lugar de passagem.
A incluso da morte a incluso da distncia prpria cincia. A vali-
dade da cincia passa pela ausncia de seu objeto. Tal ausncia , em particu-
lar, o que distingue a histria da crnica. A histria cronista, a histria positi-
vista no erudita, pois no encara a morte, no enfrenta a ausncia de seu
objeto. Permanece colada a essa vida que gagueja. Resta-lhe gaguejar com ela
ou encontrar tapa-buracos que permitam racionalizar sua gagueira. De modo
inverso, a operao de Michelet, ao incluir a barra da morte, libera ao mesmo
tempo a voz do tmulo, ou seja, cientificamente falando a voz que a vi-
da, por no conhecer seu verdadeiro emissor, s libera gaguejando.
Reenterrar os mortos, reconduzi-los ao tmulo liberar a verdadeira
cena do discurso, a das testemunhas mudas. A teoria da testemunha muda
junta dois enunciados aparentemente contraditrios. Primeiramente, tudo
fala, no h mutismo, no h palavra perdida. Em segundo lugar, o nico que
fala realmente o mudo.
Primeiramente, no h palavra perdida, no recolhida, sem corpo
para recolh-la. No h palavra perdida, sem corpo que a produza, como no
h criana sem me. o que nos diz particularmente o captulo das Origens
do Direito Francs, onde Michelet trata daquilo que para ele o fundamento
do direito, no, como de costume, a propriedade, mas a filiao. No comeo
h a criana, o in-fans, aquele que no fala. Michelet examina pois o costu-
me antigo da exposio das crianas. Mas para nos mostrar que nunca h,
de fato, criana abandonada, que toda criana recolhida na maternidade da
natureza. Que nunca h criana abandonada, isso pode ser traduzido ime-
diatamente por esse equivalente: no h dor que no encontre sua voz.
Quais eram as queixas das mes, s elas poderiam dizer. As pedras cho-
ravam. O prprio oceano emocionou-se ao ouvir a Dnae de Simonide.
Em duas frases encontram-se bem resumidas as duas operaes que
definem a revoluo histrica do discurso de Michelet: uma colocao em re-
serva do dizer e um deslocamento de seu corpo.
Colocao em reserva do dizer: "s elas poderiam dizer". Entendamos
com isso que nenhuma mimesis poderia faz-lo. A nica que poderia dizer
muda. A narrao aparece sob o signo do inimitvel. Mas esse impossvel da
mimesis torna-se a garantia da verdade, a reserva da palavra verdadeira, que
ser restituda numa ordem de discurso radicalmente diferente. O impossvel
da mimesis produz a testemunha muda que detm a verdade da cincia, a
verdade que deve ser produzida, trazida luz por seu trabalho.
Deslocamento do corpo do dizer: me, nica que poderia dizer,
me inimitvel, faz eco, isto , se substitui, um discurso daquilo que no tem
costume de falar, um discurso das coisas. As pedras choram, o oceano se
kif
142
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
emociona. H um lugar do dizer, um lugar maternal, que fala pela me mu-
da. H o oceano que recolhe e faz passar Dnae, seu filho e sua voz.
Ainda aqui no "simplesmente literatura". uma operao preci-
sa que efetuada: um voltar-se contra si mesma da literatura. A Dnae de
Simonide, o poeta, o mentiroso apenas um personagem de fico. Mas
pode-se extrair do poema esses soluos das pedras e do mar esse mar
que fala por Dnae e por seu filho mudo; pode-se torn-los verdadeiros,
fazer com que passem para o lado da verdade. O "lado da verdade" aque-
le onde as palavras no esto escritas no papel ou no vento, e sim grava-
das na textura das coisas. O "lado da verdade" o lugar de uma expressi-
vidade e de um dizer mais verdadeiros do que essas palavras de tagarelas,
sempre contaminadas pela mentira dos literatos. L-se melhor a verdade,
nos diz Michelet, nos choros do que nas palavras, na disposio da paisa-
gem do que nos discursos. Ela melhor lida l onde ningum procura fa-
lar, procura enganar.
Mais uma vez, no se trata de uma mera questo romntica e desusa-
da de pantesmo, de comunicao com os mortos e de voz das bocas de som-
bra. Esse mundo das testemunhas mudas que a operao do historiador libe-
ra leva a uma significncia sem mentira talhada na pedra e na carne das
coisas , isto que a histria erudita de nosso tempo reivindicar como seu
domnio: em vez das cartas de embaixadores e do palavrrio dos pobres, a
multiplicidade das palavras que no falam, testemunhas mudas que se ofere-
cem a um novo deciframento: deciframento dessas paisagens onde leremos
o carter, a ao, os constrangimentos daqueles que eles produziram e que
por sua vez os transformaram; deciframento de todas as testemunhas e de to-
dos os traos daquilo que se chamar civilizao material: o mundo dos ob-
jetos e dos instrumentos, as prticas do cotidiano, os usos do corpo e as con-
dutas simblicas em suma, todo esse domnio que vai da "civilizao ma-
terial" histria das mentalidades que Michelet, o pai, a um s tempo sauda-
do e importuno, de nossa histria erudita, abriu para ela. Se nosso sculo
pde opor a solidez desse universo vaidade das cartas, foi porque Michelet
o marcou primeiro como o universo de um "tudo fala", porque ele marcou as
sinuosidades do territrio ou a eroso das pedras, os objetos caseiros ou as
prticas da vida cotidiana, como cena de um discurso ininterrupto, transfor-
mou-os em testemunhas, portadores de uma inscrio, de uma mensagem.
Faz deles as peas destacadas de uma configurao de sentido que se recons-
titui por recolamento, de uma configurao simblica, no sentido etimolgi-
co do symbolon: objeto partido em dois, cujos dois pedaos, novamente reu-
nidos, testemunham da aliana.
A aliana primeira aqui a aliana do corpo e da voz, isto , a aliana
da me e da criana destacada de seu corpo. O dipo de Michelet ser ento
a criana que libera sua me, que libera o sentido maternal. No captulo das
crianas abandonadas, recolhidas e eventualmente parricidas, Michelet
acrescenta, com efeito, uma pgina singular. Ele pe em cena um irmo mais
novo de dipo e de Moiss, Perseu, o filho dessa Dnae fechada com ele nu-
ma caixa sobre as ondas que a acompanham e lastimam.
143
AS PALAVRAS DA HISTRIA
Se Perseu est dentro da caixa porque o orculo predisse a seu av
que o filho de sua filha o mataria. Da as precaues do av e o que se segue:
Dnae trancada em sua torre, visitada pela chuva de ouro e entregue ao ca-
pricho das guas com o pequeno Perseu.
Mas Perseu um dipo feliz. Ele no desposar sua me e s matar
seu av inadvertidamente um acidente de estdio. O mito de Perseu ofe-
rece a verso mais otimista da ferida do sujeito que fala: a criana recolhida
logo depois de ser abandonada, levada por um mar que a um s tempo o
lugar que recolhe a criana e aquele que fala e faz passar o sentido. Perseu
levado pelas ondas com sua me. Levado e acompanhado por uma natureza-
me, ele chegar a salvo para liberar sua me e a Mulher em geral: a matriz
terrena do sentido, aquela que antes de mais nada faz com que haja palavra
e sentido, mesmo que esse sentido deva ser por sua vez registrado e liberado
pela criana que ela antes carregara.
Talvez possamos agora voltar a nosso ponto de partida: a mesa do rei
e seus papis, que podem ser tanto os relatrios dos embaixadores quanto a
papelada dos pobres. Podemos reconstituir o quebra-cabea que rene o his-
toriador e o rei, os papis sobre a mesa do rei e o mar ausente de seus olhos.
A tarefa de uma "nova histria" comea com o comeo das revolues moder-
nas, as revolues feitas pelos filhos do Livro os filhos de Ezequiel e de T-
cito, do Pilgrim's Progress e dos Droites de 1'homme. Comea no momento em
que pescadores e chefes de claque desempregados refazem os discursos de
Percnio e as profecias de Ezequiel. Diante disso vrios discursos e vrios
personagens podem, com efeito, definir-se.
H, em primeiro lugar, a velha crnica que continua republicana se
preciso for uma histria segundo os reis, mas sempre seguindo os passos
dos cronistas e dos diplomatas, a histria contra a qual Lucien Febvre vai di-
rigir sua cruzada.
H o empirismo real que desarma, linha a linha, revoluo aps revo-
luo, as armadilhas da homonimia e mostra que nada aconteceu a no ser
por inconseqncia criminosa. Diversos personagens lhe servem de escolta:
o "socilogo contemporneo" que define classes e propriedades, mas tam-
bm esse personagem que s vezes, em Braudel, vem sentar-se tambm
mesa do rei e encarregar-se de seus papis. O que faramos, se pergunta o au-
tor de Civilisation Materielle et Capitalisme, se estivssemos mesa com eles,
com as informaes de que dispem? Que conselhos lhes daramos para lan-
-los como vencedores na corrente acelerada dos produtos e das trocas? Ao
lado do "socilogo contemporneo" esboa-se assim um "economista con-
temporneo" apto a limpar a mesa dos relatrios diplomticos e das cartas de
amor, dos salmos e dos discursos, em prol da verdadeira circulao, a que se
d no mar das trocas.
Diante dessas figuras de um saber social que mantm o lugar do rei ou
toma ele prprio esse lugar, Michelet inventa um paradigma singular, indisso-
luvelmente poltico e cientfico: uma morte do rei sem regicdio, nem restau-
rao, uma morte republicana do rei que constata a disperso dos atributos re-
ais e leva em conta a papelada dos pobres, no para anul-la ou rabisc-la, e
144
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
sim para coloc-la em reserva e substitu-la por aquilo que realmente fala nela:
a terra que molda os homens, o mar onde fazem suas trocas, os objetos coti-
dianos onde so lidas suas relaes, a pedra que retm suas impresses.
O discurso da nova histria frisou a importncia dos gegrafos e de
seus mtodos na luta contra a velha histria. Mas antes de qualquer mtodo
til, h a operao inaugural de Michelet: a geografizao do sentido, a con-
ceitualizao da terra como espao de inscrio do sentido. Desde ento no
h mais contra-senso, fico ou literatura. Os filhos do Livro no poderiam se
perder. As frases do Livro so as vozes de corpos moldados pelas linhas de
uma paisagem e pelo carter de uma terra. O discurso do Livro, por mais ut-
pico ou heterodoxo que possa ser, sempre uma doxa, sempre o discurso de
um topos. A histria pode ser republicana com a condio de haver essa geo-
grafia primeira que reparte o excesso de palavras e a partilha das vozes entre
terra e mar, entre campinas, montanhas e vales.
Assim, em Michelet, a morte do rei se efetua em prol do povo, mas de
um povo geografizado: esse mosaico de homens e de grupos de homens que
descem de tal montanha, saem de tal mata, lavram tal campina, refletem tal
cu ou so penetrados por tal bruma.
Em Braudel o rei destitudo em prol do mar. O rei morreu mudo por
no ter conhecido o mar, por no ter conhecido essa extenso azul e lumino-
sa, esse "corao monocromtico" ou esse "mundo de luz idntica" que o li-
vro evoca em outra parte. Como entender, porm, tal destituio? Podera-
mos, antes de tudo, compreender o mar como o mundo da verdadeira troca,
desse discurso das mercadorias que impe seu tempo e suas leis aos prnci-
pes e aos oradores do pobre. A realeza do mar seria ento a da economia, do
poder da circulao.
Mas no seria ento a "fora da histria" ligada pessoa real que cor-
re o risco de desaparecer? Se no h, no lugar do rei e dos embaixadores re-
ais, pregadores e atores da revoluo, mas o discurso das mercadorias e o
tempo do desenvolvimento, a histria parece soobrar ao mesmo tempo que
o rei e sua papelada equvoca.
Por isso o Mediterrneo que sucede ao rei no pode ser apenas o cen-
tro de uma economia-mundo, o lugar de uma corrida onde aqueles que se
desenvolvem deixam aos que esto estagnados as rotinas primeiras da vida
material. tambm um lugar de discurso: esse lugar vazio, esse corao mo-
ntono, esse princpio de luz idntica que, ocupando o lugar vazio do rei,
herda sua fora da histria. A necessidade de o Mediterrneo ser mais do que
ele prprio, ser duplamente lugar do discurso, manifesta-se na constante ten-
so entre duas imagens. H a imagem matriz: o "vazio criador", o "corao de
luz idntica", e h as imagens empricas ou os conceitos geogrficos que se
empenham, como que por capricho, em descentrar e desensolarar esse cen-
tro de luz monocromtica.
Constantemente, com efeito, a anlise nos mostra um Mediterrneo
feito de vrias bacias costeiras, pouco profundas e separadas umas das ou-
tras, um mar sem centro, onde nunca se atravessa o centro, mas onde se pas-
sa ao longo das costas, um mar de cabotagem; um mar muitas vezes cinza e
145
AS PALAVRAS DA HISTRIA
brumoso que Eugne Fromentin, a caminho da frica, julga bem semelhan-
te ao Bltico; sobretudo um mar descentrado em relao a si prprio, produ-
zido pelas montanhas e pelos homens das montanhas e, inversamente, que
difunde ao longe sua vida para o interior das costas. Goethe sente o Medi-
terrneo desde a passagem do Brenner, Braudel vai mais longe, sentindo-o
desde Frankfurt, sentindo-o presente nas feitorias de Lubeck, como no co-
mrcio de Flandres.
Em suma, o livro construdo sobre um desdobramento, um interva-
lo entre o Mediterrneo dos marinheiros, dos comerciantes ou dos banquei-
ros, esse mar que passa rente s costas ou se perde ao longe nas terras, o
que o unifica, o que lhe ocasiona: o corao de luz idntica, o centro, o prin-
cpio de identificao entre um espao material e um espao de discurso.
Esse Mediterrneo primeiro o mesmo mar que acompanhava e fazia Perseu
e Dnae chegarem a salvo. o lugar daquilo que recolhe e faz passar o sen-
tido, no sentido do poros grego, daquilo que, como no Sofista, abre caminho,
fora a passagem do logos.
A sucesso real, a substituio do tempo das genealogias, das crnicas
e das profecias pelo espao das inscries da civilizao material e das trocas
s possvel, s pode ser arrancada dos homens de conta e dos livros de con-
ta, com uma condio: que tal espao que substitui o tempo seja duplicado
por sua prpria mitologia. Entendamos mitologia como o fizemos acima: co-
mo o princpio de equivalncia de um mythos e de um logos, de um espao
material e de um espao de discurso.
preciso ento reinterpretar a metfora marinha e o esquema triparti-
do que ela oferece a Braudel. H, ele nos diz, trs tempos e trs nveis que
devem ser considerados na construo da histria. H o fundo estagnado e
idntico a si mesmo: a vida material sempre semelhante a si mesma, o tempo
dos mudos e dos vencidos que no conseguem ir alm das economias de so-
brevivncia. H, em segundo lugar, as grandes ondas do progresso e do de-
senvolvimento das economias-mundos, o tempo vivo e tagarela dos empre-
endedores e dos vencedores. H, enfim, na superfcie, a espuma inconsisten-
te dos acontecimentos que abalam os prncipes e as multides antes de recair
em sua inconsistncia.
preciso compreender o seguinte: o primeiro nvel, a civilizao ma-
terial, o Mediterrneo imvel, no simplesmente o mundo daqueles que fi-
caram no cais, o espao primeiro da historialidade atravs da qual a escri-
tura da histria simplesmente possvel. O que se substitui ao rei no sim-
plesmente um mar das trocas, da velocidade, do capital esse mar que vai
precisamente se deslocar para o lado do oceano, do mar aberto que atraves-
samos, mas que, no entanto, no tem centro prprio para fazer dele um lu-
gar de escritura. O que se substitui ao rei como fora da histria um mar
de trocas que tem em seu cerne outro mar, um mar interior, um Mediterr-
neo primeiro, um mar historial que torna possvel o mar histrico, um tem-
po do retorno que torna possvel o tempo do progresso. Braudel fala desse
mar de uma histria imvel, que no entanto no se identifica com uma gua
estagnada, no ltimo captulo que trata da morte do rei. o mar das ilhas e
146
NOVOS ESTUDOS N 30 - JULHO DE 1991
dos portos, dos pescadores e das tabernas que os viajantes de nosso sculo
descrevem como sempre idntico a si mesmo.
assim que em Rhodes ou em Chipre Braudel nos convida, no rastro
dos grandes escritores contemporneos do Mediterrneo, a observar os pes-
cadores que jogam cartas na taberna esfumaada para termos uma idia do
que foi o "verdadeiro Ulisses". O "verdadeiro Ulisses", um Ulisses que no
mentiroso, um Ulisses que no mais de papel, o personagem que pode-
mos extrair do poema do mentiroso Homero, como a verdadeira Dnae do
poema do mentiroso Simonide. Porm, esse verdadeiro personagem se ope
tambm quele que a literatura de nosso sculo reencarna em Dublin, cus-
to de mil novos fraseados: um Ulisses insular e urbano, da mulher infiel, que
gira em torno de si mesmo em sua cidade de colonizado, dilacerado pela mul-
tiplicidade das lnguas.
Em suma, para que a fora de histria do rei seja transmitida para o
Mediterrneo preciso que este se desdobre, que o lugar das trocas econ-
micas tenha em seu centro um corao monocromtico, esse ponto de coin-
cidncia mtica entre espao material e espao de escritura. preciso uma
historialidade ou seja, uma geografia primeira que faa coincidir quatro lu-
gares: o espao mediterrneo como mundo de sujeies geogrficas, o mun-
do das trocas econmicas, o lugar vazio do rei morto e o lugar do relato, da
Odissia. Tal historialidade primeira s possvel se se torna a passar pelos
caminhos do livro, se se refaz o percurso do livro daquele que voltou a seu
ponto de partida. Exatamente como em Rousseau, onde o "odeio todos os li-
vros" se termina com um elogio do nico livro, Robinson Cruso, o livro da
ilha, a desconsiderao dada aqui literatura, ao rei e sua papelada em prol
da geografia do sentido e de seu mar interior, s se termina se se refaz o ca-
minho do outro "nico livro", o livro do mar escrito, percorrido pelo texto at
o ponto de retorno, que se tornou, antes mesmo de o nome de historiador
surgir, um territrio de escritura.
Tentei assinalar esta noite alguns momentos da constituio de um pa-
radigma de nossos saberes modernos, esse paradigma que se constri por au-
to-anulao da literatura, por homologia de um espao material e de um es-
pao de sentido escrito. Tentei restabelecer alguns elos de uma revoluo
epistmica, os laos complexos das certezas sbrias de nossas disciplinas e
de nossas metodologias e sua origem romntica. No simplesmente um
gosto manaco ou perverso de arquelogo, de bom grado preocupado em fa-
zer aparecer a pretenso de nossas luzes eruditas em sua iluminao fantas-
maticamente primeira mesmo se, como outros, me acontece de sorrir di-
ante das declaraes de trmino ou de superao que correm o mundo, as
certezas de ter dito adeus revoluo, ao sculo XIX, ao romantismo e mo-
dernidade. Sob o nome de romantismo procurei, antes de tudo, analisar um
certo momento do saber e da poltica do saber. A questo que deixo em aber-
to a seguinte: ser que da poca da revoluo dos filhos do Livro podem
surgir outras maneiras de escrever a histria, diferentes daquelas do empiris-
mo real ou do romantismo republicano? Ser que podemos imaginar a cria-
o de saberes da ausncia ou da traio, no sentido que indiquei acima, de
kkf
147
AS PALAVRAS DA HISTRIA
saberes histricos que consideram positivo que as palavras sempre remetam
a outras palavras e que o animal histrico um ser que conta histrias? Ser
que podemos pensar e criar outros saberes da historicidade democrtica?
Uma histria, histrias dos filhos do Livro, que no se encerram em Odis-
sia, no nico livro que percorre novamente o lugar onde isto j se falava?
Histrias de fazedores de histrias e de contadores de histrias que vm dar
golpes de lado, como dizia Benjamin, na rede de conexes atravs das
quais a significao do passado oferecida aos sucessores, isto , para ele,
aos vencedores? Ou, para continuar empregando esses termos, uma hist-
ria-limite que faa brilhar a constelao dessas histrias no instante de seu
perigo, beira do desaparecimento no discurso do tempo, beira dessas ra-
cionalizaes que as palavras guias da poltica trocam com as palavras guias
do saber social?
Terminar com tais questes no exclui, claro, uma ltima hiptese:
que as questes e as histrias aqui evocadas sejam apenas elas prpras, por
sua vez, cartas exibidas e guardadas em nome das quais a posio daquele
que sabe poderia consentir-se, com a certeza mais ou menos inquieta, no ter
efetivamente dito esta noite seno palavras.
Jacques Rancire filsofo,
professor da Universidade
Paris VIII.
Novos Estudos
CEBRAP
N 30, julho de 1991
pp. 131-148
RESUMO
O filsofo Jacques Rancire toma por base passagens das obras dos historiadores Fernand
Braudel e Jules Michelet para assinalar alguns momentos da constituio de um paradigma dos
saberes modernos.
148
Potrebbero piacerti anche
- Adela Cortina, Ciudadanía Intercultural, 2006 PDFDocumento278 pagineAdela Cortina, Ciudadanía Intercultural, 2006 PDFAngélica Noriega VillamizarNessuna valutazione finora
- A "Disputa Do Positivismo Na Sociologia Alemã" - o Confronto Entre Karl Popper e Theodor Adorno No Congresso Da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961Documento9 pagineA "Disputa Do Positivismo Na Sociologia Alemã" - o Confronto Entre Karl Popper e Theodor Adorno No Congresso Da Sociedade de Sociologia Alemã de 1961Rosi GiordanoNessuna valutazione finora
- Origens da Sociologia na França do século XIXDocumento3 pagineOrigens da Sociologia na França do século XIXAnderson AntunesNessuna valutazione finora
- Ideologia e contraideologia: temas e variações de Alfredo BosiDocumento5 pagineIdeologia e contraideologia: temas e variações de Alfredo BosiMauro L.Nessuna valutazione finora
- ÉticaDocumento2 pagineÉticaPaulo Andrade II100% (1)
- Ciência, ideologia e progresso: conflitos e alianças ao longo da históriaDocumento251 pagineCiência, ideologia e progresso: conflitos e alianças ao longo da históriaJurandirNessuna valutazione finora
- Sandro Ouriques Cardoso - Manifestações de Arte Enquanto Formas de Resistência Na Perspectiva Dos Direitos CulturaisDocumento67 pagineSandro Ouriques Cardoso - Manifestações de Arte Enquanto Formas de Resistência Na Perspectiva Dos Direitos CulturaisAbner FerreiraNessuna valutazione finora
- Resenha de Baudelaire, o Pintor Da Vida ModernaDocumento3 pagineResenha de Baudelaire, o Pintor Da Vida ModernaLayza CarlaNessuna valutazione finora
- John Dawsey - Descrição Tensa - Geertz, Benjamin e PerformanceDocumento30 pagineJohn Dawsey - Descrição Tensa - Geertz, Benjamin e PerformanceDayane FernandesNessuna valutazione finora
- Geertz analisa Tristes Trópicos de Lévi-Strauss como mito antropológicoDocumento2 pagineGeertz analisa Tristes Trópicos de Lévi-Strauss como mito antropológicoSaru VidalNessuna valutazione finora
- Teatralidade em Avignon: análise da encenação e conceitosDocumento22 pagineTeatralidade em Avignon: análise da encenação e conceitosLIvros Borelli0% (1)
- A Sociedade Do Espetaculo - Guy DebordDocumento199 pagineA Sociedade Do Espetaculo - Guy DebordruriakNessuna valutazione finora
- História Da Expressão - Afinidade EletivaDocumento14 pagineHistória Da Expressão - Afinidade EletivaSílvia PintoNessuna valutazione finora
- A idéia de causalidade de Descartes a KantDocumento15 pagineA idéia de causalidade de Descartes a KantNinguno PorahoraNessuna valutazione finora
- Frankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaDocumento4 pagineFrankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaGiovannaNessuna valutazione finora
- A Escola de Frankfurt e A Questão Da Cultura - Renato OrtizDocumento22 pagineA Escola de Frankfurt e A Questão Da Cultura - Renato OrtizRaphaelNessuna valutazione finora
- AGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFDocumento14 pagineAGAMBEN, Giorgio. Arqueologia Da Obra de Arte PDFMaykson CardosoNessuna valutazione finora
- Caminhos do fim da históriaDocumento106 pagineCaminhos do fim da históriaalexandre_saNessuna valutazione finora
- Considerações Sobre A Encenação de Marat-Sade Por Peter BrookDocumento13 pagineConsiderações Sobre A Encenação de Marat-Sade Por Peter BrookCarlin FrancoNessuna valutazione finora
- Uma teoria realista da natureza da culturaDocumento25 pagineUma teoria realista da natureza da culturaAlexandre San GoesNessuna valutazione finora
- Bourdieu - O Amor Pela ArteDocumento23 pagineBourdieu - O Amor Pela ArteThays SalvaNessuna valutazione finora
- Abordagens Sobre o FeminismoDocumento11 pagineAbordagens Sobre o FeminismoOlivaniaNessuna valutazione finora
- O Seculo de Grete Samsa, Karel KosikDocumento11 pagineO Seculo de Grete Samsa, Karel KosikRenan ReisNessuna valutazione finora
- Monólogo para um cachorro mortoDocumento3 pagineMonólogo para um cachorro mortoJoão Paulo AndradeNessuna valutazione finora
- Análise comparativa dos modos de existência na obra de Latour e cosmopolíticas indígenasDocumento23 pagineAnálise comparativa dos modos de existência na obra de Latour e cosmopolíticas indígenasKauã VasconcelosNessuna valutazione finora
- A liberdade e as leis naturaisDocumento8 pagineA liberdade e as leis naturaisFERNANDO ARAUJONessuna valutazione finora
- Origens e implicações das imagens técnicas segundo FlusserDocumento13 pagineOrigens e implicações das imagens técnicas segundo FlusserEliete PereiraNessuna valutazione finora
- O Papel Do Cientista Na SociedadeDocumento12 pagineO Papel Do Cientista Na SociedadeEster Souza100% (1)
- A Forma, o Discurso e A Política. Gerações Da Tragédia Na Atenas Do Século VDocumento236 pagineA Forma, o Discurso e A Política. Gerações Da Tragédia Na Atenas Do Século VPierre FernandesNessuna valutazione finora
- O indivíduo atingido no coração pelo poder públicoDocumento12 pagineO indivíduo atingido no coração pelo poder públicoKyiaMirnaNessuna valutazione finora
- Foucault, Simplesmente - Salma T. MuchailDocumento71 pagineFoucault, Simplesmente - Salma T. MuchailTayir GhamiqNessuna valutazione finora
- Análise estrutural de Lévi-Strauss sobre parentesco e mitologiaDocumento7 pagineAnálise estrutural de Lévi-Strauss sobre parentesco e mitologiaFred1211Nessuna valutazione finora
- O Homo Sociologicus em Weber e DurkheimDocumento10 pagineO Homo Sociologicus em Weber e DurkheimRaphael T. SprengerNessuna valutazione finora
- Artigo BourdieuDocumento9 pagineArtigo BourdieuLouise TavaresNessuna valutazione finora
- Mediações Culturais e InformaçãoDocumento24 pagineMediações Culturais e Informaçãoguto_Nessuna valutazione finora
- Teoria Crítica e Cultura na ModernidadeDocumento4 pagineTeoria Crítica e Cultura na ModernidadeAndré SoaresNessuna valutazione finora
- Pedro Süssekind - A Filosofia em Hamlet PDFDocumento20 paginePedro Süssekind - A Filosofia em Hamlet PDFCharles HopeNessuna valutazione finora
- Memória Coletiva e Teoria SocialDocumento236 pagineMemória Coletiva e Teoria SocialFatima Ferreira100% (1)
- Texto 6 - Os Irmãos Campos - Parte 1 (Haroldo de Campos)Documento8 pagineTexto 6 - Os Irmãos Campos - Parte 1 (Haroldo de Campos)Solange AcostaNessuna valutazione finora
- Anais XVI Ciclo Segredo PDFDocumento941 pagineAnais XVI Ciclo Segredo PDFJoelson NunesNessuna valutazione finora
- O Nativo e o NarrativoDocumento12 pagineO Nativo e o NarrativosermolinaNessuna valutazione finora
- Teoria Dos Modos Na Ética de SpinozaDocumento4 pagineTeoria Dos Modos Na Ética de SpinozadecosampaNessuna valutazione finora
- Diferentes olhares sobre o Laocoonte de Winckelmann e WarburgDocumento47 pagineDiferentes olhares sobre o Laocoonte de Winckelmann e WarburgCondi100% (1)
- Poesia de TranströmerDocumento2 paginePoesia de TranströmerSan Ban CastroNessuna valutazione finora
- Marilena Chaui - Filosofia ModernaDocumento13 pagineMarilena Chaui - Filosofia ModernaPatricia GomesNessuna valutazione finora
- CARLI, Ranieri. LUKÁCS, LITERATURA E O IMPERATIVO DA CATARSE REALISTA-1Documento15 pagineCARLI, Ranieri. LUKÁCS, LITERATURA E O IMPERATIVO DA CATARSE REALISTA-1Kárita BorgesNessuna valutazione finora
- Escritas da violência na literatura brasileiraDocumento263 pagineEscritas da violência na literatura brasileiraAdenis ChavesNessuna valutazione finora
- Debate Habermas x FoucaultDocumento10 pagineDebate Habermas x FoucaultSílvio CarvalhoNessuna valutazione finora
- Micro e macro: escalas na história globalDocumento12 pagineMicro e macro: escalas na história globalReginaldo Alves d'AraújoNessuna valutazione finora
- A ecologia da economia política marxistaDocumento18 pagineA ecologia da economia política marxistaEziel de OliveiraNessuna valutazione finora
- Individualismo Romântico e Democracia ModernaDocumento13 pagineIndividualismo Romântico e Democracia ModernaDanielle Santiago da Silva VarelaNessuna valutazione finora
- A formação das classes sociais segundo MarxDocumento10 pagineA formação das classes sociais segundo MarxValéria Ferraz0% (1)
- Marx Manuscritos Econômico-FilosóficosDocumento69 pagineMarx Manuscritos Econômico-FilosóficosAllan Messias100% (1)
- História de países imaginários: variedades dos lugares utópicosDa EverandHistória de países imaginários: variedades dos lugares utópicosNessuna valutazione finora
- Futuro na Filosofia da História de G. W. F. HegelDa EverandFuturo na Filosofia da História de G. W. F. HegelNessuna valutazione finora
- Imaginação, Desejo e Erotismo: Ensaios sobre sexualidadeDa EverandImaginação, Desejo e Erotismo: Ensaios sobre sexualidadeNessuna valutazione finora
- Hans Ulrich Gumbrecht. Mundo Cotidiano e Mundo Da Vida.Documento15 pagineHans Ulrich Gumbrecht. Mundo Cotidiano e Mundo Da Vida.Luiz Bruno DantasNessuna valutazione finora
- Tortura À FrancesaDocumento6 pagineTortura À FrancesaLuiz Bruno DantasNessuna valutazione finora
- Cascatas de Modernidade PDFDocumento12 pagineCascatas de Modernidade PDFlbrunodf100% (2)
- Civilização e Barbárie PDFDocumento12 pagineCivilização e Barbárie PDFLuiz Bruno Dantas100% (1)
- O Que Os Economistas Pensam Sobre Sustentabilidade? Ricardo Abramovay.Documento12 pagineO Que Os Economistas Pensam Sobre Sustentabilidade? Ricardo Abramovay.Luiz Bruno Dantas100% (1)
- C. W. Porto-Gonçalves. Outra Verdade Inconveniente.Documento5 pagineC. W. Porto-Gonçalves. Outra Verdade Inconveniente.Luiz Bruno DantasNessuna valutazione finora
- Dadá e SurrealismoDocumento12 pagineDadá e SurrealismoLuiz Bruno DantasNessuna valutazione finora
- O Romance SimbolistaDocumento10 pagineO Romance SimbolistaLuiz Bruno Dantas100% (1)
- Performance em Telepresença - Dissertação de MestradoDocumento116 paginePerformance em Telepresença - Dissertação de MestradoAlice StefâniaNessuna valutazione finora
- Eugenia na Careta durante o Governo ProvisórioDocumento316 pagineEugenia na Careta durante o Governo ProvisórioMarcelo Almeida100% (1)
- ZIZEK, Slavoj - O "Narcisismo Patológico" Como Uma Forma Socialmente Mandatória de NarcisismoDocumento22 pagineZIZEK, Slavoj - O "Narcisismo Patológico" Como Uma Forma Socialmente Mandatória de NarcisismoDaniel Ultra100% (1)
- A Barba de Platão e suas soluçõesDocumento10 pagineA Barba de Platão e suas soluçõesLeonardo Araújo OliveiraNessuna valutazione finora
- Sincretismo - Lúcia TeixeiraDocumento26 pagineSincretismo - Lúcia TeixeiraN.V.P100% (1)
- Teoria da Magia de MaussDocumento2 pagineTeoria da Magia de MaussPaulinho HolandaNessuna valutazione finora
- O Respeito de Fundos em Arquivo - DucheinDocumento17 pagineO Respeito de Fundos em Arquivo - DucheinWellington VieiraNessuna valutazione finora
- Carater e Neurose Intro - NARANJO PDFDocumento25 pagineCarater e Neurose Intro - NARANJO PDFLeonam Rocha50% (2)
- 2010 PriscilaNascimentoMarques PDFDocumento324 pagine2010 PriscilaNascimentoMarques PDFGiordano LeonardNessuna valutazione finora
- Tese - As Modalidades Do Ato e Sua Singularidade Na Adolescência - Carla Almeida CapanemaDocumento98 pagineTese - As Modalidades Do Ato e Sua Singularidade Na Adolescência - Carla Almeida CapanemasansansaoNessuna valutazione finora
- Carl Rogers - Sobre o Seu Paradigma Fenomenológico Existencial em Psicologia e PsicoterapiaDocumento46 pagineCarl Rogers - Sobre o Seu Paradigma Fenomenológico Existencial em Psicologia e PsicoterapiaLouri Minora100% (1)
- Gêneros Textuais Nos Livros Didáticos de Português (Santos) - 2011Documento339 pagineGêneros Textuais Nos Livros Didáticos de Português (Santos) - 2011docentelpfile86% (7)
- João Cabral de Melo Neto: Considerações sobre o poeta dormindoDocumento80 pagineJoão Cabral de Melo Neto: Considerações sobre o poeta dormindoleonardo_lindolfo100% (1)
- A Escolha dos ConsumidoresDocumento42 pagineA Escolha dos ConsumidoresDiego Carneiro100% (5)
- História Das Relações InternacionaisDocumento252 pagineHistória Das Relações InternacionaisLarissa França75% (4)
- A análise crítica das principais teorias das crises financeirasDocumento20 pagineA análise crítica das principais teorias das crises financeirastrofterNessuna valutazione finora
- As Crises e A Manobra de CrisesDocumento36 pagineAs Crises e A Manobra de CrisesSalvador RazaNessuna valutazione finora
- Desidério Murcho, Um Diálogo Sobre o FalsificacionismoDocumento6 pagineDesidério Murcho, Um Diálogo Sobre o FalsificacionismoisabelmouradNessuna valutazione finora
- Cure-Se e Cure Pelos Passes - Jacob MeloDocumento443 pagineCure-Se e Cure Pelos Passes - Jacob Meloumare_sauaru100% (6)
- Che Cosa È La Criminologia CriticaDocumento7 pagineChe Cosa È La Criminologia CriticaAlanNessuna valutazione finora
- Direito Internacional I - Anotações de AulaDocumento7 pagineDireito Internacional I - Anotações de AulananothreeNessuna valutazione finora
- Bernstein e a Sociologia da EducaçãoDocumento14 pagineBernstein e a Sociologia da EducaçãoLucianaZambonNessuna valutazione finora
- Dissertacao Autoria Arte ContemporâneaDocumento110 pagineDissertacao Autoria Arte ContemporâneaRaíza CavalcantiNessuna valutazione finora
- Artigo de Fabrício SilveiraDocumento23 pagineArtigo de Fabrício SilveiraGustavo Ramos de SouzaNessuna valutazione finora
- A Coesão Por Conectores No Português MedievalDocumento175 pagineA Coesão Por Conectores No Português MedievalMarcos Nakayama100% (1)
- A Democracia em Rui Barbosa PDFDocumento128 pagineA Democracia em Rui Barbosa PDFLeonardo Moreira LeiteNessuna valutazione finora
- Introdução À Teoria Do Enunciado Concreto Do Círculo Bakhtin-Volochinov-MedvedevDocumento146 pagineIntrodução À Teoria Do Enunciado Concreto Do Círculo Bakhtin-Volochinov-MedvedevSilvio DemétrioNessuna valutazione finora
- 01 OLIVEIRA, Roberto Cardoso De. 1991. A Antropologia de Rivers. Campinas.. Editora Da UNICAMP. Pp. 1-91Documento89 pagine01 OLIVEIRA, Roberto Cardoso De. 1991. A Antropologia de Rivers. Campinas.. Editora Da UNICAMP. Pp. 1-91Natália Regina Sá100% (2)
- A Propósito de Ciência e DialéticaDocumento15 pagineA Propósito de Ciência e DialéticaFábio Wanderley ReisNessuna valutazione finora
- PDF Sobre Estagio PDFDocumento14 paginePDF Sobre Estagio PDFmarcia cristinaNessuna valutazione finora