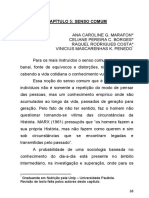Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Investigações Sobre o Agir Humano PDF
Caricato da
Tássio Ricelly0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
188 visualizzazioni397 pagineTitolo originale
Investigações sobre o agir humano.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
188 visualizzazioni397 pagineInvestigações Sobre o Agir Humano PDF
Caricato da
Tássio RicellyCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 397
ISBN 978-85-7621-091-7
Galileu Galilei Medeiros de Souza
Francisco de Assis Costa da Silva
(organizadores)
Investigaes sobre
O Agir Humano
Investigaes sobre
O Agir Humano
GALILEU GALILEI MEDEIROS DE SOUZA
FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA
(Organizadores)
Investigaes sobre
O Agir Humano
AUTORES
Antnio Jlio Garcia Freire
Elder Lacerda Queiroz
Francisco de Assis Costa da Silva
Francisco Ramos Neves
Galileu Galilei Medeiros de Souza
Guilherme Paiva de Carvalho Martins
Jean Henrique Costa
Jos Renato de Arajo Sousa
Josalton Fernandes de Mendona
Jos Teixeira Neto
Lindoaldo Vieira Campos Jnior
Lourival Bezerra da Costa Jnior
Marcela A. Pereira Cabrita
Marcos de Camargo Von Zuben
Maria Jos da C. Souza Vidal
Tssio R. Pinto de Farias
Telmir de Souza Soares
Edies UERN
Mossor, 2014
I62 Investigaes sobre o agir humano. / Galileu Galilei Medeiros de
Souza, Francisco de Assis Costa da Silva (Orgs). Mossor: UERN,
2014.
Edies UERN
394 p.
ISBN: 978-85-7621-091-7
1. Filosofia. 2. Investigaes filosficas. 3. Agir humano. I. Souza,
Galileu Galilei Medeiros de. II. Silva, Francisco de Assis Costa da. III.
Ttulo.
UERN/BC CDD 100
Copyright Edies UERN, 2014.
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro poder ser reproduzida ou transmitida, sejam quais
forem os meios empregados, sem a autorizao prvia e por escrito dos autores.
Editorao: Galileu Galilei Medeiros de Souza
Projeto Grfico/Capa: Galileu Galilei Medeiros de Souza.
Foto da capa: Paul Czanne (Les joueurs de cartes, 1890-1892)
Reviso: Francisco de Assis Costa da Silva
Catalogao da Publicao na Fonte.
Bibliotecria: Elaine Paiva de Assuno CRB 15 / 492
Direitos em lngua portuguesa reservados s Edies UERN
BR 110 Km 46 Rua Prof. Antnio Campos, s/n.
Bairro Costa e Silva
CEP: 59.633.010
Caixa Postal 70 Mossor/RN.
Fone: (84) 3315.2177
www.uern.br
edicoesuern@uern.br
SUMRIO
APRESENTAO 7
1. A LGICA DA VIDA MORAL COMO
CHAVE DE COMPREENSO DA FILOSOFIA
COMO TAREFA 15
Galileu Galilei Medeiros de Souza
2. CINCIA E CRIAO CIENTFICA 55
Josalton Fernandes de Mendona
3. LINGUAGEM E CULTURA EM WITTGENSTEIN 77
Guilherme Paiva de Carvalho Martins
4. O PROBLEMA DA CULTURA
EM DA INTERPRETAO DE PAUL RICOUER 101
Flvio Jos de Carvalho
5. SOBRE RAZO E SENTIMENTOS MORAIS 119
Maria Jos da C. Souza Vidal
6. ECOLOGIA, AMBIENTE E VIDA:
UM OLHAR SOBRE A QUESTO AMBIENTAL
E SUAS REPERCUSSES TICAS 133
Francisco de Assis Costa da Silva
7. A IDEIA DO CAPITALISMO ESTTICO:
DO FETICHISMO DA MERCADORIA
EXPLORAO DO SENSRIO 151
Elder Lacerda Queiroz
8. ASPECTOS DO CONCEITO DE ALIENAO
EM ROUSSEAU E MARX 199
Telmir de Souza Soares
Investigaes sobre
O Agir Humano
6
9. NOTAS SOBRE O TEMPO LIVRE EM
THEODOR W. ADORNO 227
Jean Henrique Costa; Marcela A. Pereira Cabrita; Tssio R. Pinto de Farias
10. A TEORIA REVOLUCIONRIA DA VIOLNCIA PURA A
PARTIR DE BENJAMIN:
PODER, VIOLNCIA E ESTADO DE EXCEO
NA HISTRIA. 249
Francisco Ramos Neves
11. DE PACE FIDEI: PRESSUPOSTOS PARA
A CONCRDIA E A PAZ PERPTUA
NAS RELIGIES 263
Jos Teixeira Neto
12. POLTICA, EDUCAO E FORMAO MORAL
NAS LEIS DE PLATO 281
Jos Renato de Arajo Sousa
13. PENSAMENTO PURO E IMAGEM
NO FDON DE PLATO 307
Lourival Bezerra da Costa Jnior
14. A NATUREZA DA ALMA
E A CAUSA DAS DOENAS ANMICAS:
UMA INTRODUO SOBRE O SIGNIFICADO
DA MORTE EM LUCRCIO 353
Antnio Jlio Garcia Freire
15. NIETZSCHE: O TRGICO
COMO AFIRMAO DA VIDA 369
Marcos de Camargo Von Zuben; Lindoaldo Vieira Campos Jnior
APRESENTAO
Onde comea a filosofia? Com essa pergunta Maurice Blondel
iniciava um artigo publicado em 1906, Le point de dpart de la recherche
philosophique
1
, em que procurava falar sobre as caractersticas de uma
investigao filosfica. Eram tempos de entusiasmo e preocupao. As
cincias positivas iam de vento em popa, enquanto a filosofia e,
especialmente, a tica e a metafsica, experimentavam uma crtica sem
precedentes. Desta vez, os seus adversrios tinham se tornado parte
majoritria nas discusses. No tardou, todavia, para que tambm a
cincia positiva tomasse assento na tragdia contempornea da crise da
razo, alargada como crise civilizatria.
Mas, que relao h entre a pergunta sobre o incio da filosofia e
essa to anunciada crise? Uma relao estreita, antes como hoje.
Para Blondel, a questo sobre onde comea a filosofia no se
resolve no referimento a sua apario cronolgica. Diversamente, ela se
desenvolve como investigao do que seja a filosofia, incluindo, de seus
motivos. Extravasando o ambiente cultural da Grcia antiga, a
compreenso a respeito desses motivos parece no ser dada de uma vez
por todas, mas evoluir de acordo com as expectativas e desafios de cada
poca. A resposta sobre o que a filosofia tem a oferecer parece se
modificar sem, contudo, deixar de se referir a uma mesma intuio
originria, a saber, ligada compreenso de nossa relao com o ser.
Nesse sentido, a filosofia um programa de conhecimento para o qual
imprescindvel a justificao das prprias condies.
Como esse olhar da filosofia sobre ela mesma se expressa em
tempos de crise da razo? A razo descobre-se em crise causa da outra
crise, civilizatria exatamente quando a filosofia descobre-se faltosa em
sua justificao como programa de conhecimento.
1
BLONDEL, Maurice. "Principe lmentaire d'une logique de la vie
morale. In: ______. Ouvres compltes II: 1888-1913. La philosophie de L'Action et
la crise moderniste. Paris, PUF, 1997, p. 365-385.
Investigaes sobre
O Agir Humano
8
No sem razo que na histria dos quatro mais significativos
movimentos filosficos contemporneos a saber, a filosofia analtica, a
fenomenologia, o marxismo ocidental e o estruturalismo
2
, com o
endereamento de seus respectivos movimentos de superao (seus
ps...), desenvolveram-se pesquisas que se pautam fundamentalmente
pela investigao da natureza da filosofia, de sua legitimidade como
programa de conhecimento. Nelas se procura identificar os limites lcitos
do emprego da razo especulativa, como instrumento de mediao entre o
mundo da existncia, da vivncia concreta, e o discurso dos especialistas.
A filosofia contempornea apresenta-se eminentemente como
indispensvel exerccio de preservao da originalidade da prtica e do
mundo da vida contra o perigo da alienao resultante das intervenes
objetivadoras, moralizantes e estetizantes das culturas de especialistas
3
.
Observava Maurice Merleau-Ponty, em Les philosophes Clbres,
4
que no h modo de enfocar o que importou e o que importar em
filosofia sem partir de si e, assim, sem encarar a tradio de um ponto de
vista prprio e localizado. Partindo do estado atual em que se encontra a
filosofia, bem certo que a ela cabe uma tarefa mediadora,
profundamente ligada leitura de sua prpria tradio e, mais
extensivamente, da tradio cultural na qual ela se nutre.
Pensando na centralidade contempornea desse enfoque dessa
tarefa mediadora , esse livro rene alguns textos de pesquisadores e
estudiosos ligados filosofia e a um projeto comum e concreto de criao
de um programa de ps-graduao nessa rea, junto Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte, voltado fundamentalmente para o
estudo da histria da filosofia e da filosofia da cultura. O presente livro
composto por onze artigos que procuram traar orientaes investigativas
a respeito de importantes problemas relacionados com a funo
interpretadora da filosofia em relao ao agir humano.
2
Cf. HABERMAS, Jrgen. Pensamento Ps-metafsico. 2. Ed. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p. 12.
3
HABERMAS, idem, p. 27.
4
Cf. MERLEAU-PONTY, Maurice. LExistence et la dialectique. In:
_____. Les philosophes Clbres. Paris, ditions DArt Lucien Mazenod, 1956.
(Collection la Galerie des Hommes Clbres), p. 288-291.
Investigaes sobre
O Agir Humano
9
Em A lgica da vida moral como chave de compreenso da filosofia como
tarefa, o Professor Galileu Galilei Medeiros de Souza apresenta uma leitura
do escrito blondeliano referido no incio dessa apresentao, Le point de
dpart de la recherche philosophique, como um lugar privilegiado para se
entender a proposta de prepor especulao filosfica e lgica abstrata,
que a substancia, uma lgica e funo mais originais. Desse modo, a
filosofia ser evidenciada como tarefa e exerccio de reintegrao entre
reflexo e prospeco (experincia vivida) e no simplesmente como um
programa de representao da realidade.
Em seguida, em Cincia e criao cientfica, o Professor Josalton
Fernandes de Mendona problematiza a interpretao tradicional da
cincia positiva que a entende como sendo portadora de uma
racionalidade superior, dotada de neutralidade e autonomia , para
sugeri-la alternativamente como um programa de conhecimento ligado
prtica ou atitude de seus cultores o que implica que ela incorporar
tanto valores pessoais e sociais, quanto elementos heursticos.
Na mesma direo geral, de aproximao entre discurso e prtica,
o Professor Guilherme Paiva de Carvalho Martins prope, em Linguagem e
cultura em Wittgenstein, um texto cujo foco o exame da relao entre a
construo de valores morais e a formao da identidade cultural. Nesse
escrito se discute o modo como Wittgenstein interpreta o uso da
linguagem, migrando de uma apresentao do discurso vlido como sendo
restrito proposio ao entendimento de que, qualquer que seja o
discurso, ele ser sempre tanto um resultado da prtica, quanto a causa de
seu enriquecimento, pela elucidao do sentido da prtica que o uso
compartilhado da lngua propicia. Essa reviravolta interpretativa permitir
entender a afirmao do primado da cultura em relao ao uso da lngua e
a relativizao de sua vinculao a um uso cientfico universalmente
normativo.
Tratando de examinar alguns pontos centrais do famoso
ensaio de Paul Ricoeur a respeito da psicanlise de Freud Da
Interpretao: ensaio sobre Freud , o Professor Flvio Jos de
Carvalho, em O problema da cultura em Da interpretao de Paul
Ricoeur, destaca outra importante reviravolta ligada considerao
Investigaes sobre
O Agir Humano
10
da cultura, a saber, a de como a psicanlise freudiana migrar de
uma perspectiva fisicalista a uma outra metacultural, tornando-se
cada vez mais filosfica. Nesse captulo, analogamente (com suas
proximidades e discrepncias) ao que se mostrar no seguinte
Sobre razo e sentimentos morais , evidencia-se o esforo para se falar
de uma certa funo reguladora da cultura.
Na sequncia, assim, a Professora Maria Jos da Conceio Souza
Vidal, em seu artigo Sobre razo e sentimentos morais, traz-nos indicaes a
respeito de como, a partir da filosofia de Ernst Tugendhat e diante da
necessidade de se pensar uma tica compartilhada (dever ser) para se
assegurar o futuro da humanidade (querer ser) em uma poca de crise
da razo, possvel apostar na edificao do compromisso tico sobre a
base da adeso a uma comunidade moral, onde se cultivam sentimentos
morais de apreciao e desaprovao.
No distante dessas preocupaes ticas, o Professor Francisco
de Assis Costa da Silva, em Ecologia, ambiente e vida: um olhar sobre a questo e
suas repercusses ticas, discute o problema paradoxal da necessidade e da
falta de um consenso moral em torno da inadivel questo ambiental, que
enfrentamos em nossos dias. O iminente risco de potencializao
catastrfica da atual problemtica ambiental leva ao imperativo no s de
repensar a relao entre o homem e o meio ambiente, mas da assuno
concreta de novos estilos de vida. preciso modificar o estilo de vida
humana se quisermos garantir a possibilidade de sobrevivncia das
geraes futuras. O problema que no h um consenso fcil a esse
respeito, desde que a crise da fsica aristotlica repercutiu na autoridade
moral das religies. Situao esta agravada pela insistncia da mentalidade
consumista e capitalista de nosso tempo.
O artigo do Professor Elder Lacerda Queiroz, A ideia do capitalismo
esttico: do fetichismo da mercadoria explorao do sensrio, por seu turno,
procura enfocar o cultivo, por parte do capitalismo mais contemporneo
(ps-industrial), do apelo esttico e fetichista da mercadoria, voltado para
provocar os sentidos e, assim, o consumo. Para a interpretao de mundo
apregoada por essa mentalidade capitalista ser equivale a aparecer. O
que no se destaca e no provoca o sensrio parece perder consistncia. A
Investigaes sobre
O Agir Humano
11
explorao capitalista se estende, desse modo, do abuso do trabalho para
o abuso dos desejos e dos estmulos sensoriais, mantendo, porm, sua
meta intocada: o aumento do lucro. Uma alienao mais sutil, mas sempre
uma alienao.
O exame da noo de alienao, to caro tradio ligada ao
marxismo ocidental, proposto tambm pelo Professor Telmir de Souza
Soares, em Aspectos do conceito de alienao em Rousseau e Marx. Como o
prprio ttulo do artigo sugere, ele evidencia e compara as noes de
alienao presentes no pensamento filosfico-poltico desses dois autores.
Por essa estratgia, colhe proximidades e diferenas, mas, e isso essencial
no texto, nunca oposies. Com efeito, a oposio entre os conceitos de
alienao nos dois autores parece inevitvel. Primeiramente, porque a
noo de alienao em Rousseau, caracterizada como a necessria
renncia de cada um dos cidados ao seu bem individual em prol do bem
coletivo, implica que, para esse filsofo, a alienao individual seria uma
condio sine qua non para estabelecer o contrato social e, assim, a garantia
do bem comum. Ademais, o conceito de alienao em Marx aplicada
tanto expropriao do trabalhador em relao ao fruto de seu trabalho,
quanto anulao de si mesmo que consequncia do processo capitalista
de trabalho no admitiria nenhuma interpretao benvola, como
aquela que ocorre em Rousseau. No obstante esses pretextos, seja
porque em Rousseau h tambm uma interpretao negativa da alienao,
especialmente enquanto alienao da liberdade e do bem comum de um
povo, seja porque em Marx h espao para se pensar em um trabalho
cujos frutos e atividade no so alienantes, apesar de comportarem uma
transferncia de benesses, no se poderia considerar tais interpretaes
simplesmente como opostas. O texto pretende justificar essa leitura.
Notas sobre o tempo livre em Theodor W. Adorno, do Professor Jean
Henrique Costa, em colaborao com dois orientandos, Marcela A.
Pereira Cabrita e Tssio R. de Pinto Farias, traz-nos uma interessante
exposio, evidentemente baseada na filosofia de Adorno, a respeito de
uma outra alienao, a ns perturbadoramente contempornea, ligada
dessa vez ao tempo livre. Na sequela de Adorno e da teoria crtica,
seremos guiados por essa leitura a tomar conscincia do quanto nosso
Investigaes sobre
O Agir Humano
12
tempo dito livre encontra-se aprisionado a uma viso alienante
do trabalho.
Tambm ligado ao exame de noes tradicionalmente caras
teoria crtica, encontraremos em nosso livro o artigo do Professor
Francisco Ramos Neves, A teoria revolucionria da violncia pura a partir de
Benjamin: poder, violncia e estado de exceo na histria. O texto, partindo do
pensamento de Walter Benjamin e de autores a ele prximos, apresenta e
ope conceitos diferentes de violncia, a saber, os de uma violncia
instrumental, a servio unicamente da constituio e manuteno das
estruturas capitalistas de poder e modos de vida a elas ligadas, e a violncia
pura, ou seja, o despertar e insurgir-se dos historicamente oprimidos
contra a violncia dos opressores, tendo como fim o resgate da dignidade
e dos valores humanos. Mais exatamente, o texto procura evidenciar a
violncia pura como sendo uma contraviolncia.
Embora os captulos sobre filosofia moderna e contempornea
sejam majoritrios em nosso livro, o leitor poder tambm se beneficiar de
interessantes estudos sobre filosofia antiga e medieval, voltados ao exame
do agir humano, como indicamos a seguir.
Assim, o Professor Jos Teixeira Neto nos oferece em seu texto,
De pace fidei: pressupostos para A concrdia e a paz perptua nas religies, uma
anlise da produo filosfica de Nicolau de Cusa, que j no sculo XV,
em razo de circunstncias ainda hoje relevantes ligadas ao choque
entre as trs grandes religies monotestas (Cristianismo, Judasmo e
Islamismo) , dedicava-se difcil tarefa de pensar e propor fundamentos
racionais para a paz entre povos de bases cultural-religiosas conflitantes.
Ser mostrado como, para o Cusano, a proximidade das religies, pela
unidade fundamental de referncia ao divino, no pode ser racionalmente
sustentada como motivo de diviso e disputa. Em outras palavras, como a
unidade fundamental das religies e do prprio gnero humano seja mais
original que a pluralidade de suas manifestaes e precise ser mais bem
enfocada para a preservao da concrdia.
Outros trs textos so voltados para a apresentao de estudos de
filosofia antiga. O Professor Jos Renato de Arajo Sousa, da
Universidade Federal do Piau, convidado a participar do nosso livro,
enriquece-nos com o seu Poltica, educao e formao moral nas Leis de Plato.
Investigaes sobre
O Agir Humano
13
O artigo faz um exame da ideia presente em algumas obras platnicas
que se complementam , especialmente as Leis, a respeito da importncia
fundamental do processo educacional (paidea) para a vida da plis. Sua
leitura sugere diversas temticas obrigatrias em qualquer discusso sobre
um projeto educativo civilizatrio, como a da inseparabilidade da
educao do corpo e da alma, da assuno da educao como uma
responsabilidade do estado, do respeito s fazes naturais de evoluo do
educando e da finalidade da educao orientada para a formao moral do
cidado visando o bem da plis. O carter abrangente do texto precioso
por possibilitar ao leitor um apanhado geral sobre as discusses platnicas
a respeito da educao, sempre tratada em vinculao com a vida cultural
na plis, o que para Plato a prpria vida poltica.
Tambm de estirpe platnica, Pensamento puro e imagem no Fdon
de Plato -nos oferecido pelo Professor Lourival Bezerra da Costa Jnior
como uma estimulante leitura do Fdon, centrada na apresentao desse
dilogo como uma obra de ontoepistemologia. Em outros termos, ao invs de
entender a referida obra platnica simplesmente como um tratado sobre a
imortalidade da alma, o texto mostrar que a investigao a respeito da
imortalidade da alma presente no Fdon sim um recurso para se falar
sobre o conhecimento verdadeiro. Esse, por seu turno, entendido como
reciprocidade entre um processo distintivo ou negativo de cognio e
o estado cognitivo inato.
J em A natureza da alma e a causa das doenas anmicas: uma introduo
sobre o significado da morte em Lucrcio, o Professor Antnio Jlio Garcia
Freire trata da relao entre corpo e alma (como anima e como animus) e
das consequncias dessa relao para a edificao de uma vida moralmente
saudvel, sob a orientao do filsofo epicurista Lucrcio. interessante
observar a perenidade da problemtica relacionada considerao da
composio do corpo animado, de como o ponto de vista epicurista se
distingue da maioria das interpretaes antigas e, especialmente, do modo
como Lucrcio sustenta uma proposta tica, enquanto bem viver e
preparao para a morte, desvinculada de pressupostos religiosos,
procurando evidenciar que no seria necessrio esperar uma redeno
alm-morte para dar sentido vida.
Investigaes sobre
O Agir Humano
14
O texto que segue, embora de filosofia contempornea, est
perfeitamente vinculado a esse esforo, caro filosofia desde seus incios,
por dar sentido vida e, por isso, o dispomos nessa especfica posio do
texto. Nele, os professores Marcos de Camargo Von Zuben e Lindoaldo
Vieira Campos Jnior, no sem pouca arte potica e literria, resgatam a
discusso do trgico em Nietzsche, procurando mostrar como essa noo
abraada pelo filsofo de Sils-Maria para caracterizar a sabedoria
dionisaca. O trgico ser, assim, apresentado como uma proposta de
afirmao da vida: transvalorar todos os valores significa ser artisticamente
(tragicamente) criativo para criar os prprios.
Em suma, os artigos reunidos em nosso livro trazem propostas de
leitura e interpretao bastante atuais, porque consideravelmente
reveladoras a respeito da prpria natureza da filosofia.
Dito isso, no nos resta seno desejar ao leitor que sua
familiarizao com os textos aqui presentes seja to edificante quanto foi
escrev-los, organiz-los e, finalmente, public-los. A esse respeito,
gostaramos de sinceramente agradecer aos nossos colegas coautores pelo
empenho e a audcia no projeto e na realizao que aqui dividimos.
Galileu Galilei Medeiros de Souza
Francisco de A. Costa da Silva
(Organizadores)
1
A LGICA DA VIDA MORAL COMO CHAVE DE
COMPREENSO DA FILOSOFIA COMO TAREFA
Galileu Galilei Medeiros de Souza
1
O presente captulo constitui um ensaio no qual
procuraremos traar as linhas mestras para a interpretao do
escrito Principe lmentaire dune logique de la vie morale
2
de Maurice
Blondel como uma das principais chaves de leitura da filosofia da
ao, que, por sua vez, responsvel pelo que julgamos ser uma
verdadeira revoluo filosfica, ao introduzir a compreenso da
filosofia como tarefa.
Esse escrito blondeliano corresponde ao memorial
apresentado por Maurice Blondel quando do Congresso
Internacional de Filosofia, realizado em Paris no ano de 1900.
3
Trata-se de um estudo que retoma e desenvolve uma passagem da
concluso da Action (1893), p. 470-474, sobre a relao entre lgica
da ao e lgica reflexiva (ou intelectual), de forma que essa ltima
apontada como uma derivao da primeira.
Esse texto expresso do esforo de Blondel por colocar-se
ao interno do ponto de interseo entre pensamento e ao, ou seja,
na vida. A partir da, ele pretender extrair o princpio elementar
4
1
Doutorando do Programa Interinstitucional de Ps-graduao em
Filosofia das UFRN/UFPB/UFPE. Professor do departamento de filosofia da
UERN (E-mail: galileumed@yahoo.com.br).
2
A partir de agora nos referiremos apenas como Principe lmentaire.
3
Fazendo parte das atas do referido congresso, o texto ser publicado
somente em 1903.
4
Como nos diz lvaro Pimentel, o qualificativo lmentaire uma
noo de derivao kantiana: Blondel utiliza, em seu ttulo, uma distino
Investigaes sobre
O Agir Humano
16
que preside o desenvolvimento, ao mesmo tempo solidrio e
original, das ideias e dos atos. Esse princpio ser o alicerce de uma
dialtica que domina ideias e atos sem anular ou sacrificar um ao
outro, superando o dualismo que a pode ser insinuado.
5
consagrada por Kant, na Critica da Razo Pura, em que o elementar diz respeito a
um princpio universal e necessrio, vlido, portanto, para toda moral em geral
(PIMENTEL, 2008, p. 81).
5
A dialtica blondeliana ser marcada por uma lgica toda prpria, que
determinar inclusive o tipo da argumentao a ser utilizada, que nesse caso ser
elnctico. A esse respeito so relevantes os esclarecimentos de Marc Leclerc
presentes em seu sinttico e interessante texto denominado La Destine Humanaine,
especialmente no captulo que trata do estudo do princpio de no contradio
em Aristteles, onde a retoro a noo utilizada para designar o tipo de
argumentao elnctica (LECLERC, 2000, p. 25-32). Seu procedimento
basicamente o seguinte: procurando-se negar um argumento, acaba-se por ser
obrigado a aceit-lo. Leclerc assume como referimento terico para seu estudo
sobre a retoro, proposto em La Destine Humanaine, o texto do prprio
Aristteles (Metafsica, Livro IV), explicitado por Toms de Aquino (Redarguitio) e
precisado tecnicamente por Gaston Isaye (La justification critique par rtorsion.
Revue Philosophique de Louvain, 52 (1954), p. 205-233. Reproduzido
posteriormente em Laffirmation de ltre et les sciences positives (ISAYE, 1987, p. 122-
146)). Um exame mais pormenorizado desse conceito pode ser encontrado na
obra conjunta escrita por Marc Leclerc e Dominique Lambert: Au coeur des Sciences:
une mtaphysique rigoureuse (LAMBERT; LECLERC, 1996). Nessa obra, ser
afirmado sobre a retoro, entendida como um mtodo filosfico: au fin du
sicle dernier Blondel la concrtement mise en uvre ds LAction de 1893: au
XX
e
sicle, la mthode transcendantale de lcole marchalienne et ses prolongements
dans lanalyse dialectique de Lonergan reposent essentiellement sur cet argument
de la rtorsion, systmatiquement tudi par Isaye (LAMBERT; LECLERC,
1996, p. 16-17). Posteriormente, o prprio Marc Leclerc (1998) utilizar a
expresso confirmao performativa para tentar significar a argumentao elnctica ao
estilo blondeliano, sem lig-la disposio terica exclusivamente negativa e
pejorativa que o termo retoro parece evocar. Simone DAgostino, ainda que
reconhea os mritos desse sintagma, por reequilibrar de maneira positiva a
retoro, no o considera completamente adequado para significar o tipo de
argumentao elnctica blondeliano, por justamente sacrificar a dimenso de
negao que tambm essencial no discurso filosfico blondeliano. DAgostino
preferir o sintagma privao positiva, por sua aptido a conservar seja o
aspecto positivo, seja o negativo da argumentao elnctica blondeliana: en
exprimant la positivit ncessaire et immanente lopration mme de ngation
(DAGOSTINO, 2003. In: LECLERC, 2003, p. 224-225, nota 41).
Investigaes sobre
O Agir Humano
17
Para tanto, Blondel procurar considerar trs perguntas: a)
que obstculos obscurecem o entendimento do problema que diz
respeito relao entre pensamento e ao e conduzem a uma sua
compreenso dualista? b) Como possvel e mesmo necessrio,
por sua prpria natureza, que esse problema seja posto de um modo
diferente de como o faz os que sustentam o dualismo? c) Em que
sentido uma lgica moral no s possui um princpio prprio, mas
ainda como esse princpio constitui a pedra fundamental da lgi ca
geral?
Esse percurso nos elucidar porque ser preciso prepor
lgica especulativa, constituda a partir do ponto de vista da negao
e da oposio (da apphasis e da antfasis), uma lgica da vida moral,
constituda a partir do ponto de vista da privao (da hxis e da
strsis), erigindo as bases para o que ser a reinterpretao da
filosofia como uma tarefa e, consequentemente, para uma
reafirmao da metafsica.
1. ESCLARECIMENTO DA DIFICULDADE DA QUESTO.
Principe lmentaire parte da considerao de um dado
aparentemente pacfico, ou seja, de que comum conceber que
nosso agir e nosso pensar estejam unidos entre si. De fato,
bastante evidente para ns que nossas decises possam ser levadas a
termo em nossas aes. Isso pode ser facilmente constatado: agora
quero mover meu brao, decido por faz-lo e o movo. Assim, no
s meus atos parecem estar unidos entre si por meio de um vnculo,
que permite que sejam identificados justamente como meus atos,
mas tambm, pelo menos aparentemente, esse mesmo vnculo serve
de ligao entre meu pensar e minha conduta.
Que aparentemente as coisas estejam assim facilmente
demonstrado. No entanto, no fcil explicar a solidariedade entre
Investigaes sobre
O Agir Humano
18
nossos atos e desses com o pensar. De alguma forma, o liame ou
vnculo a est e pede para ser interpretado e erigido como verdade
necessria (Cf. Principe lmentaire, p. 368), entretanto, a lgica interna
que governa o encadeamento dessas solidariedades no fcil de ser
definida.
Como explicar a relao de cumplicidade que se cria entre
meu pensar e minha ao? Essa questo se torna ainda mais
problemtica quando consideramos que essa no uma ao
qualquer, mas uma ao voluntria: como explicar a sntese que a
ao voluntria, concomitantemente enraizada em nossa
materialidade corporal e na idealidade de nossa conscincia? E,
ainda mais, como explicar que na ao voluntria essa cumplicidade
se traduz tambm em normas morais? Como explicar a influncia
dos ideais morais sobre nossa ao? Teriam eles alguma justificao
cientfica? Essas so questes to antigas quanto a prpria filosofia.
Entretanto, a seu respeito no conseguimos estabelecer progressos
substanciais. Mas, por qu?
Segundo Blondel, porque se insiste em colocar a questo de
modo inadequado. Posto apenas como o propem o naturalismo e
o formalismo moral, esse problema insupervel. Sem provas ou
refutaes definitivas, naturalismo e formalismo moral se opem,
fundando-se mutuamente pela alimentao de um dualismo
insupervel para seus prprios pontos de vista, constituindo sua
fora e sua fraqueza. De fato, para preservar a liberdade e a
autonomia do agente, o referido formalismo sustenta que a moral
no possui qualquer vinculao com a materialidade dos fatos,
sendo um a priori da razo ou ainda um fato da razo. Para sustentar
a cientificidade moral, o naturalismo interpreta a moral como um
fato da natureza, sendo que a mesma natureza ou uma entidade
ontolgica da natureza considerada como princpio supremo e
determinante do bem ou do mal. Ora, por um lado, sem o dualismo
entre materialidade e formalidade da moral, nem o naturalismo, nem
Investigaes sobre
O Agir Humano
19
o formalismo moral se sustentariam. Por outro, em razo dele, no
podem se estabelecer cientificamente. Procuraremos a seguir
entender trs razes que levam a esse dualismo.
1.1. Primeira iluminao do conflito: a oposio entre o
apriorismo racional do fato moral e seu enraizamento
emprico.
Primeiramente, necessrio dizer que nem todos os atos do
homem
6
so morais, mas apenas os voluntrios. Chamaremos os
atos voluntrios de ao moral ou fato moral. Ademais, necessrio
tambm precisar que o problema do dualismo entre naturalismo e
formalismo moral no diz respeito a todo ato de homem, mas
apenas aos atos humanos, ou melhor, s aes morais. Ser a partir
da ao moral que estudaremos o modo como se apresenta a
aparente dualidade entre a vinculao material dos atos e sua
vinculao racional.
Nessa direo, partamos de uma afirmao que
procuraremos justificar: o fato moral concomitantemente ideia e
corpo. Essa a razo de sustentao do dualismo e a razo porque
sua superao necessria. De uma parte, definindo sua moralidade
pela inteno formal que o anima, o fato moral possui certa
transcendncia material. Sua dialtica se orienta na direo do reino
ideal das dedues racionais, sendo ele uma forma objetiva do a
priori da razo. Dessa forma, sob esse aspecto, o fato moral define
sua moralidade a partir do ideal moral que lhe serve de parmetro
de juzo e do qual ele uma realizao. As razes do formalismo
moral se apoiam nesses dados. De outra parte, justamente por ser
6
Adotaremos a distino entre ato humano e ato de homem. Ato
humano a ao humana voluntria. Ato de homem qualquer ao humana,
voluntria ou no.
Investigaes sobre
O Agir Humano
20
realizado, o fato moral se encarna na engrenagem das foras fsicas
e psicolgicas, sendo impossvel no reconhecer que ele por elas
mais ou menos condicionado (materialmente condicionado). E
por essa razo que o naturalismo sustenta suas pretenses
explicativas.
Ora, isso j suficiente para nos dar uma primeira pista a
respeito de como essa questo precisa ser elucidada: uma vez que o
fato moral tanto ideal quanto material, no se pode interpret-lo
como o resultado de uma evoluo alcanada pela simples influncia
das dedues racionais. O fato moral se d e evolui dentro da vida
dos homens e dos povos. por essa razo que ele no poder ser
atingido considerando apenas as suas representaes abstratas. Por
sua natureza positiva, por sua encarnao e concretude, preciso
estud-lo a partir de mtodos adequados, ou seja:
...sem incluir outros mtodos a no ser os mtodos
positivos de observao e induo, os nicos mtodos
aptos a esclarecer pouco a pouco suas relaes universais
com o ambiente onde ele se reproduz, os nicos mtodos
capazes de estudar as repercusses mesmas que, a partir
de nossos atos, reverberam infinitamente at as
conscincias, at nossa conscincia, nossa conscincia
para a qual se impe sempre um tipo de lgica factcia, de
falsa sinceridade ou de ndice pessoal e subjetivo (Principe
lmentaire, p. 369).
Enfim, a submisso do fato moral a estudos que se baseiam
em mtodos incapazes de colher a sua riqueza sinttica, incapazes
de preservar no fenmeno da moralidade concomitantemente a sua
imanncia e a sua transcendncia material, a primeira raiz do
conflito que ope naturalismo e formalismo moral e que leva ao
dualismo entre lgica e moral (Principe lmentaire, p. 369): Que se
penetre em fundo esta oposio e se ver talvez que, longe de ser
atenuada, ela chega mesmo a implicar ou que a ideia de uma moral
Investigaes sobre
O Agir Humano
21
exclui a ideia da lgica ou que a ideia da lgica exclui a ideia da
moral. Mas, isso ainda no tudo a se dizer a respeito da oposio
entre lgica e moral.
1.2. Segunda iluminao do conflito: a contradio no se d
nos fatos.
Explicada uma primeira razo do dualismo, partamos para a
elucidao de outra, relacionada dessa vez com a noo de
contradio. O sentido dessa noo parece ser o de que o real no
lhe diz respeito, porque impossvel que qualquer contradio
possa ser dada nos fatos. Com efeito, a no contradio parece
ser a lei descritiva da prpria realidade:
Ora, suprimir este princpio, suprimir tambm pelo
mesmo movimento toda oposio lgica. O que dado
dado e isto tudo, sem nenhuma determinao de
contraditrio ou de contrrio: homogeneidade do
determinismo, heterogeneidade qualitativa ao infinito, a
frmula da realidade emprica (Principe lmentaire, p. 369).
No obstante, para a moral, os fatos reais e concretos so
dotados de uma oposio radical, devendo ser absolutamente
qualificados, existindo uma distncia infinita entre um fato bom e
um fato mau. Com efeito, o papel da moral o de fazer que os fatos
sejam a ocasio de uma opo decisiva entre bem e mal.
Desse modo, evidencia-se uma segunda raiz do conflito
entre formalismo e naturalismo, obrigando a tomada de uma
deciso: preciso salvar a moral ou a lgica. Para salvar a moral,
reconhecendo a possibilidade de se dar uma oposio radical nos
fatos, entre fatos bons e maus, preciso condenar a lgica da no
contradio e reconhecer que elementos contraditrios podem ser
Investigaes sobre
O Agir Humano
22
dados simultaneamente e validamente. Para salvar a lgica, preciso
manter firme a impossibilidade da contradio em relao aos fatos.
Para tanto, ser preciso ou assumir que a moral seja inteiramente
deduzida a partir de seu elemento formal e indiferente a qualquer
materialidade dos fatos, ou assumir que seja suprimida toda vida
individual e ato particular, como se no passassem de iluses:
quietismo ou budismo (Principe lmentaire, p. 369). Em suma, Isto
significa que a moral, no sentido popular ou normal da palavra no
existe mais (Principe lmentaire, p. 369). Aprofundemos essa
contraposio.
1.3. Terceira iluminao do conflito: oposio radical entre
lgica e moral.
Uma ltima raiz da oposio entre lgica e moral pode ser
determinada a partir do que foi discutido a pouco. Para que exista
lgica preciso que haja uma lei de necessidade inflex vel que forje
a natureza, oriente a reflexo e sustente a cincia.
Consequentemente, para ser cientfica, a moral precisaria ser
constituda a partir de leis determinveis e constantes. Todavia, para
que exista moral preciso que haja contingncia no mundo,
liberdade no homem (Principe lmentaire, p. 369), em suma,
flexibilidade e indeterminismo.
Portanto, a conciliao entre a liberdade e o determinismo
aqui exigidos parece impossvel. Como j foi implicado
anteriormente pelas outras razes desse conflito, ou se sacrifica uma
ou outra, moral ou lgica, ou se afirma que possuem domnios
separados e incomensurveis. No obstante, em razo da natureza
sinttica da ao moral, essa conciliao parece ser necessria.
No s a moral no seria nada de fato se o homem fosse
absolutamente determinado ou se a vida terica, onde ele encontra
Investigaes sobre
O Agir Humano
23
sua prpria autonomia, escapasse-lhe, mas nem mesmo poderia ser
algo de direito, ou seja, poderia ser justificada racionalmente, se
houvesse um conflito insanvel entre as exigncias da dialtica
especulativa (cincia) e as do imperativo prtico (moral). De fato,
como algo puramente racional teria qualquer vigncia prtica?
Aporia essa insolvel quando implica em justificar uma coao sem
qualquer espcie de contado.
De modo semelhante, se esse conflito fosse insanvel, a
lgica no realizaria sua ambio de possuir um domnio universal,
...de englobar todas as formas de pensamento e de vida em sua
unidade cientfica, como elas so unidas na realidade; (...) de
esclarecer (...), o determinismo subjacente a todos os empregos
possveis da atividade especulativa e prtica (Principe lmentaire, p.
370). Do domnio lgico deveria ser excludo tudo o que no diz
respeito ao puramente racional. A cincia e a lgica teriam
definitivamente embargado seu acesso a qualquer objetividade.
Em suma, esse dualismo implicaria em um aniquilamento
mtuo: nem a moral, nem a lgica saberiam se sustentar
isoladamente. De difcil conciliao, moral e lgica s se do caso se
deem concomitantemente.
Examinada a raiz das dificuldades que lhes opem,
partiremos para a explorao de sua relao, mostrando como ela
precisa ser problematizada em outros termos.
2. O QUE REALMENTE ENVOLVE A QUESTO DA
RELAO ENTRE AGIR E PENSAR.
A aporia com a qual estamos lidando ao investigar a
questo da relao entre pensar e agir a saber, o dualismo entre
lgica e moral embora parea insupervel para o esforo
reflexivo, no se d na concretude dos fatos. O conflito entre lgica
Investigaes sobre
O Agir Humano
24
e moral pode e mesmo exige ser resolvido para a cincia, porque ele
resolvido na vida. Na vida, a ao voluntria ao mesmo tempo
ideal e material, sujeita lgica e moral. A soluo cientfica,
todavia, realmente impossvel caso se considere moral e lgica
com se o faz habitualmente, ou seja, como significando entidades
fixadas pelo pensar.
O prximo passo a ser dado por nossa investigao
filosfica destina-se a revelar o verdadeiro sentido da relao que se
estabelece entre moral e lgica, pensando essa relao de modo
alternativo a como se faz habitualmente, mas em estreita
consonncia com os dados da realidade fenomenalmente a ns
acessveis, de modo a tomar o que dado por si, sem a ele nada
acrescentar ou tolher. Para tanto, seguindo as indicaes
blondelianas, comearemos pelo estudo da lgica reflexiva, mais
especificamente das noes lgicas, objetivando explicitar o que
realmente implicamos quando as formulamos. Procuraremos
responder a trs questionamentos: a) como tomamos conscincia
das noes lgicas e qual a sua real gnese? b) Como e por que
isolamos as noes lgicas de suas origens vitais? c) Como essas
noes lgicas se dirigem ao e servem vida moral?
2.1. A gnese das noes lgicas.
Umas das razes, a pouco consideradas, da dicotomia entre
pensar e ao dizia respeito noo de contradio, ou seja, ao fato
de que ela no se d nos fatos. Isso significa que a lei expressa pelo
princpio de no contradio no advm por abstrao dos fatos,
porque esses no podem nem a produzir, nem a sugerir, nem
mesmo ser a ocasio direta ou indireta de sua apario na
conscincia (Principe lmentaire, p. 371). Mas, o que dizer a respeito
de outros princpios ou noes como o de identidade?
Investigaes sobre
O Agir Humano
25
De modo semelhante lei ou ao princpio de no
contradio, o princpio de identidade no se realiza no mundo,
nem de forma a priori, nem a posteriori: um princpio acsmico
(Principe lmentaire, p. 371). Com efeito, o princpio de no
contradio, como o princpio de identidade ou qualquer outro
princpio lgico, funcionam como leis formais, aplicveis a uma
infinidade de casos especiais, ao modo da aplicao de um juzo
universal a casos particulares. Assim, por exemplo, o princpio de
identidade pode ser enunciado, ao modo leibniziano, da seguinte
forma: os indiscernveis so idnticos. Ora, a aplicao desse
princpio realidade deve significar que toda vez que entidades
sejam to semelhantes a ponto de no poderem ser distintas
absolutamente, elas sero idnticas. Entretanto, como ocorre com o
princpio de no contradio, mais uma vez impossvel que a lei
expressa no princpio de identidade seja dada factualmente.
impossvel que os fatos possam reproduzi-la concretamente porque
impossvel que se deem entidades, no plural, indiscernveis.
O que se diz do princpio de no contradio e do princpio
de identidade se pode dizer de qualquer outro princpio lgico: leis
lgicas no se do nos fatos. A lei lgica que necessariamente me
obriga a entender que o sentido da afirmao a ma vermelha
se oponha ao de outra afirmao como a ma verde no ocorre
nos fatos. A ma o que e isso tudo. Os fatos so
simplesmente, sem nenhuma iniciativa opositiva. Os juzos dizem
respeito no aos fatos, mas a nossas afirmaes e negaes que
pretendem dizer respeito aos fatos.
No obstante, os fatos so por ns representados e no o
podem ser sem o uso de leis lgicas. Desse modo, por um lado, no
h como negar que a nossa conscincia existe e que ela intenciona
algo alm de si mesma, independentemente de que esse algo se
realize de fato ou no. Por outro, a conscincia atual no existe
seno como ao de produo de sentido, regulada por leis que
Investigaes sobre
O Agir Humano
26
permitem a sua inteligibilidade. Em verdade, produzir sentido
perceber inteligivelmente, sair da apatia e da indiferena em
relao aos dados percebidos, organizar os fenmenos, desde seus
estados mais primitivos, de modo lgico. Em suma, a conscincia
o lugar de interseco entre as leis do pensar e o que pensado
(fenmenos). Melhor ainda, porque existe conscincia, existe uma
relao necessria entre as leis do pensar e o que pensado. De
fato, a conscincia como que a sntese de ambos.
Mas, no acabamos de afirmar que os princpios lgicos so
acsmicos? Como entender que o que pensado os fenmenos
e o que parece ser a lei do pensar a lgica se relacionam e
se relacionam necessariamente j que a conscincia existe? Como no
seio da heterogeneidade qualitativa dos fenmenos empricos, a que
a conscincia reconhece em suas luzes e trevas, introduzem-se as
noes lgicas de contraditrio, contrrio, outro, relativo e tantas
outras possveis?
Uma resposta a essa questo no pode ignorar a
complexidade dos dados do problema a envolvido. Afirmar
simplesmente que as noes lgicas so a condio a priori do
pensar, deixa o dualismo que estamos procurando superar i ntocado
e o acesso materialidade do fato moral comprometido. Afirmar que
os princpios lgicos so abstrados da realidade, a posteriori, como
representao de leis que existem concretamente, contraria o fato de
que tais princpios no se do nos fatos.
Para explicar como as noes lgicas se introduzem na
experincia, no nosso viver, preciso considerar o ponto de contato
entre pensar e vida. preciso partir do ponto onde o que pensado
reconhecido como imanente representao que dele se faz e, ao
mesmo tempo, como transcendente e mais rico que essa
representao, j que ela no mostra dele seno aspectos,
parcialidades. preciso partir do ponto onde se reconhece que a
parcialidade do pensar experienciada. preciso partir da vida,
Investigaes sobre
O Agir Humano
27
preciso partir da conscincia em ato, onde se d em realidade a
sntese entre o que pensado e as leis do pensar, e procurar
responder pergunta que versa sobre a gnese das noes lgicas.
preciso explicar a genealogia vital das noes lgicas.
De fato, a perspectiva desse problema deve ser
revolucionada. Sua soluo exige uma atitude filosfica. O que isso
significa? Significa adotar, como ponto de partida, uma
reinterpretao revolucionria da filosofia como tarefa. A filosofia
no o esforo por representar a realidade ou por fundamentar a
adequao entre pensar e ser, como se eles pudessem ser
significados impunimente a partir de uma perspectiva que os opem
na forma do esquema sujeito e objeto. Diversamente, preciso
interpret-la como uma tarefa.
Limitados pelas dimenses do presente texto, no teramos
como explicar pormenorizadamente como poderamos interpretar a
filosofia como tarefa. Contudo, -nos suficiente dizer que entendida
como uma tarefa a noo de filosofia e, consequentemente, de
pensar reflexivo redimensionada completamente. De que tarefa
estamos falando? Da tarefa de fazer uso do pensar reflexivo para
elucidar o que Blondel chamar de prospeco e, assim, contribuir
para que a ao realize mais perfeitamente seus fins.
Ora, a prospeco um conhecimento direto e imediato que
acompanha nossa ao e que permite que ela possa ser realizada
sem necessidade de envolver, a cada deciso e ato, uma anlise
exaustiva de todas as suas condies. o conhecimento espontneo
de que dispomos no prprio momento da ao. A reflexo ou
especulao, por sua vez, um conhecimento terico, abstrato e
representativo da ao, que nos permite traduzi-la em ideias que,
por sua vez, podem ser comunicadas. preciso compreender,
entretanto, que a reflexo no um fim em si mesma, mas um meio
de levar uma inteligncia sempre maior prospeco. Tornando a
prospeco inteligvel, a reflexo permite que essa ltima seja
Investigaes sobre
O Agir Humano
28
enriquecida e se potencialize em sua capacidade de aperfeioar a
realizao da ao. Isso fazendo, no s a prospeco se expande
em sua envergadura operativa, como tambm a reflexo se
transforma. Iluminando a prospeco, a reflexo tambm
enriquecida em sua inteligncia da ao. Em suma, por esse
processo prospeco e reflexo so mutuamente beneficiadas, em
favor ltimo da realizao da ao e, consequentemente, do
progresso da vida, que se faz por meio da ao.
Compreendendo que a especulao e que a lgica
reflexiva, que constitui a sua essncia e cuja essncia, por sua vez,
o princpio ou lei de no contradio no se fecha em si mesma,
mas se abre na direo da elucidao da prospeco e do progresso
da vida, compreender-se- que a origem das noes lgicas deve ser
buscada levando em conta o prprio destino da reflexo. Evite-se, a
todo custo, pensar reflexo e lgica isoladamente e se abrir um
caminho promissor de superao de qualquer dualismo envolvido
na relao entre pensar e ser/agir.
Partindo dessa nova perspectiva, Blondel capaz de
esclarecer a gnese das noes lgicas, que fundamentalmente
funcionam como leis lgicas de oposio: Porque,
espontaneamente, cremo-nos capazes de modificar as coisas,
adquirimos a ideia de que elas poderiam ser outras (Principe
lmentaire, p. 372). O modo em que isso ocorre o seguinte: por um
lado, nosso automatismo psicolgico insere seu dinamismo na
engrenagem dos fatos; por outro lado, o choque entre nossos
desejos e exigncias nos d a conscincia de que temos uma
capacidade relativa de mudar os fenmenos, de adapt-los mais ou
menos s reivindicaes de nossa atividade, ao mesmo tempo,
determinada e determinante. Dessa forma, no de modo a priori
que nos conhecemos desejosos e capazes de agir sobre as coisas
(Principe lmentaire, p. 372). Diversamente, ns afirmamos
retrospectivamente que um possvel, diferente do real, foi possvel e
Investigaes sobre
O Agir Humano
29
se conserva concebvel. Assim, aps nossa iniciativa prtica e de
nossa ao, ao mesmo tempo, serva e senhora (Principe lmentaire,
p. 372).
Em suma, so as tendncias originais, os postulados
prticos, as exigncias de nossa ao que nos permitem conceber a
vida lgica. As regras do pensar, as ideias possuem sua gnese na
ao. As coisas e os atos no so para ns simplesmente diferentes
uns dos outros de modo abstrato, mas na medida em que se
assimilam nossa ao. A oposio diz respeito ao sentido que as
coisas e os atos possuem em relao ao nosso destino, em relao
tarefa que o pensar descobre como prpria: Isto significa que o
princpio mesmo da ideia da contrariedade no est nas coisas, no
est no conhecimento especulativo originariamente e
imediatamente, mas na determinao subjetiva de nossa atividade
(Principe lmentaire, p. 372). Porque escolhemos, porque
subjetivamente nos decidimos e agimos, porque nada do que para
ns nos indiferente, mas participa da evoluo de nosso viver,
contribuindo para seu progresso ou dificultando-o, as coisas e os
atos aparecem para ns como organizados logicamente em relaes
de oposio.
Blondel exemplificar a gnese de algumas noes. A noo
de oposio, por exemplo, seria o resultado do choque dos
mltiplos princpios (motivos e moventes) ou fenmenos que
solicitam nossa ao, formando diante da reflexo um todo
sistemtico, no qual alguns destes princpios aparecero como
coerentes em relao ao nosso destino ltimo e outros no. Quando
um deles escolhido e realizado como que oposto a todos os que
no o foram, formando um todo sistemtico. Assim, o ato realizado
confere aos fatos uma fixidez tal que constitui a base de onde
surgem as oposies lgicas.
O mesmo ocorre em relao s noes de contradio e de
identidade. Com efeito, nenhuma oposio lgica poderia ser
Investigaes sobre
O Agir Humano
30
concebida sem a noo, ao menos implcita, da contraditoriedade. E
como ele surge? Surge pela conscincia da irreparabilidade do
passado: o que foi realizado o foi para sempre. Sua origem est na
concepo da ao que era possvel e foi consagrada no passado de
modo irreparvel. Uma vez realizada, a ao posta para sempre e
por isso mesmo que as opes aparecem como contraditrias. Por
sua vez, a noo de identidade surge da ao de escolher, precisar e
realizar uma inteno singular, que se distingue das outras. Nas
palavras de Blondel:
Para ter conscincia de que uma coisa poderia ser diversa,
preciso que tenhamos conscincia de que nossa ao
possui dois gumes. Para conhecer nossa ao, preciso
que, conscientes ao menos confusamente sobre o conflito
entre nossas tendncias e as exigncias de nosso destino,
ns nos encontremos em frente a uma opo que
interessa nosso ser: em uma palavra ns temos a ideia do
ser e da contradio somente porque ns somos
virtualmente postos em condio de resolver a alternativa
da qual depende a orientao de nossa vida e nossa
entrada no ser, alternativa, caso se possa dizer, auto-
ontolgica (Principe lmentaire, p. 374).
Em concluso, no poderamos melhor resumir o sentido
do que queremos afirmar a no ser como o fez Blondel (1997
(1900/1903) p. 374): O emprego da razo especulativa est ligado
solidariamente ao exerccio real e atual da razo prtica, que (...) lhe
determina o sentido verdadeiro e o alcance legtimo. Assim, as
noes lgicas so produes ou projees das leis de nossa ao
no sensvel e no inteligvel.
Mas, porque as isolamos das suas condies orgnicas e que
perigo h nisso? o que se procurar discutir em seguida.
Investigaes sobre
O Agir Humano
31
2.2 Por que isolamos as noes lgicas de sua origem vital.
As noes lgicas possuem uma origem vital. A exemplo da
contradio, elas possuem um sentido original e real, traduzvel em
leis lgicas. Nas palavras de Blondel, por exemplo, o sentido
original e real do princpio de no contradio:
de estabelecer que o que teria podido ser e se
incorporar, pelo que fazemos, ao que somos (hxis)
7
, foi
para sempre excludo (strsis), sem que o que assim
excludo deixe de servir para pensar distintamente o que
foi escolhido e feito, deixe de alimentar o esforo do
conhecimento e da execuo, e de determinar
moralmente o ato realizado e o agente mesmo. Mas, se
ns consideramos unicamente a partir de fora o resultado
aparente ou os fatos que parecem externos nossa ao,
ento tudo se resume a uma questo de sim e de no
(katphasis ou apphasis); e, perdendo de vista a elaborao
interna do resultado e a complexidade das relaes que
subsistem sob a ideia da contraditria excluda, ns
substitumos estas relaes viventes pela simplicidade
artificial do conceito e da palavra (Principe lmentaire, p.
374).
Neste trecho fundamental, Blondel introduzir quatro
noes que nos daro a chave de compreenso de todo o, a pouco
citado, escrito: hxis, strsis, katphasis e apphasis. sntese que
somos, ao resultado nunca definitivo e perpetuamente mutvel de
nossa ao, para a qual contribui todos os elementos que nos
constituem, Blondel chama de hxis. A hxis cada ser particular, a
totalidade da ao, que cada ser singular. Ora, ao agir, preciso
realizar algumas possibilidades e excluir outras. Uma vez tendo
7
As transliteraes apresentadas nesse artigo so nossas. Os textos
originais trazem caracteres gregos.
Investigaes sobre
O Agir Humano
32
agido, o que foi excludo o foi para sempre. Nesse sentido, a ao
posta de modo eterno.
Entretanto, as possibilidades no realizadas no deixam, por
isso, de tambm contriburem para o que ns somos. por isso que
a esse algo excludo Blondel chamar de strsis, privao. Ns
somos o resultado de nossa ao, mas nossa ao no leva a marca
apenas do que foi escolhido e realizado, mas tambm do que no o
foi. Em outras palavras, a hxis no s o resultado de tudo o que
foi escolhido e atuado, mas tambm de tudo o que foi preterido. A
hxis, que somos ns, assim, no pode ser compreendida segundo
uma lgica artificial que resume toda ao a uma questo de sim e
de no entre possibilidades, ou seja, de katphasis e apphasis
(afirmao e negao). A equacionalizao da questo bem mais
complicada do que uma explicao baseada em uma analogia com a
aritmtica daria conta. Em suma, somos a sntese do que realizamos
e do que nos privamos de realizar. Portanto, a explicao do que
somos dever levar em conta a lgica da strsis ou da privao. No
h como propor aproximaes legtimas do real sem consider-la.
Procuraremos aprofundar seu sentido logo adiante. Por ora,
preciso saber que no so comuns compreenses baseadas no uso
da lgica da strsis. Geralmente, a base das compreenses so
sustentadas por uma pura lgica do abstrato, por uma pura lgica
reflexiva e opositiva. Blondel chamar a lgica que se resume ao
puro pensar abstrato de logologia.
A logologia tem servido de alimento para muitas ontologias,
consistindo em se tomar as coisas e suas relaes pela linguagem e
suas regras. Por exemplo, Aristteles permanecer vinculado ao
ponto de vista da linguagem. Fazendo-se o naturalista do logos,
terminar por identificar substncia e substantivo.
8
Apesar de
8
importante, seguindo os conselhos de Simone DAgostino, fazer
uma ressalva em relao a essa leitura de Blondel a respeito de Aristteles:
Lerrore di Aristotele consiste precisamente nellaver confuso il piano reale e
Investigaes sobre
O Agir Humano
33
distinguir que as coisas enunciadas por privao e possesso no so
opostas entre si como o so os relativos e os contrrios, Aristteles
afirma que, ao fim de contas, tudo se resume ao nico ponto de
vista da afirmao e da negao porque assim que se fala
(Principe lmentaire, p. 375). Nas palavras de Blondel: as categorias
que, rigorosamente, 'no podem receber contrrios' (porque
prprio da substncia receb-los sem possuir ela mesma contrrios),
so tratadas na proposio e no raciocnio en ousas edei
9
,
e submissas
lei de contradio (Principe lmentaire, p. 375-376).
Sem dvida, afirma Blondel, Aristteles reconhecer uma
certa distino entre a substncia, que existe em si e para si, e as
demais categorias, que s subsistem na substncia. Entretanto,
afirmar igualmente que:
...a oposio entre ser e no ser, diferente em cada
categoria, ser a mesma em sua forma. Que graas a este
artifcio, a privao mesma e as outras formas especficas
de oposio so consideradas como uma forma de
negao e tratadas como tal (...) que a ltima forma a
qual toda oposio deve se reportar a contradio
(Principe lmentaire, p. 376).
Estas teses fundaro uma metafsica falsa e tirnica sobre a
base da aliana hbrida entre gramtica e fsica:
...por um lado, ela atribui s modalidades fenomenais e
aos dados sensveis tudo o que os conceitos,
substantivados pelas palavras, tomaram emprestado do
quello logico attribuendo le propriet di questo a quello. Un errore che in base
allanalisi delle classificazioni dei tipi di opposizione in Aristotele certamente
attribuiile pi allautore delle Categorie che a quello della Metafisica, da cui
Blondel trae in parte gli strumenti concettuali per le proprie obiezioni
(DAGOSTINO, 1999, p. 415-416).
9
O que pode ser traduzido por: Sub specie substantiae (Latim) ou
Na forma da substncia (Portugus).
Investigaes sobre
O Agir Humano
34
ser vivente e pensante; por outro lado, estas usurpadoras
uma vez entronizadas impem seu prprio modo como
lei do ser atividade intelectual e moral que somente
que deveria lhe medir no que possuem de verdade
ontolgica e lgica; de modo que pensar en edous edei
10
termina por equivaler a pensar en hles edei
11
e a fazer
reinar na cincia e na vida a literalidade, princpio de toda
imobilidade doutrinal e de toda intolerncia
prtica...(Principe lmentaire, p. 376).
Fazer reinar a literalidade equivale a fazer coincidir o real e o
racional na representao. A atividade intelectual e moral no so
aproximadas em seu acontecer concreto, mas substitudas por
representaes abstratas regidas por leis abstratas. Paradoxalmente,
provocando essa coincidncia de modo artificial, como que
buscando a representao objetiva da realidade, o acesso ao real
impedido.
E no somente a concretude da representao ou a
materialidade da ideia a ser trada. O mesmo acontece com a forma
da ideia, com as prprias noes e leis lgicas. Isoladas de seu
princpio vital e utilizadas fora de seu contexto prprio, so
transformadas em usurpadoras, substituindo a legitimidade da lgica
da strsis pela literalidade da afirmao e da negao dos sistemas
conceituais, pela lgica da antfasis e da apphasis. No estranho
que, procedendo assim, atinjamos a impossibilidade de uma dialtica
real ou de uma lgica moral.
O nosso prximo passo nos conduzir a elucidar como
necessrio romper com a idolatria dos conceitos e, sem abandonar a
lgica reflexiva, reconciliar ideia e vida.
10
Na forma da ideia.
11
Na matria da ideia.
Investigaes sobre
O Agir Humano
35
2.3 A superao da idolatria dos conceitos e o servio da ideia
vida.
preciso superar a superstio que sujeita o real lgica
abstrata, sem deixar de reconhecer o verdadeiro papel dessa ltima,
porque a lgica da antfasis e da apphasis no um artificio sem
sentido e utilidade. Ao contrrio, ela mesmo um veculo de
desenvolvimento da vida moral. O modo como tudo nos
proposto sub specie substantiae, como submetido s leis da no
contradio e identidade, , na verdade, a maneira rpida e
econmica por meio da qual a conscincia distinta emerge do
mundo (Principe lmentaire, p. 377). Substituto da riqueza do real, a
linguagem um substituto til, pois permite que o real possa ser
entendido de modo simplificado:
No h conhecimento ntido, pronto, preciso, exprimvel
sem este artifcio espontneo que fratura a unidade do
dado, estabelece oposies e constitui entidades discretas
que comportam a aplicao de procedimentos lgicos, em
uma sorte de fenomenologia ontolgica ou de atomismo
intelectual: este trabalho de simplificao implcita que
explicita o silogismo; e seu aparente rigor, repousando
sobre a hiptese teoricamente falsa e praticamente til
das identidades parciais, apenas uma aproximao, mas
indispensvel aos primeiros delineamentos da linguagem,
do positivismo prtico e da cincia (Principe lmentaire, p.
377).
Sem a simplificao que nos possvel por meio da
representao e da linguagem conceitual, conhecer algo seria uma
empresa impraticvel. A simplificao da linguagem permite que o
que conhecido o seja como o que pode ser relacionado com a
integridade de nosso destino, sem que para tanto tenhamos que ter
total luz sobre o que conhecido e sobre nosso destino.
Investigaes sobre
O Agir Humano
36
A prpria conscincia no subsistiria sem essa economia
conceitual. A conscincia distinta que possumos das coisas e de ns
mesmos depende no s do fato de que conhecemos
processualmente, mas tambm do fato de que o que entra em
contato conosco pode ser imediatamente julgado em relao ao
nosso destino. Com efeito, por um lado, um conhecimento que
significasse um saber direto, imediato de tudo o que seria
equivalente a um estado de inconscincia. Sem o contraste entre o
que j nossa ao e a tendncia que a impulsiona a renovar-se
perpetuamente no h como subsistir conscincia. Considerando
que o conhecimento existe em funo da ao, um conhecimento
direto e imediato do que seria o equivalente de uma ao completa
em si mesma, uma ao sem nenhum futuro e sem nenhum
passado, porque no haveria a processo. Mas tambm, sem
nenhuma conscincia de presente, j que a conscincia do presente
no subsiste a no ser como movimento. Por outro lado, um
conhecimento processual que exigisse atingir a riqueza de tudo o
que comprometeria seu avano por um procedimento infinito.
Em suma, as simplificaes lgicas do conhecimento processual
servem de ponto de apoio para a deciso radical do querer, somente
a partir da qual temos acesso ao que :
Elas preparam, conferindo ao relativo o carter de um
absoluto, o preo infinito de nossos sacrifcios aparentes
e de nossos ganhos reais, a responsabilidade mortificante
de nossos ganhos aparentes e de nossas perdas reais: pelo
que tm de precrio, como pelo que oferecem de solidez
provisria, elas so, ento, ao mesmo tempo, um
chamado permanente ao exerccio do poder crtico do
esprito para nos fazer sair do dado e um trampolim para
o impulso das resolues que engajam o destino humano
(Principe lmentaire, p. 377).
Investigaes sobre
O Agir Humano
37
Por exemplo, isso o que ocorre com o princpio de no
contradio. Ele supe que de algum modo nada pode ser para ns
sem passar pelo crivo de sua adequao ou inadequao em relao
ao nosso destino e sem que a realizao dessa adequao ou
inadequao possa, a cada momento, estabelecer-se de uma vez para
sempre (Principe lmentaire, p. 378). Em outras palavras, a lei de no
contradio a traduo simplificada do valor infinito de cada
escolha realizada. a traduo do estado em que se encontra cada
ao particular, posta de uma vez por todas em relao ao nosso
destino, contribuindo para seu progresso ou no.
Portanto, a lgica da antfasis e da apphasis vinculada a suas
origens vitais e subordinada a seus fins morais ganha todo seu
sentido como verdade relativa. Ela o fenmeno objetivo e
inadequado da dialtica real (Principe lmentaire, p. 379). Inadequada
enquanto no capaz de dar conta da riqueza desta dialtica.
Objetiva, porquanto a realizao da dialtica real como trabalho
de adequao do pensamento em ato vida, da reflexo
prospeco tendo em vista o progresso da vida se d por seu
intermdio (Principe lmentaire, p. 378-379).
Tendo sido suficientemente elucidadas seja a reflexo, seja a
lgica das ideias que lhe caracteriza, podemos partir para o
esclarecimento do sentido da lgica da strsis. Seguindo o percurso
proposto por Blondel, procuraremos nos concentrar sobre o
sentido do princpio fundamental que a sustenta e das leis lgicas
que dele derivam.
3. O PRINCPIO ELEMENTAR DA LGICA MORAL E DE
TODA LGICA.
A lgica que caracteriza a reflexo governa o modo de
compreenso que se fundamenta a partir do ponto de vista da
Investigaes sobre
O Agir Humano
38
linguagem. Essa compreenso possui sua utilidade, mas tambm
seus limites. Sem ela a evoluo em nossa ao estaria
comprometida. Entretanto, restrito a ela no podemos pretender
que nosso conhecimento possua qualquer alcance ontolgico.
Mas, sejamos cuidadosos. A ontologia, do ponto de vista
filosfico de que estamos falando aqui, no se constitui como um
discurso na forma de uma representao adequada do real. Pensar
assim seria continuar aderindo ao dualismo que procuramos
insistentemente superar. Sendo a filosofia uma tarefa, a ontologia se
identificar com o conhecimento em ato, sntese do processo de
elucidao da prospeco pela reflexo e da renovao da reflexo
pela prospeco em uma espcie de circunsesso.
No conhecimento em ato, procurando realizar nossa ao e
a ns mesmos de modo sempre mais adequado, incorporamos tudo
o que a ns mesmos. No conhecimento em ato, passamos
constantemente do ponto de vista da linguagem perspectiva da
verdade vivente, no mais considerando a relao abstrata dos
conceitos, desprovida de sua interioridade e suporte vital, mas as
relaes de atos, estados, fatos assimilados ou eliminados por um
organismo que combina, compensa, digere (Principe lmentaire, p.
379); ou seja, considerando a sntese que cada vida. Ora, como tal
trabalho de considerao da vida pode ser dita ainda uma lgica, ou
seja, uma razo reguladora e determinante (Principe lmentaire, p.
379), o que ainda resta a esclarecer.
Em razo do discurso sustentado at esse ponto, j
podemos afirmar com segurana que a fonte vivente de toda
determinao lgica a deciso refletida e voluntria que escolhe e
atua fixando o ser de um ato, entre os inmeros possveis. Ainda,
tambm podemos afirmar que toda deciso uma possesso e uma
privao de algo, de modo que tanto o que se possui quanto aquilo
de que se privado contribui para fixar o ser de nossa ao e a nos
definir. Esse o determinismo da ao, segundo o qual tudo o que
Investigaes sobre
O Agir Humano
39
atuamos e que deixamos de atuar forma uma sntese que nos define
(Principe lmentaire, p. 379): H um determinismo que, envolvendo
todos os empregos possveis do pensamento e da liberdade,
exprime uma ligao ao mesmo tempo inteligvel e real de todos os
nossos estados, compe nossa vida como um problema nico, e
requer uma soluo integral. Em suma, o estudo da lgica da vida
moral o estudo desse determinismo. Mas, qual o seu princpio
elementar e quais so suas leis? Qual sua lgica?
3.1 O princpio elementar: a strsis.
Em um recurso a Aristteles, para Blondel a noo de strsis
implica a privao de algo que seria devido ou natural, e cuja
possesso foi adquirida, poderia ou deveria ser (Principe lmentaire,
p. 379). Desde que uma exigncia se constitua como parte da
natureza de um agente possuir sempre consequncias correlativas
ao emprego de sua atividade, seja ela atendida, rejeitada ou
desconhecida. Seja por sua satisfao, seja por sua no satisfao,
essa exigncia natural ser julgada em relao soluo do problema
posto pela vida, segundo a lei imanente vida mesma e que nos
coloca diante da deciso fundamental, origem orgnica do princpio
de contradio. Em outras palavras, quando parte da natureza de
um agente, uma exigncia no nunca indiferente. Blondel
significar o termo strsis com a expresso privao positiva.
12
12
Com afirma lvaro Pimentel, strsis e privao positiva so expresses
sinnimas que aparecero j na Action (1893), p. 368 e 438, mas cujo sentido ser
explicitado apenas no Prncipe lmentaire dune logique de la vie morale, ainda que a
expresso privao positiva no aparea propriamente nesse texto
(PIMENTEL, 2008, p. 101, nota 170). Sobre o modo como a compreenso da
strsis desenvolveu-se na filosofia blondeliana significando a privao positiva,
remetemos a um curto, mas denso e esclarecedor texto de Simone DAgostino
Investigaes sobre
O Agir Humano
40
Diferentemente do que presume uma lgica da apphasis,
segundo a qual o rejeitado anulado, o que poderia ser realizado em
nossa ao e no o foi deixa sempre a sua marca no que somos.
Para passar da perspectiva da linguagem para aquela da verdade
vivente preciso uma lgica diversa, capaz de assumir que a hxis
que segue no idntica hxis que precede a strsis (Principe
lmentaire, p. 380). preciso uma lgica capaz de dar conta da
riqueza infinita das repercusses orgnicas de nossa ao: As
relaes das ideias se resumem em sim e no; e tudo dito: como
uma geometria plana, onde duas linhas se cruzam em um s ponto.
As relaes reais so orgnicas infinitamente, sempre infalivelmente
repercutidas e integradas (Principe lmentaire, p. 380). Com efeito,
nossas exigncias ideais, nossas disposies, no se limitam a um
nmero restrito de relaes. Elas no s repercutem e se integram
infinitamente umas nas outras, mas ainda tudo o que o homem
participa deste processo de integrao, do qual uma dialtica
verdadeiramente completa no poderia prescindir:
...nada dele [do homem] lhe estranho ou indiferente, ou
mais ainda, o que no interessa em nada a sua ao no
conhecido por ele; nada nele lhe escapa, se se pode dizer,
hxis e strsis. Tudo o que faz e tudo o que no faz
contribui para lhe constituir; tudo, assim, entra no sistema
de seu organismo dialtico. E porque as determinaes da
lgica abstrata so um estrato da atividade
espontaneamente orientada em ns pela natureza ou uma
expresso de nossas tendncias originais projetadas no
espelho do pensamento reflexo, uma dialtica
verdadeiramente completa no saberia se restringir ao
formalismo lgico (Principe lmentaire, p. 380).
denominado Privation Positive (DAGOSTINO, 2003. In: LECLERC, 2003, p.
211-225).
Investigaes sobre
O Agir Humano
41
Sem dvida, a abstrao confere s noes lgicas certa
necessidade. Mas, essa de carter extrnseco e transcendente ao
concreto.
13
Para dar conta do real ns precisamos de uma lgica
diversa. Nas palavras de Blondel:
...ns precisamos de uma lgica real que contenha o que a
lgica formal exclui como se no existisse, de uma cincia
que reencontra, por meio da reflexo, o nexus de todos
os estados e de todos os erros mesmos, a lei intrnseca, a
norma imanente que torna inteligvel todos os
desenvolvimentos opostos da vida, e os julga
absolutamente, compreendendo mesmo o que ela no
saberia perdoar. H uma lgica da desordem. (...) lgica
universal que abraa todas as singularidades e as
aproximaes da casustica, todas as complicaes que
preparam a colaborao da natureza e da liberdade; lgica
infinitamente imparcial e exata, j que a lei duplamente
interior vida espontnea e atividade voluntria, norma
sui. Lgica luminosa, j que, atravs das obscuridades de
nosso destino presente, tende apenas a exprimir a relao
do que podemos e devemos com o que ns queremos e
fazemos, para esclarecer antecipadamente a justia final
de nossa sorte. Lgica que somente merece propriamente
este nome tour court, porque a cincia que parcialmente a
usurpou dela apenas um resduo parcial e um aspecto
isolado (Principe lmentaire, p. 381).
Enfim, a strsis o objeto elementar e material desta lgica.
Mas, quais so suas leis formais e cientficas, que se pem diante da
reflexo? o que ser mostrado em seguida.
13
De fato, se assim no fosse, no existiriam, por exemplo, sofismas ou
paralogismos. Os sofismas e os paralogismos so, apesar de sua condio,
pensamentos e pensamentos viventes. Desse modo, no so contradies do
pensamento vlido, porque do contrrio nem mesmo poderiam existir, j que a
contradio no se d na realidade e impossvel que se d.
Investigaes sobre
O Agir Humano
42
3.2 As leis do processo lgico da vida.
No texto de Principe lmentaire Blondel propor algumas leis
ligadas lgica da vida. Essas no devem, porm, ser entendidas
como condies a priori ou axiomas a partir dos quais a lgica
construda da forma como se pode imaginar que a lgica reflexiva
seria construda a partir das noes lgicas fundamentais, como o
princpio de no contradio. Diversamente, essas leis da lgica da
vida no so condies dessa mesma lgica, mas suas
consequncias, deduzidas a partir do complexo orgnico que a
ao. a partir da ao vivente que se constituem e so
compreendidas como descries gerais da dinmica do viver e
expresses da lgica da strsis. So elas: 1) lei do alogismo inicial e
do polilogismo espontneo; 2) lei da solidariedade das foras
discordantes; 3)lei das compensaes; 4) lei da reintegrao final ou
da perda total.
1) Lei do alogismo inicial e do polilogismo espontneo.
Blondel afirma que a vida real apresenta-se para ns
inicialmente sob a forma de uma aparente anomia, desordem ou
anarquia a que se pode chamar de alogismo inicial. Antes de
possurem sentido para ns, os elementos da vida simplesmente se
relacionam conosco, em uma relao que, embora ainda no
ordenadamente perceptiva, j uma relao disponvel percepo.
Antes de fazerem sentido, os elementos da vida simplesmente so a
ns anarquicamente disponveis.
Todavia, isso no significa que os elementos da vida sejam
interpretados como coisas que se colocam diante de sujeitos como
matria primitiva para a futura representao. A perspectiva da
filosofia como tarefa oferece subsdios para superar essa viso
dualista da vida. Do ponto de vista filosfico no h caos inicial
Investigaes sobre
O Agir Humano
43
independente da vida, mas, desde o mais primitivo momento, os
elementos da vida so para ns a partir da sntese que a vida. A
anarquia inicial no significa existncia fora da vida, mas vivncia
ainda no elucidada. A anarquia inicial se d, assim, no em razo
da apario de nmenos que seriam transformados posteriormente
em fenmenos pela ao da subjetividade, mas em razo da
multiplicidade natural das nossas potncias vitais (polizosmo) e das
nossas aptides mentais (polipsiquismo). A multiplicidade de nossos
estados subjetivos so a condio do caos inicial.
Todavia, o caos inicial no tem a ltima, nem a nica palavra
aqui. O estado inicial catico tende a uma sntese, a uma ordem.
Espontaneamente, o caos inicial de nossa vida tende a assumir um
sentido ordenado. Espontaneamente somos levados a elucid-lo e a
criar sentido.
Ora, a criao espontnea de sentido, a compreenso da vida
a que muito facilmente e naturalmente somos levados a constituir
pela coao de nossa reflexo e de nossas disposies pessoais, no
nunca esttica. O trabalho de sntese coordenadora nunca feito
de modo definitivo porque os estados subjetivos, que convivem em
ns e a partir dos quais conscientemente e inconscientemente se
determina a ordem singular de nossa vida, nunca esto em um
equilbrio definitivo. Em suma, nosso polizosmo e polipsiquismo
no s so responsveis pelo alogismo inicial, mas tambm pelo
polilogismo espontneo, ou seja, pela dinamicidade de nossa
compreenso da vida:
O caos inicial tende, ento, a uma ordem e a uma certa
ordem singular, que se organiza graas mistura do
instinto que determina a vocao pessoal e da reflexo
que se torna o princpio das decises, dos mritos e das
faltas voluntrias. De modo que, de um lado, graas
parcialidade profunda de nossa idiossincrasia, ns
tendemos a constituir um sistema que ns cremos
Investigaes sobre
O Agir Humano
44
exclusivo e fechado; mas, por outro lado, este trabalho de
sntese coordenadora no nunca feito imediatamente,
jamais inteiramente acabado, mesmo depois de uma longa
vida de unificao e de converso metdica (Principe
lmentaire, p. 381).
Por fim, o polizosmo e polipsiquismo que nos caracteriza
no se resolvem de modo linear como em uma equao matemtica,
mas nem mesmo como em uma equao fsica sobre a interao
mecnica de foras discordantes, como veremos a seguir.
2) Lei da solidariedade das foras discordantes.
A cristalizao que determina em ns os delineamentos de
cada personalidade no suprime, no negligencia nenhum elemento
fornecido e imposto pela natureza. Tanto as tendncias escolhidas e
atuadas quanto aquelas rejeitadas compem a sntese que somos
ns, onde nada se perde e onde tudo constantemente se
transforma. Com efeito, a cada escolha a sntese se transforma e
com ela o que se escolheu e o que se rejeitou: nada entra em ns
sem sair, por certos aspectos, de uma predisposio ntima; nada sai
de ns sem penetrar mais profundamente. (...) h realidade nova,
porque uma ideia realizada no a mesma de antes de ser oposta e
preferia a outras (Principe lmentaire, p. 382).
A essa coao de foras, permanente, dinmica e imanente
vida, Blondel chama de solidariedade das foras discordantes. Ela se
dar a partir de certas compensaes, muito singulares.
3) Lei das compensaes.
A lgica da vida moral funciona segundo o jogo da
compensao das foras que formam a sntese da vida de cada
indivduo. A dificuldade precisa de sua cincia est justamente em
Investigaes sobre
O Agir Humano
45
que difcil definir a composio prpria das foras que a entram,
constituindo cada carter moral.
Como consequncia disso, segundo Blondel, no
suficiente uma casustica geral e abstrata que nos leve a pensar que
todos temos as mesmas obrigaes, luzes, foras e desculpas. Ao
contrrio, preciso um trabalho de compreenso de cada vida
particular, cuja responsabilidade intransfervel: Trata-se, ao
contrrio, de desenvolver sem cessar em ns o sentimento de nosso
original destino e de nossa incomparvel responsabilidade (Principe
lmentaire, p. 382).
Deste modo, a elucidao da lgica da vida moral exige a
superao do perigo da generalidade e a assuno da
responsabilidade pelo prprio destino:
...revelando, de uma parte, a insuficincia ou a
insignificncia das determinaes abstratas e das
codificaes inteiramente construdas com ideias e pelas
ideias; mostrando, por outra parte, a edificao
progressiva de nosso carter moral com o auxlio de
todos os elementos compensadores, os quais nenhum
saberia ser totalmente ausente da soluo final... (Principe
lmentaire, p. 383).
Embora no se possa precisamente definir o quadro das
compensaes que resultam na composio das foras que agem
sobre ns, uma coisa certa: h um determinismo inflexvel na
lgica da vida, segundo o qual tudo o que nos diz respeito, toda
fora ou tendncia que se exerce sobre ns, determina quem somos,
seja que adiramos ou no a elas. Poder-se-ia, ento, objetar: se tudo
se integra segundo uma lei e um determinismo inflexvel isso no
significaria uma abolio da moralidade?
A resposta de Blondel a essa pergunta no. Toda
deciso comporta uma strsis (privao) e uma kthsis (possesso),
Investigaes sobre
O Agir Humano
46
entretanto, o que rejeitado no integrado pelo agente como o
que escolhido, as marcas que deixam so diversas: umas so
positivas, na medida mesma em que realizam a ideia essencial de
nosso ser e subordinam os diversos elementos a esta unidade
diretiva; as outras so privativas, no sentido de que perturbam nossa
direo virtual e exigida (Principe lmentaire, p. 383).
Sendo assim, o papel da lgica moral no pode ser o de
procurar detalhadamente seguir na concretude particular da nossa
ao o modo como as regras que governam o nosso destino
encontram sua aplicao, o modo preciso como a compensao se
d. So muitas as incgnitas envolvidas nessa equao. Sua
equacionalizao impraticvel.
Entretanto, possvel proceder por uma via alternativa e
mais adequada. Ao invs de procurar determinar o quadro integral
das compensaes, possvel dedicar-se a avaliar o que a escolha
livre de cada possesso e privao, que se anuncia para nossa ao,
tem de positivo ou negativo em relao nossa hxis primitiva.
possvel, no obstante a complexidade a envolvida, procurar avaliar
as consequncias de nossa ao livre, julgando-a pelo parmetro da
realizao de ns mesmos. Assim, sem pretender quimericamente
conhecer no detalhe a compensao das foras que constituem
nossa hxis, possvel esforar-se por esclarecer o dinamismo
antecedente, concomitante e consequente de nossa liberdade sob a
luz do projeto que somos ns mesmos:
Porque a liberdade necessariamente produzida em ns
pela dialtica espontnea da vida resulta necessariamente
em consequncias, sem ser necessitada ela mesma, este
dinamismo antecedente, concomitante e consequente
liberdade que a lgica deve esclarecer. Assim, a verdade
lgica se encontra definida como o acordo do pensar e da
vida com eles mesmos, no mais no sentido puramente
ideolgico, mas no sentido concreto e segundo as
exigncias ou os crditos da vida interior: se alcanar,
Investigaes sobre
O Agir Humano
47
entrar em possesso de si, se igualar explicitamente, tal
qual se no concreto implcito, o trabalho que estimula
e que julga a lgica integral. E esta coerncia do
contedo total que o gnero cujo acordo formal
apenas uma espcie (Principe lmentaire, p. 383).
Em suma, no sendo possvel equacionar todo o jogo das
foras que nos definem, a lgica da vida moral, fazendo abstrao
do valor varivel das incgnitas a envolvidas, deve dedicar-se ao
esclarecimento da liberdade, de suas condies antecedentes,
concomitantes e consequentes, segundo a totalidade da vida, que se
apresenta a ns como uma tarefa de reintegrao final e cujo
fracasso implica uma perda total de si. Mas, qual seria o sentido
dessa reintegrao de si a si mesmo?
4) Lei da reintegrao final ou da perda total.
Todos os nossos atos expressam a totalidade de nossa vida,
da sntese orgnica e dinmica que somos ns e do modo como essa
sntese se posiciona diante do nosso destino. Com efeito, viver
procurar realizar a tarefa de reintegrar-nos a ns mesmos, de
cumprir nosso destino.
Dessa tarefa ningum pode se eximir. A vida exige a ao. A
ao realiza a vida segundo necessidades internas das quais, uma vez
postas, no podemos mais nos desvencilhar. Seja que as
satisfaamos, seja que as rejeitemos, elas contribuiro para constituir
o que somos e para decidir se poderemos ou no nos reintegrar, a
partir do acordo ou do desacordo em relao ao nosso destino, ou
seja, a partir de certa opo ltima e fundamental. Mas, que opo
ltima esta a que nos referimos?
Na tarefa de reintegrao de si, a fora intrnseca das
tendncias naturais so constantemente amortecidas. Optando por
agir de um modo e no de outro, depositamos na escolha realizada
Investigaes sobre
O Agir Humano
48
toda a energia proveniente do jogo das foras, compensadas na
direo do ato. Mas, isso possvel somente porque ao agir ns no
procuramos nas tendncias escolhidas e rejeitadas bens ou males,
mas o bem e o mal, ou seja, nossa realizao final e nossa perdio
total. Agindo, depositamos na opo escolhida toda a fora que nos
impulsiona a nos reintegrar, traduzindo as opes como se elas
comportassem no uma strsis, mas uma subordinao aos
princpios acsmicos de identidade e no contradio. Assim, as
opes concorrentes so artificialmente interpretadas sob a forma
de proposies que comportam oposies lgicas (Principe
lmentaire, p. 384). Um artifcio esse, mas artifcio til e mesmo
necessrio.
Nossas escolhas comportam um sacrifcio apenas parcial, j
que no s o que escolhido, mas tambm o que rejeitado
contribuir para o que somos. Mas, por um artifcio til, com a
interveno do princpio de no contradio, podemos julg-las
como se elas levassem o peso do infinito, como se a cada momento
nossa escolha pudesse ser definitiva. Sem poder atingir a realidade
das compensaes das foras que determinam nossa ao, como
anteriormente j nos referimos, somos por esse artifcio levados a
superar a prpria compensao das foras subjetivas. Somos por ele
capacitados a entrar em possesso de uma vida suprassensvel e
suprarracional, de uma vida livre.
Lanando razes no sensvel e no racional, a liberdade lhes
transcendente. Como j acenamos anteriormente, a contradio no
existe na realidade, mas apenas a partir do momento em que nossas
escolhas so opostas, do ponto de vista de nossa reintegrao, como
o bem e o mal. a prpria energia que nos impulsiona
reintegrao, alimentada pelo jogo das foras de nossas tendncias,
que uma vez posta a servio de uma escolha particular permite-nos
amortecer as foras a ela mesma discordantes, fundando nossa
liberdade.
Investigaes sobre
O Agir Humano
49
Deste modo, a liberdade no contraditria ao
determinismo de nossa ao, mas encontra nele sua fonte, assim
como tambm da nascem todas as noes da lgica reflexiva. Com
efeito, necessariamente somos obrigados a implicar em cada escolha
que fazemos a totalidade de nosso destino e a julgar nossas aes
no como bens ou males, mas como o bem o e mal. Ademais, a
percepo que temos da irreparabilidade de uma ao realizada diz
respeito no somente nossa impossibilidade de retornar no tempo
e agir diversamente, mas, sobretudo, ao peso infinito do qual a ao
carregada em razo de sua relao com o nosso destino. O fato da
irreparabilidade de uma ao realizada nos importante somente
porque em cada ao nossa realizao ltima posta em jogo.
Assim, lgica e moral no so contraditrias: ...se a
excluso ideal parece absoluta, porque a soluo real , com efeito,
decisiva e radicalmente cortante; se a ao humana se estabelece no
absoluto de uma hxis ou de uma strsis, isto se d pela mediao do
princpio formal de contradio (Principe lmentaire, p. 384). A
lgica possui suas razes na moral e a moral no ela mesma, no
livre, se no participa do rigor da lgica formal, estabelecendo a
distino entre as opes radicais que definem o destino humano e
julgando cada ato relativo de modo a ver neste o peso do absoluto.
Esclarecidos o princpio fundamental da lgica moral e
algumas de suas leis fundamentais, resta-nos afrontar uma ltima
questo: o que esse estudo nos pode elucidar sobre a possibilidade
de revolucionar a filosofia, interpretando-a como tarefa?
4. CONSIDERAES FINAIS: A CAMINHO DE UMA
RENOVAO DA FILOSOFIA.
Para um pensar que se limita lgica baseada na no
contradio, a compreenso do ser ser sempre contraditria,
Investigaes sobre
O Agir Humano
50
porque no se pode admitir o diverso, o no ser, porque, como o
afirmara a tradio eletica o no ser no pode ser conhecido.
Ora, essa afirmao, abstrada do seu contexto originrio,
ganha um significado sensivelmente diverso em razo do modo
como o conhecimento veio sendo interpretado pela tradio
filosfica, ou seja, como processo, reflexo ou especulao. Com
efeito, a meta da especulao no justamente uma fiel reproduo
ideal do ser? Ora, no h problema em estabelecer tal meta como
algo realizvel caso se pudesse demonstrar que as leis que valem
para a reflexo de alguma forma reproduzissem as prprias leis do
ser. Sob essa crena injustificvel, repousar todo o abuso de
competncia ligado ao uso do pensar reflexivo.
Todavia, para a tradio eletica o produto da especulao
ou do conhecimento processual no um verdadeiro saber, mas
apenas um erro e uma mistura, um caminho a ser evitado. Nesse
sentido, segunda ela, se conhecer equivale a um saber consumado e
completo do ser, de modo que conhecimento e ser so idnticos, a
especulao no um verdadeiro conhecimento justamente porque
para ela ser e conhecimento (reflexivo) no podem ser idnticos,
porquanto o produto do conhecimento (reflexivo) no o ser, mas
sua representao. Em outras palavras, contrariamente ao que pensa
a tradio eletica, se pensar representar, o pensamento ser
sempre estranho ao ser.
Dessa forma, a compreenso do conhecimento restrita
especulao e lgica abstrata, que a caracteriza, nos levar a nos
deparar sempre com esse dualismo insupervel entre ser e conhecer.
Em suma, restringindo conhecer a representar, a menos que se
possa provar de alguma forma que a representao equivalente ao
ser, no s o contraditrio do ser o no ser a no poder ser
conhecido pela especulao, mas tambm o prprio ser.
Diversamente, a partir do ponto de vista da lgica da strsis
ou da lgica da vida moral, a relao entre ser e conhecer pode ser
Investigaes sobre
O Agir Humano
51
reinterpretada e a filosofia, especialmente a metafsica, renovada.
Para uma lgica baseada na strsis continuar sendo vlida a
afirmao segundo a qual o no ser no pode ser conhecido, mas
em um sentido inteiramente novo. O no ser no conhecido
porque s o ser , porque conhecer no tem por meta a reproduo
do ser, mas sua realizao e s o ser se realiza.
Assim, do ponto de vista da filosofia da ao e da lgica da
strsis, que a caracteriza, o extremo oposto do ser no a antfasis do
ser, mas a strsis positiva. Do ponto de vista da ao, o ser
verdadeiro o ser moral: a hxis, sntese de strsis (privao) e de
kthsis (possesso), que admite em si contrrios, mas no possui
contrrios. Consequentemente, do ponto de vista da ao, no h
ser sem mortificao, sem privao, de tal modo que o extremo
oposto do ser tambm se realiza:
Somente a mortificao realiza a contraditria do no-ser
e por um tipo de experincia metafsica produz nosso ser
no ser; realizou a soluo antagonista na privao, a qual
no a inexistncia. Porque, diferentemente da lgica
intelectual, que se limita em afirmar a igualdade abstrata
no mbito do possvel e a incompatibilidade formal das
solues opostas, a lgica moral, justificando este
exclusivismo do qual manifesta a utilidade, o supera,
porque no fundo de todas as solues possveis resta um
mesmo sujeito de inerncia em vista do qual elas so
inegveis e de sinal contrrio. Assim, encontra-se
verificada esta viso de Aristteles: a substncia, o ser
verdadeiro, o ser moral admite contrrios, mas no possui
contrrios. Neste sentido, a realidade metafsica escapa s
determinaes lgicas do entendimento e preciso
restituir ao princpio real de contradio a frmula
original de Parmnides, embora interpretada de modo
totalmente diferente: o no-ser no , nem em si nem em
ns; o ser moral no morre; e, sob o ponto de vista real,
no a antfasis, mas a strsis positiva que o extremo
oposto do ser (Principe lmentaire, p. 384).
Investigaes sobre
O Agir Humano
52
A questo importante no mais a da identidade entre ser e
conhecer, mas aquela que diz respeito capacidade da reflexo em
iluminar a prospeco e contribuir por meio da circunsesso a
criada para o progresso da vida humana. Nesse sentido,
conhecimento autntico o saber que contribui para a realizao do
ser, para a realizao de uma tarefa. Ainda que nunca subjugado
pelo pensar, o ser poder sempre abrir-se experincia humana, de
modo que o que nunca se poder saber de forma consumada pode
ser reintegrado ao.
Em concluso, a antfasis (o no ser) no seno um smbolo
inadequado da strsis (da privao). Reconhec-lo colocar a lgica
reflexiva em seu devido lugar, afirmando sua subordinao lgica
da vida, de onde o pensamento lana suas razes. Reconhec-lo a
condio de acesso a uma nova filosofia e a uma metafsica ainda
possvel, livres das antinomias de que o pensar ocidental se encontra
a sculos substanciado, em razo do insupervel dualismo entre ser
e conhecer que lhe caracteriza. Seria interessante explicitar essa nova
filosofia. Infelizmente, devemos remeter isso para outras ocasies.
REFERNCIAS
BLONDEL, Maurice. Principe lmentaire d'une logique de la vie
morale. In: ______. Ouvres compltes II: 1888-1913. La philosophie
de L'Action et la crise moderniste. Paris, PUF, 1997, p. 365-385.
D'AGOSTINO, Simone. Privation Positive. In: LECLERC, Marc
(d.). Blondel entre LAction et la trilogie. Bruxelles, Lessius, 2003.
(Actes du Colloque international sur les crites intermdiaires de
Maurice Blondel, tenu lUniversit Grgorienne Rome du 16 au
18 novembre 2000).
Investigaes sobre
O Agir Humano
53
LAMBERT, Dominique; LECLERC, Marc. Au cur des sciences.
Paris, BAP, 1996.
LECLERC, Marc (d.). Blondel entre LAction et la trilogie. Bruxelles,
Lessius, 2003. (Actes du Colloque international sur les crites
intermdiaires de Maurice Blondel, tenu lUniversit
Grgrorienne Rome du 16 au 18 novembre 2000).
LECLERC, Marc. La confirmation performative des premiers
principes. Revue Philosophique de Louvain, 96(1998), 69-85.
PIMENTEL, lvaro. A Lgica da Ao de Maurice Blondel:
explicitao crtica na Ao (1893). Belo Horizonte: UFMG, 2008.
(Tese de doutorado) [Disponvel em:
http://hdl.handle.net/1843/ARBZ-7G5K29. Acesso: 13/03/2012].
YSAYE, Gaston. Laffirmation de ltre et les sciences positives. Paris,
Lethielleux e Namur, Presses Universit de Namur, 1987.
2
CINCIA E CRIAO CIENTFICA
Josalton Fernandes de Mendona
1
1. INTRODUO.
De acordo com a viso tradicional, normalmente associada a
uma metafsica materialista, a cincia representa o mundo tal como
ele realmente e o faz com uma rede de enunciados
2
. Sob essa
perspectiva a cincia se desenrola segundo compromissos com a
verdade, com a explicao, com a previso, simplicidade,
objetividade, mtodo, teorizao, experimentos, corroborao ou
verificao e demonstrao.
Nessa leitura, a nfase recai sob a cincia formalizada e no
sob a cincia em vias de se fazer. Assim, rejeita-se, como se fossem
extremamente restritos, os traos muito salientes da cincia, tais
como, a sua aplicao em grande escala, seu carter prtico, sua
vinculao estrita ao poder e o ideal de controle da natureza.
No entanto, as teorias da cincia de Thomas Kuhn (1975) e
de Imre Lakatos (1970), Hugh Lacey (1998) e Joseph Rouse (1987)
questionam essa ortodoxia abrindo espao para teorias centradas na
1
Doutor em Filosofia. Professor do departamento de filosofia da
UERN (E-mail: josailtonf@gmail.com).
2
De acordo com a anlise da cincia promovida na linha do positivismo
lgico, a explicao geral da significatividade cientfica est relacionada com o
exame da estrutura lgica das teorias. Essa anlise, que concerne a uma
reconstruo racional com propsitos de esclarecimento lgico das teorias,
precisa conceb-las como um conjunto consistente de enunciados. A esse respeito
ver Alston (1974), Kneller (1980).
Investigaes sobre
O Agir Humano
56
anlise das condies histricas de produo e desenvolvimento do
conhecimento cientfico. Sob esta perspectiva a cincia deixa de ser
vista como portadora de uma racionalidade superior dotada de
neutralidade e autonomia, e firma-se como uma prtica ou atitude
que incorpora valores pessoais e sociais tanto quanto elementos
heursticos, tais como, as estratgias de pesquisa, as tcnicas
experimentais, os algoritmos mentais a curiosidade, as
motivaes pessoais, a criatividade.
Dessa maneira so incorporadas anlise da cincia novas e
fundamentais categorias. Examinarei sob este aspecto uma categoria
fundamental para o pesquisador, a qual permite v-lo, no como um
descobridor da verdade, mas como aquele que constri um
edifcio, uma representao do mundo, sempre em interao com
outros pesquisadores: trata-se da criatividade cientfica.
Tradicionalmente, elegem-se a verdade e a certeza como
categorias epistmicas padres para o entendimento e a
caracterizao da cincia. De fato, o ideal cientfico moderno
prope que h boas razes para a aceitao de estratgias de
pesquisa apoiadas na perspectiva da verdade e da certeza, no
entendimento de que a cincia descreve o mundo tal como ele ,
independente de valores pessoais e sociais, tanto quanto de
categorias mentais. Entretanto, decorre desse ideal o problema de
saber at que ponto a cincia produto de uma criao intelectual.
E esta questo, ao que tudo indica, se coaduna melhor discusso
da atividade da cincia como derivado da estrutura mental e
procedimentos dos cientistas.
Assim, analisando a categoria da criatividade cientfica em
contraposio a outras como verdade e certeza, argumentarei em
favor de trs hipteses, a saber, (1) a cincia produto de uma
intensa e dinmica atividade mental ou intelectual; (2) a cincia um
campo de prticas influenciadas; (3) as mudanas cientficas se
explicam por mudanas na mente dos cientistas.
Investigaes sobre
O Agir Humano
57
2. CINCIA VERDADE CERTEZA.
Na tradio cientfica, a verdade um valor supremo. A
busca da verdade determina o objetivo da cincia, o seu significado
e a expresso da racionalidade humana. O cientista, nesta condio,
um pesquisador da verdade. Contudo, isso no suficiente,
espera-se do investigador a capacidade de demonstr-la.
Mas essa exigncia no se constitui, por assim dizer, num
empecilho. Segundo Porchat (2001), a tradio filosfica grega
sempre confiou na capacidade humana de provar a verdade. No
porque o homem seja criatura divina ou dotado de capacidade
sobrenatural, mas simplesmente porque dotado de razo, cuja
expresso mais nobre continua ele se encontra na
matemtica. A bem dizer, o nico saber capaz de rivalizar com a
prpria filosofia. Com efeito, o homem por ser racional persegue o
porqu das coisas, suas causas e princpios como diz Aristteles
(1987). , portanto, a razo que dota o homem das categorias
inteligveis, capacitando-o no somente a buscar a verdade, mas
tambm a demonstr-la. E o modelo perfeito desse equilbrio entre
a busca e a demonstrao se encontra nas cincias, especificamente
nas matemticas. ento da matemtica que emergiu o parmetro
de racionalidade cientfica. Segundo Porchat (2001), o rigor e a
disciplina com que os gemetras demonstram seus teoremas
serviram de espelho a todo conhecimento que almejasse a
cientificidade.
Desta maneira, o saber cientfico, na medida em que
definido em funo dessa racionalidade matemtica, se constituiu
numa ferramenta adequada para se buscar a verdade. Mas aqui uma
divergncia se impunha, pelo menos nas duas maiores correntes de
pensamento que nos legou a tradio, a saber, a de Plato e a de
Aristteles. Como bem enfatiza Wedberg (1982), enquanto para
Plato somente a filosofia poderia ter acesso verdade por ter o
Investigaes sobre
O Agir Humano
58
controle da ferramenta mais eficaz, a dialtica, ficando a matemtica
localizada num limbo entre o mundo das ideias e o mundo sensvel,
para seu discpulo maior, Aristteles, a cincia se caracterizava
exatamente por essa sede de busca das causas e princpios
necessrios bem como pela sua capacidade de demonstrar a
necessidade dessas causas e princpios atravs da lgica
ferramenta que expressava a estrutura racional e rigorosa que fazia
da matemtica o modelo de cincia.
De qualquer modo, a ideia que se coloca desde os
primrdios da tradio filosfica a de que no basta ter a verdade,
mas preciso ter a certeza de possu-la, da o papel reservado
demonstrao na teoria da cincia de Aristteles e tese da
contemplao das verdades eterna pelo filsofo, em Plato.
O trinmio Cincia-Verdade-Certeza se impe naturalmente
com base na credibilidade da razo humana. Razo esta que
trabalhava dentro de padres rgidos de leis e princpios. Assim o
princpio da identidade, a no contradio e o terceiro excludo,
garantiam a consistncia do arcabouo demonstrativo lgico-
matemtico. E se impe, ento, o fascnio pela prova em detrimento
descoberta, pelo menos na tradio que emerge a partir de
Aristteles.
Mas se a cincia conhecimento demonstrvel em que
situao se encontra o processo de descoberta? possvel serem
alcanados procedimentos certos e seguros de obteno da verdade?
o que examinaremos na prxima seo.
3. UM OBSCURO MUNDO E A LUZ DE DESCARTES.
As questes relativas aos processos de descobertas sempre
fizeram parte ou das teses metafsicas ou, como consideram alguns,
das teses msticas. Hoje, dizem os defensores da ortodoxia
Investigaes sobre
O Agir Humano
59
filosfica, estas teses fazem parte da psicologia da mente do sujeito
investigador. Com efeito, j adverte Urbach (1982), quando se
indaga o modo como o homem conhece, adentra-se em um
contexto obscuro em que as coisas no parecem to certas e
indubitveis quanto no reino da prova.
De fato, Aristteles, por exemplo, monta uma doutrina
sobre o processo indutivo/intuitivo de captao da essncia das
coisas. Assim, a partir da percepo do que comum entre muitos,
o sujeito, portador de um intelecto agente, capaz de abstrair num
ato intuitivo ou de intuio intelectual o significado ltimo do
objeto, isto , captar a essncia desse objeto.
Esse processo, na verdade, foi objeto de intensa reflexo na
idade mdia, particularmente na teoria do conhecimento de Toms
de Aquino e constituiu, juntamente com a metafsica Aristotlica, o
pilar do pensamento gnosiolgico medieval.
Contudo, Aristteles herdou a preocupao por este tema
de Plato. De fato, no dilogo Mnon, Plato discute a questo do
modo de obteno do conhecimento, apresentando a desde
ento famosa aporia segundo a qual quem pergunta no sabe a
resposta e, portanto, no seria capaz de reconhec-la quando essa se
apresente; e quem conhece, no precisaria perguntar, por que j
conhece
3
. Em todo caso, toda investigao seria desprovida de
sentido.
Plato resolve a aporia por meio da doutrina socrtica da
reminiscncia. De acordo com esta, todos tm um saber inato, que
se encontra, entretanto, obscurecido ou esquecido desde que a alma
habitou num corpo. Ao filsofo cabe fazer com que os homens se
lembrem deste conhecimento. Para tanto, Scrates no Mnon faz uso
do mtodo maiutico que, conforme ele, tinha exatamente esse
papel de fazer nascer o saber de que todo homem grvido.
3
A esse respeito ver o Menon (Plato, 2001).
Investigaes sobre
O Agir Humano
60
O que chama a ateno nesta tese platnica a apresentao
e defesa de um procedimento de obteno do conhecimento. J a
certeza deste garantida por uma doutrina de cunho muito mais
espiritualista e mstica do que propriamente racional.
Todavia, Plato participava, como toda a filosofia grega, da
doutrina da uniformidade entre mente-realidade. De tal modo que
no se pode dizer que a doutrina da reminiscncia e a maiutica se
constituam num procedimento heurstico de criao cientfica. Na
verdade, a doutrina da reminiscncia explica a estratgia de
desvelamento do real, isto , o mtodo socrtico no permite que se
crie, no sentido estrito do termo, mas que se desvele a estrutura
ntima das coisas.
Aristteles (1987) asseverar esta tese da uniformidade entre
mente-realidade com a defesa da ideia de que a relao de
causalidade e necessidade, expressa atravs da demonstrao
silogstica, exprime antes de tudo uma relao intrnseca da natureza
como tal.
O salto qualitativo nesta discusso se d quando a
modernidade desconfia da capacidade do sujeito em des-velar o real,
ou do real se deixar refletir na sua intimidade essencial. Dois
modelos partilharo deste pressuposto, embora com teses
mutuamente antagnicas: o modelo cartesiano e o modelo
representacional do conhecimento. Nesta seo discutiremos o
modelo cartesiano e na prxima o modelo representacional.
Descartes fez ver um aspecto bastante pontual e
problemtico na reflexo epistemolgica, por assim dizer, herdada
da tradio, qual seja, a uniformidade entre mente-realidade no
garantia de saber certo e indubitvel da verdade, ou seja, o real pode
at se manifestar mente, mas isto no quer dizer que o sujeito
conhece, com certeza, a essncia que se desvelou.
Assim se impe, segundo Descartes, a necessidade de um
mtodo capaz de oferecer a garantia de obteno no somente da
Investigaes sobre
O Agir Humano
61
verdade, mas acima de tudo da certeza da mesma. neste sentido
que no se discutir a suposta essncia do real que se manifesta ao
intelecto do sujeito, mas a conscincia deste sujeito que num ato de
intuio capaz de ter a certeza da verdade em funo da evidncia,
clareza e simplicidade da mesma. , com efeito, a primeira regra do
mtodo jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu no
conhecesse evidentemente como tal; [...] nada incluir em meus
juzos que no se apresentasse to clara e distintamente a meu
esprito, que no tivesse ocasio de p-lo em dvida
(DESCARTES, 1973, p.53). E este ento o fundamento das
demais regras uma vez que a segunda a diviso das dificuldades,
ou a anlise tinha como limite a parcela mais evidente de todas.
Segue-se a partir de ento a regra da sntese e da reviso e a
enumerao.
Aqui o parmetro no mstico ou metafsico, mas
matemtico e a lgica silogstica deixa de ser o instrumento de
estabelecimento de relao de necessidade, para dar lugar
conscincia do sujeito cognoscente, isto , o Cogito.
Fica claro, portanto, que prevalece ainda em Descartes a
perspectiva da verdade-certeza, que, mesmo sobre novos
fundamentos, ainda no abre espao na discusso epistemolgica
para a categoria da criatividade. Neste caso a necessidade de ser
criativo irrelevante, em face da habilidade em seguir certos
procedimentos mecnicos os quais garantiriam a segurana da
obteno de um saber certo e verdadeiro.
dito que a ideia de cincia como um procedimento
mecnico de obteno da verdade est diretamente ligada ao ideal
Bacon-Descartes de conhecimento certo e seguro. Alis, este ideal
servir de pano de fundo para toda a discusso epistemolgica
posterior a Descartes e mesmo em reao a ele. Constata-se, por
exemplo, que toda a tradio empirista ps-cartesiana preserva este
ideal de conhecimento certo e seguro agregando a lgica como
Investigaes sobre
O Agir Humano
62
instrumento de demonstrao. Esta alternativa, segundo Hempel
(1970), garantiria a racionalidade do discurso cientfico e sob esta
tica a prova dedutiva capaz de estabelecer a relao de
necessidade entre enunciados gerais e enunciados particulares que
representam o real.
4. MODELO REPRESENTACIONAL E A SUPER-REAO A
DESCARTES.
O ideal cientfico cartesiano de uma heurstica
4
infalvel para
a montagem de teorias cientficas encontra-se hoje desacreditado,
mas o binmio verdade-certeza perdura ainda nas teorias da cincia
de muitos de seus crticos. Na verdade, a reao concepo
cartesiana de cincia no fez com que o cerne de seu ideal fosse
abandonado, exceto a partir do pensamento popperiano, quando se
estabelece um segundo nvel de reao a Descartes. Mas
consideremos por parte.
4.1. O descrdito em relao possibilidade de captao do
real.
A reao contra Descartes, pode-se dizer, comea com uma
reao ainda mais radical ao pensamento clssico, mais
especialmente metafsica clssica. Trata-se do ceticismo em relao
real possibilidade da natureza se desvelar a uma conscincia
4
Heurstica, do grego Eureca, que significa encontrar ou
descobrir. um mtodo ou processo criado com o objetivo de examinar os
procedimentos de descoberta e resoluo de problemas, compreendendo esses
procedimentos como operao de comportamento automtico, intuitivo e
inconsciente. A esse respeito ver Moles (1998).
Investigaes sobre
O Agir Humano
63
cognoscente. Na verdade, j diz Locke (1999), se h uma essncia
no real ela nos incognoscvel. Mas isto no quer dizer que no
possamos conhecer, j que o sujeito racional dotado de categorias
intelectivas e sensveis que o faz representar o real, e com essa
representao que, em ltima instncia, ele dialoga com o mundo.
Essa desconfiana na nossa capacidade cognitiva de
conhecer a essncia do real, cujo significado maior refere-se a uma
reao crtica ao realismo epistemolgico, traz consigo um desapego
noo clssica de verdade: a noo de verdade com
correspondncia. Assim, verifica-se um fenmeno peculiar: quanto
mais crtico do realismo mais distante da concepo
correspondentista de verdade. neste contexto, ento, que se
apresentam concepes do tipo coerncia, pragmtica, mininalistas
e outros.
Mas, importa ressaltar, sob este aspecto que se forma uma
ortodoxia em relao ideia de criatividade como uma categoria
propriamente psicolgica. A criao cientfica estaria restrita esfera
das afeces privadas e, portanto, um tema que caberia, muito mais,
na discusso acerca dos parmetros das descobertas cientficas do
que nas anlises, sempre a posteriori, dos critrios de justificao das
teorias.
4.2. O Empirismo Lgico: A unidimensionalidade da razo.
Uma radicalizao da crtica ao cartesianismo, pelo menos
no que se refere adoo de um critrio absoluto de descoberta da
verdade e fixao da certeza, ocorre com o empirismo lgico. De
fato, aqui mais do que nunca talvez somente com o prprio
Aristteles houvesse uma concepo to radicalmente clara em sua
fixao e defesa cincia conhecimento demonstrvel, ou
melhor, logicamente demonstrvel.
Investigaes sobre
O Agir Humano
64
Nesta condio, o ponto chave a exigncia de um critrio
de cientificidade, o qual coloque na experincia a palavra final no
que se refere verdade ou falsidade das teorias. Ora, considerando
que o empirismo lgico tem a cincia como conhecimento
logicamente demonstrvel, as teorias so vistas como um conjunto
consistente de sentenas significativas com base nos dados
observveis, os quais tambm so, em ltima instncia, descries
lingusticas, representativas do real.
A ideia bsica, ento, a de que possvel caracterizar uma
sentena cognitivamente significante por certas condies s quais
seus termos constituintes tm que satisfazer. Essas condies,
segundo Hempel (1970), referem-se exigncia de ter uma
referncia experimental e, portanto, seu significado deve ser capaz
de explicar por referncia exclusiva s observaes.
Neste sentido, esta abordagem exigir que se tente
especificar, de antemo, o vocabulrio que pode ser usado para
formar as sentenas. Os elementos deste vocabulrio so termos
lgicos e termos de significado emprico. Estes ltimos dizem
respeito queles termos definveis ou explicveis em funo dos
termos de observao, os quais podem ser ou predicados de
observao (azul, quente, etc.) ou nomes de objetos fsicos (gua,
vulco, etc.).
Fica claro que a abordagem formulada estabelecendo
condies relativas linguagem. Realmente, conforme conclui
Ladriere (1978), se a linguagem contivesse somente termos
designando propriedades perceptveis ou acessveis intuio
sensvel, ento seria fcil reformular o princpio empirista sob a
forma de um princpio relativo linguagem.
Para Carnap (1988), por exemplo, qualquer termo que
tenha significado emprico deve ser definvel em funo dos termos
de observao. Assim na sentena x solvel na gua o termo
solvel tem significado emprico se e somente se quando x for
Investigaes sobre
O Agir Humano
65
colocado na gua e x se dissolver efetivamente. Mas, esse esforo
altamente restritivo e muitos termos importantes da linguagem
cientfica no poderiam ser explicitamente definidos, como o caso
dos construtos tericos comuns nas teorias cientficas, tais como
quark, anti-matria, ribonucleico e outros. Neste caso, preciso
concordar com Hempel (1970) quando ele afirma que, ao se
considerar as teorias como sistemas dedutivos axiomatizados e,
portanto, com um vocabulrio constitudo de termos bsicos,
termos definidos e termos lgicos, com seus postulados, a teoria
pode ser desenvolvida formalmente sem qualquer considerao do
significado emprico dos seus termos extra-lgicos, que so os
construtos tericos da teoria. Contudo, esse sistema formal somente
se constituir uma teoria cientfica se se dispuser de uma
interpretao emprica de certos termos ou sentenas.
Neste caso, Hempel (1970) apresenta e comenta dois
critrios que tal sistema formal deve satisfazer em nome de sua
cientificidade. O primeiro deles o de que um sistema terico
cognitivamente significante somente se parcialmente interpretado
de modo que nenhuma de suas sentenas primitivas (postulados)
isolada (As sentenas que so perfeitamente dispensveis na
deduo). Mas considerando as limitaes desta exigncia, Hempel
(1970) prope um novo critrio de sentido, o critrio de
interpretao parcial.
Por esse critrio, segundo explica Ladriere (1978) um
sistema de interpretao para uma teoria T a qual portadora de um
vocabulrio V termos descritivos da linguagem de T e de um
vocabulrio W termos previamente compreendidos deve
satisfazer duas condies: a linguagem do sistema deve ser
constitudo de proposies compatveis com T, de tal modo que
esse conjunto no contenha nenhum termo descritivo alm daqueles
fornecidos pelos vocabulrios de V e W; e os termos de V e W
devem ocorrer essencialmente em T.
Investigaes sobre
O Agir Humano
66
Com efeito, num sistema como esse se estabelece uma
conexo entre os termos tericos e os termos empricos sem
precisar traduzir o primeiro em funo dos ltimos e, portanto, no
permite que se substitua uma proposio terica por uma
proposio emprica, nem tampouco substituir um termo terico
por uma expresso de observao. Naturalmente, lembra Hempel
(1970), que tal teoria no pode ter sentenas isoladas, j que estas
no contribuem nem para a explicao, nem para a predio que a
teoria quer fornecer.
O que se pode concluir de tudo isso a imensa dificuldade
de se estabelecer um critrio empirista de significado e, portanto,
um radical esforo de se locomover dentro dos padres lgicos
justificacionistas, os quais trabalham considerando apenas uma
dimenso da razo, a lgica, sem se preocupar ao menos com o
suporte histrico para embasar suas teorias da cincia. Ao que
parece, uma teoria cientfica compreendida apenas enquanto sistema
formal cega.
4.3. Kuhn, Lakatos e a crtica ao ponto de vista ortodoxo.
O aspecto central da teoria da cincia de Tomas Kuhn est
no fato de se constituir numa crtica radical do modelo lgico de
explicao da cincia. Neste sentido, sua abordagem aponta para as
limitaes do justificacionismo e considera a plausibilidade de um
modelo explicativo da cincia dentro de um contexto de
descoberta
5
.
5
Os termos contexto da descoberta e contexto da justificao e os
seus significados foram elaborados por Hans Reichenbach e apresentados em seu
livro Experience and prediction: an analisys of the foundations and the structure
of knowledge de 1938. Atravs dessa terminologia, Reichenbach quis expressar a
Investigaes sobre
O Agir Humano
67
Na abordagem kuhniana a atividade cientfica se desenvolve
no interior de um quadro referencial que orienta a prtica
investigativa segundo a psicologia do chamado grupo cientfico
normal. o que ele compreende com cincia paradigmtica ou que
se move apoiada no paradigma vigente. Tal paradigma encontra-se
sujeito a reverses quando, incapaz de solucionar problemas e dirimir
as crises que tais problemas suscitam, questionado pelos novos
investigadores ou por parcela insatisfeita daqueles que foram
formados em seus quadros o grupo cientfico extraordinrio. Tal
estado de coisa denominado por Kuhn de cincia revolucionria e
, neste contexto que, segundo ele, se engendra a mudana de
paradigma.
Pode parecer que uma anlise do ato criador das teorias
cientficas possa se desenvolver a partir do exame acurado dos
fatores psicolgicos, sociais e valorativos presentes no contexto das
mudanas de paradigma, pois somente neste momento que se
pode falar, segundo Kuhn, de estratgias de soluo de anomalias e
mesmo de colocao de problemas constrangedores ao paradigma
vigente. No entanto, as categorias sociais e psicolgicas com que
Kuhn analisa a prtica cientfica no permitem uma anlise
elucidativa da cincia como uma prtica criativa intelectual, embora
permita elucidar a cincia como uma atividade influenciada. Afinal,
se no exigido do investigador, na cincia normal, atitudes
inventivas por que o seria no perodo revolucionrio? Com efeito,
no preciso tanto esprito inventivo e mesmo crtico, num instante
em que um paradigma j est suficientemente deteriorado pelas
anomalias ignoradas no decorrer de sua existncia.
O modelo dos programas de pesquisa de Imre Lakatos, no
entanto, sugere uma abordagem que procura contemplar tanto a
diferena entre o modo de o pensador encontrar seu teorema e seu modo de
apresent-lo.
Investigaes sobre
O Agir Humano
68
dimenso normativa da prtica cientfica dimenso esta que
Kuhn parece rejeitar , quanto dimenso criativa. Lakatos
descreve as estratgias que permitem o desenvolvimento cientfico
dentro de um programa de investigao.
De acordo com Lakatos (1970), um Programa de Pesquisa
consiste num ncleo, num cinturo protetor e numa heurstica. O
ncleo constitudo pelos pressupostos do programa e o cinturo
protetor so as hipteses auxiliares que mantm o ncleo irrefutvel
e a heurstica o que se pode chamar de poltica de pesquisa, que
sugere os tipos de hiptese propostas, os problemas e as tcnicas
para resolv-lo.
Assim, a heurstica uma parte importante dentro de um
programa de investigao. Ela determina a capacidade de progresso
ou de degenerao de um programa. De modo que, quando a
heurstica suficientemente potente poder, de um lado, manter por
um longo perodo intacto o ncleo e, por outro, sugerir problemas
novos, hipteses ousadas e, consequentemente, fomentar o
progresso terico do programa de investigao. Portanto, a potncia
heurstica sinnima de criatividade e oferece outra base de
racionalidade para a cincia.
Ora, a racionalidade do modelo justificacionista est ligada
ao domnio do objetivo, das argumentaes e dos esquemas lgicos,
das construes tericas tomadas em si mesmo, isoladas, do ato
criador que lhes deu origem ressaltei anteriormente as
consequncias e as limitaes desse modelo unidimensional. Assim,
quando se diz que o modelo explicativo dos programas de
investigao de Lakatos oferece outro fundamento de racionalidade
para a cincia se quer dizer que ela se encontra alicerada num
modelo de razo entendida, antes de tudo, como algo que designa
certa capacidade humana que permite compreender, organizar a
ao e resolver problemas. luz dessa outra racionalidade que
se apoia o exame da criatividade cientfica.
Investigaes sobre
O Agir Humano
69
5. CRIATIVIDADE, QUADROS CONCEITUAIS E
PROGRESSO CIENTFICO.
Para Moles (1998, p. 59):
A Criatividade a aptido de criar ao mesmo tempo
o problema e sua soluo, em todo caso a de cerrar
formas constitudas de elementos disparatados,
fragmentos de pensamentos, tomos de raciocnio,
que denominaremos: Semantemas.
Semelhante definio implica que a cincia uma atividade
imaginativa e crtica, conduzida a partir de experincias e
teorizaes apoiadas por intuies e uma intensa motivao pessoal
para obter os melhores resultados possveis, reunindo os
elementos disparatados em termos de preciso e resultado
terico. Portanto, a dinmica da atividade cientfica no deriva de
uma metafsica abstrata, nem da adeso consciente a um cdigo
normativo, antes impulsionada pela tenso psicossocial entre o
criativo e o crtico.
Sob este aspecto, como bem coloca Ziman (1996, p. 180):
[...] o conhecimento cientfico no to objetivo quanto
intersubjetivo e s pode ser validado e traduzido em ao pela
interveno de mentes humanas. Nessa condio, o conceito de
conhecimento inteiramente carente de significado
desconsiderando alguns atos mentais do sujeito conhecedor. Esses
atos envolvem uma variedade de processos tais como, identificao
rpida, entendimento claro, capacidade de interpretao,
representao e sntese, habilidade para formar metfora e
imaginao criativa. Assim, dificilmente pode-se desprezar na
cincia esses elementos bsicos da cognio humana individual , sob
risco de se voltar para um modelo positivista irrealista da cincia.
Nesse sentido, compreende-se a cincia como produto de uma
Investigaes sobre
O Agir Humano
70
intensa e dinmica atividade mental condicionada por fins e valores
cognitivos, morais, sociais e polticos.
Exatamente porque a atividade cientfica revela-se como
uma prtica criativa que ela se encontra condicionada pelas
tradies de pesquisas. Como afirma Ziman (1996, p. 170), o
candidato a cientista deve primeiro aprender seu tema. No basta
ter capacidade tcnica em reas como manipulao algbrica ou
circuitos eletrnicos. preciso tambm estar plenamente
familiarizado com os fundamentos conceituais da pesquisa no
momento e apreender os paradigmas contemporneos de uma
disciplina.
No se trata aqui de doutrinao, mas de aprender a pensar
cientificamente, o que envolve um processo longo e complexo. Em
particular, aprender a pensar cientificamente compreender a
importncia de ir alm do ponto de vista individual, sobretudo,
internalizar o ponto de vista do grupo, isto , assimilar o ncleo
firme de um programa de investigao, como afirma Lakatos ou
aderir ao paradigma, como diz Thomas Kuhn.
Por essa razo possvel afirmar que a cincia um campo
de prticas influenciadas. De fato, a cincia que se faz exige uma
boa dose de f na competncia e na sinceridade do grupo cientfico,
o que significa dizer, particularmente, que impossvel fazer cincia
sem consensualidade. A consensualidade implica forte interao
entre os membros de uma comunidade cientfica. preciso lembrar
que erros e imprecises so eliminados pela repetio independente
dos experimentos ou pela crtica terica. Assim, a atividade
cientfica se desenvolve no esforo de maximizar a rea de consenso
e convencer os outros cientistas da validade de uma hiptese nova
ou da refutao de uma tese aceita.
Portanto, a atitude criativa de cada cientista individual no se
impe a um espao teoricamente vazio. Antes eles devem ter a
conscincia do enorme corpo de resultados obtidos por seus
Investigaes sobre
O Agir Humano
71
predecessores e contemporneos, sob condies de crtica mtua e
de resultados persuasivos. Assim, a autoridade intelectual da cincia
no decorre exatamente da capacidade tcnica de seus praticantes,
nem tampouco dos vastos e complexos processos lgicos e
epistmicos de justificao; reside, a meu ver, nos processos pelos
quais o conhecimento cientfico criado e validado. Com efeito, o
prprio desenvolvimento da cincia que se faz exige criatividade,
isto , produo de ideias novas que possam entrar em conflito com
teses e opinies aceitas ou toleradas. Nesse sentido, na medida em
que o conhecimento cientfico est sob constante reviso, luz de
evidncias novas, as mudanas cientficas se explicam por mudanas
na mente dos cientistas, isto , na coragem e engenhosidade com
que o cientista planeja sua pesquisa, percebe o significado das
anomalias, aprecia as possibilidades de soluo, descarta hipteses,
examina dados e interage com o grupo cientfico. Portanto, a lgica
formal, o racionalismo e o valor de verdade desempenha um papel
extremamente restrito no processo de criao.
No entanto, se por um lado a atitude criativa elemento
caracterizador do cientista individual que trabalha sob a gide uma
tradio de pesquisa, por outro, a criao de novos conceitos e
padres investigativos, que favorecem o desenvolvimento cientfico,
no deixam de gerar um quadro de tenso. Esta tenso decorre da
relao conflitante entre o fomento, as atitudes criativas no interior
de uma tradio de pesquisa e a resistncia da comunidade cientfica
a possveis inovaes e reviravoltas.
A histria da cincia repleta de casos que manifestam esse
conflito. Por exemplo, o sistema astronmico ptolomaico com todo
o seu infindvel mecanismo de ajustes, ciclos, epiciclos, encontrava-
se apoiado na tradio de pesquisa aristotlica. Embora altamente
criativo, o sistema ptolomaico no inibiu o surgimento de quadros
conceituais inovadores, como os decorrentes das teses de Galileu.
Com efeito, mesmo quando a escola de Galileu trabalhava num
Investigaes sobre
O Agir Humano
72
outro quadro conceitual, erigido, diga-se de passagem, da crtica
ferrenha ao aristotelismo e que favorecia esquemas mentais muito
mais criativos, o quadro conceitual do aristotelismo ainda permitiu
atitudes altamente criativas de resoluo de problemas na rea de
anatomia e fisiologia na escola de Pdua.
claro que, um quadro conceitual em si mesmo no
criativo ou no criativo, a criatividade um atributo do sujeito, do
investigador e a criao de pensamentos conceituais se efetua num
clima de motivao e tenso. Assim, o empreendimento cientfico
em si mesmo no resistente a inovaes conceituais radicais, mas
s o aceita depois que todas as interpretaes ortodoxas falharam e
isso pode levar um tempo considervel a depender do grau de
desenvolvimento de um programa de pesquisa. A meu ver, tal
comportamento perfeitamente justificvel quando se considera
que cada tradio de pesquisa v a si mesma como guardi do
mundo real. E isso tem considerveis consequncias para o modo
como os cientistas se comportam no interior dessas tradies de
pesquisa.
6. CONCLUSO.
O conhecimento cientfico no portador de uma
racionalidade superior, como sugere certos padres de racionalidade
fomentados por uma viso materialista da prtica cientfica.
Contrape-se a essa concepo, no apenas uma tradio de
pesquisa, mas tambm uma variedade de processos mentais e
compromissos morais, sociais e polticos. Nessa condio, a cincia
dificilmente pode ser compreendida a partir dos procedimentos
lgicos-formais, medida que uma tal anlise promove uma viso,
em muitos aspectos, irrealista da atividade cientfica.
Investigaes sobre
O Agir Humano
73
Nesse sentido, a promoo da cincia como um
empreendimento de que decorre a descrio fiel do mundo, isto ,
um empreendimento voltado verdade e a certeza, descarta como
secundrio alguns elementos fundamentais da prtica cientfica
normal, tais como, as intuies, as motivaes pessoais e a atitude
criativa.
Procurei demonstrar, ento, que a racionalidade que
caracteriza a atividade cientfica define a cincia como produto de
uma intensa e dinmica atividade mental ou intelectual; ao mesmo
tempo, como um campo de prticas influenciadas; e, finalmente,
como um empreendimento que est sujeito s mudanas cientficas,
as quais se explicam por mudanas na mente dos cientistas
individuais. Enfatizei, ento, que esses elementos, atuando em
conjunto, so geradores da tenso que caracteriza o
empreendimento cientfico e o comportamento do cientista. Ainda
mais, precisamente essa tenso que definir a cincia como um
saber que progride.
Portanto, qualquer teoria da cincia construda luz do
exame dos fundamentos para a crena no conhecimento cientfico
h de considerar a posio do sujeito conhecedor e, assim, a atitude
criativa a que ele chamado a desenvolver para que o
empreendimento cientfico floresa.
7. REFERNCIAS.
ARISTTELES. Organon: Analticos Posteriores. Trad. Pinharanda
Gomes. Lisboa: Guimares Editores Ltda., 1987.
ALSTON, W. Filosofia Del Lenguaje. Madrid: Alinza Editorial, 1974.
Investigaes sobre
O Agir Humano
74
CARNAP. Testabilidade e significado. In: SCHLICK, M. e
CARNAP, R. Coletnea de textos. Seleo de Pablo Rben Mariconda.
So Paulo: Abril Cultural, 1980. Col. Os Pensadores.
DESCARTES, R. O Discurso do Mtodo. In: Descartes Obra
Escolhida, 2
a
Ed. So Paulo, Difuso Europia de Livro, 1973, p. 40-
103.
HEMPEL, C.G. Empiricist Criteria of Cognitive Significance:
Problems and Changes. In: Aspects of Scientific Explanation and Other
Essays in the Philosophy of Science. New York. The Free Press, 1970, p.
101-122.
LADRIRE, J. Filosofia e Prxis Cientfica. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1978
LAKATOS, I; MUSGRAVE, A Criticism and the growth of knowledge.
Cambridge: Cambridge University press, 1970.
LOCKE, J. Ensaio sobre o entendimento humano. Lisboa: fundao
Calouste Gulbenkian, 1999
MOLES, A. A criao cientfica. 3
a
edio. So Paulo: Perspectiva,
1998.
PORCHAT, O. Cincia e dialtica em Aristteles. So Paulo: UNESP,
2001.
PLATAO. Menon. Trad. Maura Iglesias. Rio de Janeiro: Loyola, 2001
KUHN, T. A estrutura das revolues cientficas. 2
a
ed. So Paulo:
Perspectiva, 1975.
KNELLER, G.F. A cincia como atividade humana. Rio de Janeiro:
Zahar, 1980.
Investigaes sobre
O Agir Humano
75
WEDBERG, A. The methods of science In: A history of philosophy. antiguity
and the middle ages. Oxford: Claredon, 1982, p. 77-94.
URBACH, P. La promisoriedad objetiva de un programa de
investigacin. In: RADNITZKY, G et. al. Progreso y racionalidad en la
ciencia. Madrid: Alianza Editorial, 1982, p.95-107.
3
LINGUAGEM E CULTURA EM WITTGENSTEIN
Guilherme Paiva de Carvalho Martins
1
O presente estudo aborda a relao entre a concepo de
linguagem em Wittgenstein e a temtica da cultura. Primeiramente,
pretende-se tratar do conceito de proposio no Tractatus Logico
Philosophicus para demonstrar os limites da figurao da realidade e a
impossibilidade de uma reflexo acerca dos valores tico-culturais a
partir de uma concepo purificada da linguagem, baseada nos
preceitos da lgica e na cincia. Em seguida, so abordadas as
noes de jogos de linguagem e vivncia da significao. Para tanto, toma-
se como referncia a obra Investigaes Filosficas. Tais conceitos
propiciam uma reflexo sobre a construo de valores morais e a
formao da identidade cultural.
A obra de Wittgenstein um marco na filosofia da
linguagem. Entre as doutrinas filosficas que exerceram influncia
sobre a perspectiva de Wittgenstein destacam-se as abordagens de
Frege e Bertrand Russel concernentes lgica. A estrutura dos
discursos construdos pelo ser humano tratada pela lgica. Tais
discursos se referem realidade que cerca o ser humano. Seguindo
esses pressupostos, a filosofia da linguagem pode ser entendida
como uma teoria do significado e da proposio (SANTOS, 2001).
Em 1879, Frege publicou o livro Conceitografia, obra que
constituiu o referencial terico da filosofia analtica e dos sistemas
lgicos da modernidade (citado por SANTOS, 2001). Na lgica,
1
Doutor em Sociologia e professor do Programa de Ps-Graduao em
Cincias Sociais e Humanas da UERN/Mossor (E-mail:
guimepaivacarvalho@gmail.com).
Investigaes sobre
O Agir Humano
78
Frege (1999) props uma anlise sobre as funes de verdade das
proposies, enfatizando a relevncia do sentido e da referncia.
Uma das principais inovaes de Frege na lgica foi mostrar que as
condies de verdade de uma proposio se baseiam no sentido da
proposio. Assim, um enunciado s pode ser considerado
verdadeiro ou falso se apresentar um significado, ou seja, um
sentido.
Por sua vez, Russel tratou da natureza do sentido
proposicional e da natureza da lgica como forma de conhecimento
da realidade. Com este intuito, estabeleceu uma distino entre o
formato lgico da proposio e sua estrutura gramatical. Na viso
de Russel, o sentido proposicional depende da articulao entre os
significados das partes da proposio. Para Frege e Russel, as
especulaes metafsicas ligadas moral, tica e a noes de
justia, so totalmente desprovidas de sentido, constituindo, por
conseguinte, discursos sem significado (SANTOS, 2001).
Entre as obras de Wittgenstein que abordam o conceito de
linguagem, merecem destaque o Tractatus Logico Philosophicus e as
Investigaes Filosficas. O Tractatus Logico Philosophicus corresponde
primeira fase do pensamento de Wittgenstein, etapa em que a
definio da linguagem influenciada por Frege e Russel. A obra
Investigaes Filosficas marca uma mudana em sua viso sobre a
linguagem, correspondente segunda fase do seu pensamento.
O texto apresentado aqui trata da concepo de linguagem
nas duas fases do pensamento de Wittgenstein. abordada, na
primeira parte, a definio do conceito de proposio como forma
de descrio da realidade, destacando os limites da ideia de
linguagem como modo de figurao do mundo para abordar a
problemtica dos valores culturais e da identidade. Na segunda
parte, enfatiza-se a mudana na perspectiva de Wittgenstein, com
destaque para a questo do uso da linguagem no cotidiano e a crtica
primazia da primeira pessoa. Os conceitos de jogos de linguagem
Investigaes sobre
O Agir Humano
79
e vivncia da significao, os quais possibilitam uma reflexo sobre
a dimenso da cultura, so discutidos na ltima parte desse estudo.
1. A LINGUAGEM NO TRACTATUS LOGICO
PHILOSOPHICUS.
No Tractatus Logico Philosophicus, Wittgenstein relaciona a
lgica com a filosofia, propondo uma anlise da estrutura da
proposio. H uma articulao entre a tradio lgica inaugurada
por Frege e Russel e a crtica do conhecimento. Wittgenstein
estabelece uma articulao entre linguagem, pensamento e realidade,
tomando como referncia a questo do conhecimento. A questo
do conhecimento, abordada a partir do vis da linguagem,
fundamental para Wittgenstein. H uma referncia teoria do
conhecimento j que se levanta a questo sobre o que possvel
conhecer. Ao analisar a essncia da proposio, Wittgenstein
constata que s possvel conhecer o que possvel dizer. Deste
modo, existiriam limites para o pensamento humano, demarcados
pelas fronteiras de uma concepo sobre a linguagem fundada na
lgica.
A demarcao dos limites da linguagem permite mostrar o
que possvel pensar e dizer. Como afirma Wittgenstein (2001,
p.131) no Prefcio do Tractatus Logico Philosophicus, o que se pode
em geral dizer, pode-se dizer claramente; e sobre aquilo de que no
se pode falar, deve-se calar. A lgica tem como objeto de estudo a
estrutura do discurso. Os discursos proposicionais dotados de
sentido e significao tratam da realidade. Tudo depende do sentido
do discurso. Se do discurso for possvel dizer ou que verdadeiro
ou que falso, ento uma proposio e possui significado.
Nesse sentido, a relao entre as proposies e o mundo
uma questo central para Wittgenstein (2001). Esta questo
Investigaes sobre
O Agir Humano
80
entendida a partir da relao entre linguagem e realidade. As
proposies so afirmaes sobre um estado de coisas. Se houver
uma referncia a um estado de coisas, a proposio verdadeira.
Caso no haja, ela falsa. Para que tenha sentido preciso que
possa ser julgada como verdadeira ou falsa. Se for possvel julg-la,
ela tem sentido. Wittgenstein (2001) substitui as relaes entre
sujeito-objeto pela relao entre linguagem e fatos, ou seja, entre as
proposies e estados de coisas. Assim, a linguagem d sentido
realidade; no como se significasse entes ontologicamente
determinados, mas estados de coisas. Substncia em Wittgenstein
corresponde a estados de coisas.
Como proposies elementares, os signos constam de
nomes que correspondem a estados de coisas elementares, fatos
atmicos, ou seja, no decomponveis. Quando os nomes so
combinados, formam uma proposio. Como afirma Wittgenstein
(3.141, 2001, p.149), a proposio no uma mistura de palavras.
[...] A proposio articulada. Seguindo esta perspectiva, a
proposio seria um modo de figurao da realidade que
corresponde descrio de um estado de coisas
(WITTGENSTEIN, 4.021-4.023, 2001, p.169). A figurao pode
concordar ou no com a realidade, podendo ser correta ou
incorreta, verdadeira ou falsa (WITTGENSTEIN, 2.21, 2001,
p.147). preciso que haja correspondncia entre a proposio e os
fatos observados na realidade. Desta maneira, a totalidade dos
pensamentos verdadeiros consiste em um modo de figurao do
mundo (WITTGENSTEIN, 3.01, 2001, p.147).
Na proposio, os nomes so combinados da mesma forma
que os estados de coisas nomeados aparecem combinados na
realidade. A proposio verdadeira reproduz o estado de coisas que
a realidade, mas no a falsa. A proposio falsa no combina
nomes como o o estado de coisas que ela procura descrever,
denotando o significado ou o sentido da proposio. Wittgenstein
Investigaes sobre
O Agir Humano
81
(2001) se refere ao conhecimento humano, sustentando que a
legitimidade das cincias empricas tem como base os fatos
observados na realidade. Por outro lado, a metafsica consiste em
um saber que no apresenta significao em seus discursos, pois no
h referncia entre seus discursos e a realidade. Ademais, um
discurso pode ter sentido, sem possuir um referente. Para esse
Wittgenstein, o primeiro, o discurso metafsico no possui sentido e,
menos ainda, referente. Todavia, no por no possuir referente
que no tem sentido, mas no tem sentido porque no se pode
discutir sua veracidade, ou seja, sua referncia. Constata-se,
consequentemente, a ilegitimidade da metafsica e a impossibilidade
de um conhecimento sobre os valores tico-culturais, j que as
proposies da tica tambm no so passveis de verificao.
Wittgenstein pretende especificar a essncia da
proposio, ou a essncia de toda descrio e, portanto, a essncia
do mundo (citado por SANTOS, 2001, p.16). A finalidade da
proposio seria descrever a essncia do mundo, ou a essncia da
realidade. Desta maneira, a linguagem entendida como uma forma
de descrio da realidade. A ideia segundo a qual o que possvel
pensar tambm possvel dizer constitui um princpio fundamental
para Wittgenstein, que prope uma filosofia sobre tudo que se pode
dizer. As proposies que fazem referncia ao mundo ou realidade
encontram-se na linguagem. Deste modo, os limites da linguagem
demarcariam as fronteiras do pensamento humano.
A validade do discurso se assenta sobre sua capacidade de
ser propositivo, ou seja, de possuir sentido. Nos casos em que a
enunciao expressar um sentido, ela pode ser considerada
verdadeira ou falsa. Quando no possvel analisar a veracidade de
uma enunciao ela no possui sentido. Para afirmar, por exemplo,
que o desmatamento da floresta amaznica uma das causas do
aquecimento global, tomam-se como referncia fatos empricos
(neste caso, o desmatamento da floresta e o aquecimento global)
Investigaes sobre
O Agir Humano
82
para compor esta proposio. Do mesmo modo, a proposio que
sustenta o contrrio, ou seja, que o desmatamento da floresta
amaznica no tem nada haver com o aquecimento global,
apresenta um sentido j que contm elementos empricos
observados na realidade. A proposio pode ser considerada falsa se
as evidncias, ou seja, os fatos empricos ou o estado de coisas a que
ela faz referncia no forem comprovados.
Em ambos os casos, a enunciao possui sentido, mesmo
sendo falsa, na medida em que tem pode-se discutir sua referncia a
fatos da realidade. Logo, o sentido da proposio fundamenta-se na
relao entre a linguagem e a realidade.
Na viso de Wittgenstein (2001), as proposies da
linguagem (escrita ou falada) correspondem a uma combinao
significativa de elementos devido conexo entre signos diferentes
que aparecem combinados. As conexes compem o que
Wittgenstein (2001) chama de relaes projetivas baseadas no mtodo
de projeo, isto , nas interconexes entre a linguagem e a
realidade.
O signo proposicional uma forma de representao da
situao encontrada. Seu significante arbitrrio, porquanto
convencionalmente referido a estados de coisas. Mas, enquanto
proposicional, enquanto pretendendo significar estados de coisas, o
uso dos signos no arbitrrio. Ainda, articulados, os signos ou
proposies elementares compem proposies mais complexas. As
possibilidades de articulao entre signos adotados para representar
a realidade caracteriza a multiplicidade lgica. A linguagem vista
como um sistema de signos dotado de contedo significativo que
pode representar diversas situaes da realidade, articulada atravs
de regras sintticas e convenes semnticas.
Contudo, como compreender o sentido da proposio? Ora,
o sentido da proposio um fato. Isto quer dizer que os objetos
aparecem combinados na realidade. Na proposio, os nomes so
Investigaes sobre
O Agir Humano
83
combinados. Da se infere que a proposio diz respeito ou
pretende representar um fato. Para que a proposio seja verdadeira
necessrio que os nomes combinados no signo proposicional
estejam designando estados de coisas existentes na realidade. Ento,
qual o contato entre a proposio e a realidade? A interligao
entre proposio e realidade ocorre quando os nomes que aparecem
na composio do signo proposicional correspondem a fatos
empricos.
A estrutura da linguagem composta por sentenas
complexas e atmicas. Diversamente das sentenas complexas, as
sentenas atmicas so aquelas que descrevem fatos atmicos, ou
seja, no decomponveis em outros fatos mais elementares.
Proposies genunas pretendem descrever sempre fatos que ou so
atmicos ou podem ser decomponveis em fatos atmicos, fatos
que em princpio podem ser verificados pela observao, de tal
modo que as proposies significativas so totalmente redutveis a
proposies elementares ou atomsticas, afirmaes simples
descrevendo um possvel estado de coisas (POPPER, 1972, p.69).
Somente uma proposio diz alguma coisa acerca do
mundo, desta forma, possvel avaliar uma proposio como
verdadeira ou falsa. Os fatos complexos esto interligados a
proposies complexas. O valor de verdade depende do sentido da
proposio. Os conectivos das sentenas complexas devem ser
verifuncionais para que a sentena tenha valor de verdade. Tal
valor de verdade est fundado nas partes que compem a sentena.
Desta maneira, a sentena s ter valor de verdade se cada parte da
proposio tiver valor de verdade ou falsidade. Seguindo esse
raciocnio, o pensamento limitado pela linguagem.
No Tractatus Logico Philosophicus, Wittgenstein apresenta os
limites do pensamento e, consequentemente, os limites do
inteligvel. A finalidade da filosofia , nesta perspectiva, possi bilitar
um esclarecimento lgico dos pensamentos (WITTGENSTEIN,
Investigaes sobre
O Agir Humano
84
4.112, 2001, p.177). , portanto, uma atribuio da filosofia, tornar
as proposies claras e delimitar de modo preciso os pensamentos.
Por um lado, a filosofia da linguagem de Wittgenstein
tornou-se a base do positivismo lgico, de acordo com o qual as
noes metafsicas, ticas e teleolgicas so destitudas de sentido j
que no so passveis de verificao. A partir da temos o
questionamento do positivismo s concepes metafsicas. O valor
de verdade e falsidade das proposies se fundamenta em uma viso
purificada e universal da linguagem j que os signos proposicionais
so dotados de uma coerncia lgica. Neste caso, interessam
somente as proposies com contedo significativo que podem ser
analisadas pela lgica.
A concepo purificada e universal da linguagem considera
somente os discursos dotados de sentido ou significao como
cientficos. Tal perspectiva limita o uso vlido da linguagem a
proposies, ou seja, a discursos que fazem referncia a fatos.
Nessa concepo purificada da linguagem so considerados
como providos de sentido os discursos da moral e,
consequentemente, os valores culturais. necessrio reconhecer
que tanto o pensamento quanto a realidade so caracterizados pela
complexidade. Uma viso mais abrangente da linguagem propicia
uma reflexo sobre as questes que envolvem a temtica da cultura
e a questo dos processos de significao relacionados construo
e incorporao dos valores tico-culturais. Na segunda fase do seu
pensamento, Wittgenstein reformula o conceito de linguagem,
definindo-o como uma prtica habitual ligada a significaes
construdas na convivncia dos indivduos em comunidade.
Investigaes sobre
O Agir Humano
85
2. O USO DA LINGUAGEM NO COTIDIANO.
A segunda fase do pensamento de Wittgenstein marcada
por uma mudana em sua compreenso da linguagem. No livro
Investigaes Filosficas, Wittgenstein (1991) desenvolve a noo de
jogos de linguagem, ou a ideia de multiplicidade de jogos de
linguagem, a qual refere-se diversidade de usos das palavras e
expresses e, por conseguinte, da linguagem no cotidiano. H, nas
Investigaes Filosficas, uma reflexo sobre a comunicao humana e o
uso da linguagem na prxis, isto , em atividades habituais.
importante analisar o uso da linguagem nas prticas sociais.
A abordagem da linguagem abrange uma viso acerca da
estruturao da mente humana mediante a anlise dos modos de
utilizao da linguagem no cotidiano. possvel observar, por um
vis, a relao entre a filosofia da linguagem e a filosofia da mente.
A estruturao da mente humana discutida a partir da reflexo
sobre a multiplicidade de usos da linguagem na comunidade. Os
eventos mentais no so vistos como experincias que s poderiam
ser vivenciadas pelo prprio indivduo, ou seja, por uma
subjetividade separada do contexto.
Para conhecer as formas de utilizao da linguagem e o
mundo objetivo necessrio apreender a linguagem. Portanto, o
aprendizado da linguagem condio para o conhecimento de si
mesmo, ou seja, a compreenso da subjetividade pressupe o
compartilhamento e a aprendizagem da lngua. Durante o convvio
com outras pessoas, o indivduo compartilha significaes, valores,
apropriando-se dos modos de uso da linguagem na comunidade.
H, neste sentido, uma reflexo sobre a linguagem, a
psicognese da fala e a estruturao da mente. Wittgenstein (1991)
faz referncia s formas primitivas da linguagem empregadas por
crianas. O ensino da linguagem consiste em uma forma de
treinamento direcionado para que as crianas utilizem signos e
Investigaes sobre
O Agir Humano
86
tenham reaes s palavras e expresses de outras pessoas. Como
sugere Wittgenstein (5, 1991, p.11), quem ensina mostra os
objetos, chama a ateno da criana para eles, pronunciando ento
uma palavra [...]. No convvio social, o indivduo aprende a
linguagem, passa a conhecer o mundo objetivo mediante o
aprendizado das palavras e expresses que servem para designar
objetos, descrever situaes ou expressar pensamentos, sentimentos
e sensaes.
Wittgenstein (1991) se refere noo de linguagem privada
para discutir os modos de expresso das sensaes. O uso da
linguagem importante para designar objetos e expressar sensaes.
Os signos podem funcionar de diversos modos, servindo para vrias
finalidades como transmitir pensamentos e descrever situaes.
Todavia, a linguagem precisa ser inteligvel para todas as pessoas
que convivem na comunidade, no sendo, portanto, privada. H
uma crena na iluso da primeira pessoa, pois o indivduo acredita
ter mais certeza das suas prprias sensaes e estados mentais do
que de outras pessoas. O indivduo observa de forma indireta o
estado mental de outras pessoas, como elas utilizam palavras em
determinados contextos para expressar sensaes e sentimentos.
A ideia de que a sensao de dor s pode ser sentida pelo
indivduo que est sofrendo de alguma maneira corresponde teoria
cartesiana da subjetividade, concepo fundamentada na primazia
da primeira pessoa com relao aos estados mentais. H uma crtica
de Wittgenstein (1991) a esta perspectiva. Se fosse dessa forma, no
seria possvel expressar uma sensao mediante o uso de palavras
inteligveis correspondentes linguagem geral ou linguagem
pblica. Minhas palavras que designam sensao esto ligadas a
minhas manifestaes naturais de sensao; neste caso, minha
linguagem no privada. Um outro poderia compreend-la como
eu. Como seria, ento, se uma pessoa no possusse
manifestaes naturais da sensao, mas apenas a sensao?
Investigaes sobre
O Agir Humano
87
(WITTGENSTEIN, 246, 1991, p.95). As pessoas associam nomes
a suas sensaes e empregam signos para descrever um sentimento
ou descrever uma situao.
Wittgenstein (1991) questiona a primazia dada para a
primeira pessoa, baseada na concepo de Descartes acerca da
subjetividade como fundamento do conhecimento. enfatizada a
prioridade da terceira pessoa j que o mundo considerado sob o
prisma do significado. H um modo particularmente humano de
compreender o mundo e conceber os objetos observados na
realidade atravs do uso da linguagem e da significao das coisas. A
filosofia, seguindo esta perspectiva, se direciona para uma anlise e
descrio dos aspectos que caracterizam a comunicao e a mente
humana. Para conhecer a estrutura da mente preciso conhecer os
modos de uso da linguagem em prticas habituais.
No tocante primazia da primeira pessoa, Wittgenstein
(1991) levanta o seguinte questionamento: como sustentar que as
sensaes so privadas? O argumento da linguagem privada, que
defende o carter subjetivo das sensaes e das formas de
representao das coisas, questionado. Tomando o exemplo da
sensao de dor, Wittgenstein (246, 1991, p.95) diz que quando se
afirma: somente eu posso saber se realmente tenho dores; o outro
pode apenas supor isto; h a uma sentena falsa e at mesmo
absurda. O 247 d continuidade argumentao e mostra que:
Apenas voc pode saber se voc tinha a inteno. Poder-se-ia
dizer isto a algum, se lhe fosse elucidado o significado da palavra
inteno. Isto significa ento: ns a usamos assim
(WITTGENSTEIN, 246, 1991, p.95).
Desta forma, uma iluso achar que as sensaes e as
representaes so relativas somente a uma forma de linguagem
privada. Para que o indivduo possa expressar sentimentos,
descrever situaes, demonstrar uma sensao, preciso apreender
o significado das palavras e os modos de uso da linguagem,
Investigaes sobre
O Agir Humano
88
compartilhados pela comunidade. As pessoas se expressam e
utilizam palavras em determinados contextos, apropriando-se de
uma linguagem inteligvel para a comunidade em que vivem. Se a
linguagem fosse privada, no seria possvel expressar uma sensao
mediante o uso de palavras inteligveis correspondentes linguagem
geral, ou ao que Wittgenstein (1991) chama de linguagem pblica.
As pessoas associam nomes a sensaes e empregam
esses nomes em uma descrio. O 257 complementa o
argumento anterior. Wittgenstein apresenta a seguinte
argumentao: ora, a palavra sensao [...] uma palavra de
nossa linguagem geral e no de uma linguagem inteligvel apenas
para mim. O uso dessa palavra exige, pois, uma justificao que
todos compreendem.
Como seria se os homens no manifestassem suas dores
(no gemessem, no fizessem caretas, etc.)? Ento no se
poderia ensinar a uma criana o uso das palavras dor de
dente. Ora, imaginemos que a criana seja um gnio e
descubra por si prpria um nome para a sensao! Mas
ento, claro, no poderia fazer-se entender com esta
palavra. [...] Quando se diz: Ele deu um nome
sensao, esquece-se o fato de que j deve haver muita
coisa preparada na linguagem, para que o simples
denominar tenha significao (WITTGENSTEIN, 261,
1991, p.98).
Uma criana pode inventar um nome para se referir a um
determinado objeto, como, por exemplo, a gua. Imagine que entre
os pais, ela se refira gua com outro nome. Os pais entendero
que quando a criana falar o nome, ela quer gua. No entanto, se for
para a casa de outros familiares que no sabem que ela criou um
nome para designar a gua, as pessoas no compreendero o que a
criana quer quando utilizar um nome inteligvel somente para ela e
seus pais. Mesmo se os pais explicarem aos colegas que a filha
Investigaes sobre
O Agir Humano
89
inventou um nome para se referir gua, para tornar o nome
pblico seria necessrio tornar pblico para toda a comunidade o
fato. Portanto, as palavras s tm sentido quando esto associadas
s condies de torn-las pblicas. A referncia da linguagem
pblica. Supor que a referncia privada seria o mesmo que negar a
publicidade do sentido. Se os estados mentais correspondem a uma
linguagem privada no seria possvel referir-se a eles mediante o uso
de palavras que compem a linguagem geral, ou seja, a linguagem
pblica.
O aprendizado e o domnio da lngua possibilitam o
conhecimento dos modos de usos da linguagem na comunidade,
sendo essenciais para a comunicao entre as pessoas. Podemos
apenas dizer alguma coisa, se aprendemos a falar. Ningum
advinha como uma palavra utilizada e nem mesmo em que
circunstncias. necessrio ver seu emprego e aprender com isso
(WITTGENSTEIN, 340, 1991, p.114). S vemos e aprendemos a
empregar as palavras e as expresses atravs do aprendizado da
lngua no cotidiano. no dia-a-dia que a criana aprende a utilizar
palavras e expresses medida que conhece os usos da linguagem e
incorpora significaes mediadas pela convivncia na comunidade.
Uma pessoa s pode dizer que algum fala consigo mesmo
se lhe ensinaram a significao da expresso falar consigo
mesmo (WITTGENSTEIN, 361, 1991, p.118). Foi durante o
convvio com outras pessoas que aprendeu, desde criana, o
significado de diversas palavras e expresses. Wittgenstein (1991)
sustenta a prioridade da terceira pessoa, tendo em vista que a
linguagem pblica e a referncia do significado direciona a
multiplicidade de usos da lngua na comunidade. H um modo
particularmente humano de compreender o mundo e conceber os
objetos observados na realidade atravs do uso da linguagem e da
significao das coisas. interessante notar como Wittgenstein se
aproxima de uma perspectiva que considera o aprendizado da
Investigaes sobre
O Agir Humano
90
linguagem como um princpio fundamental para o desenvolvimento
da capacidade de pensar.
O aprendizado e o domnio da lngua so essenciais para o
conhecimento da multiplicidade de usos da linguagem no cotidiano.
A criana aprende a empregar as palavras e a ter reaes a
expresses mediante a incorporao e o aprendizado da lngua nas
prticas habituais.
Alm do significado dos objetos, a criana incorpora valores
a partir do aprendizado da linguagem que compartilha no grupo
social do qual faz parte. As significaes dependem do modo como
a comunidade atribui significaes e valores a determinados objetos.
interessante observar como so construdos valores em relao a
palavras. Nas sociedades ocidentais, a cor rosa associada a coisas
de menina enquanto o azul a coisas de menino. Mesmo se a criana
no incorporar no meio familiar os valores relacionados a
categorizaes de gneros ligados s cores que o rosa e o azul
representam para a sociedade, provvel que incorpore na escola
ou atravs da mdia.
Valores, sentimentos e sensaes tm uma referncia
pblica, no sendo, portanto, privadas. Wittgenstein (1991) sustenta
que o indivduo s pode expressar uma angstia ou um sentimento
de dor se conhecer as significaes atribudas a palavras pela
comunidade que compartilha uma lngua. no convvio social que a
criana aprende significaes e incorpora valores no processo de
comunicao com outras pessoas em contextos especficos. O
conhecimento da multiplicidade de usos da linguagem depende,
nesta perspectiva, da vivncia da significao que o indivduo
incorpora no meio social a partir de prticas e do uso habitual da
lngua.
Investigaes sobre
O Agir Humano
91
3. JOGOS DE LINGUAGEM E VIVNCIA DA
SIGNIFICAO.
O conceito de jogos de linguagem corresponde ao processo
de uso das palavras no cotidiano. As formas de utilizao da
linguagem para designar objetos e expressar sensaes caracterizam
a multiplicidade dos jogos de linguagem. Nas Investigaes Filosficas,
Wittgenstein (1991) ressalta que a linguagem pode funcionar de
diversos modos, servindo para vrias finalidades como transmitir
pensamentos, expressar sensaes, ou descrever situaes.
A experincia imediata da conscincia no um dado, mas
sim as formas de vida que apresentam, por sua vez, diversos modos
de utilizao da linguagem. A primeira pessoa considerada
isoladamente no nos oferece nenhuma certeza plausvel. Para se
comunicar com os outros preciso aprender as formas de utilizao
da linguagem nas prticas habituais. Logo, o conhecimento do
mundo torna-se possvel mediante o aprendizado de uma lngua. Na
Segunda Parte das Investigaes filosficas, Wittgenstein (1991) se refere
ao uso da linguagem em contextos de comunicao especficos, ou
ao uso habitual da linguagem em determinadas situaes.
Wittgenstein (1991) cita a seguinte frase para fazer referncia
ao uso da lngua em determinados contextos: quando ouvi a
palavra, ela significou para mim.... Destaca-se a o contexto no qual
a palavra empregada. Outras expresses podem ser utilizadas para
que possamos nos referir a um dado momento e a uma determinada
ao ou situao, como quando se diz: eu quis dizer naquela
ocasio que....
Em determinados contextos de comunicao, as palavras
podem adquirir sentidos ou significaes diferentes. Para tratar do
contexto em que a linguagem empregada, Wittgenstein (1991) se
refere aos conceitos de vivncia da significao e vivncia da
imagem da representao. A problemtica da vivncia da
Investigaes sobre
O Agir Humano
92
significao mencionada na seguinte proposio: Dona Rosa no
gosta de rosa. Neste caso, a primeira rosa poderia corresponder
significao de um nome prprio, Dona Rosa, enquanto a
segunda rosa faria referncia flor (qualquer rosa j que Dona
Rosa no gosta de rosa) em um sentido genrico. Ora, a primeira
rosa tem um significado diferente da segunda rosa. H formas
diferentes de pensar a significao da primeira e da segunda rosa,
mesmo fazendo um esforo mental para imaginar a primeira rosa
como nome prprio e a segunda como um nome comum. Ao emitir
a expresso Dona rosa no gosta de Rosa, mantendo a mudana
da significao dos termos somente em nossa mente, outra pessoa
que venha a escutar a frase no a entender do mesmo modo que
ns a representamos. Provavelmente, a pessoa compreender a frase
do modo habitual.
Wittgenstein (1991, p.179) mostra que cada palavra [...]
pode ter carter diferente em contextos diferentes [...]. Se uma
pessoa afirma que tem dores (WITTGENSTEIN, 1991, p.185)
no quer dizer que esteja expressando um sofrimento fsico,
descrevendo um estado do seu corpo. Pode ser que esteja querendo
descrever um estado de sua alma, expressando, ento, um
sentimento, uma mgoa, um arrependimento, a compaixo pelo
sofrimento de outras pessoas, ou mesmo se queixando de alguma
outra coisa.
A significao da expresso depende do contexto em que a
frase enunciada. Frases so enunciadas em contextos especficos.
Uma pessoa que ficou gripada e diz que sente dores, expressa um
sofrimento fsico. Se tivesse sofrido uma decepo amorosa poderia
dizer tambm que sente dores, entretanto, estaria descrevendo,
nesta situao, um estado da alma.
No convvio social com a comunidade, as pessoas vivenciam
e se apropriam de modos diversificados das significaes
compartilhadas pelo grupo. Se o emprego das palavras depende do
Investigaes sobre
O Agir Humano
93
contexto, o indivduo empregar as palavras de acordo com as
significaes que os signos possuem para as pessoas que
compartilham a lngua na comunidade.
Da se infere que o uso da linguagem se relaciona com as
formas de vida, isto , o jogo de vivncia da palavra
(WITTGENSTEIN, 1991, p.209) e os contextos de comunicao.
Wittgenstein (1991) cita o exemplo do clculo de cabea. Ora,
somente para a pessoa que aprendeu a calcular por escrito ou
oralmente pode-se tornar compreensvel [...] o que o clculo de
cabea, pois no convvio com o grupo o indivduo apreendeu o
significado do que o conceito de clculo, podendo, ento, utilizar
e se fazer entender quando afirmar que vai realizar um clculo de
cabea.
Como sugere Valle (2009), a partir da abordagem de
Wittgenstein sobre a linguagem nas Investigaes Filosficas seria
possvel tratar de conceitos importantes para uma reflexo sobre a
cultura. Com o conceito de multiplicidade dos jogos de linguagem,
Wittgenstein retoma o modo habitual de uso da linguagem no
cotidiano, referindo-se s formas de utilizao das palavras e das
expresses em contextos sociais especficos. O aprendizado da
lngua na convivncia com outras pessoas em uma determinada
comunidade possibilita o compartilhamento de significaes e, por
conseguinte, de valores tico-culturais. Sentimentos, valores e
modos de identificao do grupo encontram-se nas significaes e
na multiplicidade de usos da linguagem compartilhada pela
comunidade. Neste sentido, a identidade cultural construda no
convvio social a partir do compartilhamento da multiplicidade de
jogos de linguagem e na vivncia das significaes.
preciso ressaltar que Wittgenstein no desenvolveu
intencionalmente uma filosofia da cultura. Contudo, a sua
concepo de linguagem propicia uma reflexo sobre as formas de
significao compartilhadas pela comunidade em situaes
Investigaes sobre
O Agir Humano
94
habituais. apontada, neste vis, a relevncia dos problemas da
cultura. O paradigma da razo universalista desconsidera as
particularidades ou especificidades dos grupos sociais que utilizam
uma lngua como meio de comunicao. Tal paradigma sustenta a
autonomia da razo universal e se encontra, por exemplo, na ideia
de Habermas da universalidade da razo comunicativa.
Seguindo outra perspectiva, Wittgenstein retoma a questo
da construo de significaes na convivncia entre os indivduos
em comunidade, possibilitando uma reflexo sobre a formao da
identidade cultural. Os conceitos de jogos de linguagem e vivncia
da significao propiciam uma anlise reflexiva sobre o uso da
linguagem em contextos especficos, levando em considerao as
particularidades de cada grupo social atravs de uma viso acerca da
multiplicidade das formas de utilizao da lngua.
O uso da linguagem em uma comunidade proporciona o
compartilhamento da lngua no grupo. Se o indivduo diludo na
sociedade, no grupo do qual faz parte afirma a sua identidade
mediante valores, modos de uso da linguagem e significaes
compartilhadas pela comunidade. atribudo um significado
cultural para a linguagem, pois ela expressa valores tnico-culturais
especficos de cada grupo social. Wittgenstein tenta redirecionar a
linguagem para o mbito familiar, analisando o uso da lngua no
cotidiano, contrapondo-se a uma viso universalista da linguagem.
no contexto das formas de vida na comunidade que
palavras e expresses adquirem um significado especfico para o
grupo. Ao pertencer a uma comunidade, o indivduo compartilha o
modo de vida do grupo atravs do uso habitual da linguagem. A
linguagem compartilhada pelas pessoas em prticas habituais, isto
, no cotidiano.
Os indivduos utilizam a linguagem para se comunicarem
uns com os outros. Desta forma, a lngua, os modos de significao
e os valores tico-culturais so compartilhados pela comunidade.
Investigaes sobre
O Agir Humano
95
Wittgenstein reformula o conceito de linguagem nas Investigaes
Filosficas, relacionando-a com a concepo de jogos de linguagem e
vivncia da significao. A atribuio da filosofia passa, ento, a ser
redirecionar as palavras do seu emprego metafsico para o uso
cotidiano, observando os processos de significao em
determinados contextos.
Brasil e Portugal, por exemplo, so sociedades que
compartilham a mesma lngua, no entanto, os processos de
significao entre as pessoas que vivem nos dois pases se
diferenciam. A convivncia entre grupos diversificados de ndios,
ndias, africanos, africanas, europeus e europeias oriundos de
variadas regies propiciou o desenvolvimento de um vocabulrio
peculiar no Brasil, diferenciado do portugus europeu.
Apesar da diversidade
2
de lnguas africanas e indgenas, a
vivncia da significao no Brasil colnia proporcionou o
desenvolvimento de um dialeto portugus que incorporou
elementos da famlia lingustica Nger-Congo e indgena Tupi.
Palavras como senzala, mucama, quilombo, aa, canoa,
carioca, entre outras, so originrios das famlias Nger-Congo e
Tupi, apresentando significaes especficas para o povo brasileiro.
Alm das significaes, o modo de falar se diferencia na
sociedade brasileira, sendo constitudo pela diversidade de culturas
que formaram a sociedade. Segundo Silva e Machado Filho (2009,
p.301), construes como umas caixa ou As lavra nosso
2
De acordo com Silva e Machado Filho (2009), chegaram ao Brasil
entre duzentas e trezentas lnguas africanas durante todo o perodo do trfico, a
grande maioria delas, exceo do hau [...] pertencia ao tronco Congo-
Cordofaniano, a uma nica famlia lingustica, isto , a Nger-Congo [...]. Em
relao diversidade da lngua indgena, Rodrigues (2005, p.35) mostra que as
estimativas evidenciam a existncia de cerca de 1,2 mil [...] diferentes lnguas
faladas em nosso atual territrio pelos povos indgenas. Atualmente, o nmero
se reduz a 180 lnguas que possuem o tronco tupi como estabelecido e o macro-j
com um carter ainda hipottico.
Investigaes sobre
O Agir Humano
96
correspondem a ocorrncias morfossintticas caractersticos do
dialeto quimbundo que influenciou tanto o portugus angolano
como o brasileiro. Na estrutura lingustica do quimbundo, o
morfema -s de nmero do portugus basta ser acrescentado ao
determinante, para indicao da pluralizao do nome (SILVA;
MACHADO, 2009, p.301). Contudo, no Brasil a regra lingustica
originria do quimbundo estigmatizada tanto na escrita quanto no
modo de falar, sendo contrria ao portugus vernculo culto.
O que se pode derivar do segundo Wittgenstein no tanto
questes ligadas ao uso culto da lngua, mas simplesmente ao uso
pblico, do que vai de uma extenso considervel at o uso por
comunidades que compartilham jogos de linguagem caracterizados
pela multiplicidade. A regra culta uma normatizao no
somente de modos de falar, mas de modos de viver e ver o
mundo. O que nos diz o repdio de formas lingusticas comuns, por
exemplo, ao quibumdo? H uma imposio ainda colonialista de uma
cultura sobre outra. Pensadores e pensadoras de pases colonizados,
s vezes, reforam a concepo colonialista quando sustentam em
seus discursos que por causa da colonizao [...], ns tambm
fazemos parte [...] de modo inferiorizado e colonizado do
Ocidente europeu [...] (CHAU, 2000, p.22).
As formas de vida esto associadas ao uso da linguagem em
prticas habituais em uma comunidade situada em um contexto
especfico. A linguagem expressa diversos modos de ser, descreve
situaes, designa objetos, expressa sensaes, tendo, portanto, uma
multiplicidade de usos correspondente aos jogos de linguagem.
4. CONSIDERAES FINAIS.
No Tractatus Logico Philosophicus, Wittgenstein discute o
conceito de proposio como uma forma de figurao da realidade.
Investigaes sobre
O Agir Humano
97
A significao considerada sob o prisma da relao entre o
pensamento e os fatos observados na realidade. O sentido da
proposio depende da correspondncia entre a linguagem
entendida como um modo de descrio da realidade baseado na
lgica.
somente na linguagem cientfica que existiriam
proposies dotadas de significao, tendo em vista que esta
corresponde descrio de fatos. Assim, a cincia entendida como
linguagem universal j que passvel de uma anlise acerca da
veracidade e da significao de suas proposies. S possvel dizer
o que se pode pensar. Nesta perspectiva, os enunciados tico-
culturais so destitudos de sentido, pois no h a possiblidade de
demonstr-los, porque eles no so proposies. A concepo de
linguagem apresentada no Tractatus Logico Philosophicus considera
como desprovida de sentido as pretenses lingusticas dos valores
tico-culturais.
Seguindo outro vis, na obra Investigaes Filosficas,
Wittgenstein reformula a sua concepo de linguagem. Nesta
perspectiva, o discurso com sentido no se restringe a uma forma de
descrio da realidade baseada na referncia a fatos. Na
comunidade, a linguagem possui usos diversificados, servindo para
descrever uma situao, expressar um sentimento, dar uma ordem,
etc. Cada grupo social compartilha modos especficos de atribuir
significaes aos objetos, valores, sentimentos e modos de pensar.
Os modos diversificados de uso da linguagem caracterizam
os jogos de linguagem. na convivncia com o grupo ou a
comunidade, que o indivduo se apropria das significaes. Tudo
depende do contexto e nada vem do nada. As significaes so
apreendidas em processos diversificados de uso da linguagem nas
prticas cotidianas, experimentadas pelo indivduo no decorrer de
sua vivncia na comunidade. Com os conceitos de jogos de
linguagem e vivncia da significao possvel refletir sobre
Investigaes sobre
O Agir Humano
98
questes como a formao da identidade cultural, o
multiculturalismo, ou o dilogo intercultural.
REFERNCIAS
CASTRO, Yeda Pessoa. Das lnguas africanas ao portugus
brasileiro, Revista Eletrnica do IPHAN, Dossi Lnguas do
Brasil, n 6, jan./fev. de 2007.
CHAU, Marilena. Convite Filosofia. So Paulo: Ed. tica, 2000.
FREGE, Gottlob. Begriffsschrift, a formula language, modeled
upon that of arithmetic, for pure thought. In: VAN HEIJNOORT,
J. (Ed.). From Frege to Gdel. Lincoln: Excel Press, 1999.
JAPIASS, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionrio bsico de
filosofia. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
POPPER, Karl Raymund. Conjecturas e refutaes. Traduo de Srgio
Bath. Braslia: Editora Universidade de Braslia, 1972.
RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. Sobre as lnguas indgenas e sua
pesquisa no Brasil, Cincia e Cultura [online], 2005, vol.57, n.2, pp.
35-38.
SANTOS, Luiz Henrique Lopes dos Santos. A essncia da
proposio e a essncia do mundo. In: WITTGENSTEIN, Ludwig.
Tractatus Logico-Philosophicus. Traduo, apresentao e estudo
introdutrio de Luiz Henrique Lopes dos Santos; introduo de
Bertrand Russel. 3.ed. So Paulo: Editora da Universidade de So
Paulo, 2001, p.11-112.
Investigaes sobre
O Agir Humano
99
SILVA, Rosa Virgnia Mattos e; MACHADO FILHO, Amrico
Venncio Lopes. Entre duas disporas: o portugus e as lnguas
africanas no Brasil. In: OLIVEIRA, K.; CUNHA E SOUZA, HF;
SOLEDADE, J. (orgs.). Do portugus arcaico ao portugus brasileiro:
outras histrias [on line]. Salvador: EDUFBA, 2009. Disponvel em:
http://books.scielo.org. Acesso em 20 jan. 2013.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaes filosficas. Traduo Jos
Carlos Bruni. 5.ed. So Paulo: Nova Cultural, 1991.
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Traduo,
apresentao e estudo introdutrio de Luiz Henrique Lopes dos
Santos; introduo de Bertrand Russel. 3.ed. So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo, 2001.
VALLE, Bortolo. A possibilidade de uma Filosofia da Cultura em
Ludwig Wittgensetin: um olhar sobre as investigaes filosficas,
Percurso (Curitiba), v.7, p.9-22, 2009.
4
O PROBLEMA DA CULTURA EM DA INTERPRETAO
DE PAUL RICOUER
Flvio Jos de Carvalho
1
1. GUISA DE INTRODUO.
Um dos terrenos mais vastos e complexos da anlise e
problematizao filosfica pode ser reconhecido na discusso a
respeito da cultura. Abordar a cultura requer uma perspectiva
multidisciplinar fazendo-se necessrio uma amplitude
metodolgica que recorra a vrias reas do saber humano e exige
simultaneamente um posicionamento por parte do investigador
como de um arquelogo na medida em que a investigao se
movimenta cada vez mais interior e anterior, mais profunda e mais
originria.
Compreendemos que Freud reconhecia esta necessidade e
que sua atitude, enquanto investigador, manifesta a compreenso e a
postura metodolgicas de uma busca progressivamente mais
radicalizante apesar de no fazer uso de termos como
anterior, originrio, radical (com a semntica que algumas
ontologias contemporneas lhes atriburam).
Ademais, toda a nossa vida regida por relaes: de foras;
entre energias; de elementos; entre indivduos; de sobrepujana; de
insubordinao; de aglutinamento; de distanciamento, e outras
centenas de modalidades. Nossa constituio, enquanto seres
humanos, a de ser de relao.
1
Doutor em filosofia. Professor da Universidade Federal de Campina
Grande/UFCG (E-mail: flavio.carvalho@ufcg.edu.br).
Investigaes sobre
O Agir Humano
102
Com base nestas compreenses e orientados pela leitura
filosfica e psicanaltica de Paul Ricoeur (1913-2005), discutiremos
neste texto a dinmica das relaes de foras e de energias no
mbito da constituio da subjetividade humana. Neste sentido,
seguiremos pari passu o itinerrio reflexivo que Paul Ricoeur
percorre na sua obra Da Interpretao: ensaio sobre Freud ou
simplesmente, como a chamaremos daqui em diante, Da Interpretao
, publicada em 1965.
Da Interpretao uma das obras clssicas e mais importantes
de Paul Ricoeur, na qual, grosso modo, est compactado quase todo
o seu pensamento acerca da psicanlise. uma obra extensa e sem
pretenses de dar solues aos vrios problemas que surgem
quando se trata de analisar filosoficamente a teoria psicanaltica. Ao
invs de solues, Ricouer levanta mais e mais problemas. Este
trabalho dividido em trs partes. Nossa discusso se manter no
mbito da segunda parte, a qual corresponde interpretao da
cultura.
2. PRAZER E MORTE: OS PRIMRDIOS DO PENSAMENTO
FREUDIANO SOBRE AS RELAES SOCIAIS.
Ricouer reconhece que no pensamento freudiano a relao
entre Eros (em suas motivaes de agregao e preservao), Tanatos
(em suas motivaes de desagregao e agresso) e Ananke (em suas
motivaes de necessidade e restrio) constitui um elemento
fundamental na construo dos fenmenos manifestos na cultura.
So conceitos a respeito dos quais no podemos recusar a
considerao, sob o risco de no efetivarmos uma compreenso
satisfatria da problemtica que envolve a cultura e seus agentes e
foras. Estes conceitos so partes constitutivas do que quer que
represente para a subjetividade humana ter como modo de ser o
Investigaes sobre
O Agir Humano
103
ser cultural e o ser de relao. Entretanto, esta compreenso
corresponde a momento posterior s problematizaes iniciais no
pensamento freudiano sobre as relaes experimentadas entre os
indivduos.
Desde suas primeiras reflexes, desde as investigaes da
primeira tpica, desde os seus primeiros ensaios sobre
metapsicologia, Freud se envolveu com a discusso energtica,
sobre a existncia e funcionalidade das energias psquicas. Desde o
incio, o jovem mdico compreendeu que a psique humana
trabalhava num regime de trocas, de relaes energticas. Assim
sendo, suas primeiras categorizaes culminam na constituio e
introduo de termos, como princpio de prazer, princpio de
constncia, etc. Orientado pelos princpios de um dado esquema
mecanicista, Freud busca compreender como interagem estas foras
que constituem a psique humana. Neste momento, a compreenso
que ele possua do aparelho psquico era primordialmente fisicalista,
havendo, deste modo, para ele, a possibilidade de transcrever as
atividades psquicas ao modo de um discurso quantitativo,
tomando-se diretamente seus produtos, os fenmenos psquicos.
Dentro desta perspectiva da leitura de Freud, o sistema
energtico vai se constituindo sem grandes problemas. Como que
num esquema maqunico, as peas do seu quebra-cabea terico vo
se combinando. As reaes dos fenmenos se processam e se
comportam segundo certa previsibilidade, at que as suas
investigaes seguindo a busca de originariedade da reflexo que
nominamos acima comeam a direcionar-se para um campo
diferente, eventualmente divergente e incompatvel com o que se
via at ento. A teoria energtica freudiana permanece sem grandes
alteraes, sem conflitos de destaque, entretanto ela carece do
acrscimo de um novo conceito, outro elemento compreensivo.
Freud, ento, agrega o conceito de pulso de morte na sua teoria
das pulses, oportunizando a introduo da polaridade primordial
Investigaes sobre
O Agir Humano
104
entre prazer e realidade. Essa oposio crescer cada vez mais
na reflexo freudiana, ao ponto que o real j no ser apenas o
contrrio da alucinao, mas a representar a dura necessidade, a
Ananke.
Dizendo de modo sumrio,
2
a reflexo freudiana
compreende que a psique humana se constitui no modo de ser de
relao e trocas de energia, experincia relacional entre Eros, Tanatos
e Ananke. Os fenmenos psquicos na teoria freudiana so
compreendidos a partir de um ponto de vista mecanicista, que
repercute na construo dos conceitos de princpio de prazer,
princpio de constncia, bem como do conceito de pulso de
morte.
3. EROS, TANATOS, ANANKE E A CULTURA.
Seguindo a compreenso de Paul Ricouer, reconhecemos
que Freud aponta para uma dupla relao entre o princpio de
prazer e o princpio de realidade. De um lado, o princpio de
realidade um desvio, um alongamento do caminho de satisfao e
no o oposto do princpio de prazer; de outro lado, o princpio de
prazer prolonga seu domnio sob todas as espcies de disfarces; ele
anima a existncia das fantasias, sonhos, das iluses da religio, dos
ideais. Este um processo que se manter sempre assim, uma vez
que no h sobrepujana definitiva de um princpio sobre o outro,
ou seja, a substituio do princpio de prazer pelo princpio de
2
Essas descobertas seguiram um processo bem mais complexo do que
traamos neste momento. Entretanto, a fim de no nos tornarmos prolixos em
dado aspecto que no o ponto central que desejamos esclarecer, optamos por
esta descrio resumida, cujo nus de perder diversos aspectos da discusso
vemo-nos obrigados a assumir.
Investigaes sobre
O Agir Humano
105
realidade no se faz, nem completa, nem simultaneamente, em todo
o campo das pulses.
Nesta perspectiva, assevera Ricoeur, Freud chega a afirmar
que de fato a substituio do princpio de prazer pelo princpio de
realidade no marca nenhum destronamento do princpio de prazer,
mas somente sua salvaguarda (RICOUER, 1977, p. 237).
3
Como o
ego de prazer nada pode fazer alm de desejar, ele sempre buscar o
que lhe til e se projetar alm de quaisquer perdas.
Traando estas linhas gerais, podemos observar como o
discurso psicanaltico de Freud estabelece a teoria das pulses e o
quanto do carter energtico manifesta seu discurso analtico.
Entretanto, os elementos que at o momento cotejamos so
insuficientes para a considerao sobre a cultura. Sua abordagem
requer mais elementos compreensivos, os quais buscaremos em
outro nvel de anterioridade; requer que tomemos em considerao
a relao com outras psiques humanas. Esclarecemos que no se
trata de analisar to somente as relaes constituintes dos
fenmenos sociais, mas de investigar a existncia de elemento
fundante, da condio de possibilidade das relaes entre os
fenmenos da cultura; investigao orientada pelo problema acerca
do modo de ser da psique na constituio e na relao com a
cultura.
medida que nos movemos em especulaes filosficas
eivadas pelo carter originrio, conduzimos conjuntamente a
reflexo sobre a cultura para o mbito convenientemente
denominado de reflexo metacultural. Sendo assim, quando nos
perguntamos pela existncia e funcionalidade da pulso de morte na
dinmica da cultura construda pela humanidade, queremos tratar
3
Esta interpretao vai ao encontro da leitura de Srgio de Gouva
Franco, o qual esclarece: a polaridade prazer/realidade que perpassa a teoria at
aqui, de fato no uma superao do princpio de prazer. A realidade s um
caminho mais longo ao prazer (FRANCO, 1995, p. 152).
Investigaes sobre
O Agir Humano
106
do modo de ser da destrutividade constituinte no apenas de um
conjunto de fatos , o que compreende a compulso de repetio
nas deliberaes e movimentaes sociais. Nesta perspectiva, assim,
tambm deslocamos a reflexo das consideraes metabiolgicas
para as metaculturais.
A introduo do conceito de pulso de morte oportunizou
importantes reconsideraes e reformulaes no desenvolvimento
do pensamento psicanaltico freudiano, sobretudo no plano da
problematizao metacultural. Como seguiremos observando, a
abordagem realizada por Freud se manifestar em nveis diferentes
de reflexo, uma vez que ele toma, inicialmente, a pulso de morte
como hiptese para o funcionamento e a regulao dos processos
psquicos, em um segundo movimento, estende sua abrangncia aos
fenmenos clnicos, e, por fim, alcanar o plano individual da
existncia social-histrica e cultural.
O corolrio destas reformulaes mostra-se, a saber: com a
introduo da pulso de morte, a teoria da libido tambm ser
reformulada e, com esse remanejamento, ser introduzido o
conceito de Eros e a pulso de morte ser considerada para alm da
busca da felicidade, medida que algo constitutivo do homem.
4. PRESERVAO DA VIDA E CONTROLE DA
AGRESSIVIDADE: O PROBLEMA DA CULPA E DA
PUNIO.
Fizemos este percurso pela construo de algumas noes
freudianas tendo em vista municiar nossa reflexo de embasamento
conceitual especfico, bem como compreender como o filsofo e
Investigaes sobre
O Agir Humano
107
fundador da Psicanlise construiu seus conceitos.
4
Nos argumentos
que colecionamos anteriormente fica evidenciado como Freud toma
problemas contemporneos e sobre eles constri seus conceitos, os
quais oportunamente so revistos e do origem a novos conceitos.
O ponto de retomada da nossa discusso filosfica o
conceito de pulso de morte, o qual Freud introduz para explicar
um conjunto de fatos agrupados em torno da compulso de
repetio. Em linhas gerais, segundo a viso da psicanlise, o
questionamento acerca da destrutividade na cultura, na humanidade,
no fundamental. O que interessa no so tanto os fenmenos em
suas manifestaes materiais, os seus produtos, quanto a frequncia
destes fenmenos. Em poucas palavras a pergunta que a psicanlise
prope e que tenta responder no por que se mata, mas por que se
mata sempre.
A originariedade da questo se manifesta na arguio pelo
elemento condicional, isto , o que torna possvel o fenmeno da
agressividade. Ricouer reconhece que esse posicionamento de busca
pelo radical, durante toda essa fase da investigao que Freud
desenvolve, marca seu trabalho de um certo carter especulativo,
exorbitando paulatinamente o mbito da pragmtica clnica ou
social. Como afirmamos acima, seu trabalho realizou-se inicialmente
na abordagem da dinmica da pulso de morte, ocupando-se com a
reflexo sobre o seu funcionamento nos processos psquicos, em
seguida, encetou as referncias com a clnica da sade psquica. No
ltimo estgio de suas anlises, a pulso ser reconhecida e decifrada
como destrutividade no plano individual, social-histrico e cultural.
Deste modo, medida que o conceito foi sendo
redimensionado, retomado, paulatinamente foi ficando melhor
compreendido que a pulso de morte algo que est para alm da
4
De fato, a filosofia se distingue das outras abordagens sobre a realidade
pelo fato especfico de ser construtora de conceitos. O filsofo um criador de
conceitos, a filosofia a arte de criar conceitos (DELEUZE; GUATARI, 2010).
Investigaes sobre
O Agir Humano
108
busca da felicidade, como projeto individual, ela algo constitutivo
do homem, seu atributo originrio.
Como vimos na introduo deste trabalho, as hipteses
iniciais de Freud quanto regulao dos processos psquicos
comportam as concepes de sistema energtico, de jogo de tenses
e de quantidade de excitao, de modo que o princpio de prazer se
relaciona ao princpio de constncia. A continuidade de suas
pesquisas oportuniza a compreenso de alguns marcos diferenciais
da psique humana: a primeira delas indica que o ser homem se
constitui como homem devido ao fato que neste jogo de tenses
entre princpio de prazer princpio de constncia princpio de realidade, ele
capaz de adiar a satisfao, abandonar a possibilidade de gozo,
mesmo que temporariamente, tolerando certo grau de desprazer.
Com este mecanismo, visa-se sofrer um pouco externamente para
sofrer menos internamente. Como diz Ricouer: Se pode
considerar essa admisso do desprazer em toda conduta humana
como um longo desvio que toma o princpio de prazer para se
impor em ltima instncia (RICOUER, 1977, p. 237).
Tomando o clssico exemplo dado por Freud a respeito
da criana que brincava com um objeto, projetando-o e retomando-
o, enquanto repetia os vocbulos em lngua alem fort-da
observamos um caso de uma repetio da renncia no sofrida,
passiva. Neste caso, o desprazer dominado por meio da repetio
praticada durante a brincadeira da criana. Entretanto, os detalhes
do fato no nos devem prender a ateno e desviar-nos daquilo que,
realmente, precisa ser notado, isto , o apelo que o exemplo faz ao
elemento de originariedade manifesto na experincia vivenciada.
Freud quer fazer notar uma tendncia mais essencial, a qual incita a
repetio do desprazer sob forma simblica e ldica. Essa tendncia
mais primitiva se exprime unicamente na compulso de repetio.
Desprazer e prazer, vida e morte, o ser humano comporta originria
e dialeticamente esta dinmica todos os nossos esforos de vida
Investigaes sobre
O Agir Humano
109
tambm convergem para a morte. Ricouer retoma uma assertiva de
Freud que retoma e expressa essa compreenso: Todo ser vivo
morre por razes internas... o fim de toda vida a
morte(RICOUER, 1977, p. 241). Assim, somos levados a
reconhecer na morte uma figura de necessidade, tanto quanto na
vida.
Diante do exposto compreendemos que Ananke, Tanatos e
Eros compem indissociavelmente a constituio da subjetividade
humana, de modo que em suas relaes a vida leva morte, e a
sexualidade se mostra como a grande exceo na marcha da vida
para a morte. Tanatos revela o sentido de Eros como o elemento
constitutivo que resiste morte igualmente elemento
constitutivo.
Analogamente ao movimento que ocorreu com a introduo
da pulso de morte na reflexo psicanaltica, esta nova teoria das
pulses, tendo na base esses trs conceitos, vai estabelecer
diferenas marcantes.
Uma primeira diferena diz respeito ao conceito de libido
que ser substitudo pelo de Eros. A compreenso desse exorbitar o
mbito dos fenmenos biolgicos, oportunizando sua abordagem
no mbito da cultura. Reconhecemos como corolrio desta
ampliao a possibilidade de compreender que se no seu interior, o
ser vivo direciona-se para a morte, pelo exterior, pela conjugao
com outros mortais, pode-se lutar contra a morte eis a posio e
a funo de Eros na dinmica da vida social-histrica.
Corroboramos com Srgio de Gouva Franco quando afirma que:
Se cada ser humano levado morte por um movimento interno,
ento s o encontro dos humanos que pode atenuar esse
movimento. [...] O ser humano sozinho est ligado ao caminho de
morte inexoravelmente, junto com outros humanos que encontra
meios para resistir morte (FRANCO, 1995, p. 153-154). Eros vai
lutar pelos longos desvios da adaptao ao meio natural e cultural,
Investigaes sobre
O Agir Humano
110
sempre na defesa da vida. Assim sendo, enquanto a libido est para
as necessidades orgnicas, Eros est para as necessidades sociais.
Indissociavelmente, em um sentido tudo vida e num outro sentido
tudo morte.
A segunda diferenciao trazida por esta nova teoria das
pulses se mostra na concepo freudiana de que a pulso de morte
como uma energia muda, em oposio ao clamor da vida
nesta situao, mudo carrega o sentido de defasagem em
expressividade. Dizendo de outro modo, ao passo que as
manifestaes em defesa da vida, os eventos promotores da
existncia da vida so evidentes, claros e facilmente distinguveis, os
fenmenos concernentes pulso de morte so geralmente velados,
apresentam-se sub-repticiamente. Neste sentido, assevera Paul Ricouer
que o desejo de morte no fala como o desejo de vida
(RICOUER, 1977, p. 243). Como consequncia desta condio, a
decifrao de um agente da pulso de morte sempre ser
parcialmente realizada, uma vez que cada um destes agentes exibe
apenas fragmentos da pulso que os fundamenta. A destrutividade,
por exemplo, representa apenas uma das manifestaes da pulso de
morte.
As vrias mudanas substanciais nas perspectivas e
abordagens do pensamento freudiano sobre as quais vimos
discutindo manifestaram-se em vrios de seus escritos. Serve-nos,
como marcos referenciais, todavia, a obra Alm do Princpio de Prazer
(1920), em que o filsofo trata da tendncia a repetir e sua relao
com a tendncia a destruir, e a obra O Mal-estar na Civilizao (1930),
na qual ele trabalha o deslocamento de uma compreenso com
expresses biolgicas para uma de expresses eivadas de
conotaes culturais. O processo que estamos acompanhando,
portanto, define a transio entre a metabiologia de Alm do Princpio
de Prazer e a metacultura de O Mal-estar na Civilizao.
Investigaes sobre
O Agir Humano
111
A terceira diferenciao diz respeito s implicaes do
conceito de pulso de morte na interpretao da cultura,
oportunizando, conforme refletimos, uma compreenso em um
nvel mais radical. Dois momentos na obra de Freud, segundo
Ricouer, nos situam na reflexo freudiana acerca da relao entre
pulso de morte e cultura: o primeiro momento corresponde aos
captulos iniciais de O Futuro de uma Iluso (1927); o segundo
momento compreende os captulos III a V de O Mal-estar na
Civilizao. No seguimento da discusso ricoueriana, tomemos a
segunda obra como marco de reformulao da interpretao de
Freud sobre a cultura, na medida em que ela encerra o pice do
aprofundamento da sua compreenso de cultura em face da pulso
de morte.
Ricouer orienta que em O Mal-estar na Civilizao podemos
identificar um segmento da obra que aborda tudo o que se pode
dizer sem recorrer pulso de morte e outro que trata de tudo o
que no se pode dizer sem fazer intervir essa pulso (RICOUER,
1977, p. 250). Neste sentido, reconhecemos que no processo de
constituio das construes e relaes da existncia da
humanidade, a qual comporta os indivduos sociais-histricos e
culturais, h elementos constitutivos desta realidade que podem ser
compreendidos a partir da referncia pulso de morte, bem como
se manifestam elementos que dispensam tal referncia. No
identificamos na interpretao freudiana, portanto, pretenses de
reduzir toda a dinmica desta existncia a uma unilateralidade
interpretativa ou a um determinismo psquico. De modo anlogo,
reconhecemos que os objetivos buscados pelo indivduo e os que
animam a cultura, ora convergentes, ora divergentes, so originrios
do mesmo Eros e que eles so modificados pelas necessidades, por
Ananke. Ricouer nomeia esta relao de ertica geral sobre a qual
afirma: , portanto, a mesma ertica que faz a ligao interna dos
grupos e que leva o indivduo a buscar o prazer e a fugir do
Investigaes sobre
O Agir Humano
112
sofrimento o trplice sofrimento que lhe infligem o mundo, seu
corpo e os outros homens (RICOUER, 1977, p. 250). Nos
situamos, deste modo, no mbito de discusso da relao do
homem com o mundo, com seu corpo e com os outros homens.
Decerto que o estudo dessa trplice relao no exclusivo
da filosofia ou da psicanlise, sendo tambm objeto de
problematizao por diversas reas do saber humano, tais como a
psicologia, a antropologia, a sociologia as quais tambm se
aproximam desta trplice relao, embora respondendo a recortes
especficos, com acesso a fontes e recurso a mtodos de
investigao especficos. No obstante, a perspectiva da psicanlise
se diferencia medida que, com seu prprio instrumental terico e
prtico, objetiva compreender esta relao de tenso reconhecendo
Eros como elemento que origina e sustm tanto a busca individual
pela felicidade, quanto a necessidade da unio grupal.
Como corolrio desta abordagem outras questes se
apresentam, como por exemplo: como se realiza a relao entre a
cultura e a sexualidade? Ou ainda, como a cultura impe sacrifcios
de gozo a toda sexualidade? Porque h o fracasso nos projetos do
homem em busca de ser feliz? Como entender os conflitos e
desastres sociais oportunizados pelo homem enquanto ser de
cultura?
O desenvolvimento dessa discusso oportuniza uma coleo
de argumentos que sugere, como tese explicativa para as
perturbaes na relao entre homem e sociedade, o
reconhecimento de que o ser humano no em si um ser
benevolente, antes ele possui uma agressividade inerente,
constitutiva. Nas palavras de Ricouer: a pulso que perturba assim
a relao do homem com o homem e exige que a sociedade se
levante como implacvel justiceira, , reconhecemos, a pulso de
morte, identificada aqui hostilidade primordial do homem para
com o homem (RICOUER, 1977, p. 251). Ressaltamos que no h
Investigaes sobre
O Agir Humano
113
nesta compreenso acepo valorativa alguma, na medida em que
seja a agressividade, seja a eroticidade so elementos constitutivos
de um mesmo ser, que manifesta facetas de uma mesma dinmica
psquica.
Adaptando-se a este mbito de abordagem, Freud termina
por criar um novo termo, eivado por um novo conceito, a pulso
anticultural, que comporta a seguinte compreenso: a constituio
das ligaes sociais no pode mais ser tida como uma simples
extenso da libido individual, no pode ser compreendida e
orientada pela teoria da libido aplicada ao campo social -histrico e
cultural. Antes, reconheamos a especificidade desta constituio,
cuja existncia manifesta o conflito das pulses, uma luta constante
entre elementos de agregao e de desagregao. Essa luta constitui
a vida humana. Portanto, reiteramos que no podemos tratar a
pulso de morte, pulso anticultural, como algo mal, negativo, e
esclarecemos que esta impossibilidade deve-se ao fato de que se
trata de elementos originrios, constitutivos do ser do ser humano,
no cabendo acepes axiolgicas ou conotaes valorativas.
Entretanto, o fato destes elementos serem constitutivos do
ser humano no invalida o carter danoso das manifestaes
prticas da agressividade constitutiva, cuja materializao na
efetividade histrica, atravs dos fenmenos de violncia, de
guerras, de destruio, de discriminao, de dizimao de grupos
tnicos, no pode ser desconsiderada e separada de seu carter
malfico. Estas aes perturbam e mesmo destroem o bem estar da
vida humana, ainda que se tratem de motivaes inerentes s
estruturas constitutivas do ser do homem. Neste sentido,
reconhecemos e sustentamos a pertinncia de que a discusso
acerca da interpretao psicanaltica da cultura prossiga,
problematizando oportunamente a existncia e a funo de um
elemento capaz de frear a dominao da pulso morte, da
agressividade e da destrutividade na vida em sociedade. A discusso
Investigaes sobre
O Agir Humano
114
agora se situa na funo social do sentimento de culpa, ou seja,
abordaremos a relao agressividade e sentimento de culpa no plano
cultural da existncia da humanidade.
Para Ricoeur, a cultura se assenta no jogo dinmico e tenso
dos interesses, em Eros, que origina e sustm quer os interesses
individuais, quer os interesses coletivos, como afirma no seguinte
trecho de sua obra: agora a cultura que representa os interesses
de Eros, contra eu-mesmo, centro do egosmo mortal (RICOUER,
1977, p. 252). A cultura se constituiria como elemento de
preservao e de censura, na medida em que oportuniza a
manuteno do bem estar social, ao mesmo tempo em que constri
meios de instruo e convencimento do refreio da agressividade.
Srgio Gouva Franco esclarece ainda que a cultura se serve de
minha violncia autoinfringida para fazer fracassar minha violncia
contra outrem: ... a cultura estaria a servio de eros, lutando contra
o egosmo que conduz cada um morte (FRANCO, 1995, p. 154).
A autocondenao e o autocastigo proporcionados pelo
sentimento de culpa tm sua base no Superego, na constituio
originria de cada ser humano, de cada indivduo, como ser de
autovigilncia e controle. Na dinmica da vida em sociedade, porm,
o sentimento de culpa ter seu contedo construdo conforme a
sociedade dada a cada poca. Cada sujeito histrico se orienta, age e
se projeta dentro de um contexto social-histrico embora no
obstinadamente preso a este contexto, o que oportunizaria os
movimentos de mudana e transformao social. Cada poca, cada
sociedade constitui e institui o seu sistema de valores, que como
construo e instituio com historicidade passvel de ser
renovado, reinterpretado, enfim, modificado.
Esta breve e oportuna digresso objetiva nos posicionar
diante do mecanismo do sentimento de culpa, sempre eivado pelas
perspectivas moral e histrica relativistas, orientando-nos para
compreender que, embora a culpabilidade no possa ser extinta do ser
Investigaes sobre
O Agir Humano
115
humano posto ser dele constitutiva , os fenmenos que
possam motivar o sentimento de culpa ou os valores e os j uzos que
se conjugaro nesta relao so socialmente estabelecidos e,
portanto, passveis de modificaes. As circunstncias e os
elementos que motivam sentimentos de autocondenao e
autopunio em uma dada sociedade e poca podem no ter
correspondentes anlogos em outro contexto social-histrico.
Assim, de modo sumrio, acerca do fenmeno da culpa, convm
afirmar que o modo de ser da culpabilidade inextinguvel, embora
as motivaes do sentimento de culpa sejam modificveis; de modo
anlogo, reconhecemos que a severidade do Superego
insubstituvel.
Desta feita, no mbito da experincia social -histrica,
compreendemos que a renncia principal que a cultura exige do
indivduo no a do desejo enquanto tal, mas da agressividade,
cabendo cultura, segundo Ricoeur, engendrar este sentimento de
culpa: Mortificando o indivduo, a cultura coloca a morte a servio
do amor e inverte a relao inicial da vida e da morte (RICOUER,
1977, p. 253).
5
E diga-se, ainda , cabendo cultura no
somente engendrar o sentimento de culpa, mas estabelecer a
necessidade de punio, cujas funes de castigar e de inibir
futuros atos, anlogos aos censurados, corroboraram no processo
de conteno da agressividade humana e de manuteno do bem
estar social.
5
Neste contexto, reconhecemos dois elementos constitutivos,
desenvolvendo duas funes em relao de reciprocidade: o sentimento de culpa,
constitudo e infligido pela cultura, e a funo psicolgica da angstia de
conscincia.
Investigaes sobre
O Agir Humano
116
5. GUISA DE SNTESE.
Tendo acompanhado o desenvolvimento do dilogo
filosfico e psicanaltico entre Sigmund Freud e Paul Ricouer,
compreendemos que a formao da sociedade, na complexidade
que compe o contexto social-histrico da humanidade em uma
dada poca histrica, acontece mediatizada pelas relaes de
indivduos sociais, cuja constituio psquica influencia e
influenciada pelos elementos culturais construdos e, igualmente,
institudos por indivduos sociais. Nesta experincia relacional entre
psique e sociedade, diversas relaes de reciprocidade se
manifestam simultaneamente: Eros (em suas motivaes de
agregao e preservao), Tanatos (em suas motivaes de
desagregao e agresso) e Ananke (em suas motivaes de
necessidade e restrio), cujas articulaes constroem as
possibilidades das experincias da vida em sociedade (vida cultural)
e igualmente oportunizam os conflitos oriundos da relao tensa
entre o mbito psquico individual e o mbito social -histrico das
relaes coletivas contexto em que reconhecemos a gnese do
conflito pulsional anticultural. Por fim, compreendemos que nesta
dinmica de construo e instituio da sociedade, a cultura se
investe de mecanismos de morte, de restrio s aes individuais,
construindo uma relao entre culpa e punio. Srgio Franco
(1995, p. 157) denomina este processo de ardil da cultura, em que
se usa a morte contra a prpria morte. Todos estes mecanismos
objetivam, mediados por estratgias e motivaes de morte,
perpetuar a existncia humana, pela defesa da vida e do bem estar
dos seres humanos: a cultura aparece como o grande
empreendimento para fazer a vida prevalecer contra a morte; e sua
arma suprema fazer uso da violncia interiorizada contra a
violncia exteriorizada; seu ardil supremo fazer trabalhar a morte
contra morte (RICOUER, 1977, p. 254).
Investigaes sobre
O Agir Humano
117
REFERNCIAS
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que a filosofia? Rio de Janeiro:
Editora 34, 2010.
FRANCO, S. de G. Hermenutica e Psicanlise na obra de Paul Ricouer.
So Paulo: Loyola, 1995.
MATTEO, V. di. Cogito hermenutico e sujeito lacaniano no Ensaio sobre
Freud de P. Ricouer. Belo Horizonte: UFMG/FAFICH, 1999.
MEZAN, R. Freud, pensador da cultura. 5. ed. So Paulo: Brasiliense,
1997.
RICOUER, P. Da Interpretao: ensaio sobre Freud. Trad. Hilton
Japiassu. Rio de Janeiro: Imago, 1977.
5
SOBRE RAZO E SENTIMENTOS MORAIS
Maria Jos da C. Souza Vidal
1
Inicialmente, cumpre observar que, nesse texto, moral e
tica so tidas como idnticas. No fazemos distino entre moral e
tica, usando, portanto, as duas expresses como sinnimas.
Nossa proposta neste ensaio, Sobre razo e sentimentos morais,
parte do princpio de que um dos grandes problemas relacionados
com o agir moral o da dificuldade na justificao de um modelo
tico a ser estendido e universalizado. A falta de sustentao
argumentativa que nos capacite para tanto reflete a ausncia de
cnones, de princpios norteadores; reflete a dificuldade
contempornea de se distinguir o bem do mal, reflete a crise dos
valores gerada, entre outros fatores, pela crise da razo.
Nesse contexto, salutar tentarmos entender qual o
significado dessa crise. Podemos dizer que h uma proliferao do
emprego do termo crise e esse uso multiplicado tem origem nas
diversas formas de concepo da realidade. A crise se expressa no
somente como uma fratura numa continuidade at ento
aparentemente estvel, mas, sobretudo, com o aumento das
possibilidades contrastantes acerca do que seria a realidade.
Portanto, h a ideia de desenvolvimento de um mesmo ncleo
reformvel, como tambm de quebra e revoluo das regras
estabelecidas.
A lgica do caos no qual vivemos, cuja representao a
ordem e a desordem que se sucedem, permeia mais e mais nossa
1
Doutora em filosofia. Professora do departamento de filosofia da
UERN (E-mail: mariavidal@uern.br).
Investigaes sobre
O Agir Humano
120
existncia. Analisaremos a crise da tica como sintoma da crise na
crena da razo, entendida enquanto guia e agente norteador da vida
moral. Para tanto, faz-se necessrio esclarecer a questo da razo
enquanto justificativa para o agir moral. Qual a origem desse
paradigma?
Vamos tentar, sucintamente, expor um pouco da histria da
racionalidade, no intuito de compreendermos a essncia da crise da
razo, para, em seguida, mostrar nossa proposta de moral,
constituindo-se enquanto justificativa que tem como finalidade
garantir a possibilidade de aes ticas, questo cerne deste ensaio.
1. HISTRICO DA QUESTO.
Desde o nascimento da filosofia, final do sculo VII e incio
do sculo VI a.C., j se constitua como questo filosfica ocupar-se
da racionalidade, tendo no seu contedo originrio a cosmologia
(formada a partir da palavra cosmos que significa mundo ordenado e logia
que vem da palavra logos, pensamento racional). Portanto, a filosofia
nasce como conhecimento racional a respeito da ordem do mundo
e da phisys (natureza). Nesse sentido, a razo sua caracterstica
marcante, com princpios e regras que a fazem ser o critrio da
explicao vlida.
Ainda que a razo tenha entrado um pouco em decadncia na
filosofia medieval, chegando a ser subordinada f, ela teve revista a
sua importncia no sculo XVII e meados do sculo XVIII, com o
Racionalismo Clssico. Nesse perodo aconteceram trs mudanas
marcantes, a saber:
na primeira, surge o sujeito do conhecimento, a partir da
pergunta pela capacidade do intelecto humano para
conhecer e demonstrar a licitude do prprio conhecer;
Investigaes sobre
O Agir Humano
121
A segunda mudana parte do seguinte questionamento:
como o intelecto pode conhecer aquilo que diferente dele?
Com essa indagao os modernos promovem uma mudana
que diz respeito ao objeto do conhecimento. Para os
pensadores desse perodo, as coisas exteriores podem ser
conhecidas desde que sejam consideradas representaes
pensadas pelo sujeito do conhecimento.
A terceira mudana fundamental nasce da noo de que a
realidade pode ser traduzida matematicamente. Dessa
forma, a realidade passa a ser concebida como um sistema
racional de mecanismos fsico-matemticos, atravs do qual
so explicados todos os fatos da realidade.
A partir dessas transformaes impe-se uma enorme
confiana no poder da razo. A prpria realidade passa a ser
concebida como um sistema de causalidades racionais que podem
ser conhecidas e modificadas pelo homem. Por conseguinte, a razo
configura-se igualmente como capaz de tornar a tica e a poltica
puramente racionais.
No sculo XIX h uma continuidade da crena na razo,
chegando a conceb-la como responsvel pela evoluo e o
progresso, apontando que o homem pode, atravs da mesma,
tornar-se perfeito, conquistar a felicidade e a liberdade. Noo essa
que influenciou fortemente a Revoluo Francesa de 1789.
Em meados do sculo XIX, pode-se dizer que tem incio a
filosofia contempornea e com essa nova viso de mundo entra em
evidncia a crise da razo que at ento tinha sido endeusada,
sendo capaz de responder todas as questes que afligiam a
humanidade. , paradoxalmente, a partir de Hegel e de seu
idealismo exacerbado que essa noo cai por terra.
Como se percebe com esse filsofo que a crise da
racionalidade entra em efervescncia, uma vez que Hegel com a
Investigaes sobre
O Agir Humano
122
filosofia da histria, com o seu materialismo histrico trata de forma
nunca antes concebida a questo da crise da modernidade, sob o
aspecto de crise da identidade. Afirmando a histria como sendo o
modo de ser da razo, da verdade e dos seres humanos,
transformando-nos em seres histricos. Isso no significa que antes
desse pensador, outros filsofos no tenham abordado a questo, o
que Hegel traz de novo a transformao dessas questes acerca da
modernidade, como questes filosficas. H uma espcie de
conscincia histrica do seu prprio tempo, uma conscincia de
uma outra ruptura, na qual no se mantm a viso de mundo da
tradio.
Hegel criticou os empiristas (esses afirmavam o
conhecimento como sendo dado pela experincia) e os inatistas
(acreditavam que ao nascermos j possumos inteligncia, princpios
racionais e ideias verdadeiras), fazendo uma crtica semelhante a j
apontada por Kant, segundo a qual os empiristas e inatistas
enganaram-se por sustentarem que o conhecimento racional
dependeria exclusivamente dos objetos do conhecimento,
exagerando assim no objetivismo. Mas, afirma Hegel, Kant tambm
se enganou por excesso de subjetivismo, dado que para Kant o
conhecimento racional dependeria largamente do sujeito do
conhecimento, das estruturas de sensibilidade e do entendimento.
A razo, segundo Hegel, no nem exclusivamente objetiva,
nem subjetiva, mas configura-se enquanto unidade necessria a
esses conceitos (inatismo e empirismo), sendo, portanto, a harmonia
entre o objeto e o sujeito. Com a dialtica hegeliana possvel
explicar essas oposies, uma sendo o contrrio da outra, tese e
anttese constituindo momentos necessrios na histria da razo,
a partir dos quais ela pode conhecer-se a si mesma. Ademais,
segundo Hegel, a sntese teria o papel de unir os contrrios.
Aps Hegel, outros filsofos repensaram a questo,
originando as correntes que sero conhecidas como hegelianos de
Investigaes sobre
O Agir Humano
123
esquerda e hegelianos de direita. Destes pensadores convm
destacar alguns daqueles que criaram a Escola de Frankfurt, ou Teoria
Crtica que concordaram com a soluo hegeliana, mas afirmaram
que esta no suficiente. Nesse sentido, filsofos dessa Escola
como Adorno e Horkheimer, talvez por terem influncias marxistas,
recusaram o determinismo histrico, apontando que a razo
tambm determinada pelas condies sociais, econmicas e
polticas.
Assim sendo, para esses filsofos, Hegel errou ao pensar
que a razo seria uma espcie de fora histrica que cria a prpria
sociedade, a poltica e a cultura. No entanto, Adorno e Horkheimer,
criadores da Teoria Crtica, consideraram vlida a ideia hegeliana de
continuidade histrica e defendiam duas formas de razo, a saber: a
primeira razo instrumental (razo tcnico-cientfica que est a
servio da dominao) e a segunda a razo crtica (razo filosfica
que reflete as contradies e os conflitos e se apresenta como fora
libertadora).
Nos anos 60, desencadeia-se o Estruturalismo,
principalmente na Frana, cuja corrente cientfica-filosfica tem,
entre outras origens, a antropologia social. Para os estruturalistas o
fundamental no a mudana de uma realidade, mas a estrutura na
qual ela se apresenta. Nesse aspecto, o Estruturalismo desconsidera
as posies filosficas do tipo hegeliana, tendo maior afinidade com
a posio kantiana.
Dessa forma, filsofos como Foucault e Derrida
reafirmaram a razo como sendo histrica, no entanto, sem ser
progressiva, apresentando-se descontnua, de maneira que cada
nova estrutura de razo possui uma verdade vlida apenas para essa
determinada estrutura. Isso no significa que Foucault ou Derrida
esto apregoando uma espcie de relativismo da razo, mas eles
compreendem que a razo apresentou-se em cada momento da
Investigaes sobre
O Agir Humano
124
histria de maneira diversa e que de uma poca a outra no h uma
acumulao, um progresso, uma continuidade.
Diante da exposio das vrias formas de concepes da
razo podemos compreender o porqu da sua crise? Ora, a
contemporaneidade vivencia a descida da razo do pedestal de
suporte da verdade. Atualmente, a filosofia contempornea no
dispe de um sistema pronto que fundamente uma resposta
absoluta para a mesma. Ao contrrio, o pensamento em evidncia
o da reflexo. Reflexo sobre todas as respostas que para ns j
foram colocadas, reflexo sobre nossas prprias respostas e reflexo
sobre nossas prprias questes.
Para os povos ocidentais, que tinham na razo o
fundamento para todas as explicaes, o questionamento da
validade dessa mesma razo representa o desmoronar de uma
verdade que se tinha como absoluta. Como consequncia,
vivenciamos a crise, por no reconhecermos mais a razo como o
leme que pode guiar a humanidade. Por conseguinte, a realidade
mundial apresenta-se de forma nunca antes vista, os avanos
tecnolgicos, os novos aspectos nos quais a economia mundial se
desenvolve, possibilita uma outra representao de mundo, de
cultura, de sociedade e da forma de se fazer poltica, logo tambm
de se pensar a moralidade.
2. SOBRE RAZO E SENTIMENTOS MORAIS.
Todas as nossas aes, mesmo inconscientes, implicam
numa escolha de futuro. O mundo apresenta-se cada vez mais
interdependente e frgil e o futuro enfrenta a dualidade de vivenciar
grandes perigos e grandes promessas. Neste contexto,
corroborando com Boff (2003): Para seguir adiante, devemos reconhecer
que, no meio de uma magnfica diversidade de culturas e formas de vida, somos
Investigaes sobre
O Agir Humano
125
uma famlia humana e uma comunidade terrestre, com um destino comum.
Nesse sentido, faz-se necessrio, a partir da crise tica que vivemos,
repensar nossa concepo de moral, procurando nos perguntar se
seria possvel evitar nos deixarmos arrastar pela corrente
contempornea que conduz a uma noo de tica que exalta o
relativismo. Nossa hiptese a de que devemos renegar o
individualismo
2
que nos distancia cada vez mais da responsabilidade
com o outro e com valores morais, porque, se assim no o fizermos,
estaremos promovendo a criao de uma sociedade to fragmentada
que deixar de se sustentar.
Nossa inteno , pois, apresentar uma forma de conceber a
moral que considere a o estado da crise que vivenciamos. Isso no
significa que tenhamos de buscar um modelo tico que se enquadre
nas nossas relaes; noutras palavras, que tenhamos que criar uma
moral ao nosso bel prazer, mas que, a partir do que a ns est dado,
devemos desenvolver uma forma tica que nos possibilite outra via
que no seja o estado de natureza hobbesiano, a luta de todos
contra todos, na qual o homem o lobo do prprio homem.
A questo da racionalidade, mesmo que em crise e que
no se constitua mais como suficiente, no perdeu o seu total valor.
Somos os nicos seres que sabemos que estamos para a morte,
segundo Heidegger, e devemos usar de todo o poder da sabedoria
que somos capazes, para melhorarmos coletivamente a nossa estadia
no planeta. O viver-com precisa ser evidenciado, no intuito de
pensarmos uma tica que responda s disparidades sociais que
vivemos, assim como falta de respeito e de paz.
2
No devemos entender individualismo como sinnimo de
individualidade, pois podemos afirmar que a sociedade capitalista deturpou o
sentido de individualidade que significa respeito ao sujeito, j o
individualismo diz respeito utilizao do outro como coisa, como
instrumento para um fim desejado.
Investigaes sobre
O Agir Humano
126
Usaremos como base para expormos a nossa proposta o
texto do neokantiano, tambm alemo, Ernst Tugendhat, que tem
como ttulo: Reflexes sobre o que significa justificar juzos morais.
Tugendhat falando em Lies sobre tica aponta-nos o seguinte
questionamento: o que precisamos ento para justificar a moral, se
a resposta kantiana com relao a mau enquanto sinnimo de
irracional no suficiente? A respeito dessa questo, ele nos sugere
duas orientaes: mostra que o predicado bom, ainda que em
relao com racional seja relevante, no chega ao ncleo da moral
e que uma obrigao de s fazer o que racional, por si mesma, no
nos convence. Ento, a partir dessa concluso, ao fazer uma
depurao da filosofia moral de Kant, Tugendhat vai afirmar que
no devemos ver uma contradio entre moral e sentimento, uma
vez que s podemos entender o que a moral, o bom, quando a
vemos conjuntamente com o afeto que lhe cabe, pois assim ela ter
significado para ns.
Aponta-nos, ainda, que a tarefa da filosofia transitar entre
um conceito intuitivo de sentimento moral e uma descrio
estrutural do objeto desse sentimento que se constituir na
autonomia coletiva. Essa autonomia coletiva significa que cada um
, ao mesmo tempo, origem e objeto da norma; cada um se
subordina a todos os outros, mas porque assim o quer. Dessa
forma, o sujeito reconhece que a norma boa porque ela parte da
sua vontade e da vontade dos outros (maioria). a partir dessa
noo que estar pautada a proposta de moral sugerida por esse
pensador no texto acima referido, vejamos, portanto, como ela se
d passo a passo.
Devemos pensar a moralidade a partir do que chamaremos
de comunidade moral. Nesta, os seus membros tero a liberdade
restringida, uma vez que se submeteram as normas da comunidade
por toda sua vida. Convm ressaltar que estes membros s aceitam
Investigaes sobre
O Agir Humano
127
fazer parte da comunidade, se aceitarem as regras morais e as
considerarem justificadas.
Sob esse aspecto deve-se apresentar um conceito de boa
pessoa, a partir do qual todos os participantes da comunidade
devero se orientar. Conforme Tugendhat: uma pessoa boa no sentido
moral se se comporta da maneira como exigido reciprocamente pelos membros
da comunidade moral.
O que Tugendhat traz de novo, a esse respeito, a questo
da justificava recproca e esta se expressa num tipo de oraes de
dever. Os membros da comunidade moral s aceitam dela fazer
parte porque para eles as normas so todas justificadas e, sobretudo,
porque so justificadas reciprocamente. A justificao recproca a
origem da ligao entre a noo de dever e o que chamamos aqui
de sentimentos morais. A obrigao que se expressa nessas
oraes baseia-se em aceitar os sentimentos morais de indignao
e culpa, a partir dos quais deve surgir na comunidade moral a
presso social. Noutras palavras, se um indivduo X no atua na
comunidade de forma que todos exigem que ele atue, surgir, no
conjunto das pessoas que formam a comunidade, um sentimento de
indignao por essa ao, a qual ser digna de reprovao, pois
todos a exigiram reciprocamente. Logo, esse sujeito X que t ambm
um membro da comunidade e que, como j dissemos acima, aceita
as normas e se submete aos sentimentos morais, se sentir culpado.
Assim como esse mesmo indivduo X sentir-se-ia indignado ao ver
as normas sendo quebradas por outro membro da comunidade.
Aps expormos sucintamente como devemos pensar a
comunidade moral, cumpre fazermos uma pergunta irrenuncivel:
como a moral pode ser justificada reciprocamente e de forma no
autoritria? Contemporaneamente isso parece ser quase impossvel.
Vivemos hoje a no unanimidade de resposta para esta questo. Mas
vejamos a sada sugerida por Tugendhat.
Investigaes sobre
O Agir Humano
128
Ao elaborar a sua proposta de como devemos entender a
moral, Tugendhat no est se referindo ao conjunto dos indivduos,
mas ao prprio indivduo e essa considerao o aproxima do
contratualismo. Lembremo-nos que essa corrente filosfica justifica
a submisso s normas, alegando que essas so aquelas mesmas em
relao as quais o indivduo quer que tambm todos os outros se
submetam. Assim, pode-se dizer que o no querer ser tratado
como meio pelo outro, de modo a no servir de instrumento para
a finalidade de outrem a prpria expresso do ponto de partida
do contratualismo, com um toque de kantismo.
Dessa maneira podemos pensar a moral em forma de
contrato. No significa termos de pens-la enquanto um contrato
comum, que considera apenas o interesse individua. O contrato
moral apto a nortear a comunidade deve ser tido por todos como
bom, o que, por sua vez, ser definido de acordo com os
sentimentos morais. Uma espcie de acordo de cidados(s).
O conceito de bom a ser admitido na comunidade moral
deve ser compartilhado por todos. Nessa perspectiva, a noo de
bom constitui-se num conceito de justia e deve ser construdo de
forma que possa ser justificado reciprocamente. A justia assim
concebida possibilitaria o equilbrio na comunidade moral e
promover a equidade entre os seus integrantes.
Cumpre destacar outra questo tambm de suma
importncia, a da possibilidade do indivduo de indagar os motivos
para participar da comunidade moral. a pergunta sobre o porqu
se assumir enquanto integrante da comunidade moral. Esta no
pode ser uma resposta autoritria, porque isso comprometeria a
livre adeso dos contratantes. O dever de participar da comunidade
moral, de acordo com esses pressupostos, s se sustenta quando
uma obrigao desejada.
Podemos argumentar que este dever de cada indivduo
encontrar sustentao no prprio bem-estar da comunidade, ou
Investigaes sobre
O Agir Humano
129
por ele no querer se reconhecer como egosta, ou por no querer
que os outros o reconheam como egosta. O sistema normativo
gera uma espcie de motivao, para o participante da comunidade
moral, que no existia antes dele ser moralmente apreciado. Isso
significa que o sujeito que quebra a norma na comunidade passa a
ser desapreciado.
No devemos deixar de considerar a possibilidade da
existncia na comunidade do chamado parasita moral, mas h
motivos para acreditarmos na fora transformadora do humano,
como h igualmente meios para tornar esse ser um membro da
comunidade moral, que so: a educao, como ponto de partida
para reformar o pensamento e, em ltima instncia, o papel
coercitivo que pode ser desenvolvido pelo direito, enquanto norma
jurdica.
Cumpre ainda salientar a necessidade de construirmos a
comunidade moral tambm com vista s geraes futuras. A esse
respeito, porque no pensar ainda na comunidade moral que possa
se estender para alm do humano? evidente que, nesse caso, no
poderamos falar de justificativa recproca, mas o humano no
poderia progredir a ponto de considerar respeitar aqueles que no
podem se defender (exigir), como os seres vivos irracionais?
A proposta moral fundada sobre comunidades morais s
possvel mediante uma atitude de simetria, a qual no descarta o
altrusmo espontneo e deve orientar-se, sobretudo, nos dilemas
que se vive cotidianamente entre moral e poder. Nessa perspectiva,
devemos tambm esclarecer que pensar a tica a partir da noo de
comunidade moral no exclui a possibilidade de uma comunidade
convencer outra comunidade, de forma a estabelecer um dilogo,
um consenso universal discutido e justificado reciprocamente.
Concluindo, gostaramos de citar Tugendhat (1993):
Investigaes sobre
O Agir Humano
130
Quem se coloca a pergunta quero eu fazer parte da
comunidade moral?, tem de perguntar-se: quem afinal
eu quero ser, em que reside para mim a vida e o que
depende para mim disto, que eu me compreenda como
pertencente comunidade moral? (...) A reflexo sobre o
eu quero, que est na base do eu tenho que, conduz-
nos no sentido de assumir a autonomia que faz parte do
ser humano adulto. Pois, poderamos ns querer que um
tal ter de absoluto supondo que por si no seja um
contrassenso fosse cravado em ns? Eu posso querer
que uma parte do meu querer seja subtrada de mim
mesmo?
Pensar a moral de forma heternoma prova-nos a nossa
falta de confiana, primeiro em ns mesmos e, depois, nos outros.
Porm, no pequeno o desafio de pensarmos sobre o significado
do que realmente desejamos e nos pautarmos por ele. Desafio
grandioso, mas no impossvel. Na histria, muitas foram as
ocasies em que o desejo dos grandes ideais moveu os humanos a
serem moralmente melhores.
REFERNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de Filosofia. Martins Fontes, So
Paulo, 2000.
BOFF, L. Ethos Mundial A Carta da Terra. Rio de Janeiro: sextante
2003.
CHAU, Marilena. Convite Filosofia. Editora tica S.A., So Paulo,
1994.
Investigaes sobre
O Agir Humano
131
GALLO, Slvio (coord.). tica e Cidadania caminhos para a filosofa. 5
edio, Papirus Editora. Campinas, So Paulo, 1999.
HABERMAS, J. O Discurso filosfico da Modernidade. Publicaes Dom
Quixote Nova Enciclopdia.
HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Coleo Os Pensadores Nova
Cultural, RJ.
KANT, Immanuel. A paz perptua e outros opsculos textos
filosficos edies 70 n 18, Trad. Artur Moro, Lisboa Portugal.
KANT, Immanuel. Fundamentao da metafsica dos costumes - textos
filosficos edies 70 n 7, Lisboa Portugal.
OLIVEIRA, Manfredo A. de. (org). Correntes fundamentais da tica
contempornea. Petrpolis, RJ, Vozes, 2000.
REALE, Giovani, e ANTISERI, Dario. Histria da filosofia, Vol. I,
So Paulo: Paulinas, 1990.
TUGENDHAT, Ernst. Lies sobre tica. 2
a
edio, Ed. Vozes RJ,
1993.
TUGENDHAT, Ernst. Reflexes dobre o que significa justificar
juzos morais In Brito, Adriano Naves de (organizador). tica:
questes de fundamentao, Braslia, Editora da UNB, 2007, p. 19 36.
6
ECOLOGIA, AMBIENTE E VIDA: UM OLHAR SOBRE A
QUESTO AMBIENTAL E SUAS REPERCUSSES
TICAS
Francisco de Assis Costa da Silva
1
1. INTRODUO.
A questo ambiental prpria da atualidade.
Diferentemente dos sculos passados, durante os quais os homens
administravam os recursos naturais como se fossem bons pais de
famlia preocupados unicamente com seu aproveitamento e
a sua salvaguarda no colocava problemas especiais, hoje se percebe
uma irregularidade na relao do homem com o meio ambiente. O
problema ambiental extrapolou a questo que diz respeito ao
melhor uso dos recursos naturais para a garantia ou melhoria das
formas de vida humana e transformou-se em necessidade de
respeito ao equilbrio ambiental para preservar a possibilidade de
uma civilizao futura.
O homem sempre modificou o locus de seu existir. o que
chamamos de cultura. Mas, o escalonamento da produo, do
consumo e da poluio mudaram tudo. O crescimento demogrfico,
a urbanizao, os modos de produo e consumo, etc., favoreceram
no s um dispndio de riquezas naturais insustentvel em longo
prazo sem dvidas, permanentemente estimulado, pelo menos
nos pases de economia capitalista , como tambm um aumento
1
Doutor em Teologia Fundamental pela Pontifcia Universidade
Gregoriana de Roma. Professor do Departamento de Filosofia da UERN (E-mail:
pcosta2002@libero.it).
Investigaes sobre
O Agir Humano
134
do lanamento de resduos no ambiente, nocivo e incontornvel
sem uma interveno humana planejada.
A civilizao industrial e capitalista se baseia no
aproveitamento das matrias primas. Mas, como estas so
reconhecidamente limitadas, sua posse se tornou motivo de
competio entre as naes mais poderosas e industrializadas. A
esse respeito, o aumento expressivo dos nveis de poluio foi
apenas uma das consequncias diretas do consumo irresponsvel,
mas no a nica. Basta dizer que a concorrncia pelo controle de
matria prima, especialmente combustveis, e da sua distribuio,
com toda a carga de intolerncia que se somou nos encontros ou
choques culturais, est mesmo na origem da corrida armamentista e
no desperdcio que esta determina.
Em suma, quase unnime a leitura a respeito da existncia
de um desequilbrio ambiental permanente e da sua progressiva
piora. Os problemas ambientais tm origem substancialmente:
1. Na alterao dos equilbrios naturais: isto se percebe
facilmente a partir das catstrofes naturais, que
acontecem periodicamente, recordando-nos sobre a
instabilidade do ambiente no qual vivemos.
2. Nos comportamentos humanos em sociedade, que
contribuem decisivamente para as alteraes dos
equilbrios naturais.
Assim, a transformao atual da relao do homem com o
ambiente liga-se tomada de conscincia da limitao dos recursos
e da impossibilidade de assegurar o progresso nos moldes atuais ou
manter o estilo de vida das sociedades de consumo sem destruir o
planeta. Isso o que alimenta a urgncia do trato de questes
ambientais.
Investigaes sobre
O Agir Humano
135
As questes ambientais envolvem dois aspectos
complementares: 1) a preocupao para com o estado das riquezas
naturais, que o homem considera serem colocadas sua prpria
disposio e essenciais ao progresso da civilizao; 2) o interesse a
respeito dos princpios ticos que fazem jus ao seu uso. Ambos
estes aspectos so hoje de uma atualidade inquietante.
De uma parte, toma-se conscincia que as riquezas no so
em quantidades ilimitadas, que devem ser geridas e melhor
repartidas entre as geraes presentes e futuras, que um novo
modelo de desenvolvimento e civilizao deve ser construdo. De
outra parte, parecem ser colocados em causa os fundamentos ticos
segundo os quais o homem tinha sempre feito recurso para resolver
tais questes, o que prejudica a proposio de uma resposta
compacta e mais gil a esse problema.
O homem ocidental, at bem poucas dcadas, estava
habituado a considerar-se o centro do universo. Ideia essa de
procedncia bblica e filosfica. Era comum entender que a
realidade estivesse ao seu servio e que a histria csmica fosse
orientada por uma providncia, que a conduziria a bom termo. A
mesma providncia que seria a razo ltima de todo bem moral.
Descobre-se hoje, diversamente, com a ameaa da aniquilao, no
digamos, pretensiosamente, da vida, mas da civilizao humana
conhecida, que o destino humano em nosso planeta pode no
apontar para fins to promissores. Nossa poca parece ser bastante
clarividente para perceber que o homem no um tutelado, mas
o nico a que se pode responsabilizar por seus prprios atos e,
assim, por seu destino. Para resguardar-nos de um desastre sem
volta, urge estabelecermos e sustentarmos uma nova relao
homem-mundo, to difcil de ser erigida quanto uma moral
universalmente compartilhada.
A perspectiva de uma catstrofe ambiental, na qual imerge o
gnero humano h meio sculo, torna universalmente pertinentes
Investigaes sobre
O Agir Humano
136
diversas interrogaes: qual a razo para tem-la, ou melhor, quais
seriam suas repercusses? Como enfrent-la? A rplica a esta ltima
questo requer pensar as suas dimenses, antes de apresentar
algumas linhas de resposta.
A esse respeito, o que se prope nesse texto menos uma
resposta que um esclarecimento de perspectivas sobre o estado em
que se encontra a questo ambiental: a humanidade entrou numa
nova era que requer um mnimo de lucidez e de iniciativa. Teria a
humanidade do sculo XXI a capacidade moral de assumir
coletivamente porque aes individuais isoladas so insuficientes
sacrifcios imensos a seu estilo de vida, que parecem ser a
condio imprescindvel para se resolver os problemas ecolgicos
mais graves? Sem dvida, ela capaz de encontrar energias para
organizar diversos projetos civilizatrios e humanitrios, mas parece
inapta quando se trata de conseguir resultados que abalem o seu
estilo de vida de imediato: a conservao da gua, a proteo das
espcies, a difuso das energias renovveis, etc. desconfortvel
pensar que o sonho da civilizao de consumo no possa ser mais
uma meta para as sociedades economicamente menos desenvolvidas
e no possa ser sustentado por aquelas que h dcadas dele gozam.
Mas, angustiante pensar nas consequncias da recusa de
sociedades inteiras em renunciar a seu estilo de vida atual em favor
da possibilidade de um futuro para as geraes que ho de vir.
O drama das catstrofes divulgadas diariamente pelos
noticirios parece emocionar, mas no foram ainda suficientes para
motivar uma resposta concreta altura. bem verdade que o
pnico no seria til. Se a opinio pblica chamada a concentrar
sua ateno sobre as questes ambientais e suas urgncias, precisa
resguardar-se do risco de deixar-se devastar pelo quadro em que se
projeta essa grave crise civilizatria.
Uma crise que no nova. poca da guerra fria, foram
desenvolvidos, pelo Instituto Max Plank, alguns estudos que
Investigaes sobre
O Agir Humano
137
colocavam em dvida a possibilidade de sobrevivncia da espcie
humana em caso de conflito
2
. Uma guerra atmica foi evitada a
todo custo. Todavia, a resposta historicamente dada pareceu ser
mais voltada para o reequilbrio constante de foras, para o
ditirambo se queres paz, prepara-te para a guerra, do que para
uma soluo real. O problema foi, ento, postergado, mas no
resolvido. A reproposio da discusso sobre a necessidade de
acordos, finalmente no compactuados, a respeito da diminuio da
emisso de gazes na atmosfera parece tomar o mesmo rumo. Mas,
diferente da poca da guerra fria, a corrida agora contra o tempo.
Nossos contemporneos parecem oscilar entre dois
comportamentos: um de resignao, de acordo com o qual o
indivduo se reconhece incapaz de modificar as evolues em ato e
se remete ao acaso ou s decises dos governos, sem envolvimento
pessoal, confortando-se ingenuamente com a ideia de que as
foras que ameaam destruir o planeta no completaro o seu
trabalho durante o percurso de sua vida; o outro de
responsabilidade, segundo o qual, consciente da amplitude dos
problemas, intenciona enfrentar o desafio que se coloca e contribuir
ativamente para sua soluo. De qualquer modo, compartilha-se a
certeza da impossibilidade de se postergar a deciso a ser tomada.
2. A AMPLITUDE DA QUESTO.
Quem aceita refletir sobre questes ambientais de maneira
racional e tica, no se encontra diante de uma tabula rasa. No
somente as Naes Unidas criaram uma agncia que se ocupa das
2
Vrias consideraes sobre o assunto encontram-se em ACCADEMIA
PONTIFICIA DELLE SCHIENZE, Colloquio, 1985.
Investigaes sobre
O Agir Humano
138
questes ambientais,
3
mas existem estudos, associaes e partidos
polticos que agrupam pessoas e ativistas que procuram enfocar a
importncia de uma ao imediata no voltada apenas para a
preservao de espcies, cujo desaparecimento comprometeria o
equilbrio ecolgico, mas mais amplamente para a preservao de
nossa prpria espcie. Especial ateno dada pelos movimentos
ecolgicos a pesquisas nucleares e aos perigos ligados ao
aquecimento global, que se vinculam, segundo vrios estudos, s
emisses de gazes poluentes na atmosfera.
Em todo caso, os problemas ambientais no so somente
tcnicos. No se trata apenas de criar tecnologias ecolgicas, mas
de mudar um amplo estilo de vida. As questes ecolgicas colocam
contemporaneidade o desafio de assumir um novo tipo de
responsabilidade, para fazer com que o uso pacfico do progresso
cientfico esteja a servio da coletividade humana e no apenas de
interesses econmicos imediatos. Utilizaremos de trs consideraes
para vislumbrar a vastido dos desafios a serem enfrentados nessa
empreitada.
2.1. A dimenso do cosmo e a desconfiana moral.
Nos ltimos sculos, as cincias conheceram um
desenvolvimento espetacular. Ainda durante o Renascimento, os
estudiosos discutiam sobre a natureza do sistema solar: para alguns,
como Tycho Brah (1546-1601), a terra era imvel e o sol se
deslocava no espao. Essa opinio, comum na poca, era sustentada
pelas grandes religies monotestas, especialmente pelo Judasmo e
3
As naes unidas adotaram em 1972 um Programa para o Ambiente,
cuja sede Nairobi. Uma Convention on international trade in endangered species of wild
fauna and flora, foi adotada em 1973. Tantos outros instrumentos foram adotados
em seguida.
Investigaes sobre
O Agir Humano
139
Cristianismo, sobre a base da autoridade da fsica de Aristteles e de
certas interpretaes de trechos do Livro do Gnesis. Para outros, que
seguiam Coprnico (1473-1543), Kepler (1571-1630) e Galileu
Galilei (1564-1642), os planetas e, portanto, tambm a terra,
giravam em torno do sol e possuam um movimento rotatrio em
torno do seu eixo. A disputa entre estes dois modos de
compreender ser resolvida muito lentamente.
Espritos srios e notoriamente sbios, como o astrnomo e
fsico Boscovitch (1711-1787) e o filsofo dAlembert (1717-1783),
tinham opinies que hoje pareceriam ridculas. Certa vez, durante
um jantar, algum objetou a Boscovitch, que alm de cientista era
padre, que a cronologia bblica no correspondia realidade, dado
que foram descobertas algumas estrelas cuja luz levava mais de
quatro mil anos para chegar terra. Ele respondeu que nada
impedia a Deus de ter criado simultaneamente a terra, as estrelas e
os raios que permitiam naquele momento de v-las. Direcionando-
se para dAlembert, o interlocutor ento lhe perguntou o que
pensava sobre esta explicao e este lhe respondeu evidente
(JOBLIN, 2008, p. 580).
A opinio de Boscovitch nos parece hoje de um infantilismo
surpreendente, mas provm de um dos mais iluminados espritos
cientficos da sua poca. O mundo, considerado como realidade
fsica se dizia , no poderia ter sido construdo sem um
arquiteto, exatamente como no era possvel pensar que um edifcio
pudesse despontar da terra como em um milagre. Para Boscovitch,
como para a maior parte dos seus contemporneos, o acordo entre
razo e ensinamentos da religio pareciam evidentes para usar
a expresso de dAlembert. Hoje este modo de raciocinar foi
definitivamente abolido por vrias descobertas cientficas realizadas
em campo astronmico.
A transformao das representaes csmicas est entre as
maiores revolues de nossa poca. Dando um imenso salto de
Investigaes sobre
O Agir Humano
140
Coprnico, Kleper e Galileu at o sculo XX, basta dizer que em
1929, Hubble tinha demonstrado que o universo no era uma
entidade fixa, mas se expandia e as galxias se distanciavam umas
das outras. O estudo do grau de expanso implicava que,
originalmente, o universo fosse concentrado em um ponto e da
uma corroborao teoria do chamado big bang, proposta por outro
padre, Georges Lemaitre (1894-1966). Compreendeu-se, ento, que
o mundo fosse formado por meio de uma sucesso de fenmenos
fsicos e qumicos, que a astronomia permitia finalmente observar.
Este processo, iniciado h bilhes de anos, dera lugar formao de
galxias, cujas dimenses no tinham nada a ver com as noes de
espao e tempo da nossa experincia quotidiana.
Quando as primeiras formas microscpicas de vida
apareceram sobre a terra, a cerca de 3,6 bilhes de anos, esta j tinha
uma idade de mais de 1 bilho de anos; quanto ao esprito
humano, este seria consequncia de um processo de complexidade
crescente de ordem qumica no universo em expanso (MASANI,
1996, p. 113).
Ora, embora a cincia positiva no se arrisque em
afirmaes que ultrapassem o estado primordial do universo, ligado
ao momento inicial do big bang, suas explicaes se dissociam
daquelas tradicionalmente sustentadas at o renascimento,
especialmente ligadas s narrativas do Livro do Gnesis. A
consequncia dessa reviravolta no s foi o enfraquecimento da
crena de que as Sagradas Escrituras pudessem conter ensinamentos
cientfico-positivos, como tambm daquela outra de que os
ensinamentos morais, at ento sustentados em virtude de uma
forte cultura religiosa e da tica aristotlico-escolstica, pudessem
ter uma base slida. Em suma, contestada a autoridade cientfica
da f e da fsica aristotlica , tambm foi contestada sua
autoridade moral da Igreja e, de tabela, de Aristteles e,
assim, a prpria consistncia dos valores cristos (SOUZA, 2005).
Investigaes sobre
O Agir Humano
141
No de se admirar que o acordo moral, antes to natural, a partir
de ento se fizesse difcil, mais acentuadamente no mbito das
academias.
Que consequncias isso poderia acarretar? No s a
dissociao entre cincia e moral, como tambm sobre o acordo em
relao a princpios morais pela lacuna em seus fundamentos
e, assim, a respeito de estilos de vida.
2.2. A energia atmica e a necessidade da concrdia.
No intervalo entre as duas grandes guerras mundiais, o
progresso da pesquisa cientfica permitira a alguns especialistas
descobrir que o aproveitamento de energia nuclear era possvel. A
respeito dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki (1945), a
notcia do fim da guerra comprometeu a discusso sobre a
legitimidade do uso dessa tecnologia e sobre suas consequncias
para a humanidade. At ento, ainda no havia sido colocado com
tanta concretude o problema dos novos poderes que o homem era
capaz de exercer sobre a natureza.
Uma das primeiras reflexes sobre as consequncias para o
homem da tecnologia atmica foi realizada pelo Padre Teilhard de
Chardin. Ele publicou na Revista Les Etudes uma reflexo a
propsito das repercusses sobre o homem da era da arma atmica.
Comeou celebrando a clarividncia de uma revista americana
que em 18 de agosto de 1945 escrevera somente uma energia
poltica direta realizao de uma estrutura universal capaz de
equilibrar no mundo o aparecimento de foras atmicas. Ele fez
notar que na poca atmica as condies completamente novas, as
foras devastadoras que se colocavam ao alcance das mos humanas
exigiam um comprometimento poltico universal em relao
concrdia e paz:
Investigaes sobre
O Agir Humano
142
O homem (...) at agora se servia da matria. Chegou o
momento de manejar os compostos, ordenando a gnese
mesma da matria. Energias assim profundas capazes de
tornar possvel reproduzir ao seu bel prazer aquilo que
parecia domnio exclusivo das potncias siderais. Energias
to potentes, que preciso pensar duas vezes antes de
permitir um gesto que poderia jogar para o espao a terra.
Como no nos sentir exaltados, (...) diante deste
processo? (CHARDIN, 1946, p. 89).
Em suma, as pesquisas que se desenvolveram em torno da
gerao e aproveitamento da energia atmica corroboraram ainda
mais a crena de que era possvel descobrir e controlar as foras
mais primordiais do universo, responsveis pela prpria composio
da matria. Evidentemente, esse aumento de poder, como advertia
Chardin, no poderia se furtar ao aumento de responsabilidade,
tornando urgente uma discusso sobre novas bases ticas e polticas
universalmente compartilhadas.
O caso especfico das descobertas em torno da energia
nuclear nos d, assim, um exemplo claro do duplo ponto de vista,
sempre prospectivo (voltado para o futuro), que dever marcar as
discusses sobre o desenvolvimento da cincia a partir de ento: por
um lado, cientfico-moral, porque, depois de ter constatado que os
avanos cientficos colocam nas mos do homem um poder
extraordinrio, as sociedades devero interrogar-se sobre a
responsabilidade moral do seu uso; o outro poltico-moral, porque
devem ser tomadas decises a respeito do modo como as naes
investiro em tecnologia e modos de vida ligados ao uso dessas
tecnologias, no interesse ou no da maioria e em benefcio ou no
das geraes futuras.
Investigaes sobre
O Agir Humano
143
2.3 As biotecnologias e os princpios gerais de conduta em
pesquisas.
As consideraes precedentes mostram, de uma parte, a
imensa influncia dos produtos do engenho humano sobre o futuro
de nossa existncia; de outra parte, que nos parece evidente que
temos o poder de modificar nosso destino e o de nosso planeta e,
assim, de que temos de assumir a responsabilidade de faz-lo. o
que ocorre tambm no campo das transformaes da medicina e
das biotecnologias.
Por milnios, a vida apareceu como uma realidade sobre a
qual o homem no tinha poder. Podia curar a dor, favorecer com as
curas a recuperao ou suprimir a vida. Mas, a sua natureza ou o
conhecimento ntimo de seus processos lhe escapava. Agora, a vida
cai progressivamente sob o poder do homem.
Um monge austraco, Mendel (1822-1884), mostrando que a
transmisso dos caracteres hereditrios dos seres viventes obedecia
a leis inscritas na sua prpria natureza (aquilo que hoje chamamos
patrimnio gentico) deu via a uma verdadeira e prpri a revoluo.
Ele levou adiante experimentaes sobre vegetais, mais
especificamente sobre ervilhas: cruzou-as, realizando um
procedimento comum na prtica agrcola e pecuria de seu tempo,
para obteno de plantas e animais melhorados, mas com uma
inteno diferente. Constatou que a transmisso de caracteres, como
forma e cor, obedecia a leis especficas e as enunciou. Foram
chamadas leis de Mendel. Nasce da a gentica.
As descobertas sucessivas permitiram agir sobre
mecanismos da hereditariedade, a ponto de modific-los. E, desse
modo, no s a evoluo do universo ou a matria eram
colonizados pela cincia positiva, como tambm a vida. Tambm
nesse mbito tecnologias foram desenvolvidas. O aparecimento das
chamadas biotecnologias obrigou o homem contemporneo a
Investigaes sobre
O Agir Humano
144
deparar-se com um certo nmero de questes que no se colocavam
s geraes precedentes: lcito modificar o percurso da vida
recorrendo s biotecnologias? Algumas intervenes sobre o ser
vivente podem modificar os caracteres hereditrios. At que ponto
tais experimentos podem ser aplicados ao homem? Podem ser
criados homens programados para realizar determinadas funes?
Em qual medida um estado pode adotar leis que impliquem a
esterilizao de deficientes mentais ou criminosos sexuais, com a
finalidade de impedir, respectivamente, a transmisso de
caractersticas hereditrias indesejveis e a reincidncia de crimes
particularmente graves? Em que medida pode ser pesquisado o
melhoramento gentico do homem, assim como acontece no caso
dos animais e dos vegetais, recorrendo-se inseminao artificial ou
manipulao gentica? O progresso da pesquisa o nico critrio
para julgar a oportunidade e a legitimidade de um experi mento?
Como julgar as experimentaes conduzidas sobre neonatos ou
crianas incapazes de compreender os tratamentos a que so
submetidos? Que juzo emitir sobre as experimentaes em
embries? Que implicaes h na produo de tecidos e rgos
humanos substitutos? E o que pensar da clonagem teraputica ou
reprodutiva? O comrcio de tecidos e rgos para transplante pode
ser autorizado, com o risco de abusos sobre seres indefesos? At
que ponto tal comrcio pode ser regulamentado pela lei?
Evidentemente, as respostas a tais questes no so simples
e o que concretamente foi realizado a esse respeito o foi com
grande custo.
No final da segunda guerra mundial, a humanidade
estremeceu ao tomar conhecimento de prticas abusivas em
experimentaes cientficas realizadas em seres humanos. Tambm
em resposta a isso, o Tribunal Internacional de Nuremberg, criado
em 1945 para julgar os crimes de guerra dos nazistas, enunciou trs
Investigaes sobre
O Agir Humano
145
princpios que toda regulamentao poltica sobre o assunto deveria
respeitar:
1 O princpio de utilidade, isto , a experimentao deve ter
como objetivo a soluo de um problema de sade do paciente ou
da humanidade;
2 O princpio da inocncia, isto , a experimentao no deve
produzir a morte do paciente, provocar dano sua sade ou
atorment-lo com uma enfermidade permanente;
3 O princpio do livre consentimento do sujeito, isto , este
dever dar o consentimento antes de comear a experimentao e
para prossegui-la porque lhe dever ser garantida a possibilidade de
voltar atrs em qualquer momento.
Estes trs princpios estabelecem que a pesquisa cientfica s
lcita se respeita a igualdade fundamental dos seres humanos no
gozo do direito de buscar o seu desenvolvimento material e o seu
progresso espiritual, com igualdade de oportunidade. Mas,
concretamente, so orientaes gerais, em relao as quais os
estados nacionais no se encontram necessariamente vinculados.
No obstante, servem de modelo e de teste a respeito do alcance e
dos limites para se pensar j nas implicaes de princpios mnimos,
universalmente compartilhados.
3. RESPOSTAS AOS DESAFIOS POSTOS PELA CINCIA.
3.1. A dvida.
Uma adequada elucidao da experincia direta do passado
permite determinar aquilo que pode ser justo em funo dos efeitos
futuros previstos. Torna-se difcil decidir o que bom para o
homem na ausncia de um juzo dos efeitos positivos ou negativos
Investigaes sobre
O Agir Humano
146
de tais iniciativas. Mas, isso no parece ainda suficiente. Que
parmetro utilizar para julgar o que positivo ou negativo?
A diversidade das culturas parece explicar a diversidade de
opinies sobre princpios basilares. Mas, at que ponto uma nao
poderia ser livre para respeitar ou no determinados limites
comportamentais apoiada em razes culturais? Basta lembrar o
testemunho dado pela histria de vrios genocdios do sculo
passado. Estes pareceram plenamente justificados para aqueles que
os ordenavam, a partir do momento que se integravam na lgica do
seu sistema de valores. A conciliao de pontos de vista nem
sempre compromete a paz coletiva da humanidade. Mas, e nos
casos em que isso ocorra, como proceder?
A resposta a essa questo no simplesmente: na busca da
verdade. O pluralismo e autonomia dos estados nacionais e da
sociedade internacional torna difcil conciliar pontos de vista
opostos, porque uma mesma verdade no mais aceita
universalmente. A razo carece de um ponto de apoio. Ora, as
consequncias desse estado de coisas possui uma relevncia
incontestvel quanto o assunto so questes ambientais.
3.2. Busca de uma bssola.
A questo ambiental no se limita simplesmente deciso
sobre se queremos salvaguardar ou menos as riquezas naturais do
planeta, mas engloba a questo sobre se queremos salvaguardar
nossa prpria espcie. O sentido da questo ambiental liga-se, assim,
ao sentido de nossa prpria existncia. exatamente este sentido
que est em crise e tal crise particularmente aguda nos pases
ocidentais.
Certamente, a maioria dos seres humanos est convencida
de que nem toda forma de progresso seja lcita e que, para o bem da
Investigaes sobre
O Agir Humano
147
humanidade, devam ser aplicadas regulamentaes. O problema
estar em como pactu-las universalmente. A resposta no foi ainda
construda. No obstante, algumas certezas permitem indicar
pontos incontestes no caminho para uma resposta:
1. A neutralidade no possvel diante dos problemas
ambientais. J que o homem no pode impedir-se de
organizar a explorao e o desenvolvimento do planeta,
deve decidir-se como faz-lo.
2. Alm de uma deciso, necessrio passar da inteno
moral ao, porque a soluo dos problemas
ambientais no pode ser postergada.
3. O parmetro de deciso deve levar em conta tanto
interesses individuais, quanto queles coletivos; tanto
aes individuais, quanto decises polticas coletivas.
4. No h como pensar em parmetros de deciso, sem
pensar em um sentido global atribuvel existncia
humana, porque ou todos nos ajudamos ou todos
fracassaremos.
4. CONSIDERAES FINAIS.
Os problemas levantados pelas questes ambientais se
tornaram tais que j no possvel ao homem resolv-las sem
refletir sobre o seu prprio destino. Descobrindo que seu estilo de
vida influi nas transformaes do mundo, no pode fingir no
existir uma correlao entre o destino ambiental e seu prprio
destino. O seu empenho nas questes ambientais reveste uma dupla
dimenso: uma de ordem interna, de compromisso pessoal com as
questes a suscitadas e suas possveis solues; a outra de ordem
externa, poltica, no sentido grego, de favorecimento da discusso e
Investigaes sobre
O Agir Humano
148
da assuno de aes concretas a respeito de estilos gerais de vida e
suas consequncias, inclusive estilos futuros.
Compreende-se a angstia que pode provar o homem do
sculo XXI ao ter necessariamente que assumir o desafio inusitado
da mudana de seu modo de vida, que, conservado como tal,
colocaria em cheque a prpria possibilidade de sua subsistncia
como espcie no mundo. O cerne da questo, porm, continua
sendo a mesma de sempre: qual o sentido da vida humana e de
nosso destino? Teremos a coragem de nos unirmos para que a
humanidade tenha um futuro?
REFERNCIAS
CHARDIN, T. Fenmeno Humano. So Paulo: Cultrix, 1986.
_______. Quelques reflxions sur le retentissement spirituel de la bombe
atomique. In: tudes VII (1946).
_______. Hino do Universo. So Paulo: Paulus, 1994.
_______. O lugar do homem no universo. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
JAKI, S. La cristologia e lorigine della scienza moderna. Milano, Mondatori,
1990.
JOBLIN, J. Les glises aux prises avec la scularisation. In: Gregorianum,
89/3 (2008), p. 577-593.
MASANI, A. La cosmologia nella storia fra scienza, religione e filosofia. Brescia,
La Scuola 1996.
Investigaes sobre
O Agir Humano
149
TANZELLA-NITTI, G. Visione realista delluniverso e teologia della
creazione. In: Giornale di Astronomia 25 (1999), p. 14-20.
ROYER, J. I tempi in astronomie e in astrofisica. Milano, Jacob, 2007.
SALVINI, G.P. Laqua, bene indispensabile ma ancora non disponibile
per tutti. In: Civilt Cattolica II (2007), p. 354-364.
SOUZA, G. G. M. Razo e Nihilismo. Rio de Janeiro, Letra Capital,
2005.
7
A IDEIA DO CAPITALISMO ESTTICO: DO
FETICHISMO DA MERCADORIA EXPLORAO DO
SENSRIO
Elder Lacerda Queiroz
1
O capitalismo pode no apenas ser destrutivo, pelo
contrrio, ele tambm essencialmente distrativo (Noam
Chomsky).
A liberdade de mercado consiste em nos permitir aceitar
os preos que nos so impostos (Eduardo Galeano).
O capitalismo no apenas um sistema de fabricao de
mercadorias, mas tambm de desejos, um regime de desejo.
Mercadorias so coisas imbudas de associaes estticas e prteses
de sentido que ultrapassam totalmente o seu mero valor utilitrio,
so coisas que, se abstradas do seu valor de uso, aparecem como
puros objetos de culto. Agora, a mercadoria s pode ser adorada
como fetiche e emergir como objeto de culto se sua apario
capaz de encobrir qualquer referncia aos processos sociais de
explorao implicados na sua fabricao. A virada esttica do
capitalismo nos deixa o desafio de entender e trazer luz as novas
formas de explorao. Ser que o conceito marxista tradicional de
explorao, depois da revoluo da microeletrnica e da plena
insero das sociedades contemporneas na era digital, ainda
permanece vlido e atual?
1
Doutorando em filosofia na Hochschule fr Grafik und Buchkunst,
em Leipzig (Alemanha), sob orientao do Prof. Christoph Trcke. professor
do departamento de filosofia da UERN (E-mail: elderla@hotmail.com).
Investigaes sobre
O Agir Humano
152
O capital aprendeu a expressar-se esteticamente. Categorias
estticas ocupam o cerne do sistema produtivo e so responsveis
por sua dinmica. A atratividade do consumo e sua destreza de se
tornar fascinante, no podem prescindir da arte e da beleza do
design. A estetizao aderiu ao capitalismo no como sua
indumentria, mas como sua pele (Trcke 2002, p. 9). Mas, trata-se
de uma esttica sem mpeto utpico. A esttica da mercadoria, a
demanda por belas formas, a produo do design, a sofisticao do
gosto, a padronizao da sensualidade humana, a hegemonia da
lgica da espetacularizao e da sensao, enfim, o esttico, a muito
se tornou, principalmente no domnio econmico, decisivo. No
em vo que A sociedade do espetculo, de Debord, publicada a
46 anos atrs, tenha notado que o espetculo o capital em tal grau
de acumulao que se torna imagem (Debord 2009, p. 27). Debord
iguala o espetculo ao capital. O capital o espetculo, no sentido
que o capital , fundamentalmente, a produo do espetculo
comercial de mercadorias. O espetculo o componente mais
decisivo na cadeia de produo de valor, por ser essencial
fabricao da demanda para a mercadoria, graas ao olhar social a
ela agregado. Assim, o espetculo representa nada mais do que o
prprio esprito do materialismo. O capital , simultaneamente o
que produz esse mundo visvel, mas tambm, o que se d a ver
nesse desfile de promessas e de esperanas de satisfao em torno
do universo da oferta de mercadoria. O famoso aforismo 34 da
Sociedade do Espetculo, de Debord, no recebe dele nenhum
esclarecimento posterior, mas latente, em seu texto, a ideia de que
o capital no apenas imagem, mas ele tambm aquilo que fala e
se d a compreender no espetculo. A primeira impresso que o
aforismo 35 deveria ter sido: o capital possui tambm linguagem e,
sendo assim, no demorou muito para que ele aprendesse a falar.
Nesse sentido, a fabricao da mercadoria, pressupe no s a
produo da imagem, mas tambm a enunciao de um sentido. ,
Investigaes sobre
O Agir Humano
153
justamente, essa procisso massiva de imagem e de prtese de
sentido que protagoniza o espetculo da oferta capitalista.
Nada se repete mais, em todo desse massivo fluxo de
imagens, do que o rosto humano. Este passou a desempenhar um
papel decisivo no mundo da mercadoria. Sua presena no mundo da
publicidade se d numa escala to assombrosa que, Thomas Macho,
no esforo de apreender teoricamente esse estado de coisas, chega a
lanar mo do conceito de civilizao facial (facialen Gesellschaft).
Ele lembra que basta sairmos de casa para sermos acompanhados,
em toda parte, por essa imagem to familiar, o rosto. Quer seja em
outdoors, ou em quaisquer outras plataformas publicitrias, rostos
nos interpelam, como se quisessem saber algo a nosso respeito,
como se quisessem nos dizer alguma coisa ou como se estivessem
prestes a nos revelar algum segredo. O uso instrumental do rosto,
parte de um motivo importante, o de no existir nada to familiar
quanto o rosto humano. Por isso, o rosto serve to bem como
mediador para facilitar a circulao da mercadoria. Sua presena
de tal modo essencial, no mundo da mercadoria, que T. Macho
sugere que j no o homem a medida de todas as coisas (Ma aller
Dinge), mas o rosto.
Ningum se arrisca a expor objeto algum em nenhum
cartaz, em nenhum outdoor ou a fazer nenhuma
propaganda, sem se valer do rosto humano. At mesmo
alguns produtos, aqueles que se dirigem a um comprador
que deseja certo anonimato, refletem, direto aos nossos
olhos, a expresso de jbilo e excitao de algum Modelo;
j outros produtos traro, at mesmo, um rosto gravado
em seu corpo, de srie. (Macho 2011, p. 263)
Assim, na civilizao facial, o rosto sobretudo um meio,
capaz de emprestar a coisa mercadoria certa familiaridade, ele
possibilita que essa coisa ganhe personalidade. Cabe lembrar que, no
Investigaes sobre
O Agir Humano
154
grego antigo, persona vinculava-se originariamente ao rosto.
Tratava-se de uma mscara, de expresso fixa, usada por atores no
teatro clssico. Macho fala ainda de Faciale Kompetenzen como uma
virtude que , cada vez mais, extensivamente exercitada numa
sociedade pautada e orientada pelo critrio da fama e da celebridade
(Macho 2011, p. 268). No mero acaso que a sociedade de
consumo tenha obsesso por imagens, aparncia, superfcies e
design.
Ele lembra, ainda, uma dcada depois de Christoph
Trcke, da frmula do Bispo George Berkeley, ser ser percebido,
Omne esse est percepi, To be is to be perceived, numa sociedade onde o
sensacional torna-se a condio da possibilidade da percepo, no ser
percebido significa, tanto em termos existenciais, como em termos
sociais, no ser. Da a presso de auto enunciao chamativa, por
trs da compulso emisso. Ou seja, a partir dessa lgica, no
deveria nos causar nenhuma surpresa que, no final de 2012, o
facebook j contasse com o nmero astronmico de mais de 250
bilhes de fotos carregadas.
Para Edgar Morin, a produo se exprime atravs do jornal,
do rdio, do filme, etc., pois, a partir da, so criadas narrativas,
histrias em que nascem as celebridades que se assemelham a heris
ou a semideuses mitolgicos e tornam-se vedetes do imaginrio
cinematogrfico, esportivo ou poltico, convertendo-se em modelos
no plano esttico e existencial, de modo que no s sua aparncia,
mas tambm seus modos de ser e estilos de vida, suas qualidades de
ser atraentes e de se tornarem fascinantes, so capazes de se impor e
de assumir um carter normativo, indo de encontro necessidade
de identificao e identidade, de orientao e projeo, dos
indivduos. Com isso, a fico da tela se confunde com a realidade e,
por meio da mmica, capaz de saltar da esfera da identificao para
a plano da identidade.
Investigaes sobre
O Agir Humano
155
Nesse sentido pode-se dizer que a produo dispara contra o
futuro e provvel consumidor, o tempo inteiro, na forma de
inundao de enunciados e de estmulos, mas, se, por um lado, a
produo fala, o consumidor, por outro, apenas escuta. Quer dizer,
no h dilogo entre produo e consumo, mas, manipulao na
forma de um monlogo. Diante do monlogo da oferta de
mercadorias e da produo de sentido, os indivduos so
convidados a participar, tendo o privilgio de poder responder com
sinais pavlovianos: sim ou no ou ainda apontar para esse ou aquele,
como j o havia percebido E. Morin. Ou seja, o pblico participa,
da procisso das mercadorias e de suas prteses de sentido, na
condio de espectador.
Todavia, a lgica do espetacular e do sensacional,
caracterstica de uma sociedade que atualiza constantemente sua
capacidade tcnica, permeia essa imprio da oferta de mercadorias.
Tal lgica no s exige uma densa transformao dos padres de
percepo e da capacidade de ateno, assim como das formas de
expresso, comunicao e relao. A esta nova sociedade, Debord
chama de sociedade do espetculo, uma vez que o espetculo e sua
lgica sensacional tornam-se o foco e modus operandi de uma
sociedade inteira. Para Christoph Trcke, na mesma direo de
Debord, essa tendncia a espetacularizao to pouco evitvel
quanto a inovao tcnica permanente (Trcke 2002, p. 11). A
lgica da espetacularizo total, pois ela abrange tudo, nenhuma
grande ao pode prescindir do trabalho de instrumentao
miditico. A lgica da mercadoria predomina sobre as constantes
modificaes e aperfeioamentos dos recursos do espetculo.
Assim, h uma poltica espetculo, h eleies-espetculo, h uma
espetacularizao da crise financeira, uma medicina-espetculo, uma
justia-espetculo, uma guerra-espetculo, uma ao espetacular de
combate ao crime, h uma astrofsica-espetculo, o protesto
espetculo, nem mesmo a crtica e aes que se pretendem firmar
Investigaes sobre
O Agir Humano
156
como contrafogo ao regime do capital conseguem esquivar-se do
paradigma do espetacular: Slavoj Zizek e Greenpeace h muito
subsumiram ao padro espetacular. Pois, da prpria natureza da
publicidade chamar ateno e influenciar. No chamar ateno, no
provocar sensao e no ser espetacular garantir a morte em
termos sociais.
Se a mxima de Berkeley, ser ser percebido, verdadeira,
no menos verdadeiro que numa era de superabundncia de
estmulos audiovisuais, de apelos chamativos, a ateno mesma se
torne um recurso bastante escasso. O que no chamativo no
apenas no prende a ateno, como corre o risco de nem mesmo ser
percebido. Assim, na lgica do sensacional e do espetacular, a
produo de curtas narrativas impactantes e de alta densidade,
apoiada na intensa associao de imagem ao som e do som a
imagem, desempenha a funo de criar um design mental, uma
espcie de arranjo mental (Mentale Gestaltung) para a mercadoria, um
capacete audiovisual para amplificar a experincia psicolgica, o que
facilita o processo de identificao e projeo, de modo que adquirir
coisas seja uma atividade muito mais situada no campo da paixo e
da fantasia do que da necessidade.
Na sociedade do espetculo, ningum est imune ao
imperativo da espetacularizao, a compulso emisso e
autoenunciao sensacional, nem mesmo quem apenas puro
espectador. Pois se ser ser percebido, o que no sensacional, o
que no chama ateno, no percebido, o que no percebido no
existe, no tem ser. Ou seja, no ser percebido significa, no sentido
da psicologia social, no estar-a
2
(Dasein). O que no chama
ateno e no provoca sensao nulo, imperceptvel e sem valor,
ou melhor, nem . O que bom, o que carrega em si relevncia,
tambm capaz de chamar ateno, de aparecer. O que bom o
2
Em alemo Dasein tambm significa existncia.
Investigaes sobre
O Agir Humano
157
que , tambm, chamativo. Com isso, cada um sente a presso
orientadora das normas da sociedade da sensao. O imperativo da
espetacularizao irriga o imaginrio a partir do qual os indivduos
se orientam na vida real.
O processo de produo de mercadorias implica a produo
do design mental (Mentale Gestaltung), termo j a muito usado pela
indstria publicitria alem. Nesse sentido, a mercadoria, no
capitalismo atual, , sobretudo, um bem imaterial a ser consumido
esteticamente. Dirigentes de grandes corporaes, a muito, j
perceberam isso. Naomi Klein cita, em seu No Logo, uma fala,
extremamente significativa, de um dos diretores e CEO da Nike: a
nike no apenas uma marca de tnis esportivos, mas antes uma
ideia de transcendncia atravs do esporte (Klein 2010, p. XVII).
Mercadorias podem em muitos aspectos facilitar a vida cotidiana,
contudo, a promessa de transcendncia contida num anncio de um
par de tnis, criada no jogo de simulao miditica do marketing,
no mais do que o resultado da fabricao esttica do consumo.
Ou seja, a pesquisa esttica ocupar um papel determinante no
processo de produo de mercadorias. A fabricao de valores
estticos de ordem imaterial, de pequenas prteses de sentido, tem
peso mais decisivo, em relao a determinao de seu valor de troca
e da determinao de sua demanda do que a produo do substrato
fsico e material da mercadoria
3
. A beleza, aqui em questo, por um
lado, diz respeito bela aparncia da mercadoria, no s enquanto
sua manifestao sensvel mas tambm no plano suprassensvel,
enquanto design mental fabricado, cuja funo assegurar a
elevao do valor de troca.
No capitalismo ps-industrial, ou seja, o capitalismo
enquanto sistema pensado a partir da revoluo microeletrnica, a
3
Oportuno lembrar que o termo esttica, em grego significa,
originariamente, sensao ou percepo.
Investigaes sobre
O Agir Humano
158
produo em massa passou a no mais ter necessidade de empregar
trabalho em massa. Como no h mais nenhum grande exrcito de
trabalhados na ativa, perde tambm completamente o sentido falar-
se em exrcito industrial de reserva, pois o que se estabilizou no
foi o trabalho, mas o desemprego e a desocupao estrutural. Isso
se deu, em virtude do desenvolvimento de tecnologias
compressoras de tempo e trabalho (o que Daniel Bell apelidou de
labor saving devices). A racionalizao da organizao da produo
(o que implica tambm automao) e da produo em srie, que no
mais necessita do trabalho em massa, foram fatores igualmente
importantes, como Andr Gorz e Robert Kurz (ver Kurz 1999, p
13-25), h pelo menos mais de duas dcadas, j haviam percebido.
Zigmunt Bauman, por sua vez, percebera que o progresso
tecnolgico chegara a um ponto dramtico onde a produtividade
cresce proporcional ao decrscimo da necessidade de mo de obra,
exatamente o contrrio do que acontecia nas sociedade industriais,
onde o aumento da produo exigia simultnea ampliao do
nmero de empregados. O que h muito deixou de ser o caso.
A tica da sociedade de trabalho a tica onde o trabalho
abstrato torna-se finalidade em si mesmo, onde o trabalho
encarado como uma atividade que traz consigo o seu prprio valor,
onde o trabalho pensado como possuidor de uma essncia supra-
histrica, cujos fins transcendem as necessidades humanas e cujo
sumo bem a aquisio e acumulao, ad eternidade, de dinheiro e
riquezas. Se o mecanicismo moderno via no s o mundo, mas
tambm o corpo humano como uma mquina (mecane), ento, no
nenhum acaso que a sociedade seja vista como no mais do que
uma gigantesca mquina de trabalho. O desenvolvimento dessa tica
tem efeito prtico imprescindvel para a transformao, gradual, dos
hbitos e da mentalidade do homem medieval, de modo a imprimir
nele indispensveis normas de obedincia e facilitar a aceitao de
sua submisso abstrao do trabalho. A tica da motivao
Investigaes sobre
O Agir Humano
159
fetichista em nome da submisso ao trabalho abstrato , apenas, o
outro lado da moeda de um sistema de explorao econmica
abstrata, em que todo processo vital social e individual assim
submetido banalidade terrvel do dinheiro e de seu
automovimento tautolgico (Kurz 1999, p 24).
No capitalismo da era industrial os membros da sociedade
eram, antes de tudo, produtores-provedores-trabalhadores. A
sociedade industrial engajava seus membros, acima de tudo, na
condio de produtores e soldados. Numa sociedade sem grande
necessidade de mo de obra e de grandes exrcitos, os indivduos
so engajados numa outra condio, na condio de consumidores
(Bauman 2012, cap. 4). Esse o papel que o sistema econmico
espera que ele desempenhe. Ou seja, a sociedade industrial se erigiu
sobre a centralidade do trabalho e da produo. No devemos
olvidar o fato de que, a era industrial produziu duas grandes guerras
mundiais, alm de tambm ter produzido dois sistemas econmicos
que, apesar de rivais, tinham o mesmo ethos do trabalho abstrato e
nutriam a mesma idolatria fetichista do maior e mais intenso
dispndio possvel de fora de trabalho, alm das necessidades
concretas subjetivamente perceptveis (Kurz 1999, p. 18).
Essa mudana de uma sociedade, cuja prioridade quanto ao
papel a ser desempenhado pelos seus membros era a produo, para
uma sociedade cuja primazia o consumo, trouxe consequncias
sociais e culturais profundas. Samos de uma modelo de sociedade
centrada na tica do trabalho para um outro modelo social, agora,
centrado na esttica do consumo (Bauman, 2004), onde a produo
de bens imateriais e de valores estticos passam a desempenhar
papel central. A esttica do consumo a esttica da simulao de
mdias que vai da desmaterializao da realidade, onde o mundo se
deixa manipular como jogo digital, at a estetizao da prpria
estrutura capitalista.
Investigaes sobre
O Agir Humano
160
Esse enraizamento da lgica sensacional de mercado na
esfera da vida cotidiana molda e condiciona decisivamente a
estrutura da percepo e o horizonte de ideao, de modo que a
subjetividade, nesse contexto, mais se assemelha a um mero
reservatrio econmico (Kurz 1999, p. 1-7). O ser-chamativo e o
produzir sensao no so apenas critrios de uma publicidade
eficiente, mas so tambm indicadores de competncia lingustica.
Ou seja, em contextos altamente concorrenciais, ningum mai s
consegue fugir lgica da espetacularizao.
Do ponto de vista jornalstico, essa nova lgica h muito j
se tornou evidente. Desse modo, se um texto no chama ateno
sobre si; se um orador que no tem habilidade de produzir sensao,
de prender a ateno, ento ambos no so bons. Lembremos
que, nesse novo contexto cultural, ser bom e produzir sensao so,
pode-se dizer, sinnimos. Christoph Trcke, por sinal, usa o termo
paradigma da sensao, o qual ele toma como ponto de partida do
atual panorama das sociedades contemporneas. As sensaes
esto a ponto de se tornar as marcas de orientao e as batidas de
pulso da vida social como um todo (Trcke 2010, p. 14).
A mercadoria por princpio um objeto altamente
socializado. A memria coletiva a matria prima com a qual se
constri o invlucro simblico e a significao social da mercadoria.
A fabricao de imagens, a evocao de sentimentos e emoes em
torno das mercadorias formam a base a partir da qual podemos
compreender a origem da paixo de aquisio. Quando a produo
da marca da mercadoria, atravs do branding, e a criao de uma
proposio de sentido para a mercadoria tornam-se mais decisivas
do que a sua produo material, no teria, com isso, o eixo da
explorao mudado de lugar? A explorao da capacidade e
disposio humana para o trabalho, no capitalismo da era digital,
no est mais relacionada imaginao humana para o consumo?
Afinal, no se dispe mais dos recursos humanos com o uso da
Investigaes sobre
O Agir Humano
161
fora bruta. Qual relao h entre a fabricao de valores estticos
e a explorao? Qual o alcance, em termos sociais, da lgica da
espetacularizao e da sensao?
1. A DISTRAO ENQUANTO FENMENO DE
EXPLORAO.
A palavra portuguesa distrair vem do latim distringere, que
significa ocupar(-se) em muitas coisas ou em muitos lugares, dividir,
tirar fora a concentrao, fazer perder o foco em uma nica coisa. A
distrao passa a ser tema da economia poltica e da crtica da
cultura, em virtude da funo social e poltica por ela desempenhada
e do poder de manipulao e disperso a ela inerentes. Noam
Chomsky, em entrevista, analisa a estratgia
4
da distrao nas
modernas democracias miditicas como o elemento primordial do
controle social, cuja funo fundamental consiste em desviar a
ateno do pblico dos problemas importantes e das mudanas
decididas, mediante a tcnica do dilvio ou inundaes de
contnuas distraes e de informaes insignificantes.
5
A esse
dilvio estratgico de informaes, Christoph Trcke chama de
penria por abundncia. Chomsky ressalta ainda que a estratgia da
distrao tambm imprescindvel se se deseja fazer o pblico
perder o foco dos conhecimentos essenciais na economia, poltica e
tantas outras cincias fundamentais. Manter a ateno do pblico
distrada, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por
temas sem importncia real
6
. No brasil, em agosto de 2013, mais
4
A distrao seria a primeira, de dez, estratgias de manipulao
miditica.
5
Disponvel, tambm, em:
http://www.institutojoaogoulart.org.br/noticia.php?id=1861
6
Idem.
Investigaes sobre
O Agir Humano
162
de 127 milhes de pessoas, mais de 5 vezes a populao da
Austrlia, votaram no ltimo paredo do big brother, ao passo que
apenas um pouco mais de um milho de assinaturas foram colhidas
para pedir e pressionar o impeachment do senador Renam Calheiros.
Em quase todas as cidades modernas, a quantidade de
estmulos visuais e apelos publicitrios que cada indivduo est
exposto, num nico dia, incomparavelmente maior do que a
quantidade de estmulos publicitrios que nossos bisavs receberam
ao longo de suas vidas. No por acaso cada vez mais crescente o
nmero de jovens, da gerao fingerprint, que so diagnosticados de
dficit de ateno e hiperatividade, para no falar de um diagnstico
de apelido ainda mais chamativo: demncia digital termo
utilizado por mdicos da Coria do Sul para classificar jovens com
distrbios crnicos de memria, ateno, concentrao, frieza
emocional e insensibilidade (Spitzer 2013, p.11). Jovens portadores
desses males tm algumas caractersticas em comum, como p. ex.,
impacincia, extrema dificuldade de se deter em algo, perdendo
rapidamente o interesse, facilidade de se entediar, tendncia a
disperso, dificuldade de memorizao e anlise, so facilmente
instigveis e, via de regra, impetuosos. A que se deve isso? O que
explica o fato de que globalmente geraes inteiras,
progressivamente regridam quanto a sua capacidade de
concentrao?
A fim de esclarecer o surgimento, pela primeira vez, na
histria, de um novo regime de concentrao que, ao mesmo tempo
em que nos faz prestar ateno, destri a compreenso, C. Trcke
lanou mo do conceito de distrao-concentrada (Konzentrierte
Zerstreuung)
7
. Esse fenmeno est associado exposio, por horas
7
"Das Problem ist die konzentrierte Zerstreuung: Das Regime. In
groen Filmen feiert es seine Sternstunden. In den Niederungen des Alltags
nimmt die Rckannherung der Vorstellung an die Halluzination die Gestalt von
Jammer und Elend an. Davon zeugen die ADHS-Kinder. Je mehr es sie zu
Investigaes sobre
O Agir Humano
163
ininterruptas e em doses de larga escala, aos choques visuais
(Bildschocks
8
) de displays. Mesmo o que ficou de residual, depois de
horas zapeando em ambientes virtuais, no consegue ser guardado
por muito tempo e precisa desaparecer, em passo acelerado, no
fluxo de novos estmulos a serem abrigados. No final, no h
qualquer sntese. Pelo contrrio, o que fica no mais do que uma
lembrana vaga daquilo que, no influxo contnuo dos choques
audiovisuais, nos fez estarrecer. O meio virtual tem, assim,
considerando seus efeitos, as caractersticas de uma droga. Pois so
no apenas viciantes, como tambm so agentes produtores de
dissociao e disperso. Nesse sentido, dando um passo frente,
poderamos dizer que o aleatrio transformara- se em princpio
rigoroso do agir humano. Na verdade, Adorno j havia percebido,
e apontado, em sua Mnima Moralia, que esse princpio se tornara
obrigatrio na arte contempornea e na msica informal. Assim,
vamos, gradativamente, mergulhando numa cultura de dficit de
ateno. O dficit de ateno implica alto grau de disperso e
dissociao. Quem sofre de dficit de ateno no se detm seno
Fernseher und Computer zieht, desto mehr reduzieren sich ihre Vorstellungen
auf bloe Wurmfortstze dessen, was sie gerade erleben und wnschen. Und
indem sie sich diesem Hier-Jetzt berlassen und darin um so besser versinken
knnen, je unruhiger es flimmert und zuckt, nhern sie sich einer neuen Art des
Tagtrumens an - nicht jenem beschaulichen, in das ein gedankenverlorenes
Sinnieren bergeht, wenn seine Vorstellungen zu Bildern absinken und fr
Momente halluzinatorische Plastizitt gewinnen, sondern einem hektischen,
worin Traum- und Wachzustand so ineinanderrutschen, da die Betroffenen
weder mehr intensiv trumen noch zur Strukturiertheit wachen Verhaltens
gelangen. Wo der mentale Vorstellungsraum, also der innere Wachraum, kein
nennenswertes Volumen mehr gewinnt, gewinnt auch der Traumraum keines
mehr. Er vertieft sich nicht mehr zum mentalen back office, wo die Tagesreste,
die das Wachbewutsein unverarbeitet gelassen hat, nachbearbeitet werden, so
da etwas stattfinden kann, was das menschliche Nervensystem nicht minder
braucht als den Schlaf: das mentale Nachsitzen." [C. Trcke 2012: Hyperaktiv -
Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur. S. 76f]
8
Vale lembrar que Walter Benjamin foi quem primeiro associou a
imagem flmica a um projetil disparado contra o telespectador.
Investigaes sobre
O Agir Humano
164
diante do sensacional, do chamativo. Na ausncia de estmulos
visuais ou sonoros, ou desses dois associados, o indivduo no
consegue mais permanecer, sem desconcentrar, num mesmo tema,
nem acompanhar o desenrolar de cadeia de raciocnios, sem se
dissipar. Como pode um problema que era, por assim dizer, raro na
psiquiatria, pelo menos at s ltimas 8 dcadas, tornar-se
diagnstico significativamente to frequente? Trcke v o dficit de
ateno como novo regime perceptivo caracterstico do mundo
atual e, em especial, do capitalismo na era digital.
Para poder acompanhar os passos e sobreviver a uma
cultura que vai se tornando, mais e mais, deficitria em sua
capacidade de se concentrar, os veculos de notcia da mdia
impressa ou digital, adaptaram-se, fazendo uso espetacular da
imagem, a essa nova cultura hiperativa e deficitria na sua
capacidade de perceber. Mesmo na escolas e universidades, as novas
mdias tem de ser, quase que compulsoriamente, utilizadas, na
tentativa de salvar o aprendizado. Isso porque, na ausncia de
estmulos visuais ou audiovisuais, os indivduos vo perdendo a
capacidade de prestar ateno. Desse modo, ser chamativo a
condio para que algo possa ser percebido. A questo que, no
poder ser percebido um atributo daquilo que no tem ser, daquilo
que no . O que no chama ateno , assim, deficitrio, em
termos existenciais, alm de no reunir os pr-requisitos necessrios
para poder ser percebido. Noutras palavras: o que no capaz de
chamar ateno e que no causa sensao est socialmente morto.
Desse modo, para falar com Christoph Trcke, a mxima Ser ser
percebido, de Berkeley, precisou esperar por mais de um sculo,
para se tornar plenamente atual. (Trcke 2002, p.11-18; 38-47)
Diante da ditadura do marketing, o indivduo sofre, cada vez
mais, a presso social para conformar-se s tendncias e estilos de
vida manufaturados, abrindo caminho para formas contemporneas
de explorao. O fenmeno da moda; o regime manufaturado da
Investigaes sobre
O Agir Humano
165
distrao; o paradigma da sensao e a fabricao do choque de
imagem adquirem, numa sociedade de cultura audiovisual, um papel
estrutural na explorao. A dependncia do uso de tecnologias e a
neophilia da sociedade de informao, mais uma vez, transformaram
o homem em apndice da maquinaria, mas uma maquinaria
diferente das esteiras de montagem do incio do sculo XX. Em
oposio maquinaria da era industrial, criaram uma certamente
mais sofisticada, mas que, semelhante quela, evidencia tambm
uma estrutura de explorao. Todavia, uma explorao um pouco
diferente, pois, agora, trata-se de uma explorao do sensrio
humano e da ateno. Diferente daquela, que era consumidora de
fora muscular e energia fsica, essa bem mais sofisticada, pois faz
uso apenas do um par de olhos e do dedilhar dos digitais. Nesse
sentido, no contexto das tecnologias vigentes, displays digitais so,
simbolicamente, os teares contemporneos, que assim como aqueles
de dois sculo atrs, so, igualmente, meios de explorao, tambm,
como os antigos teares, no discriminam nem por gnero, nem por
idade.
Se entendemos que superfcies digitais so estruturas de
explorao, ento, partindo dessa base, fenmenos como vcio e
dependncia de meios digitais correspondem ao lado fisiolgico e
psicolgico da explorao, pois tem por base um tipo de estrutura
social e econmica comum. Contudo importante lembrar que o
capitalismo atual de tipo ps-industrial convive com formas arcaicas
de produo e, consequentemente, tambm, de explorao. Nessa
tica, no deveria causar nenhuma surpresa que na China, p. ex,
trabalhadores iniciem revoltas nas fbricas, em virtude das ms
condies de trabalho. Alm disso, segundo a organizao
internacional de combate ao trabalho escravo, a Anti-Slavery
International, estima-se que existam mais de 21 milhes de escravos
ao redor do globo. Em suma, se considerarmos que h uma estreita
relao entre a teoria marxista do fetichismo da mercadoria e sua
Investigaes sobre
O Agir Humano
166
teoria da alienao, ento poderamos sugerir que o prprio Marx,
deixou brechas para se pensar um teoria da explorao, onde a ideia
da explorao, em sua especificidade, iria muito alm da diferena
entre o preo de mercado da mercadoria e o valor pago pelo
trabalho necessrio para a sua produo.
2. GENEALOGIA DA EXPLORAO.
A crtica do capitalismo, como um todo, irrompe no
espao do esttico (Bolz 2009, p. 187). O capitalismo sempre foi
um sistema centrado na explorao, mas a explorao no caiu do
cu, nem teve nascimento mtico, mas tem uma histria concreta
que se inicia com a explorao do trabalho escravo, depois continua
na explorao das riquezas coloniais, passando pela explorao do
trabalho assalariado e maquinal da era industrial e chegando at aos
dias atuais, na era dos grandes conglomerados de mdia, onde ela se
d a partir da explorao do sensrio humano. O fato da explorao
ter atravessado, historicamente, diversas fazes, no exclui a
possibilidade de que, em diferentes stios da economia global,
formas arcaicas de explorao coexistam com outras mais
perspicazes e mais avanadas.
De acordo com Marx, tanto nas sociedades escravistas como
durante o feudalismo, a explorao direta sobre escravos e vassalos
se dava de forma aberta, seus mtodos eram, a toda hora e em
qualquer lugar, totalmente visveis, ao passo que no capitalismo os
seus mecanismos so muito mais complexos, inescrutveis ou at
mesmo ocultos. Nas economias estruturadas sobre a explorao da
mo de obra escrava, a receita para elevao da produtividade se
limitava a obrigatoriedade do trabalho forado, da coero fsica,
sob a ameaa de atos lesivos mais severos. A imagem de uma
movimentao forada e involuntria define, tanto no sentido literal
Investigaes sobre
O Agir Humano
167
quanto simblico, o trabalho do escravo. J no capitalismo, a
explorao tem a ver com os deslocamentos voluntrios, com as
migraes, primeiro do campo para a cidade, depois, dentro do
contexto dos estados-nao, a migrao de uma cidade a outra, e,
por ltimo, no contexto das redes corporativas multi e
transnacionais, as migraes transnacionais. Essa ltima diz respeito
migrao para os grandes centros de consumo.
No s as mercadorias reluzem como objetos sagrados, mas
tambm cidades, com suas fachadas, ambientes e arquitetura,
cenrios de vida de personagens ilustres, de biografias iconizadas
que, h dcadas, servem de matria prima da indstria cultural
niveladora. Esta ltima terminou por equiparar o discurso sobre
gnio e sobre a personalidade ao imaginrio da celebridade. Por
isso, tanto as cidades quanto as mercadorias, tem um magnetismo
prprio.
A imagem noturna de satlite do globo azul expe uma
distribuio desigual no s de riquezas, mas, sobretudo, da luz, de
modo que os centros mais densamente iluminados no so apenas
as grandes metrpoles do consumo, mas no por acaso, registram
os maiores fluxos migratrios, alm de, coincidentemente, atrarem
um maior nmero de turistas atordoados e desorientados, que
quando no contam com os servios de um guia, nem conseguem
avanar, nem decodificar muito.
Na natureza, a luz dotada de um curioso poder, que a
capacidade de, em diferentes localidades, atrair diferentes espcies
de mosquitos cegos. Analogamente, a explorao, no contexto do
sistema do espetculo comercial da mercadoria, tem uma
particularidade que contar com a movimentao voluntria e
motivada do trabalhador. Ter um trabalho conquistar, em
definitivo, a incluso, mas incluso enquanto potencial tomar parte
na festa do consumo. Pois incluso, na era das sociedades ps-
democrticas, em que a ideia da cidadania se esvaziou e se tornou
Investigaes sobre
O Agir Humano
168
suprflua, menos o estado de quem ganhou relevncia e voz na
vida pblica e mais a condio de quem j assegurou o direito por
excelncia das sociedades hedonistas contemporneas: o direito ao
consumo.
Ainda preciso focar mais num elemento decisivo para a
compreenso do problema da explorao no capitalismo digital: a
motivao. Cursos de motivao, como medida com a qual se
espera influir, elevando o nvel de produtividade, tornaram-se o
recurso mais ordinrio no terreno da iniciativa privada. O guru
mximo do marketing, Domenico de Masi, alega que o capitalismo
ps-industrial produziu uma gigante economia de tempo livre. O
tempo livre no atual estgio do capitalismo desempenha, nos dias
atuais, um papel similar ao desempenhado pelo cio entre os
antigos gregos; ou seja, um pr-requisito para a exploso de
criatividade que possibilitou mente helnica inventar a filosofia, a
astronomia, a tragdia, a histria, os relgios de sol e a democracia.
Para De Masi, a criatividade o grande capital dos pases ricos, a
mola mestra que impulsiona o sistema produtivo.
O ps-industrial marcado pelo acmulo de criatividade e
ideias nos produtos, assim como no meios e modos de produzi -los.
Em vez de fbricas, os pases lderes possuem patentes e deste
modo transformam criatividade cientfica e esttica, administradas,
em capital. A economia do tempo livre turismo, propaganda e a
indstria de entretenimento depende desta criatividade inventiva.
Criar condies que favorecem ao trabalho criativo e que atraiam os
criativos a funo primordial da administrao. Ao passo que a
ideia de controle, vigilncia e burocracia, antpodas da motivao e
da inspirao criativa, devem e tendem a desaparecer, na medida em
que agem como freio em termos de produtividade.
A utopia light do capitalismo verde, ou do capitalismo com
conscincia, ideal das socialdemocracias avanadas, foi a expresso
de uma orientao poltica que tem por modelo o equilbrio entre o
Investigaes sobre
O Agir Humano
169
conservadorismo e pragmatismo na esfera econmica e o
esquerdismo em plano social. Essa utopia tambm a iluso do
potencial civilizatrio do capital. No sentido de que se alega que o
livre mercado s pode se desenvolver onde a democracia e os
direitos j se consolidaram ou esto em vias de concretizao. Por
isso, ele teria, potencialmente, o poder de fazer as sociedades
avanarem em direo ao apreo pelos ideais dos direitos humanos
e conscincia da liberdade. Assim, o mercado (e, em termos mais
abstratos, o capital), apesar de estar fortemente associado com o
egosmo dos interesses particulares e das paixes individuais, teria
uma misso civilizatria, pois, se por um lado, ele exige a
democracia, por outro ele impulsiona a sociedade em direo ela.
Na periferia do capitalismo no houve nem transio, nem
salto para o ps-industrial, pelo contrrio, l ainda vigem os padres
de produo industriais do sculo XIX. Nesse sentido, no de se
espantar que as chamins, expelindo fumaa qumica, e o ambi ente
acinzentado das cidades industriais, como Cubato em So Paulo e
Cidade do Mxico, faam lembrar, imediatamente, as antigas
mquinas a vapor e as usinas de carvo. Se for possvel falar em
xito do capitalismo da era ps-industrial, esse xito foi ter
deslocado para a periferia do globo a era industrial. O ps-
industrial de Daniel Bell e de Domenico de Masi no consegue
enxergar que a terceira revoluo industrial representou no a
liberao do trabalho mecnico, mas sim o crepsculo da sociedade
de trabalho, uma vez que, definitivamente, tornou-se impossvel
empregar e ocupar, de forma rentvel, a grande massa e ao mesmo
tempo resguardar o processo de acumulao capitalista. Pelo
contrrio, a liberao do trabalho mecnico , precisamente ela, o
piv da crise da sociedade de trabalho, na medida em que ela
conduziu o capital ao seu limite interno, ou seja, quanto mais
automatizado o processo de produo, tanto mais os homens so
suprfluos.
Investigaes sobre
O Agir Humano
170
Consequncia: apesar dos produtos tenderem a custar
sempre menos, os homens tem cada vez menos dinheiro para
adquiri-los e, ento, devem se habituar a recorrer ao crdito, se
quiserem atender parte de suas demandas fetichistas. O trabalho
necessrio para produo de mercadorias diminui, com isso, o valor
do trabalho encolhe, consequentemente, menor tendem a ser as
remuneraes. Quanto mais efetiva se d a automao da produo,
quanto mais eficazmente se comprime tempo e trabalho, tanto mais
barato o produto. Quanto mais se avana na tecnologia de
informtica e de softwares, tanto mais suprfluo o trabal ho
humano e tanto mais romantizado visto o trabalho voluntrio.
Ento, se, com a efetiva automatizao e informatizao da
produo, as mercadorias tendem a custar sempre menos, como
possvel assegurar altas taxas de lucro? Por um lado, com o aumento
da oferta, o que exige um respectivo aumento da demanda, por
outro, com a reduo do custo trabalho. Portanto, a grande
questo : como assegurar a demanda se as remuneraes tendem a
diminuir e a desocupao a aumentar?
No por acaso que Andr Gorz postula que a mercadoria
precisa, primeiro, comprar seu comprador, seja por meio do crdito, seja
por meio de subsdios e benefcios sociais custa de impostos
pblicos, seja atravs da publicidade.
No obstante, revela-se frgil a teoria segundo a qual se
afirma que no ps-industrial o trabalho intelectual de tipo residual
como o clculo e a computao foi delegado s mquinas e
que ao homem ficou reservado somente o trabalho inventivo e
criativo. O ps-industrial de Fourasti, Bell e de Domenico de Masi
alimenta-se da esperana de que o setor de servios seria capaz de
resolver o problema do mercado de trabalho, que num sentido mais
imediato se traduz na desocupao e demisso em massa, no
desemprego estrutural e num sentido mais amplo corresponde a
uma crise da sociedade de trabalho. Por outro lado, h um trao
Investigaes sobre
O Agir Humano
171
comum entre os tericos do ps-industrial, a saber, o subestimar o
enorme potencial de substituio da fora de trabalho humana,
presente na revoluo microeletrnica. Os trs cavaleiros do ps-
industrial ignoram tambm que o a melhoria da qualificao
acadmica, o aumento da expectativa de vida, no implica numa
nova acumulao alm do boom industrial (Kurz 2009, p.738-748).
A iluso de tica do otimismo terico do ps-industrial se d graas
a uma condio fundamental, a saber: ignorar que todos os setores
so dependentes do setor industrial.
3. CONTROLE INDIRETO E EXPLORAO ESTTICA.
Big Brother is watching you, certamente no mais apenas com
uma expresso nica, mas com interminveis pares de olhos
diferenciados e mltiplas expresses mimticas, simultaneamente,
ao modo de um grande exrcito, uma >grande famlia< de rostos.
(Macho 2011, p. 264). O novo nesse quadro de dominao
annima que o controle esttico contrasta com formas tradicionais
de controle social, de modo que o primeiro se exercido por
sugesto, pelo imaginrio esttico e pelo poder que a imagem
capaz de exercer sobre o corpo do indivduo.
Desse modo, pode-se perceber que, sob o capitalismo
esttico, novas modalidades de poder e de controlem emergem, ora
coexistindo com as antigas, ora as substituindo. Isso porque, nesse
novo estgio do capitalismo, o acesso ao excedente pressupe a luta
concorrencial pela explorao do imaginrio social, do mundo
simblico e psquico, assim como a apropriao do universo visual e
sonoro
9
das imagens. Vejamos, num breve exemplo, como a
9
C. Trcke, no livro A Sociedade Excitada, menciona a emergncia, na
sociedade da sensao, de um novo rgo dos sentidos e um novo sentido,
respectivamente: o olho-ouvido e o olhar sonoro.
Investigaes sobre
O Agir Humano
172
categoria controle indireto se vincula, na atualidade, ao fenmeno
da explorao.
Escravos no precisam ser manipulados, persuadidos ou
seduzidos. Violncia direta e coao fsica so suficientes. Quem
est no poder dita as ordens, no lhe cabe consultar quem dele
desprovido, no precisa legitimar, nem justificar. Autoridade a gente
no diz que tem, a gente, meramente, exerce. Essa forma de exercer
o poder ainda vigora em instituies militares. O controle de um
exrcito, por exemplo, exercido por meio de ordens vindas de
cima. O controle se personifica na figura da autoridade hierrquica
que d as ordens. Os mecanismos de controle so visveis e a
explorao, direta.
Na era dos grandes conglomerados de mdia, no entanto, o
controle ainda se d por meio de mecanismos muito mais sutis e
indiretos. Um exemplo das novas formas de controle pode ser lido
na transformao social do corpo feminino. Quem dita o padro?
Os mecanismos persuasivos que agem, no mbito da esfera pblica,
capazes de mobilizar e engajar as mulheres num controle quase
obsessivo com o corpo, com o peso e com a aparncia. No so to
palpveis assim, no entanto, so potentes o suficiente pra efetuar
mudanas globais na relao da mulher com o prprio corpo. P.
ex., o que explica o aumento exponencial em cirurgias plsticas? Por
que, em nome da posse de um novo corpo, muitas mulheres
sintam-se encorajadas a arriscar a vida, nesse tipo de operao? O
que dizer da crescente demanda por implantaes de Botox? E da
obsesso feminina por dietas de emagrecimento, como reflexo de
um pavor coletivo da obesidade? Como surge, em culturas as mais
distantes, apenas uma representao social do corpo ideal, apenas
um modelo? Por que o imaginrio do corpo belo e ideal, em toda
parte, no diverge nunca dos padres estticos da indstria cultural?
No somente atravs desta que uma representao de um corpo
Investigaes sobre
O Agir Humano
173
universalmente belo possvel? Mas como que essas noes so
geradas?
Um primeiro postulado lana luz sobre as questes
mencionadas acima, a saber: o corpo ideal um corpo produto. O
ideal nada mais do que a correspondncia aos padres estticos da
indstria cultural. O poder de persuaso da publicidade sobre
crianas do sexo feminino, ainda na infncia, funciona como uma
espcie modelar de Branding. Cabe lembrar que nesse caso o produto
com o qual o Branding se relaciona o prprio corpo. O processo
de familiarizao, na infncia, da menina com a boneca-modelo, por
meio do exerccio ldico e espontneo da imaginao e da
fantasia, encarrega-se da interiorizao inconsciente do padro. A
ideia da seduo, o valor de exposio, e a suscetibilidade de ser
cotado, so caractersticas comuns entre o corpo da mulher e a
mercadoria. Na condio de mercadoria, ele est sujeito s leis de
compra e venda, tendo, portanto, valor de troca, de uso, de culto e
de exposio.
Nesse sentido, a estetizao do corpo feminino tambm
um exemplo de estetizao de uma forma, desapropriao e de
explorao. A esttica do imperativo do corpo belo tambm a esttica
da legitimao da estrutura social que ele tem por base. Essa forma
de dominao impessoal sobre o corpo um modo de dominao
esttica e consentida. Um corpo belo um corpo com potencial em
termo de publicidade e com futuro em termo de mercado. Gisele
Bndchen no um ser, um produto, uma pea publicitria e um
veculo de reclamo. Em suma, o corpo feminino ideal a
construo social de um corpo apto a ser explorado, como carne
10
,
no mercado global da beleza.
10
Em Alemo, a palavra explorao, Ausbeutung, formada pelo prefixo
aus, tirar fora e o radical Beute, carne de caa. Assim, em alemo, a
explorao esttica annima do corpo feminino soa um pouco melhor, pois,
Investigaes sobre
O Agir Humano
174
Poder-se-ia, nesse sentido, afirmar que a mulher no mais
possui seu prprio corpo, ele para ela um objeto alheio e exterior,
cujo controle dirio lhe exige enorme dispndio de energia fsica e
mental. O cuidado com o corpo uma forma de trabalho abstrato,
que serve a um fim igualmente abstrato, a saber: o de garantir ao
corpo uma boa cotao no mercado das relaes sociais reificadas.
A mulher mira esse estranho objeto, com um olhar devoto, como se
se tratasse de um venerado objeto de consumo. Assim, essa forma
de cuidado de si revela, por um lado, a presena manifesta da lei
econmica, que no reconhece limites a sua autoridade, por outro, o
primado do econmico sobre a vida social.
A explorao do corpo feminino se d mediante a
explorao do imaginrio esttico e fetichista (Laurie 2011, p. 2). Tal
modo de explorao esttica, ou de dominao annima, no , no
capitalismo esttico, algo restrito a apenas um dos gneros. Para dar
um exemplo icnico, mencionemos a transformao, ao longo de
um pouco mais de duas dcadas, da imagem do rosto de Michael
Jackson. Trata-se de um exemplo significativo do poder que o
imaginrio esttico e o fetichismo capaz de exercer sobre o
indivduo. Considerando esse rosto, numa linha de tempo, entre
1980 e 2000, poderamos perguntar que foras esto descolorindo e
modelando este rosto? Em nome de que? A fim de se alcanar um
gozo diante do espelho, todo sacrifcio valido?
Em todo caso, o narcisista algum que sempre se
pergunta: como que os outros me percebem. Por isso, ele
algum que no consegue se ver a no ser atravs do olhar indireto,
do olhar do outro. Ele um especialista no olhar alheio. Nesse
sentido, o narcisista escravo da imagem, mas da imagem que os
outros fazem dele. No caso do cone pop, mencionado acima, quem
ou o que esse outro? Na civilizao em que o capital ao chegar a
nesse sentido, em alemo, ser explorado , simblica e literalmente, perder a
carne.
Investigaes sobre
O Agir Humano
175
tal grau de concentrao se torna imagem no se deve subestimar o
poder que a imagem exerce sobre o corpo e a fantasia do
consumidor. De modo similar exerce-se o controle sobre os
consumidores. Explorando a imaginao esttica a indstria
transformou o consumidor no novo foco da explorao.
Ora, o instrumentrio que permitiu indstria o controle
sobre o imaginrio esttico foi fornecido pela revoluo
microeletrnica, cujo impacto social tem aumentado nas ltimas
dcadas. Juntamente com o desenvolvimento de tecnologias de
marketing e da ampliao da zona de consumo que se estendeu a
enormes contingentes populacionais nas economias emergentes, a
microeletrnica tornou possvel novas modalidades de explorao,
determinando transformaes estruturais nos processos de
produo. O novo produto a imaginao do consumidor, na
medida em que o marketing adota o modelo de estratgia de
recrutamento militar, como intuito de conquistar coraes e
mentes (winning hearts and minds
11
).
4. O ROSTO DA MERCADORIA.
Thomas Macho postula haver uma conexo entre a civilizao
facial e a sociedade de consumo, no sentido de que o rosto se tornou
o meio mais familiar para mediar mensagens publicitrias nos
espaos urbanos contemporneos. Qualquer um que deixa sua
casa, hoje, em qualquer cidade, imediatamente saudado e
acompanhado em seu caminho por uma estrutura bem familiar. (...)
Em cada parede abrem-se olhos, toda a superfcie se adensa num
olhar que parece perguntar ao passante o que est lhe faltando?
11
Expresso, de lngua inglesa, usada em campanhas de recrutamento
militar.
Investigaes sobre
O Agir Humano
176
Onde voc realmente acha que est indo? (Macho 2011, p. 263). O
Big Brother no s nos observa, mas tambm nos seduz. Horror
vacui
12
: a civilizao do rosto se volta desesperadamente para a busca
de sentido, por isso detesta o vazio, por isso tem compulso por
ocupar e transformar em painel de imagens qualquer superfcie livre.
O horror vacui tambm se revela na compulso em enunciar e em
propagar. Nessa lgica, displays digitais so tambm superfcies
mveis, so painis com capacidade de enunciar ad aeternitatem. So
disparadores de estmulos e criadores de dependncia. A civilizao
facial foi gradativamente se aprimorando na arte da estimulao
visual. Mas s com os displays digitais foi possvel multiplicar
exponencialmente a dose diria de estmulos visuais. Quem quer
que pretenda compreender os efeitos sociais, fisiolgicos e
psquicos do nosso meio ambiente tecnolgico, no deve
subestimar este fato.
A concordar com C. Trcke e Manfred Spitzer, displays so
meios, por excelncia, criadores de dependncia, so disparadores
de estmulos qumicos que provocam sensaes e dependncia em
nvel orgnico (Orsine 2011, p. 22) Seus usurios, via de regra,
necessitam de estmulos audiovisuais cada vez mais in-tensos.
Afinal, o que quer uma pulso, seno o tornar-se sempre mais
intensa? E o que quer um instinto, seno sua prpria expanso? O
viciado escravo da prxima dose. exatamente da prxima dose
que mais difcil se libertar. Claro que essa regra vale, tambm, pra
aquele que se tornou dependente e condicionado pelos meios
digitais. At que ponto a dependncia de meios digitais constitui,
tambm, um dos pr-requisitos que demanda a reproduo
12
Horror vacui: Expresso usada por Christoph Trcke para sinalizar uma
caracterstica humana bem arcaica: os sentidos no suportam o vazio nem a
inatividade. O mascar chicletes e o olho na revista ilustrada na sala de espera so,
por si mesmos, belos indcios desse horror.
Investigaes sobre
O Agir Humano
177
automtica do espetacular integrado (Debord), e com ele, a
estrutura de explorao que est na sua base?
Nesse novo ambiente social planetrio em toda parte
populaes inteiras esto aptas a se tornar dependentes e
condicionadas de/por aparatos miditicos. Os novos meios digitais
tem, nesse sentido, um gigantesco efeito disciplinar. De acordo com
J. Walker Smith, diretor do The Future Company, uma empresa lder
global de consultoria em matria de previses de mercado,
perspectivas e tendncias futuras, a exposio mdia de anncios
para os norte-americanos subiu de 500 para 5.000 por dia, a
comear a contar a partir de 1970. Isso resulta numa exposio
mensal de 150.000 de estmulos e uma exposio anual na ordem de
1,8 milhes de estmulos. Assim sendo, o capitalismo no apenas
um sistema de produo superabundante de bens, publicidade e
branding, mas tambm de estmulos e de excitao. Tais estmulos,
distribudos ao longo de toda a vida, exercem uma influncia
formativa decisiva sobre crianas e servem de base psicofisiolgica
para fundir as marcas no imaginrio social e produzir o valor de
culto em torno das mercadorias.
5. VALOR DE CULTO E FETICHISMO EM MASSA: DE
VOLTA S RAZES RELIGIOSAS DO SISTEMA.
O fenmeno do fetichismo tem validade social objetiva,
uma vez que ele aponta para uma forma de pensamento levada em
conta no processo de produo de mercadoria. O valor de culto da
mercadoria tem, igualmente, validade objetiva, pois , em termos de
sua validade social, to relevante quanto seu peso e seu volume. O
diretor de cinema de A festa de Babette, o dinamarqus Gabriel
Axel, ficou perplexo, na ocasio de entrega da estatueta do scar de
melhor filme estrangeiro, em 1987, diante do olhar dos atores,
Investigaes sobre
O Agir Humano
178
diretores e empregados da indstria cinematogrfica, para as
estatuetas do scar. Era como se o metal reluzente fosse uma
ungida imagem religiosa.
A manuteno do fetichismo atua como uma fora capaz de
assegurar as condies da dominao e da explorao no
capitalismo esttico. O fetichismo no est apenas associado ao
prazer, mas sobretudo angstia, na medida em que ele pressupe
uma dialtica entre a satisfao e a frustrao, entre a antecipao da
felicidade e o adiamento da felicidade. O fetichista no s
possudo por uma tenso diante da mercadoria, mas tambm por
uma tenso diante do prematuro envelhecimento daquilo que ele
adquire.
No obstante, essa , do mesmo modo, uma caracterstica
do hedonismo de consumo, na medida em que este se nutre,
primeiramente, do culto novidade. Os indivduos dessa categoria
encontram-se permanentemente aterrorizados diante de suas
prprias demandas fetichistas, e, so, deste modo, devorados pela
trivialidade. O fetichista , sobretudo, um sujeito que visa
compensar uma ferida ainda aberta, resultada de uma intensa
identificao com aquilo que ele imagina ter sido privado. O
fetichismo da mercadoria uma expresso da racionalidade tcnica
de uma dominao annima. Ele a prpria cultura dessa
dominao. Num mundo sem Deus, o culto fetichista das
mercadorias forma de totemismo dos objetos de consumo
o substituto de uma espiritualidade da qual, no imprio fetichista da
santssima trindade do dinheiro, da mercadoria e do capital, fomos
privados.
No entanto, o fetichismo da mercadoria desempenha, no
capitalismo, uma funo econmica e um papel social to objetivo
quanto o dinheiro. Aquele uma forma de assegurar uma massiva e
constante demanda para a massiva e constante produo de
suprfluos. Se a renda e os salrios decrescem, e se apesar do
Investigaes sobre
O Agir Humano
179
barateamento das mercadorias, a classe trabalhadora tem dificuldade
em adquiri-las, graas a fixao fetichista, os indivduos se sujeitaro,
de bom grado, ao endividamento a jurus. O sacrifcio do tempo de
vida no nada quando se trata de aplacar o desejo, excitado por
nomes e imagens cheias de brilho, para lembrar Adorno.
A prpria durabilidade fsica das mercadorias, na era do
obsoletismo planejado, tornou-se um pr-requisito secundrio,
tendo em vista a volatilidade do desejo. Ningum pode garantir ter
desejo de possuir, 6 meses depois, aquilo que se adquire hoje. No
h contradio alguma entre o aumento do fetichismo numa poca
de crepsculo da sociedade de trabalho, pelo contrrio, a atrofia
desta, foi marcada pelo aumento do fetichismo, ao menos enquanto
tendncia. Contudo, se o crescimento econmico depender da
consolidao do fetichismo como regime permanente da sociedade
de consumo, ento, quer dizer que o capitalismo s cresce, graas a
infelicidade que ele produz.
A crtica do capitalismo, como em Max Weber ou em W.
Benjamin, desvelou um substrato religioso por trs de um sistema
que se singulariza, em termos histricos, por ter consolidado a
onipotncia do valor econmico. A anlise da esttica da
mercadoria vai possibilitar, mais uma vez, tornar visvel o
capitalismo como o herdeiro do cristianismo.
Antes de tudo, fundamental lembrar que a mercadoria
deixa evidenciar sua dimenso religiosa at mesmo no fato dela
poder tornar-se objeto de culto, de ser capaz de motivar os homens
a fazer sacrifcios e, at, de motivar preces pela sua posse. Noutras
palavras, o fetichismo combustvel fundamental que abastece a
maquinaria do sistema econmico que aqui denominamos de
capitalismo esttico.
possvel ter ideia do todo do sistema capitalista
compreendendo bem uma de suas partes. Marx comea O Capital
com a anlise da mercadoria. Esta no foi uma escolha arbitrria,
Investigaes sobre
O Agir Humano
180
mas deu-se em virtude da mercadoria corresponder forma mais
elementar da produo. A riqueza das sociedades industriais
assemelha-se, de acordo com Marx, a uma colossal coleo de
mercadorias (Ungeheure Warensammlung). Mas mercadorias so mais
do que objetos para a satisfao de necessidades humanas concretas.
A mercadoria parece primeira vista uma coisa cotidiana auto
evidente, mas sua anlise mostra que ela , na realidade, uma coisa
muito misteriosa, cheia de sutilezas metafsicas e argcias
teolgicas. (MARX 2009, p. 83). A mercadoria , naturalmente, um
objeto fsico, mas um objeto com sua prpria fora interior e
propriedades magnticas. Este objeto no s tecnicamente
reprodutvel, mas tambm um repositrio do trabalho necessrio
para faz-lo, um reservatrio de trabalho morto.
Alm disso, para que seja possvel que essa coisa circule, ela
dever primeiro ser reconhecida como possuidora de valor. Um
constituinte do seu valor situado no incio da cadeia de produo
do valor da mercadoria a quantidade de trabalho necessrio
para a sua fabricao e, consequentemente, incorporado na mesma.
No entanto, se a composio do valor da mercadoria , em parte,
resultado da atividade humana e da quantidade de trabalho nela
depositada, ele tambm consequncia do olhar social nela
absorvido. A mercadoria uma coisa, fundamentalmente social,
muito mais imaterial, no apenas fsica. Essa coisa no tem valor a
priori, imediato e intrnseco. Seu valor surge apenas atravs do
intercmbio social e do clculo social de sua equivalncia com
outras mercadorias. Ademais, seu valor no determinado apenas
em funo de sua utilidade. Pelo contrrio, a utilidade, no contexto
da sociedade do espetculo, no desempenha mais do que um papel
marginal, enquanto o valor de culto que o verdadeiro motor por
trs da circulao das mercadorias.
As sociedades contemporneas tm sido capazes de garantir
uma demanda fetichista em massa para a assombrosa quantidade de
Investigaes sobre
O Agir Humano
181
mercadorias que elas produzem. O fetichismo, por sua vez,
pressupe certa paixo coletiva pelas coisas, um amor pelas coisas
mortas, o que Erich Fromm denomina de necrofilia. Nesse contexto
de idolatria das coisas, os objetos de desejo tornam-se artigos de
adorao, peas de culto. Assim, por trs do hedonismo fetichista
de consumo subjazem elementos de base religiosa. Um primeiro
trao em comum entre o hedonismo de consumo e a religio que
assim como as religies, aquele tambm resulta de uma srie de
tentativas coletivas de dar significado a vida.
As pessoas do mercantilizado socialismo de estado
equiparavam-se, em termos sociopsquicos e estticos,
verso capitalista privada da sociedade de mercado, pelo
prprio fato de colecionarem invlucros sem contedo e
embalagens de mercadorias ocidentais a ttulo de obras de
arte e de culto, como, por exemplo, garrafas vazias de
Coca-Cola. Um fetichismo anlogo manifesta-se quando
crianas e jovens de hoje incorporam imaginao os
nomes e logotipos de certas marcas de roupa, brinquedos
e diverses eletrnicas. No mais a singular qualidade
sensvel e prtica que se torna smbolo de status, mas a
marca. A esttica do sinal abstrato ocupa o lugar da
esttica dos contedos. (Kurz 1997, p. 1).
Para Benjamin, o capitalismo um sistema religioso, porque
serve essencialmente a responder aos mesmos cuidados, as
mesmas dores e mal-estar a que as religies tentam dar respostas.
(Benjamin 2009, p. 15). O fetichista est sempre num estado de
tenso com algo que ele deve consumir. Alm disso, ele imagina
antecipadamente o ato de compra como uma forma de liberao
dessa tenso. Cabe lembrar que, tenso constante equivale ao
desespero, que, como Benjamin enfatizou, tornou-se (...) a
condio religiosa do mundo a partir do qual a libertao
esperada (Benjamin 2009, 16).
Investigaes sobre
O Agir Humano
182
No entanto, ainda preciso determinar melhor o que h de
especfico nessa religiosidade por trs desse fenmeno de
fetichismo. Uma vez que no h nessa religio do marketing ou do
consumo elementos de tipo altrustas, tambm no se trata de uma
religio da compaixo, nem h espao algum para a exaltao da
humildade e no h, em lugar algum, indcio de humanismo. Pelo
contrrio, uma religio da competio aberta e sem trguas entre
todos os indivduos, uns contra os outros, e ao invs de vestgios de
solidariedade h apenas a estetizao cnica do narcisismo e do
egosmo. Mas, tanto no que podemos chamar de religio autntica
quanto nesse seu simulacro, o impulso religioso primordial
continuar a ser nutrido pelo anseio de aliviar as dores e angstias
fundamentais da condio humana.
6. TRANSCENDNCIA ATRAVS DO CONSUMO.
Von dem, was wir nicht wirklich brauchen, knnen wir
nie genug bekommen
13
(U2, >Stock in a moment<.
Zitiert von Toms Sedlcek, 2009, S-274).
Aps o desencantamento moderno do mundo (Max Weber),
o sistema global de comunicao comercial fez com que o mtico
reemergisse na superfcie esttica da mercadoria, restabelecendo-o
como o horizonte mundo (Bolz 2007, p. 37). O entusiasmo diante
da dimenso mtica da mercadoria se nutre da mesma expectativa de
liberao do desespero, fundamental para as religies. No
capitalismo esttico, mercadorias so objetos de extrema carga
simblica. Em 1957, por exemplo, Roland Barthes comparou o
novo Citron com catedrais gticas, em virtude do entusiasmo
13
Daquilo que ns realmente no precisamos, nunca teremos o
suficiente.
Investigaes sobre
O Agir Humano
183
generalizado, da mobilizao e da comoo por ele provocados. O
carro parecia algo mgico, superlativo (Barthes 2012, p. 196s).
Fenmenos como o Citron tornaram-se parte da mitologia
cotidiana.
Nesse sentido, poderamos apelidar, a transformao da
matria em mercadorias, de alquimia da contemporaneidade. No sentido
de que apenas por meio da alquimia ou da bruxaria acreditava-se ser
possvel transmutar seres naturais em criaturas mitolgicas.
Mercadorias no s circulam como se fossem seres, mas tambm
so adquiridas por suas propriedades mgicas. Isto pode ser
interpretado como um sinal de que, graas ao fetichismo hedonista
de consumo, estamos de volta s razes religiosas do sistema. O
fetichista, o adorador das coisas que finda por sacralizar o universo
profano das mercadorias, espera ser libertado da tenso
insuportvel, de uma inquieta hesitao que ele mantem com as
coisas. Assim, o fetichismo revela uma raiz religiosa por trs do
consumo.
A origem do mpeto, do fervor e do anseio religioso , em
ltima instncia, a vontade de transcendncia. Por sua vez, a
aspirao por transcendncia, na contemporaneidade, funciona
como uma espcie de fora motriz por trs da aquisio. Em mei o
ao espetculo publicitrio de mercadorias, at um simples par de
sapatos, pode conter a promessa de transformar, de algum modo, a
vida do consumidor. Sendo assim, a mercadoria seduz, na medida
em que ela simula poder satisfazer a um anseio capital do
consumidor, a saber: transformar-se. Por isso, o valor de culto ,
por assim dizer, gerado pela promessa e expectativa de
transcendncia atravs do consumo.
O carter transcendental do capitalismo no sculo 21
constitudo predominantemente na transformao
sistemtica da mercadoria em um fato cultural e social.
Em primeiro lugar, um novo significado atribudo
Investigaes sobre
O Agir Humano
184
mercadoria, a fim de constitu-la como um sinal cultural
apontando para alm do seu valor de utilidade profano e
capaz de estimular fantasias de consumo. A partir da, ela
se torna indispensvel para a reproduo das relaes
sociais. (Hirschle 2012, p. 131).
graas ao seu carter transcendente e ao seu valor
simblico que a mercadoria circula. Mercadorias so coisas que, por
estarem imbudas de associaes simblicas e estticas, ultrapassam
e se descolam do seu valor meramente utilitrio, s assim, elas
podem adquirir status de objetos de culto.
A base religiosa subjacente estrutura social existente a
condio sine qua non do fetichismo da mercadoria. Com Giorgio
Agamben, podemos dizer que a transformao capitalista do
sagrado tornou possvel a ecloso de uma das formas mais
universais e duradouras de idolatria, o culto das coisas (Agamben
2005, p. 65-79). Mercadorias so objetos manufaturados
transformados, de meras coisas inertes, em entidades misteriosas. O
que apenas algo, mas ainda no se assemelha ao Ser, no ser
comprado. Aquilo que aparenta Ser provavelmente ser
comprado
14
(Haug 2009, p. 28-29). Parecer ser uma condio
essencial do fetiche.
A propsito, a palavra fetiche deriva do vocbulo portugus
feitio, originalmente aplicado pelos colonos e missionrios
portugueses, durante a colonizao da frica Central, a esttuas
antropomrficas, utilizadas em rituais religiosos. Esses rituais
deveriam germinar poderes e esprito sobre os objetos, investindo-
os, deste modo, com os desejos humanos e anseios. Os homens de
pregos ou Nkisi do Congo so um exemplo deste tipo de prtica.
Neste ritual, cada participante martela um prego em uma efgie,
14
Em alemo: Was nur etwas ist, aber nicht nach Sein aussieht, wird
nicht gekauft. Was etwas zu Sein scheint, wird wohl gekauft.
Investigaes sobre
O Agir Humano
185
mediante uma promessa, um contrato espiritual, como forma de
alojar nela o poderes espirituais.
15
Um objeto s se torna um fetiche, quando um indivduo ou
um grupo acredita estar diante de um ser animado, que tem anima,
vida prpria.
Assim, no capitalismo, a noo de fetiche ou de fetichismo
no adensa seu sentido apenas quando relacionada mercadoria,
mas tambm se pode falar em dinheiro e em mercado como
fetiches, na medida em que tratamos essas coisas como se elas
fossem entidades e/ou lhe atribumos movimento prprio. Por
exemplo: as narraes jornalsticas do comportamento das bolsas de
valores, aqui e alhures. A cobertura jornalstica, nesse caso, refere-se
bolsa como se tratasse de um ser que se move por contra prpria,
cujo volume aumenta ou encolhe, cuja variao se acelera ou
15
Disponvel em:
http://smcweb.smcvt.edu/amacmillan/African%20Art%20Web/Templ
ates/home.html
Investigaes sobre
O Agir Humano
186
desacelera, que se torna nervosa ou se acalma e ganha confiana.
Quer dizer, algo que tem vida prpria, que age de forma misteriosa,
que preciso interpretar, mas cujo conhecimento de sua ao to
preciso quanto o conhecimento da influncia dos astros na vida
individual. Por mais que sejam seres misteriosos ou
fantasmagricos, so seres da realidade objetiva, se considerados em
termos sociais.
No entanto, apenas trataremos aqui da afinidade entre
fetiche e mercadoria. Mercadorias s podem vir a ser adoradas
como fetiches, se elas so capazes de esconder qualquer referncia
aos processos sociais de explorao envolvidos na sua produo. Se
eu vejo o trabalho infantil nos tnis de corrida, eu no posso
desfrutar do gozo associado posse de um ambicionado smbolo de
poder alcanado atravs do esporte.
Em analogia com os fetiches de pregos, por um lado, as
mercadorias so usadas como se possussem o poder de influenciar
os outros, por exemplo, que imagem e opinies tero sobre quem as
possui, atravs da manipulao de sinais (marcas, tipos de carros,
produtos com aura tica, etc.). Assim, a marca torna-se uma
metfora para o sonho do individualismo. A Apple usa, justamente,
essa simbologia. Ao nos dizer para fazer algo diferente, procura
nos convencer de que ela se destina a pessoas realmente capazes de
pensar diferente, para indivduos capazes de mudar o mundo,
pessoas dispostas a se tornarem os arquitetos de seus prprios
destinos.
Por outro lado, ao mesmo tempo, o nosso fetichismo para
com as mercadorias funciona como um elo subjetivo capaz de
justificar, diante de ns mesmos, o sistema que torna possvel a sua
fabricao e, assim, a explorao possvel. O fetichista
dependente deste sistema produtivo, tanto quanto o viciado acaba
sendo uma pea que legitima a estrutura criminalizada sem a qual a
droga no seria produzida. Seu comportamento implica um estar
Investigaes sobre
O Agir Humano
187
de acordo com o sistema que produz a fantasmagoria, mesmo
contra a sua prpria vontade, como um viciado em tabaco, que
reconhece ser seu prprio desejo seu pior inimigo.
O capitalismo , portanto, um sistema de desejo, e no
apenas um sistema econmico. N. Bolz associa ao fetichismo de
consumo uma religio de entretenimento, mas que pressupe uma
mitologia e um totemismo cotidianos (Bolz 2007, p. 37).
Neste contexto, comprar coisas, significa muito mais do que
tomar posse de valores econmicos. A concordar com Naomi
Klein, a mais profunda esperana de uma sociedade consumista
atingir o nirvana da marca (Brandnirvana). Vale ressaltar que a anlise
do substrato religioso do fetichismo da mercadoria, feita por K.
Marx j antecipava, h quase dois sculos, essa percepo.
A mercadoria , antes de tudo, um objeto externo, uma
coisa com propriedades capazes de satisfazer a uma ou
outra necessidade humana. A natureza destas
necessidades, por exemplo, se ela se origina do estmago
ou da fantasia, no muda nada sobre o assunto (Marx
2009, p. 2)
Em uma nota de rodap a esta passagem, Marx cita
Nicholas Barbon, Um discurso a respeito da cunhagem de moedas
novas:
Onde h uma vontade, h uma necessidade, e o apetite
do esprito to natural como a fome para o corpo, (...) a
maioria das coisas derivam seu valor do fato de que elas
satisfazem s necessidades do esprito. (Marx 2009, p. 3)
notrio o paralelo, traado por Giorgio Agamben, entre o
capitalismo e a religio. Segundo ele, o capitalismo a religio mais
cruel j vista no planeta, por ser incapaz de reconhecer nem
redeno, nem armistcio.
Investigaes sobre
O Agir Humano
188
Quanto a certo paralelismo entre os dois, poderamos
sugerir, que a sociedade de consumo portadora de objetos de
culto, as mercadorias, e de uma liturgia, o trabalho encarado como
sacrifcio para obteno das mercadorias, atividade do purgatrio,
sem a qual no possvel ascender ao paraso do consumo. A
mercadoria o objeto de culto, que se alude na publicidade e se
insinua em vitrines de lojas.
Que a lei do valor e a lgica da mercadoria influam no
ambiente social e cultural por inteiro, no nenhuma surpresa. Mas,
como que a mercadoria consolida o seu valor de culto?
H, ao mesmo tempo, uma analogia, mas tambm uma
diferena com relao ao modo como os objetos religiosos
adquirem valor. Um crucifixo, por exemplo, no tem qualquer
utilidade, exceto servir de um apoio simblico num ritual. Seu
propsito e valor consistem, inteiramente, em ser exibido, nada
mais. Seu valor um puro valor de exibio. Enquanto pea de
exibio, ele simboliza a paixo de Cristo, a superao do
sofrimento e a transcendncia fornecida pelo sacrifcio da Cruz. A
ideia do valor de exposio no se aplica apenas aos objetos
religiosos, mas tambm a qualquer bem que, pela fora da moda,
circula. Em objetos como crucifixos e esttuas religiosas coincidem
valor utilitrio e valor de exposio. Por outro lado, com carros,
smartphones e roupas de marca, o valor de exposio no coincide
com a utilidade (mobilidade, telecomunicaes, protegendo o corpo
do frio ou leso). Podendo at ser independente dele.
Sob o capitalismo esttico, as mercadorias so tratadas como
se fossem objetos sagrados; o ato de fazer compras um tomar
parte em uma cerimnia religiosa, com toda circunspeco e com a
gravidade de quem est imbudo de um dever sagrado. Os shoppings,
as galerias e lojas so templos cheios de objetos mgicos e de
prteses de sentido. A massa de consumidores empobrecida, via de
regra, sacrifica-se e mobiliza enorme energia para conseguir congregar
Investigaes sobre
O Agir Humano
189
poder de compra para suas demandas fetichistas. Esse esforo de
aquisio um esforo de ordem religiosa, que conduz liturgia da
compra e se completa na exibio ostensiva do objeto de culto
adquirido (Cf. Hirschle 2012, p. 123ss).
significativo que, nas atuais sociedades de consumo, o
consumir tenha adquirido um sentido existencial e, tambm, de
reconhecimento social. De modo que, no consumir significa deixar
de existir socialmente. O no consumir no produz apenas
frustrao, mas desconforto, inquietao, descontentamento e,
principalmente, o sentimento de excluso.
16
Numa sociedade onde
no h consumidor que no tenha conhecimento enciclopdico
sobre as mercadorias, no consumir estar fora, sentir-se de fora.
O capitalismo esttico tambm um regime de desejo. Ns
no possumos nossos desejos, somos afetados por eles. Isto est
claro, porm o fato de que no sejamos ns os artesos de nossos
prprios desejos, no exclui a possibilidade de que algum os possa
fabricar. O capitalismo, com sua metralhadora giratria de
estmulos, uma fbrica de desejos, essencialmente uma matriz
produtiva, capaz de fazer surgir e desaparecer o desejo. Porm, essa
matrix totalitria, pois, em meio a sua ditadura de ofertas querer
ter e dever ter so perfeitamente indistinguveis. A nica liberdade
que nos resta a de aceitar os preos que nos so impostos, como
diria Eduardo Galeano. A liberdade real a da guerra concorrencial
decretada e da concorrncia generalizada de todos contra todos. A
concorrncia, quer se d entre indivduos, quer se d entre
empresas, estados ou mesmo entre naes, significa no mais do
que carregar a morte do outro. Nessa mesma perspectiva, a
sociedade de consumo exige no s a concorrncia entre as
empresas, mas tambm a rivalidade entre os consumidores
competindo por exclusividade, no plano simblico.
16
O contrrio a iluso ingnua de incluso no falsamente comunal.
Investigaes sobre
O Agir Humano
190
A consequncia e o significado radical desta cultura de
consumo o velho darwinismo social. Ao envolver-se na
competio social, cada participante engaja e contribui para a morte
social dos outros. Quer dizer: quem no consume, no contribui;
quem no contribui, no pode participar; quem no pode participar,
atrapalha, torna-se um problema. Tomada em totalidade, esta
frmula social significa que qualquer pessoa que seja pobre
tambm suprflua e deve, portanto, apenas rolar e morrer (Cf. Kurz
1999, captulo 12). O princpio abrigado dentro dessa lgica social
darwinista da concorrncia generalizada a eutansia social.
A noo de eutansia social, postulada por Robert Kurz,
muito significativa, no s porque ela se aplica, quase que
literalmente, ao sistema de sade, mas tambm por ser
extremamente fecunda quando associada a quase todos os outros
campos da vida social, como a educao pblica, segurana,
mobilidade e de telecomunicaes. Os pobres no so apenas
vtimas do totalitarismo econmico, mas ainda, obstculos a ele,
uma vez que o sistema exige dinheiro para ser transformado em
mais dinheiro, isso com o mnimo de resistncia possvel. Este o
objetivo final, o fim em si mesmo, o imperativo abstrato do sistema.
Como aponta R. Kurz, a prova definitiva para a falta de
sustentabilidade e o impulso autodestrutivo desta sociedade global
consiste no fato de que na sua forma atual, ela no pode nem
mesmo durar os prximos 50 ou 100 anos (Kurz 1999, cap. 17).
7. O DISCURSO DA IMAGEM: A ACSTICA PSQUICA.
A imagem acstica (Saussure) no se forma sem o auxlio da
imaginao de quem ouve o som. A associao e a produo da
imagem acstica dependem do repertrio cultural do ouvinte. Meus
avs, provavelmente, no produziriam nenhuma imagem acstica
Investigaes sobre
O Agir Humano
191
para o som de um metr se aproximando, como para o som de
substantivos pronunciados numa outra lngua. Nesse sentido, o
olimpo moderno de deuses, semideuses e heris da indstria
cultural, nos seus diversos ramos, na imprensa esportiva, poltica,
tcnico-cientfica, artstica, etc., tem um papel estrutural no processo
de decodificao da proposio de sentido embutida na imagem
acstica da mercadoria. Mesmo o fetichismo da mercadoria
pressupe esse repertrio cultural.
Na era dos ambientes virtuais e dos displays luminosos, a
percepo comum mobiliza, sobretudo, dois rgos dos sentidos
que, quando associados, passam a valer como um s rgo, o olho-
ouvido (C. Trcke). Essa fuso criou um rgo altamente sensvel a
estmulos emocionais. Trata-se de um receptor adequado e exigido
para os estmulos qumicos tpicos da metralhadora de estmulos
audiovisuais do capitalismo esttico.
Depois de uma visita a uma exposio-industrial (Berliner
Gewerbe-Ausstellung) em Berlim, em 1896, Georg Simmel descreve
o efeito hipntico produzido pela impresso causada dos produtos
industriais ali expostos.
A proximidade em close dos produtos industriais mais
heterogneos produz uma paralisia do poder de
percepo, uma verdadeira hipnose, em que cada
impresso individual apenas desliza sobre as camadas
superiores da conscincia e, finalmente, s a ideia mais
frequentemente repetida retida pela memria como
vitoriosa sobre o cadver de inmeros fracassos de
inmeras tentativas, mas em seu estado fragmentado e
mais enfraquecido, a conscincia consegue destacar uma
impresso a de que est-se aqui para divertir-se (Apud
Frisby 2001, p. 64).
Investigaes sobre
O Agir Humano
192
8. SHOPPINGS COMO LUGARES SAGRADOS.
N. Bolz argumenta que shoppings substituram as igrejas
como locais de culto. Citando Harvey Cox, Bolz compara vitrines
com prespios e etiquetas com hstias (Bolz 2007, p. 115).
O mundo minha representao. Essa a proposio de
entrada da obra capital de Arthur Schopenhauer. O que eu posso
saber acerca do mundo esbarra nos muros intransponveis dos meus
prprios conceitos. Coincidncia, quase um sculo depois, L.
Wittgenstein, um assduo leitor de Schopenhauer, escreveria, em seu
Tractatus, o mundo tudo o que o caso. Tratava-se da primeira
proposio de sua primeira grande obra. Mas, atravs da mdia que
ns experimentamos o que o caso (Bolz). Como Bolz observa:
...os meios de comunicao fazem uma pr-seleo, para
ns, do que o caso. Eles realizam uma tarefa, que os
socilogos denominam de absoro de incerteza,
produzindo fatos, fatos e mais fatos. Podemos, portanto,
dizer que a mdia de massas a indstria da realidade da
sociedade moderna. Muitas vezes, a apresentao na
mdia de massa , em si mesma, o evento que est sendo
relatado. (Bolz 2007, p. 37).
Esta indstria da realidade compete pela apropriao de um
recurso muito raro: a ateno. O espetculo comercial de
mercadorias seria incapaz de produzir valor de gozo
17
se ele no
fosse capaz de tomar posse, temporria, do par de olhos dos
espectadores. A ateno do espectador torna-se negocivel, na
medida em que ela pode ser quantificada. Sendo assim, ela adquire
valor de troca. Empresas de TV alugam, para os anunciantes,
17
A noo de valor de gozo da mercadoria faz parte da interpretao
de Eugnio Bucci, de forte influncia lacaniana, da Sociedade de Espetculo de Guy
Debord.
Investigaes sobre
O Agir Humano
193
quantidades especficas de pares de olhos, por intervalos precisos de
tempo. A mercadoria absorvedora de olhar social, na medida em
que o seu significado, socialmente construdo, entra na composio
do seu valor. Isso porque a fabricao do Signum da mercadoria, no
pode ser produzido in doors, somente no setor de produo da firma,
pelo contrrio, a proposio de sentido, previamente produzida,
precisa adquirir relevncia social e consentimento do lado de fora,
no mbito da esfera pblica.
9. PRTESES DE SIGNIFICADO VENDA.
A anlise do fetichismo da mercadoria possibilita, ao
investigador, abstrair do valor de utilidade, que mantido apenas
como um pretexto para a produo de mercadorias, de modo a
entrever o aparecimento de um valor totalmente independe da
utilidade, o valor de culto (Cf. Fritz Haug, 2009).
A Nike no vende apenas tnis, mas vende transcendncia
atravs do esporte. A Land Rover no vende apenas carros, mas,
sobretudo, aventura. As agncias de viagens no vendem viagens,
mas experincias que devero se eternizar. A Marlboro no produz
cigarros, mas um gesto, uma postura corporal, uma pose.
Quando as mercadorias so associadas com estilos de vida,
seus significados tambm precisam ser fabricados. O mercado
fabrica prteses de significado, que servem de atmosfera artificial
que cercam as mercadorias. Associaes positivas, como
sustentabilidade ecolgica ou conscincia verde e responsabilidade
social, so boas de vendas. Como Bolz aponta, idealismo vende
muito bem (Cf. Bolz 2002, p. 106). O capitalismo aprendeu a vestir-
se refinadamente no idealismo, com slogans que conotam um
capitalismo com conscincia, responsabilidade moral e/ou
idealismo ecolgico. As marcas remetem a sistemas de signos
Investigaes sobre
O Agir Humano
194
socialmente relevantes. Elas so frequentemente associadas com
sentimentos sociais moralmente positivos, de modo que adquirir um
produto possa tambm significar tomar parte, de modo responsvel,
numa causa idealista e, deste modo, possa valer como sinal de
maturidade, de compromisso e de engajamento social, de
responsabilidade moral e correta conscincia poltica. Essas
associaes ticas tem altssimo valor de exposio (valor de
simulao), precisamente porque parecer se comportar eticamente
um componente importante da cultura consumista de simulao.
Nessa cultura da simulao, a prpria motivao de compra passa a
ser fabricvel e se torna um componente estrutural para a produo
de demanda, numa economia, majoritariamente, de suprfluos.
O capitalismo, aps a revoluo microeletrnica, mudou.
Engendrou tecnologias compressoras de tempo e de trabalho, gerou
uma profunda crise na sociedade de trabalho, tornou-se numa
sociedade de consumo transformadora da dinmica e do sentido das
relaes sociais, do conjunto das atividades humanas e da relao
dos homens com a natureza. Contudo, a explorao permanece,
aperfeioa-se e adquire um novo design. Em certo sentido, num
contexto ps-industrial, ela migrou, em parte, das fbricas, onde se
consumia fora de trabalho de tipo fsica, para o sensrio, onde se
faz uso da ponta dos dedos e do par de olhos.
REFERNCIAS
Agambem, G. (2005). Profanierung. Frankfurt: Suhrkamp.
Barthes, R. (2012). Mythen des Alltags. Berlin: Suhrkamp.
Bauman, Z. (2003). Flchtige Moderne. Berlin: Suhrkamp.
Investigaes sobre
O Agir Humano
195
Bauman, Z. (2004). Work, consumerism and the new poor. Open
University Press. (Kindle Edition).
Bauman, Z. (2009). Lebens als Konsum. Hamburg: Hamburger Edition.
Bauman, Z. (2012). Globalizao: as consequncias humanas. Zahar: Rio
de Janeiro. (Kindle Edition).
Baecker, D. (HG). (2009) Kapitalismus als Religion. Berlin: Kadmos.
Bell, Daniel. (1985). Die Nachindustrielle Gesellschaft. Reihe Campus:
Frankfurt/Main.
Benjamin, W. (2009). Kapitalismus als Religion. In: Baecker, D.
(Hg.).(2009). Kapitalismus als Religion. Berlin: Kulturverlag Kadmos.
Bolz, N. (2002). Das konsumistische Manifest. Mnchen: Wilhelm Fink
Verlag.
Bolz, N. (2007). Der ABC der Medien. Mnchen: Wilhelm Fink Verlag.
Bolz, N. (2009). Der Kapitalismus eine Erfindung von Theologen? In.
Baecker, D. (Hg.).(2009). Kapitalismus als Religion. Berlin: Kulturverlag
Kadmos.
Debord, G. (1996) Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin: Edition
TIAMAT.
Chomsky, Noam and Herman, Edwards. Manufacturing Consent: The
political Economy of the Mass Media. (2002). Pantheon Books: New
York.
Felser, Georg. (2011). Werbe und Konsumentenpsychologie. Berlin:
Spektrum Akademischer Verlag.
Investigaes sobre
O Agir Humano
196
Frisby, D. (HG.). (2000). Georg Simmel in Wein: Text und Kontext aus
dem Wien in Jahrhundertwende. Wien: WUV Universittsverlag.
Fritz-Haug, W. (2009). Kritik der Warensthetik gefolgt von
Warensthetik in High-Tech-Kapitalismus. Frankfurt: Suhrkamp.
Heinrich, Michael. (2005). Kritik der politische konomie: ein
Einfhrung. Schmetterling Verlag: Stuttgard.
Hirschle, J. (2012). Die Entstehung des transzendenten Kapitalismus.
Mnchen: UVK.
Klein, M. (2010). No Logo. New York: Picador.
Kurz, R. (1999). Manifest gegen die Arbeit. In: http://www.hh-
violette.de/wp-content/uploads/2011/10/Manifest-gegen-die-Abeit.pdf
Kurz, R. (1997) A estetizao da crise. In:
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz31.htm
Kurz, R. 2004). Com todo vapor ao colapso. Ed. UFJF- Pazulin: Minas
Gerais.
Kurz, R. (1999). O Colapso da Modernizao. Paz e Terra: So Paulo.
Lw Konrad. (1977). Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Deutscher Institut- Verlag GmbH: Kln.
Macho, Thomas. (2011). Vorbilder. Mnchen: Wilhelm Fink Verlag.
Marx, K. (2009). Das kapital: Kritik der politischen konomie.
(Ungekrzte Ausgabe nach der zweiten Auflage von 1872). Kln:
Anaconda.
Investigaes sobre
O Agir Humano
197
Marx, K und Engels, F. (2005) konomische Manuskript 1857/1858. In
Werke. Band 42. Leipzig: Karl Dietz Verlag Berlin.
McLuhan, M. (2011). Das Medium ist die Massage. Leipzig: Tropen
Sachbuch.
Metz, Markus und Seelen, Georg (2011). Bldmaschinen: die Fabrikation
der Stupiditt. Suhrkamp Verlag: Berlin.
Metz, Markus und Seelen, Georg ( 2012). Kapitalismus als Spektakel.
Suhrkamp Verlag: Berlin.
Morin, Edgar. (2008) Lesprit du temps. Armand Colin et Institut nationel
de lAudiovisuel (Kindle Edition).
Orsini, Cecilia Maria de Brito. (2011) Revista Brasileira de Psicanlise.
Volume 45, n. 3. 19-23. 2011.
Penny, L. (2011) Meat Market: Female flesh under capitalism.
Washington, USA: Zero Books.
Saussure, Ferdinand de (2006). Curso de lingstica geral. Cultrix: So
Paulo.
Sedlcek, Toms. (2012) Die konomie von Gut und Bse. Mnchen:
Carl Hanser Verlag.
Simmel; Georg. (2009). Soziologische sthetik (Herausgegeben von Klaus
Lichtblau. VS Verlag fr Sozialwissenschaften. Heidelberg.
Spitzer, Manfred (2012). Digitale Demenz. Knaur Ebook Verlag. (kindle
Edition).
Trcke, C. (2002). Erregte Gesellschaft: Philosophie der Sensation.
Mnchen: Verlag C.H.Beck.
Investigaes sobre
O Agir Humano
198
Trcke, C. (2012).Hyperaktiv: Kritik der Aufmerksamkeit Defizit Kultur.
Verlag C.H.Beck oHG: Mnchen.
Ullrich, W. (2012). Haben Wollen: wie funktioniert die Konsumkultur?
Frankfurt: Fischer Verlag.
8
ASPECTOS DO CONCEITO DE ALIENAO EM
ROUSSEAU E MARX
Telmir de Souza Soares
1
1. INTRODUO.
O presente artigo busca compreender o conceito de
alienao e, mais especificamente, como esse conceito articulado
em dois pensadores da teoria poltica, a saber, Rousseau e Marx. A
proposta interpretativa, presente neste trabalho, procura demarcar
aproximaes e diferenas entre esses dois pensadores. Observamos
em Rousseau o conceito de alienao enquanto fundamento da
formao do Estado, a base do contrato social. Em Marx, a
princpio, o conceito assume uma dimenso econmica, como a
categoria que expressa a relao entre o trabalhador e o produto de
sua atividade produtiva. Em seu discurso, a partir do conceito de
alienao, so depreendidos os elementos bsicos das anlises da
economia poltica, tais como a propriedade privada e a mais valia.
Nos dois pensadores a alienao serve para tratar da existncia
humana e da sua busca por autonomia e liberdade, conceitos caros
teoria social.
1
Professor Adjunto I da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte UERN, lotado no Departamento de Filosofia DFI. Doutorando em
Filosofia Prtica pela Universidade Federal da Paraba UFPB. (E-mail:
telmir@gmail.com).
Investigaes sobre
O Agir Humano
200
2. CONSIDERAES SOBRE O CONCEITO DE
ALIENAO: APROXIMAES.
Uma breve considerao histrica sobre o conceito de
alienao nos mostra seu uso desde a Idade Mdia para tratar do
xtase mstico, da relao contemplativa do homem com Deus.
Apesar de possuir longa tradio, em Rousseau, Hegel e Marx que
encontramos seu uso mais continuado e consistente, associado
teoria social e a uma tentativa de explicar aspectos importantes da
vida em sociedade, como os fundamentos do pacto social, da
constituio do soberano, bem como de elementos da economia
poltica.
De modo geral por alienao compreende-se o processo por
meio do qual o sujeito se encontra em uma relao de subordinao
com outrem, da a vocbulo allius de onde deriva alienao.
Uma figura contempornea para o sentido embutido nesse
conceito pode ser encontrado nas atividades financeiras que
remetem a um contrato assumido em uma compra financiada de um
objeto qualquer sob o aspecto da alienao fiduciria. Nestas formas
de contrato at que as prestaes do mesmo sejam devidamente
quitadas o objeto, apesar de estar em uso do comprador, por fora
desse contrato de alienao, resta como propriedade do credor
estando, portanto, alienado. A posse em definitivo do bem pelo
devedor se d quando este, de fato, quita, zera seu dbito com o
credor.
A concepo estabelecida contemporaneamente sobre
alienao nos vem da tradio marxista, muito embora tal
concepo tenha atualmente uma srie de vertentes e variantes. O
conceito de alienao em Marx representa uma crtica concepo
puramente especulativa que este conceito assume em Hegel. Para
este, a alienao consiste num processo de objetivao levado
cabo por fora da determinao da conscincia de si, em um
Investigaes sobre
O Agir Humano
201
processo de autoconscincia. Hegel identifica tal objetivao com a
alienao.
Em contrapartida, em Marx, a objetivao no um
conceito negativo, representa o processo pelo qual o homem se
exterioriza atravs do trabalho agindo sobre a natureza
transformando-a, e com isso elaborando-a em um espao humano.
Quanto alienao, propriamente dita, apresenta-se como o
processo pelo qual o homem se torna alheio a si, a ponto de no mais
se reconhecer. Tal alienao se d pelo processo de trabalho,
quando neste, o produto da atividade do operrio usurpado pelo
capitalista, fazendo com que o trabalhador no mais reconhea o
fruto dos seus prprios esforos. O que o trabalhador produz no
mais pertence a ele mesmo, mas ao patro. Marx identifica esse
processo de expropriao como alienao, como nos diz
Abbagnano.
...a alienao o dano ou a condenao maior da
sociedade capitalista. A propriedade privada produz a
alienao do operrio tanto porque cinde a relao deste
com o produto do seu trabalho que pertence ao
capitalista, porque o trabalho permanece exterior ao
operrio, no pertence sua personalidade.
(ABBAGNANO, 1998, p. 26)
Na contemporaneidade, como resultado da contribuio
marxista, o conceito assumiu diferentes concepes e as mais
variadas aplicaes no mbito da teoria social. guisa de exemplo,
Adorno e Horkheimer fazem um uso diferenciado do termo em sua
Dialtica do Esclarecimento. Nesta obra a alienao assume uma
concepo gnosiolgica produzida pelo prprio esclarecimento
quando da superao da concepo mtica. A despeito da fortuna
que o conceito de alienao alcana no mbito da filosofia, em
funo dos limites desse trabalho, consideraremos apenas dois
Investigaes sobre
O Agir Humano
202
autores: Rousseau e Marx. Consideraremos, mais especificamente,
como estes dois pensadores tratam do conceito de ali enao,
buscando fazer algumas aproximaes e afastamentos dados ao
conceito enquanto pressuposto para a teoria social dos mesmos.
3. DOS MLTIPLOS DIZERES SOBRE A ALIENAO:
ROUSSEAU E MARX.
A alienao pode ser dita de vrias maneiras e, nesse texto
duas so as perspectivas a serem consideradas para o conceito de
alienao: a do direito poltico e a da economia poltica e sua crtica.
Elas correspondem, respectivamente, aos autores objeto de
trabalho: Rousseau e Marx. E, enquanto tratam da relao do
homem consigo mesmo, da relao deste com os outros homens e
com o fruto do seu trabalho, essas concepes se diferenciam
quando buscam tratar do lugar das relaes sociais travadas da
poltica e da vida econmica no mbito da teoria social. Entretanto,
no devemos consider-las como posies divergentes, muito
menos excludentes, antes como aspectos tericos complementares,
a despeito da varincia das proposies e efeitos desejados por cada
autor.
3.1. Rousseau e a alienao na perspectiva do direito poltico.
O conceito de alienao em Rousseau pode ser encontrado
sob vrios aspectos: a alienao em relao natureza, a alienao
no seio da sociedade, a alienao do eu particular em relao ao eu
comum, entre outros. Tais leituras, entretanto, estariam ligadas ao
esforo exegtico e hermenutico de tentar constituir tais aspectos a
partir de claros e escuros na obra de Rousseau, de especular pelos
Investigaes sobre
O Agir Humano
203
momentos em que o conceito ora se revela, ora se oculta sob outros
temas da filosofia do genebrino. Nossa abordagem tem como obra
principal o Contrato social pois nesta Rousseau deixa claro sua
inteno ao se servir do conceito. O Contrato social, a despeito de que
seu ttulo tenha como pretenso mostrar o objetivo principal do
texto, a saber, discursar sobre os termos do contrato social, tem
como subttulo os princpios do direito poltico, da no causar
estranheza que a primeira frase do texto seja:
Quero indagar se pode existir, na ordem civil, alguma
regra de administrao legtima e segura, tomando os
homens como so e as leis como podem ser. Esforar-
me-ei sempre, nessa procura, para unir o que o direito
permite ao que o interesse prescreve, a fim de que no
fiquem separadas a justia e a utilidade (ROUSSEAU,
1962, p. 19)
Rousseau deixa claro desde o incio o seu propsito, para
alm de estabelecer uma descrio do Estado baseada no contrato,
ele pretende investigar sobre as regras que tornem legtima a
associao entre os homens. Tal declarao demonstra que ele no
estava satisfeito com as teorias que at ento tentavam dar conta da
justificao da formao do Estado, entre elas as propostas
contratualistas e os princpios do direito poltico vigentes no sculo
XVIII. Ele buscava apontar caminhos para o dever-ser de uma
associao que se quisesse justa e til.
Muitas so as referncias que fundamentam essa tomada de
posio de Rousseau. Seu pensamento trava um dilogo com um rol
de autores importantes e reconhecidos. No mbito do
contratualismo, como j foi apontado, temos nomes como Locke e
Hobbes; no que diz respeito ao jusnaturalismo, ele se baseia e
debate com pensadores como Pufendorf e Grotius. Infelizmente,
no escopo desse trabalho no ser possvel abordar essas
Investigaes sobre
O Agir Humano
204
referncias, tal discusso foi muito bem retratada no livro de Robert
Derath: Jean Jacques Rousseau e a cincia poltica de seu tempo. Assim,
cabe-nos tratar das intenes de Rousseau ao propor a si mesmo a
tarefa de teorizar sobre a fundao e os fundamentos do Estado e as
relaes desta teoria com o conceito de alienao.
a) A alienao enquanto pressuposto para a constituio corpo
poltico.
no mbito do Contrato social que encontramos de forma
bem definida a concepo rousseauniana de alienao. Tal
apresentao se d em meio contra-argumentao sobre as formas
legtimas de dominao e, mais especificamente, contra a
justificao da escravido enquanto uma forma de domnio sobre ao
outro baseada em uma suposta lei do mais forte. No captulo IV
do Contrato, quando trata da escravido, Rousseau argumenta contra
Grotius. Segundo este, um homem particular pode alienar sua
liberdade e tornar-se escravo e, por extenso, o mesmo poderia se
dar com um povo. Este seria o fundamento do Estado para o
pensador holands, a efetiva doao que um povo faz de si mesmo
em proveito de um governante a fim de que este possa represent-
lo, conduzi-lo, proteg-lo, etc.
Rousseau vai se colocar como opositor da tese de Grotius, e
para isto ele se detm no conceito de alienao guisa de dissipar
equvocos no que diz respeito concepo defendida pelo jurista
holands:
Alienar dar ou vender. Ora, um homem que se faz
escravo de um outro, no se d; quando muito, vende-se
pela subsistncia. Mas um povo, por que se venderia? O
rei, longe de prover a subsistncia de seus sditos, apenas
dele tira a sua e, de acordo com Rabelais, um rei no vive
com pouco. Os sditos do, pois, a sua pessoa sob a
Investigaes sobre
O Agir Humano
205
condio de que se tome tambm seus bens? No vejo o
que lhes resta. (ROUSSEAU, 1962, p. 23)
Rousseau, em oposio a Grotius, declara que a alienao,
nos moldes da escravido, no consiste em fundamento para a
dominao sobre outrem. Servir como escravo quando muito um
regime de prudncia, no de direito, pois, segundo ele, a fora no
produz direito. Assim, em sua forma negativa, enquanto
subservincia ao mais forte por medo da morte, a alienao no
pode se constituir como fundamento da associao poltica.
Afirmar que um homem se d gratuitamente, constitui
uma afirmao absurda e inconcebvel; tal ato ilegtimo
e nulo, to s porque aquele que o pratica no se
encontra no completo domnio de seus sentidos. Afirmar
a mesma coisa de um povo supor um povo de loucos: a
loucura no cria direito. (ROUSSEAU, 1962, p. 23)
A argumentao de Rousseau assume ainda uma dimenso
mais especfica quando ele defende a liberdade como substrato
fundamental para a criao da associao humana, bem como para
sua manuteno. preciso que o homem seja livre para constituir o
corpo poltico. E, uma vez sendo livre, nada justifica que o mesmo
queira vir a se tornar escravo. Destarte a escravido no pode servir
de substrato para a sociabilidade, pois em tal situao encontra-se o
indivduo coagido e, portanto, sem a posse de sua liberdade. O
mesmo se daria com um povo que se alienasse de boa vontade sem
nenhum retorno; isso seria loucura. Nem a escravido nem a
loucura so princpios que legitimem a alienao enquanto
fundamento da associao poltica.
Rousseau coloca a liberdade como condio sine qua non do
exerccio da condio humana, da sua natureza prpria, de sorte
que, expropriar-se desse elemento essencial seria compatvel a
Investigaes sobre
O Agir Humano
206
desistir dos direitos prprios da humanidade tornando-se um ser
destitudo de moralidade.
Renunciar liberdade renunciar qualidade de homem,
aos direitos da humanidade e at aos prprios deveres.
No h recompensa possvel a quem tudo renuncia. Tal
renuncia no se compadece com a natureza do homem, e
destituir-se voluntariamente de toda e qualquer liberdade
equivale a excluir a moralidade de suas aes. Enfim,
intil e contraditria conveno a que, de um lado,
estipula uma autoridade absoluta, e, de outro, uma
obedincia sem limites. No est claro que no se tem
compromisso algum com aqueles que se tem o direito de
tudo exigir? (ROUSSEAU, 1962, pp. 23-24)
Uma vez excluda a alienao enquanto fundamento para a
obedincia legal a outrem d-se, por analogia, o mesmo no nvel da
sociedade. Enquanto Grotius defende que um povo pode se dar a
um rei, Rousseau, argutamente considera que para efetuar tal
doao o povo j teria que se encontrar constitudo. Destarte,
Rousseau leva em considerao qual ato constitui um povo antes de
tudo. Este ato primeiro, em tese, possibilitaria tal alienao.
Um povo, diz Grotius, pode dar-se um rei. Portanto,
segundo Grotius, um povo povo antes de dar-se um rei.
Essa doao um ato civil, supe uma deliberao
pblica. Antes, pois, de examinar o ato pelo qual um
povo elege um rei, conviria examinar o ato pelo qual um
povo povo, pois esse ato, sendo necessariamente
anterior ao outro, constitui o verdadeiro fundamento da
sociedade. (ROUSSEAU, 1962, p. 26)
Rousseau em sua argumentao chega ao ponto em que
define o que a sociabilidade e qual seu fundamento. Aqui a
alienao assume um carter positivo enquanto ato fundador de
povo, de uma sociedade. Tal ato constitui-se antes mesmo de
Investigaes sobre
O Agir Humano
207
decidir-se qual a forma de governo que seria a mais adequada para
esta associao poltica. E, mais que isso, nesse conceito de
alienao reside um sem nmero de elementos pressupostos na
teoria de Rousseau que do um carter unificador ao seu
pensamento e aos conceitos expostos em seus textos.
Assim, no percurso do Contrato o problema fundamental que
Rousseau procura resolver novamente enunciado:
Encontrar uma forma de associao que defenda e
proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda
fora comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, s
obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim to
livre quanto antes. Esse o problema fundamental cuja
soluo o contrato social oferece. (ROUSSEAU, 1962, p.
27)
Enquanto a tradio filosfica, em termos de filosofia
poltica, apontava para a paz como substrato da vida social, como
podemos ver em Agostinho, Marslio de Pdua e mesmo em
Hobbes e Locke, encontramos em Rousseau um novo elemento: a
liberdade. Rousseau afirma que muitos que esto presos encontram-
se em paz, a despeito de no se encontrarem em liberdade. A
associao s tem sentido se cada um puder ser to livre como se
encontrava no estado de natureza. Associar-se para escravizar-se ao
mando de outrem no faz o menor sentido para Rousseau. Assim, o
formato adequado da associao poltica deve ser aquele em que
cada um dando-se receba do outro, em contrapartida, o mesmo grau
de doao prevista no contrato de forma equnime. Na justeza da
alienao equitativa, e somente deste modo, est-se seguro que, na
doao de todos, cada um obedece, quando da constituio da lei,
somente a si mesmo:
Essas clusulas, quando bem compreendidas, reduzem-se
todas a uma s: a alienao total de cada associado, com
Investigaes sobre
O Agir Humano
208
todos os seus direitos, comunidade toda, porque, em
primeiro lugar, cada um dando-se completamente, a
condio igual para todos, e, sendo a condio igual
para todos, ningum se interessa por torn-la onerosa
para os demais. (ROUSSEAU, 1962, p. 27)
Pressuposto est neste conceito de alienao temas que
sero tratados posteriormente no Contrato Social como a vontade geral
e a soberania. Desse modo, nos declara mais adiante Rousseau:
Cada um de ns pe em comum sua pessoa e todo o seu poder
sob a direo suprema da vontade geral, e recebemos, enquanto
corpo, cada membro como parte indivisvel do todo.
(ROUSSEAU, 1962, p. 28). E, no mesmo captulo, mas em um
pargrafo anterior ele nos diz que essa igualdade de condies a
garantia de que no seramos propriedade de ningum, muito pelo
contrrio, tal composio seria a garantia de estarmos constituindo
uma vontade geral que seria o sucedneo da vontade particular:
Enfim, cada um dando-se a todos no se d a ningum e, no
existindo um associado sobre o qual no se adquira o mesmo direito
que se lhe cabe sobre si mesmo, ganha-se o equivalente de tudo que
se perde, e maior fora para conservar o que se tem. (ROUSSEAU,
1962, p. 28)
O resultado desse ato fundador baseado na alienao de
todos seria a constituio do corpo poltico, de um corpo moral e
coletivo que contm em si formas diferenciadas de exerccio do seu
ser e do seu dever-ser:
Imediatamente, esse ato de associao produz, em lugar
da pessoa particular de cada contratante, um corpo moral
e coletivo, composto de tantos membros quantos so os
votos da assembleia, e que, por esse mesmo ato ganha sua
unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa
pessoa pblica, que se forma, desse modo, pela unio de
todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e,
Investigaes sobre
O Agir Humano
209
hoje, o de repblica ou de corpo poltico, o qual
chamado por seus membros de Estado quando passivo,
soberano quando ativo, e potncia quando comparado
aos semelhantes. Quanto aos associados, recebem eles,
coletivamente, o nome de povo e se chamam, em
particular, cidados enquanto partcipes da autoridade
soberana, e sditos enquanto submetidos s leis do
Estado. (ROUSSEAU, 1962, p. 28)
Com a alienao o indivduo assume um novo estatuto,
cabendo-lhe atuar em meio coletividade a fim de fazer valer seu
direito e garantir, assim, sua liberdade. Tal atuao tem por base o
contrato social, que tem como pressuposto a alienao total de
todos como fundamento da associao poltica, do Estado. Por
meio da alienao de todos que o homem garantiria a posse dos
seus direitos. Destarte a alienao assume em Rousseau o papel de
mal necessrio que criaria as condies de possibilidade de uma
constituio justa e til para o Estado.
Assim a alienao tem dois aspectos em Rousseau: a perda
de si e o resgate de si. Enquanto perda, alieno o que tenho na
perspectiva da constituio do Estado. S que tal alienao no
gratuita, ela tem como contrapartida a doao na mesma proporo
dos outros contratantes. Neste sentido surge o segundo aspecto: o
resgate do que fora alienado. Uma vez que o outro compartilha e
assume o mesmo compromisso no mesmo ato a doao faz com
que todos componham na mesma disposio os mesmos deveres e
tenham os mesmos direitos. O resultado de tal ato que acabo por
ter de volta tudo o que anteriormente havia alienado. E, como diz
Rousseau, na constituio da vontade geral cada um que compe a
vontade geral, de fato, obedece a si mesmo.
No Contrato Social Rousseau propugna estabelecer um tipo
de associao que cure os males da vida humana em sociedade. Um
dos mais graves males a dominao de um sobre o outro pois,
Investigaes sobre
O Agir Humano
210
como ele mesma asseverara no Discurso sobre a origem e o fundamento
das desigualdades entre os homens, a sociabilidade constitui
desigualdades, bem como amplia as j existentes.
O aspecto a ser destacado nesse processo de alienao
que, se cada um aliena o que tem, todos esto sujeitos entre si e, no
cmputo geral cada um, obedecendo a todos, s obedece a si
mesmo. Neste sentido, por meio da alienao de todos os
contratantes, desaparece o estatuo do domnio de um sobre o outro.
E, como observamos acima, ideia de alienao devemos anuir as
ideias de vontade geral e soberania. O pensamento de Rousseau est
assim interligado com outros aspectos de sua teoria social e poltica.
A alienao teria esse aspecto positivo capaz de resguardar a
sociabilidade dos problemas que Rousseau via no pensamento
poltico de sua poca.
b) A alienao enquanto ruptura com a natureza.
Cabe ainda destacar, como contribuio terica ao conceito
de alienao em Rousseau, uma concepo que aponta para
alienao enquanto o processo de desnaturao que conduziu o
homem vida social. Alienao aqui consistiria em um afastamento
ao que originrio, isto , em relao Natureza. Tal acepo
podemos encontrar na obra da Profa. Olgria Matos intitulada
Rousseau uma arqueologia da desigualdade, e que consiste em sua
dissertao de mestrado. Nesta trabalho, a alienao caminha de
par a par com o origem e o desenvolvimento das desigualdades:
A pergunta pela origem da desigualdade converte-se,
pois, em questo acerca da transformao ocorrida na
natureza humana e que a fez passar do estado de
igualdade entre os homens autossuficientes ao estado de
desigualdade entre homens que se tornam dependentes.
Investigaes sobre
O Agir Humano
211
A Arqueologia da desigualdade uma teoria da alienao.
(CHAU apud MATOS, 1978, p. 11)
Segundo essa acepo, a alienao se d no processo de
desenvolvimento da sociabilidade e tem como seu processo final a
relao que os homens travaro no mbito da propriedade privada.
Esta tem como seu elemento crucial a apropriao da terra e a
consequente guerra de todos:
A apropriao da terra est na raiz do subsequente estado
de guerra e de seus efeitos: ricos e pobres, fortes e fracos,
senhores e escravos. As relaes entre indivduos que
constituiro o estado de guerra so tambm produto da
atividade do homem; tais relaes no so externas com
relao aos indivduos, existem como
consubstancialidade, isto , todo o desenvolvimento da
histria do homem se produz de tal maneira que os
efeitos da primeira socializao j determinam a alienao
dos indivduos; a partir dessa primeira alienao das
relaes sociais existentes, o homem se aliena cada vez
mais. Enquanto subsistiu a floresta, o homem pde
escapar tirania das relaes sociais e a seus efeitos
coercitivos. Quando o reino da floresta findou, toda a
terra comeou a ser cultivada, dominada pelo proprietrio
mais forte que usurpou a terra aos ocupantes primitivos;
os homens no encontraram mais refgio para sua
liberdade, viram-se forados aos estados de guerra
alienao. (MATOS, 1978, p. 84)
Matos percorre o Discurso sobre as desigualdades apontando as
etapas do processo de desenvolvimento do homem, de sua
perfectibilidade, que fizeram com que este desenvolvesse suas
habilidades, a razo, a linguagem. Em meio a esse desenvolvimento
o homem aprimorou tcnicas que o deixou mais imune aos
desgnios da natureza. Entretanto, tais necessidades e dificuldades
promoveram o encontro entre os homens e, com isto o surgimento
Investigaes sobre
O Agir Humano
212
de novas necessidades e novas dificuldades. Essas relaes sero
responsveis pelo surgimento de vrios tipos de propriedade: dos
bens naturais, da moradia, de ferramentas, culminando com a
apropriao de reas de terra, sendo que esta ltima forma de
propriedade aprofunda e agrava as demais desigualdades de forma
drstica.
Durante todo esse desenvolvimento o homem j se encontra
em meio a um processo de alienao. Matos, entretanto, caracteriza
esse processo dentro da guerra de todos e do surgimento da
propriedade privada. dentro deste quadro que se estabelece o que
se considera o primeiro contrato ou, como tambm possvel ser
compreendido, o contrato dos ricos. Este, em oposio ao contrato
social, em que a alienao consiste na constituio do corpo
poltico, representa um acordo que o possuidor faz com os
despossudos a fim de construir um estado de no agresso,
entretanto esse contrato na verdade um engodo:
Os possuidores convencero os demais acerca da
dependncia necessria e sem este convencimento a
submisso seria impossvel (...) eis o discurso do rico,
fraco para se defender sozinho, converte-se em discurso
do forte, pois conta com o auxlio submisso daqueles que
acreditam que seu bem consistia em trabalhar para o bem
do outro. Assim, trabalho e linguagem complementa-se
no espraiamento interminvel da alienao. (CHAU
apud MATOS, 1978, p. 14)
A despeito da acuidade da leitura de Matos sobre o Segundo
discurso, h que salientar que, a nosso ver, sua leitura ultrapassa os
limites de uma interpretao que se atm ao contexto no qual o
autor fala. Nem a escravido, nem o senhorio, nem a propriedade
foram pensadas por Rousseau como categorias histricas e
econmicas, mas enquanto categorias polticas e morais.
Investigaes sobre
O Agir Humano
213
Tal postura diferente da concepo de Marx que analisa a
histria a partir dos modos de produo, entre os quais se encontra
a escravido. Rousseau um pensador que, desde seus escritos
iniciais, procurou refletir sobre a situao do homem na sociedade,
seu lugar, suas dificuldades. O Discurso sobre as desigualdades aponta
para o desenvolvimento das desigualdades no mbito da vida em
sociedade. Muito embora a natureza tivesse feito dos homens seres
desiguais, tais desigualdades no implicavam em despropores de
grande monta.
Devemos salientar que Rousseau no faz uso programtico e
intensivo de categorias econmicas no mbito de sua teoria social,
sendo este o principal diferencial em relao a Marx. Mesmo no
artigo mais especfico sobre o tema, o verbete veiculado na
Enciclopdia sobre Economia poltica, ele trata do governo da cidade em
sua relao ao governo da casa.
Na concepo de Matos, o conceito de alienao presente
no Segundo discurso apresenta uma lacuna metodolgica, uma
incompreenso das relaes de trabalho: O que Rousseau no
percebe que a apropriao dos objetos revela-se como alienao
no somente sob o aspecto moral, mas tambm sob o domnio
econmico: quanto mais o trabalhador produz, menos ele possui,
caindo sob a dominao de seu produto, o capital (MATOS,
1978, p.87).
Vale salientar que tal matriz interpretativa, de cunho hegelo-
marxiana, representa uma tomada de posio em face da obra de
Rousseau. Entretanto, concordamos com Matos que podemos falar
de uma alienao enquanto afastamento da origem, da Natureza, da
perda causada por esse afastamento, algo que, como diz Rousseau,
desfigurou o homem. Essa perda de um eu originrio, desde seus
primrdios pode ser subsumida sob o conceito de alienao. E,
muito embora essa transformao que tornou o homem um ser
infeliz no possa ser resgatada em sua integralidade e no seja
Investigaes sobre
O Agir Humano
214
possvel um retorno a esse estgio originrio, possvel, ao menos,
um resguardo daquilo que foi perdido, principalmente a liberdade.
Neste sentido nos encontramos no mbito do contrato social e do
seu conceito de alienao.
3.2. A alienao em Marx: aspectos econmicos da teoria
social.
Marx trilha um caminho diferente do de Rousseau ao tratar
da alienao. Se em Hegel a alienao tem como pressuposto o
desenvolvimento da conscincia que ope a si um objeto exterior
representando um momento no desdobramento do Esprito, Marx
foge desse tipo de idealismo que remonta a Fichte e, invertendo a
construo conceitual, parte das relaes materiais de produo para
explicar a vida em sociedade. Assim, o conceito assume uma
dimenso histrica e econmica a partir das matrizes metodolgicas
postas pela modernidade.
Enquanto em Rousseau economia poltica representava uma
anlise do governo, j no Perodo das Luzes temos o surgimento de
um pensamento mais voltado para a anlise da relao entre
produo e constituio da sociedade. Adam Smith (1723-1790),
David Ricardo (1772-1823), Jean-Baptiste Say (1767-1832), Thomas
Malthus, (1766-1834) representam intelectuais que tratam da
economia poltica de forma mais cientfica, mas atenta realidade
social e mais aproximada interpretao da nascente sociedade
capitalista. O prprio Hegel (1770-1831) trata, na sua Filosofia do
direito, do reino das carncias e, na Fenomenologia do Esprito, das figuras da
conscincia, sendo a mais famosa a dialtica do senhor e do escravo,
elementos de teoria que j compreende a importncia da economia
na compreenso da sociedade e na construo de teorias sociais.
Investigaes sobre
O Agir Humano
215
Marx tributrio desta tradio e dessas teorias na
constituio do seu pensamento, mas assume a perspectiva das
relaes materiais de produo da vida como pressuposto
infraestrutural da sociedade e da efetivao de seu tutor, o Estado.
Em Marx a alienao assume o carter com que tem sido
comumente apreendido at hoje, enquanto estranhamento do
produto em relao ao produtor em meio ao modo de produo
econmica e, mais especificamente, no mbito do capitalismo:
O estranhamento do trabalhador em seu objeto se
expressa, pelas leis nacional-econmicas, em que quanto
mais o trabalhador produz, menos tem para consumir;
que quanto mais valores cria, mais sem valor e indigno ele
se torna; quanto mais bem formado o seu produto, tanto
mais deformado ele fica; quanto mais civilizado seu
objeto, mais brbaro o trabalhador se torna; quanto mais
rico de esprito o trabalho, mais pobre de esprito e servo
da natureza se torna o trabalhador. (MARX, 2008, p. 82)
A alienao surge no processo de apropriao/expropriao
do trabalho ao qual o operrio est submetido no modo de
produo capitalista. Como o proprietrio dono dos meios de
produo, ele se apropria do produto das mos do trabalhador e o
expropria daquilo que ele mesmo produziu. O produto torna-se
estranho ao que o produziu, encontra-se em oposio ao produtor
e, esse alheamento se agrava, pois o processo produtivo visa no ao
bem enquanto uso, mas enquanto valor de troca, ou seja, venda
que tem como objetivo final o lucro. Para que este se d de forma
abundante, para alm de uma justa relao de trabalho, o
proprietrio dos bens de produo visa aumentar a mais valia, o
valor excedente da fora de trabalho embutida na produo dos
bens, das mercadorias.
O mais nefasto que o prprio trabalhador, duplamente
expropriado e alienado (quanto ao produto do seu trabalho e
Investigaes sobre
O Agir Humano
216
quanto aos fins da produo), v-se excludo, tambm, do prprio
mercado de venda de produtos, posto que ele nem pode comprar
aquilo que ele mesmo fabrica pois a remunerao do trabalhador
compreende to somente os custos da manuteno da mo de obra,
da sobrevivncia mnima do trabalhador, a fim de que o mesmo
tenha que dispor sua fora de trabalho uma vez mais no mercado a
fim de garantir, ao menos, sua sobrevivncia.
O resultado desse processo de alienao o
empobrecimento do trabalhador em meio ao processo de produo
do que ele faz parte e a pea mais importante. Assim, em funo
da forma do exerccio do trabalho enquanto alienao, o
trabalhador finda por corroborar com sua prpria explorao no
modo de produo capitalista:
Ns partimos de um fato nacional-econmico, presente.
O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais
riqueza produz, quanto mais a sua produo aumenta em
poder e extenso. O trabalhador se torna uma mercadoria
to mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a
valorizao do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta
em proporo direta a desvalorizao do mundo dos
homens (Menschenwelt). O trabalho no produz
somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao
trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em
que produz, de fato, mercadorias em geral. (MARX, 2008,
p. 80)
O processo de alienao no s retira do homem o suor do
seu rosto, com o qual ele deveria manter a sua vida, segundo a
metfora bblica, ele tambm expropria o trabalhador da
possibilidade de se constituir enquanto ser humano. Enquanto em
Hegel a conscincia se autodefine no desdobramento do Esprito,
em Marx esse processo se d pelo trabalho.
Investigaes sobre
O Agir Humano
217
At aqui examinamos o estranhamento, a exteriorizao
do trabalhador sob apenas um dos seus aspectos, qual
seja, a sua relao com os produtos de seu trabalho. Mas
o estranhamento no se mostra somente no resultado,
mas tambm, e principalmente, no ato da produo,
dentro da prpria atividade produtiva. Como poderia o
trabalhador defrontar-se alheio (fremd) ao produto de sua
atividade se no ato mesmo da produo ele no
estranhasse a si mesmo? O produto , sim, somente o
resumo (Resum) da atividade, da produo. Se, portanto,
o produto do trabalho a exteriorizao, ento a
produo mesma tem de ser a exteriorizao ativa, a
exteriorizao da atividade, a atividade da exteriorizao.
No estranhamento do objeto do trabalho resume-se
somente o estranhamento, a exteriorizao na atividade
do trabalho mesmo. (MARX, 2008, p. 82)
Esta atividade faz com que o homem transforme a natureza
e, ao faz-la, transforme a si mesmo. Ao transformar o trabalho e o
trabalhador em mera mercadoria o modo de produo capitalista
nega ao homem, ao trabalhador que ele se realize. O trabalho
alienado assim no constitui o homem, muito pelo contrrio um
fardo que tem que ser carregado ad infinitum sem perspectiva de
libertao. Trabalho de Ssifo, sem perspectiva de sentido, de
realizao, nem de redeno:
Em que consiste, ento, a exteriorizao (Entusserung)
do trabalho? Primeiro, que o trabalho externo (usserlich)
ao trabalhador, isto , no pertence ao seu ser, que ele
no se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se
nele, que no se sente bem, mas infeliz, que no
desenvolve nenhuma energia fsica e espiritual livre, mas
mortifica sua physis e arruna o seu esprito. O
trabalhador s se sente, por conseguinte e em primeiro
lugar junto si [quando] fora do trabalho e fora de si
[quando] no trabalho. Est em casa quando no trabalha
e, quando trabalha, no est em casa. O seu trabalho no
Investigaes sobre
O Agir Humano
218
, portanto, voluntrio, mas forado, trabalho obrigatrio.
O trabalho no , por isso, a satisfao de uma carncia,
mas somente um meio para satisfazer necessidades fora
dele. (MARX, 2008, p. 83)
Destarte, Marx apreende a alienao em um amplo espectro,
enquanto a relao do trabalhador com o produto do seu trabalho e
enquanto atividade produtiva dentro da cadeia do processo de
produo capitalista. Enquanto na primeira dimenso temos o
estranhamento entre o produto e o produtor, na segunda dimenso
temos a alienao enquanto a separao entre a atividade e o agente
dessa atividade. Nessas duas dimenses passamos da relao do
homem com os objetos para a relao do homem com seu prprio
ser, relao possibilitada por sua atividade laboral:
Examinemos o ato do estranhamento da atividade
humana prtica, o trabalho, sob dois aspectos: 1) A
relao do trabalhador com o produto do trabalho como
um objeto estranho e poderoso sobre ele. Essa relao
ao mesmo tempo a relao com o mundo exterior
sensvel, com os objetos da natureza como um mundo
alheio que se lhe defronta hostilmente. 2) A relao do
trabalho como o ato de produo no interior do trabalho.
Esta relao a relao do trabalhador com sua prpria
atividade humana como uma [atividade] estranha e no
pertencente a ele, a atividade como misria, a fora como
impotncia, a procriao como castrao. A energia
espiritual e fsica prpria do trabalhador, sua vida pessoal
pois o que a vida seno atividade como uma
atividade voltada contra ele mesmo, independente dele,
no pertencente a ele. O estranhamento de si
(Selbstentfremdung), tal qual acima o estranhamento da
coisa. (MARX, 2008, p. 83)
O conceito de alienao possibilita uma reflexo sobre as
formas de sociabilidade humana, pois, enquanto forma da
produo, o trabalho nos relaciona com outros sujeitos, quer outros
Investigaes sobre
O Agir Humano
219
homens nos postos de trabalho, quer seja com aquele que compra o
objeto final do nosso trabalho enquanto mercadoria, ou mesmo
com o prprio capitalista, o dono dos meios de produo. Tal
perspectiva acerca das relaes sociais como produto da atividade
econmica j havia sido trabalhado por Smith e Ricardo. Em Marx
essas relaes se do como a forma inerente ao modo de produo
capitalista e tem como substrato o trabalho alienado:
Atravs do trabalho estranhado, exteriorizado, o
trabalhador engendra, portanto, a relao de algum
estranho ao trabalho do homem situado fora dele
com este trabalho. A relao do trabalhador com o
trabalho engendra a relao do capitalista (ou como se
queira nomear o senhor do trabalho) com o trabalho.
A propriedade privada , portanto, o produto, o
resultado, a consequncia necessria do trabalho
exteriorizado, da relao externa (usserlichen) do
trabalhador com a natureza e consigo mesmo. (MARX,
2008, p. 87)
Assim, em Marx, com a categoria do trabalho alienado
temos acesso a vrios aspectos da teoria econmica e social:
A propriedade privada resulta, portanto, por anlise, do conceito
de trabalho exteriorizado, isto , de homem exteriorizado, de trabalho
estranhado, de vida estranhada, de homem estranhado. (MARX,
2008, p. 87) E, ainda:
Assim como encontramos, por anlise, a partir do
conceito de trabalho estranhado, exteriorizado, o
conceito de propriedade privada, assim podem, com a
ajuda destes dois fatores, ser desenvolvidas todas as
categorias nacional-econmicas, e haveremos de
reencontrar em cada categoria, como por exemplo do
regateio, da concorrncia, do capital, do dinheiro, apenas
uma expresso determinada e desenvolvida desses
primeiros fundamentos. (MARX, 2008, p. 89)
Investigaes sobre
O Agir Humano
220
O percurso do pensamento de Marx sobre o conceito de
alienao nos leva da constituio do homem atravs do seu
trabalho aos principais temas da economia poltica. Assim Marx
dialoga com seu tempo, com os autores que esto na base de sua
formao intelectual, mas associa esse pensamento no somente
uma compreenso da sociedade capitalista, ele faz uma crtica
concepo destes pensadores e produz uma condenao desse
modo de produo que torna o homem um objeto em meio a
outros objetos, em uma mercadoria em meio a outras mercadorias.
Neste sentido a alienao representa a denuncia de uma dupla
perda: do objeto do trabalho em relao ao trabalhador, e do
trabalhador em relao a si mesmo, pela negao da sua
possibilidade de constituio e afirmao como resultado e produto
do seu prprio trabalho. A alienao em Marx, em oposio a
Rousseau, assume uma dimenso crtica e negativa em relao
sociedade.
4. CONSIDERAES FINAIS.
As concepes de Rousseau e Marx sobre alienao
assumem aspectos diferenciadas, muito embora no excludentes
entre si. Enquanto em Rousseau a alienao representa o momento
da formao do povo e, por conseguinte, do Estado, representando,
ainda, a garantia de que, por meio da alienao universal, a saber, de
todos os contratantes, haveria a garantia do resguardo da liberdade
individual, em Marx a alienao um momento de sua crtica s
categorias econmicas tendo em vista explicar o estranhamento do
homem em relao ao produto de seu trabalho e em relao
atividade de autoproduo de seu prprio ser individual e social. Se
em Rousseau a alienao implica em fundamento para aspectos
Investigaes sobre
O Agir Humano
221
outros de sua teoria como a liberdade e a igualdade, j que pelo
artifcio da vontade geral, no haveria ningum superior e, cada um
ao obedecer s determinaes do todo, estaria na verdade
obedecendo a sim mesmo, em Marx a alienao pressuposto para
a economia poltica em geral, possibilitando explicaes dos
conceitos de propriedade privada, mais valia, etc.
Os autores expressam determinadas diferenas em seus
pensamentos. Somente sob o prisma da leitura interpretativa de
Olgria Matos que a teria de Rousseau apresentaria uma dimenso
mais economicista, agregando o conceito de alienao em relao
natureza ao conceito de trabalho expropriado:
O Homem separado da Natureza aliena-se porque passa a
depender das coisas produzidas para viver e julga
depender delas e no do trabalho que as produz; por
outro lado a diviso entre senhor e servidor aliena o
prprio trabalho na medida em que para ter as coisas para
viver preciso depender de outrem, seja daquele que
possui a terra (dependncia do servidor) seja daquele que
realiza o trabalho (dependncia do senhor). [...] Rousseau
toma a alienao como resultado do movimento da
produo e no como interior ao prprio ato produtivo e,
incapaz de alcanar a alienao em ato, no pode
ultrapassar a dimenso das oposies que descrevera.
(CHAU apud MATOS, 1978, p. 15)
Tal leitura apresenta a dificuldade de impor ao arsenal
terico do genebrino de categorias que estiveram ausentes na
formao e na poca de Rousseau. Esta perspectiva analtica
encontramos no pensamento de Della Volpe, pensador marxista
italiano.
Como possvel resposta a este tipo de interpretao
significativo pensarmos que os principais autores que influenciaram
Marx no mbito da teoria econmica tornaram-se referncia
somente aps a poca de Rousseau. Tais autores falavam, alm
Investigaes sobre
O Agir Humano
222
disso, a partir da Inglaterra que comeava a apresentar os primeiros
aspectos de sua revoluo industrial, enquanto a Frana ainda se
encontrava no mbito de resolver suas antigas fissuras em busca de
um novo regime.
Entretanto, no pensando que a alienao um conceito
estanque, tanto em Rousseau como em Marx, podemos encontrar
determinadas aproximaes entre estes pensadores. Em Rousseau
encontramos uma perspectiva negativa da alienao, aquela que
encontrada no somente no processo de desnaturao, mas na
perspectiva da constituio poltica, como a que fora defendida por
Grotius. A alienao enquanto subservincia e dominao
considerada como negativa para Rousseau e, mesmo a alienao no
mbito da constituio do corpo poltico considerada apenas
como um mal necessrio para manter a equao das obrigaes,
deveres e direitos.
Outrossim, a despeito do papel negativo que a alienao
assume no pensamento de Marx, em uma nota dos Manuscritos
irromper uma compreenso do trabalho que no se limita teoria
da alienao enquanto estranhamento, dando suporte a um tipo de
compreenso da alienao em seu aspecto mais positivo.
Suponha-se que tenhamos produzido de uma maneira
humana; cada um de ns, em sua produo, teria
afirmado duplamente a si mesmo e a seus semelhantes.
Eu teria (1) objetivado na minha produo a minha
individualidade, com suas peculiaridades e, assim, tanto
na minha atividade eu teria conseguido uma expresso
individual da minha vida, quanto ao olhar para o objeto
eu teria tido o prazer pessoal de perceber que minha
personalidade era objetiva, perceptvel aos sentidos e,
portanto, um poder que se levantava
inquestionavelmente. (2) Quando voc usasse ou
desfrutasse de meu produto, eu teria tido a satisfao
direta de perceber que eu no havia satisfeito uma
necessidade com o meu trabalho como objetivado a
Investigaes sobre
O Agir Humano
223
essncia humana e, portanto, modelado para outro ser
humano o objeto que atendia a sua necessidade. (3) Para
voc eu teria sido o mediador entre voc e a espcie, e
desse modo, eu teria sido reconhecido, teria sido sentido
por voc como um complemento de minha prpria
essncia e uma parte necessria de voc mesmo, e teria
assim percebido que sou confirmado tanto em seu
pensamento quanto em seu amor. (4) Na minha
expresso da minha vida eu teria modelado a sua
expresso de sua vida, concebendo assim, na minha
atividade, a minha prpria essncia, a minha essncia
humana, comunal. (MARX apud McLELLAN, 1983,
p.44)
Na efetivao de um trabalho desmembrado da alienao
como simples mercadoria ou enquanto objeto explorado tendo em
vista a mais valia encontraramos a afirmao do homem e da
espcie. Se o produto do meu trabalho alienado em benefcio de
um outro especificamente e, mais genericamente, da comunidade,
assim encontraria o produto de meu trabalho, ao final do processo,
o reconhecimento e a afirmao do meu eu, o contrrio do que se
d no sistema capitalista. Ao invs de um objeto hostil, um objeto
que me insere na espcie e me torna pessoa, algum, humano. Neste
sentido a alienao, ou melhor, a superao desta pela emancipao
humana das formas alienadas de produo se constituiria como um
momento da construo da liberdade.
A alienao pode, pois, ser vista de vrias maneiras, tanto de
forma positiva e afirmativa na constituio, quanto negativa e
depreciativa. Ambas as formas podem assumir tais configurao na
constituio do ser do homem e do ser social. Importa considerar
que em ambos os casos, o que torna a alienao um tema
importante para os dois autores sua associao ao tema da
liberdade. Importa que o indivduo, na constituio do ser social
seja livre. Em Rousseau a garantia deste processo se d pela
Investigaes sobre
O Agir Humano
224
alienao de todos. Por outro lado, importa que o que eu produzo,
que uma forma de alienao primeira e inerente ao processo
produtivo, seja constitutivo do meu ser e do ser social, momentos
da promoo da objetivao enquanto processo de humanizao,
momento de expresso da criatividade, momento de afirmao da
liberdade. Tanto em Rousseau como em Marx a negatividade se d
pela usurpao e pela dominao de outrem sobre o nosso ser e
sobre o fruto do nosso trabalho. Ao negar a dominao e ao afirmar
a liberdade, tanto Rousseau como Marx esto ligados por um
mesmo projeto.
H que se considerar, tambm, a centralidade desse conceito
na obra dos dois autores, servindo de pano de fundo para a
consolidao de suas teorias. Assim, da caracterizao do xtase
mstico ao processo de objetificao da conscincia, a alienao
passa a ser a pea chave para a compreenso do homem e da
sociedade. Devemos essa prioridade e capilaridade do conceito de
alienao aos trabalhos de Rousseau e Marx.
REFERNCIAS
DELLA VOLPE, Galvano. Rousseau e Marx: a liberdade igualitria. Lisboa:
Edies 70, s.d.
KONDER, Leandro. Marxismo e alienao. 2 edio, So Paulo : Editora
Expresso Popular, 2009.
MARX, Karl. Manuscritos econmicos e filosficos. Traduo Jesus Ranieri. So
Paulo: Bomtempo Editorial, 2008.
MATOS, Olgria C. F. Rousseau Uma arqueologia da desigualdade. So Paulo:
MG Editores Associados, 1978.
MCLELLAN, David. As idias de Marx. So Paulo : Cultrix, 1984.
MESZROS, Istvan. A teoria da alienao em Marx. So Paulo: Boitempo, 2009
Investigaes sobre
O Agir Humano
225
ROUSSEAU, Jean Jacques. Contrato social. Rio de Janeiro: Editora Globo,
1962.
VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Filosofia da prxis. 2 edio, So Paulo: Editora
Expresso Popular, 2009.
9
NOTAS SOBRE O TEMPO LIVRE EM
THEODOR W. ADORNO
Jean Henrique Costa
1
Marcela Amlia Pereira Cabrita
2
Tssio Ricelly Pinto de Farias
3
Todos tm que se dedicar a algo o tempo todo. O
tempo livre exige ser gasto at o fim. Ele planejado
como empreendimento, preenchido com vistas a todos os
eventos possveis ou pelo menos com deslocamentos em
velocidade mxima.
Theodor W. Adorno (2008, p. 134-135)
Minima Moralia (aforismo 91).
Este ensaio objetivou aproveitar algumas reflexes presentes
em Theodor W. Adorno para se pensar o lazer e o consumo do
tempo livre nas sociedades contemporneas. Fundamentalmente a
partir das discusses acerca da semiformao (Halbbildung), da
indstria cultural (Kulturindustrie) e do tempo livre (Freizeit), entende-
se o lazer como um fenmeno indissocivel do esprito de nosso
tempo, marcado, segundo Adorno, pela heteronomia cultural, pela
transformao do homem em estatuto de coisa e pela ideologia
1
Doutor em Cincias Sociais. Professor do Programa de Ps-Graduao
em Cincias Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte. (E-mail: jeanhenrique@uern.br).
2
Bacharel em Turismo pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). (E-mail: marcela-amalia@hotmail.com).
3
Graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte e Mestrando do Programa de Ps-Graduao em Cincias Sociais e
Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. (E-mail:
tassioricelly@gmail.com).
Investigaes sobre
O Agir Humano
228
como propaganda do mundo. Deste modo, no h como se pensar
lazer e tempo livre longe das relaes sociais concretas, histricas e,
portanto, sujeitas aos imperativos da integrao social.
Nesse sentido, este estudo vem apresentar ou
(re)apresentar a obra de Theodor W. Adorno para os chamados
estudos do lazer e do tempo livre, campo interdisciplinar em que o autor
ainda no to lido, sobretudo no Brasil. Autor de uma obra de
difcil compreenso, Adorno necessita ainda de maiores reflexes
acerca de suas ideias
4
. Logo, esta breve reflexo vem tentar
preencher uma lacuna existente, na medida em que traz as ideias de
Adorno para um campo do conhecimento ainda marcado por uma
viso muito instrumental do fenmeno do lazer. Assim, seguindo o
pensamento crtico adorniano, necessrio que o lazer seja pensado
para alm do simples fato do entretenimento, ou ainda, da funcional
reposio das energias vitais para o trabalho.
O texto estrutural de apoio deste ensaio Tempo Livre, um
texto que surgiu de uma conferncia transmitida pela Rdio
Alemanha em 1969 ano da morte de Adorno , que tem por
objetivo tratar da questo do tempo livre (NASCIMENTO;
MARCELLINO, 2010, p. 03). Este texto foi publicado no Brasil
originalmente em Palavras e Sinais, de 1995, traduo brasileira
de Stichworte: kritische modelle 2 (Frankfurt am Main, Suhrkamp).
4
Em apreciao a obra de Adorno, Cohn (1994, p. 07) nos alerta para o
fato que Adorno tido como autor de leitura particularmente difcil. Segundo afirma,
quem gosta de tudo pronto e arrumado, no deve ler Adorno. Essa leitura para quem est
disposto a uma experincia instigante, s vezes exasperante, mas sempre fecunda (COHN,
1994, p. 22). Terry Eagleton assim refora tal assertiva: [...] cada frase de seus
textos , por assim dizer, obrigada a trabalhar em excesso; cada sentena deve
tornar-se uma obra-prima ou um milagre da dialtica, fixando um pensamento um
segundo antes que ele desaparea em suas prprias contradies [...] Todos os
filsofos marxistas devem ser pensadores dialticos, mas com Adorno pode-se
sentir o esforo e a dificuldade desse estilo vivo em cada frase, numa linguagem
construda contra o silencio, na qual to logo o leitor percebe a unilateralidade de
um argumento, o seu oposto imediatamente proposto (EAGLETON, 1993, p.
247-248).
Investigaes sobre
O Agir Humano
229
Iniciando o debate, entende-se como tempo livre todo e
qualquer tempo que se passa longe do trabalho ou das distintas
obrigaes cotidianas. Diferentemente do sentido comum de cio,
que expressaria algo mais contemplativo, o tempo livre est atrelado
e anda lado a lado com o trabalho. Mas at que ponto se tem
realmente um tempo livre? O que poderia ser esse tempo livre? Que
tipo de diverso caberia nele? Essas e outras questes so
levantadas quando pensamos mais profundamente o que o tempo
livre vigente sob relaes capitalistas.
Adorno (2002, p. 103) abre o problema do tempo livre
com uma mxima presente em todo o ensaio: o tempo livre
acorrentado ao seu oposto. Assim, para ele, o tempo livre depende
fundamentalmente das relaes concretas que esse mantm com a
sociedade. Por conseguinte, no h como se dissociar as prticas do
tempo livre do modo de produo vigente. Tal dissociao traz, em
si, metodologicamente um vis ideolgico. O mesmo sangue que
corre no lazer corre tambm no trabalho. Logo, em Adorno (2002,
p. 103), o tempo livre depender da situao geral da sociedade.
Mas esta, agora como antes, mantm as pessoas sob um fascnio.
Nem em seu trabalho, nem em sua conscincia dispem de si
mesmas com real liberdade. Assim, para ele, numa poca de
integrao social sem precedentes, fica difcil estabelecer, de forma
geral, o que resta nas pessoas, alm do determinado pelas funes
(ADORNO, 2002, p. 104).
O problema da integrao (tema que permeia toda discusso
acerca da indstria cultural, da ideologia e da semiformao em
Adorno) central para entender o prolongamento da no liberdade
do tempo livre. Alis, para Adorno, o termo livre s funciona como
pardia. No h liberdade efetiva, real, concreta. Entenda-se por
liberdade como pardia apenas a liberdade de se integrar numa
ordem que no liberta das amarras vigentes. Como j estava posto
Investigaes sobre
O Agir Humano
230
na Dialtica do Esclarecimento em 1947: a mquina gira sem sair do
lugar.
Nesse nterim, a semiformao se torna o grande maestro da
integrao.
A formao cultural agora se converte em uma
semiformao socializada, na onipresena do esprito
alienado, que, segundo sua gnese e seu sentido, no
antecede formao cultural, mas a sucede. Deste modo,
tudo fica aprisionado nas malhas da socializao
(ADORNO, 1996, p. 388-411).
Zuin (2001, p. 10) refora este entendimento:
Compreende-se o conceito semiformao justamente pela
tentativa de oferecimento de uma formao educacional
que se faz passar pela verdadeira condio de
emancipao dos indivduos quando, na realidade,
contribui decisivamente tanto para a reproduo da
misria espiritual como para a manuteno da barbrie
social. E o contexto social no qual a barbrie
continuamente reiterada o da indstria cultural
hegemnica.
V-se, pois, que com o avano da semiformao e da
indstria cultural a organizao do tempo livre passa cada vez mais a
depender de critrios objetivos do que da autonomia do indivduo.
A heteronomia, expresso kantiana, vira uma regra. Um exemplo a
ideologia do hobby ditada pela indstria cultural, que nada mais do
que exercer alguma atividade durante o tempo livre. Exemplos
dessas atividades apontadas por Adorno eram os hobbies, ocupaes
que serviam apenas para matar o tempo e que todas as pessoas
deveriam ter, fossem eles significativos ou no para elas
(FERNANDES, 2010, p. 34). Percebe-se, com isso, que at as
atitudes mais simples tendem a passar pelo mercado. Tudo
Investigaes sobre
O Agir Humano
231
pensado e colocado de forma que permita que a vida social se torne
mais planejada, principalmente com a expanso das chamadas
atividades do tempo livre (indstria do entretenimento),
oportunizadas pela reduo legal da jornada de trabalho. O tdio
passa a ser, ento, uma enfermidade marcante nas sociedades
administradas.
De fato, o chamado tempo livre do trabalho, o que
chamaremos aqui de tempo liberado do trabalho, aumentou. J
agora, o tempo livre aumentou sobremaneira; graas s invenes,
ainda no totalmente utilizadas em termos econmicos nos
campos da energia atmica e da automao, poder aumentar cada
vez mais (ADORNO, 2002, p. 104). Contudo,
[...] Se se quisesse responder questo sem asseres
ideolgicas, tornar-se-ia imperiosa a suspeita de que o
tempo livre tende em direo contrria de seu prprio
conceito, tornando-se pardia; deste. Nele se prolonga a
no-liberdade, to desconhecida da maioria das pessoas
no-livres como a sua no-liberdade, em si mesma
(ADORNO, 2002, p. 104).
Assim, para Adorno o tempo livre tanto no pode ser
pensado dissociado do tempo das obrigaes, bem como, das
possibilidades efetivas de dominao. A extensa citao abaixo,
fruto de um depoimento biogrfico do autor, ilustra o argumento:
Eu no tenho qualquer hobby. No que eu seja uma besta
de trabalho que no sabe fazer consigo nada alm de
esforar-se e fazer aquilo que deve fazer. Mas aquilo com
o que me ocupo fora da minha profisso oficial , para
mim, sem exceo, to srio que me sentiria chocado
com a ideia de que se tratasse de hobbies, portanto
ocupaes nas quais me jogaria absurdamente s para
matar o tempo, se minha experincia contra todo tipo de
manifestaes de barbrie que se tomaram como que
Investigaes sobre
O Agir Humano
232
coisas naturais no me tivesse endurecido. Compor
msica, escutar msica, ler concentradamente, so
momentos integrais da minha existncia, a palavra hobby
seria escrnio em relao a elas. Inversamente, meu
trabalho, a produo filosfica e sociolgica e o ensino na
universidade, tm-me sido to gratos at o momento que
no conseguiria consider-los como opostos ao tempo
livre, como a habitualmente cortante diviso requer das
pessoas. Sem dvida, estou consciente de que estou
falando como privilegiado, com a cota de casualidade e de
culpa que isto comporta; como algum que teve a rara
chance de escolher e organizar seu trabalho
essencialmente segundo as prprias intenes. Esse
aspecto conta, no em ltimo lugar, para o fato de que
aquilo que fao fora do horrio de trabalho no se
encontre em estrita oposio em relao a este. Caso um
dia o tempo livre se transformasse efetivamente naquela
situao em que aquilo que antes fora privilgio agora se
tornasse benefcio de todos e algo disso alcanou a
sociedade burguesa, em comparao com a feudal , eu
imaginaria este tempo livre segundo o modelo que
observei em mim mesmo, embora esse modelo, em
circunstncias diferentes, ficasse, por sua vez, modificado
(ADORNO, 2002, p. 105-106).
Deste modo, quando se considera o trabalho uma coisa
significativa, prazerosa e gratificante, para Adorno, no se consegue
consider-lo oposto ao tempo livre. Por isso no h porque
denominar o que se faz no no-trabalho de hobby. A imensa vontade
de ocupar o tempo livre com algo que no lembre o trabalho, com
coisas que escapem a ele, prova de que no se consegue esquec-
lo. Assim, fica claro que, l onde mais nos escondemos do trabalho,
onde mais tentamos nos refugiar dele, no tempo livre, ele est
presente como que por baixo do pano (ADORNO, 2002, p. 107).
Uma outra forma de percepo do problema
simplesmente reparar como organizamos o nosso fim de semana
em funo do nosso trabalho. Tudo projetado como forma de
Investigaes sobre
O Agir Humano
233
negar o trabalho, mas acaba sendo uma extenso dele. Bebe-se no
sbado a noite toda (j que no se trabalha no domingo); no
domingo, bebe-se somente at s dezesseis horas; depois disso,
deve-se descansar, pois logo ser segunda-feira e toda rotina de
trabalho ser retomada. Sem esquecer que o prprio ato de beber
quer dizer esquecer o trabalho, ou ento, sentir-se livre, porm,
todo momento pensando em retom-lo. Por isso diz Adorno
(2002, p. 103): Nem em seu trabalho, nem em sua conscincia
dispem de si mesmas com real liberdade., pois a separao entre
sujeito e trabalho impossvel j que, no modo de produo
capitalista, no se pode traar uma diviso [...] entre as pessoas em
si e seus assim chamados papis sociais (ADORNO, 2002, p. 103-
104).
Para no deixarmos de mencionar formas de lazer
destacadas por Adorno (2002, p. 106) como fenmenos
especficos do tempo livre, apontamos aqui o turismo e o camping,
que so acionados e organizados em funo do lucro. Destarte,
sob as relaes capitalistas, no tempo livre se prolongam formas de
vida social organizadas segundo o regime do lucro. A indstria
cultural cuida de manter a administrao da cultura. A indstria
cultural a ferramenta indispensvel para a manuteno e
perpetuao do mundo administrado (verwalteten Welt), pois como
aponta Ramos (2004, p. 61), a interiorizao das necessidades
socialmente geradas e a administrao monopolizada de suas
satisfaes podem significar, atravs da dominao material dos
indivduos, o controle dos corpos e, por decorrncia, das mentes.
Dessa forma, o que muitos chamam de manifestao da cultura
popular, entendemos ser muito mais uma cultura industrializada,
produzida como forma de perpetuar a dominao dos indivduos no
capitalismo, mas no como forma de se opor a ele.
Mas o que vemos, ab initio, que o tempo livre tornou-se
planejado e abertamente uma mercadoria. Um bem que alm de ser
Investigaes sobre
O Agir Humano
234
algo imposto tambm excessivamente cobrado pelos prprios
sujeitos. No ter lazer e no consumir no lazer significa estar fora de
toda uma rede de signos e significados no capitalismo. Ningum
quer ficar de fora! O tempo livre segue como reflexo do ritmo de
produo imposto heteronomamente ao sujeito, que forosamente
mantido tambm nas fatigadas pausas (ADORNO, 2008, p. 171).
O tempo livre tornou-se, ento, um negcio altamente rentvel que
oferecido e quase forado a ser consumido da mesma maneira
para toda a sociedade, como Adorno deixa claro na expresso
negcios do tempo livre (Frei-zeitgeschiffl). A indstria cultural se
torna, pois, o maestro desta semiformao.
A indstria cultural seria a capacidade de produzir o produto
e ao mesmo tempo criar sua necessidade de uso, ou seja, a indstria
cultural seria um conceito e tambm um processo (MEZZAROBA,
2009, p. 03). Para Adorno (2008, p. 104), cada enunciado, cada
notcia, cada ideia est formada de antemo pelos centros da
indstria cultural. A indstria cultural responsvel por perpetuar
a nossa condio de vida irrefletida (o que Adorno chamou de vida
danificada beschdigten Leben), na medida em que nos incentiva a
consumir e nos distancia da reflexo acerca do trabalho necessrio
para bancar o consumo. Conforme Adorno e Horkheimer (1985, p.
112-114):
[...] a indstria cultural permanece a indstria da diverso.
Seu controle sobre os indivduos mediado pela diverso
[...]. A verdade em tudo isso que o poder da indstria
cultural provm de sua identificao com a necessidade
produzida, no da simples oposio a ela [...]. A diverso
o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio.
Ela procurada por quem quer escapar ao processo de
trabalho mecanizado, para se pr de novo em condies
de enfrent-lo. [...] O espectador no deve ter necessidade
de nenhum pensamento prprio, o produto prescreve
toda reao: no por sua estrutura temtica que
Investigaes sobre
O Agir Humano
235
desmorona na medida em que exige o pensamento , mas
atravs de sinais. Toda ligao lgica que pressuponha
um esforo intelectual escrupulosamente evitada. [...] o
pensamento ele prprio massacrado e despedaado.
A passagem acima se refere coeso do modo de produo
capitalista (sua imensa capacidade de integrao), a forma como ele
aos poucos se torna cada vez mais fortalecido medida que cria em
ns a necessidade que ele mesmo vir suprir. Assim, a ntima
relao entre indstria cultural e tempo livre se evidencia no fato de
justamente no tempo de no-trabalho (livre) pararmos para
consumir os produtos da indstria cultural que, transvestidos em
produtos culturais, nos oferecem a fuga do trabalho, sendo uma
forma de descansar dele para, inconscientemente, retornarmos a ele
dispostos a produzir mais. E mesmo quando no estamos
consumindo nada, ocupamos nosso tempo com coisas que
prolongam a nossa condio de sujeitos coisificados, com prticas
que nada acrescentam nossa reflexo diante da vida e do mundo.
A reflexo mais densa de Adorno pensar, pois, os riscos
estruturais da dominao a partir de elementos banais do cotidiano.
Logo, o que se faz fora do trabalho repercute estruturalmente no
trabalho. No tempo supostamente livre no esquecemos a lgica do
trabalho. Aceita-se e se nega contraditoriamente o trabalho e suas
dimenses.
Aqui nos deparamos com um esquema de conduta do
carter burgus. Por um lado, deve-se estar concentrado
no trabalho, no se distrair, no cometer disparates; sobre
essa base repousou outrora o trabalho assalariado, e suas
normas foram interiorizadas. Por outro lado, deve o
tempo livre, provavelmente para que depois se possa
trabalhar melhor, no lembrar em nada o trabalho. Esta
a razo da imbecilidade de muitas ocupaes do tempo
livre (ADORNO, 2002, p. 106-107).
Investigaes sobre
O Agir Humano
236
Para Adorno e Horkheimer (1985), o lazer apenas uma
fase projetada do prprio trabalho, pois medida que os indivduos
no aproveitam o descanso para refletirem sobre suas condies de
existncia, permanecem alienados ao prprio sistema, e,
substancialmente, aproveitam os dias de folga para mergulharem
nos devaneios do consumo. Tudo projetado de forma tal que os
homens no se detenham na reflexo acerca do estado de suas vidas
e condies de trabalho. Com isso surge a configurao de que eles
so programados para trabalhar e consumir. O prprio cio vai se
tornando apenas um consumo, pois neste momento a publicidade
invade os lares atravs da TV, do filme, da msica produzida para o
mercado e de diversas outras mercadorias.
[...] os indivduos, na necessidade de momentos de lazer e
fuga do trabalho, submetem-se aos produtos da indstria
cultural que, por sua vez, prometendo essa fuga do
trabalho, oferecem sempre atraes que reproduzem o
cotidiano do trabalho como se fosse novidade
(FERNANDES, 2010, p. 28).
No tempo livre, o qual se acostumou chamar de lazer por
oposio ao tempo de trabalho (no-livre), so introduzidas [...]
formas de comportamento prprias do trabalho (ADORNO,
2002, p. 107). Para ilustrar exemplificamos com o turismo feito por
um motorista profissional, que dirige quarenta horas semanais e ao
chegar ao fim de semana se obriga a pegar a estrada em direo
praia e dirigir novamente uma ou duas horas, para dizer na segunda-
feira aos seus colegas: fui praia no fim de semana, sem ao
menos refletir que fez no seu tempo livre aquilo que j havia feito
em toda a sua semana de trabalho. O mesmo acontece com um
trabalhador da construo civil que passa o dia inteiro realizando
movimentos com tijolos, telhas, etc., e que a noite se dirige
academia para malhar e repetir os movimentos realizados o dia
Investigaes sobre
O Agir Humano
237
todo. Portanto, observa-se que existe tanta imposio para o tempo
livre que nos tornamos refns dele. O tempo livre passou a ser uma
obrigao que a sociedade tem com ela mesma e no um momento
livre no qual se possa exercer atividades de livre escolha.
Entrementes, o ideal seria que todos os indivduos tivessem
algo construtivo para fazer no seu tempo livre. Mas no isso que
ocorre. De uma forma geral, ocorre o contrrio: vemos uma falta de
liberdade de poder fazer o que se gosta e o que se quer. A
heteronomia dominante, seja pelas condies educacionais, seja
pelas condies materiais de existncia. Para Adorno, as pessoas s
se adaptavam ao sistema capitalista desenvolvendo papis que lhes
eram impostos pela sociedade, ou seja, no faziam o que gostavam,
mas o que lhes cabia fazer (FERNANDES, 2010, p. 33).
Assim, os indivduos, de individualidade debilitada, no
possuem liberdade, nem dentro, nem fora do trabalho. Segundo
Adorno, a separao entre as esferas da produo e da no-
produo est na conscincia.
[...] a distino entre trabalho e tempo livre foi incutida
como norma a conscincia e inconscincia das pessoas.
Como, segundo a moral do trabalho vigente, o tempo em
que se est livre do trabalho tem por funo restaurar a
fora de trabalho, o tempo livre do trabalho
precisamente porque um mero apndice do trabalho
vem a ser separado deste com zelo puritano (ADORNO,
2002, p. 106).
Essa rgida diviso da vida em duas metades enaltece a
coisificao que entrementes subjugou quase completamente o
tempo livre (ADORNO, 2002, p. 107). Para Adorno a liberdade
vigente hoje organizada, logo, torna-se coercitiva. A representao
do mundo como mundo administrado nada tem de apocalptica. A
ideologia do hobby j citada exemplo disso. Todos buscam se
Investigaes sobre
O Agir Humano
238
enquadrar na moda dos lazeres contemporneos. A lista enorme:
artes marciais (o chamado mixed martial arts hoje prova disso),
esportes radicais, viagens, etc. Adorno (2002, p. 107) mostra que, se
um indivduo no possui um hobby, se no tens ocupao para o
tempo livre ento tu s um pretensioso ou antiquado, um bicho
raro, e cais em ridculo perante a sociedade, a qual te impinge o que
deve ser o teu tempo livre.
Importa destacar que essa necessidade de liberdade das
pessoas que gera esse comrcio do tempo livre. a partir do
momento em que se deseja algo que a indstria cultural comanda o
tempo livre dos indivduos. Podemos perceber essa dominao
simblica em outro exemplo que Adorno cita: quando um indivduo
sai de frias esperado dele no s que aproveite, mas
principalmente que volte com algo que indique que o mesmo estava
realmente de frias. Pensando nisso citado o exemplo do
bronzeado, algo caracterstico de quem est de frias. Alm disso, o
bronzeado deixou de ser apenas um sinal de sade e vida ao ar livre
para ser tambm comercializado. Mais do que servir para auxlio de
um determinado flerte, a obrigatoriedade da tez bronzeada concerne
ao necessrio reconhecimento dos outros de que o indivduo
conseguiu se desvencilhar por algum tempo do trabalho, afirmando
a sua pretensa liberdade (ZUIN, 2001, p. 14).
Nesse meio tempo, a sutileza metodolgica de Adorno
(2002, p. 108) se apresenta no modelo de anlise da dominao: a
integrao do tempo livre alcanada sem maiores dificuldades; as
pessoas no percebem o quanto no so livres l onde mais livres se
sentem, porque a regra de tal ausncia de liberdade foi abstrada
delas.
O grande resultado disso o estado de letargia no qual
vivem os indivduos. O tdio se torna a materializao e prova deste
estado. Para Adorno (2002, p. 110),
Investigaes sobre
O Agir Humano
239
O tdio existe em funo da vida sob a coao do
trabalho e sob a rigorosa diviso do trabalho. No teria
que existir. Sempre que a conduta no tempo livre
verdadeiramente autnoma, determinada pelas prprias
pessoas enquanto seres livres, difcil que se instale o
tdio; tampouco ali onde elas perseguem seu anseio de
felicidade, ou onde sua atividade no tempo livre
racional em si mesma, como algo em si pleno de sentido
[...] Se as pessoas pudessem decidir sobre si mesmas e
sobre suas vidas, se no estivessem encerradas no
sempre-igual, ento no se entediariam. Tdio o reflexo
do cinza objetivo.
Este cinza objetivo se materializa na perda da criatividade (e,
com ela, a reduo das possibilidades concretas de fuga do sempre-
igual). A falta de criatividade (leia-se fantasia) torna as pessoas
desamparadas no consumo do tempo livre.
A pergunta descarada sobre o que o povo far com todo
o tempo livre de que hoje dispe como se este fosse
uma esmola e no um direito humano baseia-se nisso.
Que efetivamente as pessoas s consigam fazer to
pouco de seu tempo livre se deve a que, de antemo, j
lhes foi amputado o que poderia tornar prazeroso o
tempo livre. [...] Sob as condies vigentes, seria
inoportuno e insensato esperar ou exigir das pessoas que
realizem algo produtivo em seu tempo livre, uma vez que
se destruiu nelas justamente a produtividade, a capacidade
criativa. Aquilo que produzem no tempo livre, na melhor
das hipteses, nem muito melhor que o ominoso hobby
(ADORNO, 2002, p. 111).
Para Adorno, tempo livre produtivo, ou seja, aquele distante
da heteronomia, somente pode ser possvel para pessoas
emancipadas. O que resta para a grande massa que vive sob o
escudo da heteronomia a pseudoatividade, intitulada por Adorno
(2002, p. 113) como fices e pardias daquela produtividade que a
Investigaes sobre
O Agir Humano
240
sociedade, por um lado, reclama incessantemente e, por outro lado,
refreia e no quer muito nos indivduos. Assim, retomando o incio
do texto, o tempo livre no est em oposio somente ao trabalho,
mas o segue diretamente como sua sombra.
Esta pseudoatividade enquadra os indivduos numa aurola
da livre escolha quando, de fato, tudo j est escolhido previamente.
Os filmes, msicas, jogos. etc. divergem apenas na aparncia da livre
concorrncia. Em essncia, contm o mesmo objetivo da indstria
cultural: a manuteno da condio estrutural de dominao dos
indivduos, dentro e fora do trabalho.
Mas em que este texto Tempo Livre avana na teoria crtica
(Kritische Theorie) adorniana? Que Adorno podemos encontrar nele?
Primeiramente, trata-se de um Adorno que mantm fortemente o
tom crtico e sempre fiel ao esprito da Teoria Crtica, sem se deixar
encantar pelos encantos da diversidade cultural, tampouco pelas
teorias conciliatrias da relao indivduo-sociedade. Segundo, e esta
a grande inferncia, neste texto vemos um Adorno refinando sua
teoria, ao apontar possibilidades de questionamento do poder de
seduo da indstria cultural. Ao realizar um estudo, no Instituto de
Pesquisas Sociais de Frankfurt, percebe que nem tudo que emitido
pela indstria cultural pode ter eficcia efetiva.
O estudo era relativo ao casamento da princesa Beatriz,
da Holanda, com o jovem diplomata alemo Claus Von
Amsberg. Deveramos verificar como o povo alemo
reagia a este casamento, o qual, difundido por todos os
meios de comunicao de massas e minuciosamente
descrito pelas revistas ilustradas, era consumido durante o
tempo livre. Dado o modo de apresentao e a
quantidade de artigos que foram escritos sobre o
acontecimento, atribuindo-lhe importncia extraordinria,
espervamos que tambm os telespectadores e os leitores
o considerariam igualmente importante. Acreditvamos,
em especial, que operaria a hoje tpica ideologia da
Investigaes sobre
O Agir Humano
241
personalizao, que consiste em atribuir-se importncia
desmedida a pessoas individuais e a relaes privadas
contra o efetivamente determinante, desde o ponto de
vista social, evidentemente como compensao da
funcionalizao da realidade (ADORNO, 2002, p. 115).
Diante desta constatao, de base emprica vale destacar,
Adorno apresenta os limites do poder da indstria cultural e,
estruturalmente, abre caminho para se pensar resistncias diversas
na produo e no consumo do tempo livre. Com o estudo Adorno
percebeu que uma parte da audincia se portou de modo bem
realista em relao ao acontecimento e avaliou com sentido crtico
os fatos narrados. Assim, h na obra adorniana possibilidades de
resistncia mesmo no consumo dos veculos de comunicao de
massa. A passagem abaixo sinptica desta condio:
Em conseqncia, se minha concluso no muito
apressada, as pessoas aceitam e consomem o que a
indstria cultural lhes oferece para o tempo livre, mas
com um tipo de reserva, de forma semelhante maneira
como mesmo os mais ingnuos no consideram reais os
episdios oferecidos pelo teatro e pelo cinema. Talvez
mais ainda: no se acredita inteiramente neles. evidente
que ainda no se alcanou inteiramente a integrao da
conscincia e do tempo livre. Os interesses reais do
indivduo ainda so suficientemente fortes para, dentro
de certos limites, resistir apreenso [Erfassung] total.
Isto coincidiria com o prognstico social, segundo o qual,
uma sociedade, cujas contradies fundamentais
permanecem inalteradas, tambm no poderia ser
totalmente integrada pela conscincia. A coisa no
funciona assim to sem dificuldades, e menos no tempo
livre, que, sem dvida, envolve as pessoas, mas, segundo
seu prprio conceito, no pode envolv-las
completamente sem que isso fosse demasiado para elas
(ADORNO, 2002, p. 116-117).
Investigaes sobre
O Agir Humano
242
Portanto, na parte final do ensaio Tempo Livre, apresenta-se o
grande trunfo de esperana na obra adorniana: Renuncio a esboar
as conseqncias disso; penso, porm, que se vislumbra a uma
chance de emancipao que poderia, enfim, contribuir algum dia
com a sua parte para que o tempo livre [Freizeit] se transforme em
liberdade [Freiheit]. (ADORNO, 2002, p. 117)
Assim, no h concordncia com grande parte da literatura
hoje produzida sobre a indstria cultural que enxerga o pensamento
adorniano permeado por um pessimismo totalizador. A crtica desse
autor no se encerra totalmente nesse tal pessimismo medida que
desgua na possibilidade utpica do tempo livre se tornar
tempo livre produtivo. No entanto, conforme o prprio Adorno
(2002, p. 113), tempo livre produtivo s seria possvel para pessoas
emancipadas [...], da a importncia da educao, pois ela seria a
nica capaz de promover tal emancipao. Esse processo de
emancipao se daria inicialmente pela via da negatividade, ou seja,
deveria simplesmente comear despertando a conscincia quanto a
que os homens so enganados de modo permanente (ADORNO,
1995, p. 183), ou seja, esse processo deveria ser iniciado a partir da
tomada de conscincia dos meios pelos quais o capitali smo, atravs
da indstria cultural, tem administrado o mundo.
O mesmo Adorno que afirma em 1947, na Dialtica do
Esclarecimento, que nunca se chegou a uma verdadeira
individualizao, afirma tambm em 1969, em Tempo Livre, que os
interesses reais do indivduo ainda so suficientemente fortes para,
dentro de certos limites, resistir apreenso [Erfassung] (2002 p.
116), e o primeiro passo para essa resistncia, para o exerccio
mnimo da liberdade, seria dado por aquelas pessoas que
interessadas nesta direo orientem toda a sua energia para que a
educao seja uma educao para a contradio e para a resistncia
(ADORNO, 1995, p. 183).
Investigaes sobre
O Agir Humano
243
Portanto, apesar de no negar a alienao das massas,
Adorno entendeu que ela parece muito mais uma alienao
consentida, e como disse o mesmo, as pessoas aceitam e
consomem o que a indstria cultural lhes oferece para o tempo
livre, mas com um tipo de reserva (ADORNO, 2002, p. 116).
Interpretamos aqui essa reserva como um resqucio de
conscincia. como se a conscincia crtica ainda no tivesse sido
completamente dissolvida.
Tanto em Tempo Livre como em Educao e Emancipao
Adorno expressa alguma f na recuperao da autonomia por parte
das massas. Ou seja, embora originalmente pessimista, a tendncia,
no decorrer da obra de Adorno, o caminho para o otimismo
diante das possibilidades utpicas do tempo livre
(FERNANDES, 2010, p. 47). No entanto, no sob as condies
vividas na Europa at o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro,
por causa dos regimes totalitrios e autoritrios; segundo, porque l
onde o homem se afirmou mais esclarecido, na Alemanha dos
grandes filsofos, aconteceu tambm o holocausto, o que para
Adorno foi a maior prova de que a racionalidade tcnica havia
destrudo o sonho da razo emancipatria; por fim, por ter sido a
indstria cultural utilizada para todas essas mazelas sociais, desde o
culto imagem do fhrer at a exaltao do orgulho alemo atravs
dos filmes de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro
Reich. A imaginao havia sido obliterada, e junto a ela, toda
capacidade criativa.
Adorno defende que o tempo livre deveria ser aquele que o
indivduo tem por benefcio, e no por privilgio, para decidir, escolher
e organizar segundo suas prprias vontades (FERNANDES, 2010,
p. 37). E como Adorno j havia dito, a indstria cultural anda de
mos dadas com o tempo livre, pois ela quem dita s regras do
que dever ser consumido, colocando no mercado o que se quer e
deixando a sociedade estruturalmente sem escolha efetiva (real).
Investigaes sobre
O Agir Humano
244
Contudo, justamente no meio desse turbilho de acontecimentos
que vemos que nem tudo aceito ou pelo menos no totalmente
aceito.
O texto de Adorno foi publicado em 1969. Embora tenham
se passado 45 anos da publicao do texto de Adorno sobre o lazer,
datado de 1969, e o contexto histrico seja completamente
diferente, o texto incrivelmente atual. A reflexo de Caniato a
seguir corrobora o argumento:
Certamente, as intervenes embebidas em teorizaes
que negligenciam na identificao e anlise dos
determinantes disruptivos de natureza social na
estruturao das subjetividades [...] vem ratificando o
agravamento das condies concretas do viver humano
sem sequer ser identificada a exigncia de integridade
psicossocial para que os homens exeram sua condio
de sujeitos histricos e efetivem as mudanas nas
instituies culturais e na ordenao social que viabilizem
a preservao da vida humana [...]. Isto porque na
contemporaneidade, no h dvidas de que o capital o
grande Senhor da sociedade [...] (CANIATO, 2003, p. 6-
7).
Estruturalmente os indivduos vivenciam diversas
imposies. Sejam elas na prpria famlia, no trabalho, na escola,
religio, distintas ideologias, etc. No importa o grupo social, todos
vivenciam estas imposies. Como cada indivduo lida com tais
imposies que faz a diferena. Em todos os seus ramos fazem-
se, mais ou menos segundo um plano, produtos adaptados ao
consumo das massas e que em grande medida determinam esse
consumo (ADORNO, 1971, p. 287). Deste modo, no h como
pensar o lazer sem refletir acerca de toda estrutura educacional
hegemnica. O lazer reflexo, pois, diretamente da educao
vigente no esprito de nosso tempo, marcado por ideais de
Investigaes sobre
O Agir Humano
245
competitividade, individualismo e pragmatismo. Tambm no h
como pensar o lazer sem pensar nos tempos sociais em que est
inserido, dentro e fora do mundo das obrigaes. O mesmo ocorre
com a indstria cultural: o cerco sistmico, a capacidade crescente
de prescrio de desejos e o consumo como dominao do sujeito
impactam diretamente na relao do indivduo com o ldico, o
cio... Assim, num contexto de educao para o status quo, de
existncia de um tempo livre que no liberta e que aprisiona no
consumo (e em mais trabalho), alm de todo avano sistmico da
indstria cultural, o lazer deixa de ser, muito provavelmente, um
momento ldico-criativo para se tornar tempo e ao de mais
ideologia, de mais consumismo, de mais prticas no-
emancipatrias do indivduo (mais conformismo). O lazer deve
educar, nele e para alm dele. Contudo, todos os limites apontados
por Adorno mostram que o consumo do tempo livre tinha se
tornado cada vez mais a produo de mais dominao.
Mesmo assim,
Embora originalmente pessimista, a tendncia, no
decorrer da obra de Adorno, o caminho para o
otimismo diante das possibilidades utpicas do tempo
livre. [...] Assim, suas contribuies so fundamentais
para entendermos o lazer mercadoria (simples atividades
colocadas no mercado de consumo, que no obedecem a
outro critrio seno o do lucro financeiro imediato)
(FERNANDES, 2010, p. 47).
Logo, fecha-se (ou se abre, depende da perspectiva) este
ensaio com a confiana de que a teoria crtica adorniana contribui
decisivamente para evitar uma elaborao conceitual instrumental
do lazer como mera recreao. Trata-se, pois, de um rico referencial
terico crtico e disposto a denunciar as armadilhas do status quo,
dentro e fora do tempo livre.
Investigaes sobre
O Agir Humano
246
REFERNCIAS
ADORNO, Theodor. Tempo livre. In: ______. Indstria cultural e
sociedade. So Paulo: Paz e Terra, 2002.
______. Minima Moralia: reflexes a partir da vida lesada. Trad.
Gabriel Cohn. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2008.
______. Educao e emancipao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
______.Teoria da semicultura. Traduo de Newton Ramos-de-
Oliveira, Bruno Pucci e Cludia B. M. de Abreu. A reviso
definitiva, feita pelo mesmo grupo, contou tambm com a
colaborao de Paula Ramos de Oliveira. Publicado na Revista
Educao e Sociedade, n. 56, ano XVII, dezembro de 1996, p.
388-411.
______. A indstria cultural. In: COHN, Gabriel. Comunicao e
indstria cultural. So Paulo: Nacional; Editora da Universidade de
So Paulo, 1971.
______.; HORKHEIMER, Max. Dialtica do Esclarecimento:
fragmentos filosficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
CABRITA, Marcela Amlia Pereira. Semi-formao, tempo livre e
indstria cultural: contribuies de Theodor W. Adorno para uma
teoria crtica do lazer. 66 f. Monografia (Graduao em Turismo) -
Faculdade de Cincias Econmicas. Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte. Mossor, 2013.
______; COSTA, Jean Henrique. Semi-formao, tempo livre e
indstria cultural: contribuies de Theodor W. Adorno para uma
teoria crtica do lazer. In: Semana de Tecnologia, Cincia e Inovao
da UERN, 2013, Mossor. Anais do IX Salo de Iniciao Cientfica:
trabalhos completos. Mossor: Edies UERN, 2013. p. 320-327.
Investigaes sobre
O Agir Humano
247
CANIATO, ngela Maria Pires. Da subjetividade sob sofrimento
narcsico numa cultura da banalidade do mal. Estados Gerais da
Psicanlise: Segundo Encontro Mundial, Rio de Janeiro. 2003.
COHN, Gabriel. Theodor W. Adorno. 2. ed. So Paulo: tica, 1994.
COSTA, Jean Henrique. A atualidade da discusso sobre a indstria
cultural em Theodor W. Adorno. Trans/Form/Ao, UNESP, v. 36,
p. 135-154, 2013.
______. Revisitando o debate sobre o fetichismo na msica e a
regresso da audio em Theodor W. Adorno. Trilhas Filosficas,
UERN, v. 5, p. 59-76, 2012.
EAGLETON, Terry. A arte depois de Auschwitz: Theodor
Adorno. In: ______. A ideologia da esttica. Traduo de Mauro S R.
Costa. Rio de Janeiro: Zahar, 1993.
FERNANDES, . A. O. Lazer: tempo livre e indstria cultural.
Contribuies de Adorno para os estudos do lazer. 54 f. Dissertao
(Mestrado em Educao Fsica) Faculdade de Cincias da Sade.
Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2010.
MEZZAROBA, Cristiano. Esporte e lazer na perspectiva da
indstria cultural: aproximaes preliminares. Esporte e Sociedade, ano
4, n. 11, mar.-jul. 2009. Disponvel em:
<http://www.uff.br/esportesociedade/pdf/es1105.pdf>. Acesso
em: 08 de abr. 2014.
NASCIMENTO, R. M.; MARCELLINO, N. C. Notas sobre as
possveis contribuies de Theodor W. Adorno para estudos sobre
lazer. Licere, Belo Horizonte, MG, v. 3, n.1, 2010. Disponvel em:
<http://www.anima.eefd.ufrj.br/licere/pdf/licereV13N01_ar3.pdf
>. Acesso em: 04 de abr. 2014.
Investigaes sobre
O Agir Humano
248
RAMOS, C. A dominao do corpo no mundo administrado: uma
questo para a Psicologia Social. Psicologia Cincia e Profisso, Braslia,
v. 24, n.1, p. 56-63, 2004.
RICELLY, Tssio P. F. A indstria cultural na contemporaneidade. 53 f.
Monografia (Graduao em Filosofia) - Faculdade de Filosofia e
Cincias Sociais. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Mossor, 2013.
______.; COSTA, Jean Henrique. Indstria cultural, cibercultura e
msica independente em Braslia: um estudo com as bandas
'Amanita' e 'Feijo de Bandido'. In: Semana de Tecnologia, Cincia e
Inovao da UERN, 2013, Mossor. Anais do IX Salo de Iniciao
Cientfica: trabalhos completos. Mossor: Edies UERN, 2013. p.
1174-1182.
ZUIN, Antnio lvaro Soares. Sobre a atualidade do conceito de
indstria cultural. Cadernos Cedes, ano XXI, n 54, agosto/2001.
10
A TEORIA REVOLUCIONRIA DA VIOLNCIA PURA A
PARTIR DE BENJAMIN: PODER, VIOLNCIA E
ESTADO DE EXCEO NA HISTRIA.
Francisco Ramos Neves
1
1. INTRODUO.
O presente artigo no pretende apresentar conclusivamente
uma nova teoria revolucionria, mas indica caminhos e
reconstrues de abertura de possibilidades para a mesma. O
resgate de Walter Benjamin como um dos principais referenciais
nesse sentido implica dizer que o debate est aberto e que podemos
encontrar em alguns dos seus escritos bases para esta reflexo. A
violncia nessa teoria no assume os contornos de uma simples e
gratuita tomada de poder violenta e desumana com em teorias
anteriores na histria. No entanto, a violncia em sua forma pura
encontra no sentido da lei, e do direito, fundamentos que a colocam
como condio de possibilidade para se instaurar o novo e para a
institucionalizao das desconstrues histricas.
A discusso acerca dessa nova teoria, que se esboa nesse
artigo, problematiza alguns aspectos da modernidade filosfica que
nos colocam alm de seus limites, alando-nos ao encontro de
novos atores e ideias que explodam a mesmice histrica e seus
referencias de valor racional.
1
Doutorando do Programa Interinstitucional de Ps-graduao em
Filosofia das UFRN/UFPB/UFPE. Professor do departamento de filosofia da
UERN (E-mail: professor.ramos@hotmail.com).
Investigaes sobre
O Agir Humano
250
2. AS INJUSTIAS E AS BASES HISTRICAS DA REVOLTA.
A exploso do continuum da tradio, pela desconstruo
histrica, a metodologia rigorosa para captarmos as runas, o
transitrio, o fugidio, o contingente da realidade existente, que a
condio da Ps-modernidade, para a qual a
...experincia do tempo e do espao se transformou , a
confiana na associao entre juzos cientficos e morais
ruiu (...) as imagens dominaram as narrativas, a
efemeridade e a fragmentao assumiram precedncia
sobre verdades eternas e sobre a poltica unificada
(HARVEY, 1993, p. 293).
2
Esta condio ps-moderna, prenunciada pela modernidade
decadente do final do sculo XIX ao sculo XX, nos despeja a
todos em um turbilho de permanente desintegrao e mudana, de
luta e contradio, de ambiguidade e angstia, onde, parafraseando
Marx, tudo que slido se desmancha no ar (BERMAN, 1986, p.
15).
Nesta condio e neste cenrio, o pblico se dissolve em
inmeras particularidades privadas e em inmeros e fragmentrios
caminhos (BERMAN, 1986, p. 17), em um verdadeiro tourbillon
social; onde, em um estado de exceo, todos se colocam
frequentemente em contradio consigo mesmos, e tudo
absurdo, mas nada chocante, porque todos se acostumam a tudo
(BERMAN, 1986, p. 17).
No entanto, perante esta imensa ausncia e vazio de
valores humanos, reprimidos pela memria histrica da cultura
2
Tambm a respeito da fragmentao dos coletivos polticos e a
desreferencializao do social como caractersticas da ps-modernidade ver
mais detalhes em: Santos, Boaventura de S.. O Social e o Poltico na Transio Ps-
Moderna. Lua Nova. N. 31, 1993.
Investigaes sobre
O Agir Humano
251
dominante, podemos verificar e nos contemplar ao mesmo tempo,
em meio a uma desconcertante abundncia de possibilidades
(BERMAN, 1986, p. 21); e isto radicaliza a necessidade de no se
conformar com a aparncia da verdade objetiva de um continuum
historicista no interior do tempo presente e optar pelo radicalmente
novo.
Destarte, a tarefa do olhar alegrico, na perspectiva
benjaminiana, nesta condio de fragmentao da realidade a de
instrumentalizar uma hermenutica anamnsica no sentido de
escovar a histria a contrapelo, para descoberta das centelhas de
esperana dos despojados, tambm mediao na relao entre
o historiador da rememorao e a imagem histrica do sujeito do
conhecimento histrico, subjugado pela tradio.
Para Benjamin, este sujeito do conhecimento histrico a
prpria classe combatente e oprimida (BENJAMIN, 1986, p.
228)
3
, por ser a classe que vivifica o embate das geraes anteriores
contra toda forma de dominao opressiva.
Pelo olhar alegrico, o impulso desse embate ganha fora ao
realizar a descoberta do fio condutor que marca o encontro
secreto entre as geraes precedentes e a nossa. O tempo presente
deslocado do continuum do devir historicista, de um pretenso
progresso em uma correnteza histrica,
4
possibilita, desta forma, a
tarefa de supresso das injustias em nome das geraes de
derrotados, suspendendo-as da teleologia do idntico (movimento
do sempre-igual na histria).
3
Tese 12.
4
Essa temtica da ideia de um progresso escatolgico em uma
racionalidade histrica veementemente
combatida por Benjamin em suas Teses, principalmente nas teses: 8, 9,
10, 11, 13, 14 e 15. Desta forma, Benjamin se identifica muito com a crtica
ps-moderna razo e ao determinismo da objetividade teleolgica da filosofia da
histria dos clssicos da tradio iluminista, como bem temos enfatizado.
Investigaes sobre
O Agir Humano
252
Nesta teleologia da repetio do idntico, a noo de
progresso, na tica dominante, em vez de afirmar a liberdade atesta
um aprisionamento das massas reprimidas historicamente. Para Jos
Ortega y Gasset, a crena nesta teleologia do mesmo (o sempre
igual) corresponde f na aprisionadora cultura moderna iluminista.
...a f na cultura moderna era triste: era saber que o
amanh, na sua essncia, ia ser igual a hoje, que o
progresso consistia s em avanar eternamente por um
caminho idntico ao que j estava sob nossos ps. Um
caminho que mais se parece com uma priso que, elstica,
se estica sem nos libertar (ORTEGA Y CASSET, 1987,
p. 55).
O olhar alegrico interrompe a marcha a um futuro como
espao de efetividade da mesmidade do velho, resgatando a
diferena do novo enfatizado pela rememorao de uma imagem
dialtica dos antepassados escravizados, conquistando sua presena
no tempo presente da histria (BENJAMIN, 1986, p. 228-9).
5
As massas representam a grande maioria silenciosa descrita
por Baudrillard. Para Jean Baudrillard as massas no encontram
rebatimento poltico em nenhuma instncia do social da histria
existente, embora o social tambm tenha se dissolvido nesta hiper-
realidade cotidiana juntamente com as massas, visto que a histria
oficial subjuga suas manifestaes ao no vivido, e desta forma a
nega enquanto verdade histrica. A histria oficial s registra o
progresso ininterrupto do social, relegando s trevas, como culturas
passadas, como vestgios brbaros, tudo que no concorreria para
esse glorioso acontecimento (BAUDRILLARD, 1993, pp. 36-7).
6
5
Tese 12.
6
Vale salientar que Baudrillard acredita na inexistncia da realidade
poltica de uma tomada de conscincia histrica por parte da massa, por ela ser
inacessvel aos esquemas de libertao, de revoluo e de historicidade (p. 24), isto devido
ao silncio ao qual submetida essa grande maioria silenciosa.
Investigaes sobre
O Agir Humano
253
A histria oficial contada em favor dos dominantes
capitalistas, na qual a prpria liberdade perde seu estado de direito
natural e perdendo-a enquanto sua condio as massas e a
humanidade em geral se submetem servido, que chega a ser
voluntria na medida em que os costumes de servilismo, no bojo da
experincia legada pela cultura das classes dominantes, enrazam-se
em toda a cultura, a perda desta experincia o motivo da liberdade,
pois , conforme bem ilustra Etienne La Botie (1982, p. 20):
...o costume, que por certo tem em todas as coisas um
grande poder sobre ns, no possui em lugar nenhum
virtude to grande quanto a seguinte: ensinar-nos a servir,
[isto para aceitar voluntariamente] e no achar amarga a
peonha da servido.
Assim, a experincia da tradio cultural dominante se
reproduz pelo costume para repetio dos seus monumentos de
servido, destarte, a primeira razo da servido voluntria o
costume (BOTIE, 1982, p. 24).
E a liberdade como condio natural do homem se perde se
no cultivada. Desta forma, o povo serve de to bom grado ao
cair no esquecimento de sua prpria franquia e ao se submeterem
experincia tradicional da servido, que outrora havia sido uma
imposio pela violncia instrumental, mas agora transformada em
costume. Ainda segundo Botie,
...verdade que no incio serve-se obrigado e vencido pela
fora, mas os que vm depois servem sem pesar e fazem
de bom grado o que seus antecessores haviam feito por
imposio. Desse modo os homens nascidos sob o jugo,
mais tarde educados e criados na servido, sem olhar
mais longe, contentam-se em viver como nasceram; e
como no pensam ter outro bem nem outro direito que o
que encontraram, consideram natural a condio de seu
nascimento (BOTIE, 1982, p. 20).
Investigaes sobre
O Agir Humano
254
O processo emptico de transmisso cultural efetivado para
a servido das massas, perpetuando o costume das experincias dos
subjugados no passado, garante uma aceitao passiva dos
subservientes no presente de toda forma de escravido sob o
discurso da naturalidade das condies de qualquer servido. Eles
dizem que sempre foram sditos, que seus pais viveram assim;
pensam que so obrigados a suportar o mal (BOTIE, 1982, p.
24).
Destarte, o conceito de experincia que Benjamin nega
refere-se ao conjunto de ensinamentos e costumes legados pela
histria oficial enquanto norma histrica de uma razo estratgica e
instrumental, que serviria de modelo e monumento cultural a ser
seguido no tempo presente como continuidade lgica do passado.
E tal experincia vincula-se a circunstncias concretas e
situaes especficas vividas no passado como determinantes do
comportamento humano, e em sua expectativa, a maior parte das
pessoas se comporta da mesma maneira em situaes similares
(MOORE, 1987, p. 137). Assim, as circunstncias reproduzidas
enquanto experincia legada do passado ao presente
...inserem-se na cadeia de causalidade enquanto
influncias sobre a formao do carter e da
personalidade visto que, em uma situao experimental
planificada ,em uma sociedade, pode-se provar que as
presses sociais foravam o indivduo a tomar uma
deciso contrria s suas inclinaes normais ou
previsivelmente racionais e humanas (MOORE, 1987, p.
138).
Esta mesma definio de experincia enquanto forma de
influncia dos indivduos a uma submisso histrica aos valores
Investigaes sobre
O Agir Humano
255
dominantes bem ilustrada em Sennett, ao discutir as caractersticas
da formao da esfera pblica do social, quando ele afirma que, no
...antigo regime, a experincia pblica estava ligada
formao da ordem social; no sculo passado, a
experincia pblica acabou sendo ligada formao da
personalidade. A experincia mundana como uma
obrigao para o autodesenvolvimento apareceu nos
grandes monumentos da cultura do sculo passado, bem
como nos seus cdigos de crena mais cotidianos. (...)
uma crena subsistente no valor da experincia pblica
com o novo credo secular de que todas as experincias
podem ter um valor igual, porque todas tm uma
importncia igual para a formao do eu (SENNETT,
1988, p. 40).
Este comear de novo requer a adoo de qualidades ou
capacidades humanas que podem adicionar alguma energia na
alma para resistncia a essa experincia que reproduz a servido
mesmidade da subservincia e obedincia s ameaas e opresses
sociais presentes na filosofia da histria dos dominantes. Barrington
Moore define estas qualidades fundamentais enquanto
coragem moral, capacidade intelectual ou percepo
moral [e, por fim, a] inventividade moral, [que ] a
capacidade de criar, a partir das tradies culturais
vigentes, padres historicamentenovos de condenao
ao que existe (MOORE, 1987, p. 136-7).
O que se traduz em uma vigorosa autonomia moral perante
a filosofia da histria oficial dominante, possibilitando o
rompimento com o Establishment e o estado de coisas existentes,
para elaborao de uma outra histria, a partir da perspectiva dos
injustiados historicamente.
Investigaes sobre
O Agir Humano
256
A indignao moral, o dio e a ira s injustias scio-
histricas geradas, segundo Moore, pelas situaes universais
(MOORE, 1987, p. 34 e 35)
7
, possibilitam as bases sociais da
revolta e mobilizam as foras das classes combatentes. Alimentadas
pela imagem de um passado reprimido e frustrado (MOORE, 1987,
p. 74)
8
que poderia ser presente se no fosse considerada perdida
pela histria dos dominantes. Para tanto, pressupe-se a no
aceitao do passado como de fato foi e a crtica s noes de
verdade objetiva e de direito impostas pelos vencedores, que
manifestam um sentido de injustia a ser suprimido.
Para Benjamin, a finalidade iluminista da razo histrica,
com a imposio da legitimao capitalista a violncia jurdica do
monoplio da legalidade autoritria das leis positivas, no interior de
um ciclo histrico, cuja tese do seu positivismo jurdico encaminha
a questo da justia legitimidade de determinados meios que
constituem o poder (BENJAMIN, 1986a, pp. 161ss).
3. A VIOLNCIA PURA E TAREFA REVOLUCIONRIA.
Benjamin prope a violncia pura pela mobilizao das
foras revolucionrias da indignao moral contra a violncia
instrumental da imposio da legitimao capitalista do poder, para
uma verdadeira vingana dos oprimidos historicamente, que
clamam por justia e pelo resgate dos valores e da dignidade
humana. De acordo com Moore,
7
As situaes universais, que Moore se refere, so aquelas que,
acontecendo, representam um sentido de injustia moral e social, que gerariam
dio e indignao moral em qualquer sociedade ocidental e no-ocidental.
8
Segundo Moore, o esforo frustrado pode ser uma poderosa fonte de
ira moral por parte dos injustiados (MOORE, 1987, p. 74).
Investigaes sobre
O Agir Humano
257
...o clamor de vingana reprimido aqui, estimulado e
elaborado ali ecoou em uma imensa poro da
experincia humana. A vingana significa retaliao.
Tambm significa uma reafirmao da dignidade e do
valor humanos, aps a injria ou o dano (MOORE, 1987,
p. 38).
A violncia pura criadora de um novo direito e uma nova
perspectiva histrica, na interrupo do ciclo autoritrio das foras
do ordenamento jurdico dominante no prope a revolta pela
revolta, mas fundamenta o resgate da paz social da justia. Ao
mesmo tempo garante a realizao da vingana moral da grande
maioria silenciosa reprimida no passado, alm de servir de trincheira
de combate da violncia no sentido estrito do termo, que representa
a coero e elemento fundante da servido. A poltica e a violncia
s podem ser ditas puras quando manifestam uma forma de justia
no corrompida pelos interesses de conservar ou outorgar certos
modos de vida, no corrompida pelas formas positivas da lei
(HAMACHER, 1997, p. 122).
Esta violncia pura, a favor da poltica dos puros meios,
representa na filosofia da histria um combate radical violncia da
ordem instituda pela ideia de razo instrumental. Portanto, a
violncia pura a qual Benjamin se refere, conforme afirma
Habermas a seguir, caracteriza-se pela tentativa de expulsar da
esfera da prxis poltica o carter instrumental da ao e de negar a
racionalidade instrumental (Zweckrationalitt) a favor de uma
poltica dos puros meios (HABERMAS, 1980, p. 201).
Assim, a violncia pura representa um combate a esta
forma coercitiva e instrumental da violncia e do poder das
autoridades dominantes. Como diz Barrington Moore:
...toda cultura parece dispor de alguma definio de
crueldade arbitrria por parte dos detentores da
autoridade. [E] o emprego indevido dos instrumentos de
Investigaes sobre
O Agir Humano
258
violncia dos governantes contra seus prprios sditos
uma violao extrema da obrigao de manter a paz
(MOORE, 1987, p. 50).
9
A problemtica da violncia pura abordada por
Benjamin especificamente em 1921 (BENJAMIN, 1986a), e nesses
primeiros ensaios filosficos distingue as formas de violncia, como
a criadora do direito pblico (violncia estrutural) e a que mantm o
direito (violncia legtima).
A primeira se manifesta em uma situao estrutural scio-
histrica, j a segunda instrumentalizada para ser exercida pelos
rgos do Estado em sua hegemonia. E tambm h uma outra
forma de violncia emergente: a violncia pura, criadora de um
novo direito (contra hegemonia) e consequentemente supressora
das formas de violncia existentes. E esta violncia pura prpria
s foras da revoluo histrica, como podemos ver tambm na
abordagem que Habermas (1980, pp. 199-202) faz sobre o tema.
Segundo Benjamin, como se observa, a violncia se articula
com a coero da razo histrica; desta forma, o carter desta
violncia instrumental dominante totalmente repressivo, por
tentar enquadrar a humanidade na lgica cega de um mundo sob
um progresso tcnico e juridicamente positivista, miticamente
matematizado e linear.
9
E ainda reforando, para este autor, os fracassos da autoridade em
cumprir suas obrigaes, expressas ou implcitas, prover segurana e avanar
propsitos coletivos despertam algo que pode ser reconhecido como ira moral
frente ao tratamento injusto. A vingana aparece como motivo antes da
autoridade organizada, servindo a um propsito coletivo similar.(pp.77- 78).
Investigaes sobre
O Agir Humano
259
4. CONCLUSO.
A violncia pura assume a condio de uma contra
violncia (contra hegemonia), que representa o poder de um ato
civil e poltico organizado pelos subjugados, capaz de suspender e
explodir o continuum historicista, gerando, assim, um verdadeiro
estado de exceo, que efetiva uma paralisao do fluxo continuo
do tempo, refazendo um novo conceito de histria.
A tradio dos oprimidos nos ensina que o estado de
exceo em que vivemos na verdade a regra geral....
Nesse momento, percebemos que nossa tarefa originar
um verdadeiro estado de exceo (BENJAMIN, 1986c, p.
226).
10
E esta tarefa resultaria em uma nova hegemonia ativa de
acmulo maior de foras contra os inimigos histricos da
humanidade, que na poca da elaborao das teses eram
hegemonizados pelos regimes nazifascistas. E somente um
verdadeiro estado de exceo colocaria em evidncia o
assombro com os episdios de determinados regimes totalitrios
existentes na histria.
A terminologia existencial do assombro era utilizada por
Brecht, em sua noo de teatro criativo (pico), que apela para a
interferncia do homem no processo de elaborao do
conhecimento, propondo uma desconstruo da evoluo
escatolgica e mecnica da humanidade. Criando, com isto, um
refluxo, uma quebra do continuum da razo histrica, imobilizando
at mesmo o movimento pela sntese da dialtica, colocando-a em
um estado de repouso.
10
Tese 8.
Investigaes sobre
O Agir Humano
260
Benjamin resgata esta influncia terminolgica em Brecht,
afirmando a partir da noo do teatro pico, no-trgico do literato,
que o refluxo, a interrupo explosiva do continuum representa o
assombro existencial a ser aprendido, no qual a dialtica em estado
de repouso, suspensa de sua escatologia, propicia a emergncia da
criao do inteiramente novo na histria.
O assombro, que devemos incluir na teoria aristotlica
dos efeitos da tragdia, deve ser visto como uma
capacidade que pode ser aprendida. E que, quando o
fluxo real da vida represado, imobilizando-se, essa
interrupo vivida como se fosse um refluxo: o
assombro esse refluxo. O objeto mais autntico desse
assombro a dialtica em estado de repouso
(BENJAMIN, 1986b, pp. 89-90).
A violncia dos dominantes, ao articular o direito com a
coero instrumental da razo histrica, no gera um assombro no
sentido filosfico do comear de novo; e, segundo o autor, a
dominao totalitria e repressiva um assombro que no gera
nenhum conhecimento, a no ser o conhecimento de que a
concepo de histria da qual emana semelhante assombro
insustentvel (BENJAMIN, 1986c, p. 226)
11
.
Um conhecimento ampliado, resultante do refluxo histrico
benjaminiano, gera uma heteronomia e uma nova e transformadora
poltica cultural para uma hermenutica histrico-crtica do tempo
presente, possibilitando a emergncia revolucionria do
inteiramente novo na histria. Como j pudemos demonstrar,
eminentemente filosfico o assombro histrico da paralisao
(refluxo) e desconstruo do fluxo contnuo do tempo, por
intermdio do qual a alegoria do anjo da histria Angelus Novus
11
Tese 08.
Investigaes sobre
O Agir Humano
261
, com seu carter destrutivo, sobrevoa melancolicamente as
runas da histria em fragmentos.
REFERNCIAS
BAUDRILLARD, Jean. Sombra das Maiorias Silenciosas. 3. ed. So
Paulo: Brasiliense, 1993.
BENJAMIN, Walter. Crtica da Violncia - Crtica do Poder. In:
_____. Documentos de Cultura - Documentos de Barbrie. So Paulo:
EDUSP, 1986a. (Escritos Escolhidos).
BENJAMIN, Walter. Que o Teatro pico ? Um estudo sobre
Brecht. In: _____. Magia e Tcnica, Arte e Poltica. 2. ed. Obras
Escolhidas, v. 1. So Paulo: Brasiliense, 1986b, pp. 89 - 90.
BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito da Histria. In.:
_____. Magia e Tcnica, Arte e poltica. 2.ed. So Paulo: Brasiliense,
1986c. (Obras escolhidas, v.1).
BERMAN, Marshall. Tudo que Slido se Desmancha no Ar. So
Paulo: Cia. das Letras, 1986.
BOTIE, Etienne La. Discurso da Servido Voluntria. So Paulo:
Brasiliense, 1982.
HABERMAS, Jrgen. Sociologia. (Textos de Habermas ). So Paulo:
tica, 1980.
HARVEY, David. A Condio Ps-Moderna. 2. ed. So Paulo: Loyola.
1993.
HAMACHER, Werner. Aformativo, greve: A crtica da violncia
em Benjamin. In: BENJAMIN, Andrew; OSBORNE, Peter. (orgs.)
A filosofia de Walter Benjamin. Destruio e experincia. Rio: Zahar, 1997.
Investigaes sobre
O Agir Humano
262
MOORE Jr., Barrington. Injustia: As Bases Sociais da Obedincia e
da Revolta. So Paulo: Brasiliense, 1987.
ORTEGA Y GASSET, Jos. A Rebelio das Massas. So Paulo: Ed.
Martins Fontes, 1987.
SANTOS, Boaventura de S.. O Social e o Poltico na Transio Ps-
Moderna. Lua Nova. n. 31, 1993.
SENNETT, Richard. O Declnio do Homem Pblico. So Paulo:
Companhia das Letras, 1988.
11
DE PACE FIDEI: PRESSUPOSTOS PARA A
CONCRDIA E A PAZ PERPTUA NAS RELIGIES
Jos Teixeira Neto
1
O De pace fidei, escrito 1453, no um texto ocasionado por
disputas filosfico-teolgicas. Motivado pelas perseguies e guerras
que se seguiram a tomada de Constantinopla pelos turcos, prope
um dilogo imaginrio entre o Verbo, Pedro, Paulo e os
representantes de diversas tradies religiosas e culturais daquele
tempo.
A tomada de Constantinopla, atual Istambul na Turquia,
pelos Turcos Otomanos em 29 de maio de 1453 uma daquelas
datas que marcaram o fim de uma poca e o incio de outra. Muitas
foram as consequncias desse acontecimento: o comrcio, a poltica,
a religio, as artes e a cultura foram influenciados diretamente. Do
ponto de vista poltico representa o fim do Imprio Romano do
Oriente. Em 330 d.C. Bizncio, antigo nome grego de Istambul,
havia sido escolhido pelo imperador Constantino para ser a capital
do Imprio Romano, a sua Nova Roma. Enquanto Roma e o
Imprio Romano do Ocidente caiam em runas por causa das
diversas invases, Constantinopla, a cidade de Constantino,
prosperava e depois de mil anos se tornara um importante
entreposto comercial, pois servia de passagem tanto martima (Mar
Negro Mar Mediterrneo) como terrestre para o comrcio entre
1
Doutor em Filosofia pela UFRN e professor do Curso de Licenciatura
em Filosofia do Campus Caic da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte-UERN. (E-mail: josteix@hotmail.com)
Investigaes sobre
O Agir Humano
264
a Europa e a sia, a China e ndia, por exemplo. Assim, o
fechamento dessa porta comercial obrigaria italianos, mas,
principalmente, espanhis e portugueses a buscarem novas rotas
comerciais. Por sua vez, deve-se tambm considerar o impacto da
migrao de sbios bizantinos para a Europa, principalmente Itlia,
e o impulso considervel para a crescente busca por textos antigos
da cultura grega, uma das marcas principais do humanismo
renascentista do sculo XV e XVI.
Por outro lado, a queda de Constantinopla tambm esconde
e em parte representa o fracasso do dilogo entre a Igreja Catlica
Latina e a Igreja Ortodoxa. No se pretende aqui recuperar a
histria do cisma de 1054 entre as duas Igrejas Crists e nem a
histria das diversas tentativas de reaproximao. Cabe informar
que as tentativas de reunificao da f crist culminar com a
promulgao da Bula papal Laetentur caeli de 6 de julho de 1439 no
Conclio Ecumnico de Florena (DENZINGER, n. 1300-1353).
O Conclio de Florena, iniciado em 26 de fevereiro de
1439, a continuao do Conclio de Basileia, iniciado em 23 de
julho de 1431 e depois transferido em 18 de setembro de 1437 para
Ferrara. importante destacar a presena de Nicolau de Cusa j em
Basileia como exmio defensor do conciliarismo, corrente que
defendia a supremacia do Conclio sobre o Papa. Contudo,
convencido da importncia do Papa para a unidade da Igreja,
Nicolau aproxima-se sempre mais da Cria Romana e do Papa
Eugnio IV que posteriormente o enviar como legado pontifcio
Constantinopla
2
. Portanto, o contato do Cardeal de Cusa com a
2
Nel 1433 interviene nella lotta politica tra il Concilio di Basilea
presieduto da Giuliano Cesarini e il papa Eugenio IV. La maggioranza dei Padri
era per la teoria della superiorit del Concilio. Il Cusano per la teoria conciliare,
ma mitigata nei suoi aspetti conflituali. Scrive a questo proposito il De Concordantia
catholica. [...]; Cusano deve proporre una soluzione alla spinosa questione della
Presidenza del Concilio generale e di quali posti assegnare ai legati pontifici. A
questo proposito scrive il De auctoritate praesidendi in concilio generali nel 1434. Nel
Investigaes sobre
O Agir Humano
265
capital do Imprio Romano do Oriente poca da sua queda j
durava mais de 15 anos.
3
O De pace fidei um texto curto. Na edio publicada em
<http://www.cusanus-portal.de/> consta de 19 curtos captulos e
68 pargrafos. De modo geral, pode-se dividir a obra em duas
partes: os captulos I-III (n. 1-9) e os captulos IV-XIX (n. 10-68).
Na primeira parte encontra-se um eplogo (cap. I, n. 1) no qual se
descreve a situao que ocasionou o escrito. Alm disso, tambm ali
se afirma que o escrito resultado de uma viso e comea-se a
descrever a viso de um conclio celestial ou reunio dos santos
presidido pelo Todo-poderoso que ouve os relatos dos
mensageiros (prncipes ou arcanjos) sobre a situao das
perseguies seguidas queda de Constantinopla (cap. I, n. 2). No
restante do primeiro captulo (cap. I, n. 3-6) fala um dos prncipes
1436-37 si convince dellimportanza conciliatrice del papa e si accosta sempre pi
alla Curia romana e al pontefice; sostiene quindi Eugenio IV contro lantipapa
Felice V e caldeggia il trasferimento del Concilio a Ferrara in occasione del
progettato arrivo dei Padri greci, per trattare lunione della Chiesa ortodossa con
la latina. Eugenio IV laveva infatti inviato a Costantinopoli come suo delegato
per invitare limperatore e il patriarca di Constantinopoli a partecipare al grande
concilio che avrebbe dovuto tenersi in Italia per lunione delle due Chiese
(VESCOVINI, 1998, p. 2-3).
3
A viagem a Constantinopla deixou marcas profundas na vida e no
pensamento de Nicolau de Cusa. Em carta enviada ao Cardeal Juliano Cesarini
junto com o De docta ignorantia, Nicolau recorda que alcana os conceitos-chave da
sua especulao, coincidncia dos opostos e douta ignorncia, na viagem de
retorno de Constantinopla no outono de 1437: Recebe agora, venervel padre, o
que eu desejava atingir j h muito, pelas vias diversas das cincias, mas que antes
no consegui, at que, ao regressar da Grcia por mar, fui levado segundo
creio, por um dom do alto, do Pai das Luzes de quem deriva todo o dom
excelente a abraar incompreensivelmente o incompreensvel na douta
ignorncia, transcendendo o que humanamente cognoscvel das verdades
incorruptveis (A douta ignorncia, n. 263, p. 186). Tambm no De pace fidei, escrito
16 anos aps a viagem a Constantinopla, Nicolau refere: A divulgao de actos
(sic.) to cruis cometidos pelo rei dos Turcos em Constantinopla encheu um
certo homem, que em dada ocasio visitara aqueles lugares, de um tal selo divino que o
levou a orar [...] (A paz da f, cap. I, n. 1; grifo nosso).
Investigaes sobre
O Agir Humano
266
em representao de todos os enviados; o segundo captulo
consta da interveno daquele que estava sentado no trono ou
Rei dos reis (cap. II, n. 7); por fim, o terceiro captulo conclui essa
primeira parte com a interveno do Verbo feito carne (cap. III,
n. 8-9). A segunda parte, mais extensa, culmina com uma concluso
(cap. XIX, n. 68) precedida, em primeiro lugar, pelo dilogo entre o
Verbo e o grego, o italiano, o rabe, o hindu, o caldeu, o judeu, o
cita e o francs (cap. IV-X, n. 10-28); em segundo lugar, pelo
dilogo entre Pedro e o persa, o srio, o espanhol, o turco e o
alemo (cap. XI-XV, n. 29-53); por ltimo, entre Paulo, o trtaro, o
armnio, o bomio e o ingls (cap. XVI-XIX, n. 54-67). O texto
curto, porm, a pequenez contrasta com a densidade do contedo,
j que nesse texto ocasional Nicolau no deixa de empenhar os
principais conceitos, tanto filosficos quanto teolgicos, da sua
especulao
4
.
O objetivo do dilogo a procura pela unidade e
consequentemente pela paz perpetua entre as religies. Algumas
perguntas servem de guia ao presente trabalho: a busca pela unidade
(concrdia) preconizada pelo De pace fidei pode ser reduzida a uma
postura meramente reducionista das diversas perspectivas quela do
autor? Nicolau pretende reduzir e cancelar as diferenas, a
diversidade de ritos, quando busca estabelecer nas religies a paz
perptua (A paz da f, cap. I, n. 1, p. 21)? Se em 1453 o autor se
assustava com as sangrentas perseguies decorrentes da tomada de
Constantinopla, tambm hoje assustam os violentos conflitos que
cotidianamente se assiste entre povos e culturas diferentes. Nesse
4
O carter ocasional da obra, portanto, no condiciona o escrito e, por
isso, no ele que funda e justifica a possibilidade do dilogo. Concorda-se, por
isso, com Quillet (1993, p. 237) quando afirma que [...] loriginalit du De pace fidei
du Cardinal de Cues est de fonder le dialogue, non pas seulement sur des
exigences morales, ou des impratifs dopportunit dicts par les ncessits
politiques de son temps, mais den tablir la possibilit un niveau proprement
philosophique et thologique.
Investigaes sobre
O Agir Humano
267
sentido, a resposta cusana poderia tambm iluminar e indicar o
caminho a ser trilhado para se buscar a concrdia, a tolerncia e o
respeito na diversidade cultural que hoje se mostra?
O pensamento cusano no se compreende adequadamente
quando no se observa que o dilogo entre perspectivas diferentes o
configura profundamente. A importncia do dilogo aparece j na
formao do seu pensamento. A esse respeito, quando se
consideram as universidades que Nicolau frequentou percebe-se que
ele teve contato com perspectivas diferentes da tradio escolstica
e j com o primeiro humanismo
5
. De modo fundamental,
necessrio tambm atentar para o fato de que em sua especulao a
filosofia e a teologia, o intelectus e a fidei, relacionam-se dinmica e
dialeticamente e configuram um nico modo de pensar
6
. Alm
disso, importante destacar que Nicolau tambm adota o gnero
literrio do dilogo em diversas obras. Encontra-se desde o incio
at o fim da sua produo: De deo abscondito (1444); De genesi (1447);
Apologia doctae ignorantiae (1449); Idiotae libri (1450) De pace fidei (1453);
De possest (1460); De non aliud (1462); De ludo globi (1463); De apice
theoriae (1464).
Nessas obras, os personagens podem ser pessoas que
gozavam da amizade e da proximidade do Cardeal de Cusa ou
personagens fictcios, criados justamente para a obra em questo,
como ocorre nos Idiotae libri de 1450. Em outras, o texto no est
escrito em forma de dilogo, mas o pressupe. Por exemplo, ainda
5
[...] se em 1416 iniciou os seus estudos em Heidelberg onde
pontificam os ockmistas, e se entre 1417 e 1423 entrou em contato com o
primeiro humanismo italiano em Pdua, no deixa de ser importante referir que
em 1425 se encontrava em Colnia dominada ainda pela escola tomista e
albertista, o que no deixou de ser determinante para a sua formao filosfica.
Confluem, assim, em Nicolau de Cusa [...] riqussimas tendncias filosficas
condicionantes da sntese que ele prprio ter de construir (ANDR, 1986, p.
372).
6
Sobre esse aspecto conferir os seguintes textos: BEIERWALTES
(2005); REINHARDT (2002); HOPKINS (1996a; 1996b).
Investigaes sobre
O Agir Humano
268
em 1453 Nicolau escreve o De visione dei em resposta aos diversos
questionamentos dos monges do mosteiro de Tegernsee sobre a
viso contemplativa. Por sua vez, o De pace fidei escrito em forma
de dilogo. um dilogo imaginrio cuja motivao uma questo
prtica que precisa de resposta rpida.
O termo dilogo e as suas flexes latinas no aparecem no
De pace fidei. Por sua vez, o termo tolerncia aparece uma vez no
final do texto. Paulo est respondendo ao Trtaro sobre a
dificuldade do seu povo acolher a circunciso. Ao final do dilogo
Paulo, ento, responde: Mas julgo esta prtica difcil. Basta, pois,
edificar a paz com firmeza na f e na lei do amor, tolerando, por
conseguinte, estes ritos (A paz da f, cap. XVI, n. 60, p. 75; grifo
nosso)
7
. Os dois termos, contudo, so utilizados por Nicolau de
Cusa tanto em suas obras como nos sermes.
Quais os limites do dilogo proposto pelo De pace fidei?
Dialogar pressupe no somente a disposio para falar, mas
tambm a disponibilidade para ouvir. De certa forma, pode-se dizer
que essas disposies encontram-se nos personagens principais: o
Verbo, Pedro e Paulo. Porm, na maioria das vezes, a
disponibilidade para a escuta e para o discurso se limita a ouvir as
questes e a dar respostas limitadas ao contexto histrico (eclesial e
teolgico-dogmtico) no qual o autor do texto est inserido. Alm
disso, os personagens centrais encontram-se numa certa posio de
superioridade com relao aos representantes das outras religies.
Por exemplo, j no dilogo inicial com o Grego, o Verbo assume a
posio daquele que deve instruir os restantes sobre a
possibilidade de introduzir esta unidade da religio (A paz da f,
cap. IV, n. 10, p. 28). Essa mesma funo tambm estendida a
Pedro e a Paulo pelo prprio Verbo. Assim, por exemplo, caber ao
apstolo Pedro elucidar e ensinar (A paz da f, cap. X, n. 28, p.
7
Sobre a proposta de tolerncia de Nicolau de Cusa, especialmente no
De pace fidei, conferir: DAMICO (2012).
Investigaes sobre
O Agir Humano
269
47) sobre a encarnao do Verbo e Paulo, doutor dos gentios, por
encargo do Verbo (A paz da f, cap. XVI, n. 55, p. 69) comea a
explicar ao Trtaro se a salvao fruto da f ou das obras.
Outro limite aparece no De pace fidei. Os dilogos se
concluem com os representantes das diversas tradies religiosas
concordando com as explicaes dadas pelo Verbo, por Pedro e por
Paulo. Citemos alguns exemplos. No primeiro, o Judeu aceita a
explicao sobre a Trindade; no segundo, o Persa aceita a explicao
sobre a encarnao e, no terceiro, o Bomio compreende a doutrina
do sacramento da Eucaristia.
Primeiro exemplo: A isto respondeu o JUDEU: foi muito
bem explicada a Trindade sumamente bendita, que no pode ser
negada. (A paz da f, cap. IX, n. 25, p. 43).
Segundo exemplo:
Persa: Parece que, depois de bem considerada aquela
unio que existe necessariamente no altssimo, seriam os
rabes levados a receber esta f, porque por ela no s
no se prejudica, mas se salva a unidade de Deus, que eles
se esforam por preservarem ao mximo (A paz da f,
cap. XII, n. 39, p. 55).
Terceiro exemplo:
Bomio: Compreendo a tua doutrina que me muito
grata, segundo a qual este sacramento o sacramento da
alimentao da vida eterna, pela qual conseguimos a
herana dos filhos de Deus em Jesus Cristo filho de Deus
e segundo a qual o sacramento da eucaristia uma
semelhana desse sacramento, o que s pode ser atingido
pela mente e compreendido e saboreado pela f. (A paz
da f, cap. XVIII, n. 65, p. 79).
O que significam esses limites aqui apresentados? A
indicao desses limites, supostamente presentes do De pace fidei,
Investigaes sobre
O Agir Humano
270
seria fruto de uma leitura apressada e superficial do texto cusano
8
?
Mostrariam que o autor do texto no consegue se desvincular dos
limites dogmtico-teolgicos e religiosos que parecem condicionar o
texto? Esses limites devem ser considerados quando se busca
compreender o conceito cusano de concordia?
A concordia a reformulao em mbito de dilogo inter-
religioso do desejo cusano de pensar e buscar a unidade.
9
Se
podemos aceitar essa tese, ento o sentido da concordia deve ser
buscado nos fundamentos da especulao filosfico-teolgica de
Nicolau de Cusa sobre a unidade e sobre a relao com a
diversidade. A seguir escolheremos alguns textos mais especficos
do De pace fidei que julgamos mais significativos para impostarmos
essa problemtica.
Na primeira parte do texto (cap. I-III, n. 1-9) Nicolau
descreve a situao que ocasionou o escrito. No eplogo afirma-se
que a motivao do escrito a tomada de Constantinopla e os atos
cruis do rei dos Turcos. digno de ateno nesse eplogo o fato
8
Uma leitura rpida e apressada do De pace fidei, que no esteja atenta s
suas articulaes internas e aos diversos nveis em que o debate vai acontecendo,
poder parecer que nos encontramos perante uma perspectiva do dilogo inter-
religioso meramente inclusivista, assimilacionista ou integracionista, assente no
pressuposto de que a unidade e a paz se conseguir se os outros aceitarem que os
pressupostos da religio crist so tambm aqueles que aparecem como
verdadeiramente pressupostos, ainda que de uma forma implcita, nas outras
religies. Mas uma anlise da estrutura dramatrgica do texto, dos diversos
registos, dos seus pressupostos e da respectiva articulao com outras obras do
autor, permitem-nos concluir que, afinal, o tipo de unidade preconizada, em
termos ideais, por Nicolau de Cusa, no assim to redutor (ANDR, 2002, p.
11). Conferir tambm: Andr, 2005, p. 25-43.
9
El pensamiento del Cusano y su bsqueda de mediacin entre
opuestos, que en el mbito eclesistico-poltico haba llevado al concepto de la
concordantia catholica, y en l mbito filosfico-teologico al concepto de la coincidentia
oppositorum, se expresa ms tarde, en el mbito religioso, con la formulacin tpica
del De pace fidei: una religio in rituum varietate. Tambin aqui el Cusano busca la
unidad no en la rgida igualdad de lo idntico, sino en la concordancia viva de lo
diferente (LCKING-MICHEL apud LVAREZ GMEZ, 2004, p. 106).
Investigaes sobre
O Agir Humano
271
do Cardeal salientar que a crueldade se devia aos diversos ritos das
religies. Mais ainda, s no reconhecimento dessa diversidade e
no dilogo entre os poucos sbios que seria possvel encontrar a
paz perptua por um meio conveniente e verdico (A paz da f, cap.
I, n. 1, p. 21). Portanto, para diversidade e, consequentemente,
para mutabilidade, alteridade e pluralidade que primeiramente o
texto chama a ateno. A perseguio e, por isso mesmo, a
crueldade deve-se a diversidade dos ritos
10
. Contudo, a unidade, no
contexto da especulao cusana, antecede a diversidade
(mutabilidade, alteridade e pluralidade) da mesma forma que a
igualdade precede a desigualdade e a diviso precede a conexo.
11
10
lvarez Gmez (2004, p. 127) explica que Nicolau Equipara adems
bajo este aspecto diversidad de ritos y diversidad de religiones. Toma en este
sentido la parte por el todo. Decir diversidad de ritos es tanto como decir
diversidad de religiones [], no porque el rito abarque todo lo que es la religin,
sino porque a la hora de identificar la causa de la persecucin de quienes tiene
creencias religiosas diversas, N. de Cusa entiende que tal diversidad se concentra
en lo que llama rito. Algumas pginas depois, lvarez Gmez explica o sentido
do termo rito: El rito, al margen de su caracterizacin precisa, tiene que ver en
cualquier caso con la forma como se practica la religin. Es ese conjunto de
prcticas el que termina por constituir, sobre todo cuando se convierte en una
costumbre, la base sobre la que el creyente afirma su identidad, o el referente en el
que se siente identificado. La Trinidad o la Encarnacin no son en s mismas un
rito, pero la va de la representacin, sea artstica, literaria o conceptual, termina
convirtindose fcilmente en un rito, cuando el creyente deja de referirse
propiamente a ellas para hacer valer a cambio el modo como se las apropia y las
objetiva. Entonces el creyente, en lugar de ver en ellas el principio de justifica su
fe, las reduce a exponente diferenciador y, en caso extremo, a principio de
exclusin (2014, p. 132).
11
J no primeiro livro do De docta ignorantia, no captulo VII intitulado
A eternidade trina e una, apresenta essa especulao (A douta ignorncia, Livro I,
cap. VII, n. 18-21). No De pace fidei reaparecem idntica especulao no contexto
do dilogo sobre a Trindade crist entre o Hindu e o Verbo. O Hindu afirma que
seria muito difcil chegar [...] em toda parte concrdia sobre o Deus trino. Pois
a todos parece que a trindade no pode conceber-se sem trs. Se na divindade
existir a trindade, existir a pluralidade na divindade (A paz da f, cap. VII, n. 20,
p. 37). O Verbo comea relativizar a compreenso sobre o Deus trino. Quando
se considera Deus, enquanto criador, trino e uno; enquanto infinito, nem trino,
nem uno, nem nada daquilo que se possa dizer. Encontram-se tais afirmativas na
Investigaes sobre
O Agir Humano
272
Portanto, nesse caso da diversidade dos ritos e das religies tambm
necessrio perguntar pela unidade que a precede.
Continuemos a nos fixar nessa primeira parte do De pace fidei
para a tentarmos encontrar a origem de toda diversidade e
consequentemente a unidade que a precede, o fundamento da
concrdia nas religies e da consequente paz. Analisemos, em
primeiro lugar, as palavras de um dos prncipes ou arcanjo que fala
em nome de todos os enviados. Nessas palavras encontramos o
esquema neoplatnico da processo e do retorno unidade.
Segundo o De pace fidei todos os homens compartilham a mesma
origem e tambm o mesmo fim, pois, a partir de um s [homem]
multiplicaram-se muitos povos que ocupam a superfcie da terra.
Embora criado racional e intelectual o homem no ver o lugar de
que procede. Da que todas as coisas foram criadas para que pela
admirao ele possa reunir-se com o criador e retornar ao seu lugar
de origem (De pace fidei, cap. I, n. 3-4, p. 22-23).
Alm disso, para o De pace fidei (cap. I, n. 4, p.23) no pode
haver uma grande multido sem uma grande diversidade e isso
parece significar que multiplicidade criada segue necessariamente a
diversidade e a diferena. Por fim, para Nicolau todos os homens se
encontram num estado de atribulaes, misrias, submisso e
distraes ocasionadas pelo fazer e pelas preocupaes materiais de
modo que nem todos tm o cio necessrio para se
aprofundarem no conhecimento de si mesmos e,
consequentemente, para buscarem o Deus escondido. Por isso,
Deus enviou para as diversas naes, diferentes profetas e em
tempos diferentes que no desempenho das suas funes e da
perspectiva de uma teologia afirmativa e negativa. Dessa forma, o Verbo explica
que os nomes atribudos a Deus so extrados da criatura, mas ele prprio
em si mesmo inefvel e est acima de tudo que possa ser dito ou nomeado.
Sobre o tema da trindade no De pace fidei conferir: ARROCHE (2010).
Investigaes sobre
O Agir Humano
273
misso de auxiliarem os homens no processo de converso e
retorno instituram o culto e leis em nome de Deus e instruram o
povo ignorante que acreditaram que era o prprio Deus a falar.
Porm, tendo em vista a sua condio terrena, os homens terminam
por defender como verdade hbitos praticados h muito que se
consideram como passando a fazer parte da natureza. Desse modo,
o que parecia ser um remdio e um auxlio termina por provocar
mais divises, pois as dissenes acontecem quando uma dada
comunidade prefere a sua f de outra.
Portanto, de acordo com as palavras do arcanjo (De pace fidei,
cap. I, n. 5, p. 24) por causa de Deus que acontecem as guerras e
perseguies entre as religies. Pois, Deus o nico a ser venerado
em tudo aquilo que os homens parecem adorar; o nico a ser
desejado por todos aqueles que desejam o bem; o nico a ser
procurado por todos aqueles que buscam a verdade. Mais ainda,
todos aqueles que existem, buscam ser e todos aqueles que vivem,
procuram viver. Por isso, Deus que d a vida e o ser o que
parece ser procurado de modo diferente nos diversos ritos e ser
nomeado com diversos nomes, mas permanece desconhecido e
inefvel tal como , pois nenhuma criatura pode conhecer o
conceito da infinitude divina, j que no h proporo entre o finito
e o infinito, de acordo com uma frmula usada desde os tempos do
De docta ignorantia. Se as perseguies so por causa do Deus
desconhecido e oculto, somente uma revelao de Deus, uma
mostrao do seu prprio rosto poderia por fim s perseguies e s
guerras entre as religies. Por isso, o arcanjo suplica: no
permaneas oculto mais tempo.
A apario de Deus poria fim s perseguies, s guerras, ao
dio e todos conheceriam que no h seno uma religio na
variedade dos ritos. Parece, pelo exposto anteriormente e fundados
na apario do Deus escondido, que essa religio no poderia ser
identificada com nenhuma religio particular. A religio una estaria
Investigaes sobre
O Agir Humano
274
fundada no mais na diversidade de leis e cultos promulgados pelos
diversos profetas das diversas religies, mas na apario do Deus
desconhecido. A splica do arcanjo termina reconhecendo que no
possvel ou conveniente suprimir as diferenas, a variedade dos
ritos, por isso, suplica-se que ao menos haja uma s religio e um
s culto de latria, pois Deus uno (De pace fidei, cap. I, n. 6, p. 24-
25).
splica do arcanjo, ainda nesta primeira parte do texto (De
pace fidei, cap. II, n.7, p. 25-26), responde o que estava sentado no
trono enfatizando que o homem havia sido criado com liberdade e
capacidade de chegar, usando a liberdade, unio com seu princpio
e ao seu lugar de origem. Alm disso, tambm se reafirma o plano
de salvao, porque o homem terreno e animal se deteve na
ignorncia e preferiu caminhar segundo a condio da vida
sensvel e no segundo o homem interior e intelectual, cuja vida
prpria do seu lugar de origem. Por isso, diligente e
cuidadosamente o homem foi chamado dos seus desvios por
meio dos profetas e do prprio Verbo, filho de Deus, que deu
testemunho de que o homem capaz de vida eterna. Por fim, as
palavras do sumo Rei terminam por concluir perguntando que
mais se poderia fazer que no tenha sido feito?.
No ltimo captulo dessa primeira parte (De pace fidei, cap.
III, n. 8, p. 26-27) intervm o Verbo feito carne que reconhece a
perfeio das obras divinas. Portanto, tambm reconhece que o
homem foi criado livre, a instabilidade do mundo sensvel e a
variedade das opinies e conjecturas para justificar a necessidade de
visitas mais frequentes para que a natureza humana possa
conhecer a verdade sobre o Verbo que sendo una e no podendo
deixar de ser captada por qualquer intelecto livre reconduza a
diversidade das religies a uma s f ortodoxa.
Podemos considerar dois aspectos at esse momento: em
primeiro lugar, o reconhecimento da liberdade humana e a
Investigaes sobre
O Agir Humano
275
capacidade de, se quiser, voltar ao seu lugar de origem. Em segundo
lugar, reconhece-se o fato da multiplicidade das coisas criadas e a
consequente diversidade que gera instabilidade tanto no mundo das
coisas como no mundo humano que aparece na variedade de
opinies, conjecturas, lnguas e interpretaes. Portanto, por um
lado se afirma a capacidade do retornar unidade, lugar de origem
de todo esprito intelectual, mas por outro tambm se insiste nos
limites impostos pela prpria finitude criatural. Da que em um
contexto marcadamente religioso se aceite a necessria interveno
divina para reorientar a natureza humana na busca da verdade.
Contudo, no De pace fidei (cap. III, n. 9, p. 28), a interveno divina
nem se reduz a uma nova apario de Deus nem no envio de novos
profetas para reorientarem os povos. O texto aponta para um
encontro entre os homens mais doutos e mais eminentes do mundo
em Jerusalm. A misso recebida: que a diversidade das religies,
mediante um consenso comum de todos os homens, fosse
reconduzida de modo concordante a uma s.
A segunda parte do De pace fidei, captulos IV-XIX (10-68),
culmina com uma concluso (cap. XIX, n. 68) na qual podemos
destacar dois aspectos: no primeiro, afirma-se que depois das
discusses foram apresentados livros sobre a observncia dos
antigos e sobre a diversidade das religies, como Marco Varo
entre os latinos e Eusbio entre os Gregos. Aps a anlise dos
textos ficou manifesto que toda diversidade est mais nos ritos que
no culto a um s Deus. O segundo enfatiza que a concrdia das
religies se concluiu no cu da razo.
Para finalizar o nosso texto retornemos ideia de buscar no
De pace fidei a unidade que precede a diversidade, desigualdade e
diviso e que tambm o fundamento da concrdia e da paz entre
as religies. Assim, para permanecermos no cu da razo e no
solo da filosofia, destaquemos o dilogo entre o Verbo e o Grego
(cap. IV, n. 10-12, p. 28-20). Apontamos anteriormente os limites
Investigaes sobre
O Agir Humano
276
do dilogo cusano. Dentre eles destacvamos que o Verbo, Pedro e
Paulo assumem uma posio de superioridade com relao aos
outros dialogantes. O Grego, por exemplo, comea louvando a
Deus e reconhecendo que somente Deus tem o poder de fazer
com que uma to grande diversidade de religies seja reconduzida a
uma paz concordante e que os sbios convocados diante do Verbo
no podem deixar de obedecer s suas ordens. Por isso, roga para
que seja instrudo sobre o modo pelo qual [...] ser possvel
introduzir esta unidade da religio. O problema, segundo o Grego,
a diversidade da f aceita e proclamada pela diversidade das
naes. Sendo assim, ele est persuadido de que uma nao
dificilmente aceitar outra f diferente daquela que at agora
defendeu.
O Verbo assume a palavra (De pace fidei, cap. IV, n. 10, p. 28)
e solicitao de instruo e, principalmente, como resposta a
persuaso do Grego e de todos os outros presentes, afirma que no
se encontrar outra f, mas a mesma e nica pressuposta em todo
lado. O princpio mais geral que sustenta essa afirmao o
pressuposto segundo o qual antes de toda pluralidade existe a
unidade (De pace fidei, cap. IV, n. 11, p. 29). Assim, para explicar a
relao entre a unidade e a pluralidade ou diversidade, portanto,
entre a f defendida por cada nao e a f pressuposta e anterior
diversidade, o Verbo parte do seguinte fato: todos os que ali esto
presentes so considerados em suas ptrias como sbios, filsofos
ou amantes da sabedoria, mas se todos amam a sabedoria, devem
tambm pressupor que existe a prpria sabedoria (De pace fidei, cap.
IV, n. 10, p. 29).
Aps o assentimento de todos de que a sabedoria existe, o
Verbo afirma de maneira conclusiva, que no pode haver seno
uma sabedoria. Pois se fosse possvel haver muitas sabedorias, seria
necessrio que elas fossem a partir de uma s, pois antes de toda
pluralidade existe a unidade (De pace fidei, cap. IV, n. 11, p. 29).
Investigaes sobre
O Agir Humano
277
necessrio, porm, deixar claro a relao entre a diversidade das
sabedorias e a sabedoria una que existe antes da pluralidade.
Segundo o Grego por participao (cursivo nosso) [na sabedoria]
que h muitos sbios, permanecendo a prpria sabedoria simples e
indivisa como em si. Para o Verbo, por outro lado, existe uma
nica sabedoria, cuja fora inefvel. E cada um experimenta, na
explicao (cursivo nosso) da sua virtude, essa fora inefvel e
infinita. Portanto, em todas as coisas singulares atingidas pelos
sentidos, cada um dos sentidos reconhecem que a sabedoria
invisvel excede todas as coisas (De pace fidei, cap. IV, n. 11, p. 29).
por essa via do mundo, via da admirao da
multiplicidade e da diversidade ou via da admirao das coisas que
esto sujeitas aos sentidos que todos os que fizeram da filosofia
profisso amam a doura pr-saboreada (sic.) da sabedoria, afirma
o Grego. Contudo, na vida humana ou no organismo humano
que de modo privilegiado reluz a sabedoria absoluta. Se, acima de
tudo a fora da sabedoria reluz no esprito racional como na sua
imagem prxima, pois o esprito racional capaz de artes
admirveis, reluz tambm na ordem dos membros do corpo e na
harmonia dos rgos, no movimento. O mais admirvel, contudo,
reconhece Nicolau por boca do Grego
[...] que esse resplendor da sabedoria se aproxima cada
vez mais da verdade por uma intensa converso do
esprito, at que o prprio resplendor vivo a partir da
sombra da imagem se torna cada vez mais verdadeiro e
conforme a verdadeira sabedoria, embora a prpria
sabedoria absoluta nuca seja, tal como , atingvel noutra
coisa, para que assim a sabedoria eterna e inesgotvel seja
um alimento intelectual perptuo e sem fim.
O dilogo entre o Grego e o Verbo termina com o Verbo
reconhecendo que o Grego avana diretamente para o objetivo
Investigaes sobre
O Agir Humano
278
pretendido que era mostrar como a diversidade da f pressupe a
unidade de um nico Deus. Afirma o Verbo, [...] todos vs, ainda
que chamados de diferentes religies, em toda diversidade
pressupondes uma s coisa a que chamais sabedoria. Portanto, se
levarmos a srio o dilogo entre o Verbo e o Grego e os
fundamentos que o sustenta, ento deveremos concluir que a
concrdia, reformulao em mbito de dilogo inter-religioso do
desejo cusano de pensar e buscar a unidade no se reduz a uma
negao da diversidade e da diferena. Dessa forma, a busca pela
paz perpetua entre as religies deve ser reorientada para o dilogo
que comea quanto todos aceitam que a diversidade e a diferena
a apario da unidade originria da qual a multiplicidade
explicao ou na qual a diversidade participa.
REFERNCIAS
LVAREZ GMEZ, Mariano. Hacia los fundamentos de la paz
perpetua en la religin. In: ______. Pensamiento del ser y espera de Dios.
Salamanca: Sigueme, 2004. p. 103-140.
ANDR, Joo Maria. Dilogo intercultural, utopia e mestiagens em tempos
de globalizao. Coimbra/Portugal: Ariadne editora, 2005. Coleo
thos, n 3 (principalmente as pginas 25-43).
ANDR, Joo Maria. Introduo. In: NICOLAU DE CUSA. A paz
da f seguida da Carta a Joo de Segvia. Traduo e introduo de Joo
Maria Andr. Coimbra/Portugal: Minerva Coimbra, 2002. p. 7-17.
ANDR, Joo Maria. Nicolau de Cusa e a Crise de Sentido do
Discurso Filosfico. In: Tradio e Crise I. Faculdade de Letras.
Coimbra, 1986, p. 367-413.
Investigaes sobre
O Agir Humano
279
ARROCHE, Victoria. El tema de la Trinidad en el De pace fidei de
Nicols de Cusa. In: MACHETTA, Jorge M. & DAMICO, Claudia
(Editores). Nicols de Cusa: identidad y alteridad. Pensamiento y
dilogo. Buenos Aires: Biblos, 2010, p. 405- 416.
BEIERWALTES (2005), Werner. La relacin entre filosofa e
teologa en Nicols de Cusa. In. ______. Cusanus. Reflexin metafsica
y espiritualidad. Traduccin de Alberto Ciria. Pamplona: Eunsa, 2005,
p. 11-44.
DAMICO, Claudia. La propuesta de tolerancia de Nicols de Cusa.
In: RIVAS, Rubn Peret (Editor). Tolerancia: teora y prctica en la
edad media. Fdration Internationale des Instituts dtudes
Mdivales Textes et tudes du Moyen ge, 64, Porto/Portugal,
2012 (p. 75-88).
DENZINGER, Heinrich. Enchiridion symbolorum definitionum et
declarationum de rebus fidei et morum. Edizione bilingue a cura di Peter
Hnermann. Bologna/Italia : EDB, 1996.
HOPKINS, Jasper. Glaube und Vernunft im Denken des Nikolaus von
Kues. Prolegomena zu einem Umri seiner Auffassung. Trier: Paulinus-
Verlag, 1996a. Trierer Cusanus Lecture. Heft 3. (Traduo para o
ingls: Prolegomena to Nicholas of Cusas conception of the relationship of faith
to reason, 1996b). Disponvel em: http://jasper-hopkins.info/.
NICOLAU DE CUSA. A douta ignorncia. 2 Ed. Traduo,
introduo e notas de Joo Maria Andr. Lisboa/Portugal:
Fundao Calouste Gulbenkian, 2008.
NICOLAU DE CUSA. A paz da f seguida da Carta a Joo de Segvia.
Traduo e introduo de Joo Maria Andr. Coimbra/Portugal:
MinervaCoimbra, 2002.
QUILLET, Jeannine. La paix de la foi : identit et diffrence selon
Nicolas de Cuses. In: PIAIA, Gregrio (a cura di). Concordia Discors:
Investigaes sobre
O Agir Humano
280
studi su Niccol Cusano e lumanesimo europeo offerti a Giovanni
Santinello. Padova: Editrice Antenore, 1993, (p. 237-250).
REINHARDT, Klaus. Concordancia entre exgesis bblica y
especulacin filosfica en Nicols de Cusa. In: LVAREZ
GMEZ, Mariano & ANDR, Joo Maria. Coincidencia de Opuestos y
Concordia: Los Caminos del Pensamiento en Nicols de Cusa. Actas
del Congreso Internacional celebrado en Coimbra y Salamanca los
das 5 a 9 de noviembre de 2001. Tomo II. Salamanca: Sociedad
Castellano-Leonesa de Filosofa, 2002, p. 135-148.
VESCOVINI, Graziella F. Il pensiero di Nocola Cusano. Turin: UTET,
1999
.
12
POLTICA, EDUCAO E FORMAO MORAL NAS
LEIS DE PLATO
Jos Renato de Arajo Sousa
1
Plato tinha mais de 70 anos quando comeou a redigir o
que seria seu ltimo dilogo, publicado postumamente por um de
seus discpulos, Felipe de Opunte, a quem a tradio atribui a
organizao do dilogo e a redao da Epnomis; o que seria um possvel
complemento s Leis no que tange educao do governante. Nas Leis,
ainda que a tradio e a crtica especializada reconheam-na como
um dilogo inacabado, encontramos algumas respostas
fundamentais para compreender o pensamento de Plato e fazer
uma reviso de suas ideias, quase sempre, associadas, unicamente,
obra A Repblica. bem verdade, como est nas entrelinhas das
Leis, que seu projeto poltico principal ainda era aquele do
governante-filsofo, mas nem por isso deixou de dar inestimvel
contribuio ao que hoje compreendemos por Estado moderno, ao
reconhecer que at o corpo jurdico-legislativo deve ser submetido
soberania das leis.
Ao sugerir o Estado das Leis como segunda opo e modelo
para conter a crise poltica de Atenas, Plato novamente recai no
problema da formao espiritual do homem e sua relao com o
Estado. Nessa segunda opo nos deparamos com algumas
concepes que indicam que o filsofo mudou seu ponto de vista
acerca da natureza humana. Sua psicologia mais uma vez
pormenorizada e seu projeto educacional est devidamente
1
Professor adjunto da Universidade Federal do Piau.
Investigaes sobre
O Agir Humano
282
relacionado com as concluses a que chegou a respeito da psykh,
mmesis e paidea. Mais uma vez ele mostra a necessidade de ter um
planejamento educacional condizente com as necessidades do
Estado, ampliando desse modo o significado da paidea a um nvel
que, infelizmente, ns modernos estamos lanando ao
esquecimento. Pesquisar e discutir esse dilogo certamente nos
remeter a velhos problemas que, de algum modo, esto ainda
presentes em nossa estrutura poltico-social.
Segundo estudiosos de Plato, o livro Leis foi escrito durante
os ltimos dez anos de vida do filsofo. Nessa fase da vida,
consenso entre os estudiosos que Plato modificou seu pensamento
poltico em alguns pontos. A principal mudana ocorre em relao
confiana que o filsofo passou a creditar s leis. Antes vistas como
insuficientes para dar conta da ampla complexidade das relaes
humanas na polis, as leis passam agora a ser vistas como uma
soluo possvel para a crise poltica grega. Plato argumentava em
sua Repblica que uma mente superior (filsofo) habilmente educada
no necessitaria de prescries legais escritas para cumprir suas
obrigaes cvicas. A legislao acabaria sendo desnecessria, pois o
homem de bem (kalskagaths) saberia por si s como agir em cada
situao ou seria guiado pelo guardio filsofo (Repblica, 425 a -
426 e). As reservas de Plato em relao s leis escritas esto bem
explcitas no Fedro (274 e - 275 e) e no Poltico (294 b-c), onde diz
que a lei jamais seria capaz de estabelecer, ao mesmo
tempo, o melhor e o mais justo para todos, de modo a
ordenar as prescries mais convenientes. A diversidade
que h entre os homens e as aes, e por assim dizer, a
permanente instabilidade das coisas humanas, no admite
em nenhuma arte, e em assunto algum, um absoluto que
valha para todos os casos e para todos os tempos [...].
Investigaes sobre
O Agir Humano
283
Interessante notar tambm que Plato atrelou o problema
poltico ao educacional de uma maneira muito lcida e original, pois
ao contexto dramtico das Leis entrelaou fatos histricos ocorridos
de grande importncia, realando assim a preciso de sua anlise
filosfica. No prprio corpus da obra fez observar que o declnio
poltico de trs dos maiores Estados polticos da Grcia antiga
estava diretamente relacionado com suas respectivas paidea: Atenas
por cultivar uma excessiva liberdade aps o fortalecimento da
democracia, desprezando sua tradio educacional, poltica e
religiosa; Esparta por cultivar unilateralmente a virtude da coragem
e carecer de temperana; a Prsia por sua tirania opressora, e sua
monarquia padecer de um ideal educativo para transmitir o governo
aos seus herdeiros.
O contexto dramtico das Leis situa-se em Creta. Trs
ancies se dispem a uma longa jornada com o intento de fundar
uma colnia para habitantes de Cnossos e outros cretenses
interessados em habit-la. Seus nomes e respectivas ptrias so:
Ateniense, proveniente de Atenas; Megilo de Esparta e Clnias de
Creta. Pela fala da personagem Ateniense, Plato apresenta uma
maneira de elaborar uma constituio exequvel para a plis. Parece
ento deixar de lado o projeto poltico de A Repblica, onde haveria
uma comunidade de guardies, de mulheres e crianas, e passa a
reconsiderar o direito propriedade privada e famlia que havia
abolido na classe dos guardies e filsofos, em prol de um regime
comunista, que visava suprimir todos os traos de individualidade e
de uma possvel personalidade egosta.
A administrao da cidade cabe agora a um corpo
experiente de trinta e sete administradores, incumbidos de vrias
funes, e no mais a um monarca com poder centralizador. Esse
aspecto por si s, j mostra uma abertura do regime poltico que
passaria a contar agora com um conselho deliberativo.
Investigaes sobre
O Agir Humano
284
Um amplo plano educativo ou currculo educacional
apresentado em conformidade com o regime poltico escolhido para
a cidade e delineia uma formao cvica para a manuteno dessa
nova polis. A educao pensada em dois momentos: a primeira
etapa comea no incio da vida e vai at os dez anos de idade; a
segunda comea aos dez e vai at os dezesseis anos. Na primeira
fase, de zero a trs anos, no seio da famlia, a criana submetida a
movimentos contnuos ritmados, acompanhados de acalantos, para
moderar o seu medo e lhe despertar a coragem. Frequentemente
sero carregadas pelas amas que devero trat-las com o meio termo
da brandura e do rigor para desenvolverem um comportamento
comedido entre a sensao de prazer e dor. Dos trs aos seis anos,
as crianas de ambos os sexos sero cuidadas juntas por amas que
devero deix-las brincar a vontade sem, no entanto, descuidar da
ordem, chamando-lhes a ateno ou castigando-as quando
necessrio. Aps os seis anos, as crianas sero separadas para
darem incio aos exerccios fsicos at os dez anos de idade.
Meninos e meninas tero os seguintes exerccios: montar a cavalo,
manejar arco, dardo e funda. Ambos devero desenvolver agilidade
com os ps e as mos, direitos e esquerdos. Mas dos exerccios de
lutas s sero praticados aqueles que podem ser teis na guerra e
promoverem sade ao corpo.
Concomitantemente aos exerccios de luta, as crianas
devem ser educadas na dana, outra parte da ginstica que se
mistura msica. Aprendero com as palavras da Musa a serem
nobres e livres, e com os movimentos ritmados e flexveis da dana
adquiriro bons hbitos, agilidade e beleza. Ho de praticar as
corias, e imitaro tudo que for considerado digno: a dana armada
dos curetes praticada em Creta, a dana dos discuros de Esparta e
a dana armada de Atena, em Atenas. Ao que tudo indica, as coreias
eram praticadas em sentido religioso, sempre acompanhando a
procisso de determinadas divindades. Dessa prtica Plato teria
Investigaes sobre
O Agir Humano
285
percebido o valor educativo das danas quando praticadas com
frequncia e conforme as regras da harmonia e do thos musical.
Outro fato importante na teoria da educao de Plato a
importncia concedida aos jogos, brincadeiras ou divertimentos
infantis (paidi). O Ateniense reclama que todas as cidades gregas
ignoravam a importncia dessa prtica para a legislao. Recomenda
assim que as regras e os princpios de cada jogo sejam mantidos
sempre, pois alteraes nas regras dos jogos levariam as crianas, no
futuro, a tentarem mudar as leis que deviam ser inalteradas. A
argumentao diettica vale como analogia para a alma. Pode-se
observar que o corpo habituado a um determinando regime
alimentar quando submetido a outro tipo, no incio fica
conturbado, mas logo depois se acostuma ao novo hbito. Da
mesma forma ocorre com a alma e o pensamento. Se desde cedo se
aprende a renovar as regras dos jogos, da mesma forma poder
querer modificar as leis. Isso seria um grande problema para a
cidade, pois sua estabilidade poltica depende da manuteno da
tradio poltica e cultural.
Dos dez aos treze anos os alunos e alunas tero aulas de
leitura e escrita. Aprendero somente trechos selecionados dos
poetas, pois, medida que eles escrevem coisas boas, tambm
escrevem coisas ruins. Andaro sempre acompanhados pelo
pedagogo, que observar seus costumes e poder aplicar-lhes a
correo. At os treze anos devero estar aptos a ler e escrever,
mesmo sem perfeio. Quanto aos alunos que no conseguirem
esse intento no tempo estipulado no lhes ser concedido nenhum
prazo a mais. Plato parece sugerir que eles devem desistir. No
entanto no deixa claro se eles devem desistir tambm das outras
disciplinas nem que destino tomaro.
Aps o ensino das letras (grmmata), segue o curso de msica
com o aprendizado da lira ou ctara, do clculo (elementos de
aritmtica, geometria) e uma propedutica astronomia. O ensino
Investigaes sobre
O Agir Humano
286
da matemtica tem fins prticos, como a auxiliar na economia
domstica e pblica, dentre outras coisas. No passo 819 b d,
Plato, ao citar o exemplo da paidea egpcia, recomenda que o
clculo seja inserido na aprendizagem das crianas desde cedo
atravs de jogos matemticos. Pois,
aprendendo no jogo o emprego indispensvel dos
nmeros, todos os alunos ficaro sabendo como
distribuir convenientemente um exrcito e de que modo
conduzir uma expedio militar, e bem assim administrar
sua prpria casa, com o que se consegue deix-lo mais
espertos e teis para eles mesmos. Depois disso com o
ensino das medidas de comprimento, largura e
profundidade, ficaro livres da ignorncia ridcula e
vergonhosa que se encontra naturalmente em todos os
homens, relativamente a esses assuntos.
Ernest Barker (1978) observa que Plato no especifica
quando comear o ensino da matemtica, mas se observamos que
os nmeros eram representados por letras do alfabeto grego, o
ensino da matemtica poderia comear assim que o aluno tivesse
conhecimento desse alfabeto.
O ensino da astronomia envolvia a revoluo dos corpos
divinos, dos astros, do sol e da lua, para compreenderem como se
fazia a distribuio dos dias em cada ms, dos meses ao ano, das
festividades e dos sacrifcios correspondentes a cada poca e data.
Alm desse fim prtico, a astronomia tinha a funo de
fundamentar a religio das Leis, como veremos mais adiante.
As regras para o ensino da msica incluam o
acompanhamento correto entre canto e som instrumental. O que
equivale em termos modernos a cantar afinado, ou seja, a voz
seguir o tom e a melodia da msica. Rejeitava-se a improvisao ou
a sofisticao da parte instrumental. Em suma, o ensino fica restrito
ao domnio bsico do instrumento para uma execuo musical e ao
Investigaes sobre
O Agir Humano
287
conhecimento terico necessrio para tal fim. A composio
musical e a composio das letras deveriam ser fiscalizadas pelos
diretores dos coros, que exigiro conformidade e adequao para
cada rito e festividade religiosa.
Barker (1978) notou tambm uma lacuna na vida dos jovens
entre os dezesseis e vinte e cinco anos de idade nesse percurso de
formao. Considerando-se que a educao vai s at os dezesseis
anos, devemos nos perguntar o que ocorre depois disso. Teremos
ento que fazer conjecturas a esse respeito, pois Plato no precisou
o que ocorreria durante esses nove anos. Antes de qualquer coisa,
importante lembrarmos que Plato prope nas Leis uma formao
de quatro classes de cidados conforme a renda censitria. A paidea
das Leis visa formao de todos os cidados independentemente
de classe. Logicamente no devem estar a includos os escravos
nem os estrangeiros, pois a obrigao da plis somente com os
cidados.
Somente no Livro XII que o Ateniense fala de uma
formao superior voltada para o conselho noturno, pressupondo a
formao especial do filsofo de A Repblica sem, no entanto,
desenvolver a questo
2
. Os jovens depois dos dezesseis anos
poderiam se aprofundar numa formao militar at os vinte e cinco
anos, quando ento teriam oportunidade de pr em prtica o que
aprenderam. Mas como diz Barker (1978), seria um perodo muito
longo de preparao militar. Em nenhum dos Estados gregos faz-se
meno a um treinamento fsico to prolongado. Em Atenas, o
servio militar obrigatrio para os jovens (efebos) era de apenas dois
anos, um dedicado na cidade e outro no campo. Para os jovens
espartanos esse perodo era de trs anos. Por conseguinte, a vida
2
Na Epinomis essa questo retomada. Como a maioria dos estudiosos
diz que ela no pertence a Plato, mas ao seu discpulo Felipe de Opunte que quis
complementar as Leis, no que diz respeito educao do conselho noturno, no
levamos em considerao esse dilogo.
Investigaes sobre
O Agir Humano
288
adulta desses jovens em ambas as cidades comeava aos dezoito
anos. Mas Plato no explicita por que os jovens da nova plis s
comeariam suas atividades militares a partir dos vinte e cinco anos.
Nas Leis essa fase de efebia no mencionada, os jovens comeam
suas atividades militares aos vinte e cinco anos, durante dois anos
percorrendo todo o territrio. Tinham a funo de vigiar fronteiras,
construir estradas, ginsios, diques, fortificaes, trincheiras,
templos, dentre outras atividades. O Ateniense recomenda que o
maior nmero de jovens fosse enviado para o campo a fim de
conhecer o territrio. S depois desse perodo eles viriam a servir na
cidade. Em caso de guerra era necessrio que todos conhecessem
sua ptria detalhadamente.
Estaria implcito que, nesse intervalo de nove anos, quem
mostrasse aptido para um ensino mais elevado prosseguiria nos
estudos da matemtica, da dialtica, da astronomia, conforme o
plano educacional de A Repblica? Talvez. medida que o dilogo
avana Plato deixa claro que pretende exigir cada vez mais uma
formao filosfica dos guardies da lei, os nomoflax. Mas isso s
seria possvel se a prpria plis reservasse uma formao superior
para aqueles que se destacassem na busca do conhecimento.
1. O LEGISLADOR E O CARTER EDUCACIONAL DAS
LEIS.
A escolha do legislador, ao invs do rei-filsofo de A
Repblica, representa uma volta a um passado poltico considerado
ideal e uma conciliao de Plato com as leis do Estado. Cada polis
grega traz em sua histria um relato mtico de sua origem e
formao. Cada uma das cidades gregas atribui a sua fundao
interveno de um legislador divino, um tipo ideal que teria
interferido nas dissenses das comunidades, dando-lhes um cdigo
Investigaes sobre
O Agir Humano
289
jurdico que estabeleceria as regras da convivncia. Sem essas
regras e o respeito por elas, a unidade do grupamento social seria
desfeita e os homens retornariam a um estado de selvageria
3
. O
mito de Prometeu no Protgoras ilustra bem a necessidade das leis.
Zeus considerado nesse mito o grande legislador divino cuja
interveno foi necessria para a sobrevivncia da espcie humana.
Conta o mito que os homens, no incio da criao, eram facilmente
vencidos pelos animais selvagens porque lhes faltava um senso de
comunho e uma arte poltica. Zeus ento enviou Hermes, o deus
mensageiro, e o ordenou que desse aos homens pudor (aids) e
justia como princpio ordenador das cidades (Protgoras, 322 a d).
Logo no incio das Leis Plato reaviva a crena de que os
homens participam das coisas divinas, ao lembrar que o legislador
celebrado por todos os cidados como o benfeitor divino, que
distribuiu a justia da melhor forma possvel, atravs das leis. A
volta a uma crena to antiga deve-se necessidade de ordem
poltica e religiosa. Ao atribuir o carter divino figura do
legislador, Plato est conclamando os atenienses a aceitarem as leis
como uma ddiva divina. Nesse retorno ao mtico-religioso, ele
esperava fortalecer as leis, tal como foi no passado da Atenas de
Slon.
Da mesma forma que, no dilogo Crton (50 a -54 e),
Scrates havia considerado as leis como fundamento do Estado, o
Ateniense e seus interlocutores, Clnias e Megilo, consentem que o
objetivo das leis manter a paz e a benevolncia recproca entre os
indivduos, pondo fim s lutas internas, pois esse o maior bem
para as cidades (Leis, 628 c-d). Ao analisar a situao poltica das
cidades gregas, o filsofo esclarece que a soberania das leis foi
esquecida por causa das classes divergentes que chegavam ao poder.
3
Nos passos 680 b-c; 701 c-d das Leis, Plato recorre a Ilada de
Homero para ilustrar esse estado de selvageria com o mito dos Ciclopes.
Investigaes sobre
O Agir Humano
290
Qualquer classe que sasse vitoriosa fazia das leis seu instrumento
particular para realizar seus interesses e defender-se das possveis
ameaas da classe rival. Mas, qualquer tipo de lei que fosse feita
visando somente ao interesse de alguns no poderia ser considerada
uma lei legtima, assim como tambm no ser legtimo tal governo.
S podem ser consideradas legtimas as leis que visam ao bem da
comunidade, visto que sua funo principal manter o esprito de
coletividade.
Na medida em que ditam as regras do bem viver e da
cidadania as leis assumem uma funo educativa to importante
quanto as instituies de ensino
4
. Plato no hesitar mesmo em
defini-la como a autntica educao em oposio quela educao
de ordem tcnica. Desse modo, entende que a educao est para
alm do ensino e aprendizagem de tcnicas e artes. A genuna
educao s pode ser entendida como ...educao para a virtude,
que vem desde a infncia e nos desperta o anelo e o gosto de nos
tornamos cidados perfeitos, to capazes de comandar como de
obedecer, de conformidade com os ditames da justia (Leis, 643 e).
Alm de estabelecer um programa de educao formal
amparado na legislao do Estado, o legislador deve fazer com que
as leis escritas sejam aceitas por todos sem muitas dificuldades de
entendimento ou divergncia poltica. Tal misso poltica exige um
mtodo pedaggico, pelo qual as leis sejam internalizadas de
maneira eficaz. Os preceitos legais so mais bem apreendidos
quando vm acompanhados de motivaes psicolgicas. Deve-se
usar uma linguagem persuasiva, que lembra a retrica. A lei
expresso da razo, do logos, e tambm discurso, por isso deve
principiar com um preldio maneira de um canto acompanhado
por ctara.
4
No Protgoras (326 d-e), tambm j se havia considerado as leis como
um dos instrumentos educativos do Estado. A plis educa os adultos por meio
das leis, dizia Protgoras.
Investigaes sobre
O Agir Humano
291
No passo 721 b e das Leis, Plato cita dois exemplos de
como promulgar uma lei. A lei simples e pura determina o seguinte:
Para casar, preciso ter de trinta a trinta e cinco anos; quem violar
esse dispositivo sofrer pena de multa e de atimia. A multa ser
deste ou daquele importe; a privao dos direitos civis e polticos, de
tal ou qual extenso. A lei dupla, persuasiva, onde se mistura
preldio com as leis propriamente ditas:
Casa-se quem tiver de trinta a trinta e cinco anos,
tomando-se em considerao que, por natureza, o gnero
humano participa de certa imortalidade, a que todos
instintivamente aspiram. ambio de todos adquirir
fama e no ficar annimo depois de morto. Ora, de certo
modo o gnero humano se desenvolve em ntima
correlao com o tempo, que ele acompanha e
acompanhar at o fim, o que sua maneira de ser
imortal, com deixar aps si os filhos de seus filhos,
sempre uno e o mesmo, participando, pela gerao, da
imortalidade. contra as leis divinas privar-se algum
voluntariamente desse privilgio, o que far de caso
pensado quem no se preocupar de ter mulher e filhos.
Quem obedece lei, ficar livre de qualquer penalidade;
no caso de renitncia, por chegar aos trinta e trinta cinco
anos sem contrair matrimnio, pagar todos os anos a
multa de tanto, para no pensar que o celibato fonte de
lucros e facilidades, como tambm se ver privado das
demonstraes de respeito pblico que a todo instante os
jovens dispensam s pessoas mais velhas.
Com a aplicao desse mtodo, Plato considera que as leis
perdem aquele carter tirnico e passam a ser recebidas com
simpatia e benevolncia. A prescrio das leis acompanhada de
preldio, Plato compara ao mdico de homens livres que antes de
tratar do paciente tenta persuadir-lhe sobre a necessidade do
tratamento. O objetivo do mdico, ao usar de persuaso, visa
acalmar o doente e reconduzi-lo cura. Da medicina hipocrtica,
Investigaes sobre
O Agir Humano
292
Plato extrai esse modelo para dar um aspecto didtico s
prescries legais.
Com seus prembulos s leis, o filsofo pretende dotar a
comunidade de um senso crtico e uma ampla conscincia poltica.
Mesclando situaes possveis e, s vezes, at mticas com fatos
reais, os prembulos ensinam a comunidade a ter uma ampla
conscincia cvica e a compreender a necessidade da soberania das
leis. Diferente dos tempos modernos em que a aplicao e o estudo
das leis ficam restritos a um grupo (advogados, magistrados e
juristas, dentre outros), as leis deveriam tornar-se um patrimnio
cultural de domnio pblico.
2. A TICA E A POLTICA COMO UM PROCESSO
EDUCACIONAL.
A possibilidade da educao moral e poltica antes posta
como um problema no dilogo Protgoras agora reconhecida como
possvel. As virtudes so passveis de serem ensinadas por meio dos
hbitos e podem ser compreendidas em um nvel satisfatrio do
conhecimento: a dxa. O sofista Protgoras, no dilogo homnimo,
ao descrever o processo educacional, dizia que a virtude ensinada
desde a infncia a partir do convvio com a famlia, depois com os
mestres de msica, ginstica e gramtica. Todos levam a criana a
perceber a diferena entre ser justo e injusto, ser santo e mpio, agir
de forma boa e m. Ao contrrio, Scrates defendia que a apreenso
da virtude se d por meio da unidade que o conceito sugere, e isso
s ocorre mediante o conhecimento e a sabedoria. Somente nos
dilogos posteriores Plato concatenar essas duas teses. No
excluindo nenhuma das duas. Os dois processos educativos
ocorrem em ordem, dependendo do tipo humano. Aqueles que
apresentam uma natureza filosfica podem apreender um conceito
Investigaes sobre
O Agir Humano
293
mais elevado de virtude mediante a ideia, a unidade formal que
Scrates buscava. Contudo, nas Leis Plato reconhece a importncia
dos hbitos e costumes na formao da conscincia moral,
aproximando-se, desse modo, do pensamento de Protgoras, que
Scrates parecia discordar durante o debate.
Em seus dois projetos polticos, Plato tem em mente que a
educao indispensvel na formao do Estado. A plis, para
existir como uma unidade poltica necessita de pessoas empenhadas
em viver sob as regras de um bem comum. Entretanto, a noo de
um bem comum para se viver em sociedade no captada por todas
as pessoas. Somente uma nfima parcela dos seres humanos capaz
de saber, por si s, o que necessrio para se viver em sociedade.
Essa pequena parcela de homens divinos, por que no dizer
filsofos, ainda assim corre o risco de se desviar da reta conduta.
Pois, por conta de sua natureza mortal, o homem est sujeito
sempre
...a querer mais que os outros e a s ocupar-se com seus
interesses pessoais, por fugir irracionalmente da dor e
procurar o prazer, aos quais emprestaria muito maior
importncia do que ao justo e ao melhor, e gerando
trevas em si prprio, acabaria enchendo-se, e enchendo a
cidade, de todas espcies de infortnio (Leis, 875 c).
A necessidade das leis deve-se escassez desses homens
sbios. Quanto a esse fato afirma o Ateniense:
Se porventura em qualquer tempo nascesse algum
homem dotado, pela graa divina, de natureza capaz de
compreender o alcance de tais princpios, no haveria
necessidades de leis para dirigi-lo, porque no h leis
superiores ao conhecimento, pois contrrio ordem
divina ficar a mente escrava ou na dependncia do que
quer que seja, visto haver sido criada para mandar, no
caso de ser, por natureza, verdadeiramente livre. Mas isso
Investigaes sobre
O Agir Humano
294
o que no ocorre hoje em parte alguma, a no ser em
proporo muito reduzida [...] (Leis, 875 d).
E, ainda que viesse a existir tal natureza capaz, a
impossibilidade de transmitir essa sabedoria superior aos demais os
levaria a reconhecer a necessidade de barganhar o bem comum
atravs das leis
5
. Essa a concluso de Plato, aps uma longa
jornada poltica.
Assim como em A Repblica, a educao nas Leis fica a cargo
do Estado. plis compete construir escolas pblicas, ginsios e
outros espaos com fins educativos e divertimentos para os jovens
(Leis, 804 d-e). A educao torna-se uma instituio pblica, da qual
nem mesmo os pais das crianas devem descuidar, sendo inclusive
obrigados a mand-las para a escola (Leis, 776 b; 804 d). A formao
dos indivduos mediante os preceitos das leis garante a existncia
salutar da cidade, pois de jovens bem educados advm os bons
cidados. Ser bem educado, conforme os preceitos das leis, significa
5
Sobre o bem comum Barker diz: ...e como tal nos une numa
sociedade que tem a finalidade coletiva; s nesta sociedade, orientado para o bem
comum, pode o indivduo realizar o seu prprio bem individual. No fcil
reconhecer esses fatos, e perceber que o bem comum a condio prvia do bem
individual; eis porque a arte verdadeira do legislador, que contribui para a
civilizao mais do que qualquer outro instrumento ou tcnica, uma necessidade
real. De outro lado precisamos tambm das leis como motivao para a nossa
vontade hesitante. Se a opinio coletiva no for organizada com o apoio de uma
fora comum, os homens tendero a usar como padro de conduta seu interesse
particular (idiopraga), deixando-se levar competio do egosmo (pleonexa),
mesmo quando tm uma percepo intelectual do bem comum. Quem for capaz
de reconhecer naturalmente o bem, pela graa de Deus, no precisar das leis.
No qualquer lei que seja superior sabedoria; e a mente livre e verdadeira por
natureza soberana. Mas isto um sonho. Essa pessoa no existe, em nenhum
lugar: seria um deus entre os homens; precisamos, portanto, das leis e da ordem,
embora sabendo que so apenas uma alternativa inferior, em comparao com a
situao perfeita; e que as leis so regras aplicao geral, que no se podem
adequar perfeitamente a todos os casos, e atender a todas as circunstncias, como
faz a mente livre e soberana (BARKER, 1978,p. 288)
Investigaes sobre
O Agir Humano
295
agir segundo os princpios e as normas cvicas estabelecidas pelo
Estado.
Plato cria um cargo administrativo especialmente voltado
para o cuidado com a educao, equivalente ao de Secretrio ou
Diretor Geral da Educao de nosso tempo, e o considera o cargo
mais importante da plis. Escolhido entre os guardies da lei por
votao, ele deve contar com mais de 50 anos, ser casado, e
obrigatoriamente ter filhos, de preferncia de ambos os sexos. Deve
ser comprovadamente visto como o cidado mais completo em
todos os sentidos (Leis, 765 d 766 d). Seu mandato ser de 5
anos, tendo como principais tarefas: cuidar da administrao das
escolas e ginsios em todos os seus aspectos, educacional e
funcional. Para facilitar sua difcil tarefa, sero escolhidos, por
sorteio, auxiliares que inspecionaro as atividades de ginstica e
msica. Logicamente esses auxiliares tero que comprovar
competncia nessas atividades para poderem julgar as competies e
a excelncia da execuo das mesmas. O fato de Plato exigir que
esse guardio geral da educao tenha filhos no deve passar
despercebido: a experincia paterna conta muito como
conhecimento da natureza da criana, fase onde principia a
educao moral.
Se o homem for bem educado em um ambiente favorvel
...torna-se, de regra, o mais tratvel e divino dos seres; porm o
mais feroz de quantos a terra j produziu, sempre que a educao
for insuficiente ou mal orientada (Leis, 766 a). Por isso mesmo o
Diretor da Educao deve considerar a educao das crianas
como algo de suma importncia. A melhor forma de incutir nas
pessoas a ideia da soberania das leis desde cedo habituar as
crianas no esprito das leis (JAEGER, 2003).
A educao uma responsabilidade que se estende famlia
tambm. Os pais devem cercar a criana de cuidados especiais
durante o seu crescimento. Desde a mais tenra infncia, as crianas
Investigaes sobre
O Agir Humano
296
e os jovens, pelo treinamento de suas afeies e a formao de
hbitos, sero levados a desejar ou odiar com desgosto instintivo
tudo que as leis determinarem. Nessa fase, destaca-se a funo dos
instintos bsicos: prazer e dor. inicialmente pela orientao desses
instintos que a criana comea a desenvolver uma noo instintiva
de medida. Posteriormente vem o ensino da msica e da dana, a
ginstica, para completar a educao pelo movimento.
A persuaso, to usada por intermdio dos mitos,
chamada para servir s leis, assegurando o aprendizado das
virtudes
6
. Ela pode garantir uma melhor receptividade ao ensino
mesmo naqueles que no tm boa vontade para aprender. A
persuaso um mtodo quase infalvel e deve, sempre que possvel,
anteceder a objetividade e o emprego da fora que torna fria toda
forma de conhecimento. Plato pensa o Estado e toda sua estrutura
poltica como uma fora educadora, da, a legislao ser submetida
ao princpio educativo por intermdio dos prembulos das leis.
O filsofo no hesitou mesmo em atribuir valor artstico,
alm de educativo, constituio das leis, chamando-a de a melhor
e mais bela tragdia (Leis, 817 a d). Recomenda que ela seja
tomada como cnone das artes e seja inserida como texto de leitura
e interpretao nas aulas de gramtica. Os educadores e guardas das
leis a tomaro como modelo e exigiro que os professores as
ensinem aos alunos. Outras obras semelhantes a essa tambm
devem ser aceitas e difundidas no ensino com o mesmo intuito.
Plato expressa claramente seu intento de substituir as tragdias
gregas, to apreciadas pelos atenienses, por uma obra que
despertasse o interesse pela formao cvica e moral. A obra dos
poetas trgicos, to duramente rejeitadas em A Repblica, novamente
atacada do ponto de vista moral e submetida a uma censura prvia
6
Brisson (2003) observa que em quase todos os prembulos do livro VI
ao XII das Leis Plato recorre a mitos variados com o intuito de despertar a
emoo, a empatia, pelo valor moral que a lei carrega.
Investigaes sobre
O Agir Humano
297
para saber se so adequadas s exigncias da formao moral que o
Estado preconiza em suas leis.
Plato, em sua velhice, ainda se preocupava muito com o
destino poltico de sua amada plis. Suas reflexes sobre a poltica o
levaram a pensar as condies ideais pelas quais o Estado ateniense
poderia soerguer-se e perpetuar-se na histria como unidade
integradora do seu povo. Ademais, fato surpreendente nessa
trajetria e contexto a constatao do filsofo de que um projeto
poltico no pode prescindir de um projeto educacional. A Repblica
aos olhos de Plato servia assim como um modelo perfeito para se
mirar e tentar se executar a reforma educacional necessria que todo
Estado poltico, em fase de decadncia, reclama. Num primeiro
instante, se a edificao do Estado ideal feita em detrimento do
Estado real, aos olhos do filsofo, isso no se deve tanto ao seu tipo
de regime poltico, mas dissociao entre educao e Estado, que
levou ao enfraquecimento da cultura (paidea) e dos valores pelos
quais a plis subsistia como unidade poltica.
O planejamento poltico de A Repblica foi desenvolvido sob
a tica de um governante sbio; por isso exigia um programa de
educao diferenciado, aps aquela fase de assimilao dos
costumes e conhecimentos propeduticos. Ele privilegiava mentes
bem dotadas, que deveriam tornar-se a estirpe do poder estatal, caso
o Estado ideal viesse a concretizar-se. Esse modelo de educao
prestava-se muito bem para servir na formao dos filsofos,
mesmo que no viessem a exercer o ofcio poltico, ainda que Plato
acreditasse que a soluo para todos os problemas da plis estaria na
chegada do filsofo ao poder, ou ento, do poder at a filosofia. No
entanto, o filsofo era um tipo social demasiado hostilizado por
seus conterrneos; nem a aristocracia nem a democracia o viam com
bons olhos. A melhor alternativa talvez fosse mesmo educar algum
governante com propenses para a virtude e a filosofia, visando
trazer para a prtica suas ideias. Plato pensou ter achado essa
Investigaes sobre
O Agir Humano
298
oportunidade em sua primeira viagem Siclia, cerca de 388 a.C.,
quando foi tentar converter o tirano Dioniso I filosofia. O velho
tirano logo se aborreceu e o expulsou. Retornando a Atenas em 387,
funda a Academia. Aps a morte do tirano, seu cunhado Dion
convidou Plato para retornar cidade e pr o plano do rei -filsofo
em prtica com a instruo do seu sobrinho Dioniso II. Por volta
de 367 a.C. partiu outra vez para a Siclia para tentar convencer o
jovem tirano, mas seu esforo foi em vo. Pensou ter encontrado
em Dion, tio de Dioniso II, a pessoa e as condies certas para
implantar seu projeto de legislao e poltica (Carta VII, 327 e 328
c). O trgico desfecho dessa histria supostamente levou o filsofo
a repensar seu plano de ao e mais tarde sugerir outra alternativa
para conter a dissoluo da plis grega.
3. POLTICA, EDUCAO E PSICOLOGIA.
Nos livros I e II das Leis, o Ateniense argumenta que
qualquer Estado, para efetivar-se e permanecer em sua excelncia
poltica, deve oferecer as condies necessrias para levar os
homens ao cultivo de todas as virtudes: sabedoria, temperana,
justia e coragem, pois para se tornarem fiis e incorruptveis nas
dissenses civis necessrio possuir todas elas. Sem o exerccio de
todas as virtudes, nenhuma alma permanecer em seu equilbrio, e,
consequentemente, o Estado perder sua unidade, sucumbindo
novamente ao imprio dos vcios. A lealdade cvica, quer dizer, o
respeito s regras que norteiam a coletividade na plis, o reflexo do
cultivo dessas virtudes. E ela s conseguida custa de uma paidea
que prepara o indivduo para responder s necessidades jurdico-
administrativas da plis grega.
Para Plato, a verdadeira paidea a que torna os cidados
aptos a comandarem e a obedecerem segundo os ...ditames da
Investigaes sobre
O Agir Humano
299
justia (643 a). Uma educao que no leve em considerao a
razo e a justia, nem mesmo merece ser chamada de educao.
Plato se refere aqui, de maneira crtica, principalmente educao
profissional que visava aquisio de riquezas sem nenhuma
preocupao com a formao moral. A educao que prepara o
homem para desempenhar uma vida de percia profissional ou para
o trabalho artstico se no acompanhada da formao tica carece
de significado e importncia. Ao acus-la de ser nada nobre,
Plato faz uma dissociao entre a educao profissionalizante e
tcnica da educao poltica e moral. Isso no significa que ele no
tenha atentando para a importncia da educao profissional. que
essa educao s de maneira muito reduzida contribui para a
educao moral de que os homens livres necessitam. Talvez aqui
tenha nascido na histria da educao do Ocidente a exigncia de
que mesmo numa educao tcnica e profissionalizante haja uma
formao tica dos indivduos. Das profisses antigas, ao que
parece, somente a medicina tinha uma espcie de cdigo de tica
profissional, possivelmente redigido por Hipcrates. Plato
tambm um inovador ao fazer da tica e da moral o escopo da
paidea grega, ao mesmo tempo em que deixou para a posteridade a
responsabilidade maior de transformar o mundo pela cincia
racional
7
.
Plato no considerou o conhecimento como um fim, mas
um meio para o xito moral, o verdadeiro fim da educao. Segue
assim a tradio grega ao retomar as duas maneiras de formar essa
valorosa conscincia moral: ginstica para o corpo e msica para a
alma. Sendo que a ginstica pode comear desde os primeiros meses
de vida, perodo em que os bebs so submetidos a movimentos
7
Opondo-se ao pragmatismo dos Sofistas, demasiado apegados
eficcia imediata, Plato edifica todo seu sistema educacional sobre a noo
fundamental da verdade, sobre a conquista da verdade pela cincia racional.
(MARROU, 1990, p. 109)
Investigaes sobre
O Agir Humano
300
ininterruptos, dia e noite, como se estivessem dentro de um barco
sempre que possvel acompanhados de acalantos. Plato toma como
exemplos prticos os movimentos que a me ou a ama faz com o
beb, ao mesmo tempo que cantarola para ele dormir, e os casos de
cura dos coribantos ao praticarem a dana ordenada e os cantos
sagrados. a combinao da msica e do movimento ritmado que
causa esse encantamento na alma. O filsofo ento recorre a uma
explicao psicofisiolgica:
O medo a doena tanto de umas como de outras,
oriundo de certa debilidade da alma. Quando opomos a
semelhante estado um abalo externo, o movimento de
fora domina o movimento interior do medo, diminuindo,
de imediato, os batimentos do corao que acompanham
tais estados, o que constitui benefcio inestimvel: a uns,
faz dormir; a outros, que a msica e a dana mantm
acordados, com a ajuda dos deuses acalmados por gratos
sacrifcios, fazem passar do estado de loucura furiosa para
o do bom senso. (Leis, 791 a-b)
Se a criana passa por essas perturbaes interiores
frequentemente, e no recebe o cuidado necessrio, ela tende a se
tornar uma criana medrosa e insegura. Os exerccios fsicos
motores ensinam pela fora do hbito a criana a dominar o medo,
tornando-a corajosa. Assim, ela adquire a primeira parte da virtude.
Deve-se estar atento ao choro do beb, pois essa sua forma de
comunicao quando algo no lhe agrada. Plato est ciente que
necessrio entender o que o beb sente, evitando ao mximo as
situaes de estresses, atenuando-se a dor ou o sentimento que lhe
causa desagrado.
A psicologia platnica requer uma educao fsica elementar,
mas de importncia fundamental na formao moral da criana. Os
movimentos harmnicos e ritmados do corpo produzem na alma a
harmonizao dos movimentos caticos dos crculos psquicos que
Investigaes sobre
O Agir Humano
301
impedem o indivduo de exercer sua racionalidade. Nesse sentido,
pode-se entender a racionalidade como um movimento circular
uniforme como o que ocorre nos planetas em movimento em torno
do Sol. A astronomia antiga v todo o universo regido por um
movimento csmico de uma alma divina que opera de forma
inteligente na matria, o devir, submetendo-lhe a regras precisas e
inexorveis. A alma humana ao contrrio, por ser menos perfeita,
no tem esse poder total sobre o corpo, sma, at que tenha
percorrido um longo caminho que comea com seu nascimento e se
prolonga at o desenvolvimento das suas faculdades mentais
superiores na fase adulta.
A psykh que antes gozava de uma condio de equilbrio no
cosmo onde residia, ao entrar em contato com o corpo, tem suas
atividades psquicas, anteriormente reguladas, abaladas no ciclo do
nascimento. A educao fsica e musical o primeiro passo para
restabelecer o equilbrio perdido. Os movimentos externos regulares
e ritmados aos quais a criana submetida agem como uma fora
que ordena os movimentos internos da alma. Enquanto, ao mesmo
tempo, a msica cano de ninar age como um encantamento
que faz a psykh desordenada ceder e reorganizar seus movimentos
circulares.
O encontro conflituoso entre psykh e sma mais intenso na
primeira infncia, visto que as foras psquicas e corporais se
confrontam como foras opostas que precisam ser equilibradas. A
consequncia de uma predominncia de uma fora sobre outra
resulta na doena da alma e do corpo. De certa forma, pode-se dizer
que o homem nasce com deficincia em sua sade, e s
progressivamente ele vai adquirindo o vigor espiritual e corporal
mediante a educao e uma boa nutrio diettica. Em Plato a
educao assume um papel teraputico como a medicina. Sua
funo estabelecer o equilbrio entre alma e corpo atravs da
harmonia dos seus movimentos. Nas Leis, o princpio bsico da
Investigaes sobre
O Agir Humano
302
educao do recm-nascido p-lo em movimento sempre que
possvel. Plato acredita que quanto mais cedo cuidar da
personalidade humana, ser mais fcil direcionar o homem para as
virtudes espirituais.
Frias observa que pela estrutura ontolgica do Timeu, a alma
no poderia ser a fonte do seu prprio desequilbrio. Assim as
doenas da alma seriam provenientes do corpo. Em Plato, a
doena da alma, a desrazo (noia), que se subdivide em loucura
(mania) e ignorncia (amatha), estados que manifestam o bloqueio
da ao da alma racional (nos), a falta de comando da parte
racional sobre as duas partes concupiscvel e irascvel. (FRIAS,
2005, p.130) Em termos mdico-hipocrticos, significa dizer que a
desordem nos elementos psquicos se d atravs de dois
mecanismos fsicos do sma: o movimento desproporcional dos
elementos terra, fogo, gua e ar e dos quatros elementos humorais:
bile amarela, bile negra, sangue, flegma (FRIAS, 2005). A proporo
e o movimento desses elementos e suas qualidades agem no corpo e
causam duas sensaes opostas na alma: prazer e dor( Timeu, 86 a
87 b).
De par com as descobertas e teorias da cincia mdica do
seu tempo, Plato fundamenta a tese socrtica do mal
involuntrio, e nos convida a uma tolerncia com os erros do
outro. A constituio fsica do corpo e seus distrbios fisiolgicos
so responsveis pelo estado de irracionalidade ou ignorncia que
impedem a alma (homem) de agir moralmente em determinados
momentos. Nas Leis, passos 731 c - 734 b, o Ateniense repete a tese
socrtica de que a intemperana no deliberada. Aps o
diagnstico da doena, vem o prognstico: a educao bem dirigida
permite a alma recobrar todos os seus sentidos e raciocnio. (Timeu,
86 e)
Podemos fazer uma comparao da psicologia e da cincia
mdica do Timeu com a poltica das Leis. O poltico (legislador) deve
Investigaes sobre
O Agir Humano
303
agir como um mdico e um psiclogo conhecedor da natureza
humana. Alis, como diz o Ateniense, no Livro I das Leis, da
competncia da arte poltica conhecer a natureza e a disposio das
almas para prescrev-la o melhor regime de vida. Somente com esse
conhecimento, adquirido por meio de outro conhecimento mais
elevado a filosofia que o legislador estar apto a prescrever a
melhor maneira de como viver e o melhor Estado a garantir a
kalogathia grega. Diz o Ateniense sobre a melhor forma de vida:
Ora, para viver bem, a primeira condio no cometer
injustia, e depois, no ser alvo de injustia por parte de
terceiros. O primeiro item fcil de conseguir; mas
extremamente difcil adquirir a fora necessria para ficar-
se ao abrigo de injustias, o que s conseguir
plenamente quem for bom em todos os sentidos. O
mesmo passa com a cidade: com vida boa, viver em paz;
porm se for perversa, ver-se- a braos com guerras
externas e interiores. (Leis, 829 a)
Se a natureza humana consiste principalmente nos prazeres,
dores e desejos, pela orientao dessas afeces que a educao
deve principiar, como de fato comea a pedagogia das Leis ao
dedicar especial ateno formao da criana. A orientao dos
instintos pelo hbito leva a percepo da vida temperante, que a
vida mais s. Aquele que conhece a vida temperante sabe que ela
moderada em tudo, evita as dores mais intensas e escolhe os
prazeres tranquilos. Portanto, a vida mais feliz e agradvel a
temperante, pois se liga s virtudes do corpo e da alma (Leis, 734 a -
d).
Mas a educao no algo infalvel. Plato reconhece que a
natureza humana mesmo sendo dirigida sob uma boa educao
passvel de recadas devido fora contrria dos instintos que
puxam a alma para o caminho tortuoso dos vcios. So poucos os
homens que conseguem se permanecer moderados quando
Investigaes sobre
O Agir Humano
304
instigados por situaes que despertam os desejos. queles que
fogem dos preceitos e regras determinadas pelas leis precisaro ser
submetidos a uma penalidade para ressarcir o prejuzo causado a
terceiros, e corrigi-los para que no errem mais no futuro (Leis, 863
a). A penalidade deve ser proporcional ao dano causado. O castigo
deve ser proporcional ao nvel de conscincia do infrator, quanto
maior a instruo ou formao maior a penalidade (Leis, 934 a). O
homem que age tomado pela fria e pela paixo desce de sua
condio nobre para uma condio de selvageria, de animal furioso,
que a kalokagathia grega despreza. O lado mais instintivo do homem,
mais irracional, pode ser ento corrigido pelo castigo corporal, caso
a persuaso e os prembulos das leis no tenham xito em sua
recuperao. Se em ltimo caso o castigo legal falhar somente resta
o aniquilamento legal do infrator pelas mos do prprio Estado. Na
aplicao da pena, Plato procura um fim educativo. A pena
imposta no como uma retribuio ao dano causado, pois o que foi
feito no tem volta. Ela imposta tendo em vista no o passado,
mas o futuro, para garantir que tanto a pessoa punida como as que
souberem da sua punio desistam do comportamento criminoso
ou aprendam a detestar o crime (BARKER, 1973, p. 340).
As leis devem prever toda situao possvel de infrao e
tentar impedi-las de acontecer mediante a orientao permanente
dos indivduos. Eles podem ser orientados para uma ao correta
pelos prembulos ou em ltimo caso pelo uso da fora. Como havia
discorrido no Grgias, passo 526 b, a dor e o sofrimento podem ser
usados para tornar melhores os infratores, e ainda servir de exemplo
para que outros no repitam aquele ato ignominioso. O legislador
como um mdico da alma prescreve a pena para purificar a alma da
tirania das paixes e da clera. O castigo visa neutralizar os prazeres
violentos que levam a alma ao ato criminoso.
Se fosse levada at as ltimas consequncias, a tese socrtica
do crime ou mal involuntrio, certamente todos os criminosos se
Investigaes sobre
O Agir Humano
305
tornariam inimputveis. O crime ou injustia visto como uma
doena da alma, mas mesmo assim preciso fazer uma
diferenciao entre crime voluntrio e involuntrio e exigir daqueles
que forem considerados culpados uma compensao. Mesmo
reconhecendo a necessidade de medir o grau de inteno de um
delito para poder aplicar a pena cabvel, Plato no deixa de precisar
que o crime ou a injustia o desarranjo dos elementos psquicos
sobre os quais ele havia discorrido nos dilogos anteriores. Pode ser
que a tirania das paixes exercidas sobre a alma, a leve a um estado
de ignorncia ou um estado de loucura (mana) ou algo semelhante
que impea o indivduo de agir racionalmente. A exigncia de
equilbrio mental maior para aqueles que tiveram antes uma
educao voltada para o rearranjo dos elementos psquicos. Quanto
maior a instruo recebida, maior a responsabilidade pelos atos
cometidos.
4. CONCLUSO.
Plato leva a srio uma mxima proferida no Poltico, de que
a poltica uma arte da alma. Por conseguinte, recomenda que o
poltico ou legislador domine os conhecimentos acerca da natureza
humana, se quer realmente ser um bom governante. Poltica e
educao em Plato so termos to entrelaados que dificilmente
algum possa separ-los sem causar prejuzos aos valores
semnticos que os termos expressavam para os gregos.
Investigaes sobre
O Agir Humano
306
REFERNCIAS
BARKER, E. Teoria Poltica Grega. 2 ed .Trad. Srgio Bath. Braslia: UNB,
1978.
BRISSON, L. A religio como fundamento da reflexo filosfica e como
meio de ao poltica nas Leis de Plato. KRITERION, Belo Horizonte, n
107, Jun/2003, p.24-38.
CASSIRER,E. O Mito do Estado. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
FRIAS, Ivan. Doena do corpo, doena da alma: medicina e filosofia na Grcia
Clssica. Rio de Janeiro: Ed. PUC Rio; So Paulo: Loyola, 2005.
JAEGER, W. Paidea: a formao do homem grego. So Paulo, Martins Fontes,
2003.
PLATON, uvres compltes, (Collection des Universits de France publie
sous le patronage de lAssociation Guilhaume Bud), trad. A. Croiset, L.
Robin, A. Dis et al., Paris: Belles Lettres, 1920 e segs.
PLATO, Dilogos (Coleo Amaznica). Trad. Carlos Alberto Nunes,
Belm: UFPA, 1972 e segs.
PLATO. A Repblica. Traduo e notas de Maria Helena da R. Pereira.
Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 5 ed., 1987.
PLATO. Sofista e Poltico. Trad. Jos Cavalcante de Sousa (et all.). So
Paulo: Abril Cultural, 1983.
PLATO. As Leis. Trad. Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 1999.
REALE, G. Corpo, alma e sade: o conceito de homem de Homero a Plato.
So Paulo: Paulus, 2002.
ROBINSON, T.M. A Psicologia de Plato. So Paulo: Loyla, 2007.
13
PENSAMENTO PURO E IMAGEM NO FDON DE
PLATO
Lourival Bezerra da Costa Jnior
1
1. INTRODUO.
A hiptese que procuraremos discutir nesse texto a de que
no Fdon de Plato o conhecimento verdadeiro se d como
reciprocidade entre um processo distintivo ou negativo de cognio
2
e o estado cognitivo inato
3
. O Fdon se desenvolve tendo em vista a
explicitao de dois modos de aquisio do saber e estabelece uma
diferena entre dois tipos de exigncias o modo de investigao
direta dos fenmenos
4
e o modo dialtico de investigao ideal
5
,
realizando uma crtica contra o modo naturalista de investigao
direta dos fenmenos, a fim de mostrar que somente o pensamento
puro conhece verdadeiramente.
1
Doutor em filosofia. Professor do departamento de filosofia da
UERN/Caic (E-mail: premhasido@hotmail.com)
2
Por processo distintivo de cognio esta pesquisa entende a negao
dos derivados das sensaes ou purificao do pensamento, que comea em (64a)
e se estende com a pergunta sobre o que a morte segundo o pensar filosfico a
partir de (64e).
3
Por estado cognitivo inato esta pesquisa entende o conhecimento que a
alma tem antes de usar as sensaes, antes de nascer em forma humana, como
est exposto a partir de (72e).
4
De acordo com a traduo de Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa (Abril
Cultural, 1972), tal mtodo busca a aquisio do conhecimento investigando os
fenmenos diretamente, por meio das sensaes.
5
Tal mtodo busca a aquisio do conhecimento investigando as
Formas inatas, sem o uso das sensaes e seus derivados.
Investigaes sobre
O Agir Humano
308
Nessa direo, sero enfatizadas as afeces que os
contedos do pensamento propiciam ao filsofo. Investigar-se-
que peso argumentativo possui para o referido dilogo a distino
entre as sensaes e aquilo do que so sensaes e se as sensaes
podem ser consideradas, ao mesmo tempo, propiciadoras e entraves
do verdadeiro conhecimento. Com efeito, buscamos mostrar que a
argumentao central do Fdon no se refere exigncia de uma
prova fenomnica da imortalidade de psych, como exigem os
interlocutores de Scrates a partir de 70a, mas necessidade do
modo filosfico de pensar a imortalidade e, assim, a morte. Segundo
nossa interpretao, nesse dilogo a morte constitui um bem que
assegura a aquisio do verdadeiro saber e, para o filsofo, ela e a
purificao do pensamento se confundem. Em outros termos, nesse
artigo nos ocuparemos a respeito da relao necessria que se
estabelece para o filsofo entre a morte e o mtodo de investigao
ideal.
Cuidando que a morte seja necessria a esse referido mtodo
e obteno do verdadeiro conhecimento, explicitaremos como a
se recorre questo da purificao do pensamento como sendo a
prpria morte para o filsofo. Ou seja, explicitaremos a distino
entre sensaes e aquilo do que so sensaes uma vez que, na
confuso entre sentir e pensar no h pensamento puro; caso em
que as sensaes constituem entrave ao verdadeiro conhecimento
. Tal distino ser explicitada relacionando-a alma existente
num corpo humano. Isto implicar na tese de que h uma medida
para a aquisio do conhecimento verdadeiro numa alma que se
encontra em forma humana. Perscrutaremos, assim, quais so as
dificuldades prprias ao modo de investigao ideal, qual o
sentido do termo morte e, portanto, de purificao do
pensamento, necessria ao referido mtodo, esclarecendo como
possvel confundir a preparao para a morte com uma mera
hostilidade ao corpo e s sensaes.
Investigaes sobre
O Agir Humano
309
Enfim, ser evidenciado que nesse dilogo Plato descreve
as razes pelas quais o filsofo considera que o homem que
realmente consagrou sua vida verdadeira filosofia, no sentido
correto do termo, estabelece reciprocidade entre morrer e estar
morto (64a), adquirindo, consequentemente, legtima convico de
ir encontrar para si, alm da realidade sensvel, excelentes bens (63e
64a).
Para fundamentar a tese aqui anunciada ser preciso elucidar
a seguinte argumentao:
1) O Fdon fala de Seres inatos (Formas), que so distintos de tudo
que sensvel, inclusive das imagens ( vide 65a-d).
2) Tais imagens, que so sempre derivadas das sensaes so
imagens dos Seres inatos (74a -75b).
3) No Fdon o verdadeiro conhecimento a recordao
6
de um
Saber inato (72e) e se d como distino entre sensao e
pensamento puro.
4) Todavia, no h tal recordao sem que essa seja propiciada pelas
sensaes ( vide 75a-77a), porque recordar distinguir a imagem
daquilo do que a imagem imagem (73c-74b).
5) A morte para o filsofo distinta da morte para o suicida (61c-
63d) e distinta da morte para o vulgo (64b-d), pois consiste na
negao de que a imagem seja idntica quilo do que a imagem
imagem (73c-74b).
6) Logo, no Fdon o saber verdadeiro se d como reciprocidade
entre o processo negativo dos derivados das sensaes negao
de que a imagem seja idntica quilo do que a imagem imagem
e o estado cognitivo das Formas inatas, aquilo do que a imagem
imagem.
6
Recordao aqui se refere distino entre imagem e aquilo do que a
imagem imagem.
Investigaes sobre
O Agir Humano
310
2. A MORTE E O MODO DA OBSERVAO IDEAL DOS
OBJETOS.
Para relacionar a morte aquisio do verdadeiro
conhecimento, Scrates comea sua argumentao descrevendo o
estilo de vida de uma alma que existe em forma humana e
dedicada filosofia, em seu sentido autntico. Scrates busca
mostrar que esse estilo determinado pelo foco do pensamento do
filsofo e no por uma disciplina asctica imposta. Ou seja, o
comportamento cotidiano do filsofo consequncia psicolgica
dos contedos do seu pensar, resultante espontnea do que tal
alma conhece verdadeiramente. O ser humano se comportar no
cotidiano como um escravo das sensaes sempre que as usa como
um fim; caso em que as sensaes so suas senhoras. Mas, viver
como um ser livre das sensaes aquela alma que as conhece e as
usa como um meio propiciador do verdadeiro saber, cujo prazer
est alm e verdadeiramente mais real do que elas; caso em que a
alma senhora das sensaes. Ento, o que Scrates tenta
demonstrar que o foco do pensamento senhoria ou
subservincia o fundamento da expresso cotidiana ou da tica
de um ser humano.
Scrates que um dia, banhado e calado com as sandlias,
o que poucas vezes fazia, encontra-se com Agato, Apolodoro,
Alcibades e os demais para desfrutarem de um banquete regado a
vinho e discursos sobre o amor (Banquete 174a) no Fdon (64b-d)
diz o seguinte sobre o verdadeiro filsofo:
Examina agora, meu caro, se te possvel compartilhar
deste modo de ver, pois nisso reside, com efeito, uma
condio do progresso de nossos conhecimentos sobre o
presente objeto de estudo. Crs que seja prprio de um
filsofo dedicar-se avidamente aos pretensos prazeres tais
como o de comer e de beber? To pouco quanto
Investigaes sobre
O Agir Humano
311
possvel Scrates! - respondeu Smias. E aos prazeres
do amor? Tambm no! E quanto aos demais
cuidados do corpo, pensas que possam ter valor para tal
homem? Julgas, por exemplo, que ele se interessar em
possuir uma vestimenta ou uma sandlia de boa
qualidade, ou que no se importar com essas coisas se a
fora maior duma necessidade no o obrigar a utiliz-las?
Acho que no lhes dar importncia, se
verdadeiramente for filsofo De forma que, na tua
opinio prosseguiu Scrates , as preocupaes de tal
homem no se dirigem, de um modo geral, para o que diz
respeito ao corpo, mas, ao contrrio, na medida em que
lhe possvel, elas se afastam do corpo, e para a alma
que esto voltadas? Sim, sem dvida. , pois, para
comearmos a nossa conversa, em circunstncias desta
espcie, que se revela o filsofo, quando, ao contrrio de
todos os outros homens, afasta tanto quanto pode a alma
do contato com o corpo Evidentemente. Sem dvida,
a opinio do vulgo, Smias, que um homem, para o qual
no existe nada de agradvel nessa espcie de coisas e que
com elas no se preocupa, no merece viver, mas, pelo
contrrio, est muito prximo da morte quem assim no
faz nenhum caso dos prazeres de que o corpo
instrumento? a prpria verdade o que acabas de
dizer.
7
Essas palavras de Scrates so a expresso de uma grande
incoerncia em seu pensamento ou de um raciocnio que foge
facilmente do senso comum?
Se as sensaes so propiciadoras do conhecimento das
Formas inatas, como se ver no argumento da reminiscncia, ento,
o que est em jogo no Fdon o foco do pensamento e no uma
mera hostilidade s sensaes. Ao descrever o estilo de vida prprio
do filsofo no preocupado com as solicitaes corporais ,
Scrates que participava ativamente de banquetes est apenas
7
Utilizaremos a traduo do Fdon de Jorge Paleikat e Joo Cruz Costa,
indicada nas referncias.
Investigaes sobre
O Agir Humano
312
estabelecendo uma distino entre sentir e pensar de uma vida
cujo foco sentir ou pensar , ligada noo filosfica de morte,
que corresponde purificao do pensamento e desenvolvida no
Fdon como mtodo de investigao ideal. Scrates procura justific-
lo utilizando-se de uma analogia sobre a observao de um eclipse
do sol (Fdon, 99d-e):
Ento prosseguiu Scrates a minha esperana de
chegar a conhecer os seres comeava a esvair-se. Pareceu
que deveria acautelar-me, a fim de no vir a ter a mesma
sorte daqueles que observam e estudam um eclipse do
sol. Algumas pessoas que assim fazem estragam os olhos
por no tomarem a precauo de observar a imagem do
sol refletida na gua ou em matria semelhante. Lembrei-
me disso e receei que minha alma viesse a ficar
completamente cega se eu continuasse a olhar com os
olhos para os objetos e tentasse compreend-los atravs
de cada um de meus sentidos. Refleti que devia buscar
refgio nas ideias e procurar nelas a verdade das coisas.
possvel, todavia, que esta comparao no seja
perfeitamente exata, pois nem eu mesmo aceito sem
reservas que a observao ideal dos objetos - que uma
observao por imagens - seja melhor do que aquela que
deriva de uma experincia dos fenmenos. Entretanto,
ser sempre para o lado daquela que me inclinarei. Assim,
depois de haver tomado como base, em cada caso, a
ideia, que , a meu juzo, a mais slida, tudo aquilo que
lhe seja consoante eu considero como sendo verdadeiro,
quer se trate de uma causa ou de outra qualquer coisa, e
aquilo que no lhe consoante, eu o rejeito como erro.
Observada essa primeira reflexo de Scrates,
problematizemos a questo da relao que se pode fazer entre a
morte para o filsofo, a distino entre sentir e pensar, e o mtodo
platnico de investigao ideal. Para tanto, recorreremos
demonstrao de que a noo de morte para o filsofo (64c-d), que
surge depois da primeira reflexo de Scrates, outro passo na
Investigaes sobre
O Agir Humano
313
direo da exposio do mtodo de investigao ideal. Eis, pois,
como se inicia o questionamento filosfico sobre a morte no Fdon:
Entre ns, com efeito, que devemos tratar dessa
questo, e, quanto ao vulgo e aos outros, no lhes demos
ateno! Segundo nosso pensar, a morte alguma cousa?
Claro replicou Smias. Nada mais do que a separao
da alma e do corpo, no ? Estar morto consiste nisto:
apartado da alma e separado dela, o corpo isolado em si
mesmo; a alma, por sua vez, apartada do corpo e
separada dele, isolada em si mesma. A morte apenas
isso? Sim, consiste justamente nisso. (Fdon, 64c)
Assim, preciso transformar a morte num objeto de
investigao filosfica. Mas, atravs de qual abordagem se pode
colocar a morte no lugar de objeto filosfico? Atravs de qual
abordagem Plato investiga a morte? Para o filsofo da Academia
h uma relao profunda entre a morte e o conhecimento. Por isso,
para ele importante fazer uma investigao sobre a morte e sua
funo de purificar o pensamento.
Alm de observar que h um discurso mtico-potico sobre
a morte nesse dilogo (61de), preciso fazer uma investigao que
estabelea a relao entre a morte e o conhecimento. Isso possvel
porquanto nesse dilogo a morte corresponde negao das
sensaes e de quaisquer que sejam os seus derivados, inclusive a
imaginao (eikasia). A morte, assim, a purificao do pensamento,
estando completamente relacionada com o mtodo de investigao
ideal. Nessa obra, o sentido filosfico da morte no diz respeito
simplesmente descrio dos fenmenos do morrer.
8
Por isso, a
primeira reflexo de Scrates preludia a crtica de Plato contra o
8
o que ocorre, por exemplo, com a proposta de Steven Luper (2010).
Ele insiste em uma abordagem fenomnica daquilo que se chama morte e, mesmo
assim, chama seu trabalho de A filosofia da morte. Para o ponto de vista do Fdon,
uma impropriedade.
Investigaes sobre
O Agir Humano
314
mtodo naturalista, porque descreve quo inapreensveis so as
coisas sensveis (65a-69b) e o exame da noo de morte para o
filsofo preludia o mtodo de investigao ideal, porque, enquanto
purificao do pensamento, descreve as condies sob as quais o
pensamento puro constitui o nico modo de obter o conhecimento
verdadeiro. Isto quer dizer que, no Fdon, a noo de morte para o
filsofo tanto abrange a fundamental distino entre sentir e pensar,
quanto descreve e fundamenta o estado em que deve se encontrar o
pensamento do filsofo durante a investigao ideal, de acordo com
o que est em (65a-d):
E agora, dize-me: quando se trata de adquirir
verdadeiramente a sabedoria, ou no o corpo um
entrave se na investigao lhe pedimos auxlio? Quero
dizer com isso, mais ou menos, o seguinte: acaso alguma
verdade transmitida aos homens por intermdio da vista
ou do ouvido, ou quem sabe se, pelo menos em relao a
estas coisas no se passem como os poetas no se cansam
de no-lo repetir incessantemente, e que no vemos nem
ouvimos com clareza? E se dentre as sensaes corporais
estas no possuem exatido e so incertas, segue-se que
no podemos esperar coisa melhor das outras que,
segundo penso, so inferiores quelas. No tambm
este o teu modo de ver? - exatamente esse. - Quando ,
pois, que a alma atinge a verdade? Temos dum lado que,
quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo
qualquer questo que seja, o corpo, claro, a engana
radicalmente. - Dizes uma verdade. - No , por
conseguinte, no ato de raciocinar, e no de outro modo,
que a alma apreende, em parte, a realidade de um ser? -
Sim. - E, sem dvida alguma, ela raciocina melhor
precisamente quando nenhum empecilho lhe advm de
nenhuma parte, nem do ouvido, nem da vista, nem dum
sofrimento, nem sobretudo dum prazer - mas sim quando
se isola o mais que pode em si mesma, abandonando o
corpo sua sorte, quando, rompendo tanto quanto lhe
possvel qualquer unio, qualquer contato com ele, anseia
Investigaes sobre
O Agir Humano
315
pelo real? - bem isso! - E no , ademais, nessa ocasio
que a alma do filsofo, alando-se ao mais alto ponto,
desdenha o corpo e dele foge, enquanto por outro lado
procura isolar-se em si mesma? - Evidentemente!
Todavia, preciso deixar claro, a noo de morte para o
filsofo, a distino entre o corpo e a alma, entre sentir e pensar e a
purificao do pensamento no dizem respeito a uma mera
hostilidade ao corpo. Diversamente, a negao dos entraves
derivados das sensaes diz respeito ao processo cognitivo do
mtodo platnico de investigao ideal, cujos objetos de
investigao so as Formas puras.
oportuno recordar que os interlocutores de Scrates
insistem numa demonstrao do que acontece alma depois da
morte atravs de uma abordagem fenomnica. Contudo, o motivo
pelo qual a purificao do pensamento necessria ao mtodo
platnico de investigao das Formas, que conservam suas
identidades em estados puros, o real objetivo da filosofia da morte
presente no Fdon. Para que o pensamento possa pensar essas
Formas necessrio que ele prprio seja puro, pois, somente o puro
apreende o puro (67a-d):
Alm disso, por todo o tempo que durar nossa vida,
estaremos mais prximos do saber, parece-me, quando
nos afastarmos o mais possvel da sociedade e unio com
o corpo, salvo em situaes de necessidade premente,
quando, sobretudo, no estivermos mais contaminados
por sua natureza, mas, pelo contrrio, nos acharmos
puros de seu contato, e assim at o dia em que o prprio
Deus houver desfeito esses laos. E quando dessa
maneira, atingirmos a pureza, pois que ento teremos
sido separados da demncia do corpo, deveremos mui
verossimilmente ficar unidos a seres parecidos conosco; e
por ns mesmos conheceremos sem mistura alguma tudo
o que . E nisso, provavelmente, que h de consistir a
Investigaes sobre
O Agir Humano
316
verdade. Com efeito, lcito admitir que no seja
permitido apossar-se do que puro, quando no se
puro! Tais devem ser necessariamente, segundo creio,
meu caro Smias, as palavras e os juzos que proferir
todo aquele que, no correto sentido da palavra, for um
amigo do saber. No te parece a mesma Cousa? - Sim,
Scrates, nada mais provvel.
Desse modo, a distino entre o corpo e a alma, entre sentir
e pensar e o prprio pensamento puro esto completamente
relacionados no desenvolvimento do mtodo platnico de
investigao ideal. Isto quer dizer ainda que o prprio pensamento
do investigador ideal uma faculdade cuja realidade da mesma
natureza de seu objeto de meditao, ou seja, da natureza das
Formas puras.
Por este motivo, segundo Plato, o pensamento deve estar
purificado dos derivados das sensaes tendo em vista que qualquer
coisa sensvel, por sua prpria natureza, nunca sendo idntica a si
mesma no pode conhecer o idntico a si mesmo. Ento, a
faculdade que conhece verdadeiramente deve ser distinta da
faculdade de sentir j que as sensaes so imperfeitas, enquanto
meio de obteno do conhecimento efetivo. A propsito,
importante recordar que Plato diz que at os poetas repetem at
ficarem saciados que no se v nem se ouve com clareza (65a-b). O
filsofo da Academia diz ainda que, se a viso e a audio no
podem recordar as Formas puras, ento, no se pode esperar coisa
melhor das outras sensaes, pois elas so consideradas inferiores a
essas duas (65b). Sendo assim, quando a alma deseja meditar por
meio das sensaes sobre qualquer objeto que seja, o corpo, claro,
lhe propicia engano (65b).
a isto que Scrates chama de morte nesse dilogo: um
mtodo de aquisio do saber. Nisto, e no numa mera hostilidade
ao corpo, fundamenta-se o motivo da necessria negao dos
Investigaes sobre
O Agir Humano
317
derivados das sensaes na obteno do verdadeiro conhecimento,
ou seja, porque se raciocina melhor dessa forma. Portanto, para
Plato, a autntica noo filosfica de morte, ao se relacionar com a
distino entre corpo e alma, entre sentir e pensar e com a
purificao do pensamento, propedutica ao mtodo de
investigao ideal.
Nesse sentido, que se pode compreender a profundidade
das distines que o Fdon explicita a respeito desse autntico
significado filosfico de morte e o suicdio. Mas, o que a morte
para o suicida? No Fdon o suicida aquele que, mesmo sabendo
que sua vida propriedade dos deuses, resolve tir-la por meio de
suas prprias mos (61d 62e). A propsito, depois de fazer o
convite para que o poeta Eveno siga aquele que vai morrer (61c-d)
Scrates acrescenta o seguinte:
- Ora - tornou Scrates -, ser que Eveno no filsofo?
- Segundo penso, respondeu Smias. - Ento no h
de desejar coisa melhor, ele ou quem quer que d
filosofia a ateno que ela merece. Todavia, de esperar
que Eveno no far violncia contra si mesmo, pois,
segundo dizem, isso no permitido.
Em nenhum momento Plato diz que simplesmente morrer
suficiente para obter o verdadeiro conhecimento. Ento, o
suicdio no uma via direta para obter o saber, preciso algo mais.
A verdadeira morte para o filsofo a distino entre o corpo e a
alma. Por isso, de modo recorrente, Plato diz que na meditao
pura, e no no ato de sentir, a alma recorda, em parte, a realidade de
um ser (65c). A alma medita melhor se nenhum entrave lhe advm
de nenhuma parte, nem da audio, nem da viso, nem dum
sofrimento, nem dum prazer (65c). A alma medita melhor quando
se isola o mais que pode em si mesma e por si mesma, quando
entrega o corpo sua prpria sorte, quando desfaz tanto quanto lhe
Investigaes sobre
O Agir Humano
318
possvel qualquer ligao, ou contato com o corpo (65b), pois, no
momento em que a alma entrega o corpo sua prpria sorte, dele se
libera e pode dar total ateno a si mesma, ocorre a mais alta
meditao (65c-d).
Isto tudo implica em dizer que no suficiente examinar o
problema por uma perspectiva fenomnica, nem simplesmente crer
na realidade das Formas puras. Ou seja, mesmo que se pressuponha
a realidade das Formas puras tais como: o Justo em si mesmo, o
Belo em si mesmo uma vez que jamais se pode ver qualquer uma
dessas Formas puras por meio dos sentidos, preciso cumprir as
exigncias da purificao do pensamento para obter o
conhecimento verdadeiro. Isto o mesmo que morrer.
Portanto, a morte para o filsofo um mtodo negativo de
aquisio do conhecimento, no produto de uma mera hostilidade
vida no corpo humano. Tal mtodo vale para conhecer todas as
outras Formas puras tais como: a Grandeza, a Sade, a Fora
enfim, as demais Formas puras e o que cada uma delas (65d). Com
efeito, se o mais verdadeiro em cada uma dessas Formas puras no
pode ser apreendido por meio do corpo (65e), ento, somente a
purificao do pensamento prepara o investigador para o mtodo de
investigao ideal e para o conhecimento sobre os nicos seres que
podem ser realmente conhecidos. Por isso, a alma que estiver no
mais alto ponto preparada para pensar em si mesma cada uma das
Formas puras, a alma que as toma por objeto de meditao, a que
mais deve aproximar-se do conhecimento de cada uma delas (65e).
justamente por isso, ainda, que Plato diz que a referida alma
somente h de obter a maior pureza no pensamento porque usa no
mais alto grau, para recordar-se de cada uma dessas Formas puras, o
pensamento puro, sem recorrer no ato de pensar nem viso, nem
a outro sentido. De fato, no recorre a nenhum deles para meditar
(66a). Eis porque importante relacionar a noo de morte para o
filsofo distino entre corpo e alma, entre sentir e pensar antes
Investigaes sobre
O Agir Humano
319
de expor o mtodo de investigao ideal: por que tal distino
propedutica ao referido mtodo. A morte , portanto, um processo
negativo de cognio e estar morto um estado de saber inato,
sendo, para o filsofo, distinta do mero ato de tirar a vida.
Quando Scrates estabelece a distino entre a morte para o
filsofo e a morte para o suicida est, desse modo, distinguindo a
abordagem fenomnica da abordagem filosfica sobre a morte. Em
outros termos, os fenmenos que ocorrem em torno da morte de
algum no conduzem ao conhecimento sobre a morte em si
mesma. Apenas a distino entre corpo e alma, entre sentir e pensar
pode fundamentar o conceito de pensamento puro nesse dilogo.
Essa distino, que se d no pensamento , ela mesma, a morte para
o filsofo. Se no fosse assim bastaria o suicdio para a aquisio do
saber inato.
Porm, logo que consideremos essas afirmaes, se nos
apresentam algumas perguntas inquietantes: por que Plato insiste
quase de modo redundante na necessidade da alma transcender as
sensaes e o corpo antes de expor o mtodo de investigao ideal
que espelhado na analogia da investigao de um eclipse do sol?
Se a alma que se encontra num corpo humano necessita da morte
desse corpo para saber alguma coisa, ento, em que medida essa
alma pode conhecer enquanto vive em corpo humano?
Ora, como j sugerimos, a alma de que se fala acima h de
obter a maior pureza no pensamento, ou seja, deve utilizar o
pensamento em si mesmo, por si mesmo e sem mistura para se
lanar caa das realidades verdadeiras. E, far isto somente se
desembaraando o mais possvel da viso, da audio e, numa
palavra, de todo o corpo, porque o corpo que pode propiciar
agitao no pensamento e constituir um obstculo ao conhecimento
da verdade todas as vezes que a alma est ligada a ele (66a).
Portanto, aquele que neste mundo cumpre tudo isto est apto a
Investigaes sobre
O Agir Humano
320
recordar o real verdadeiro (66a), que o objeto da investigao ideal
mesmo para a alma que se encontra em condies humanas.
Mas, se a morte necessria obteno do verdadeiro
conhecimento, ento, qual o resultado da purificao do
pensamento para a alma que existe num corpo humano?
Tudo o que o autntico filsofo cumpre para purificar seu
pensamento e, consequentemente, para estar pronto para a
investigao ideal, inspira-lhe uma crena, que persegue suas
palestras, segundo a qual possvel existir um mtodo que o conduz
de modo reto, quando o pensamento puro o acompanha na
investigao (66b). E, no obstante, enquanto o filsofo tiver sua
alma misturada ao corpo, jamais ser completamente recordado o
objeto de seu desejo, ou seja, sem a morte jamais ser
completamente recordada a verdadeira realidade das Formas puras
(vide 66b). Isto porque a alma ainda misturada com as sensaes
no pode apreender completamente as Formas puras, ainda que ela
as possa apreender em parte, enquanto distingue a imagem daquilo
de que a imagem imagem.
Segundo Plato, so as confuses suscitadas pelo corpo,
quando clamam as necessidades efetivas da vida por exemplo, as
doenas, a inundao de amores, paixes, temores, imaginaes de
toda sorte, e uma infinidade de bagatelas , que dificultam o
pensamento sensato (65c). Outro entrave ao pensamento puro
ainda o fato de que, atravs do anelo de prazeres sensuais, o corpo
propicia o aparecimento de guerras, dissenses, batalhas (65c-d). De
fato, observa-se no dilogo, a posse e o amontoado de bens existem
por causa da msera escravido ao corpo e podem dar origem a
todas as guerras (65c-d). Alis, por causa de tudo isto que existe a
preguia de filosofar (65d). Insistindo em mostrar todos os aspectos
que constituem os entraves derivados das sensaes, Plato diz que,
mesmo quando se consegue obter alguma tranquilidade para a
meditao, os pensamentos podem ser agitados de novo pelo corpo
Investigaes sobre
O Agir Humano
321
que um intrujo que ensurdece, tonteia e desorganiza, a ponto de
incapacitar a alma de recordar a verdade (65d). Mas, inversamente,
quando a alma quer recordar de modo puro as Formas puras,
necessrio distinguir-se do corpo e meditar por si mesma nas
Formas em si mesmas, sendo esse o nico modo de recordar o
conhecimento inato (65d).
Depois de investigar a importncia da fundamental distino
entre sentir e pensar, necessrio compreender o modo pelo qual a
morte para o filsofo tem relao com a purificao do pensamento
e com o mtodo platnico de investigao ideal. Ora, Plato diz que
o conhecimento verdadeiro, ou seja, o conhecimento das Formas
puras, somente ser recordado por intermdio da morte, ou seja, da
completa distino, ou separao entre alma e corpo, pois enquanto
h ligao entre alma e corpo impossvel haver recordao pura
(65e). Sendo assim, ou a alma de modo algum recorda as Formas
puras, ou somente o faz por meio da purificao do pensamento, ou
seja, da morte. atravs dessa purificao que a alma se reconhece
como sendo em si mesma e por si mesma nunca antes (66e).
Ento, mostra-se tanto mais pertinente a pergunta: em que
medida o mtodo de investigao ideal pode propiciar a recordao
das Formas puras enquanto a alma existir em forma humana?
Voltando-nos a dela nos ocupar, encontramos no dilogo a
afirmao de que enquanto durar a vida humana, a alma estar mais
prxima do verdadeiro conhecimento quando se afastar o mais
possvel da sociedade e unio com o corpo, salvo em situaes de
necessidade premente. Sobretudo, quando no estiver mais
contaminada pela natureza do corpo, quando se achar purificada do
contato com o corpo, at o dia em que de modo divino tiverem sido
desfeitas as amarras que prendiam a alma ao corpo (67a). S ento,
livre das demncias do corpo, a alma atinge a pureza e fica em unio
com os seres que so da mesma natureza dela e, por si mesma, sem
mistura alguma, recordar-se- de tudo o que , pois somente o puro
Investigaes sobre
O Agir Humano
322
apreende o puro (67a). Isto tudo o que deve dizer todo aquele que
for um verdadeiro amante do saber (67b), essa a esperana e a
convico de todo aquele que tem o pensamento purificado (67c).
Em suma, a alma alcana a purificao do pensamento
necessria ao mtodo de observao ideal pelo ato de distinguir o
mais possvel alma do corpo. nessa medida que o mtodo de
investigao ideal pode propiciar a recordao das Formas puras,
enquanto a alma existir em forma humana. A alma deve isolar-se do
corpo e concentrar-se em si mesma, vivendo tanto quanto puder,
seja nas condies atuais ou nas futuras, isolada em si mesma e por
si mesma, livre do corpo, tendo desatado, o quanto possvel, as
amarras que a prendiam ao corpo, pois ter uma alma desamarrada
do corpo o sentido da purificao e, portanto, da morte
fundamental en(67c-d).
A distino entre corpo e alma, entre sentir e pensar,
relacionada morte para o filsofo, no fortuita. realmente ela
que fundamenta a perspectiva onto-epistemolgica do dilogo.
Atravs dessa distino, a morte para o filsofo filosoficamente
pensada e se torna um meio de transposio dialgica, a partir do
que o mtodo de investigao direta dos fenmenos, utilizado por
alguns naturalistas, substitudo pelo mtodo de investigao ideal.
O que deve ser investigado, recordemos, no so os fenmenos que
ocorrem em torno da morte de algum, mas a morte em si mesma,
segundo o pensar filosfico. Por isso, nesse dilogo as perguntas
fundamentais sobre a morte so:
Segundo nosso pensar, a morte alguma coisa? Claro
replicou Smias. Nada mais do que a separao da
alma e do corpo, no ? Estar morto consiste nisto:
apartado da alma e separado dela, o corpo isolado em si
mesmo; a alma, por sua vez, apartada do corpo e
separada dele, isolada em si mesma. A morte apenas
isso? Sim, consiste justamente nisso. (Fdon 64c-d)
Investigaes sobre
O Agir Humano
323
Essas perguntas abrem novas perspectivas no reforo da
defesa de Scrates e da onto-epistemologia do dilogo. Que
perspectivas so essas? A distino entre: sensvel e inteligvel,
corpo e alma, pensar e sentir, pensamento contaminado e
pensamento puro. Sem essa distino no seria possvel desenvolver
uma crtica ao mtodo de investigao direta dos fenmenos, nem
seria possvel fundamentar o mtodo de investigao ideal dos
objetos. Ademais, atravs do aprofundamento do pensamento sobre
a morte o foco do pensar do filsofo , declaradamente, a alma e
no o corpo (64d-65a). Com efeito, se os sentidos no podem
conhecer aquilo que realmente deve ser conhecido (65b), ento a
morte o meio de aquisio do verdadeiro conhecimento. Em
outros termos, se o que realmente conhece o pensamento puro
(65c) e esse no pode ser atingido em seu pice enquanto a alma
permanece sujeita influncia das sensaes, ento a morte, como
negao dos derivados das sensaes, o caminho por excelncia
para o verdadeiro conhecimento. Mediante essa morte se d a
melhor forma de pensar (65c-d), a nica que pode apreender os
seres inteligveis (65d-67b). Por isso, o pensamento puro, alcanado
para o filsofo pela morte, o real propiciador da convico desse
filsofo (66b) e do conhecimento daquilo que no pode ser sentido,
mas apenas pensado. A morte para o filsofo, ou a fundamental
distino entre sentir e pensar, propicia o conhecimento de quais
so os entraves do pensamento (66b-67c), de como se purifica o
pensamento, bem como da relao que a prpria morte tem com
tudo isso (67c-d).
Nessa nova perspectiva do dilogo, como a morte e o
pensamento purificado se identificam, o cultivo do prprio
pensamento como um objeto de pesquisa da autntica filosofia se
torna uma virtude, estando relacionado ao estilo de vida do filsofo.
Em verdade, a verdadeira virtude. Em outros termos, as virtudes e o
Investigaes sobre
O Agir Humano
324
pensamento filosfico esto entrelaados. Desse modo, pertinente
descrever o modo da relao entre o viver e a obteno da
sabedoria.
Assim, por um lado, o dilogo procura apontar como vivem
aqueles que se dedicam morte (67d-e), qual o modelo de amor do
amante da sabedoria (68a-c), qual o modelo da coragem do filsofo
(68c), qual o modelo da temperana do filsofo (68c-d). Mas, por
outro lado, nele tambm se considera o modelo de temperana e da
coragem do vulgo (68d-69a), marcado pelo desprezo da morte e,
assim, sendo diametralmente oposto ao do filsofo, uma vez que,
para esse ltimo, o verdadeira virtude o cultivo do verdadeiro
saber, ou seja, a purificao do saber, a morte (69a-d).
Insistimos, atravs da distino entre sentir e pensar e
investigando o que a morte para o filsofo que Plato fundamenta
sua crtica ao mtodo de investigao direta dos fenmenos e
justifica o mtodo de investigao ideal no intuito de conduzir o
dilogo ao seu mbito onto-epistemolgico. Alis, fazendo tal
distino que Scrates espera convencer seus ouvintes de que sendo
diferentes pensar e sentir, o pensamento puro e a alma pensante
sobrevivem s mudanas do sentir, e que, portanto, a alma
sobrevive morte. Mas, apesar de toda essa distino apresentada
pelo filsofo, Cebes no se satisfaz, objeta e pede a explicao de
como a alma no se aniquila aps a morte (70a-c).
Fazer a distino entre sentir e pensar, a distino entre a
natureza do corpo e a natureza da alma no suficiente para dizer
por que a alma no se aniquila aps a morte do corpo? Para Cebes
parece que no. De fato, ele diz a Scrates que excetua de todas as
coisas que o filsofo bem disse a respeito da alma tudo o que uma
fonte abundante de incredulidade para o homem vulgar (70a). A
objeo de Cebes se baseia no fato de que, apesar da distino
fundamental entre sentir e pensar (65b-69e), o homem vulgar pode
ainda dizer que, uma vez separada do corpo, a alma talvez no exista
Investigaes sobre
O Agir Humano
325
mais em nenhuma parte, talvez seja destruda e perea no mesmo
dia em que o corpo morre (70a). A exigncia de Cebes parece, na
verdade, ser uma situao criada pelo autor do Fdon para continuar
aprofundando aquela distino fundamental que culminar no
mtodo de investigao ideal. Por isso, Scrates est diante de
algum que parece exigir provas fenomnicas daquilo que o filsofo
diz sobre a imortalidade. Ento, Scrates deve buscar novo recurso
argumentativo para defender a mesma tese, a saber, a de que sendo
sentir e pensar coisas distintas, a alma distinta do corpo e,
portanto, no morre quando o corpo morre. a partir da que
aparece a reflexo sobre o par viver/morrer atravs do argumento
dos contrrios.
O argumento dos contrrios, que fora preludiado na
reflexo sobre o binmio prazer/dor em 60b,
9
agora desenvolvido
a partir de 70c para reforar aquela mesma distino entre sentir e
pensar, entre corpo e alma. Os binmios agora explorados so os
seguintes: dois estados contrrios, morte/vida, e dois processos
contrrios, morrer/reviver.
Para proceder com esse reforo argumentativo, toma-se
como base a anlise de uma antiga tradio conhecida de Scrates
(70c). Segundo ela, os mortos revivem (70c-d). Como revivem, as
almas dos defuntos devem estar em algum lugar. Scrates, ento,
prope a seguinte questo: ... , em suma, no Hades que esto as
almas dos defuntos, ou no? (70c).
Ora, a afirmao de que os mortos revivem, com base na
referida tradio, deve se basear no seguinte pressuposto: ...os
vivos no nascem seno dos mortos... (70d). Uma vez satisfeito o
9
Pode-se considerar que a relao descrita em torno do binmio
prazer/dor (Fdon, 60b) seja uma espcie de imagem que serve de modelo
argumentativo, por se constituir como figuras da sensibilidade e do mitolgico.
Com efeito, o termo imagem, tal como aparece no Fdon, tanto usado em
referimento quilo que derivado das sensaes, prprio da aparncia sensvel, da
imaginao no interior da alma, quanto das alegorias usadas no discurso.
Investigaes sobre
O Agir Humano
326
referido pressuposto, ficar provado que ...no poderia haver novo
nascimento para as almas que j no tivessem existncia... (70d).
Note-se que aqui, estamos trabalhando j com o par de contrrios
morte/vida, morrer/reviver. Se as coisas esto assim, para saber se
o dito pressuposto possa se d realmente, o primeiro passo ser o
de investigar se os contrrios no nascem seno dos seus prprios
contrrios, onde quer que exista tal relao (70d-e).
10
Se isso for
verificado, a premissa ser consistente, j que reviver e morrer
como processos , morte e vida como estados , so
contrrios (70e-72e). A esse respeito afirma Scrates: - No
verdade que esses estados se engendram um ao outro, j que so
contrrios, e tambm que a gerao (processo) entre um e outro
dupla, j que so dois? (71c).
Ademais, Scrates menciona que o exerccio da referida
verificao sobre a dupla gerao entre contrrios deve assumir
como critrio que no se deve faz-la considerando apenas o
homem, mas todos os casos das coisas que nascem, em toda parte
onde se possa estabelecer relao entre: viver, morrer e reviver (70d-
e).
11
Assim, a estrutura da aplicao do argumento dos contrrios,
tendo como base os pares de estado (vivo/morto) e processo
(morrer/reviver), pela natureza do que se quer verificar inicialmente
a saber, se os contrrios no so gerados seno de seus prprios
10
A propsito, importante recordar que essa questo trata de uma
verificao completamente relacionada pergunta sobre o que a morte para o
filsofo, feita em 64e. Contudo, essa verificao novamente uma situao criada
para aprofundar a distino que fundamenta a onto-epistemologia do dilogo e o
mtodo de observao ideal, pois a questo da morte deve convergir na questo
do pensamento puro e vice-versa.
11
Tudo isto para responder, de modo extensivo, no s se no Hades
que se encontram as almas dos mortos, mas tambm quela j referida pergunta:
Segundo nosso pensar, a morte alguma coisa? (64c). A resposta
correspondente a essa ltima pergunta deve favorecer a defesa de Scrates, que
ser considerado sensato se tiver a segura convico de que a morte no a
aniquilao da alma (63b).
Investigaes sobre
O Agir Humano
327
contrrios servir verificao no s do que diz respeito ao
homem e sua alma, mas da relao de todos e quaisquer contrrios
(70e). Alm disso, a importncia fundamental da distino entre
estados e processos ser ressaltada em 103a-b onde mostrada a
confuso que se pode fazer, a esse respeito, entre o verdadeiro
contrrio (os estados contrrios) e as coisas contrrias (os processos
contrrios). Enfim, como o argumento dos contrrios percorre
transversalmente toda a argumentao do dilogo, necessrio dar
suma importncia sua estrutura fundamental na associao com os
outros argumentos.
No que diz respeito obteno do conhecimento sobre os
pares de processos contrrios preciso investigar se quando uma
coisa se torna maior no necessrio que anteriormente ela tenha
sido menor, para em seguida se tornar maior (70e-71a). Mas,
preciso investigar ainda se antes de algo se tornar menor no havia
um estado chamado maior do qual ela participava, e h um
estado chamado menor do qual ela agora participa (70e-71a).
dum mais forte que gerado um mais fraco, e dum mais lento que
gerado um mais rpido? dum pior que gerado um melhor, e
dum mais justo que gerado um mais injusto? Caso seja, ento, da
se obtm o princpio de toda e qualquer gerao, segundo o qual
das coisas contrrias que nascem as coisas que lhes so contrrias
(71a).
Ora, analisando essa questo sob uma determinada
perspectiva, j se torna possvel antever o relativismo dos processos,
ou das coisas sensveis contrrias. Em outros termos, com essa
questo, Plato parece estar buscando estabelecer de modo cada vez
mais profundo o conhecimento sobre a distino entre processos
e estados para, a partir disso, reforar a distino fundamental
entre sentir e pensar, entre corpo e alma. Nessa anlise os processos
parecem sempre absurdos, no constituem objetos do verdadeiro
conhecimento porque no se deixam apreender sempre do mesmo
Investigaes sobre
O Agir Humano
328
modo, por exemplo, parecem participar do grande e do
pequeno ao mesmo tempo. J os estados permanecem sempre os
mesmos. Alis, entre um e outro estado h, em todos os casos, uma
dupla gerao de processos contrrios, pois um processo contrrio
vai sempre e reciprocamente ao seu processo contrrio, enquanto os
estados contrrios permanecem idnticos a si mesmos (71a-b). Por
exemplo, entre o estado chamado maior e o estado chamado
menor h dois processos recprocos: crescer e decrescer. Isto
vale para todas as oposies semelhantes, ainda que s vezes tais
oposies no possuam nomes apropriados (71b). Ademais, a
reciprocidade entre os processos contnua e circular (72a-b). O
curioso que Scrates d todos esses exemplos para convergir no
par de processos morrer/reviver e no par de estados vivo/morto
como modelos de estados que possuem uma dupla gerao entre si
(71d-e).
O problema que surge com tais exemplos que, se no h
dvidas de que o processo de morrer se d, o mesmo no se pode
dizer a respeito do reviver. Para resolver tal problema, o meio
assumido no ser o da investigao direta dos fenmenos que esses
processos envolvem, mas o exame do pensamento, considerando
outro binmio, esquecer/recordar, para determinar se a certeza de
algo pode ser sustentada como consequncia lgica da afirmao de
seu contrrio. Assim, recorre-se a ao argumento da reminiscncia.
Assim, na associao entre o argumento dos contrrios e o
argumento da reminiscncia,
12
o dilogo Fdon aborda questes que
se referem imortalidade,
13
mas, isso fazendo, desenvolve uma
12
Com efeito, no verdade que o argumento da anamnese entronca na
concluso do anterior, e de um modo pouco frequente nos dilogos? No um
interlocutor quem o refere e apresenta, e em circunstncias que do a entender
tratar-se de uma teoria bem conhecida do crculo dos frequentadores de Scrates?
13
Com efeito, do que enunciado a respeito da associao dos
argumentos dos contrrios e do argumento da reminiscncia, so deduzidas
algumas implicaes associadas que sugerem a imortalidade da alma: 1. Somente a
Investigaes sobre
O Agir Humano
329
investigao a respeito dos contedos do pensamento,
14
promovendo uma onto-epistemologia, como veremos.
Com efeito, o primeiro esforo de Scrates havia sido o de
desenvolver uma distino entre sentir e pensar (63e-69e). Mas, seus
interlocutores no se fazem convencidos de que aquilo que tem
natureza diferente da natureza do corpo mortal no pode morrer.
Ademais, conhecido o fato de que Cebes exige uma demonstrao
do que ocorre com a alma aps a morte do corpo (70a-c) e, por
causa disto, Scrates recorre ao argumento dos contrrios e o
associa ao argumento da reminiscncia (70c-77d). , portanto, por
causa daquela exigncia distinguir sentir e pensar que surgem
tanto o argumento dos contrrios, quanto o da reminiscncia e,
assim, a problematizao da imortalidade.
De fato, observando o argumento da reminiscncia
constatamos que os objetivos com os quais Scrates o desenvolve
so: favorecer sua defesa, iniciada em 61b, verificar se o pressuposto
de que aprender apenas recordar uma verdade (72e), mas,
principalmente, fundamentar a tese de que o mtodo naturalista de
investigao direta dos fenmenos no conduz, necessariamente, ao
conhecimento verdadeiro. Ento, a pergunta fundamental sobre o
pressuposto do argumento da reminiscncia : de que maneira o
alma aprende verdadeiramente. 2. Aprender verdadeiramente recordar as
Formas inatas. 3. As Formas inatas so antes do nascimento da alma em forma
humana. 4. Portanto, a alma que recorda as Formas existia antes de nascer na
forma humana.
14
Se a morte corresponde aniquilao da vida (70a) como sugere a
refutao de Cebes , como que o esquecimento no corresponde
aniquilao do saber, uma vez que, segundo o argumento da reminiscncia, h um
saber inato (75d). Dizamos a pouco que, por causa do desenvolvimento de seu
aspecto onto-epistemolgico, na associao entre o argumento dos contrrios e o
argumento da reminiscncia o dilogo Fdon passa a abordar questes a respeito
dos contedos do pensamento. Ora, tais contedos so tanto contedos que
sofrem mudanas processos, como so recordar/esquecer , quanto
contedos que so sempre idnticos e imutveis estados, como so
morte/vida.
Investigaes sobre
O Agir Humano
330
que se chama aprender apenas recordar? (73b). A partir de tal
questionamento, o dilogo passa a aprofundar seu aspecto onto-
epistemolgico dando grande importncia definio de
recordao, de pensamento puro ou de conhecimento efetivo. Isto
tudo refora a noo de que a realidade verdadeira deve pertencer
ao mbito do pensamento e no da sensibilidade. Ou seja, entre
sentir e pensar: o pensamento puro o verdadeiramente real,
enquanto tudo que derivado dos sentidos constitui o
verdadeiramente ilusrio. Portanto, nesse novo contexto, embora as
sensaes sejam propiciadoras da recordao, no prprio
pensamento puro que se realiza o pensamento da Imortalidade.
15
A associao entre o argumento dos contrrios e o
argumento da reminiscncia introduzida no dilogo atravs de
Cebes a partir de 72e, no entanto, Scrates que mostra como ela
ocorre (vide 77c).
16
O argumento dos contrrios surge no dilogo
com base no par de estados contrrios morte/vida, o argumento da
reminiscncia com base no par esquecimento/recordao. Por isso,
parece acertado pensar que, assim como a verificao sobre o
reviver s pode ser feita pressupondo-se que o revivescente existia
15
Isto implicar em dizer que pensar a Imortalidade e ser imortal o
mesmo.
16
De acordo com Jos Gabriel Trindade Santos (1994, p. 22-23), a
prpria tese pode justificar-se apelando para a prtica do interrogatrio (em
termos quase inteiramente idnticos aos do dilogo com o escravo, do Mnon
82b-86c), pela qual se mostra serem as pessoas por si capazes de explicar
corretamente tudo o que se lhes pea (73a). De fato, Smias no se mostra muito
convencido, pelo que se torna necessrio lembr-lo. Isso no encerra alguma
ironia? De qualquer modo, uma vez que Smias nunca se exercitou na
reminiscncia, ento, para convenc-lo, no mister lev-lo a recordar-se? Nesse
caso, tal prova valeria duplamente. Isto no significa que ela no s demonstraria
a teoria, mas, pelo fato de ser recordada por Smias, ainda constituiria um
exemplo de si prpria? Vale dizer que Scrates no parece fazer qualquer esforo
para demonstrar que o seu interlocutor tinha tirado tudo de si mesmo em
uma variao de perspectiva, a exemplo do Mnon.
Investigaes sobre
O Agir Humano
331
no Hades antes de renascer em forma humana (70d), a verificao
sobre a reminiscncia deve, do mesmo modo, se apoiar no
pressuposto de que o recordado era conhecido antes do conhecedor
nascer em forma humana (vide 70d-73a). De fato, esse
pensamento puro, anterior ao nascimento da alma em forma
humana, que fundamenta a Imortalidade, pois em razo dele que
verossmil que a alma seja imortal, (vide 66d-e) e indestrutvel (vide
107a). Isto, analisado de uma determinada perspectiva, no
implicaria dizer que pensar a Imortalidade o mesmo que ser
imortal? Ora, se as Formas perfeitas so o que so desde sempre e
para sempre Inteligveis, Imutveis, Imortais e se a alma
conhece essas Formas como elas so, ento, a alma imortal porque
conhece as Formas imortais.
H ainda outra perspectiva sob a qual se pode pensar a
referida questo: como possvel ao pensamento ser capaz de
conhecer o que , ou seja, em que condies o pensamento pode
pensar aquilo que sempre do mesmo modo, Imutvel, Inteligvel,
Imortal? Ora, essa questo deve ser colocada tanto a respeito do
pensamento, quanto a respeito de seus contedos, tanto do
contedo que sofre mudanas, quanto do contedo que , sempre
Imutvel. Ento, o problema se refere a um pensamento capaz de
apreender tanto o mutvel quanto o que sempre Idntico.
Mas, pensar o Invisvel, o Inteligvel, o Imutvel no exige
um pensamento purificado de qualquer entrave, ou contedo
mutvel? Isto j no est implcito naquela distino entre sentir e
pensar (vide 63e-69e)? Ademais, no tocante reminiscncia
enquanto fundamento da imortalidade da alma, no seria pertinente
afirmar que um dos problemas a serem investigados o da natureza
do prprio pensamento, ou seja, do pensamento capaz de pensar as
Formas perfeitas? Todo o dilogo parece ser um esforo nesse
sentido: definir o pensamento puro capaz de pensar as Formas
perfeitas. Nisto consiste a onto-epistemologia fundamentada pelo
Investigaes sobre
O Agir Humano
332
mtodo de investigao ideal. Mas, de que natureza podem ser os
contedos de uma recordao, ou seja, de um pensamento?
Para responder a essa pergunta preciso considerar a
definio de recordao encontrada no Fdon, relacionando-a quele
pressuposto do argumento da reminiscncia, segundo o qual, numa
poca anterior, a alma apreendeu aquilo de que no presente recorda
(72e) e isso no poderia acontecer se a alma no existisse antes
de assumir, pela gerao, a forma humana. Assim, pela mesma
razo que se deve tornar verossmil que a alma seja imortal (vide
73a).
Explicitando uma primeira noo de recordao, Cebes diz
que, ao interrogar um homem com perguntas bem conduzidas, por
si mesmo e de modo exato ele dir como as coisas realmente so.
Mas acrescenta Cebes ele no seria capaz de assim fazer se
sobre essas coisas j no tivesse conhecimento e reto juzo (vide
73a). O tebano afirma, ainda, que o mesmo procedimento pode ser
feito em relao s figuras geomtricas e outras coisas do mesmo
gnero (73a). realmente essa a noo de recordao que deve ser
considerada? Ora, esse exemplo de Cebes mostra um mtodo, mas
no diz como se d a prpria recordao, no coloca seu
interlocutor nesse estado de recordar de que fala o
argumento. Portanto, no suficiente mostrar o mtodo
propiciador de uma recordao, ainda preciso investigar como
surgem e de que natureza podem ser os contedos de uma
recordao ou de um pensamento.
Alm do mtodo propiciador da recordao, preciso levar
em considerao os contedos dessa recordao, posto que sejam
esses contedos o fim que justifica o mtodo. Ento, como colocar
a alma nesse estado de que fala o argumento e qual o contedo
desse estado a questo a ser enfrentada. De fato, o que falta ao
exemplo de Cebes? Justamente exemplos do que ocorre aos
Investigaes sobre
O Agir Humano
333
contedos da recordao. Por isso, Scrates inicia a anlise sobre
tais contedos levando em considerao o problema da imaginao.
importante lembrar que, no primeiro exemplo de
recordao, Scrates diz que quando o homem ouve, ou v alguma
coisa, ou experimenta no importa que outra espcie de sensao,
no somente a imagem da coisa percebida que a alma desse
homem gera em seu pensamento, mas pode gerar tambm a
imagem de uma coisa diferente do objeto percebido
17
(vide 73b-
74b). justamente essa a primeira definio de recordao que se
deve considerar numa anlise mais profunda sobre essa questo,
pois nesse exemplo Scrates no aponta apenas o mtodo, mas
todas as ocorrncias dentro de uma recordao. Portanto, nesse
exemplo, naquilo a que se pode dar o nome de recordao ou
pensamento, so geradas associaes de imagens, ou seja, ocorre a
imaginao.
H alguns aspectos importantes que devem ser considerados
a esse respeito: a recordao no a investigao direta do
fenmeno experimentado, a gerao de imagens no pensamento a
partir do que se experimentou. Ou seja, a sensao sobre alguma
coisa no gera, necessariamente, a associao de uma imagem
semelhante coisa experimentada, mas pode gerar tambm a
associao com a imagem de uma coisa diferente daquele objeto
sentido. Contudo, quaisquer que sejam as imagens, essas so sempre
derivadas das sensaes. Isto significa que a percepo direta de um
fenmeno no garante, necessariamente, a recordao desse mesmo
fenmeno, pois a observao direta sobre ele no leva,
necessariamente, a alma do observador a associar a imagem gerada
em seu pensamento com esse mesmo fenmeno.
17
Quando, por exemplo, o repicar de um campanrio me leva recordar
de uma Igreja e no propriamente do campanrio.
Investigaes sobre
O Agir Humano
334
De fato, a recordao no se d sempre do mesmo modo
para todas as coisas. Por exemplo, Scrates diz que so coisas bem
diferentes recordar um homem e recordar uma lira (73d). Isto pode
implicar, mais uma vez, em dizer que a investigao direta dos
fenmenos no conduz, necessariamente, ao conhecimento. Outro
exemplo, a alma de um amante ao observar uma lira, uma
vestimenta, ou qualquer objeto que seu amado habitualmente usa,
pode gerar a imagem de seu amado em seu pensamento (73d).
Ademais, muitas vezes algum pode ver Smias, mas em seu
pensamento gerada uma imagem que recorda Cebes. assim em
milhares de exemplos daquilo que se chama recordao,
principalmente quando se trata de coisas que o tempo e a distrao
fazem esquecer (73d-e). Assim, quando algum v o desenho de um
cavalo ou o desenho de uma lira pode gerar a imagem de um
homem em seu pensamento (73e). Isto quer dizer que, no s a
investigao direta dos fenmenos no garante o conhecimento
desse fenmeno, mas a observao direta sobre uma simulao da
realidade, ou seja, a observao direta sobre uma imagem (desenho
de um cavalo, ou de uma lira) no conduz, necessariamente a uma
imagem semelhante quilo que est sendo observado. Portanto, tal
observao no conduz, necessariamente, ao conhecimento, ou
recordao do que est sendo observado. Sobre esse exemplo
importante lembrar tambm que um desenho de um cavalo, ou de
uma lira, pode se distanciar muito de seu modelo original e mesmo
assim continuar sendo o desenho de um cavalo, ou de uma lira.
Nem mesmo a observao direta sobre um retrato, que uma
simulao muito prxima de seu modelo original a observao
direta sobre o retrato de Smias, a ttulo de exemplo , nem mesmo
a observao direta sobre este tipo de simulao to prxima do
modelo original, gera, necessariamente, a imagem do prprio Smias
no pensamento do observador. Pois, ao observar diretamente o
Investigaes sobre
O Agir Humano
335
retrato de Smias o observador pode gerar a imagem de Cebes em
seu pensamento, tal como est em 73e.
Apesar de se poder dizer que da observao direta sobre o
retrato de um objeto no sucede, necessariamente, a gerao de
imagens semelhantes ao objeto observado, h casos em que tal
observao direta propicia a fcil gerao de uma imagem
semelhante a esse objeto na imaginao do observador. Por
exemplo, ao observar o retrato de Smias, o observador pode gerar,
facilmente, a imagem do prprio Smias em sua imaginao (73e-
74a). Contudo, tal exemplo no garante que a observao direta de
um fenmeno conduza, necessariamente, ao conhecimento desse
fenmeno, uma vez que tal observao pode propiciar a gerao de
imagens distintas desse fenmeno na imaginao do observador.
Alm disso, se algum, ao observar o retrato de Smias, pode gerar a
imagem do prprio Smias em sua imaginao, disto no resulta que
a imagem de Smias seja o prprio Smias, pois, a imagem
diferente daquilo do que ela imagem. Portanto, pensar por
imagens , reciprocamente, gerar no pensamento a imagem e aquilo
do que essa imagem imagem.
De acordo com esses exemplos, depreende-se que a imagem
gerada no pensamento , em todo caso, a propiciadora da
recordao, o que refora o parecer segundo o qual a investigao
direta dos fenmenos no gera, necessariamente, o conhecimento
sobre tal fenmeno. Mas, o ponto mais importante a ser
considerado que tanto a imagem do objeto observado, quanto a
imagem gerada no pensamento do observador so diferentes
daquilo do que elas so imagens, ou seja, so diferentes do
verdadeiro ser da coisa observada. Disto se pode concluir que o
pensar puro ou a recordao do verdadeiro reciprocidade entre
gerar imagens e distingui-las daquilo do que so imagens. O que
somente ser explicado no dilogo por meio da analogia da
investigao de um eclipse do sol, que serve de modelo ao mtodo
Investigaes sobre
O Agir Humano
336
de investigao ideal, ou seja, aquele da observao por imagem que
distingue a imagem daquilo do que ela imagem.
Atravs dos referidos exemplos, o pensador levado a
refletir sobre os contedos de seu prprio pensamento, ou seja, o
pensamento reflete sobre si mesmo. Ademais, por meio de tais
exemplos, possvel distinguir um pensamento reflexivo que
distingue a imagem daquilo de que a imagem imagem daquela
imaginao que no faz distino entre imagem e imaginado. Ora,
ao mostrarem que as imagens podem ser propiciadas por coisas
semelhantes ou dessemelhantes a elas e, por outro lado, que as
imagens podem propiciar a recordao de coisas diferentes do
objeto observado, tais exemplos mostram que a observao direta
dos fenmenos no conduz, necessariamente, recordao do
objeto observado. Logo, h necessidade para um conhecimento
autntico de uma alma pensante que saiba fazer distino entre
imagem e aquilo do que a imagem imagem, ou seja, de uma alma
que negue que a imagem idntica ao objeto do conhecimento e,
assim, de um mtodo de investigao diferente da investigao
direta dos fenmenos.
Ainda de acordo com o que est acima, no h objeto do
pensamento sem uma alma pensante, nem h purificao do
pensamento sem a distino entre imagem e aquilo do que a
imagem imagem. Mas, para aprofundar tal reflexo necessrio
considerar o seguinte: quando se trata de exemplos de recordaes
ocorridas mediante imagens semelhantes ao objeto observado
preciso investigar se essa imagem realmente igual quilo do que ela
imagem, pois semelhana e igualdade so distintas.
Somente considerando todos os exemplos de recordao at
agora mostrados possvel notar a importncia de tal questo. Por
isso, parece muito importante lembrar que enquanto Smias d
exemplos da recordao que ocorre por meio de perguntas bem
conduzidas (73a), Scrates comea dando exemplo de recordaes
Investigaes sobre
O Agir Humano
337
que ocorrem por meio das prprias sensaes, tais como ver, ouvir,
ou qualquer que seja a sensao (73c), passando, em seguida, a dar
exemplo da recordao que se d atravs de coisas bem especficas
que o tempo ou a distrao tinham feito esquecer, tais como, um
homem, uma vestimenta, uma lira, Smias ou Cebes (73d-e). Depois,
Scrates segue dando exemplo da recordao que ocorre por meio
de simulaes da realidade. Algumas dessas simulaes no
precisam ser muito semelhantes aos seus originais, por exemplo, os
desenhos das coisas. Nos exemplos dados por Scrates se
encontram, o desenho de um cavalo e o desenho de uma lira (73e).
Outros exemplos se referem recordao que ocorre atravs de
simulaes que so muito semelhantes aos seus originais, por
exemplo, os retratos das coisas. Nos exemplos dados por Scrates
se encontram, o retrato de Smias e o de Cebes (73e). Alis, Scrates
encerra esses exemplos ressaltando que tais objetos so s vezes,
semelhantes, outras vezes, dessemelhantes aos objetos que por meio
deles so recordados (74a).
possvel notar, nessa sequncia de exemplos dados por
Scrates, a presena do par semelhante/dessemelhante e uma
espcie de digresso que ocorre dos objetos mais sensivelmente
reais para os objetos que so apenas simulaes da realidade. No
estaria Scrates forando sua argumentao na direo daquilo que
est alm da realidade sensvel? Parece que sim, pois aps os
exemplos da recordao de coisas bem sensveis ele passa a dar o
exemplo de como o semelhante pode propiciar a recordao do
Igual (74a). Portanto, Scrates vai dando ao dilogo um aspecto
onto-epistemolgico, na direo de que os problemas devem ser
resolvidos no pensamento puro, atravs do mtodo de investigao
ideal e no na sensibilidade. Tanto verdade que, na continuao
dos exemplos de Scrates, o que sucede a afirmao daquilo a que
se d o nome de Igual (74a-b), no mais de um igual sensvel, como
a igualdade entre dois pedaos de pau, entre duas pedras, nem entre
Investigaes sobre
O Agir Humano
338
coisas desse mesmo gnero, posto que essa igualdade sensvel,
quando examinada a fundo, no pode ser comprovada na realidade,
(vide 74a-b). Mas o Igual, a que Scrates passa agora a se referir,
segue aquela digresso do mais denso ao mais sutil e, quando
comparada igualdade encontrada entre as coisas sensveis, se
distingue delas por ser realmente Igual, no apenas semelhante
como so as coisas sensveis. Ora, na exposio da questo do
conhecimento dessa realidade inteligvel a que se d o nome de
Igual, um novo problema suscitado: se em todos os fenmenos
observveis somente possvel encontrar semelhana e nunca
igualdade real, onde possvel encontr-la? A resposta : no
possvel encontr-la, seno no pensamento, ou seja, na recordao.
Assim, Scrates diz que a recordao do Igual propiciada
pela observao de coisas sensveis, tais como, pedaos de pau,
pedras, ou outras coisas semelhantes, cuja igualdade, percebida pelo
homem, faz recordar o Igual que, entretanto, distinto delas.
Scrates faz entender, desse modo, que o realmente verdadeiro
ocorre no pensamento puro, tendo como referncia a Forma
perfeita do Igual, que estrutura a percepo do sensvel
18
. Acredita-
18
Depois de uma breve desapario, no final do argumento, bem como
no dos contrrios sensveis, como vimos, as Formas regressam no argumento da
anamnese. A contraposio dos dois tipos de iguais caracteriza bem a diferena
que ope as Formas s suas instncias sensveis, ficando a natureza do processo
de instanciao perfeitamente definida, de um ponto de vista epistemolgicos.
Isso quer dizer que fica bem claro como e em que circunstncias as Formas
estruturam nos homens toda a percepo sensvel. Mas o cruzamento dos dois
argumentos - o da anamnese com o da oposio da alma ao corpo (78a-84b) - vai
complementar esta perspectiva com uma abordagem da noo de Forma de um
ponto de vista ontolgico. Plato quer mostrar a total estranheza da alma ao
corpo, particularmente no que diz respeito possibilidade de sofrer destruio
(78b). Comea por distinguir compostos de no-compostos, para da colher a
evidente afinidade dos compostos com a decomposio e, consequentemente,
por correspondncia (pelo fato de restar apenas uma alternativa), dos no-
compostos com a imutabilidade (78bc) (SANTOS, 2008, p. 62).
Investigaes sobre
O Agir Humano
339
se, por isso, que a partir da questo do conhecimento do Igual em
si que Scrates retira, de modo mais profundo, aquilo que objeto
do verdadeiro conhecimento do mbito das sensaes e o coloca no
mbito do pensamento puro.
Se a alma nunca viu o Igual em algum fenmeno e, mesmo
assim, esse Igual pode ser pensado, ou seja, recordado, ento
necessrio que o conhecimento do Igual seja anterior observao
dos fenmenos semelhantes, mesmo antes do tempo em que, pela
primeira vez, a viso de coisas semelhantes gerou o pensamento de
que elas tendem ao Igual em si (vide 74d-75a). Ora, neste passo no
se encontra implcito que o Igual uma realidade do mbito do
pensamento e no das sensaes? Isso evidente, mesmo que se
possa dizer que para a alma que nasceu na forma humana a
recordao do Igual propiciada pelas sensaes, pois as coisas
sensveis que so tidas como semelhantes, quando percebidas,
fazem o observador recordar o Igual por apresentarem alguma
semelhana com ele, embora permaneam distintas do Igual (74b).
A partir de tais consideraes, o dilogo vai convergindo
para uma realidade que somente pode ser pensada, ou seja, o
dilogo converge para o seu aspecto onto-epistemolgico, no qual,
o pensamento puro se torna objeto de investigao e fundamento
da imortalidade da alma, pois para pensar as Formas necessrio
que ela seja anterior s sensaes e distinta dessas sensaes e do
corpo. Isto implica em dizer que o pensamento puro e a alma no
morrem, pois so de natureza distinta daquilo que morre. Ora, se
pensar distinto de sentir, ento o que est dito atrs implica
tambm em outra coisa, a saber: se esse Igual, do qual se fala,
sempre idntico a si mesmo (74b); se as semelhanas, que
permanecem diferentes do Igual, levam o observador a record-lo,
mesmo que esse Igual seja semelhante ou diferente dessas
semelhanas percebidas (74c); se a viso dos semelhantes faz o
observador pensar noutra coisa, ou seja, no Igual; se entre o
Investigaes sobre
O Agir Humano
340
semelhante e o Igual falta muito e se o semelhante apenas tende ao
Igual, mas por ter diferenas no o Igual mesmo; ento,
novamente, a investigao direta dos fenmenos no leva,
necessariamente, ao conhecimento verdadeiro daquilo que
investigado.
Portanto, necessrio abordar um caminho diferente da
observao direta dos fenmenos para obter o conhecimento
verdadeiro das Formas. Ora, ao se referir recordao do Igual,
Scrates diz que uma tal reflexo e a possibilidade mesma de faz-la
provm unicamente do ato de ver, de tocar, ou de toda e qualquer
sensao; que depois da alma ter nascido em corpo humano so as
sensaes que lhe do o pensamento de que todas as coisas
semelhantes tendem realidade prpria do Igual. Mas, ao mesmo
tempo, Scrates diz que tais sensaes so diferentes do Igual,
posto que no seria possvel comparar com o Igual as coisas
meramente semelhantes mostradas por essas sensaes (75a-b). Por
conseguinte, se as sensaes podem propiciar a gerao de imagens
diferentes do fenmeno que se observa diretamente, mesmo que
sejam as sensaes que propiciam a recordao ou pensamento, a
observao direta dos fenmenos deve ser substituda por um
mtodo mais seguro para obter o conhecimento verdadeiro das
Formas puras.
E assim, oportuno considerar aqui a importncia das
sensaes nesse novo passo do dilogo. Se em 65d o conhecimento
de realidades em si exigia um saber da alma separada do corpo, aqui
a sensao parece adquirir um status distinto do desmancha-
prazeres do pensamento puro. Aqui ela aparece como um pr-
requisito de reflexo (75a). Desde que se est vivo, necessrio
perceber para aprender, refletir para se recordar. A vida e a sensao
so de alguma forma o mal e o remdio? Viver tambm ter que
aprender a sentir, a condio para ser capaz de recordar. A
sensao perde seu status de obstculo para se tornar condio
Investigaes sobre
O Agir Humano
341
necessria recordao. Assim preciso fazer bom uso dela,
entender o que est faltando e o que tende a aparecer nela como
objeto da recordao. O desejo de possuir tal objeto por parte dos
autnticos filsofos no permite-lhes compreender o que est
faltando no que dado pela sensao? Isto constitui o ponto de
partida para a reflexo sensvel. No verdade que esse ponto de
partida necessrio, uma vez que h uma perda de conhecimento,
um esquecimento? (SANTOS, 2008).
Ademais, em consonncia com tudo isso, preciso
considerar tambm que, dando-se no pensamento e sendo anterior
s sensaes, as formas so conhecidas tanto antes, quanto depois
do nascimento da alma em forma humana (vide 75c-d). O saber
eterno conservado no curso da vida (75d). O esquecimento
apenas o abandono de um conhecimento (75d). Ao nascer em
forma humana, a alma abandona o conhecimento das Formas (75e),
mas ao fazer uso dos sentidos a alma recorda o conhecimento que
tinha abandonado (75e). Quando uma coisa percebida por
qualquer um dos sentidos, essa sensao propicia a recordao de
outra coisa que a alma havia esquecido (75e-76a). Ou a alma nasce
com um conhecimento que dura a vida inteira ou apenas depois do
nascimento a alma recorda esse conhecimento (76a-b). Quem sabe
capaz de dar razo do que sabe (76b), mas, segundo Smias, nem
todos so capazes de explicar as Formas, mas apenas de record-las
(76b-c). A alma no adquire o conhecimento das Formas na data do
nascimento em forma humana (76c), a gerao da alma e do
conhecimento so idnticos (76d-e), a necessidade da existncia das
Formas implica na necessidade da existncia da alma (76e-77a).
No verdade que o ponto de partida da recordao no ,
portanto, a sensao em si, a sensao refletida como algo
deficiente? O objeto percebido adquire o status de imagem
imperfeita. Para se tornar consciente desta falta de realidade a
prpria alma deve reconhecer a falta e o desejo que a prende?
Investigaes sobre
O Agir Humano
342
Parece que a deficincia de um determinado objeto na coleo
sensvel para aqueles que aspiram realidade deste objeto se faz
evidente. Eis porque Scrates no desenvolve uma anlise da
prpria percepo, mas a anlise da similaridade ou dissimilaridade
entre o objeto percebido e a realidade referente a este objeto (Cf.
SANTOS, 2008, p. 99 e 100). Mas, Smias diz que nada disto prova
que a alma existe depois da morte do corpo (77a-b). A refutao de
Smias semelhante objeo de Cebes (77a-b). Ento, Scrates
tenta demonstrar que seu argumento j est completo pela
associao entre o argumento dos contrrios e o argumento da
reminiscncia (77c-e). H um intervalo (77e-78b). Scrates
aprofunda sua defesa atravs da distino entre as duas naturezas
(78c), atravs do que se conhece a realidade do pensamento (79a-
84b).
Para aprofundar sua defesa, Scrates recorre mais uma vez
distino entre sentir e pensar, entre corpo e alma. O resultado de
tal reforo consiste em admitir que o pensamento puro o meio
apropriado de conhecer os seres inteligveis (78c-80e). Essa
distino ressurge agora com a pergunta sobre quais so as coisas
que so susceptveis de aniquilao.
Aps a tentativa de Scrates de fundamentar a imortalidade
da alma, por meio da anterioridade do pensamento e de acordo com
o argumento da reminiscncia, Smias ressalta que daquela
demonstrao resulta apenas que a alma existe antes do nascimento,
mas no resulta que depois da morte do corpo a alma no seja
aniquilada (77b-c). Ademais, Scrates havia dito, ironicamente, que
tanto Cebes quanto Smias exigem uma demonstrao de que a alma
no se aniquila aps a morte do corpo por estarem dominados pelo
medo pueril de que um vento qualquer pode soprar sobre a alma no
momento de sua sada do corpo para dispers-la e dissip-la (77c).
Ocorre, porm, que o aprofundamento da questo sobre as coisas
que se aniquilam e as coisas que no se aniquilam resulta,
Investigaes sobre
O Agir Humano
343
necessariamente, na questo daquilo que, no sendo de natureza
sensvel, uma realidade apenas do mbito do pensamento.
Portanto, tal aprofundamento implica, mais uma vez, na
convergncia do dilogo para seu aspecto onto-epistemolgico e
consiste numa estratgia de seu autor para fundamentar o mtodo
de investigao ideal. A propsito, no demasiado repetir que,
todas as circunstncias mostradas no Fdon parecem existir como
estratgias para essa convergncia, de modo que o pensamento puro
o fim visado pelos argumentos, por ser a realidade mais
verdadeira. No diferente no que diz respeito questo sobre as
coisas que se aniquilam. Se no possvel encontrar na realidade
sensvel aquilo que nunca se aniquila, somente no pensamento puro
isso ser possvel. Por isso, Scrates segue perguntando sobre as
coisas compsitas e as no-compsitas, o que convergir no tema
do pensamento puro (78c). O mesmo ocorre acerca daquilo que
Imutvel e daquilo que se comporta sempre do mesmo modo (78c):
tais coisas no existindo na realidade sensvel so realidades
somente no mbito do pensamento. As coisas que no se aniquilam,
tais como, o Igual em si, o Belo em si ou toda e qualquer realidade
que em si, comportam-se sempre do mesmo modo,
permanecendo imutveis, sem admitir jamais, em nenhuma parte e
em coisa alguma, a menor alterao (78d-e). Scrates segue
mostrando que tais coisas no so encontradas no mbito sensvel,
mas apenas no pensamento puro (79a). O mesmo ocorre s coisas
invisveis (79a).
Em outros termos, h no homem algo que distinto de seu
corpo, algo que sendo distinto dos sentidos capaz de capturar
essas realidades do mbito do pensamento puro. Portanto, a alma
nascida em forma humana constituda de duas naturezas, uma
corprea e outra incorprea (79b-c). A propsito, o corpo um
instrumento que s vezes a alma utiliza para observar algumas coisas
por intermdio da vista, ou do ouvido, ou de qualquer sensao
Investigaes sobre
O Agir Humano
344
(79c). Contudo, quando a alma tenta entrar em contato direto com
os fenmenos, por meio dessas sensaes, levada na direo
daquilo que no se comporta da mesma forma. Torna-se, ento,
inconstante, agitada e titubeia como se estivesse embriagada (vide
79c).
Mais uma vez, chegamos a uma mesma certeza: a
investigao direta dos fenmenos no conduz, necessariamente, ao
conhecimento verdadeiro. Portanto, necessrio encontrar outro
mtodo para capturar o verdadeiro conhecimento. necessrio
evitar que a observao seja feita atravs da natureza corprea,
atravs das sensaes. A alma deve examinar as coisas atravs de sua
prpria natureza, lanando-se na direo do que puro, do que
sempre, do que no se aniquila, do que se comporta sempre do
mesmo modo. Esses seres se mantm os mesmos e, por ser da
mesma natureza desses seres, a alma pode se manter a mesma
considerando-os, capturando o conhecimento verdadeiro sem
vacilaes.
A este estado da alma se d o nome de pensamento (79d).
Ora, esse estado cognitivo possvel porque a alma de natureza
divina, ou seja, de uma natureza que move o corpo, que tem poder
sobre o corpo (80a). Disto se conclui que: se, por um lado, a alma
divina, imortal, dotada de capacidade de pensar, uniforme,
indissolvel e idntica a si mesma e, por outro lado, o corpo
humano, mortal, multiforme, desprovido de capacidade de pensar,
decomponvel e nunca idntico a si mesmo; ento, a alma, por
meio do pensamento puro, a capturar o conhecimento das Formas
e, por isso, indissolvel, imortal, ou qualquer estado que disso se
aproxime (vide 80a-e).
Investigaes sobre
O Agir Humano
345
3. CONSIDERAES FINAIS.
No Fdon, Scrates (ou Plato) acusa principalmente a
incoerncia daqueles que vivem como se as sensaes, seus
derivados e a investigao direta dos fenmenos constitussem o
meio seguro para a aquisio do verdadeiro conhecimento. Essa
acusao possvel porque h uma confuso nos processos
sensveis, por eles serem circulares e recprocos, embora sejam tidos
como coisas concretas. Ento, Plato desenvolve uma crtica contra
o discurso dos naturalistas, que utilizam o mtodo de investigao
direta dos fenmenos para adquirir a verdade das coisas. Tal crtica
tem sua fundamentao no entrelaamento da noo de morte para
o filsofo (64c), na associao entre o argumento dos contrrios e o
argumento da reminiscncia (72e), na apresentao do mtodo de
investigao ideal (99 d-e) e na associao do argumento da
afinidade com a teoria da participao (102a-107b). Nisto se
constitui a soluo para a aquisio do verdadeiro conhecimento e
correo do discurso naturalista. A consequncia da fundamentao
dessa crtica permite que se possa dizer que o verdadeiro
conhecimento se d pela reciprocidade entre processo negativo de
cognio (ou purificao do pensamento) e estado cognitivo inato
(ou recordao das Formas inatas).
A fundamentao para a tese anunciada neste trabalho
ocorre tendo em vista o seguinte: No Fdon, o conhecimento est
relacionado aos processos chamados esquecer/recordar, mas um
estado de pensamento puro (ou recordao) das Formas inatas
(76e). assim porque somente o puro pode pensar o puro (67a-d).
Igualmente, no h Formas inatas sem uma alma (ou aquilo que as
pensa), nem h alma pensante sem as Formas inatas (ou aquilo que
pensamento puro). Com isto se quer dizer que a verdadeira vida
sendo um inteligvel, somente possvel que a alma seja algo porque
dele participa (105c). Igualmente, seria contraditrio afirmar que a
Investigaes sobre
O Agir Humano
346
vida, que causa da alma, possvel sem aquilo do que a causa
causa. Ora, a causa jamais seria causa sem aquilo do que causa (99
ab). Igualmente, no h corpo sem alma, posto que a alma seja
causa do corpo. Ento, a alma, empolgando uma coisa, sempre traz
vida a essa coisa (105 d). Isto implica em se poder dizer tambm
que assim como no h causa sem aquilo do que a causa causa,
no h alma sem corpo. E, assim como as Formas inatas so os
verdadeiros estados e as verdadeiras causas, no h estados sem
processos.
4. REFERNCIAS.
Traduo Comentada do Fdon
PLATO. Dilogos: Fdon Sofista Poltico. [Trad. Jorge Paleikat e Joo
Cruz Costa]. 1 ed. Editora: Abril Cultural S. A., So Paulo, 1972.
Demais Tradues e Comentrios do Fdon Consultados
DIXSAUT, Monique. Phdon. [Traduction nouvelle, introduction et notes
par M. Dixsaut]. Paris: Flammarion, 1991.
HACHFORTH. Plato: Phaedo. Cambridge: Cambridge University Press,
2001 (Collection GF Flamamarion).
PLATO. Fdon. [Introd., verso do grego e notas. Maria Tereza Schiappa
de Azevedo]. So Paulo: Editora Universidade de Braslia, 2000.
PLATO. Fdon. [Trad. Jos Amrico Motta Pessanha]. Rio de Janeiro:
Nova Cultural, 1996.
PLATO. Dilogos III: (socrticos): Fedro (ou do belo); Eutfron (ou da
religiosidade); Apologia de Scrates; Crton (ou do dever); Fdon (ou da
alma). Plato [trad. textos complementares e notas Edson Bini].
Bauru/SP: EDIPRO, 2008. (Clssicos Edipro).
Investigaes sobre
O Agir Humano
347
PLATO. Dilogo sobre a Imortalidade da Alma. [Trad. Pe. Dias Palmeira
(O.F.M.). Notas de Joaquim de Carvalho]. 4. ed. Coimbra: Atlntida
Editora, 1967.
PLATO. Fdon. [Trad. Heloisa da Graa Burati]. So Paulo: Rideel,
2005.
PLATO. The Phaedo of PIato. [Ed. with introduction, notes and appendices
by Archer-Hind]. Londres, MacMillan, 1894.
PLATO. Plato's Phaedo. [Ed. with introduction and notes by J. Burnet].
Oxford, Clarendon Press, 1972 (reimpr.).
PLATO. PIato's Phaedo, [Translated with introduction and COmlnentary
by R. Hackforth]. Cambridge, University Press, 1972 (reilnpr.).
PLATO. Phaedo, [Translated with notes by D. Gallop]. Oxford. Clarendon
Press, 1975.
SANTOS, Bento Silva (O. S. B.). A imortalidade da Alma no Fdon de Plato;
Coerncia e Legitimidade do Argumento Final (102a 107b). Porto Alegre:
EDIPUCRS. 1999.
SANTOS, Jos Gabriel Trindade. Plato, Fdon, introduo e comentrio. 1. ed.
Queluz: Alda, 1998. v. 1. 175ps.
ZIKAS, Dimitrius. De Plato Fdon a Imortalidade da Alma (comentrios). 1.
ed. So Paulo: Editora Cyros LTDA. 1990.
Bibliografia Consultada
BURNET, J. The Socratic Doctrine of the Soul. ProcBritAc VII (1916) p.
235ss. In: ______. Early Greek Philosophy. London, 1908.
______. Plato's Euthyphro, Apology of Socrates and Crito. Oxford, 1924.
______. Greek Philosophy I: Thales to Plato. London, 1914.
Investigaes sobre
O Agir Humano
348
______. O Despertar da Filosofia Grega. [Trad. Mauro Gama]. So Paulo:
Siciliano, 1994.
CASERTANO, Giovanni. Paradigmas da Verdade em Plato. So Paulo.
Edies Loyola. 2007.
CASSIRER, E. Linguagem e mito. So Paulo: Perspectiva, 2000.
GOBRY, Ivan. Vocabulrio Grego da Filosofia. [Trad. Ivone C. Benedetti;
rev. tc. Jacira de Freitas, caracteres gregos e transliterao do grego Zelia
de Almeida Cardoso]. So Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.
HACKFORTH, R. Plato's Theism. CQ XXX (1936)
______. Plato's Cosmogony (Timaeus 27D ff.). CQ n.s. IX (1959) p. 17-
22.
______. Immortality in Plato's Symposium. CR LXIV (1959) p. 43-45.
______. Moral Evil and Ignorance in Plato's Ethics. CQ XL (1946) p.
118-120.
______. The Modification of Plan in Plato's Republic. CQ VII (1913) p.
265-272.
______. Plato's Phaedrus. Cambridge, 1952.
______. Plato's Examination of Pleasure. Cambridge, 1945.
______. A revoluo da escrita na Grcia. So Paulo: Unesp, 1994.
JAEGER, Werner Wilhelm. Paidia: a formao do homem grego. [Trad. Artur
M. Parreira. Adaptao para a ed. brasileira. Monica Stahel; rev. texto
grego Gilson Csar Cardoso de Souza]. 3. ed. So Paulo: Martins Fontes,
1994.
______. Aristotle. [Trad. R. Robinson]. Oxford, 1948.
______. A new Greek word in Plato's Republic. Eranos XLIV (1946) p.
123-130.
Investigaes sobre
O Agir Humano
349
______. Paideia: The Ideals of Greek Culture. [Trad. G. Highet]. Oxford,
1939.
______. La teologa de los primeros filsofos griegos. Bogot: Fondo de Cultura
Econmica, 1997.
LARTIOS, Digenes. Vidas e Doutrinas dos Filsofos Ilustres. [Trad. do
grego, introduo e notas Mrio da Gama Kury]. 2. ed. Braslia: Editora
Universidade de Braslia, 1977.
LUPER, Steven. A filosofia da morte. [trad. Ceclia Bonamine]. So Paulo:
Madras, 2010.
OS PR-SOCRTICOS. Fragmentos, doxografia e comentrios. (Seleo de
texto e superviso de Jos Cavalcante de Souza; dados biogrficos
Remberto Francisco Kuhnen). [Trad. Jos Cavalcante de Souza, Anna Lia
Amaral de Almeida Prado] 4. ed. So Paulo: Nova Cultural, 1989.
PLATO. Lisis. [Introd., verso e notas de Francisco de Oliveira].
Braslia: Ed. Universidade de Braslia, 1995.
______. O Banquete. [Trad. Sampaio Marinho]. Mira-Sintra. Europa-
amrica, 1977.
______. A Repblica. [Trad. Maria Helena da Rocha Pereira]. Lisboa:
Calouste Gulpenkian, 1993.
______. A Repblica. Livro VII (Comentrio Bernard Piettre. Prefcio
Pierre Aubenque). [Trad. Elza Moreira Marcelina]. 2. ed. Braslia: Editora
Universidade de Braslia, 1996.
_______. A Repblica. [Trad. Carlos Alberto Nunes]. Belm: EDUFPA,
2001c.
______. A Repblica. [Trad. Ana Lia Amaral de Almeida Prado[. So
Paulo: Martins Fontes, 2006.
______. A Repblica. [Trad. Enrico Corvisieri]. Rio de Janeiro: Nova
Cultural, 1996.
Investigaes sobre
O Agir Humano
350
______. Republic 10. [Translation and commentary de S. Halliwell].
Warminster: Aris & Phillips, 1988.
______. Fedro. Cartas. O primeiro Alcebades. [Trad. Carlos Alberto Nunes].
Universidade Federal do Par, 1982.
______. Fedro. [Trad. e notas de Pinharanda Gomes]. Lisboa: Guimares
Editores, 1994a.
______. Parmnides. (Texto estabelecido e Anotado por John Brunet).
[Trad. Mauro Iglesias e Fernando Rodrigues]. So Paulo: Ed. PUC-Rio
Loyola, 2003.
______. Parmnides. [Trad. e notas Maura Iglesias]. So Paulo: Loyola,
2003.
______.Timeu Crtias O Segundo Alcibades Hpias Menor. [Trad. Carlos
Alberto Nunes]. 3. ed. rev. Belm: EDIUFPA, 2001.
______. Mnon. (Texto bilngue estabelecido e anotado por Jonh Burnet).
[Trad. Maura Iglesias]. Rio de Janeiro: Ed. Loyola, 2001.
______. Mnon. [Trad. e notas Maura Iglesias]. So Paulo: Loyola, 2001b.
PLATOS PHEADO. Translate. R. Hackforth, F.B.A. Cambridge
University Press. New York, 1995.
ROGUE, Christrophe. Compreender Plato. [Trad. Jaime A. Clasen].
Petrpolis, RJ: Ed. Vozes, 2005.
______. Compreender Plato. [trad. Jaime A. Clasen]. Petrpolis/RJ: Vozes,
2005.
SANTOS, Jos Gabriel Trindade. Plato: A construo do Conhecimento, So
Paulo: Paulus, 2012.
______. Para ler Plato: A ontoepistemologia dos dilogos socrticos.
Tomo I. So Paulo: Loyola, 2008.
Investigaes sobre
O Agir Humano
351
______. Para ler Plato: O problema do saber nos dilogos sobre a teoria
das formas. Tomo II. So Paulo: Loyola, 2008.
______. Para ler Plato: Alma, cidade, cosmo. Tomo III. So Paulo: Loyola,
2008.
WATANABE, Lygia Arajo. Plato Por Mitos e Hipteses: Um convite
Leitura dos Dilogos. So Paulo: Editora Moderna, 2006.
14
A NATUREZA DA ALMA E A CAUSA DAS DOENAS
ANMICAS: UMA INTRODUO SOBRE O
SIGNIFICADO DA MORTE EM LUCRCIO
Antnio Jlio Garcia Freire
1
1. INTRODUO.
Exceto pela sua nica obra conhecida, o De rerum natura
(Da Natureza), poema filosfico composto por seis Livros,
pouco se sabe acerca da vida de Lucrcio, a no ser que o lugar de
seu nascimento se deu provavelmente em Roma, vivendo ali at a
sua morte, por volta do ano 55 a.C. A lenda da sua loucura e
suicdio foi amplamente explorada pelo cristianismo posterior,
sendo propagada por So Jernimo como a prova do triste fim a
que se chega um epicurista (ONFRAY, 2008, p. 249). Essa viso
distorcida do poeta contestada at mesmo pelos seus
contemporneos: Ccero, em uma de suas Cartas ao irmo, Quinto,
diz que a poesia de Lucrcio mostrava muitos lampejos de gnio e
de artista
2
, um conceito de arte muito prximo do sentido
expressado pela techn grega.
O poeta e filsofo romano foi um discpulo tardio do grego
Epicuro, nascido nos fins do sculo IV a.C. Uma das doutrinas
epicuristas tinha como fundamento um conjunto de quatro
mximas, chamadas de tetraphrmakon, as quais consistiam em uma
1
Professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
UERN (E-mail: antoniojulio@uern.br).
2
Multis luminibus ingeni, multae tamen artis (CICERO, Letters,
translated by E. S. Shuckburgh. Vol. IX, Part 3. The Harvard Classics. New York:
P.F. Collier & Son, 2001).
Investigaes sobre
O Agir Humano
354
terapia para as doenas da alma. Dessas mximas, uma tratada
amide por Lucrcio: a morte nada significa para o sbio, uma vez
que est alm do domnio do sensvel (SILVA, 2003, p. 81). Alm
disso, no De rerum natura, Lucrcio expe os principais pontos da
filosofia epicrea, principalmente os princpios constituintes e de
realizao da natureza (phsis), a teoria das sensaes e do
movimento dos mundos microscpico e macroscpico.
Apesar de enfatizar o papel da natureza como fundamento
de tudo o que existe, o De rerum natura uma obra tica: somente
atravs do estudo da phsis (ou a physiologa) e de seus princpios
constituintes (os tomos e o vazio), alm da cintica subjacente s
partculas, possvel ao sbio afastar os medos insensatos que
impedem o prazer e o exerccio da filosofia. Um desses temores,
o medo infundado da morte, uma vez que objetivamente para um
epicurista, ela nada significa. Para Lucrcio, justamente o temor
da morte que alimenta o apego riqueza e ambio de poder
cujas consequncias se refletem nas doenas anmicas.
Por outro lado, a obra de Lucrcio enceta algumas
dificuldades de anlise, as quais, julgamos prudente antecipar. Em
primeiro lugar, o poema faz referncias muito estreitas ao Peri
Phseos de Epicuro, um tratado monumental em 37 volumes, dos
quais sobreviveram alguns poucos fragmentos encontrados na Vila
dos Papiros, em Herculano
3
. Diante do estado fragmentrio dessa
fonte, sero utilizados como apoio s passagens transcritas de
Lucrcio, os principais termos encontrados na Carta a Herdoto
relacionados temtica central desta pesquisa, uma epstola
transcrita na obra Vidas e Doutrinas de Filsofos Ilustres de Digenes
3
A Vila dos Papiros ou Villa dei Papiri foi a biblioteca da residncia de
um epicurista rico que viveu na antiga cidade italiana de Herculano, atualmente o
municpio de Ercolano, prximo a Npoles. A antiga Herculaneum, situada na
regio da Campnia, ficou conhecida pelo seu excelente estado de conservao,
juntamente com parte de seus habitantes, aps ter sido soterrada pela cinzas da
erupo do vulco Vesvio em 79 d.C.
Investigaes sobre
O Agir Humano
355
Larcio, doxgrafo grego que viveu no sculo II ou III a.C. (a
poca exata em que viveu incerta). Em segundo lugar, um outro
tipo de limitao exposto pelo prprio Lucrcio, quando lamenta
a dificuldade em expor o pensamento grego na sua lngua materna,
o latim
4
. Importante ressaltar que a longa tradio filosfica dos
helenos permitiu o desenvolvimento da lngua grega sob bases
abstratas, conservando um terreno frtil para a especulao
filosfica atravs da sua flexibilidade e poder de expresso.
O objetivo deste artigo expor algumas questes
levantadas por Lucrcio sobre a relao entre a natureza e a sade
da alma, alm de algumas consequncias ticas sobre o problema
da morte.
2. A NATUREZA DA ALMA EM LUCRCIO.
Para os epicuristas, e especialmente para Epicuro, o
fundamento de uma alma sadia estava intimamente ligado a sua
imperturbabilidade (ataraxa). Tal estado era a condio de uma
existncia feliz (makrios zn)
5
, sendo ento princpio e a prpria
realizao da vida. Por outro lado, os temores e medos infundados,
causas da angstia e do desespero do homem insensato, tinham
como origem os terrores imputados principalmente pela
superstio religiosa, alm de um modo de vida em desacordo com
a simplicidade da prpria natureza (kta phsin). Tal era a causa das
doenas anmicas, as quais na antiguidade clssica, eram to
diversas como a melancolia ou a ira. Para alcanar a ataraxa e
4
E tambm no ignoro que bem difcil explicar em versos latinos as
obscuras descobertas dos gregos, sobretudo porque se faz mister empregar
palavras novas, dada a pobreza da lngua e a novidade do assunto (LUCRCIO,
I, 136-137).
5
DL, X, 128.
Investigaes sobre
O Agir Humano
356
consequentemente a makrios zen, era necessrio regular a conduta e
as paixes, levar a alma a um processo de boas escolhas, recusando
as vs opinies (kenn doxai) e os desejos desnecessrios (SILVA,
2003, p. 85-87).
Voltando a Lucrcio, no Livro III que o poeta vai
apresentar os argumentos relacionados sade da alma, alm de
afirmar o quanto a morte insignificante para o homem sbio. O
Terceiro Livro trata ainda dos temores infundados da morte e
como esses medos so, algumas vezes, as causas de males e doenas
anmicas e degenerescncia moral, como a ambio desmedida, a
avareza, a cobia, a ausncia de uma vida piedosa e de um cultivo
amizade.
Nesse sentido, ser importante examinar a constituio da
prpria alma no pensamento epicurista, e como esta se articula
com os conceitos subjacentes a este artigo. A noo de alma (psych)
entre os epicuristas faz parte da concepo de uma filosofia da
natureza que remonta embora com algumas diferenas ao
antigo atomismo de Leucipo e Demcrito, para os quais, a
realidade isto , o todo era formada por apenas dois
constituintes: os corpos indivisveis (os tomos, inacessveis
experincia) e o vazio (REALE, 1990, p. 242-243). Todos os corpos
sensveis so formados a partir desses dois componentes essenciais,
constituindo-se em um tipo de agregado (athrosma) corpreo e
atmico, cujas partes, imperceptveis e acessveis somente pelo
pensamento, estariam em um movimento contnuo. O choque dos
tomos que formam os mundos e os corpos, alm de tudo o que
pode ser percebido ou intudo
6
.
6
A filosofia da natureza em Epicuro e Lucrcio pode ser definida como
um imanentismo. Isso significa que a totalidade do que existe ou pode ser
nomeado formada a partir desses dois elementos bsicos, os tomos e o vazio.
Nesse caso, at mesmo o pensamento e outras faculdades anmicas podem ser
reduzidas a esses constituintes. A diferena ser de aspectos meramente
Investigaes sobre
O Agir Humano
357
Nesse todo universal, a alma tambm um corpo (um
corpo-alma), e como todos os outros, um agregado de tomos
muito sutis, os quais guardam certas caractersticas como o calor, o
sopro (pneuma) e o ar, analogias retiradas da experincia: os seres
vivos respiram e exalam um ar morno, sendo uma das evidncias da
sua vitalidade. Para Lucrcio, a concepo de alma tripartida:
divide-se entre uma parte racional, o esprito (animus), e uma parte
irracional (anima)
7
. O animus responsvel pelas operaes
intelectuais, pelo raciocnio, enquanto que a anima encontra-se
disseminada por todo o corpo dos seres vivos (o corpo-carne). Mas
segundo Lucrcio, o sopro, o calor e o ar so insuficientes para
criar por si mesmos a sensibilidade. Dessa forma, necessrio que
exista uma outra parte, um elemento sem nome (akatnomaston)
8
,
uma quarta natura
9
. Trata-se de um elemento muito tnue e
extremamente mvel e que no tem qualquer equivalente no
mundo sensvel, e por este motivo, no possvel nome-lo
10
. De
fato, a fora no-nomeada deve ter uma composio bastante sutil
e ser capaz de uma extrema mobilidade, para que possa transmitir
as sensaes ao esprito e o movimento ao corpo, uma vez que as
outras trs substncias no manifestam esta capacidade.
Finalmente, como corolrio das afirmaes anteriores, o corpo-
alma enquanto um agregado corpreo, no eterno, sendo
portanto, mortal.
Por outro lado, a noo de alma enceta algumas
dificuldades. Para os gregos do perodo clssico, o termo vai
adquirir uma gama de significados bastante variada. A alma pode
qualitativos: os tomos da alma tem uma constituio muito mais sutil e tnue do
que os elementos de um corpo sensvel.
7
Em Epicuro tais partes foram nomeadas de t lgikon e alogon,
respectivamente. Cf. Digenes Lartios, Vida e Doutrina dos Filsofos Ilustres, X, 66.
8
DL, X, 63.
9
LUCRCIO. De rerum natura, III, v. 243.
10
Omnino nominis expers (idem, III, v. 244).
Investigaes sobre
O Agir Humano
358
ser entendida como um conjunto de funes vitais pertencentes a
qualquer ser vivo, ou ainda, uma fora intelectual que habita o
corpo-carne, responsvel pelas faculdades superiores (o
pensamento, o raciocnio, a memria) alm de se referir s funes
corporais e s sensaes. Ao estabelecer essa diviso, Lucrcio est
situando a alma entre esses dois aspectos funcionais. Nesse sentido,
aproxima-se da posio estoica, que em seu sentido estrito,
compreendia a alma como funo vital nos animais, um princpio
ativo do mundo, ou ainda, um excerto da alma csmica (REALE,
1990, p. 260).
Embora de natureza atmica, o esprito (animus) se
distingue funcionalmente da anima, j que responsvel pelas
operaes intelectuais e as decises racionais. Tendo caractersticas
corpreas, faz parte do ser vivo tanto quanto os membros e outros
rgos do corpo. Os tomos do animus e da anima esto ligados
entre si
11
embora as partculas do esprito sejam menores e mais
redondos, o que so em ltima anlise, a causa da sua grande
velocidade. Ainda assim, fazem parte de uma mesma natureza
anmica
12
.
Os temores so sentimentos comparveis s afeces
13
,
com sede no esprito, ocupando um lugar determinado no corpo, o
meio do peito
14
. O rgo que expressa com mais exatido esse
lugar, sem dvida, o corao. Dessa localizao privilegiada,
possvel afirmar que o esprito, alm da sua funo intelectiva, atua
como princpio vital dos seres. O animus ainda remete mente
(mens, mentis), no sentido de que o locus do pensamento e tambm
11
Animum atque animam dico conjuncta teneri (LUCRCIO. De
rerum natura, III, v. 137).
12
Unam naturam conficere ex se (idem, III, v. 138).
13
O termo empregado aqui no sentido de tudo aquilo que possa afetar
o corpo ou a alma.
14
Situm media regione in pectoris hret (LUCRCIO. De rerum
natura, III, v. 141).
Investigaes sobre
O Agir Humano
359
da emoo. Dessa forma, sentimentos como o sofrimento e a
alegria nascem do esprito (LUCRCIO, III, 142). Sendo o animus
mente e pensamento, uma das suas caractersticas justamente a
capacidade de raciocnio e da reflexo
15
.
A anima est subordinada ao esprito e entre as suas funes
bsicas, est a transmisso dos impulsos ao corpo. Tais impulsos se
prolongam atravs dos membros e rgos, os quais por sua vez,
interagem com o esprito por meio da anima. Do ponto de vista de
uma analogia moderna, pode-se afirmar que o esprito e a anima,
respectivamente, cumprem as funes que a fisiologia atribuiu aos
papis do crebro e do sistema nervoso nos seres vivos (LONG e
SEDLEY, 1987, p. 71). Subjacente ao aspecto funcional, possvel
ainda identificar na descrio de Lucrcio, o esboo de uma teoria
da identidade da mente quando insiste na relao com uma parte
fsica do corpo.
3. A RELAO ENTRE O CORPO-ALMA E O CORPO-
CARNE: A TOTALIDADE DO AGREGADO CORPREO.
Baseado nessa identificao ou relao corpo-alma e corpo-
carne, que Lucrcio vai demonstrar a natureza corprea do
esprito e da alma. No incio do seu argumento, diz o poeta:
quando a vemos [a alma] impelir os membros,
arrebatar o corpo ao sono, demudar o rosto, reger e
dirigir todo o corpo, como nada disto se pode fazer sem
contato e como no h contato sem corpo, no verdade
que se tem de aceitar que o esprito e a alma so de
15
Sed caput esse quasi, et dominari in corpore toto; Consilium, quod
nos animum mentemque vocamus (LUCRCIO. De rerum natura, III, vv. 139-
140).
Investigaes sobre
O Agir Humano
360
natureza corprea?. (LUCRCIO. Da natureza, III, 162-
166).
H portanto, uma influncia do espirito e da alma sobre o
corpo, e deste, sobre o esprito e a alma. No primeiro caso, o
exemplo a partir de um corpo sendo penetrado por um dardo,
destruindo os ossos e os nervos (LUCRCIO, III, 170-174). A vida
no imediatamente suprimida, mas antes, se produz um
desfalecimento, uma doce queda ao cho; uma perturbao ou
abalo do esprito, aliada a uma vaga vontade de levantar-se. Para
que sinta a dor do choques de tais dardos, argumenta Lucrcio,
necessrio que o esprito seja de fato, corpreo (LUCRCIO, III,
175-176).
Quanto a sua constituio, o esprito (animus) sutil e
formado por elementos extremamente pequenos, lisos e
redondos
16
. Prova disso, a caracterstica cintica do esprito, a
saber, a sua extrema mobilidade. Vejamos essa passagem em mais
detalhe:
Continuarei agora expondo-te de que matria formado
este esprito e donde veio ele. Primeiro, digo que
perfeitamente sutil e constitudo de elementos diminutos.
Para que possas saber que isto assim, basta que atentes
neste ponto. Parece que nada sucede de maneira mais
rpida do que aquilo que o esprito a si mesmo prope e
por si mesmo comea. O esprito, portanto, move-se,
segundo parece, com maior celeridade do que qualquer
corpo visvel a nossos olhos. Mas o que to mvel deve
compor-se de corpos extremamente redondos e
extremamente diminutos, de modo a poderem deslocar-
16
Principio esse aio persubtilem, atque minutis, perquam corporibus
factum constare (LUCRCIO. De rerum natura, III, v. 180-181).
Investigaes sobre
O Agir Humano
361
se ao mais pequeno impulso que os abale. (LUCRCIO.
Da natureza, III, 180-188)
Como j foi visto, o esprito composto de trs elementos
misturados: o calor, o ar (ou o vento) e o sopro (isto , o ar
proveniente da respirao). Essa trplice natureza, no entanto, no
suficiente para criar a sensibilidade
17
. Introduz ento, um quarto
elemento, uma certa fora sem nome
18
, formada por poucos e
raros elementos. Tal fora a prpria alma de toda alma
19
,
conforme a passagem transcrita a seguir: Esta quarta substncia
encontra-se dissimulada, escondida, dentro de ns; nada est to
intimamente dentro de ns quanto ela; constitui-se assim, a alma de
nossa alma. (LUCRCIO, III, vv. 274-276)
Tal mistura consiste em partes justapostas de calor, do ar,
do sopro e da quarta natura. Os tomos individuais das quatro
substncias so separados e recombinados em um tipo inteiramente
novo, constituindo-se num conjunto maior do que a soma de suas
partes. No entanto, a alma ainda vai manifestar determinadas
propriedades de suas caractersticas individuais.
Dessa maneira, o calor do esprito explicaria o calor
corporal, caracterstica da vida. Quando predomina no esprito o
calor em excesso, sobrevm a ira. O vento frio, por seu turno,
quando presente em excesso, causa calafrios nos membros, medo e
temor. O termo grego usado para sopro (pneuma) foi tambm
utilizado pelos estoicos no sentido de ar morno, isto , o ar
resultante da respirao. Essa mistura de ar e calor tem em sua
constituio os mesmos tomos do vento, mas com um padro
diferente de mobilidade (um ar calmo). Por ter uma cintica em
17
Nec tamen hc sat sunt ad sensum cuncta creandum (idem, III, v.
239).
18
Omnino nominis expers (LUCRCIO. De rerum natura, III, v. 243).
19
Atque anima est anim proporro totius ipsa (idem, III, v. 276).
Investigaes sobre
O Agir Humano
362
que predomina a baixa velocidade das partculas, uma das causas
para a serenidade do corpo. Quando predominante, o ar morno
contribui para a tranquilidade do carter (LONG e SEDLEY, 1987,
p. 71).
4. AS DOENAS ANMICAS E A SADE DA ALMA
ENQUANTO TLOS: A MORTE NO NADA PARA O
SBIO.
Uma vez que tenhamos examinado do que se compe a
natureza da alma, convm anunciar uma das proposies mais
importantes da filosofia epicurista: sendo a alma cor prea, no sobrevive
morte do corpo. As implicaes ticas dessa doutrina tm a jusante,
relao estreita com a concepo de morte. Tal concluso apoiada
em duas teses, j tratadas sumariamente, mas que ser importante
retom-las: a primeira proposio de que a alma corprea, um
corpo dentro do corpo. A alma (...) princpio corporal unificador
do corpo, isto , a alma um corpo que se move no seio do
agregado corpreo (SILVA, 2003, p. 63). Deve-se ressaltar ainda
que em grande parte da filosofia antiga, a incorporeidade da alma
era considerada uma condio determinante para sua
independncia em relao ao corpo. Como pode-se perceber, no
esta a concepo epicurista. Com efeito, o fato de que a alma tem a
capacidade de interagir com o corpo e de ser afetada por ele, o
que explica tal natureza.
A segunda tese, e que nos ajudar a apoiar os argumentos
morais sobre a morte, a da interdependncia entre alma e corpo,
sendo que a primeira atua como um mediador, transformando as
sensaes (astheseis) vindas do exterior (isto , do mundo) em
sentimentos, memria, pensamento e suas projees (SILVA, 2003,
p. 62). A sensao tem, portanto, uma funo tica, situada na
Investigaes sobre
O Agir Humano
363
esfera da responsabilidade. No entanto, o corpo que permite o
exerccio da responsabilidade empregada aqui como um conceito
que exprime uma resposta s aes ou dito de outro modo, o
corpo que oferece um lugar apropriado para a ao que tem origem
na alma.
Assim como o corpo pode sofrer, a alma, tomada em seu
sentido conjunto (anima e animus), tambm est sujeita a doenas.
Lucrcio nomeia trs doenas anmicas fundamentais: a
intranquilidade (curas), a dor ou a aflio (luctus) e o temor (metus).
Este ltimo, considerando o temor da morte, seria a causa de vrios
desvios morais. Para que a alma possa livrar-se de tal temor, faz-se
necessria uma investigao da prpria natureza, livre das
explicaes fantasiosas e terrveis propagadas pela superstio e
pela religio. Trata-se assim, de uma autntica terapia da alma, em
que o desconhecido pode ser desvelado e compreendido em toda a
sua plenitude, sem a necessidade de recorrer a argumentos
baseados no castigo, na culpa e no sacrifcio a deuses e entidades
no-naturais. Uma vez que se pudesse compreender a natureza da
alma, percebendo a sua constituio material, entendendo a sua
finitude e o processo inerente de dissoluo dos tomos, no
haveria motivo para temer a morte.
A morte como a completa extino de uma combinao
temporria de partculas atmicas, talvez, a concluso mais
importante quando falamos da anlise epicurista da alma. Como
corolrio moral, Lucrcio afirma que no se deve, em nome de vs
supersties, deixar o medo da morte arruinar nossas vidas, j que
o objetivo do homem desfrutar de uma vida feliz (makrios zen).
Esta , ousamos dizer, o ponto cardinal da doutrina na tica
epicrea.
A doena do corpo real, porque as agresses so externas,
materiais e podem ser identificadas atravs dos seus agentes, tais
como a bebida ou o alimento em excesso. Portanto, existem
Investigaes sobre
O Agir Humano
364
relaes patolgicas entre os agentes e o sujeito. No caso da alma,
as agresses no so propriamente reais. Os temores isto , os
agentes agressores no tem uma existncia legtima,
especialmente o medo da morte. Dito de outro modo, o temor no
tem objeto. O temor da morte ilegtimo porque vazio de toda
sensao correspondente, existe apenas no mbito da imaginao
(cogitatio). Na filosofia epicurista, no h a necessidade de criar
medos, como se fosse a funo auxiliar e desviante de um
tratamento psicolgico. A funo do temor no positiva. Diz-se,
vazio de sentido e sensao, sendo dessa forma, um anti-prazer.
Atravs da filosofia possvel instaurar a sade da alma,
substituindo o temor, pelo conhecimento da Natureza, atravs do
primado das sensaes. E a causa das sensaes um objeto real,
no um falso-objeto, como a morte e o castigo.
O pharmakon para as doenas da alma, consiste em fazer
com que o sbio se desfaa desses pseudo-objetos, objetos de
medo e temor. Isso acontece, atendo-se a princpios como a
materialidade dos fenmenos e da prpria alma. A filosofia no a
vida feliz, mas um modo de reflexo, um saber para a vida,
fundado na compreenso da phsis, que se realiza enquanto phrnesis,
isto , um modo de ser prprio da sabedoria (SILVA, 2003, p. 97).
Dessa maneira, o remdio filosfico situa-se na esfera do
pensamento, opondo-se s vs opinies.
O poeta diz: A morte, portanto, nada para ns e em nada
nos toca, visto ser mortal a substncia do esprito (LUCRCIO,
III, 830). E continua:
Tambm, se o tempo depois de morrermos juntar toda a
nossa matria e de novo a dispuser onde agora est
situada e outra vez nos for dada a luz da vida, nada nos
importar o que se tiver feito, visto que foi interrompido
uma vez o curso da nossa memria. Agora nada nos
Investigaes sobre
O Agir Humano
365
importa o que fomos, nem nos afeta por isso qualquer
angstia. (LUCRCIO, III, vv. 846-854).
Pensar a no-existncia ou aquele que ainda no nasceu,
tambm no deveria ser motivo de temor e angstia: a morte no
to pior do que o fato de ainda no ter nascido. Passado e futuro
seriam instncias que teriam caractersticas semelhantes ou uma
espcie de isometria, embora no necessariamente iguais. Isto tem
implicaes psicolgicas poderosas, as quais nos parecem
interessantes, sob o ponto de vista da anlise contempornea do
discurso lucreciano.
O medo da morte irracional porque baseado em
proposies contrrias natureza da alma e da prpria constituio
da phsis. Para Lucrcio e toda a tradio epicrea, o medo de um
inferno aps a morte na verdade, o medo projetado a partir dos
terrores morais pessoais, adquiridos nesta vida e que so a causa
das doenas anmicas. De fato, mais da metade do Livro III
utilizado por Lucrcio para demonstrar a mortalidade da alma,
refutar as teses de uma vida anterior e da metempsicose. Atravs da
sua poesia, utiliza uma espcie de prosopopeia da Natureza, ao lhe
dar voz, na seguinte passagem:
Enxuga as lgrimas, mortal, e cessa tuas lamentaes.
Esgotaste todas as alegrias da vida antes da velhice. Mas,
como desejastes sempre o que no tens, desprezando o
presente, a tua vida decorreu incompleta e sem alegria e,
de sbito, chegou-te a morte cabeceira, sem tu a
esperares, antes de te poderes ir, contente e saciado de
todas as coisas. Mas agora, deixa todos esses bens, e cede
lugar a outros: eis o que necessrio. (LUCRCIO, III,
vv. 955-965)
Viver a vida corretamente, segundo o princpio de uma
Investigaes sobre
O Agir Humano
366
makarios zen, um treino para a morte. Para Lucrcio, a dissipao da
alma e do corpo que advm com a morte, a dissoluo atmica de
ambos, no tem implicaes morais positivas, ou seja, a morte no
considerada um avano intelectual. Para a tradio epicrea,
morrer bem o pice de uma boa vida, entendida como uma
existncia pautada pelo equilbrio dos desejos e dos prazeres, que
favorece a tranquilidade da alma. Neste sentido, para o sbio, tudo
o que realiza a vida enquanto prazer e favorea o equilbrio no agir
em relao s coisas do mundo (SILVA, 2003, p. 97), deve ser
valorizado.
5. CONCLUSO.
No epicurismo a morte no pode ser considerada um mal.
Lucrcio estabelece essa premissa basilar no seu pensamento, uma
vez que o homem, sendo um agregado corpreo de corpo-alma e
corpo-carne, perde a sua identidade pelo aniquilamento. Ao fim da
sua vida, restam apenas tomos dispersos no vazio: partculas mais
leves (da alma) e mais pesadas (do corpo), que so o resultado da
desagregao desse composto humano. Ao fim, cessa a
sensibilidade e a conscincia, e dessa forma, no possvel nem
mesmo falar de um antes e um depois da vida.
Investigaes sobre
O Agir Humano
367
REFERNCIAS
CICERO. Letters. Trad E. S. Shuckburgh. Vol. IX, Part 3, The
Harvard Classics. New York: P.F. Collier & Son, 2001.
(DL) LARTIOS, Digenes. Vidas e Doutrinas dos Filsofos Ilustres.
Traduo de Mrio da Gama Kury. 2a. ed., reimpresso. Braslia:
Editora Universidade de Braslia, 2008.
LONG, Antony. A. e SEDLEY, David. N. The Hellenistic philosophers.
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
LUCRCE. De la Nature (De rerum natura). Paris: Garnier, 1954.
LUCRCIO. Da Natureza. Antologia de textos in Epicuro, Lucrcio,
Sneca e Marco Aurlio, So Paulo: Abril Cultural, 1988.
ONFRAY, Michel. Contra-histria da filosofia: as sabedorias antigas, I.
Trad. Mnica Stahel. So Paulo: Martins Fontes, 2008.
ANTISERI, Dario e REALE, Giovanni. Histria da Filosofia:
Antiguidade e Idade Mdia. So Paulo: Paulus, 1990.
SEDLEY, David. N. Lucretius and the transformation of greek wisdom.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
SILVA, Markus. F. Epicuro: sabedoria e jardim. Rio de Janeiro: Relume
Dumar, 2003.
15
NIETZSCHE: O TRGICO COMO AFIRMAO DA VIDA
Lindoaldo Vieira Campos Jnior
1
Marcos de Camargo Von Zuben
2
Abreviaturas utilizadas
ABM Alm do bem e do mal preldio de uma filosofia do porvir
CI Crepsculo dos dolos ou como se filosofa com o martelo
EH Ecce homo: como algum se torna o que
FF Fragmentos finais
FT A filosofia na idade trgica dos gregos
GC A gaia cincia
GM Genealogia da moral uma polmica
HDH Humano, demasiado humano um livro para espritos livres
NT O nascimento da tragdia ou helenismo e pessimismo
SA Sabedoria para depois de amanh
TA/NT Tentativa de autocrtica
VD A viso dionisaca do mundo
ZA Assim falou Zaratustra um livro para todos e para ningum
1
Licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte/UERN, mestre em filosofia pelo Programa de Ps-Graduao em
Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN (E-mail:
lindoaldo.campos@mpt.gov.br). Apoio FAPERN/Governo do Estado do Rio
Grande do Norte/CNPq.
2
Doutor em filosofia, professor do departamento de filosofia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN. Coordenador do
Programa de Ps-Graduao em Cincias Sociais e Humanas/UERN (E-mail:
zuben@uol.com.br). Apoio FAPERN/Governo do Estado do Rio Grande do
Norte/CNPq.
Investigaes sobre
O Agir Humano
370
1. INTRODUO.
Inserida no mbito daquilo que Nietzsche denomina de uma
sabedoria dionisaca, a noo de trgico permeia todo o pensamento de
Nietzsche, havendo-se assinalado, inclusive, que
...o dionisaco no apenas o conceito que guia a sua
filosofia trgica, mas talvez o nico conceito
nietzschiano que percorre toda a sua obra, podendo ser
encontrado desde a sua origem, em O nascimento da
tragdia, at os fragmentos do ltimo perodo de sua vida.
(BRUM, 1998, p. 73)
bem isto, alis, o que o prprio Nietzsche assinala, quanto
concepo de Aurora e Humano, demasiado humano, em um
fragmento pstumo (FF, 41[9], p. 594):
Que eu confesse isso, portanto, com gratido: naquela
poca, quando comecei a estudar a regra ser humano,
andei encontrando e me passaram pelo caminho espritos
estranhos e nada inofensivos, entre eles at mesmo
espritos muito livres , e sobretudo um, e este sempre de
novo, nada menos que o prprio deus Dioniso: o
mestre a quem outrora eu, em anos bem mais juvenis,
havia oferendado sacrifcios repletos de inocncia e
temor.
E, em Ecce Homo sobre a Genealogia da moral:
As trs dissertaes que compem esta genealogia so,
quanto a expresso, inteno e arte da surpresa, talvez o
Investigaes sobre
O Agir Humano
371
que de mais inquietante at agora se escreveu. Dionsio,
como se sabe, tambm o deus das trevas. (EH, p. 98)
3
No h que se negar, portanto, a existncia de um nexo
subterrneo
4
entre O nascimento da tragdia e Assim falou Zaratustra,
nexo este que espouca, aqui e ali, com mais ou menos virulncia,
nos demais perodos do pensamento de Nietzsche.
Neste itinerrio, o trgico sofre diversas e profundas
variaes: vinculado, num primeiro momento (O nascimento da
tragdia) concepo de uma metafsica de artista (de vis
schopenhaueriano), a partir sobretudo de Assim falou Zaratustra
Nietzsche passa a compreender esta noo como elemento
substancial de sua crtica moral crist e da fundao de uma
perspectiva tica de afirmao da vida em que, desvencilhado da
culpa e do ressentimento, o homem possa, enfim, autossuperar-se e
promover a construo artstica de si mesmo
5
.
Neste sentido, Nietzsche se contrape s interpretaes
clssicas sobre o trgico que o concebem, em suma, estreitamente
vinculado a uma concepo fatalista e determinista da existncia
6
3
Estas referncias parecem bastar para desautorizar a assertiva de Nuno
Nabais, segundo a qual, aps O nascimento da tragdia, o tema da tragdia
desaparece por completo dos seus textos [de Nietzsche] (NABAIS, 1997, p. 11).
4
A expresso de Giorgio Colli (2000, p. 89).
5
De se ver, p. ex., que, em Humano, demasiado humano, Nietzsche chega a
dizer que Plato talvez tivesse razo em pensar que a tragdia nos torna mais
medrosos e sentimentais (HDH, 212), quando, em Alm de bem e mal, ensinar a
dureza contra si e venerao diante de todo rigor e dureza (ABM, 260).
6
A exemplo de Schelling, quando, a respeito da tragdia dipo Rei, de
Sfocles, termina por acentuar: Muitas vezes se perguntou como a razo grega
podia suportar as contradies de sua tragdia. Um mortal, destinado pela
fatalidade a ser um criminoso, lutando contra a fatalidade e, no entanto,
terrivelmente castigado pelo crime que foi obra do destino [...] O fato de o
criminoso ser punido, apesar de ter to-somente sucumbido ao poder superior do
destino, era um reconhecimento da liberdade humana, uma honra concedida
liberdade. A tragdia grega honrava a liberdade humana ao fazer seu heri lutar
contra o poder superior do destino [...] (Cartas sobre dogmatismo e criticismo, vol. 3,
Investigaes sobre
O Agir Humano
372
para pens-lo como positividade, vinculando-o consagrao da
vida em sua inteireza ao sentimento de leveza que arrima a atividade
do artista-criador, o que remete hiptese principal deste texto, que
consiste na concepo de que a tica nietzscheana, como afirmao
trgica da vida, vincula-se a uma nova relao com o tempo e com a
temporalidade, que se manifesta sobretudo atravs da perspectiva
do eterno retorno e da noo esttica da existncia, compreendida
como o eterno trabalho de criao de si.
Dadas, assim, a importncia que a noo de trgico possui e
as diversas e profundas implicaes que dela ressaem no (e para o)
pensamento de Nietzsche, o objetivo deste texto consiste em
acompanhar este filsofo-andarilho em seu percurso reflexivo sobre
este tema, no para reter uma constante a partir da qual fosse
possvel inferir uma sistematicidade em seu pensamento [uma tal
perspectiva seria facilmente desautorizada por suas prprias
palavras: a vontade de sistema uma falta de retido (CI, 22)],
seno para trazer baila elementos necessrios (embora, evidncia,
insuficientes) iluminao das veredas em que se encontram
algumas das principais questes (a) que seu pensamento (nos)
expe.
2. O TRGICO E A METAFSICA DE ARTISTA.
J se observou que com Aristteles tem incio uma potica da
tragdia e, em Nietzsche, encontra-se o pice de uma anlise que se
p. 81 e ss.. apud SZONDI, 2005, p. 29). Tambm assim Hegel, quando assinala:
A tragdia consiste nisto: a natureza tica, a fim de no se misturar com sua
natureza inorgnica, separa-se de si mesma como um destino e se coloca frente a
ela; e, pelo reconhecimento do destino na luta, a natureza tica reconciliada com
a essncia divina, como a unidade de ambas (Sobre as formas de tratamento cientfico
do direito natural, sua posio na filosofia prtica e sua relao com as cincias positivas do
direito, apud SZONDI, 2005, p. 37).
Investigaes sobre
O Agir Humano
373
refere, em ltima instncia, a uma interpretao ontolgica ou
metafsica do fenmeno trgico, o que se logrou denominar de uma
filosofia do trgico, iniciada com Schelling e presente j nos primeiros
escritos do filsofo do Zaratustra (Cfr. SZONDI, 2005, p. 23).
Com efeito, em 1870, Friedrich Nietzsche, ento um jovem
professor de filologia da Universidade de Basileia (Sua), escreve
um texto intitulado A viso dionisaca do mundo e profere duas
conferncias, O drama musical grego e Scrates e a tragdia, que viriam a
constituir o substrato de seu primeiro livro, O nascimento da tragdia,
originalmente publicado em 1872.
Concebido a partir do interesse demonstrado pelas prelees
de seu orientador Friedrich Ritschl e sob a influncia das ideias do
msico Richard Wagner e do filsofo Arthur Schopenhauer, O
nascimento da tragdia o centauro-primognito de Nietzsche
7
, o
rebento que o insere na polmica sobre a arte grega que ento se
trava no seio da intelectualidade alem, que postula uma
...diviso entre uma Grcia marcada pela serenidade, ou
simplicidade, caracterstica que lhe d Winckelmann, e
uma Grcia arcaica, sombria, violenta, selvagem, mstica,
exttica, como aparece bem claramente em Hlderlin.
(MACHADO, 2006, p. 215)
8
7
Consoante informa Daniel Halvy (1989, p. 69-70), em carta enviada a
Erwin Rohde em fevereiro de 1870, Nietzsche escreve: Cincia, arte e filosofia
crescem dentro de mim to estritamente ligadas que vou acabar parindo um
centauro. Esse centauro ser meu livro sobre o nascimento da tragdia.
8
Otto Maria Carpeaux assinala a diferena entre o pensamento de
Hlderlin e o convencionalismo apolneo dos classicistas alemes dos sculos
XVIII-XIX, bem como a sua apreenso por Nietzsche: [ele descobriu], para seu
uso pessoal, uma Grcia que os dois milnios da era crist tinham ignorado e da
qual no sabiam Winckelmann nem Goethe: a Grcia exultantemente dionisaca, a
Grcia misteriosamente rfica [relativa a Orfeu, poeta-smbolo do devaneio e do
canto como revelao sapiencial] [...] Nietzsche foi o primeiro moderno que
chegou a compreender Hlderlin (A literatura alem, p. 89. So Paulo: Cultrix,
1964, apud PAES, Jos Paulo. O regresso dos deuses uma introduo poesia
de Holderlin, in Hlderlin, Poemas, So Paulo: Companhia das letras, 1991, p. 12).
Investigaes sobre
O Agir Humano
374
Fundado nos conceitos de apolneo e dionisaco referidos s
noes schopenhauerianas de representao e vontade , O nascimento da
tragdia constitui um registro filolgico-filosfico contraposto
concepo de Aristteles a respeito da tragdia, sobretudo quanto a
seu efeito, a catarse (katharsis), concebida, em suma, como uma
espcie de purificao e um alvio acompanhado de prazer
(Aristteles, Poltica, Livro VIII, Cap. 7, 1341b, 32-40 e 1342a e ss..).
O questionamento da catarse aristotlica , no entanto,
apenas o mote, o ponto de partida da crtica nietzscheana; seu
principal alvo bem outro, e s se d a conhecer j nas ltimas
partes dO nascimento da tragdia: a equao socrtica razo = virtude =
felicidade. Com esta equao, diz Nietzsche, a mais bizarra equao
que existe, e que, em especial, tem contra si os instintos dos helenos
mais antigos (CI, II, 4), representa-se a iluso de poder curar [...] a
eterna ferida da existncia (NT, 18). Instaura-se, a, o moralismo na
filosofia: razo = virtude = felicidade significa to-s: preciso
imitar Scrates e instaurar, permanentemente, contra os desejos
obscuros, uma luz diurna a luz diurna da razo(CI, II, 10).
E, para perfazer a contraposio a este pensamento de
dcadence
9
, Nietzsche pe em evidncia o aspecto dionisaco da
tragdia, esclarecendo: em sua perspectiva, o apolneo e o dionisaco
so pulses artsticas que caminham juntas, no mais das vezes em
franca oposio, mas, de qualquer modo e ao fim, em um
movimento de mtuo reforo que incita criao de novas
produes. O apolneo o princpio luminoso, ordenador, que, a
partir do caos originrio, doma as foras cegas da natureza e as
9
No pensamento de Nietzsche, o termo dcadence possui sentido
especfico: significa a recusa totalidade da existncia, da vida que declina, ou
seja, de ideias e prticas (verbigratia, da cincia e da m compreenso do corpo) que
postulam a vida como algo que deve ser julgado, justificado, resgatado pela ideia,
pela razo. Veja-se, a respeito: CI, II, 2 e X, 2 e 3.
Investigaes sobre
O Agir Humano
375
submete a uma medida, dando-lhes contornos precisos e fixando,
assim, sua individualidade em caracteres distintivos e identitrios
que desde ento podem ser racionalmente apreendidos. O
dionisaco, por seu turno, diz respeito a uma experincia de
reunidade, ante o perigo extremo advindo do excesso de
individuao que pode suscitar o enfraquecimento da prpria
vontade e, portanto, a degradao, o despedaamento da prpria
vida.
Assim, se a pulso apolnea respeita ao jogo com o sonho, a
pulso dionisaca refere-se ao arrebatamento que repousa no jogo com
a embriaguez
10
, atravs do qual se torna possvel a apropriao
artstica das foras gerativas e plasmadoras da natureza para lhes
conferir o sentido da criao artstica. O dionisaco consiste, em
suma, no aspecto que permitiu ao grego antigo forjar a mscara que
lhe tornou possvel vislumbrar os aspectos mais terrveis da
existncia; o dionisaco o fundamento do conhecimento trgico,
ou seja,
...o conhecimento bsico da unidade de tudo o que existe,
a considerao da individuao como causa primeira do
mal, a arte como esperana jubilosa de que possa ser
rompido o feitio da individuao, como pressentimento
de uma unidade restabelecida (NT, 7 e 10).
Ora, esta unificao precisamente aquilo a que Nietzsche
dar, adiante, a denominao de metafsica de artista (Cfr. TA/NT, 5):
a miragem criada pelo gnio artstico que torna o homem capaz de
se colocar diante da existncia, sem excluir seus aspectos
problemticos e sem ceder sua fora destruidora.
Tem-se, portanto, que, se, para Nietzsche, a existncia e o
mundo aparecem justificados somente como fenmeno esttico
10
Estas expresses constam de VD, p. 6 e 8.
Investigaes sobre
O Agir Humano
376
(NT, 24)
11
e se a tragdia consiste na suma de todas as potncias
curativas profilticas (NT, 21), porque de certa forma ele no
deixa de consider-la maneira de um remdio. No, contudo,
como um purgante, como o quer Aristteles; nem, tampouco, como
moralina
12
, como o pretende o sacerdote asctico, que traz
ungento e blsamo, sem dvida; mas necessita primeiro ferir, para
ser mdico; e quando acalma a dor que a ferida produz, envenena no
mesmo ato a ferida [...] (GM, III, 15). Longe disto, Nietzsche tem na
tragdia um tnico que oferece ao espectador um xtase vital, uma
vontade de viver capaz de torn-lo mais forte para no apenas
suportar, mas inclusive e sobretudo alegrar-se com a dor.
O trgico , por fim, o triunfo do esprito dionisaco: A
despeito de toda mudana dos fenmenos, [a vida]
indestrutivelmente poderosa e alegre (NT, 17). Deste sentido do
trgico como elemento afirmativo da vida Nietzsche no mais se
apartar, embora o apresente sob nuances diversas no itinerrio de
suas reflexes.
11
Oua-se, todavia, a advertncia de Roberto Machado (2006, p. 239-
240): [...] quando ele [Nietzsche] diz, em frmula famosa, no 24 do livro [O
nascimento da tragdia], que somente como fenmeno esttico a existncia e o
mundo aparecem justificados, isso no reduz sua anlise da tragdia a uma
esttica. Um de seus objetivos certamente esclarecer, contra Schopenhauer, que
a vida no pode ser justificada moralmente. Mas, contrapondo-se a uma
interpretao moral da tragdia, o que ele faz propor uma interpretao
metafsica, que v na tragdia musical, na tragdia em que o mito trgico
expresso da msica, uma metafsica de artista
12
Karina Jannini esclarece: Em alemo, moralinfreie Tugend. Conceito
criado por Nietzsche, numa aluso irnica aos termos qumicos terminados em
in (Moralin), e remete a uma concepo limitada e pequeno-burguesa da moral.
(in NIETZSCHE, Sabedoria para depois de amanh, 2005, p. 295).
Investigaes sobre
O Agir Humano
377
3. O TRGICO: FRANCA ALEGRIA DINMICA.
Tambm j se observou, com igual propriedade, que a
tragdia tica sucumbe no momento em que a filosofia triunfa
(VERNANTE, 2008, p. 7), ou seja, quando esta prevalece na
incessante luta que h entre a considerao trgica e a considerao terica
do mundo, em que esta subjuga o instinto artstico-dionisaco em
nome da razo cientfica, cujo progenitor, segundo Nietzsche,
Scrates.
Scrates, o mistagogo da cincia, prottipo e ancestral
do homem terico, lgico desptico (NT, 14, 15 e 17), heri
dialtico do dilogo platnico (FF, 14 [22], p. 148-149),
propugnador de um esquematismo lgico que fez da razo um
tirano. Scrates, cuja ndole ponderada repugna a tragdia, vista
como unicamente instintiva, irracional, destituda de sentido e,
portanto, prfida, malfica, amoral, em uma palavra; que deve sucumbir,
em uma sentena.
Descerrado o pano do palco, possvel contemplar os
bastidores desta pea: as carcias do martelo
13
nietzscheano fazem
ver que a oposio Dionsio-Apolo d lugar oposio Dionsio-
Scrates e que a questo fundamental, inicialmente apreendida em
um mbito puramente esttico, pode ser ento entrevista em seu
aspecto tico: o socratismo esttico que subjaz tragdia
euripidiana
14
, na verdade, o prolongamento do socratismo da
13
A expresso de Victor-Pierre Stirnimann, constante do prefcio
obra Conversa sobre a poesia e outros fragmentos, de Schlegel.
14
Sobre Eurpides, um dos grandes tragedigrafos gregos antigos, ao
lado de squilo e Sfocles, cfr. Mrio da Gama Kury, Introduo, in Eurpides,
Ifignia em ulis; As fencias; As bacantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 7.
Investigaes sobre
O Agir Humano
378
moral, donde deriva a ideia de uma cientificidade como sintoma de
uma interpretao e de uma significao morais da existncia
15
.
A crtica de Nietzsche, bem se v, tem como propsito
denunciar a funo terpica, a fora de uma medicina universal que
Aristteles pretende conferir tragdia e, sobretudo, que Scrates
pretende oferecer ao conhecimento. Para isto, Nietzsche se faz
acompanhar, de incio, por Schopenhauer e Wagner cavalheiros
drerianos a quem incumbiria o renascimento da tragdia (NT, 20)
16
para logo em seguida abandon-los: para ser justo com O
Nascimento da Tragdia, ser preciso esquecer certas coisas, dir em
seu testemunho intelectual (EC, NT, 1.). preciso esquecer
Schopenhauer porque preciso se livrar dos embaraos
subterfgios msticos de Schopenhauer [...], do absurdo da
compaixo e da ruptura, que ela tornou possvel, do principii
individuationis [princpio da individuao] como fonte de toda
moralidade (GC, 99). Porque a tragdia no , como Schopenhauer
pensa, uma frmula para a conduo do homem resignao,
vontade de se desembaraar voluntariamente e com alegria do
fardo da existncia (EH/NT, 1), mas, ao contrrio, uma
experincia tonificante, que conduz afirmao da vida em todos os
seus aspectos. Schopenhauer arremata enganou-se aqui, como
se enganou em tudo (EH/NT, 1).
E preciso esquecer Wagner porque, se em alguma poca
Nietzsche o considerou a expresso de uma potencialidade
dionisaca da alma alem, isto se deveu, no entanto, a um mero
arroubo juvenil. Dotado agora de um olhar [...] cem vezes mais
15
O que Nietzsche designar, adiante, de vontade de verdade: nada mais que
uma crena no prprio ideal asctico, a verdade posta como Deus (GM, III,
24).
16
Nietzsche alude gravura O cavaleiro, a morte e o diabo, de Albrecht
Drer (Nuremberg, 21/05/1471 06/04/1528), um dos mais famosos artistas do
Renascimento alemo.
Investigaes sobre
O Agir Humano
379
exigente, Nietzsche rasga enfim esta mscara tima de seda
17
e
v Wagner em sua crueza
18
: um representante da pequenina misria
alem (EH/NT, 4), cuja arte se mostra enviesada por concepes
morais crists, sintomticas, segundo Nietzsche, de uma vida que
declina.
Este remanejamento do conceito, sob uma aparncia de
continuidade (LEBRUN, 2006, p. 357), que Nietzsche perfaz
quanto ao trgico est presente nas autocrticas lanadas aO
nascimento da tragdia, primeiro sob a forma de um segundo prefcio
(Tentativa de autocrtica, 1886), aps, sob a forma de um captulo de
sua autobiografia intelectual (Ecce homo, 1888). Nelas, considera sua
primeira obra um livro impossvel [...] mal escrito, pesado, pesado,
frentico e confuso nas imagens, sobretudo por duas razes
fundamentais e complementares: seu contedo teria sido obscurecido
e estragado por frmulas schopenhauerianas e seu estilo seria
incompatvel com a nova alma que ento se apresentava sob o
nome de Dionsio (TA/NT, 3 e 6).
Todavia, como suas autocrticas nunca vo muito longe
[sobretudo porque ele tem o cuidado de mostrar quanto de suas
anlises de outrora continham o germe de sua obra futura
(LEBRUN, 2006, p. 355)], Nietzsche aponta a existncia de indcios
de seu projeto de transvalorao dos valores j nesta primeira obra:
O dizer Sim vida, mesmo em seus problemas mais
duros e estranhos; a vontade de vida, alegrando-se da
prpria inesgotabilidade no sacrifcio de seus mais elevados
tipos a isso chamei dionisaco, nisso vislumbrei a ponte
para a psicologia do poeta trgico. No para livrar-se do
pavor e da compaixo, no para purificar-se de um
17
Referncia ao primeiro verso do soneto A um mascarado, de Augusto
dos Anjos.
18
No sentido de cru (do latim crudus), a significar sem disfarce, sem
rebuo.
Investigaes sobre
O Agir Humano
380
perigoso afeto mediante sua veemente descarga assim o
compreendeu Aristteles : mas, para alm do pavor e da
compaixo, ser em si mesmo o eterno prazer do vir-a-ser
esse prazer que traz em si tambm o prazer no destruir... E
com isso toco novamente no ponto do qual uma vez
parti o Nascimento da tragdia foi minha primeira
tresvalorao de todos os valores [...]. (CI, X, 5)
A mudana, infere-se, deixa entrever que Nietzsche caminha
no sentido da formulao daquilo que denominou de filosofia trgica,
alternativa alegre ao sombrio pessimismo schopenhaueriano. Por
esta razo, acentua que foi o primeiro no apenas a perceber o
maravilhoso fenmeno do dionisaco como a realizar a sua
transposio em um pathos filosfico: Nietzsche, o primeiro filsofo
trgico isto , o extremo oposto e o antpoda de um filsofo
pessimista (EH/NT, 2 e 3)
19
.
Solitrio pois tambm os amigos e os conhecidos
volvero tmidos e medrosos: esse fogo tambm terei que atravess-
lo. Depois disto, cada vez mais me pertencerei a mim mesmo
(Frag. pst. 5[190], apud MONTINARI, 2003, p. 79. Traduzi) ,
Nietzsche procura novos amigos para sua jornada; eles sero
Herclito e Zaratustra, personae heteronmicas de Dionsio.
No que respeita a Herclito, Nietzsche assinala sua
proximidade j nO nascimento da tragdia, quando compara o
sempiterno jogo do construir e desconstruir imagem heraclitiana
da criana que brinca (NT, 24)
20
. Entretanto, se Herclito aqui ainda
O Obscuro, nA filosofia na poca trgica dos gregos, escrita um ano
19
Cfr. tambm: CI, X, 4.
20
Posteriormente, j em suas ltimas obras, aps assinalar que a
vitalidade do pensamento grego encontra-se precisamente no perodo pr-clssico
que se encerra com o socratismo e a tragdia euripidiana , Nietzsche evidencia
sua dvida em relao aos pensadores antigos (CI, X, precisamente intitulado O
que devo aos antigos) e, a bem dizer, a Herclito, com quem, para alm de um dbito,
reconhece um parentesco estsico-esttico-filosfico alinhavado pelo trgico
(EH/NT, 3).
Investigaes sobre
O Agir Humano
381
aps, ele o relmpago divino que iluminou a noite mstica em
que estava envolto o problema do vir-a-ser e a partir da, no pano
de fundo das reflexes de Nietzsche sobre o trgico, permitiu-lhe
substituir o ideal da arte pelo ideal da filosofia (Cfr. COLLI, 2000,
p. 31).
Ora, assim formulada, uma tal concepo deixa entrever um
processo de autossuperao, o incio de uma conquista de
autonomia por parte de Nietzsche: em relao a Wagner, com a
substituio da arte pela filosofia [...] e, em relao a Schopenhauer,
com a sua substituio por Herclito como arqutipo do filsofo
(MONTINARI, 2003, p. 32). Isto porque se nO nascimento da tragdia
o trgico era reproduzido e resolvido atravs de sua interiorizao no
seio do Uno-primordial, agora j no se trata de resolver o
sofrimento, mas de afirm-lo. A proposio fundamental entrevista
sob outra perspectiva: o sofrimento no algo que acusa a vida (no
faz dela algo que deva ser justificado), seno que a vida mesma
justifica o sofrimento, afirma-o na alegria do vir-a-ser, do construir-
destruir. precisamente sob esta perspectiva que Nietzsche
concebe seu parentesco com Herclito, como outra mscara de
Dionsio.
Sim, porque, segundo Nietzsche, diversamente da
concepo da existncia formulada por Anaximandro, permeada
por noes morais
21
, Herclito ousou tomar nas mos o novelo do
mais profundo dos problemas ticos: o sentido, a justia da existncia
e a afasta da ideia de hybris, ou seja, de uma desmesura culpada, pois
se h culpa e castigo, se h sobretudo correlao entre culpa e
castigo diz Herclito , isto existe apenas para o homem limitado,
21
Segundo Nietzsche, Anaximandro pensa o devir como emancipao
do ser eterno (aperon, indeterminado) que deve ser castigada, qual uma injustia
que deva ser expiada por meio do sucumbir. o que se infere de sua sentena:
De onde as coisas tiram a sua origem, a devem tambm perecer, segundo a
necessidade; pois elas tm de expiar e de ser julgadas pelas suas injustias, de
acordo com a ordem do tempo (transcrita por Nietzsche em FT, 4).
Investigaes sobre
O Agir Humano
382
ou seja, para aquele que v em separado e no em conjunto. No,
porm, para o homem e deus contuitivo, para quem todo conflitante
conflui em harmonia e, portanto, diante de seu olhar de fogo, no
resta nenhuma gota de injustia no mundo que se derrama a seu
redor (FT, 7)
22
.
Com efeito, ao deixar de considerar o devir como hybris
melhor: ao modificar a prpria noo de hybris para assimil-la ao
devir , a concepo heraclitiana servir de arrimo crtica
nietzschiana metafsica, crena na durao, necessidade
psicolgica de permanncia, compreenso do mundo a partir de
um princpio ordenador (cosmos) com o propsito de aliviar e
tranquilizar o homem diante da exuberncia das foras plurais da
vida ou, o que d no mesmo, com o propsito de julgar e
condenar a vida como iluso de tica e de tica (CI, III, 6, e IV).
Deste modo, para que a existncia recupere o domnio de si
mesma, preciso, segundo Nietzsche, um pensamento em que ela
no seja postulada como culpada, em que a vontade no seja ela
prpria culpada por existir, um pensamento trgico, enfim: aquilo
que chama de sua alegre mensagem:
O que define o trgico a alegria do mltiplo (nada de
alegria como sublimao, compensao, resignao,
reconciliao). Trgico designa a forma esttica da alegria,
no uma forma medicinal, nem uma soluo moral da
dor, do medo ou da piedade. O que trgico a alegria...
[...]. A tragdia, franca alegria dinmica (DELEUZE,
2001, p. 29 e 57).
22
Eis a sentena de Herclito, transcrita por Nietzsche: Vi o mundo
inteiro como o espetculo de uma justia reinante e foras naturais
demoniacamente onipresentes subordinadas a seu servio. No vi a punio do
que veio a ser, mas a justificao do vir-a-ser (FT, 5).
Investigaes sobre
O Agir Humano
383
Da a necessidade de que o homem se descarregue do
pesado mal-estar do remorso e da culpa da responsabilidade,
enfim atravs do instinto de jogo, compreendendo a existncia como
um fenmeno esttico, no como fenmeno moral ou religioso.
Nisto, se j nO nascimento da tragdia Nietzsche entrevira uma
proximidade entre Dionsio e Herclito (NT, 24), em Ecce homo
termina por assinalar que a doutrina do eterno retorno [...], essa
doutrina de Zaratustra poderia afinal ter sido ensinada tambm por
Herclito
(EH/NT, 3).
Ora, se tanto os aproxima, tentemos, ento, vislumbrar
estoutra mscara de Dionsio: o poeta Zaratustra, e a derradeira e
mais vigorosa dana deste drama: a proposio do eterno retorno.
4. ZARATUSTRA E A DANA DO ETERNO RETORNO: A
RADICALIZAO DO TRGICO.
Originada j nos escritos anteriores a O nascimento da tragdia,
entoupeirada em Aurora, Humano, demasiado humano e densificada nA
gaia cincia, apenas com Zaratustra, no entanto, que a noo do
trgico adquire, a final, a condio de ato supremo (EH/ZA, 6)
23
.
Com efeito, se nas obras posteriores a O nascimento da
tragdia, Nietzsche no deixa de se referir, ainda que en passant, ao
trgico
24
, somente no Zaratustra que apresentar os contornos, em
todas as suas nuances, de sua filosofia trgica, sobretudo porque
vertida sob uma forma potica por meio da qual apresenta a narrativa
dramtica do aprendizado trgico de um pequeno diabo dionisaco
(Cfr. TA/NT, 7).
23
Sobre o termo entoupeirada, cfr. ZA, III, Das velhas e novas tbuas, 2.
24
Em Aurora, o trgico transparece, p. ex., nos aforismos 78 e 172 e, em
Humano, demasiado humano, p. ex., nos aforismos 108, 169 e 212.
Investigaes sobre
O Agir Humano
384
Deste modo, em Assim falou Zaratustra, em um dos
derradeiros atos desta tragdia, que Dionsio veste, enfim, sua
ltima mscara: no palco, sua persona , agora, o anunciador do
super-homem.
Incipit Zaratustra incipit tragdia
25
: aqui, novamente o trgico;
entretanto, j no mais necessariamente associado a uma
determinada forma esttica mas a um aspecto tico-existentivo.
Aqui, novamente a mscara; todavia, j no mais como artefato
dissimulador, mas como a glea dos que labutam reservando para si
a ausncia de determinaes e descortinando para todos a riqueza
do caos, a exemplo de Zaratustra, que fala para todos e para
ningum.
Sob esta perspectiva, se nO nascimento da tragdia Dionsio
ainda se escondia sob o capucho do douto, sob a pesadez e a
rabugice dialtica do alemo (TA/NT, 3), sua apresentao agora
se perfaz por meio da mscara de Zaratustra, poeta em que se
reflete, em todas as suas nuances, a imagem do artista ditirmbico
26
.
H, no entanto, uma sutil diferena: desta vez, ao invs de
um centauro, Nietzsche pare uma estrela danante, uma estrela
delirante
27
: atravs de Zaratustra que finalmente pode se atrever a
dizer as suas estranhas e novas valoraes, usando uma linguagem
prpria para intuies e atrevimentos to prprios. Isto porque
Zaratustra fala atravs da palavra potica, nico meio possvel de
expresso da sabedoria dionisaca, da filosofia trgica, arredia, de
todo modo, aos esquematismos lgico-sistemticos
28
.
25
A primeira expresso consta de GC, 342; a segunda, de CI, IV, 6.
26
Cfr. EH/NT, 4, em que se l: A imagem toda do artista ditirmbico
a imagem do poeta preexistente de Zaratustra.
27
A primeira expresso consta em ZA, Pr, 5; a segunda de Teixeira de
Pascoaes (A nossa fome. In: O homem universal e outros escritos, p. 157. apud
BORGES, Paulo, Heteronmia e carnaval em Teixeira de Pascoaes, p. 1).
28
Segundo Roberto Machado, [...] a posio mpar do Zaratustra est
sobretudo em pretender realizar a adequao entre contedo e expresso, o que
Investigaes sobre
O Agir Humano
385
Com efeito, o poeta decifrador de enigmas, mas ,
sobretudo, redentor do acaso, criador de seu presente, de seu futuro
e de tudo o que foi (Cfr. ZA, II, Da redeno; Das velhas e novas tbuas,
III, 3), aquele cujo domnio no consiste em refutar no precisa
refutar (Cfr. EH/NT, 2) , aquele cuja nica negao seja desviar o
olhar! E, tudo somado e em suma: [...] apenas algum que diz Sim!
(GC, 276.), que se apropria dos aspectos mais terrveis e
problemticos da existncia para afirm-los na dana cirandal do
eterno retorno, ante a deciso que deve tomar em razo desta
proposio existencial transformadora (Cfr. GC,341 e ABM, 56).
Ora, o pensamento do eterno retorno um pensamento
terrvel, qui o mais terrvel que possa assaltar o homem em sua
dimenso tica como alternativa existencial, uma vez que a pode
estar o grande destino de ser tambm o maior perigo e doena
(ZA, III, O convalescente, 2). Ele pode constituir o mais pesado dos pesos
para o esprito de vingana que range os dentes ante a
imutabilidade do assim foi ou o ponto culminante do dizer-sim
vida para o esprito criador que redime o que passou ao dizer
assim eu quis (ZA, III, Da redeno).
Mas de que modo isto possvel? Como no transformar
este pensamento terrvel em modinha de realejo (ZA, III, O
convalescente, 2) e como desvincul-lo de uma mera circularidade
fsico-temporal? Ademais e sobretudo , como redimir o passado
se no se pode mudar o que foi?
Ora, diz Nietzsche, esse no-poder-querer-pra-trs quem o
preconiza o esprito de vingana, um mau espectador da tragdia,
que concebe a m vontade da vontade contra o tempo e seu 'Foi' .
preciso, pois, extirpar esta grande parvoce, pois a vontade na
faz dele uma obra de filosofia e, ao mesmo tempo, uma obra de arte, o canto que
Nietzsche no cantou em seu primeiro livro, e que permite consider-lo o pice
de sua filosofia trgica. (1997, p. 20).
Investigaes sobre
O Agir Humano
386
verdade um redentor, um criador, e deve ser tornada para si
prpria o redentor e o mensageiro da alegria (ZA, II, Da redeno).
Para isto, necessrio se desvencilhar da inexorabilidade do
passado, ou seja, de qualquer injuno que tenda a conceb-lo como
a incompletude de uma experincia que repercute (que deva
repercutir) no horizonte do vir-a-ser. Para alm desta perspectiva,
cumpre entend-lo como integrado ao instante por meio de uma
aquiescncia criativa, que s tem lugar a partir de uma deciso, de
uma afirmao existencial.
Portanto, o que oferece significado ao eterno retorno o
instante descomunal de que nos fala o demnio, esse bater de sinos do
meio-dia e da grande deciso, que torna a vontade outra vez livre,
que devolve terra seu alvo e ao homem sua esperana, esse
anticristo e antiniilista, esse vencedor de Deus e do nada (GM, II,
24).
Cada situao particular; onde a histria tomada a servio
da vida, a servio da cri-ao de si, atravs daquilo que Nietzsche
denomina de fora plstica, a medida a partir da qual o conhecimento
histrico pode ser concebido como alimento da capacidade criativa,
horizonte a partir do qual o homem promove a sempiterna (embora
nem sempre terna) construo-destruio de si mesmo.
A libertao do instinto de vingana no , assim, como
poderia parecer, uma simples mudana de atitude da vontade diante
da inelutvel necessidade da estrutura do mundo. Cuida-se, antes, de
uma atitude de apropriao da histria como elemento fundamental
do processo de redeno criativa da prpria vontade, de superao
das aparentes antinomias entre as dimenses temporais constituti vas
da ao (passado, presente e futuro) e, por fim, de autossuperao.
Da porque Zaratustra corporifica o heri trgico par
excellence, o personagem de um drama que inicialmente vive o heri
apolneo e que, aps um longo percurso, transmuda-se em um
alegre trasgo dionisaco (TA/NT, 7).
Investigaes sobre
O Agir Humano
387
Sob esta perspectiva, em vez de ranger os dentes e se
despedaar, aquele que capaz de se entregar radicalmente no
instante criao de si mesmo e de se fartar [...] no interior dos
limites de cada situao singular (CASANOVA, 2003, p. 124)
louvaria o demnio furtivo que lanasse tal desafio, o desafio do
passado, o desafio de dizer a cada vez Sim a cada dor e cada prazer
e cada pensamento e suspiro e tudo o que h de indizivelmente
pequeno e de grande (GC, 341).
O eterno retorno consiste, pois, em suma, na radicalizao
do trgico, na mais elevada forma de afirmao que se pode em
absoluto alcanar (EH/ZA, 1): a alegria que santifica a dor. Da,
portanto, o liame que une Dionsio a Zaratustra: trata-se, em ambos,
das mesmas questes, da mesma tendncia, do mesmo sentido. As
respostas que so diversas:
Se nO nascimento da tragdia Nietzsche aspira justificao
global da existncia (o que significa dizer sim vida) e a
consegue com a metafsica de artista, em Zaratustra o
eterno retorno, desejado pelo super-homem, torna vo o
problema de justificao da existncia, cerrando o
horizonte no mediante o mito trgico, seno com a
eternizao do carter integralmente terreno e
imanente da vida. (MONTINARI, 2003, p. 116. Traduzi)
Deste modo, nas transmudaes que a noo de trgico
sofre no tumultuoso percurso do pensamento de Nietzsche
observa-se que se nO nascimento da tragdia ele vinculado a uma
vontade que se apresenta como essncia ltima das coisas, agora, no
Zaratustra, vincula-se a uma vontade criadora, alheia culpa,
responsabilidade, zombeteira, fruto do amor ao devir, do amor fati,
elemento nuclear do trgico, consubstanciado na querncia de ver
como belo aquilo que h de necessrio nas coisas: assim serei
daqueles que tornam belas as coisas. Amor fati: seja este, doravante,
Investigaes sobre
O Agir Humano
388
o meu amor!, pois o que se faz por amor sempre acontece alm
do bem e do mal (GC, 276; ABM, 153).
O trgico, diz Nietzsche, uma frmula da suprema
afirmao, nascida da plenitude, da abundncia [...], um dizer-sim sem
reserva, mesmo ao sofrimento, mesmo culpa, mesmo a tudo o que
problemtico e estranho na existncia (EH, NT).
Neste drama que a vida, a questo deve ser posta, a final:
E se a via do espetculo fosse uma via de conhecimento, de
libertao, da vida, afinal de contas? (COLLI, 2000, p. 19). A
resposta... Bem, tenhamos ouvidos para Nietzsche: no h a
resposta; nem, talvez, qualquer resposta. Mas possvel (basta que o
seja) que o objetivo da arte no mais radique na criao de imagens
de sonho, no mascaramento do aspecto terrvel da existncia, seno
na afirmao deste carter, do carter trgico da vida.
E se o artista no fosse um alucinado abandonado
histria? possvel que ele seja a obra de arte que se faz a si
mesmo, um campo de batalha, um drama em gente, o autopoitico
navegante que, dominando seus demnios e bailando sobre seus
abismos, forja seu estilo, pare seus centauros, navega seu caminho, -
se-endo
29
.
E se...?
29
Parece-nos que bem isto o que Fernando Pessoa exprime, na casca de
Bernardo Soares: Se quiser dizer que existo, direi Sou. Se quiser dizer que existo
como alma separada, direi Sou eu. Mas se quiser dizer que existo como entidade
que a si mesma se dirige e forma, que exerce junto de si mesma a funo divina de
se criar, como hei-de empregar o verbo ser seno convertendo-o subitamente
em transitivo? E ento, triunfalmente, antigramaticalmente supremo, direi Sou-
me. Terei dito uma filosofia em duas palavras pequenas. Que prefervel no
isto a no dizer nada em quarenta frases? Que mais se pode exigir da filosofia e da
dico? (Livro do desassossego, 84). A expresso drama em gente de Antnio Azevedo
(2005, p. 19).
Investigaes sobre
O Agir Humano
389
5. CONCLUSO.
Nietzsche um pensador de muitas mscaras. Veste-as e
despe-as com o regozijo e a habilidade de um ator experimentado
que, do palco em que representa a tragdia de sua prpria vida,
sorri, com lacerante ironia, dos outros bufes que debalde tentam
surpreender-lhe a face nua.
Nietzsche um filsofo-poeta, para quem o pensamento
deve ser manifestado e acolhido como atividade artstica, no
cientfica. Para ele, a escrita deve possuir musicalidade e por isso
que adota o aforismo como o elemento caracterstico da expresso
de suas reflexes. E tambm por isto que existem vrias formas de
escut-lo.
Labirntico, enigmtico, resta-nos tentar v-lo, escut-lo a
partir de seu prprio perspectivismo. Foi este o modesto propsito
que se perseguiu nesta pesquisa, em que se adotou a vida de sua
perspectiva trgica. Atravs dela, promete uma arte trgica: a arte
suprema do dizer-Sim vida, invertendo o sentido teraputico
tradicionalmente atribudo ao trgico (purgativo, segundo
Aristteles; resigna-dor, para Schopenhauer) para conceb-lo como
elemento de uma sabedoria em que sejam no apenas considerados,
mas amados como necessrios os aspectos mais terrveis da
existncia. o que, em frmula potica, chama de amor fati.
Desta forma, necessrio adotar um caminho que, embora
(ou porque) mais laborioso, tem ao menos a virtude de respeitar a
partitura da sinfonia nietzscheana, o enredo da obra de um
homem para quem viver significou sobretudo pensar. Estoutra
senda consiste em acolher os escritos de Nietzsche em sua
totalidade, como um todo que
tem aparncia de um acervo variegado, mas tem uma
substncia unitria e compacta [...], atravs da
Investigaes sobre
O Agir Humano
390
reconstruo de uma totalidade pressuposta, onde as
expresses circunscritas tm o valor de fragmentos
meldicos e harmnicos de uma msica desconhecida.
conveniente escutar Nietzsche deste modo. (COLLI,
2000, p. 5)
Definida a forma, eis o tema, o mote desta sinfonia: o
trgico, fundamento de uma tica da afirmao, concebida como
alegria de viver, gudio, jbilo, prazer de existir, adeso
realidade [...], a ideia [...] de uma fidelidade incondicional
nua e crua experincia do real, a que se resume e se
singulariza o pensamento filosfico de Nietzsche.
(ROSSET, 1989, p. 35)
30
Para a orquestrao desta composio nietzscheana, nada
mais adequado que um de seus instrumentos mais caros: a
genealogia, que nos permite compreender o trgico em sua
historicidade, no no sentido tradicional do termo ou, menos ainda,
em sua essncia, mas a partir dos discursos a seu respeito,
diagnosticando-lhes a relao de foras que tem origem em valores
e que capaz de produzir valores, para que, a partir da, seja
possvel evidenciar a direo, o sentido destas foras (FOUCAULT,
2008, p. 16).
Neste drama nietzscheano, a palavra potica reivindica o seu
papel de instrumento da converso do trgico em fora criadora e
cri-ativa. preciso que esta msica seja tocada.
30
Da se v quo acertada a analogia que Giorgio Colli estabelece entre
a obra de Nietzsche e a msica de Beethoven (cfr. nr 1), cuja Nona Sinfonia
incorpora parte da ode An die Freude (" Alegria"), de Friedrich Schiller.
Investigaes sobre
O Agir Humano
391
6. REFERNCIAS.
Obras de Nietzsche
NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal: preldio a uma filosofia do
futuro. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo:
Companhia das Letras, 2005.
______. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ningum.
Traduo de Mrio da Silva. So Paulo: Crculo do Livro, s/d.
______. A filosofia na idade trgica dos gregos. Traduo de Maria Ins
Madeira de Andrade, revisada por Artur Moro. Rio de Janeiro: Elfos;
Lisboa: Edies 70, 1995. (Col. Biblioteca de Filosofia).
______. A gaia cincia. Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de
Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
______. A viso dionisaca do mundo. In: . A viso dionisaca do mundo e
outros textos. Traduo de Marcos Sinsio Pereira Fernandes e Maria
Cristina dos Santos de Souza, revisada por Marco Casanova. So Paulo:
Martins Fontes, 2005. (Col. Tpicos). p. 3-44.
______. Crepsculo dos dolos ou como se filosofa com o martelo.
Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo:
Companhia das Letras, 2006.
______. Ecce homo: como algum se torna o que . Traduo, notas e
posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras,
2008.
______. Fragmentos finais. Seleo, traduo e prefcio de Flvio R. Kothe.
1 ed. 1 reimp. Braslia: Editora Universidade de Braslia, 2007.
______. Genealogia da moral: uma polmica. Traduo, notas e posfcio de
Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
Investigaes sobre
O Agir Humano
392
______. Humano, demasiado humano: um livro para espritos livres.
Traduo, notas e posfcio de Paulo Csar de Souza. So Paulo:
Companhia das Letras, 2005.
______. O nascimento da tragdia ou helenismo e pessimismo. 2. ed. Traduo,
notas e posfcio de Jac Guinsburg. So Paulo: Companhia das Letras,
1992.
______. Sabedoria para depois de amanh seleo dos fragmentos pstumos
por Heinz Friedrich. Traduo de Karina Jannini. So Paulo: Martins
Fontes, 2005. (Col. Tpicos).
Outras obras
ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. 40 ed. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1995. (Col. Poesia Sempre, vol. 6).
ARISTTELES. Poltica. Rio de Janeiro: Edies de Ouro. 1965.
AZEVEDO, Antnio. Pessoa e Nietzsche subsdios para uma leitura
intertextual de Pessoa e Nietzsche. Lisboa: Instituto Piaget, 2005. (Col.
Teoria das Ates e Literatura).
BARROS, Fernando de Moraes. O drama da redeno: a crtica de Nietzsche
ao Parsifal de Wagner. Artefilosofia, Ouro Preto, n. 3, p. 102-110. Jul.
2007. Disponvel em:
<http://www.raf.ifac.ufop.br/pdf/artefilosofia_03/artefilosofia_03_03_
musica_filosofia_03_fernando_moraes_barros.pdf>. Acesso em:
03/12/2011.
BRUM, Jos Thomaz. O pessimismo e suas vontades: Schopenhauer e
Nietzsche. Rio de Janeiro, Rocco, 1998.
CASANOVA, Marco Antnio. O instante extraordinrio: vida, histria e
valor na obra de Friedrich Nietzsche. Rio de Janeiro: Forense
Universitria, 2003.
COLLI, Giorgio. Escritos sobre Nietzsche. Traduo e prefcio de Maria
Filomena Molder. Lisboa: Relgio D'gua, 2000. (Col. Nietzscheana).
Investigaes sobre
O Agir Humano
393
DELEUZE, Gilles. Nietzsche. Traduo de Alberto Campos. Lisboa:
Edies 70, 2001. (Col. Biblioteca Bsica de Filosofia).
FOUCAULT, Michel. Nietzsche, a genealogia e a histria. In; ______.
Microfsica do poder. 25 ed. Organizao e traduo de Roberto Machado.
Rio de Janeiro: Graal, 2008. p. 15-38.
HALVY, Daniel. Nietzsche: uma biografia. Traduo de Roberto Cortes de
Lacerda e Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
KURY, Mrio da Gama. Introduo. In: Eurpides, Ifignia em ulis; As
fencias; As bacantes. 4. ed. Traduo do grego, introduo e notas de Mrio
da Gama Kury. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. (Col. A tragdia grega
vol. 5). p. 7-13.
LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. Traduo de lvaro Cabral. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
LEBRUN, Grard. Quem era Dioniso? In: ______. A filosofia e sua histria.
So Paulo: Cosac Naify, 2006. p. 355-378.
MACHADO, Roberto. O nascimento do trgico: de Schiller a Nietzsche. Rio
de Janeiro: Zahar, 2006. (Col. Estticas).
______. Zaratustra: tragdia nietzscheana. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
MONTINARI, Mazzino. Lo que dijo Nietzsche. Traduo de Enrique
Lynch, Mallorca; Barcelona: Salamandra, 2003.
NABAIS, Nuno. Metafsica do trgico: estudos sobre Nietzsche, Lisboa:
Relgio Dgua, 1997.
PAES, Jos Paulo. O regresso dos deuses uma introduo poesia de
Hlderlin. In HLDERLIN, Friedrich. Poemas. So Paulo: Companhia
das Letras, 1991. p. 11-54.
ROSSET, Clment. Alegria: a fora maior. Traduo de Fernando J.
Fagundes e Ivana Bentes. Rio de Janeiro: Espao e tempo, 1989.
Investigaes sobre
O Agir Humano
394
SOUZA, Eudoro de. Introduo. In: ARISTTELES, Potica. 7 ed.
Braslia: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 2003. (Col. Clssicos de
Filosofia). p. 13-102.
STIRNIMANN, Victor-Pierre. Prefcio. In: SCHLEGEL, Friedrich.
Conversa sobre a poesia e outros fragmentos. So Paulo: Iluminuras, 1994. (Col.
Biblioteca Plen).
SZONDI, Peter. Ensaio sobre o trgico. Traduo e notas de Pedro
Sssekind. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. (Col. Estticas).
VATTIMO, Gianni. Dilogo com Nietzsche: ensaios 1961-2000. Traduo de
Silvana Cobucci Leite. So Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. (Col.
Biblioteca do Pensamento Moderno).
VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragdia na
Grcia antiga. Vrios tradutores. So Paulo: Perspectiva, 2008.
Potrebbero piacerti anche
- Apostila de Filosofia - 1 SrieDocumento7 pagineApostila de Filosofia - 1 SrieLpc2189% (9)
- Teresa Colomer - CompletoDocumento31 pagineTeresa Colomer - CompletoTatiana Broslavschi50% (2)
- Teoria Decisão Risco IncertezaDocumento30 pagineTeoria Decisão Risco IncertezadiastoledoNessuna valutazione finora
- Aephus Livro Coletanea 3Documento213 pagineAephus Livro Coletanea 3Diego AlbertoNessuna valutazione finora
- A filosofia sob diversos olharesDocumento218 pagineA filosofia sob diversos olharesTiago Louro100% (1)
- Max Scheler e o projeto de uma antropologia filosóficaDocumento17 pagineMax Scheler e o projeto de uma antropologia filosóficaalexandrebahienseNessuna valutazione finora
- Epistemologia Das Ciencias SociaisDocumento176 pagineEpistemologia Das Ciencias Sociaistrick2Nessuna valutazione finora
- BOVE, L. Espinosa e A Psicologia Social - Ensaios de Ontologia Política e Antropogênese (2010)Documento172 pagineBOVE, L. Espinosa e A Psicologia Social - Ensaios de Ontologia Política e Antropogênese (2010)Jean TozziNessuna valutazione finora
- OS ANTROPÓLOGOS E SUAS LINHAGENS Por MARIZA PEIRANODocumento12 pagineOS ANTROPÓLOGOS E SUAS LINHAGENS Por MARIZA PEIRANOKeylafcpNessuna valutazione finora
- A FilosofiaDocumento37 pagineA FilosofiaLuciana AlvesNessuna valutazione finora
- Livro - Existencialismo e Humanismo PDFDocumento114 pagineLivro - Existencialismo e Humanismo PDFGustavo Santos Fernandes100% (1)
- Unidade I - História Da PsicologiaDocumento7 pagineUnidade I - História Da PsicologiaMarcus KauãNessuna valutazione finora
- Wagner (2012)Documento127 pagineWagner (2012)Paula Ávila NunesNessuna valutazione finora
- Da ciência moderna à ciência pós-modernaDocumento17 pagineDa ciência moderna à ciência pós-modernaCLAREC Faculty of EducationNessuna valutazione finora
- Filosofia do cotidiano na EADDocumento63 pagineFilosofia do cotidiano na EADLuana100% (1)
- BASE PARA PROVA DO 1 MEDIODocumento2 pagineBASE PARA PROVA DO 1 MEDIORenata M. SoaresNessuna valutazione finora
- Aephus Versc3a3o Final - Cic38ancia Espiritismo e Sociedade IIDocumento271 pagineAephus Versc3a3o Final - Cic38ancia Espiritismo e Sociedade IIDiego AlbertoNessuna valutazione finora
- ResumoDocumento6 pagineResumoRoberto JuniorNessuna valutazione finora
- 48 EQM Consciencias - 06 IND - ZIPDocumento34 pagine48 EQM Consciencias - 06 IND - ZIPDavid NdendeNessuna valutazione finora
- Luciano Marques de Jesus Aula 03Documento27 pagineLuciano Marques de Jesus Aula 03Janay FariasNessuna valutazione finora
- Introdução à Filosofia da CiênciaDocumento5 pagineIntrodução à Filosofia da CiênciaFabrine NaomyNessuna valutazione finora
- A diversidade da Psicologia e suas origens modernasDocumento6 pagineA diversidade da Psicologia e suas origens modernasSandro AntunesNessuna valutazione finora
- Apostila de Filosofia 2023 Unidade 1Documento7 pagineApostila de Filosofia 2023 Unidade 1Valéria Alves Batista de Oliveira100% (1)
- Educação, Saúde e Espiritualidade: Introdução À AnimagogiaDocumento32 pagineEducação, Saúde e Espiritualidade: Introdução À AnimagogiaCultura de Paz, Saúde Integral e (Re)envolvimento Humano100% (5)
- 2227-Texto Do Artigo-8018-1-10-20201104Documento3 pagine2227-Texto Do Artigo-8018-1-10-20201104pedro galhegoNessuna valutazione finora
- Resenha - Vozes de Campos Do Jordão ExperiênciasDocumento3 pagineResenha - Vozes de Campos Do Jordão ExperiênciasmarcosdabataNessuna valutazione finora
- Filosofia e LiteraturaDocumento270 pagineFilosofia e Literaturapizzolatto100% (1)
- AntropologiaDocumento44 pagineAntropologiaMariane LopesNessuna valutazione finora
- Crença, Fé e TeoriaDocumento10 pagineCrença, Fé e TeoriaRay RenanNessuna valutazione finora
- Nas Trilhas de Edith Stein: Gênero em Perspectiva Fenomenológica e TeológicaDa EverandNas Trilhas de Edith Stein: Gênero em Perspectiva Fenomenológica e TeológicaNessuna valutazione finora
- SAVATER Fernando As Perguntas Da Vida Traducao MonDocumento7 pagineSAVATER Fernando As Perguntas Da Vida Traducao MonBianca OliveiraNessuna valutazione finora
- Por Que Fazemos Ciência - José Antônio Feitosa ApolinarioDocumento5 paginePor Que Fazemos Ciência - José Antônio Feitosa ApolinarioIdeilde NascimentoNessuna valutazione finora
- A construção do conhecimento científicoDocumento4 pagineA construção do conhecimento científicoFelipe PaivaNessuna valutazione finora
- 218 4390 1 PBDocumento8 pagine218 4390 1 PBCadjosse LtaNessuna valutazione finora
- 47 As Epistemologias Do Sul - ResenhaDocumento16 pagine47 As Epistemologias Do Sul - ResenhaKiran GorkiNessuna valutazione finora
- Philipe DescolaDocumento30 paginePhilipe DescolaBerlano AndradeNessuna valutazione finora
- Origem da Filosofia e MitoDocumento12 pagineOrigem da Filosofia e MitoBruno da CostaNessuna valutazione finora
- Marcelino UFMS2023Documento18 pagineMarcelino UFMS2023Marcelino de Souza Freitas Filho FREITASNessuna valutazione finora
- Método científico e empiristasDocumento4 pagineMétodo científico e empiristasMaria Clara de BritoNessuna valutazione finora
- SAVATER Fernando As Perguntas Da Vida Traducao MonDocumento7 pagineSAVATER Fernando As Perguntas Da Vida Traducao Monnathalia.santosNessuna valutazione finora
- Considerações Gerais Sobre Psicologia e HistóriaDocumento8 pagineConsiderações Gerais Sobre Psicologia e HistóriaewstyleNessuna valutazione finora
- Hermenêutica e ontologia em EspinosaDocumento11 pagineHermenêutica e ontologia em EspinosaLuiz InNessuna valutazione finora
- Minha-lista-de-exercicio-Filosofia Ate Sofistas PDFDocumento13 pagineMinha-lista-de-exercicio-Filosofia Ate Sofistas PDFAndria CezarNessuna valutazione finora
- As influências científicas na psicologia escolarDocumento1 paginaAs influências científicas na psicologia escolarLuiz BoscoNessuna valutazione finora
- A importância da História, Filosofia e Sociologia para a construção de textos literáriosDocumento21 pagineA importância da História, Filosofia e Sociologia para a construção de textos literáriosGiovanna CaparelliNessuna valutazione finora
- EtnopsicanáliseDocumento10 pagineEtnopsicanáliseNathanNessuna valutazione finora
- O que é CulturaDocumento6 pagineO que é CulturaAfonso AndradeNessuna valutazione finora
- OK PT2022A - 1.1 Breve Histórico Da PsicologiaDocumento3 pagineOK PT2022A - 1.1 Breve Histórico Da Psicologiaimpressora DireçãoNessuna valutazione finora
- Artigo Científico - Filosofia e ÉticaDocumento8 pagineArtigo Científico - Filosofia e Éticaeng.gustavobritesNessuna valutazione finora
- Senso comum versus ciência: análise hermenêutica e epistemológicaDocumento18 pagineSenso comum versus ciência: análise hermenêutica e epistemológicaLuiz SouzaNessuna valutazione finora
- Gallo - Ética e CidadaniaDocumento10 pagineGallo - Ética e CidadaniaKhalil Ez Zughayar KhalilNessuna valutazione finora
- Fundamentos de Filosofia Material CompletoDocumento144 pagineFundamentos de Filosofia Material CompletoFernanda FernandesNessuna valutazione finora
- Senso Comum e Conhecimento CientíficoDocumento10 pagineSenso Comum e Conhecimento CientíficoANDRE FONSECANessuna valutazione finora
- Filosofia: Antiguidade E Idade MédiaDocumento8 pagineFilosofia: Antiguidade E Idade MédiaArthur GodoyNessuna valutazione finora
- Contém Um Artigo Abbagnano Sobre Kierkegaard N 1Documento197 pagineContém Um Artigo Abbagnano Sobre Kierkegaard N 1BenevidesNessuna valutazione finora
- BARBIER Rene A Pesquisa AcaoDocumento14 pagineBARBIER Rene A Pesquisa AcaoTainá RochaNessuna valutazione finora
- Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoDa EverandOs Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoNessuna valutazione finora
- Pensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalDa EverandPensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalNessuna valutazione finora
- A Mentira Como Organizador Social - CeccarelliDocumento11 pagineA Mentira Como Organizador Social - CeccarelliTássio RicellyNessuna valutazione finora
- BARBOSA, Livia CAMPBELL, Colin. O Estudo Do Consumo Nas Ciencias Sociais Contemporaneas. In. Cultura, Consumo e Idetidade (Parte 1)Documento26 pagineBARBOSA, Livia CAMPBELL, Colin. O Estudo Do Consumo Nas Ciencias Sociais Contemporaneas. In. Cultura, Consumo e Idetidade (Parte 1)Tássio Ricelly100% (2)
- MACHADO, Arlindo. A Televisao Levada A Serio (Cap. 1)Documento32 pagineMACHADO, Arlindo. A Televisao Levada A Serio (Cap. 1)Tássio RicellyNessuna valutazione finora
- TURISMO EM FOCO - Resenha PDFDocumento11 pagineTURISMO EM FOCO - Resenha PDFTássio RicellyNessuna valutazione finora
- ACHARD, Pierre, Et Al. Papel Da MemoriaDocumento38 pagineACHARD, Pierre, Et Al. Papel Da MemoriaTássio RicellyNessuna valutazione finora
- FARIAS, T. R. P. A Indústria Cultural Na Contemporaneidade. Mossoro, UERN, 2013 PDFDocumento53 pagineFARIAS, T. R. P. A Indústria Cultural Na Contemporaneidade. Mossoro, UERN, 2013 PDFTássio RicellyNessuna valutazione finora
- Apol 1 Pesquisa em Serviço SocialDocumento5 pagineApol 1 Pesquisa em Serviço SocialFernanda Da SilvaNessuna valutazione finora
- LENCIONIDocumento7 pagineLENCIONIgeosaramatosNessuna valutazione finora
- Deleuze: CONCLUSÃO Espinosa - EXPRESSIONISMO em FilosofiaDocumento30 pagineDeleuze: CONCLUSÃO Espinosa - EXPRESSIONISMO em FilosofiaRui MascarenhasNessuna valutazione finora
- Metodologia Pesquisa 5 Aulas Delimitar Tema Problema ObjetivosDocumento2 pagineMetodologia Pesquisa 5 Aulas Delimitar Tema Problema ObjetivosDéborah ArdittiNessuna valutazione finora
- História da Filosofia dos Pré-Socráticos a Karl MarxDocumento24 pagineHistória da Filosofia dos Pré-Socráticos a Karl MarxBárbara Eliza Braga Nobre bebnNessuna valutazione finora
- Reflexões Sobre Currículo Lopes PDFDocumento8 pagineReflexões Sobre Currículo Lopes PDFzerufasNessuna valutazione finora
- O Processo de Ensino Na EscolaDocumento2 pagineO Processo de Ensino Na EscolaIsla Fernanda Mota Da Costa CamposNessuna valutazione finora
- ILUMINISMODocumento2 pagineILUMINISMOCamila AmorimNessuna valutazione finora
- Dislexia Estudo de CasoDocumento61 pagineDislexia Estudo de CasoRonhely PereiraNessuna valutazione finora
- Filosofia AntigaDocumento5 pagineFilosofia AntigaEdino FranciscoNessuna valutazione finora
- Conhecimento de Deus segundo FrameDocumento7 pagineConhecimento de Deus segundo FrameJobson PortoNessuna valutazione finora
- Gustavo Bertoche - A Objetividade Da Ciência Na Filosofia de BachelardDocumento99 pagineGustavo Bertoche - A Objetividade Da Ciência Na Filosofia de Bachelardaline_128Nessuna valutazione finora
- Do Estruturalismo à Linguística TextualDocumento9 pagineDo Estruturalismo à Linguística TextualLidi GonzalesNessuna valutazione finora
- Uma introdução à lógica clássicaDocumento38 pagineUma introdução à lógica clássicaRafael ZucatoNessuna valutazione finora
- Garcia Et Al (2020) ENSINO REMOTO EMERGENCIAL - Proposta - de - Design - Organizacao - Aulas (UFRN)Documento17 pagineGarcia Et Al (2020) ENSINO REMOTO EMERGENCIAL - Proposta - de - Design - Organizacao - Aulas (UFRN)sanziaNessuna valutazione finora
- Conceito de BeloDocumento17 pagineConceito de BeloDebora Mendonça CavalcantiNessuna valutazione finora
- Introduç - o A Educaç - o A DistânciaDocumento122 pagineIntroduç - o A Educaç - o A DistânciaDanilo Camara CarettaNessuna valutazione finora
- Tese Inconsciente Uma Reflexao Desde A Psicologia de Vygotsky PDFDocumento219 pagineTese Inconsciente Uma Reflexao Desde A Psicologia de Vygotsky PDFDeivson Filipe BarrosNessuna valutazione finora
- Robert Gagné: Eventos de instrução para aprendizagemDocumento11 pagineRobert Gagné: Eventos de instrução para aprendizagemArthur MelloNessuna valutazione finora
- Teoria Fundamentada como método de pesquisaDocumento8 pagineTeoria Fundamentada como método de pesquisaMarcos FariasNessuna valutazione finora
- Exame-Filosofia 2007fase2Documento21 pagineExame-Filosofia 2007fase2daniela_vanessaNessuna valutazione finora
- CASTORIADIS A Lógica Dos Magmas e A Questão Da AutonomiaDocumento30 pagineCASTORIADIS A Lógica Dos Magmas e A Questão Da Autonomialilidovalle100% (1)
- PDFDocumento308 paginePDFEnzo PassosNessuna valutazione finora
- Arte e Filosofia Na Mediação de Experiências Formativas ContemporâneasDocumento219 pagineArte e Filosofia Na Mediação de Experiências Formativas ContemporâneasmarcosmcjNessuna valutazione finora
- Taxonomia de Bloom Leitura para A Próxima AulaDocumento11 pagineTaxonomia de Bloom Leitura para A Próxima AulaRobenil AlmeidaNessuna valutazione finora
- Metodologia CientificaDocumento108 pagineMetodologia CientificaMarcio PereiraNessuna valutazione finora
- Resumos metodológicosDocumento8 pagineResumos metodológicosVicente PerezNessuna valutazione finora
- As Áreas Da FilosofiaDocumento3 pagineAs Áreas Da FilosofiaAna PedrosoNessuna valutazione finora