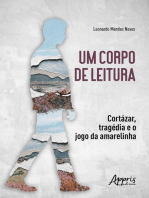Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Revista Abril 9
Caricato da
Sarah CarmoCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Revista Abril 9
Caricato da
Sarah CarmoCopyright:
Formati disponibili
POESIA EM DILOGO
R
E
V
I
S
T
A
D
O
N
C
L
E
O
D
E
E
S
T
U
D
O
S
D
E
L
I
T
E
R
A
T
U
R
A
P
O
R
T
U
G
U
E
S
A
E
A
F
R
I
C
A
N
A
D
A
U
F
F
A
B
R
I
L
9
Revista do Ncleo de Estudos de
Literatura Portuguesa e Africana da UFF
ISSN 1984-2090
ABRIL
A Revista ABRIL disponibilizada exclusivamente
em meio eletrnico, podendo ser acessada pelas URLs:
http://www.uff.br/revistaabril ou http://www.uff.br/nepa
ABRIL Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF
Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
EDITOR RESPONSVEL
Laura Cavalcante Padilha
COMISSO EXECUTIVA
Dalva Calvo
Ida Maria Santos Ferreira Alves
Maria Lcia Wiltshire de Oliveira
CONSELHO EDITORIAL
Ana Mafalda Leite (Universidade de Lisboa)
Benjamin Abdala Jnior (USP)
Cleonice Berardinelli (UFRJ)
Francisco Noa (Universidade Eduardo Mondlane)
Inocncia Mata (Universidade de Lisboa)
Joo Barrento (Universidade. Nova de Lisboa)
Jorge Fernandes da Silveira (UFRJ)
Lelia Parreira Duarte (PUC-MG)
Margarida Calafate Ribeiro (CES / Universidade de Coimbra)
Maria Theresa Abelha (UFRJ)
Mrio Csar Lugarinho (USP)
Maria Nazareth Soares da Fonseca (PUC-MG)
Monica Figueiredo (UFRJ)
Nuno Jdice (Universidade Nova de Lisboa)
Paulo Motta de Oliveira (USP)
Rosa Martelo (Universidade do Porto)
Silvio Renato Jorge (UFF)
EQUIPE TCNICA
Diego Ferreira Marques
Ivan Takashi Kano
Apoiado pela Universidade Federal Fluminense com recursos do Programa Auxlio Publicao 2012
CORRESPONDNCIA:
NEPA - Revista Abril
Universidade Federal Fluminense - UFF | Instituto de Letras
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, sala 403, Bloco C - Campus do Gragoat
So Domingos - Niteri - RJ | CEP 24210-201
Fone: (21)26292549 | 2629-2618 | 2629-2608 | E-mail: revistaabril@vm.uff.br
Projeto Grfco: Diego Marques
Diagramao: Joana Lima - Laboratrio de Livre Criao | UFF - IACS
Capa: Foto gentilmente cedida por Alain Gavage, fotografo Belga que atualmente reside em So Paulo.
Dados para Catalogao:
ABRIL - Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF.
Niteri: NEPA/UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012. Semestral.
Disponvel em: http://www.uff.br/nepa
I. Peridicos. 1. Literatura Portuguesa;
2. Literaturas Africanas de Lngua Portuguesa;
3. Literatura Comparada. II. Literaturas de Lngua Portuguesa: Teoria e Crtica.
ISSN 1984-2090
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura
Portuguesa e Africana da UFF
POESIA EM DILOGO
Org. Ida Alves e
Laura Padilha
ABRIL
SUMRIO
POESIA EM DILOGO
DE IMAGEM EM IMAGEM ................................................................................................................................ 13
Rosa Martelo
VERSOS E GRITOS: MEMRIA POTICA DA GUERRA COLONIAL .......................................................... 25
Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi
VER E ESCREVER: TRNSITO INTERSEMITICO NA POESIA ......................................................... 40
Aurora Gedra Ruiz
IMAGINATIO LOCORUM. PARA UMA GEOPOTICA DE EUGNIO DE ANDRADE ........................... 53
Vincenzo Russo
REPRESENTAES DA ME-FRICA NA POESIA MOAMBICANA
E NA POESIA AFRO-BRASILEIRA ....................................................................................................... 65
Donizeth Santos
O POEMA PORTA ABERTA TOCHA ACESA DE CONCEIO LIMA ............................................... 77
Jane Tutikian
NO MEIO CRESCE INSONDVEL O VAZIO: APROXIMAES ENTRE AS POTICAS
DE JOS CRAVEIRINHA E PAULA TAVARES .......................................................................................... 91
Patricia Ribeiro
ENTRE O OLHAR E O DIZER: PALAVRA E IMAGEM NAS OBRAS DE
MARIO CESARINY E ALEXANDRE ONEILL ........................................................................................ 109
Marcus Rogrio
CANDID CAMERA? (DA PRESENA E USOS DO FOTOGRFICO EM ALGUMA
POESIA PORTUGUESA CONTEMPORNEA) .................................................................................... 131
Paulo Alexandre Pereira
MANUEL ANTNIO PINA ENTRE ROSSELLINI E SHINDO: OS PROCEDIMENTOS NEO-
REALISTAS DUM REGRESSO INFNCIA .......................................................................................... 150
Paulo Nen
MARIA&JOS: O LIRISMO ELEGACO DE CRAVEIRINHA ............................................................... 165
Ana Mafalda Leite
ARADO DE A.M. PIRES CABRAL: UMA PAISAGEM DE PROXIMIDADE ...................................... 172
Isabel M.F.Alves
O TECLADO ACENDE O CRAN: A POESIA CINEMATOGRFICA
DE MANUEL GUSMO .............................................................................................................................. 187
Marleide Anchieta
REVISITAES POTICAS E PICTRICAS DA ILHA DE MOAMBIQUE ..................................... 205
Carmen Lucia Tind Seco
ENTREVISTA / RESENHAS
A PALAVRA VOADA: ENTREVISTA COM MARIA TERESA HORTA ............................................... 219
Sarah Carmo
UM ORIENTALISMO ESCLARECIDO? AS LENDAS DA NDIA DE
FILIPE CASTRO MENDES .......................................................................................................................... 224
Duarte Drumond Braga
CALEIDOSCPIO DE LUZ INEXPLICVEL ........................................................................................... 230
Ricardo Marques
NO CORPO, NA CASA E NA CIDADE: AS MORADAS DA FICO .............................. 237
Eduardo da Cruz
TEXTOS E PRETEXTOS POESIA PORTUGUESA: OS LTIMOS 20 ANOS ............... 241
Tamy Macedo
INTERLOCUES POTICAS
RUY BELO: BRASIL, PAS POSSVEL ............................................................................................ 246
Jorge Fernandes da Silveira
NORMAS / EMENTAS
PRXIMAS EDIES ........................................................................................................................... 253
9
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
APRESENTAO
A revista Abril dedica seu nmero 8 a pensar na relao entre
Literatura e Demonismo, a partir, decerto, da abertura de sentidos do que
seja demonaco. Sim, o poder dos demnios, mas que demnios? O de-
mnio da prpria existncia do literrio, exerccio que subverte a lngua,
seu, nosso material; o demnio, portanto, da liberdade feita palavra, e do
desejo, inclusive do conhecimento.
O que se entende como mal alterado pela confgurao est-
tica do potico (no apenas a poesia, mas tudo o que cabe com elegn-
cia, mesmo que disforme, no nome literatura), e a malignidade mesma se
questiona: para haver o mal, preciso haver o bem, no como verdade
indiscutvel, mas conceito, entendimento perecvel e mutvel. Pensar, pois,
o demonismo equivale a discutir a tica e seus exerccios revolucionrios,
transgressores, de inovao, assim como os segredos e suas possibilidades
de desvelamento, o horror e suas confguraes polticas e psicolgicas.
Para tarefa to exigente, contamos com admirvel elenco de tex-
tos. Abrindo o nmero, Pedro Serra l um conto de lvaro do Carvalhal
para pensar no diablico papel do leitor no jogo literrio. Fechando a seo
de ensaios, Maria de Lourdes Soares aborda a problemtica demonaca,
ednica e angelical na inovadora obra de Maria Gabriella Llansol. Em ter-
mos de dissidncia e desvio, pouco se escreveu em poesia portuguesa com
tanta intensidade como Os Lusadas; nesse poema-universo que Luiza
Nbrega mergulha para refetir acerca do entendimento camoniano da
personagem Baco. Ainda em poesia portuguesa, Gasto Cruz tem sua fa-
ceta ominosa lida por Antnio Cortez, e Paulo Ricardo Braz de Sousa passa
pelo erotismo em Antnio Franco Alexandre para refetir sobre o entendi-
mento de fazer potico desse autor.
A prosa portuguesa de fco objeto de mais ensaios, para alm
dos dedicados ao fantstico Carvalhal e inclassifcvel Llansol. Pedro Mar-
tins investiga o demonismo, especialmente voltado sexualidade, em Raul
Leal, autor de Orpheu; Antnio Augusto Nery visita um Ea de Queirs
diablico e humanista, enquanto Ana Mrcia Alves Siqueira e Felipe Hlio
10
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
da Silva Dezidrio, no mesmo sculo XIX mas dcadas antes, lidam com a
face noir da obra de Alexandre Herculano. J no terreno da prosa contem-
pornea, Dbora Renata de Freitas Braga e Otvio Rios buscam perceber,
em Saramago, mgicos desvios do feminino, e Juliana S confronta-se com
fguraes do mal num romance de Gonalo M. Tavares.
No vrio universo das literaturas africanas de lngua portuguesa,
dois textos: partindo da ideia de traduo (gesto j desviante), de fantstico
e convidando, como modo de ler, a fsica quntica, Paula Gndara comenta
um romance do moambicano Mia Couto. J Robson Dutra pensa histria
e sociedade, entre outros tpicos, a partir de diversas polarizaes postas
em cena numa obra da tambm moambicana Paulina Chiziane.
A entrevista deste nmero, feita por Deyse dos Santos Moreira,
com o poeta portugus Lus Quintais que desfruta, a propsito, do
raro privilgio de ter duas antologias editadas no Brasil. A resenha, de
Duarte Drummond Braga, comenta A nova poesia portuguesa, livro de
Manuel de Freitas.
A partir do grande prazer que nos deu, e d, a montagem da Abril
8, desejamos que, imitando o algarismo que, posto horizontalmente, repre-
senta o infnito, o prazer (diablico, claro) do leitor tambm seja sem fm.
Niteri, abril de 2012,
Dalva Calvo
Luis Mafei
(organizadores)
P
O
E
S
I
A
E
M
D
I
A
L
O
G
O
13
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
DE IMAGEM EM IMAGEM
1
Rosa Maria Martelo
(Universidade do Porto Portugal)
RESUMO
H 50 anos, a poesia portuguesa atribua imagem um papel matricial. Em
registos muito diversos, os poemas valorizavam formas de experimenta-
o discursiva nas quais a imagem surgia como motor de conhecimento, e
mesmo de epifania. Interrogava-se a viso e as vises (Fiama), ou combina-
va-se o visionarismo e a falncia da viso (Luiza Neto Jorge). Pretendia-se
pensar no mago das imagens (Fiama, novamente), ou aguardava-se o
dom apenas de uma imagem, como diria mais tarde um verso de Herberto
Helder. Retrospectivamente, ao recordar os anos de Poesia 61, Gasto Cruz
resumiu esta infexo em poucas palavras: era de imagens que ns achva-
mos que a poesia vivia.
Sendo incontveis os sentidos da palavra imagem, valer a pena perguntar
que imagens eram estas. A que se devia o seu protagonismo? Como funcio-
navam? Que mundos pretendiam descobrir? Eis as questes que procuro
equacionar, acentuando a condio profusa, plural, da imagem potica
ainda quando pensada como uma imagem (no singular).
PALAVRAS-CHAVE: poesia; dcada de 60; imagem, metfora.
ABSTRACT
Fify years ago, image played a matricial role in Portuguese poetry. In many
diferent ways, poems valued forms of discursive experimentation where
image was a source of knowledge, or even epiphany. Vision and insight
were evaluated (Fiama) and, in other cases, visioning and the crisis of vi-
sion were combined (Luiza Neto Jorge). Te aim was to think about the
core of the images (again, Fiama) or to wait for the gif of a single image,
as Herberto Helder would later write in one of his poems. Looking back,
recalling the years of Poesia 61, Gasto Cruz would sum up this infexion
in a few words: we thought poetry was fed by images.
Considering the countless meanings of the word image, it is worth asking
what these images were. What was the reason behind their signifcance?
How did they work? What worlds were they supposed to fnd? Tese are the
questions I will try to address, focusing on the profuse, plural, condition of
the poetic image even when it is thoughtas a single image (in the singular).
KEYWORDS: poetry; 1960s; image; metaphor.
14
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Lhomme est le seul tre qui sintresse aux images en tant que telles.
Giorgio Agamben, Image et Mmoire
provvel que todos estejamos de acordo quanto ao facto de a
imagem ter desempenhado um papel estruturante nas poticas dos anos
60 (em Portugal e no apenas em Portugal), mas tambm muito prov-
vel que os critrios que nos levam a considerar esta afrmao como uma
descrio exacta possam ser variadssimos. Por um lado, porque a noo
de imagem tem uma abrangncia extremamente vasta que se prende com
a prpria historicidade do termo, com o seu uso em diferentes disciplinas
e por referncia a diferentes artes; por outro lado, porque no certo que
a recorrncia deste termo na poesia e na crtica da dcada 60 acontea na
base de um entendimento unvoco.
Consideremos duas ocorrncias do conceito de imagem na crtica
desses anos. A primeira extrada de um texto de Ana Hatherly, intitulado
A reinveno da leitura:
Uma outra defnio [de poesia concreta] dada na
revista de vanguarda inglesa Link, em 1964, num
texto intitulado Como ler poesia concreta: - Se
a primeira vez que a v, no tente l-la como poesia,
melhor, nem sequer tente l-la de todo: olhe simples-
mente para ela. Examine os espaos entre as letras,
as variaes tipogrfcas, os espaos volta das pala-
vras. Considere-a como uma imagem. Depois veja que
ideias surgem dessa imagem associadas com as letras
e as palavras que h nela. (HATHERLY, 1981, p. 146,
destaques meus)
Confrontemos, agora, esta noo de imagem com a que podemos
encontrar numa passagem do ensaio Funo e justifcao da metfora na
poesia de Eugnio de Andrade, de Gasto Cruz, cuja primeira publicao
data de 1970:
O que existe de mais especfco na linguagem da poe-
sia , efectivamente, essa capacidade de tornar nicas
as palavras, os nomes, convertendo-os em imagens.
Num contexto potico, no existem substantivos co-
muns. Nomear produzir imagens e uma das caracte-
rsticas fundamentais da imagem potica a unicida-
de. A metfora uma intensifcao da imagem (sobre
a qual, agora, uma outra se produz). Ou, inversamente,
a imagem j uma metfora. (CRUZ, 2008, p. 140)
2
Os sentidos em que o termo imagem ocorre nos dois textos so
notoriamente diferentes. E de tal modo so diferentes que essa diferena
permite que, no primeiro texto, praticamente se oponha a noo de ima-
gem noo de poesia (nas sucessivas proposies no tente l-la como
poesia, nem sequer tente l-la, considere-a como uma imagem), en-
15
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
quanto o segundo texto faz coincidir a ideia de poesia com a emergncia da
imagem, mas obviamente uma imagem que pouco tem a ver com a noo
presente no texto de Ana Hatherly, se bem que a unicidade sublinhada por
Gasto Cruz tenha em conta a materialidade discursiva do texto.
No excerto de Ana Hatherly, o termo imagem remete antes de
mais para a iconicidade, para o visvel, para a espacialidade; no texto de
Gasto Cruz, o que est em causa , antes de mais, o verbal, o legvel, o
simblico. A relao entre imagem e metfora estabelecida pelo poeta no
deixa dvidas acerca da referncia retrica e fgural que norteia as suas con-
sideraes. J Ana Hatherly chama a ateno do leitor para a materialidade
grfca e grafemtica do poema, lembra-lhe que um poema concreto se de-
fne no plano da materialidade, verbivocovisual (terminologia de Joyce),
tenso de palavras-coisas no espao-tempo (HATHERLY, 1981, p. 146):
Para o poema concreto a sua forma visvel tambm
a sua estrutura, diz Gomringer, e quando ele conce-
be e defne o poema como uma constelao, a partir
da noo de diviso prismtica da ideia, de Mallarm,
mais do que a execuo duma imagem, uma nova
pluralidade da leitura da imagem o que na verdade
est a propor. (HATHERLY, 1981, p. 146-7)
Se usarmos uma distino que a lngua inglesa permite fazer,
poderemos considerar que Ana Hatherly sublinha a dimenso de picture
que tambm pode ser explorada no poema, de resto, sem excluir que esta
mantenha articulaes com as imagens verbais (da a pluralidade da leitura
defendida), enquanto Gasto Cruz se atm noo de image, no sentido de
imagem mental e de imagem retrica.
Os dois entendimentos da imagem exemplifcados nos excertos
transcritos estiveram muito presentes nas poticas de 60. A ateno mate-
rialidade grfca e fonemtica do poema, embora mais radicalmente explo-
rada pelos autores associados Poesia Experimental, no deixou de se fazer
sentir em graus variados como uma questo determinante para a refexo
crtica, questo que haveria de prolongar-se ainda pela dcada seguinte.
Nos anos sessenta, o apelo a uma leitura visual, icnica, do poema ocor-
re tambm em poetas bastante distantes do concretismo. Lembre-se, por
exemplo, o Divertimento com sinais ortogrfcos, includo por Alexandre
ONeill em Abandono Vigiado (1960), a explorao tipogrfca do tamanho
das letras e respectivos espaamentos em poemas como As casas, em Ter-
ra Imvel, de Luiza Neto Jorge (1964), ou o uso de chavetas e outros recur-
sos tipogrfcos em Micropaisagem, de Carlos de Oliveira (1968).
Se atentarmos na defnio proposta por Jacques Morizot para o
termo imagem, veremos que este tipo de experimentao ao nvel da poesia
desarruma aquilo que o investigador sistematiza: Image peut sentendre
en un sens matriel et dsigne une espce dobjets du monde, ct dautres,
ou bien en un sens formel et renvoie alors un schme dorganisation et de
prsentation de contenus de pense (MORIZOT, 2004, p. 17). Mas, como
16
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
o prprio Morizot reconhece, a experimentao esttica vinha, de h mui-
to, a tornar pouco operacional uma distino como esta, que apenas fun-
cionou bem enquanto a literatura e as artes visuais se mantiveram como
campos estanques e a uma distncia que as vanguardas histricas estreita-
ram defnitivamente. E se Morizot chama a ateno para o modo como as
vanguardas histricas autonomizaram a imagem pictrica da semelhana
e da representao, ao mesmo tempo que nela integravam elementos tipo-
grfcos que acentuavam o tratamento do quadro como uma superfcie pla-
na que se mostrava enquanto tal (MORIZOT, 2004, p. 27-28), poderemos
acrescentar que um poema como Un coup de ds, ou os Calligrammes,
de Apollinaire, ou Manucure, de S-Carneiro produziram simetricamen-
te uma apropriao e uma evidenciao da componente icnica por parte
da poesia. No era uma questo nova, e a Poesia Experimental procurou
historiar a presena da poesia visual em pocas muito remotas
3
; porm era,
sem dvida, uma questo terica a exigir novas formulaes. Em termos
tericos e estticos, o experimentalismo da poesia visual dialogava sobre-
tudo com as vanguardas histricas, retomava questes notoriamente em
aberto, e uma das acepes em que a imagem ento abre uma problemtica
estruturante precisamente a que faz do poema uma coisa para ver, em
sentido icnico. Para ver-ter-ser, como resumiu Melo e Castro (in HA-
THERLY, 1981, p. 153).
Mas importa agora contextualizar a citao do ensaio de Gasto
Cruz. As consideraes que citei tinham sido suscitadas pelo poema Os
Amantes sem Dinheiro, de Eugnio de Andrade, e mais precisamente pela
considerao de, nesse poema, [o] tempo dos segredos, isto , o tempo das
metforas, [ser] o tempo do amor (CRUZ, 2008, p. 140). o amor que
justifca a metfora e a funo desta evitar que os olhos dos amantes sejam
uns olhos como todos os outros comenta Gasto Cruz, citando o poe-
ma de Eugnio de Andrade (CRUZ, 2008, p. 140). E faz ento uma genera-
lizao importante: E nisto se contm, no apenas uma arte potica, mas
a arte potica (itlico do autor). Que seria, como vimos, a arte (em geral, e
no particular a Eugnio de Andrade) de converter os nomes em imagens,
ou seja, a arte de converter um estado de coisas noutro estado de coisas,
deslexicalizando os nomes, desviando-os do seu uso comum. s vezes tu
dizias: os teus olhos so peixes verdes! / E eu acreditava so os primeiros
versos do poema de Eugnio de Andrade comentado por Gasto Cruz.
Neste contexto, a noo de imagem no envolve nenhuma dimen-
so de iconicidade, porm remete para uma espcie de transfgurao obti-
da pela metfora, na qual a experincia do olho da mente no pode deixar
de estar envolvida. Num texto de homenagem a Fiama, Gasto Cruz recor-
dou h poucos anos o contexto que viria a dar origem publicao colectiva
Poesia 61, valorizando o papel da imagem e articulando-a com a viso:
E era de imagens que ns achvamos que a poesia vi-
via, imagens fortes e imprevistas, para me servir de
dois adjectivos usados por Camilo Pessanha no po-
17
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ema Branco e vermelho: A dor, forte e imprevista/
Ferindo-me, imprevista,/ De branca e de imprevista/
Foi um deslumbramento,/ Que me endoidou a vista,/
Fez-me fugir a vista,/ Num doce esvaimento,; ima-
gens como as que encontrvamos na poesia de Ce-
srio, de Pessanha, de S-Carneiro, de Pessoa. E que,
naquele fnal da dcada de 50, voltvamos a descobrir
nos poemas de Sophia, de Ramos Rosa, de Cesariny,
de Eugnio. (CRUZ, 2008, p. 294)
Tem sido defendido por muitos estudiosos da imagem visual que
esta contm sempre um potencial de sentido proposicional, para usar os
termos de J. Bouveresse (apud MORIZOT, 2004, p. 15). Jean-Luc Nancy
um dos autores que defendem essa perspectiva, mas o flsofo complemen-
ta-a considerando que, simetricamente, ao fundo do texto h sempre ima-
gem. Depois de recordar o signifcado da palavra latina oscillum (pequena
boca, mas tambm uma pequena mscara de Baco que servia de espantalho
nas vinhas), Nancy atribui a Oscilante o sentido do que se balance entre
bouche et visage, entre parole et vision, entre emission de sens et reception
de forme (NANCY, 2003, p. 137), e ao fundo de cada um destes pares colo-
ca o Distinto, a coisa mesma, que se mantm distncia. Nancy pretende
mostrar que, se o texto o distinto da imagem, do mesmo modo a imagem
o distinto do texto. Ou seja, haveria na imagem uma vocao de texto
(de palavra, emisso de sentido), uma vocao proposicional, e haveria no
texto uma vocao de imagem (de viso e de forma), o que poria em causa
uma oposio linear que associasse texto e signifcao, por um lado, e ima-
gem e forma, por outro (cf. NANCY, 2003: 121).
4
Voltemos aos poetas que comecei por confrontar. Poderemos ve-
rifcar que Ana Hatherly sublinha essa vocao de viso e de forma existen-
te no texto radicalizando uma conscincia da forma material que o verso
e a estrofe sempre tinham explorado e ligando-a com a percepo visual
da espacialidade grfca; j Gasto Cruz associa a vocao de viso e de
forma a um processo de deslocao semntica que explora a viso ao n-
vel da imagem mental, associando imagem e imaginrio. Importar notar
que no o faz tendo por referncia a cfrase, mas a metfora, e este um
aspecto importante, j que nos permite compreender que a viso, embora
presente, se pretende livre dos constrangimentos do olhar. Vale a pena con-
vocar aqui um clebre texto de Blanchot, Parler, ce nest pas voir, includo
em LEntretien Infni (1969), um texto pelo qual Deleuze tinha uma parti-
cular predileco: Parler, ce nest pas voir, distingue Blanchot, [p]arler
libre la pense de cette exigence optique qui, dans la tradition occidentale,
soumet depuis des millnaires notre approche des choses et nous invite
penser sous la garantie de la lumire, ou sous la menace de labsence de
lumire (BLANCHOT, 1969, p. 38). E registo ainda outra passagem do
mesmo entretien:
(...). Le langage fait comme si nous pouvions voir la
chose de tous les cts.
18
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Et la perversion commence alors. La parole ne se
prsente plus comme une parole, mais comme une vue
afranchie des limitations de la vue. Non pas une ma-
nire de dire, mas une manire transcendante de voir.
(BLANCHOT, 1969, p. 40)
Encontramos aqui equacionada uma questo fulcral para o en-
tendimento da imagem na poesia dos anos 60. A ideia perversa, diz o
texto de Blanchot de que a linguagem nos permitiria ver a coisa de todos
os lados (como se a palavra deixasse de o ser para se transformar em viso
livre de constrangimentos, como se pusesse de parte o dizer em favor de
uma maneira transcendente de ver) remete para uma longa tradio ide-
alista, muito particularmente para as teorias romnticas da imaginao e
para o seu afastamento relativamente ao empirismo lockiano. Com os ro-
mnticos, resume W. J. T. Mitchell, abstracted image displaces and subsu-
mes the empiricist notion of the verbal image as a perspicuous representa-
tion of material reality, just as the picture had earlier subsumed the fgures
of rhetoric (MITCHELL, 1987, p. 25). A este nvel, poderemos delinear
uma primeira matriz para as imagens desenvolvidas na poesia moderna.
Todavia, Blanchot no se limita a pr de parte essa contraprova da luz,
do visvel. O que Blanchot pe de parte o prprio par visvel/invisvel
em si mesmo, pois o que lhe interessa o acontecimento indescritvel, que
prescinde inteiramente de uma funo de representao e duplica o uso da
linguagem numa meditao acerca dos usos da linguagem:
Pour tenir jusquau bout la rigueur de cette phrase:
Parler, ce nest pas voir, nous devons en dployer la
force jusque dans nos propres paroles et nos propres
penses. Nous ne devons pas penser comme si nous
voyons lvnement. Lvnenemt nest pas lavnement
de quelque chose. Ce nest pas un objet dit, mais
le mouvement de dire que lvnement efectue lui
mme. (JANVIER, s.d., p. 8-9)
Pretendendo colocar em evidncia os pontos de contacto en-
tre o pensamento de Blanchot e o de Deleuze, Antoine Janvier, que acabo
de citar, conclui que falar no seria, ento, ver, mas fazer com que se veja
(faire voir) (cf. JANVIER, s. d., p. 13). Estaramos, assim, ao nvel de um
de-fora da linguagem, que no lhe exterior,
5
mas que a exterioridade
da linguagem, no qual viso e audio esto livres tanto da dominncia
do ocularcentrismo ocidental (JAY, 1993) quanto do prprio idealismo
romntico. Nesta perspectiva, viso e audio (como imagens, na escrita)
estariam directamente ligadas crise modernista da representao e impli-
cariam a dimenso meta-refexiva desenvolvida pelos Modernismos e en-
fatizada pelas poticas de 60. Construdas sobre a sugesto do sensvel, mas
acontecendo no limite da linguagem, as imagens (em sentido retrico, mas
tambm na sua ambio de viso e de forma) trabalhariam sobre a falncia
dos sentidos. Dir-se-ia que a lngua tomada por um delrio, que a faz
precisamente sair dos seus prprios sulcos, afrma Deleuze, em Crtica e
Clnica, para depois sublinhar o processo de levar a linguagem a um limite,
19
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
(...) a um exterior ou a um avesso consistindo em
Vises e em Audies que j no fazem parte de ne-
nhuma lngua. Essas vises no so fantasmas, mas
verdadeiras ideias que o escritor v e ouve nos inters-
tcios da linguagem. (...) Elas no esto no exterior da
linguagem, elas so o seu exterior. O escritor enquan-
to vidente e ouvinte, objectivo da literatura: a pas-
sagem da vida na linguagem que constitui as Ideias.
(DELEUZE, 2000, p. 16)
Percebemos assim melhor, talvez, que a imagem surja nos poetas
dos anos 60 como uma fgura retrica, associada metfora, e como um
entendimento da escrita que convoca a viso e a audio a um nvel que
nada tem a ver com a cfrase ou com a explorao do reconhecimento do
mundo habitual por parte do leitor. Trabalhar na fronteira do sentido (sig-
nifcncia), usando aquilo que o fundo de viso que existe no texto, sem-
pre um acontecimento libertrio (a partilhar com o leitor). Da a formu-
lao do poema como espao, lugar (Herberto Helder) ou rea branca
(Fiama),
6
um espao de resistncia ao hbito, ordem, ao senso-comum,
o que pode envolver dimenses polticas (a rejeio da Guerra Colonial e
do fascismo, como acontece em Fiama e Gasto Cruz; a revisitao irnica
do campo e da cidade, em Armando Silva Carvalho; a recusa das polticas
de gnero conservadoras, violentamente postas em causa por Neto Jorge e
Maria Teresa Horta, etc....). Antnio Ramos Rosa insiste frequentemente
na condio de liberdade livre da poesia, evocando com esta expresso o
visionrio e visualista Rimbaud. E, ao defnir a imagem potica moderna,
num texto de 1959, afrma:
A imagem potica moderna restabelece a unidade
na multiplicidade, recupera a riqueza da percepo
original nas suas vrias signifcaes, estabelece a
identidade dos contrrios, cria uma nova realidade
conservando, no entanto, cada termo concreto e inde-
pendente. O princpio de contradio? Esse precioso
instrumento ser uma regra absoluta? A linguagem
potica dispensa-o por intil a este novo nvel em que
o imaginrio e o real se identifcam. (ROSA, 1986, p.
22)
H toda uma rede de heranas que vm confuir nesta defnio,
desde os mltiplos processos de concreo imagtica desenvolvidos por
simbolistas e modernistas at ao visionarismo romntico entretanto revisi-
tado e radicalizado pelos surrealistas. A diversidade das poticas pessoais
desenvolvidas ao longo da dcada de 60 d bem conta da diversidade dos
campos de referncia ento em presena. Todavia, a explorao da iconici-
dade do poema, bem como do fundo de viso presente no texto, frequen-
temente atravs de processos metafricos que procuram evidenciar a plas-
ticidade imagtica desse mesmo fundo de viso, parecem ser dominantes.
Em Terra Imvel (1964), Luiza Neto Jorge problematiza a viso num poema
intitulado Os olhos:
20
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Os olhos poderiam viver
nica
mente
Conhecem o ventre
me
viram nascer
So atrozes
viram-se
Continuam os cios interiores
(JORGE, 1993, p. 67)
A ambivalncia relativamente relao entre viso e imagem
potica notria neste texto. Neto Jorge inscreve-a desde logo na forma
grfca, ao separar em dois versos o advrbio unicamente, abrindo a possi-
bilidade de nele lermos tambm a palavra mente, adjectivada como nica.
Deste modo, a viso pode ser entendida num sentido estritamente percep-
tivo (os olhos, unicamente), mas tambm num sentido discursivo, j que,
atrozes, os olhos seriam a nica / mente. Por isso, eles viram-se (verbo
ver ou verbo virar?), sendo por um processo de concreo da imagem po-
tica (Conhecem o ventre me, isto , vem o que no pode ser visto) que
o poema insiste na viso interior que explicitada no verso fnal (Conti-
nuam os cios interiores). E poderamos atentar ainda na repetio fone-
mtica que associa as palavras olhos, atrozes, cios (interiores), a qual con-
tribui para acentuar a estranheza da viso associada linguagem na poesia.
Como dizia Andr Breton, verbal inspiration is infnitely richer in visual
meaning, infnitely more resistant to the eye, than visual images properly
so called (apud JAY, 1993, p. 260). E esta dominncia da textualidade
sobre a percepo visual que vamos encontrar muitas vezes associada ao
fundo visual do texto nos poetas emergentes na dcada de 60, embora ela
no deixe de se articular com a iconicidade, ao nvel do processo da leitura:
no poema de Neto Jorge, importa ainda observar que a repetio fonemti-
ca, em olhos, atrozes, cios, envolve a repetio grafemtica da letra o, cuja
forma visualmente associvel com a representao icnica do olho.
A minha viso confante a alucinao, escrever Herberto Hel-
der, em Photomaton & Vox (2006, p. 22), exprimindo uma idntica descon-
fana relativamente percepo visual e subscrevendo o mesmo tipo de
investimento no fundo de viso envolvido no texto. A escrita de Herberto
Helder inclui uma elaboradssima meditao em torno da imagem, na qual
ser de destacar o fragmento memria, montagem, de Photomaton & Vox.
Mas a palavra imagem pontua toda a poesia herbertina, atravs de formu-
laes como as que referem os enxames das imagens (HELDER, 2009,
p. 401), ou a transfuso das imagens (HELDER, 2009, p. 94), as quais
21
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
remetem para a ideia de que a poesia seria uma montagem (em sentido
cinematogrfco) de imagens: () Criana ou leo danando de porta a
porta. Unindo,/ pelo nervo de imagem em imagem/ em chaga, o ouro que
espiga/ nos mortos e o ouro/ que espiga entre as garras. () (HELDER,
2009, p. 457). Nestes versos, gerados por uma matriz metafrica, podemos
observar os efeitos de um princpio construtivo que, sendo essencialmente
verbal e fgural, explora esse fundo de viso que Nancy identifca no texto,
naquilo em que ele se liberta do ocularcentrismo. E da que, em Herberto
Helder, a viso surja muitas vezes associada cegueira (e esta ao saber,
como na fgura de Tirsias). Quando Herberto Helder valoriza na Anuncia-
o de Fra Angelico precisamente o que est invisvel, esquerda do quadro
(a motocicleta do Anjo, ou seja, a improbabilidade), acentua precisamente
a liberdade dos espaos poticos relativamente a uma contraprova visual
perceptiva.
7
O que o poeta chama alucinao um efeito de sentido, uma
visualidade apenas verbalizvel e, portanto, livre dessa contraprova.
ainda a importncia atribuda a este fundo de viso presente no
texto que leva Fiama Hasse Pais Brando a criar a expresso opensamen-/
tovisual para falar da poesia (BRANDO, 2006, p. 254). Neste lexema ni-
co, que apenas a pausa mtrica pode separar, ou melhor, escandir, Fiama
diz e mostra a importncia da visualidade, situando-a a todos os nveis de
construo discursiva. E em rea Branca escreve: Penso a minha vida/ no
mago das imagens (BRANDO, 2006, p. 349). A obra de Fiama d-nos
uma das mais elaboradas meditaes sobre a relao entre poesia e imagem
de toda a histria da poesia portuguesa, seria impossvel resumir aqui a sua
evoluo e complexidade. No entanto, lembrarei que a poeta reconhece na
natureza o dom de replicar as imagens (refazer a forma das andorinhas em
novas andorinhas, por exemplo), ao mesmo tempo que observa na poesia
essa mesma capacidade de refazer na diferena. Todavia, entre um e outro
processo o que Fiama reconhece de comum apenas da ordem da afni-
dade: os processos so coordenveis, mas as imagens da poesia nunca se
separam da histria do pensamento e da histria das imagens da poesia e
das outras artes, da cultura e da biografa. Por isso, uma imagem geraria
sempre um desflar de imagens, uma tenso entre actual e virtual, processo
que necessariamente induz uma leitura activa por parte do leitor. o que
Fiama chama imagem profusa:
8
para ela, a imagem da poesia restringe
(recorta, como um plano cinematogrfco enquadra), mas simultaneamen-
te replica e multiplica, do mesmo modo que, no cinema, a leitura da ima-
gem tambm nunca se restringe ao que visvel num plano. Da que Fiama
desenvolva uma rdua meditao no sentido de atingir o despojamento
do que vir a chamar vises mnimas, no que poderemos entender como
uma resposta imagem profusa de que partira, essa mais prxima das
transfuses procuradas por Neto Jorge (1993, p. 142) ou da cega proli-
ferao das imagens que Herberto Helder faz irromper das palavras que
nos metem medo (HELDER, 2006, p. 55).
22
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O pensamento da imagem que encontramos sistematizado em
Campnula, livro publicado por Gasto Cruz em 1978, alerta-nos para o
modo como se tinha vindo a fundar a ideia de poesia na descoberta de um
outro nome
9
que traduziria uma intensifcao da experincia do mundo
atingida atravs da experimentao discursiva. Esse outro nome proviria
de uma deriva entre som e sentido que a materialidade da linguagem pro-
piciava e devia determinar. As leis de inaugurao de um espao potico
no so fundamentalmente muito diversas das que regem o desenvolvi-
mento de um discurso musical, escreve mais tarde Gasto Cruz (2008, p.
31). E justifca: Entre a petite phrase da Sonata de Vinteuil e as frases, as
imagens, as palavras, os sons, que fazem fuir o poema, no haver diferen-
a profunda (CRUZ, 2008, p. 31). Em 1878, era esta a sua Arte Potica:
O mar do fm de maio uma imagem
Das janelas estanques mal o vejo
Sob a humana voz as suas vagas
confundem-se com as vidas palavras
que preenchem o quarto como um verso
(CRUZ, 2009, p.142)
O movimento ondulatrio sugerido no plano do signifcante, a
recorrncia das consoantes nasais, do [a] aberto e do [i], a progressiva en-
trada das fricativas [j] e [v], trazem para o poema o mar como imagem
(visual e sonora). Lentamente, o poema a intensifcao dessas imagens,
uma forma de pensamento visual. A referncia s janelas estanques
sugere o desinteresse por uma potica da representao, mas o poema
apresenta-se como repositrio de imagens de mundo (realidade e estilo, ou
seja, viso cuja nitidez inseparvel de uma forma discursiva). Nos termos
de Ruy Belo, a questo formulada assim: Quando o poeta, no seio de um
poema, profere a palavra rvore (...) como se utilizasse uma verdadeira
rvore, com os seus pssaros, as suas folhas, a sua sombra, a sua tristeza
ou alegria (BELO, 2002, p. 83). O que , nesta frase, a verdadeira rvo-
re? , certamente, o fundo de viso associado ao nome concreto rvore.
Mas repare-se que Ruy Belo logo lhe associa dois substantivos abstractos,
tristeza e alegria, colocados ao mesmo nvel dos pssaros e das folhas da
rvore. E podemos, ento, compreender as razes pelas quais nos anos 60 a
poesia se pretendeu substantiva, nisto reagindo ao expressivismo lrico. O
materialismo lingustico exercia-se entre som e imagem, entre iconicidade
e sentido, como pensamento visual, explorao desse fundo de forma e
de viso que existe no texto, como pretende Nancy. Na tradio das van-
guardas histricas, que atentamente revisitou e consolidou, a poesia de 60
mostrava mostrando-se, pensava pensando-se, porque procurava surpre-
ender a vida nos intertcios da linguagem, para regressar formulao de
Deleuze anteriormente citada. Dizer que era nos interstcios da lingua-
23
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
gem que os poetas encontravam a viso e a forma , ou receio bem que
seja, uma imagem, e eu devia ser capaz chegar a uma formulao literal.
Mas, nos seus melhores momentos, esta poesia corre sempre o risco da
afasia, proscreve a parfrase e difcilmente se deixa descrever. A sua fala
irrompe Quando no h palavra que se siga e apenas uma imagem/ mos-
tre em cima/ os trabalhos e os dias submarinos (HELDER, 2009, p. 43).
Foi deste tipo de viso, indissocivel do discurso como forma que tentei
falar. No fundo, tentei descrever estratgias de liberdade e de resistncia s
quais Herberto Helder tambm tem chamado beleza. H quem lhes cha-
me emoo esttica, mas o fundo de imagem fca mais esbatido, e j no
bem a mesma coisa.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BELO, Ruy. Na Senda da Poesia. Lisboa: Assrio & Alvim, 2002.
BLANCHOT, Maurice. LEntretien infni. Paris: Gallimard, 1969.
BRANDO, Fiama Hasse Pais. Obra Breve. Lisboa: Assrio &
Alvim, 2006.
CRUZ, Gasto. A Poesia Portuguesa Hoje. Lisboa: Pltano Editora, 1973.
______. A Vida da Poesia Textos crticos reunidos. Lisboa: Assrio &
Alvim, 2008.
______. Os Poemas (1960-2006). Lisboa: Assrio & Alvim, 2009.
DELEUZE, Gilles. Crtica e Clnica. Trad. de Pedro Eloy Duarte, Lis-
boa: Edies Sculo XXI, 2000.
HATHERLY, Ana. Po-ex Textos tericos e documentos da poesia ex-
perimental portuguesa. Lisboa: Moraes Editores, 1981.
HELDER, Herberto. Photomaton & Vox. 4. ed. Lisboa: Assrio & Al-
vim, 2006.
______. Ofcio Cantante. Lisboa: Assrio & Alvim, 2009.
MORIZOT, Jacques. Interfaces: texte et image. Pour prendre du recul
vis--vis de la smiotique. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2004.
JANVIER, Antoine. parler, ce nest pas voir... - Deleuze et Blan-
chot entre vnement et dialectique. <http://www.blanchot.fr/fr/index.
php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=41>, s. d. [con-
sultado a 11 de Novembro de 2011].
JAY, Martin. Te denigration of vision in twentieth-century french
thought [1993]. Berkeley, Los Angeles, London: University of California
Press, 1994.
24
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
JORGE, Luiza Neto. Poesia1960-1989. Organizao e prefcio de Fer-
nando Cabral Martins. Lisboa: Assrio & Alvim, 1993.
MITCHELL, W. J. T. Iconology: image, text, ideology [1986]. Chicago
e Londres: Te University of Chicago Press, 1987.
NANCY, Jean-Luc. Loscillation distinct, Au Fond des Images. Paris:
Galile, 2003.
ROSA, Antnio Ramos. Poesia, Liberdade Livre. Lisboa: Ulmeiro, 1986.
Recebido para publicao em 15/05/12.
Aprovado em 15/06/2012.
NOTAS
1 Ensaio elaborado no mbito do Projecto Interidentidades do Instituto de Literatura
Comparada Margarida Losa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Unidade
I&D fnanciada pela Fundao para a Cincia e a Tecnologia, integrada no Programa
Operacional Cincia e Inovao 2010 (POCI 2010), Quadro Comunitrio de Apoio III
(POCI 2010-SFA-18-500). Uma verso abreviada deste texto foi apresentada no Colquio
homenagemliteratura: nos 50 anos de poesia 61, Lisboa, Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, 17 de Novembro de 2011.
2 O ensaio de Gasto Cruz comeou por ser publicado no suplemento literrio do Dirio
de Lisboa, em 25 de Junho de 1970. Na primeira edio de A Poesia Portuguesa Hoje, apre-
sentava uma redaco ligeiramente diferente para o fnal da passagem aqui transcrita: A
metfora uma intensifcao da imagem (sobre a qual, agora, uma outra indistintamente
se produz), como desvio da norma lingustica. Ou, inversamente, a imagem j uma me-
tfora (CRUZ, 1973, p. 99-100).
3 Veja-se, por exemplo, o levantamento apresentado por E. M. de Melo e Castro em A
Proposio 2.01 (Lisboa: Ulisseia, 1965) e o estudo exaustivo da poesia barroca desen-
volvido por Ana Hatherly em A Experincia do Prodgio (Lisboa: IN-CM, 1983).
4 No contexto de uma argumentao diferente, W. J. T. Mitchell tambm defende a re-
newed respect for the eloquence of images and, on the other hand, a renewed faith in
the perspicuousness of language, a sense that discourse does project worlds and states of
afairs that can be pictured concretely and tested against other representations (MITCH-
ELL, 1987, p. 46).
5 Deleuze tem em conta o ensaio dedicado por Foucault leitura de Blanchot (La pense
du dehors, Critique, n 229, 1966).
6 Lugar o ttulo de um livro de poesia publicado por Herberto Helder em 1962. Fiama
publicar rea Branca em 1978.
7 A motocicleta aparece na Anunciao de Fra Angelico. Encontra-se ao lado esquerdo
do quadro, fora dele, pois ao tempo a motocicleta no se investira ainda de valor moral,
poltico, estratgico (HELDER, 2006, p. 102).
8 Fiama usa o adjectivo profusa no poema Quod nihil scitur, para qualifcar a imagem:
Diminuir a rea da/ imagem. Mas profusa escreve Fiama, ao recordar o seu verso inicial
gua signifca ave, que reavalia nesse poema posterior (BRANDO, 2006, p. 476).
9 Outro Nome o ttulo de uma recolha de poemas publicada por Gasto Cruz em 1965.
25
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
VERSOS E GRITOS:
MEMRIA POTICA DA GUERRA COLONIAL
Margarida Calafate Ribeiro
(Universidade de Coimbra)
Roberto Vecchi
(Universidade de Bolonha)
RESUMO
O artigo analisa a memria potica da experincia da Guerra Colonial
identifcando expresses dspares do potico: poemas de valor predominan-
temente documental; uma poesia da poca que integra a Guerra Colonial
e tambm a expe pelo canto; e uma poesia de poetas da Guerra Colonial.
O arquivo potico construdo pela Antologia da Memoria Potica da Guerra
Colonial, organizada pelos autores deste artigo demonstra que s o advrbio
Ainda aquele com que Manuel Alegre fecha uma viagem sem regresso
mostra como a guerra continua por dentro das palavras, por dentro dos
versos, denunciando a profundidade da inscrio da guerra no presente.
PALAVRAS-CHAVE: Guerra Colonial; Memria; Poesia; Trauma.
ABSTRACT
Te article analyzes the poetic memory of the experience of Colonial Wars
identifying disparate expressions of poetic: a sort of poems of documen-
tary value; poetry of the era that integrates Colonial War and also exposes
the theme on the protest song; and poetry from poets of the Colonial War.
Te poetic archive made by the Anthology of Poetic Memory Poetics of Co-
lonial Wars, organized by the authors of this article, shows that only the
adverb Ainda/ Still , one with which Manuel Alegre closes a voyage wi-
thout return shows how the war of continues inside the words, inside
of the verses. It shows the depth inscription of the Colonial Wars in the
Portuguese present time.
KEYWORDS: Colonial Wars; Memory; Poetry; TraumaEntre 1961-1974.
26
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Portugal manteve com as suas ento colnias de Angola, Mo-
ambique e Guin-Bissau uma Guerra Colonial, mobilizando perto de um
milho de homens e tocando praticamente todas as famlias portuguesas.
A experincia da participao portuguesa neste evento de indefnida co-
locao historiogrfca, quer pela denegao que ofcialmente o caracte-
rizou, quer pela radical reformulao geopoltica do pas que a partir dele
se engendrou com a descolonizao, tornou este acontecimento um dos
mais complexos, mas tambm um dos mais trgicos eventos da contempo-
raneidade portuguesa. A experincia coletiva e individual da participao
dos portugueses na Guerra Colonial teve, e continua a ter, o seu registo de
expresso narrativa e crtica, ora atravs de testemunhos de variada ma-
triz, ora atravs de estudos historiogrfcos e o seu registo esttico nas mais
variadas formas de arte da pintura e escultura narrativa, do cinema ao
teatro, da msica poesia. Mas foi sem dvida na literatura que o registo
de reelaborao coletiva e individual do evento se tornou mais marcante,
dando origem a mais de uma centena de romances e a milhares de poe-
mas. Esta poesia, de autores direta ou indiretamente envolvidos na guerra,
e elaborada, ou no momento da vivncia do evento blico, ou em seguida,
enquanto espao de memria e de elaborao ps-traumtica, foi o objeto
de ateno e estudo do projeto Poesia da Guerra Colonial: uma Ontologia
do eu Estilhaado, que decorreu nos ltimos anos no Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra
1
, de que resultou a Antologia da Me-
mria Potica da Guerra Colonial, publicada em Portugal em 2011, pela
editora Afrontamento. Que tipo de poesia esta? Quem so os seus auto-
res? Este evento marcou a poesia contempornea portuguesa? Que tipo de
memria potica est registada nesta antologia?A memria potica surge
de intersees entre ars poetica e ars reminiscendi estruturando uma enrai-
zada tradio, baseada na ideia de formularidade da praxe da citao, da
arte alusiva (CONTE, 1974, p. 44-45).
A memria potica articula-se, portanto, por combinao, acor-
do ou amlgama com a lrica moderna, gerando confguraes e formas
efetivamente prprias. Talvez por essas razes seja necessrio pensar na
memria potica no apenas em termos tericos, mas associando-lhe um
acontecimento que a torne mais imediatamente pensvel. Esse , por exem-
plo, o caso da poesia da Guerra Colonial, que apresenta, por um lado, um
corpus textual muito amplo, ainda no delimitado, que conserva rastos de
experincias e, por outro, memrias traumticas como poucos outros do-
cumentos que se referem ao confito. O objetivo, de fato, que a conjugao
da memria potica com a lrica moderna, ou melhor, com a cultura no
apenas erudita, mas tambm com a cultura de massa, reponha a poesia
como um material fundador da memria contempornea, cujo efeito re-
constitutivo, diga-se de passagem, remete justamente para as aporias do
contexto ps o 25 de Abril e para a urgncia de retecer uma memria co-
mum largamente dilacerada e singularmente fragmentria.
27
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Assim, no heterogneo corpus da poesia da Guerra Colonial, para
alm do cnone de poetas da Guerra Colonial, Manuel Alegre, Fernando
Assis Pacheco e Jos Bao Leal praticamente todas as vozes poticas da
poca se debruaram sobre o evento trgico: Fiama Hasse Pais Brando,
Luza Neto Jorge, Maria Teresa Horta, Jorge de Sena, Nuno Jdice, Joo
Miguel Fernandes Jorge, Gasto Cruz, Pedro Tamen, Ruy Belo, Casimiro
de Brito, Ana Hatherly, Antnio Gedeo, Alexandre ONeill, Jos Manuel
Mendes e tantos outros inscreveram na sua poesia a contemporaneidade
da guerra sobre o seu tempo ou a sua memria. Mas o que talvez seja me-
nos conhecido como a Guerra Colonial condicionou atravs de formas
poticas o campo da cultura de massas.
Nesta medida, importa considerar o imenso grupo de poetas
em armas, que estiveram na Guerra Colonial e que entregaram forma
lrica sentimentos e emoes, medos e desejos, pesadelos e sonhos, cul-
pas e raivas, da sua experincia, hoje publicados em edies de autor, de
pouca circulao ou em livros coletivos que combinam de modos ingnuo
ou mais advertido vrios gneros poticos. Trata-se de um grupo de vozes
absolutamente heterogneo que encontrou no meio potico um modo de
simbolizar o nicho duro e frequentemente opaco, em termos de signifca-
o, de uma experincia na maioria dos casos sofrida e alienada, ou ainda
um modo de exprimir os efeitos posteriores da idealizao que pode ocor-
rer numa fase da vida que, para o bem ou para o mal, se identifca com a
juventude e que s retoricamente se liga a antigos ideais de patriotismo, na-
cionalismo e glria agora esvaziados de contedo. De facto, para a esmaga-
dora maioria, a Guerra Colonial enquanto experincia tambm traumtica
fcou poeticamente registada como um fantasma por esconjurar acenando
dimenso do luto, da perda, da saudade de uma pessoa que se foi, de uma
juventude hipotecada, de uma partida contrariada, de um regresso que no
aconteceu, expresso em milhares de versos que frequentemente povoam o
territrio opaco da escrita ntima poemas, cartas, dirios, etc. ou apare-
cem nas margens de pequenas publicaes dispersas, ou ainda na memria
pblica do canto de interveno, dos cancioneiros ou dos hinos que povo-
am a memria coletiva da Guerra Colonial.
A questo ser ento se uma refexo sobre a memria potica
tem possveis elos em comum com a construo de uma memria cultu-
ral e, sobretudo, pblica, considerando a tenso que marca a relao entre
memria e poesia. O caso em jogo, o da poesia da Guerra Colonial, per-
mite aparentemente responder de modo positivo pergunta. Defne-se de
facto uma dimenso cultural nesta poesia de cariz erudito e, sobretudo,
popular a que se juntam os cancioneiros que nasceram, ora na oposio
frontal ao confito armado, ora no mago das Foras Armadas Portugue-
sas, como foi o caso do conhecido Cancioneiro do Niassa. Ambos pro-
jetam esta memria potica no mbito dos quadros sociais da memria
coletiva, como Maurice Halbwachs (1968), Jan Assmann (1997) e Michael
Pollack (1989) a discutiram. No entanto, poderamos, por exemplo, argu-
28
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
mentar que as letras do Cancioneiro do Niassa, assim como uma massa
considervel da produo potica que lhe foi contempornea, radicalizam
o sentido prprio do potico, ou seja, de facto pem em questo o que a
poesia. O que ocorre na construo dessa memria potica praticamente
ilimitada que desafa e coloca sob suspeita as categorizaes estticas que
provavelmente excluiriam obras como o Cancioneiro do Niassa e uma
vasta parte da poesia da Guerra Colonial de autores no consagrados
uma tenso entre a dimenso singular e dolorosa da experincia mediada
e uma forma potica que universalize e amplie o registo, s vezes direto,
do desabafo emocional. Assim, nesta memria potica da Guerra Colo-
nial, encontramos dspares expresses do potico a partir de um contexto
comum: um material em forma de poesia, no sentido em que possui um
valor predominantemente documental; uma poesia da poca que integra a
Guerra Colonial e tambm a expe pelo canto; e uma poesia de poetas da
Guerra Colonial.
Do ponto de vista do contedo e do valor potico, na Antolo-
gia publicada desenha-se uma sistematizao possvel entre aquilo a que
chamamos os textos-refexo desta guerra testemunhos de uma experi-
ncia por vezes ideologicamente marcada e os textos-consequncia, isto
, aqueles que ultrapassam o carcter meramente testemunhal de uma re-
alidade vivida para, a partir dessa experincia, elaborarem uma refexo
mais ampla sobre o vivido num sentido individual e coletivo. Uma poesia,
portanto, a vrios tempos, elaborada a partir de vrios lugares (geogrfcos,
sociais. polticos, ideolgicos e de gnero), mas tematicamente unida pela
Guerra Colonial.
EU QUERIA APENAS DIZER GARE MARTIMA DE ALCNTA-
RA, LISBOA, NUM ANO QUALQUER ENTRE 1961 E 1974
2
As primeiras notcias dos lugares da guerra em Angola vm logo
em 1963, dos matos de Nambuangongo, pela voz potica de Fernando As-
sis Pacheco. Publicados no seu livro de estreia, Cuidar dos Vivos, O poe-
ta cercado e H um veneno em mim so os dois primeiros poemas de
denncia ativa da guerra em Angola. A estes viriam a juntar-se, Poesias
e Cartas, de Jos Bao Leal, publicadas postumamente em 1966 e 1971,
Praa da Cano (1965) e O Canto e as Armas (1967), de Manuel Alegre,
Cau Kin: Um resumo (1972), e Viagens na Minha Guerra (1972) tambm
de Assis Pacheco, Trs Natais (1967), de Jos Correia Tavares, entre alguns
outros. Poemas-notcias que quebravam o tempo de silncio e colocavam
sob suspeita o Portugal sonmbulo de Salazar, revelando uma realidade
povoada de misria, pedaos, corpos, cadveres, minas e mostrando
outras verdades sobre as virtudes de a tropa fazer dos jovens uns ho-
mens, sobre a nao pluricontinental e plurirracial, sobre os enfeitiados
selvagens a soldo do comunismo, sobre os polticos de Lisboa, sobre o si-
lncio que se fazia sobre a palavra guerra.
29
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O tempo era de mltiplos silncios e eram vrias as deslocaes
simblicas e temporais utilizadas pelos poetas, transferindo as imagens
da Guerra Colonial, ora para outros momentos da histria de Portugal
como na relao entre o desastre de Alccer Quibir e os terrenos da Guerra
Colonial que a poesia de Frey Ioannes Garabatus (Antnio Quadros) e de
Manuel Alegre sustentam ora para outras geografas como o caso das
aproximaes sugeridas entre o confito que Portugal e as suas colnias vi-
viam e Hiroxima ou Vietname, no s dadas pelas antologias organizadas
por Manuel Simes e Carlos Loures, mas tambm nos poemas de Assis Pa-
checo, Egito Gonalves, Antnio Rebordo Navarro e outros poetas. Como
denominador comum destas sugestivas deslocaes impe-se a imagem de
fm, seja na memria coletiva portuguesa, com a evocao do episdio de
Alccer Quibir, onde se escreveu um epitfo nao portuguesa imperial,
seja na memria coletiva do Ocidente, com a evocao de Hiroxima ou
Vietname, onde o mundo escreveu os limites de uma violncia fsica e ps-
quica, que afnal no se tinham esgotado no Holocausto. Parecia assim fcar
sugerido por estas aproximaes, j no o pressentimento do naufrgio da
ptria portuguesa que s uma poesia nacionalista retrica de reinven-
o imperial sustentava
3
mas a certeza iminente de um naufrgio pessoal
e coletivo, como privadamente anunciava Assis Pacheco a seu pai: por
estes matos que tudo foge. A guerra perdeu a medida (1996, p. 50). Esta
poesia de tom antissituacionista, anticolonialista e intervencionista, escrita
e publicada nos limiares da clandestinidade ou em edies de autor com
tiragens pequenssimas e frequentemente apreendidas pela PIDE, no s
no subscrevia as vises do regime, como as interrogava e punha em causa,
a partir da experincia vivida na periferia imperial em guerra.
So relevantes, para uma apreciao da poesia da Guerra Co-
lonial como um todo, as mensagens dos trs primeiros poetas que refe-
rimos, cujas poesias e cartas marcaram de forma distinta o testemunho
desta guerra na literatura portuguesa anterior ao 25 de Abril de 1974: Jos
Bao Leal, enviado em Novembro de 1964 para Moambique, onde viria
a falecer num acidente, tornando-se a sua voz no smbolo de uma gerao
habitada pela mesma ferida e sacrifcada numa guerra sem sentido; As-
sis Pacheco e Manuel Alegre, unidos por vrias vicissitudes da vida e da
poesia. Mas, enquanto nas cartas e poemas de Jos Bao Leal e na poesia
de Assis Pacheco o tom intimista e performativo do testemunho do poeta
que roga Por favor olha: onde estive, onde o capim passava do ombro, a
morte passava, e a melancolia (PACHECO, 1996, p. 49) ou do poeta que
escreve Sou neste momento um cadver em fria [] Estou farto, farto,
farto! (LEAL, 1971, p. 144 e 85) nos compromete com as experincias das
suas guerras, sem com isso pretenderem apresentar-se como porta-vozes
dos que passaram experincia semelhante, como sublinhou Fernando J. B.
Martinho (1995, p. 25), relativamente a Assis Pacheco, na poesia de Manuel
Alegre encontramos um acentuado ritmo e sentido epopeico que d voz a
um sentimento coletivo de perdio de que o poeta se afrma portador. ,
30
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
de certa forma, o sopro dos ventos de Alccer Quibir, metfora sobre a qual
Manuel Alegre assenta a sua poesia, e a aragem do plaino abandonado de
todas as guerras, que podemos utilizar para caracterizar genericamente es-
tas duas linhas poticas, que encerram, no tanto posies ticas e polticas
distintas, mas, sobretudo, distintas funcionalidades morais e literrias, que
entre si se entrecruzam e perpassam toda a literatura relativa a esta guerra.
Nas Poesias e Cartas de Jos Bao Leal, publicadas em 1966 e
1971, d-se testemunho da experincia do jovem poeta como soldado in-
voluntrio na Guerra Colonial. Nelas, no tanto a dimenso geogrfca do
processo de desterritorializao inerente ida para a guerra que perturba o
poeta, mas a assustadora dimenso humana e poltica que esta desterrito-
rializao assume num sentido imediato e retrospetivo. Assim, temos um
novo territrio, frica, como um espao que o fascina, enquanto espao
natural e cultural, e o repugna enquanto construo colonialista visvel;
a frica dos quartis e da guerra e da profunda misria humana que os
povoa; e, fnalmente, a conscincia psquica e fsica do que era Portugal
perante to vasto imprio e da distncia a que Portugal estava de toda a
realidade por si experienciada. A deve-se ignorar o que se passa, fcas
tambm a saber so frases que pautam as suas cartas e revelam uma von-
tade ativa de dar testemunho sobre o que estava a acontecer em frica e a
si mesmo e, ao faz-lo, comprometem o seu leitor com a realidade revelada
pelo seu testemunho.
Fernando Assis Pacheco partiu para Angola no dia 25 de Abril
de 1963 a bordo do navio Niassa, rumo a Nambuangongo. Ao longo dos
meses em que esteve no aquartelamento de Nambuangongo foi envian-
do ao pai as suas impresses da guerra, fazendo assim dura prova da sua
ausncia e aliviando-se do drama que estava vivendo pela passagem do
testemunho quele que se tinha tornado o seu pai-confessor. Em Musa Ir-
regular publicao que rene a obra completa de Assis Pacheco em 1991
a fnalizar Cuidar dos Vivos encontramos uma seco intitulada Versos
que o Autor Mandou de Nambuangongo ao Editor. Na correspondncia
enviada ao pai, Assis Pacheco incluiu dois poemas, e o seu pai, que viria
a fnanciar a primeira edio de Cuidar dos Vivos, colocou-os no fnal do
livro sob o ttulo inicial de Nambuangongo, 1963, obedecendo assim ao
compromisso epistolar original dos poemas e, porventura, esconjurando
com o flho os fantasmas desse espao de guerra que lhe trazia notcias de
um flho envenenado. Todavia, o segundo livro de Assis Pacheco, tambm
sobre a experincia da guerra, Cu Kin: Um Resumo, foi apenas publica-
do em 1972. Foram, portanto, precisos nove anos para que o silncio do
poeta aps o regresso se tornasse matria escrita, ou seja, para que o eu
potico pudesse coincidir com uma experincia/ memria autobiogrfca
de dor, morte, horror e guerra que o livro apresenta. Cu Kin: Um Resumo
composto por um conjunto de poemas onde a nomenclatura vietnamita
disfara, habilmente, os matos angolanos em que a guerra se desenrolava.
Esta analogia, desvendada em 1976 com a publicao de Catalabanza, Qui-
31
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
lolo e Volta em que os topnimos e o vocabulrio vietnamita de Cu Kin:
Um Resumo so substitudos pelos originais angolanos, constitua a forma
geracional, como acima assinalmos e o poeta fazia questo de sublinhar,
de falar de Angola falando do Vietname ou de Hiroxima
4
. Catalabanza,
Quilolo e Volta, datado de 1972, na coletnea A Musa Irregular (1991 e
1996), indo assim ao encontro da sua data moral, pode ser lido como uma
longa conversa-testemunho entre o poeta e o seu pai-ptria, sobre o que
era aquela guerra, a sua falta de virtude e herosmo e o estado em que dei-
xava os homens. Ao longo da poesia de guerra de Fernando Assis Pacheco,
elaborada ora num tom melanclico, que est de luto pelas perdas, ora num
tom sabiamente irnico, parodstico e autoirnico que impede o poeta de
endoidecer de solido e desespero, a mensagem pronunciada enuncia a
mentira que se vivia no pas, e revela a condio trgica do poeta enquanto
elemento desgraadamente ativo na referida mentira, como explicitamente
surge no poema Por Estes Matos. Neste poema, como em muitos outros
do poeta, assistimos denncia da mentira da guerra, ecoando o que o ma-
logrado poeta ingls da Primeira Grande Guerra, Wilfred Owen designou
como Te old Lie: Dulce et decorum est /Pro patria mori (OWEN, 1983,
p. 140) e que , na verdade, a old lie de todas as guerras.
Outro foi o percurso potico e pessoal de Manuel Alegre, a quem
Assis Pacheco diria do meio das Viagens na Minha Guerra que por estes
matos que foge a cano (PACHECO, 1996, p. 49), evocando assim o poe-
ta e amigo que em 1965 o tinha colocado em Praa da Cano depois de ler
Cuidar dos Vivos e que iria ser o portador da voz da cano de uma juven-
tude que rejeitava a guerra. Desde Praa da Cano (1965), a voz potica de
Manuel Alegre surge, como a voz de um Cames em Restelo, clamando
por um outro Portugal que no o que lhe veiculado pela mitologia salaza-
rista, e perspetivando este tempo triste num redimensionamento do tem-
po da histria de Portugal, contada sob o olhar daqueles cujas histrias no
vm na Histria: o Manuelinho de vora, o Pedro-Soldado, o Jos, a Linda,
o Joo-que-foi--ndia, a Rapariga-do-Pas-de-Abril que compem a ga-
leria de heris de Praa da Cano. Neste singular espao de resistncia,
em que o discurso potico nasce de uma relao simblica entre o discur-
so poltico e o discurso histrico, Manuel Alegre constri um discurso de
portugalidade alternativo, dando assim as fundaes histricas e polticas
para um genuno processo revolucionrio, chamando toda a sua gerao
luta contra o novo Alccer Quibir que se alevantava nos matos africanos e
contra a noite que invadia os homens do pas.
Numa linha prxima de Assis Pacheco, em Praa da Cano te-
mos a denncia da guerra como o prolongamento desmedido e monstru-
oso do pas triste de Salazar e a inscrio de Nambuangongo como o
lugar smbolo de uma vivncia coletiva de morte fsica e espiritual, como
aparece no icnico poema. Neste poema ao invs da corrente geracional
que utilizava, ora o exemplo de Hiroxima, ora o do Vietname para, sub-
-repticiamente, falar de Angola Manuel Alegre utiliza o poderoso eco
32
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
moral e textual de Hiroxima para falar abertamente da guerra em Angola,
construindo no poema Nambuangongo meu amor uma espcie de Hi-
roxima moral portuguesa, como lhe chamou Eduardo Loureno (LOU-
RENO, 1999, p. 37).
Em O Canto e as Armas, de 1967, o canto eleva a sua voz: alarga-
-se a temtica, sobe de tom a revolta, afrma-se a voz do poeta como a
voz da nao. Como Cames, Manuel Alegre oferece o seu canto aos seus
contemporneos, para que com ele preencham o esvaziado tempo presen-
te que, como o tempo camoniano, na leitura de Helder Macedo (1998, p.
125), passa lento
e se revelem capazes de cumprir o novo atrevimento
a que os poemas apelam, mostrando-se assim aptos a rumar a um novo
tempo que acabe com o silncio e a noite dentro dos homens do meu pas,
com as partidas para Frana, com os Lusadas Exilados, com os homens
morrendo nos campos de Nambuangongo/Alccer Quibir, e assim se re-
velando merecedores da Histria com um H maisculo. Como sublinhou
Eduardo Loureno, para no assistir morte do Rei escreveu Manuel
Alegre a epopeia por defeito de O Canto e as Armas (1999, p. 42), onde
o poeta evoca no s as colunas que partiam de madrugada para os ter-
renos de Quipedro/Nambuangongo, mas tambm a partida para Alccer
Quibir, a caminho do desastre que foi sempre ir morrer alm do mar por
coisa nenhuma. No s pelas razes polticas evidentes que, data, a sua
obra contemplava, mas sobretudo pela maneira tica em que essas mesmas
razes foram convertidas em razes estticas, a poesia de Manuel Alegre
faz parte da memria de uma gerao que com ele partiu a bordo desse
imenso barco fantasma. Se no discurso potico de Assis Pacheco ou na
correspondncia de Jos Bao Leal a frmula a guerra perdeu a medida
perspetivada numa dimenso pessoal, em que assistimos ao esfacelamento
do ser num intenso testemunho da guerra vivida, sem utopias de reden-
o, na poesia de Manuel Alegre ela vivida na sua dimenso coletiva e
nacional, como um espao simultaneamente sntese de todas as marginali-
dades criadas pelo Estado Novo e de despoletamento inevitvel da luta por
um espao portugus alternativo em que a utopia poltica nacional se abre
como espao de redeno. Embora todos os discursos se situem num tom
dialgico que vem dar notcias e desinquietar, o discurso de Assis Pache-
co compromete-nos com o testemunho do poeta, enquanto o de Manuel
Alegre, pela interpelao direta que dirige e pelo ritmo meldico em que
pronunciado, sabiamente lrico, pico, elegaco e intervencionista, exigiu,
queles que o leram e ouviram na poca, uma resposta
ANGOLA 61/ PORTUGAL 61/ POESIA 61
No mesmo ano de 1961 em que a guerra comeava em Angola
surgiam em Maio, as plaquettes de Poesia 61, reunindo cinco jovens poetas:
Fiama Hasse Pais Brando, Luiza Neto Jorge, Maria Teresa Horta, Casimiro
de Brito e Gasto Cruz. Unia-os a juventude, um interesse editorial comum
e alguns signos que perpassam as suas poesias, sem contudo deles fazerem
um grupo, como ser alis atestado pelos percursos individuais e indivi-
dualizados que vo traar no panorama da poesia dos anos 60 em diante.
33
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Do lugar onde estavam diziam ser o cais dos barcos pequenos de
papel, onde dentro de um secular sossego, se dormia e apodrecia, assu-
mindo-se eles prprios, enquanto cidados, como a escultura de amanh
(CRUZ, 1961, p. 16; JORGE, 1961, p. 3-6)
5
. expresso de dor deste tempo
de futuro hipotecado e de morte espiritual, expressa em vrias poticas dos
anos 50
6
, Poesia 61 acrescenta um importante dado epocal num sentido
semntico e histrico: a expresso de uma violenta fragmentao espiritual
e fsica, tematicamente expressa, por um lado, no questionamento de um
imaginrio coletivo ligado aventura martima; por outro lado, no questio-
namento de uma moral tradicional, fechada e castradora, simbolizada na
casa portuguesa e nas relaes familiares, que por sua vez projeta e refrata
as instituies pblicas que compunham a sociedade. Este questionamento
veiculado, de um ponto de vista semntico, pela obsessiva referncia a
partes, fragmentos de corpos, cadveres, pedaos de vida, morte, palavras
cortadas, sugerindo um estilhaamento das matrias referidas, e, de um
ponto de vista sinttico, na conteno vocabular e expresso textual frag-
mentria que caracteriza esta poesia.
Em Portugal Maio de Poesia 61, Jorge Silveira (1986) ao analisar
as conexes entre o texto e a histria, por um lado, e o contexto potico
de Poesia 61, por outro, mostra-nos como esta poesia correspondeu a um
estado de esprito de prenncio de fm de um tempo, no s de um imprio
e de uma identidade nacional aprendida desde os bancos da escola, mas
tambm de uma moralidade nacional e familiar que j no correspondia
s expectativas da poca e que a guerra iria modifcar profundamente. O
pas do eterno Portugal meu bero (de) inocente que a pedagogia do regime
destilava como mel obrigatrio desde o banco da escola primria Univer-
sidade (LOURENO, 1982, p. 35) desbotou/ no mapa das escolas (JOR-
GE, 1961, p. 4) e os seres sitiados que o habitam falam obsessivamente de
morte, sofrimento, corpos mutilados ou mortos precisamente porque esto
em busca do amor, da vida, da esperana que o tempo mortifcante insiste
em lhes furtar (CRUZ, 1999, p. 34), como explicitamente nos aparece na
poesia de Luiza Neto Jorge, que situa esta luta pela libertao no plano
quotidiano da vida familiar, social e institucional. Num pas onde em nome
da defesa da integridade nacional se pedia o corpo e a vida aos homens, e
a famlia (e a igreja) resguardava o corpo das meninas de saia rodada, no
poema Balada apcrifa, Luiza Neto Jorge prope a subverso da divisa
dos militares (a vida pela ptria), e consequentemente da guerra por eles
administrada, com o oferecimento dos corpos das meninas aos soldados.
Este oferecimento constitua de facto uma afrmao dupla de subverso:
da sexualidade, reprimida pela sociedade, e da morte que a guerra trazia,
subvertendo assim de duas maneiras distintas, mas complementares, o que
quotidianamente interditava a vida e a liberdade dos jovens e de todos os
homens e mulheres deste tempo (SILVEIRA, 1986, p. 178).
Por seu turno, a mudana, historicamente substantiva, contida
por exemplo em alguns poemas de Fiama Hasse Pais Brando, em que pas-
samos de um tempo de barcos reais ou mticos a barcos cheios de sangue,
34
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
leva mudana pessoal e coletiva de perceo do cais da partida que Por-
tugal em Barcas Novas. Trata-se de uma partida rumo morte e, portanto,
sem regresso como mais tarde aparecer no grande mural de interiores que
so as Novas Cartas Portuguesas, publicadas com grande escndalo e proi-
bidas pela censura em 1972, no apenas pelas mltiplas clausuras femi-
ninas, visveis e invisveis, expostas, mas tambm pela denncia nelas feita
do estado em que os homens (no) vinham das fricas
7
.
A importncia decisiva de Poesia 61 nas vozes poticas da Guerra
Colonial marca a tendncia de uma poesia de pendor universitrio que vai
conjugar uma revisitao dos temas da partida, da cano medieval e dos
temas clssicos com o seu tempo, um tempo de guerra e de censura, que
preciso denunciar para que termine. Jos Manuel Mendes, Lus Guerreiro,
Manuel Simes, Nuno Jdice, Deana Barroqueiro, Jos Niza e tantos ou-
tros poetas presentes na Antologia da Memria Potica da Guerra Colonial
vo seguir esta linha de reescrita dos temas e poemas clssicos, no para
lhes prolongar uma vida agonizante de que j no gozam como acontece
com a poesia apologtica da guerra e a reutilizao abusiva de Cames e
dos signos da epopeia ou da histria dos Descobrimentos , mas sim para
denunciar os temas do seu tempo, nomeadamente a partida sem regresso
para a guerra, a pica camoniana lida s avessas, a eterna e v espera da
mulher portuguesa no cais, a viagem rumo morte em barcas de armas.
Um canto de hoje e de sempre que ecoa, na cultura de Portugal, desde as
cantigas ainda em galaico-portugus.
EM DOR MAIOR O CANTO
Qual o sentido de considerar as canes a que a Guerra Colo-
nial deu origem, seja na sua vertente de canto de interveno, de cano
popular, rock, hinos ou cancioneiros de guerra no mbito da memria po-
tica da Guerra Colonial? Ou melhor, ser que podemos traar elos entre a
construo de uma memria cultural, e sobretudo pblica, e estas produ-
es culturais que combinam algo de muito tradicional uma tendncia
para a composio potica que muitas vezes valoriza um manancial folcl-
rico e subjetividades lricas, um gosto para a expresso em verso associa-
do a uma forma prpria da cultura de consumo (a cano, a trilha musical
em voga), que serve como vetor da criao?
Nas canes e cancioneiros, que nasceram no mago da Guer-
ra Colonial, encontra-se a expresso de uma vasta dimenso cultural, que
projeta a memria potica no mbito dos quadros sociais da memria co-
letiva. So vrias as geraes de portugueses para quem, por exemplo, ou-
vir o hino Angola, nossa tem um signifcado emocional e quase visual
imediato. Imagens como o cais, as despedidas, a chegada a frica, a guerra,
o amigo que se deixou para trs, a namorada, a mulher, a me impem-se
entre a emoo, a revolta ou a saudade gerando uma memria comunitria
que assimila a experincia singular e irredutvel da dor. O mesmo se pas-
35
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
sa com algumas canes de interveno cantadas por Adriano Correia de
Oliveira, Zeca Afonso, as canes de Jos Mrio Branco, como a clebre
Ronda do Soldadinho, Lus Clia, Tino Flores ou Srgio Godinho, que,
em Portugal, mas sobretudo no exlio, construram a cano de luta contra
a guerra, a falta de liberdade e todas as formas de opresso e assim denun-
ciaram, tambm na Europa, a violncia da Guerra Colonial; ou, quase que
por aparente oposio, com o enorme arquivo de cancioneiros militares de
que o exemplo mais conhecido e mediatizado o Cancioneiro do Niassa;
ou, fnalmente, com a reativao de canes ligadas memria da Primeira
Grande Guerra ou ao servio militar que antes da Guerra Colonial j era
cumprido nas ex-colnias, e que pelo seu contedo blico e o seu apelo
paz num mundo em guerra, adquiriram novo signifcado no contexto do
confito iniciado em 1961, como o caso do poema de Fernando Pessoa
O Menino de sua Me, cantado por cantores to diversos como Drio de
Barros ou Lus Clia, Menina dos Olhos Tristes, ou ainda Receita para fa-
zer um Heri, ambos de Reinaldo Ferreira e anteriores Guerra Colonial.
A reativao destes poemas, agora musicados, torna-se particularmente
interessante pelas situaes repetidas que evocam o menino de sua me
que jaz morto e arrefece, traz o tpico da guerra como um fenmeno que
desfaz a obra de maternidade e elege a fgura da mater dolorosa como um
smbolo de apelo paz no interior da guerra; e a menina dos olhos tristes
que espera no cais o soldado que no volta do outro lado do mar gerando
tpicos que fazem parte de todas as guerras e que consolidam uma mem-
ria comunitria.
Nas suas vrias formas mais eruditas ou mais populares, mais de
msica ligeira ou de fado, o heterogneo arquivo potico-musical repre-
senta a forma de poesia da Guerra Colonial que melhor conjuga e ativa
as relaes antigas entre poesia, canto e memria e aquela que gera mais
emoo partilhada e partilhvel na memria individual e na memria co-
letiva portuguesa da Guerra Colonial. Nesta poesia, cantada por geraes
de jovens de vidas ceifadas pela guerra, no interior das academias, das f-
bricas ou das aldeias, na distncia e abandono do exlio, no mato ou nos
quartis onde tambm os soldados entoavam estas letras, trauteavam estas
msicas estava tambm a semente da denncia e da indignao. Apesar
da vigilncia e da censura, a par das canes e dos xitos da poca ia-se
tambm cantando Zeca Afonso ou Adriano Correia de Oliveira, Jos M-
rio Branco ou Lus Clia, msicas muitas vezes tambm utilizadas em es-
petculos improvisados por grupos de soldados que, sendo msicos, e no
mbito da legislao Alerta j, passavam o seu tempo de guerra em misses
de entretenimento das tropas cantando para os colegas soldados. Escrita
tantas vezes por quem viveu a experincia da guerra ou por quem estava
na outra guerra a da desero e do exlio , esta poesia estava investida
de uma funo de denncia, desta situao trgica e humanamente devas-
tadora, de alerta contra o esquecimento, e de revolta contra quem, tendo
o poder de terminar a Guerra, a continuava para dela tirar os dividendos
36
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
polticos que eram, acima de tudo, a manuteno do prprio regime. De
uma forma ou de outra, trata-se de textos que, no momento de confito e
pela sua dimenso performativa e coletiva, obrigavam a repensar a guerra
em que se estava envolvido. Hoje levam-nos a refetir sobre a importncia
da memria da guerra, enquanto espao de criao e preservao de liber-
dade e cidadania. Um texto como A Bola, de Jonas Negalha, cantado por
Lus Clia, que traz a terrvel denncia da violncia do massacre, consti-
tui um dos mais fortes e violentos poemas da Guerra Colonial; ou Fotos
do Fogo, de Srgio Godinho, que colocava o problema de como contar a
histria (e que histria contar) s geraes futuras, a partir de um lbum
de fotografas de guerra; Romance de Pedro Soldado, de Manuel Alegre,
cantado por Adriano Correia de Oliveira, que evoca a partida dos soldados
para esta e para todas as guerras da histria de Portugal (J l vai Pedro
soldado/ Num barco da nossa armada/ E leva o nome bordado/ Num saco
cheio de nada/ Triste vai Pedro soldado (ALEGRE, 1999, p. 120-121), mas
tambm os mais populares Lenda de Nambuangongo, de Jos Cid, ou L
longe onde o sol castiga mais, de Paco Bandeira, so textos que obrigavam
e obrigam ainda hoje quem ouve a questionar a Guerra Colonial e, a partir
dela, a legitimidade de qualquer guerra.
Este foi, alis, o lastro que as geraes futuras nomeadamente
a gerao dos cantores de rock dos anos 80 apanharam da Guerra Colo-
nial, evocando-a nas suas letras, no s para dar uma palavra de conforto e
reconhecimento gerao dos seus pais, mas tambm para, a partir desta
experincia, defender a paz e afrmar a objeo de conscincia que ento
se discutia. Canes como Aquele Inverno, de Delfns, O Trolha da Are-
osa, de Rui Veloso ou Aerograma, de Trovante evocam a experincia da
Guerra Colonial para reclamar a paz e o pacifsmo como ideologia e como
opo de cidadania.
De certo modo, a partir de uma vertente cultural, tambm estas
canes exercem uma luta contra o esquecimento, integram uma memria
potica do que foi, e do que ainda , a Guerra Colonial. Reconfguram-se
assim as relaes entre trauma e memria coletiva, mediadas por imagens
e formas poticas, que podem ser reativadas inclusive na sequncia de con-
textos histricos variados. Alis, esta sequncia, noutras circunstncias, mas
sempre marcadas por traumas e perdas, foi denominada pelo historiador
de arte alemo Aby Warburg patrimnio de sofrimento
8
da humanidade.
Se assim for, na imaginao da memria potica da Guerra Colo-
nial, no seu ditado lrico, de versos improvisados ou meticulosamente cria-
dos, possvel detetar rastos de um arquivo da dor que procura, s vezes
com xito outras vezes no, tornar-se dizvel, ou pelo menos manifesta a
inteno de dizer. este patrimnio de sofrimento que a leitura da poesia
da Guerra Colonial tenta expor e valorizar, sobretudo pela contribuio
que a sua reinscrio pode oferecer construo de uma futura memria
37
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
pblica partilhada. Uma memria comum que se capta entrelaando as
mltiplas vozes e tonalidades, como apresentado na Antologia da Memria
Potica da Guerra Colonial. Uma memria, portanto, que j est concreta e
potencialmente presente e que se pode agora ouvir, inclusive em seus siln-
cios e vazios, nos versos produzidos, escritos, cantados.
AINDA
Qual ser o tempo de uma memria comum (no s potica) so-
bre este evento sombrio e inicitico, gravado em corpos ou em memrias
feridas e mutiladas, espera de um resgate efetivo e pblico? A resposta,
como ensinam tambm os poetas, encontra-se num advrbio, aquele com
que Manuel Alegre fecha a viagem. Ainda. Ainda mostra como a guerra
continua por dentro das palavras, por dentro dos versos. Ele ativa um novo
processo que atualiza o tempo da guerra e mostra a profundidade da sua
inscrio no presente. Poder-se-ia tambm reiniciar uma viagem s aves-
sas, onde as palavras surgem na contraluz das paisagens africanas como
runas de um tempo que se perdeu, de uma idade que j no , mas que
talvez possa encontrar, nos sons e na arrumao aparente da forma potica,
sobrevivncias inesperadas, resistncias surpreendentes, brilhos tnues e
precrios, mas que bastam para tornar menos tenebroso um tempo desa-
possado e alheio, que reluta em se encontrar numa memria comum.
As nossas frases esto cheias de picadas
de minas a explodir nos substantivos
por dentro do silncio h emboscadas
no sabemos sequer se estamos vivos.
Os helicpteros passam nas imagens
a meio de uma vrgula morre algum
e os jipes destrudos esto nas margens
do papel onde talvez para ningum
se vo escrevendo estas mensagens.
(ALEGRE, 2008: 54)
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALEGRE, Manuel. Obra Potica. Lisboa: Dom Quixote, 1999.
ASSMANN, Aleida. Ricordare: Forme e mutamenti della memoria cul-
turale. Bologna: il Mulino, 2002.
ASSMANN, Jan. La memoria culturale: scrittura, ricordo e identita po-
litica nelle grandi civilta antiche. Torino: Einaudi, 1997.
38
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
BARRENO, Maria Isabel; HORTA, Maria Teresa; COSTA, Maria Ve-
lho da. Novas Cartas Portuguesas. Lisboa: Editorial Futura, 1974.
BRANDO, Fiama Hasse Pais; BRITO, Casimiro de; CRUZ, Gasto;
HORTA, Maria Teresa; JORGE, Luisa Neto. Poesia 61. Faro: E. de A, 1961.
CONTE, Gian Biagio. Memoria dei poeti e sistema letterario: Catullo,
Virgilio, Ovidio, Lucano. Torino: Einaudi, 1974.
CRUZ, Gasto. Poemas Reunidos. Lisboa: Dom Quixote, 1999.
EMLIO, Rodrigo (org.). Vestiram-se os poetas de soldados: canto da
ptria em guerra. Coimbra: Cidadela, 1973.
GOMES, Pinharanda (org.). O Corpo da Ptria: Antologia potica so-
bre a Guerra do Ultramar 1961-1971. Braga: Pax, 1971.
HALBWACHS, Maurice. La mmoire collective. 2. ed. Paris: Presses
Universitaires de France, 1968.
LEAL, Jos Bao. Poesias e Cartas. Porto: Tipografa Vale Formoso, 1971.
LOURENO, Eduardo. O Labirinto da Saudade. Lisboa: Dom Quixote, 1982.
______. Manuel Alegre ou a Nostalgia da Epopia. In: ALEGRE, Ma-
nuel. Obra Potica. Lisboa: Dom Quixote, 1999, p. 31-44.
MACEDO, Helder. Viagens do Olhar: Retrospeco, Viso e Profe-
cia no Renascimento Portugus. Porto: Campo das Letras (com Fernando
Gil), 1998.MARTINHO, Fernando J.B.. A confsso e a guerra: uma leitura
de Catalabanza, Quilolo e Volta, de Fernando Assis Pacheco. In: SIMES,
Manuel & VECCHI, Roberto (orgs.). Dalle Armi ai Garofani: studi sulla
letteratura della Guerra Coloniale. Roma: Bulzoni Editore, 1995, p. 21-28.
MARTINS, Fernando Cabral. O Trabalho das Imagens. Lisboa: Aron, 2000.
OWEN, Wilfred. Te Complete Poems and Fragments. London: Chat-
to & Windus, Te Hogarth Press and Oxford Universty Press (edio de
Jon Stallworthy), 1983.
PACHECO, Fernando Assis. A Musa Irregular. Porto: Asa, 1996.
______. Walt ou o frio e o quente, Lisboa: Bertrand, 1979.
POLLAK, Michael. Memria, Esquecimento, Silncio. Estudos Hist-
ricos, 2(3), p. 3-15, 1989.
SILVEIRA, Jorge Fernandes da. Portugal Maio de Poesia 61. Lisboa:
INCM, 1986.
Recebido para publicao em 12/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
39
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
NOTAS
1 Este projeto decorreu de 2007 a 2010, sob orientao cientfca de Margarida Calafate
Ribeiro e Roberto Vecchi, com a assistncia de investigao de Luciana Silva e fnancia-
mento da Fundao da Cincia e Tecnologia.
2 Citao de Fernando Assis Pacheco do texto da contracapa de Fernando Assis Pacheco,
Walt ou o frio e o quente (1979).
3 Veja-se as antologias O Corpo da ptria: antologia potica sobre a guerra no ultramar,
1961-1971 (1971), organizada por Pinharanda Gomes e Vestiram-se os poetas de soldados:
canto da ptria em guerra (1973), organizada por Rodrigo Emlio.
4 Disto so exemplo as j referidas coletneas Hiroxima e Vietname, organizadas por Car-
los Loures e Manuel Simes e publicadas respetivamente em 1967 e 1970, bem como a
utilizao do eco de Hiroxima em Manuel Alegre (Nambuangongo Meu Amor), e da
guerra do Vietnam em Egito Gonalves (Vietnam e Tambm aqui Vietnam), Rebor-
do Navarro (Acrstico), Carlos Loures (Pequena crnica do tempo em que os chacais
mordiam).
5 Dorme-se e apodrece o pesadelo/ o sol nunca existiu e o resto lodo (CRUZ, 1961,
p. 16); sem nevoeiros asfxiamos ntidos (JORGE, 1961, p. 3-6). Sobre a poesia de Luiza
Neto Jorge, ver Fernando Cabral Martins (2000, p. 247-255).
6 Cf. RUSSO, Vincenzo. A suspeita do avesso. Barroco e Neo-Barroco na Poesia Portuguesa
Contempornea. Vila Nova de Famalico, Quasi, 2008.
7 mas como que eu podia saber que o meu Antnio havia de vir assim das fricas, ele
que era uma pessoa, no desfazendo, de to bom corao e desde que veio das guerras
anda transtornado da cabea e me mete medo grita noite e dia, bate-me at se fartar e eu
fcar estendida. [] Antnio, eu quero ir-me embora e quero tanto que voltes. (BARRE-
NO, HORTA & COSTA, 1974, p. 209 e 245).
8 Sobre o conceito de Warburg de Gedchtnis als Leidschatz, ver Aleida Assmann (2002,
p. 411).
40
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
VER E ESCREVER:
TRNSITO INTERSEMITICO NA POESIA
Aurora Gedra Ruiz Alvarez
(Universidade Presbiteriana Mackenzie)
RESUMO
Este estudo discute a questo da visualidade na Literatura Portuguesa da
Modernidade e concentra o seu foco na vertente que rene composies
elaboradas a partir da transposio da linguagem pictrica para a verbal.
Tomando Un coup de ds, de Mallarm, como texto seminal de experi-
mento potico, o artigo alimenta a discusso sobre o processo de traduo
da tela do pintor holands para a poesia, ao longo da anlise de A cadeira
amarela, de Van Gogh, de Jorge de Sena.
PALAVRAS-CHAVE: Jorge de Sena; Intermidialidade; cfrase.
ABSTRACT
Tis paper aims at discussing the question of visuality in Portuguese Lite-
rature of Modernity and concentrates its focus on the branch of composi-
tions created from the transposition of the pictorial language into a verbal
one. Taking Un coup de ds by Mallarm, as a seminal text of poetic ex-
periment, it refects on the process of translation from the Dutch painters
canvas to poetry, throughout the analysis of the poem Te yellow chair, by
Van Gogh, written by Jorge de Sena.
KEYWORDS: Jorge de Sena; Intermediality; Ekphrasis.
41
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
CONSIDERAES INICIAIS: A DESTERRITORIALIZAO NA
ARTE MODERNA
Em Um lance de dados jamais abolir o acaso
1
(1897), Stphane
Mallarm inaugura uma nova forma de poetar e, ao mesmo tempo, um
novo modo de ler poesia. O carter experimental desse poema, ou desse
poema em prosa
2
como o denomina seu autor, quer pela inovao da lin-
guagem, quer pelo abandono da disposio tipogrfca regular, torna-o um
dos precursores da poesia concreta. Nele, a palavra compreendida como
objeto composto de signifcante e signifcado perde a sua centralidade e
passa a dividir o seu relevo com o contedo matrico que ela contm e
com a disposio deste na mancha da pgina. O logos enquanto elemento
grfco conhece, aqui, tambm o sentido de volume distribudo no espao e
toma o formato de um grande tabuleiro, em que o jogo das peas-palavras
ganha signifcados a partir da explorao da superfcie da pgina, constitu-
da de espaos em branco e espaos grfcos.
Movimento inverso tambm ocorre em La gante (1929-1930)
(Fig. 1 in Apndice 1), de Ren Magritte. Inspirado na leitura do poema
de Baudelaire, de mesmo ttulo, o surrealista belga pinta a Me-Natureza,
representada pela fgura de uma mulher gigantesca. A tela se compe da
iconografa, ocupando o maior espao da aquarela, e do poema que deu
origem sua criao, na margem direita da prancha. Trata-se de uma
transposio intersemitica e, ao mesmo tempo, de um processo de hibri-
dizao. A primeira ocorrncia concerne passagem de uma linguagem
para a outra, ou seja, do poema de Baudelaire para a tela. A segunda resulta
da constituio do objeto a partir da combinao de diferentes cdigos: o
visual e o verbal. Esta simbiose implica no apenas um novo modo de criar
arte, mas tambm um jeito particular de l-la.
Desde a obra seminal de Mallarm, o desejo de expandir as fron-
teiras das artes encontra eco em outros artistas que ampliam e diversifcam
as experincias. As novidades desses exerccios interartes so, por vezes,
muito arrojadas e assume feitios muito diversos nos poetas brasileiros, es-
pecialmente no experimentalismo formal da poesia, tais como: os poemas
concretos de Haroldo de Campos e Dcio Pignatari, os poembiles, de Au-
gusto de Campos, os clip-poemas tambm deste ltimo, os videopoemas
de Wilton Azevedo, os biopoemas de Eduardo Kac, etc. Em todos esses
casos, d-se a absoro de qualidades de outra mdia, a combinao ou a
fuso de propriedades de meios distintos.
A poesia experimental, estribada no trabalho com diferentes c-
digos, com variados arranjos tipogrfcos, ou com as novas tecnologias,
tambm est presente no fazer potico de ilustres representantes portugue-
ses como Antnio Arago, Salette Tavares, Alberto Pimenta, Ernesto M. de
Melo e Castro, ou em algumas experincias de Ana Hatherly, Jos Luiz Pei-
xoto, dentre outros. A lista extensa e no inteno deste estudo mapear
as diversas manifestaes dessa poesia, quer do Brasil, quer de Portugal,
42
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
dada a grande variedade de composies que se fliam ao universo das re-
laes interartes. Privilegiamos, aqui, o vis da transposio intersemitica
da pintura para a literatura.
A TRANSPOSIO INTERSEMITICA
Primeiramente, bom esclarecer o sentido que atribumos ao
conceito de transposio intersemitica. Entendemos que esse fenmeno
se caracteriza pela traduo de linguagens, em que a criao de um novo ar-
tefato resulta da eleio de novos mecanismos de expresso em um sistema
diferente do sistema-fonte, expedientes estes que estabelecem outra rede
de sentidos e que garantem ao objeto uma identidade prpria. Esse novo
artefato um produto intersemitico, na medida em que incorpora ou que
apresenta qualidades de uma mdia (pintura, escultura, arquitetura, por
exemplo), oriunda de outra situao de produo e de circulao, ou seja,
o leitor apreende o novo texto ao mesmo tempo em que nele reconhece o
texto antigo. A legibilidade dessa traduo est condicionada ao repertrio
do leitor que pode ler ou no as marcas da mdia-matriz no novo objeto.
Neste trabalho, vamos refetir sobre a natureza dessas prticas de
traduo e sobre uma das possibilidades de anlise desse texto. Para tan-
to, examinaremos um poema de Jorge de Sena. Nosso objetivo conhecer
como o poeta transpe uma tela de Vincent Van Gogh para a poesia.
DA TELA DE VAN GOGH AO POEMA DE JORGE DE SENA
Jorge de Sena um escritor portugus, que se naturalizou brasilei-
ro em 1963 durante a sua permanncia no Brasil de 1959 a 1965. Foi histo-
riador da cultura, escreveu poesia, teatro, romance, conto. Sofreu infun-
cias de vrias correntes estticas, principalmente do Surrealismo, sobretudo
em aspectos tcnicos, mas no se fliou a nenhuma escola literria. Sua arte
apresenta dupla face: ao mesmo tempo em que persegue uma vertente da
tradio medieval e renascentista, tambm se interessa por vrias formas de
experimentalismo. Vamos estudar este segundo trao da potica do escri-
tor, mais especifcamente, o processo de transposio intersemitica.
A composio escolhida para anlise est em Metamorfoses,
obra publicada em 1963. Esta coletnea contm poemas elaborados a
partir da transposio de textos da pintura, escultura, arquitetura, dana
e um posfcio, em que o escritor faz consideraes relevantes e bastante
oportunas sobre o objeto deste estudo. Nela, Jorge de Sena (1963, p. 121)
comenta que o seu interesse pela transcodifcao surge em 1950, na obra
Pedra flosofal, com os poemas: Uma Anunciao, O Patinir das Janelas
Verdes e Bonnard. Acerca da natureza dessa produo, o poeta apre-
senta a refexo que se segue:
43
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Possivelmente dir-se- que estes poemas so ensas-
mo literrio, meditaes moralsticas, impressions-
tica crtica de arte, tudo isso enroupado de mtrica e
de alguma emoo. Entre, por exemplo, Walter Pa-
ter que descreveu a Gioconda e estes versos, no h
qualquer analogia e ser bvio, lendo os poemas,
que no so nem pretendem ser crtica de arte. Estou
mesmo em crer que os devotos dos objetos estticos
se indignaro com que eu no me tenha contentado
apenas com contempl-los. (SENA, 1963, p. 129)
Neste depoimento, Sena traz baila a questo da recepo e a di-
fculdade que pressupostamente a crtica iria enfrentar na tarefa de atribuir
nome a esse fazer potico. Suas refexes sobre a natureza dessa literatura
apontam-nos antes para o esforo do crtico em teoriz-la, que para o in-
tento do criador em to somente apresentar a novidade da sua poesia.
Essa potica inaugurada por Sena abre caminho para outros
escritores portugueses, como Joaquim Manuel Magalhes, Joo Miguel
Fernandes Jorge, entre outros. Estes ltimos participam juntamente com
o fotgrafo Jorge Molder, da obra Uma exposio (1974), publicao feita
para homenagear Edward Hopper. A coletnea constitui-se de fotografas
das telas do pintor feitas por Molder, de poemas de J. M. Magalhes
3
e
Joo Miguel Fernandes Jorge, criados tambm a partir de composies
do pintor americano.
Neste trabalho pretendemos nos concentrar no exame do poe-
ma A cadeira amarela, de Van Gogh, de Metamorfoses (Apndice 2), para
compreender a viagem que Jorge de Sena empreende no dilogo interse-
mitico entre A cadeira amarela, de 1888 (Fig. 2 in Apndice 3), do pintor
holands, e a literatura. Como norte desta anlise, propomos discutir as
questes: que procedimentos o poeta agencia para a leitura do texto visual?
De que atributos de visibilidade o logos se impregna na translao da pin-
tura para o verbo?
Aproximemo-nos do texto e descubramos algumas respostas
para essas perguntas e uma possibilidade de leitura do poema.
Em A cadeira amarela, de Van Gogh, a voz lrica elege dois
procedimentos intermidiais para a construo do poema: o primeiro ma-
nifesta-se na estrofe inicial, onde predominam notaes descritivas, com
algumas intervenes apreciativas daquele que v. No segundo momento,
a voz enunciativa expande-se em refexes sobre o que v, estabelecendo
relaes entre os objetos observados e o sujeito a quem eles pertenceram.
As duas ocorrncias de transposies intersemiticas inscrevem-
-se na categoria da cfrase, sendo a primeira tomada em seu sentido estrito
e a segunda em seu sentido mais amplo. Vejamos ento o conceito de cfra-
se, segundo alguns tericos da Intermidialidade.
44
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
No estudo sobre a etimologia da cfrase, Jean H. Hagstrum lem-
bra-nos que o substantivo grego ekphrasis e o adjetivo ekphrastic, em in-
gls, tm a sua origem no vocbulo grego ekphrazein (), que
signifca, falar para os outros, contar tudo
4
. (HAGSTRUM, 1987, p. 18,
nota 34). No sentido mais prximo da raiz grega, para Hagstrum, a cfrase
implica a descrio de um objeto real ou imaginrio (HAGSTRUM, 1987,
p. 18) e no apenas uma representao verbal de uma representao visu-
al
5
(HEFFERNAN, 1996, p. 262).
Em Te problems of ekphrasis, Murray Krieger (1998, p. 9-10)
levanta a questo de que a cfrase no pode ser compreendida como uma
epistemologia visual que se limita a apreender o pictrico em um poema,
uma vez que a propriedade pictural intrnseca pintura e no literatura.
De acordo com o crtico, a cfrase uma tentativa de imitar verbalmen-
te um objeto das artes plsticas, concebido na pintura ou na escultura
6
(KRIEGER, 1998, p. 4). Para dar cumprimento a essa tarefa de transposi-
o, o criador busca equivalncias verbais para a imagem visual.
Claus Clver, de sua parte, amplia o conceito desse fenmeno.
Para ele, a cfrase uma representao verbal de um texto composto em
um sistema sgnico no-verbal
7
(CLVER, 1997, p. 26). Deste enfoque,
quaisquer representaes literrias da pintura, da escultura, da arquitetura,
etc. podem se tornar objetos ecfrsticos. Considera ainda o estudioso da
Intermidialidade nas suas consideraes sobre Metamorfoses, de Jorge de
Sena, que, na cfrase, a voz enunciativa no se desprende da sua experin-
cia visual. a partir do observado que ela recorda, interpreta, refete, me-
dita, associa o que viu aos temas da existncia e da experincia humana
8
(CLVER, 1997, p. 28). Observemos que Clver, em suas consideraes,
vai alm do conceito de cfrase que a defne como notaes apenas des-
critivas do objeto, conforme visto em Hagstrum (1987). O sujeito potico
pode migrar da esfera que busca a equivalncia verbal para o signo visual
e penetrar no mbito das refexes acerca do que v.
Examinemos agora, em A cadeira amarela, de Van Gogh, como
se d essa passagem da posio da voz enunciativa do campo descritivo
para a esfera das ilaes acerca do objeto contemplado.
Na primeira estrofe, o sujeito potico semelha estar diante da tela
de Van Gogh e passa a descrev-la: o cho de tijoleira, uma cadeira rsti-
ca [...] empalhada e amarela, cachimbo, um caixote baixo, a assinatura
do pintor, a porta [...] azulada. O poeta no se coloca frente a realidades
fenomnicas, mas diante de representaes estticas do mundo e, deste
ponto, procede transposio daquilo que tem qualidades pictricas para
o cdigo verbal. Concomitante a este procedimento, insinua-se um olhar
perscrutador que quer adivinhar o que o observador no apreende da l-
mina: num papel ou num leno, tabaco ou no?. Observe-se que a voz
enunciativa persiste na tarefa de contar ao enunciatrio o que v e de indi-
car a posio que os objetos ocupam na prancha, muito embora o percebi-
45
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
do, neste momento, no se manifeste em sua enargeia
9
no discurso verbal,
ou seja, segundo Hagstrum (1987), ele no exposto em suas qualidades
visuais plenas, como aquelas que ele detm na natureza.
Na descrio, ou na tentativa de faz-la (quando a ausncia de
nitidez impede o reconhecimento do elemento percebido), a voz enuncia-
tiva assume uma atitude apreciativa diante do que v, como nas expresses:
rstica, rusticamente empalhada, recozida e gasta, desbotada porta,
mal assentes, carcomidas e sujas. Note-se que ocorre um aprofundamento
da percepo: ele no se basta apenas a olhar de forma ligeira a tela. Ele re-
lata minuciosamente o que v e valora o que est sob o campo de sua viso,
conferindo-lhe sentidos que se estendem ao dono desses objetos. Ao lado
da notao sobre o estilo do pintor: [...] matria espessa/ em que os pincis
se empastelavam suaves, desenvolve-se a isotopia da vida humilde atribu-
da a Van Gogh. Neste ponto, o sujeito lrico distancia-se da percepo do
objeto para uma refexo sobre o que apreende visualmente. Entra no cam-
po da meditao potica
10
, para usarmos a terminologia cunhada pelo
prprio Jorge de Sena (1963, p. 121).
Na segunda estrofe, estabelece-se um cotejo entre a fase de faus-
to de Van Gogh, em que comparecem seres mitolgicos, personagens da
realeza, paisagens, batalhas, e a fase da humildade, metonimicamente ex-
pressa pelos elementos representados no quadro. A voz enunciativa recor-
re memria do espectador acerca da produo anterior do artista, para
interpretar o que o olhar capta da tela sob anlise. A estrofe se fecha com
uma refexo acerca dos elementos dispostos sobre o assento da cadeira: o
fumo foi esquecido/ ou foi pousado expressamente como sinal de que/ o
pouco j contenta quem deseja tudo.
Recria-se, nesses versos, o ethos daquele que se basta com a seve-
ridade franciscana, mediante a equao paradoxal de que o pouco satisfaz
quem deseja tudo. No processo criador, a voz enunciativa apresenta os
objetos no como uma manifestao fenomnica do referente, mas como
a representao do posicionamento flosfco daquele a quem os objetos
pertenciam. Este enfoque distancia o discurso potico do conceito de enar-
geia, conforme vimos em Hagstrum (1987, p. 12), ou seja, o discurso no
mais busca recriar o referente em sua evidentia.
11
Na terceira estrofe, traa-se nova comparao, agora, entre o que
o signo cadeira signifca na situao enunciativa da representao pls-
tica e o signifcado que ele detm fora dela. No processo interpretativo do
signo, este se afasta cada vez mais da funo pragmtica de pea de moblia
de um determinado espao e transfgura-se na histria de vida do pintor.
Os objetos captados pelo olhar da voz enunciativa, que no incio do poema
os via na sua concretude e descrevia-os nas suas particularidades fsicas,
nesse momento representam o privado, a intimidade que quer ser resguar-
dada: os vcios (o tabaco), os confitos vividos, a loucura, a orelha cortada,
a dor, as viglias, o vazio do quarto, a solido.
46
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Giulio Carlo Argan comenta que Van Gogh ocupa um lugar ao
lado de Kierkegaard e de Dostoivski; como estes, ele se interroga, cheio de
angstia, sobre o signifcado da existncia, do estar-no-mundo (ARGAN,
2006, p. 123). Para esse crtico da arte, o pintor assimila o seu entorno e,
nesse processo, impregna o que apreende da densidade da vida e do seu
posicionamento questionador frente ao mundo. No poema, a voz enuncia-
tiva, por seu turno, l esse mundo de tenses que a tela encerra.
Persiste ainda na quarta estrofe o processo de transformao dos
objetos na imagem humana do pintor, na medida em que o sujeito potico
estabelece imediata relao entre a assinatura de Vincent, disposta no cai-
xote que ocupa o canto direito ao fundo da tela, e a identidade de sujeito
que ela representa.
O posfcio de Metamorfoses pode oferecer pistas interpretativas
para esse passo da anlise. Nele, Jorge de Sena comenta que
[...] os povos s valem como humanidade. [...] E a ale-
gria que sinto, no Museu Britnico ou no Louvre, ante
as colees onde palpita uma vida milenria, no pro-
vm de esta ser milenria, estranha, distante, brbara
ou requintada, mas sim [provm] de eu sentir em tudo,
desde as esttuas aos pequeninos objectos domsticos,
uma humanidade viva, gente viva, pessoas, sobretudo
pessoas (SENA, 1963, p. 122)
12
Os signos que esto sob a mira da voz enunciativa deixam de ser
referncias a objetos que desempenham ou desempenhavam funes utili-
trias, para se metamorfosearem em retrato do sujeito que eles represen-
tam. Nesta situao enunciativa, eles se ressignifcam. Assim como o olhar
do crtico Jorge de Sena se descola do campo fenomnico e busca uma leitu-
ra intersubjetiva, etnocultural, o olhar tambm de quem enuncia abstrai da
materialidade dos objetos e capta a vida que estes absorveram de Vincent.
Giulio Carlo Argan comparece novamente neste estudo para nos
falar da arte de Van Gogh. Embora de instncia diferente, sua leitura da
pintura do mestre holands muito prxima ao da voz enunciativa. Para o
crtico, o posicionamento de Van Gogh diante da realidade
no [ de] quem a contempla para conhec-la, mas
[de] quem enfrenta vivendo-a por dentro, sentindo-a
como um limite que se impe, da qual no pode se
libertar seno tomando-a, apropriando-se dela, iden-
tifcando-se com aquela paixo da vida que, ao fnal
leva morte? [...]. O que Van Gogh quer uma pintu-
ra verdadeira at o absurdo, viva at o paroxismo, at
o delrio e a morte (ARGAN, 2006, p. 125).
A interpretao de que a obra de Van Gogh gestada de vivn-
cias densas, confituosas, dialoga com a expresso o seu nome de corvo,
presente nos ltimos versos do poema, que retoma uma verso ofciosa de
que Van Gogh teria se suicidado durante a pintura de Campo de trigo com
corvos, de 1890 (WALTHER, 1990): a presena dos corvos no quadro seria
uma anteviso de Van Gogh sobre o seu fm trgico
13
.
47
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Voltando a considerar o procedimento da voz enunciativa, pos-
svel perceber que, na ltima estrofe, ela instala novo andamento no poe-
ma. Este sofre uma variao no modo como os signos se do a conhecer
ao leitor-espectador. Primeiramente h uma retomada dos objetos ante-
riormente referidos (nome prprio, cachimbo, porta, cho, cadeira),
seguindo o mesmo procedimento ecfrstico descritivo do incio do poema.
A seguir, a voz enunciativa os expe a um novo processo epistemolgi-
co. Agora, no mais apoiado na descrio dos objetos, mas orientado para
um questionamento cerrado acerca da relao signifcante/signifcado dos
signos, que gravita em torno do ncleo nome prprio. O poema fnaliza-
-se com indagaes sobre a legitimidade de se considerar que os objetos
estejam impregnados da humanidade do pintor, de acordo com a linha
de raciocnio desenvolvida na estrofe anterior. H nomes que resistam?,
interpela o sujeito potico. A seguir: Que cadeira, mesmo no-cadeira,
humildade? Observe-se que, neste passo, caminha-se do nvel icnico,
para usarmos a nomenclatura peirceana, para o questionamento da repre-
sentao simblica desses objetos. Eles podem ser vistos como smbolos de
humildade, solido, angstia, inquietao? Por fm, a questo crucial:
de tudo isso, o que permanece? so s cadeiras o que fca, e um modesto
vcio/ pousado sobre o assento enquanto as cores se empastam?
A voz enunciativa direciona a refexo para o plano da recepo
da obra de arte. O que um espectador l na obra de Van Gogh? Ele toma o
que v como formas concretas, os objetos na sua materialidade, ou apre-
ende o valor simblico de que eles so portadores? Se as questes fcam
em aberto ao fnal do poema, aguardando pela voz do leitor/observador,
o sujeito potico, no entanto, j deu a sua resposta no processo enunciati-
vo, decodifcando os signos para alm do nvel icnico. No procedimento
ecfrstico, o sujeito no quer apenas descrever a materialidade do que v,
mas semiotiza o que v, na nsia de decodifcar o que est para alm da
manifestao sensvel. Elegendo a cfrase como processo de conhecimento
e de criao potica, o eu lrico sonda no artefato artstico A cadeira ama-
rela os traos de humanidade do pintor holands.
LTIMAS CONSIDERAES
Em suma, na desterritorializao das artes, a cfrase questiona os
limites pictricos do verbo que privilegia o signo com atributos da pintura.
No poema sob exame, no so as qualidades do visual e do espacial que
dialogam com as artes plsticas, como no poema de Mallarm referido no
incio deste estudo. So as qualidades de visibilidade assimiladas da pintura
que se constituem em dilogo intersemitico. A partir do reconhecimento
dos elementos constantes na prancha, a voz lrica busca perscrutar o que
est alm da matria pictrica, no desejo de capturar as foras profundas
do ser que a criou.
48
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Do exposto, pode-se concluir que Metamorfoses, ou mais especi-
fcamente, A cadeira amarela, de Van Gogh, anuncia os novos rumos da
poesia portuguesa contempornea, deslocando as fronteiras entre as artes.
Por um lado, dota a palavra com as qualidades de visibilidade mediante o
uso do recurso da cfrase: transcodifca do visual para o verbal. Por outro,
persegue o veio potico que interroga, flosofa em mtrica, enfm, que d
larga emoo, metamorfoseando a matria pictrica em poesia, ou, em
outros termos, medita poeticamente acerca do objeto artstico que toma
como ponto de partida para a sua criao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVAREZ, Aurora Gedra Ruiz. A pintura e o poema: processos de
criao e de leitura. Letras & Letras, Revista do Instituto de Letras e Lin-
gustica da Universidade Federal de Uberlndia. Editora da Universidade
Federal de Uberlndia. v. 27, n. 02, p. 413-422, jul/dez.2011.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. Trad. Denise Bottmann e Fede-
rico Carotti. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
CLVER, Claus. Ekphrasis reconsidered: On verbal representations
of non-verbal texts. In: LAGERROTH, U-B; LUND, H.; HEDLING, E. Es-
says on the interrelations between the arts and media. Amsterdam/Atlanta,
G.A: Ropodi, 1997, p. 19-33.
HAGSTRUM, Jean H. Te sister arts. Te tradition of literary picto-
rialism and English poetry from Dryden to Gray. Chicago/London: Uni-
versity of Chicago Press, 1987.
HEFFERNAN, James A. W. Entering the museum of words: Brownings
My last Duchess and the twentieth-century ekphrasis. In: WAGNER, Pe-
ter (Ed.). Icons, texts, iconotexts: essays on ekphrasis and on intermidiality.
Berlin/New York: W. de Gruyter, 1996, p. 262-280.
KRIEGER, Murray. Te problems of ekphrasis. In: ROBILLARD, Vale-
rie; JONGENEEL, Els (Ed.). Pictures into words: theoretical and descriptive
approaches to ekphrasis. Amsterdam: VU University Press, 1998, p. 3-20.
MAGRITTE, Ren. La gante (1929-1930). In: Fondation Magrit-
te. Disponvel em: <http://www.magritte.be/> Acesso em: 20 abr. 2011. E
disponvel em: <http://literaturaearte.blogspot.com/2006/04/baudelaire-e-
-magritte.html> Acesso em: 20 abr. 2011.
MALLARM, S. Prface Un coup de ds jamais nabolira le hasard. In:
Oeuvres Compltes. Bibliothque de la Pliade. Paris: Gallimard-Pliade, 1945.
SENA, Jorge de. Metamorfoses. Lisboa: Livraria Morais, 1963.
VAN GOGH, Vincent. A cadeira amarela. 1888. In: National Gallery
of Art, Londres. Disponvel em: <http://www.nationalgallery.org.uk/pain-
tings/vincent-van-gogh-van-goghs-chair> Acesso em: 19 abr. 2011.
49
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
WALTHER, Ingo F. Vincent Van Gogh 1853-1890: viso e realidade.
Trad. Maria Odete Gonalves-Koller. Kln: Benedikt Taschen, 1990.
Recebido para publicao em 08/06/12.
Aprovado em 30/06/2012.
APNDICES
APNDICE 1 FIG. 1 REN MAGRITTE. LA GANTE
Ren Magritte. La gante. (1929-1930). / Poema de Baudelaire. Aquarela em
papel, papel carto e tela. 54 x 73 cm. Museu Ludwig, Colnia, Alemanha.
APNDICE 2 JORGE DE SENA. A CADEIRA AMARELA, DE
VAN GOGH
A cadeira amarela, de Van Gogh
No cho de tijoleira uma cadeira rstica,
rusticamente empalhada, e amarela sobre
a tijoleira recozida e gasta.
No assento da cadeira, um pouco de tabaco num papel
ou num leno (tabaco ou no?) e um cachimbo.
Perto do canto, num caixote baixo,
a assinatura. A mais do que isto, a porta,
50
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
uma azulada e desbotada porta.
Vincent, como assinava, e da matria espessa,
em que os pincis se empastelaram suaves,
se forma o torneado, se avolumam as
travessas da cadeira como a gorda argila
das tijoleiras mal assentes, carcomidas, sujas.
Depois das deusas, dos coelhos mortos,
e das batalhas, prncipes, forestas,
fores em jarras, rios deslizantes,
sereno lusco-fusco de interiores de Holanda,
faltava esta humildade, a palha de um assento,
em que um vcio modesto o fumo foi esquecido,
ou foi pousado expressamente como sinal de que
o pouco j contenta quem deseja tudo.
No no entanto uma cadeira aquilo
que era moblia pobre de um vazio quarto
onde a loucura foi piedade em excesso
por conta dos humanos que l fora passam,
l fora riem, mas de orelhas que ouam
no querem mesmo numa salva rica
um lbulo cortado, palpitante ainda,
banhado em algum sangue, o quantum satis
de lealdade, amor, dedicao, angstia,
inquietao, viglias pensativas,
e sobretudo penetrante olhar
da solido embriagadora e pura.
No , no foi, nem mais ser cadeira:
Apenas o retrato concentrado e claro
de ter l estado e de ter l sido quem
a conheceu de olh-la, como de assentar-se
no quarto exguo que s cor sem luz
e um caixote ao canto, onde assinou Vincent.
Um nome prprio, um cachimbo, uma fechada porta,
um cho que se esgueira debaixo dos ps
de quem fta a cadeira num exguo espao,
uma cadeira humilde a ser essa humildade
que lhe ri de dentro o dentro que no h
seno no nome prprio em que as crianas tm
uma f sem limites por que vo crescendo
51
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
beira da loucura. H quem assine,
a um canto, num caixote, o seu nome de corvo.
E h cantos em pintura? H nomes que resistam?
Que cadeira, mesmo no-cadeira, humildade?
Todas, ou s esta? Ao fm de tudo,
so s cadeiras o que fca, e um modesto vcio
pousado sobre o assento enquanto as cores se empastam?
APNDICE 3 FIG. 2 VINCENT VAN GOGH. A CADEIRA
AMARELA (1888)
Vincent de Van Gogh. A cadeira amarela. leo sobre tela. 91,8 x 73 cm.
National Gallery of Art, Londres.
NOTAS
1 Un coup de ds jamais nabolira le hasard. Todas as tradues so do autor deste artigo.
2 Essa classifcao foi dada por Mallarm no prefcio que ele escreveu para a Revista
Cosmpolis, onde o texto foi publicado pela primeira vez (MALLARM, 1945, p. 456).
3 Em A pintura e o poema: processos de criao e de leitura, in Revista Letras & Letras
(ALVAREZ, 2011), examinamos como J. M. Magalhes toma a tela Cape Cod Evening
como inspirao potica para reelaborar a cena visual no poema de mesmo nome, medi-
ante os atributos de plasticidade dados pelo signo verbal.
4 [] the Greek noun [ekphrasis] and adjective [ekphrastic] come from ekphrazein
(), which means to speak out, to tell in full.
5 Para Hefernan, ekphrasis is the verb representation of a visual representation.
52
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
6 [ekphrasis is] the attempted imitation in words of an object of the plastic arts, primarily
painting or sculpture (Krieger, Pictures into words, p. 4).
7 Ekphrasis is a verbal representation of a real or fctitious text composed in a non-verbal
sign system.
8 [] recording, interpreting, refecting, meditating, linking the observed to themes of
the human existence and experience
9 um termo grego, da retrica, aplicado ao discurso descritivo que cria uma imagem vi-
sual muito prxima quela que o observador tem do objeto natural. (HAGSTRUM, 1987,
p. 12). Enargeia implies the achievement in verbal discourse of a natural quality or of a
pictorial quality that is highly natural.
10 Jorge de Sena considera que, em Metamorfoses, h um claro interesse em meditar
poeticamente no sentido [...] de determinados objetos estticos (SENA, 1963, p. 121).
11 Termo latino para enargeia. Em latim, h outras acepes para essa fgura da retrica:
inlustratio, repraesentatio.
12 Este fragmento, segundo nota 1 de rodap do prprio autor, em Metamorfoses (SENA,
1963, p. 123), foi retirado do seu artigo Refexes sobre o extico, o folclrico, etc., a
propsito do teatro clssico da China, publicado em o Comrcio do Porto, de 26 de no-
vembro de 1957.
13 Como a imagem dos corvos est associada morte, Ingo Walther comenta que muitos
crticos consideram que a presena dessas aves na tela de Van Gogh representa um vat-
icnio da morte do artista. At onde vai o lendrio, onde reside a verdade, no se sabe. O
certo que, depois dessa obra, Van Gogh no conseguiu produzir trabalhos to represen-
tativos quanto este.
53
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
IMAGINATIO LOCORUM.
PARA UMA GEOPOTICADE EUGNIO DE
ANDRADE
Vincenzo Russo
(Universit degli Studi di Milano)
RESUMO
Para alm de fornecer algumas directrizes no mbito do complexo debate
acerca da relao entre geografa e literatura tal como abordado pela Te-
oria da Literatura, o conceito de geopotica (ainda in feri) pode contribuir
no s para verifcar segundo a abordagem tradicional o dado espacial
nas geografas desenhadas pela representao potica, mas tambm para
descobrir aquele surplus imaginrio que toda a poesia estratifca nos luga-
res (cidades, vilas, bairros). Se possvel falar duma geopetica da poesia
portuguesa do sculo XX, a obra de Eugnio de Andrade funciona como
um grande dispositivo de espaos da Nao como loca e como loci commu-
nes sempre por reescrever.
PALAVRAS-CHAVE: Eugnio de Andrade, geopotica, poesia portuguesa
do sculo XX.
ABSTRACT
In addition to providing some guidance in the complex debate about the
relationship between geography and literature as discussed in the Teory
of Literature, the concept of geopoetics (still in feri) can contribute not only
to check - according to the traditional approach - the data spatial in the
poetic representation but also to discover that all surplus imaginary poetry
stratifed in places (cities, towns, neighborhoods). If we can talk about a ge-
opoetics of Portuguese poetry of the twentieth century, the work of Eugnio
de Andrade can be considered as a device for reinvention and rewriting of
certain spaces of Portuguese territory.
KEYWORDS: Eugnio de Andrade, geopoetics, Portuguese poetry of the
the twentieth century.
54
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Topography displays no favorites; Norths are near as West.
More delicate the historians are the map-makers colors.
Elizabeth Bishop, Te map
ESPAO E LITERATURA: BREVES APONTAMENTOS SOBRE
UMA QUESTO TERICA
Todo o espao representado pela literatura , ao mesmo tempo,
um dado geogrfco e um topos narrativo, isto , uma estrutura retrica cu-
jas fronteiras so plasmadas pela histria. Um topos no passa de uma fgura
com uma funo potica especfca e uma potencialidade evocativa. Hoje,
evidentemente, se o topos volta a ser considerado pela crtica literria no
s como dimenso suplementar do cronos, ao qual diga-se de passagem
Bachtin parece, apesar de tudo, releg-lo
1
, isso se deve a todo um debate em
curso acerca das relaes entre geografa e literatura, a ponto de a crtica
literria parecer conhecer uma nova poca de partilha de interesses e sen-
sibilidade em relao histria e teoria geogrfca entendidas no apenas,
ou no tanto, como um conhecimento do lugar concreto, mas sim como
relao estratifcada e irredutvel com o territrio abstracto da mente e da
vivncia do homem. Depois de muitos anos de esquecimento disciplinar,
nos comeos do terceiro milnio, a meio de um debate mais alargado sobre
a globalizao, a geografa parece adquirir um novo estatuto epistemolgi-
co, tanto mais signifcativo se for repensado dentro de uma lgica interdis-
ciplinar. Apesar da poca da Internet ter coincidido, na opinio de alguns
pensadores, com o fm da geografa (viso esta contrastada por socilogos
como Castells), assiste-se hoje a um renovado interesse no apenas por
parte dos gegrafos, mas tambm dos flsofos, socilogos, crticos literri-
os e historiadores pelas tradies da geografa cultural, mental e flosfca:
possvel, no campo literrio, falar com alguma aproximao de uma
linha anglo-americana e de uma linha francesa ou francfona de estudos
sobre as geografas literrias
2
. Neste horizonte terico, a arte e, em particu-
lar, a literatura, com a sua possibilidade de representar de forma sugestiva
as geografas pessoais, tm tambm a capacidade de pr ordem na nossa
catica maneira de ver e entender a realidade: por isso, tanto o gegrafo
como o crtico literrio podem apoiar-se nos documentos poticos para
melhor poderem interpretar as nossas relaes com o espao, decifrando as
suas conexes e sentidos. Portanto, um novo e rico imaginrio topogrfco
e cartogrfco informa os estudos sobre as identidades individuais e colec-
tivas das diferentes comunidades, pe em destaque a concepo de lugar
nas cincias humanas e sociais, desde a teoria literria at aos estudos cult-
urais, pois que o lugar desempenha sempre um papel relevante na retrica
identitria (ZERUBAVEL, 2005, p. 74).
55
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A transformao paradigmtica do mundo, que passa de terra
para territrio, ou de lugar para espao, inscrita e realizada pela moderni-
dade europeia, deve necessariamente induzir um repensamento das rela-
es entre geografa e cultura ou, se se quiser, a representao visual das
coordenadas espaciais da cultura.
GEOPOTICA E POESIA PORTUGUESA DO SCULO XX
As palavras conseguem no apenas tornar-se um mapa do visvel
e do invisvel, mas tambm, tal como pretendia Breton, um mapa do de-
sejo. Desde as suas origens, escrever uma maneira de organizar o espao,
no texto e pelo texto. A geografa estimula no s a memria, mas tambm
os sonhos e as fantasias, a poesia e a pintura, a flosofa e a narrao, e a
msica (SAID, 2000).
Se verdade que as fontes literrias podem ser consideradas do-
cumentao preciosa para o conhecimento das paisagens histricas e da
sua evoluo e, alm do mais, suportes interpretativos efcazes igualveis
aos mais tradicionais hbitos analticos da pesquisa geogrfca (DE FA-
NIS, 2001, p. 14), tambm evidente que a aproximao clssica (estudo
e a descrio do facto geogrfco, presente dentro da literatura como uma
espcie de verifcao da autenticidade dos lugares ou das geografas de-
senhadas pelos vrios poetas) no sufciente para traar uma geopoti-
ca do Portugal do sc. XX, esse pas que Eugnio de Andrade defne um
corpo exasperado. Mais do que levar a cabo o exame do facto geogrfco
dentro da fco literria que, alis, era a proposta terica j avanada por
Maria de Lourdes Belchior num ensaio da dcada de 70
O projecto deveria abranger o sistemtico levanta-
mento de quanto respeite ao binmio poesia-geogra-
fa (alargado tambm prosa?), ao longo dos sculos,
desde o nascimento da cultura portuguesa aos nossos
dias. [...] Num primeiro momento poder-se-ia pro-
ceder fchagem de todas as aluses ou descries
que em textos literrios de autores portugueses sur-
gissem e fossem de incluir sob a rubrica geografa.
Num segundo tempo, e come espcie de contra-prova
ou verifcao, partir-se-ia da realidade ambiente, das
zonas ou regies geogrfcas e tentar-se-ia uma como
que geografa literria (BELCHIOR, 1971, p. 58)
a nossa abordagem est mais interessada em verifcar como e
em que termos funciona o surplus imaginrio, para o qual os poetas con-
tribuem com uma codifcao geopotica, atravs das suas reescritas da
territorializao geogrfca: surplus imaginrio que produz um novo e es-
tratifcado arquivo daquela imaginatio locorum (para tomar de emprstimo
o ttulo de um poema do tambm poeta topogrfco Ruy Belo) sempre sus-
pensa entre a realidade do facto e a fco da metfora potica. Verifcar
a veracidade ou a verosimilhana do facto geogrfco na obra literria no
56
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
pode seno representar um inicial exerccio crtico, ao qual deve necessari-
amente seguir-se um mapeamento das tradues lricas da complexidade
do mundo para uma verdadeira paisagem descrita, ou melhor, escrita pela
Poesia. A presena da paisagem no texto potico, entendida como ima-
gem produzida (no sentido de construda, isto , no natural) , apesar
de tudo, o resultado de uma tentativa de ler o mundo e de torn-lo legvel,
de habit-lo, ainda que liricamente. desde o Romantismo alemo (que
juntamente com os outros romantismos criou a paisagem)
3
que sabemos
que o homem vive poeticamente... A poesia, talvez melhor do que as out-
ras representaes artsticas tal como tinha j intudo Gerard Genette ,
sabe reescrever o territrio: il peut sembler paradoxal de parler de lespace
propos de la littrature, contudo parece necessrio reconsiderar as rela-
es entre espao e literatura, pois que une certaine sensibilit lespace,
ou pour mieux dire, une sorte de fascination du lieu, est un des aspects
essentiels de ce que Valry nommait ltat potique (GENETTE, 1966, p.
43). Ento, as obras literrias e as obras poticas em concreto no devem
ser lidas apenas como um espelho da objectividade (geogrfco-territori-
al), mas tambm como arquivo das experincias subjectivas do territrio
(constitudas pela mesma matria de que so feitas as emoes, os estados
de alma, os simbolismos), capazes de transmitir o esprito, o signifcado
dos factos territoriais, isto , o sentido do lugar. O saber geogrfco da poe-
sia funda-se muitas vezes na aceitao do esteretipo e na sua perpetuao,
mas est tambm apto a ressemantizar ex-novo um lugar, uma cidade, um
territrio. Neste sentido, a poesia faz-se topografa, topos, lugar comum,
sempre reescrevvel e reactualizvel pela tradio cultural. A poesia como
j se podia entrever na perspectiva formulada por Vitorino Nemsio num
artigo intitulado Arrbida (poesia e geografa) um testemunho autntico
e indispensvel para compreender o comportamento dos homens diante
de um determinado ambiente, e o escritor desempenha um papel funda-
mental, primeiro na formao e, depois, na defnio das representaes
geogrfcas.
Por mais utpica e inespacial que parea, toda a po-
esia radicalmente topogrfca. Sem um certo hori-
zonte e alguns alimentos terrestres no h cu nem
po dos anjos. [...]
No determinismo, no Taine e o meio que me
induzem a assim falar. O meio no faz ningum poeta,
mas perfaz a poesia no poeta. o seu cho, a sua cir-
cunstncia, a sua frente. De lugar e de ingrediente, o
meio torna-se substncia. A poesia mais etrea acaba
por ter um p na terra dos homens (NEMSIO, 1946).
O sentido do lugar de certas localidades portuguesas de tal for-
ma estratifcado por um suplemento de sentido literrio, se no mesmo
potico, que todo aquele substrato imaginrio constitudo pelos pensa-
mentos, pelas vivncias e pelas emoes que o poeta fez com que se dilatas-
sem espacialmente, tornando as suas experincias universais inerente
57
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
projeco literria e artstica. O territrio verdadeiramente o efeito da
arte, tal como pretendem Deleuze e Guattari, invertendo assim o tradicio-
nal determinismo na relao positivista entre ambiente e obra (DELEU-
ZE & GUATTARI, 2003, p. 445). Tudo isto ainda mais verdadeiro se se
pensar que so os prprios escritores a criar ou a recriar regies, lugares,
cidades, percursos, alternativos realidade geogrfca, ou at mesmo com-
pletamente inexistentes antes de por eles serem vistos. Mas no se trata
apenas de pases fantsticos, mero produto da imaginao literria, mas
sobretudo de lugares reais que, atravs da mediao da fantasia e da rees-
crita potica, assumem, tambm para os leitores que nunca antes os tinham
visto, um carcter e uma personalidade prpria, imprescindivelmente li-
gada aos escritos do autor (LANDO, 1993, p. 111). Como j notava Maria
de Lourdes Belchior, possvel reescrever a histria da poesia portuguesa
atravs da sua dimenso topogrfca. Isto ainda mais notrio se se refec-
tir na possibilidade de atribuir ao sc. XX uma espcie de poeticizao do
territrio que induz a repensar o microcosmos espacial (seja ela a regio, a
vila, a cidade ou at como acontece com Lisboa, Porto e Coimbra, os seus
bairros) associado sempre a uma personalidade.
A hiptese de trabalho de utilizar o conceito de geopotica
como dispositivo terico para perceber a complexa relao entre espao
geogrfco e as suas formas de representao literria. Com o termo de ge-
opotica utilizado pela primeira vez em 1979 pelo poeta franco-escocs
Kenneth White sem nenhuma teorizao prvia deve-se entender, no
rasto de uma liminar e ainda hetrgenea refexo crtica (ANSA, 2006;
BRANDT, 1997; SCHELLENBERGER-DIEDERICH, 2006), no apenas a
conscincia geogrfca defnida como
that intimate and subjective Geography, that terri-
torial knowledge as daily intelligence of the world,
which makes the real sense of the prefxoid geo-
in the lexeme Geopoetics. Te Geopoetics of an au-
thor is to be understood as his territorial intelligen-
ce, poetic and imagining ability for producing and
constructing a world, his characteristic determina-
tion and presentation of the relation Man Hearth
(ITALIANO, 2008, p. 4)
mas tambm dispositivo crtico-metodolgico capaz de reconhec-
er e descrever os contrapontos territorias que toda a representao potica
produz e ao mesmo tempo ritualiza. A geopotica restitui ao topos enquanto
lugar um resto de signifcado que a poesia sempre implica como efrao
do cdigo lingustico e semntico. A geopoetica portanto a conscincia
geogrfco-territorial que informa a potica de um autor mas tambm a pos-
sibilidade de um discurso disciplinar novo que saiba focalizar, como cada
categoria esttica, o prprio saber num objecto en mouvement tal como a
imaginao espacial da poesia e da sua representabilidade textual.
58
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
UMA GEOPOTICA ANDRADIANA
A historiografa crtica tem unanimemente reconhecido a im-
portncia do espao, em especial modo do espao portugus, na repre-
sentao potica de Eugnio de Andrade. Na verdade, se as confguraes
imagticas da terra (tal como foi mostrado por Arnaldo Saraiva, 1995), de
uma terra especfca geografcamente situvel entre o Alentejo e a Beira
Baixa, remetem para um processo de recuperao mnemnica e afectiva
que se liga com a restituio psicoanaltica da me como presena per-
vasiva na escrita, os lugares liricamente habitados (do latim Habeo, eti-
mologicamente continuar a ter) pelo poeta so os mais variados. De um
Alentejo anti-barroco e essencial (meu corao, alentejo de orvalho
4
),
desmitifcado (tanto do folclorismo rural como da super-estrutura neo-
realista
5
), mas ressemantizado poeticamente como uma elegia, escreve Eu-
gnio em Uma grande, imensa fdelidade.
Falei da luz do Alentejo, mas no ela que verdadeira-
mente me liga e religa a esta terra: demasiado cida,
falta-lha uma doura ltima, mediterrnea, que s en-
contraremos mais ao sul. O que ma fascina aqui uma
conquista do esprito sem paralelo no resto do pas,
numa palavra: um estilo. O melhor do Alentejo uma
liberdade que escolheu a ordem, o equilbrio. Estas
formas puras, sbrias de linha e cor, que vo da paisa-
gem ao vesturio, do vesturio ao canto, so a expres-
so de um esprito terreno cioso de limpidez, capaz
da suprema elegncia de ser simples. Povert , talvez,
a palavra ajustada a esta esttica, alheia ao excesso,
ao desmedido, ao espectacular. Ao luxo prefere-se a
pobreza: anarquia o rigor; paixo, um concentra-
do amor. O Alentejo inimigo do barroco em nome
da claridade. Muito cerrado (quase apetecia escrever:
encarcerado) sem dvida; mas dos seus limites tira o
alentejano a sua fora. O seu olhar na impossibilidade
de ir mais longe, ir cada vez mais fundo, e o que lhe
sai das mos o fruto duma paisagem enxuta, hirta,
de uma magreza quase reduzida ao osso. Uma paisa-
gem essencial, de que um homem pode orgulhar-se,
quando lhe refecte o rosto ou a alma
6
.
O Alentejo geopotico de Eugnio de Andrade agonia/ dos
lentos inquietos/ amarelos,/ solido do vermelho/ sufocado,/ por fm o ne-
gro,/ fundo espesso,/ como no Alentejo/ o branco obstinado
7
. Tal como
acontece com o Alentejo, no haver tambm os Aores na verso poeti-
cizada de Ntalia Correia ou de Jos Agostinho Baptista ou uma Madeira
geopotica? Existem vrias Coimbras pelo menos no sculo XX: a cidade
histrico-literria maneira de Manuel Alegre, aquela disforicamente
negativa parodiada por Almada Negreiros: Coimbra universitria, /bem
entendido! / Odeio-te /fnges de cabea/ e no s seno o lugar dela. [] A
nica pessoa de interesse que conheci em Coimbra/ foi a dona de uma casa
59
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
de mulheres/ todos os outros eram cultos/ admiravam os grandes vultos/ e
desconheciam os pequenos/ como se estes no fossem uma projeco dos
grandes. A Coimbra acadmica ou elegaca (aquela pintada no Madrigal
Melanclico
8
) maneira de Eugnio de Andrade a cidade dos estudos,
a juventude como sinnimo de excesso (parafrasando o ttulo do Prefcio
da antologia literria ou geo-literria sobre Coimbra, organizada com
o nome de Memrias de Alegria, publicada na coleco da Inova que se in-
titulava signifcativamente Viagens na nossa terra)
9
. Coimbra a cidade
provinciana por onde toda a gente passou (Como toda a gente tambm eu
passei por Coimbra), a cidade universitria da dcada de 40 to bem de-
scrita no Prefcio (Excessivo Ser Jovem): lugar geogrfco que se torna
convvio intelectual nos magnfcos versos dedicados a Eduardo Loureno
na for da sua idade, quando a cinza leve da experincia vivida se faz es-
pao real e lrico. Por fm, o espao tambm tempo. Em Eugnio, o verbo
fez-se carne, a arquitectura transforma-se em lirismo, a urbanstica da ci-
dade d lugar a uma cincia que j no se cartografa segundo os parmet-
ros da geometria, mas atravs dos clculos do desencanto e da condenao
de um tempo portugus regulado pelos relgios (do regime e da igreja).
Era bonita mas to provinciana
a cidade. Dos seus muros pasmados
a luz fna caa preguiosa
nas areias do rio. Mas o resto
era vulgaridade e sonolncia.
S as rvores no eram vulgares:
de to formosas tornavam o cu
de cristal, como se o vero fora
imortal entre pltanos e choupos.
Al nos encontrmos certo dia,
ramos jovens e mais jovem que ns
era a poesia que nos acompanhava
Hlderlin Keats Pessanha e o Pessoa.
Eram ento e no sero ainda?
Os nossos amigos. O mais, gente ideias
Costumes, tudo tinha o mesmo cheiro
de caserna aliada a sacristia.
Dessa cidade em ns nada fcou.
De ns, que fcar nessa cidade?
10
Precisamente neste prefcio, Eugnio de Andrade, consciente do
facto de como a paisagizao dos lugares tenha sido consumida no inte-
rior da modernidade ocidental (que seleccionou esteticamente o espao
mais belo e mais harmonioso para fazer dele paisagem, que sempre um
facto cultural), critica o excesso de poeticidade e de potico com o qual a
cultura, ao cambi-lo por poesia, redesenhou a cidade de Coimbra.
60
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Uma paisagem assim mesmo um perigo pblico
dizem-na potica, consagram-lhe sonetos. Ora a po-
esia inimiga do potico. Os letrados que por aqui
passaram quase sempre se esqueceram disso; o resul-
tado o no houver outra cidade sobre a qual se te-
nham despejado tantos e to maus versos. Debaixo de
tal entulho, custa a descobrir qualquer coisa em que o
esprito no tenha abandonado o corpo, e respire. No
espanta que por aqui a poesia tenha escolhido a prosa
para a habitao
11
.
Institucionalizar a poeticidade de uma paisagem por excesso de represen-
tao parece dizer Eugnio no seno reescrever como um palimp-
sesto uma mesma textualidade histrica, sob a qual dfcil detectar ainda
a respirao da terra, da natureza, da vida.
E a cidade do Porto, quantas cidades de papel encerra em si mes-
ma? a cidade de luz e granito de Jos Gomes Ferreira, a cidade-rio de
Albano Martins, de Gasto Cruz (Cores indecifrveis, vermelhos espessos,
obscurecidos./ Amparam cheiros ftidos, penumbras. E o rio resume tudo
isto: mulheres lavam na gua destruda: roupa, sabo e cascas de laranja;
em torno a gua grande, verde e ntima), ou ento, toda a cidade interior
de Eugnio de Andrade
O Porto s uma maneira de me refugiar na tarde,
forrar-me de silncio e procurar trazer tona algumas
palavras, sem outro fto que no seja o de opor ao cor-
po espesso destes muros a inserruo do olhar.
O Porto s esta ateno empenhada em escutar os
passos dos velhos, que a certas horas atravessam a rua
para passarem os dias no caf em frente, as lgrimas
todas das crians de S. Vtor correndo nos sulcos da
sua melancolia.
O Porto s a pequena praa onde h anos aprendo
metodicamente a ser rvore, aproximando-me assim
cada vez mais das restolhadas matinal dos pardais, es-
ses velhacos que, por muito que se afestem, regressam
sempre minha vida.
Desentendido da cidade, olho na palma da mo os re-
sduos da juventude, e dessa paixo sem regra deixarei
que uma ptala pouse aqui, por ser de cal
12
.
A poesia topogrfca, sobretudo no que diz respeito aos lugares
da sua vivncia, torna-se, em Eugnio de Andrade, num verdadeiro proces-
so de comunicao de mensagens territoriais que o autor veicula atravs da
capacidade da sua linguagem de fxar signifcados pensantes nos lugares
e nas paisagens. A cidade do Porto , ao mesmo tempo, uma paisagem da
terra e uma paisagem da mente, sempre difcil de decifrar e de separar com
clareza. Para estudar a geopotica de Eugnio de Andrade, mas tambm de
todo o sc. XX portugus, devemos recorrer topoflia, tal como cono-
tada por Bachelard, como uma geografa potica apta a determinar o valor
humano dos espaos que se possuem, dos espaos defendidos contra foras
adversas, dos espaos amados (BACHELARD, 1989, p. 26).
61
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Talvez Escrever a terra para Eugnio de Andrade no tenha sido
mais do que amar a terra
13
. Escrever a terra no signifcou seno trans-
mitir na objectividade do facto geogrfco a mais valia de sabedoria viven-
cial, de valores tradicionais do territrio que compem o genius loci. Mas
no s: escrever a terra foi sempre um exerccio de enraizamento (O Porto
s a pequena praa onde h anos aprendo metodicamente a ser rvore...),
de redescoberta das suas razes culturais e das da sua comunidade. No por
acaso, a Eugnio de Andrade devida toda uma constelao de antologias
organizadas como arquivos das representaes poticas de um lugar, en-
tendidas ao mesmo tempo como meras descries poticas das geografas e
das urbansticas e como transfguraes do seu conotado sense of place
14
.
Os forilgios organizados por Eugnio de Andrade Cancioneirinho de
Coimbra, Porto, Asa, 2002 e O Alentejo no tem sombra, Porto, Asa, 2002 ,
no so seno uma nova proposta de uma verdadeira paixo geo-literria
do nosso autor, identifcvel desde o clssico Daqui Houve nome Portugal.
Antologia de verso e prosa sobre o Porto, de 1968, e do j citado Memrias
de Alegria, antologia de verso e prosa sobre Coimbra, de 1970, at mais
recente recolha intitulada Alentejo, 1993; 2 ed. aumentada com desenhos
de Armando Alves, Porto, Campo das Letras, 1997.
A cidade, literria por excelncia, Lisboa, enquanto facto e fco,
mereceria um longo discurso (que aqui impossvel enfrentar), no s
pela proliferao de imagens poticas produzidas ao longo de todo o s-
culo passado, mas tambm pela insistncia eugeniana de glosar os seus
lugares, as estradas, as paisagens humanas ou urbanas, no s as tradicio-
nalmente literrias, (confronte-se por exemplo os poemas No cemit-
rio da Lapa, Praa da Alegria). Como magistralmente demonstrou Jos
Cardoso Pires, a capital tornou-se hoje um smbolo equiparvel Praga de
Kafa e Dublim de Joyce. Se foi, sem dvida, o sc. XX potico que muito
contribuiu para a elevao de Lisboa a smbolo literrio (sem esquecer que
desde a poesia galego-portuguesa ela um topos), tal aconteceu porque
este sculo fez desta cidade no s um fundo, um cenrio onde debulhar
as personagens de turno, mas sim a preponderante protagonista do nar-
rado (CIPRIANI, 2003, p. 11).
A imaginatio locorum de Lisboa fui e inspira a poesia eugeniana
desde as primeiras recolhas, tal como acontece por exemplo em Nocturno
de Lisboa, onde desaparecem todos os traos de paisagizao, excepo
do ttulo e do segundo verso (cada homem procura um rio para dormir),
que trai a referncia ao lugar comum geogrfco mais tradicional da cidade:
o rio Tejo. De resto, uma isotopia potomolgica clssica na lrica portu-
guesa atravessa todo o sc. XX e na poesia de Eugnio declina-se ainda
de acordo com os tons nostlgicos da vivncia e da imagem da infncia
(em jeito de revisitao dbil do lvaro de Campos das duas Lisbon
Revisited), como acontece em Outra vez o Tejo, ou mesmo da perda e do
exlio atravs dos quais o rio do tempo presente se tornou lugar, tambm
fsico e corporal, do opressor e, portanto, cidade-lugar onde agrupar-se,
62
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
j no por causa das colectivas aventuras martimas, mas por abandonos
calculados: Que soldado to triste esta chuva/ sobre as slabas escuras do
outono/ sobre o Tejo as ltimas barcas/ sobre as barcas uma luz de desterro.
// J foi lugar de amor o Tejo a boca/ as mos foram j fogo de abelhas/ no
era o corpo ento dura e amarga/ pedra do frio. // Sobre o Tejo cai a luz das
fardas/ tempo de te dizer adeus
15
.
Mesmo sem ter esgotado, nesta breve resenha, o horizonte geo-literrio
da poesia de Eugnio de Andrade, inegvel que esta tenha contribudo
para a re-codifcao, segundo uma nova linguagem, dos espaos da terra
portuguesa, imprimindo a esta mesma terra os sinais, os avisos, os res-
tos de uma escrita que se sedimenta, como um sulco, na tradio lrica
nacional, reinventando simultaneamente, como um novo fruto, o sculo
XX portugus. Por fm, o cartgrafo Eugnio assinala no seu pessoals-
simo mapa geopotico, territrios que aceitam desde logo ser no menos
reais do que aqueles impressos nos mapas geogrfcos, pois o que resta da
realidade espacial apenas a fco da imaginao potica.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ANSA, Fernando. Del topos al logos: propuestas de geopotica. Ma-
drid: Iberoamericana, 2006.
ANDRADE, Eugnio de. Os Afuentes do Silncio. 3. ed. Porto: Edito-
rial Inova, 1974.
______. Poesia. 2. ed. revista e acrescentada. Porto: Fundao Eug-
nio de Andrade, 2005.
BACHELARD, Gaston. La poetica dello spazio. Trad. Ettore Catalano.
Bari: Dedalo, 1989.
BACHTIN, Michail. Estetica e Romanzo. Trad. Clara Strada Janovi.
Torino: Einaudi, 2001.
BELCHIOR, Maria de Lourdes. Poesia e Realidade. In: Miscelnea de
Estudos em honra do Prof. Vitorino Nemsio. Lisboa: Publicaes da Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa, 1971, p. 47-59.
BRANDT, Joan. Geopoetics. Te Politics of Mimesis in Poststructuralist
French Poetry and Teory. Stanford CA: Stanford University Press, 1997.
CIPRIANI, Laura. Lisbona. Citt dellinquietudine. Milano: Edizioni
Unicopli, 2003.
DE FANIS, Maria. Geografe letterarie. Roma: Meltemi, 2001.
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. Mille Piani. Capitalismo e
Schizofrenia. Ed. Massimo Carboni. Roma: Castelvecchi, 2000.
GENETTE, Grard. Figures II. Paris: ditions du Seuil, 1966.
63
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ITALIANO, Federico. Defning Geopoetics. In: Trans n. 6. 2008, p.
1-9. Disponvel em http://trans.univ-paris3.fr.
LANDO, Fabio. Fatto e fnzione: geografa e letteratura, Milano: Etas-
Libri, 1993.
MORETTI, Franco. La letteratura vista da Lontano. Torino: Einaudi,
2005.
NEMSIO, Vitorino. Arrabida (poesia e geografa). Dirio popular,
13 Fevereiro de 1946.
SARAIVA, Arnaldo. Introduo poesia de Eugnio de Andrade. Por-
to: Fundao Eugnio de Andrade, 1995.
SAID, Edward. Invention, Memory and Place. In: Critical Inquiry.v.
26, Winter, 2000.
SCHELLENBERGER-DIEDERICH, Erika. Geopotik. Studien der Me-
taphorik des Gestein in der Lyrik von Hlderlin bis Celan, Bielefeld, 2006.
SERRO, Joel. Portugueses Somos. Lisboa: Livros Horizonte, 1975.
ZERUBAVEL, Eviatar. Mappe del Tempo. Memoria collettiva e costru-
zione sociale del passato. Trad. R. Falcioni. Bologna: Il Mulino, 2005.
Recebido para publicao em 20/04/12.
Aprovado em 15/06/2012.
NOTAS
1 Il cronotopo nella letteratura ha un essenziale signifcato di genere. Si pu dire senza
ambagi che il genere letterario e le sue variet sono determinati proprio dal cronotopo,
con la precisazione che il principio guida del cronotopo il tempo (BACHTIN, 2001, p.
232).
2 No por acaso que o crtico italiano Franco Moretti cite dentro do cnone terico dos
melhores trabalhos sobre a relao entre literatura e espao os nomes de Bachtin, de Di-
onisotti, de Raymond William e Henry Lafon (MORETTI, 2005, p. 49).
3 Cf. para a questo da paisagem na modernidade literria Luisa Bonesio, Geoflosofa del
paesaggio. Milano: Mimesis, 1997.
4 Poema X in Branco no Branco (ANDRADE, 2005, p. 357)
5 O Alentejo com os seus problemas sociais a propriedade indivisa, as crises de trabalho
e as fomes peridicas, a tenso entre as classes, o nascimento na populao agrcola de
um esprito proletrio que outras provncias prticamente ainda ignoram, parecia dever
oferecer aos escritores neo-realistas um campo excelente de investigao e laborao ro-
manesca in Introduo de O Alentejo por Urbano Tavares Rodrigues, Bertrand, Venda
Nova-Amadora, 1958, p. 21.
6 Uma grande imensa fdelidade (ANDRADE, 2005, p. 64).
64
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
7 Alentejo, in Escrita da terra, (ANDRADE, 2005, p. 216)
8 Raramente l vou, mas sempre/ que passo na cidade, junto ao rio,/ o jardim que pro-
curo primeiro,/ onde o maigo colheu h tantos anos,/ para me dar, a for da canforeira./
Coimbra ainda essa for,/ e na memria que bem que che ira, in Escrita da Terra, p. 215.
9 Excessivo Ser Jovem - Prefcio a Memrias de Alegria, antologia de verso e prosa sobre
Coimbra, Editorial Inova, Porto, 1970.
10 Ao Eduardo Loureno na for da sua idade, in Homenagens e Outros Epitfos, pp.
244-245.
11 Excessivo Ser Jovem (in ANDRADE, 2005, p.159).
12 Porto in Vertentes do Olhar, 2005, p. 411.
13 Tal como notou Joel Serro no rapsdico ensaio sobre Eugnio com o ttulo de Cro-
nos, Eros e Tanatos nas palavras do poeta: Verifquemos, de passagem, o que esta sonda-
gem, para j, revela: so as palavras terra e amor as que se apresentam mais geratrizes nas
suas virtualidades de metamorfoses. Terra, amor: amor da terra, amor terrestre, amor na
terra, amor para a terra (SERRO, 1975, p. 280).
14 O mercado editorial, no entretanto, tem proposto durante os ltimos anos vrias anto-
logias geo-poticas como, por exemplo, os volumes organizados por Adosinda Providn-
cia Torgal e Clotilde Correia Botelho pela D. Quixote sobre respectivamente Lisboa, Porto
e Coimbra. Contudo, j nas clssicas antologias Portugal. A terra e o homem. Antologia
de textos de escritores dos sculos XIX-XX, (por Vitorino Nemsio, Lisboa, Edio Funda-
o Calouste Gulbenkian, 1978) e Portugal. A terra e o homem. Antologia de textos de
escritores dos sculos XX, (por Maria Alzira Seixo e David Mouro-Ferreira, II volume 3
srie, Lisboa, Edio Fundao Calouste Gulbenkian, 1981) era visvel uma vontade de
recuperar a relao entre espao e a representao literria dos lugares (urbanos e no s)
de um Portugal somente europeu.
15 Sobre o Tejo in Vspera da gua (ANDRADE, 2005, p. 200)
65
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
REPRESENTAES DA ME-FRICA
NAS POESIAS MOAMBICANA E
AFRO-BRASILEIRA
1
Donizeth Santos
(Universidade de So Paulo)
RESUMO
Atravs da anlise dos poemas Sangue negro, da poeta moambicana
Nomia de Sousa, Regresso e Elo, do poeta afro-brasileiro Oliveira
Silveira, o artigo mostra que a Me-frica representada na poesia mo-
ambicana como a me negra biolgica, a nao, e o continente africano,
enquanto que na afro-brasileira, alm de ser a progenitora da raa negra, o
continente africano tambm a terra prometida, o paraso perdido.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia moambicana; Poesia afro-brasileira; Me-
-frica.
ABSTRACT
Trough the analysis of poems, Sangue negro, by the Mozambican poet
Nomia de Sousa, Regresso and Elo, by the Afro-Brazilian poet Oli-
veira Silveira, the article shows that Mother-Africa is represented in a Mo-
zambican poetryas the biological black mother, the nation and the African
continent, while in the Afro-Brazilian, besides being the progenitor of the
black mankind, the African continent, is also the promised land, the lost
paradise.
KEYWORDS: Mozambican poetry; Afro-Brazilian poetry; Mother-Africa
66
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
CONSIDERAES INICIAIS
A ideia de uma frica confgurada como me e terra foi um res-
gate promovido pelo Pan-africanismo, no fnal do sculo XIX e incio do
sculo XX, das tradies culturais pr-coloniais africanas, em um momen-
to histrico em que o negro voltava-se para a descoberta de sua origem.
Esse resgate promovido pelo Pan-africanismo foi consolidado pelos mo-
vimentos culturais a que ele deu origem (Renascimento Negro norte-ame-
ricano, Indigenismo haitiano, Negrismo cubano e Negritude francfona),
transformando a Me-frica em uma das principais recorrncias temticas
presentes nas literaturas africanas e afro-americanas.
Nas literaturas africanas de lngua portuguesa essa recorrncia
temtica manifesta-se no perodo em que comea a germinar uma reao
anticolonial ao governo portugus. Nesse perodo, marcado pela descober-
ta da origem e do solo ptrio, surge uma potica de evocao e exaltao
Me-frica, que busca resgatar as razes africanas encobertas pelos sculos
de assimilao cultural. Segundo Russell Hamilton (1981, p. 97), o retorno
s origens resultou nas colnias portuguesas em frica, e em todo o cha-
mado mundo negro africano, numa quantidade de poemas que invocam a
terra natal (ou ancestral) em voos emocionantes de devoo Me-frica,
servindo essa imagem da Me (nesse nvel de conscincia) para fns telri-
cos como smbolo da fecundidade e da fdelidade s origens.
Na literatura afro-brasileira
2
, a imagem da Me-frica surge nos
textos dos escritores negros aps a difuso, no Brasil, das ideias oriundas
dos movimentos culturais negros pan-africanistas, ocorrida na dcada de
50. Esses movimentos propugnavam o resgate dos valores culturais afri-
canos, a correo das distores histricas em relao ao negro, uma so-
lidariedade negra para alm da geografa ou da classe, o assumir-se com
orgulho a condio de negro e a fdelidade origem africana.
Isto posto, este texto apresenta, a seguir, algumas representaes
da Me-frica nas poesias moambicana e afro-brasileira, atravs da anli-
se de trs poemas que possuem essa temtica comum nas duas literaturas:
Sangue negro, da moambicana Nomia de Sousa, e Elo e Regresso
do poeta afro-brasileiro Oliveira Silveira.
REPRESENTAES DA ME-FRICA NA POESIA MOAM-
BICANA
A poeta Carolina Nomia Abranches de Sousa nasceu em Mapu-
to, Moambique, em 20 de setembro de 1926, onde viveu at 1951, poca
em que circulou o seu caderno policopiado de poesias intitulado Sangue ne-
gro, contendo 43 poemas, o qual somente 50 anos depois, em setembro de
2001, foi editado em livro. Esse caderno de poesias causou enorme impacto
nas colnias portuguesas em frica. Segundo Pires Laranjeira (1995b, p.
268), em Moambique ele transformou radicalmente a noo e a percepo
67
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
de literatura que se fazia por l, concebendo uma moambicanidade sem
ambiguidade, e em Angola despertou fascnio e indicou o caminho que a
poesia angolana deveria seguir, atravs da valorizao da herana cultural
africana e a revolta contra a dominao colonial portuguesa.
Mas esse impacto causado fez com que a poeta se tornasse visa-
da pela PIDE (polcia poltica do governo portugus), provocando a sua
mudana para Lisboa em 1951, onde permaneceu trabalhando como jor-
nalista at 1964, ano do incio da guerra de libertao nacional, quando
ento partiu para Paris e l se empregou como funcionria do Consulado
de Marrocos. Em 1975, com o fm da guerra e a independncia de Moam-
bique, retornou a Lisboa, permanecendo na capital portuguesa at sua
morte em 04 de dezembro de 2002. Nesse perodo s voltou a Moambique
em viagens a passeio.
Jos Craveirinha (2000), poeta moambicano contemporneo de
Nomia de Sousa, considera a poesia dela cem por cento africana e afrma
que, em seus poemas, ela canta para sua Me-frica e para todos os seus
irmos de destino. Essa poesia, segundo Pires Laranjeira (1995b, p. 270),
se organiza num discurso oralizado, exaltado, pleno de emoo. Nenhum
outro poema de Nomia se encaixa to bem nessas caractersticas quanto
Sangue negro, texto que d nome ao seu nico livro editado.
Sangue negro
minha frica misteriosa, natural!
minha virgem violentada!
Minha me! ...
Como eu andava h tanto desterrada
de ti, alheada distante e egocntrica
por estas ruas da cidade engravidada de estrangeiros
Minha Me! Perdoa!
Como se eu pudesse viver assim,
desta maneira, eternamente,
ignorando a carcia, fraternamente morna
do teu luar ...Meu princpio e meu fm ...
Como se no existisse para alm dos cinemas e cafs
a ansiedade dos teus horizontes estranhos,
por desvendar ...
Como se nos teus olhos matos cacimbados.
no cantassem em surdina a sua liberdade, as aves mais belas
[cujos nomes so mistrios ainda fechados!
68
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Como se teus flhos
- rgias esttuas sem par -
altivos, em bronze talhados,
endurecidos no lume infernal
do teu sol
escaldante
tropical
Como se teus flhos
intemeratos, sofrendo,
lutando.
terra amarrados
como escravos trabalhando, amando,
cantando,
meus irmos no fossem!
- minha me frica-
Magna pag, escrava sensual
mstica, sortlega
tua flha desvairada
Abre-te e perdoa!
Que a fora da tua seiva vence tudo
e nada mais foi preciso que o teu feitio impor
dos teus tants de guerra chamando,
dum-dum-dum-tam-tam-tam
dum-dum-dum-tam-tam-tam
para que eu vibrasse
para que eu gritasse
para que eu sentisse! fundo no sangue
a tua voz Me!
E vencida reconhecesse os nossos erros
e regressasse minha origem milenar ...
Me! Minha me frica,
das canes escravas ao luar,
No posso, NO POSSO, renegar
o Sangue negro, o sangue brbaro
que me legaste ...
Porque em mim, em minha alma, em meus nervos, ele mais
[forte que tudo!
Eu vivo, eu sofro, eu rio,
atravs dele,
ME!... (SOUSA, 1975, p. 151-152)
69
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Nesse poema, o sujeito potico feminino dirige-se Me-frica
de forma emocionada, exaltando-a e pedindo perdo, ao reconhecer que
esteve afastada dela, vagando por ruas da cidade tomadas por estrangeiros,
insensvel carcia do luar africano, frequentando cinemas e cafs em de-
trimento dos horizontes estranhos, dos matos cacimbados e dos cantos das
aves, no se preocupando com a sorte de seus irmos escravizados, e que
ao som do tambor africano despertou para esta realidade e reconheceu a
impossibilidade de renegar suas razes.
Adotando-se aqui uma perspectiva sociolgica nos padres def-
nidos por Antonio Candido (2000), vamos nos servir de alguns elementos
externos para entender melhor os elementos internos do poema, pois, se-
gundo Candido, em um texto literrio os elementos externos a ele, o social,
o histrico e o poltico, tornam-se internos ao serem incorporados sua
estrutura.
Nesse sentido, levando-se em considerao o contexto histrico-
-poltico-social em que o poema foi produzido e contrastando-o com a
mensagem que ele expressa o arrependimento e o pedido de perdo do
sujeito potico Me-frica, em decorrncia de um afastamento tempor-
rio entre elas , constatamos que esse afastamento fruto da assimilao
cultural a que estavam submetidos os africanos devido ao colonialismo eu-
ropeu. Essa assimilao cultural consistia na apreenso da cultura do colo-
nizador por parte do nativo (no caso de Moambique, a cultura portugue-
sa) e no expurgamento da cultura africana, fcando as populaes nativas
sujeitas a represlias se no o fzessem.
Pelos dados biogrfcos que temos, Nomia de Sousa, alm do
portugus e do ronga (sua lngua materna), lia, escrevia e falava fuente-
mente francs e ingls, e estava a par de todas as correntes literrias em
voga na poca. Ela era uma intelectual e, desse modo, estava totalmente
assimilada cultura europeia. Dentro do contexto histrico-poltico-social
do fnal dos anos 40 da Loureno Marques colonial (atual Maputo), pe-
rodo em que o governo portugus acelerou o processo de assimilao e
de represso nas colnias, natural e compreensvel que uma jovem culta
sofresse uma perda de identidade, esquecendo-se de suas razes africanas.
E ao se conscientizar de que era negra, africana e colonizada, vai desespe-
radamente em busca de sua ancestralidade atravs desse regresso ori-
gem milenar (LEITE, 1998, p. 109) que o poema Sangue Negro. Pires
Laranjeira comenta os efeitos que essa descoberta de identidade provocava
nos africanos cultos ao se depararem com a outra realidade vivida por seus
irmos de cor e sangue:
Os africanos que conseguem estudar e atingir um cer-
to nvel de conscincia social, mesmo benefciando de
algumas benesses da cidade de beto, tem tendncia a
sentir-se identifcados com a massa da populao que
vegeta e sobrevive por entre inmeras difculdades.
A raa, o grupo tnico, cor da pele, funcionam como
70
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
um sinal de alarme do que eles, nas mesmas condi-
es poderiam ter sofrido na carne. Ao descobrirem
que ignoram quase tudo sobre a cultura e os costumes
dos seus semelhantes, sentir-se-o como autnticos
estrangeiros na sua terra e verdadeiros intrusos nas
metrpoles europias, onde vestem a pele dos seus
patrcios das colnias. Escrevendo por catarse e revol-
ta, iro descobrir a frica profunda, que como quem
diz, a raa e a etnia como factores de cultura, identi-
dade e afrmao. O tema tnico, nesse renascimento,
representa para os africanos a busca mirfca de con-
sistncia das razes, da origem, de um especfco tron-
co da rvore da vida. (LARANJEIRA, 1995a, p. 414)
Nesse sentido, Sangue negro uma reconciliao do sujeito po-
tico, e por extenso da prpria Nomia de Sousa, com a sua origem afri-
cana. uma redescoberta de si mesma, de sua raa, da realidade africana
ao seu redor e da frica profunda.
Por essa perspectiva, a Me-frica de Nomia de Sousa o con-
tinente africano, a Grande Me, a progenitora da raa negra que, na poca
em que o poema foi escrito (1949), sofria a violncia do colonialismo por
quase toda sua extenso territorial, pois, segundo Pires Laranjeira (1995a,
p. 394), a frica mitifca-se como o grande continente de esplendorosas ci-
vilizaes de onde irradiaram para a dispora de todo o mundo e cuja terra
se constitui na grande mater da raa negra e por isso so comuns na poesia
africana as expresses Me-frica, Me-Terra e Me Negra.
Mas, ao mesmo tempo, a Me-frica a nao moambicana,
pois a ptria tambm considerada uma me. E, se naquela oportunidade
ainda no existia no plano poltico a ptria moambicana, no psicolgico
ela j era conscientemente imaginada, conforme o conceito de comunida-
de imaginada, de Benedict Anderson (1989). Maria Nazareth Soares Fon-
seca comenta a etimologia da palavra ptria, associando o seu signifcado
ao de uma me que nutre, aconchega e protege seus flhos:
A etimologia da palavra ptria importante para se
compreenderem as alegorias e fguraes em que p-
tria a nao imaginada como mulher, descrita como
um corpo que nutre e aconchega. Nesse sentido,
interessante ressaltar que a palavra ptria, ainda que
guarde muitos dos signifcados relacionados com o
poder do pai, pater, deriva da palavra latina patria,
feminina, preservando de sua origem uma gama de
sentidos ligados mulher, a me, por excelncia. O
imaginrio ligado terra, ptria, nao, refora com
atributos femininos a idia de origem, o lugar onde se
nasceu, as aluses ao bero/colo esplndido que nos
embala. No de estranhar, portanto, que imagens li-
gadas ao feminino sejam retomadas para compor o
corpo da nao, embora nem sempre seja a mulher
a produtora dos discursos que tecem os contornos
71
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
dessa comunidade imaginada, pensada como a gran-
de casa que acolhe todos os seus flhos. (FONSECA,
1997, p. 226)
Alm de representar o continente africano e a nao moambica-
na, a Me-frica de Nomia de Sousa representa tambm a sua me bio-
lgica, representao que extensiva a todas as mulheres-mes africanas.
Vejamos um depoimento da poeta em que ressaltada a importncia que
ela teve em sua vida:
Aquela casa de madeira zinco, com uma grande va-
randa tipo colonial, era um ponto de passagem, um
lugar de encontro... Aquela casa marcou-me para o
resto da vida. O meu pai era um intelectual e a minha
me era quase analfabeta, mas tinha toda a riqueza de
uma cultura... e isso casava bem. Naquela casa podias
encontrar os intelectuais e o povo... aquelas mulheres,
vendedeiras sabiam que ali vivia a Milidansa (o nome
ronga da minha me) e que era a flha de Belenguana,
do Maputo, e em casa da flha de Belenguana haviam
de ser acolhidas. /.../ Comecei a escrever poesia, acho
que no foi planifcado, aconteceu assim mesmo por-
que, ao fm e ao cabo, na nossa sociedade, quase tudo
repousava sobre a mulher. A mulher era escrava do es-
cravo e com esse estrato dentro da sociedade, ela, con-
tudo, infuenciava tudo sua volta, porque era ela que
educava as crianas, era ela o centro da famlia, e so-
bretudo era sobrecarregada de trabalho. Eu senti mui-
to isso. Estava numa casa com muitos irmos, primos
e outros familiares, muita gente em casa e tudo aquilo
girava volta da minha me, viva. Perdi o meu pai
aos 8 anos, e era a mais nova de seis irmos. Ela era o
pai e a me daquela famlia... (SOUSA, 2001, p. 1)
Dessa forma, a poeta fazia parte de dois mundos aparentemente
opostos: o do pai intelectual, de quem recebeu como herana a cultura oci-
dental, e o da me, negra e semianalfabeta, da qual herdou toda a cultura
milenar africana. Refetindo sobre a estima do povo por sua me e a impor-
tncia que ela teve na vida da sua famlia, principalmente aps a morte de
seu pai, quando se tornou o seu sustentculo, percebemos que Nomia ti-
nha uma grande admirao (que beirava a venerao) por sua progenitora.
Juntando-se essas trs representaes a biolgica, a nacional e
a continental constatamos que a Me-frica de Nomia de Sousa exalta-
da no poema Sangue negro ao mesmo tempo a me nativa (biolgica)
da poeta, a nao moambicana e tambm o continente africano, em uma
perspectiva que, segundo Mary Daniel (1996), associa a mulher (me)
terra, numa conexo que vai do plano individual (biolgico/pessoal ) ao
plano da nao (poltico/nacional) e ao plano do continente (cultural/con-
tinental), num processo de idealizao tpico da Negritude (BEZERRA,
1999, p. 51).
72
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Assim, ao louvar e exaltar a Me-frica, o sujeito potico de No-
mia de Sousa tem a me biolgica da poeta como referncia, representan-
do, atravs de um processo metonmico e metafrico, a maternidade de
toda uma raa e toda a extenso territorial e a cultura de um continente,
ou seja, ela contempla na mulher africana nativa toda a simbologia do mito
que envolve a mulher (me), a terra, a nao e o continente africano. Desse
modo, compreendemos melhor a utilizao de uma linguagem extrema-
mente exacerbada para exalt-la, e o porqu da proximidade entre a poeta
e o seu objeto potico.
REPRESENTAES DA ME-FRICA NA POESIA AFRO-
-BRASILEIRA
O poeta Oliveira Ferreira da Silveira nasceu em Rosrio do Sul
(RS) em 16 de agosto de 1941, formado em Letras pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e exerce as atividades de professor,
pesquisador e historiador. Como poeta tem dez ttulos publicados: Germi-
nou (1962), Poemas regionais (1968), Banzo: saudade negra (1970), Dcima
do negro peo (1974), Praa da palavra (1976), Plo escuro: poemas afro-
-gachos (1977), Roteiro dos tants (1981), Poema sobre Palmares (1987),
Anotaes margem (1994) e Orixs (2001). Com exceo dos dois ltimos
ttulos, os demais foram editados pelo prprio autor.
A exemplo de Nomia de Sousa, Oliveira Silveira tambm cultiva
uma potica em que h uma constante ligao com a Me-frica. Obser-
vemos os poemas Regresso e Elo:
Regresso
Esteira sbre as guas. Mar. Navio
Meus olhos carregados para leste
sentido leste de meu banzo.
Devia ser to bom quando eu estava!
Meus ps na imensido de tuas savanas
meu corpo refugiado do teu sol
na imensido de tuas selvas
meu corao e minha liberdade
na imensido de ti, minhfrica.
Mas quando eu vim devia ser to duro!
Duro o poro, dodo o azourrague
e to duro o trabalho de pedra
com que me dobraram de dor.
(Parti porque me pariste
num parto forado, saqueado,
em que me arrancaram de ti.)
73
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Devia ser to bom quando eu estava!
Meus olhos carregados vo e vo
sentido leste de meu banzo ...
Navio. Esteira sobre as guas. Mar.
Por essa estrada vaginal, minhfrica,
quero voltar ao teu tero, me. (SILVEIRA, 1970, p. 11)
Em Regresso, Oliveira Silveira aborda a violncia da escravi-
do praticada pelos europeus contra os africanos no perodo do trfco ne-
greiro e da escravatura no Brasil: a forma arbitrria e desumana com que
arrancavam seres humanos de sua terra natal e de suas famlias, e depois
os transportavam nos navios negreiros para as terras do novo continente
como se fossem animais. Calcula-se que nesse parto forado a que o poeta
se refere, e que muitos preferem chamar de aborto, algo em torno de 100
milhes de africanos foram retirados da frica.
No poema, embora o sujeito potico esteja na primeira pessoa do
singular (eu), ele incorpora um sujeito coletivo (ns) que descreve o drama
do negro escravizado: o sentimento de tristeza (banzo) que acometia mui-
tos africanos ao chegarem s terras do novo mundo, levando-os morte
na maioria das vezes. Para esse sujeito potico, a Me-frica o paraso
perdido. O retorno a ela (ao seu tero) a recuperao desse paraso. a
volta terra prometida. Conforme as palavras de Antonio Carlos Farjani,
a ideia desse paraso perdido, como prottipo da con-
dio de felicidade plena, encontra expresso em ou-
tros mbitos da realidade. Se a nvel do alm-tmulo
ele se expressa como o Reino dos Cus, ou paraso ce-
lestial, a nvel da existncia terrena ele assume a apa-
rncia da Terra Prometida. (FARJANI, 1987, p. 167)
Para Farjani (1987, p. 167), a viagem empreendida ao paraso
perdido nada mais que o desejo de recuperar uma condio ideal perdida
num tempo imemorial.
No poema h uma tenso entre a tristeza e a dor proporcionada
pela escravido e a felicidade de um tempo e de um lugar onde reinava a
liberdade, o que leva o sujeito potico a querer empreender uma viagem
de retorno ao seu paraso perdido ( Me-frica), refazendo em sentido
contrrio o percurso martimo da frica para a Amrica. O mar, a estrada
que conduziu o africano perda da liberdade, tambm a morte para ele.
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2001, p. 580), o mar, assim como a terra,
tambm um smbolo do corpo materno, pois no smbolo da me h a
mesma ambivalncia encontrada nos da terra e do mar: a correlao entre
a vida e a morte nascer sair do ventre da me; morrer retornar a ela.
Aqui importante lembrar que tanto o mar quanto a morte so denomina-
dos de calunga pelos africanos bantos.
74
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Desse modo, esse desejo de retorno Me-frica um desejo de
morte: o banzo (saudade negra) referido no poema levou muitos negros
morte assim que chegavam Amrica. Joseph Ki-Zerbo observa o sentido
de libertao que a morte tinha para os africanos, observao que vem ao
encontro do contexto do poema e do exposto anteriormente:
O culto dos defuntos to caracterstico da religio
dos Africanos, para quem os mortos no vivem, mas
existem mais fortes do que neste mundo, tomou nes-
te contexto um signifcado comovente at o sublime:
acreditava-se que os mortos, agora libertados do l-
tego do patro-tirano, iam fazer em sentido inverso
a infernal travessia do Atlntico. Vogando sem en-
traves para o continente bem-amado, iam juntar-se
assembleia venerada dos antepassados, l longe, do
outro lado da grande gua, no pas da Guin. (KI-
-ZERBO, 1972, p. 287)
Nesse sentido, a escravido metaforizada como um parto for-
ado e, nas condies da poca, o africano s poderia aspirar ao retorno
ao tero materno ( Me-frica) atravs da morte. O tero materno, na
concepo de Antonio Carlos Farjani, o melhor modelo do Paraso: o
osis primevo do qual o homem se encontra protegido dos sofrimentos
que o esperam no deserto, no vale de lgrimas que o mundo que o cerca
(FARJANI, 1987, p.169).
No poema Elo, Oliveira Silveira aborda de modo diferente essa
ligao uterina do afro-descendente com a Me-frica:
ELO
Aqui meu umbigo tmido
receptor de seiva
neste lado do mar,
nesta longe placenta.
E frica l est
na outra extremidade do cordo. (SILVEIRA, 1981, p. 3)
Nesse poema no h o desejo de um retorno fsico, utpico ou
espiritual Me-frica. Aqui, o conceito de Me-frica expresso pelo su-
jeito potico est ligado a uma total adaptao do afro-descendente ao solo
americano, numa perspectiva pan-africanista que sem pregar a volta para
a frica dos negros americanos, defendia o direito deles enquanto cida-
dos da Amrica (MUNANGA, 1986, p. 36).
O poema exprime a fdelidade origem africana, a ligao perma-
nente com a Me-frica, considerada pelo poeta antilhano Aim Csaire
(apud MUNANGA, 1986, p. 36) como um dos trs conceitos que defnem
a Negritude
3
. Nesse sentido, mesmo vivendo e fazendo parte de uma outra
cultura, o sujeito potico mantm-se fel s tradies culturais africanas. O
75
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
elo desta ligao, o cordo umbilical carregado de seiva som do tambor: o
tant que ressoa e repercute por todo o poema e corpo do sujeito potico.
Segundo Srgio Adolfo (1993, p. 43), o tant est nas entranhas, entra pe-
los ouvidos, queima como lava, constri e reconstri as origens africanas.
CONSIDERAES FINAIS
Os trs poemas analisados tm em comum o fato de que a Me-
-frica representada como a progenitora da raa negra, a Grande Me
africana, e dessa forma simboliza a ancestralidade (a origem) africana, re-
presentando tambm todo o continente africano em seu aspecto geogr-
fco. No entanto, eles diferem em alguns pontos: no poema de Nomia de
Sousa, Sangue negro, a Me-frica representa tambm a me negra bio-
lgica do sujeito potico e a nao moambicana, enquanto que no poema
Regresso, de Oliveira Silveira, ela representa o paraso perdido e a terra
prometida de um povo em dispora; j em Elo a representao limita-se
fdelidade origem africana, a uma constante ligao, quase religiosa, do
sujeito potico com suas origens.
Desse modo, embora o conceito principal da representao, o
continente africano metaforizado na Grande Me da raa negra, no se
altere, h diferenas entre o modo de um poeta continental e um poeta em
dispora representar a Me-frica, pois para o primeiro h um contato f-
sico com ela, enquanto que para o segundo o contato apenas psicolgico.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADOLFO, Srgio Paulo.Vozes negras em terra de branco. Signum: Es-
tudos Lingsticos. Londrina, v. 1, n. 3, p. 19-30, set. 2000.
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Trad. Denise Bot-
tman. So Paulo: tica, 1989.
BERND, Zil. Introduo Literatura Negra. So Paulo, Brasiliense, 1988.
BEZERRA, Ktia da Costa. Paula Tavares: uma voz em tenso na poe-
sia angolana dos anos 80. In: Estudos portugueses e africanos. Campinas: n.
33-34, v.1, p. 21-36, jul./dez. 1999.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8. ed. So Paulo: T. A.
Queiroz, 2000.
CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionrio de smbolos.
16. ed. Rio de Janeiro: Jos Olmpio, 2001.
CRAVEIRINHA, Jos. Nomia de Sousa. In: LARANJEIRA, Pires
(org.). Negritude africana de lngua portuguesa: textos de apoio. Braga: An-
gelus Novus, 2000.
DANIEL, Mary L. A woman for all seasons: Me in modern luso-
phone African poetry. In: Luso-Brazilian Review. Wisconsin, n. 36, v.1, p.
81-98, set.1996.
76
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
FARJANI, Antonio Carlos. dipo claudicante: do mito ao complexo.
So Paulo: Edicon, 1987.
FONSECA, Maria Nazareth Soares. O corpo feminino da nao. In:
Scripta. Belo Horizonte, n.1, v.1, 225-236, 2 sem. 1997.
HAMILTON, Russell G. Literatura africana - literatura necessria - I
Angola. Lisboa: Edies 70, 1981.
KI-ZERBO, Joseph. Histria da frica negra I. Viseu: Biblioteca Uni-
versitria, 1972.
LARANJEIRA, Pires. A Negritude africana de lngua portuguesa. Por-
to: Afrontamento, 1995a.
_____. Literaturas africanas de expresso portuguesa. Coimbra: Uni-
versidade Aberta, 1995b.
LEITE, Ana Mafalda. Oralidades e escritas nas literaturas africanas.
Lisboa: Colibri, 1998.
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. So Paulo: tica, 1986.
O POETA OLIVEIRA SILVEIRA MORA EM PORTO ALEGRE. Dis-
ponvel em <http://www.portalafro.com.br/portoalegre/oliveira/oliveira-
silveira.htm>. Acesso em: 08 out. 2002.
SILVEIRA, Oliveira. Banzo: saudade negra. Porto Alegre: Ed. do au-
tor, 1970.
_____. Roteiro dos tants. Porto Alegre: Ed. do autor, 1981.
SOUSA, Nomia de. Bibliografa. Maderazinco, Maputo, 2001. Dis-
ponvel em <http;//www.maderazinco.tropical.co.mz.> Acesso em: 20 de
abr. 2003.
______. Sangue negro. In. ANDRADE, Mrio (org.). Antologia temtica
de poesia africana: na noite grvida de punhais. Lisboa: S da Costa, 1975.
Recebido para publicao em 30/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
NOTAS
1 Texto apresentado no Encontro Africanas 10, realizado na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), de 29 a 30 de setembro de 2004.
2 Literatura de temtica negra produzida por escritores brasileiros negros, cujas princi-
pais caractersticas so a procura e/ou afrmao da identidade negra; o uso de temas da
vida e da populao negra; a reproduo dos ritmos negros; e a introduo de termos e
palavras do vocabulrio africano. Conforme observao feita pela professora Zil Bernd
(1988), a literatura afro-brasileira possui um enunciador que se quer negro.
3 Os outros dois conceitos so a Identidade, o assumir-se como negro, e a Solidariedade,
o sentimento de unio entre todos os negros.
77
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O POEMA PORTA ABERTA TOCHA
ACESA DE CONCEIO LIMA
Jane Tutikian
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
RESUMO
O artigo analisa a casa pas e a casa continente, na obra da jovem poeta
Conceio Lima, atravs de sua revisitao poltico-histrico-cultural.
PALAVRAS-CHAVE: Conceio Lima; poesia; histria; memria
ABSTRACT
Tis article analyzes the country house and the continent house , in the
work of the young poet Conceio Lima, through its revisitation political-
-cultural-historical.
KEYWORDS: Conceio Lima; poetry; history; memory
78
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Para Inocncia Mata
O degrau h-de ranger ao primeiro passo.
Subirs devagar, concreto
sem pisar a tbua solta no soalho.
A porta estar aberta, a tocha acesa
(C.L.)
H poetas que lutam com as palavras e as aprisionam tentando
entender o mundo. H poetas que lutam com as palavras e as libertam para
que o mundo, em liberdade, se entenda.
Os primeiros revelam, no raro, interesses convencionais quanto
ao comportamento social e literrio.
Os outros, em contrapartida, complexifcam para simplifcar, en-
contram para desencontrar e reencontrar, causam perplexidade e compro-
metimento, impossibilitam o distanciamento entre o ser o que se e o viver
o que se vive. Propem o espelhamento em que vida, pertena e humano
se constituem.
Os outros no se submetem sequncia tradicional nem do verso
nem do poema , num, por exemplo, eixo de acontecimentos de causa-efei-
to, de uma passagem de um equilbrio a outro equilbrio, de onde resulta o
movimento e o seu ritmo, o que caracteriza a ao canonizada.
Os outros, s eles so capazes de experimentar na carne de que
a alma feita a casa do poema porta aberta tocha acesa e, no raro, o en-
contro com a solido, com a saudade, com a melancolia e com a fora de
saber da sua prpria fora, o verbo: Direi teu nome e tu sers. (LIMA,
2004, p.49)
porque esses, os outros, so especiais, so os que mergulham no
realismo percepcional (de onde no excluo, no caso africano, as crenas e
suas prticas ou, em outras palavras, a cultura mtica) para tirar dele uma
realidade outra, mais sentida, mais vivida, porque vivida tambm em outras
peles. Eles so incapazes de se perceberem s no tempo da vida, porque seu
tempo so todos os tempos, conscincia histrica, interpretao social.
Nesse sentido, mas com uma voz fortemente individuada, Con-
ceio Lima segue uma tradio, aquela que Inocncia Mata (1993, p. 33)
to bem sintetiza: Nessa poesia social, toda a Histria das ilhas estoriada,
segundo um percurso que remonta escravido, profanao da terra com
a entrada de elementos da cultura ocidental, dando forma a uma revolta
centenria a que se junta o projeto de salvaguardar a personalidade africana
atravs de um patrimnio cultural e transnacional. (MATA, 1993, p. 33)
79
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Mais adiante, comenta, ainda, Inocncia, mas a sageza africana
pressupe a comunho ancestral e a hierarquizao sociofamiliar que de-
nuncia, uma mundividncia comunitria. (MATA, 1993, p. 33)
Pois esta a matria de criao de Conceio Lima: a casa So
Tom e Prncipe e o Continente. Natural de Santana da ilha de So Tom,
a poeta se situa na linhagem de poetas como o grande Francisco Jos Ten-
reiro e de Alda do Esprito Santo grave voz santomense , com quem
dialoga para resgatar a praa em nova festa/ para ressucitar o povo e sua
gesta (LIMA, 2004, p. 50), enfm, da gerao dos idos de 40 a 60. a insu-
laridade, comenta Inocncia Mata (1993), em toda a sua imanncia geopsi-
coscultural e socioeconmica a matriz das formas literrias de So Tom e
Prncipe, mas no a insularidade do ilhamento, da solido.
Jovem, ao mergulhar no Tellus Mater, numa expresso singular,
porque sua, a poeta vem se reafrmando a cada nova obra como um dos
grandes nomes da poesia do ps-independncia.
Tomemos de O tero da casa (2004), o poema Mtria, que inicia
o livro.
Quero-me desperta
se ao tero retorno
para tactear a diurnal penumbra
das paredes
na pele dos dedos reviver a maciez
dos dias subterrneos
os momentos idos (LIMA, 2004, p. 17)
Esta a porta de entrada, se entendermos que o espao e no
o tempo o que guarda a memria. E se o espao a casa, ela pode ser re-
visitada, atravs da literatura, na tentativa de desvendar-lhe no apenas os
espaos iluminados, mas tambm os espaos sombrios, que o tempo, por
si s, no capaz de reconstruir. justamente na penumbra que a poeta
mergulha, tentando iluminar-lhe os sentidos.
A casa tero, a mtria, templo, sacralizada, e se h melancolia
da perda, h tambm uma grave crena:
Creio nesta amplido
de praia talvez ou de deserto
creio na insnia que verga
este teatro de sombras (LIMA, 2004, p. 17)
porque o corpo deste templo mtrio, do castelo melanclico,
fora e rumo, feito de tabuas rijas e de prumos.
80
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O poema que segue , ento, A casa, a casa projetada num outro
aqui, um projeto inacabado porque a pertena, a verdadeira pertena de
quintal plano, redondo sem trancas nos caminhos de uma outra ordem,
da geografa primeira. da dispora, da casa do exlio como aparece no
poema Herana, que Conceio Lima vai construindo e reconstruindo
sua imagem da casa da pertena, como um universo que constri para si
mesma, imitando a criao paradigmtica dos deuses, a cosmogonia, para
lembrar Eliade (1979). E como o faz pelo poema, a poeta lida, simultanea-
mente com imagens dispersas e com um corpo de imagens, valorando da
realidade o real, tornando-o, assim, conscincia.
como o eu enunciador vai revisitando as origens nas Ilhas:
Em ti me projecto
para decifrar do sonho
comeo e a consequencia
Em ti me frmo
para rasgar sobre o pranto
o grito da imanncia. (LIMA, 2004, p. 27)
e reconstruindo, poeticamente, a histria de So Tom e Prncipe,
trazendo o drama do colonialismo e do que dele sobrou.
Nas palavras de Inocncia Mata,
So poemas que, situando-se num plano refexivo,
constroem o relato de uma gerao, metonmia de
um segmento narrativo no relato da nao. Nessa re-
constituio narrativa da nao, o sujeito enunciador
combina lembranas de um tempo politico e rene
esparsos elos do passado nacional para lhe conferir
uma iluminura projectiva, pelo vis da movimenta-
o afectiva e intimista. O fuxo histrico na poesia de
Conceio Lima parece ser a fora motriz da produ-
o de sentidos. (in LIMA, 2004, p. 12)
De fato, a histria do Pas est l e o processo do colonialis-
mo foi tirnico, paternalista, perverso, de sobreposio cultural, de explo-
rao.
J no sculo XVI desenvolvem-se grandes plantaes de
acar, havendo a necessidade de busca de milhares de escravos do conti-
nente africano. As ilhas de So Tom e Prncipe chegam a contar com cerca
de 60 engenhos de acar. o tempo da revolta dos escravos angolanos,
ainda hoje verdadeiros smbolos desta regio da frica.
Aos poucos, estas ilhas assumem uma enorme importncia estra-
tgica para os portugueses, como ponto de escala nas rotas de navegao,
mas tambm para o prspero comrcio de escravos do Congo e Angola.
81
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
No sculo XIX, so introduzidos o caf e o cacau, criando-se gran-
des plantaes e a abolio da escravatura, em 1869, no terminou com o
trabalho de escravo. Os escravos passam a ser denominados contratados.
Milhares de africanos, sobretudo de Cabo Verde, Angola e Moambique,
so forados a trabalhar para os grandes proprietrios numa nova forma
de escravido. Da o alerta de Inocncia Mata de que na mundividncia
santomense no h possibilidade de se falar de dualidade cultural, mas de
uma identidade de formao mestia que nos meados do sc. XIX comea
a estruturar-se defnitivamente como africana na sua matriz psicocultural
e antropolgica. (MATA, 1993, p. 64)
O sculo XIX, tido como o da segunda colonizao, representa
uma ruptura na medida em que a fgura do portugus cede lugar impo-
sio de uma nova presena, que a do africano. E, com a explorao do
caf e do cacau, comea, tambm, a haver a distino social entre brancos e
mestios, que, ento, se equiparam aos forros. Se, por um lado, esse sculo
representa a implementao da agricultura, por outro, reduz o j insigni-
fcante desenvolvimento social. (MATA, 1993, p. 109)
Um dos poemas mais densos de O tero da casa o belssimo
Manifesto imaginado de um servial, ao cantar o cho inconquistado.
[...]
clamo o p que reclama a exausto serena do meu corpo.
No mo podeis usurpar, ngwtas, com o ferro da vossa fora.
No mo negueis, hbridos forros, com o vosso frio desdm de
sculos. Este barro meu, espinho a espinho penetrou o osso dos
meus passos como um sopro cruel e palpitante. At ao fm onde
[agora
comeo porque a morte o esturio de onde desertam os barcos
[todos
que cavaram meu destino.
Irmos:
Pelo mar viemos com febre. De longe viemos com sede.
Chegamos de muito longe sem casa.
[...]
Ilhas! Clamai-me vosso que na morte
No h desterro e eu morro. Coroai-me hoje
de Razes de sndalo e ndomb
Sou flho da terra. (LIMA, 2004, p. 35)
Surgem revoltas contra o colonialismo e contra as atrocidades e
abusos praticados pelos grandes proprietrios. Entre as aes repressivas, a
chacina que, em Fevereiro de 1953, realizou o governador do territrio, Cel.
Carlos Sousa Gorgulho, o massacre de Batep, recorrente nas trs obras da
82
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
autora: Era Fevereiro e a infncia sussurrava/ Na varanda eterna da casa
antiga/ Onde como fogo aceso persiste a tua face (LIMA, 2004, p.56).
O principal problema da ilha, sobretudo a partir do sculo XIX,
foi a distribuio muito desigual da terra. De um lado, nas mos dos gran-
des proprietrios, plantaes extremamente lucrativas, e, do outro, uma
agricultura de subsistncia. Em 1950-1955, por exemplo, aos nativos (52%
da populao) pertencia menos de 1% do total dos produtos ricos que esta-
vam na base das exportaes da ilha (cacau, caf, oleaginosas, quina, cane-
la, banana). Esta situao acabou por se tornar insustentvel.
Em 1960, fundado o Comit de Libertao de So Tom e Prn-
cipe, transformado, em 1972, num Movimento de Libertao (MLSTP).
Chega-se, ento, independncia. Como em Cabo Verde, em
1975, foi instaurado um regime monopartidrio. Nesta altura, as roas fo-
ram nacionalizadas, provocando a sada de 4 mil portugueses. As estrutu-
ras econmicas so afetadas. Os confitos se sucedem. Em 1980, entram no
pas cerca de 2.000 angolanos, conselheiros soviticos e cubanos. O des-
moronar da Unio Sovitica, a partir de 1989, provoca o fm dos apoios
internacionais deste regime.
Em 1990, aprovada uma nova constituio, multipartidria,
pondo fm ao regime anterior, mas no s tentativas de golpes de estado.
Em 1995, um grupo de ofciais das foras armadas volta a tomar o poder.
Esta situao de confitos latentes acaba por depauperar a j frgil econo-
mia do pas.
Conceio Lima evoca 1975, transformando em imagens seus
fantasmas. Se os heris indagam por suas asas crucifcadas (LIMA, 2004,
p. 25), se os mortos perguntam Que reino foi esse que plantmos? (LIMA,
2004, p. 30), a gerao da Jota (LIMA, 2004, p. 24) encontra a distopia.
E quando te perguntarem
responders que aqui nada aconteceu
seno na euforia do poema.
Diz que ramos jovens ramos sbios
e que em ns as palavras ressoavam como barcos desmedidos
Diz que ramos inocentes, invencveis
e adormecamos sem remorsos sem pressgios
[...]
Oh, sim! ramos jovens, terrveis
mas aqui nunca o esqueas tudo aconteceu
nos mastros do poema.
A ideia da herana e da distopia retorna em Afroinsularidade,
porque
83
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Deixaram nas ilhas um legado
de hbridas palavras e ttricas plantaes
engenhos enferrujados proas sem alento
nomes sonoros aristocrticos
e a lenda de um naufrgio nas Sete Pedras
[]
E nas roas fcaram pegadas vivas
como cicatrizes cada cafeeiro respira agora
um escravo morto.
E nas ilhas fcaram
incisivas arrogantes esttuas nas esquinas
[]
Aqui, neste fragmento de frica
onde, virado para o Sul,
um verbo amanhece alto
como uma dolorosa bandeira. (LIMA, 2004, p.39)
Em A dolorosa raiz do micond (2006), o segundo livro de poe-
mas de Conceio Lima, a inquietao da histria permanece e amplia-se,
mas a casa, a casa est l. preciso mais, preciso o encontro com as razes
gentes, que tambm so casa, referncia, abrigo, porque as razes gentes
so como as do micond, profundas, capazes de sustentar vinte metros de
altura e dois mil anos de tempo, a rvore sagrada.
O poema Canto obscuro s razes , sem dvida, um dos gran-
des poemas da literatura africana de lngua portuguesa. Ele se volta para
a recuperao da ancestralidade num dilogo antolgico com a evocao
de Alex Haley (1921-1992), jornalista e escritor afro-americano, que no
romance Roots (1976) trabalha o tema da busca da origem. E, a, o sujeito
lrico se agranda.
Eu que trago deus por inciso em minha testa
e nascida a 8 de Dezembro
tenho de uma madona crist o nome.
A neta de Manuel da Madre de Deus dos Santos Lima
que enjeitou santos e madre
fcou Manuel de Deus Lima, sumu sun Mal Lima Ele que de-
safou os regentes intuindo nao descendente de Abessole, senhor de
abessoles.
Eu que encrespei os cabelos de san Plent, minha trs vezes av
e enegreci a pele de san Nvi, a soberana me do meu pai
Eu que no espelho tropeo na fronte dos meus avs...
84
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Eu e o temor do batuque da puta
o terror e fascnio do cuspidor de fogo
Eu e os dentes do puen que da costa viria me engolir
Eu que to tarde descobri em minha boca os caninos do
[antropfago...
Eu que tanto sabia mas tanto sabia
de Afonso V o chamado Africano
Eu que drapejei no promontrio do Sangue
Eu que emergi no paquete Imprio
Eu que dobrei o Cabo das Tormentas
Eu que presenciei o milagre das rosas
Eu que brinquei a caminho de Viseu
Eu que em Londres, aqum de Tombuctu
decifrei a epopeia dos fantasmas elementares.
Eu e minha tbua de conjugaes lentas
Este avaro, inconstrudo agora
Eu e a constante inconcluso do meu porvir
Eu, a que em mim agora fala. (LIMA, 2006, p. 11-19)
Eu, a que em mim agora fala mais do que eu, So Tom e
frica, ainda que perdida na linearidade das fronteiras, tradio, essen-
cialidade, oralidade e histria.
Aqui, ao colonialismo, a Anti-epopia (LIMA, 2006, p. 20) s
avessas, na colaborao dos negros, a denncia da ganncia e a avidez
por bugigangas como produto de troca. O poema que segue Espanto
(LIMA, 2006, p. 21), onde Conceio Lima diz, com rara sensibilidade e
com grande fora imagtica, o silncio de quem partiu como escravo.
Zlima Gabon tambm retrata a escravido e as mortes decor-
rentes desse processo como uma memria que marca o arquiplago: Falo
destes mortos como da casa, o pr do sol, o curso dgua/ So tangveis
com suas pupilas de cadveres sem cova/ a pattica sombra, seus ossos sem
rumo, sem abrigo. (LIMA, 2006, p. 22)
Impressiona a conscincia que Conceio Lima tem do seu pr-
prio processo de criao, da o domnio que demonstra sobre a palavra e
o verso, porque o poema tambm objeto do poema. Refere-se Nigria
e Biafra, quando os EUA, atravs da Joint Churches Aid, montaram uma
ponte area a partir de So Tom e Prncipe, com o intuito de auxiliar o
Presidente Ojukwu e o povo do Biafra no abastecimento de necessidades
bsicas como alimentao e medicamentos. Foi, na ocasio, criado um in-
ternato exclusivo dentro do Hospital Central, bem como diversas casas de
85
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
zinco para residncia ofcial das crianas da Biafra, na sede da Quinta de
Santo Antnio. A guerra deixou dois milhes de mortos. Ao mesmo tempo
em que canta o Espectro de Guerra,
[]
Um dia fui ao hospital e vi esqueletos. Eram pequenos
como ns e eram esqueletos. S tinham cotovelos olhos
e joelhos.
Estavam deitados nas camas, muito quietos, presos a uns fos com
bales de vidro.
Eram muitos e vinham de noite nos avies.
No sei quantos saram do hospital aumentado
para os seus ossos.
a poeta pensa o poema:
Sei que certos poemas juntam os versos como se os deitassem
numa vala comum.
Certos poemas sentem d da metfora, trancam a porta
na cara da rima.
So vtreos olhos em fcidos corpos.
[...] (LIMA, 2006, p. 30-32)
O poema, a histria, a casa, sempre a casa, porque Inegvel
Por dote recebi-te nascena
e conheo em minha voz a tua fala.
No teu mago, como a semente na fruta
o verso no poema, existo.
Casa marinha, fonte no eleita!
A ti perteno e chamo-te minha
como me que no escolhi
e contudo amo. (LIMA, 2006, p. 54)
E conta a lenda, renovando as esperanas, que H-de nascer de
novo o micond... Reabitaremos a casa, nossa intacta morada (LIMA,
2006, p. 67-68), num alerta de que o passado, anterior ao sofrimento, no
morre e a casa da pertena tambm proteo. Se h, em Conceio Lima,
a denncia de todas as destruies do processo colonizador, h tambm a
esperana e a simplicidade complexa da constatao de que o cosmos das
ilhas feito de matria outra. Como no poema arquiplago: O enigma outro
86
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
aqui no moram deuses/ Homens apenas e o mar, inamovvel herana.
(LIMA, 2006, p.53
O pas de Akendengu (2011), o terceiro livro de Coceio Lima,
, porventura, o mais elaborado; nele, anuncia o escritor Helder Macedo
em excelente prefcio, h uma atitude cultural e uma perspectiva literria.
E, de fato, assim .
A anlise de Helder Macedo parte da referncia, no ttu-
lo da obra da escritora santomense, ao poeta e msico do Gabo, Pierre
Akendengu,
cujas composies tem contribudo para a defnio
de uma africanidade capaz de integrar, como e en-
quanto africana, manifestaes culturais tradicional-
mente associadas a outros povos e a outros continen-
tes.() E a mitologia Africana presente em muita da
sua poesia corresponde a arqutipos mticos univer-
salmente reconhecveis. (in LIMA, 2011, p. 7)
E, ento, estabelece o dilogo:
Se entendo correctamente, o ttulo deste livro de Concei-
o Lima aponta para uma partilhada perspectiva africana
universalizante e, desse modo, defne uma atutude oposta
que seria a de uma cultura colonial que visasse integrar-se
numa cultura colonizadora. (in LIMA, 2011, p. 7)
E continua: O pas de Conceio Lima uma ilha. () A sua
ilha So Tom, ponto de partida e de chegada numa viagem entre a me-
mria e o desejo. (in LIMA, 2011, p. 7)
E aqui, nesta viagem anunciada no uma viagem de evaso, mas
refexiva, crtica, libertadora, de encontro, que embarcamos, uma viagem
formada, na maior parte das vezes, de poemas curtssimos e absolutamen-
te densos. prprio da poeta este talento de luta e de persistncia de luta
com as palavras de que diz no estar farta e as procura Para que elevem,
soberanas, o reino que forjamos. (LIMA, 2011, p. 27): Para te encontrar
levantarei os prumos./ Inventarei a casa nos mesmos rios/ Para nos desco-
brir. (Idem, p. 28)
o que caracteriza a primeira das sete alis, sete o nmero
da perfeio partes do livro, a busca e o encontro das palavras para nos
descobrir, porque Tudo profundo nos olhos da Cidade/ At a teia dos
enganos desvenda a pertincia deste rosto. (Idem, p. 33)
A segunda parte a da pertena. Se em Viajantes (LIMA, 2006,
p. 31), a av pergunta: A quem pertences tu?/ Quem so os da tua casa?
vem do belssimo O amor do rio (de que Helder Macedo faz excelente
anlise) a resposta:
Este lugar a minha casa, no tenho outra.
Esta casa o meu lugar, no quero outro.
87
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Ainda que o ventre da infncia reconvoque outro exlio.
Mesmo se a angstia das mes antecipa a aurora.
Por isso trouxe ao teu jardim o odor do sal, a raiz do mar que
[bordeja o baob. (LIMA, 2011, p. 40-42 )
E, ento, a fronteira, porque Trespassar sina dos que amam o
mar (LIMA, 2011, p. 44). O primeiro trespassar a terceira parte do livro,
cujo tom mitolgico recupera o pastor lendrio, semeador de mortes e o
guardio. A transio desta parte para o segundo trespassar, Os territrios
deforados Iremos/ sem temor dos fantasmas/ Conhecemos o trilho
localiza-se no Projecto de cano para Gertrudis Oko e sua me(LIMA,
2011, p. 60-61)
Surge, aqui , o primeiro balano da viagem:
Esta viagem no responde s minhas perguntas.
Trespassei o ao das certezas.
Herana, devorei-as.
A etapa seguinte rasga a prvia cartografa
Toda a fronteira um apelo renncia.
Perscrutei mares cidades sinais nas pedras papiros.
Ao encontro da linguagem da tribo azul
cada passo me afasta de um rito sagrado.
Esta caminhada decreta um trfco sem remisso:
a fortaleza do sonho pela metamorfose das feridas.
Vtima da memoria, nenhum deus me acolhe chegada.
Ddiva a parte seguinte, a quinta; aqui, Conceio Lima home-
nageia o artista plstico Protsio Pina, j cantado no poema Mural de O
tero da casa. Por que Pina como ddiva? Porque Protsio Pina foi grande
artista plstico santomense e referncia de geraes posteriores. Viveu en-
tre 1960 e 1999, perodo em que demonstrou tal como Conceio todo
amor e devoo natureza. Naturalista e minimalista, buscou a perfeio
em suas paisagens, captou, como a poeta, a arte da fauna e da fora da ilha,
dando a ela vida em seus murais. Pintou com as cores que Conceio pin-
ta com as palavras, mas O corao, que vinha ao encontro da sua mo,
anoiteceu e O corao fcou no jardim ardendo na roda das estaes.
(LIMA, 2011, p. 78) O jardim de que o jovem pintor se condoeu, enquanto
os deuses dormiam sombra das runas.
na sexta parte da obra que ressurgem os fantasmas elementa-
res, aqueles que, segundo Adonis, avanam/ Entre fogo e metamorfose
88
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
(LIMA, 2011, p. 95). O primeiro deles Kwame Nkrumah. Lder poltico
africano, foi um dos fundadores do Pan-Africanismo e um grande luta-
dor pela descolonizao da frica. Foi primeiro-ministro e presidente de
Gana. A ele, Conceio Lima canta:
Kwame
Deixei longe o clarim.
[]
Acostumo-me ao perptuo fogo
Na fronte de Acra.
Que diriam as palavras
O que diriam
Sobre o rduo fulgor da tua mortalha? (LIMA, 2011, p. 81)
O Segundo Mwalimu, lder marcado pela simplicidade, que lu-
tou pela libertao da frica, lutou contra a injustia e a indignidade a que
foram submetidos os africanos, ele foi
O que cuidou das sementes e dos frutos
O que pegou na palavra
E arou um campo sem ossadas
O que teve as mos calejadas
Adormeceu coroado de brancos cabelos [] (LIMA, 2011, p. 82)
O terceiro, o Congo 1961 (LIMA, 2011, p. 83), numa refern-
cia grande crise e a Patrice Lumumba, primeiro ministro daquele pas.
Segue-se a srie belssima de poemas de Todas as mortes de
Amlcar Cabral e As montanhas.
Fecha esta parte o inquietante e belo poema Em nome dos meus
irmos (LIMA, 2011, p. 93-94) , dedicado a Alda Esprito Santo, em seu
octogsimo aniversrio:
Hoje cantarei o ferro da dor da nossa me, chamarei musgo e
rocha
[tua mo,
pois do fundo dos dias mantenho na pgina aberta, o perfl do
[archote.
Inquietante pela reiterao do pronome interrogativo.
[...]
Quem,altura e testemunha, vela no sop do Futa Jalon a pestana
de [Amlcar, o riso de Amlcar, as botas de Amlcar?
89
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Quem decifrou o testamento de Kwame?
Quem nos mostrou as torrentes de Kwanza?
Que canto confortou a solido de Pauline? Pauline e sua carta de
[saudade, sua fome de futuro, Pauline e Patrice seu amor [assassinado, esse
amor transmutado em minrio do Congo?
Para responder:
No, no falarei do profeta em teu peito: seus sonhos, nossas [tei-
mas, o limite da sua clarividncia , a inexorvel estrela em nossa testa.
Entre os ramos das goiabeiras e a pele dos livros, respiro.
Toco o mapa da lua, louas antigas, o vulto de Maria de Jesus, os
[longos brincos de Maria Amlia, Vasco e Egdio, os espectros [amados.
Teus cotovelos fncados na borda da mesma austera mesa.
Sirvo-te ch. Sento-me diante dos teus olhos. Estamos em casa.
Encerra a obra a stima j disse, o nmero perfeito, macho e
fmea ilha e pas , partida e retorno parte stimo, como escreve
Conceio Lima, O corao da ilha
H, aqui, o alerta das sementes e a conscincia de que somente os
pensamentos e as experincias transfguradas ou no sancionam valo-
res humanos, e de que Na onda se inscreve todo o princpio/ as sementes
da blasfmia e da redeno. (LIMA, 2011, p. 97)
A casa, que percorre as trs obras tema obsessivo de Conceio
Lima retorna grave em A voz de pedra (LIMA, 2011, p. 104), sacralizada
por um simbolismo cosmolgico. Ela construda e renovada poeticamen-
te, envolvendo existncia plena. Amanh despediremos o muro conhe-
cemos a voz da pedra.
H, ento, o retorno da viagem, na Circum-navegao (LIMA,
2011, p. 106), sossegaram os mortos. A volta casa em barcos carrega-
dos de cidades e distncia. (LIMA, 2011, p. 106), representa abrigo e paz, a
integrao, enfm, procurada nas lembranas, nos sonhos, nos pensamen-
tos. A casa est inscrita no corpo, comenta Eliade (1991) no como trao
mnmico, mas como imagem de intimidade, como imagem que busca um
centro, que instaura um centro, que cria um universo. Em Conceio Lima,
o ponto de unio entre imaginao e memria. O universo, trazido pelos
barcos, de l do mar, tambm matriz e recorrncia da literatura santomen-
se, o mar do ser santomense, onde se habita a casa, a ilha. A casa e a ilha
como representao da terra, como fundadora de uma insularidade afri-
canamente telrica (raiz, hmus, ptria, dir Inocncia (MATA, 1998, p.
84), o mar (e seus elementos metonmicos, o barco, a nau [...] como con-
traponto diferencial de uma insularidade que cada vez mais, vem afrman-
do, atravs de sua peculiaridade histrica, uma ambivalente insularidade:
mestia, crioula, mas profundamente africana.
90
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Acontece a arte da viagem
Tanta aprendizagem de leme e remendo...
quando o olho imita o exemplo da ilha
E todos os mares explodem na varanda.(LIMA, 2011, p. 106-7).
Esta j a marca de Conceio Lima na histria da literatura.
na casa, esta casa pas e esta casa continente e na sua revisitao politico-
-histrico-cultural que reside a qualidade inequvoca do fazer potico de
Conceio Lima; no h limite, nesta sua verdade potica, entre a mem-
ria, a imaginao e sua transposio para o texto.
As grandes imagens trabalhadas por Conceio Lima tm ao
mesmo tempo uma histria e uma histria anterior histria, prpria da
cultura mtica. So sempre lembrana do vivido e do no vivido e contm,
simultaneamente, a lenda e situaes e personagens lendrios. Talvez por
isso seu poema seja, de fato, porta aberta tocha acesa.
A porta instiga o leitor ao mergulho na memria-fantasia-ima-
gem profunda, a tocha, por sua vez, luz que evoca a memria, revivif-
cando o passado para o presente, iluminando o presente. que h poetas,
felizmente!, h poetas que lutam com as palavras e as libertam para que o
mundo, em liberdade, se entenda. So Lima um desses.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
LIMA, Conceio. A dolorosa raiz do Micond. Lisboa: Caminho,
2006.
______. O pas de Akendengu. Lisboa: Caminho, 2011.
______. O tero da casa. Lisboa: Caminho, 2004.
MATA, Inocncia. Dilogo com as ilhas (sobre cultura e literatura de
So Tom e Prncipe). Lisboa: Colibri, 1998.
______. Emergncia e existncia de uma literatura: O caso santomen-
se.Lisboa: ALAC, 1993.
Recebido para publicao em 24/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
91
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
NO MEIO CRESCE INSONDVEL
O VAZIO:
APROXIMAES ENTRE AS POTICAS DE
JOS CRAVEIRINHA E PAULA TAVARES
Patrcia Ribeiro
(Universidade Federal de Juiz de Fora)
RESUMO
Este trabalho prope uma leitura comparada entre a poesia da escritora
angolana Paula Tavares e a do autor moambicano Jos Craveirinha a fm
de analisar a presena do erotismo nos versos desses poetas. Essa investi-
gao busca demonstrar que o erotismo manifesta-se na potica de ambos
os autores mediante o jogo de seduo e o posterior encontro dos amantes,
o qual, s vezes, torna-se fugaz quando interceptado por fatos, explicitados
e analisados ao longo deste texto, que geram profundo desalento no eu
potico.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Erotismo; Leitura comparada.
ABSTRACT
Tis work proposes a comparative reading of the poetry of Angolan writer
Paula Tavares and that of Mozambican writer Jos Craveirinha in order to
analyse the presence of eroticism in the verses of these poets. Tis research
aims to demonstrate that eroticism manifests itself in both authorss poetics
througha seduction game and the subsequent meeting of the lovers, whi-
ch sometimes becomes fugitive when intercepted by facts, specifed and
analysed throughout this text, which generatedeep discouragement in the
lyric speaker.
KEYWORDS: Poetry; Eroticism; Comparative reading.
92
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
As poticas de Jos Craveirinha, escritor moambicano, e de Pau-
la Tavares, autora angolana, expressam questes que dizem respeito ao pe-
rodo que antecedeu e/ou que posterior independncia de suas naes,
levando tambm em considerao as particularidades culturais dos respec-
tivos pases aos quais os poetas pertencem, sem deixarem, no entanto, de
tambm tocar no que concerne a uma dimenso universal. Neste trabalho,
norteados pela perspectiva do que se refere ao universal, destacamos a ex-
presso do erotismo na poesia de Jos Craveirinha e de Paula Tavares.
Segundo Georges Bataille (1980), o erotismo torna-se fagrante
todas as vezes que o ser humano apresenta comportamentos que vo de
encontro aos juzos habituais. Deslocando-se na direo oposta a ideias e
condutas consideradas normativas, o erotismo expe o mais substancial
das pessoas, ele deixa transparecer o avesso duma fachada, cuja aparncia
nunca desmentida: nesse avesso se revelam sentimentos, partes do corpo
e modos de ser que vulgarmente temos vergonha (BATAILLE, 1980, p. 97,
grifo do autor).
O erotismo como propulsor de um movimento que desvela o re-
verso das pessoas permite sua ratifcao como um dos aspectos da vida
interior do homem (BATAILLE, 1980, p. 27), aspecto esse que o conduz
a, como observa Bataille (1980, p. 27), pr o seu ser em questo, uma vez
que com a manifestao do erotismo o ser humano precisa lidar com as
aspiraes projetadas sobre seu objeto de desejo, mas tambm com sua
vida interior
1
.
A relao entre os seres humanos implica a existncia de um abis-
mo, uma descontinuidade. O limiar desse abismo, tal como um indicativo
iminente de morte, contudo, pode nos fascinar, pois para ns que somos
seres descontnuos a morte ganha contornos de continuidade do ser: a
reproduo leva descontinuidade dos seres, mas faz tambm intervir a
sua continuidade, isto , a reproduo est intimamente associada morte
(BATAILLE, 1980, p. 14). A continuidade dos seres e a morte despertam
uma fascinao que domina o erotismo.
A fm de melhor delimitar a relao entre a continuidade dos se-
res e a morte, vejamos algumas consideraes sobre a reproduo sexual
que, segundo o terico francs, guia-nos a uma passagem da descontinui-
dade continuidade:
O espermatozide e o vulo so, no estado elemen-
tar, seres descontnuos, mas que se unem e, em con-
sequncia estabelece-se entre eles uma continuidade
que leva formao dum novo ser, a partir da morte,
do desaparecimento dos seres separados. O novo ser
em si mesmo descontnuo, mas traz em si a passagem
continuidade, a fuso, mortal para cada um deles,
de dois seres distintos (BATAILLE, 1980, p. 15, grifo
do autor).
93
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Dessa passagem cclica do contnuo para o descontnuo e do des-
contnuo para o contnuo resta a ns, seres descontnuos, a nostalgia da
continuidade perdida e o eterno anseio pela continuidade que nos une ao
ser. E essa falta, ou seja, a busca constante pela continuidade que tambm
proporciona a manifestao, nos seres humanos, de trs formas de erotis-
mo: o erotismo dos corpos (materializado), o erotismo dos coraes (rec-
proca afeio dos amantes) e o erotismo sagrado (a procura pelo amor de
Deus). Essas distintas expresses do erotismo tm em comum a tentativa
de obter uma substituio do isolamento do ser (sua descontinuidade) por
uma continuidade (BATAILLE, 1980, p. 16-17).
Diante das proposies de Bataille sobre o erotismo e suas dife-
rentes vertentes, este trabalho prope-se a analisar, atravs de uma pers-
pectiva comparada, a expresso do erotismo dos corpos na poesia de Paula
Tavares, escritora angolana, e na de Jos Craveirinha, autor moambicano.
O erotismo dos corpos manifesta-se no jogo de seduo e na pos-
terior materialidade do encontro dos amantes, momento no qual se desve-
lam sentimentos, partes do corpo e modos de ser que usualmente desper-
tam pudor nas pessoas (BATAILLE, 1980, p. 97). A esse respeito e tentando
nos aproximar da expresso do erotismo dos corpos na potica dos autores
em tela, vejamos um fragmento de Cantiga nossa:
No minuto
em que os nervos se rasgaram
calou-se a voz dos gritos
calou-se a voz das ondas do mar
e o mundo estremeceu e parou
E um gemido
veio como um bzio
docemente soprar-me
entre as nuvens do cu
o teu corpo na terra
e a espuma do mar.
[...]
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 53)
Os versos iniciais mostram a brevidade de um minuto no qual se
consumou o encontro dos amantes que, por sua vez, exposto atravs da
imagem dos nervos que se rasgaram e do gemido. E em paralelo morte (a
passagem da descontinuidade para a continuidade) nesse fugaz momento,
observamos que o mundo ao redor dos amantes tambm se mostra em
confuncia com essa morte metafrica, pois, nesse momento do encontro,
os gritos e as ondas do mar silenciaram e o mundo estremeceu e parou.
94
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Em seguida, reitera-se o encontro dos amantes com a natureza,
uma vez que o gemido, assim como o som propagado pelo bzio mediante
seu sopro, transporta o eu potico para um espao difuso, no qual se con-
fundem as dimenses do cu, o contato com o corpo da amada na terra e as
guas do mar. Mas, posteriormente a esse estado de opacidade, o eu potico
transita para o estado de conscincia de que do minuto perfeito emerge a
plena harmonia entre ele e sua amada, como indicam os versos: E do minu-
to perfeito/ ah, Maria Teresa/ brotou na praia docemente/ a nossa cantiga/
mais viva/ mais forte/ e mais nova! (CRAVEIRINHA, 2010, p. 53).
A harmonia do encontro dos amantes indicada desde o ttu-
lo do poema (Cantiga), visto que se pressupe que a melodia de uma
cantiga possui sonoridade agradvel. A perfeio do enlace dos amantes,
semelhante a essa cantiga, alm de melodia harmnica tambm possui as
capacidades de vivifcao e de renovao (a nossa cantiga/ mais viva/
mais forte/ e mais nova!) e ainda se mostra em consonncia com o fuxo
da natureza, pois esta acompanha a suavidade do encontro dos amantes,
como mostram os versos citados.
Alm disso, nesses versos, a expresso do erotismo de maneira
semelhante harmonia meldica de uma cantiga aponta para a necessi-
dade de encararmos o erotismo no como um objeto exterior a ns, mas
como o movimento do ser em ns prprios (BATAILLE,1980, p. 34), um
movimento em busca pela continuidade, pela perfeita conjugao de sons
e de ritmos e pelo equilbrio dos desejos do corpo (fsico) e das aspiraes
do ser.
Em paralelo a esse poema de Craveirinha, tambm vemos o en-
contro dos amantes, apresentado mediante a aproximao deste a um ele-
mento da natureza, nos versos de A curva do rio:
Desces a curva do meu corpo, amado
com o sabor da curva de outros rios
contas as veias e deixas as mos pousarem
como asas
como vento
sobre o sopro cansado
sobre o seio desperto
[...]
(TAVARES, 2001, p. 26)
Em comparao a Cantiga nossa, de Craveirinha, poema no qual
a voz potica apresenta-se com modulao de uma voz masculina (pois a
voz se dirige amada, Maria Teresa), nesses versos de Paula Tavares o eu
potico possui modulao de uma voz feminina, como revela o primeiro
verso que evoca a fgura do amado. Sobre essa perspectiva de uma voz po-
tica feminina, vale ressaltar que esses versos mostram-se em conformidade
95
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
com uma tendncia que, segundo Fonseca (2002, p. 44), vem ganhando
fora na produo potica elaborada por mulheres, a saber: a existncia de
uma inclinao para vasculhar a intimidade do corpo e as expresses de
seus desejos.
Os versos citados expem a aproximao do corpo feminino ao
rio, indicando a associao da mulher natureza, um recurso recorrente
na literatura e que foi utilizado em diferentes pocas
2
, sendo, muitas vezes,
aplicado por um discurso de perspectiva patriarcal e masculina na tentati-
va de instaurar a dominao sobre o feminino
3
. Entretanto, nesses versos,
essa aproximao da mulher natureza denota a imagem de um corpo
feminino que, tal qual a liberdade das guas do rio ao seguir seu curso,
coloca-se ao alcance do amado por vontade prpria, contrariando a pers-
pectiva segundo a qual, como observa Padilha (2006, p. 313), tradicional-
mente foi o sujeito lrico masculino quem liberou sua pulso amorosa nas
asas da poesia.
Conforme exprimem os versos, as mos do amado perscrutam
o corpo feminino, contando suas veias e, com a delicadeza das asas dos
pssaros e do vento, as mos pousam sobre o seio desperto. Seguindo
as consideraes de Bataille (1980), notamos que o erotismo manifesta-se
nesses versos a partir da materialidade do encontro dos corpos dos aman-
tes que, por meio do desnudamento, conduz os indivduos continuidade
almejada pelos seres descontnuos: a nudez ope-se ao estado fechado, ou
seja, ao estado de existncia descontnua. um estado de comunicao que
revela a procura duma possvel continuidade do ser, para l do isolamento
a que cada um de ns est votado (BATAILLE, 1980, p. 18).
Em seguida, da delicadeza inicial o encontro dos amantes adquire
os tons do erotismo alicerado em uma irrupo, duma violncia no mo-
mento da exploso (BATAILLE, 1980, p. 83), a qual se exprime a partir da
imagem do amado que, com sua canoa, percorre o rio (o corpo feminino)
e rasga a rede, encontrando a pele da amada em estado semelhante ao de
outrora:
Parte a canoa e rasga a rede
tens sede de outros rios
olhos de peixe que no conheo
e dedos que sentem em mim a pele arrepiada
doutro tempo
(TAVARES, 2001, p. 26)
A violncia que diz respeito ao erotismo, nesses versos, decorre
de seu aspecto intrnseco de violao, dado que a passagem dos seres des-
contnuos para um ainda que fugaz instante de continuidade (o momento
da morte) tida como um ato violento porque arranca o ser de sua obsti-
nao de ver durar o ser descontnuo que ele constitui (BATAILLE, 1980,
96
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
p. 17-18). Alm dessa violncia que envolve o erotismo, tambm notamos
que o amado transfgura-se no momento da transio da descontinuidade
para a continuidade, uma vez que ele apresentado com olhos de peixe
que a fgura feminina no reconhece. No entanto, no tnue momento da
continuidade, os amantes identifcam-se pelo toque, pela pele arrepiada
como ela fora nos tempos idos.
Apesar de esses versos mostrarem a imagem de um corpo femini-
no que permite o contato com o amado, os versos fnais endossam a presen-
a do erotismo, mas apontam uma ressalva para o enlace dos amantes: [...]
andas em crculos de fogo/ volta do meu cercado/ No entres, por favor
no entres/sem os leos do comeo/e as laranjas (TAVARES, 2001, p. 27).
Esses versos apontam para o erotismo com a imagem do amado que ronda
a fgura feminina deixando rastros de seu desejo, os crculos de fogo, ao
redor do cercado dela. O cercado simboliza os elementos que cercearam as
mulheres angolanas, entraves impostos pela colonizao ou representados
pela prpria tradio ancestral (PADILHA, 2002, p. 15). Portanto, para al-
canar o corpo feminino, o amado deve cumprir os ritos impostos pela tra-
dio, isto , ele deve seguir os preceitos atinentes ao cdigo das proibies
que interditam/regulam o livre fuxo do erotismo nessa sociedade.
A par da metfora que desvela o corpo mediante sua ligao com
elementos da natureza, conforme observamos em Cantiga nossa, de Jos
Craveirinha, e em A curva do rio, de Paula Tavares, tambm verifcamos
que o corpo e o erotismo revelam-se atravs de um jogo que sobrepe o ato
da escrita seduo, como mostra O giz:
Giz
de unhas
caligrafando
na lousa
do meu dorso
Assumo
tuas
unhadas
gizando
em minha
lousa
arrepios
no velho torso
[...]
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 173)
97
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Esses versos indicam a associao do erotismo ao ato da escri-
ta, o que sugerido desde a disposio dos versos na pgina, imitando as
marcas (riscos, nesse caso, na horizontal) deixadas pelas unhas ao deslizar
sobre a pele do eu potico. Essa relao entre corpo e escrita apontada por
Barthes (1996, p. 25), quando ele discorre sobre o prazer do texto e afrma
que o texto tem uma forma humana, uma fgura, um anagrama do cor-
po. Assim, o paralelo entre erotismo, corpo e o ato da escrita estabelecido
considerando que os seres humanos possuem um corpo de fruio feito
unicamente de relaes erticas e o texto, por sua vez, no seno a lista
aberta dos fogos da linguagem (BARTHES, 1996, p. 25).
Nos versos citados, a sobreposio de erotismo e escrita tambm
se mostra com a aproximao do giz, instrumento destinado grafa, s
unhas que escrevem na lousa na qual se converteu o dorso da voz potica.
Somado a isso, nesses versos tambm se vislumbra o jogo de seduo me-
diante a aceitao do eu potico das unhadas gizando em minha lousa
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 173), tendo como consequncia os arrepios, in-
dcio do despertar de uma reao desencadeada pelos arranhes no corpo
da voz potica.
Em paralelo a esses versos de Craveirinha e ainda com relao ao
ato da escrita e a manifestao do erotismo, em versos de Paula Tavares o
corpo da voz potica, que tambm se mostra voluntariamente, transfgura-
-se em uma espcie de texto grafado em braile que ser decodifcado pelo
toque das mos de seu par: Deixa as mos cegas/ Aprender a ler o meu
corpo/ Que eu ofereo vales/ curvas de rio/ leos (TAVARES, 2007, p. 15).
Retomando o poema de Craveirinha, citado, apesar da imagem
do corpo do eu potico que se entrega voluntariamente ao contato com
o outro (assumo tuas unhadas), notamos que, embora a voz potica de-
monstre satisfao com a carcia sobre sua pele, ainda permanece para ela
uma lacuna, como revelam os versos: Tudo/ em termos/ de retrica/ e esta
sntese/ em falso (CRAVEIRINHA, 1996, p. 173).
A admisso de uma falncia mostra que mesmo diante do encon-
tro materializado dos amantes, como indicam os versos, sempre existir
uma lacuna, talvez irreparvel, dado o fato de que, conforme as considera-
es de Bataille (1980), os seres humanos so seres descontnuos fadados
eterna busca pela continuidade, a qual no se atinge apenas com a pleni-
tude fsica/corprea. Assim, retomamos a metfora que relaciona corpo e
escrita, uma vez que, como assinala Barthes (1996, p. 25), o prazer do texto
irredutvel a seu funcionamento textual da mesma forma que o prazer
do corpo no se reduz necessidade fsiolgica, pois implica tambm uma
busca psicolgica, independente do fm natural dado pela reproduo e
pela preocupao de procriar (BATAILLE, 1980, p. 13).
Na potica de Craveirinha, alm da sobreposio do ato da escri-
ta ao corpo, tambm notamos que o corpo se converte em mediador para
apreenso e interao com o mundo e as pessoas ao seu redor. Nos versos
98
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
de Depois... (CRAVEIRINHA, 2010, p. 178), o corpo feminino aproxima-
-se ao universo da msica e d o tom s percepes do eu potico, realizan-
do a tarefa de, como aponta Maciel (2010), cifrar em notao musical os
solavancos do mundo:
Uma
ou outra
silhueta feminina
uma letra de pausa
na minha folha de msica
os
joelhos delas
centneos solfejos
nas pautas dos meus nervos
[...]
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 178)
Esses versos mostram que a vida da voz potica como uma fo-
lha de msica, uma partitura na qual os corpos femininos, a partir da inte-
rao com o mundo, ditam o ritmo da vida e desenham as notas musicais
nas pautas dos nervos do eu potico. No entanto, em seguida, a esta voz
admite retornar a um estado de introspeco, destoando do ritmo harm-
nico, anteriormente em voga e ditado pelas mulheres: Depois/ reencarno/
o cidado sisudo/ fora do ritmo em voga (CRAVEIRINHA, 2010, p. 178).
Enquanto nos versos de Depois..., de Craveirinha, a mulher su-
gere os ritmos que marcam o compasso da vida, na poesia de Paula Tava-
res, como j mencionamos, o corpo feminino revela-se como um corpo
desejante (FONSECA, 2002, p. 46), mas tambm se mostra ainda preso
a regras e hbitos que regulam a conduta das mulheres em determinados
grupos dentro da sociedade angolana, conforme mostram os versos:
neste altar sagrado
o que disponho
no vinho nem po
nem fores raras do deserto
neste altar o que est exposto
meu corpo de rapariga tatuado
neste altar de paus e de pedras
que aqui vs
vale como oferenda
meu corpo de tacula
meu melhor penteado de missangas
(TAVARES, 1999, p. 12)
99
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
As imagens do altar, do corpo tatuado e do penteado de miangas
denotam os ritos que circundam o feminino. O altar remete ao contexto do
sagrado, uma vez que esse o local em que se depositam as ofertas ao(s)
ente(s) superior(es); contudo, nesses versos, simbolicamente, o corpo fe-
minino, adornado com os elementos que prescrevem um carter rituals-
tico (tatuagens e penteado de miangas), que se apresenta como oferenda,
como indica a segunda estrofe.
Ainda nesses versos, a iminente imolao simblica do corpo fe-
minino confere ao seu interlocutor (a quem ela se expe como oferenda) a
tarefa de, tal como o sacrifcador que desagrega o ser imolado, desagregar
o ser amado. Entretanto, vale ressaltar que, no contexto amoroso, ainda
que esse ato parea violento, uma ao consentida (o corpo coloca-se em
oferta) que colabora para a mudana da condio dos seres (BATAILLE,
1980, p. 81). Isso porque, ainda de acordo com Bataille (1980, p. 73), os
sacrifcios, em tempos remotos, eram uma oferta e a vtima assumia um
sentido de divindade, o sacrifcio a consagrava.
Nesse sentido, no plano amoroso, exposto nos versos com a ima-
gem do corpo feminino constituindo uma oferta ao seu par, seu interlocu-
tor, o aspecto sagrado para os seres humanos sua continuidade, revelada
mediante um rito solene, o encontro dos amantes, que instaura a morte
dos seres descontnuos (BATAILLE, 1980, p. 74) por meio da unio e da
cumplicidade.
Apesar da comunho entre o eu potico e seu par, observada nos
versos do poeta moambicano e da poeta angolana, at o momento ana-
lisados, verifcamos que em alguns poemas desses autores a ausncia do
objeto desse amor (PADILHA, 2002, p. 18) causa profunda angstia, de-
salento e um agudo esvaziamento da voz potica diante de uma repentina
despedida que tende a transformar essa ausncia em prova de abandono
(BARTHES, 1990, p. 27).
Essa prova de abandono qual o eu potico submetido pode
decorrer tanto da quebra do lao entre os amantes com uma despedida
no se sabe se breve, mas que pelo menos deixa o anseio pelo regresso ,
quanto pela ao irreversvel da morte que intercepta o caminho do par
amoroso.
O temor da morte, segundo Becker (2007, p. 31), est entre os
principais elementos que movem a humanidade. Segundo ele (2007, p. 32),
as religies histricas (o autor cita o cristianismo, o hindusmo e o budis-
mo) dedicaram-se ao problema de como suportar o fm da vida. Sobre essa
mesma questo debrua-se a flosofa quando esta, ainda segundo o Becker
(2007, p. 32), assumiu o lugar da religio e a morte tornou-se a musa da
flosofa desde os gregos at o existencialismo moderno.
Contudo, embora tendo o aparato da religio e da flosofa, meios
que auxiliam os seres humanos na tentativa de compreenso e melhor con-
vivncia com a premissa de que a morte inerente condio humana,
100
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
por mais que se saibam como seres fnitos, as pessoas demonstram afio,
desamparo e impotncia diante do momento que decreta o fm da vida, ou
ao menos o fm do corpo fsico, da matria.
Na poesia de Craveirinha, esse abalo diante da morte pode ser
vislumbrado no instante do penoso adeus, contrastando com a delicadeza,
perfume e vivacidade das rosas multicores: Um braado/ polcromo de
fores/ perfumado/ De profundis
4
/ de coroas.//To duro/ assim lacnico/
nosso adeus de rosas, Maria
5
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 127).
Alm da difculdade do momento do adeus, o eu potico na obra
de Craveirinha tambm demonstra indignao diante da ao da morte que,
nos versos de A Grande Maldita, surge personifcada: Isso a Grande Mal-
dita/ nunca deveria ter feito.// Chegar de surpresa/e levar-te./ ...// Sem mere-
cer/ ainda estar/ ao teu lado (CRAVEIRINHA, 2010, p. 129). Nesses versos,
a morte personifcada apresentada como uma adversria que, sorrateira-
mente, invadiu a cena e levou consigo a companheira do eu potico. Esse
momento da partida, da morte propriamente dita, mostrado nesse poema
com as reticncias que ocupam o espao de um verso (ver trecho citado).
Alm disso, notamos que a indignao da voz potica expe-se
pela forma como ela se refere morte, Grande Maldita, e pelo fato de, na
perspectiva do eu potico, a morte ter chegado em uma hora imprpria,
sendo ela ainda no merecedora de estar ao lado da companheira do eu po-
tico. Assim, nos versos citados, a morte uma inimiga, ela sufoca a vida,
propaga o caos e a indignao daqueles que, inconformados, tal como o eu
potico, veem os entes queridos partirem. Porm, em oposio a essa viso
apocalptica da morte, vale mencionar que tambm existe entre os seres
humanos uma viso da morte, segundo assinala Becker (2007, p. 11), como
a ltima elevao ritual para uma forma de vida superior, para o desfrute
da eternidade de alguma forma.
Diante da morte e de um infnito amor a doer (CRAVEIRI-
NHA, 2010, p. 79), o eu potico, nos versos de Craveirinha, no encontra
outra opo seno a de fazer vazar sua dor, como indicam os versos: L-
grimas?/ Ou apenas/ dois intolerveis/ ardentes gumes de nvoa/ acutilan-
do-me cara abaixo? (CRAVEIRINHA, 2010, p. 120), e tambm Do avesso
das plpebras/ gotejam missangas/ de sal (CRAVEIRINHA, 2010, p. 121).
Vertidas e deslizando sobre a face do eu potico, l se vo as missangas/ de
sal at a hora em que quando na desolada ressonncia da saudade/ o eco
silencia soluos de amargura (CRAVEIRINHA, 2010, p. 135).
Ainda sobre a morte, em outros versos observamos que a vida
conjugal de Maria e seu par tornou-se uma cerimnia agora interrompi-
da (CHAVES, 1999, p. 161) e no ambiente domstico at os objetos pare-
cem desabitados da presena de Maria (MENDONA apud CHAVES,
1999, p. 163), deixando o eu potico consternado: Nos primeiros tempos/
como era inbil/ nas minhas mos/ a viuvez da vassoura (CRAVEIRI-
NHA, 2010, p. 139). Em paralelo, nesse mesmo espao domstico tambm
101
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
notamos que a solido e o atordoamento do eu potico, devido ausncia
de Maria, abrem espao para a manifestao do fenmeno do duplo, nos
termos de Freud (1969), como revela o poema Caf:
Muito de manh
ajunto xcara
o respectivo pires
uma colherinha
e o caf
A mim mesmo peo
que v buscar o aucareiro
Uma.
Duas.
Trs colheres de acar.
Mexo. Provo. Est doce.
E na incongruente imensido da casa
lacnico vou sorvendo
............................................................
Tudo amargo.
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 141)
Os versos iniciais evocam uma cena do cotidiano a partir da pre-
parao da refeio matutina do eu potico que, em virtude da ausncia
de outra pessoa na casa, pede a si mesmo, como se dialogasse com outra
pessoa, que providencie o aucareiro para fnalizar o preparo do caf. Nes-
se momento observamos o fenmeno do duplo, uma vez que ocorre, nos
termos de Freud (1969, p. 252), a substituio do self por um estranho, a
duplicao, diviso e intercmbio do self, dado o fato de, nesses versos, a
voz potica dirigir-se a si mesma como se estivesse conversando com um
outro, seu duplo. Em outro poema intitulado Os dois eus e a solido,
alm do duplo observa-se que a solido para a voz potica atinge uma di-
menso incomensurvel a ponto de quase transformar-se em um ser: Em
mim/ a solido j uma pessoa// Onde a um eu que no chora/ um meu
outro eu/ chora tudo/ pelos trs (CRAVEIRINHA, 2010, p. 146).
Retomando o olhar para o poema Caf, ainda verifcamos uma
oposio entre o que se passa no exterior, o ambiente da casa, e as percep-
es interiores do eu potico. A doura do caf contrasta com o instante
em que o eu potico, lacnico, bebe o caf, momento representado, no poe-
ma, pela sequncia grfca de pontos que preenchem o espao de um verso,
e no sente seu sabor adocicado, pelo contrrio, ele constata que tudo est
amargo, pois seu estado de desolao pela ausncia de Maria o faz perceber
a casa como imensa e o impede de apreciar o caf.
102
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Na potica de Craveirinha, na impossibilidade angustiante de su-
portar a ausncia da amada, ausncia experimentada como abandono irre-
parvel e que, como observa Maciel (2010, p.195),converte o cotidiano em
discreto purgatrio e em um acmulo de vazios, o eu potico, aludindo
a Cames, vislumbra a morte como a senha para o to ansiado encontro
com sua Dinamene (MACIEL, 2010, p. 195), conforme revela o poema O
mote de Cames:
Exausto
de insnias
peo ajuda ao bom Lus Vaz de Cames.
[...]
Ele
o gro-sonhador que lambeu
suas crostas
imperflando
em verso
deu-me
o mote:
Efmeros so os oiros dos biltres.
Vos os poderes da espada e da plvora.
Louvada seja a Dinamene
e Maria louvada seja tambm
E ambos entoamos.
(CRAVEIRINHA, 2010, p. 149)
Esses versos aludem dor da perda de Dinamene, expressa em
versos de Cames
6
, e ao sofrimento do eu potico que, nos versos citados,
no pice da exausto e insnia, recorre ao grande poeta portugus, o qual
deu voz potica o mote indicativo de que superior s riquezas materiais
e s conquistas blicas a exaltao da amada, ainda que j morta. Alm
disso, essa adorao da amada e a possibilidade de encontr-la em outra
esfera, conforme pressupe a referncia Dinamene, pode confgurar uma
tentativa, nos termos de Becker (2007, p. 11), de evitar a fatalidade da mor-
te e venc-la mediante a negao de que ela seja o destino fnal do homem.
Em paralelo aos versos citados, na potica de Paula Tavares tam-
bm observamos uma voz potica, com modulao de uma voz feminina,
que sofre diante da partida do amado, revelada pelo vento como sendo
uma partida sem regresso devido ao irreversvel da morte: Todos os
dias conservei aceso o fogo sagrado/ Na hora dos fantasmas/ o vento diz-
-me a tua voz/ a voz das viagens/ sem regresso (TAVARES, 2001, p. 13).
103
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A sensao de abandono para o eu potico da obra dos autores
em tela ocorre devido ao desconforto diante da morte, mas esse desamparo
tambm pode se dar mediante o distanciamento, talvez momentneo, da
fgura amada, situao que, se comparada ao embate com a morte, mais
palatvel, pois possvel alimentar a expectativa do retorno. Nesse sentido,
vejamos os versos:
O meu amado chega e enquanto despe as sandlias de couro
Marca com o seu perfume as fronteiras do meu quarto.
Solta a mo e cria barcos sem rumo no meu corpo.
Planta rvores de seiva e folhas.
Dorme sobre o cansao
embalado pelo momento breve da esperana.
Traz-me laranjas. Divide comigo os intervalos da vida.
Depois parte.
............................................................................................
Deixa perdidas como um sonho as belas sandlias de couro.
(TAVARES, 1999, p. 19)
Nesses versos notamos que o encontro dos amantes permeado
pelo despertar dos sentidos: o olfato, o perfume do couro das sandlias do
amado e o tato que se mostra com a imagem das mos que, como barcos
em alto mar, navegam pelo corpo feminino. Ainda com relao ao perfume
emanado do couro das sandlias, vale ressaltar que a referncia ao signo do
boi recorrente na poesia de Paula Tavares e constitui uma aluso s cores,
s fragrncias e a elementos peculiares da regio do sul de Angola (a poeta
nasceu na provncia da Hula), rea na qual, como aponta Carmen Tind
Secco
7
, a pastorcia e a agricultura defnem o modo de vida, os ritos, os
contratos, enfm, os costumes e a histria desses.
Os versos mostram que o encontro da voz potica com seu ama-
do embalado pelo contentamento, como indica a imagem, no quarto ver-
so, do plantio de rvores de seiva e fores, denotando o frutifcar da alegria
que, em seguida, substituda pela sensao da fugacidade dessa relao,
pois eles compartilham os intervalos da vida e logo o amado parte. O
distanciamento do amado expresso, no poema, pela sucesso de pontos
grfcos que, ocupando o espao de um verso, simboliza a suspenso do en-
contro. Por outro lado, em outros versos da poeta o abandono percebido
com a presena das sandlias, vestgio daquele que se foi: Todas as feridas
de sangue/no esgotaram o meu rio/tropeo nas sandlias de couro de boi/
morro porque estou ferida de amor (TAVARES, 1999, p.13).
Ainda que se confgurem como ndice da ausncia, as sandlias
tambm do voz potica o lastro para almejar e nutrir a esperana do
regresso alentador da fgura masculina, como exprime o verso: Deixa per-
didas como um sonho as belas sandlias de couro (TAVARES, 1999, p. 19).
104
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Em outros versos de Paula Tavares tambm observamos que a
relao dos amantes fruto de um acolhimento incondicional da fgura fe-
minina que, em virtude do afeto, no impe obstculos ou indaga o amado
sobre o que ela no conhece a respeito dele:
No conheo nada do pas do meu amado
No sei se chove, nem sinto o cheiro das
laranjas.
Abri-lhe as portas do meu pas sem perguntar nada
No sei que tempo era
O meu corao grande e tinha pressa
[...]
(TAVARES, 1999, p. 20)
Embora exista um movimento de receptividade, conforme indi-
cam os versos citados, a voz potica no apresenta seu pas ao amado, no
lhe fala das colheitas ou da seca, mas deixa que ele conhea o pas dela a
partir da observao e do desenrolar das experincias cotidianas, como
mostram os versos: No lhe falei do pas, das colheitas, nem da seca/ Dei-
xei que ele bebesse do meu pas o vinho o mel a carcia/ Povoei-lhe os so-
nhos de asas, plantas e desejo (TAVARES, 1999, p. 20).
Nos versos subsequentes, notamos que o eu potico tece uma su-
til comparao entre seu pas e o pas do amado. A voz potica assinala que
o pas do amado deve ser um pas estranho, pois ele no conhece ou no
identifca no pas dela alguns indcios do ciclo da vida, tais como a hora da
colheita, o canto dos pssaros, nem em sentido metafrico conhece o sabor
da terra de manh, como revelam os versos: Deve ser um estranho pas/
o pas do meu amado/pois no conheo ningum que no saiba/a hora da
colheita/o canto dos pssaros/o sabor da sua terra de manh cedo (TAVA-
RES, 1999, p. 20). Esse descompasso no conhecimento de determinados
cdigos que regem a vida indica que no pas do amado esses referenciais
culturais podem no ter a mesma importncia que possuem no pas da voz
potica, pois eles detm repertrios culturais distintos.
O silncio da fgura masculina prolonga-se. Ele no fornece ne-
nhuma informao ou explicao sobre si mesmo ou sobre seu pas para a
voz potica Nada me disse o meu amado (TAVARES, 1999, p. 21) e
na sequncia vislumbramos a transitoriedade do encontro, a partida do
amado: Chegou/ Mora no meu pas no sei por quanto tempo/ estranho
que se sinta bem/ e parta (TAVARES, 1999, p. 21).
Alm de indicar a transitoriedade da presena do amado, esses
versos tambm apontam para o efeito de estranhamento, o qual, segun-
do Bhabha (1998, p. 31), inerente ao rito de iniciao extraterritorial e
intercultural. Nesse sentido, com relao aos versos citados, o efeito de
105
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
estranhamento ocorre, pois mesmo sentindo-se bem, mesmo tendo sido
acolhido e tendo levado consigo infuncias do pas da voz potica Volta
com um cheiro de pas diferente/ Volta com os passos de quem no co-
nhece a pressa (TAVARES, 1999, p. 21) , o amado retorna ao seu pas,
restando voz potica o silncio aberto/de um grito/sem som nem ges-
to/ apenas o silncio aberto assim ao grito/solto ao intervalo das lgrimas
(TAVARES, 1999, p. 16).
CONSIDERAES FINAIS
A leitura comparada das poticas de Jos Craveirinha e de Paula
Tavares no que se refere expresso do erotismo, em seus versos, mostrou-
-nos que este ocorre no apenas com a exposio dos corpos, mas tambm
mediante uma busca do ser pela continuidade em uma dimenso psicol-
gica e afetiva. Tambm percebemos que o erotismo se expe na poesia dos
autores a partir de imagens metafricas que associam mulher e natureza e
tambm corpo e escrita. E ainda a esse respeito, notamos que na poesia de
Paula Tavares recorrente uma voz com modulao feminina que expressa
seus desejos, da ordem do corpo, e tambm exprime aspiraes afetivas,
contrariando a tendncia mais frequente no meio literrio, ou seja, a mani-
festao de uma voz com modulao masculina que se dirige ao feminino
na exposio dos anseios amorosos.
Alm disso, na apresentao do encontro dos amantes, nos ver-
sos dos poetas analisados, observamos que o enlace amoroso, na potica
de Craveirinha, interceptado pelo abandono que se revela na forma da
morte da amada, ao passo que na poesia de Paula Tavares o rompimento
do lao entre os amantes ocorre mais em virtude da partida, talvez sem
regresso, da fgura masculina.
Assim, embora os enlaces afetivos sejam uma forma de buscar
a transio do ser da descontinuidade para a continuidade, tornando-se,
desse modo, um ser humano mais pleno, necessrio atentar para o fato
de que no meio do conforto e da felicidade, cresce insondvel o vazio
(TAVARES, 1985, p. 15) que assombra e, muitas vezes, inesperadamente,
esfacela os vnculos mais caros ao ser humano.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hor-
tncia dos Santos. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1990.
______. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. So Paulo: Editora
Perspectiva, 1996.
BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Joo Benard da Costa. Lisboa:
Moraes Editores, 1980.
106
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. Trad. Srgio
Milliet. So Paulo: Difuso europeia do livro, 1970.
BECKER, Ernest. A negao da morte. Trad. Luiz Carlos do Nasci-
mento Silva. Rio de Janeiro: Record, 2007.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Glucia Renate Gon-
alves, Eliana Loureno de Lima Reis, Myriam vila. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 1998.
BBLIA SAGRADA. Trad. Centro Bblico Catlico. 106. ed. So Pau-
lo: Editora Ave Maria, 1996.
CAMES, Lus de. Versos e alguma prosa de Lus de Cames. Eugnio
de Andrade (Org.). Lisboa: Moraes Editores, 1977.
CHAVES, Rita. Jos Craveirinha, da Mafalala, de Moambique,
do mundo. In: Via Atlntica, n. 3, dez. 1999, p. 140-168. Disponvel em:
<http://www.fch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/publicado.html> Acesso
em: 06 maio 2012.
CRAVEIRINHA, Jos. Antologia potica. Ana Mafalda Leite (Org.).
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
FONSECA, Nazareth Soares. Corpo e voz em poemas brasileiros e
africanos escritos por mulher. In: DUARTE, Constncia Lima & SCAR-
PELLI, Marli Fantini. Gnero e representao nas literaturas de Portugal
e frica. Coleo Mulher & Literatura, Vol. III. Belo Horizonte : UFMG/
FALE, 2002.
FREUD, Sigmund. O estranho. Trad. Jayme Salomo. In: ___. Obras
completas de Sigmund Freud: edio standard brasileira, v. XVII. Rio de
Janeiro: Imago, 1969.
MACIEL, Emlio. Angulaes do chamamento: biobibliografa de
Jos Craveirinha. In: CRAVEIRINHA, Jos. Antologia potica. Ana Mafal-
da Leite (Org.). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
PADILHA, Laura Cavalcante. Como uma segunda pele ou poesia fe-
minina africana, em expanso. In: DUARTE, Constncia Lima & SCAR-
PELLI, Marli Fantini. Gnero e representao nas literaturas de Portugal
e frica. Coleo Mulher & Literatura, v. III. Belo Horizonte: UFMG/
FALE, 2002.
______. Paula Tavares e a semeadura das palavras. In: CAMPOS, Ma-
ria do Carmo Seplveda, SALGADO, Maria Teresa. (Org.). frica e Brasil:
Letras em laos. So Paulo: Atlntica Editora, 2006.
107
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
PRATT, Mary Louise. Mulher, literatura e irmandade nacional. Trad.
Valria Lamego. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Tendncias e
impasses: o feminismo como crtica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
QUINTERO-RIVERA, Mareia. A cor e o som da nao: a ideia de
mestiagem na crtica musical do Caribe hispnico e do Brasil. So Paulo:
Annablume/FAPESP, 2000.
SECCO, Carmen Lcia Tind Ribeiro. Ruminaes do tempo e da me-
mria na poesia de Paula Tavares. Disponvel em: <http://www.ueangola.
com> Acesso em: 05 maio 2012.
TAVARES, Paula. Dizes-me coisas amargas como os frutos. Lisboa: Ca-
minho, 2001.
______. O lago da lua. Lisboa: Caminho, 1999.
______. Manual para amantes desesperados. Lisboa: Caminho, 2007.
______. Ritos de passagem. Luanda: Unio dos escritores angolanos,
1985.
Recebido para publicao em 30/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
NOTAS
1 Conforme Bataille (1980, p. 27), o que difere o erotismo do homem da sexualidade
animal a vida interior, pois no animal no existe nada que seja semelhante a um pr em
questo.
2 No meio literrio, a aproximao entre mulher e natureza ocorreu em diferentes pocas
como, por exemplo, na Era Medieval (sculo XII) com a poesia trovadoresca, no Arca-
dismo (sculo XVIII), no Romantismo (sculo XIX) e no Modernismo (sculo XX) e em
uma concepo de gnero, como assinala Beauvoir (1970), ao indicar que a mulher, na
literatura, foi metamorfoseada em fores, frutos e pssaros por poetas do Ocidente e do
Oriente.
3 Na literatura e nos relatos histricos recorrente a associao do corpo feminino ao
nacional e conquista de um territrio, indicando a dominao. A esse respeito ver
PRATT, Mary Louise. Mulher, literatura e irmandade nacional. Trad. Valria Lamego. In:
HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Tendncias e impasses: o feminismo como cr-
tica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. E tambm: QUINTERO-RIVERA, Mareia. A
cor e o som da nao: a ideia de mestiagem na crtica musical do Caribe hispnico e do
Brasil. So Paulo: Annablume/FAPESP, 2000.
4 A expresso De profundis, nesse poema, uma possvel aluso ao Salmo 129 De
profundis Penitncia e esperana , o qual expe o clamor misericrdia de Deus para
que Ele conceda o perdo e a redeno aos que se dirigem a Ele. Assim, a referncia ao
108
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
salmo, nesses versos, propcia porque exprime as splicas mais comuns diante da pro-
ximidade da morte. Ver BBLIA SAGRADA. Trad. Centro Bblico Catlico. 106. ed. So
Paulo: Editora Ave Maria, 1996.
5 Entre os muitos nomes evocados pelo poeta, em seus versos, destaca-se o nome de Ma-
ria, companheira de Craveirinha, que faleceu em 1979 e a quem o autor dedicou a obra
intitulada Maria. Vale ressaltar que atentamos para esse fato, mas no realizamos uma
leitura de perspectiva autobiogrfca dos poemas nos quais aparece a imagem de Maria.
6 Ver, por exemplo, os sonetos de Cames Ah minha Dinamene!Assim me deixaste e
Alma minha gentil, que te partiste. Ver: CAMES, Lus de. Versos e alguma prosa de Lus
de Cames. Eugnio de Andrade (Org.). Lisboa: Moraes Editores, 1977.
7SECCO, Carmen Lcia Tind Ribeiro. Ruminaes do tempo e da memria na poesia
de Paula Tavares. Disponvel em: <http://www.ueangola.com> Acesso em: 06 maio 2012.
109
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ENTRE O OLHAR E O DIZER:
PALAVRA E IMAGEM NAS OBRAS DE
MARIO CESARINY E ALEXANDRE ONEILL
Marcus Rogrio Tavares Sampaio Salgado
(UnB)
RESUMO
Nosso objetivo um estudo panormico das relaes entre poesia, visuali-
dade e imagem nas obras dos poetas portugueses Mario Cesariny de Vas-
concelos e Alexandre ONeill.
PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Visualidade; Imagem
ABSTRACT
Tis article presents a panoramic study on the relations between poetry,
visuality and image in the poetic works by the portuguese poets Mario Ce-
sariny de Vasconcelos and Alexandre ONeill.
KEYWORDS: Poetry; Visuality; Teory of Image
110
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O foco do presente artigo a abordagem das relaes entre pala-
vra e imagem na obra dos poetas portugueses Mario Cesariny de Vasconce-
los e Alexandre ONeill, tentando compreender, a partir desse movimento
inicial, as dinmicas estticas que poesia e visualidade podem manifestar
em conjuno.
Com tal objetivo, defnimos um corpus capaz de representar os
pontos de culminncia da obra de cada autor, onde se verifcam problema-
tizadas, de uma maneira ou de outra, as relaes entre palavra e imagem
enquanto situaes constitutivas do texto literrio.
Estes pontos de culminncia, a nosso ver, seriam, no caso de Ce-
sariny, o livro de poemas Primavera autnoma das estradas (1980) e o en-
saio de crtica de arte Vieira da Silva, Arpad Szenes, ou O Castelo Surrealista
(1984), e, no caso de Alexandre ONeill, A ampola miraculosa (1948) e Di-
vertimento com sinais ortogrfcos (1960).
Nestas quatro obras encontramos as relaes entre artes visuais e
literatura aladas ao papel de protagonistas no prprio processo de criao,
sendo possvel detectar, entre si, continuidades e rupturas no tocante a tal
elemento comum.
De imediato, o que se ressalta nas obras de Mario Cesariny e Ale-
xandre ONeill e, em certa medida, justifca a aproximao ora tentada
o fato de explorarem os domnios da criao literria at as fronteiras
com as artes visuais e, de par com esse elemento formal renovador, encon-
trarem lugar prprio no interior da tradio potica portuguesa. assim
que em suas obras desdobram-se planos de intertextualidade diretamente
estabelecidos no interior da poesia portuguesa j que ambos eram gran-
des leitores de poesia, fagrando-se a aberta inteno de dilogo com poe-
tas de perodos os mais diversos, como Nicolau Tolentino e Cesrio Verde
(caso de ONeill) ou Fernando Pessoa (com os quais os dois poetas estabe-
lecero dilogos em diferentes plats de signifcao) , sem se esquecer de
retomar, ainda, a discusso sobre as possibilidades existentes no territrio
que se estende entre palavra e imagem.
Para a compreenso efcaz das estratgias agenciadas no plano
esttico pelas obras de Cesariny e ONeill, teremos que necessariamente
revisitar as tentativas de sistematizao das relaes possveis entre palavra
e imagem. Tais relaes remetem cena da origem da prpria linguagem
escrita, do que fazem prova as expresses verbais em forma pictogrfca.
A bem da verdade, esta dinmica da textualizao do espao fgural e da
fgurao do espao textual (como prope Lyotard em seu estudo sobre as
relaes entre discurso e imagem) no parece ter sido interrompida, como
se percebe das imbricaes entre icnico e verbal encontradas no apenas
em livros e pinturas como tambm em tapearias, mosaicos, Livros de Ho-
ras, cartazes de propaganda, histrias em quadrinhos, flmes etc.
At mesmo por conta da produo ininterrupta de hbridos ic-
nico-verbais nos domnios da indstria cultural, as relaes entre palavra e
111
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
imagem, entre linguagem verbal e linguagem icnica tm sido objeto de estu-
dos os mais diversos, sob linhas estticas e ideolgicas igualmente distintas.
Para alm das diversas linhagens terico-crticas atuantes na con-
temporaneidade, sabemos que as relaes entre arte potica e arte visual j
haviam sido discutidas na Antiguidade. Segundo Plutarco (apud MUHA-
NA, 2002, p. 12), Simnides de Ceos importante poeta do perodo ar-
caico grego j teria formulado a equivalncia entre poesia e pintura, ao
qualifcar a poesia como pintura que fala e a pintura como poesia silencio-
sa. Aristteles estava atento possibilidade de homologias entre as artes
quando, na abertura da Potica, aproxima poesia e msica enquanto artes
da mimesis, em que pesem os meios, os objetos e os modos diversos de cada
arte. Ainda na Potica, Aristteles adverte que os poetas imitam homens
melhores, piores ou iguais a ns, como o fazem os pintores: Polignoto re-
presentava os homens superiores; Pauson, inferiores; Dionsio represen-
tava-os semelhantes a ns (ARISTTELES, 2003, p. 104), aproximando,
portanto, poesia e pintura a partir da perspectiva da imitao. Sobre as
possibilidades dessa homologia se deteve tambm Horcio na clebre Epis-
tula ad Pisones, onde encontramos a sntese ut pictura poesis, cunhada para
aferir a possibilidade de comparativismo entre os pressupostos norteadores
e as prticas caractersticas de artes distintas como a poesia e a pintura.
Na abertura desse texto que acabaria sendo conhecido como sua potica,
Horcio, ao dispor-se a refetir sobre o trabalho do poeta, sinaliza para o
fato de que a premncia por ordem e unidade que preside a organizao
estrutural de um poema seria da mesma natureza daquela que coordena a
criao pictrica, chegando, mais adiante, sntese aludida: Poesia como
pintura (HORCIO, 1981, p. 65).
As refexes em torno da homologia entre poesia e pintura (que
se insere, por sua vez, em um quadro mais amplo sob cuja moldura se de-
batem as possibilidades de homologia entre as diversas artes) prosseguiram
durante o Renascimento. Leonardo da Vinci, no famoso tratado O parago-
ne, retomou a discusso aberta pelos clssicos, ao afrmar que a pintura
uma poesia muda e a poesia uma pintura cega; e tanto uma quanto a outra
tentam imitar a natureza segundo seus limites, e tanto uma quanto a outra
permitem demonstrar diversas atitudes morais (apud LICHTENSTEIN,
2005,p. 20). Embora se lance do mesmo ponto de partida dos clssicos,
da Vinci, entretanto, avana em suas refexes ao ponto de arriscar uma
hierarquia entre as duas artes, reconhecendo no signo visual possibilidades
mais amplas.
O debate se desdobra ao longo dos sculos seguintes. Lessing, no
prefcio e ao longo de Laocoonte considerada uma das obras mais impor-
tantes do sculo XVIII em matria de crtica esttica discute em detalhes
as relaes entre as duas artes, ao ponto de ostentar o subttulo sobre as
fronteiras da pintura e da poesia. Nesse texto capital para a construo
crtica da modernidade esttica ocidental, Lessing no apenas reconhece
a precedncia de uma srie de investigadores sobre o tema, como ainda
112
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
refuta os pressupostos crticos que presidem seus juzos. Para Lessing, a
aproximao entre as duas artes sobretudo quando feita sem atentar para
as especifcidades de expresso que as caracterizam individualmente tra-
zia em si riscos: ela gerou na poesia a mania da descrio e na pintura o
alegorismo; assim, procurou-se fazer da primeira uma pintura falante, sem
se saber propriamente o que ela pode e deve pintar, e da segunda um poe-
ma mudo, sem se ter refetido em que medida ela pode expressar conceitos
universais sem se distanciar da sua determinao e se transformar num
tipo de escrita arbitrria (apud LICHTENSTEIN, 2004, p. 84-85).
Diderot tambm se ocupou do assunto e, na opinio de Arnaud
Buchs, a aproximao analgica das artes atravessa e, de uma certa manei-
ra, estrutura toda a obra de Diderot (BUCHS, 2010, p. 17). A Carta sobre
os surdos-mudos para uso dos que ouvem e falam, por exemplo, escrita em
resposta a um texto do abade Charles Batteux, que propunha analisar as
belas-artes reduzidas a um mesmo princpio (BUCHS, 2010, p. 17). Para
Diderot, faltava rigor nas abordagens que eram habituais sobre o assunto.
Em seu entendimento, mais do que artifcios retricos de efeito fcil, era
necessrio, sim, reunir as belezas comuns da poesia, da pintura, da m-
sica, mostrar-lhe as analogias, explicar como o poeta, o pintor e o msico
produzem a mesma imagem, captar os emblemas fugazes de sua expresso,
examinar se h similaridade entre esses emblemas etc (DIDEROT, 1993,
p. 57). Ao clamar pela explicao sobre como cada arte imita a natureza
num mesmo objeto (DIDEROT, 1993, p. 58), Diderot traa o percurso a
ser cumprido pelos investigadores que se dedicarem a elucidar as corres-
pondncias entre as artes: estar atento s possibilidades de correspondn-
cia, sem ignorar as especifcidades de cada uma.
A linha de argumentao de Lessing e Diderot ecoaria, no sculo
XIX, na crtica de arte de Baudelaire. Num texto do Salo de 1846 em que
trata de Delacroix e Victor Hugo, o poeta das Flores do mal adverte que
essa necessidade de encontrar a qualquer preo pontos de comparao
e analogias entre as diferentes artes, leva, muitas vezes, a estranhos equ-
vocos (apud LICHTENSTEIN, 2004, p. 104). A despeito de professar, no
plano csmico, as correspondncias swedenborguianas, Baudelaire pres-
crevia cautela ao se ponderar sobre as correspondncias entre as artes con-
sideradas no plano estritamente esttico.
Na opinio de Arnaud Buchs, h uma linha reta que liga Lessing,
Diderot e Baudelaire e nela devemos procurar o processo de desmonta-
gem da retrica clssica que a modernidade esttica prope no tocante s
relaes entre as diversas artes. Segundo Buchs, em Laocoon Lessing ps
termo defnitivo aos erros da doutrina do ut pictura poesis (BUCHS, 2010,
p. 7), ao reconhecer a existncia de diferenas essenciais (e intransponveis)
entre as duas artes, j que, na perspectiva que preside as refexes do poeta
e flsofo alemo, a pintura por essncia uma arte do espao, enquanto a
poesia, e mais genericamente a literatura, repousa fundamentalmente so-
bre o tempo (BUCHS, 2010, p. 7).
113
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Ao longo do sculo XX, as discusses foram reacendidas pela te-
oria e prtica preconizada pelos movimentos de vanguarda, ocupados em
investigar, em ambos os planos, as possibilidades de intermedialidade. Essa
preocupao se acentuou com as vanguardas tardias, de que fazem prova,
no campo da poesia de lngua portuguesa, o plano-piloto da Poesia Con-
creta (com sua busca por uma poesia verbivocovisual) e a chamada Poesia
Experimental portuguesa dos anos 60.
Entre os eruditos que, ao longo dos ltimos cinquenta anos, se
dedicaram pesquisa sistemtica das relaes entre palavra e imagem, en-
contramos Mario Praz, Herbert Read, Erwin Panofsky, Michel Butor, W.
J. T. Mitchell e Arnaud Buchs, que do uma amostragem impressiva do
espectro de produo sobre o tema no mbito das discusses tericas, sem
deixar de representar com efcincia essa multiplicidade de matizes na cr-
tica contempornea, a que se poderia acrescentar os trabalhos sobre o tema
elaborados por tericos e crticos de lngua portuguesa como Eduardo
Loureno (O espelho imaginrio: pintura, anti-pintura, no-pintura), E. M.
Mello e Castro (Po-Ex: Textos tericos e documentos da poesia experimental
portuguesa), Ana Hatherly (Interfaces do Olhar), Dcio Pignatari (Semi-
tica e literatura), Vilm Flusser (Filosofa da caixa preta), Uilcon Pereira
(Escritema e fguralidade nas artes plsticas contemporneas) e Sergio Lima
(A aventura surrealista).
Como se percebe, as questes implcitas na proposio ut pictu-
ra poiesis no se esgotaram na Antiguidade, sendo mesmo lcito afrmar
que a busca por uma compreenso mais ampla das relaes entre poesia
e artes visuais atravessa toda a modernidade, j que, continuamente, no-
vas respostas emergiram para a questo original atinente s relaes entre
imagem e palavra, como j fora proposta, em linhas gerais, por Simnides
de Ceos, Aristteles e Horcio. Gradativamente, o entusiasmo fcil pelo pa-
ralelismo entre as artes foi perdendo espao para uma viso crtica menos
condescendente e mais atenta s especifcidades (no apenas no plano flo-
sfco, enquanto formas de representao, mas tambm no mbito tcni-
co) de cada arte, uma visada que problematiza essa relao, sem, contudo,
deixar de reconhecer as possibilidades de interpenetrao entre as diversas
linguagens artsticas.
por essa razo que, ainda que expressas de forma fragment-
ria e necessariamente inconclusa, as refexes que nos chegam tanto da
Antiguidade como da Modernidade sobre as relaes entre signo verbal
e signo visual no campo das artes plsticas e da poesia confguram, per si,
um mapeamento em que se ressaltam pelo menos trs tipos distintos de
relaes, a saber:
a) discurso sobre uma obra de arte (kphrasis) ou sobre um artista;
b) vigncia de uma esttica verbal com proeminncia dos ele-
mentos imagticos, como metforas, smiles etc;
c) tentativa de alcanar uma linguagem hbrida, icnico-verbal,
114
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
obtida mediante formas novas, como a novela grfca, ou pela metamor-
fose do signo verbal em signo visual (que, para usar um conceito caro
semitica de Charles Sanders Peirce, reconheceremos como um processo
de iconicizao do verbal, o que, em termos de lingustica saussuriana, im-
plicaria num deslocamento do foco para o signifcante).
Vejamos como essas trs relaes se defnem no plano terico e
como se manifestam nas obras de Cesariny e ONeill.
Para o tipo de relao descrito em a, revela-se rico o manancial
aberto pelos textos de Mario Cesariny, e no apenas no livro que produziu
sobre a pintora Maria Helena Vieira da Silva, j que sua obra, considerada
na totalidade, revela em abundncia elementos aproximativos entre artes
visuais e literatura, a ponto mesmo de o autor ter-se aventurado naque-
le domnio, como prova sua participao, por conta de alguma produo
criativa de natureza plstica (desenhos, colagens, pinturas), em exposies
coletivas nos anos 50.
No exagero afrmar que, na obra de Cesariny, o icnico e o
verbal se encontram num longo abrao mito-potico, caminhando juntos
para os domnios do imaginrio, jazida que permeia toda criao artstica,
seja ela feita com palavras ou linhas e cores.
sob esta prerrogativa de uma intimidade verdadeiramente erti-
ca entre as artes plsticas e a literatura que Cesariny escreveu Arpad Szenes,
Vieira da Silva, ou O Castelo Surrealista. A comear, temos um poeta que
tambm artista plstico e crtico de arte (pois o projeto se enquadraria nos
requisitos de uma bolsa que se lhe concedeu para tanto) tentando abordar
a obra plstica de um casal de artistas (Arpad Szenes e Maria Helena Viei-
ra da Silva) muito importantes para os meios artsticos tanto portugueses
como brasileiros, j que por aqui estiveram durante os anos 40.
Mas esta no uma obra que se enquadre nos esteretipos de um
texto de crtica de arte, como se poderia pensar do fato de estar abrigada
sob estufa institucional, e tampouco encontramos nela qualquer tentativa
de subordinao ou reduo dos valores plsticos ao discurso. Pelo contr-
rio: alm de reconhecer, ao longo de todo o processo, o infnito adiamento
de uma posse defnitiva da obra para a qual volta seu olhar, o resultado
(mesmo que provisrio) um transbordamento entre artes plsticas, po-
esia e discurso crtico, como prova a longa correspondncia que Cesariny
manteve com o casal. sombra de tais circunstncias que foresceu Ar-
pad Szenes, Vieira da Silva, ou O Castelo Surrealista e rentvel que se con-
fronte a articulao tentada nessa obra com a noo clssica de kphrasis.
Conhecida pela retrica clssica, a kphrasis um artifcio lin-
gustico pelo qual uma arte se refere a outra, tentando reter no caso da
literatura, por meio de um uso especfco da linguagem verbal os valores
e essncias intrnsecos a esta outra arte. Encontraremos seu uso em todos
os recortes epocais da historiografa literria, de Homero a Dostoievski,
passando por Luciano de Samsata, barrocos, romnticos e surrealistas.
115
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Como se v, a kphrasis se impe para alm de restries no apenas epo-
cais, como tambm estilsticas e uma efciente porta de entrada para o
estudo das relaes entre artes plsticas e literatura.
A tradio anglfona tem trazido signifcativos aportes investi-
gao sobre a kphrasis, com lastro majoritrio fornecido pelo scholar W.
J. T. Mitchell, que tem conduzido, desde os anos 1970, longa e fecunda
pesquisa sobre a teoria da imagem, considerada, sob vis interdisciplinar
e num espectro de mxima ressonncia semntica, simultaneamente en-
quanto representao mental e enquanto fgura retrica.
Um dos captulos de sua obra mais importante sobre o tema (Pic-
ture Teory: Essays on Verbal and Visual Representation) trata especifca-
mente da kphrasis, vista a partir dos mirantes esttico, psicolgico e ide-
olgico. Nesse captulo, o scholar americano desenvolve conceitualmente
a kphrasis enquanto utopia, uma vez que, como frisa Mitchell, a kphrasis
seria, em ltima instncia, a consumao do sonho impossvel de um in-
tercmbio e de um trnsito direto entre signos verbais e signos visuais, sem
hierarquizao ou reduo.
Ao ler a correspondncia entre Cesariny e o casal de artistas, per-
cebe-se que, em determinado ponto, o objeto crtico deixou de ser apenas
objeto e passou a revestir-se de fguraes mticas (o que reforado pela
presena do castelo surrealista no ttulo da obra), j que Vieira da Silva
e Arpad Szenes aparecem antes como elementos de um matrimnio no
carnal, mas alqumico, testemunhado por Cesariny, aqui como voyeur su-
premo, que, ao olhar para as obras de um e de outra, os v nus porque os
v em alma. Como escreveria o prprio Cesariny, a alma sexo do homem
(CESARINY, 1980, p. 127).
As conexes entre imagem e mito despertadas na escrita de Ce-
sariny assim se produzem por conta da experincia de alteridade que nela
se faz implcita. Vivemos em sociedades onde as imagens tcnicas (na ter-
minologia de Vilm Flusser) tm preponderncia e onde, a partir de uma
articulao binria do mundo e do pensamento, as imagens so vistas em
relao de oposio s palavras. Assim, quando a palavra se volta para a
imagem, tentando apreender sua dinmica, temos aquilo que se poderia
chamar de encontro com outros semiticos, para permanecermos sob o
enquadramento terico proposto por W. J. T. Mitchell. Para este autor,
as diferenas entre texto e imagem podem ser lidas de forma semelhante
que lemos a relao entre eu e o outro. Segundo o mesmo terico, en-
tre palavra e imagem teramos nada menos que o encontro entre modos
de representao rivais, cuja aproximao, de plano, gera estranhamen-
tos entre si. por isso que, para Mitchell, ao produzir outros textuais
(MITCHELL, 2009, p. 142), a kphrasis trabalha, em seu ncleo duro,
com a experincia da alteridade, ostentando a marca especfca de tentar
detectar tal experincia no interior das fguras ticas e discursivas que
compem o prprio conhecimento.
116
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Defnitivamente, o que Mario Cesariny tenta em Vieira da Silva,
Arpad Szenes, ou O Castelo Surrealista uma utopia de metalinguagem,
onde a kphrasis se ala condio de princpio universal da potica.
uma tentativa de estabelecer no hierarquias e sim vasos comunicantes en-
tre palavra e imagem, alentada pelo que W. J. T. Mitchell chama de es-
perana utpica da kphrasis (MITCHELL, 2009, p. 155): a esperana de
uma livre transferncia e de uma reciprocidade entre o verbal e o visual.
Essa sinalizao utpica , contudo, revertida por Cesariny com
as memrias descritivas apostas obra plstica de Marie Jos Paz, no
livro Figuras e fuguraes. Em resposta a dez trabalhos de Marie Jos, seu
marido, o poeta Octavio Paz, escreveu dez poemas, aos quais ela respondeu
com novas obras visuais, num circuito de retroalimentao entre poesia e
artes plsticas. O resultado fnal foi um livro composto por reprodues
dos trabalhos da artista mexicana, a que seguem os textos diretamente rela-
cionados de Octavio Paz (revelando aspectos da criao das obras plsticas,
num desvelamento ertico pelo qual olhar e dizer procuram uma equiva-
lncia imediata). Para a traduo portuguesa, acresceu-se, no fnal do li-
vro, uma srie de memrias descritivas assinadas por Cesariny, que, ao
contrrio de Paz, prope poemas que no se relacionam diretamente com
as formas sensveis das obras plsticas, mas que vm tona como ressonn-
cias delas, numa espcie de anti-kphrasis.
Na segunda situao a ser analisada a da predominncia de
uma esttica verbal em que os elementos imagticos tm preponderncia
, nosso foco se volta para um tipo especfco de discurso potico, marcado
por valores prprios, conforme tentaremos demonstrar.
Segundo o poeta e crtico Ezra Pound, a palavra potica seria
carregada de signifcado por trs modos: fanopeia, melopeia e logopeia
(POUND, 1970, p. 40). A melopeia diria respeito aos efeitos snicos da
palavra. A logopeia diria respeito utilizao da palavra, pelo poema, em
contexto distinto do habitual, trabalhando com a srie de associaes in-
telectuais e emocionais (LOPES, 1995, p. 105) ou, como Pound defniria
poeticamente, a dana do intelecto entre as palavras (POUND, 1988, p.
38). Finalmente, a fanopeia seria a palavra a lanar uma imagem visual na
imaginao do leitor (POUND, 1970, p. 40). Para usar os termos propos-
tos por Pound, podemos afrmar que a segunda situao que estudaremos
aquela que diz respeito hegemonia da fanopeia na organizao do dis-
curso potico.
Tentar a compreenso do estatuto desse tipo de poesia com nfa-
se nos valores visuais tarefa imprescindvel para quem se debrua sobre a
leitura de poesia, uma vez que, ao lado dos valores especfcos da melopeia
e da logopeia (que a aproximam, respectivamente, da msica e da palavra
pensante), a fanopeia atua de forma direta como elemento constituinte do
poema, j que ela se faz presente pela srie de imagens desencadeadas pela
linguagem potica (LOPES, 1995, p. 105).
117
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Nesse ponto, cabe indagar que tipo de imagem desencadeada
pela linguagem potica (sobretudo aquelas obtidas por meio de metforas
e outras fguras comprometidas com a visualidade), pois, como bem frisa
Modesto Carone, evidente que quando se fala da imagem criada por um
poema, o que se tem em mente o efeito especfco de uma modalidade
especfca de modalidade verbal (CARONE, 1974, p. 69).
Segundo o mesmo comentador, a imagem criada por um poe-
ma funcionaria sob a seguinte forma: captada pelo olho ou pelo ouvido,
capaz de produzir no leitor vivncias de natureza visual, que no devem,
entretanto, ser confundidas com as percepes ticas de objetos do mun-
do fsico (CARONE, 1974, p. 69-70). Alm disso, enquanto imagem-sem-
-suporte ou imagem mental, a imagem potica (portanto, imagem imagi-
nada) se movimenta nos domnios do eidtico, originando disso, por sua
vez, o potencial ontolgico da palavra potica, concebida, aqui, no sentido
que lhe d Eduardo Loureno, de mediadora entre linguagem e mundo
(LOURENO, 1987, p. 61).
Obviamente, a predominncia de valores imagticos na constru-
o potica no ser caracterstica exclusiva de Cesariny, inserindo-o, an-
tes, numa longa tradio da poesia universal (considerada enquanto prtica
milenar) que tem, como um dos elementos predominantes na composio
de seu peso esttico especfco, a valorizao da imagem nos domnios da
criao potica. Metforas, smiles, analogias, etc so fguras conhecidas e
reconhecidas pelas tradies poticas mais diversas, que a elas recorrem,
incorporando-as como seu patrimnio, quando o objetivo ressaltar a po-
tncia visual da palavra potica. Isso fca bastante claro no que se refere
metfora, que, dentre as estratgias de visualidade possveis no poema,
representaria uma das formas mais livres de condicionamento e, ao mesmo
tempo, mais ricas de provocar relaes indeterminadas (e, por vezes, in-
ditas) entre os elementos que encadeiam o efeito de signifcao no poema.
Assim, a relao metafrica permite praticamente uma equivalncia entre
toda e qualquer signifcao. Este , portanto, o maior grau de abertura
possvel. Para os antigos, a metfora era a mais rica forma de linguagem
fgurada (BRANDO, 1989, p. 21).
nesse sentido que, ao propor uma fgurao, a metfora (en-
quanto ponto mximo de abertura entre as fguras de linguagem carre-
gadas de visualidade) prope ao signo verbal que se comporte como um
signo visual, pelo menos no tocante sua potncia representacional. As-
sim, pela metfora (sobretudo aquela em que a relao entre os elemen-
tos provocadores da signifcao ocorre obedecendo a um grau maior de
indeterminao), o smbolo (terceiridade) mimetiza o funcionamento de
um cone (primeiridade), efeito que obtido pela relao de semelhana
(BRANDO, 1984, p. 19) que a metfora prope para esses mesmos ele-
mentos defagradores da signifcao. No por acaso que, nos domnios
da semitica peirceana, noes como semelhana e similaridade identif-
cam a relao que existe entre o cone e o objeto representado (apud PIG-
118
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
NATARI, 2004, p. 56-57). Peirce chega mesmo a estabelecer uma catego-
ria especfca para classifcar as metforas: elas seriam hipocones (apud
PIGNATARI, 2004, p. 52), quase cones, portanto.
Ao propor um grau mximo de abertura possvel na relao entre
signo verbal e signo visual no tocante fora representacional da palavra
potica a que se seguem a abertura para a indeterminao e o descondi-
cionamento das rotinas lingusticas e ao encenar a tentativa de metamor-
fose de um smbolo num cone, a metfora tambm acena para o horizonte
utpico, embora em chave diversa daquela proposta pela kphrasis. Ela nos
lembra que, no interior das pr-programaes que defnem o repertrio
retrico ou mesmo a gramtica de uma arte, h sempre espao para a
surpresa e a inovao quesitos indispensveis para que se detecte a pre-
sena de informao esttica, e no mera redundncia no-informativa.
No se pode, ademais, esquecer o fato de que Pound atribua a essa camada
de informao visual do poema como sendo universalmente transmissvel,
sobrevivendo mesmo traduo (o que nem sempre ocorre com os valo-
res fnicos e ideolgicos do poema) da que essa camada de informa-
o gerada pelas imagens evocadas pelo poema se constituiria o elemento
mais universal de transmisso da poesia (LOPES, 1995, p. 107), e, por isso
mesmo, aquela mais indicada para a fundamentao ontolgica (LOPES,
1995, p. 107) da prpria poesia. Assim, a poesia com nfase nos valores
logopaicos acenaria para a possibilidade utpica de uma linguagem potica
universalmente transmissvel, sem perda de sua fora ontolgica por conta
das condies especfcas em que se d o processo comunicacional.
No que diz respeito a Cesariny, pelas questes envolvidas na esco-
lha por uma poesia com predominncia de valores de visualidade se revela
tambm como ele era um atento poeta-leitor, cuja obra no hesita em esta-
belecer dilogos com o que lhe parece haver de mais compatvel na tradi-
o. Disso exemplo, tambm, o uso que Cesariny faz de uma forma fxa
(o soneto em decasslabos) tida como cannica, j que se trata de forma
estabilizada, com grande rentabilidade, h sculos na poesia portuguesa:
no nenhum fm em vista justifca
esta hora de carne de compndio
de tudo o que sonhei o grito fca
em bailundos que atacam o incndio
um homem impassvel verifca
ponto por ponto o nvel da cascata
que foi de quartzo feldspato e mica
agora espanto pnis pus e pata
nem um rato que fosse nem um verme
nem um no hemiciclo sopra e geme
aqui ou no rossio ou na avenida de berne
119
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
quem deve no teme
devoremos o cherne
com dvorjak ao creme.
(CESARINY, 1980, p. 98)
Associado a certa rigidez e pr-determinao plsticas, o soneto
abordado por Cesariny, que ocasionalmente a ele se lana, numa aventura
potica em que, ao contrrio da ordem lgica da metrifcao numrica,
encontramos notvel grau de desarticulao lgica, que se surpreende pelo
inslito das imagens engendradas pelas combinaes de palavras por ve-
zes metricamente corretas, porm dotadas de difcil tangibilidade semnti-
ca. Tal soneto remete, ao mesmo tempo, aos anfguri e poesia pantagru-
lica do sculo XIX, com a diferena de que nestas a univocidade e a clareza
do sentido so suspensas em benefcio dos valores fnicos, ao passo que
em Cesariny, posto que se verifque a presena constante de jogos sonoros,
os valores plsticos so predominantes, afrmando-se, mais uma vez, sua
individualidade mesmo no quadro mais amplo da tradio. Essa predomi-
nncia dos aspectos visuais realada no poema abaixo reproduzido, onde
se acumulam a apropriao pessoal do soneto como estrutura propiciadora
de imagens inslitas com a estratgia do inventrio:
a velha que vende bananas
o velho roxo de calor
o rapaz que grita sacanas
dem-me um pouco de amor
a outra viagem por mar
o jovem que j livreiro
a camionete a esmagar
o tmulo de S-Carneiro
o sapato branco do ru
a imobilidade do rato
que roi a ala esquerda do hidro
a mo ereta contra o cu
o cu de sbito contracto
a gua a morte a mosca o vidro
(CESARINY, 1980, p. 86).
A bem da verdade, em Cesariny essa hegemonia dos valores vi-
suais se verifca no apenas nos poemas em que formas poticas tradicio-
nais so desviadas, mas ao longo de toda sua obra. Vide, por exemplo, os
poemas O prestidigitador organiza um espetculo ou a srie de poemas
breves Visualizaes:
120
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
H um piano carregado de msicas e um banco
h uma voz baixa, agradvel, ao telefone
h retalhos de um roxo muito vivo, bocados de ftas de todas as cores
h pedaos de neve de cristas agudas semelhantes s cristas de gua,
no mar
h uma cabea de mulher coroada com o ouro torrencial da sua
magnfca beleza
h o cu muito escuro
h os dois lutadores morenos e impacientes
h novos poetas sbios qumicos fsicos tirando os guardanapos do
po branco do espao
h a armada que dana para o imperador detido de ps e mos no
seu palcio
h a minha alegria incomensurvel
h o tufo que alm disso matou treze pessoas m Kiu-Siu
h funcionrios de rosto severo e a fazer perguntas em francs
h a morte dos outros minha vida
h um sol esplendente nas coisas
(CESARINY, 1980, p. 159)
suave
a vela abre
e principia
o dia
ela
que pelo azul
corta
considera e chama
outras velas irms para o claro rio
e enquanto
o cais
um enorme navio
que se nega
e no entanto cumpre
a mais estranha viagem
ela
que parte
vira
para o que abandona
um olhar de brancura
que toda matemtica
singela
da manh que a inspira
(CESARINY, 1980, p. 49)
121
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Os textos acima transcritos revelam a amplitude dos efeitos visu-
ais que podiam emergir pela palheta de Cesariny, indo do sol esplendente
ao azul matinal, atingindo cores e formas mais violentas nos poemas que
se pautam diretamente por sua experincia com o surrealismo, de cujas ati-
vidades em Portugal tomou parte como artista (assinando declaraes co-
letivas do grupo Os Surrealistas e participando da polmica I Exposio
dos Surrealistas, na sala de projeo da Path Baby, em 1949) e historiador
(com A Interveno Surrealista e Textos de afrmao e de combate do mo-
vimento surrealista). o que encontramos nos trechos abaixo, extrados de
Conto de um sbado de aleluia, Que concluir e A paisagem do relgio
branco, respectivamente:
Quem vem l?
No vale amedrontado as irms sobrepostas aceleraram o ritmo da
respirao. E, como eco do seu alvoroo inconsciente, retiniam quase em
surdina todos os instrumentos de tortura espalhados pelo campo.
Ouviu-se, ento, e sabe-se l de onde vinha, uma cano de em-
balar:
dorme dorme meu menino
dorme no mar dos sargaos
que mais vale o mar a pino
que a serpente dos meus braos
E ento a paisagem alongou-se extraordinariamente, enquanto os
cavalos-marinhos acenavam com grandes lenos vermelhos.
(CESARINY, 1980, p. 50).
De uma grande trombeta saiu a mosca a mosca do
pntano onde as cabras lavam as roupas de baixo e os
grilos tratam dos ouvidos uns dos outros. A mosca
saiu velozmente e pousou na mo que a esperava
sada. Deslizou pela mo, subiu pelo brao e foi dar
ao interior de uma vscera extraordinariamente roxa
e laboriosa. A, tirou as lunetas de vidros fumados,
limpou a testa com um leno quase to grande como
um lenol e comeou ento, s ento, a cantar a ria
Os Filhos Perdidos, grande pera italiana de Mosquito
Mosqueteiro, agora entrevado entre quatro rimas de
libretos. (CESARINY, 1980, p. 51)
a paisagem do relgio branco talvez dentro do palco
talvez fora dele penso numa janela que d para certo
jardim de trs dedos janela que s abre quando fao
um sinal de assentimento aos outros ps do imvel
passo bastante veloz entre almofadas custosas de di-
gerir, gua de seltz. fui dar grande gruta onde todo
o maquinismo respira brutalmente de encontro a um
animal que de curioso s tem os olhos uns olhos
122
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
de curiosidade. outra estranha fgura gira continua-
mente em torno de uma grande mo percorrida por
inmeros insetos de madeira. o maquinismo come-
ou a dar horas pancadas unilaterais muito sensveis
na minha perna direita que se retraiu por momentos.
um grito lindssimo nasceu na parte superior da con-
cavidade calcrea e uma rapariga graciosa apesar do
cancro que lhe roera o nariz e parte do ventre atou-se
vagarosamente ao poste e comeou a gritar tambm.
a exploso no tardou a dar-se nas minhas prprias
cadeiras. uma grande angstia tomou conta de mim e
subindo em balo encontrei uma casa de caridade p-
blica cheia de brilhos com olhos numa srie de damas
sentadas numa caixa de vidro cortical. (CESARINY,
1980. p. 80-81).
Valores plsticos e imagticos em predominncia tambm so
verifcados nos primeiros livros de poesia de Alexandre ONeill. Como sa-
lienta Clara Rocha, uma das preocupaes da potica oneilliana nada
menos que o projeto utpico de libertao total do homem e libertao
total da arte (ROCHA, 1982, p. 12) comeando esta ltima pela liberta-
o do material artstico, razo pela qual, em sua poesia, a imagem visual
tem proeminncia.
Para tanto, a potica de ONeill se apropria de forma bastante
particular de tcnicas artsticas advindas das artes visuais, como a collage
(em poemas onde reina uma diversidade de imagens ligadas por conexes
analgicas) ou mesmo a natureza morta (transmutada na forma de inven-
trios como ele intitula os poemas cujos trechos abaixo transcrevemos
em que se estabelece uma relao no-convencional entre o olhar e o dizer):
Uma palavra que se tornou perigosa
Um marinheiro dum pas amigo
Uma pobre mulher tuberculosa
E a mulher orgulhosa que persigo
A velhinha que passa de buque
Um incndio prestes a romper
E as ruas as ruas onde vi
O que ainda no sei ver
Uma praia elegante um estendal
De belos corpos dolentes
E as ltimas mentiras dum jornal
A propsito de fatos recentes
(...)
(ONEILL, 1981, p. 56)
123
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Um rudo de torneiras em plena missa
Um gato passeado pelo desejo
Uma esposa coberta de calia
Um despejo
Um congresso que dorme inaugurado
Uma condessa de sovaco triste
Um excremento muito mal logrado
Um mimo a que ningum assiste
Um repelente menino Vicente
Posto na vida s pra ter juzo
Um incisivo e solitrio dente
Carregado de riso
(...)
(ONEILL, 1981, p. 86).
Um dente doiro a rir dos panfetos
Um marido afnal ignorante
Dois corvos mesmo muito pretos
Um polcia que diz que garante
A costureira muito desgraada
Uma mquina infernal de fazer fumo
Um professor que no sabe quase nada
Um colossalmente bom aluno
Um revlver j desiludido
Uma criana doida de alegria
Um imenso tempo perdido
Um adepto da simetria
Um conde que cora ao ser condecorado
Um homem que ri de tristeza
Um amante perdido encontrado
O gafanhoto chamado surpresa
O desertor cantando no coreto
Um malandro que vem p-ante-p
Um senhor vestidssimo de preto
Um organista que perdeu a f
Um sujeito enganando os amorosos
Um cachimbo cantando a marselhesa
Dois detidos de fato perigosos
Um instantinho de beleza
124
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Um octogenrio divertido
Um menino colecionando tampas
Um congressista que diz: Eu no prossigo
Uma velha que morre a pginas tantas.
(ONEILL, 1981, p. 99).
Neste diapaso, torna-se imperioso que se procure entender
como se processam na obra de ONeill as tentativas de articulao de uma
linguagem hbrida, em que o icnico e o verbal se interpenetram.
o caso de A ampola miraculosa, experimentao com a novela
grfca e a collage. A rigor, o que se tem , mais uma vez, uma apropria-
o pessoal de tcnica tomada de emprstimo das artes visuais especif-
camente a reutilizao de materiais impressos , acrescida da insero de
uma legenda para cada uma das imagens apresentadas.
Tais legendas podem tanto iluminar a informao visual apre-
sentada, como obscurecer seu sentido, vez que o icnico e o verbal se
encontram aqui liberados do compromisso de um encontro pontual. De
qualquer forma, do conjunto das pginas se depreende uma progresso
narrativa gerada pelas imagens e pelas palavras, ainda que esta progresso
no seja de tipo linear, sendo interessante notar como se processa o algo-
ritmo desta progresso narrativa criada a partir das convergncias e das
colises entre imagem e palavra.
Para Clara Rocha, a collage tambm seria o princpio constitutivo
de poemas como O poema pouco original do medo, construdos a partir
de uma longa sequncia de imagens (ROCHA, 1982, p. 18), como se per-
cebe nos versos de abertura:
O medo vai ter tudo
pernas
ambulncias
e o luxo blindado
de alguns automveis
Vai ter olhos onde ningum os veja
mozinhas cautelosas
enredos quase inocentes
ouvidos no s nas paredes
mas tambm no cho
no teto
no murmrio dos esgotos
e talvez at (cautela!)
ouvidos nos teus ouvidos
(ONEILL, 1981, P. 143).
125
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Segundo a mesma comentadora, uma forma especfca de cola-
gem so os trechos compostos por sequncias de fashes, como por exemplo
Seios ou Mos (ROCHA, 1982, p. 18), de que reproduzimos excertos:
Quem comparou os seios que so teus
(Banal imagem) a colinas!
Com donaire, avanam os teus seios.
minha embarcao!
(...)
Seios adivinhados, entrevistos,
Jamais possudos, sempre desejados!
Oculta, pois, oculta esses objetos
Altares onde fazem sacrifcios
Quantos os vem com olhos indiscretos
Raparigas dos limes a oferecerem
Frita mais atrevida: inesperados seios...
(...)
Engolfo-me num seio at perder
Memria de quem sou...
Quantos seios devorou a guerra, quantos,
Depressa ou devagar, roubou vida,
alegria, ao amor, s gulosas
Bocas dos midos
Pouso a cabea no teu seio
E nenhum desejo me estremece a carne.
Vejo os teus seios, absortos
Sobre um pequeno ser.
(ONEILL, 1981, p. 100-104)
Certas mos ociosas como peixes
num aqurio de melancolia.
Com as duas mos apodero-me de ti,
retomo o teu corpo e com ele me entendo.
A pureza com a sua carga negra,
penosamente vou defnindo-a,
nesta mo que lano e que me precipita,
que me nega e afrma
(...)
126
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Barbeiro que com tua mo
mole
pes esse pssaro de ferro
a cantar na minha cabea,
no me fales de futebol
e com a mesma mo mole
faz-me a barba que tenho pressa!
(ONEILL, 1981, p. 107-109).
Depois de tratarmos da kphrasis e da fanopeia, resta, ainda, a
iconicizao do signo verbal.
Antes de analisarmos os textos de Alexandre ONeill que expres-
sam esse processo semitico, de bom alvitre retomar, ainda que de forma
sucinta, certos conceitos advindos das categorias propostas pelo flsofo
norte-americano Charles Sanders Peirce a partir dos quais se lastreia nossa
interpretao.
Peirce dividia os signos em cones, ndices e smbolos. Os smbo-
los seriam convenes portanto, signos com poder de lei (legissignos), a
serem chamados de terceiridade (thirdness). Os ndices relatariam uma
relao de materialidade e presena fsica (de tipo indicial, sinalizadora,
indicando) entre coisa e signo, integrando os domnios da secundidade
(secondness). Finalmente, os cones seriam o primado das formas e dos
sentimentos (primeiridade, frstness) e, assim, se constituiriam na
matria-prima dos processos semiticos defagrados pela arte (cf: PIG-
NATARI, 2004, p. 59). O que chamamos de iconicizao nada mais que
o processo de metamorfose de um signo arbitrrio e coercitivo (um legis-
signo, pertencente aos domnios da thirdness) em forma pura (um cone,
pertencente aos domnios da frstness).
Essa metamorfose representada pela srie de poemas Diver-
timento com sinais ortogrfcos, recolhida no livro Abandono vigiado, de
Alexandre ONeill.
Como propunha Adorno, em seu ensaio Sinais de pontuao
(ADORNO, 2003, p. 141-149), os sinais ortogrfcos so tanto hiergli-
fos em trnsito no interior da linguagem como marcaes visuais que nos
lembram das relaes (possveis e impossveis) entre a linguagem verbal
e seu antpoda especifcamente a msica, que, como os artes visuais, se
situa perante a literatura como alteridade. Se a palavra sempre smbolo
(portanto: conveno, coero, thirdness), o que esta srie tenta fazer o
caminho de volta, revertendo-a em ndice (secondness) e, fnalmente, em
cone (frstness, primado da imagem e do som).
Assim, no Divertimento, temos uma srie de vinte e oito poe-
mas, sendo que cada um ostenta um sinal ortogrfco e um texto.
127
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O extrato verbal deixa de impor relaes lgicas com o sinal gr-
fco e passa a estabelecer relaes analgicas, a consider-lo em seu aspecto
fsionmico ou seja: no mais como sinal que expressa uma conveno,
e sim como uma fgura. Isso ocorre, por exemplo, com o sinal grfco de
pargrafo, que lido como um cisne ou um hipocampo. O sinal de circun-
fexo lido como um chapu. O til uma sobrancelha ou uma andorinha.
Em outras ocasies, o comentrio verbal se ocupa em estabele-
cer uma relao metalingustica com o sinal grfco, no raramente pautada
pelo humor. Assim, o sinal de cedilha seria uma vrgula que decaiu de classe
social. O ponto fnal se apresenta como um tipo policial cuja funo defen-
der os textos e que, depois dele, s admite maiscula ou espao em branco.
Depois de ler o que era smbolo convencional (legissigno) como
fgura (cone), temos, portanto, um processo de resgate das camadas indi-
ciais (ndice) dos mesmos sinais ortogrfcos. E, instaurada esta instncia
metalingustica nos poemas, ela nos faz lembrar que toda produo de lin-
guagem implica em reproduo de ideologia.
assim que, com seu caracterstico humor, a potica de ONeill
provoca nos sinais ortogrfcos uma independncia lgico-semntica, des-
locando-os de sua funo mimtica original e, ao mesmo tempo, satiriza
aquilo que Adorno chama de reverncia feita pela escrita ao que ela sufoca.
assim que os sinais ortogrfcos em sua funo prosaica de reprimir
determinados comportamentos da escrita (caso do ponto fnal, que, intole-
rante, como bem frisa ONeill, s admite depois de si o espao em branco
ou a letra maiscula) revelam a dimenso coercitiva da linguagem.
Como j ressaltou Clara Rocha, a libertao do material artstico
nuclear na potica de ONeill. Por esta razo, nada mais consequente que
esta libertao dos sinais ortogrfcos, atingida mediante a iconicizao do
signo verbal.
Saliente-se que ela feita com notvel senso ldico, j que o pr-
prio jogo uma forma de reorganizao da realidade a partir de valores
outros que os da sociedade de acumulao.
De igual forma, cumpre lembrar o especial interesse que Freud
manifestou por jogos de linguagem ou ainda o fato de que, a partir da se-
gunda metade do sculo XX, se intensifcaro as investigaes no territ-
rio da psicanlise sobre as relaes entre jogo e criatividade, de que fazem
testemunho obras de Winnicott, Hanna Segall e Marion Milner. Segundo
Winnicott, o jogo tem o poder de colocar crianas e adultos num estado
de liberdade muito prximo ao da criao e, para o psicanalista ingls, o
indivduo s descobre sua persona quando se mostra criador.
Segundo Clara Rocha, uma boa parte da poesia de ONeill jogo,
e por isso provoca em ns (e provoca-nos para) um certo modo de leitura
(ROCHA, 1982, p. 18). Com a entrada em cena da lgica do jogo, temos
128
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
uma vez mais ruptura das regras, com as palavras postas em festa e com a
alegria assumida dessas palavras (ROCHA, 1982, p. 18).
Nesse ponto, mais uma vez instrutivo recorrer aos conceitos
preconizados pela semitica de Peirce, a fm de compreender melhor o que
est em questo. Ao fazer o caminho inverso da ordem semitica habitu-
al ou seja: partindo de um signo convencional (terceiridade; legissigno)
para chegar numa forma visual (primeiridade; cone), seguindo, portanto,
a ordem decrescente , os poemas ldicos de ONeill nos fazem lembrar
que a palavra potica implica descondicionamento das rotinas lingusticas.
Ao caminhar das generalizaes coercitivas (palavra em estado de chum-
bo) do legissigno rumo s possibilidades mltiplas e indeterminao do
cone j que esta ltima qualidade de signo labora no campo do possvel
e do indeterminado (PIGNATARI, 2004, p. 57) , verifca-se o retorno do
horizonte utpico j desfraldado pela kphrasis, mas agora apresentando
outra proposio: a palavra potica, carregada de uma inteno ldica (que
, em grande medida, resposta busca reiterada de um lidar com o signo
verbal enquanto meio de reencantamento do mundo), retomaria, em seu
transporte mercurial, a capacidade de descondicionar o ser, ora preso na
malha imobilizadora tramada por suas rotinas (que, em ltima instncia,
so sintoma de falsa conscincia), mesmo nos domnios da linguagem.
Desse modo, a srie Divertimento com sinais ortogrfcos, sob
a superfcie enganosa da simplicidade tcnica, reafrma a necessidade de a
poesia como toda forma de saber se conduzir alegria, enquanto gaia
cincia, provando que possvel, pelo fazer potico, reverter o curto-circui-
to conceitual gerado pela linguagem em seu modo de funcionamento pro-
saico, binrio e excludente. Se, como ensina a psicanlise, todo problema
de gozo um problema de linguagem, necessria a libertao ldica da
prpria linguagem.
Tanto o Divertimento de ONeill como a kphrasis cesarinyana
e, de modo mais amplo, a poesia em regime fanopaico, acenam para for-
mas utpicas de relacionamento da palavra com outros campos do saber
e do fazer, formas estas que reafrmam a importncia da palavra potica
enquanto forma de conhecimento e de abordagem da realidade sobre a
qual nos deslocamos e cujas manifestaes sensveis so compartilhadas
por todos os homens.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADORNO, T. W. Notas de Literatura I [Noten zur Literatur]. So Pau-
lo: Ed. 34: Duas Cidades, 2003.
ARISTTELES. Potica. Lisboa: Imprensa Nacional, 2003.
129
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
BRANDO, Roberto de Oliveira. As fguras de linguagem. So Paulo:
tica, 1989.
BUCHS, Arnaud. crire le regard. Lesthtique de la Modernit en
question. Paris: Hermann, 2010.
CARONE, Modesto. Metfora e montagem. So Paulo: Perspectiva,
1974.
CESARINY, Mario. Primavera autnoma das estradas. Lisboa: Assrio
& Alvim, 1980.
______. Vieira da Silva Arpad Szenes ou O Castelo Surrealista. Lisboa:
Assrio & Alvim, 1984.
DIDEROT, Denis. Carta sobre os surdos-mudos para uso dos que ou-
vem e falam [Lettre sur les sourds et muets lusage de ceux qui entendent et
qui parlent]. So Paulo: Nova Alexandria, 1993.
FLUSSER, Vilm. Filosofa da caixa preta. Rio de Janeiro: Relume Du-
mar, 2009.
HORCIO. Arte potica (Epistula ad Pisones). In: A Potica Clssi-
ca. So Paulo: Cultrix: EDUSP, 1981.
LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.). A pintura. Volume VII: O paralelo
das artes [La Peinture]. So Paulo: Ed. 34, 2005.
LOPES, Anchyses Jobim. Esttica e Poesia imagem, metamorfose e
tempo trgico. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1995.
LOURENO, Eduardo. Tempo e Poesia volta da literatura. Lisboa:
Relgio dgua, 1987.
LYOTARD, Jean-Franois. Discours, fgure. Paris: ditions Klinken-
sieck, 1985.
MITCHELL, W. J. T. Teora de la imagen [Picture Teory: Essays on
Verbal and Visual Representation]. Madrid: Akal, 2009.
MUHANA, Adma. Poesia, e Pintura ou Pintura, e poesia: tratado seis-
centista de Manuel Pires de Almeida. So Paulo: Edusp, 2002.
ONEILL, Alexandre. A Ampola Miraculosa. Lisboa: Assrio & Alvim,
2002.
______. Poesias Completas 1951-1981. Lisboa: Imprensa Nacional, 1982.
PAZ, Maria Jos. Figuras e fguraes. Lisboa: Assrio & Alvim, 2000.
PEIRCE, Charles Sanders Peirce. Semitica. So Paulo: Perspectiva,
1999.
130
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
POUND, Ezra. ABC da Literatura [ABC of Reading]. So Paulo: Cul-
trix, 1970.
______ . A arte da poesia ensaios escolhidos. So Paulo: Cultrix, 1988.
ROCHA, Clara. Prefcio. In: ONEILL, Alexandre. Poesias Comple-
tas 1951-1981. Lisboa: Imprensa Nacional, 1982.
WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade [Playing and reality]. Rio
de Janeiro: Imago, 1975.
Recebido para publicao em 30/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
131
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
CANDID CAMERA?
(DA PRESENA E USOS DO FOTOGRFICO
EM ALGUMA POESIA
PORTUGUESA CONTEMPORNEA)
Paulo Alexandre Pereira
(Universidade de Aveiro Portugal)
RESUMO
No presente artigo, examina-se a presena e funcionalidade do paradigma
fotogrfco em alguma poesia portuguesa contempornea, procurando-se
ilustrar a diversidade das suas incidncias ideotemticas e das estratgias
de composio potica que com ele se conexionam.
PALAVRAS-CHAVE: fotografa; poesia portuguesa contempornea;
cfrase.
ABSTRACT
Tis article aims to examine the presence and functions of the photogra-
phic paradigm in some Portuguese contemporary poetry, so as to shed
some light both on its thematic diversity and on the strategies of poetic
composition encompassed by it.
KEYWORDS: photography; Portuguese contemporary poetry; ekphrasis
132
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
1.
Depois de, no decurso do seu ensaio sobre A novssima poesia
portuguesa e a experincia esttica contempornea, sublinhar a omnipre-
sena generalizada de pixels precipitada pela infao contempornea de
imagens na desnorteante iconosfera contempornea, Lus Carmelo regis-
ta, nos seguintes termos, o recuo da inscrio do paradigma fotogrfco
na recente poesia portuguesa: A contemporaneidade digital j quase no
permite a existncia de formas verosmeis e tradicionais de imagem, como,
por exemplo, a fotografa. Hoje em dia, fotografar quase s j suspender
o fuxo ininterrupto de imagens que atravessa a globalizada rede das redes
(CARMELO, 2005, p. 115). E, um pouco adiante, acrescenta:
Isto signifca que a poesia contempornea portuguesa
como outras poesias do nosso tempo acompanha
a contemporaneidade, certo, mas, ao mesmo tempo,
tambm dela se distancia com a mesma compaixo
existencial que a fotografa no digital a da revelao
na cmara-escura, a da antiga photogenie fantasmti-
ca demonstra nos nossos dias. Este ideal de ante-
cmara sobrevivente um dos requisitos de alguma
arte (quase neo-utpica que ainda vai subsistindo ao
lado da esteticizao generalizada e hipertecnolgica
do globrio. (CARMELO, 2005, p. 116)
Ora, um sobrevoo mesmo desprevenido por alguma poesia con-
tempornea parece antes substanciar a suspeita de que, a contracorrente da
hegemonia do digital, esse ideal de antecmara generalizada, reconduz-
vel a uma subsistente herana analgico-fotogrfca, continua a inscrever-
-se, num continuum ininterrupto e multmodo, na criao lrica contempo-
rnea
1
. Pretendo, pois, demonstrar, no presente ensaio, como essa presena
axial do imaginrio fotogrfco
2
excede, em muitos casos, o plano da estrita
tematizao, instituindo-se como rendoso dispositivo formalizante do pr-
prio fazer potico, com signifcativas repercusses tanto ao nvel da sobre-
determinao de sentido, como da dispositio textual. No ser redundante,
tambm neste contexto, relembrar, com Susan Sontag, que as fotografas
fundam () a grammar and, even more importantly, an ethics of seeing
(SONTAG, 2008, p. 3), porquanto se tratar aqui de dilucidar os contornos
do que poderia, ainda tentativamente, designar-se como uma epistemolo-
gia potica do fotogrfco.
Esclareo, desde logo, que o corpus potico a analisar, coesionado
em torno da inscrio plurifuncional do fotogrfco em cotexto lrico, no
obedece a outro critrio que no o da estrita convenincia ilustrativa, de-
correndo, alm disso, da convocao de um critrio supletivo assumida-
mente lbil, mas operatrio para o que aqui me ocupa de contemporneo,
recobrindo um arco temporal que se estende de Ruy Belo a Pedro Mexia. Se
insisto neste aspeto porque pretendo deixar claro que a aproximao da
versatilidade retrico-imaginria do topos fotopotico que aqui se ensaia
133
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
no tem em vista uma caracterizao transversal da poiesis singular de ne-
nhum dos autores considerados, nem a prospeo diacrnica de constantes
periodolgicas, embora possa, colateralmente, ajudar a esclarec-las.
2.
No parece surpreendente que o elenco de poemas selecionado,
por neles explicitamente se encontrarem textualizadas as possibilidades e
limites do dilogo transmedial com o fotogrfco, apresentem entre si a
afnidade acrescida de concederem particular destaque temtico a questes
de poiesis, sobretudo as que se prendem com a representao e a memria.
As homologias entre a focalizao lrica do mundo e a (falsa) transparncia
do olhar fotogrfco tm, alis, sido insistentemente salientadas, em par-
ticular no contexto das poticas modernistas. Anne Reverseau observa, a
este respeito, que lpoque moderniste, la notion de regard et linfuence
de la photographie vont de pair avec le retour de la question de la ralit
et de la mimesis en posie (REVERSEAU, 2008, s.p.). E Susan Sontag, de-
tendo-se ainda na linhagem potica modernista, acentua o que nela parece
acerc-la da tica-esttica do olhar intensivo preceituada pela fotografa:
Poetrys commitment to concreteness and to the auto-
nomy of the poems language parallels photographys
commitment to pure seeing. Both imply disconti-
nuity, disarticulated forms and compensatory unity:
wrenching things from their context (to see them in a
fresh way), bringing things together elliptically, accor-
ding to the imperious but ofen arbitrary demands of
subjectivity. (SONTAG, 2008, p. 96)
Desenvolvido a partir da oscilao pendular entre pictoralismo
e deriva subjetiva tambm neste caso, imperiosa e arbitrria , o poe-
ma Solene saudao a uma fotografa, de Ruy Belo, parece-me constituir
modelar ilustrao das palavras da ensasta de On Photography. Escandido
ao ritmo do regime diferenciado da anfora (GUSMO, 2010, p. 431),
numa tenso produtiva entre discursividade e visualidade, o texto de Ruy
Belo articula-se como uma elegia distendida, sob a forma de nostlgica
evocao de uma fgura feminina que a descoberta inopinada de uma fo-
tografa ali perdida na fotografa/ entre diapositivos e agendas caixas de
comprimidos/ botes de punho livros algodo sobre a mesa-de-cabeceira
(BELO, 2000, p. 322) faz defagrar: E de novo de sbito a helena viva
aqui nesta fotografa (BELO, 2000, p. 320). Neste incipit pode ler-se uma
espcie de cena potica primitiva que inmeros textos lricos de incidncia
fotoimaginria iro insistentemente retextualizar. Neste ncleo generativo
ter que incluir-se o motivo tpico da fotografa acidentalmente descoberta
por entre papis avulsos, objet trouv cataltico, de ntido valor lrico-in-
ceptivo. Em virtude do seu punctum interpelante, a fotografa, de presena
assdua nesta mise-en-scne preambular, constitui, para a instncia focali-
zadora, um irresistvel catalisador mnsico, desencadeando a ars memora-
134
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
tiva e marcando o compasso reminiscente e digressivo do texto. No poema
de Ruy Belo, esse diaporama ntimo, pontuado de fuxos e refuxos da me-
mria e declinado segundo uma arbitrria gramtica associativa, vai de par
com a fco de desmolduramento que funda o poema: com efeito, mesmo
ausente, a fgura de helena encontra-se viva aqui numa fotografa, como
se a dinmica presentifcadora e o factcio represamento do tempo por ela
propiciados lhe permitissem, por instantes, exorbitar a moldura e sair do
labirinto desse vero onde a deixei (BELO, 2000, p. 321). Porque, pela mo-
bilizao desse efeito de desenquadramento, se d a ver a fgura feminina
provisoriamente rediviva aos olhos do observador, a fotografa anima-se
para retratar a mulher coisa mudvel, nas suas cambiantes fsionmicas
e emocionais. No acidental que a convocao decetiva de um tempo
detergente que nos lava que nos leva contra cuja socializada opresso
se recorta a imagem incorrompida de uma helena natural assuma uma
colorao elegaca que, na discreta disforia subliminar do poema, se abate
sobre toda a morte implcita no tempo (BELO, 2000, p. 320).
Consciente do impulso degradador que preside a toda a tempora-
lidade, no deixa o poeta-fotgrafo de, no duplo analgico de uma helena
viva, pressentir o regresso do morto anunciado por Roland Barthes:
E aquele ou aquilo que fotografado o alvo, o refe-
rente, uma espcie de pequeno simulacro, de eidlon
emitido pelo objecto, a que poderia muito bem cha-
mar-se o Spectrum da Fotografa, porque esta palavra
conserva, atravs da raiz, uma relao com o espe-
tculo e acrescenta-lhe essa coisa um pouco terrvel
que existe em toda a fotografa: o regresso do morto.
(BARTHES, 2010, p. 17)
Como muito justamente assinalou j Pedro Serra, a propsito da
aliana de imaginao fotogrfca e experincia da temporalidade na po-
tica de Ruy Belo, o tempo que essencialmente alterizante agente da
sua constante destruio. Por outras palavras, se no tempo as coisas e os
seres exibem a sua mortalidade, na palavra fotogrfca contrapem-se a
esta lgica mortal (SERRA, 2004, p. 93)
3
. Nos interstcios da rememorao
jubilatria de um passado que, por semelhana com a personagem evo-
cada, se descobre, cada vez mais, defnitivamente ausente, inacessvel
e inexpugnvel (BELO, 2000, p. 321), em Solene saudao a uma foto-
grafa intromete-se j a experincia aportica do tempo fotogrfco que
mumifca o passado numa imobilidade amorosa ou fnebre, no prprio
seio do mundo em movimento (BARTHES, 2010, p. 13).
Tambm em Um Vero Quente, de Fernando Lus Sampaio, a
qualidade cintica da fotografa em metamorfose (onde, muito cinemato-
grafcamente, o leno/ de uma brancura galopante/ comea a desapare-
cer) subverte a inalterabilidade do registo, tambm ele submetido lei
irreversvel da desmemria:
135
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
H uma fotografa em que ests
triste, o dourado dos anos desmaiado,
em Madrid, suponho que no inverno. ()
Na fotografa, ainda triste, o leno
de uma brancura galopante
comea a desaparecer. (SAMPAIO, 2000, p. 46)
A um tempo vitria do efmero e momento mori
4
, hino e elegia,
phantasma e vestigium, a fotografa suspende o instante, intimando para-
doxalmente, nessa preenso imobilizadora, a sua mortalidade. Ora, jus-
tamente este paradoxo que justifca a persistente investigao potica da
fratura pressentida entre o momento pregnante do kairos fotogrfco e os
efeitos do tempo erosivo e corruptor, numa refontalizao dos loci clssi-
cos do tempus fugit e do mundus senescit, em torno dos quais se aglomera
um amplo repertrio de metforas de decomposio e desgaste. o que
acontece, por exemplo, no texto Quase luz nenhuma de Al Berto, integra-
do na srie potica dedicada ao fotgrafo Paulo Nozolino, onde se ratifca
que em todos os retratos haver um rastro de ferrugem/ porque a demora
corri o olhar e se confessa o receio/ de mais tarde olhar as fotografas e
j no sentir/ pulsar no papel vida nenhuma (AL BERTO, 1991, p. 320),
assim como em versos colhidos numa das sequncias de Rumor dos Fo-
gos: o mundo que te rodeou continua inaudvel e perdido/ apodrece nas
fotografas arrumadas dentro da gaveta/ debaixo da roupa arrumada (AL
BERTO, 1991, p. 332). Essa cumplicidade ingnita de memria (fotogr-
fca) e fotografa (mnsica) e , precisamente, ela que explica que, no
arquivo experiencial privado, se deposite, em verso magnifcada, aquilo
de que a fotografa constitui um simulacro em tom menor aparece tema-
tizada, com contornos de programa potico, em Cmara Escura, de Ana
Lusa Amaral:
So assim as memrias:
coisas cheirando a sol,
outras a morte,
algumas a pequenos sons metlicos
que convm afnar []
Cofre guardado muito mais que em cor,
velocidade em teor
do universo,
de preciso to mais
que a fotografa.
(AMARAL, 2005, p. 265)
136
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A tentativa de captura paralisante do momento subjacente ao ato
fotogrfco e o seu gesto inaugural de stasis apropriadora aproximam-na,
como notou R. Barthes, do tableau vivant: Na Fotografa, a imobilizao
do Tempo s se apresenta de um modo excessivo, monstruoso: o Tempo
sustido (da a relao com o Quadro vivo, cujo prottipo mtico o ador-
mecimento da Bela Adormecida [BARTHES, 2010, p. 101]). Por isso, o
seu empenho reifcante invariavelmente assombrado pela intimao es-
pectral do que j no . Dito de outro modo, no gesto de musealizao
privada que a fotografa supe e na gramtica da pose que a regula
5
torna-
-se inteligvel no tanto a remanescncia, mas, de modo mais conspcuo,
a irrecuperabilidade de um passado cristalizado em verso lioflizada. No
poema Sorrisos, de Ana Lusa Amaral, embora a imunidade ao tempo
erodente parea protelar o insustvel desvanecimento do que um dia foi
experincia eufrica, torna-se iniludvel que a suspensa hibernao fo-
togrfca apenas dela consegue devolver um resto precrio e empobrecido,
como alis no deixa de insinuar a prodigiosa metfora por isso, tambm
oximoro que remata o texto e por meio de cuja lapidar conciso se defne
a fotografa como um comovido glaciar de luz:
O sorriso
retido por fotografa:
esse ponto cadente
em que msculos mil fazem rodar
velocidade mnima de estrela:
a boca, a face, o canto
do olhar ()
O lao para sempre
inviolado
que se retm numa fotografa:
imune a tempo,
velocidade mxima da vida,
ao julgado infnito
desamor
Suspensa hibernao
do ponto que foi
estrela,
do canto do olhar que foi
cano maior:
um comovido glaciar
de luz (AMARAL, 2005, p. 130)
137
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ainda a funda consubstancialidade entre fotografa e fnitude
que, no poema Fotografa de Nuno Jdice, polariza a meditao lrica
dinamizada pela contemplao de um nu sulfuroso de arget (JDICE,
2010, p. 119)
6
. O sumrio segmento ecfrstico que inicia o poema onde,
em registo de sereno pictoralismo replicativo, se esboa a descriptio da fgu-
ra feminina logo se ramifca em atalhos flosfco-indagativos que, com
efeito, constituem o seu real centro de gravitao semntica. Revelam-se,
pois, neste contexto, especialmente pertinentes as palavras de R. Barthes,
quando argumenta que no fundo, a Fotografa subversiva no quando
assusta, perturba ou at estigmatiza, mas quando pensativa (BARTHES,
2010, p. 47). Neste caso, em rigor, o estmulo fotogrfco no disponibili-
za um rastilho ecfrico ou um pretexto instrumental para uma expedio
arqueolgica pelo passado. , antes, na especulao desenvolvida a partir
da cenografa contemplada (ou, talvez melhor, para alm dela) designa-
damente a plausibilidade de aquela/ mulher, hoje, no passa[r] de cinza
nalgum canto/ de cemitrio de provncia (JDICE, 2010, p. 119) que se
ir fazer entroncar a coda decetiva onde se glosa a efemeridade da vida. En-
quanto emanao do referente (BARTHES, 2010, p. 91), a contemplao
da fotografa impulsiona, no poema de Nuno Jdice, um movimento cen-
trpeto de recuo introspetivo, devolvendo o sujeito conscincia inquie-
tante da sua prpria mortalidade e, por essa via, refratando a sua natureza
contingente e temporal. Essa dinmica de recentramento ntimo encontra
a sua concreo fgurativa na evanescncia da spia que dissolve o sorriso
da mulher que se esbate com/ essa espcie de nvoa com que o tempo en-
volve/ as fotografas antigas (JDICE, 2010, p. 119), num evidente reenvio
para a fragilizao do poder referencial da fotografa. Ao dizer a nudez que
desafa a morte, o sujeito diz da sua prpria nudez perante a morte, num
jogo de comutao fenomenolgica entre observador e coisa observada,
em funo do qual, partindo do silncio eloquente da fotografa, se instau-
ra uma dialtica projetiva de alterizao e ipseidade. Se todo o retrato um
autorretrato, tambm o fotgrafo se transforma, at certo ponto, na coisa
fotografada. Talvez por isso, nos poemas em que o sujeito se encontra im-
plicado na observao de fotografas, o gesto contemplativo coexista, com
sintomtica constncia, com a enunciao de um pathos melanclico que
parece transcorrer de uma difusa sensao de epigonismo ou da suspeita
de ser chegado o tempo do p, como se pode ler em Retrato, de Jos
Agostinho Baptista:
Neste retrato eras tu e no poderia ser eu?
com o tempo por cima, a passar impiedosamente,
o tempo do declnio, o tempo do p,
tudo o que hoje se comprime nesta moldura de
prata,
ao centro da mesa tristemente. (BAPTISTA, 2000, p. 599)
138
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Desta mesma retrica de epicdio participa o microrrelato
7
de re-
corte elegaco desenvolvido em Um retrato dos meus tios Pedro e Joo na
parede da sala, de Pedro Mexia. O ttulo do poema evoca, por transparente
catfora, a contemplao ritual de um desses altares domsticos
8
(ROSA,
2008, p. 14) onde se encontram expostas fotografas familiares de ocasio
e permite antecipar o arranjo memorial das experincias nele arquivadas.
Tambm aqui, a inspeo comovida e desesperanada dos efeitos dissol-
ventes do tempo e da inevitvel desfocagem por ele ditada se inscrevem
na materialidade pictrica do retrato que tem o tom spia dos retratos
de ento e [se] esboroa, de p e cal, como a parede (MEXIA, 2011, p.
44). A intuio lcida dessa vertigem de desagregao que, em qualquer
caso, no obsta ao confronto iluminante do observador com um tempo de
revelao autobiogrfca , paradoxalmente, amparada pela recomposi-
o quase microrrealista de um quotidiano trivial que, a distncia, ajuda a
escandir um tempo que se sabe irremediavelmente extinto:
H outras fotografas onde esto juntos, mas nesta
so crianas, e sendo crianas
como se no fossem diferentes,
como se tivssemos todos veraneado juntos na Figueira,
onde a gua fria e o mar est muito ao fundo da praia,
e as famlias se podem sucessivamente
repetir, gerao aps gerao, conhecendo-se
e passeando um pouco depois do jantar.
(MEXIA, 2011, p. 44-45)
Conexamente, o olhar transfgurante do observador opera uma
espcie de trucagem mental da fotografa familiar, reconfgurando imagi-
nativamente a substncia detica da imagem pela instituio de uma iluso
de vivido. Este olhar desfuncionaliza, deste modo, o que Barthes, a pro-
psito da referncia fotogrfca, designa como o noema da fotografa:
Chamo referente fotogrfco no coisa facultativamente real para que
remete uma imagem ou um signo, mas coisa necessariamente real que
foi colocada diante da objectiva sem a qual no haveria fotografa. () O
nome do noema da Fotografa ser ento Isto-foi ou, ainda, o Inacessvel
(BARTHES, 2010, p. 87). Ora, parece-me ser luz deste deslocamento do
que foi para o que podia ter sido que pode interpretar-se a fotografa ap-
crifa, retocada in mente pelo sujeito, que, na fotografa real que, com efeito,
observa, decide extemporaneamente intrometer-se: Tenho uma fotografa
com ele/ e penso que se calhar estou com ele na fotografa como/ se fsse-
mos da mesma idade e estivssemos/ na Figueira de 1930, e a ideia magoa
tanto/ que perde toda a possibilidade de ser jubilosa; O retrato do meu
tio Joo e do meu tio Pedro/ que est na parede da sala representa a hip-
tese/ de estarmos no retrato que, apesar disso,/ nos escapa infnitamente
(MEXIA, 2011, p. 45)
9
. Estes versos poderiam, assim, entender-se como
139
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
exemplar contraparte lrica das consideraes expendidas por R. Barthes,
quando examina o presumvel ethos nostlgico da fotografa. Para o autor
de A cmara clara,
A Fotografa no diz (forosamente) aquilo que j no
, mas apenas e de certeza aquilo que nunca foi. Esta
subtileza decisiva. Diante de uma foto, a conscincia
no segue necessariamente a via nostlgica da recor-
dao (quantas fotografas no esto fora do tempo
individual), mas, para toda a fotografa existente no
mundo, a via da certeza: a essncia da Fotografa ra-
tifcar aquilo que representa. (BARTHES, 2010, p. 95).
Essa impregnao melanclica da silente superfcie fotogrfca
10
,
tornada inadivel pela necessidade desesperada/ de ler coisas neste retra-
to, para que ele no emudea/ de vez (MEXIA, 2011, p. 45)
11
, no ignora
os processos de framing e de recorte que enformam a sintaxe fotogrfca.
No transcurso dos seus ensaios sobre fotografa, Susan Sontag lembra que
the photograph is a thin slice of space as well as time, acrescentando que
in a world ruled by photographic images, all borders (framing) seem ar-
bitrary (SONTAG, 2008, p. 22) e desse dispositivo de editing visual revela
apurado entendimento o sujeito potico no texto de Pedro Mexia, que bem
sabe que a objetiva da cmara, absolutamente indiferente ao que fotografa,
condiciona a composio seletiva e fragmentria do vivido, a partir da qual
apenas pode pressentir-se a ausncia fantasmtica do irrepresentado:
o fotgrafo certamente faz gestos, diz coisas,
mas isso est para l da fotografa, e nunca se h-de saber.
No ter fcado tudo perdido como o gesto do fotgrafo,
como a sua voz pedindo o sorriso, olh passarinho,
no tempo da exposio a que tem de seguir-se,
mais cedo ou mais tarde, o da revelao?
(MEXIA, 2011, p. 44)
Parece, portanto, indiscutvel que, para o poeta-fotgrafo que se
autorrepresenta como colecionador de imagens e emoes, a estenografa
visual (SONTAG, 2008, p. 48) da fotografa tende, por transporte deti-
co, a reativar um thesaurus afetivo e experiencial mais ou menos distante,
mas, em qualquer caso, subsumvel sua histria passada. Por vezes, con-
tudo, este tropismo regressivo do fotograma lrico parece inseparvel de
uma representao topicalizada do tempo, desenhando-se ento uma car-
tografa lrica, afetiva ou simbolicamente tonalizada, sem contudo rasurar
a sua funda radicao temporal. No poema Me and my brother, de Jos
Tolentino Mendona, a reconstituio do crontopo da infncia, impulsio-
nada pela observao da fotografa, no prescinde do mapeamento lrico
dos lugares diletos desse tempo arcaico, conjugando-o com a recuperao
estilizada da tradio retrica do ubi sunt:
140
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Percorria os lugares daquela fotografa
a muralha de silvas, a quinta reencontrada
os fnais de ano
e aquilo que depois no est
onde antes existiu
tinha esquecido para que serve
a infncia (MENDONA, 2006, p. 127)
Singularmente discorde desta orquestrao nostlgica, o poema
Anteviso, de Fernando Pinto do Amaral amplia, vertendo-a no molde
da quadra pseudopopularizante, a isotopia da alma como imperfeita c-
mara escura, nela se revelando no a autobiografa residual do vivido, mas
as cenas/ de uma vida futura (AMARAL, 2000, p. 487). Esta projeo,
em fashforward, de pelculas imaginrias engendra, como o prprio su-
jeito lrico bem reconhece, Fotografas no avesso/ da conscincia fugidia,
que se sucedem num ecr de utpica e desejante idealidade, onde parece
entreouvir-se a tutelar convico pessoana de que essa coisa que linda:
Fotografas no avesso
da conscincia fugidia
ho-de exigir-nos o seu preo
para a melancolia,
mas to bom fcar a v-las
dentro de ns num cu fctcio
onde cintilam as estrelas
desse puro artifcio
iluminando a nossa treva
com a estranha luz de um sobressalto
e talvez isso que nos leva
a um lugar mais alto. (AMARAL, 2000, p. 487)
Noutros textos, que conformam sumrias alegorias de alcan-
ce metapotico, o referente fotogrfco converte-se em ersatz do ato de
criao, ajudando a esclarecer, por prolongamento especular ou diferena
contrapontstica, a gnese do poema. Em Leica, de Al Berto, a homolo-
gia, desde logo prefgurada pela escolha titular, entre os universos da es-
crita e da fotografa traduz-se na equivalncia funcional entre os cdigos
da palavra e da luz, tornando claro o intencional aceno metalingustico
memria etimolgica da fotografa como escrita de luz: preciso muito
pouca luz para defnir um rosto/ poucas palavras para que o fascnio des-
se segundo/ torne possvel dormir dentro da mquina fotogrfca (AL
BERTO, 1991, p. 322)
141
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Em Fotografa de mulher num molhe, de Nuno Jdice, a inter-
rogao autorrefexiva sobre a matria-prima do poema O vocabulrio
da experincia constri o poema,/ pedra a pedra, somando o que se diz que
a vida/ ao que dela dizemos (JDICE, 2006, p. 80) evoca, por analogia,
a silenciosa completude da fotografa. A impossibilidade de ingerncia do
poeta no heterocosmos visual da eloquens pictura sendo, portanto, inca-
paz de transform-la duplica, em negativo, o aleatrio devir do poema:
Eu diria que, entre a mulher e o bosque, correm/ as guas do poema. No
sei dizer de onde/ vem o seu curso, nem qual o esturio em que/ desagua
() (JDICE, 2006, p. 80).
3.
Tambm no plano retrico-processual, estas fotografas verbais
tornam patente, pelo recurso a estratgias formalizantes ou particulares
rasgos de dico, o seu estatuto semitico transicional. Antes de mais,
como j antes se acentuou, so pedidos de emprstimo sintaxe fotogrf-
ca os dispositivos poticos de edio
12
focagem e enquadramento quase
sempre inseparveis da modalizao dubitativa que pontua a evocao. Ao
efeito-moldura que, no mbil fotogrfco, procura um enquadramento
fccional fundador da descrio aliam-se, assim, os procedimentos de
desfocagem por intermdio dos quais se mimetiza a falibilidade da me-
mria. O topos da desfocagem a que no ser estranha uma predileo
fn-de-sicle pelo evanescente e pelo difuso deteta-se, por exemplo, em
inmeros textos de Nuno Jdice, em que a legibilidade visual das fotogra-
fas se afgura incerta ou at conjetural. Ilustro com versos colhidos em
Retrato de adolescente (de Cartografa de Emoes) e Fotografa branca
(de As coisas mais simples):
() A fotografa em que estou
contigo, e onde ests desfocada com o
fumo e a luz fraca do candeeiro de cima,
ainda me traz a tua inquietao: um outro
sinal da poca. (Jdice, 2001, p. 148)
() tu, sentada
mesa, para que eu te pudesse fxar
com a nitidez do fotgrafo, olhas-me,
como se eu estivesse tua frente; e
o teu olhar apaga o tempo e a distncia,
desfocando a imagem, como se o fumo
do cigarro te envolvesse o rosto, e
te trouxesse de volta a mim, como
nuvem, ou sonho, que o vento dissipa. (JDICE, 2006, p. 27)
142
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Em fotografa, de Vasco Graa Moura, a runa material do regis-
to fotogrfco formulada em termos que parecem reminiscentes do fan-
tstico retrato do Dorian Grey wildeano constitui o correlativo objetivo
do escoamento da energia ertica, transposto para a imagem sem disfarce
de quem outrora se amou. a imagem a apagar-se que a fotografa, des-
maiada e corroda pela luminosidade excessiva, agora devolve:
no s na fotografa
a tua imagem a apagar-se:
muito mais o que eu no via
e surge agora sem disfarce.
a sombra alastra. Principia
cada feio a evaporar-se
porque a emulso j se arrepia
na cor a deteriorar-se
da muita luz que lhe sobrou
destemperadamente rude,
como um excesso desse agosto. (MOURA, 2000, p. 19)
Embora, em alguns destes textos, a fotocomposio potica se
encontre fagrantemente prxima do paisagismo impressionista ou da plas-
ticidade esttica da natureza morta, no raro que neles afore uma consis-
tente narratividade, subsumvel tanto vontade efabulatria instigada pela
contemplao da fotografa nica e irrepetvel, como sua colagem serial
num lbum cuja sintaxe aditiva permite recompor um descontnuo rela-
to fotobiogrfco. Concatenadas no lbum, as fotografas consubstanciam
parcelas biogrfcas que, em inesperada coligao, permitem retraar uma
intermitente histria de vida pessoal ou familiar, sempre mediada pelo in-
consciente tico (BENJAMIN, 2000, p. 301)
13
do seu autor.
em sintonia com essa disposio de fotomontagem surrealizan-
te alis, como sustenta Susan Sontag, any collection of photographs is an
exercise in Surrealist montage and the Surrealist abbreviation of history
(SONTAG, 2008, p. 68)
14
que, no poema lbum de Famlia, de Luiza
Neto Jorge, so intimadas as fguras do crculo familiar, de acordo com uma
progresso paratctica de desfle que simula a observao sequencial das
fotografas de um lbum. Nelas reconhece o sujeito as personagens que po-
voaram essa infncia arcaica (GUSMO, 2010, p. 470) que, a propsito
de um outro verso da autora, refere Manuel Gusmo: Reconheo a me
(JORGE, 2001, p. 71); Reconheo o pai (JORGE, 2001, p. 72); E os avs
so reis (JORGE, 2001, p. 71). A opacidade referencial do texto de Luiza
Neto Jorge, cuja lgica signifcante se desdobra ao ritmo de um fuxo imagi-
nstico automtico, de inspirao surrealista, aliada justaposio convul-
siva de imagens em complexas redes analgicas, geradas, por exemplo, por
143
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
relaes paronmicas (MARTELO, 2004, p. 167) v.g. a sequncia cava,
cova, escava , tornam improdutiva qualquer tentativa de recomposi-
o linear de uma crnica de famlia. A desfamiliarizao do real
15
, para a
qual concorrem tanto o estranhamento semntico como o deslassamento
do tecido textual, no torna, contudo, irreconhecveis as linhas isotpicas
j antes rastreadas e conexionveis com a inscrio potica do paradigma
fotogrfco, designadamente a refexo sobre a usura do tempo e a ao
desvirtuante da memria ou a instabilizao da verdade referencial da foto-
grafa. Sucedendo-se em entomolgico cortejo no lbum, os antepassados
parecem, paradoxalmente, mais antigos/ mortos do que ns/ mais vivos
mais ss (JORGE, 2001, p. 72). Por outro lado, nesse exerccio paroxstico
e quase abjecionista de exumao dos espetros familiares, o poema amplia
obsessivamente um ncleo simblico-imagstico que conota os processos
de desvanecimento, decomposio e descolorao das fotografas:
O que resta hoje
o pouco o quase o fosco
relmpago de um pescoo
O lbum desfazia-se
porque um bicho o roa
com a famlia engrossava
da carne outra famlia ()
O lbum tingiu da cor
que no longe no difere
muito da baba do bicho
ou do sangue da mulher (JORGE, 2001, p. 73-74).
4.
Noutros casos, a relao entre texto fotogrfco e texto potico
de natureza assumidamente ecfrstica, como acontece com as sequn-
cias Fragmentos de um discurso contemplativo, de Fernando Pinto do
Amaral, ou giraldomachias. onze poemas e um labirinto sobre fotografas
de grard castelo-lopes, de Vasco Graa Moura. No primeiro caso, o clin
doeil barthesiano do ttulo preludia o que, nos poemas conglutinados em
polptico, pressupe uma lgica sinttica decalcada da dcoupage visual. A
epgrafe de Yves Bonnefoy adverte para o falso jogo mimtico concitado
pelo registo fotogrfco que, mesmo quando adota a mscara ilusoriamente
translcida de espelho do mundo, no deixa de ceder tentao de trans-
fgurao onrica ou subjetiva. A leitura do conjunto permite compreender
at que ponto esta epgrafe constitui uma carta de intenes potica. Com
efeito, embora os ttulos dos poemas reenviem, sem exceo, para nomes
de fotgrafos clebres, sobretudo nos domnios da moda ou do star system
de Hollywood
16
Gregory Heisler, Steven Meisel, Mathew Rolston, An-
144
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
drew MacPherson, Firooz Zahedi , em nenhum deles se torna inequvoca
a relao ecfrstica com um antetexto fotogrfco singular o que explica,
alis, no volume da Poesia Reunida, a ausncia das fotografas de que, su-
postamente, eles constituiriam a legenda verbal. A atenuao da relao de
ancilaridade intersemitica entre texto fotogrfco e texto verbal traduz-se,
neste caso, na superao do estrito pictoralismo que caracteriza a ekphrasis
descritiva e na ntida opo pelas suas modalidades interpretativa e dram-
tica
17
. Em Steven Meisel II, por exemplo, a praeteritio do pictoralismo
justifcada pelo fracasso previsvel de todo o empreendimento descritivo,
numa formulao onde parece ecoar a tpica clssica da competio inte-
rartes (paragone):
Voltil, o teu rosto
concentra-se por vezes sob o peso
imaterial das pginas: envoltas
pelos geis cabelos que futuam
frgeis, as linhas
da face recomeam a traar
o mais perfeito mapa descrev-lo
s valeria a pena se a linguagem
pudesse atravessar a nitidez
do papel, o seu brilho ()
(AMARAL, 2000, p. 303)
Os poemas de Fernando Pinto do Amaral documentam, assim,
muito para alm da inteno mimtico-replicativa do referente visual que
convencionalmente informa a retrica da ekphrasis, a interlocuo criativa
do observador com aquelas que so as suas afnidades eletivas fotogrf-
cas
18
, num fenmeno de nivelamento voyeuristico do real j salientado por
Susan Sontag que lembra que taking photographs has set up a chronic
voyeuristic relation to the world which levels the meaning of all events
(SONTAG, 2008, p. 11). Essa vocao interlocutiva encontra, alis, a sua
expresso funcional no modelo elocutrio que predomina nos poemas, in-
variavelmente marcados pela intensidade performativa do dilogo in ab-
sentia que o sujeito entabula com o tu-protagonista da fco fotogrfca:
Sempre me interroguei porque te agrada
vestir de vez em quando algumas roupas
do outro sexo: o que da resulta
no um ar andrgino, mas sim
uma secreta dvida que voa
e foge e rodopia sobre ti,
como se at a pose bem estudada
para a fotografa
no conseguisse aprisionar o caos.
(AMARAL, 2000, p. 304)
145
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Embora se trate ainda de escrita ecfrstica, As Giraldomachias,
de Vasco Graa Moura, colocam questes de natureza interpretativa subs-
tancialmente distintas. Com efeito, os poemas foram compostos no mbito
de um projeto anterior de colaborao com o fotgrafo Grard Castello-
-Lopes, convidado pelo poeta a evocar ou ecoar em imagens, os temas,
o clima, os leit-motiv ou as obsesses (CASTELLO-LOPES & MOURA,
2000, p. 114) da sua obra. Na sequncia do repto que lhe foi lanado por
Graa Moura, props o fotgrafo que fosse, num segundo momento, o po-
eta a compor textos sobre fotografas suas. Este exerccio consistiria, como
argumenta Grard Castello-Lopes, na
() interpretao de uma interpretao ou, em ter-
mos matemticos, numa segunda derivada: o poeta
interpreta uma realidade no seu poema, o fotgrafo
interpreta o poema e d-lhe uma realidade visual
que, mesmo sem ser exactamente justaponvel que
exprime o poeta, poder (dever?) ter com ela, um ar
de famlia. Tudo est em tudo. (CASTELLO-LOPES
& MOURA, 2000, p. 114-115)
As variaes poticas de Graa Moura sobre as imagens de G-
rard Castello-Lopes que, no volume da sua poesia, aparecem injustif-
cadamente amputadas das fotografas que, na edio original, as acom-
panhavam so, assumidamente, interpretao de uma interpretao,
mantendo, contudo, com o texto icnico matricial uma relao de estreita
cumplicidade. Sem deixarem de recuperar poeticamente o universo de-
tico das imagens que as acompanham delas resgatando pessoas, objetos
ou paisagens, at com expressa indicao toponmica , as giraldomachias
expandem, de forma rendosa, o capital semntico das imagines agentes de
que partem, seja pela transfgurao lrica (marvo, buclica insular),
pela comdia social, pela diatribe pardica (os trs velhos, desforra) ou
pela conjetura narrativa (poema social). Confguram, pois, maneiras de
interpretao, como admite Castello-Lopes, num texto de apresentao que
adequadamente intitulou Hermenuticas:
() a fotografa, tal como a entendo, s pode ser
considerada como fco, do mesmo modo que o ro-
mance, a pintura, a poesia e a sonata so fces. E se
a fco se caracteriza como a interpretao pessoal
duma realidade exterior ou interior, torna-se evidente
que quem a contempla prolonga, em termos pessoais,
essa interpretao do artista. (CASTELLO-LOPES &
MOURA, 2000, p. 114).
Fico do mundo, a fotografa mais ainda, quando liricamente
enquadrada fco de si e o mesmo dizer arte da pose ou triunfo do
simulacro. Como poderiam, ento, ser cndidas as fotografas reveladas na
cmara escura da poesia?
146
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AL BERTO, O Medo. Lisboa: Contexto/Crculo de Leitores, 1991.
LVARES, Cristina. Photographie et criture: la reprsentation en
question. Ariane. revue dtudes littraires franaises (Le Cercle des Mu-
ses. O dilogo das artes II). Vol. 17, p. 255-271, 2001-2002.
AMARAL, Fernando Pinto do. Poesia Reunida 1990-2000. Lisboa:
Publicaes Dom Quixote, 2000.
AMARAL, Ana Lusa. Poesia Reunida 1990-2005. Vila Nova de Fama-
lico: Edies quasi, 2005.
BAPTISTA, Jos Agostinho. Biografa. Lisboa: Assrio & Alvim, 2000.
BARTHES, Roland. A Cmara Clara. Trad. de Manuela Torres. Lis-
boa: Edies 70, 2010.
BELO, Ruy. Todos os Poemas. Lisboa: Assrio & Alvim, 2000.
BENJAMIN, Walter. Petite historie de la photographie. Oeuvres. Tome
II. Paris: Gallimard, p. 295-321, 2000.
CARMELO, Carmelo. A Novssima Poesia Portuguesa e a Experincia
Esttica Contempornea. Mem Martins: Publicaes Europa-Amrica, 2005.
EIDT, Laura M. Sager. Writing and Filming the Painting. Ekphrasis in
Literature and Film. Amsterdam-New York: Rodopi, 2008.
GUSMO, Manuel. Tatuagem & Palimpsesto. Da poesia em alguns
poetas e poemas. Lisboa: Assrio & Alvim. 2010.
JDICE, Nuno. Cartografa de Emoes. Lisboa: Publicaes Dom
Quixote, 2001.
______. As coisas mais simples. Lisboa: Publicaes Dom Quixote, 2006.
______. Nuno. Guia de Conceitos Bsicos. Lisboa: Publicaes Dom
Quixote, 2010.
LOPES, Helena. Talvez as fotografas vagamente desfocadas/ sejam as
mais belas Poesia e media visuais em Jos Mrio Silva e Jos Rui Teixeira. Jo-
vens Ensastas Lem Jovens Poetas. Porto: Deriva Editores, p. 107-122, 2008.
MARTELO, Rosa Maria. Em Parte Incerta. Estudos de Poesia Portu-
guesa Moderna e Contempornea. Porto: Campo das Letras, 2004.
MENDONA, Jos Tolentino. A noite abre meus olhos [poesia reuni-
da]. Lisboa: Assrio & Alvim, 2006.
MENEZES, Antonio Carlos Martins. Fotografa na poesia de Carlos
Drummond de Andrade e Ruy Belo: transporte no tempo. Dissertao de
mestrado em Literatura Brasileira e Teoria da Literatura. Niteri: Instituto
de Letras-Universidade Federal Fluminense, 2006.
147
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
MEXIA, Pedro. Menos por Menos. Lisboa: Publicaes Dom
Quixote, 2011.
MOURA, Vaco Graa. Poesia 1997-2000. Lisboa: Quetzal Editores.
REVERSEAU, Anne. Mtamorphoses du regard potique: Rponses
de la posie descritive lpoque moderniste. critures de la modernit,
2008. (disponvel em http://www.ecritures-modernite.eu/?page_id=1953).
REVERSEAU, Anne. Breton, Man Ray et limaginaire photographi-
que de la magie. textimage. Revue dtude du dialogue texte-image.Varia
2, t 2010. (disponvel em http://www.revue-textimage.com/05_varia_2/
reverseau1.html).
RIBEIRO, Eunice. A hiptese da realidade: sobre o Laocoonte. Re-
lmpago, n 23, p. 145-162, outubro de 2008.
ROSA, Joo Carvalho Ribeiro Trinit. Porque tiramos fotografas?
Dissertao de mestrado em Teoria da Literatura. Lisboa: Faculdade de
Letras-Universidade de Lisboa. 2008.
SAMPAIO, Fernando Lus. Escadas de Incndio. Lisboa: Quetzal, 2000.
SERRA, Pedro. Um nome para isto: leituras da poesia de Ruy Belo.
Coimbra: Angelus Novus, 2004.
SILVA, Denise Grimm da. Olhos que viram: visualidade e paisagem
na poesia de Ruy Belo e lvaro de Campos. Abril. Revista do Ncleo de
Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF. Vol. 2, n. 2, p. 42-57,
abril de 2009.
SONTAG, Susan. On Photography. London: Penguin, 2008.
Recebido para publicao em 28/03/12.
Aprovado em 15/05/2012.
NOTAS
1
Como, alis, embora concedendo intencional precedncia ao medium cinematogrfco,
demonstra o estimulante ensaio de Helena Lopes intitulado Talvez as fotografas vaga-
mente desfocadas/ sejam as mais belas - Poesia e media visuais em Jos Mrio Silva e
Jos Rui Teixeira (2008).
2 Acolho aqui a noo de imaginrio fotogrfco, nos termos em que a esclarece Anne
Reverseau: Le terme d'imaginaire photographique () dsigne l'imaginaire du medium
loeuvre dans les textes, cest--dire la faon dont une technique denregistrement et
de diffusion, en loccurrence ici lenregistrement visuel par coupe dans le temps et dans
lespace et la reproduction de cette image - lensemble du dispositif photographique -
148
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
joue dans les textes. Il ne sagit donc pas dtudier un soi-disant style photographique,
mais plutt la faon dont le pote envisage la photographie ainsi que son imaginaire lit-
traire, marqu par la photographie. Partindo desta dilucidao liminar, a autora rastreia,
no incio do sculo XX, a coexistncia de trs modalidades de imaginrio fotogrfco que
designa respetivamente como tcnico, documental e mgico. (REVERSEAU, 2010, s.p.)
3 Sobre a fecunda relao da potica de Ruy Belo com a esttica fotogrfca, podem ler-
se, com proveito, a anlise deste e de outros textos do autor desenvolvida por Antonio
Carlos Martins Meneses (2006) e Denise Grimm da Silva (2009).
4 Susan Sontag acentua, nos seguintes termos, a natureza elegaca da fotografa: Pho-
tography is an elegiac art, a twilight art. Most subjects photographed are, just by virtue
of being photographed touched with pathos. () All photographs are memento mori. To
take a photograph is to participate in another persons (or things) mortality, vulnerability,
mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to
times relentless melt; Such images [images taken by cameras] are indeed able to usurp
reality because frst of all a photograph is not only an image (as a painting is an image),
an interpretation of the real; it is also a trace, something directly stenciled off the real,
like a footprint or a death mask; Photography is the inventory of mortality. A touch of
the fnger now suffces to invest a moment with posthumous irony. Photographs show
people being so irrefutably there and at a specifc age in their lives; group together people
and things which a moment later have already disbanded, changed, continued along the
course of their independent destinies. (SONTAG, 2008, p. 15; 54; 70)
5 Como salienta Barthes, () o que constitui a natureza da Fotografa a pose. () ao
contemplar uma foto, incluo fatalmente no meu olhar o pensamento desse instante, por
muito breve que tenha sido, em que uma coisa real fcou imvel diante do olho. Fao re-
cair a imobilidade da foto presente no disparo passado, e essa paragem que constitui
a pose (BARTHES, 2010, p. 88)
6 O poema, inicialmente dado estampa no n 2 da revista Intil (abril de 2010), era, na
sua verso original, acompanhado da reproduo da fotografa de Eugne Atget, tendo
posteriormente sido includo em Guia de Conceitos Bsicos (2010).
7 A observao de Joo Carvalho Rosa sobre o poder mnemnico da narratio fotogrfca
pode, com propriedade, aplicar-se a este texto de Pedro Mexia: partida, as fotografas
podem isoladamente fazer-nos recordar (por exemplo: uma fotografa pendurada numa
parede, na mesa do escritrio) mas a sua efccia aumenta se por meio de uma articulao
narrativa construirmos um relato documental onde so acrescentados nomes, lugares,
etc.. (ROSA, 2008, p. 44)
8 A expresso utilizada por Joo Carvalho Rosa, para designar o caso do tpico con-
junto de fotografas na mesinha da sala ou na parede. Cf. ROSA, 2008, p. 14.
9 Num outro poema de Pedro Mexia intitulado Av Leonor, um mesmo efeito de truca-
gem fotogrfca manifesta-se na apario fantstica e inquietante de uma sombra ominosa
que, como uma coroa de trevas/ na mscara fnebre (MEXIA, 2011, p. 39), se abate, na
fotografa, sobre a cabea da av j desaparecida: E as rugas, o cabelo branco,/ o rosto de
despedida/ so coroados por essa sombra/ que cresce/ de forma quase assustadora,/ como
a alma de partida () (MEXIA, 2011, p. 40).
10 A propsito do no-dito fotogrfco como espao de interpelao hermenutica, ob-
serva Crsitina lvares que () la photo ne vise pas la compltude iconique ni la
saturation smantique: elle aplatit, dsinvestit, met entre parenthses les lois de fonc-
tionnement des rseaux dimages, de discours, de conventions, de normes, de styles, de
valeurs qui constituent lautomaton de la ralit. Contrairement la belle image, sman-
tiquement paisse et sature, la photo se caractrise par une prdisposition travailler
contre la plnitude du champ perceptif. Elle ne le nie ni ne le troue mais, disons, remplace
sa substance colore par la platitude du noir et blanc (LVARES, 2001-2002, p. 258).
11 precisamente essa tentativa persistente de fazer falar a fotografa, muito para alm da
149
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
inteno original do seu autor, que, segundo Susan Sontag, investe o registo fotogrfco
de uma crescente qualidade aurtica, eximindo-o, inversamente ao que acontece com
a pintura, usura do tempo: The real difference between the aura that a photograph
can have and that of a painting lies in the different relation to time. The depredations of
time tend to work against paintings. But part of the built-in interest of photographs, and
a major source of their aesthetic value, is precisely the transformations that time works
upon them, the way they escape the intentions of their makers. Given enough time, many
photographs do acquire an aura (SONTAG, 2008, p. 140).
12 Sobre os procedimentos de edio do real implicados pela sintaxe fotogrfca, bem
como a noo de fotografa como recorte cf. as seguintes refexes de John Szarkowski
reproduzidas, em apndice, na obra de Susan Sontag: Photography is a system of visual
editing. At bottom, it is a matter of surrounding with a frame a portion of ones cone of vi-
sion, while standing in the right place at the right time. Like chess, or writing, it is a matter
of choosing from among given possibilities, but in the case of photography the number of
possibilities is not fnite but infnite. (SONTAG, 2008, p. 192)
13 Adoto aqui a designao proposta por Walter Benjamin, para quem a fotografa
nous renseigne sur cet inconscient visuel, comme la psychanalyse nous renseigne sur
linconscient pulsionnel. (BENJAMIN, 2000, p. 301).
14 Sobre o parentesco da gramtica esttica surrealista com a criao fotogrfca, cf. as se-
guintes palavras de Susan Sontag: Surrealism lies at the heart of the photographic enter-
prise: in the very creation of a duplicate world, of a reality in the second degree, narrower
but more dramatic than the one perceived by natural vision. (SONTAG, 2008, p. 52)
15 Refetindo sobre o poder de desfamilizarizao e desautomatizao da fotografa,
refere Susan Sontag que photography, which has so many narcissistic uses, is also a
powerful instrument for depersonalizing our relation to the world; and the two uses are
complementary. Like a pair of binoculars with no right or wrong end, the camera makes
exotic things near, intimate; and familiar things small, abstract, strange, much farther
away. It offers, in one easy, habit-forming activity, both participation and alienation in
our lives and those of others allowing us to participate, while confrming alienation.
(SONTAG, 2008, p. 167)
16 A inclinao culturalista que caracteriza a potica de Fernando Pinto do Amaral ignora,
regra geral, em bom magistrio ps-moderno, as fronteiras artifciais que separam culto
e popular, repondo o livre-trnsito entre ambos os territrios e reivindicando a cidadania
literria de expresses de cultura highbrow e light.
17 Recupero a tipologia dos usos ecfrsticos proposta por Laura Sager Eidt que distingue
as categorias da ekphrasis descritiva, interpretativa e dramtica. No primeiro caso, im-
ages are discussed, described, or refected on more extensively in the text or scene, and
several details or aspects of images are named and in the flm shown in close-ups, zooms,
and with slow camera movements. A ekphrasis interpretativa constitui either () a
verbal refection on the image, or a visual-verbal dramatization of it in a mise-en-scne
tableau vivant e, neste contexto, the image may function as a springboard for refec-
tions that go beyond its depicted theme. Finalmente, no caso da modalidade dramatica,
the images are dramatized and theatricalized to the extent that they take on a life of their
own. (EIDT, 2008, p. 47; 50-51; 56).
18 Como salienta Eunice Ribeiro, () o trabalho da cfrase na poesia contempornea
encaminha-se com frequncia para uma prtica abortiva que ocorre segundo padres as-
sumidamente antidescritivos ou metadescritivos, prescindindo no apenas de referncia
precisa, mas porventura desenvolvendo-se por remoo de referncia e por proscrio da
viso (). O que poder explicar, por um lado, o convvio recorrente do ecfrstico com
o muito breve, com o instantneo (demitidas clssicas pretenses e prescries de exaus-
tividade e inventrio) e seu enlace com poticas minimalistas de condensao e silncio.
(RIBEIRO, 2008, p. 149-150).
150
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
MANUEL ANTNIO PINA ENTRE
ROSSELLINI E SHINDO:
OS PROCEDIMENTOS NEO-REALISTAS DUM
REGRESSO INFNCIA
Paulo Nn
(Universit La Sorbonne Nouvelle Paris III)
RESUMO
A obra potica de Manuel Antnio Pina distingue-se pela tentativa de
atingir a primordialidade (a infncia) nos arredores do verbo. A memria
afgura-se deste modo como o principal mecanismo capaz de superar a
barreira do tempo e assim aproximar o sujeito potico da sua realidade
perdida. A poesia de Manuel Antnio Pina, pautada pela isotopia do re-
gresso, consubstancia na sua totalidade imagens puras dum tempo perdido
em muito similares aos planos-sequncias do neo-realismo italiano. O pre-
sente trabalho tem por objectivo estudar o modo como a imagem flmica
assegura uma ligao csmica e colectiva muito forte entre o ser e o objecto
recordado, tal como o processo de rememorao encetado pelo poeta por-
tugus, um pouco maneira dum flme documentrio neo-realista.
PALAVRAS-CHAVE: poesia; cinema; memria.
ABSTRACT
Manuel Antnio Pinas poetry is characterized by its attempt to join a pri-
mordial time (the childhood) until reach the surroundings of the verb.
Terefore, memory appears as the main mechanism capable of surmoun-
ting the barrier of time and of taking the poetic subject toward its lost re-
ality. Manuel Antnio Pinas poetry, marked by the isotopie of return, is
constituted in its enterety by pure images of a lost time, similar to the long
takes of the Italian neorealism. Tis work aims at studying the way the flm
image provides a cosmic and collective relation between the subject and
the recalled object, as well as the process of recollection introduced by the
Portuguese poet, in the style of a neorealist documentary movie.
KEYWORDS: poetry; cinema; memory.
151
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
E a terra, a infncia,
crescem
no seu jardim
areo.
Carlos de Oliveira.
Em 1978, Ruy Belo, numa explicao preliminar segunda edi-
o de Homens de Palavra[s], que mais no parece alis de que um reajus-
to de contas, na acepo intervencionista, to caracterstica da escrita do
poeta portugus, tece algumas consideraes sobre a infuncia do cinema
na sua escrita potica e em particular na obra j, aqui, mencionada. Desde
logo, Ruy Belo tenta no s exemplifcar o modo como o cinema interage
com a sua poesia, afrmando que alguns dos seus poemas foram escritos a
partir de diapositivos como, tambm, e sobretudo, enaltece a capacidade
da imagem cinematogrfca em despertar e depurar a viso: No way out,
Vcio de matar e Esplendor na relva so poemas onde o cinema me ensi-
nou a ver. (BELO, 2004, p. 248). Alis, Ruy Belo d mesmo a entender que
Ningum, no futuro, nos perdoar no termos sabido ver, esse verbo que
to importante era j para os gregos (BELO, 2004, p. 248). Ora, a assero
do poeta portugus s demonstra quo a poesia devedora ao cinema no
que releva do ver. Com efeito, o cinema, de um modo geral, permite uma
apreenso directa e uma penetrao talvez mais subtil e ingnua do con-
creto da vida ao invs da poesia cuja escrita precisa, antes de mais, de se er-
guer num projecto vertical. Da, talvez, a poesia tanto dever ao cinema, que
dispe de uma linguagem imediata e essencialmente concreta: a imagem.
Pois bem, a respeito da verticalidade da palavra potica seria interessante
notar a refexo de G. Deleuze, em Pourparlers, na tentativa de conceituar
a imagem cristal no campo do cinema:
Cest pourquoi la visibilit de limage devient une li-
sibilit. Lisible dsigne ici lindpendance des para-
mtres et la divergence des sries. Il y a aussi un autre
aspect, qui rejoint une de nos remarques prcdentes.
Cest la question de la verticalit. Notre monde opti-
que est en partie conditionn par la nature verticale
[] cest comme si, au modle de la fentre, se subs-
tituait un plan opaque, horizontal ou inclinable, sur
lequel des donnes sinscrivent. Ce serait cela la lisibi-
lit, qui nimplique pas un langage, mais quelque cho-
se de lordre du diagramme. [] Au cinma, il se peut
que lcran ne garde quune verticalit toute nominale,
et fonctionne comme un plan horizontal ou inclina-
ble. (DELEUZE, 2003, p. 77)
O que nos interessa, nesta refexo, precisamente o facto de o f-
lsofo francs dar especial enfoque problemtica delineada por Ruy Belo.
Assim, compreende-se que ao, dinamizar uma horizontalidade, a imagem
cristal consubstancia num tempo crnico uma potncia da viso que per-
152
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
mite abarcar todos os elementos que se fundem na imagem. Eis a razo
pela qual se pode falar numa leitura da imagem, como assevera G. Deleuze.
Julgamos ser este o fundamento que leva Ruy Belo a dizer que o cinema o
ensinara a ver. No entanto, importante salientar que G. Deleuze se refere
ao conceito de imagem cristal ao tratar da crise da imagem movimento e
do consequente surgimento da imagem tempo, com o neo-realismo italia-
no por exemplo, cujo trao distintivo reside numa situao ptica e sonora
pura de que falaremos mais adiante. Contudo, ser antes mais relevante
tentar desvendar o modo como poesia e cinema se diferenciam na apreen-
so da imagem e por que razo a poesia necessita tanto do cinema para, nas
palavras de Ruy Belo, aprender a ver. Para responder a esta questo, temos
de voltar ao conceito de poesia enquanto arte do fazer poeen e aos seus
instrumentos: a palavra e mais abrangentemente a linguagem potica. Num
curto ensaio em que se interroga sobre se haver uma linguagem potica,
Karlheinz Stierle, depois de passar em revista as teorias sobre a linguagem
potica, afrma que o discurso potico, ao contrrio do discurso prtico,
no decorre de uma coerncia unilinear, mas sim de uma coerncia de plu-
ralidade de contextos simultneos. O que Barthes j ressalvara, no incio
dos anos 50, ao falar do signo de p no qual se rene o contedo total do
Nome. No entanto, o ensasta alemo acrescenta sua primeira distino o
papel da metfora que por excelncia participa do potico. Deste modo, a
metfora, segundo Stierle, enquanto fgura da diversifcao de contextos,
torna-se tambm numa fgura refexiva; ela suspende a continuidade do
texto, pois uma relao paradigmtica numa cadeia sintagmtica e, por
isso mesmo, uma relao que ultrapassa a imanncia da lngua (STIERLE,
2008, p. 35). Com Stierle, regressa-se irremediavelmente oposio evi-
denciada no incio por G. Deleuze, entre verticalidade e horizontalidade.
Mas esta incurso, por muito sucinta e redutora que seja, tem o mrito de
comprovar uma certa predisposio da poesia para a verticalidade que no
favorece a visibilidade. Por conseguinte, poderamos convir que a palavra
potica uma palavra translata ou translatcia, como refere Ruy Belo
1
. Na
base desta leitura, talvez possamos entrever o que Ruy Belo apela de mo-
vimento da palavra, ou seja, na poesia e segundo o mesmo Ruy Belo as
palavras surgem livres, isentas de qualquer dependncia lngua comum,
sempre manejveis, em constante movimento pelos versos numa relao
que, como j salientmos, ultrapassa a imanncia da lngua. Desde logo,
torna-se compreensvel a assero de Ruy Belo ao dizer que o cinema
supostamente na sua forma cristalina ou a imagem tempo tal como ela
conceituada pelo Deleuze o ensinaria a ver tendo em conta o carcter
imediato na apreenso da imagem, ao invs da poesia que precisa irreme-
diavelmente da mediao da linguagem. Porm, a imagem cinematogrfca,
ao encarnar o real, manifesta, como diria Herberto Helder modos esfero-
grfcos de fazer (HELDER, 1998, p. 7). De facto, ao revelar a sua substn-
cia potica, a imagem cinematogrfca permite uma espcie de xtase ao
projectarmo-nos directamente no objecto dado. Assim, a imagem flmi-
ca assegura uma mediao sem precedentes entre a nossa conscincia e os
153
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
nossos sentimentos mais profundos, mais obscuros, que apenas aguardam
por um smbolo literalmente interpretvel, como nota Herberto Helder
2
.
Esta longa pr-introduo, longe de se afgurar um simples apar-
te, assevera-se no propriamente necessria mas sim prefguradora, apon-
tando j para certos pontos da nossa refexo sobre o estudo da poesia de
Manuel Antnio Pina e o modo como a sua poesia se relaciona com o cine-
ma. A referncia a Ruy Belo no meramente ocasional. Pois, no esquea-
mos que se trata de uma infuncia notria e perfeitamente assumida pelo
poeta portuense. Demais, na refexo de Ruy Belo, a oposio que tecemos
entre verticalidade e horizontalidade, recorrendo ao flsofo francs, favo-
recendo a ideia de que no ver a poesia seria mais devedora stima arte do
que o inverso; um pressuposto perfeitamente vlido no mbito do estudo
da poesia de Manuel Antnio Pina.
A poesia de Manuel Antnio Pina marcada pela busca incessan-
te dum regresso ao estado primordial como assinala muito bem Ins Fon-
seca Santos na sua dissertao de mestrado (SANTOS, 2006). Enquanto
ordem perdida, a sua recuperao depende em muito do esforo do poeta
em recuperar a infncia. Deste modo, a memria afgura-se como um dos
principais mecanismos capazes de superar a prpria noo de tempo pela
sua capacidade de aproximar o sujeito potico da sua realidade passada. H
nesta tentativa de regresso uma espcie de chamamento intemporal ludi-
briado pela dvida e a noo de morte que assombram o poeta e o fazem
errar. O marasmo que o assola difculta ento o processo de rememorao
e a captao dum passado. Nesse panorama, julgamos que o M. A. Pina,
pelas mltiplas referncias (de vrias naturezas) que faz ao cinema, usa do
mesmo procedimento de que Ruy Belo; ou seja, recorre imagem flmica
para dinamizar uma potncia do ver. Esse nosso pressentimento no de
todo alheio ao prprio poeta (M. A. Pina) que reconhece que o cinema, tal
como outras componentes artsticas, se mescla com a sua poesia:
Mesmo no tendo isso decerto relevncia terica al-
guma, acho que a minha relao, e a da minha poe-
sia, com alguma pintura e no com outra se estrutura
sobretudo, como acontece com o cinema ou com a
prpria poesia em geral, em termos de consanguini-
dade e familiaridade. Pasolini , alis, um bom exem-
plo: se sou capaz de repetir de memria (de cor mais
adequado), quase plano por plano, A Terra vista da
Lua, a sua restante obra, talvez com excepo de O
Evangelho segundo Mateus, pouco ou nada me diz.
Do mesmo modo, a poesia portuguesa do sculo XX
de que me sinto mais prximo a de Ruy Belo. Falo de
algo que h de comum na pintura de Ilda David, em
Boca Bilingue e em A Terra vista da Lua (ou em
A noite de caador, de Charles Laughton, Atalan-
te, de Jean Vigo, e todo o Ozu) (PINA, 2008, p. 100).
154
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Neste testemunho sobre poesia e arte visuais, M. A. Pina, tendo
iniciado o seu depoimento ao falar da relao entre poesia e pintura, acaba
irremediavelmente por se desdobrar sobre o caso do cinema, nomeando
uns dos realizadores que exercem alguma infuncia sobre a sua escrita
assim como a incontornvel referncia a Ruy Belo. Alis, numa entrevista,
o poeta portuense destaca mesmo uma borgesiana defnio da sua poesia
enquanto espao de confuncias: sou todos os livros que li, todas as pes-
soas que conheci, todos os lugares que visitei, todas as pessoas que amei.
verdade agora digo eu (PINA, 2009, p. 12). Tendo em conta as diversas
referncias ao mundo do cinema dadas pelo poeta, poderamos at acres-
centar todos os flmes que vi. O que no alteraria a apreciao de M. A.
Pina. No obstante, importante tomar nota da infexo dada pelo poeta
ao citar certos nomes do cinema que vm j evidenciar no s o tipo de ci-
nema que interage com a sua poesia, como tambm o tipo de imagem. De-
mais, consideramos que no se trate dum caso isolado. Outro registo dessa
fliao ou familiaridade com o cinema surge num poema de Ainda no
o fm nem o princpio do mundo calma apenas um pouco tarde (1974), em
que M. A. Pina imprime desde logo uma tonalidade neo-realista sua poe-
sia; tonalidade esta que ir percorrer toda a sua obra. No primeiro verso de
Silncio e escurido e nada mais, deparamo-nos com o anagrama do ttu-
lo dum flme de Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta, que na verso do
poeta portugus d (Amor cidade aberta; lugar comum;) (PINA, 2001,
p. 22). Alm de incutir a marca do neo-realismo, esta referncia aponta
para a grande angstia do poeta: a perdio dum tempo ureo que tanto
anseia por recuperar. Porm, nota-se na obra de M. A. Pina um estado de
constante dvida quanto ao caminho capaz de conduzir do lugar imvel
do poema ao lugar da infncia, smbolo da primordialidade, em que o eu
ainda uno e a linguagem nica e universal. Cabe assim ao poeta ser aquele
que dever conjugar os seus esforos para contrariar uma certa indoln-
cia que Ins Fonseca Santos qualifca de passividade niilista (SANTOS,
2006, p. 30). Deste modo, o flme de Rossellini funciona, diramos, como o
efeito catalisador da poesia de M. A. Pina. ele que inicia a partida rumo
ao regresso a um lugar illo tempore. Alis, o francs Jean Onimus destaca
mesmo esta fora motriz da imagem flmica, como sendo uma das grandes
virtudes do cinema:
Cest une erreur de dire et de croire quau cinma
les consciences hypnotises sendorment. Ce qui
sengourdit, en efet, cest la facult intellectuelle, ce
que Claudel appelait Animus. Mais alors sveille la
belle endormie Anima, celle qui ne parle plus jamais
parce que nous avons cess de lcouter. Une intense
activit inconsciente se dveloppe au dessous du nive-
au habituel et lon sort dun tel spectacle trangement
mu et comme rajeuni (ONIMUS, 1961, p. 7).
J Herberto Helder fala em inebriamento e em beleza. O certo
que, como salienta J. Onimus, o flme, neste caso o de Rossellini, ter
suscitado no poeta portugus essa intensa actividade inconsciente. Acha-
155
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
mos, alis, que no caso de M. A. Pina se trata duma inconscincia vigiada
e perfeitamente sintonizada com os temas recorrentes da sua obra, o que
poderia explicar a ressonncia do flme do Rossellini. Pois, como nota Rosa
Maria Martelo, no fuxo das relaes temticas que se tecem entre poesia e
cinema, h variadssimos nveis, j que o cinema activa muitos elementos
de codifcao (MARTELO, 2008, p. 188). Nesta perspectiva, a incluso
do ttulo transformado do flme do realizador italiano consubstancia, no
mbito da obra de Pina, a alegoria do lugar utpico: Amor cidade aberta.
Assim sendo, essa cidade aberta a infncia torna-se na meta-dimenso
ontolgica da utopia na poesia de Pina. O anagrama Roma/Amor favore-
ce essa interpretao, tendo em conta a simbologia do amor que marca o
desejo, o querer, a pulso fundamental do ser, a libido, que leva qualquer
existncia a realizar-se na aco (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2000,
p. 36). A metamorfose do ttulo do flme de Rossellini, no verso de M. A.
Pina, mantm no entanto um claro sinal de abertura e de totalidade que
poderamos considerar similar inteno do realizador italiano. Com efei-
to, os ttulos dos flmes de Rossellini tm a particularidade de nunca serem
tomados ao acaso e Roma, Citt aperta no remete propriamente para uma
leitura realista da cidade de Roma. Rossellini fala antes de abertura porque
o seu flme no se debrua apenas sobre a histria de Manfredi e de Dom
Pietro. Da totalidade que Roma no flme no fazem parte s os lugares
onde se desenrolam a trama narrativa mas tambm as mltiplas persona-
gens que povoam o flme. Assim, o flme de Rossellini no narra apenas
uma histria, a histria da perseguio a Manfredi, mas sim um flme
cuja unidade de aco se despoleta em micro-histrias. Em algumas entre-
vistas, o realizador italiano falava at duma estrutura em coro; ou seja dum
conjunto de personagens que funcionariam como o arqutipo da cidade de
Roma. M. A. Pina adopta o mesmo esquema. Deste modo, a abertura pro-
pulsionada pelo ttulo do flme do realizador italiano origina uma espcie
de paisagem mental na poesia de M. A. Pina que encontra o seu correlativo
objectivo na fgurao do jardim, lugar no qual se torna possvel recuperar
a unidade ontolgica perdida. Em Kindergarten, poema pertencente ao
livro O caminho de casa (1989), o sujeito potico encontra-se na posio
de observante, posio esta que nos reenvia para a posio dum espectador
face ao ecr. Aqui, a contemplao das flhas a brincarem no jardim abre
os mecanismos da memria de fora para dentro (HELDER, 2006, p. 138).
Neste poema, as flhas revestem o arqutipo da criana, ou seja, da infncia
e, ao v-las num jardim real
3
, o sujeito potico v-se a si prprio num stio
vagamente semelhante: Tambm eu ou algum brincou h muito tempo/
em outro jardim, brincando. (PINA, 2001, p. 147). O valor do gerndio
brincando, apesar da primeira forma em que aparece o verbo brincar que
diz respeito infncia do eu enquanto tempo passado, indica a continui-
dade da aco, o movimento, e produz o efeito de tentar justapor essa ima-
gem do eu brincando das flhas que brincam. Consequentemente, esta
associao de quadros num mesmo plano remete para as caractersticas do
plano-sequncia. A este propsito, G. Deleuze assevera que as imagens sem
156
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ou com pouca profundidade esboam um plano bastante fudo que no
impossibilita a unidade do plano:
Dans un quatrime cas, le plan-squence (car il y en a
beaucoup de sortes) ne comporte plus aucune profon-
deur, ni de superposition ni denfoncement : il rabat
au contraire tous les plans spatiaux sur un seul avant-
-plan qui passe par difrents cadres, de telle manire
que lunit du plan renvoie la parfaite planitude de
limage, tandis que la multiplicit corrlative est celle
des recadrages. Ctait le cas de Dreyer, dans ses plans-
-squences analogues des aplats, et qui nient toute
distinction entre difrents plans spatiaux, faisant pas-
ser le mouvement par une srie de recadrages qui se
substituent au changement de plans (Ordet, Ger-
trud) (DELEUZE, 2006, p. 43).
Assim, M. A. Pina recorre a esse subterfgio cinematogrf-
co para no s activar os mecanismos da memria como tambm para
colocar os dois quadros espaciais num s e mesmo plano, numa mesma
imagem. Assim o movimento opera-se no poema atravs duma srie de
enquadramentos que estimulam a co-presena das flhas e dum eu brin-
cando. Deste modo, o plano constri-se em conformidade com o movi-
mento interno da memria do sujeito potico. Este tipo de apropriao de
estratgias cinematogrfcas leva certamente o flsofo francs a dizer que
o plano age como a conscincia: tant donn que cest la conscience qui
opre ces divisons et ces runions, on dira du plan quil agit comme une
conscience (DELEUZE, 2006, p. 34). Demais, G. Deleuze refere que o op-
signe no se encadeando com a aco prolonga-se sim com uma imagem-
-recordao ou at mesmo uma imagem-sonho. No caso deste poema, a
imagem-recordao (o eu que brincou) inscreve-se ainda numa dinmica
sensori-motrice tendo em conta que ela distende o tempo, pois recorre a
um gerndio. Logo, o mnmosinal (a imagem-recordao) torna-se numa
imagem virtual que surge no encadeamento da imagem actual (o opsigne)
que j no se actualiza porque a imagem ptica actual cristaliza-se com
a sua prpria imagem virtual, dando origem a uma imagem cristal (o eu
brincando ao lado das flhas reais que brincam). Neste ponto, G. Deleuze
acrescenta que j no h encadeamento possvel, havendo, sim, indistino
entre o real e o imaginrio:
Cest un progrs par rapport lopsigne : nous avons
vu comment le cristal (le hyalosigne) assure le d-
doublement de la description, et efectue lchange
dans une image devenue mutuelle, change de lactuel
et du virtuel, du limpide et de lopaque, du germe et
du milieu. En slevant lindiscernabilit du rel et
de limaginaire, les signes de cristal dpassent toute
psychologie du souvenir et du rve, autant que toute
physique de laction. Ce que nous voyons dans le cris-
tal, ce nest plus le cours empirique du temps comme
157
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
succession de prsents, ni sa reprsentation indirecte
comme intervalle ou comme tout, cest sa prsentation
directe, son ddoublement constitutif en prsent qui
passe et pass qui se conserve, la stricte contempora-
nit du prsent avec le pass quil sera, du pass avec
le prsent quil a t. Cest le temps en personne qui
surgit dans le cristal, et qui ne cesse de recommen-
cer son ddoublement, sans aboutissement, puisque
lchange indiscernable est toujours reconduit et re-
produit (DELEUZE, 2009, p. 358).
Assim, o movimento inicial do olhar/cmara acaba por consub-
stanciar, em Kindergarten, atravs do percurso memorial, a verdadeira
imagem tempo, lmpida, visvel uma imagem bi-face, mtua, em que
imagem actual e imagem virtual se confundem e j no se sucedem. Em
Hansaplatz (2), possvel detectar o mesmo procedimento por transla-
o das partes dum conjunto que se estende no espao. Contudo, neste
poema, a tcnica do plano-sequncia esbarra na impossibilidade de defnir
um mesmo espao: Em que praa da minha memria/ eu e tudo somos
memrias? (PINA, 2001, p. 119). No entanto, este poema reitera o desejo,
muito claro, de justapor dois quadros num s e mesmo plano como em
Kindergarten: Onde crianas fora de mim brincam/ com outras crianas
reais, (PINA, 2001, p. 119). Este procedimento de mimetizao da cmara
sem dvida o que mais prevalece na potica de M. A. Pina na tentativa
de presentifcar a imagem recordada, a infncia, como se ainda houvesse
a possibilidade de identifcao entre o sujeito que recorda e o sujeito re-
cordado. Neste contexto, a imagem flmica ope-se, na potica de M. A.
Pina, imagem fotogrfca que impossibilita o processo de rememorao
e a prpria identifcao com os retratos: minha volta estilhaa-se/ o
meu rosto em infnitos espelhos/ e desmoronam-se os meus retratos nas
molduras. (PINA, 2001, p. 162). Aqui, a imagem fxa dos retratos nas mol-
duras confgura a perda absoluta dum passado, j que a identidade do eu
potico no coincide com os prprios eus como comprova a fragmentao
do rosto. Por conseguinte, no h identifcao possvel: Perdi-vos para
sempre (PINA, 2001, p. 162). Segundo R. Barthes, a fotografa mais do que
a imagem flmica tem o poder de atestar o real, de o certifcar na sua ime-
diatez, numa espcie de emanao directa do seu referente. Assim o teri-
co francs tenta demonstrar que a fotografa tende a abolir toda e qualquer
mediao; o que se traduz num congelamento dos sentidos que por sua
vez neutraliza, na poesia de M. A. Pina, a via da rememorao. Por isso,
R. Barthes diz da fotografa que ela anti-imaginria e contra-recordao:
porque no proporciona o vazio to necessrio rememorao: La Pho-
tographie [...] fait cesser cette rsistance: le pass est dsormais aussi sr
que le prsent, []. Cest lavnement de la Photographie et non [] ce-
lui du cinma, qui partage lhistoire du monde (BARTHES, 2007, p. 136).
Por sua vez, G. Deleuze aborda indirectamente o problema da fotografa
ao notar que quando um enunciado se substitui imagem, confere-se-lhe
158
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
uma falsa aparncia ou seja a imagem fca desprovida do seu carcter mais
autntico, o movimento. A refexo de G. Deleuze faz alis apelo ao fun-
dador da semiologia do cinema Christian Metz, em nota de rodap: Il est
curieux que pour distinguer limage cinmatographique et la photo, Metz
ninvoque pas le mouvement, mais la narrativit (I, p. 53 : passer dune
image deux images, cest passer de limage au langage.). (DELEUZE,
2009, p. 41). Deste modo, compreende-se melhor a fora icnica poderosa
da fotografa que ofusca o sujeito potico. Trata-se duma espcie de mag-
netismo avassalador (repare-se nos espelhos) que inviabiliza o processo
de rememorao e consequentemente o regresso infncia na poesia de
M. A. Pina. Assim, a fotografa deve ser entendida como contra-recordao
porque desprovida de movimento, de narratividade e consequentemente
duma ordem temporal que os poemas de M. A. Pina tentam aproveitar
para encetar o processo de rememorao. Ora, a fotografa ao tornar o pas-
sado to certo como o presente, como salienta R. Barthes, favorece uma
dialctica do enrugamento, do envelhecimento, da morte, difcil de con-
tornar para quem, tal como M. A. Pina, tanto anseia por um retorno s
veredas da infncia, da o desmoronamento dos retratos. Podemos alis
encontrar ecos desta problemtica no poema A pura luz pensante em que
o poeta parece opor a indiferena das imagens (as fotografas?) tolerncia
da matria metafrica da infncia que estar no conjunto da sua obra mais
associada a um movimento de abertura, ao lado de fora, ao lado da tran-
scendncia como num flme descolorido (PINA, 2001, p. 183).
Importa, todavia, regressar ao poema inicial Silncio e escurido
e nada mais que apresenta mais um tpico relevante para este estudo. De
facto, o segundo verso Edifcarei a minha igreja sobre as tuas runas, no
remete apenas, no nosso entender, para uma citao da Bblia
4
, mas articula-
se, sim, com um smbolo forte do flme de Rossellini: a morte de Pina. Com
efeito, M. A. Pina recupera essa cena fundadora do neo-realismo para mais
uma vez servir os interesses da sua potica. A sequncia da morte de Pina
(Anna Magnani) ou mais precisamente o plano-sequncia da sua morte,
com um travelling flmado como num documentrio, a cena mais impor-
tante do flme de Rossellini. M. A. Pina no indiferente a esta sequncia.
Da que o poeta faa coalescer essa imagem trgica na citao bblica para
confgurar simbolicamente, com a mxima expresso metafrica, a infn-
cia como tempo perdido e a recuperar. O processo de construo desta
metfora, segundo Rosa Maria Martelo, especifcamente cinematogrfco
e defne-se pela sobreimpresso de duas imagens tal como ns aludimos
relativamente ao verso de M. A. Pina. Alis, esta imagem denota uma certa
predisposio barroca na poesia de M. A. Pina, mas dum barroco con-
tido, que marca a consciencializao de que no se pode separar a iluso
da verdade, e da surge o culto barroco da runa. Veja-se no poema de M.
A. Pina o desmoronamento moral da casa que por sua vez assinala a perda
total de referncias: Dentro de casa se instala/ a descomunal traio./ Eu
sou aquele que rouba, o marido,/ o caluniador, abri-vos portas de ouro...//
159
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Que deus me perdoar os meus erros humanistas? (PINA, 2001, p. 22).
Porm, como salienta Benjamin, a presentifcao das runas testemunha
do milagre da sobrevivncia, tal como Marcello, flho de Pina, que assiste
morte da me: ou seja a impossibilidade de regressar primordialidade
por excelncia, o ventre materno. Assim, M. A. Pina pega nesta sequncia
flmica para simbolizar o distanciamento do sujeito potico em relao ao
tempo da felicidade primordial. S deste modo ele poder activar o proces-
so de rememorao. A alegoria que a imagem trgica coloca em cena estar
tambm associada a um efeito de contaminao homonmico: Pina (poeta)
e Pina (Anna Magnani), a protagonista do flme de Rossellini. Julgamos
que o poeta no estaria de todo insensvel a esta afnidade de nomes. Para
isso, aponta a expresso lugar comum que se contrape a Amor cidade
aberta no primeiro verso. Desde de logo, podemos pressupor que com o
recurso a esta expresso o poeta exprime que se possa aplicar a qualquer
um o destino da herona do flme e tambm a ele. Segundo a terminologia
mstica crist que arrola o Dicionrio dos Smbolos, a me tambm sim-
bolizada pela igreja entendida como comunidade onde os cristos extraem
a vida da graa; incarnao portanto do verbo porque a Virgem Maria
que reveste Cristo da pele humana, fora vital universal que d alento. Ora,
com a morte de Pina, o poeta, atravs deste segundo verso, manifesta o seu
desalento e incapacidade a reagir, pois a morte da me aniquila toda e qual-
quer possibilidade de levar a cabo o seu projecto. Da que ele (o sujeito po-
tico) tenha que edifcar ou construir este regresso casa da infncia sobre
as runas da me. Perfla-se assim uma relao fortemente temtica entre a
poesia de M. A. Pina e o flme do realizador italiano, embora a referncia
ao neo-realismo no fque por aqui. De facto, a postura do sujeito potico
ao longo da obra de M. A. Pina adopta a atitude das personagens dos flmes
neo-realistas em que estas fcam imobilizadas pelo terror, incapazes de re-
agir, como salienta G. Deleuze em Imagem-tempo:
Le personnage est devenu une sorte de spectateur. Il a
beau bouger, courir, sagiter, la situation dans laquelle
il est dborde de toutes parts ses capacits motrices,
et lui fait voir et entendre ce qui nest plus justiciable
en droit dune rponse ou dune action. Il enregistre
plus quil ne ragit. Il est livr une vision, poursuivi
par elle ou la poursuivant, plutt quengag dans une
action (DELEUZE, 2009, p. 9).
Como j notamos acerca do poema Silncio e escurido e nada
mais, o sujeito potico fca totalmente assolado, desamparado, acabando
por se tornar num mero espectador. Trata-se alis duma posio recorrente
do sujeito potico que se manifesta na obra de M. A. Pina pelas inmeras
perguntas que infacionam o grau de sofsticao que acaba por pr em
causa o mundo das convenes, a doxa tal como o jogo com os decti-
cos, o recurso frmula aforstica e o gosto pela sabedoria oriental que
conferem tambm eles uma espcie de atropelamento da prpria aco: e
agora ali estavas tu, morta (morta como se/ estivesses morta!), olhando-me
160
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
em silncio estendida no asfalto,/ e ningum perguntava nada e ningum
falava alto! (PINA, 2001, p. 292). Curiosamente, este excerto assevera-se
interessante porque nem s remete para a incapacidade das personagens a
reagir como tambm reenvia para a imagem da morte de Pina atravs do
recurso cfrase, se bem que neste caso o poeta no exclui a diegese por-
que aponta para a no reaco, a incredulidade das personagens no flme
de Rossellini.
Outra grande referncia ao cinema na poesia de M. A. Pina, na
linha neo-realista, concentra-se no poema A Ilha nua que retranscreve
momentos fortes do flme, com o mesmo nome, de Kaneto Shindo. Desta
vez, a referncia est perfeitamente assinalada, nem s pelo carcter hom-
nimo do ttulo, mas tambm pelo paratexto: Depois de ter visto o flme A
Ilha nua de Kaneto Shindo (PINA, 2001, p. 53). A relao entre o poema
e o flme do realizador nipnico, apesar de ser fortemente temtica, de
outra natureza, menos metaforizante e mais descritiva: a ekphrasis. difcil
dizer seja o que for sobre o que ter motivado M. A. Pina a escrever este
poema, tendo em conta a falta de testemunhos acerca do poema. Achamos
no entanto que o flme de Shindo, pelo seu carcter subliminal e simples,
ter fascinado o poeta, muito mais que o flme de Rossellini, j que o flme
de Shindo no regista qualquer dilogo e possui uma beleza formal fora do
comum, um pouco maneira do que salienta J. Onimus relativamente ao
flme do Comandante Jacques-Yves Cousteau, O Mundo do Silncio:
Les spectateurs qui ont aim Le monde du silence ne
savaient pas sans doute quils se laissaient fasciner par
un rve trs ancien, celui de pntrer dans la mer ;
quand ils ont vu plonger vers les profondeurs glau-
ques, arms de torches qui brlaient bizarrement dans
leau, dlivrs de la pesanteur, des hommes agiles com-
me des poissons, les spectateurs ont prouv, sans sen
rendre compte, une transe sacrs: ils ont redcouvert
les dieux de la mer. Et quand, dans le mme flm, on
leur a montr lpave hante de poissons multicolores,
tragique prsence de la chose humaine perdue dans
les brumes bleues de la mort, ils ont subi un autre fris-
son, leur inconscient a reconnu une autre image mil-
lnaire, celle des eaux profondes, symbole de la mort.
Ainsi le flm de Cousteau a les dimensions dun grand
rve, il nous branle comme un pome (ONIMUS,
1961, p. 7-8).
A primeira refexo que nos ocorre, ao ler J. Onimus, o poema
de Alexandre ONeill Sigamos O Cherne! que procede dum modo similar
ao de M. A. Pina, assinalando no paratexto as referncias do flme de Cous-
teau. A segunda prende-se com a dimenso onrica que o terico francs
tenta exemplifcar ao destacar os momentos fortes do flme do aventureiro
francs e que podem enlevar um espectador. A verdade que a beleza es-
ttica e quase muda que transporta A Ilha nua no deixa ningum impas-
svel. Assim, ao explorar o mundo, estes flmes ajudam-nos a explorarmo-
161
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
-nos a ns prprios. A nossa leitura deste problema procede de Ruy Belo
e de G. Deleuze que insistem no carcter horizontal da imagem flmica
que potencia uma visibilidade e uma leitura mpares. Nesta perspectiva,
J. Onimus acrescenta ainda que o cinema ensina multido a beleza dum
mundo que ela cessou de captar. Assim, o flme de Shindo enquadra-se
perfeitamente na potica de M. A. Pina e funciona, ao contrrio do flme de
Rossellini, como uma fonte de re-centramento (pelas inmeras guas) que
fgura no meio de runas e de um cenrio hostil que no favorece em nada
o regresso primordialidade, o que leva o poeta por momentos a pedir,
como no poema La fentre claire, Um espelho, um olhar/ onde me [se]
ver;/um silncio onde escutar/ as minhas [suas] palavras; algo como uma
vida para viver. (PINA, 2001, p. 236). Esta demanda poderia encontrar a
sua concreo no visionamento deste flme. Em A Ilha nua, Shindo utiliza
o plano-sequncia, artefacto predilecto do neo-realismo, para dar sentido
sua obra e ritmar o quotidiano duma famlia japonesa atravs dum subtil
tema musical que ora testemunha a aspereza do trabalho rural ora insufa
alegria e tristeza. A famlia trabalha arduamente, entre incessantes golpes
de remo conduzindo-os at ilha vizinha para buscar a gua que regar
as suas terras e as incessantes subidas acarretando essa mesma gua at ao
monte, essa irrigao soando como uma perptua fatalidade, lembrando a
fgura de Ssifo. Mas vejamos o poema de M. A. Pina:
animal passageiro a quem j sobra
dentro da boca o susto da viagem
tu que com cuspo aprendes a paisagem
e s o juro que a usurria cobra
animal educado a quem a dor
repete intimamente e habitua
e to intimamente continua
a breve continncia exterior
tu que passas sem pressas sem assombros
e que afogas na sede que te apresa
teu lquido senhor que pesa pesa
nos teus cristvos portugueses ombros
tu que com sono a glabra ilha lavras
e com o sonho avidamente a usas
na dura arquitectura das palavras
tu que tudo te dura das palavras (PINA, 2001, p. 53).
Avulta desde logo neste poema o transporto musical que corpori-
za no seio do poema de M. A. Pina o rudo da cobra (jogando com o duplo
sentido das palavras cobrar/cobra no quarto verso, imagem reforada pela
162
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
zoomorfzao das personagens na metfora animal) que por sua vez re-
mete para o movimento serpenteado das personagens do flme de Shindo.
Com efeito, M. A. Pina no fca pela simples descrio da sequncia da
eterna subida ao cimo do rochedo. O poeta reproduz habilmente os planos
do flme de Shindo que se sucedem e se assemelham como um eterno re-
fro. Repare-se na estrutura do poema: quatro quadras com versos amplos
e com uma musicalidade que no frequente encontrar nos poemas do
autor portugus. O esplendor do flme traduz-se no poema por uma ordem
implacvel que, pelo recurso rima no s fnal como tambm interna,
recria a atmosfera de A Ilha nua. O poema de M. A. Pina apresenta uma
equivalncia fsica entre o corpo e o signo. A rima torna-se co-extensiva
linguagem numa espcie de semntica prosdica rtmica que transborda o
signo pelo corpo, a ordem estrutural, acabando por sobrepor na sequncia
dos planos a msica viso. interessante notar como M. A. Pina leva o
ritmo ao seu excesso abolindo os intervalos de escrita com palavras car-
regadas em vogais e sibilantes que mimam nem s os contnuos passos
das personagens de Shindo, o vento, as ondas, como tambm os procedi-
mentos de montagem cinematogrfca. deste modo que M. A. Pina eleva
ao estatuto de alegoria a rima, dando a entender que ela, neste caso, no
serve apenas para conferir uma certa musicalidade tal como sublinha Hen-
ri Meschonnic: Cest quand la posie tire du langage ordinaire toutes ses
rimes quelle en devient la vrit et la fable. (MESCHONNIC,1989, p. 226).
A relao da poesia de Manuel Antnio Pina com a esfera cine-
matogrfca torna-se particularmente interessante porque o recurso a ima-
gens flmicas permite desfazer a dvida e desprender o sujeito potico de
uma atrofa do presente assolado pela angstia do tempo que passa, tor-
nando o lugar primordial cada vez mais distante. A verdade que o cine-
ma, a imagem cinematogrfca, a densidade espiritual que obras tais como
a de Ozu, ou de Shindo transportam, mesclando o real com o sonho, no
deixam M. A. Pina insensvel como j notmos. A fora sugestiva de tais
imagens assegura uma ligao csmica entre o ser e o objecto recordado: a
infncia. Assim, podemos ver como M. A. Pina explora no s a beleza de
grandes flmes como tambm processos discursivos ou tcnicos provindos
do cinema para descrever os mecanismos da rememorao, com especial
enfoque para a mimetizao da cmara que permite detectar a melodia do
olhar, ensinando a ver como enfatiza Ruy Belo. Na verdade, o flme de Ros-
sellini no implica um grande impacto na correlao dos discursos cine-
matogrfcos e poticos, excepo feita da imagem da morte de Pina cujos
ecos encontramos num poema; mas uma referncia que desde logo, e
pela sua carga simblica, confere uma tonalidade neo-realista poesia de
M. A. Pina que perpassa toda a sua obra, condicionando mesmo a atitude
dos sujeitos poticos, inclusive a das personagens literrias de M. A. Pina.
J o flme de Shindo, se bem que se distancie cronologicamente do neo-re-
alismo de cariz italiano, no deixa de se colocar na esteira de um Ozu, que,
segundo G. Deleuze, o primeiro a desenvolver no cinema situaes pti-
163
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
cas e sonoras puras. Encontra-se deste modo na poesia de M. A. Pina uma
mirade de referncias cinematogrfcas sujeitas mesma imagem tempo,
tal como ela conceptualizada por G. Deleuze. Tais imagens realizam o
imaginrio no qual tudo se torna possvel e, graas a elas, a humanidade
pode ento recriar o mundo tal como o homem o desejaria. So imagens
que tentam tecer, na poesia de M. A. Pina, uma relao fraterna com os
objectos como o porto, a casa, as rosas... caso para dizer que se opera na
poesia de M. A. Pina uma penetrao do cinema que conduz s essncias,
primordialidade, ao contrrio da fotografa cuja estrutura esttica espacio-
-temporal conduz alteridade.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARTHES, Roland. La chambre claire, Note sur la photographie,
Paris: Les Cahiers du Cinma-Gallimard-Le Seuil, 2007.
BELO, Ruy. Homens de Palavra[s], Todos os Poemas I. 2. Edio.
Lisboa: Assrio & Alvim, 2004.
CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dictionnaire des
Symboles. Paris: Robert Lafont/ Jupiter, Bouquins, Collection dirige par
Guy Schoeller, 2000.
DELEUZE, Gilles. Pourparlers. Paris: Les ditions de Minuit,
2003.
______. Limage-mouvement. Paris: Les ditions de Minuit, Col-
lection Critique, 2006.
______. Limage-temps. Paris: Les ditions de Minuit, Collection
Critique, 2009.
HELDER, Herberto. Cinemas. In: Relmpago, n 3. Lisboa: Fun-
dao Lus Miguel Nava, Outubro de 1998, p. 7-8.
______. Photomaton & Vox. 4 Edio. Lisboa: Assrio & Alvim,
2006.
MARTELO, Rosa Maria. Quando a poesia vai ao cinema. Relm-
pago, n23. Lisboa: Fundao Lus Miguel Nava, Outubro de 2008, p. 179-
195.
MESCHONNIC, Henri. La rime et la vie, Lagrasse: ditions Ver-
dier, 1989.
ONIMUS, Jean. Cinma et Posie. tudes Cinmatographiques.
Paris: 2 Trimestre, 1961, p. 2-18.
PINA, Manuel Antnio. Poesia Reunida. 1 Edio. Lisboa: Ass-
rio & Alvim, 2001.
______. Poesia, Pintura, Cinema. Relmpago, n23. Lisboa: Fun-
164
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
dao Lus Miguel Nava, Outubro de 2008, p. 97-100.
______. Toda a verdade sobre os gatos, o co, o Pooh, e o Pina.
Pblica (suplemento do Pblico). 26 de Janeiro 2009.
SANTOS, Ins Fonseca. A poesia de Manuel Antnio Pina, O en-
contro do escritor com o seu silncio. Dissertao de Mestrado em Literatura
Portuguesa. Lisboa: Departamento de Literaturas Romnicas, Faculdade
de Letras Universidade de Lisboa, 2006.
STIERLE, Karlheinz. Existe Uma Linguagem potica? Seguido de
Obra e Intertextualidade. Vila Nova de Famalico: Edies Quasi, Srie
Quasar, 2008.
Recebido para publicao em 14/04/12.
Aprovado em 15/06/2012.
NOTAS
1 Ruy Belo, Na Senda da Poesia. Lisboa: Assrio & Alvim, 2002, p. 79: Noutros termos, quer
isto dizer que a nossa palavra tem um signifcado translatcio, e no original. uma palavra
duas vezes signifcativa na sua origem. Tem por baixo uma outra palavra.
2 H. Helder, Cinemas in Relmpago, n. 3, p. 7: Esta uma espcie de nomeao fsica que
arranca decadncia em ns esparsa das imagens naturais, e transmite, em disciplina e cor-
tejo, o prodgio e o prestgio dos objectos em torno movidos por um inebriamento cerimo-
nial. Refazemos a natureza em imagens simblicas que se podem interpretar literalmente.
3 O paratexto do poema Kindergarten contm a informao da data e do local em que o
poema foi escrito: M. A. PINA, 2001, p. 147.
4 La Bible, Paris: Socit biblique & ditions du Cerf, 1989, p. 1455: Tambm eu te digo: Tu
s Pedro, e sobre esta pedra edifcarei a minha igreja (traduo minha).
165
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
MARIA&JOS:
O LIRISMO ELEGACO DE CRAVEIRINHA
Ana Mafalda Leite (Universidade de Lisboa)
RESUMO
O artigo analisa de que modo a elegia o gnero fundamental na composi-
o dos poemas de Maria, de Jos Craveirinha. A saudade e a dor levam o
sujeito potico a transmutar-se no outro e a feminilizar as temtica evo-
cadas.
PALAVRAS-CHAVE: Amor; Morte; Elegia.
ABSTRACT
Te article analyses the role of the elegy as a fundamental gender of com-
position in the book of poems Maria of Jos Craveirinha. Te longing and
the pain lead to transmute the poetic subject in the other and feminize
the evoked themes.
KEYWORDS: Love; Death; Elegy.
166
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Evoco aqui um poema, que Jos Craveirinha perseguiu, pratica-
mente desde os anos oitenta, o livro de poemas Maria (1998)
1
, um s poe-
ma afnal, redundantemente reescrito. E porqu esta escolha e no outra?
So vrias as razes que me motivaram. A primeira, talvez o facto de ser
uma elegia, gnero que se adequa ao propsito deste texto, que evoca uma
memria, em duplo espelho. A memria do poeta e, por seu turno, da po-
esia que evoca o tributo a sua esposa.
Quando saiu o segundo volume de Maria, que citarei ao longo
deste texto, notei que os poemas insistiam num universo predominante-
mente lrico, em que o tema do amor se conjugava com a morte, e as carac-
tersticas do lirismo, na sua acepo clssica, se tornavam muito evidentes.
O que me levou a fazer esta refexo foram alguns dos motivos/
temas dos poemas, as suas formas, os modos de inscrio do sujeito e, mui-
to especialmente, o cariz obsessivo e repetitivo da evocao. O livro Maria
, penso poder afrm-lo, um nico poema elegaco, que se desdobra num
acto de rememorao constante, em dezenas de pequenos poemas frag-
mentrios, como uma meditao sacral, que redundantemente se acrescen-
ta e no encontra nunca o fm. Inseparvel do canto de Orfeu que procura
a sua Eurdice, Maria desfla numa escrita em que o reino dos mortos se
anima da ressurreio pela palavra: Sine die Porqu trajar de negro/ tre-
zentos e sessenta/e cinco dias. se/ o irrevogvel prazo/ do meu luto/ s
termina/ sine/ die? (CRAVEIRINHA, 1998, p. 225).
Jean Cohen (1973) afrma que toda a linguagem emocional tende
a tomar forma repetitiva, e que com ela a redundncia atinge o seu pleno de
expresso; sabemos tambm que a repetio mais comum o compasso, a
repetio de idnticas unidades de tempo; no caso de Maria temos a repe-
tio de unidades poemticas, que se desdobram, sem cessar, em torno do
mesmo tema, musicalmente.
A lrica , como se sabe, inseparvel da msica; os hinos sagra-
dos ou as canes profanas, nas suas formas arcaicas, eram cantados ou
declamados com o acompanhamento de instrumentos e de dana. Da c-
tara indiana ao alade chins, a lira grega evoca a fuso dos contrrios em
unidade, uma vez que a poesia lrica conjuga o amor e a morte no espao
reservado da encantao musical. Assim aconteceu com os hinos religio-
sos chineses, a poesia persa, as odes de Pndaro ou as baladas medievais.
No entanto, medida que a escrita se imps, a poesia lrica emancipou-se
da msica, e encontrou as qualidades de ritmo, e compasso da msica, na
prpria linguagem.
Maria convoca a msica fnebre em muitos dos ttulos dos poemas:
Miserere em Lhanguene
Longo um spiritual
faz o coro no ambanine das pautas enlutadas.
Condodas
167
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
hstias no Miserere
das violas de brisa nos ramos.
Das mangueiras
lgrimas em neblina
gotejam tristes em Lhanguene.(CRAVEIRINHA, 1998, p. 50)
Com efeito, o trabalho de linguagem da poesia lrica exige uma
unidade entre a msica das palavras e de sua signifcao, entrando em
sintonia com a conhecida assero de Valry, quando afrma que o poema
uma hesitao demorada entre som e sentido. Pressente-se esse movi-
mento analgico, que evoca outros ritmos musicais, em que a melancolia e
a tristeza pairam, e leia-se, por exemplo, o poema o Bule e o Blue, ajustado
invocao da msica do blues afroamericano:
Seu
bule na mo
encho a chvena de ch.
Provo um gole.
Ergo-me quase ao tecto
um doirado anjo em ritmo blue
a tocar piano num arco-ris do Cu.
Oh! Bessie Smith, oh! Bessie Smith!
Era aquele o bule do ch que a Maria tomava.
Oh! Ponho-me blue na voz
de Bessie Smith,oh!ponho-me blue
na voz de Bessie Smith! (CRAVEIRINHA, 1998, p. 205)
A elegia medita sobre o destino do homem. A vocao gnmica
da elegia corresponde a um certo desprendimento da aco, e a sua inte-
rioridade fltra os elementos objectivos do mundo, sugeridos, agora, para
meditar, mais do que para narrar.
Em Maria encontramos muitas vezes textos que fazem um sbio
cruzamento entre ode e elegia, e embora haja vrios poemas longos, que
retomam o ritmo panegrico da escrita de alguns dos mais conhecidos poe-
mas de Craveirinha (poemas do gnero de Manifesto, Hino Minha Terra
2
)
como o caso paradigmtico do poema Maria. Salmo Inteiro (CRAVEIRI-
NHA, 1998, p. 9), a maioria dos poemas do livro Maria curta e alusiva,
como a ttulo de exemplo o poema O trilo: Da ave o trilo/ Pssaro canoro
trilando/ possesso./ Trilando num galho/ exquias./ Recolho e transcrevo
timbre.( CRAVEIRINHA, 1998, p. 239)
H na elegia uma tendncia para encontrar os caminhos da sub-
jectividade. Schiller (2002) afrma que a elegia no a simples expresso
168
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
de uma tristeza; procede, mesmo na dor, de um entusiamo suscitado pelo
ideal, integrando-se naquilo que comum ao texto lrico, a converso do
real em idealidade.
Como se sabe, os motivos do lirismo, em especial a natureza, so
enquadrados de sacralidade e de entusiasmo pelos precursores do roman-
tismo. A morte sela a aliana defnitiva com o amor e a natureza; o senti-
mento de fnitude o alicerce da expresso potica; a tenso do texto lrico
assinala a mgoa de ser, a nostalgia sobre a passagem do tempo, irrevers-
vel, como no poema Belos Lenos: Ah! /Queridos lenos monologando/
sua liturgia de vida./ Tesouros de um ontem/ guardando lembranas na
gaveta.// Sedosos./ Relquias.( CRAVEIRINHA, 1998, p. 70).
A sacralidade , deste modo, uma das vertentes dos textos de Ma-
ria. Com efeito os poemas, alguns deles exibindo, mesmo nos ttulos, essa
componente sagrada, so como um rosrio de repetidas oraes, em que o
sujeito evoca, em estado de contemplao e/ou adorao, amorosamente,
uma presena/ausente, convocando-a a ouvi-lo.
A insistente metaforizao religiosa dos ttulos e que surge tam-
bm no interior das estrofes sublinha este acto de escrita como e com de-
voo. um gesto quotidiano, repetitivo, harmnico como um mantra, o
acto de invocao/inscrio dos poemas de Maria, ecoando nos inmeros
papis escritos pelo poeta, desde a morte da esposa. Leiam-se, nesta linha
de ideias, os poemas Reza, Salve-rainhas ou Sacrrio:
Sacrrio
Ausncia do corpo
Amor absoluto.
Hossanas de sol.
De chuva
de areia
E andorinhas
resvalando as asas
no consternado ombro cinzento
de uma nuvem.
E uma hrbia mantilha
teu sacrrio
velando. (CRAVEIRINHA, 1998, p. 41)
Se repararmos, este conjunto de versos, dedicados a Maria, es-
pacializam, situam no texto, os enquadramentos da evocao, a maioria
das vezes, no interior da casa, num espao, em que a memria recorda,
fragmentariamente, gestos, objectos, palavras, aromas, sabores. Os cinco
sentidos libertam a presena do tempo, e permitem ao sujeito a fuso emo-
cional com/no outro, tal como consentneo disposio emocional do
universo lrico:
169
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A Papaia II
Descasco uma papaia e corto ao meio.
Meticuloso tiro-lhe as mil grainhas.
Cor amarelo de ouro a sua polpa.
Grainhas de azeviche as sementes.
Deliciosa papaia que me entristece.
Papaia da receita de Maria. (CRAVEIRINHA, 1998, p. 92)
Emil Staiger demorou-se na caracterizao do estilo lrico e de-
fne o conceito de disposio anmica (stimmung), como a disposio de
estar nas coisas, e elas em ns. O sentimento de individualidade dissolve-
-se. Chegamos na linguagem lrica ao conceito de fuso (schmelz) (STAI-
GER, s/d, p. 66). Se o narrador da fco torna presentes factos passados,
o poeta lrico no torna presente algo passado, nem tambm o que acon-
tece agora. Ele dilui-se num contnuo presente, recorda, anula a distncia
entre sujeito e objecto, o seu estado de comoo. O fechamento e ensi-
mesmamento do sujeito na redundncia evocativa leva, deste modo, a um
processo enunciativo, marcado pela fuso do sujeito com a evocao, com
a memria: Memria: Modorras/ de crepsculo/ com ramelas de luar.//
E/ um granito/ de memria afada/ nas cartidas do tempo.// Em suma:/
Mesmos no estando/ inevitvel a eterna/ presena de Maria! (CRA-
VEIRINHA, 1998, p. 243)
A narratividade claramente fragmentria, e diluda, em Ma-
ria, tendo em conta a disposio anmica contemplativa e evocativa do
sujeito potico, em que o tempo se repete numa soma de instantes, que
se actualizam Caril Triste: os domingos que me restam/ so domingos/
de quem digere/ um caril ausente/ e em todo o mundo/ o lugar do caril
triste.(CRAVEIRINHA, 1998, p. 193)
Hegel (1996) defne a poesia lrica como um extravasamento, ou
libertao da interioridade potica do sujeito no sentimento; este movi-
mento interior, no seio da sua intimidade, mais dolorosa e mais amorosa,
leva o sujeito potico a fundir-se no outro evocado: Ambos/ juntos na
mesma memria.// Eu/ o Z que no te esquece.// Tu/ a Maria sempre lem-
brada.( CRAVEIRINHA, 1998, p. 145)
Com efeito, em Maria, evoca-se a Casa, a domstica feminilida-
de das situaes e dos objectos, como por exemplo, a captao do gesto
que costura, passaja, arruma, varre, cozinha, limpa o p, espaneja, tricota,
(leiam-se nesta perspectiva poemas como Vassoura, A Cadeira, A Mesa, O
Leno, Linha, Papaias, Caf, A minha Velha Cortina, Persianas, Gola Pu-
da). Este minucioso e longo conjunto de poemas, que torna presente a
ateno ao interior da casa, implica a fuso do eu, sujeito enunciador, com
Maria, e uma constante feminilizao da evocao, que dilui e ressuscita
170
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
em si, a mulher amada: A Vassoura Nos primeiros tempos/ como era
inbil/ nas minhas mos/ a viuvez/ da vassoura./ Hoje em dia/ c nos va-
mos ajustando/ e mal ou bem que remdio/ no tempo do tdio/ vassouras
de ns prprios/ vamo-nos vassourando. (CRAVEIRINHA, 1998, p. 182)
Ao evocar Maria nos poemas de Maria, Jos evoca tambm Jos,
num processo de transfgurao, de que s um sujeito lrico se anima. O
poeta desenvolve, em especial, uma refexo sobre a linguagem, e a lngua
torna-se como que um territrio conventualizado, em que a depurao e a
simplicidade nascem de um trabalho rtmico-meditativo da evocao, da
expanso de um tema universal, a morte, na intimidade obsediante da sua
recordao-encantao amorosa: Os dois eus e a solido Em mim/ a so-
lido j uma pessoa.// Onde/ a um eu que no chora/ um meu outro eu/
chora tudo/ pelos trs. (CRAVEIRINHA, 1998, p. 221)
Em Maria, o sujeito centro e ponto de fuga; o sujeito lrico diz-se
e analisa-se, no outro, tornado o outro, simultaneamente eu e ela; o sujei-
to no tem existncia fora dos estilhaos da sua voz, que transforma e abra-
a o seu eu, na evocao da amada; a sua imagem ao espelho devolve-lhe a
ausncia sempre presente da outra imagem, em que o sujeito potico se
projecta, funde, enuncia e transfgura: N de gravata Num paradoxo de
soluos/ Um eu ao espelho/ Pelas trmulas mos do meu outro/ Cinjo ao
pescoo/ Presunoso n da gravata.( CRAVEIRINHA, 1998, p. 153)
A morte parece ser aguardada como um recomeo amoroso,
como se l neste outro poema de Maria, Boa Nova: O electrocardiograma
promete reatarmos/ nossos dilogos isentos de iluses./ Disso te falo sem
mrbido alvoroo. (CRAVEIRINHA, 1998, p. 64). O livro Maria, continu-
amente escrito e reescrito desde 1979, data da morte da esposa do poeta, s
vir a terminar com a prpria morte do poeta. Muitos outros poemas, em
variantes e variaes foram escritos, embora no publicados. O Posfcio j
existe, contudo, nesta segunda edio de Maria:
Posfcio:
Nostalgias de Maria
So j o posfcio
De um Z pstumo
Em nica edio.
Capa: Annimo
Tiragem: Este exemplar. (CRAVEIRINHA, 1998, p. 175)
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
COHEN, Jean. Estrutura da Linguagem Potica. So Paulo: Editora
Cultrix,1973.
CRAVEIRINHA, Jos. Maria. Maputo: Ndjira, 1998.
171
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
HEGEL. Curso de Esttica: o belo na arte. So Paulo: Martins Fontes,
1996.
SCHILLER, F.. A educao esttica do homem. So Paulo: Iluminu-
ras, 2002.
STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais da Potica. Rio de Janeiro:
Biblioteca Tempo Universitrio, s/d.
VALRY, Paul.Oeuvres II.Paris: Gallimard, 1960.
Recebido para publicao em 15/05/12.
Aprovado em 15/06/2012.
NOTAS
1 As citaes de Maria utilizadas neste artigo reportam-se edio mencionada e detalha-
da nas Referncias Bibliogrfcas. H uma reedio recente desta obra : CRAVEIRINHA,
Jos. Maria. Maputo: Alcance Editores, 2009.
2 Poemas que se encontram no livro Xigubo de Jos Craveirinha.
172
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ARADO DE A. M. PIRES CABRAL:
UMA PAISAGEM DE PROXIMIDADE
Isabel Maria Fernandes Alves
(Universidade de Trs-os-Montes e Alto Douro)
RESUMO
Partindo de Arado, publicado em 2009, esta refexo pretende considerar
a obra potica de A. M. Pires Cabral luz da Ecocrtica. Nesse sentido, co-
mea-se por referir as paisagens que so pertena do poeta e o modo como
elas, fazendo-se texto, so o prprio poeta. Apresenta-se depois a leitura
de alguns poemas tendo como moldura crtica a ideia, explorada pela eco-
crtica, de que a linguagem pode exercer um forte domnio sobre o modo
como se l e interpreta o territrio, a paisagem. Sensvel s ligaes entre
o homem e o espao fsico que habita, a ecocrtica permite salientar uma
perspectiva importantssima na obra de Pires Cabral: o reconhecimento
de que o homem molda o mundo que o envolve, mas, nessa mudana, a si
mesmo se transforma tambm.
PALAVRAS-CHAVE: A. M. Pires Cabral; paisagem; ecocrtica.
ABSTRACT
Based on Plough, published in 2009, this refection aims to consider the
poetry of A.M. Pires Cabral through the lens of ecocriticism. In this sense,
the text begins by noting the various landscapes that are part of the poets
life and art and how they, transformed into language, become the poet hi-
mself. Subsequently, some of poems are read according to the critical frame
of ecocriticism and the conviction that language can have a strong grasp on
how one reads and interprets the land and the landscape. Sensitive to the
connections between man and the physical space he inhabits, ecocriticism
reinforces an important perspective on Cabrals poetry: the recognition
that human culture afects the physical world and is afected by it.
KEYWORDS: A. M. Pires Cabral; landscape; ecocriticism.
173
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Aos meus familiares que vivem no Brasil, e que um dia par-
tiram de Carva, uma aldeia algures no nordeste de Portugal.
Esta refexo crtica sobre o poeta portugus A. M. Pires Cabral
(1941-), partindo da obra Arado, publicada em 2009, pretende oferecer
uma introduo potica do escritor, entrelaando-a com uma perspec-
tiva crtica que, tendo-se afrmado nas ltimas dcadas, procura tornar
mais evidente e mais intensa a relao entre a palavra escrita e a paisagem
1
.
Entendemos por paisagem o que Lcia Lepecki prope: um constitudo
resultante de uma relao cognoscente que destaca, autonomiza, um seg-
mento na totalidade do mundo natural (LEPECKI, 2003, p. 61). A relao
entre sujeito e paisagem, selectiva e hermenutica, assenta no dilogo, na
interpenetrao: a paisagem vista, pensada e sentida ao mesmo tempo, e
indissociavelmente, tanto natureza recortada quanto uma nova organiza-
o da minha pessoa (LEPECKI, 2003, p. 62). Assim, na esteira de Lcia
Lepecki, entendemos que quando falamos das paisagens do poeta, impli-
citamente pensamos que elas dizem o prprio eu que as seleciona e traduz
em palavras. Deste modo, a paisagem torna-se um territrio de criativida-
de, um prolongamento da identidade individual.
Comeamos por referir aspectos naturais da paisagem de Trs-
-os-Montes, uma regio portuguesa situada a nordeste com caractersti-
cas geogrfcas muito marcadas: montanhosa, solos secos, calores inten-
sos, frios memorveis e demorados. Por conseguinte, a fora constituida
por plantas muito resistentes, umas vezes fcando muito rasteiras ao cho,
como a carqueja, outras tentando as alturas, como a giesta que, em abril e
maio, povoam de amarelo as fragas austeras. A regio divide-se entre espa-
os caracterizados por uma natureza em estado selvagem, a condizer com
as encostas abruptas e granticas de alguns dos seus rios, e uma natureza
domesticada: a vinha, a cereja, a amndoa, a batata, o centeio.
A aspereza do territrio e do clima conduziram emigrao e ao
despovoamento e, por isso, em Trs-os-Montes fala sobretudo a paisagem
natural. De assinalar igualmente uma paisagem a gravar-se no rosto e no
olhar daqueles que nela habitam: a rudeza dos modos, a esparsa produo
de alegria, a dureza dos seus tecidos e da a conteno da emotividade dos
seus habitantes. Emana desta paisagem um sentimento de inquietao, de
atrevimento, mas tambm de introspeo. Tudo imensamente parado, mas
com o fogo mineral a mover-se por dentro das entranhas. Como sublinha
Jos Mattoso em Portugal: o Sabor da Terra, por enquanto a regio de Trs-
-os-Montes permanece ainda como harmonizao da cultura com a na-
tureza e uma afrmao da prevalncia do permanente sobre o transitrio
(MATTOSO, 2010, p. 184). Quando se trata de caracterizar a identidade de
um povo, Mattoso prope o que deve ser tido em considerao:
174
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A terra com a sua constituio geolgica, a forma do
seu relevo, a sua relao com a gua, com a tempera-
tura e com o regime dos ventos predominantes. Mas,
logo a seguir, os homens. Antes de mais na sua relao
com essa terra como a fzeram dar os seus frutos,
como se apropriaram dela, como se movimentaram
sobre ela, como se agruparam em funo do que ela
lhes podia dar ou da maneira que ela os podia aju-
dar a defenderem-se. Depois, os homens, enquanto
defnidos pela cultura que criaram, como resposta s
condies de vida que essa terra lhes proporcionou
(MATTOSO, DAVEAU, BELO, 2010, p. 15-6).
Consequentemente, para se falar da terra necessrio que al-
gum escute os rios, as montanhas, as vastas plancies; que se atente no
granito, no xisto, nos movimentos geolgicos, na composio do solo, na
orientao do relevo face ao sol ou ao vento, na exposio s correntes de ar
hmido ou seco. Para os autores de Portugal: o Sabor da Terra, a identidade
portuguesa comea na interrogao acerca do que a terra. Esta, de onde
tudo nasce, e aonde tudo o que vivo acaba por regressar ao morrer, molda
o homem sua imagem e semelhana; ela que o faz beiro ou alentejano,
minhoto ou algarvio. Ou transmontano.
Se a estas consideraes juntarmos a refexo de Jean-Marc Besse,
a relao entre o homem e a paisagem torna-se ainda mais clara: ela per-
mite manter uma relao viva entre o homem e a natureza que o envolve
imediatamente. A paisagem desempenha o papel da mediao, que per-
mite natureza subsistir como mundo para o homem (BESSE, 2006, p.
82). paisagem concedida uma densidade ontolgica, tornando-se na
expresso da aventura humana; interrog-la retomar os recusos discur-
sivos, conceituais, imaginrios, que so os nossos recursos em relao ao
mundo (BESSE, 2006, p. 83).
Entendendo as consideraes anteriores como uma moldura f-
sica e humana, acrescente-se que o enquadramento crtico obra de A. M.
pires Cabral se far atravs da ecocrtica. Este o nome de um movimento
crtico dos estudos literrios e culturais que, nas ltimas duas dcadas, tem
vindo a adquirir relevo em diferentes academias do mundo. A ecocrtica,
escola surgida nos Estados Unidos em meados da dcada de oitenta do s-
culo vinte, nasce da resposta que a rea das Humanidades quis dar crise
ambiental que afecta os sistemas bsicos da vida no nosso planeta, sentindo
que essa crise tambm uma crise cultural. O que est mal no acontece
devido a um defciente funcionamento dos ecossistemas, mas, antes, por
causa do modo como funcionam os sistemas ticos, da que seja impor-
tante compreender de que modo o homem tem agido sobre o ambiente:
quais os desejos, as ambies, os medos que esto na base das paisagens
que cria. No possuindo as ferramentas tecnolgicas que objectivamente
permitam alterar a situao de crise, os estudiosos das Humanidades po-
dem, contudo, contribuir, juntamente com os historiadores, os flsofos,
175
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
os antroplogos, para um maior entendimento das difculdades, facto que,
por sua vez, gerar um maior desejo de a combater. Como crticos, importa
encorajar, descobrir e desenvolver abordagens que privilegiem percepes,
atitudes e aces criativas e imaginativas do ponto de vista ecolgico.
2
Da
que, e como salienta Lawrence Buell, numa perspectiva ecocrtica, o crtico
chame a ateno para aquele texto onde o ambiente no humano no
apenas cenrio, mas uma presena que sugira que a histria da humani-
dade parte da histria natural; que sublinhe o texto onde o interesse do
homem no entendido como o nico interesse legtimo, e onde prevalece
uma responsabilidade tica para com o ambiente; que realce o texto onde o
ambiente um processo, e no uma ddiva (BUELL, 1995, p.7-8).
No centro do pensamento ecocrtico est a refexo acerca das
formas de representao discursiva da terra, acerca do modo como as for-
mas simblicas revelam tambm as prticas textuais de uma cultura. O ser
humano vive e pensa atravs da linguagem, por isso repensar a paisagem
literria, tal como pretende fazer a ecocrtica, um modo de repensar o
prprio mundo; veja-se o que diz Joaquim Gonalves: a intencionalidade
da linguagem, tal como as fguras estruturantes dela, em vez de algemar
as coisas com um sentido nico, como sucede com a linguagem cientfca,
abres-lhes horizontes de possibilidades mltiplas (GONALVES, 2001, p.
18). Esta afrmao encontra eco na viso de Italo Calvino em Seis Propos-
tas Para o Prximo Milnio:
A literatura s vive se se propuser objectivos desme-
didos, mesmo para alm de qualquer possibilidade de
realizao. S se os poetas e escritores se propuserem
empresas que mais ningum ouse imaginar, que a
literatura continuar a ter uma funo. Desde que a
cincia desconfa das explicaes gerais e das solues
que no sejam sectoriais e especializadas, o grande
desafo para a literatura o de saber tecer conjunta-
mente os diferentes saberes e os diferentes cdigos
numa viso plural e multifacetada do mundo (CAL-
VINO, 1990, p. 134).
Decorrente do exposto, compreende-se melhor o objecto de estu-
do da ecocrtica: estudar, analisar as relaes entre o homem e o meio-am-
biente tal como surgem nos textos literrios (fccionais e no fccionais).
Deste modo, a ecocrtica tenta responder a vrias questes: como surge a
natureza representada neste poema ou neste romance? Quais os valores
expressos nesses textos? Como podem as metforas acerca da terra infuen-
ciar o modo como o leitor trata essa mesma terra? Tendo como modelo a
ecologia, a cincia que estuda as relaes do homem com a sua casa oikos
, a ecocrtica procura salientar o que no texto promove o homem como
entidade no separada da natureza, mas como criatura interdependente
dos processos naturais que regem a vida humana na terra: o ciclo dos dias,
as estaes do ano, a interaco entre os ecossistemas. Juntando a voz das
Humanidades das Cincias, a ecocrtica pergunta: de que modo quer o
homem viver (n)a terra?
176
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A. M. Pires Cabral escreve sobre a paisagem, ou seja, escreve
sobre essa relao ntima entre a geografa e a inscrio humana no solo.
Numa das melhores snteses sobre a sua poesia, Joaquim Manuel Maga-
lhes sustenta que estamos perante um olhar enraizado num real particu-
lar, mas perspectivando nele os mpetos de presena do natural e do vivido,
o vigor com que a vida irrompe das situaes quotidianas, o fulgor com
que as coisas humildes criam um espao de resistncia degradao do
mundo (MAGALHES, 1998, p. 160). Ainda de acordo com este crtico,
do encontro entre o mundo rural e a viso potica de Pires Cabral resulta
essencialmente uma revitalizao da linguagem. Assim, a poesia de Pires
Cabral se, por um lado, devolve os lugares, a fsionomia, a fauna e a fora
de uma paisagem que antes de ser linguagem geografa, por outro lado,
atravs dos jogos de linguagem que o poeta convida o leitor a entrar nesse
mundo maravilhoso. O que nesta leitura da sua poesia se pretende privile-
giar o modo como uma viso de proximidade arrasta o leitor para junto
de detalhes que obrigam a ver de novo o que parecia familiar, e o modo
como, atravs de uma hermenutica paisagstica, o leitor encontra outras
possibilidades de ler a paisagem e, conseqentemente, outras possibilida-
des de olhar o mundo natural, aprendendo a senti-lo como parte integrante
da comunidade que habita. Finalmente, e perante os mltiplos confrontos
do homem com a mudana, com a desagregao, com a morte, a paisagem
impe-se como uma fora de integrao, de unifcao. assim na poesia
de A. M. Pires Cabral.
O Livro dos Lugares e Outros Poemas (2000) considera um con-
junto de textos que remetem para a geografa (prxima) do poeta. As pai-
sagens originais usando uma expresso de Olivier Rolin esto l: o nor-
deste transmontano (Alvites, Malta, Rio Tua,Penedo Duro), a terra
fria de Vila Real (Serra do Alvo, S. Miguel da Pena) e a regio do Dou-
ro (Quinta do Noval). Em cerca de doze poemas, o poeta circunscreve a
sua geografa potica, sublinhando igualmente o centro da sua criatividade
e inveno. Se o poeta A. M. Pires Cabral parte de uma toponmia concreta,
nomeando os lugares que lhe marcam a vida e a poesia, esses lugares so
tambm a totalidade da experincia humana a vivida. Assim, se esta pai-
sagem se faz de oliveiras e guas serenas, soutos, giestas e fragas, guias e
silncio, tambm lugar de gente que luta com a enxada, que constri pata-
mares e geios, que fabrica o po, que reza, vivendo, algumas o destino ter-
restre de quem vive/ e morre ribeirinho (PIRES CABRAL 2004, p. 245)
3
.
No trajecto de Pires Cabral, este livro, nomeadamente esta parte dedicada
aos lugares, clarifca as paisagens em redor das quais nasce e cresce a sua
poesia, e que ele j tinha projectado em Algures a Nordeste (1974)
4
. Interes-
sante o facto de O Livro dos Lugares e Outros Poemas anteceder um outro
livro de poesia Como se Bosch Tivesse Enlouquecido (2004), que assinala um
importante marco no percurso literrio do escritor, frmando-o como uma
voz singular no panorama da poesia portuguesa contempornea.
5
177
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Se, numa perspectiva ecocrtica, Arado uma obra de imensa ri-
queza interpretativa, pois mantm um dilogo inspirador com a paisagem
do nordeste, e com o primeiro livro Algures a Nordeste, este tambm uma
continuao dos temas da potica de Pires Cabral: a ruralidade, a relao
com o transcendente, a angstia perante a morte, a leitura do ciclo da vida
humana em dilogo com o ciclo csmico. Em Arado, e tendo presente o
tema que mais nos interessa, o da relao entre o homem e o mundo fsico
que o rodeia, e apesar da muito presente ruminao sobre a morte, a natu-
reza oferece ao poeta imagens de vida e vigor, de revelao e regenerao.
Desde logo, o ttulo - Arado. Este um instrumento de criao,
uma alfaia humilde, rudimentar, diz o poeta. Ele a base da rdua agri-
cultura de que nos fala em Solo Arvel (1976). A agricultura nesses lugares
e nesse tempo (falamos dos anos sessenta, setenta do sculo vinte), por ser
inqua e o mais caro sonho de vero conduz os agricultores a partir,
opressos sob o jugo excessivo/ voz exausta de cantar aps o arado (CA-
BRAL, 2004, p. 115). Atravs da poesia de Pires Cabral atravessam-se luga-
res e tempos de uma realidade antropolgica transmontana, modos de vida
e de sentir daqueles que laboram a terra, a semeiam de frutos e de centeio.
No primeiro poema do seu primeiro livro, pode ler-se: Em tudo eu senti
que, terra, ests presente e por isso se mostra disponivel para deixar fuir
assim em alvoroo/ a disponvel ternura, o canto instado: (CABRAL,
2004, p. 11). De sublinhar que este primeiro poema no termina com um
ponto fnal, mas com dois-pontos: ou seja, simbolicamente o poeta dispe-
-se a continuar a cantar a terra que o frabricou e lhe urgente. Terra Ma-
ter apenas o prtico de um reino que o poeta ir assumir: Aqui e agora
assumir do Nordeste/ a voz hostil (CABRAL, 2004, p. 12).
Porm, o arado do poema que d nome ao livro, e trinta e cin-
co anos depois, j no o mesmo arado. Literal e simbolicamente, um
instrumento ferido de corroso. A lavoura j no existe, e por isso jaz a
um canto do quintal, abandonado. Agora, passados tantos anos, o poeta
servir-se- dessa alfaia para abrir sulcos de palavras, de genesacas pala-
vras. No poema, onde se l arado poder-se-ia ler poesia: a mecnica do
arado rudimentar,/ clarividente e sbria. Nada tem/em demasia: o que
a funo requer/ e nada mais.// No perfl efciente do arado/ h qualquer
coisa de navalha, qualquer coisa/ de falo em riste, em transe de fecundar
(CABRAL, 2009, p. 11). de poesis, da ofcina potica, que se fala aqui.
Arado est dividido em trs partes. Na primeira parte, da arte do arado
que se fala: a arte de fecundar De facto, noutros tempos,/ era o arado que
rasgava a terra,/ fazia dela um ventre aconchegado -/ cenrio certo para o
defagrar da vida/ que vai dentro das sementes. (CABRAL, 2009, p. 11).
Mas depois, no tempo que o nosso, a agricultura deixou de existir nos
gestos quotidianos dos homens/ e das mulheres (CABRAL, 2009, p. 11), e
agora, diz-se na segunda parte, sem as genesacas tarefas da lavoura, o ara-
do est no curral,/ encostado a um canto (CABRAL, 2009, p. 12). Encos-
tado ao abandono, mas tambm ao canto que foi o seu o de fazer cantar a
178
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
terra , o arado serve agora de poleiro s galinhas quando chega a hora de
cismarem. Melanclico, antecipa/ a hora da corroso (CABRAL, 2009,
p. 12), diz o sujeito potico que parece entender intimamente o destino
do arado, uma certeza reiterada na terceira parte do poema: Mas o arado
perpetua-se em mim (CABRAL, 2009, p. 13). E o que a seguir o leitor l
uma composio em colagem, onde arado e poeta podem ser lidos simul-
taneamente: De facto, em horas de arriscada exaltao,/ gosto de pensar
nestes versos como sendo/ um arado com que rasgo outras terras/ mais
volteis e menos arveis,/ e nelas julgo deixar alguma semente (CABRAL,
2009, p. 13). Repete-se, a expresso de facto na primeira e terceira parte do
poema, como que para frmar a cisma do poeta: a inevitvel proximidade
dos destinos do arado e do poeta: Ei-lo cabisbaixo no quintal./ No sei de
mais lastimosa coisa/ do que um arado ferido de desuso,/ encostado a um
canto,// poleiro improvisado,// pasto de ferrugem e carcoma,// lenha em
breve (CABRAL, 2009, p. 13).
Quando se l Terra-Mater ou Arado, no podemos deixar de
assinalar a assimilao da mulher terra arvel e, como ensina Mircea Elia-
de, no podemos deixar de ver que, implicitamente, se assimila o falo
enxada e a lavra ao acto generador (ELIADE, 1992, p. 328). Mas se pres-
sentimos aqui uma identifcao do poeta com a imagem primordial da
Terra-Me, presente em muitas partes do mundo, no caso deste poema de
Pires Cabral, a semente deitada ao solo a da poesia, tambm ela corpo
feminino a fecundar, como se l no poema que se segue a arado e que
se intitula Terra Mater. Para alm de manter um dilogo com esse outro
escrito trinta e cinco anos antes, o primeiro poema do primeiro livro de
poesia, todo este poema a reiterao do fascnio: Ainda se v, olhando
daqui,/ deste lugar retalhado de ventos,/ a terra mater. A repetio do ad-
vrbio ainda, a prolongar a emoo despertada pela terra: ainda emocio-
na, e ainda chama, e por isso o poeta fala com ela, dizendo-lhe: Sei hoje,
ao cabo da balbrdia oca/ de todas estas dcadas perdidas,/ que s com a
chave do silncio posso/ abrir ainda uma porta no teu corpo de azeite // e
penetrar em ti como num templo (CABRAL, 2009, p. 14).
A perspectiva antropolgica de Mircea Eliade contribui tambm
para o entendimento de uma parte de Arado, uma vertente relacionada com
a temtica da morte. Se, por um lado, Pires Cabral manifesta um profundo
fascnio pela terra como smbolo da vida e da regenerao, por outro lado,
ela tambm o smbolo do desejo ancestral de, depois da morte, regressar
Terra-Me. Disso exemplo Algures a Nordeste Parte Dois e De volta
a casa ou Infncia Revisitada. No primeiro poema, dividido em trs partes,
o poeta vai acercando-se declaradamente do solo do Nordeste e do livro
verde que escreveu trinta e cinco anos antes, reconhecendo, porm que
tudo est mudado do que foi (CABRAL, 2009, p. 15). E se em Algures a
Nordeste o poeta tinha apresentado o Nordeste como a oitava direco do
mundo, agora, e perante campos em runas, infestados/ de plantas ruins, e
perante a mudana, foi como se tivessem removido/ da bssola a oitava di-
179
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
reco,/ aquela que apontava para um norte/ mais lavado (CABRAL, 2009,
p. 16), o sentido do Nordeste alterou-se. Mas, na terceira parte do poema, o
sujeito lrico clama: Ah, mas eu mantenho-me fel.// Como um co dormi-
do no seu ninho,/ redondo de sono,// assim eu me enrosco no Nordeste/ e
respiro contente o que dele fcou,/ por pouco ar que seja (CABRAL, 2009,
p. 17). A mesma ideia de paisagem modifcada a fsica e a da alma: Tudo
mudou, percebes? (CABRAL, 2009, p. 21) e a mesma ideia de regresso:
confessa: no tinhas imaginado/ to trpego regresso (CABRAL, 2009, p.
22). O poeta v-se como flho prdigo que casa regressa, para encontrar
no um pai sua espera, mas to-somente/ o co de outrora, sonolento e
com cataratas,/ que, reconhecendo-te embora pela voz,/ j est velho de-
mais para abanar a cauda (CABRAL, 2009, p. 22). O poeta aproxima-se
da Terra, mas esta seguiu o seu curso, indiferente, ao seu desejo; regressa
casa, mas para encontrar ora casas, ora campos em runas. Nesta obra, o
poeta vai dando conta de mltiplas formas de aprisionamento e morte, e de
como, contra esta realidade, ele pretende manter-se vivo. Formas de vida e
morte entrelaam-se nestes poemas, viso presente desde logo no ttulo: o
arado, como alfaia agrcola, remetendo para a morte, e a sua assimilao ao
instrumento que rasga sulcos de poesia, uma forma de vida.
Vegetao e animais contribuem tambm para a dramatizao do
confito entre a luta pela sobrevivncia, pertena do natural e instintivo, e a
aguda conscincia da morte que acompanha o poeta. A presena da fora e
da fauna em Arado (como em muitas outras obras de A. M. Pires Cabral),
sendo uma herana da tradio oral e popular portuguesa, evidencia uma
geografa potica particular. Assim, trata-se sobretudo de sublinhar o co-
nhecimento que o poeta manifesta acerca da observao do comportamen-
to animal e da morfologia das plantas, um conhecimento que, sublinhe-se,
advm, por um lado, da experincia e, por outro, do cultivar de uma arte
de ateno, da proximidade. Uma ateno que, por seu lado, evidencia uma
viso mais biocntrica, uma concepo mais alargada de comunidade, de
modo a integrar nela, como sugere Aldo Leopold, os solos, as guas, as
plantas e os animais (LEOPOLD, 2008, p. 190). O poeta no se despe de
um olhar humano e, em ltima anlise, sobre o homem que se fala, mas,
como se referiu, esta uma poesia que abre a possibilidade de acolher, atra-
vs da linguagem, o que na paisagem aparentemente no tem voz.
Em Arado, as aves e que outros animais estaro mais prximos
de representar a liberdade, a imaginao, o desejo de infnito? so uma
presena signifcativa: o pardal, a pomba, a lavandisca, o melro, a ando-
rinha, aves que desenham um bestirio que ao mesmo tempo pulso e
prosdia da natureza (GURREIRO, 2009, p. 34) e um caminho directo para
o fundo mais trgico da animalidade humana (CORTEZ, 2009, p. 22-3).
Veja-se, em relao ao primeiro caso, os exemplos da lavandisca e do par-
dal, presenas de forte vitalidade, e por isso reparadoras do esprito cansa-
do: a lavandisca ave travestida de cometa/ (por causa da longa cauda e
tambm/ do glorioso esplendor da cor cinzenta),/ por milagre equilibrada
180
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
sobre pernas dbeis como fos de cabelo/ e que tanto correm -// um bem-
-vindo sol intrometido/ no nevoento dia da cidade (CABRAL, 2009, p.
30); mas enquanto o alumiar o mal explicado/ lume que falta de melhor
dizemos vida,/ possa o pardal mquina de altercar -/ encher-nos a alma
com o seu estrpito/ e intensa vitalidade (CABRAL, 2009, p. 31). Ao mes-
mo tempo, as aves oferecem a possibilidade de um olhar sobre o lado mais
sombrio do homem, como o caso do poema Melro em gaiola: o melro
na gaiola aprende depressa/ a proporcionar o voo e a voz ao espao que
tem./ O impulso maior do que o espao disponvel./ E canta isto , ri-se
como se fosse dono/ duma fatia de mundo razovel (CABRAL, 2009, p.
26). Tendo j referido que as histrias acerca de animais so um modo de
dar um recado aos homens
6
, Pires Cabral reconhece no melro um pouco
de si, um pouco dos homens: E todavia,/ as risadas do melro na gaiola/
fazem-me rasges por dentro/ como se em vez de riso fossem pranto (CA-
BRAL, 2009, p. 28).
Mas sobre Irm cotovia que nos debruamos agora; este um
poema onde a ave surge defnida por um habitat e comportamento prprios:
Vive rente ao solo e no solo
que faz ninho e sacia a fome
com as coisas do cho e em silncio.
Porm, quando precisa de cantar,
muda de elemento: deixa a terra,
sobe altssimo, at onde
nenhum outro pssaro se arrisca.
Dir-se-ia
que precisa de um palco.
Ento dos limites do voo, quase imvel,
vai derramando breves, repetidos
jorros de jbilo, assim como quem diz:
vejam como estou alto, sustentada
por to frgeis asas.
Depois que desafogou o peito
das inadiveis premncias da voz,
apeia-se, torna ao solo,
dissimula-se na cor parda da terra,
como se nunca tivesse voado. (CABRAL, 2009, p. 33)
Este poema manifesta um olhar de proximidade com aquilo que
humilde, do hmus, da terra que ensinam o olhar a surpreender o acon-
tecimento, ou seja, o nascimento do ser () pelo avesso (BESSE, 2006,
181
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
p. 105). Atento ao mundo no humano, o eu surge menos visvel a fm
de que os outros elementos do mundo natural tomem o lugar de perso-
nagem principal. Repare-se que no se trata apenas de nomear a ave, mas
sobretudo evidenciar um conhecimento relativamente a um habitat, a uma
histria particular. No entanto, se a observao do comportamento animal
inscreve verdade e real no poema, o leitor no pode deixar de ser sensvel
ao arrojo do voo e ao fogo que dentro do peito desafogou. O poeta fala
do poeta; com este, a cotovia comunga um vnculo terra, mas tambm o
apelo das alturas, o apelo do infnito. Assim, se a cotovia tem mais asas e
uma voz mais ntida e ch (CABRAL, 2009, p. 34), o poeta, conclumos,
sabe imit-la.
E se Irm cotovia se torna central numa perspectiva ecocrtica,
um outro poema nos parece particularmente relevante: Parbola da erva.
Neste texto, o poeta continua a dar lies, e a oferecer ferramentas morais
e estticas com as quais se aprende a manejar a diversidade e pluralida-
de do mundo. Ecoando, por um lado, a linguagem bblica, e, por outro, a
linguagem profana de Walt Whitman (Creio que uma folha de erva no
vale menos que a jornada das estrelas), o poeta fala-nos da humilde erva
para nos falar do orgulho dos homens. Dividido em trs partes, o poema
comea por avisar: nada no mundo deve ser subestimado. A seguir, diz
da utilidade da erva: Esta erva apesar de to humilde,/ sempre nos ensi-
na alguma coisa.// A perseverana, por exemplo (CABRAL, 2009, p. 43).
Claro que sempre possvel elimin-la, diz o sujeito potico, assinalando
as formas de morte de que o homem capaz: atravs da qumica, da remo-
o de folhas, do arranque da raiz. Na terceira parte do poema, o poeta d a
viso fnal, a lio ltima: a perseverana da erva afnal uma manifestao
de como subir os degraus partidos/ da escada da eternidade. Aliado de
uma sabedoria ecolgica a dinmica dos ciclos das plantas , o poema
torna possvel entender a erva como exemplo de perseverana e sobrevi-
vncia: Podemos mat-la mas nunca suprimir/ a vontade impressa nela de
se perpetuar./ Na sua ardilosa fragilidade uma leoa,/ quando se trata de
competir por um territrio,/ ou por gua, ou por sol -/ as coordenadas da
vida (CABRAL, 2009, p. 45). Uma sabedoria antiqussima, adaptvel e di-
nmica, permitiu erva gerir a sua sobrevivncia enquanto semente e no
fm do ciclo de vida: e sobrevive ainda quando morta/ e seca se transforma
no estrume/ que alimenta as do seu sangue/ que deixou semeadas./ Sabe
que se alimenta a si mesma/ quando alimenta a sua gerao (CABRAL,
2009, p. 45). Se o nosso propsito , neste momento, acentuar uma sabedo-
ria acerca do mundo natural apoiada na experincia e na observao, no
passa despercebido o paralelismo: o poeta, empenhado bicho na procura
das coordenadas da vida, deixa nos sulcos abertos pelo arado do tempo a
semente a palavra que sobrevir morte do corpo e alimentar a sua e
outras geraes.
Na poesia de Pires Cabral, o mundo natural adquire protagonis-
mo, no s atravs do recurso a uma linguagem e a metforas do mundo
rural, mas, como j se disse, cedendo o palco a um conjunto de elementos
182
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
que a histria do homem ocidental tende a desconsiderar, a ver apenas
como algo que existe para satisfazer o seu desejo de bem-estar. Em Arado,
as plantas, as aves, a terra mater como que sobem ao palco, s alturas, para
a dizerem a sua cano. certo que apenas num ou dois casos, Formiga
de asa ou o caro da Mirmecolndia e Mantis Religiosa, se d voz ao ani-
mal, uma primeira pessoa que sublinha a encenao do verso; nos poemas
restantes, h sobretudo a diviso do poema em duas ou trs partes, como se
de teatralizao se tratasse, dando-se, num primeiro momento, a apresen-
tao daquilo que olhado, para depois se apresentar uma maior intimida-
de, um maior conhecimento do animal ou da planta, at quele momento
de maior tenso dramtica em que se encena uma fuso entre o eu e aquilo
que retratado (mas o arado perpetua-se em mim; e todavia,/ as risadas
do melro na gaiola/ fazem-me rasges por dentro; a vinha .../ perdura
viva em mim), uma carnavalizao que permite ao poeta entrar no mundo
animal ou vegetal e trajar-se como se um deles se tratasse. Este processo de
desdobramento nasce, como se tenta mostrar, de uma experincia fsica,
corporal, de uma experincia em muito paralela do agricultor cujo labor
dirio se faz com o corpo e cuja sabedoria advm do contacto com a terra,
com o vento, com a gua, com os animais e plantas.
A encenao de novo importante num outro conjunto de poe-
mas que reforam, a nosso ver, a possibilidade de uma leitura ecocrtica de
Arado; falamos dos poemas que, sob o ttulo geral de Alguns dos meses,
apresentam particularidades associadas a um dado ms do ano. Ocorre
pensar nas iluminuras do livro Les Trs Riches Heures du Duc de Berry,
do sculo XV, onde o sentido de cada pintura completado pelo nome
do ms que lhe est associado. Ali, naquelas pinturas, a vida do homem
da Idade Mdia enquadrada pela mutao da terra e das estaes; ali, o
mundo humano e no humano comungam de um mesmo destino: viver
sob o signo de um determinado ms, de um labor especfco, e sob uma
determinada luz. De igual modo, e nos poemas assinalados, se sente um
mesmo enquadramento cclico da vida do homem situado aqui a norte,
lanando-se luz sobre aspectos especfcos de alguns dos meses. Assim,
por exemplo, Janeiro ri de mau (CABRAL, 2009, p. 53), Maro, ms em
que se cumpre a Primavera, pode revelar-se no mais do que o descanso
do Inverno guerreiro (CABRAL, 2009, p. 55), em Abril pode acontecer
a dolosa ocultao da Primavera (CABRAL, 2009, p. 56), de Maio pode
esperar-se a gloriosssima desordem (CABRAL, 2009, p. 57), em Dezem-
bro entram em cena a faina da azeitona, mas tambm a noite prematura
e alongada,/ as ilegveis pginas das guas,/ s vezes neve (CABRAL, 2009,
p. 61). Estes so momentos da vida a Nordeste. E se em toda a extenso de
Arado se encontra presente um tempo que ao passar causa runa e morte,
co-existe nos poemas um outro tipo de tempo, o cclico, aquele que, em
cada primavera, anuncia a ressurreio depois da morte. J em Tmporas
da Cinza (2008), Pires Cabral deixara implcita a existncia de um calen-
183
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
drio sagrado, de um tempo outro, um tempo de encontro entre o homem
e o transcendente. Nesse sentido, a presena dos meses, mais do que um
calendrio sobre a mudana das estaes, uma ruminao sobre o ciclo
da vida humana.
Comemos por nos referir s paisagens do Nordeste, mas esta-
mos j em territrio do transcendente. Territrio em que o poeta se move,
e que os versos sei de lugares onde h pedras/ que conversam comigo
(CABRAL, 2009, p. 61) iluminam, pois o poeta, semelhana de San Juan
de la Cruz (1542-1591), quando escuta a natureza o transcendente que
ouve. A presena do mundo no humano do nordeste plantas e bichos e
pedras bem pode representar um modo de dilogo com o divino, com o
mistrio da existncia humana. Sem voz, esses seres partilham com o poeta
uma certa condio de silncio e solido. A sua presena , no entanto, vital
para que tudo o resto acontea; veja-se o efeito demolidor de uma simples
borboleta atirada cara: Uma simples borboleta, quem diria?/ e passa a
gente metade da vida/ a procurar sentido para a outra metade -// quando
de tudo o que precisamos, afnal, para tudo entender e pr no stio,/ ape-
nas de uma boa borboleta quotidiana. (CABRAL, 2009, p. 82)
Regresso, neste ltimo momento, ao livro de Jos Mattoso para
sublinhar a apologia que ali se faz do olhar contemplativo, do olhar que, des-
pojado, se deixa tocar pela proximidade dos seres, revelando, antes de mais,
o reconhecimento da alteridade do ente observado e
renncia a qualquer tentao de o dominar ou pos-
suir. Signifca tambm ateno a todos os pormeno-
res, mas sem esquecer a totalidade que eles formam.
Signifca ainda gozo, encantamento e alegria pelo que
o ente observado tem de admirvel e nico (MATTO-
SO, DAVEAU, BELO, 2010, p. 16).
Esta afrmao sintetiza, de forma cabal, o objectivo e mtodo da
ecocrtica. Sintetiza, tambm, a forma como a poesia de Pires Cabral, atra-
vs de um dilogo com o visvel e invisvel das coisas e dos lugares, se faz
voz do mundo natural, ou melhor, da interligao que o poeta sabe existir
entre os sistemas naturais e a vida humana. Refetindo sobre o modo como
a poesia se pode constituir uma forma de salvar o mundo, John Felstiner
declara: Te saving grace of attentiveness, and the way poems hold things
still for a moment, make us mindful of fragile resilient life and thereby po-
etry can save the earth, person by person, our earthly challenge hanging on
the sense and spirit that poems can awaken (FELSTINER, 2009, p. 357).
Salvar, neste contexto, assim como em Arado, signifca promover a aten-
o, praticar a proximidade e a humildade com os seres e as coisas. Veja-se
como a refexo de Felstiner, os poemas de A. M. Pires Cabral, a convico
de Mattoso confuem numa mesma ideia de que a poesia cultiva a proxi-
midade; perante a urgncia de se travar a eroso dos solos (e das almas), a
poesia oferece respostas na medida em que o poema, ao pedir ao leitor que
184
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
pare, que leia e que oua o mundo (natural), pede tambm o alargamento
do esprito humano e a activao da imaginao, ajudando-o a religar-se
s coisas e aos seres do mundo, ajudando-o a manter-se prximo desse
mesmo mundo.
Em Portugal, pas que demonstra uma indiferena generalizada
pelo seu patrimnio natural, a poesia de A. M. Pires Cabral redireciona o
gosto e o gesto do leitor para com a natureza, pois para alm de apresentar
uma proposta esttica singular, enuncia tambm uma tica de responsabi-
lidade e um empenho na construo de um quotidiano ambientalmente
mais equilibrado e humanamente mais justo. Atravs de uma linguagem
que ganha vitalidade quando se aproxima dos seres e das coisas, esta poe-
sia reinventa a terra, abrindo possibilidades de (re)ligao entre o homem
e a natureza. Emprestando ateno e silncio ao mundo, a poesia de Pires
Cabral conduz o homem a olhar a terra como um lugar frgil e fnito e que,
por isso, necessita ser respeitada e ouvida. Comece-se por escutar o poeta;
ele sabe de lugares onde as pedras conversam.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BESSE, Jean-Marc. Ver a Terra: Seis ensaios sobre a paisagem e a geo-
grafa. So Paulo: Perspectiva, 2006.
BUELL, Lawrence. Te Environmental Imagination: Toreau, Nature
Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge/London: Te
Belknap Press of Harvard University Press, 1995.
CALVINO, Italo. Seis Propostas para o Prximo Milnio. Lisboa: Teo-
rema, 1990.
CABRAL, A. M. Pires. Antes que o Rio Seque. Lisboa: Assrio & Alvim,
2006.
______. Aqui e Agora Assumir o Nordeste: Antologia. Seleo e organi-
zao de Isabel Alves e Herclia Agarez. Lisboa: ncora editora, 2011.
______. Arado. Lisboa: Cotovia, 2009.
CORTEZ, Antnio Carlos. A. M. Pires Cabral: Parbolas, palavra, po-
tica. Jornal de Letras, 3-16, p. 22-3, junho 2009:
ELIADE, Mircea. Tratado de Histria das Religies. Lisboa: Edies
Asa, 1992.
FELSTINER, John. Can Poetry Save the Earth?: A Field guide to Natu-
re Poems. New Haven & London: Yale UP, 2009.
GONALVES, Joaquim. Ambiente e Linguagem. In: Natureza e Am-
biente: Representaes na Cultura Portuguesa. Cristina Beckert, coord. Lis-
boa: Centro de Filosofa da Universidade de Lisboa, 2001, p.13-19.
185
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
GUERREIRO, Antnio. A prosdia da natureza. Expresso, p. 34, 18
abril 2009.
LEOPOLD, Aldo. Pensar como uma Montanha. guas Santas: Edi-
es Sempre-em-P, 2008.
LEPECKI, Lcia. A me promscua: sobre natureza e paisagem. In:
___. Uma Questo de Ouvido: Ensaios de Retrica e Interpretao Literria.
Lisboa: Dom Quixote, 2003, p.55-65.
MAGALHES, Joaquim Manuel. Sobre a Poesia de A. M. Pires Ca-
bral. In: CABRAL, A. M. Pires. Artes Marginais. Lisboa, Guimares Edito-
res, 1998, p. 157-169.
MATTOSO, Jos, DAVEAU, Suzanne, BELO, Duarte. Portugal: O Sa-
bor da Terra. Lisboa: Temas e Debates, 2010.
MOURA, Vasco Graa. A. M. Pires Cabral: um clssico no Nordeste.
Tellus, n. 46, p. 68-78, junho 2007.
ROLIN, Olivier. Paisagens Originais. Lisboa: Edies Asa, 2000.
RUECKERT, William. Literature and Ecology. In: GLOTFELTY,
Cheryll & FROMM, Harold (eds.). Te Ecocriticism Reader. Athens and
London: Te U of Georgia P. 1996, p.105-123.
Recebido para publicao em 20/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
NOTAS
1 Esta uma verso modifcada de Um dilogo entre a poesia de A. M. Pires Cabral e a
Ecocrtica, publicado na revista Tellus: Revista de Cultura trasmontana e duriense, n 55,
Grmio Literrio Vila-Realense, p. 26-36, junho 2011.
2 William Rueckert em literature and Ecology questiona a desejvel relao entre litera-
tura e ecologia da seguinte forma: how can we move from the community of literature to
the larger biospheric community which ecology tells us (correctly, I think) we belong to
even as we are destroying it? (RUECKERT, 1996, p. 121) Num outro momento do texto,
responde: turn to the poets. And then to the ecologists. We must formulate an ecological
poetics. We must promote an ecological vision (RUECKERT, 1996, p. 114).
3 Em relao a obras anteriores a Arado (2009), as citaes referem-se edio de Antes
que o Rio Seque: Poesia Reunida (2006).
4 Da obra potica de Pires Cabral constam os seguintes ttulos: Algures a Nordeste (1974),
Solo Arvel (1976), Trirreme (1978), Nove Pretextos tomados de Cames (1980), Boleto em
Constantim (1981), Os Cavalos da Noite (1982), Sabei por onde a Luz (1983), Artes Margin-
ais: Antologia Potica (1998), Desta gua Beberei (1999), O Livro dos Lugares e Outros Po-
emas (2000), Como se Bosh tivesse Enlouquecido (2003), Douro: Pizzicato e Chula (2004),
186
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Que Comboio Este (2005), Antes que o Rio Seque: Poesia Reunida (2006), As Tmporas da
Cinza (2008), Arado (2009), Cobra dgua (2011). Para alm de poesia, escreve romances,
destacando-se Crnica da Casa Ardida (1992), e O Cnego (2007). Escreve crnicas e con-
tos; relativamente a este ltimo gnero, destaque-se O Diabo Veio ao Enterro (1985). De
entre os prmios recebidos, realce-se: o prmio poesia D. Dinis (2006), prmio de poesia
Lus Miguel Nava (2009), Prmio Pen Clube de poesia (2009).
5 J o dissemos em outro lugar, a partir de Como se Bosch Tivesse Enlouquecido: h uma
clara aposta de Pires Cabral no territrio da sua paisagem mais interior, o da poesia. Refer-
imo-nos ao texto introdutrio de Aqui e Agora Assumir o Nordeste. Antologia, onde se
pode ler: sobretudo enquanto poeta que o lado mais sombrio e questionador da sua
obra toma forma. Um momento revelador a publicao, em 2004, de Como se Bosch
tivesse Enlouquecido e, em 2005, de Que Combio Este? (CABRAL, 2011, p.9).
6 Neste caso, Pires Cabral refere-se ao conto infantil Trocas e Baldrocas ou Com a Natureza
no se Brinca (2007), mas uma afrmao que, do meu ponto de vista, ilumina tambm o
sentido do vasto bestirio encontrado na sua obra.
187
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
O TECLADO ACENDE O CRAN:
A POESIA CINEMATOGRFICA
DE MANUEL GUSMO
Marleide Anchieta de Lima
(Universidade Federal Fluminense)
RESUMO
A potica de Manuel Gusmo investe de forma intensa nas relaes in-
terartes. Suas obras propem dilogos visuais com a pintura, a fotografa
e, sobretudo, experimentam a dinamicidade do cinema. Por este motivo,
nosso trabalho pretende analisar a construo imagtica em alguns poe-
mas do autor mencionado, mas sem se restringir ao mbito temtico, uma
vez que investigaremos a transposio de tcnicas cinematogrfcas para
a composio textual e os sentidos que tais procedimentos expressam na
tentativa de dizer, ou talvez de no dizer, o objeto visualizado. Com essa
perspectiva, recorreremos s abordagens terico-crticas de George Didi-
-Huberman, Jacques Aumont e Gilles Deleuze, alm da prosa de Herberto
Helder, em Photomaton & Vox.
PALAVRAS-CHAVE: poesia contempornea portuguesa; relao interar-
tes; Manuel Gusmo.
ABSTRACT
Te poetry of Manuel Gusmo invests intensively in interart relations. His
works ofervisual dialogue with painting, photography and, above all, ex-
perience the dynamics of the cinema. For this reason, our study aims to
examine the construction imagery in poems of the author mentioned, but
not limited to thematic scope, since it will investigate the implementation
of cinematic techniques for composition and textual meanings that express
such procedures in an attempt to say or maybe not to say, the object being
viewed. With this pesrpective, we turn to the theoretical-critical of George
Didi-Huberman, Jacques Aumont, Gilles Deleuze, and the prose of Her-
berto Helder in Photomaton & Vox.
KEYWORDS: Contemporary Portuguese poetry; interart relations; Ma-
nuel Gusmo.
188
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
[...] falo das fguras
que passam por entre as folhas de um livro como num jardim.
Ento o teclado acende o cran e as nuvens passam na literatura
e passam por aqui, segundo o elogio e a promessa.
(GUSMO, 1996, p. 34)
As sociedades contemporneas vivem momentos de uma plural
e excessiva visualidade. Seja atravs dos letreiros luminosos dos outdoors,
seja dos anncios televisivos ou dos reality shows, o que se produz para
ser, antes de tudo, consumido pelo olhar. Essa demasia visual torna quase
tudo indistinguvel, impossibilitando-nos de ver o que no facilmente
visto, j que pode interferir em nossa experincia sensvel e em nossa capa-
cidade de conhecimento e percepo de mundo. Por esse motivo, cada vez
mais se faz necessrio compreender o que a imagem e, consequentemen-
te, construir um percurso crtico que desestabilize os aspectos banalizantes
da lgica capitalista.
Vale ressaltar que o conceito de imagem amplo e, de certo
modo, empregado em contextos diferenciados, o que o torna ainda mais
complexo. No toa, h sculos, flsofos, poetas, entre tantos pensadores,
buscam atribuir-lhe um sentido. Imagem palavra oriunda do latim imago
e correspondente a eidos, ideia em grego
1
foi defnida como sombras,
refexos ou representaes prximas da realidade, ou ainda, como algo que
est no lugar de outro objeto com o qual mantm relao de semelhana.
Ela foi tambm entendida como aquela que formada por raios lumino-
sos aps a passagem por um sistema ptico e, alm disso, signifca a im-
presso sensorial que persiste mesmo quando o estmulo que a causou no
est mais atuante (HOUAISS, 2008, p. 654). De uma forma ou de outra,
abarcando os sentidos de efeito mgico, de representao mimtica, de ex-
perincia tica ou de simulao tcnica
22
, seus possveis conceitos remetem
a uma presena da ausncia e a um jogo de alteridade que esto inerentes
sua constituio.
Na tentativa de ser o outro e de se corporifcar atravs da palavra,
da colorao e do movimento, a imagem descobre o vazio intrnseco ao
que se d a ver e quilo que difcil de enxergar e de dizer. Desse modo,
no h como exclu-la do mbito potico, pois tambm atua com os signos
do poema, experimentando a relao lacunar entre as coisas e seus nomes,
a materialidade da escrita e os sentidos mltiplos que expressa. Por essa
razo, o poeta e crtico Octavio Paz assegura que a palavra potica [...]
ritmo, cor, signifcao e, ainda assim, outra coisa: imagem. A poesia
converte a pedra, a cor, a palavra e o som em imagens (PAZ, 1982, p. 27).
189
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
No processo de construo, o poeta articula a capacidade criativa
do verbal e do visual para reinventar objetos e mundos. Ele convive com o
silncio do ainda no dito e o preenche com signifcados e imagens, tentan-
do exprimir no s o que possvel se concretizar no papel, mas o indizvel,
o no visto pelos olhos acostumados visualidade cotidiana. dessa forma
que a morte, o amor e o tempo, temas universais que atravessam os scu-
los, adquirem confgurao imagtica no poema. Por meio de metforas,
smiles, alegorias e outros recursos estilsticos, criamos imagens mentais
daquilo que lemos. Com essa perspectiva, retomamos as ideias de Octavio
Paz: A imagem diz o indizvel [...]. H que retornar linguagem para ver
como a imagem pode dizer o que, por natureza, a linguagem parece inca-
paz de dizer. (PAZ, 1996, p. 44).
De um modo prximo imagem potica, as imagens projetadas
num cran demonstram a constante ambivalncia entre presentifcao e
ausncia, o que perceptvel atravs do jogo de luzes e sombras, de con-
cretude e abstrao, de real e imaginrio. Por este motivo, Einsestein e Go-
dard, nomes fundamentais na histria do cinema, exploraram os mbitos
intersticiais decorrente do processo de montagem, assim como a potencial
emergncia de uma imagem ausente (MARTELO, 2008, p. 193). Nesse
sentido, eles ativavam seus arquivos mentais, imateriais e invisveis, trans-
formando-os em algo presentifcado atravs da construo flmica.
No cinema, a imagem considerada um indispensvel elemento
de linguagem, ou seja, ela o item fulcral para compor um flme e de-
sencadear uma signifcao. Da surge seu trabalho com as imagens em
movimento, dispostas em vinte e quatro fotogramas por segundo e capazes
de desestabilizar nossas noes de tempo e de espao. O cineasta com seus
procedimentos e sua equipe, tal como o poeta e seus instrumentos de escri-
ta, exprime com os recursos imagticos aquilo que a poesia expressa com
as palavras. No entanto, a imagem uma forma de interlocuo entre essas
duas manifestaes artsticas. Rosa Maria Martelo, no artigo Quando a
poesia vai ao cinema, cita o francs Antonin Artaud, a fm de explicitar os
pontos de encontro dessas artes aparentemente dspares:
Os quadros alternam da mesma maneira que um ver-
so sucede a outro, ou uma unidade mtrica a outra,
sobre uma fronteira precisa. O cinema desenvolve-se
por saltos de um a outro quadro, tal como a poesia de
um verso a outro verso. Por estranho que possa pa-
recer, se quisermos estabelecer uma analogia entre o
cinema e as artes do verbo, a nica relao legtima
ser no entre cinema e a prosa, mas entre o cinema
e a poesia. (ARTAUD apud MARTELO, 2008, p. 180)
A alternncia na montagem de planos ou de versos resulta na-
quilo que fascnio para as artes em questo, ou seja, a projeo de ima-
gens. Tal processo compositivo mostra-nos que poesia e cinema investem
no imaginrio e na dinamicidade da viso. Esse papel ativo do olhar as-
190
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
sociado imagtica que mentalmente criamos provoca em muitos poetas
contemporneos, entre eles os que se inserem na Literatura Portuguesa,
uma necessidade esttica de incorporar os suportes artsticos da linguagem
cinematogrfca aos recursos estilsticos da poesia. Talvez esta seja uma das
razes que levou Ruy Belo, poeta portugus, a afrmar que o cinema [o]
ensinou a ver (BELO, 2000, p. 188).
Assim, Ruy Belo enuncia dois aspectos dessa aprendizagem: o en-
quadramento do olhar obtido por representao de planos ou sequncias
flmicas; e a maneira como a escrita se vale de uma viso cinematogrfca
na elaborao do poema. Quanto a isso, o poeta Herberto Helder, tambm
pertencente ao contexto portugus, corrobora o pensamento beliano, sina-
lizando a cumplicidade entre poesia e cinema:
A escrita no substitui o cinema nem o imita, mas a
tcnica do cinema, enquanto ofcio propiciatrio, sus-
cita modos esferogrfcos de fazer e celebrar. Olhos
contempladores e pensadores, mo em mos seriais,
movimento, montagem da sensibilidade, msica vis-
ta (ouam tambm com os olhos!), oh, caminhamos
para a levitao na luz! (HELDER, 1998, p. 7)
Modos esferogrfcos de transpor o flmico para o registro po-
tico, de fazer e celebrar a linguagem so, de forma similar, cultivados
por Manuel Gusmo, poeta e crtico renomado em Portugal, cujo trabalho
literrio nosso objeto de anlise neste ensaio. Sua obra apresenta-se como
um ato dinmico, em que as intersubjetividades circulam, as palavras so
cclicas e as paisagens deslocam-se continuamente: A teia que as mos in-
ventam sobre as teclas uma pgina/ pginas que se vo voltando como
um sistema de portas/ de corredores que abrem sobre corredores na gua
(GUSMO, 1996, p. 34).
O poeta, atravs de produtivo dilogo entre poesia e cinema,
desenvolve novas formas de olhar e pensar o mundo. Alis, os efeitos de
processos flmicos em seu projeto potico ativam outras possibilidades de
confgurao da imagem, levando em conta as aproximaes, fuses e ex-
tenses, descontinuidades, contiguidades e velocidades (HELDER, 1998,
p. 8) no trnsito de flmes para poemas.
A cintica literria de Gusmo envolve o co-mover a poesia, sua
razo apaixonada
33
(GUSMO, 1994, p. 234). Para isso, alm de sensibili-
zar, perturbar e desestabilizar por meio da palavra, ele instiga uma discus-
so profcua acerca das artes e da histria, convocando uma multiplicidade
de vozes que lhe permitem reelaborar a tradio. Ento, o poeta enfatiza
a articulao da escrita trabalhadamente cerebral com a construo da
intensidade sentimental (MAGALHES, 1999, p. 215), conforme subli-
nhado neste poema de Dois sis, a rosa/ a arquitectura do mundo:
a rosa trabalha como a i-
maginao rigorosa. O mundo inventa essa pedra ima-
ginante que se pe a abrir no crebro as suas ptalas.
191
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Afectada pela paixo, imagina uma alegria que acom-
panha a ideia de uma causa exterior que acrescenta o
poder de agir do corpo. (GUSMO, 1990, p. 101).
Como podemos notar, o texto ressalta as imagens mentais e teori-
za a formao das mesmas num mbito metapotico. H um jogo contnuo
entre o sensvel e o inteligvel. O poema, como rosa, trabalha, inventa
e imagina. Isso signifca que ele capaz de mover e aproximar elementos
dspares: a imaginao com o rigor pedra imaginante , o cerebral com
a paixo, a alegria a acompanhar a ideia. So caligrafas extremas (HEL-
DER, 2006, p. 10) a mobilizar racionalmente a sensibilidade e a se tornar
suscetvel a ela.
A potica de Manuel Gusmo provoca uma tenso no corpo ver-
bo-visual que se projeta na folha em branco. Ela solicita a ao de uma
corporeidade que se espacializa no texto e se entrelaa carne do mundo
(MERLEAU-PONTY, 1964, p. 197). Nessa dinmica, sua grafa transfor-
ma-se num corpo migrante a percorrer as pginas, as vozes e a visualidade
que se d a perceber na poesia: tocas com os dedos uma letra que se repete
e difere e/ abre no mundo uma passagem por onde o mundo passa (GUS-
MO, 1996, p. 33). Vale lembrar que, alm da percepo, no cinepoiesis
de Gusmo, entram em jogo o saber, os afetos, as crenas e as questes
histricas (AUMONT, 1993, p. 59). Tudo se passa no cran que o poeta
est a inventar com suas mos imaginantes, com a experincia de uma
linguagem criadora a unir cinema e poesia.
CINEPOIESIS: O CLINAMEN DE MANUEL GUSMO
Se alguns poemas j haviam ensinado a sensibilidade do olhar
(HELDER, 1998, p.8), experimentar a visualidade cinematogrfca e os re-
cursos propiciados pela cmera de flmar ofereceu aos poetas outra con-
cepo do visvel, assim como um diverso tratamento imagtico para a
poesia. Desse modo, o poema assemelha-se tessitura flmica, em que o
lpis-cmera assimila os efeitos pticos, os planos, os raccords e as mon-
tagens, ou seja, estabelece uma relao interdiscursiva com as tcnicas de
captao e de movimento das imagens. O trnsito entre o verbal e visual
torna-se cada vez mais propcio transcodifcao intersemitica entre o
cinematogrfco e o potico (SILVA, 1990, p. 179).
Manuel Gusmo j percebeu que o dilogo enriquecedor entre
essas artes proporciona um jogo ainda mais inventivo com palavras e ima-
gens. Ele analisa as homologias estruturais de cada cdigo artstico para
construir possibilidades de sentido e efeitos na montagem sgnica dos po-
emas. As estratgias de visualidade empregadas por Gusmo parecem coa-
dunar com a assero do crtico paulista Aguinaldo Gonalves ao mencio-
nar que uma arte pode aprender com outra o modo com que se serve de
seus meios para depois, por sua vez, utilizar os seus da mesma forma; isto ,
segundo o princpio que lhe seja prprio exclusivamente (GONALVES,
1994, p. 208).
192
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Com efeito, o poeta com as mquinas de flmar nas mos (HEL-
DER, 2006, p.140) lana-se a uma refexo metapotica e sugere um olhar
atento para a experincia temporal e para a explorao das imagens to
caras ao cinema: [...] pgina a pgina abre-se um cran/ e os rudos de-
senham sob os versos o fragor do mar./ Ento, o flme varre o teu crebro,
lana o claro fogo/ copa das suas rvores, e tu estremeces, coisa convulsa
(GUSMO, 2004, p. 10).
Entre os elementos cinematogrfcos, Gusmo valoriza a ilumi-
nao como matria-prima flmica indispensvel para a materializao
imagtica. Tal recurso de grande relevncia na elaborao de um flme,
na medida em que confgura as mensagens subjetivas e cenogrfcas do
cinema. Ela ressalta a cor, a sensibilidade, a profundidade e os aspectos
mais fantsticos que possamos imaginar. Ela vibra, acende, apaga, enfatiza,
esfuma e emprega o poder transfgurador da cmera. De acordo com Fe-
derico Fellini:
No cinema, a luz ideologia, sentimento, cor, tom,
profundidade, atmosfera, histria. Ela faz milagres,
acrescenta, apaga, reduz, enriquece, anuvia, sublinha,
alude, torna acreditvel e aceitvel o fantstico, o so-
nho, e ao contrrio, pode sugerir transparncias, vi-
braes, provocar uma miragem numa realidade mais
cinzenta, cotidiana. Com um refetor e dois celofanes,
um rosto opaco, inexpressivo, torna-se inteligente,
misterioso, fascinante. A cenografa mais elementar e
grosseira pode, com a luz, revelar perspectivas ines-
peradas e fazer viver a histria num clima hesitante,
inquietante; ou ento, deslocando-se um refetor de
cinco mil e acendendo outro em contraluz, toda a
sensao de angstia desaparece e tudo se torna se-
reno e aconchegante. Com a luz se escreve o flme, se
exprime o estilo. (FELLINI, 2000, p. 182)
O investimento na luminosidade aparece de forma recorrente na
poesia de Manuel Gusmo. Com ela, o poeta assinala a ideia de transfor-
mao e deslocamentos das slabas da luz. Sua caligrafa luminosa in-
corpora o processo cosmognico de morte e nascimento da matria atravs
da fora inventiva do poien artstico: O homem com o seu labirinto port-
til chegou/ e carrega no interruptor do poema: a sala e a mesa amadas/ a
biblioteca de fogo, a gravura submersa [...]/ [...] Todas as coisas estremecem
na luz da lmpada (GUSMO, 2004, p. 30).
No toa, ele visita tempos pretritos e remete-se a Lucrcio, po-
eta e flsofo latino, ao pensar na cosmogonia de Epicuro na obra De Re-
rum Natura os tomos como as letras continuam/ a declinar os corpos
e os nomes de cada coisa (GUSMO, 2001, p. 21). Desse modo, Gusmo
faz referncia ao clinamen
44
, ou seja, uma constante chuva de tomos lumi-
nosos que, ao cair, se chocam, garantindo que o mundo se renove e que
novos corpos estejam sempre a nascer, a chegar s margens da luz (GUS-
193
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
MO, 2008, p. 14). Como se pode notar, o fenmeno atmico comparado
reunio de letras para formar uma corporeidade verbo-visual regida por
uma movimentao contnua no espao-tempo da escrita.
Alm disso, Manuel Gusmo associa a teoria de desvio do clina-
men
55
arte cinematogrfca, uma vez que esta, formada por estilhaos de
luzes, se organiza em fotogramas cujo efeito ilusrio resultado de frag-
mentaes e recomposies. Gilles Deleuze, em Cinema I Imagem-mo-
vimento, tambm seguindo a viso de Lucrcio, comenta que o universo
como um cinema em si, um metacinema (DELEUZE, 1983, p. 88). A
stima arte assemelha-se, sob esse ponto de vista, ao universo e seus astros
em movimento, pois, tanto no mundo visvel quanto na tela, a luz um
elemento fundador e os corpos imagticos funcionam como projees de
sombras em deslocamento constante: Aos senhores escutem a qumica
das palavras, como elas reagem passagem do poema, iluminando-se e ro-
dando como se fosse um sistema sideral (GUSMO, 2007, p. 72). Assim, a
escrita torna-se algo gneo, em que milhes de gros luminosos, de gotas,
de slabas de luz (GUSMO, 1990, p. 32) ativam-se na pgina, assim como
as imagens projetam-se na sala escura.
A concepo lucreciana tambm empregada por Manuel Gus-
mo como um recurso cinematogrfco, ou seja, ele se vale do plano plon-
ge um tipo de enquadramento em que a cmera focaliza as imagens
numa viso completamente voltada para baixo (MARNER, 2006, p. 135),
de forma similar declinao dos tomos em De Rerum Natura. Nesse
sentido, ele reitera a proposta de Herberto Helder de que a poesia faz o uso
da verticalidade, a viso vertical abissal dos seus prprios panoramas,
mveis (assim) em todos os sentidos e direes, e at imveis (HELDER,
2006, p. 58). essa a viso do poema que nos ensina a cair, de Luza Neto
Jorge, que, alis, se coaduna com a ideia de queda presente em boa parte
da tradio lrica portuguesa
66
. No poema Um dilvio que subisse, de Mi-
graes do fogo, Gusmo demonstra o eixo inclinado de seu olhar-cmera:
H muito que este homem aprendera
a perder coisas pelo caminho. Sabia agora
que perder era uma inciso na pele,
e ento uma coisa por a caa com o som veloz
de um crepitar elctrico: um pssaro voando
raso sobre o fo de um rio.
[...]
Essas coisas caem como coisas caindo, porque
da natureza das coisas o carem na estao antepenltima
e ardente, naquela sazo que ardendo se enfria.
Ou como um brao que ao longo do tronco casse:
caram brao antebrao e mo: assim.
194
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Assim abandonando no fm a mo que esquece.
Caem com a tarde unhas e dedos, os dentes frios
Descem a sua queda at aos pulmes que explodem.
[...] (GUSMO, 2004, p. 27-28)
O poema acentua a situao de queda, atravs da recorrncia do
verbo cair conjugado em tempos diferenciados caa, caem, caindo,
carem, casse, caram e das imagens que parecem vistas pelo ngulo
verticalizado do plonge uma coisa por a caa, um pssaro voando/
raso sobre o fo de um rio, caram o brao antebrao e mo, descem
a sua queda at aos pulmes, entre outras. O sujeito potico, marcado pelo
signo da perda, aprende com a declinao a (des)ordem cclica do mundo
e de si mesmo: Isso que feito/ do que de ns cai e assim regressa ao lugar
onde nascemos. (GUSMO, 2004, p. 28). De acordo com Didi-Huber-
man, em O que vemos, o que nos olha, a modalidade do visvel torna-se
inelutvel [...], quando ver sentir que algo inelutavelmente nos escapa,
isto : quando ver perder. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 34). essa ideia
de perda que exige do sujeito uma nova aprendizagem, ou melhor, a per-
cepo da presena e da ausncia que se encontram na ordem do mundo
contguo ao corpo (GUSMO, 2004, p. 27).
Alm disso, o poeta exercita sua viso cinematogrfca e inicia o
poema valendo-se do plano de conjunto, no qual se registram as aes dos
personagens no cenrio (MARNER, 2006, p. 74) H muito que este ho-
mem aprendera/ a perder coisas pelo caminho. [...]/ e ento uma coisa por
a caa com o som veloz (GUSMO, 2004, p. 27). Paulatinamente, o autor
introduz planos de detalhe (planos de aproximao), conduzindo o leitor
aos fragmentos do corpo e percepo da mutabilidade do mesmo no de-
correr do tempo. Desse modo, h um zoom do olhar-cmera para ressaltar
a declinao corprea: Ou como um brao que ao longo do tronco casse:/
caram brao antebrao e mo: assim./ Assim abandonando no fm a
mo que esquece. (GUSMO, 2004, p. 28).
No poema citado, no s o cinema evocado, mas tambm ecos
de versos da tradio, como por exemplo, os de S de Miranda: O sol
grande, caem coa calma as aves/ do tempo em tal sazo, que soe ser
fria; (MIRANDA, 1939, p. 29) , ou ainda os de Luiza Neto Jorge, em
Fracturas: Nos desertos ntimos, insuspeitos / j caem com a calma
as avestruzes/ ou a distncia, com os osis, fnda (JORGE, 2008, p. 80).
Sejam as aves, sejam as avestruzes ou unhas e dedos, os dentes frios,
o movimento de queda cruza fos espao-temporais, de modo que essas
imagens percorram tempos diferentes, inscrevendo S de Mirando, Luiza
Neto Jorge e tantos outros poetas no tempo constelado do cinepoiesis de
Manuel Gusmo.
195
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
UMA ESPCIE DE CINEMA NA CABEA
Nas palavras de Manuel Gusmo, somos um cinema ambulante,
pois todos ns temos uma espcie de cinema na cabea que consiste numa
mquina que projecta num ecr onde vemos a imagem, numa sala escura
com pessoas l dentro (GUSMO, 2007, p. 117). Em sua poesia, o autor
faz inmeras referncias a fguras que se formam no espao cerebral e se
materializam atravs da noite associada cmara escura, tais como no
corao da rosa a noite/ abre as alas/ do brilho (GUSMO, 1990, p. 163);
[a noite do clinamen]/ e devolve-a inteira/ sombra que as mos escrevem
no ar (GUSMO, 1996, p. 93); [...] o cinema/ da noite em fogo em que tu
apareces viva/ e toda feita de sonho (GUSMO, 2001, p. 26); o fascnio
que quase rima/ com o abismo de uma pequena caixa cheia de uma noite
azulada. (GUSMO, 2004, p. 65).
De acordo com o poeta, nosso crebro ativa, atravs de processos
psquicos e perceptivos, uma produo imensurvel de imagens mentais.
Estas, por sua vez, tomam por objeto relaes, atos simblicos, sentimen-
tos intelectuais (AUMONT, 2004, p. 162), o que, de certa forma, assinala
a presena de uma subjetividade imagtica. Constantemente, processamos
uma gama de informaes visuais e, de modo consciente e/ou inconscien-
te, construmos novas imagens. Tal como no cinema, procuramos meios
de projet-las. No tocante ao trabalho potico, essa projeo no ocorre
diretamente, pois o poeta precisa da mediao da linguagem para elaborar,
com a escrita-cmera, a visualidade do poema. Assim, o papel torna-se
cran e as palavras, a possibilidade de concretizao do imaginrio. Acer-
ca disso, escreve Gusmo: [...] Na cabea, lentamente, as frases voltam a
acender-se, fazem um barulho de pginas que se viram; deslizam umas
sobre as outras: [...] As ondas brilham escuras no crebro nocturnamente
iluminado. (GUSMO, 1990, p. 48)
Manuel Gusmo considera o poema um trabalho permanente da
imaginao, no qual se ativam associaes de imagem na conscincia do
sujeito e os nexos imagticos que fuem como numa sala escura de um
cinema-sonho: A tua cabea acende uma noite/ e o seu luar./ Ento os ho-
rizontes confundem-se/ e alucinao vem (GUSMO, 1996, p. 76). Desse
modo, o poeta emprega a potencialidade de seu olhar cinematogrfco na
articulao poemtica, transformando a escrita em imagem de movimento
e de revitalizao atravs da dinmica alucinada presente no corpo deslo-
cado e vertiginoso das palavras.
Rosa Maria Martelo, no artigo Poesia, imagem e cinema: Qual-
quer poema um flme?, retoma as ideias de Godard e observa que o
cinema possui essencialmente uma memria de imagens, no uma me-
mria de histrias (MARTELO, 2007, p. 201). Essa memria de imagens
flmicas entrecruza-se com inmeras outras na potica de Gusmo, e, ao
mesmo tempo, propicia o exerccio cinematogrfco de escrever relaes
intersemiticas. Numa entrevista a Rosa Mesquita, o autor explica:
196
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Os flmes que aparecem na minha poesia vm de di-
ferentes distncias no tempo, raramente do origem
imediata a poemas ou a motivos deles. preciso que
tenham provocado alguma e-moo ou co-moo,
quando vistos ou revistos, e que depois tenham atra-
vessado os tempos, at acontecer que venham a ser
necessrios a um clima, a uma narrativa ou to s a
uma imagem que, no poema, deve mover-se, incen-
diar-se ou quietamente fulgurar. Alguns dos planos
que eu cito so por vezes construes feitas de ima-
gens misturadas de diferentes flmes e, nesse sentido,
inventadas pela poesia. (GUSMO apud MESQUI-
TA, 2007, p. 158)
Como podemos perceber, para Gusmo, a miscelnea imagtica
de sua poesia considera elementos importantes como distncias no tem-
po, e-moo ou co-moo e relevncia a um clima, a uma narrativa ou
to s a uma imagem. So essas as categorias eleitas para dar a ver o acervo
mental do poeta. A trama espao-temporal, que o poema-flme proposto
pelo autor, reitera a cintica verbo-visual mnemnica capaz de se lembrar
sem imitar aquilo que foi projetado (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 114).
Assim, se existe ecfrasis na escrita do referido poeta, ela ocorre na transpo-
sio das estratgicas flmicas para a composio poemtica, pois no h
preocupao do poeta em guiar o leitor em torno das imagens visualizadas
e muito menos de construir uma evidncia descritiva, a fm de clarear aqui-
lo que posto diante dos olhos. Ao contrrio, ele nos leva a relativizar tal
conceito e a adequ-lo ao contexto esttico contemporneo.
Investir no dilogo com a arte cinematogrfca , para Gusmo,
um meio de incorporar no lrico a dimenso narrativa, de modo que, numa
sequncia de planos, ele promova a teatralizao de subjetividades e en-
trecruze registros biogrfcos, palavras alheias e fragmentos de flmes. Em
Migraes do fogo, identifcam-se tcnicas do olhar prprias do cinema,
sobretudo nos segmentos em que o autor cita a flmografa de Wong Kar-
-Wai, Kurosawa, Orson Welles, Dreyer, Teresa Vilaverde e outros. A crtica
brasileira Maria Esther Maciel, no livro A memria das coisas: ensaios de
literatura, cinema e outras artes plsticas, mostra-nos que, em determina-
das circunstncias, o potico vale-se de recursos como a velocidade ou a
lentido, as proximidades ntimas dos primeiros planos, as variaes da
luminosidade, etc., busca trazer para a tela aquele algo que subjaz reali-
dade visvel das coisas (MACIEL, 2004, p. 73). So esses recursos que Gus-
mo resgata para sua escrita, como se pode notar neste excerto do poema
Como coisas caindo:
Por ruas sem cu onde apenas chegam cadentes alguns
refexos do laser, corredores em runas de uma metrpole
falsa. Tudo se passa no flme que algum est a inventar
na tua cabea que as labaredas alucinam: nem Daedalus nem
Ariadne so, apenas dois que tendo-se encontrado se procuram,
que se afastam e se aproximam; sempre a caminho
197
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
do desencontro que a sua destinao sem destino:
O amor sem memria que no a da promessa.
H uma msica cordas que vibram a folhagem nervosa do cu
enquanto a percusso vinda do fundo chega alta e devagar retira-se
para que uma fauta se acenda ondulante e se interrompa breve
uma msica sem voz que ao silncio desse uma lngua viva,
uma msica que os dana na escurido densa do sangue e
na prodigiosa elegncia em que se movem demasiado lentos
beira do amor ou da perfeita solido, beira da despedida,
um de cada vez, um aps outro, perdendo-se, danando-se.
[...] (GUSMO, 2004, p. 12, grifo do autor)
O poeta emprega caracteres em itlico para destacar o dilogo
com uma sequncia de In the Mood for Love, do chins Wong Kar-Wai.
Essa mancha grfca diferente aliada s expresses que nos remetem ao
flme e ao ritmo sugerido pelo cineasta corredores em runas, caminho
do desencontro, msica sem voz, dana na escurido, demasiados len-
tos corroboram a apropriao do recurso cinematogrfco no discurso
potico de Gusmo. O autor apresenta a movimentao dos personagens
ao subir e descer as escadas. Estas so sugestivamente musicais, uma vez
que, a cada passo, impulsionam a sonoridade numa percusso que che-
ga alta e devagar para que se acenda ondulante e se interrompa breve
(GUSMO, 2004, p. 12). Alis, o uso de aliteraes, sobretudo com as con-
soantes nasais /m/ e /n/, e o prolongamento rtmico das mesmas reiteram
a prodigiosa elegncia em que se movem demasiado lentos. A estratgia
utilizada no texto semelhante lentido das cenas, ao deslocamento do
Sr. Chow e da Sr. Chan em slow-motion, j que as imagens verbalmente
construdas parecem absorver o carter vagaroso desses corpos msicos
que danam pelos degraus.
Figura 1: Cena do flme In the Mood for Love (2000)
198
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Vale ressaltar que Manuel Gusmo estabelece dilogo com Wong
Kar-Wai, cineasta que investe na sugesto e na poeticidade das imagens de
seus flmes. Tal investimento pode ser notado na explorao de recursos
visuais como iluminao, cores fortes, enquadramentos, nvoas, desconti-
nuidades e mudanas de velocidade na diegese. Esses aspectos so captados
pelo poeta na construo do texto. H recorrentes fragmentos de Como
coisas caindo que transmitem ao leitor-espectador essa atmosfera flmica,
entre eles destacamos as referncias s luzes chegam cadentes/ alguns
refexos a laser, as labaredas alucinam, uma fauta se acenda ondulan-
te, escurido densa do sangue ; aos enquadramentos corredores em
runas de uma metrpole/ falsa, um de cada vez, um aps outro, per-
dendo-se, danando-se ; aos movimentos do casal Sr. Chow e Sr. Chan
apenas dois que tendo-se encontrado se procuram,/ que se afastam e se
aproximam, caminho/ do desencontro que sua destinao sem destino,
movem-se demasiados lentos/ beira do amor ou da perfeita solido. O
jogo de enjambements assinalam as movimentaes contnuas e descont-
nuas das cenas-versos de um amor sem memria que no a da promessa.
Alm de Wong Kar-Wai, Manuel Gusmo resgata de seu inven-
trio imagtico o flme Rosetta, dos irmos belgas Luc e Jean-Pierre Dar-
denne, premiado com Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes.
Intitulando o poema Imagens congeladas, o poeta procura, inicialmente,
construir a visualidade textual com a focalizao fxa que os cineastas em-
pregaram ao flmar, com a cmera na mo, e ressaltar o ritmo asfxiante que
a vida da personagem.
Entra na sala escura e sua entrada projecta de novo
a voz daquela jovem que se volta para a parede pobre
e diz: Eu tenho um trabalho. Eu tenho um amigo. Eu
estou a adormecer numa cama da casa do meu amigo.
Eu sou normal. Nas traseiras do imprio
ela normal. (GUSMO, 2004, p. 17, grifo do autor)
O ambiente de pobreza, a crtica scio-poltica e a operria em
busca de emprego so questes que os irmos Dardenne conseguiram
apresentar, relacionando objetividade flmica com a subjetividade do olhar
em torno de Rosetta. A expressividade e o turbilho de sentimentos da
jovem so captados a todo instante, ultrapassam a tela e chegam ao espec-
tador na sala de cinema.
Figura 2: Cena do flme Rosetta (1999)
199
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Manuel Gusmo, mais uma vez, convida-nos a entrar na sala es-
cura e a captar a projeo, que no se limita apenas ao cran, mas se expan-
de nas letras do poema e expe a memria de sons e de imagens, como por
exemplo, a da voz de Rosetta a dizer: Eu tenho um trabalho. Eu tenho um
amigo. Eu/ estou a adormecer numa cama da casa do meu amigo./ Eu sou
normal. A fala da jovem articulada entre os transitrios verbos ter e estar,
apenas confrma com o verbo ser a normalidade de habitar uma parede
pobre e a banalidade dessa condio no imprio capitalista. Realmente, a
imagem se congela em Rosetta e o poeta traz tona sua aposta numa an-
tropognese, tecendo a fgurao e a refgurao do sujeito, o que confrma
nossa hiptese de que h uma auratizao do humano na poesia do refe-
rido autor. Nesse sentido, ele defende a escrita de uma promessa, embora
incerta e sem fora messinica, e o desenvolvimento de um projeto tico
e esttico que revitalize a linguagem, o sujeito e o mundo: Recapitulas o
mundo/ Pelas imagens por onde respiras ainda. (GUSMO, 2001, p. 39).
A opo dos irmos Dardenne pelos close-ups na personagem e
pela cmera turbilhonante reiterada por Gusmo, visto que ele poeta do
movimento e sua relao com o cinema passa pelas regras da metamorfose.
Desse modo, com sua caneta-cmera, quebra a fxidez da imagem e insere a
tcnica de montagem na sintaxe do poema, a fm de agenciar a sucesso de
planos fxos e mobilizar as cenas-versos. Para isso, o poeta projeta no seu
cran textual outra linguagem a pictrica.
Mas algum tem de continuar. Algum caminha pelo corredor
da morte: amorosa, apaixonadamente despede-se da infnita doura
do seu crime. E esse amor sem perdo que o traz de volta
ao teatro de sombras. No lume de gume imagina
uma jovem levemente oblqua: uma for para o seu mal.
Flectida a perna direita, a outra vem sobre ela junto ao tornozelo.
Est assim numa pintura, sentada e vagamente olhando
O lugar em que o pintor j no est; a no ser como um co.
As sombras estremecem e mudam: uma outra parede
do labirinto: So vrias pinturas guardando o silncio.
De cada vez, a mesma ou uma outra jovem est assim:
Tem vestida uma camisa masculina que a despe de frente
e abre o invisvel para o espelho e o pintor.
Uma delas, repetida oblqua, ergue a perna esquerda, as mos
prendendo o joelho; esse p em arco na beira da cadeira
o outro poisa sobre cho: um mar varrido e encerrado.
[...] (GUSMO, 2004, p. 18, grifo do autor)
Junto cena de Rosetta, Gusmo faz montagens no seu poema-
-flme com os quadros criados por Balthus pintor francs. na escurido
cinematogrfca, semelhante ao corredor da morte e ao teatro das som-
200
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
bras, que o poeta une imagens de jovens pertencentes a artes distintas e
aparentemente desconexas. No entanto, os excertos Mas algum tem de
continuar, E esse amor sem perdo que o traz de volta ao teatro de
sombras e As sombras estremecem e mudam. outra parede do labirin-
to. realizam um raccord entre as duas linguagens artsticas, garantindo a
coerncia flmica e narrativa do poema.
Figura 3: BALTHUS. Nu a descansar. 1957.
Figura 3: BALTUS. Sem ttulo. 1948.
201
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Aps a visualizao dos quadros, poderamos dizer que os versos
de Manuel Gusmo propem, numa primeira instncia, um procedimento
ecfrstico, j que so encontrados elementos descritivos no poema que fazem
meno aos referidos trabalhos pictricos uma jovem levemente oblqua:
uma for para o seu mal., Tem vestida uma camisa masculina que a despe de
frente, Uma delas, repetida oblqua, ergue a perna esquerda, as mos/ pren-
dendo o joelho; esse p em arco na beira da cadeira/ o outro poisa sobre o cho
(GUSMO, 2004, p. 18). Contudo, os versos No lume de gume imagina, O
lugar em que o pintor j no est e abre o invisvel para o espelho e o pintor
apontam para uma ciso na proposta de ecfrasis, atravs da presena alucina-
tria e refexiva de uma voz of que expressa a (im)possibilidade de clarifcar
o visvel na linguagem potica, j que traado o jogo do velar e do desvelar
inerente palavra. Assim, o poeta escreve as lacunas entre ver e dizer o ob-
jeto esttico ao atualizar o olhar e produzir nova imagem. De acordo com o
que Gusmo poetiza: So vrias pinturas guardando o silncio. (GUSMO,
2004, p. 18). Esse silncio permite ao autor perceber os ecos de outras artes e
organizar suas sequncias flmicas no cinema imaginrio onde as sombras
estremecem e mudam (GUSMO, 2004, p. 18).
Como podemos observar, as relaes entre poesia e outras mani-
festaes artsticas, sobretudo a dinamicidade cinematogrfca, encontram
um lugar relevante na potica de Manuel Gusmo. Por esse motivo, ele
solicita um leitor-espectador participativo que se mova e se (co)mova com
o corpo verbo-visual do poema.
O leitor voa letra a letra, do tempo para o tempo. Voa
outro, citando falsamente aquilo que l: [...]
[...] percebe o leitor que tudo se mistura e de vrios
lados que fala, que soam os disparos. Porque sempre
mvel o hipottico ponto de coincidncia. E contudo
como se o rudo do motor, a velocidade da deslo-
cao do corpo em movimento, a velocidade da luz e
a metamorfose descontnua do territrio sobrevoado,
se tornassem de uma nitidez evidente,
Como a do nmero fnito das gotas de um rio que em
fashes
sobrepostos se
despenhasse (GUSMO, 1990, p. 39)
Esse leitor-espectador, aceso e movido pela chama de cada s-
laba que l (GUSMO, 2001, p. 39), convocado pelo poeta a adentrar a
sala escura de seu cinema mental, em que as imagens se constroem atravs
de planos variados, pontos de vista, montagens, raccords, movimentos e
iluminaes. A poesia flmica de Manuel Gusmo torna-se um importante
dispositivo do imaginrio a possibilitar o dilogo entre as artes poticas,
pictricas e cinematogrfcas e, alm disso, faz-se um veculo de integra-
o do humano com a incessante migrao da linguagem. Desse modo,
com seu cinepoiesis, o poeta nos prope a rdua tarefa de transformao do
mundo em ns e fora de ns (GUSMO, 2007, p. 2).
202
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
SILVA, Vtor Manuel de Aguiar e. Teoria e metodologias literrias. Lis-
boa: Universidade Menta, 1990.
AUMONT, Jacques. A imagem. 8 ed. So Paulo: Papirus, 1993.
______. O olho interminvel [cinema e pintura]. So Paulo: Cosac &
Naify, 2004.
BELO, Ruy. Todos os poemas. Lisboa: Assrio & Alvim, 2000.
CAMES, Lus de. Lricas. 10 ed. Lisboa: S da Costa, 1981.
CARO, Tito Lucrcio. A natureza das coisas. Lisboa: Typ. de Jorge
Ferreira de Mattos, 1851.
DELEUZE, Gilles. A imagem-movimento: Cinema I. Lisboa: Assrio
& Alvim, 1983.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. So Paulo:
Editora 34, 1998.
FELLINI, Federico. Fazer um flme. Rio de Janeiro: Civilizao Brasi-
leira, 2000.
FREITAS, Manuel de. Uma Espcie de Crime: Apresentao do Rosto
de Herberto Helder. Lisboa: & Etc., 2001.
GONALVES, Aguinaldo Jos. Laokoon revisitado. So Paulo:
EDUSP, 1994.
GUSMO, Manuel. Da poesia como razo apaixonada. 3. In: Poesia da
Cincia, Cincia da Poesia III Seminrio da Faculdade de Letras de Coim-
bra. Coimbra: Faculdade de Letras e Fundao Calouste Gulbenkian, 1994.
______. Dois Sis A Rosa/ a arquitectura do mundo. Lisboa: Editorial
Caminho, 1990.
_____. Entrevista conduzida por Antnio Guerreiro. In: ____ e BA-
SLIO, Kelly Benoudis. Poesia e Arte. A Arte da Poesia. Lisboa: Editorial
Caminho, 2008.
______. O inventor de imagens Entrevista conduzida por Ricardo
Paulouro. In: Textos e Pretextos. Lisboa, n.10, pp.24-33, outono/ inverno
2007.
______. Mapas/ o Assombro a Sombra. Lisboa: Editorial Caminho,
1996.
______. Migraes do fogo. Lisboa: Editorial Caminho, 2004.
_____. Teatros do Tempo. Lisboa: Editorial Caminho, 2001.
HELDER, Herberto. Cinemas. In: Relmpago. Lisboa, n. 3, pp.7-8, ou-
tubro de 1998.
______. Photomaton & Vox. Lisboa: Assrio & Alvim, 2006.
203
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
HOUAISS, Antonio. Dicionrio da Lngua Portuguesa. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2008.
JORGE, Luiza Neto. 19 Recantos e Outros Poemas. Org. Jorge Fernan-
des da Silveira e Maurcio Matos. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2008.
LOPES, Adlia. Dobra poesia reunida (1983-2007). Lisboa: Assrio
& Alvim, 2009.
MACIEL, Maria Esther. A memria das coisas: ensaios de literatura,
cinema e artes plsticas. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004.
MAGALHES, Joaquim Manuel. Rima Pobre. Lisboa: Editorial Pre-
sena, 1999.
MARNER, Terence. A realizao cinematogrfca. Lisboa: Edies 70,
2006.
MARTELO, Rosa Maria. Poesia, imagem e cinema: Qualquer poe-
ma um flme?. In: Revista do Instituto de Literatura Comparada Margari-
da Losa. V. 17. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007.
______. Quando a poesia vai ao cinema. In: Relmpago. Lisboa. n. 23,
pp. 179-195, outubro de 2008.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o esprito. So Paulo: Grifo
Edies, 1969.
MESQUITA, Rosa Maria B. da C. Leite de. O Cinema do Tempo em
Migraes do Fogo, de Manuel Gusmo. Dissertao de Mestrado. Porto:
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007. 161p.
MIRANDA, S de. S de Miranda Poesias. Lisboa: Grfca Lisbo-
nense, 1939.
PAZ, Octavio. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
______. Signos em rotao. 3 ed. So Paulo: Perspectiva, 1996.
PESSANHA, Camilo. Clepsidra e poemas dispersos. 2 ed. Lisboa: Eu-
ropa-Amrica, 1999.
PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego. So Paulo: Companhia das
Letras, 2006.
VERDE, Cesrio. Poesia completa (1855-1886). Lisboa: Dom Qui-
xote, 2001.
FILMOGRAFIA
DARDENNE, Jean-Pierre e DARDENNE, Luc. Rosetta. [Filme v-
deo]. Produo e direo de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. Blgica/
Frana: USA Films, 1999. DVD/ NTSC, 95 min. color. son. Legendado: Esp.
204
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
WONG, Kar-Wai. In the Mood for Love. [Filme vdeo]. Produo e
direo de Wong Kar-Wai. China: Paradis Filmes, 2000. DVD/ NTSC, 90
min. color. son. Legendado: Port.
Recebido para publicao em 22/02/12.
Aprovado em 15/04/2012.
NOTAS
1 Percebe-se que a relao entre ideia e imagem j existia entre os gregos, uma vez que
esta era compreendida como uma projeo da mente, algo que se inseria num processo
de representao.
2 Chamamos de simulao tcnica as formas de produo imagtica empregadas pelas
novas tecnologias, assim como sua capacidade de alterar a realidade, interferindo em di-
menses, luminosidade e aspectos dos objetos visualizados.
3 Para Manuel Gusmo, a poesia arte concebida como razo apaixonada, em que tcni-
ca e expresso, conhecimento e sensibilidade constituem elementos fulcrais para sua com-
posio. Ela razo que no perde pelo caminho o sensvel (GUSMO, 1994, p. 234).
Tal ideia faz da poesia um discurso-razo (GUSMO, 1994, p. 234) que no est restrita
racionalidade, mas tambm no se volta para um extremo campo sensitivo.
4 A relao que Manuel Gusmo estabelece entre o clinamen e a escrita potica apresenta
ecos perceptveis das palavras de Lucrcio, conforme se percebe no seguinte trecho de A
natureza das coisas: Se da ordem por que as lettras se introduzem;/ Tal do universo aos
atomos succede:/ Muda-lhes as distancias, as fguras,/ A direco, o choque, o peso, o
nexo,/ Ordem, collocao, concursos, motos,/ Veras que os corpos igualmente mudam.
(CARO, 1851, p. 125).
5 Cita-se aqui um fragmento do Canto II de A natureza das coisas, de Tito Lucrcio Caro,
mantendo a grafa original da traduo feita por Antnio Jos de Lima Leito, em 1851:
Como as gotas cahir vimos da chuva:/ Nos atomos assim nunca se dera/ Encontro ou
choque, e natureza nunca/ Produces engendrar seria dado./ Suppondo-se que os cor-
pos de mais peso/ Em linha recta pelo vacuo cahem/ Mais apressados que os que so
mais leves;/ E que destarte se realizam choques/ Que movimentos productores causam;/
afastar-se de raso mui longe./ [...] Na aco da queda, os corpos vo rompendo,/ Mais
se aceleram quanto so mais graves:/ Nunca os mais graves podero de cima/ Cahir sobre
os mais leves, sendo a causa/ De choques que as aces criam diversas/ Pelas quaes gera a
natureza as coisas. (CARO, 1851, p. 89-91).
6 interessante ressaltar que a ideia de verticalidade e de queda de que fala Herberto
Helder algo recorrente na tradio lrica portuguesa, como se pode verifcar nos versos
de Cames Aqui estive eu coestes pensamentos/ gastando o tempo e a vida; os quais
to alto/ me subiam nas asas, que caa (e vede se seria leve o salto!)/ de sonhados e vos
contentamentos (CAMES, 1981, p. 68) ; de S de Miranda O sol grande, caem coa
calma as aves/ do tempo em tal sazo, que soe ser fria;/ esta gua que do alto cai, acordar-
mia/ do sono no, mas de cuidados graves. (MIRANDA, 1939, p. 29) ; de Camilo Pes-
sanha Meus olhos apagados/ Vede a gua cair./ Das beiras dos telhados,/ Cair, sempre
cair.// Das beiras dos telhados,/ Cair, quase morrer.../ Meus olhos apagados,/ E cansados
de ver. (PESSANHA, 1999, p. 118); de Cesrio Verde Por baixo, que portes! Que ar-
ruamentos!/ Um parafuso cai nas lajes, s escuras (VERDE, 2001, p. 130) ; de Fernando
Pessoa Oio cair o tempo, gota a gota, e nenhuma gota que cai se ouve cair. (PESSOA,
2006, p. 64); assim como versos de poetas contemporneos, entre os quais se encontram os
de Luza Neto Jorge O poema ensina a cair/ sobre vrios solos/ [...] at queda vinda/
da lenta volpia de cair (JORGE, 2008, p. 64); os de Adlia Lopes Cair do cavalo/ cair
da escada/ cair em mim (LOPES, 2009, p. 348) ; os de Manuel de Freitas [...] um
cigarro/ que caindo dos dedos se esmaga no cho. (FREITAS, 2001, p.13) , entre outros
nomes relevantes.
205
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
REVISITAES POTICAS E PICTRICAS
DA ILHA DE MOAMBIQUE
Carmen Lucia Tind Secco
(Universidade Federal do Rio de Janeiro e CNPq)
RESUMO
A reescrita de Moambique com a pena da poesia e as tintas dos afetos.
Paisagens: poesia, pintura e histria. O entrecruzamento de povos, culturas
e saberes no cho moambicano de heranas mltiplas.
PALAVRAS-CHAVE: Moambique; poesia; pintura; histria e afetos.
ABSTRACT
Te rewriting of Mozambique with the pen of poetry and the ink of afec-
tions. Landscapes: poetry, painting and history. Te intercrossing of peo-
ple, cultures and diferent knowledges in the Mozambican ground of mul-
tiple inheritances.
KEYWORDS: Mozambique; poetry; painting; history and afections.
206
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Escrever um poema ou pintar um quadro buscar o outro
lado de uma presena: um e outro tentam, pela experin-
cia, levantar a ponta de um vu, mostrar aos homens um
lado ignorado ou antes esquecido do mundo que habitam.
(NOVAES, 1994, p. 9)
Optamos, neste ensaio, por interpretar aguarelas do pintor Ge-
muce e composies poticas do livro Mesmos barcos ou poemas de revisita-
o do corpo, de Sangare Okapi, poeta pertencente a uma das geraes po-
ticas moambicanas mais recentes. A escolha de Gemuce e Okapi se deve
ao fato de ambos focalizarem, em especial, a Ilha de Moambique, espao
prenhe de signifcaes, na medida em que foi cenrio de importantes epi-
sdios histricos e trocas culturais, tendo sido, tambm, ao longo dos anos,
uma metfora recorrente no imaginrio das artes moambicanas. Nossa
inteno investigar de que modo tanto a poesia, como a pintura partici-
pam da histria, desvelando sentidos, afetos e saberes que se encontravam
ocultos ou olvidados.
Ilha, espao de seduo e encantamento imagem constante na
memria de poetas e pintores moambicanos. Ilha, lugar de reencontro
com as origens, do repensar da poesia, da pintura, das paisagens, dos afetos.
Antes de passarmos aos poemas de Sangare Okapi e s aguare-
las de Gemuce, fazem-se necessrias algumas informaes sobre a Ilha de
Moambique, considerada patrimnio da humanidade pela UNESCO e
local de entrecruzamentos tnicos, histricos, culturais que deram origem
a Moambique.
No litoral norte moambicano, as ilhas, em grande parte, eram
despovoadas. As etnias africanas de origem banto habitavam o continente.
Em meados do sculo VII, os rabes islamizaram a costa oriental da fri-
ca. Quando os portugueses aportaram, no fnal do sculo XV, na Ilha de
Moambique chamada Muipti pelos povos africanos macuas que habita-
vam o local , encontraram ali um xecado rabe. Empreenderam, ento, a
conquista, tentando impor seu poder. Textos de cronistas e poetas relatam
como os portugueses, ao ocuparem a Ilha de Moambique, ergueram for-
talezas e igrejas, buscando sobrepor sua cultura dos mouros:
A povoao portuguesa organizou-se, no sculo XVI,
volta da Torre Velha, situando-se a dos rabes ou
mouros no stio do Celeiro. O fosso religioso que na
poca separava os homens obrigava-os a terem bair-
ros diferentes, cada qual com seus templos privativos.
(LOBATO, A., 1992, p. 171)
O domnio portugus difundiu seus esteretipos e seus fetiches,
tratando como outros no s os negros de origem banto, mas tambm os
indianos, os rabes e os mouros negros da regio, passando aos coloniza-
dos seus preconceitos contra os africanos e os orientais .
207
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Segundo Edward Said, em seu livro Orientalismo, a relao entre
o Ocidente e o Oriente foi edifcada em torno de questes de poder; e, para
que este fosse alcanado, o Ocidente sempre representou negativamente
os rabes e indianos, caracterizando-os como povos nmades, exticos,
desonestos, ladres, trafcantes de escravos, ouro e marfm. Desse modo,
a imagem do Oriente foi, quase sempre, tecida como uma inveno do
Ocidente
(SAID, 1990, p. 13) para justifcar a hegemonia deste ltimo.
Com essa caracterizao discriminatria, a colonizao lusitana
procurou silenciar os traos orientais da cultura moambicana, fazendo
com que esta se esquecesse de que no foi pela mo dos portugueses que a
pequena Ilha de Moambique entrou na Histria, mas pela dos rabes, que
nela se instalaram ao longo da costa oriental da frica
(LOBATO
, A.,
1992, p. 169)
,
bem antes da chegada, em 1498, de Vasco da Gama.
A responsabilidade pelo fato de a histria mais remo-
ta da Ilha de Moambique ser mal conhecida deve-se,
pelo menos em parte, aos prprios portugueses, cuja
poltica de ocupao da ilha conduziu disperso e ao
desaparecimento das comunidades muulmanas que
ali habitavam durante a era pr-gmica. Com isso, se
esgararam as lendas fundadoras e as tradies que
narravam a histria do xecado e do sultanato ali exis-
tentes. (LOBATO, M., 1996, p. 11)
No conseguindo extirpar totalmente os cultos e costumes ra-
bes, a poltica lusitana foi a de segreg-los, impingindo uma viso precon-
ceituosa a respeito deles, principalmente a partir da segunda metade do
sculo XIX, poca em que se desenvolveu intensa e sistemtica colonizao
portuguesa em frica, pois, at ento, Portugal estivera ocupado com o co-
mrcio do ouro, do marfm e com o trfco negreiro para o Brasil. A Ilha de
Moambique fez parte da rota da escravido, funcionando como depsito
dos escravos que eram vendidos para as Amricas. Com o fm do trfco,
a Ilha entrou em decadncia, mas os povos que por l passaram deixaram
suas marcas culturais presentes em costumes e cultos que continuaram a
ser praticados.
Durante a ocupao portuguesa, as ilhas se tornaram pontos es-
tratgicos de defesa do continente; foram tambm locais de exlio e prises.
Mais tarde, com as lutas pela independncia e, posteriormente, com a guer-
ra civil, cujas batalhas foram travadas, na maioria das vezes, no interior das
terras continentais de Moambique, alguns desses espaos insulares foram
usados como lugares de deteno e tortura; outros serviram de refgio aos
deslocados de guerra.
Esquecidas durante anos, algumas dessas ilhas guardaram, entre-
tanto, em suas entranhas, muitas das tradies; tornaram-se, desse modo,
metafricos reservatrios de vestgios culturais que resistiram ao tempo e
opresso.
208
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
No fm dos anos 80 e incio dos 90 do sculo XX, com o enfraque-
cimento das utopias revolucionrias, alguns poetas e escritores, ao verem o
territrio moambicano aviltado pelos longos perodos de guerra, busca-
ram espaos menos atingidos por esta. Voltaram-se, ento, para o imagin-
rio do mar e das ilhas, procura de Eros, do amor e das origens. Essa uma
das tendncias da poesia dessa poca, constatada em poemas de Lus Car-
los Patraquim, Mia Couto, Eduardo White, Armando Artur, entre outros.
A Ilha de Moambique, contudo, no foi apenas celebrada por es-
ses poetas da ps-independncia. Foi cantada, tambm, por vozes poticas
anteriores, dentre as quais: as de Campos de Oliveira, Rui Knopfi, Orlando
Mendes, Glria de SantAnna, Virglio de Lemos, os dois ltimos conheci-
dos como os poetas do mar do norte de Moambique.
Ana Mafalda Leite
1
, em estudo sobre a poesia moambicana atual,
chama ateno para o dilogo que determinadas poticas de jovens autores
efetuam com as de representantes do lirismo anterior, formando como que
um tecido palimpsstico:
(...) o processo de mitifcao literrio da Ilha de Mo-
ambique tem vindo a ser actualizado e amplifcado,
nos ltimos anos, com maior insistncia na obra de
vrios autores, concretizando percursos alternativos a
uma potica militante e de cariz ideolgico, conferin-
do uma outra amplitude aos imaginrios poticos, e
actualizando uma herana e tradio literrias, mui-
to antigas. (LEITE, 2003, p. 137)
Sangare Okapi um desses novos poetas moambicanos que re-
conhece o legado lrico do passado, assumindo-se como herdeiro desse pa-
trimnio literrio-cultural que atualiza e amplia em seus versos, tributrios
de uma irreprimvel geografa do afecto (OKAPI, 2007, p. 44). Afeto, en-
tendido no somente como emoo e sentimentos despertados por lugares,
poemas, poetas, mas tambm como tudo que abala o ser.
Com base na teoria dos afetos de Spinoza, Muniz Sodr chama
ateno para o fato de que, no domnio da imaginao criadora, existe uma
potncia emancipatria, que impede as artes de capitularem ao peso es-
magador da razo. Resenha acerca desse livro de Muniz Sodr, publicada
no jornal O Globo, de 19-08-2006, acentua que, de acordo com o pensa-
mento spinoziano, no literrio e no artstico, em geral, delineia-se
(...) um movimento de aproximao das diferenas;
uma estratgia, cujo momento decisivo se d no sen-
svel, na zona obscura e contingente dos afetos, no
prima do no da razo instrumental e dos seus me-
canismos de poder, mas sim da esttica enquanto
estesia, isto , afe to, emoo lcida, senti mento
como afeco delibe rada, consciente, refetida, l-
cida e serena. (PECORARO, 2006, p.5)
1 LEITE, Ana Mafalda. Curso ministrado na Ps-Graduao de Letras Vernculas, na
Faculdade de Letras da UFRJ, de maio a julho de 2010.
209
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A poesia , assim, concebida como potncia de afetos, como
alarme, assombro, aquilo que fascina, arrebata, e, por isso, se revela prenhe
de erotismo. Este, tomado no sentido que lhe confere Georges Bataille, ou
seja, como uma pulso interior que coloca o ser em questo, fazendo-o
refetir sobre a vida, a existncia, a poesia.
Na potica de Sangare Okapi, est presente o assombro de um
lado, e, de outro, um forte sentimento de angstia. Assombro, como ex-
presso do fascnio frente prpria criao potica e ao passado literrio
moambicano; angstia, como lcida afeco diante das contradies do
presente, cujo vazio faz o poeta declarar: h um pequeno pas/ no meu
pas:/ chama-se angstia. (OKAPI, 2007, p. 44) E so esses sentimentos
de inquietao e estranheza que fazem desencadear a viagem uterina que
o sujeito potico empreende pelo ventre do ndico e da Ilha, metonmias
de Moambique. uma viagem ertica e intertextual pelos meandros da
literatura, procura de uma identidade literria. O poema se faz abstrato
barco (OKAPI, 2007, p. 13) e a travessia nutica se inicia, por entre nusea
e melancolia, rumo ao litoral norte, onde se encontram as matrizes cultu-
rais de Moambique. Confessando-se nu e vazio (OKAPI, 2007, p. 15),
o poeta penetra no tnel da memria (OKAPI, 2007, p. 15) e se lana
na vertiginosa geografa do vento (OKAPI, 2007, p. 13), metfora de sua
imaginao criadora que, em labirntica busca, persegue uma dico poti-
ca singular, em meio monotonia da sufocante realidade ao redor.
Como um barco, sem porto, eria a sensvel vela do corpo e, fr-
gil, o corao nos sirva de bssola:
os remos dispensa,
temos as mos
para a navegao.
(OKAPI, 2007, p. 43)
Elegendo os sentimentos como bssola, o poeta se transforma em
um lugar de afeto. D asas emoo, deixando que uma potica do sensvel
se construa, medida que navega. Sem porto, deriva, segue em direo
insula matricial, cujo corpo, desejante e desejado como o da mulher amada,
eria a pele e a vela do barco-poema. Pela memria e pela linguagem, per-
corre o sistema literrio moambicano, recuperando os poetas do ndico.
A ilha de Moambique nunca nomeada, mas sim
evocada atravs do jogo intertextual e de um conjunto
de referncias que remetem ao seu espao. Pelos t-
tulos dos poemas, se entrelaam o roteiro (potico e
privado) da Ilha de Prspero, de Knopfi, e a errncia
insular de Virglio de Lemos (...) (FALCONI, 2011)
Mesmos barcos ou poemas de revisitao do corpo, de Sangare,
apresenta trs partes. A primeira, com mais poemas, celebra diversos po-
etas moambicanos. A segunda, intitulada Mesmos Barcos, com poemas
cuja forma se aproxima da prosa, faz uma clara aluso a dois importantes
210
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
poetas moambicanos: Lus Carlos Patraquim e Eduardo White. A terceira,
denominada O Barco Encalhado, formada por um nico poema, cujo
ttulo coincide com o desta parte, constituindo uma homenagem a Campos
Oliveira, o primeiro poeta de Moambique.
Na parte primeira, Okapi inicia a viagem que faz emergirem,
do fundo da memria, vozes lricas do ndico e da Ilha de Moambique,
a Ilha Dourada, de Rui Knopfi, autor de A Ilha de Prspero. O poema
Mossuril, de Sangare, dedicado a Knopfi, traz imagens do mar e da lgri-
ma, metaforizando a solido dessa mtica ilha, cuja magia inspirou tantos
poetas. Lngua: ilha ou corpo?, poema ofertado a Virglio de Lemos, faz
referncias a esse poeta, cuja obra potica sempre refetiu sobre o corpo e o
erotismo da linguagem.
A V. L.
A lngua
o po que fermento
os dias todos.
Com ela (re)invento,
meo outros ngulos
do sentimento.
(...)
Eis o que sou: ilha
ou corpo cercado
de gente
por todos os lados.
(OKAPI, 2007, p. 20)
Muitos so os poetas lembrados: Heliodoro Baptista, Guita Jr.,
Gulamo Khan, Eugnio Lisboa etc. No poema Patraquimmiana, Sanga-
re rende homenagem a dois grandes poetas de Moambique: Patraquim e
Jos Craveirinha:
Para J. C.
No sei com que estranha miragem. Confesso.
Meu lrico cartomante das noitadas pela Mafalala!
Sim, agora que o medo j no puxa lustro na cidade. Velho Z,
Livre e limpo da morte, regressas pelos carris da memria,
mos aninhadas nos bolsos rotos. (...)
(...)
E regressas, velho Z, poeta em todas as latitudes!...
(OKAPI, 2007, p. 39)
211
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A travessia da memria empreendida por Okapi revisita a tra-
dio lrica moambicana, exaltando a importncia de Craveirinha. Por
intermdio de jogos intertextuais, traz versos famosos desse grande poeta
que foi condecorado com o Prmio Cames em 1991.
Descrevendo paisagens da Ilha de Moambique a baa, a forta-
leza, os pangaios, os riquexs, o mar, as mulheres com o msiro , os po-
emas de Okapi vo traando uma cartografa insular que, subjetivamente,
vai sendo erotizada e se torna alvo de uma relao amorosa: Ilha, corpo,
mulher; Ilha, ptria, poesia.
Hoje, quase que instintiva e furtivamente, revisito-
-te. Exposta silhueta de mulher, na textura ndica, es-
perando o tempo. Em Mossuril, preso o marisco na
rede. Posso, agora, sem receio algum, vociferar no po-
ema: amo-te! Amo-te as curvas, no sei que perigo ou
mistrio, a serena msica das dunas no peito, romaria
em alguma boca explodindo, ou ento, a alga na bexi-
ga se multiplicando. Olha a gua, agora nossa volta!
A vertigem!?! Em ti, barco sem destino, nu me acoito
inteiro e,
se remar-te engano,
provvel agora
rimarmo-nos.
(OKAPI, 2007, p. 45)
Nesse poema, clara a intertextualidade com Patraquim e Edu-
ardo White, em cujos versos a Ilha de Moambique, antropomorfzada,
decantada como ertica mulher de heranas culturais mltiplas.
Ilha, corpo, mulher. Ilha, encantamento. Primeiro
tema para cantar. Primeira aproximao para ver-te,
na carne cansada da fortaleza ida, na rugosidade hir-
ta do casario decrpito, a pensar memrias, escravos,
coral e aafro. Minha ilha/vulva de fogo e pedra no
ndico esquecida. (PATRAQUIM, 1991, p. 41-42)
Sou ao Norte a minha Ilha, os sinais e as sedas que ali
se trocaram e nessa beleza busco-te e para mim algum
percurso, alguma linguagem submarina e pulsional,
busco-te por entre as negras enroladas em suas capu-
lanas arrepiadas, altas, magras, frgeis e belas como as
missangas [...]
Amo-te sem recusas e o meu amor esta fortaleza,
esta Ilha encantada, estas memrias sobre as paredes e
ningum sabe deste pangaio que a Norte e na Ilha traz
um amante inconfortado. Em tudo habita ainda a tua
imagem, o mshiro purifcado da tua beleza e das tuas
sedes, (...) (WHITE, 1997, p. 24-27)
212
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Ilha de contrabandos e saberes, decorrentes da hibridao de
povos e culturas. Nos cenrios descritos nos poemas, faz-se visvel essa
diversidade cultural. Convivem fortalezas, cones da arquitetura colonial
portuguesa, com pangaios, pequenas embarcaes de origem asitica; com
riquexs, carruagens puxadas por homens, originrias da sia China
(Macau), Japo, ndia ; com o msiro, cosmtico feito de raiz tpica, usado
pelas mulheres africanas da Ilha da etnia macua, para amaciarem a pele de
seus rostos. Igrejas catlicas, mesquitas rabes, templos hindus coexistem
no espao da Ilha, revelando a presena de religiosidades diversas.
Na ltima parte do livro de Sangare, o poema O Barco Enca-
lhado faz homenagem a Campos de Oliveira, poeta oitocentista que pri-
meiro cantou a Ilha. O eu-lrico refere povos que, no decorrer dos sculos,
viveram na Ilha de Moambique, fazendo desta um local culturalmente
hibridizado. Termina com uma forte crtica explorao predadora dos
portugueses:
(...) Resgatasse o ndico o que do oriente com o tempo soube sufragar.
Os barcos todos com as velas hirtas e as gentes.
Suas as prolas mais os rubis. O aljfar. Luzindo no ar.
Minha fracturada chvena rabe persa na cal
ou resplandecente a missanga cravada no ventre dgua,
qual sinal dos que de alm mar chegaram
e partiram com bas fartos...
Fobia dos que fcamos. Mas herdeiros. (OKAPI, 2007, p. 49)
A potica de Sangare Okapi se organiza a partir de trs semas
recorrentes: viagem, paisagens e memria. Seus poemas efetuam uma via-
gem antipica e intertextual pelas entranhas da histria e da poesia mo-
ambicanas. Cruzam imagens e paisagens com afetos que despertam a me-
mria do passado.
Segundo Michel Collot, a paisagem subjetiva, pois depende de
quem a olha e de onde olhada. Toda paisagem implica um horizonte, um
olhar, uma perspectiva. No caso dos poemas do livro Mesmos barcos, de
Sangare, o olhar do eu-lrico ps-colonial, pois, conforme Ana Mafalda
Leite, faz uma desconstruo do mar imperial dos conquistadores, subs-
tituindo-o por um mar feminino (LEITE, 2010, aula UFRJ), que cerca a
Ilha de Moambique. H uma fascinao pelas runas do tempo; contudo,
os fortes, as igrejas, as construes da Ilha no so exaltados por seus traos
coloniais, mas pela beleza da arquitetura enquanto arte. A lrica de Okapi
voltada contra a destruio e o abandono sofridos pela Ilha. O mesmo ocor-
re com as aguarelas do pintor Hilrio Gemuce, designado o pintor da Ilha.
Aguarelas so muito usadas em representaes de paisagens. Tc-
nica empregada desde a Idade Mdia, em papis tipo pergaminho, suas
principais caractersticas so a transparncia e a fuidez que fazem com que
213
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
as cores possam ser exploradas em todos os seus tons. Por serem transpa-
rentes, deixam ver fragmentos de outras imagens, como se fossem palimp-
sestos. As tintas, desmanchadas com gua, tornam as imagens diludas.
Assim, esse tipo de pintura, por meio de pinceladas esbatidas, de fguras
desbotadas que do a impresso dos anos e sculos decorridos, se presta
revisitao do passado.
O aquarelismo uma pintura livre, que prima pela espontaneida-
de; relaciona-se luz, profundidade, a cenrios e paisagens que so apre-
endidos com a emoo do olhar e do sentir. Por isso, bastante empregado
para retratar memrias e runas, captando centelhas de cenas perdidas do
outrora longnquo.
Gemuce, em suas aguarelas, efetua uma iconografa da Ilha, ou
seja, uma pictografa insular. Apreende paisagens naturais e humanas: o
mar; as embarcaes barcos tradicionais e pangaios (cf. TELA 1) ; mu-
lheres macuas, carregando latas dgua (cf. TELA 2); igrejas; fortalezas;
palcios (cf. TELA 3); mesquitas; templos hindus; crianas jogando fute-
bol (cf. TELA 4) ; o pnico provocado pela passagem dEl Nio; um barco
abandonado na areia. Este, imagem frequente na Ilha, pode ser visto como
signifcativa metfora da histria moambicana que precisa ser revista por
um olhar descolonizador, ou seja, por um olhar liberto de uma viso co-
lonial. sintomtico que tambm Sangare Okapi tenha um poema com o
mesmo ttulo desta tela de Gemuce: O Barco Encalhado (cf. TELA 5).
Tanto no texto de Sangare, como nessa aguarela, o barco est voltado para
a praia, para a Ilha, metaforizando a viagem pelas entranhas insulares, num
processo de ressignifcao aprofundada da histria e da geografa local.
No processo de representao simblica, as aguarelas de Gemu-
ce manifestam uma densidade que remete a vrios tempos, colocando em
confronto o presente de solido e desamparo da Ilha com um passado de
luxo e poder, de que so testemunhos os palcios, os fortes, as esttuas,
em runas. Articular tais relaes buscar compreender a dor da pintura,
interpretando sua emoo e seus fantasmas, sua densidade pictrica que
teatraliza fragmentos da histria dessa Ilha. O pincel de Gemuce expressa
paisagens do presente, do cotidiano insular, que contrastam com a histria
de dominao depreendida da arquitetura colonial. Imagens lricas da Ilha
chocam-se com a memria da colonizao e , justamente, esse embate que
afeta os espectadores, levando-os a perceber e a repensar o contrabando de
culturas e saberes que, ali, ocorreu ao longo dos sculos. Os traos diludos
das imagens das aguarelas permitem a compreenso do descaso para com
a Ilha, o entendimento da dimenso do isolamento dos seres humanos que
vivem nesse espao. No existe uma narrativa nas telas, mas uma descrio
que efetua uma potica dos vazios existentes nessa insula matricial. assim
que as pinturas de Gemuce deixam de ser meros registros objetivos da Ilha,
tornando-se uma percepo sensvel e subjetiva das paisagens insulares.
214
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
De acordo com Michel Collot, as paisagens so ligadas a pontos
de vista subjetivos, servindo como espelhos da alma. (...) A busca de um
horizonte privilegiado implica, portanto, a busca de si mesmo. Assim, bus-
car uma paisagem procurar a prpria identidade (COLLOT. In: ALVES,
2010, p. 207).
Concluindo, observamos que tanto os poemas de Sangare, como
as aguarelas de Gemuce se plasmam como exerccios de no esquecer, como
lugares de compartilhamento da emoo e de enfrentamento da memria
colonial. Ambos, em suas artes, captam a subjetividade das paisagens da
Ilha de Moambique como forma de reencontrarem suas moambicanas
matrizes identitrias. Sangare Okapi retoma, literria e metapoeticamen-
te, o tema do ndico e a inspirao insular, ressignifcando, a partir dos
afetos, a tradio lrica moambicana, com uma poesia que apresenta um
olhar antipico e descolonizador. Gemuce, em suas aguarelas, representa,
liricamente, paisagens da Ilha, captadas por sentimentos despertados pe-
los lugares que desencadeiam lembranas individuais e coletivas, fazendo
emergir uma histria subjetiva que pe em suspeita vises hegemnicas e
imperiais da histria.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
COLLOT, Michel. Do Horizonte da Paisagem ao Horizonte dos Po-
etas. In: ALVES, Ida Ferreira e FEITOSA, Mrcia Manir. Literatura e pai-
sagem: perspectivas e dilogos. Trad. de Eva Nunes Chatel. Niteri: EdUFF,
2010, p. 191-217.
FALCONI, Jssica. As margens da nao na poesia de Sangare Okapi
e Helder Faife. In: Revista Mulemba n. 4. Rio de Janeiro: Setor de Litera-
turas da UFRJ, julho de 2011. http://setorlitafrica.letras.ufrj.br/mulemba/
artigo.php?art=artigo_4_5.php.
LEITE, Ana Mafalda. Literaturas africanas e formulaes ps-coloniais.
Lisboa: Colibri, 2003. pp. 135-160.
LOBATO, Alexandre. A Ilha de Moambique: notcia histrica. In:
SATE, Nelson e SOPA, Antnio. A Ilha de Moambique pela voz dos poe-
tas. Lisboa: Edies 70, 1992, p. 171.
LOBATO, Manuel. A Ilha de Moambique antes de 1800. In: Ocea-
nos. - n
o
25. Revista da Comisso Nacional para as Comemoraes dos Des-
cobrimentos Portugueses. Lisboa, jan.- maro 1996, p. 11.
NOVAES, Adauto. Constelaes. In: ___ (Org.) Artepensamento.
So Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 9.
OKAPI, Sangare. Mesmos barcos ou poemas de revisitao do corpo.
Maputo: Associao dos Escritores Moambicanos, 2007.
215
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
PATRAQUIM, Lus Carlos. Os barcos elementares. In: Vinte e tal
novas formulaes e uma elegia carnvora. Lisboa: ALAC, 1991, p. 41-42.
PECORARO, Rossano. Afetos que fundamentam o mundo contem-
porneo. Jornal O Globo. Caderno Prosa e Verso. Rio de Janeiro, 19-08-
2006, p. 5.
SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como inveno do Ocidente.
Trad. Toms Rosa Bueno. So Paulo: Companhia das Letras, 1990.
SPINOZA, Benedictus. tica. Trad. de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte:
Autntica, 2009.
SODR, Muniz. As estratgias sensveis afeto, mdia e poltica. Petr-
polis: Vozes, 2006.
WHITE, Eduardo. Os materiais do amor seguido de O desafo da tris-
teza. Lisboa: Caminho, 1997.
Recebido para publicao em 30/05/12.
Aprovado em 30/06/2012.
TELA 1 - HILRIO GEMUCE
Aguarela da Ilha de Moambique, sem ttulo, 1995.
216
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
TELA 2 - HILRIO GEMUCE
Aguarela. Mulher da Ilha de Moambique, sem ttulo, 1995.
TELA 3 - HILRIO GEMUCE
Aguarela da Ilha de Moambique, sem ttulo, 1995.
217
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
TELA 4 - HILRIO GEMUCE
Aguarela da Ilha de Moambique, sem ttulo, 1995.
TELA 5 - HILRIO GEMUCE
Aguarela. O Barco Encalhado, 1995.
E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
S
/
R
E
S
E
N
H
A
S
219
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
A PALAVRA VOADA:
ENTREVISTA COM MARIA TERESA HORTA
1
Por Sarah Carmo
(Universidade Sorbonne Nouvelle Paris 3)
Sarah Carmo: Para a Teresa, o que a poesia?
Maria Teresa Horta: Eu sou a minha poesia, portanto a poesia
a minha voz, a minha expresso voada. A poesia a minha alquimia. A
poesia sonho e utopia. A poesia a parte melhor de todos ns. A poesia
nossa lngua e nossa linguagem. A poesia constelao e ptria. A poesia
o melhor de Portugal
Sarah: Que tipo de ligao existe entre a poesia e a fco ? Para
si, ser que essa distino de gneros faz sentido?
Maria Teresa Horta: A ligao entre a poesia e a fco feita
pela palavra voada, pelo trabalho de tessitura. No meu caso, sou eu mesma,
porque eu sou a minha escrita. Porque eu sou, sobretudo, a minha poesia.
E nada sei nem desejo escrever, no mbito da literatura, sem o trabalho
potico da linguagem, ou sem ir com a sua magia revoltosa, de tumulto:
minhas asas, meu voo, minha alquimia.
Sarah: A palavra voada a palavra sensvel?
Maria Teresa Horta: A palavra pode ser sempre sensvel, mas no
voada. A palavra voada sobretudo a palavra do potico, do poeta, a palavra
do anjo. Os meus anjos so seres mediadores, das palavras do corpo.
Sarah: Gostava que desenvolvesse mais a sua resposta e que me
explicasse melhor o que entende nessa expresso. Ser que remete para
Hlne Cixous, no seu artigo Le rire de la mduse, quando ela diz que
Voler, cest le geste de la femme. (...)
2
e que ela faz entrecruzarem-se os
dois sentidos da palavra em francs, voar e roubar (uma homonmia simi-
lar existe entre arroubo e roubo), para falar do voo como transgresso e
desorientao da ordem simblica?
Maria Teresa Horta: O voo de que falo o voo da transgres-
so. Portanto, tanto pode ter a ambiguidades da lngua francesa, e ser
voler enquanto roubo ou voar, com a qual joga Helne Cixous, como a
220
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
ambiguidade da lngua portuguesa, e ser arroubo ou roubo, com a qual eu
trabalho equivocamente.
Sarah: Se a palavra voada a palavra do anjo, de que anjo se tra-
ta? Do anjo da Bblia, de um anjo poeta prximo de caro, do anjo de Rilke,
ou ainda do anjo de Benjamin? Talvez seja o anjo da Teresa, mas que sig-
nifcado reveste?
Maria Teresa Horta: Quanto ao anjo, bem... Os meus anjos so
seres com uma componente de corpo ertico de grande intensidade andr-
gina sexuada. Mas, neles, h, igualmente, um lado impreciso de voo e de
crueldade intocvel, que passa pelo indizvel...
Os anjos tm atravessado toda a minha vida.
Toda a minha escrita.
Escutava-os na infncia: eles estavam minha cabeceira. Numa
gravura por cima da minha cama, estava um anjo de manto azul, cuidando
de uma menina, na qual eu me reconhecia. Continuo a ouvir-lhes o rumo-
rejar das asas. So os anjos da minha poesia...
Sarah: Seja na poesia ou seja na prosa, a Teresa a sua escrita.
essa a ligao da poesia fco, uma ligao de carne ideia, do sentido
ao sentir?
Maria Teresa Horta: Digamos que essa , obviamente, a primeira
das muitas ligaes, pois, antes de tudo o mais, eu sou a minha escrita. Mas
h, igualmente, o sentido de corpo da linguagem e a sua tessitura. Sim, uma
atadura-ligao do corpo da escrita ao corpo da ideia, do corpo do sentido
ao corpo do sentir.
Sarah: Qual a funo que atribui a esse trabalho sobre os gneros
que est presente na sua obra? Ser tambm uma maneira de romper com
a clausura e de praticar a ecloso e a passagem?
Maria Teresa Horta: A literatura j em si mesma a passagem. A
ecloso a prpria criatividade, naquilo que escrevo:
labareda e reinveno. Tumulto e sobressalto
Sempre.
A minha escrita feita de luz, de intertextualidades, de reinven-
o permanente. E, tanto quando fco ou quando poesia, de gnero, mas
igualmente de constelaes e desejo. De questionamentos e de um exausti-
vo trabalho literrio, potico, sobre a linguagem.
Sarah: A questo do gnero para si uma limitao?
Maria Teresa Horta: Os limites nunca me limitam, porque no
lhes aceito as regras, como j disse num poema. Ou seja, eu rompo com
todos os limites, infrinjo-os. No pode haver limites na poesia. Melhor di-
zendo, a poesia no contm nem suporta limite algum.
221
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Sarah: Outra forma de vencer os limites so os encavalgamentos
que caracterizam ao meu ver a sua potica e que surgem nos seus textos de
maneira a nunca dar por acabado qualquer pensamento, sentido ou ima-
gem. Essa transgresso constante o apangio do feminino?
Maria Teresa Horta: Essa mistura constante, esse fusionamento,
esse no aceitar os limites, esse descer at s fundaes de ns e daquilo
que escrevemos, essa constante busca de razes, esse procurar minucioso
da prpria escrita, pondo em causa estrutura e pensamento, parece-me ser
uma forma de encarar a escrita, a literatura, muito feminina. Levada a cabo
com extrema persistncia, sobretudo, pelas mulheres escritoras, pelas mu-
lheres da poesia.
Sarah: Entre a prosadora e a poetisa, qual o lugar da jornalista?
Maria Teresa Horta: Digamos que na minha escrita existem
trs vozes: a da poetisa, a da fccionista e a da jornalista. Por vezes podem
misturar-se, prefro dizer matizar-se, mas tambm podem existir excluindo
as outras suas vozes. Para ser clara, posso dizer-lhe que, quando escrevo
poesia, habitualmente s escuto o canto da poetisa, tal como, quando fao
reportagens ou entrevistas, s uso a escrita da jornalista que sou. J a fccio-
nista que h em mim, essa, invoca sempre em seu auxlio o voo da poetisa;
e por vezes, tambm, a experincia da jornalista, para esta a ajudar, com
efccia, a desenrolar a linha do novelo da histria e da Histria.
Sarah: Que sentido d ao trabalho da linguagem que reivindica?
Ser uma procura esttica? Uma forma de desobedincia? Uma interroga-
o tica?
Maria Teresa Horta: Trabalhar a linguagem trabalhar a lngua
com a qual escrevo: o portugus. Um trabalho exaustivo, uma paixo mi-
nha, uma constante descoberta e criatividade do excesso. Quanto melhor
trabalhar a linguagem, melhor eu escrevo e melhor, portanto, contarei-pas-
sarei o que pretendo dizer-contar-voar.
Desejo.
Para mim, linguagem desejo.
Escrever pode-deve ser xtase.
Sarah: No seu trabalho da linguagem, permanece confante em
relao lngua materna?
Maria Teresa Horta: Em literatura no h questes de confana,
mas de criatividade, e eu nunca senti problemas a esse nvel. Mas, tentando
ir ao fundo da sua pergunta, confesso-lhe que trabalhar a lngua portugue-
sa, lngua riqussima, antiqussima, um constante maravilhamento.
Trabalhar na escrita a minha maravilhosa lngua materna, de
uma beleza-riqueza secular. um prazer imenso, sulcar-mudar-mud-la,
inventar-reinvent-la a partir dela-mesma, das suas razes mais fundas. Ir
222
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
atrs das suas lianas, das suas cisternas naturais, das suas correntezas de
rio, do seu ondular de oceano, proa do navio da escrita, em busca de avis-
tar uma nova nesga de terra-areia-ilha.
Sarah: Ao mesmo tempo que se nota uma presena autoral assu-
mida na sua obra, o exerccio da escrita aparece tambm como um meio de
fundir a sua prpria voz na voz dos outros, pelo vis da intertextualidade,
por exemplo, ou ainda nas Novas Cartas onde prescindiu da sua autorida-
de, e ultimamente nas Luzes de Leonor, onde a Teresa abre um espao no
seu discurso Leonor. Gostava que a Teresa falasse sobre a maneira como
encara a funo de autora.
Maria Teresa Horta: Creio que s aparentemente prescindi da
autoria dos meus textos, quando escrevi Novas Cartas Portuguesas, com a
Maria Isabel Barreno e a Maria Velho da Costa. Na realidade, em momento
algum prescindi da minha autoria literria; pois, na realidade, cada uma de
ns assume a autoria de todos os textos e poemas do livro.
Longe vo os tempos em que as mulheres tinham de usar pseud-
nimos masculinos, ou manter o anonimato, para serem lidas e publicadas,
pois ningum levava a srio uma obra de autoria feminina.
E se em As Luzes de Leonor, verdade que abro um espao do
meu discurso Leonor; tambm verdade que escrevo algumas vezes a
partir do discurso dela e de muitas outras autoras; a isto chama-se inter-
textualidade.
Sarah: Sim, trata-se de intertextualidade. Tem razo. Mas, ao
meu ver, a sua prtica da intertextualidade tem isso de particular que no
remete nem para uma apropriao, nem para uma revisitao, nem mesmo
para uma infuncia. A Teresa escreve com e consegue assim um espao
de partilha e de igualdade. No acha?
Maria Teresa Horta: Acho, sim, isso precisamente que eu pre-
tendo: Partilha, Luz, Igualdade, Liberdade. Alis, eu nunca me aproprio,
busco o impossvel no excesso da escrita; eu nunca revisito, cumpro a be-
leza no cerne da vertigem; eu nunca me deixo infuenciar, redescubro-me
na avidez e no tumulto.
Eu sou uma mulher, uma poetisa, uma escritora da poesia
arrebatada.
Sarah: O excesso, o xtase, a intensifcao dos sentidos so ex-
presses que remetem todas para o corpo. S o corpo que conta?
Maria Teresa Horta: No, est enganada, no remetem todas
unicamente para o corpo! Nada tem um s sentido, um nico lado, nada
s Luz ou Sombra, como to bem sabiam Teresa de vila e Hildegarda de
Binguen. As obras de cada uma delas refecte exactamente essa dualidade,
essa exaltao e, logo, apaziguamento.
Sarah: Que valor reveste a paixo da beleza omnipresente nos
seus textos?
223
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Maria Teresa Horta: O valor da exaltao, do xtase. Ah espan-
tosa Teresa de vila! A minha maior procura, quer na escrita, quer na vida,
a da beleza. Paixo da beleza no tumulto,
num trabalho potico e fccional exaustivo e vertiginoso. Quere-
ria, sim, atingir o seu mago, mesmo que isso queimasse as minha asas da
poesia.
Sarah: Para terminar, gostava que me falasse da sua primeira ex-
perincia da beleza.
Maria Teresa Horta: A minha descoberta da beleza deu-se quan-
do ao nascer, olhei pela primeira vez a minha me.
Encontrei-a quando li pela primeira vez, a primeira palavra.
Descobri-a quando escrevi pela primeira vez, a primeira palavra.
O primeiro verso.
A primeira frase.
Recebido para publicao em 15/06/12.
Aprovado em 15/08/2012.
NOTAS
1 Na transcrio da entrevista de Maria Teresa Horta, mantivemos o jogo de formas e
espaos em suas respostas.
2 Ver CIXOUS, Hlne. Le rire de la mduse. In: Larc. Aix-en-Provence, n. 61, p. 49, 1975.
224
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
UM ORIENTALISMO ESCLARECIDO?
AS LENDAS DA NDIA DE LUS
FILIPE CASTRO MENDES
Duarte Drumond Braga
(Centro de Estudos Comparatistas, Universidade de Lisboa)
Lendas da ndia (Dom Quixo-
te, 2011), do poeta portugus Lus Filipe
Castro Mendes (doravante LFCM) (n.
1950), fruto de uma estada em New
Delhi onde, diplomata de carreira, o
autor presentemente j no se encon-
tra. Depois de dez anos sem publicar, o
Oriente parece ser responsvel pela revi-
talizao do seu trabalho potico, como
em outros casos relativamente recentes.
Lembremos o ciclo macaense (1987-
1991) do recm-falecido Antnio Ma-
nuel Couto Viana, pelo qual se abriram novos trilhos; e ainda sem dvida
com alcance e implicaes mais profundas do que nos outros dois o caso
de Ruy Cinatti.
No que toca experincia da sia que este livro recolhe, ser sem
dvida o ar ps-colonial e multicultural do nosso tempo (e suas articula-
es com o campo das relaes internacionais) que obriga esta poesia a
nascer com vrias precaues ideolgicas. Comeando, antes de mais, por
um desmascarar de esteretipos (Enquanto alguns pensam que a ndia
um pas/ de milionrios e de faquires, [MENDES, 2011, p. 53]), d-
-se neste livro uma ultrapassagem do modo extico, que o autor diz alis
no sobreviver para o europeu mais do que duas mones (V. seco do
livro intitulada A Terceira Mono). certo que o autor recusa tal registo,
embora acabe por ceder a glosar velhos tpicos que dominaram a viso
europeia da sia ao longo dos sculos XIX e XX, e de que falo em breve: o
cansao face ao Oriente e sua impenetrabilidade.
De qualquer modo, o poeta assume, desde os primeiros textos do
livro, a complexidade e o carcter multiplanar do objecto chamado ndia,
tambm no caso particular de uma histria de contactos que no se deu
225
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
apenas entre indianos e portugueses. assim que a textualidade confusa de
que essa Histria se constitui por vezes corresponde, nesta obra, a momen-
tos polifnicos:
O historiador indiano conta pormenores: vem tudo
nas crnicas, assevera,
no se entende como os ingleses se enganaram no local
e foram construir um mamarracho comemorativo, a
dez quilmetros daqui!
Basta ler as crnicas portuguesas insiste o Professor
John para reconhecer o lugar certo.
(Calicute: aqui desembarcou Vasco da Gama [MEN-
DES, 2011,p. 14])
Ao mesmo tempo, estes versos j permitem supor aquilo que ao
longo do livro cabalmente se confrma: o exorcismo do remorso ps-colo-
nial, quer da parte do europeu, quer da do indiano de hoje. Esta postura
d, por sua vez, origem a uma constante ironia face ideologia celebra-
tria da multiculturalidade. A superao daquele discurso (entre um cer-
to ps-colonial e um certo multicultural) passa, ora por um pragmatismo
diplomtico, bem ciente das circunstncias do mundo actual Cf. 1498:
Modernidade do Samorim, (MENDES, 2011, p. 127) , ora por um huma-
nismo universalizante, que procura uma simpatia (no sentido etimolgico
do termo), mesmo no auge do estranhamento:
() amos a meditar em coisas muito srias
e muito hindus e multiculturais.
Mas de repente tudo o que nos rodeava perdeu o seu
sentido,
Porque anoitecia simplesmente (.)
So momentos em que entendemos que somos da
mesma gente,
neste pais de to diversa gente
(Anoitecer no Ganges [MENDES, 2011, p. 18-19])
Para o primeiro dos casos, temos a fgura simblica de um Sa-
morim o personagem histrico que recebeu Vasco da Gama em 1498
modernizado (como o sujeito potico diz), mas que no o nem en-
quanto anacrnico freedom fghter ps-colonial (no sentido anti-colonial
do termo), nem uma fgura sem existncia real fora da sua fxao mtica
nOs Lusadas. Eis o poema completo:
No causou estranheza ao Samorim que o Gama usas-
se com ele o verbo descobrir:
tinham menos sensibilidade colonial aqueles reis
e o olhar antropolgico era para eles uma questo
de mercado.
226
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
verdade que o verdadeiro mundo colonial s veio
depois.
Subramanyam estranha que o Samorim tenha deixa-
do o Gama dizer
que viera descobrir aquelas terras, de todos conhe-
cidas,
e insinua confuso dos tradutores rabes.
Mas o Samorim pensava
que estava tanto a descobrir aquela gente como a nos-
sa gente
o estava a descobrir a ele.
O comrcio tinha que crescer
E a concorrncia era proveitosa.
No era nem um combatente da liberdade nem um
leal colonizado:
era o Samorim!
(1498: Modernidade do Samorim [MENDES, 2011,
p. 127])
Assim, este Samorim moderno representa um pragmatismo di-
plomtico e econmico usado enquanto apelo desconstruo do comple-
xo ps-colonial. Como se pode ver, LFCM no recua perante o confronto
intelectual com as prprias armas que detm, o verso. A introduo de uma
dimenso crtica e de debate no poema, para a qual no se cobe de apre-
sentar nomes (como o do historiador indiano Sanjay Subrahmanyam) e de
emprestar voz s posturas em confronto, ser sem dvida uma das dimen-
ses mais interessantes deste livro.
Nesta viso descomplexada, quer em relao sia, quer em re-
lao a Portugal, torna-se absurdo pedir desculpas pela Histria A His-
tria ()/ serve agora para pedirmos desculpa do passado,/ dispensando-
-nos de olhar para o presente, (MENDES, 2011, p. 43). E assim que se
assume, sem grandes problemas, que este livro trata, no apenas da sia,
mas tambm de uma sia que Portugal, isto , sobre as marcas que a cul-
tura portuguesa l deixou e que obrigam a uma singular arqueologia impe-
rial. sobre isto que tambm falam, de um modo mais determinante ainda,
o ciclo macaense de Couto Viana, bem como a parte oriental da poesia de
Jos Augusto Seabra (1937-2004), com Poemas do Nome de Deus (1990) e
O Caminho ntimo para a ndia (1999), alis antecessor de LFCM em New
Delhi. Todavia, para alm dos lugares, monumentos e inscries de que
esta arqueologia feita, os prprios poetas portugueses que calcorrearam
a sia so tambm recuperados como sinais desse Oriente portugus. E
agrupando todas essas referncias culturais que Lendas da ndia se revela
como o elo mais recente de uma antiga cadeia.
227
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Com efeito, Lus de Cames, Ferno Mendes Pinto, Manuel Ma-
ria Barbosa du Bocage, Antnio Patrcio, Camilo Pessanha, Alberto Osrio
de Castro, Venceslau de Morais e, mais recentemente, Ruy Cinatti, Arman-
do Martins Janeira, Antnio Manuel Couto Viana e Jos Augusto Seabra
constituem uma linhagem de autores que manifesta uma ligao simulta-
neamente vivencial e esttica ao Oriente portugus. Esta tem vindo a de-
pender sobretudo de funes diplomticas e/ou representativas do Estado
Portugus (desde o prprio Cames, que em Macau foi provedor-mor de
defuntos e ausentes at ao diplomata Jos Augusto Seabra), do exerccio
do Direito e de outras funes outrora estreitamente ligadas ao aparelho
colonial. Aos nomes atrs citados, acrescente-se ainda LFCM, jurista e di-
plomata (tal como a maioria dos atrs referidos), assumindo textualmen-
te a errncia prpria da sua carreira (vejam-se os poemas sobre Espanha,
Hungria, Brasil) e provando que esta via de relao entre Portugal e a sia
ainda no tem os seus dias contados.
Mas no apenas a profsso e a vivncia directa de um espao
comum que une aqueles autores. Trata-se de uma tradio com os seus
tpicos particulares, directamente relacionados com as biografas dos au-
tores, que como que performatizam a sua errncia pela sia, mitifcando-a
luz dos seus antecessores. Assim, uma das caractersticas desta poesia
tem sido a constante mediao de referncias literrias portuguesas para
entender o prprio Oriente. Este tipo de intertextualidade pode, talvez em
muitos dos casos, ser lido luz do mecanismo, apontado por Edward Said
em 1979, de legitimao do discurso orientalista pela referncia autorida-
de de outros plumitivos. De qualquer maneira, e mesmo que no seja esse
o caso, irresistvel, para um poeta portugus que habite na ndia e que
sobre ela escreva, falar de Cames (passim, mas sobretudo p. 61, 62 e 95).
Indirectamente, tambm Bocage aparece (p. 56) e at mesmo Pessanha (p.
15 e 56), puxando para uma geografa luso-oriental mais alargada.
No entanto, em LFCM esta autoinscrio na linhagem no impli-
ca a construo de uma poesia efectivamente orientalista, no sentido forte,
isto , saidiano do termo. Em si, ela pode ser lida pelo lado da homenagem.
H, contudo, uma ambiguidade neste livro: se, por um lado, LFCM d li-
teralmente voz ao outro, e tem vrios cuidados ideolgicos com este, ao
mesmo tempo tambm tende a observar a sia com uma lente sem dvida
portuguesa. Assim, tem razo Antnio Guerreiro ao assinalar uma sbia
prudncia no que diz respeito a ingnuos entusiasmos por experincias
exticas orientais (GUERREIRO, 2011, p. 22), mas engana-se ao conside-
rar a inscrio de Cames e de Pessanha como fltros de defesa contra esse
mesmo orientalismo. Pelo contrrio, tal como Venceslau e Pessanha fze-
ram com Cames e Mendes Pinto, Janeira com Mendes Pinto e Venceslau,
Couto Viana com Patrcio, Pessanha e Cames (etc., e em acumulao),
estas relaes so a construo de uma cadeia de representao do Oriente
por portugueses, que tende a relacionar um afecto pelas coisas asiticas
com uma obsesso por encontrar (e por vezes sobrepor) Portugal e as mar-
228
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
cas da sua cultura imperial ao contexto asitico, no que pode transparecer
uma efectiva dimenso orientalista. Desta maneira, homenagear Cames e
Pessanha no obviamente em si mesmo um gesto orientalista, mas arras-
ta consigo implicaes orientalizantes vindas da tradio onde tal home-
nagem se quer inscrever.
Veja-se, a respeito desta questo, a seguinte passagem de Lendas
da ndia onde o sujeito se confessa herdeiro da tradio portuguesa de um
Oriente fatal que, s por si, tem a capacidade de provocar o surgimento
dum grande poeta ou de o reduzir a cinzas:
Pessanha, onde est a luz do nosso pais perdido?
Quando descobriremos o nosso Ocidente,
Ns que de tanto Oriente fomos embriagados
como perus para a ceia da poesia?
()
O Oriente desfaz-nos, por certo, mas pode tornar-nos aves
Fnix
ou galinhas de capoeira!
(Invocao a Pessanha [MENDES, 2011, p. 56])
Por outro lado, intervm aqui, tal como em Jos Augusto Sea-
bra, a potica do mistrio e da ignorncia: os deuses hindus so smbolos
transcendentes e impenetrveis (cf. MENDES, 2011, p. 31) que espelham a
ignorncia (assumida) do ocidental perante o misterioso Oriente (conhe-
cido tpico que vem da literatura europeia dos sculos XVIII-XX acerca
do Oriente), ignorncia essa que por vezes surge sob a forma do cansao:
O Oriente di,
Alheio aos nossos conceitos estafados,
Desfeitos pelas chuvas da mono
Ou dispersos pelos ventos do deserto.
(Um orientalista confessa-se [MENDES, 2011, p. 36])
E assim que, nesta necessidade de compreender um Oriente po-
deroso, mas resistente compreenso, LFCM chega a uma soluo provi-
sria para o enigma da ndia, que o autor claramente sente como tal (Trs
anos a conviver contigo/ e nunca chegarei a entender-te! ()// Como
ser misterioso sem ser misterioso?/ Como ser inacessvel sem ser reca-
tado? [MENDES, 2011, p. 121]). Assim, para resolver o paradoxo entre a
ndia dos deuses misteriosos e a ndia hiper-tecnolgica, surge a imagem
simblica da ndia-Medusa, de mil formas. Note-se que o recurso a uma
instncia mtico-simblica de provenincia greco-latina que resolve o que
comea como precauo de autodefesa contra uma alteridade inapreens-
vel. Assim, embora feita de gente real e igual a ns, a ndia acaba por ser
hipostasiada enquanto instncia (Me ndia) afnal irrepresentvel, que
229
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
age e se move atravs dos seus milhares de avatares-heternimos (MEN-
DES, 2011, p. 121) nos quais ela est simultaneamente presente e inaces-
svel (Como ser misterioso sem ser misterioso?/ Como ser inacessvel
sem ser recatado? [MENDES, 2011, p. 121]).
Em concluso, talvez uma expresso, que em boa medida um
contra-senso, como orientalismo esclarecido (por partir de uma conscien-
cializao e de precaues que nos remetem j para uma esfera (ps)-orien-
talista, conforme sugerido) seja uma formulao til para explicar a sin-
gularidade de certas dimenses de uma obra que, ao mesmo tempo que
dialoga, como vimos, com uma tradio portuguesa de escrita potica sobre
o Oriente, nela criticamente se inscreve. Isto , h com efeito em LFCM, em
relao a todos aqueles autores supracitados, uma diferena que salta vis-
ta: sendo glosados muitos dos mesmos temas e tpicos, isto feito com uma
conscincia crtica que no permite que coloquemos, pelo menos nunca
duma forma linear, o autor num discurso orientalista, no sentido saidiano
do termo. Com efeito, em LFCM plasmado um discurso ps-orientalista
no campo da poesia portuguesa, sobretudo na medida em que um dis-
curso esclarecido que se precavm contra certas tradies de representao
distorcida. Contudo, este discurso acaba afnal sofrendo de uma frtil am-
biguidade na forma como tange a lira luso-oriental e suas especifcidades.
Isto , pela via da inscrio numa tradio potica portuguesa que surgem
certas implicaes orientalizantes prprias da linhagem e que necessaria-
mente, por via desta, esto presentes, mostrando assim que h uma tradio
potica de relao entre Portugal e o Oriente de boa sade num contexto de
ps-modernidade j muito distante do de Pessanha ou de Morais.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
GUERREIRO, Antnio. Em terra estrangeira. Atual-Expresso, 30 de
Julho de 2011, p. 22.
MENDES, Lus Felipe Castro. Lendas da ndia. Lisboa: Dom Quixote,
2011.
Recebido para publicao em 15/05/12.
Aprovado em 15/06/2012.
230
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
CALEIDOSCPIO DE LUZ INEXPLICVEL
Ricardo Marques
(Universidade Nova de Lisboa)
RM: A Poesia Reunida de 2000 mostra-nos um poeta
que escreve h 3 dcadas e a quem preocupa certos te-
mas recorrentes, mas que os tem vindo a escrever com
um estilo mais contido e, talvez, mais limado. O que
mudou desde a ltima poesia reunida, como sente o
seu percurso neste incio de sculo?
NJ: No me costumo reler, e se h temas recorrentes
deixo ao crtico o trabalho de os encontrar. Quanto a
mudana, vejo a minha poesia como um longo poe-
ma que ter comeado entre meados e fns da dca-
da de 1960, e ainda no acabou. Quanto a mudanas,
no h nada pior do que pretender mudar. Escrevo,
reescrevo, rasuro: este o meu trabalho.
(Questionrio presente no website poemsfromthe-
portuguese.org)
231
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Ainda persiste uma franca, mas sempre utpica, perseguio da
originalidade naquilo que se espera de um autor e que depois se refecte na-
quilo que se escreve no universo da crtica (portuguesa e no s), como se
nunca tivssemos passado pelo sculo XX, por um autointitulado moder-
nismo tantas vezes oco e pelas suas mltiplas reinvenes revivalistas, que
uma simples frase de Maurice Blanchot resume no simblico ano de 1969
Ce qui importe, ce nest pas de dire, cest de redire et, dans cette redite, de
dire encore une premire fois. (BLANCHOT, 1969 p. 459)
com Frmulas de uma luz inexplicvel que Nuno Jdice celebra
uma vez mais a noo de poema, esse autntico pavo sonoro, quarenta anos
depois destas duas primeiras invectivas terem iniciado o extenso poema
que desde ento vem escrevendo. Na mais recente entrevista que lhe fze-
mos, a propsito do website Poems from the Portuguese, a ltima pergunta
foi a mais revelatria e elucidatria do que motiva verdadeiramente este
percurso, do imutvel local onde se situa esta potica to particular. Desta
forma, no h melhor poema para comear a falar deste novo livro do que
aquele que vigora a meio e que apropriadamente se intitula Cnone:
H livros raros na minha memria deles: o
general dourakine, que depois troquei pelo
lenine; o platero, que um burro, e sabe mais
do que muitos que o no so; os sonetos
da forbela, e as fotografas dela. H os poemas
do nobre a passear pela foz, e os do cesrio
a espreitar burguesas, e uma delas tinha
o seio mostra; h o eurico do herculano
e o noivado do sepulcro cantado ao piano.
No sei o que fz a estes livros, mas ainda
me comovem ou ser quem os leu, que j
no sei se ainda sou eu, que faz todo
o caminho de volta para me abrir as pginas
que o tempo colou, uma a uma, at ao fm,
sem pensar no que me fazia parar a meio:
a louca hermengarda de tnica rasgada, as virgens
do nobre ao poente, e aquela burguesa, na
merenda do cesrio, a mostrar-me o seio.
Poderamos dividir este poema em duas partes complementares,
e que dialogam directamente com os seus poemas e a sua potica parti-
cular, tornando-a numa achega signifcativamente autobiogrfca ao seu
universo literrio. Se por todo o poema se enumeram momentos e actores
desse mesmo universo (como por todo o livro), numa segunda parte do
poema de assinalar a assuno claramente pessoal de que o leitor Jdice,
como leitor normal que viveu todas essas personagens e livros, guarda a
232
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
memria deles mais do que guardar um conceito estvel de identidade os
livros e as razes porque os lemos, bem como as coisas que neles vemos
mudam dentro de ns e connosco, apesar de continuarem pelo tempo. Um
apontamento ainda a denotar aqui: a escolha em particular de elementos
ligados ao feminino, sendo as mulheres as fguras que mais populam os
seus poemas e simultaneamente a chave, tantas vezes, dos seus poemas,
num tu que se espera, que se eleva, que se ama, e que a razo ltima de
escrever. Em suma, talvez este seja dos poemas mais recentes de Jdice
que, por via da sindoque, mais directamente dialogam com toda a sua
obra, seja do ponto de vista estilstico (sempre a oscilao entre a pardia
e a ironia no tratamento das metforas e das imagens), seja do ponto de
vista de contedo. Assim, e como seria de esperar, o livro apresenta outras
vnus, outras proserpinas e outras didos, mas tambm um novo dipo e e
um novo orfeu (dos melhores poemas do livro, do nosso ponto de vista,
onde escreve sobre Hipaso de Metaponto, [JDICE, 2012, p. 20], ou onde
relaciona Pessoa com Wilde, em De profundis, [JDICE, 2012, p. 67]),
continuando a ligao judiciana cultura ocidental de onde parte, apro-
priando-a num discurso de estilo prprio, por vezes mordaz, como neste
caminho para o inferno.
H muito que no ouo falar de eneias,
como se nunca tivesse existido, ou no ecoasse
ainda nos campos de onde partiu a sua
voz, chamando pelos deuses. Conheci-o
nos cafs de tria, com a barba por fazer e
a roupa de alguns dias, como se no tivesse
casa para dormir. Quando o prximo barco
para o inferno, perguntava-me. E esvaziava
os copos de aguardente que
mandava vir, para que eu
os pagasse. At ao dia em que o seu lugar
na mesa fcou vazio. Algum sabe onde
est? No deu notcias? Mas nenhum
barco abandonara o porto, e s o co que
nunca o deixara andava s voltas da mesa,
como se me pedisse que lhe encontrasse
o dono. (JDICE, 2012, p. 21)
Peguemos nesta imagem fnal do co abandonado no porto,
como a memria ou o registo que dela faz o poema depois do momento
passado. Esta uma imagem importante no livro, e que subtilmente apare-
ce noutros poemas. No pensamos ser por acaso. Muito deste novo volume
vive desse momento de partida, isto , de uma morte sempre metaforizada
noutras partidas. E as viagens encontram-se aqui por todo o lado (veja-se
os vrios lugares referidos, da Amrica do Sul ndia, at a um Manual de
Viajante muito particular).
233
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Se a ironia acontece precisamente quando dois tipos de discur-
so se imiscuem sem se autoexcluir num determinado texto (chez Linda
Hutcheon), pensamos que tanto podemos sentir estas partidas com uma
melancolia por essa passagem inexorvel do Tempo (melancolia mesma
uma palavra importante neste livro, como em toda a sua obra), mas igual-
mente com o riso de quem tudo isso decompe para o superar no momen-
to presente
1
. O mais longo poema destas Frmulas, Carto de Embarque
disto o melhor exemplo, fazendo par com outros poemas igualmente lon-
gos e interdisciplinares da sua obra, como por exemplo Histria de Arte
(in Geometria Varivel, 2005) ou Variaes inglesas de Constable com
As Quatro Estaes (in O Estado dos Campos, 2002). nisto que Jdice
continua a ser mestre sem par no panorama da poesia portuguesa actual:
Retira do contexto, analisa, decompondo, complexifcando, para de novo
dar ao leitor, sempre com as palavras no seu lugar certo, sempre com uma
musicalidade interna, sem necessidade de rima, e, tambm por tudo isso,
com uma linguagem acessvel a todos. Vale a pena ver o penltimo poe-
ma do livro, Uma questo terminolgica (JDICE, 2012, p. 106), onde
vemos bem espelhada a tpica estrutura tripartida do poema judiciano,
a proposio de um problema, a sua complexifcao e desenvolvimento
(com apontamento inter- e intratextual de Ins de Castro) e uma concluso
em chave de ouro, antecedida de uma adversativa (porm, mas, no entan-
to,...). Veja-se como o paradigma da narratividade se sustm e prossegue
na sua obra potica atravs de uma interessante e prolfca aproximao ao
conceito de short-story em particular e de prosa em geral. Cada poema, tal
como o entendemos numa unidade bsica, conta e enreda-se atravs de
uma histria, seja ela mais ou menos real, mais ou menos ertica, mais ou
menos histrica e/ou mitolgica (isto do ponto de vista do intertexto com
que estabelece esse tipo de ligao) e/ou mais ou menos irnica/pardica.
Tudo na perseguio, sempre volvel e voltil do que um poema. Jdice,
ecoando aquilo que diz na sua resposta nossa pergunta, deixa bem claro
que esta no uma procura defnitiva ou fnal e que precisa a vida toda
para a escrever o poema pode adquirir vrias formas, mas sempre escapa
a uma defnio, e essa a sua natureza intrnseca. Basta para isso parar-
mos um pouco e analisarmos todos os elementos que compem os ttulos
das suas obras, sobretudo as mais recentes, e atentar na ironia por detrs
deles. Sem querer ser exaustivo, Jdice prope-nos uma noo (1972),
um mecanismo (1975), regras (1990), uma teoria (1999), uma car-
tografa (2002), um guia (2010), chegando s frmulas deste ano. Esse
princpio normativo, porm, est sempre ligado a princpios mais subjec-
tivos e indefniveis, ou no estivssemos a falar de poemas fragmenta-
o (1975), perspectiva (1990), sentimento (1999), emoes (2002),
varivel (2005), inexplicvel (2012). Voltando forma com que iniciei
este texto, no posso assim alinhar-me junto dos crticos que, por sacrifcio
inglrio de uma originalidade que no se sabe muito bem o que e esque-
cendo um princpio bem mais importante a nosso ver, o da consistncia,
criticam cegamente a verborreia desta obra, e/ou a dividem em fases sem
olh-la mais fundo e mais de fundo.
234
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Voltemos a este livro em particular. Mutatis mutandis, de um
maior carcter pessoal da memria que este livro talvez se aproxime, e ain-
da que esta seja uma tendncia que sempre existiu, aparece mais explicita-
mente nos ltimos livros de Jdice (tenta-se uma aproximao de defnio
em Estudo em branco, (JDICE, 2012, p. 101), como um lenol branco
como a pgina do poema). Neste sentido, de notar que, tal como em Ge-
ometria Varivel (2005), As Coisas Mais Simples (2006) ou Guia de Con-
ceitos Bsicos (2010), j de si ttulos poeticamente ambguos como vimos,
existem ncleos temticos directamente relacionados com a sua vivncia
no sul, na provncia, nas casas da infncia, num outro mundo que existiu
quando o autor era criana, mas que, pelo poder da poesia, qualquer leitor
pode experimentar e identifcar-se. Tambm se sente uma presena mais
forte da religio neste e nos livros mais recentes, seja directamente pela
relao com uma cena biblica de Jonas e a baleia (JDICE, 2012, p. 14),
seja indirectamente com a referncia a Deus e criao com a aproximao
ao gesto criador do poeta (Mistrios, p. 66). Veja-se o poema Nova Suma
Teolgica, ligado directamente a Soma Teolgica de Geometria Varivel
ou Enigma Teolgico, de O Estado dos Campos. Neste livro em particular,
e como j se aforou, essa memria pessoal adquire uma especial signifca-
o quando alguns poemas falam do momento eterno, mas artifcial, que
uma fotografa invoca (JDICE, 2012, p. 48, 49, 50, 53), ou usam a foto-
grafa como metfora desse mesmo passado actualizado no presente, como
nas primeiras pginas de um poema (JDICE, 2012, p. 72). Dois poemas
so importantes neste campo, estabelecendo um verdadeiro dilogo inter-
no A visita (JDICE, 2012, p. 36) e talvez mais simbolicamente para
todos os outros, Entre fotografa e poema (JDICE, 2012, p. 43):
Neste esboo, h aquele segmento
do teu rosto, quase a preto e branco, que sai da sombra
do txi; mas faltam as mos (e sem elas o retrato
no fca completo). Na realidade, o corpo
parece fragmentado quando o capturamos
de surpresa, sem saber o que ir
surgir depois do fash. E poderia
desenhar-se um cenrio puramente abstracto,
com um fundo de azulejo a dar um tom
clssico imagem, ou apenas o branco da parede,
e neste caso haveria uma contraluz que s deixaria
vista o teu perfl. Porm, quando olho
o teu retrato, vejo nele
uma presena que posso sentir, e me fala
como se estivesses comigo, fazendo-me
ouvir a cor da tua voz. E como se sasses de dentro
235
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
desta imagem que pura forma, instante
que a palavra reduz sua durao, gesto
imvel num desvio do olhar
para o poema.
Escolhemos salientar este poema exactamente por indicar aquilo
que esta potica tem de melhor: a refexo sobre o prprio poema. Obvia-
mente que podamos argumentar que todos os poemas discutem, pela sua
popria existncia, o conceito de poema, mas Jdice compraz-se em faz-lo
de forma mais explcita, atitude que est na base da criao potica do seu
longo poema de quarenta e muitos anos. O momento do poema, isto , a
passagem da mera fotografa para o poema, como diz o sujeito poti-
co, d-se quando o daguerretipo da mulher amada sai de dentro/ desta
imagem que pura forma quando nele se v uma presena que se pode
sentir. Vale a pena ilustrar um pouco melhor esse tema, com um outro po-
ema-chave no livro, bem como para toda a sua produo potica. Falo de
Uma relao necessria com o real no o implica (JDICE, 2012, p. 90):
A minha concepo de realismo em poesia
no me obriga a falar da realidade quando
escrevo o poema, nem a ter as mos sujas
do barro e da lama de que a vida feita. Mas
quando saio de casa, e as ruas me aparecem
com a evidncia dos seus habitantes,
ou quando leio os ttulos dos jornais na
banca da esquina, essa realidade outra;
no digo que seja mais real do que a do
poema, ou que a vida me obrigue
a tirar da cabea o sonho a que pertence
a outra realidade do que escrevo. O que
posso concluir, porm, que existe um
confito entre o que vejo e o que, desse
olhar, passa para o poema. Posso
design-lo por fractura, e compar-lo
com as palavras que, tal como a gua
que corre nas montanhas, e limpa
pelo fltro invisvel da pedra, se deixam
purifcar pela msica do poema, quando
nascem do verso, como a gua da fonte.
Muito mais se poderia dizer sobre este livro, sobretudo naquilo
que ele se remete para com outros marcos da obra judiciana (a cor azul de
O sentido do Azul, [JDICE, p. 41], por exemplo), mas em traos gerais,
236
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
estas frmulas de uma luz inexplicvel so mais um notvel degrau na j
longa escadaria do poema judiciano, mais uma metfora com que Nuno
Jdice nos brinda na perseguio da noo de poema que o faz escrever
desde sempre. Quarenta anos depois, numa poesia que se soube reinventar,
renovar caminhos j trilhados, explorar novos trilhos e encontrar-se encore
une fois em topos e imagens recorrentes, esta seguramente uma metapo-
tica slida e essencial no panorama da literatura portuguesa contempor-
nea. Esperemos que este texto, eminentemente celebratrio deste percurso,
seja esse lugar de encontro de quem escreve com quem l, para dar a ler,
uma vez mais a um outro leitor, tal como na afrmao incontornvel de
Blanchot, tal como num poema desta obra.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BLANCHOT, Maurice. Lentretien infni. Paris: Gallimard, 1969.
HUTCHEON, Linda, A Teory of Parody: Te Teachings of Twentieth-
-Century Art Forms. Illinois: UIP, 1984.
JUDICE, Nuno. O Estado dos Campos. Lisboa: Dom Quixote, 2002.
______. Frmulas de uma Luz Inexplicvel. Lisboa: Dom Quixote, 2012.
______. Geometria Varivel. Lisboa: Dom Quixote, 2005.
______. Guia de Conceitos Bsicos. Lisboa: Dom Quixote, 2010.
______. O Mecanismo Romntico da Fragmentao. Porto: Inova, 1975.
______. A Noo de Poema. Lisboa: Dom Quixote, 1972.
______. O Pavo Sonoro. Lisboa: Dom Quixote, 1972.
______. Regras da Perspectiva. Lisboa: Quetzal, 1990.
______. Teoria Geral do Sentimento. Lisboa: Quetzal, 1999.
Recebido para publicao em 01/05/12.
Aprovado em 15/06/2012.
NOTA
1 No entanto, no deixa de fazer apontamentos relativos ao quotidiano mais comum,
usando para isso da subverso irnica, roando por vezes a pardia. A Presso dos mer-
cados, que surgiu em primeira mo h alguns meses numa edio do Jornal de Letras,
Artes e Ideias, disso paradigma.
237
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
FIGUEIREDO, MONICA.
NO CORPO, NA CASA E NA CIDADE:
AS MORADAS DA FICO. RIO DE JANEIRO:
LNGUA GERAL, 2011.
Eduardo da Cruz
(Universidade Federal Fluminense)
Monica Figueiredo assume, logo no
princpio do livro, que mantm um envolvi-
mento longo com o principal autor estudado
em seu ensaio: Ea de Queiroz. Esse escritor
tem sido alvo de sua pesquisa desde o doutora-
do e seu companheiro pessoal de longa data,
sendo lido por prazer desde a adolescncia da
autora. Desse longo vnculo, uma preocupao
emerge de suas publicaes, frutos de uma in-
vestigao animada e criteriosa: a relao entre
Literatura e Sociedade, num dilogo constante entre narrativas contempo-
rneas e as do fm do sculo XIX, sobretudo na literatura portuguesa.
Antes, contudo, de comear a leitura de No Corpo, na Casa e na
cidade: as moradas da fco, preciso ouvir a recomendao que Teresa
Cerdeira faz na orelha: no se afobe no. Entre devagar neste livro. Af-
nal, a ensasta prope-se em seu livro a ouvir um discurso quase inaudvel:
a voz e a luta de mulheres em espaos que no so habitados sem em-
bate, sem dor. Viver no corpo, na casa e na cidade no so experincias
simples (FIGUEIREDO, 2011, p. 14). Essa difculdade, ou complexidade,
observada e discutida a partir da anlise das personagens femininas de
quatro romances portugueses: O Primo Baslio, de Ea de Queiroz; O Vale
da Paixo, de Ldia Jorge; Pedro e Paula, de Helder Macedo; e Ensaio sobre
a Cegueira, de Jos Saramago. Foi lenta a emancipao feminina entre os
dois fns de sculo comparados pela via literria. Infelizmente, ainda no
uma liberdade absoluta. Se muitos direitos foram conquistados pelas mu-
lheres em pouco mais de cem anos, no foi fcil essa aquisio, numa longa
histria de sofrimento e represso. O livro guia o leitor pelos caminhos
dessas personagens, com todos seus obstculos, ajudando de alguma forma
238
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
a amplifcar a voz delas. Se de fco que se trata, no se pode esquecer
que Aristteles, em sua Potica, explica que esse tipo de narrativa aquele
que relata o que possvel acontecer. Monica Figueiredo encaminha sua
leitura desses livros focando em trs temas ou espaos, ou melhor dizendo,
trs moradas, escolhidos precisamente para falar do mundo.
A discusso comea pelo Primo Baslio, ou, melhor dizendo,
por Luiza. A personagem queirosiana funciona no apenas como pon-
to de comparao para as demais protagonistas analisadas (Paula, a flha
de Walter, e a mulher do mdico), ela sobretudo exemplo das barreiras
impostas s mulheres em nossa sociedade e da difculdade que beira a
impossibilidade de as ultrapassar. Luiza apresentada como aquela que
precisava conquistar os trs espaos a que estava vedada: o corpo, a casa e
a cidade. Mais do que isso, aquela que precisa construir um discurso que
lhe garantisse a existncia e que justifcasse o seu atrevimento desejante
(FIGUEIREDO, 2011, p. 22).
Esse livro aproxima Luiza das outras trs personagens femininas,
ligando dois fns de sculo, apoiando-se nos estudos de Richard Sennett,
que v o sculo XX em sua relao com a poca vitoriana, quando tudo
aquilo com que acertamos contas hoje em dia foi efetivamente criado (FI-
GUEIREDO, 2011, p. 19). Assim, apesar de a autora indicar que considera
literatura contempornea aquela produzida aps o 25 de abril de 1974,
ou mais especifcamente, aquela produzida a partir da dcada de 80 (FI-
GUEIREDO, 2011, p. 23), no difcil, a partir de seu ensaio, perceber Ea
de Queirs como nosso contemporneo. Como na letra de Ary dos Santos,
H cem anos que eu canto esta cano/ sem cabea porm com corao./
Porque o Pas do Ea de Queirs/ ainda o Pas de todos ns!...
Os quatro romances analisados exibem uma atmosfera de crise
(FIGUEIREDO, 2011, p. 19), uma viso mais ou menos desalentada do
tempo referencialmente histrico e, talvez por isso, eles sejam livros tristes
(FIGUEIREDO, 2011, p. 20). O leitor no deve mesmo se afobar. Apesar
de o livro ser dedicado especifcamente a esses romances, o tema analisado
muito mais amplo. No a literatura portuguesa repleta de livros tris-
tes? Vitorino Nemsio, comentando Eurico, de Alexandre Herculano, e
Frei Lus de Sousa, de Garrett, solues romnticas de uma velha crise-tipo
da vida do Portugus (NEMSIO, 2000, p.177), compara-os a Menina e
Moa, de Bernardim Ribeiro, e S, de Antnio Nobre: dos quatro que citei,
e a que se no pode negar, creio eu, no s o denominador comum dessa
tristeza confessada e dessa saudade sentida, mas o carcter de livros eleitos
do povo portugus (NEMSIO, 2000, p. 177). A tristeza no matria
nova na literatura portuguesa, mas parte de uma longa tradio. Alm,
claro, de marca de uma longa crise. Mais acentuada ainda se focarmos, na
esteira do que faz Monica Figueiredo, na fgura feminina que abre o livro
de Bernardim contando que menina e moa me levaram da casa de meu
pai para longes terras. Em uma sentena relata que no tem o controle
de seu corpo, de sua casa, muito menos da cidade, pois ela levada, no
239
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
sendo sujeito dessa mudana. Tambm cabe aqui destacar a posse da casa.
A edio de Ferrara (1554) indicava a casa como sendo da me. A partir
da edio de vora (1557-58), passou a ser do pai, para obliterar (segundo
Helder Macedo) uma marca da tradio judaica e fcar mais condizente
com a tradio paternalista portuguesa.
No Corpo, na Casa e na cidade no se refere apenas literatura.
Os problemas enfrentados pelas personagens femininas analisadas no so
restritos s situaes em que se encontram ou apenas sociedade portu-
guesa. Se alguns dos romances apresentados possuem uma ligao expl-
cita com Portugal, a crise burguesa ou capitalista no um fenmeno es-
tritamente portugus. A represso s mulheres histrica e, infelizmente,
presente em todas as sociedades. Alm disso, a obra de Saramago escolhida
para anlise possui um tom universal ao ensaiar sobre a relao entre
barbrie e civilizao em nosso mundo.
O livro tem, portanto, bem clara a preocupao que o acompanha
ao longo dos quatro estudos e que os interliga: ouvir como essas narrativas
falam de uma crise do capitalismo avanado, cujos indcios so recolhidos,
ou percebidos, j na sociedade burguesa do fm do sculo XIX mais espe-
cifcamente, a tirania a que so submetidas as mulheres. Ao longo do livro,
a autora demonstra conhecimento amplo das questes sociais e histricas
que atravessam nossa sociedade, e a situao portuguesa em particular,
apoiando-se em estudos de Zigmunt Bauman, Walter Benjamin, Marshall
Berman, Michel Foucault, Peter Gay, Habermas, Antnio Cndido, Eduar-
do Loureno, entre outros, para uma melhor compreenso de que cultura
est sendo discutida. Isso tudo intimamente relacionado com a leitura das
fces estudadas e costuradas com versos de MPB, trazendo no apenas
uma leveza ao texto mas tambm indcios da universalidade do tema abor-
dado e de sua ligao com nossa cultura.
Contra a problemtica de sua situao, o livro destaca a audcia
das personagens. Guardadas as devidas propores, cada uma delas, a seu
modo, teve que lutar com o tempo histrico a que estava circunscrita pela
aquisio de conhecimento que nem sempre era permitido (FIGUEIRE-
DO, 2011, p. 21). De todas as impossibilidades de Luiza posse do corpo,
da casa e da cidade por Paula, pela flha de Walter e pela mulher do mdico,
um longo caminho foi percorrido. A diferena entre elas parece estar no
na proibio, mas no resultado de suas aes, passando pela aquisio de
um discurso.
Vencer um mundo organizado pelo desejo masculino
era mesmo uma tarefa difcil para a gaguejante Lui-
za, que pagou caro por seu atrevimento questionador.
Um sculo depois, caber a Paula e flha de Walter
romper com poder patriarcal representado por Jorge
na poca vitoriana. A mulher do mdico, por sua vez,
ter de enfrentar um poder masculino retornado pri-
mitividade, mantido sob a violncia e atento somente
s leis da sobrevivncia. (FIGUEIREDO, 2011, p. 313)
240
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
As Moradas da Fico construdo no desejo, pois surge do as-
sumido prazer de sua autora na leitura dos quatro romances analisados e,
sobretudo, de sua intensa relao com Ea. , tambm, dedicado a quatro
mulheres de papel. O estudo acompanha Luiza em suas tentativas de to-
mar posse de sua casa, de seu corpo e da cidade, numa poca em que, s
mulheres, desejar era ousar. Ele passa pelo corpo sedutor de Paula, pela
flha de Walter que busca uma casa, e segue a mulher do mdico, a nica
que no atingida pela cegueira branca, a que testemunha o inominvel da
barbrie, sendo a nica verdadeiramente humana caminhando e guiando
numa cidade que deixou de ser abrigo. um livro que no termina, ou que
no pode ainda faz-lo, pois mantm o desejo de um novo comeo, com a
manuteno de um discurso feminino para sempre abrigado.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
MACEDO, Helder. Do Signifcado Oculto da Menina e Moa. Lisboa:
Moraes, 1977.
NEMSIO, Vitorino. Dois Centenrios Romnticos: Frei Lus de Sou-
sa e Eurico. In: Ondas Mdias. Lisboa: INCM, 2000
Recebido para publicao em 15/05/12.
Aprovado em 15/06/2012.
241
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
TEXTOS E PRETEXTOS POESIA
PORTUGUESA:
OS LTIMOS 20 ANOS. LISBOA. N. 14, 2011.
Tamy de Macedo Pimenta
Universidade Federal Fluminense
A revista Textos e Pretextos Poe-
sia Portuguesa: Os ltimos 20 anos, publicada
no perodo de primavera/vero de 2011 em
uma tiragem de mil exemplares, demonstra,
atravs de ensaios, testemunhos e trechos
de poemas, um pouco da poesia portugue-
sa mais recente, retratando desde temticas
representativas dessa contemporaneidade s
contradies de escrever versos em um mun-
do que cada vez os valoriza menos. Alm do
editorial, escrito pela diretora da revista, Margarida Gil dos Reis, e da parte
reservada s referncias bibliogrfcas (nomeada Textualidades), existem
trs grandes divises nesse peridico: Texturas [Ensaios]; Contra-Senha
[Testemunhos]; Indito.
A primeira parte composta de quatro bons ensaios de Catarina
Nunes de Almeida, Cesarina Donati, Gonalo Cordeiro e Rui Guilherme
Gabriel, tratando das obras de Daniel Faria, Manuel de Freitas, Tolentino
Mendona e Jos Luiz Tavares, respectivamente. Partindo das mos, sm-
bolo recorrente na poesia de Daniel Faria, Almeida demonstra como ocor-
re a relao essencial (p. 16) entre mo e poema, passando pelo carter
milagroso e mtico da primeira, presente na origem do mundo e da pala-
vra, constituindo-se, portanto como o cordel luminoso que puxa o verbo
das coisas ( p. 20). J Donati toma como ponto de partida uma srie de
imagens relacionadas ascenso, janela e ao movimento, para mostrar
como estas se relacionam com o fuxo do tempo, a fnitude e a morte,
temas marcantes da potica de Freitas. tambm atravs de obsesses te-
mticas e poticas de Tolentino Mendona que Cordeiro entende a noite
e o sagrado como categorias que demonstram o poder da palavra, vista
242
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
aqui sob uma tica teolgica numa poesia que uma viagem inicitica
pelos mistrios que ligam o humano ao divino (p. 41). Explorando temas
comuns na obra de Jos Luiz Tavares, Gabriel explicita frequentes dilogos
intertextuais desta com Rainer Maria Rilke, Seamus Heaney, Vitorino Ne-
msio, dentre outros poetas.
A parte intitulada Contra-Senha [Testemunhos] subdividida
em trs. Na primeira encontramos textos de crticos que, de uma maneira
geral, tratam da poesia mais recente em Portugal, explicitando suas carac-
tersticas marcantes e as difculdades que enfrenta por ser cada vez menos
lida at mesmo nas escolas, como aponta Fernanda Gil Costa, relatando
uma experincia prpria, quando teve seu programa de semestre questio-
nado por um aluno, que depois se revelaria a ela como um poeta de voz
inquietante, dico vibrante, intensa e tensa (p. 62). Ela prpria admite
que a razo pela qual no havia poetas ou livros de poesia em seu plano
de curso era a difculdade de alunos se interessarem por poesia quando
eles no conseguem nem ler/dizer textos em voz alta facilmente. Depois,
Costa trata brevemente sobre o livro de seu aluno questionador O san-
gue soprado como vento de Joo Moita. J Fernando Pinto do Amaral,
como poeta e crtico, relata de maneira interessante a grande contradio
interna que os escritores de versos vivem nos tempos contemporneos, no
tendo grande f na poesia (p. 66) como o tinham Sena, Eugnio de
Andrade, Ruy Belo, dentre outros , mas continuando a escrever. Amaral,
como poeta, diz situar-se entre essas duas posies, no crendo na poesia,
porm tampouco partilhando da desesperana dos mais contemporneos,
acreditando, portanto, que a cada verso escrito estar dizendo ainda um
segredo a um s ouvido, nas palavras de Luiza Neto Jorge. J Rosa Maria
Martelo esboa alguns pontos de fssura, de experimentao e, provavel-
mente, de mudana (p. 68) desses ltimos vinte anos de poesia, tambm
demonstrando os tempos difceis que esta vive, mas apontando de manei-
ra otimista sadas que as prprias inovaes tecnolgicas muitas vezes
acusadas de serem uma das principais responsveis por esse declnio da
leitura propiciam, alm do aumento da facilidade de publicao em edi-
es de autor e em pequenos projetos editoriais. Na segunda subdiviso,
poetas respondem a trs perguntas da revista: A primeira diz respeito
possibilidade ou no de se pensar em termos de partilha geracional nessa
contemporaneidade; a segunda, aos principais traos dessa potica mais
contempornea que marcam sua diferena em relao a das ltimas duas
dcadas; e a terceira, sobre a existncia ou no de um esforo dos poetas
mais recentes para combater a noo de obra, enquanto algo mais estru-
turado e coerente. A essas questes respondem Ana Catarina Nunes de
Almeida, Daniel Jonas, Lus Quintais e Ondjaki. Todos partilham da idia
de que a noo de gerao liga-se mais a questes de afnidade e admira-
o do que as de cunho cronolgico ou nacional e alguns dizem que no
costumam pensar muito em sua contemporaneidade (Catarina Nunes de
Almeida e Ondjaki). Quanto s caractersticas marcantes da poesia mais
243
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
recente, a presena do espao urbano, um certo desconforto com a vida e
uma imposio do que vale a pena reter do tradicional so mencionados,
enquanto h uma discordncia no mbito lingustico quando Jonas queixa-
-se de a poesia no ser mais rstico-erudita (p. 73) como anteriormente
e Ondjaki elogiar o fato desta no se deixar encantar por efeitos estticos
de aparncia demasiado erudita...Ou pretensiosamente erudita... (p. 75).
Jonas e Quintais dizem no saber afrmar se a poesia tende a um combate
noo de obra, enquanto Almeida nega o fato e Ondjaki diz que poder
haver uma tendncia para a poesia ser mais fragmentada... O que no quer
dizer que seja pouco consistente (p. 75). A terceira subdiviso um curto
e belo ensaio de Ricardo Gil Soeiro sobre a poesia, descrita como segredo
e enigma, situada entre a alegria de nos sentirmos existir no tecido do
tempo e a ultrajante angstia da morte (p. 76). Atravs da travessia em
busca do inalcanvel sentido da poesia, o que Soeiro pode afrmar uma
srie de incertezas e incoerncias Escrevemos e tudo, Escrevemos e
no tudo e preciso principiar, contemplar o enigma. Tambm um
pouco isso a poesia./ Talvez mostrando que o que a faz ser encantadora
justamente o eterno mistrio que a defne.
Na ltima parte Indito temos o ensaio Rui Pires Cabral
na cidade baudelairiana de Pedro Eiras que, como o ttulo j explicita,
traa comparaes entre a poesia de RPC, poeta portugus que comeou
a publicar a partir dos anos 90, e Baudelaire, primeiro poeta a inserir o es-
pao urbano na poesia. Alm do bvio fato de em ambas as obras a cidade
existir como um grande confgurador de sentidos, onde paradoxalmente,
a subjetividade est fora do sujeito (p. 87), Eiras demonstra como nos dois
poetas o espao urbano aparece como labirinto, onde o fneur, agora es-
vaziado, simplesmente um consumidor comum e recorrente dos tempos
contemporneos, onde cada sujeito a mercadoria de que se reveste (p.
100), alm de apontar para a presena de trabalhadores na potica dos dois,
afrmando a existncia de uma conscincia poltica e tica de Rui Pires Ca-
bral, que demonstra que, de algum modo, nada realmente se alterou entre
os sculos XIX e XXI (p. 92).
Dessa maneira, a revista busca pensar os trabalhos poticos mais
recentes de Portugal, sendo seus ensaios com exceo de Cesarina Donati
sobre Manuel de Freitas altamente metalingusticos no sentido de que
tratam sobre como os poetas analisados representam a palavra: a mo de
Daniel Faria, a noite e o sagrado de Tolentino Mendona e as intertextua-
lidades de Jos Luiz Tavares. Atravs dos testemunhos, temos acesso a cr-
ticos e poetas discursando sobre o fazer potico e a condio da poesia no
mundo contemporneo e, fnalmente, o ensaio de Eiras demonstra como
ela se renova em vozes recentes como a de Rui Pires Cabral aproveitan-
do e resgatando um passado que j apontava para a atual queda da poesia.
notvel que a revista comea com um trecho do poema Lamento de
Lus Quintais, logo no editorial:
244
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Um poeta caiu do cu,
escreve-se na primeira pgina
de um jornal. a constatao
da equvoca descoberta da poesia,
do seu lado esquivo ao tempo, usura.
Um poeta perde asas e consuma
a sua queda, em versos nocturnos
persegue o frio ou a demasiada sombra,
a morte de um amigo ou a destruio da luz.
e termina com o ensaio de Eiras que retoma a ideia apresentada nesses ver-
sos: A queda da aura do poeta. Porm, se a revista ilustra essa desesperana
em relao poesia, tambm apresenta um otimismo com relatos de crti-
cos, ensastas e poetas que continuam lendo, escrevendo e vivendo poesia.
Portanto, o nmero 14 da revista Textos e Pretextos esboa de ma-
neira breve deixando de mencionar, sem dvida, muitas obras e poetas
atuais , porm efcazmente, um panorama acerca da poesia portuguesa
mais recente, contribuindo para a divulgao dessas novssimas vozes e
para um maior conhecimento do lirismo portugus contemporneo.
Recebido para publicao em 15/05/12.
Aprovado em 15/06/2012.
~
I
N
T
E
R
L
O
C
U
C
O
E
S
P
O
E
T
I
C
A
S
~
~
246
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
RUY BELO:
BRASIL, PAS POSSVEL
Jorge Fernandes da Silveira
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)
De uma Hipottica Carta a Editor Brasileiro sobre a Possibilidade
de Publicao da Poesia de Ruy Belo no Brasil
(o resto vem no pessoa/ Pessoa o poeta vivo que
me interessa mais): Ruy Belo, Da poesia que posso,
Homem de palavra(s), 1970.
(o resto vem no Ruy Belo/ Ruy Belo o poeta vivo
que me interessa mais): Gasto Cruz, Com Ruy Belo
na Esplanada do Campo Pequeno (1966), Repercus-
so, 2004.
com votos de boas vindas atravs da interlocuo potica que
expresso o desejo de futura publicao de poemas do poeta de Boca bilin-
gue em terras brasileiras.
Falar da terra estar em territrio prprio Carta do Achamento
do Brasil de Pero Vaz de Caminha. E um timo caminho para se chegar
poesia de Ruy Belo. Em muitos dos seus poemas, a paisagem entre a aldeia
e a cidade uma crnica tensa entre a vivncia vulgar de morar no con-
tinente e a experincia extraordinria de conquistar o mar, portuguesa.
De O problema da habitao, passando por Toda a terra, a Des-
peo-me da terra da alegria, este um vasto stio potico, cuja geografa
comea em Aquele Grande Rio Eufrates, a lume no ano da graa de 1961.
Primeiro livro, onde o monograma AGRE fxa um sintomtico sinal agres-
te entre o alto e o baixo, o divino e o humano, assinalado, por exemplo,
posteriormente, cinco anos depois, na srie de cinco poemas Portugal
sacro-profano, da seo Vita beata, em Boca bilingue: Aqui o homem ...
ou era mesmo agora.
247
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Dessas terras, eleva-se o carter de um Poeta de rara estatura
sociocultural. Aqui sublinhada nos aspectos cosmopolita e humanista.
Humanista e cosmopolita, em poemas como Muriel, Na morte
de Marilyn; Vat 69; Requiem por Salvador Allende; scar Niemeyer,
em que adivinho, senhor hipottico editor, uma visita imaginria s en-
tranhadamente estranhas formas de um Brasil em vias de vir em vida, ou
melhor, em versos, descobrir, por meio do primeiro verso do poema que,
num trao de elevada cidadania, o incorporaria: O lugar do arquitecto s-
car niemeyer cada dia mais no brasil, digo eu, o lugar do poeta Ruy Belo
cada dia mais no Brasil.
Brasil, cujos poetas muito lhe interessam, como, por exemplo,
Manuel Bandeira: Todos os anos so anos de morte. Mas o ano de 1968
-o particularmente para a poesia portuguesa ou, o que para mim o mes-
mo, para a poesia de lngua portuguesa. Morreu Manuel Bandeira, o nosso
decano, ou melhor, o nosso padroeiro. H dois anos que comemorvamos
em Portugal o dia do seu aniversrio. Este ano, que o no fzemos, ele foi-se
embora. Queria morrer, e morreu (BELO, 2002, p. 257).
De acordo com o paradigma beliano, Pessoa o poeta vivo que
nos interessa mais. Parodiando Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner e
Fiama Hasse Pais Brando, se de morte natural nunca ningum morreu,
de morte cultural morre-se lentamente todos os dias, maneira de os
poetas todos [que] morrem sempre mais na lngua.. Cito versos do Opi-
rio, do heternimo lvaro de Campos, que assistem morte da lngua em
que se inscreveu o imaginrio martimo lusada: Perteno a um gnero
de portugueses/ Que depois de estar a ndia descoberta/ fcaram sem tra-
balho. (...). Multiplicando esses versos noutros, por exemplo, de Al Berto
(Sempre habitei este pas de gua por engano, Se telefonarem do empre-
go diz/ que fui ver se ainda existem ndias por descobrir) ou de Luiza Neto
Jorge ([...] por duas razes te falo do que nem sequer/ sabamos porque
misrrimos estvamos no meio/ do tmulo desemprego), no h dvida
de que o Poeta de Orpheu nos interessa sempre mais. Foi ele, entre Cames
(No mais, Musa, no mais (...) Porque quem no sabe arte, no na esti-
ma) e Cesrio ((...) Eu descia,/ sem muita pressa, para o meu emprego,
Singram soberbas naus que no verei jamais), o que mais decididamente
desceu ao inferno do mar. Ou seja, com ttulo e versos de Ruy Belo, ao [e]
mprego e desemprego do poeta moderno portugus: Deixai que em suas
mos cresa o poema/ como o som do avio no cu sem nuvens/ ou no
surdo vero as manhs de domingo/ No lhe digais que mo-de-obra a
mais/ que o tempo no est para a poesia // [...] // Chorai profssionais da
caridade/ pelo pobre poeta aposentado/ que j nem sabe onde ir buscar os
seus versos/ Abandonado pela poesia/ oh como so compridos para ele os
dias/ nem mesmo sabe aonde pr as mos.
Como exemplo e manifesto dessa condio do trabalho poti-
co martimo portuguesa, na perspectiva de um professor brasileiro que
248
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
investiga o retorno do pico, no h poema que aqui interesse mais do que
Fala de um homem afogado ao Largo da Senhora da Guia no dia 31 de
Agosto de 1971.
A errncia da imagem informe de si prprio no mundo contra a
impropriedade de todos os nomes prprios, sinalizada em versos do po-
ema Aniversrio, de lvaro de Campos (O que fui ai, meu Deus!, o
que s hoje sei que fui.../ A que distncia!...), leva a esta profunda Fala de
um homem afogado ao Largo da Senhora da Guia no dia 31 de Agosto de
1971, de Ruy Belo, em Toda a terra, 1976, e lido aqui, informao impor-
tante, em termos da interlocuo defendida no incio desta comunicao,
no contexto dos Quinze poetas portugueses do sculo XX, reunidos por Gas-
to Cruz em 2004.
A fala que emerge dos primeiros versos, embora datada e locali-
zada, vem de muito longe: A mim morto no mar entre algas e corais/ que
notcias me dais a da superfcie/ dessa nica terra onde vivi/ e foi minha
ambio morrer pra nunca mais? (2000, p. 154). Da distncia, pode-se at
dizer do lugar onde se demora o imaginrio potico portugus, o echo
mais vivo o que repercute na pergunta sobre todas as perguntas de que
feita a fala do afogado:
Algum foi como eu profundamente vil
e muito mais o foi por conhecer que o era?
Onde dormem os que amei?
Como lhes foi possvel perecer
se eu por os amar os tinha por eternos?
Seriam s eternos para mim?
Que paz lhes pesa agora sobre o peito?
O Sol ainda nasce? Ouve subitamente alguma msica
quem to perdido estava que de sbito comea
e olha para tudo de olhos limpos
de quem as coisas v pela primeira vez? (BELO, 2000,
p. 155)
Auditrio de muitas perguntas (facilmente ouvem-se versos do
Aniversrio e do Poema em linha recta (Ento sou s eu que vil e er-
rneo nesta terra?), como que em resposta a Cames), as vozes mais altas
do silncio auscultam-se neste texto, desde as do ubi sunt (Onde dormem
os que amei?), de modo intenso e libertino (COELHO, 2003, p. 14)
Manuel Bandeira, at s imagens errticas pelas retinas fatigadas do Poeta
que de to revistas parece que remoam. Se se ouve msica ao fundo, outra
no pode ser que no seja a fauta mgica de Camilo. E de fato ela (a m-
quina de tudo) que vem vindo ao longe j perto do fm do longo poema:
249
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
E eu que nos lenis via a neve polar
que s vezes ao cheir-los me sentia transportado
subitamente a stios e a dias do passado
que s os soube na verdade apreciar
levado pela mo de camilo pessanha e dylan thomas
eu que em lenis de linho ambiciona repousar
so de gua os meus lenis e volta o mar (BELO,
2000, p. 157).
minha pobre me!..., Quem de to longe alguma vez regres-
sa? De tal obscuro domnio, s a Poesia. Da distncia materna mais funda
emerge, em ltima instncia, a fala do afogado, que se pergunta e foi mi-
nha ambio morrer pra nunca mais?, para que de sua invocao leitura
( dela que se trata, aos leitores que ele se dirige e so eles, uma vez mais,
a terceira luz) levante-se a escritura maior do afogamento, do desempre-
go, como metfora cultural traumtica na literatura portuguesa: No mais,
Musa, no mais. Sim, pra nunca mais?, e ouve-se em ondas o incio da
estrofe 145 do Canto X dOs Lusadas, aquela em que Cames, roubado,
desempregado, pela ptria metida No gosto da cobia e da rudeza/ Dua
austera, apagada e vil tristeza. (Lus., X, 145, 7-8), volta a invocar a Musa
pica, Calope, pedindo-lhe para a voz enrouquecida o olvido e, para a
Lira destemperada, o silncio. Contra o degredo do Poeta e a sentena
de morte ao Canto por recepo malograda, Pessoa escreve a Mensagem
e nela, particularmente, Mar portugus, em que censura o poeta menor
que submete a Poesia aos desgnios da alma pequena da histria, a gente
surda e endurecida, e A ltima nau, em que o Poeta de alma atlntica,
alheio pequena histria, ele mesmo a Poesia que entorna e torna
para casa; Jorge de Sena d de volta a Cames ua fria grande e sonorosa
de tuba canora e belicosa (Lus., I, 5, 1 e 3) no impressionante Cames di-
rige-se aos seus contemporneos. A fala de um homem afogado, segundo
Ruy Belo, bem pode ser uma variao para agreste avena ou frauta ruda
(Lus., I, 5, 2), dessas duas verses destemperadas. Interessa para o bom
termo deste percurso resumir num ponto estratgico as riqussimas pos-
sibilidades de leitura do poema. Da aldeia para a cidade, da fxao erran-
te na terra para a morada eterna No mais interno fundo das profundas/
Cavernas altas, onde o mar se esconde (Lus., VI, 8, 1-2), a fala do afogado
a crnica curiosa da vivncia vulgar portuguesa em paz na opo pela
experincia extraordinria de morar no mar, prpria do carter mtico da
forte gente de Luso (Lus., I, 24, 3). No por acidente geogrfco Onde a
terra se acaba e o mar comea (Lus., III, 20, 3) ou lei do comrcio marti-
mo, esta Fala de um homem afogado at lembra um sermo, melhor, um
excurso da condio de peixe (BELO, 2000 p. 155) sobre a humana con-
dio defnitiva (BELO, 2000, 155) do portugus que ao dizer devo afnal
a gestos artifciais/ o meu regresso s coisas naturais (BELO, 2000, p. 157)
250
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
at parece que diz versos da Proposio pica dOs Lusadas: com engenho
e arte vou-me da lei da Morte libertando... Moradores da terra fogo ou ar/
sabei que o solo slido da terra foi apenas para mim/ insegurana oscilao
vertigem/ e que em verdade agora mais do que acabar/ o que fz foi voltar
minha origem (BELO, 2000, p. 157). E tem dito. Quem termina de falar as-
sim pode pr o imaginrio popular na boca de Jpiter no incio do Cons-
lio dos Deuses: Eternos moradores do luzente (Lus., I, 24, 1). Na descida,
por acidente ou vontade, s profundidades das guas, e no dos infernos, o
que se l na Fala de um homem afogado ao Largo da Senhora da Guia no
dia 31 de Agosto de 1971 o desejo de o poeta entender, ele mesmo, o que
o leva a ser o eterno caminhante em busca da terceira linha que, por um
lado, est na bifurcao to bvia quanto enigmtica de duas outras linhas
(fxao e errncia/ erro das imagens poticas) e est, por outro lado, no
registro do titnico naufrgio do Canto de Cames, quer dizer, nas diferen-
tes interpretaes dos maiores poetas da lngua do ano da morte por afo-
gamento da Poesia Portuguesa na Estncia 145 do Canto X dOs Lusadas.
Piloto mais informado para a descida aos obscuros domnios onde mora o
silncio da palavra potica no h: Se algum descer at estas profundida-
des/ porventura ser capaz de decifrar/ o mistrio refectido nestes olhos/
eternamente abertos sobre o meu amado mundo?/ (...)/ No reparam que
olho com os olhos cheios de gua/ quem s mais do que eu pertence ao
mar/ por aqui habitar s aparentemente antes? (BELO, 2000, p. 155 e 157).
Encontrar, ao fm e ao cabo, hipteses e perguntas, na terceira linha da
travessia, em Fala de um homem afogado ao Largo da Senhora da Guia
no dia 31 de Agosto de 1971, a confrmao do que j se sabia partida:
contra a nitidez falsa das palavras, vil, no afortunado sentido camoniano,
a poesia guarda no fundo a metfora mais opaca e cada metfora na sua
ntegra incompreensvel, diz Fiama Hasse Pais Brando (1976, p. 51), isto
, hermtica. Como nos fundamentos da catbase segundo Ruy Belo.
O poeta de A mquina do mundo, Carlos Drummond de An-
drade, quem o afrma Ruy Belo, pode muito bem servir de introduo a
Cames. (BELO, 2002, p. 289).
E, creia, caro editor, se se considera Cames o senhor das metfo-
ras em lngua portuguesa, Ruy Belo pode muito bem servir de introduo
poesia brasileira que nos interessa mais.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BELO, Ruy. Boca bilngue. 4 ed. Lisboa: Presena, 1997.
______. Homem de palavra(s). Lisboa: Dom Quixote, 1970.
______. Na senda da poesia. Lisboa: Assrio & Alvim, 2002.
______. Toda a terra.4 ed. Lisboa: Presena, 2000.
251
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
BRANDO, Fiama Hasse Pais. Homenagemliteratura. Porto: Limiar,
1976.
CAMES, Lus. Os Lusadas. Edio anotada por Emanuel Paulo Ra-
mos. Porto: Porto Editora, s/d.
COELHO, Eduardo. A mquina de tudo. In: ___. Manuel Bandeira.
So Paulo: Global, 2003.
CRUZ, Gasto. Repercusso. Lisboa: Assrio & Alvim, 2004.
Recebido para publicao em 30/04/12.
Aprovado em 15/06/2012.
252
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
NORMAS PARA PUBLICAO
1) Sero aceitos, para serem apreciados pela Comisso Editorial, ar-
tigos sobre as Literaturas Portuguesa e as Literaturas Africanas de Expres-
so Portuguesa, bem como sobre relaes dessas literaturas com a de ou-
tros pases, com o mnimo de 15 e o mximo de 25 laudas. Tambm sero
aceitas: (a) resenhas de livros sobre as literaturas acima citadas, publicados
nos ltimos 3 anos, com o mnimo de 4 e o mximo de 8 laudas; (b) entre-
vistas com escritores, professores, crticos e demais atores envolvidos com
as mesmas literaturas, com um mximo de 5 laudas.
2) Todos os textos sero submetidos a parecer da Comisso Edito-
rial, sob a forma de duplo anonimato, que poder sugerir ao autor modif-
caes de estrutura ou contedo.
3) Os textos podero ser enviados, em arquivo anexo, por correio ele-
trnico, endereados a revistaabril@vm.uf.br ou nepa@vm.uf.br, com identi-
fcao no corpo da mensagem, garantindo-se Comisso Editorial o direito
de solicitar envio de verso em mdia - CD-R (Windows 6.0 ou compatvel).
4) Os trabalhos devem ser apresentados na seguinte seqncia: ttulo
do trabalho, nome(s) do(s) autor(es) (alinhados direita) com referncia
Instituio a que pertece(m) o(s) autor(es), texto (justifcado), notas explica-
tivas de fm de texto, resumos em portugus e em lngua estrangeira (ingls),
3 palavras-chave em portugus e em LE e referncias bibliogrfcas.
5) Subttulos: sem adentramento, numerados em numerao arbi-
ca; excludas a introduo, a concluso e a bibliografa.
6) Os textos devem observar a seguinte formatao:
a) margens de 3 cm;
b) fonte Times New Roman, corpo 12, espao duplo, exceto para as
citaes com mais de trs linhas;
c) fonte Times New Roman, corpo 11, espao simples, recuo de 4
cm para as citaes com mais de trs linhas; as citaes at trs linhas de-
vem integrar o corpo do texto e ser assinaladas entre aspas ;
d) as referncias bibliogrfcas devero ser especifcadas no corpo
do texto, entre parntesis, da seguinte forma: sobrenome do autor, vrgula,
data da publicao, vrgula, abreviatura de pgina (p.) e o nmero desta(s).
Ex: (Serro, 1985, p. 31-36);
e) a bibliografa dever conter apenas as obras referidas ao longo do
texto, seguindo as normas da ABNT, de acordo com o modelo: Para livros:
LOURENO, Eduardo. O labirinto da saudade. 2 ed. Lisboa: Dom Qui-
xote, 1982. Para artigos publicados em revistas e peridicos: PESSOA, Fer-
nando. A nova poesia portuguesa sociologicamente considerada. A guia.
2 srie, Porto, v. 1, n 4, p. 101- 107, abr. 1912.
7) A desconsiderao das normas implicar a no aceitao do trabalho.
253
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
Prximos Nmeros
REVISTA ABRIL NEPA
OS ARTIGOS PARA AVALIAO DEVEM SER ESTUDOS SOBRE AS
LITERATURAS DE LNGUA PORTUGUESA: PORTUGAL E FRICA, COM
POSSVEL DILOGO COM OUTRAS LITERATURAS, ARTES E SABERES.
Vol. 5 n 10 - Prazo para envio de originais: 30 de no-
vembro de 2012
GNERO, SOCIEDADE E LITERATURA
Org. Maria Lucia Oliveira e Iris Amncio
Subjetividades, identidades e escritas literrias de mu-
lheres portuguesas e africanas de lngua portuguesa. Represen-
taes de gnero nas literaturas de Portugal, Angola, Moambi-
que, Cabo Verde, Guin-Bissau e So Tom e Prncipe. Novas
abordagens da teoria e crtica literrias em relao s questes
de gnero. Diferena sexual, construo social e poder. Perspec-
tivas literrias e cnone feminino no sculo XXI.
Vol. 5 n 11 - Prazo para envio de originais: 30 de no-
vembro de 2012
GNERO, SOCIEDADE E LITERATURA
Org. Maria Lucia Oliveira e Iris Amncio
Subjetividades, identidades e escritas literrias de mu-
lheres portuguesas e africanas de lngua portuguesa. Represen-
taes de gnero nas literaturas de Portugal, Angola, Moambi-
que, Cabo Verde, Guin-Bissau e So Tom e Prncipe. Novas
abordagens da teoria e crtica literrias em relao s questes
de gnero. Diferena sexual, construo social e poder. Perspec-
tivas literrias e cnone feminino no sculo XXI.
254
Revista do Ncleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da UFF, Vol. 5, n 9, Novembro de 2012
ABRIL
APOIO:
Programa de Ps-Graduao em Letras da
Universidade Federal Fluminense (GPL/UFF)
REALIZAO:
Ncleo de Estudos de Literatura
Portuguesa e Africana da UFF (NEPA)
Crdito das imagens:
Ensaios: montagem sobre a tela
Maisons dArgenteuil, de Claude Monet (1873)
Entrevista/Resenha: montagem sobre a tela
Boulevard des Capucines, de Claude Monet (1873)
Apoio:
Programa de Ps-Graduao em Letras da
Universidade Federal Fluminense (GPL/UFF)
Realizao:
Ncleo de Estudos de LiteraturaPortuguesa e Africana da UFF (NEPA)
COLABORADORES
Rosa Martelo
Margarida Calafate Ribeiro
Roberto Vecchi
Aurora Gedra Ruiz
Vincenzo Russo
Donizeth Santos
Jane Tutikian
Patricia Ribeiro
Marcus Rogrio
Paulo Alexandre Pereira
Paulo Nen
Ana Mafalda Leite
Isabel M.F.Alves
Marleide Anchieta
Carmen Lucia Tind Seco
Sarah Carmo
Duarte Drumond Braga
Ricardo Marques
Eduardo da Cruz
Tamy Macedo
Jorge Fernandes da Silveira
Potrebbero piacerti anche
- Oexp12 Solucoes Trab Grupo 215Documento5 pagineOexp12 Solucoes Trab Grupo 215Tiago Sousa100% (3)
- Livro Tiago de Milton L. Torres-LibreDocumento114 pagineLivro Tiago de Milton L. Torres-LibreRodrigo Sousa MoraisNessuna valutazione finora
- Suplemento Pernambuco #194: Sylvia Plath, 90 anos, e os ecos de uma poeta do futuro.Da EverandSuplemento Pernambuco #194: Sylvia Plath, 90 anos, e os ecos de uma poeta do futuro.Nessuna valutazione finora
- Tese - Doutorado - Conceição EvaristoDocumento178 pagineTese - Doutorado - Conceição EvaristoMariana UchôaNessuna valutazione finora
- SCHOPENHAUER, A. O Mundo Como Vontade e Como Representação (Livro I)Documento51 pagineSCHOPENHAUER, A. O Mundo Como Vontade e Como Representação (Livro I)Marcela Concurseira100% (1)
- As TocantinasDocumento121 pagineAs TocantinasPablo PereiraNessuna valutazione finora
- Haroldo de Campos A Transcriacao PoeticaDocumento85 pagineHaroldo de Campos A Transcriacao PoeticaluizrlinsNessuna valutazione finora
- A Arte de Estudar Olavo de CarvalhoDocumento3 pagineA Arte de Estudar Olavo de CarvalhoDeza Branca100% (1)
- SintesePoesia Ortonimo e BernardoSoaresDocumento12 pagineSintesePoesia Ortonimo e BernardoSoaresMarta PerpétuaNessuna valutazione finora
- Esconderijo Do Tempo - AnáliseDocumento50 pagineEsconderijo Do Tempo - AnáliseAnneNessuna valutazione finora
- 2016 EmmanuelSantiago VOrigDocumento297 pagine2016 EmmanuelSantiago VOrigMatheus SmxNessuna valutazione finora
- O Matriarcado No Programa Antropofagico PDFDocumento551 pagineO Matriarcado No Programa Antropofagico PDFlurodriiguesNessuna valutazione finora
- Pos Modernidade Campos CarvalhoDocumento128 paginePos Modernidade Campos CarvalhoAnderson FaleiroNessuna valutazione finora
- Arantes GeraldoNoel DDocumento311 pagineArantes GeraldoNoel DAnderson FaleiroNessuna valutazione finora
- Cultura Brasileira Hoje Diálogos Vol 1Documento295 pagineCultura Brasileira Hoje Diálogos Vol 1Manuela BarretoNessuna valutazione finora
- Escritores Pernambucanos do Século XIX - Tomo 2Da EverandEscritores Pernambucanos do Século XIX - Tomo 2Nessuna valutazione finora
- Joel Ma Sampaio EvangelistaDocumento205 pagineJoel Ma Sampaio EvangelistaJúlio CésarNessuna valutazione finora
- Italo Moriconi Sobre Clarice PDFDocumento7 pagineItalo Moriconi Sobre Clarice PDFmel041190Nessuna valutazione finora
- Suplemento PernambucoDocumento17 pagineSuplemento PernambucoYbériaNessuna valutazione finora
- José Paulo Paes: MelhoreDocumento120 pagineJosé Paulo Paes: MelhoreMahonrri ReynaNessuna valutazione finora
- E Book17Documento349 pagineE Book17AnaNessuna valutazione finora
- Lara Poenaru Sobre Los Inocentes de O. Reynoso 2014Documento125 pagineLara Poenaru Sobre Los Inocentes de O. Reynoso 2014Romulo Monte AltoNessuna valutazione finora
- Personagens E Espaço em Romances de Aluísio AzevedoDocumento58 paginePersonagens E Espaço em Romances de Aluísio AzevedosauloNessuna valutazione finora
- 000539420Documento0 pagine000539420Yejin ChoiNessuna valutazione finora
- Um Corpo de Leitura: Cortázar, Tragédia e o Jogo da AmarelinhaDa EverandUm Corpo de Leitura: Cortázar, Tragédia e o Jogo da AmarelinhaNessuna valutazione finora
- 2012 AnaCristinaJutgla VRevDocumento105 pagine2012 AnaCristinaJutgla VRevRosa NevesNessuna valutazione finora
- Revista TeresaDocumento234 pagineRevista TeresaLarissa Costa da Mata100% (1)
- Seminário de Leitura - 2024 - DrummondDocumento4 pagineSeminário de Leitura - 2024 - DrummondassessoriaisanotesNessuna valutazione finora
- EBOOK - Dialogismo e Africanidades Na LiteraturaDocumento173 pagineEBOOK - Dialogismo e Africanidades Na LiteraturaRegilânia Gonçalves VarelaNessuna valutazione finora
- AS CARTAS EPIFÂNICAS DE CAIO FERNANDO ABREU A Escrita de Urgencia PDFDocumento108 pagineAS CARTAS EPIFÂNICAS DE CAIO FERNANDO ABREU A Escrita de Urgencia PDFBenita Alves de Melo100% (1)
- Terceira MargemDocumento197 pagineTerceira MargemMario Anikulapo BritoNessuna valutazione finora
- A Encruzilhada Da Vida e Da Morte. O Samsara Cortazariano. Valdenides Cabral de Araújo DiasDocumento199 pagineA Encruzilhada Da Vida e Da Morte. O Samsara Cortazariano. Valdenides Cabral de Araújo DiasClaudia GilmanNessuna valutazione finora
- 2015 VicenteLuisDeCastroPereira VCorrDocumento299 pagine2015 VicenteLuisDeCastroPereira VCorrSergio MonteiroNessuna valutazione finora
- Francisco Topa Sobre Ondjaki PDFDocumento11 pagineFrancisco Topa Sobre Ondjaki PDFLucas ModoloNessuna valutazione finora
- Fantástico Brasileiro: O Insólito Literário do Romantismo ao FantasismoDa EverandFantástico Brasileiro: O Insólito Literário do Romantismo ao FantasismoNessuna valutazione finora
- E-Book Poesia Moderna Puc RsDocumento293 pagineE-Book Poesia Moderna Puc RsLídia MelloNessuna valutazione finora
- Orpheu Ao Neo-RealismoDocumento132 pagineOrpheu Ao Neo-RealismoRodrigoNessuna valutazione finora
- Marta de OliveiraDocumento170 pagineMarta de OliveiraMeg DrobinichNessuna valutazione finora
- Umseteum: Entre mentiras de verdade além de verdades de mentiraDa EverandUmseteum: Entre mentiras de verdade além de verdades de mentiraNessuna valutazione finora
- Literatura Africana - LETRASDocumento83 pagineLiteratura Africana - LETRASHeloisaHNessuna valutazione finora
- Artigo BombalDocumento15 pagineArtigo BombalvinciusNessuna valutazione finora
- Nani - Revista Teresa - FFLCH - USP PDFDocumento234 pagineNani - Revista Teresa - FFLCH - USP PDFJ.S.FaroNessuna valutazione finora
- O Qorpo Santo Da EscritaDocumento135 pagineO Qorpo Santo Da EscritaivandelmantoNessuna valutazione finora
- Ribeiro - DUPLO ESTILETE - CRÍTICA E FICÇÃO EM SILVIANO SANTIAGO PDFDocumento216 pagineRibeiro - DUPLO ESTILETE - CRÍTICA E FICÇÃO EM SILVIANO SANTIAGO PDFRaúl Rodríguez FreireNessuna valutazione finora
- Bernardo - PenélopeDocumento13 pagineBernardo - PenélopeRodrigo Fernandes FrighettoNessuna valutazione finora
- Vozes Da Literatura Luso-BrasileiraDocumento201 pagineVozes Da Literatura Luso-BrasileiraRimbaud32Nessuna valutazione finora
- A Representação do Mito de Sísifo em O Convidado, de Murilo RubiãoDa EverandA Representação do Mito de Sísifo em O Convidado, de Murilo RubiãoNessuna valutazione finora
- Poesia Impopular Brasileira-IntrodDocumento8 paginePoesia Impopular Brasileira-IntrodRAFAEL RIOSNessuna valutazione finora
- Aletria v. 28, N. 4Documento170 pagineAletria v. 28, N. 4Stéphanie PaesNessuna valutazione finora
- Marcelo Lachat PDFDocumento206 pagineMarcelo Lachat PDFJucimar OliveiraNessuna valutazione finora
- Joao Cezar, Machado de Assis Por Uma Poetica Da EmulacaoDocumento372 pagineJoao Cezar, Machado de Assis Por Uma Poetica Da Emulacaorobert guimaraesNessuna valutazione finora
- A Face Proibida Do Ultra-Romantismo A Poesia Obscena de Laurindo RabeloDocumento11 pagineA Face Proibida Do Ultra-Romantismo A Poesia Obscena de Laurindo RabeloFelipe GenuínoNessuna valutazione finora
- Literatura Comparada OnlineDocumento204 pagineLiteratura Comparada OnlineFernandoRocha100% (1)
- Utopia, resistência, perda do centro: a literatura brasileira de 1960 a 1990Da EverandUtopia, resistência, perda do centro: a literatura brasileira de 1960 a 1990Nessuna valutazione finora
- Resumos de Comunicações - Álvaro de CamposDocumento5 pagineResumos de Comunicações - Álvaro de CamposAna C MatiasNessuna valutazione finora
- LALPDocumento13 pagineLALPLatifa Mateus CassimoNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento196 pagineUntitledDanilo CarvalhoNessuna valutazione finora
- Lacos de Memoria PDFDocumento170 pagineLacos de Memoria PDFFrancy SilvaNessuna valutazione finora
- Teresa14 CompletaDocumento257 pagineTeresa14 CompletaArl Rjr100% (1)
- O Romance Do HortoDocumento0 pagineO Romance Do HortoEllen CostaNessuna valutazione finora
- O Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoDa EverandO Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoNessuna valutazione finora
- A Literatura de Sao Tome e Principe VanzaDocumento9 pagineA Literatura de Sao Tome e Principe Vanzaabelvanza29Nessuna valutazione finora
- Texto e Intertexto em Tutaméia - Guimarães Rosa (Dissertação)Documento201 pagineTexto e Intertexto em Tutaméia - Guimarães Rosa (Dissertação)Sabrina Barros XimenesNessuna valutazione finora
- ALBERTO CAEIRO - Cópia - CópiaDocumento14 pagineALBERTO CAEIRO - Cópia - Cópiadiogorafagamer61Nessuna valutazione finora
- 18 JoDocumento237 pagine18 JoBetoKGNessuna valutazione finora
- HM1 Unidade 1 Musica Na Antiguidade Greco-RomanaDocumento47 pagineHM1 Unidade 1 Musica Na Antiguidade Greco-RomanaIngrid CardozoNessuna valutazione finora
- Ficha Profissional Módulo 3 Lírica CamonianaDocumento5 pagineFicha Profissional Módulo 3 Lírica CamonianaIsabel CaldeiraNessuna valutazione finora
- Português 1S - Unidade 02 - Presencial PDFDocumento20 paginePortuguês 1S - Unidade 02 - Presencial PDFFórmula On-line 50 ideiasNessuna valutazione finora
- UnidadewebrespostascomunicacaoeexpressaoDocumento41 pagineUnidadewebrespostascomunicacaoeexpressaoDenis ArrudaNessuna valutazione finora
- Isabella LagoDocumento107 pagineIsabella LagoLuizinho CrosetNessuna valutazione finora
- A Poesia Ibero-Americana de José de AnchietaDocumento160 pagineA Poesia Ibero-Americana de José de AnchietaAlckmar Luiz Dos SantosNessuna valutazione finora
- Funções Da Linguagem e Comunicação - Material Complementar PDFDocumento11 pagineFunções Da Linguagem e Comunicação - Material Complementar PDFRafael BaldezNessuna valutazione finora
- As Naus de Verde PinhoDocumento3 pagineAs Naus de Verde PinhoInês TavaresNessuna valutazione finora
- 2º Prova de Portugues 1º AnoDocumento5 pagine2º Prova de Portugues 1º AnoJanaina RodriguesNessuna valutazione finora
- A Divina Comédia Como Documento Histórico - CostaDocumento9 pagineA Divina Comédia Como Documento Histórico - CostaMatheus PinheiroNessuna valutazione finora
- Centão MetricaDocumento22 pagineCentão MetricaCésar GiustiNessuna valutazione finora
- Arteterapia, Psicopedagogia e Neurociências: Estratégias para o Auxílio Da Compreensão LeitoraDocumento20 pagineArteterapia, Psicopedagogia e Neurociências: Estratégias para o Auxílio Da Compreensão LeitoraBianca AcamporaNessuna valutazione finora
- Gramática Sem DecorebaDocumento13 pagineGramática Sem DecorebaAdventus Rfs100% (1)
- A Elegia III de CamõesDocumento6 pagineA Elegia III de CamõesaldairNessuna valutazione finora
- Ricardo Reis - Álvaro de Campos - Antonio Ramos RosaDocumento3 pagineRicardo Reis - Álvaro de Campos - Antonio Ramos RosajeniyaraNessuna valutazione finora
- Ebook EM 2 Serie Aluno L5 144pgsDocumento148 pagineEbook EM 2 Serie Aluno L5 144pgsKayky Alves MendesNessuna valutazione finora
- Poemas de Carlos Drummond de AndradeDocumento9 paginePoemas de Carlos Drummond de AndradeblueasblueNessuna valutazione finora
- GrafoterapiaDocumento6 pagineGrafoterapiaMaru Pineda ValdezNessuna valutazione finora
- As Flores Do MalDocumento12 pagineAs Flores Do MalReinaldo100% (2)
- Manual Prático Da Delinquência JuvenilDocumento131 pagineManual Prático Da Delinquência JuvenilCatherine Amesbury100% (2)