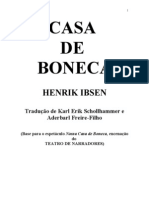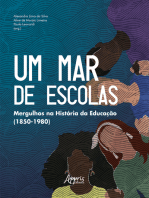Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Análise - Farsa Da Boa Preguiça
Caricato da
AndressaLelli0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
1K visualizzazioni219 pagineO documento apresenta um resumo de uma dissertação sobre a peça teatral "Farsa da boa preguiça", de Ariano Suassuna. O trabalho analisa a relação entre a estética do texto e seus elementos temáticos éticos, utilizando a teoria da mimesis de Paul Ricœur. O resumo destaca a apresentação da peça e suas fontes, a análise com base na teoria da mimesis, e a abordagem final dos personagens Manuel Carpinteiro e Joaquim Simão sob a perspectiva da identidade narrativa.
Descrizione originale:
Livro de Ariano Suassuna
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoO documento apresenta um resumo de uma dissertação sobre a peça teatral "Farsa da boa preguiça", de Ariano Suassuna. O trabalho analisa a relação entre a estética do texto e seus elementos temáticos éticos, utilizando a teoria da mimesis de Paul Ricœur. O resumo destaca a apresentação da peça e suas fontes, a análise com base na teoria da mimesis, e a abordagem final dos personagens Manuel Carpinteiro e Joaquim Simão sob a perspectiva da identidade narrativa.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
1K visualizzazioni219 pagineAnálise - Farsa Da Boa Preguiça
Caricato da
AndressaLelliO documento apresenta um resumo de uma dissertação sobre a peça teatral "Farsa da boa preguiça", de Ariano Suassuna. O trabalho analisa a relação entre a estética do texto e seus elementos temáticos éticos, utilizando a teoria da mimesis de Paul Ricœur. O resumo destaca a apresentação da peça e suas fontes, a análise com base na teoria da mimesis, e a abordagem final dos personagens Manuel Carpinteiro e Joaquim Simão sob a perspectiva da identidade narrativa.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 219
Universidade Federal da Paraba
Roberto Mesquita Ribeiro S.I.
ENTRE TICA E ESTTICA
O PROCESSO MIMTICO DA FARSA DA BOA PREGUIA
Joo Pessoa
2007
1
Roberto Mesquita Ribeiro S.I.
ENTRE TICA E ESTTICA
O PROCESSO MIMTICO DA FARSA DA BOA PREGUIA
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-
Graduao em Letras da Universidade Federal
da Paraba para a obteno do ttulo de Mestre
em Letras
rea de concentrao: Literatura e Cultura
Linha de pesquisa: Leituras do texto literrio
Orientador: Prof. Dr. Arturo Gouveia de Arajo
Joo Pessoa
2007
2
Universidade Federal da Paraba
Centro de Cincias Humanas, Letras e Artes
Ps-Graduao em Letras
Dissertao intitulada Entre tica e esttica: o processo mimtico da Farsa da boa preguia, de autoria
do mestrando Roberto Mesquita Ribeiro S.I., aprovada pela banca examinadora constituda pelos
seguintes professores:
__________________________________________________
Prof. Dr. Arturo Gouveia de Arajo Orientador
CCHLA - Universidade Federal da Paraba
__________________________________________________
Profa. Dra. Sandra Luna
CCHLA - Universidade Federal da Paraba
__________________________________________________
Prof. Dr. Abraho Costa Andrade
CCHLA Universidade Federal do Rio Grande do Norte
__________________________________________________
Profa. Dra. ELISALVA DE FTIMA MADRUGA DANTAS
Coordenadora do Programa de Ps-Graduao em Letras
CCHLA - Universidade Federal da Paraba
Joo Pessoa, 06 de fevereiro de 2007.
Campus Universitrio Joo Pessoa/PB 58059-970 Brasil tel: (0xx83) 3216-7289 fax: (0xx83) 3216-7335
3
AGRADECIMENTOS
A realizao desta pesquisa fruto de muitas conivncias. Aproveito a ocasio para
agradecer a muitos cmplices nesse empreendimento, comeando pelo saudoso amigo Pe.
Waldyr Santos, companheiro jesuta que me ofereceu a maior parte das obras de Suassuna que li e
que ofereceu no s sua vida, mas sua morte frica, sendo assassinado este ano na misso
jesuta de Moambique.
Por ele vai meu agradecimento Companhia de Jesus, mnima Companhia como
gostava de dizer Santo Incio, qual perteno e que incentiva a ns, jesutas, a mergulhar na
matria do mundo com olhos contemplativos, pois sabe que Deus est em toda parte, em todas
as pessoas.
De modo particular, agradeo Professora Elisalva Madruga, coordenadora desta
Ps-Graduao, pelo incentivo e pela amizade. Meu agradecimento se estende tambm aos
professores Arturo Gouveia, meu orientador atento e paciente, e aos professores Digenes
Maciel e Sandra Luna, com quem tanto aprendi.
Enfim, foi de minha famlia que herdei o amor pelas letras e a capacidade de sonhar
que me leva, hoje, s portas da China. Jamais poderei retribuir tanto amor e tanto bem recebido,
um bem que vem do alto. Afinal, Deus generoso!
4
RESUMO: Este trabalho aborda a Farsa da boa preguia, de Ariano Suassuna, a partir da relao
entre a esttica do texto e seus elementos temticos ticos. A apresentao da intriga da pea e a
explicitao dos procedimentos usados em sua construo, bem como suas fontes, abrem a
anlise, retomando-se outros trabalhos acadmicos sobre a dramaturgia de Suassuna. Para
fundamentar a abordagem escolhida para esta pesquisa, apresentamos os principais elementos da
teoria de Paul Ricur em literatura, em particular as noes de mimesis I (pr-figurao), II
(configurao) e III (re-figurao). Essa teoria da mimesis como processo permite que sejam
destacadas diferentes facetas da relao dialtica entre os recursos estticos do texto e suas
implicaes ticas a partir do tratamento temtico, segundo os trs momentos do processo. A
anlise do texto, retomada aps a explicitao do material terico, apresenta os elementos da
construo da pea segundo a trplice mimesis e avana na direo do exame dos vestgios
narrativos da Farsa. A anlise da mimesis II, centrada sobre o texto, privilegiada em funo da
opo de se renunciar ao exame de elementos extratextuais, como a encenao. Assim sendo, a
pesquisa prossegue em direo estrutura profunda do texto da Farsa, identificada atravs do
modelo actancial. A pesquisa concluida com a abordagem do tema da identidade narrativa,
sempre segundo Ricur, analisando a construo dos personagens Manuel Carpinteiro e Joaquim
Simo em sua relao mtua, relao que assume a figura do julgamento. Esse ltimo ponto do
trabalho revela melhor a relao livre, no condicionante, entre tica e esttica, que permite
considerar a literatura e o mundo do texto que lhe prprio como espao esttico propedutico
tica.
Palavras-chave: Ariano Suassuna, Farsa da boa preguia, Paul Ricur , mimesis, tica, esttica.
5
ABSTRACT: This work studies the Ariano Suassunas play entitled A Farsa da Boa Preguia, analyzing
the relationship of the texts esthetics and its thematic-ethical elements. The presentation of the storys plot and the
explanation of the procedures employed in its elaboration, as well as its sources, open the analysis of the play,
taking into consideration previous academic work published about Suassunas dramaturgy. To support the elected
approach for this research, it is presented the foremost elements of Paul Ricoeurs theory applied in literature,
particularly, the notions of mimesis I (pre-figuration), II (configuration) and III (refiguration). This theory of
mimesis allows that different facets of dialectical relationship between the esthetic resources of the text and its
ethical implications from the thematic elements become highlighted, according to the three moments of the process.
The analysis of the text, retaken after the explanation of the theoretical material, presents the elements of the
elaboration of the play, in accordance with the triple mimesis, and this analysis advances towards the direction of
the narrative vestiges of the play. The study of mimesis II, focused on the text, turns out to be privileged in
function of the option to renounce the examination of extra-text elements such as the acting aspect. Thus, the
research continues in direction of the plays profound structure, identified through the actancial model. The research
is concluded with the approach of the theme of the narrative identity, always taking Paul Ricouers theory as
paradigm, analyzing the developing process of the characters of Manuel Carpinteiro and Joaquim Simo in its
mutual relationship, which assumes the figure of the judgment within the play. This final point of this study shows
better the free relationship between ethics and esthetics, with any kind of conditions, which allows to evoke literature
and the text universe, which is proper to the first, as the esthetic space introductory to ethics.
Keywords: Ariano Suassuna, Farsa da boa preguia, Paul Ricur , mimesis, ethics, esthetics.
6
SUMRIO
Agradecimentos ......................................................................................................................... 3
Resumo ....................................................................................................................................... 4
Abstract ...................................................................................................................................... 5
Sumrio ...................................................................................................................................... 6
Introduo ................................................................................................................................ 10
Captulo primeiro - A Farsa da boa preguia: uma apresentao ....................................... 14
1. Origens e traos fundamentais da Farsa da boa preguia ............................................... 16
1.1. Das fontes primrias aos entremezes, dos entremezes Farsa .............................................. 18
1.1.1. O peru do co coxo: 1
o
ato .............................................................................. 18
1.1.2. A cabra do co caolho: 2
o
ato .......................................................................... 22
1.1.3. O rico avarento: 3
o
ato ..................................................................................... 25
1.2. Outras razes: as fontes literrias brasileira e ibrica .............................................................. 29
2. Erudito e popular na obra de Ariano Suassuna ............................................................... 37
3. Observaes sobre a relao entre tica e esttica no texto da Farsa ............................ 39
Captulo segundo - Paul Ricur e a teoria da mimesis como processo: ferramentas para
uma anlise da Farsa com nfase na relao tico-esttica ............................................ 41
1. Panorama do pensamento de Paul Ricur ....................................................................... 42
2. Fundamentos aristotlicos da teoria da trplice mimesis ................................................. 44
2.1. Poiesis .................................................................................................................................... 45
2.2. Praxis ..................................................................................................................................... 47
2.3. Muthos .................................................................................................................................... 48
2.3.1 Um modelo de concordncia ................................................................................ 49
7
2.3.2 Um aparte tico .................................................................................................... 50
2.3.3 Concordncia discordante .................................................................................... 53
2.4. Mimesis ................................................................................................................................... 54
3. A trplice mimesis ................................................................................................................ 58
3.1. Mimesis I pr-figurao ....................................................................................................... 61
3.2. Mimesis II - configurao ....................................................................................................... 63
3.3. Mimesis III - refigurao ........................................................................................................ 65
3.3.1 Progresso entre mimesis I, II e III ...................................................................... 65
3.3.2 O ato de leitura e a configurao.......................................................................... 67
3.3.3 O problema da referncia ..................................................................................... 68
3.3.4 Uma fenomenologia do tempo ............................................................................. 70
3.3.5 O mundo do texto................................................................................................. 70
4. Dois temas complementares ............................................................................................... 72
Captulo terceiro - Anlise dos elementos narrativos da Farsa: preparar-conduzir-julgar . 75
1. Retomando o trilho: a trplice mimesis e a construo da pea ...................................... 76
1.1. Mimesis I Prefigurao ........................................................................................................ 76
1.2. Mimesis II Configurao ..................................................................................................... 78
1.3. Mimesis III Re-figurao ..................................................................................................... 79
2. Vestgios narrativos presentes na Farsa da boa preguia ................................................ 80
2.1. As rubricas .............................................................................................................................. 82
2.2. Narraes feitas pelos personagens ........................................................................................ 84
2.3. O personagem-narrador .......................................................................................................... 86
2.4. Duas polmicas ....................................................................................................................... 93
2.4.1. Boal e Suassuna: um falso paralelo ..................................................................... 93
2.4.2. Estatuto pico do teatro de Ariano Suassuna ...................................................... 96
3. Relevncia tico-esttica da figura do narrador na Farsa da boa preguia ................... 97
8
Captulo quarto - Nas profundezas do texto: estrutura e mimesis II da Farsa da boa
preguia ........................................................................................................................... 102
1. Primeira abordagem das oposies fundamentais da pea ........................................... 105
2. Anlise actancial da Farsa da boa preguia .................................................................... 107
2.1. Estruturas elementares de significado na Farsa ................................................................... 111
2.2. O ncleo sujeito-objeto na Farsa .................................................................................. 113
2.3. Os tringulos actanciais ........................................................................................................ 116
2.3.1. O tringulo ativo: sujeito-objeto-oponente ............................................... 117
2.3.2. O tringulo psicolgico: destinador-sujeito-objeto ................................ 118
2.3.3. O tringulo ideolgico sujeito-objeto-destinatrio ................................. 121
2.4. Estrutura complexa do esquema actancial da Farsa .............................................................. 126
3. Progresso do nvel profundo ao nvel superficial ......................................................... 131
3.1. Actantes, atores, papis, personagem ................................................................................... 133
3.1.1. Atores e personagens da Farsa .......................................................................... 134
3.1.2. Entre actantes e personagens: os papis ............................................................ 139
3.1.3. Personagem: noo necessria e em crise ......................................................... 140
Captulo quinto - Entre tica e esttica: Joaquim Simo no banco dos rus ...................... 145
1. A identidade narrativa ..................................................................................................... 147
1.1. A dialtica entre a construo da intriga e a construo do personagem .............................. 152
1.2. A dialtica idem-ipse em funcionamento no laboratrio literrio ......................................... 154
1.3. Funo-chave da identidade narrativa e suas implicaes ticas .......................................... 156
2. Manuel e Simo em processo: a construo das identidades na Farsa ........................ 159
2.1. Como se faz um poeta preguioso ........................................................................................ 159
2.1.1. Simo, o anti-heri? .......................................................................................... 163
2.1.2. Simo, heri neo-picaresco ............................................................................... 167
2.2. Deus demasiado humano: o processo de construo de Manuel Carpinteiro ....................... 175
2.2.1. Um Cristo diferente ........................................................................................... 176
9
2.2.2. De carne e de fogo: um juiz apocalptico .......................................................... 179
3. O juzo derradeiro de Joaquim Simo ou um julgamento sem pena ........................... 186
3.1. Um julgamento sem condenao .......................................................................................... 188
3.1.1. O julgamento divino na doutrina crist ............................................................. 189
3.1.2. Misericrdia e riso ............................................................................................ 191
3.2. Do julgamento derradeiro ao julgamento literrio ................................................................ 194
A modo de concluso: do mundo do texto ao universo de Suassuna .................................. 199
Referncias bibliogrficas ..................................................................................................... 207
1. Bibliografia especfica de e sobre Ariano Suassuna ....................................................... 207
1.1. Livros ................................................................................................................................... 207
1.2. Artigos e entrevistas ............................................................................................................. 210
2. Bibliografia geral .............................................................................................................. 215
10
INTRODUO
Apesar de sua aparente simplicidade, a Farsa da boa preguia um texto complexo.
Trata-se de um texto longo, com fortes acentos picos; um texto farsesco, mas portador de
rupturas com a tradio da farsa; cmico, mas temperado por situaes um tanto srias; seus trs
atos so relativamente autnomos, mas a pea goza de uma grande unidade de conjunto; o estilo
popular, mas as razes eruditas no se escondem por completo. Numa palavra, a marca da pea
um certo equilbrio, tanto formal quanto temtico.
Um elemento em especial se destaca no meio do panorama complexo desta pea. Ele
evidenciado pela polmica de que d testemunho o comentrio explicativo aposto em forma de
prlogo publicao, texto do prprio autor: A Farsa e a preguia brasileira.
1
Tal elemento
polmico a moralidade do texto, ponto difcil por situar a discusso aparentemente fora do
domnio da literatura ou, quando muito, conduzida diretamente temtica e saltando por cima da
estrutura. De fato, a interveno do autor no prlogo pouco se refere ao texto de sua pea.
Esta moralidade, no entanto, est profundamente ligada forma da pea, herdeira
da tradio medieval do paso, dos autos, das moralidades e das farsas ibricas. Seu carter
polmico, moldado em torno a um vcio ou virtude (boa ou m preguia), demonstra apenas que
tal elemento se oferece como um caminho frtil para a anlise. Sem nos deixarmos levar pelo
tema para uma anlise construda sobre o texto (sem toc-lo), nossa anlise buscar sempre
estar ligada ao texto.
Em se tratando de uma anlise literria, ainda que seja a anlise de um texto
1
SUASSUNA, Ariano. A Farsa e a preguia brasileira. In: ______. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio Ed., 1979. p. ix a xx.
11
dramtico, optamos por no incluir elementos teatrais que se situem fora do texto escrito. Isso
no significa que as indicaes cnicas contidas no texto na medida em que so escritas, como
as rubricas ou as indicaes de figurino no sejam includas na anlise. Tambm essas
indicaes sero analisadas. Mas no buscaremos elementos de encenaes da pea, por exemplo.
E o guia da anlise ser a relao entre o contedo (especialmente os elementos ticos) e a forma
(esttica) do texto.
Tendo optado por este ponto focal a discusso em torno da moralidade da
preguia e a forma farsesca escolhida por Suassuna para esta pea , queremos verificar como o
elemento moral ou tico se configura na forma da pea ou, no sentido inverso, como a esttica
do texto reflete certas opes ticas. Arriscaremos, tambm, um olhar para a implicao tica
dessas opes no espao que se situa diante do texto, mas sempre buscando os condutores do ato
de leitura presentes no texto.
Ao optar por esse caminho pouco convencional, corremos o risco de contemplar
paisagens um tanto inusitadas no terreno da crtica literria. E a escolha do filsofo francs Paul
Ricur como terico de referncia tende a complexificar o panorama, aumentando o risco de
transgredir as fronteiras entre literatura e filosofia. Para no nos perdermos, a ateno ao texto
como norma da anlise a nossa regra de segurana, evitando toda considerao que no se apie
na tessitura da Farsa, em seus elementos estruturais, semnticos, estilsticos, ou seja, sem jamais
deixar o campo textual. Numa imagem, como se explorssemos uma montanha, ora
contemplando um vale, ora outro, mas sem jamais deixar o cume. Exploraremos o texto (o
cume), mas estendendo o olhar realidade que precede o texto e realidade que se descortina
diante dele.
Na teoria de Ricur, tais momentos correspondem ao que ele denomina mimesis I,
mimesis II e mimesis III. Em sua proposio da mmesis como processo, ele distingue esses trs
momentos que correspondem a trs conjuntos: os elementos da realidade imitada que so
12
manipulados na construo de uma obra em particular (mimesis I); a construo da intriga
propriamente dita (mimesis II); e o tipo de realidade que essa construo singular prope para a
interpretao no ato de leitura (mimesis III). Exporemos sua teoria mais detalhadamente logo
adiante, aps uma primeira apresentao da pea e antes de sua aplicao nossa anlise em
particular. O nico argumento que antecipamos para evitar a sensao de estarmos fugindo do
campo literrio que o centro de nossa anlise o corao do processo, ou seja, a mimesis II.
Como o prprio filsofo observa em sua teoria hermenutica que concilia os momentos da
compreenso e da explicao, os outros momentos do processo mimtico s tero sentido se
ligados a este mergulho no texto.
A esta altura j possvel notar o quanto a compreenso do processo mimtico por
Ricur devedora de sua concepo da relao entre linguagem e mundo. Particularmente, esse
modelo depende de sua noo de texto. Talvez seja inclusive mais acertado dizer o contrrio, que
sua noo de texto devedora da teoria da mimesis como processo. Para Ricur, o texto capaz
de descrever o mundo de forma estvel. As palavras so criadoras de uma realidade outra que a
realidade do mundo, mas sempre acessvel ao esprito humano. o mundo presentificado pela
escritura
2
, produto de um imaginrio literrio.
Nossa anlise proceder em cinco tempos, partindo de uma viso mais geral a outra
mais detalhada. Abriremos nosso percurso com uma apresentao da pea, que nos permitir
apresentar os procedimentos usados em sua construo e suas fontes prximas e remotas. Essa
etapa nos autoriza uma primeira abordagem da relao entre tica e esttica, atravs da dialtica
entre as formas literrias empregadas e a temtica desenvolvida. O captulo seguinte ser
dedicado a uma exposio mais detalhada da teoria mimtica de Ricur, fundamento terico de
nossa anlise. A seguir, o terceiro captulo identificar os vestgios das trs etapas da mmesis na
Farsa, retomando as concluses do captulo primeiro, para avanar na anlise atravs da
2
RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. em 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 158. (Poche, 377).
13
considerao de um dos elementos mais relevantes da pea, qual seja, a presena de vestgios
narrativos ou picos. Essa primeira etapa nos colocar na pista do elemento central da relao
entre tica e esttica na pea: a relao entre dois eixos principais, constitudos pelas polaridades
rico x pobre e vcio x virtude. Para verificar a justeza dessa afirmao, aprofundaremos a
anlise da mimesis II atravs do modelo actancial. Ser o nosso captulo quarto. E os resultados
dessa etapa solicitaro uma volta superfcie do texto para analisar os dois personagens
protagnicos e a relao entre eles, que se d atravs da figura do julgamento. Veremos que este
julgamento pode ter uma dupla abordagem, uma mais interna ao texto, outra partindo do texto
em direo ao mundo do leitor. Em concluso a este captulo quinto, apontaremos a relevncia
tica dessa interpretao e sua concordncia com a anlise esttica que elaboramos. Ao
analisarmos a figura do julgamento
3
e sua natureza, somos j introduzidos ao ponto central da
mimesis III, o encontro dos horizontes da obra e do leitor. Concluiremos nossa anlise, portanto,
voltando noo de mundo do texto.
com essa perspectiva que ingressamos na Farsa de Suassuna, buscando nesse
aparato terico as chaves para saborear a complexidade da pea. Como dissemos na imagem
evocada acima, caminharemos pelo cume da montanha do texto, ora considerando uma face, ora
outra, todas convergindo para as alturas do texto escrito que abordamos agora.
3
O termo figura no possui, aqui, outra funo seno a de indicar a forma da relao especfica que se estabelece
entre os personagens Manuel Carpinteiro e Joaquim Simo.
14
I
A FARSA DA BOA PREGUIA: UMA APRESENTAO
No comeo de nosso trajeto, convm dedicar este captulo apresentao da pea
que faz o objeto de nossa anlise. Mas definamos tambm desde j nossa hiptese interpretativa,
ponto de partida para a anlise da Farsa da boa preguia. Coerente com sua forma farsesca, ainda
que hbrida ou mestia, a pea arquiteta-se em torno controvrsia acerca de uma virtude ou
vcio: boa ou m preguia. No que tange hibridez da forma, concordamos com Lgia Vassalo
quando afirma que o princpio que norteia a elaborao da Farsa da boa preguia amalgama
elementos dspares, tomados ao folheto, ao mamulengo, ao bumba-meu-boi e ao romanceiro,
unidos por uma inteno moralizadora muito mais ambgua do que nas outras peas de
Suassuna
4
. Considerando a relao entre a forma e essa inteno moralizadora, podemos
afirmar que tanto a estrutura condicionada pelo tema, quanto o tema moldado pela estrutura.
Nisso no estamos distantes das observaes metodolgicas de Antonio Candido, quando diz
que os valores e ideologias contribuem principalmente para o contedo, enquanto as modalidades
de comunicao influem mais na forma
5
. Sem compreender forma e contedo como coisas
separadas, apesar de serem logicamente distinguveis, estaremos sempre atentos a perceber a
relao dialtica que existe entre uma e outra realidade, matriz de diversas oposies em tenso
no texto e que lhe d seu dinamismo e fora. O prprio autor confirma esta perspectiva quando,
perguntado se acreditava que o tema determina a forma, respondeu:
4
VASSALO, Lgia Maria Ponde. Permanncia do medieval no teatro de Ariano Suassuna. 1988. 338 f. Tese (Doutorado em
Letras) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988. p. 237.
5
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8. ed. So Paulo: T.A. Queiroz Ed., 2002. p. 30.
15
Acredito. Eu acho que aquilo que uma pessoa tem a dizer que determina a forma de
diz-lo. Dom Quixote, por exemplo, s poderia ter sido escrito daquele modo. Quanto a
Euclides, as pessoas reclamam do estilo dele, mas aquela era a nica maneira de erguer
o spero e estranho universo dos sertes. Guimares Rosa, a mesma coisa era a
linguagem pela qual se poderia expressar o universo dele.
6
Antes de ingressarmos na anlise formal da pea, entretanto, cabe uma primeira
apresentao da intriga. A Farsa da boa preguia chama existncia Joaquim Simo, poeta popular
que detesta trabalhar em outra coisa que no sejam seus poemas. Ao seu lado est Nevinha,
esposa fiel. Simo tem por vizinho Seu Aderaldo, ricao que vive para o trabalho e que insiste em
assediar Nevinha. Simo tambm ser assediado, justamente pela esposa de Aderaldo, Dona
Clarabela, falsa intelectual interessada num popular idealizado e distorcido. Ao correr da
histria, Aderaldo ir perder duas vezes sua riqueza, voltando sempre a ficar rico custa de muito
trabalho, ao passo que Simo chega a ficar rico apenas com uma aposta ganha a Aderaldo, mas
termina pobre novamente. Toda a trama
7
acompanhada de personagens aparentemente
secundrios, posto que a ao pode ser quase inteiramente contada sem mencion-los. So os trs
personagens infernais e os trs celestes. Mas seu carter secundrio logo desmentido quando
notamos que a conduo de toda a histria atribuda a uma espcie de narrador da pea que
sempre abre e fecha os atos. Esse personagem Manuel Carpinteiro, figurao de Jesus Cristo em
forma de camel de feira. Ajudado por Simo Pedro e por Miguel Arcanjo, ele quem tirar a
moral da histria na concluso final: h uma preguia de Deus, outra do diabo.
Iniciemos nossa anlise detalhando as tradies a que se filia a pea, o que nos dar a
oportunidade de apresentar a histria de sua composio. Interessados numa teoria da mimesis
como processo, tal observao nos ajudar a compreender mais tarde, no terceiro captulo,
6
CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. So Paulo: Instituto Moreira Salles, novembro de 2000, n. 10. Semestral.
ISSN 1413-652X. p. 42.
7
Utilizamos, ao longo de todo este trabalho, a distino entre fbula (intriga a histria que contada) e trama (o como
contada a histria) tirada de Tomachevski. Optamos, porm, por falar em intriga em lugar de fbula a fim de
privilegiar a coerncia com a terminologia de Paul Ricur. Cf. TOMACHEVSKI, B. Temtica. In: TOLEDO, Dionsio
(org.) Teoria da literatura. Formalistas russos. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. p. 169-204.
16
particularmente o que Paul Ricur denomina mimesis I na medida em que veremos como o autor
lida com o material que tem disponvel para a construo de sua intriga. Mas essa investigao da
tradio qual se liga a pea permitir, tambm, uma primeira considerao analtica que explique
a interao entre o carter farsesco e a moralidade da Farsa da boa preguia, estudo que j nos
aproxima da anlise da mimesis II, que Ricur situa como cerne do processo. por esse ponto,
ainda, que seremos conduzidos a dar um segundo passo na anlise (captulo terceiro), verificando
como a forma da pea exige a incluso de certos elementos picos sobretudo o personagem-
narrador e como estes esto ligados temtica tica. Esse momento de aprofundamento da
anlise exigir, no entanto, o captulo expositivo dedicado ao material terico de Paul Ricur que
nos servir de base (cap. segundo).
1. Origens e traos fundamentais da Farsa da boa preguia
Toda a obra de Ariano Suassuna marcada pela influncia da tradio ibrico-
medieval. Essa influncia, porm, no lhe chega atravs de uma cepa nica, e sim de trs formas
diferentes: pelos vestgios dessa tradio conservados na cultura popular nordestina, pela tradio
de certos textos cmicos brasileiros, como a comdia de Martins Pena ele tambm herdeiro do
teatro ibrico e, finalmente, pelo contato direto com os textos da tradio ibrica.
8
O processo de composio prprio de Suassuna a reescritura, na qual muitas vezes
o entremez funciona como etapa intermediria da elaborao de suas comdias longas, situando-
8
A este conjunto se poderia acrescentar a influncia da Commedia dellArte, como observa Sbato Magaldi a propsito
de A pena e a lei: Aparentemente, trata-se de uma reunio de peas em um ato, nas quais reaparecem sempre as
mesmas personagens, mscaras reminiscentes da Commedia dellArte italiana. (MAGALDI, Sbato. Moderna
dramaturgia brasileira. So Paulo: Perspectiva, 1998. p. 70). O mesmo poderia ser aplicado Farsa da boa preguia, com a
ressalva de uma maior continuidade entre os autos.
17
se entre as fontes primrias
9
e o texto final de maior extenso. Como em todas as suas peas
cmicas, a Farsa da boa preguia segue o mesmo princpio de criao onde as razes sobretudo as
fontes populares do folheto de cordel, do mamulengo e do bumba-meu-boi so elaboradas
primeiro numa forma curta (o entremez), depois amalgamadas e expandidas na forma final da
pea (auto ou farsa)
10
. A pea, penltima escrita pelo dramaturgo antes do Romance da Pedra do
Reino e ltima a ser publicada,
11
reflete o amadurecimento desse processo complexo de
composio. Nela, Ariano Suassuna retoma dois entremezes anteriores, alm de incorporar
diretamente outras fontes sem etapa intermediria de reescritura. Conforme observa Idelette
Santos, o resultado do processo que culminou na Farsa de tal qualidade que uma identificao
imediata das fontes, separando-as e distinguindo-as, impossvel
12
. Somente uma anlise linear e
cuidadosa da pea pode revelar as linhas principais de sua tessitura.
Iniciamos nossa anlise destacando primeiramente as fontes primrias presentes na
pea final, para depois buscar as razes mais remotas. Esse percurso de frente para trs permite
que uma abordagem imediata da trama nos guie em nossa prospeco. De posse de uma viso do
conjunto da pea, buscaremos identificar a herana da tradio formal do entremez e da farsa,
sobretudo, no texto de Suassuna, religando-o histria dessas formas cmicas na pennsula
ibrica e no Brasil.
9
Por fonte primria, aqui, compreendem-se os textos ou formas da tradio popular j fixados pela publicao ou
pelo costume e difundidos na regio nordestina. Ariano Suassuna parte muitas vezes desses materiais para compor
seus personagens (como Joo Grilo, do Auto da Compadecida, e Benedito, de A pena e a lei) ou parte mesmo das
histrias (caso da Farsa da boa preguia).
10
Cf. SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da potica popular: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.
Campinas: Ed. da Unicamp, 1999. p. 236. Ela observa que, desde 1949, quando da escritura do Auto de So Joo da
Cruz, Ariano Suassuna recorre ao processo de construo textual que retoma o folheto no entremez (um ou mais
folhetos) e, enfim, passa do entremez ao auto ou farsa (podendo recorrer a um ou mais entremezes).
11
Aps a Farsa, Suassuna escreveu ainda A Caseira e a Catarina, em 1962. A primeira edio da Farsa, no entanto, data
somente de 1974. A ltima pea escrita por Ariano Suassuna, retomando trechos de seu romance maior, As
conchambanas de Quaderna (1987).
12
Cf. SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos, op. cit., p. 266.
18
1.1. Das fontes primrias aos entremezes, dos entremezes Farsa
A Farsa da boa preguia retoma dois entremezes do mesmo autor: O rico avarento
13
e O
homem da vaca e o poder da fortuna
14
. Estes, por sua vez, retomam peas de mamulengo de dois
autores diferentes: Ginu (As bravatas do professor Tirid e As aventuras de uma viva alucinada) para O
rico avarento; e Benedito (O preguioso) para O homem da vaca e o poder da fortuna.
15
Mas, alm do
mamulengo, o texto de Suassuna nutre-se tambm de elementos do folheto de cordel, do
romance e do bumba-meu-boi.
16
A fim de termos uma viso mais detalhada do conjunto
complexo dessas fontes, passemos a uma anlise da Farsa ato por ato.
1.1.1. O peru do co coxo: 1
o
ato
O primeiro ato da Farsa apresenta, desde o incio, o problema que constitui o fio de
13
SUASSUNA, Ariano. O rico avarento. In: ______. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1974. p. 5-
16.
14
Idem, O homem da vaca e o poder da fortuna. In: Ibidem, p. 37-58.
15
Sobre a importncia do mamulengo para a escritura cmica de Suassuna, veja-se o que ele prprio relata quando,
recebendo sua futura esposa e outros familiares seus, escreve sua primeira pea cmica: Escrevi uma pea chamada
Torturas de um corao. E essa pea foi muito importante para mim porque foi com ela que eu dei a guinada, porque at
ento eu s tinha escrito tragdia e essa foi a primeira pea cmica que eu escrevi, para mamulengo. Eu mesmo me
apresentei, eu e alguns primos. Eu escrevi a pea e eu representei o Benedito e coloquei at um terno de pfano.
Tinha um homem chamado seu Manoel Campina, l de Tapero, e eu coloquei o terno de pfano para separar com
nmeros musicais. Voc veja bem, foi a primeira pea com a qual eu abri o caminho para escrever o Auto da
Compadecida. Era uma pea montada para mamulengo e eu acho que me marcou muito, tanto a poesia dos cantadores
quanto a pea de mamulengo. In: CONTINENTE MULTICULTURAL. Recife: CEPE, 2002, n 20. ISSN 1518-5095. p.
10 (Disponvel em: http://www.continentemulticultural.com.br/revista020/materia.asp?m=Especial&s=1. Acesso
em: 16 nov. 2006).
16
Essa posio confirmada pelo prprio autor: As duas peas de mamulengo que serviram de fonte minha
foram ultimamente divulgadas, no Nordeste, pelos mamulengueiros conhecidos como Professor Tira-e-D e
Benedito. Por sua vez, o folheto popular tambm teve sua verso recente atravs do folheto denominado O
Homem da Vaca e o Poder da Fortuna, de autoria de Francisco Sales Areda. In: SUASSUNA, Ariano. Farsa da boa
preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. xxii.
19
Ariadne da pea inteira: saber qual a verdadeira natureza da atitude de Simo, boa ou m
preguia. Os personagens divinos, logo na abertura, dividem-se e se opem quanto a esse ponto,
sendo o Arcanjo Miguel contrrio ao poeta, So Pedro a favor. De um lado o ser angelical, do
outro um ser humano santo. Manuel Carpinteiro, representao de Jesus Cristo, o fiel da
balana entre o anjo e o santo.
Note-se que a rubrica de abertura salienta e faz referncia direta a aspectos dos
espetculos de feira e de circo. De fato, Manuel Carpinteiro fala em tom de camel
17
e Miguel
Arcanjo se veste como os homens-da-cobra, os camels da propaganda popular dos ptios e
das feiras do Nordeste.
18
A referncia ao circo, to presente no imaginrio de Suassuna, menos
direta (era mais notvel no entremez O Rico Avarento
19
) e se d pela descrio do cenrio ou
melhor, pela ressalva que quase desdiz o que fora dito sobre o cenrio: Mas a pea pode ser
montada sem cenrio, como, alis, acontece nos espetculos populares do Nordeste, em cujo esprito ela se
baseia.
20
Certamente o circo no a nica forma de espetculo popular destituda de cenrio, mas
uma espcie de um gnero e sua influncia sobre o autor extremamente forte
21
, marcando de
forma explcita algumas de suas obras.
22
No plano terrestre, a intriga simples: o rico Aderaldo tenta seduzir Nevinha, a
mulher do poeta, por intermdio de uma diaba (Andreza). Clarabela, mulher de Aderaldo e
17
Ibidem, p. 5.
18
Ibidem, p. 4.
19
No final desse entremez, por exemplo, o personagem Tirateima expulsa os diabos a cacetadas, num procedimento
que remete aos dos palhaos de circo. De modo mais geral, essa presena notada por Mrio Guidarini, quando
observa que o esconde-esconde dos personagens, o vai-e-vem dos mesmos e o jogo cnico circense alimentam o
interesse dos espectadores, apear de certo cansao das formas que se repetem. In: GUIDARINI, Mrio. Os pcaros e os
trapaceiros de Ariano Suassuna. So Paulo: Ateniense, 1992. p. 66.
20
SUASSUNA, Ariano, op. cit, p. 4 (grifos nossos).
21
Eram circos sem nmeros sofisticados e sem bichos. Em compensao, o universo festivo era infinitamente
maior, mais espontneo, garantido pelas apresentaes de espetculos populares e pelas improvisaes dos palhaos.
Deve-se ressaltar, ainda, que as peas de teatro quase sempre faziam parte dos espetculos, encenadas em palcos
improvisados no meio do picadeiro. Foi num circo, portanto, que o futuro dramaturgo assistiu pela primeira vez a uma pea de
teatro. In: NEWTON JR, Carlos. O circo da ona malhada. Recife: Artelivro, 2000. p. 28 (grifos nossos).
22
o caso, por exemplo, do Auto da Compadecida que, entre outros elementos, tem a dupla Joo Grilo-Chic
inspirada nos palhaos. Cf. RABETTI, Beti. Circo e teatro: duetos cmicos na tradio popular e no espetculo. In:
______ (org.). Teatro e comicidades: estudos sobre Ariano Suassuna e outros ensaios. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005. p. 47 62.
20
pretensa intelectual, tenta seduzir o poeta Simo. Ao mesmo tempo, Aderaldo planeja fazer
negcio com seu gado, vendendo toda a sua propriedade, mas enganado pelos diabos e perde
tudo.
A cena da seduo de Nevinha por intermdio de Andreza recorre a um personagem
tpico do mamulengo
23
: a alcoviteira. Nessa cena, Andreza oferece um presente para cada parte
do corpo de Nevinha que ela toca passando dos ps perna, desta ao cinto e do cinto, enfim, ao
pescoo.
Logo a seguir, Nevinha discute com Simo sobre poesia popular, sendo a conversa
entrecortada por piadas e tiradas cmicas, como: Eita, vida velha desmantelada. Nisso Ariano
segue tambm o mamulengo. Mas ele incorpora um procedimento do folheto O homem da vaca e o
poder da fortuna, de Francisco Sales Areda, ao fazer Nevinha propor uma srie de trabalhos ao
poeta, que inicialmente aceita para logo depois recusar. Como observa Idelette Santos, no se
trata de reescritura do folheto, mas de uma escritura a modo de, de um pastiche genrico
24
.
Nesse episdio h, ainda, um cruzamento de forma e de tema: pouco antes dessa passagem a
modo de folheto, os personagens esto falando de poesia popular; depois, falam dos folhetos
que Simo deseja escrever.
O rico tenta novamente seduzir Nevinha, desta vez diretamente, mas ela resiste.
Guardando certa simetria, ser logo depois a vez de Clarabela tentar seduzir Simo. Nessa cena
manifesta-se o hiato evidente entre a pretensa intelectual interessada no popular (um popular
mtico) e a realidade do poeta. No final das contas, a atitude de Simo com relao curiosidade
de Clarabela radical, afastando tudo o que culto com o bordo: No entendi, no quero
23
Alm de presente no mamulengo, certos personagens tpicos como a alcoviteira referem-se Commedia dellArte.
Nisso a obra de Suassuna manifesta novamente e de modo concomitante sua dupla filiao: popular e erudita. No
entanto, prevalece em seu estilo nesse caso especfico da Farsa, pelo tratamento final da pea, a influncia popular
nordestina.
24
SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da potica popular: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.
Campinas: Ed. da Unicamp, 1999. p. 267.
21
entender e tenho raiva de quem entende
25
.
Fechando o ato, vem a cena do engano de Clarabela pelo diabo disfarado de frade.
Com certa ironia, Ariano faz Clarabela exultar por encontrar o verdadeiro serto que tanto
procurava justamente quando enganada. Esse tipo de intelectual apresentado como aquele que
incapaz de ver e compreender o que no entra em seus esquemas preestabelecidos
26
.
Este ato o nico dos trs que no se baseia num texto anterior, embora retome
parte de O homem da vaca e o poder da fortuna. Isso se explica por ser justamente o primeiro,
procedendo apresentao dos personagens e do problema. Considerando a preexistncia dos
textos que originaram os outros dois atos, podemos dizer que, de um certo modo, a pea nasceu
de trs para frente. No surpresa, portanto, que as mesmas fontes que marcaram os atos dois e
trs impregnem tambm este ato. Na verdade, a prpria coerncia do conjunto que impe
procedimentos semelhantes nos trs atos como a j duas vezes mencionada escritura a modo
de cordel no ato um, quando Nevinha conversa com Simo sobre trabalho e o episdio
semelhante (na forma e no tema) encontrado no segundo ato, sem falar nos episdios de
seduo, que se repetem nos atos um e dois, sendo lembrados no ato trs (entre os atos dois e
trs ocorre um lapso de tempo maior).
Mas alm dessa influncia das fontes primrias dos outros dois atos (tanto no que se
refere aos procedimentos formais quanto no que toca aos temas), talvez essa escritura de trs
para frente que induz a insero de certos elementos da intriga de modo repetitivo. o caso, por
exemplo, da seduo de Simo por Clarabela, acentuada pelos cimes de Nevinha
27
. A repetio
do termo catucar no primeiro e no segundo atos, assim como a atitude frouxa de Simo em se
defender das investidas de Clarabela desde o primeiro ato, podem ser entendidas como reforo
25
SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 40.
26
SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos, op. cit., p. 268.
27
Por exemplo, quando Clarabela oferece-se a Simo, este se mostra muito tentado (diferentemente de Nevinha), e
Nevinha reclama perguntando se ela catucou Simo. (SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 49). A mesma expresso ser
empregada por ela em meio a outra cena de cimes, no segundo ato. In: Ibidem, p. 70.
22
do que acontecer entre o segundo e o terceiro atos. Com efeito, no comeo do ltimo ato da
pea somos informados de que o poeta cedera aos apelos da mulher de Aderaldo.
Outro elemento repetitivo o empobrecimento de Aderaldo. No final do primeiro
ato, ele perde tudo atravs do engodo do diabo Fedegoso disfarado de frade. A esse
acontecimento corresponde outro parecido, no final do segundo ato. Embora Aderaldo no
perca todo seu patrimnio como acontece no final do primeiro, perde uma grande quantidade de
dinheiro numa aposta com Simo sobre a fidelidade de Nevinha. Esse elemento, que por si
poderia no ter conseqncias para a intriga, acaba se revelando um evento central. De fato, um
dos pontos mais importantes da histria de Simo consiste na passagem da pobreza para a
riqueza e dessa novamente pobreza, passagem esta que acontece justamente atravs da aposta
ganha do ricao. O que justifica pensar o acontecimento do primeiro ato como reforo do
segundo justamente a gratuidade do primeiro e a necessidade do segundo para a intriga. O
empobrecimento de Aderaldo no primeiro ato no tem grandes conseqncias para o resto da
histria, ao passo que o segundo tem. A recorrncia do evento, portanto, intensifica o seu efeito.
1.1.2. A cabra do co caolho: 2
o
ato
No segundo ato, Ariano Suassuna retoma o entremez O homem da vaca e o poder da
fortuna
28
. Neste, dois cantadores intercalam-se apresentando a histria do cantador preguioso
28
Sobre as fontes primrias desse segundo ato, veja-se o que diz o prprio autor: O segundo [ato fundamenta-se] na
histria, tambm tradicional, de um macaco que perde o que ganhara aps vrias trocas histria que a origem do
romance, tambm de autor annimo, sobre o homem que perde a cabra e que tambm me serviu de fonte.
(SUASSUNA, Ariano. A Farsa e a preguia brasileira. In: ______ Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio Ed., 1979. p. xxii). Em 1997, Suassuna conta que, na dcada de 70, o entremez quase foi transformado em
pera, sob a coordenao de Antonio Jos Madureira. Cf. SUASSUNA, Ariano. Arte no mercado, mas vocao e
23
muito pobre, casado com uma mulher generosa. Logo no incio, a mulher questiona o poeta
Simo, nico personagem com nome no entremez, sobre o trabalho. Ele desconversa e prope a
encenao do Romance de Clara Menina, na qual ele assume o papel de narrador, estando sua esposa
no papel de Clara Menina e os dois cantadores nos papis de caador e de Dom Carlos.
Terminada a representao, a mulher volta a insistir no trabalho. Simo nega todas as propostas
da mulher, que chora sua misria, e vai dormir. Ao v-la chorando, um dos cantadores,
apresentando-se como vaqueiro, d-lhe uma vaca de leite. Ao acordar, Simo inicia uma srie de
trocas com a vaca. Os dois cantadores alternam-se interagindo com Simo, que acaba apenas com
um po e dez mil-ris. Intervm nesta hora o rico, que aposta com o poeta (cem mil-ris contra
os dez mil) que a mulher ir reclamar do fiasco das trocas feitas pelo poeta. Ela no reclama, o
rico perde a aposta e sai praguejando contra o poeta. Os cantadores concluem o entremez
contando que Simo comprou a Fazenda Homem da Vaca, onde viveu do trabalho. Tiram, por
fim, a moral da histria:
Riqueza tem sua treva,
pobreza tem sua luz!
J a misria desgraa
Pois desgraa conduz.
29
nesse entremez que o personagem central da Farsa, o poeta Joaquim Simo,
aparece pela primeira vez. Ele o nico que tem nome j antes da composio da Farsa. Teremos
ocasio de notar muitas outras aproximaes entre este entremez e o segundo ato da Farsa,
seguindo a intriga desta parte.
Depois da abertura do segundo ato pelos personagens divinos, Simo parece ceder s
tentaes de Clarabela, que lhe catuca. Em contraponto, a fidelidade de Nevinha posta
prova e se evidencia em dois episdios. Primeiro, Nevinha desconfia da massagem feita por
festa (sic.). Entrevista concedida a Luiz Zazin Oricchio. O Estado de So Paulo, So Paulo, 12 jul. 1997. Caderno 2,
D-3.
29
SUASSUNA, Ariano. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1974. p. 57-58.
24
Clarabela, mas acaba voltando s boas com Simo e o inclui no rol dos grandes poetas populares
que ela cita (incluindo Francisco Sales Areda, o autor do folheto que serviu como uma das fontes
do entremez). Segue-se outra cena de proposio de trabalho, dessa vez retomada diretamente do
entremez e muito mais prxima do folheto de cordel de Areda. Simo, como no primeiro ato,
aceita com nimo as sugestes de Nevinha, depois as vai refutando com igual entusiasmo,
retomando procedimento j presente no entremez.
A outra situao, mais grave, que coloca em cheque a fidelidade de Nevinha, a das
trocas, tambm tirada do entremez. Simo, por intermdio dos personagens sobrenaturais
disfarados, enganado a cada novo negcio. Nevinha entrega-lhe a cabra que recebera em
doao. Simo comea a fazer trocas e acaba somente com um pedao de po. No entremez, a
situao era mais prxima do bumba-meu-boi. O animal, precisamente, mudado: a vaca d
lugar a um animal mais diablico, a cabra
30
. Embora as trocas no sejam as mesmas no
entremez e na farsa, ambas seguem ordem decrescente. Simo faz um pssimo negcio, dando
ensejo aposta entre o poeta pobre e o rico fazendeiro. No entremez, a aposta era feita com
dinheiro contra dinheiro, sendo o objeto a reclamao ou no da mulher. Na Farsa, entretanto,
Joaquim aposta a prpria Nevinha (aceitando se retirar, deixando o campo livre para o ricao)
contra o dinheiro de Aderaldo. H, portanto, um aumento de dramaticidade na situao, que se
resolve favoravelmente para Simo. Mas, novamente, a pea acrescenta l onde o entremez havia
calado: Nevinha tem plena conscincia do que se passa. Agiu por esperteza, no por estupidez.
Esse recurso permite dar um valor positivo sua atitude, contrastada insensatez do marido.
Mais ainda, a constante interveno dos personagens sobrenaturais disfarados recurso ausente
do entremez d continuidade ao julgamento da atitude de Simo. Percebe-se com isso que a
figura dos cantadores tinha muito menor profundidade do que os personagens divinos e
30
A troca da vaca pela cabra refora a coerncia da pea. Aqui, a cabra na verdade a diaba Andreza disfarada. Mais
tarde, no terceiro ato, sero Fedegoso e Quebrapedra disfarados de bodes. Todos os diabos, em algum momento da
pea, agem como caprinos, apesar de se apresentarem com os nomes de co coxo, co caolho e cancachorra.
25
infernais, sendo esses ltimos no apenas mais relevantes, mas mais numerosos (seis, em lugar de
dois). O julgamento da atitude de Simo passa-se no plano divino e prepara o desfecho no
terceiro ato, quando os pobres so salvos e os ricos tambm. Mas esses ltimos por pouco (nos
dois ltimos minutos do prazo dado pelos diabos) e atravs da interveno dos pobres (recurso
tambm ausente no entremez, onde o rico avarento condenado sem recurso).
O ato, com a soluo da aposta pelo bem de Simo e de Nevinha, acaba bem para os
pobres. Tendo ganhado do ricao o dinheiro da aposta, Simo tem agora a mulher, o dinheiro... e
a preguia que lhe cara.
No processo de reescritura do entremez para a pea, desaparece o uso de um elenco
pequeno que encena vrios papis. Embora a Farsa no exija um grande nmero de atores, no
entremez apenas cinco atores fazem todos os personagens, incluindo a representao do Romance
de Clara Menina
31
(que desaparece na Farsa), exemplo de teatro dentro do teatro
32
. Embora vrios
vestgios picos e narrativos presentes no entremez ainda sejam encontrados na pea, essa
representao metalingstica to explcita desaparece. Inegavelmente, h na pea uma adeso
maior do personagem ao ator, que sempre representa um s papel, ainda quando se disfara
33
.
1.1.3. O rico avarento: 3
o
ato
Novamente, este ato baseia-se em entremez escrito pelo autor e que tem o mesmo
31
SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 39-43.
32
Segundo Anatol Rosenfeld, este tipo de construo smbolo de um mundo enganador e fugaz. (ROSENFELD,
A. O teatro pico. 4 ed. So Paulo: Perspectiva, 2004. p. 59). Tomando a srio essa afirmao, o desaparecimento desse
episdio na Farsa pode ser considerado indcio de uma viso de mundo mais otimista.
33
o caso, por exemplo, dos diabos que se disfaram para as trocas de que se falar no segundo ato. Se o pblico
no soubesse que se trata precisamente de disfarce usado pelos diabos, a cena perderia todo o seu efeito. No entremez,
os cantadores assumem completamente outros papis, para depois voltarem a ser quem so.
26
ttulo do ato. O entremez, inspirado na pea annima do mamulengo, abre-se com a auto-
apresentao de Tirateima, que bate na porta do Rico avarento (personagem annimo) para pedir
emprego. logo contratado como mestre-sala do ricao, numa aluso ao bumba-meu-boi.
Iniciam-se uma srie de visitas de pessoas muito pobres pedindo esmola, sempre recebidas por
Tirateima e enxotadas pelo ricao. Aps a terceira visita, o ricao sente-se mau e Tirateima chama
seu Fuxico, o motorista, para lev-lo ao hospital. Negando qualquer outra despesa, o rico afasta
tambm a proposio do ch feita pelo mestre-sala. Este, num gesto tpico de palhao de circo,
perde a pacincia e d uma cacetada na cabea do patro, que acaba melhorando e revela que
todo o mal-estar deveu-se perda de um boto. Tirateima reclama, despedido. Aparece ento o
Canito, bode-diabo chefe do inferno, revelando que era ele, na figura de todos os pedintes. Ele
anuncia que vem buscar o ricao, se ele no achar quem reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria por
ele em sete dias. Logo em seguida, anunciando a passagem do tempo, aparecem tambm o Co
Coxo e o Co Cime. O rico levado e os diabos voltam-se para Tirateima. Reagindo, este
expulsa os bodes a chapuletadas, gabando-se, no final, de sua valentia.
Muitos elementos do entremez so guardados na Farsa. No entanto, a construo do
contexto efetuada pelos atos anteriores modifica todo o sentido da intriga. J no incio do terceiro
ato, somos informados de que um lapso de tempo indeterminado, mas significativo
34
, marca uma
reviravolta: Aderaldo virou um velho avarento depois de perder a aposta para Simo. Clarabela
deixou o gosto pela cultura popular e concentrou seu interesse no sexo rstico. Nevinha e
Simo perderam tudo novamente e chegam como retirantes porta de Aderaldo para pedir
emprego. Se o entremez fosse uma fotografia, seu contraste teria sido aumentado: o rico mais
34
O prlogo do terceiro ato denuncia uma passagem de tempo. No dito pelos personagens quanto tempo se
passa, mas mostra-se ser suficiente para que Joaquim Simo enriquea, traia sua mulher e empobrea novamente. A
fala de Simo (Estou velho, e Dona Clarabela tambm. In: SUASSUNA, Ariano. Farsa da boa preguia. 2 ed. Rio de
Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 119) sugere igualmente uma passagem de tempo (SANTOS, Fbio Cordeiro dos;
CARDOSO, Ins; SANTINI, Alexandre, A pea teatral como fonte primria de pesquisa: a Farsa da boa preguia, de
Ariano Suassuna. In: RABETTI, Beti (org.). Teatro e comicidades: estudos sobre Ariano Suassuna e outros ensaios. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2005. p. 136).
27
avarento, sua mulher mais incoerente, os pobres so mais pobres.
35
Aderaldo contrata Joaquim Simo, que veste a roupa de mordomo, mantendo a
aluso ao bumba-meu-boi. Mas, se no entremez essa meno do bumba-meu-boi direta, aqui ela
apenas alusiva: Simo que nota estar vestido at de mestre-sala de bumba-meu-boi
36
, no
sendo jamais chamado assim por Aderaldo.
A srie de visitas tambm acontece, sendo os visitantes personagens celestes
disfarados (os diabos j so parte do convvio ordinrio dos ricaos, dois deles so amantes de
Clarabela). A situao apresentada como uma ltima tentativa de salvar Aderaldo, vindo o poeta
a intervir junto ao ricao para que ele atenue sua avareza e favorea os pedintes. O ricao julga a
si mesmo ao permanecer obstinadamente avarento. Mas o equilbrio aparente entre as foras
sobrenaturais (trs personagens de cada lado) se desfar em favor do bem. A soluo, no entanto,
que depende da intercesso dos pobres em favor dos ricos dentro de um certo prazo de tempo,
permite uma outra insero dramtica com duplo efeito: retardar a ao, marcando melhor que
no entremez o prazo dado pelos diabos, e salientar a humanidade de Simo Pedro junto com a
compreenso de Manoel Carpinteiro. Trata-se do episdio So Pedro e o queijo
37
, pequeno
interldio dentro do ato enquanto se passam as sete horas dadas aos ricos para que algum
interceda por eles. Os personagens celestes decidem disputar um queijo indo dormir e apostando
quem teria o sonho mais bonito e que levaria o prmio. So Pedro revela-se o mais esperto dos
trs seres divinos e o mais humano, quando engana Miguel e o prprio Manuel Carpinteiro ao
comer o queijo dizendo-se sonmbulo. Ao fim do pequeno acontecimento a histria retomada,
sendo finalizada em favor de todos e deixando Simo novamente na trilha da boa preguia, o
35
A este procedimento Ricur chamar de aumento icnico (Cf. RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986.
Paris: Seuil, 1998. p. 246. (Poche, 377)). Embora se refira a uma funo prpria de toda a construo ficcional, alguns
procedimentos ou alguns momentos especficos da narrativa so mais reveladores desse aspecto, como nesse
exemplo da Farsa. Cf. captulo V, item 3.2, p. 194 et seq..
36
SUASSUNA, Ariano Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 139.
37
O terceiro ato baseia-se num conto popular, o de So Pedro e o Queijo, e tambm noutra pea tradicional de
mamulengo, chamada O Rico Avarento. (Ibidem, p. xxii). Outra referncia poderia ser encontrada, ainda, nas
Estrias de Jesus e So Pedro quando andavam pelo mundo.
28
cio criativo. A moralidade tirada pelos personagens sobrenaturais, conduzidos por Manuel
Carpinteiro.
A integrao dos elementos populares, como j se disse, muito bem realizada,
estando o resultado final organizado num todo coerente. Os entremezes, por exemplo, que no
tinham personagens em comum (embora sempre reproduzissem a oposio rico-pobre), so
organizados em torno das figuras dos dois casais: Simo e Nevinha, Aderaldo e Clarabela
38
. A
estes acrescentam-se outro par oposto, os personagens celestes e infernais, que acompanham
toda a intriga. A maior definio dos personagens, de fato, o maior ganho na passagem dos
entremezes Farsa. Dotados de nomes e agindo durante uma seqncia muito mais larga de
episdios, todos eles tm mais profundidade na pea maior. Aos casais e diabos j existentes nas
peas curtas, ainda, Suassuna acrescenta o trio celeste, que tem papel central na conduo da
ao.
Certamente a etapa intermediria da escritura dos entremezes contribuiu para um
maior distanciamento e melhor apropriao das fontes populares primrias na construo da
intriga e da trama da Farsa. A continuidade entre os entremezes que deram origem aos segundo e
terceiro atos e o texto final da pea temperada por modificaes muito significativas
39
. O
resultado final uma pea cuja arquitetura notvel. Como observa Idelette Santos, a
preocupao com o equilbrio geral aparece em cada cena: precisa sempre compensar a seriedade
38
Na transformao do entremez O rico avarento em ato da Farsa, Tirateima vira Simo, o rico avarento vira Aderaldo.
Para O homem da vaca e o poder da fortuna, Simo continua sendo ele mesmo e sua mulher, sem nome no entremez,
ganha relevo (e nome). O rico que faz uma apario discreta no final do entremez identificado com Aderaldo. Os
cantadores desse entremez podem ser vistos como um esboo dos personagens divinos, personagens que, por assim
dizer, pairam sobre a trama.
39
Apenas para retomar alguns exemplos: O rico avarento escrito em prosa, a Farsa em verso; o ricao condenado no
entremez, salvo na pea; no entremez, so os diabos que se disfaram, na Farsa so os santos; o entremez no possui
personagens femininas, na pea elas so trs mulheres. Quanto a O homem da vaca e o poder da fortuna, a figura dos
cantadores desaparece e, junto com eles, o Romance de Clara Menina; os personagens trocam de papel, ao passo que na
Farsa h maior adeso do personagem ao ator. Em ambos os entremezes, no h figuras celestes (embora haja figuras
infernais em O rico avarento). Tambm no existem situaes de seduo nos entremezes.
29
pelo riso, relativizar a lio de moral com uma anedota maliciosa, etc..
40
1.2. Outras razes: as fontes literrias brasileira e ibrica
Se a influncia popular mais primria e sensvel, seja pela retomada de obras j
existentes de outros autores, seja pela linguagem colocada na boca dos personagens
41
, a influncia
do teatro ibrico diretamente ou atravs de uma certa tradio do teatro cmico brasileiro
muito visvel, em especial do ponto de vista formal. O recurso ao entremez evoca, por exemplo, a
obra de Martins Pena, inaugurador da comdia brasileira, ele tambm influenciado pelo entremez
de Portugal. Alm disso, a Farsa, como as demais peas cmicas longas de Suassuna, retoma
formas tpicas do teatro medieval ibrico, como a farsa popular, a moralidade e o teatro religioso.
No nos deteremos numa anlise detalhada dessas influncias, que faria objeto de outra pesquisa
e nos levaria fora do eixo de nosso estudo
42
, mas veremos os principais vestgios desses outros
40
SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da potica popular: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.
Campinas: Ed. da Unicamp, 1999. p. 272. Ela dir, ainda mais precisamente: A histria dO homem da vaca ser
retomada ainda por Ariano Suassuna na Farsa da boa preguia, mas, nesse grau de complexidade, no se pode falar mais
de reescritura, e sim de um verdadeiro dilogo entre os fragmentos do entremez e outros textos e vozes, numa nova
estrutura teatral. In: Ibidem, p. 249.
41
Suassuna costuma se filiar tradio de Molire, Shakespeare e outros, enquanto prefere partir do popular para
construir suas obras literrias: Existem poetas de gnio, como Shakespeare, que criam suas obras a partir dos
romances, baladas e contos populares (...). Mas existem outros, igualmente geniais, como Proust, que tm posio
muito diferente. A escolha de um caminho ou de outro depende do gosto e da deciso de cada um de ns. De modo
que, quando afirmo minha preferncia por Cervantes, Molire, Manuel de Falla ou Garcia Lorca, que partem do popular,
no estou dizendo que somente esta linhagem legtima, estou apenas afirmando que tambm ela legtima.
(SUASSUNA, Ariano. Arte erudita e arte popular. Folha de So Paulo, So Paulo, 23 fev. 1999, Caderno 1, Opinio, p.
2). No entanto, essa ligao no pode ser buscada no uso da linguagem, ao menos no no seu teatro. Trata-se,
sobretudo, de uma afinidade de procedimento e de princpio. Do ponto de vista da forma, porm, h grande ligao
entre as obras populares e o trabalho do dramaturgo.
42
Para uma pesquisa mais aprofundada das fontes do teatro de Suassuna, recomendamos especialmente os estudos
de ngela Maria Bezerra de Castro [______. Gil Vicente e Ariano Suassuna: "acima das profisses e dos vos disfarces
dos homens". 120 f. Dissertao (Mestrado em Literatura Portuguesa) Departamento de Letras e Artes, Pontifcia
Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1976], Lgia Maria Ponde Vassalo [______. Permanncia do
medieval no teatro de Ariano Suassuna. 1988. 338 f. Tese (Doutorado em Letras) Ps-graduao em Letras,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988], Maria Ignez Moura Novais [______. Nas trilhas da
30
influxos na pea de Suassuna a fim de mergulhar ainda mais no mundo de onde surge a Farsa e
melhor situar o mundo criado por ela.
43
Com a tradio inaugurada por Martins Pena, Ariano Suassuna partilha a escolha de
formas do teatro medieval e barroco ibrico, como o entremez, o auto e a farsa. Ao recusar um
modelo realista de teatro
44
, Suassuna segue o rastro de Pena que, sem deixar de retratar os
costumes, renuncia a uma comdia alta
45
para dar vazo ao riso solto e a uma construo
menos sofisticada. Por isso mesmo, seu teatro exigir um grau insuspeitado de convencionalismo,
como nota o prprio autor ao comentar um episdio do Auto da Compadecida:
Porque no tem cangaceiro que caia numa cilada to idiota como aquela da bexiga de
cachorro escondida numa camisa. Aquilo uma coisa que, para gostar do meu teatro,
preciso que o pblico faa um acordo com o autor: ns vamos acreditar juntamente
com voc, para que a gente possa pensar que isso pode acontecer durante duas horas.
46
Em Suassuna, ainda, a influncia da cultura ibrica mais ampla, no se limitando
cultura popular: o teatro de Ariano Suassuna. 1976. 242 f. Dissertao (Mestrado em Teoria Literria e Literatura
Comparada) FFLCH, USP, So Paulo, 1976] e de Paulo Roberto Guapiass [______. A marmita e a porca: a
presena plautiniana na comdia nordestina. 1980. 216 f. Tese (Doutorado em Letras) Ps-graduao em Letras,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1980].
43
Preferimos falar em fontes literrias e no eruditas. Parece-nos mais acertada essa formulao, embora imperfeita.
De fato, dentre as fontes medievais, algumas so de natureza popular. No entanto, fonte literria parece no
contemplar outros aspectos da tradio do teatro, muito mais ampla do que o texto apenas. Como limitamos nossa
anlise ao texto da pea, porm, fixamos esse termo. Sobre a polmica em torno relao erudito-popular na obra de
Suassuna, veja-se a seguir o item dois desse captulo.
44
Questionado sobre a relao entre arte e realidade, Suassuna dir: Eu acho que, de certa maneira, a arte , sim, um
acerto de contas com a realidade. por isso que sou contra o naturalismo, o neonaturalismo. Eu acho que a arte, por
natureza, no uma imitao do real, uma recriao. uma realidade magnificada. No a realidade do dia-a-dia.
Se fosse para imitar a realidade do dia-a-dia, melhor seria ficar com a prpria realidade. In: CADERNOS DE
LITERATURA BRASILEIRA. So Paulo: Instituto Moreira Salles, novembro de 2000, n. 10. Semestral. ISSN 1413-652X.
p. 43.
45
Em Martins Pena essa opo no foi completamente consolidada, pois, talvez movido pela crtica, ele procurar
explorar outras formas tidas por mais elevadas. De modo tambm distinto, Suassuna no pode ser dito, no mesmo
grau, um comedigrafo de costumes como foi o caso de Pena. (Cf. VERSSIMO, Jos. Histria da literatura brasileira. Rio
de Janeiro: Topbooks, 1998. p. 359-360 e ROMERO, Slvio. Histria da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Jos
Olympio; Braslia: INL, 1980. v. 4, p. 1396 1397). A importncia de Martins Pena ser posta em evidncia, no
entanto, com os trabalhos de Vilma Aras (Cf. ARAS, Vilma. Na tapera de Santa Cruz. So Paulo: Martins Fontes,
1987) e de In Camargo Costa (Cf. COSTA, In Camargo, A comdia desclassificada de Martins Pena. In: ______.
Sinta o drama. Petrpolis: Vozes, 1998. p. 125-155).
46
In: CONTINENTE MULTICULTURAL. Recife: CEPE, 2002, n 20. ISSN 1518-5095. p. 13. Disponvel em:
<www.continentemulticultural.com.br/revista020/materia.asp?m=Especial&s=1>. Acesso em: 16 nov. 2006.
31
apenas ao teatro. Ela permeia sua poesia (com destaque para as iluminogravuras
47
), sua prosa, seu
romance e seu teatro, marcando os traos estticos do Movimento Armorial que ajudou a fundar.
No caso particular do teatro, essa influncia se faz sentir tanto no plano formal quanto no
temtico.
Do ponto de vista temtico, nota-se especialmente a inteno moralizadora, que a
forma farsesca parece ameaar na medida em que apresenta um heri bastante ambguo, como
veremos no captulo quinto. Silviano Santiago percebe este elemento temtico, ao comentar O rico
avarento:
[Trata-se de] um entremez em que o choque entre personagens se desenvolve de
maneira a conduzir o espectador a uma moralidade, ou seja, que a representao teatral
tem o fim de alertar o pblico contra os perigos da avareza, por exemplo. Nesse
sentido, o teatro de Ariano Suassuna nos lembra o teatro medieval, bem como os autos
escritos pelos jesutas no Brasil, com a finalidade de catequizar os ndios.
48
Coisa muito semelhante poderia ser dita de O homem da vaca e o poder da fortuna,
acrescentando-se que a moralidade desse ltimo mais ambgua que a do outro entremez,
caracterstica que se repetir na Farsa da boa preguia
49
. De fato, a ambigidade do tema forte o
suficiente para levar o autor a se pronunciar sobre a polmica despertada pela pea no prlogo da
edio impressa. Outra vez nos defrontamos com esse aspecto temtico que, ao nosso parecer, d
fora obra na medida em que est em tenso com a forma farsesca.
Do ponto de vista da forma, note-se, Suassuna no emprega um gnero puro. Ao
contrrio, recorre s forma da farsa e ao entremez, mesclando-as com traos do teatro religioso
47
Inspirado nas iluminuras medievais e seus textos apocalpticos produzidos nos mosteiros da Idade Mdia, ele cria
nos anos 80 o termo iluminogravura Eu criei o nome iluminogravura para batizar estes textos que so no apostos a
uma ilustrao, mas que se fundem com ela numa obra de arte s. In: CONTINENTE MULTICULTURAL. Recife:
CEPE, maio 2005, n 53. ISSN 1518-5095. p. 19.
48
SANTIAGO, Silviano. In: SUASSUNA, Ariano. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1974. p. 17.
49
Quanto moralidade do teatro de Suassuna, o autor, interrogado sobre a tendncia moralizante do Auto da
Compadecida, responder: Nesse caso, eu reconheo a tendncia e espero que no tenha sido pesada demais. De fato,
a pea tem alguma coisa da moralidade, algo dos mistrios marianos que eram um tipo de dramaturgia do qual
gostava muito. Tenho muita admirao por Gil Vicente e sua influncia, acredito, perfeitamente visvel no Auto da
Compadecida e em outras peas minhas. E, por ele ter sido um catlico com uma viso bastante libertria, espero ter
me mantido na mesma linha. In: O Policarpo Quaresma do serto no novo sculo. O Estado de So Paulo, So Paulo,
24 abr. 2005. Caderno 2, Cultura, p. D8-D9.
32
medieval e das moralidades.
As moralidades surgem da inspirao religiosa crist prpria Idade Mdia ocidental,
consolidando-se como forma dramtica por volta do sculo XV
50
. Nesses curtos dramas, a intriga
tem menos importncia que a temtica e, por conseqncia, os personagens ganham certo
aspecto tpico como representantes do vcio ou da virtude
51
. Por sua extenso e pelo
desenvolvimento de sua intriga, a Farsa extrapola essa forma. Mas conserva dela, talvez pelo
intermdio dos entremezes, o aspecto tpico dos personagens que se opem entre vcio e virtude.
At certo ponto, de fato, os personagens ricos identificam-se com o vcio, os pobres com a
virtude. No entanto, um dos interesses da intriga consiste no jogo que faz com essa separao. O
trabalho do rico, por exemplo, no apresentado como vicioso. sua inteno e sua avareza que
so condenadas. J a preguia do poeta, embora defendida como cio criativo,
problematizada com o episdio da perda da riqueza adquirida no final do segundo ato. Este
panorama aproxima a farsa, assim, do teatro religioso
52
.
O teatro religioso, originalmente integrado na liturgia e representado dentro da
Igreja, passar progressivamente a ser encenado fora da liturgia e fora da Igreja com seu
desenvolvimento. Nas mltiplas formas dramticas que foram surgindo, o diabo ou os vcios so
freqentemente encarregados da parte cmica, razo talvez de sua excluso do recinto sagrado
53
.
Mesclando tragdia e comdia, esses dramas refletiam a ambigidade crist: o drama da vida e a
50
Cf. Moralidade. In: PAVIS, Patrice. Dicionrio de Teatro. So Paulo: Perspectiva, 1999. p. 250.
51
Nesse aspecto, as moralidades so herdeiras da Psychomachia, de Prudncio (por volta do ano 400), como nos
informa Margot Berthold: Seu tema a batalha das virtudes e vcios pela alma do homem viria a ser o favorito
dos autos de moralidade, mil anos depois. In: BERTHOLD, Margot. Histria Mundial do Teatro. So Paulo: Perspectiva,
2004. p. 261.
52
Nesta pea, no entanto, Suassuna no recorrer forma do auto, este mais marcadamente religioso. (Cf. Auto
Sacramental. In: PAVIS, Patrice, idem, p. 31. Cf tambm: Auto. In: GUINGSBURG, J, FARIA, Joo R. e LIMA, M. A. de
(orgs). Dicionrio do teatro brasileiro: temas, formas e conceitos. So Paulo: Perspectiva/SESC-SP, 2006. p. 47-48). Ao
optar pela farsa, mesclando-a com elementos religiosos, o autor desloca a ateno do problema religioso.
53
Foram provavelmente certos excessos, certas diabruras, que levaram o drama a ser expulso da Igreja. Como
observa Vilma Aras, certamente numerosos clrigos provocaram grande escndalo ao interpretarem nos mistrios o
papel do Diabo, pois um excesso de motivao os levava a fazer verdadeiras diabruras: perseguir crianas, assustar
velhas, beliscar moas e levantar-lhes a saia tudo isso foram mais do que razes para proibies e para os autos
sarem dos templos. In: ARAS, Vilma, op. cit., p. 44.
33
alegria da salvao. Mas essa mistura de srio e cmico tpica da Idade Mdia, como nos lembra
Ernst Curtius:
Os testemunhos at aqui discutidos nos autorizam a supor que a mescla de gracejo e
seriedade pertencia s normas de estilo familiares e conhecidas do poeta medieval,
mesmo quando talvez no as encontrasse expressamente formuladas em parte alguma.
Donde poderamos interpretar o fenmeno como nova confirmao da tese de que a
Idade Mdia gostava do cruzamento e mistura dos gneros de estilo de qualquer forma.
Com efeito, encontramos ludicra em setores e gneros que, para o nosso sentimento
moderno, educado na esttica classicista, excluem totalmente essa mistura.
54
Tanto a temtica religiosa, quanto a presena dos diabos e a mistura de srio e
cmico esto presentes de forma visceral na Farsa da boa preguia. Sobre a temtica religiosa, um
olhar sobre os ttulos das peas de Suassuna j seria suficiente para sugeri-lo fortemente
55
. Os
diabos, por sua vez, esto em todas as peas cmicas de Suassuna. Mas aqui temos trs,
contrapostos aos trs personagens celestes (seis personagens sobrenaturais, contra quatro
personagens humanos). No que se refere mistura srio-cmico, esse elemento encontra-se de
forma mais intensa nessa pea de Suassuna. A esse propsito, o autor observar:
No comportamento humano, voc tem dois grandes campos que interessam
literatura: o do doloroso e o do risvel. No doloroso, as duas categorias principais so o
trgico e o dramtico; no risvel, so o cmico e o humorstico. E o humorstico se
caracteriza exatamente por ser essa tentativa de fuso da melancolia mais delicada com
o riso mais violento. Ento, uma fuso do trgico e do cmico o humorstico.
56
o que percebemos acontecer na Farsa. Sem comprometer o riso, h sempre uma
preocupao em equilibrar os parmetros, divertindo sem desviar a ateno do pblico do ponto
focal da pea: o comportamento de Simo e o seu julgamento.
necessrio dizer, portanto, que apesar de adotarmos a expresso forma farsesca,
54
CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europia e Idade Mdia Latina. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1957.
p. 445.
55
Veja-se, por exemplo, Uma mulher vestida de sol (ttulo tirado do Livro do Apocalipse), sua pea de estria, mas
tambm Cantam as harpas de Sio, Os homens de barro (ambas referncias bblicas, tambm, especificamente ao xodo e
ao Gnesis), Auto de So Joo da Cruz, Auto da Compadecida e O Santo e a porca (todas as trs com a meno de santos:
Joo da Cruz, santo espanhol; Maria me de Jesus, a Compadecida; um santo, que se mostrar na pea como Santo
Antnio).
56
CONTINENTE MULTICULTURAL. Recife: CEPE, 2002, n 20. ISSN 1518-5095. p. 12. Disponvel em:
<www.continentemulticultural.com.br/revista020/materia.asp?m=Especial&s=1>. Acesso em: 16 nov. 2006.
34
acompanhamos Lgia Vassalo, quando diz que a Farsa da boa preguia no chega a ser uma farsa
propriamente dita: longa, no especialmente cmica, como Torturas de um corao, O santo e a
porca, O casamento suspeitoso, porque tem um carter religioso muito pronunciado, ficando mais
prxima da moralidade
57
.
J tivemos ocasio de verificar que a identificao da forma da Farsa com a das
moralidades seria insuficiente. J tendo considerado os vestgios da moralidade e do teatro
religioso, resta-nos olhar diretamente para a influncia da forma farsesca. Devemos notar, no
entanto, que difcil precisar com rigidez os traos especficos dessa forma dramtica, que s
vezes se confunde com a forma do entremez
58
. Sendo um gnero do teatro popular medieval, em
certos contextos pode se referir mais a uma tcnica que a uma estrutura. Dcio de Almeida Prado
corrobora esse julgamento, definindo melhor a forma do entremez portugus:
O entremez de Portugal, gnero pouco estudado por ficar margem do circuito
literrio, tinha uma presena sobretudo de palco, como expresso mais da graa pessoal
e das improvisaes do ator que das invenes do texto. Tudo comeando e acabando
em no mais do que meia hora, no havia lugar para digresses ou elaboraes. A ao
usava e abusava das convenes da farsa popular: quanto aos personagens, tipos
caricaturais, burlescos, no raro repetitivos; quanto a enredo, disfarces, qiproqus,
pancadaria em cena.
59
57
VASSALO, Lgia Maria Ponde. Permanncia do medieval no teatro de Ariano Suassuna. 1988. 338 f. Tese (Doutorado em
Letras) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988. p. 186.
58
No teatro colonial brasileiro, os entremezes, vindos diretamente da Espanha ou de Portugal, eram presena
constante, mas nem sempre se distinguiam claramente das comdias e farsas. O verbete completa ainda dizendo
que, na primeira metade do sculo XX, o entremez era uma pea curta, de carter e procedimentos popularescos
(pancadarias, esconderijos, disfarces), visando aproveitar os dotes cmicos e a capacidade de improvisao de atores
j experientes no gnero. (Entremez. In: GUINGSBURG, J, FARIA, Joo R.; LIMA, M. A. de (orgs), op. cit., p. 131). Na
pennsula ibrica, Vilma Aras observa que esses breves entreatos cmicos chegavam s vezes a tocar temas
ousados, como Los maricones, sobre dois jovens efeminados, cortejados pelas prprias namoradas, que agiam como
homens. (In: ARAS, Vilma. Iniciao comdia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. p. 50). interessante
perceber, tambm, a proximidade entre a farsa e a sotie, reforando o argumento que sustenta certa indeterminao
dessa forma: Farsa e sotie divertiam o pblico e atores de forma to igual que quase impossvel determinar uma
diferena precisa entre elas. (In: BERTHOLD, Margot, op. cit., p. 256). As soties chegaram a ser proibidas no sculo
XVI devido ao seu acento fortemente satrico (cf. Sotie. In: VV.AA. Dictionary of Theatre. Londres: Penguin Books,
2004. p. 567).
59
PRADO, Dcio de Almeida. Histria concisa do teatro brasileiro. So Paulo: EDUSP, 2003. p. 56. O verbete entremez
do Dicionrio de teatro brasileiro acrescentar que no teatro colonial brasileiro, os entremezes, vindos diretamente da
Espanha ou de Portugal, eram presena constante, mas nem sempre se distinguiam claramente das comdias e das
farsas. E conclui: NO juiz de paz da roa, comdia de Martins Pena, representada em 1838, a cena do julgamento
final, com a festa subseqente, tem a estrutura tpica de um entremez (Entremez. In: GUINGSBURG, J, FARIA, Joo
R.; LIMA, M. A. de (orgs), op. cit., p. 131).
35
Em sua origem, a farsa remete a um corpus especfico, cerca de duzentas peas curtas
francesas da segunda metade do sculo XV
60
. Nessas peas, o trao caracterstico a
representao da vida cotidiana das pequenas cidades, sempre em pares de versos octossilbicos
com aproximadamente quatrocentas linhas. No havia rubricas nos textos e as apresentaes
eram simples, com poucos recursos cnicos e muita movimentao dos atores
61
. Suassuna
retomar algumas dessas caractersticas, como a representao da vida no campo, o uso dos
versos e a movimentao dos atores. Mas, embora seja simples, a Farsa da boa preguia faz uso de
recursos cmicos muito diversos e no uma pea curta.
Alm desses traos, Lgia Vassalo reconhece, ainda, outros elementos da farsa
fortemente presentes na obra de Suassuna:
Tudo leva a crer que para o dramaturgo paraibano a farsa muito mais operante e ativa
do que a comdia italiana, seja pelo vigor daquela atravs dos tempos, seja pela
influncia literria culta advinda de Gil Vicente (de que se reclama o autor), muito
marcante no s nos ttulos das obras como nos procedimentos. Dado ao primitivismo
dos personagens suassunianos, a maioria de suas peas atende ao item do cmico de
farsa, vulgar, grosseiro, popular e sem maiores pretenses intelectuais ou morais.
62
Concordamos com a pesquisadora, especialmente ao privilegiar a influncia farsesca
em detrimento da italiana, destacando em particular seu papel na constituio dos personagens do
universo de Suassuna
63
. A influncia de Gil Vicente, autor de doze farsas dentre as quarenta e trs
peas que lhe so atribudas, tambm no um dado menor salientado por Lgia Vassalo.
Atuando num perodo que precede imediatamente a instalao da inquisio em terras lusitanas, o
60
A mais conhecida delas a farsa de Maistre Pierre Pathelin, que apresenta um trapaceiro trapaceado. Segundo Margot
Berthold, a pea escrita por um autor desconhecido, foi representada pela primeira vez por volta de 1465. Sua
primeira edio, no datada, aponta para Ruo como local de origem. O dilogo mordaz, as frases polidas a
desembocar em brincadeiras grosseiras traem o conhecimento do meio profissional contemporneo dos advogados.
Autores posteriores, de Rabelais a Grimmelshausen, da Henno de Reuchlin s Kleinstdter (Os pequenos citadinos) de
Kotzebue, apropriaram-se do tipo estpido e confiante dessa farsa. In: BERTHOLD, Margot, op. cit. p. 255.
61
Farsa. In: GUINGSBURG, J, FARIA, Joo R.; LIMA, M. A. de (orgs), op. cit., p. 144.
62
Lgia Maria Ponde Vassalo [______. Permanncia do medieval no teatro de Ariano Suassuna. 1988. 338 f. Tese
(Doutorado em Letras) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988. p.
196.
63
J nos referimos brevemente a essa tradio e voltaremos a tratar de sua influncia no capitulo quarto (item 3.1.2,
p. 136 et seq.), especialmente sobre a construo dos personagens. Mas no identificamos nessa tradio uma
influncia maior. Mesmo a presena dos tipos na Farsa no se deve exclusivamente a ela.
36
teatro de Gil Vicente goza de grande liberdade. De fato, ele explora a ironia, com a qual denuncia
certas situaes da sociedade portuguesa de seu tempo, opondo-se inclusive poltica de
expanso martima do sculo XVI, principalmente por causa do nus que esta representava para
o meio rural lusitano. o caso, por exemplo, da Farsa de Ins Pereira, onde um campons termina
montado por uma jovem citadina.
Este elemento de crtica social um dos outros traos da farsa destacados por
Margot Berthold, em sua Histria Mundial do Teatro. Alm deste conflito (pobreza x riqueza,
embora a crtica social no seja o foco principal da pea), outros elementos farsescos destacados
por Berthold esto presentes na pea de Suassuna, como o recurso s cenas de julgamento
(condenao dos ricos, julgamento da boa e da m preguia), ironia e zombaria sem
escrpulos (contra a figura do falso intelectual, na pea de Suassuna) e, caracterstica da primavera
da forma farsesca, a simplicidade de meios para a encenao
64
.
O trao distintivo da forma utilizada por Suassuna , assim, a mistura de elementos
da farsa (em especial seu aspecto zombeteiro, informal, no-realstico e popular) com
caractersticas do teatro religioso (no s a temtica da salvao, mas tambm a apresentao de
personagens oscilando entre vcio e virtude) e com aspectos da moralidade. Desta forma, a pea
concilia elementos religiosos e morais com elementos cmicos e de stira social
65
. Ao incluir o
elemento religioso, porm, Suassuna coloca em tenso dois eixos: no apenas o agir entre
homens (eixo horizontal virtude x vcio), mas a ao humana julgada por Deus (eixo vertical
salvao x condenao).
A palavra tenso, aqui, deve guardar todo o seu significado. Em terminando-se a
pea com um desfecho relativamente aberto que permite uma concluso moralizante (no temos
64
Cf. BERTHOLD, Margot, op. cit., p. 255 257.
65
Patrice Pavis refora tal intuio, ao dizer que graas farsa, o espectador vai forra contra as opresses da
realidade e da prudente razo; as pulses e o riso libertador triunfam sobre a inibio e a angstia trgica, sob a
mscara da bufonaria e a licena potica. (Farsa. In: PAVIS, Patrice, op. cit., p. 164.).
37
acesso situao final do poeta e de sua famlia, apenas apresentada como o propsito de
emendar-se), o elemento farsesco parece predominar sobre a moral tirada no final da pea. Na
medida em que Joaquim Simo no se apresenta como um personagem propriamente virtuoso, a
apologia do cio criativo feita s suas custas parece apenas parcialmente lograda. Com o recurso a
essa ambigidade permanente, a moral da histria, apesar de aparentemente conclusiva,
permanece em aberto, instigando a discusso para alm da pea como veremos no final de nosso
trabalho. Em termos menos narrativos, como se o autor confrontasse o plano dos ideais e dos
valores com o plano dos condicionamentos reais da vida: h uma preguia de Deus e outra do
diabo, mas no dia-a-dia da vida os dados misturam-se e nem sempre fcil escolher qual a atitude
mais justa. Quanto a esse aspecto, podemos concluir que a ambigidade do tema encontra seu
correlato na mescla de formas.
2. Erudito e popular na obra de Ariano Suassuna
A apresentao das fontes da Farsa da boa preguia levanta inevitavelmente o tema da
relao entre o mundo popular e o mundo erudito
66
na obra desse autor. A fidelidade ao tema de
nosso estudo impede-nos, no entanto, de entrar nos detalhes dessa polmica. Convm lembrar,
apenas, que no procedimento de retomada das obras populares nordestinas, Suassuna o
66
Esta polmica suscita questes como a de saber se a erudio de um autor seria suficiente para qualificar uma obra
sua como erudita. No parece ser o caso da Farsa, porm. Seria tambm insuficiente a retomada de formas medievais
para qualific-la de erudita, na medida em que estas formas, ainda que antigas, pertencem ao universo popular. Mas
pode-se dizer que a Farsa possui traos de erudio enquanto dialoga com o universo das letras, seja atravs de
citaes eruditas (como as colocadas na boca de Clarabela), seja atravs de certos paralelos que podemos traar entre
a Farsa e obras clssicas como o Fausto. Sem levar adiante um estudo comprado, essa sugesto proposta pela
professora Sandra Luna parece bastante sugestiva. Ambas se situam em planos terrestre e celeste. Em ambas, Deus,
anjos e demnios intervm. As duas se concluem por situaes de julgamento. Mas uma anlise mais apurada exigiria
um estudo parte.
38
exemplo mais completo da opo esttica do Movimento Armorial, do qual um dos fundadores
e o principal terico. No texto-marco que escreve para o movimento, lemos a seguinte definio:
O Movimento Armorial pretende realizar uma Arte brasileira erudita a partir das razes
populares da nossa Cultura
67
. Boa parte da controvrsia que envolve esta opo esttica parece-
nos consistir em dois pontos: a acusao de plgio e a relao eruditizadora com o popular.
Como observa Maria Ignez Ayala, Ariano Suassuna um exemplo de autor que
partiu de modo consciente para o popular (...). Selecionando temas e vrias modalidades de
composio da literatura popular em verso, executa seu trabalho de recriao
68
. Tal filiao ao
popular sempre foi assumida e, mais ainda, proclamada pelo dramaturgo. Contra a acusao de
plgio, por exemplo, reage com a confisso de plgio, mas num nvel muito mais complexo que
o da mera cpia
69
. Recriao ou reescritura so palavras que descrevem melhor o processo j
examinado no incio de nosso percurso, no caso particular da Farsa da boa preguia. Se a opo
esttica de Suassuna parte do popular, ela no se limita a ele. Est a toda a riqueza da obra desse
autor que faz uma sntese de alta qualidade, respeitando as fontes populares na medida em que as
identifica e fazendo jus ao status de grande obra pelo resultado de sua construo e pela amplitude
de sua produo, que passeia pelos trs gneros fundamentais com grande sucesso. Sua postura
respeitosa, ainda, na medida em que no reduz as obras da literatura popular a um estgio inferior
da cultura
70
.
O ponto que nos parece mais controverso, no entanto, o projeto de criao de uma
Arte brasileira erudita a partir das razes populares. verdade que a tenso criativa entre
erudito e popular constitutiva da criao artstica nas sociedades desenvolvidas. De um lado e
67
SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. Recife: Editora Universitria - UFPE, 1974. p. 9.
68
AYALA, Maria Ignez Novais, Trilhas e percursos da cultura popular na dramaturgia de Ariano Suassuna. In:
MACIEL, Digenes; ANDRADE, Valria (orgs.). Por uma militncia teatral. Campina Grande: Bagagem; Joo Pessoa:
Idia, 2005. p. 39.
69
Veja-se a resposta de Ariano na ntegra, reportada por Maria Ignez Ayala (Ibidem, p. 48-49).
70
[Ariano Suassuna] ressente-se diante dos que tratam a literatura popular e a erudita em termos de cultura inferior
e superior, quando a questo de diferena entre manifestaes culturais. (Ibidem, p. 50).
39
do outro, inmeros exemplos confirmam que ambas as tradies se enriquecem mutuamente,
numa relao ora admirativa, ora contestatria. Mas na afirmao de Suassuna pode efetivamente
haver o risco de uma leitura implicitamente demeritria da cultura popular quando se pretende
que esta necessite de eruditizao. Nada impede que isto se d, mas sem o prejuzo nem o
preconceito das obras populares originais.
Situao mais grave do que a apontada pela crtica, no entanto, a da apropriao de
elementos populares pela indstria cultural que, esta sim, desfigura na medida de seus interesses a
obra original, sem qualquer considerao pela obra nem pelo artista popular. Mas prosseguir
nesse argumento nos levaria ainda mais distante de nosso tema do que j nos permitimos faz-lo.
Quanto Farsa, pode-se dizer que deixa de ser um texto popular na medida em que
seu autor est em constante dilogo com uma rica tradio erudita que, embora presente na obra
popular, no o de maneira consciente. Mas na medida em que conserva uma linguagem e uma
trama recheada de elementos corriqueiros da ruralidade brasileira, a farsa , nesse sentido,
popular. Esta riqueza, que permite uma diversidade de leituras em nveis muito diversos,
caracterstica de toda obra bem construda.
3. Observaes sobre a relao entre tica e esttica no texto da Farsa
Antes de concluir, no entanto, necessrio acrescentar uma palavra breve sobre a
relao entre tica e esttica no texto, em termos mais precisos sobre a relao entre narrativa e
tica, tese interpretativa que avanamos no incio deste captulo.
A primeira ressalva a ser feita consiste em preservar o domnio da liberdade criativa.
Embora no se possa imaginar literatura desprovida de elementos ticos, nem tica desprovida de
40
narratividade, no domnio da fico a natureza dessa relao livre, no condicionante. O campo
literrio, com efeito, o espao da experimentao, da liberdade de sonhar e de inventar mundos
at onde as variaes imaginativas nos puderem levar. Nesse sentido, a literatura serve de prlogo
tica o que no desmerece a literatura, pelo contrrio, enaltece sua importncia para a vida
humana.
O vestgio mais profundo dessa relao intrnseca verifica-se, assim, no apenas no
plano da composio da obra, mas tambm no dilogo que se instaura com a obra durante o ato
de leitura. neste, com efeito, que um julgamento se estabelece, inevitavelmente, tendo como
objeto a ao representada na obra. Diferentemente do campo tico, porm, na literatura o
prprio julgamento submetido s variaes imaginativas que instauram o reino da
ficcionalidade, permitindo no s representar a ao como se, mas tambm julgar como se.
Como parte do processo, porm, esta etapa participa da obra na medida em que respeita, em seu
procedimento interpretativo, as tenses e oposies contidas na obra especfica que se l. A
pertinncia da abordagem de Ricur advm em parte dessa capacidade de religar a obra com sua
interpretao, incluindo assim o elemento do julgamento que, embora tico, no deixa de ser
literrio.
41
II
PAUL RICUR E A TEORIA DA MIMESIS COMO PROCESSO:
FERRAMENTAS PARA UMA ANLISE DA FARSA COM NFASE NA RELAO TICO-ESTTICA
A abordagem da relao entre a esttica do texto
71
e seu contedo tico
72
exige um
cuidado especial. A necessidade de um captulo especfico detalhando o material terico que
servir de base para a continuao da anlise deve-se delicadeza do assunto, especialmente
focando-se a relao entre os elementos estticos e suas relaes com elementos de natureza
tica. De um lado, h o risco de uma leitura condicionada por um elemento primeira vista
externo ao texto. Do outro lado, est o perigo de uma leitura do texto incapaz de trazer tona
sua riqueza. Mas, ao aceitar o risco de uma leitura inabitual, no se pode renunciar ao rigor
categrico da anlise. Ao contrrio, indo do mais superficial ao mais profundo, pretende-se que o
caminho metodolgico escolhido nos leve, como prope Ricur, a compreender mais,
explicando mais.
73
A razo principal da escolha dessa perspectiva para a anlise, porm, no a
71
Quando nos referimos esttica do texto, visamos aos elementos de sua composio, especialmente os elementos
estruturais e temticos. Essa dialtica forma-contedo, distino meramente analtica de elementos formais e
elementos temticos, mais um argumento em favor da abordagem que propomos, na medida em que leva ambos
em considerao em sua relao dinmica.
72
Note-se que Paul Ricur faz uma distino entre a tica e a moral. Para ele, a tica seria o domnio da inteno de
uma vida realizada sob o signo das aes estimadas boas, e a moral seria o lado obrigatrio, marcado por normas,
obrigaes, interdies caracterizadas ao mesmo tempo por uma exigncia de universalidade e por um efeito de
constrio. (In: RICUR, Paul. Leituras I: em torno ao poltico. So Paulo: Loyola, 1995. p. 161). Nossa anlise
privilegiar o aspecto tico, na medida em que Joaquim Simo e os demais personagens, como veremos, aspiram a
uma vida boa. Mas elementos da moral (sobretudo na discusso das regras de conduta pelos personagens celestes)
tambm aparecero ocasionalmente. A anlise incluir, ainda, um outro elemento crucial destacado por Ricur: a
sabedoria prtica que ligada ao juzo moral em situao e para a qual a convico mais decisiva do que a prpria
regra. Essa convico, contudo, no arbitrria, na medida emq eu recorre s fontes do sentido tico mais originrio
que no passaram para a norma. (In: Ibidem, p. 170). Assinalaremos oportunamente essas distines ao longo do
texto.
73
Trata-se, aqui, da oposio entre explicao (cincias exatas) e compreenso (cincias humanas), que Ricur
resolve como relao dialtica entre compreender-explicar-compreender. Segundo esta lgica, explicar mais,
42
simples busca de inovao, mas sim a compreenso da prpria constituio da pea que faz
objeto de nossa anlise.
O apoio terico para esta pesquisa encontra-se, sobretudo, na filosofia de Paul
Ricur. Em particular, na sua teoria da trplice mimesis, ou da mimesis como processo, chave-
mestra que usaremos para abrir o texto. Atravs dela seremos levados a explorar outros pontos
da relao entre a esttica do texto e seu contedo tico, como a noo de identidade narrativa,
para concluir com a anlise da figura do julgamento.
A compreenso da categoria de mimesis segundo Ricur e sua preocupao tico-
literria de modo mais explcito encontram-se especialmente em trs obras principais. Em
primeiro lugar e principalmente em Tempo e narrativa,
74
mas tambm nas obras Do texto ao
75
(especialmente na Parte II da obra) e Si mesmo como um outro
76
(em particular os estudos 5 e 6).
Esses textos so nossas referncias maiores.
77
1. Panorama do pensamento de Paul Ricur
Ao longo de toda a sua trajetria intelectual, o filsofo francs Paul Ricur se
interessou pelo tema da ao humana (prxis). Suas primeiras investigaes relevantes portam, de
fato, sobre a possibilidade da vontade deliberadamente m, problema que estudar durante toda a
compreender mais [RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 11. 3 volumes. (Poche,
227)]. Cf. tambm RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 223-236. (Poche, 377).
74
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. 3 volumes. 3 volumes. (Poche, 227). Optamos
por seguir o texto francs. Assumimos a responsabilidade pelas tradues dos textos.
75
RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. (Poche, 377).
76
RICUR, Paul. Soi-mme comme un autre (1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. (Poche, 330).
77
Deixamos de lado outra obra fundamental de Ricur no campo literrio, A metfora viva [RICUR, Paul. La
mtaphore vive. [1. ed. 1975]. Paris: Seuil, 2002. (Poche, 347)]. Nesta obra, Ricur se concentra sobre o problema da
metfora e o tipo de referencialidade prprio a este uso da linguagem. No entanto, sua investigao se limita
unidade da frase, no incluindo a narrativa.
43
vida
78
. tambm pela via da reflexo sobre a vontade mal intencionada que Ricur se aproxima
do domnio simblico
79
.
Sem essa perspectiva, seu interesse pela lingstica e pela literatura poderia parecer
um adendo ou um desvio. De fato, um certo desvio geogrfico ajudou-o a aproximar-se do
campo da linguagem e da comunicao humana. De 1970 a 1985, Ricur foi convidado a
lecionar nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago
80
, onde pde ter contato mais intenso
com a tradio da filosofia analtica e hermenutica de raiz anglo-saxnica.
H, portanto, mais continuidade que ruptura nessa sua aproximao do domnio das
letras. E seu itinerrio investigativo seja ele centrado sobre a metfora ou sobre o tempo
sempre marcado pela preocupao tica, sendo este elemento tico o fio de Ariadne para
compreender a obra do filsofo.
No de se estranhar, portanto, que uma nota introdutria ao comentrio da Potica
de Aristteles, no captulo 2
o
de Tempo e narrativa, alerte para a ateno dada a todas as notaes
do texto de Aristteles que sugerem uma relao de referncia entre o texto potico e o mundo
real tico
81
. Desta forma, o tema da referncia inclusive do texto de fico , alm de
introduzir o problema da relao entre texto e contexto (comentado na seo reservada mimesis
III deste captulo), deixa transparecer a ateno dada pelo filsofo ao problema da ao humana.
A noo de prxis, de fato, atravessar toda sua investigao sobre o tempo e se revelar sempre
articulada com a noo de texto, paradigma literrio explorado de modo ainda mais direto na
coletnea de artigos publicada sob o ttulo Do texto ao. De outro modo, a relao entre
78
Veja-se, por exemplo, o testemunho dado pelos ttulos de sua primeira e sua ltima grande obra: desde
Phnomnologie de la volont I. Le volontaire et linvolontaire (Paris: Aubier, 1950) at o Parcours de la reconnaissance (Paris:
Stock, 2004), a preocupao tica ou moral predominante.
79
Surge, neste momento, a continuao de sua obra de estria: Philosophie de la volont. Finitude et culpabilit (Paris:
Aubier, 1960), cuja segunda parte se intitula La symbolique du mal.
80
Cf. Lclipse: le dtour amricain, 1970-1985. In: DOSSE, Franois. Paul Ricur: Les sens dune vie. Paris: La
Dcouverte, 2001. p. 517 a 589.
81
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. 3 volumes. 3 volumes. (Poche, 227). p. 66, nota
2.
44
literatura e tica abordada em Si mesmo como um outro, onde o estudo do acesso do sujeito sua
identidade faz aparecer o problema da atribuio da ao ao agente e o caminho de soluo
atravs da noo de identidade narrativa.
Este brevssimo recorte da trajetria intelectual de Ricur ajuda a perceber que a sua
interpretao da mimesis provocada pela sua articulao com o conceito de prxis e deve a ela
todo o seu interesse
82
. Tendo como base e ponto de partida a filosofia aristotlica, a mimesis
considerada como processo e no como estrutura fixa. Como para o filsofo estagirita, a mimesis
imitao da ao humana motivada (prxis). E, embora o estudo de Aristteles se concentre sobre
a mimesis trgica, Ricur percebe que essa noo permite generalizao e aprofundamento. o
que far, reinterpretando a categoria de mimesis e subdividindo-a em trs momentos, luz de sua
relao com a dimenso do agir humano da qual representao. De uma parte do dinamismo
mimtico, encontra-se a mimesis em sua nascente (em relao ao que imitada); de outra parte
encontra-se a foz (a recepo de quem se defronta com a mimesis proposta por um determinado
autor). No centro, a mmesis-mediao, que o corao da mimesis propriamente dita, considerada
como um processo que se inicia na realidade e que termina na realidade re-significada.
2. Fundamentos aristotlicos da teoria da trplice mimesis
Embora a preocupao de Ricur em Tempo e narrativa porte, como diz o ttulo,
sobre a problemtica do tempo, sua soluo exige a passagem pela teoria da narrativa.
construindo uma relao original entre as intuies de Sto. Agostinho (nas Confisses) e de
82
Mesmo em sua investigao sobre o tempo, onde far dialogar Aristteles e Agostinho, sua reflexo portar sobre
a ao propriamente humana (prxis), da qual a mimesis mediao necessria e, em se realizando, faz aparecer o
tempo humano.
45
Aristteles (na Potica) que Ricur propor uma fenomenologia hermenutica do tempo capaz de
oferecer uma abordagem eficaz das aporias do tempo identificadas por Agostinho. A soluo
encontrada passa justamente pela abordagem do tempo humano como tempo da ao humana. Sem
avanar sobre sua resposta ao problema do tempo, note-se que Ricur aborda o problema
partindo da noo de construo da intriga, baseando-se numa leitura original de Aristteles que
servir de fundamento para sua teoria da mimesis como processo.
2.1. Poiesis
Em sua leitura do captulo VI da Potica de Aristteles, Ricur distingue desde o
incio muthos e mimesis. A essa dupla conceitual, o filsofo francs dar o apelativo de clula
meldica
83
. Ele se apoiar sobre uma afirmao aristotlica que pe os dois conceitos em
equivalncia. Com efeito, Aristteles define um pelo outro, ao dizer que a intriga a imitao da
ao
84
.
Mas uma considerao fundamental ter conseqncias para toda a reflexo de
Ricur. Tanto a intriga quanto a imitao se compreendem sob o signo da poiesis, do fabricar, do
construir humano. Esse termo impe a marca do dinamismo sobre toda a anlise que seguir.
Ambos os termos no devem ser compreendidos como estruturas fixas, mas como operaes,
como snteses dinmicas. Embora se possa encontrar uma estrutura na imitao cujos
83
RICUR, Paul, op. cit., p. 68.
84
Na traduo de Jaime Bruna (ARISTTELES, HORCIO, LONGINO. A potica clssica. 12. ed. So Paulo: Cultrix,
2005. p. 25), l-se: Est na fbula a imitao da intriga. Apoiamo-nos em traduo direta, seguindo os comentrios
de Ricur. De fato, o verbo grego (estn) pode significar ser e estar. Nas outras citaes da potica, seguiremos a
traduo de Jaime Bruna.
46
elementos o prprio Aristteles comear a identificar no se pode corretamente entender a
mimesis literria sem consider-la em seu aspecto dinmico, potico.
Desta forma, Ricur preferir traduzir mimesis por representao da ao, no por
imitao evitando tambm, assim, a confuso com o modelo platnico que considera a mimesis
como cpia, e cpia em terceiro grau
85
. De modo ainda mais revelador, muthos ser traduzido pelo
filsofo francs como construo da intriga, ou como articulao dos fatos. A potica, enfim,
definida como a arte de compor intrigas
86
, definio que toca tambm o poeta: construtor de
intrigas/imitador da ao: eis o poeta
87
.
Esse aspecto dinmico repercute diretamente sobre as noes-chave que estamos
analisando. Por exemplo, quando Ricur insiste em dizer que o termo mimesis, qualquer que seja a
traduo que lhe faamos, visa atividade mimtica, o processo ativo de imitar ou de
representar
88
. Inspirado por essa compreenso, Ricur notar que a definio das seis partes da
tragdia, no captulo VI da Potica, so um indcio no de uma estrutura fixa do poema trgico,
mas de seis partes da arte de compor tragdias.
Tal insistncia sobre o sentido dinmico da potica no irrelevante. Ricur constata
que a atividade produtora de intrigas uma forma de inteligibilidade narrativa que organiza o agir
humano, tornando-o passvel de cognio. atravs dessa atividade da imaginao produtiva que
tanto o tempo quanto o agir humano comeam a ganhar sentido.
Essa observao levanta outro problema, tratado ulteriormente pelo filsofo: o da
distino entre saber tico e saber narrativo e, dentro do domnio narrativo, a distino entre
narrativa ficcional e narrativa histrica. Limitemo-nos a dizer, sobre este ponto, que se h uma
85
O essencial do pensamento platnico sobre a mimesis encontra-se nos livros III e X de A Repblica.
86
O termo intriga corresponde, aqui, ao termo fbula, como o fez Jaime Bruna em sua traduo da Potica, seguindo a
tradio de Tomachevski (Cf. TOMACHEVSKI, B. Temtica. In: TOLEDO, Dionsio (org.) Teoria da literatura. Formalistas
russos. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. p. 169-204). Preferimos seguir a terminologia proposta por Ricur, que
por seu turno acompanha a traduo de Dupont-Roc e Lallot. (Cf. RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983.
Paris: Seuil, 1991. p. 69, nota 1). 3 volumes. (Poche, 227).
87
Ibidem, p. 88.
88
Ibidem, p. 69.
47
aproximao de procedimentos, h diferena de pretenses nas relaes entre cada um dos dois
campos e a realidade. No entanto, Ricur apressa-se em garantir para o campo da fico uma
forma prpria de referncia realidade do agir humano. Voltaremos a esse tema no momento
oportuno, ao tratar do final do processo mimtico. por ele que distinguiremos pretenso tica e
pretenso potica, salientando as articulaes que existem entre ambas e que situam a literatura na
fronteira da tica pela sua capacidade de propor variaes imaginativas do nosso agir no mundo.
2.2. Prxis
Outro conceito cuja importncia repercute diretamente sobre as duas categorias da
clula meldica e que ilumina todo o resto da reflexo de Ricur o termo prxis
89
. Como
destaca o filsofo francs, a ao o construdo da construo em que consiste a atividade
mimtica
90
. Desta forma, Ricur identifica o correlato noemtico da atividade produtiva que
caracteriza a mimesis. O que a mimesis representa no a intriga, a articulao dos fatos (muthos),
mas a ao humana eticamente motivada que a prxis. No entanto, trata-se de uma
representao por meio de intriga. Noutros termos, no h equivalncia estrita entre os dois
conceitos definidores da arte potica. Sem essa observao, seramos levados a um fechamento
asfixiante (s vezes ainda sustentado) da obra sobre ela mesma. Considerando mais adiante o
prazer suscitado pela obra, Ricur ser levado a polemizar com a vertente estruturalista radical,
89
Sobre o conceito aristotlico de praxis, assim como suas relaes com a poiesis e com o ethos, cf. LIMA VAZ,
Henrique Cludio. Escritos de filosofia II. So Paulo: Loyola, 1993. p. 80 et. seq..
90
Ibidem, p. 73.
48
abrindo o interior do livro s suas relaes estruturais com o exterior
91
. Nessa dialtica interno-
externo, o critrio da estrutura no descartado, mas considerado em seu dinamismo: a
estruturao que importa. na medida em que certos elementos externos deixam seus vestgios na
estrutura fixada da obra que eles ganham relevncia para a anlise.
Por ora basta destacar, ainda, o argumento de reforo que Ricur encontra para
salientar a relao da mimesis com a realidade, estando o muthos em funo de intermedirio, de
medium. Trata-se da distino, na Potica, entre comdia e tragdia segundo os tipos de
personagem: na comdia piores, na tragdia melhores. Mas, nota, melhores ou piores no em
absoluto, mas sim em relao aos homens atuais, diz o texto. No se trata, pois, somente do
como, mas sim da relao entre representao da realidade e realidade representada. Correndo
o risco da redundncia, note-se outra vez que isso significa que a relao entre representao e
construo da intriga no esgota o sentido de mimesis.
2.3. Muthos
Para chegar ao sentido completo que Ricur d ao termo mimesis, portanto,
necessrio verificar sua compreenso de muthos. Ao propor a traduo de muthos como articulao
de fatos ele destaca, em primeiro lugar, um modelo de concordncia. Como mostrar mais
adiante, a estrutura narrativa se situa entre uma concordncia de base e uma discordncia que lhe
91
No estamos distantes, aqui, das observaes de Antonio Candido, atento de modo justo s relaes entre o
interior e o exterior do texto. Ao se referir s posies de Auerbach e de Carpaux, por exemplo, ele diz que tal
mtodo [sinttico], cujo aperfeioamento ser de certo uma das tarefas dessa segunda metade do sculo, no campo
dos estudos literrios, permitir levar o ponto de vista sinttico intimidade da interpretao, desfazendo a dicotomia
tradicional entre fatores externos e internos, que ainda serve atualmente para suprir a carncia de critrios adequados.
In: CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8. ed. So Paulo: T.A. Queiroz editor, 2002. p. 14-15.
49
ameaa sempre, garantindo tanto a sua dinamicidade quanto a presena da emoo num sistema
dotado de inteligibilidade complexa
92
. A concordncia aparece de modo mais claro nas trs
caractersticas ou exigncias da intriga trgica: completude, totalidade e extenso apropriada
93
.
Sem comentar a completude (ao que chega at o seu final), a noo de todo
(holos) a dominante. Segundo Aristteles, inteiro [todo] o que tem um comeo, um meio e
um fim
94
. Como nota Ricur, somente no contexto de uma composio potica um dado
acontecimento pode funcionar como comeo, meio ou fim. Ou seja, os acontecimentos no so
uma mera sucesso de eventos. Alm do um-depois-do-outro, exige-se que sejam um-por-
causa-do-outro. Ricur observa que se a sucesso pode ser assim subordinada a uma conexo
lgica, porque as idias de comeo, de meio e de fim no so tiradas da experincia, no so
traos da ao efetiva, mas efeitos da organizao do poema
95
.
O mesmo vale para a durao: s a construo potica pode delimitar um contorno,
um tempo fechado. A extenso definida pelo tempo necessrio ao acontecimento relevante para
a intriga, como afirma Aristteles no final do captulo VII da Potica: a durao [extenso] deve
permitir aos fatos suceder-se, dentro da verossimilhana ou da necessidade, passando do
infortnio ventura, ou da ventura ao infortnio: esse o limite de extenso conveniente
96
.
2.3.1 Um modelo de concordncia
92
Embora no se costume pensar a fico como uma forma de inteligncia, a construo da narrativa possui um grau
insuspeitado de inteligibilidade. No s em sua construo (reunindo fatores to diversos como causa, autor, agente,
finalidade, circunstncias, etc), mas em sua propositura de um modelo de realidade alternativo, que Ricur chamar
de mundo do texto.
93
Ricur se refere ao captulo VII da Potica, quando define: a tragdia a imitao duma ao acabada e inteira, de
alguma extenso (ARISTTELES, HORCIO, LONGINO. A potica clssica. 12. ed. [Traduo de Jaime Bruna]. So
Paulo: Cultrix, 2005. p. 26).
94
Ibidem, p. 26, captulo VII.
95
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 81. 3 volumes. (Poche, 227).
96
ARISTTELES, HORCIO, LONGINO, idem, p. 27.
50
H uma espcie de lao lgico, de inteligibilidade, que assegura a tessitura da intriga.
Sua constituio, embora feita no tempo (sucesso de eventos ordenados no tempo), no se
sustenta somente por causa do tempo. Ricur pergunta-se, portanto, qual o tipo de lgica
atuante na narrativa, concluindo que trata-se de uma inteligibilidade apropriada ao campo da
prxis, e no da theoria, vizinha, portanto, da phronesis, que a inteligncia da ao, comumente
traduzida por sabedoria prtica. A poesia, com efeito, um fazer, e um fazer sobre um fazer. E
acrescenta: Contudo, no um fazer efetivo, tico, mas precisamente inventado, potico
97
.
Ricur volta com isso preocupao com a forma de inteligibilidade prpria da
narrativa, preocupando-se em demonstrar que se trata efetivamente de conhecimento, de
inteleco. Segundo ele, o prazer da imitao est precisamente no prazer de aprender:
contemplando a representao eu aprendo a reconhecer certas formas da ao que eu no
conheceria de outro modo. A essas estruturas, Ricur dar o nome de universais poticos,
distintos dos universais dos filsofos e acessveis ao homem comum pela via do gosto, do
prazer. Esta capacidade est ligada faculdade da imaginao produtiva, que nos permite
justamente compor variaes para o agir, numa espcie de laboratrio da ao humana.
98
2.3.2 Um aparte tico
97
RICUR, Paul, op. cit., p. 82 83.
98
este reino da ficcionalidade que permite ao leitor a anlise do agir em forma quase-tica, ou seja, a considerao
de uma ao humana representada, no real, que se elogia ou se condena num juzo valorativo que se aproxima do
campo tico, sem ser exatamente de natureza tica. Este aspecto nos ajudar a compreender mais tarde o
funcionamento da mimesis III, quando o horizonte do leitor e o horizonte do texto se encontram.
51
Sem enveredar pelos meandros da demonstrao de Ricur, que nos levaria para
fora do nosso eixo de pesquisa, importante determo-nos um instante sobre a relao entre
potica e tica nesse modelo proposto pelo filsofo. Sem abandonar a considerao da literatura
pela sua literalidade, por sua carga ficcional, a considerao da construo mtica (no sentido
aristotlico) como produtora de universais poticos parece nos fornecer uma sada oportuna para
o interdito que fecha as portas do texto realidade. a partir dele que Ricur poder fundar sua
teoria do mundo que se abre diante do texto, a volta da literatura ao mundo re-significado. Isso
no implica, como no o faz Ricur, o abandono da pesquisa estrutural. A anlise estrutural do
texto nos permite compreender, mais profundamente que Aristteles pde faz-lo, o como da
representao. Mas se importante o estudo da estrutura interna ao texto, perder a perspectiva
universal do conhecimento implicado pela literatura seria um erro igualmente grosseiro.
Como j se disse acima, porm, no se trata dos universais dos filsofos, ou seja,
dos universais abstratos, ao modo das idias platnicas. So universais prximos da sabedoria
prtica (phronesis), aos quais pertencem a tica e a poltica. Prximos, no idnticos. A distino
essencial, pois precisamente com a exigncia de funcionamento da literatura segundo certas
normas ticas ou polticas que se vacinaram muitos estudiosos contra uma abordagem que
inclusse o parmetro tico na anlise literria. Se de um lado h parentesco entre os domnios
tico e potico, h por isso mesmo semelhana e diferena. semelhana da ao humana tica, a
ao representada motivada, situada no tempo e no espao, relevante e, em algum grau,
responsvel. A ao construda pela intriga possui, como na ao tica, seu grau de
universalizao em funo do liame interno ao, no em funo dos acidentes exteriores (que
podem interferir, s vezes de modo determinante). Algumas diferenas, porm, so
extremamente relevantes. Por exemplo, na Potica Aristteles subordina os personagens ao,
eles so definidos pelo que fazem e no o contrrio. Na vida real, a busca dos valores que
52
formar o carter de uma pessoa, carter este que se manifestar no seu agir. Ou seja, o
personagem no livre, embora seja descrito como sendo.
De todo modo, somos levados a julgar, seja na vida ou na fico. Mas nesta ltima se
trata de um julgamento sui generis, que correlato de uma das funes primordiais da literatura e
que s tem a perder com a defesa de uma pretensa neutralidade tica ou poltica da literatura. Ao
abrir um campo essencial para a experimentao da ao, a literatura oferece o espao para o jogo
da identidade que pode nos levar aos limites do agir humano para o melhor e para o pior sem
as conseqncias reais que certas atitudes acarretariam. Permitimo-nos excessos, portanto, mas
reconhecendo justamente, de modo mais ou menos consciente, os pontos de equilbrio,
aceitao, exagero de certas atitudes. Em todos os casos, porm, ns julgamos os personagens e
suas histrias como companheiros de humanidade igualmente falveis, no como ministros da
lei
99
. Em outros termos, reduzir o julgamento literrio metfora do julgamento jurdico seria
reduzir o alcance da narratividade.
100
Uma nota do texto de Ricur assinala esse lao entre tica e potica e o sustenta de
modo ainda mais explcito e enftico. Nessa nota, Ricur comenta a posio de Redfield em sua
obra sobre a Ilada:
J. Redfield insiste com fora sobre este liame entre tica e potica; este lao
assegurado de modo visvel pelos termos, comuns s duas disciplinas, de prxis, ao,
e de ethos, carter. Ele diz respeito, mais profundamente, realizao da felicidade. A
tica, com efeito, no trata da felicidade seno de forma potencial: ela considera suas
condies, a saber, as virtudes; mas a relao entre as virtudes e as circunstncias da
felicidade permanece aleatria. Construindo suas intrigas, o poeta d uma
inteligibilidade a esta relao contingente. Donde o paradoxo aparente: Fiction is about
unreal happiness and unhappiness, but these in their actuality (Nature and Culture in the Iliad. The
tragedy of Hector. The University of Chicago Press, 1975. P. 63). a este preo que narrar
ensina sobre a felicidade e a vida, nomeada na definio da tragdia: representao
no de homens, mas de ao, de vida e de felicidade (a infelicidade est tambm na
99
RICUR, Paul, op. cit., p. 92, nota 1.
100
Ricur toca esse problema ao estudar o problema da ascripo da ao, que ele distingue da imputao de uma
ao a um autor justamente para no reduzir o problema ao paralelo jurdico da condenao ou da absolvio. (Cf.
RICUR, Paul. Soi-mme comme un autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. p. 122- 124(Poche, 330).). Ele observar, ainda,
que nem todo agir humano eticamente motivado. No plano literrio, isto significa que o agir representado no
implica sempre um julgamento de valor da ao, mas sempre um julgamento do valor da representao da ao no
qual a discusso da qualidade da ao aparece como um elemento, muitas vezes o principal.
53
ao).
101
Considerando a Farsa da boa preguia, podemos dizer que alm da relao que existe
entre a forma da pea e seu contedo de natureza tica, h outra relao mais profunda entre a
literalidade da obra e sua construo de uma representao do agir humano. Nessa relao se
evidencia a liberdade da literatura em inventar um agir para o homem, oferecendo esta ao
representada contemplao do leitor. No entanto, esta relao que consideramos mais profunda
por tocar o princpio mesmo da literatura, est diretamente relacionada com a dialtica forma-
contedo, uma vez que no se pode aceder ao interior da representao sem considerar a forma.
E no se pode escapar tampouco ao processo mimtico, pois a atualizao desta qualidade da
literatura em propor um mundo reside precisamente na terceira e ltima etapa da mimesis
considerada como processo.
2.3.3 Concordncia discordante
Voltando teoria da construo narrativa, Ricur observa em seu comentrio a
Aristteles que o modelo trgico no feito apenas de concordncia. Se, por um lado, sobre a
concordncia que a narrativa sustenta um conjunto de episdios articulados de alguma forma, por
outro lado essa articulao no teria dinamismo sem algum grau de discordncia. A ao trgica
completa, de fato, consiste numa passagem (entre felicidade e infelicidade), manifestao do vazio
entre os episdios que levam a ao ao seu termo. A intriga uma articulao bem ou mal
101
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 95, nota 1. 3 volumes. (Poche, 227). Sendo o
estudo de Ricur centrado sobre o problema do tempo, natural que esse e outros comentrios preciosos sobre a
ao estejam em nota. Sua relevncia para este estudo justifica a inverso: tem seu lugar assegurado no texto
principal, aqui.
54
sucedida de episdios selecionados, sem, contudo, evitar que a surpresa (o que contra toda
expectativa) se instaure. Com efeito, nada mais discordante do que a ao transformadora
(metbole), que chega a levar ao extremo a ameaa que a discordncia pode representar para a
intriga. So os casos tpicos da reviravolta (peripetia) e do reconhecimento (anagnrisis), aos quais
se liga o pathos.
Nota ainda Ricur que atravs da relao dialtica entre concordncia e
discordncia que a narratividade abre espao para a articulao entre inteleco e emoo:
incluindo o discordante no concordante que a intriga inclui o emotivo no inteligvel
102
.
No nos atardaremos mais sobre a interpretao da noo de muthos proposta pelo
filsofo francs. O que j foi dito, especialmente sobre a sua compreenso como poiesis e sua
estrutura dialtica dinmica, basta para avanarmos em direo ao outro conceito ao qual a
construo da intriga (muthos) est essencialmente ligada: a noo de mimesis.
2.4. Mimesis
A originalidade da leitura que Ricur faz da Potica no est em ruptura com muito
do que a tradio aristotlica estabeleceu a respeito do conceito de imitao ou representao em
literatura e na tragdia em particular. Ele inova ao propor uma viso mais ampla e abrangente
da noo de mimesis, distinguindo j que se trata de processo, no de algo esttico uma etapa
anterior e outra posterior quilo que convencionamos ver como a mimesis propriamente dita. Para
tanto, Ricur buscar os fundamentos na Potica que permitam uma tal leitura.
102
Ibidem, p. 90.
55
Em sua proposio, Ricur deixa claro que a noo de mimesis a que se refere
Aristteles bem aquela que ele situa no corao do processo e que ele chamar de mimesis II, a
mmesis-criao, representao da ao propriamente dita. Ele no a destitui de seu carter
essencial para a teoria potica. Ao contrrio, valorizar seu aspecto central de mediao. Este passa
a ser um termo-chave, uma vez que esta etapa do processo mimtico se situa entre uma primeira
forma de mimesis contida na prpria ao a ser representada (mimesis I) e uma outra forma de
mimesis que produzida no e pelo leitor/espectador (mimesis III).
Baseado nessa sua viso mais ampla da representao ou imitao como processo,
Ricur insistir em que a relao muthos e mimesis no satura a compreenso desse ltimo termo.
Recorde-se o que j foi dito sobre o correlato noemtico da representao: a mimesis , antes de
mais nada, representao da ao humana (prxis) por meio da intriga.
Ricur destaca os perigos da traduo para uma boa compreenso do termo. por
esta razo que prope imitao criadora, se a opo da traduo for pelo termo imitao. Se
a preferncia recair sobre o termo representao, Ricur lembra que no se trata de uma
duplicao do real, mas sim da ruptura que abre o espao da fico. O arteso das palavras,
como diz o filsofo, inventa um como se
103
.
Fundando sua compreenso de mimesis I, Ricur buscar os traos de uma pr-
compreenso da ao (e das paixes) presentes na Potica. Nota ele que, embora no haja um
tratamento direto do tema das virtudes ou das paixes, como na Retrica, vrios elementos (que a
tica articula) deixam-se perceber. o caso, por exemplo, da configurao da ao trgica que
supe o infortnio de um homem de valor, contra toda expectativa. Nesse sentido, a ao trgica
um contraponto tica, que ensina como a ao, pelo exerccio das virtudes, conduz
felicidade
104
.
103
Ibidem, p. 93
104
Ibidem, p. 94.
56
Outro vestgio tico prprio arte dramtica em geral que os personagens so, por
definio do gnero, agentes. Ricur lembrar, ainda, que esses agentes so, essencialmente, de
tipo nobre ou baixo. Mas nota que o texto aristotlico define a nobreza ou a baixeza do
personagem em referncia a ns
105
. Esta referncia coletiva outra marca importante da mimesis
I na Potica: a referncia o homem real, cuja ao se rege segundo os parmetros da tica.
diferena desta, porm, a potica tem a virtude de torn-los melhores ou piores pela ao
dramtica, mas sempre respeitando a regra da verossimilhana que vincula a tessitura da intriga s
regras desse tipo de pr-saber intrnseco ao agir humano.
Em seu comentrio Potica, Ricur no se concentra no comentrio da mimesis II.
Ele enfatiza somente sua funo de mediao, de liame, que garante o deslocamento mimtico,
a transposio quase metafrica da tica potica
106
. E explicando novamente o estatuto e a
funo mediadora da mimesis, Ricur dir que
a pertena do termo prxis simultaneamente ao domnio real, pelo qual responde a tica,
e ao domnio imaginrio, assumido pela potica, sugere que a mimesis no tem somente
uma funo de ruptura [entre real e imaginrio], mas de ligao, que estabelece
precisamente o estatuto de transposio metafrica do campo prtico pelo muthos.
107
Seu comentrio segue, ento, em direo parte mais polmica de seu modelo: a
mimesis III. Certamente esta ltima a forma mais discutvel de mimesis, ao menos nas
circunstncias atuais dos estudos literrios (e mais ainda poca da publicao do seu livro, na
dcada de 80). Por isso, Ricur se demorar em seu estudo na busca de alguns elementos
caractersticos dessa etapa presentes na Potica.
Desde o incio de sua reflexo, ele recorda o princpio dinmico que norteia sua
compreenso: a mimesis, que [...] uma atividade, a atividade mimtica, no encontra o termo
105
Como aqueles que imitam, imitam pessoas em ao, estas so necessariamente boas ou ms [...], isto , ou
melhores do que somos, ou piores. In: ARISTTELES, HORCIO, LONGINO, op. cit., p. 20 (grifos nossos).
106
RICUR, Paul, op. cit., p. 96.
107
Ibidem, p. 93.
57
visado pelo seu dinamismo somente no texto potico, mas tambm no espectador ou no leitor.
Existe, assim, um depois da composio potica que eu chamo mimesis III
108
.
Ricur encontrar mais traos dessa ltima etapa da mimesis explorando ainda mais a
fundo a relao entre tica e potica. As noes que ele destaca em primeiro lugar so, assim, as
de verossimilhana e de persuaso. A ligao dos dois conceitos interessante. Ricur baseia-se
na passagem da Potica sobre a escolha pelo poeta trgico de nomes de pessoas cuja existncia
histrica atestada (cap. IX). Este recurso tradio, segundo ele, se justifica porque o
verossimilhante trao objetivo deve ser, ademais, persuasivo (pithanon) trao subjetivo
109
. Por
esta ponte, a tessitura da intriga se liga ao seu destinatrio.
Mas sobre outra noo que Ricur articular sua demonstrao: a noo de prazer,
indicador da completude do processo mimtico inaugurado pela obra e que Aristteles chama
de seu ergon, seu efeito prprio
110
. Por essa via, impe-se uma articulao essencial, j
mencionada acima, entre a finalidade interna da composio e a finalidade externa da
recepo
111
.
Esta mesma dialtica entre interno e externo aparece relacionada funo catrtica e
emoo provocada pelo texto. Como j mencionamos, esta funo devedora de outra forma
de dialtica, esta interna ao texto, entre continuidade (relao de necessidade entre os episdios
que compem a intriga) e descontinuidade (as surpresas e reviravoltas que levam ao limite a
verossimilhana e o desfecho). Mas ela aponta para fora do texto, sendo preparada por ele.
108
Ibidem, p. 94.
109
Ibidem, p. 97.
110
Ibidem, p. 98.
111
Ibidem, p. 99. Notamos aqui outro paralelo entre os pensamentos de Ricur e de Antonio Candido, na medida em
que este, ao comentar a relao autor-obra-pblico, afirma que se a obra mediadora entre o autor e o pblico, este
mediador entre o autor e a obra, na medida em que o autor s adquire plena conscincia da obra quando ela lhe
mostrada atravs da reao de terceiros. (In: CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8. ed. So Paulo: T.A. Queiroz
editor, 2002. p. 75-76). Embora Candido no argumente com base no prazer suscitado pela obra, reflete sobre o
mesmo tema da relao entre a realidade da obra em si que s se realiza plenamente quando restituda ao termo do
seu processo, a recepo. Sob outro prisma, o mesmo problema abordado por Candido ao distinguir as trs
funes (total, social e ideolgica) da literatura oral e escrita, chegando a afirmar que s a considerao simultnea
das trs funes permite compreender de maneira equilibrada a obra literria, seja a dos povos civilizados, seja
sobretudo, a dos povos iletrados. In: Ibidem, p. 47.
58
com base nisso que Ricur sugere a expresso espectador implicado
112
, parafraseando
Wolfgang Iser e sua noo de leitor implicado. Mas a catharsis, embora tendo sua sede no
receptor
113
, parte do processo de metaforizao da prpria obra que articula cognio,
imaginao e sentimento. com a catharsis, portanto, que a dialtica interno-externo atinge seu
ponto culminante.
O desenvolvimento pleno da noo de mimesis III, no entanto, s acontecer
plenamente ultrapassando as aluses ao prazer (de aprender e de experimentar a catharsis), passo
que Aristteles no dar por se ater a uma teoria da composio potica, no da mimesis em seu
todo. Ricur o far mais adiante, como o veremos, na medida em que considera o mundo que
a obra descortina diante do leitor. A ltima etapa do processo mimtico, desta forma, colocar o
problema em termos da relao entre poesia e cultura.
3. A trplice mimesis
Aps propor essa releitura de Aristteles, Ricur apresenta sua prpria compreenso
do problema da representao da ao humana. Antes de desenvolver sua teoria da mimesis, que,
considerada como processo, comporta trs momentos, Ricur tem a prudncia de retomar certos
pontos fundamentais sobre a fase que ele denomina configurao ou mimesis II e que
constitui o centro do percurso mimtico:
Eu considero como adquirido que a mimesis II constitui o piv da anlise. Por sua
funo de ruptura, ela abre o mundo da composio potica e instaura, como j tive
ocasio de sugerir, a literalidade da obra literria. Mas minha tese que o sentido
mesmo da operao de configurao constitutiva da construo da intriga resulta de sua
posio intermediria entre as duas operaes que eu chamo mimesis I e mimesis III e que
112
Ibidem, p. 101.
113
Ibidem, p. 101-102.
59
constituem o antes e o depois da mimesis II. Assim fazendo, eu me proponho a mostrar
que a mimesis II tira sua inteligibilidade de sua faculdade de mediao, que de conduzir
do antes ao depois do texto, de transfigurar o antes no depois pelo seu poder de
configurao.
114
Essa ressalva nos alerta para o fato de que na exposio que segue, embora partindo
do primeiro momento do processo (ou pr-figurao), o centro de inteligncia do processo
permanece no interior da obra, no plo da mimesis II. Vale lembrar, porm, que se a unidade do
processo mimtico est entranhada na obra, deixando nela suas marcas, o leitor quem o
operador da unidade desse percurso, pelo seu fazer, a parte de poiesis que lhe cabe: o ato de ler.
Outro parntesis importante consiste num esclarecimento. Este diz respeito a um
pressuposto central da argumentao de Ricur. No pensamento do filsofo sobre a literatura, a
noo de texto ponto de partida. Para ele, texto todo discurso fixado pela escritura.
115
A
conseqncia que o filsofo tira dessa afirmao mnima que a distino entre discurso e
escritura, sem contestar a precedncia psicolgica e sociolgica da palavra dita em relao
palavra escrita, garante um estatuto novo para o texto, paralelo palavra oral. O texto no mais
uma palavra escrita provocada por uma palavra dita, mas um ato diferente daquele do dilogo.
Uma analogia entre o ato da leitura e o dilogo, portanto, seria errnea. Mais claramente ainda, o
ato de escrever e o ato de ler no se comunicam diretamente, pois o leitor est relativamente
ausente composio e o escritor relativamente
116
ausente leitura, ao passo que a palavra dita
supe a presena. O texto , enfim, como que emancipado em relao fala, no sendo ele um
certo modo de substitutivo presena dialogal, mas sim criador de novas regras para a
comunicao.
O texto, no entanto, assim como o dilogo, tem uma funo referencial. No dilogo,
114
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 106. 3 volumes. (Poche, 227).
115
RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 154. (Poche, 377).
116
A ponderao que este termo indica refere-se dialtica entre leitor e autor presumido, que comentaremos na
concluso do nosso trabalho. (Cf. p. 201).
60
dirigindo a palavra a outro locutor, o sujeito do discurso diz algo sobre alguma coisa
117
. De
forma semelhante, o texto comunica ao leitor um mundo que guardado pela escritura. Mas,
se no dilogo a referncia imediatamente percebida pelos falantes, somente a leitura poder
atualizar a referncia latente no texto. Descrevendo o mundo de forma estvel, capaz de
transmisso independente do seu autor, o texto altera a relao entre linguagem e mundo. As
palavras no se apagam mais diante das coisas, no so transparentes realidade, mas criam umas
quase-coisas, uma realidade alternativa realidade sensvel, porm acessvel ao esprito
humano. Este mundo explica Ricur, ns podemos cham-lo de imaginrio, no sentido de
que ele presentificado pela escritura, no lugar mesmo em que o mundo era apresentado pela palavra;
mas este imaginrio ele mesmo uma criao da literatura, um imaginrio literrio
118
.
Podemos perceber, desde j, como a compreenso do processo mimtico proposta
por Ricur ser dependente de sua concepo da relao entre linguagem e mundo. Em
conseqncia, as relaes complexas que o texto estabelece com a realidade ou as realidades
literrias que o texto cria devem tambm ser levadas em considerao no estudo de um texto.
Ou seja, o processo interpretativo (compreenso-explicao-compreenso), segundo ele, mais
abrangente que o momento relativamente neutro da explicao estrutural, embora a inclua
necessariamente como uma etapa de aprofundamento da anlise
119
.
Mas essas ressalvas e esclarecimentos s tero pleno sentido numa viso das trs
etapas do processo mimtico. o que faremos a seguir, antes de identificar estas etapas na Farsa
da boa preguia no captulo seguinte.
117
RICUR, Paul, op. cit., p. 156.
118
Ibidem, p. 158.
119
A este momento da anlise, Ricur reserva um captulo da terceira parte de Tempo e narrativa, ao lado dos
momentos de alargamento (da noo de construo da intriga para todo campo narrativo), do enriquecimento (das
noes de construo da intriga e de tempo narrativo, ao analisar as propriedades particulares da enunciao da ao,
no domnio narrativo) e de abertura sobre o fora do texto (na fronteira com a mimesis III). Cf. RICUR, Paul. Temps et
rcit. Vol. 2. 1. ed. 1984. Paris: Seuil, 1991. p. 59-114. 3 volumes. (Poche, 228).
61
3.1. Mimesis I pr-figurao
A tese fundamental de Ricur, nessa primeira etapa da mimesis, consiste em que a
composio da intriga est enraizada numa pr-compreenso do mundo da ao: de suas
estruturas inteligveis, de suas reservas simblicas e de seu carter temporal
120
. Deixando na
sombra o elemento temporal, central na obra do filsofo e secundrio para nossa pesquisa, ater-
nos-emos aos dois primeiros elementos constitutivos dessa pr-compreenso que caracteriza a
primeira etapa do processo mimtico.
A construo da intriga, observa Ricur no incio de sua argumentao, exige do
autor uma competncia especfica para manejar a rede conceitual prpria do domnio da ao que
inclui conceitos como os de finalidade, motivo, agente, circunstncia, interao e possibilidade
121
.
Uma certa maestria do nvel conceitual da ao ativada no processo de representao da ao,
ao que o filsofo denomina de compreenso prtica
122
, e esta entretm com a compreenso narrativa
uma relao de pressuposio. Em outros termos, no h composio (nem anlise estrutural da
narrativa) que no recorra a uma certa fenomenologia da ao. Mas, por outro lado, a
compreenso prtica e a compreenso narrativa estabelecem simultaneamente uma relao de
transformao: a narrativa acrescenta traos discursivos descrio da ao que a diferencia das
simples frases de ao. Ou seja, alm do pr-conhecimento da ao, o incio do processo
mimtico requer familiaridade com as regras da composio.
120
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 108. 3 volumes. (Poche, 227).
121
Podemos ressalvar que, no domnio do teatro, essa competncia ainda mais solicitada. Com efeito, parte
outros elementos estilsticos que enriquecem cada vez mais o teatro em seu desenvolvimento moderno, o que
caracteriza o gnero dramtico exatamente que a ao imitada diretamente, sem recurso ao narrador. As falhas na
verossimilhana (compreendida como coerncia interna das convenes da representao), por exemplo, so sentidas
muito mais cruamente neste campo do que em outros gneros literrios.
122
RICUR, Paul, op. cit., p. 110.
62
O segundo ponto da apresentao dessa etapa da mimesis se refere ao segundo trao
de inteligibilidade prprio construo da intriga e consiste no emprego de recursos simblicos
do campo prtico para a operao potica. essa forma de inteligibilidade que determinar quais
aspectos do fazer, do poder fazer, do saber fazer, so adequados transposio potica. Mas o
pressuposto essencial dessa constatao que a ao humana sempre simbolicamente
mediatizada; e que a articulao signicante (simbolizao) da ao pblica e no interior ao
esprito. Sendo esta mediao estruturada e disponvel ao domnio comum como um sistema
simblico, ela oferece um contexto de descrio das aes que garante a comunicao entre o
autor e o pblico
123
.
De fato, a mediao simblica da cultura tem um aspecto normativo na medida em que
no h comportamento que escape ao cdigo de uma determinada sociedade, cdigo este que
garante o sentido e o entendimento de determinadas atitudes. Aprende-se inevitavelmente a agir
de modo humano num certo tempo histrico e num certo lugar geogrfico onde uma sociedade
especfica estabeleceu a sua cultura. Isso justifica a atribuio de valores s aes de modo
inevitvel, e de modo diverso segundo o tempo e o lugar
124
. Tal circunstncia se manifesta
tambm na obra literria, herdeira de uma cultura especfica. Inevitavelmente somos levados a
conversar com os personagens que se movimentam diante de ns, julgando suas aes. O fundo
simblico da cultura a fonte na qual bebemos, em geral buscando parmetros comparativos
para que um tal juzo avaliativo possa ter lugar. Note-se, porm, que a qualidade de uma obra
avaliada no pela qualidade moral ou pelos valores de seus personagens, mas, sobretudo, pela
123
a um problema anlogo que se refere Antonio Candido, ao tratar da relao entre escritor e pblico. Falando da
criao literria, ele alerta para a tendncia a considerar a obra unicamente como fruto de fatores internos. Ao
contrrio, observa ele, alguns elementos externos influenciam na criao, ainda que seja de modo secundrio.
Candido chega a afirmar que nas sociedades civilizadas a criao eminentemente relao entre grupos criadores e
grupos receptores de vrios tipos. (In: CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 8. ed. So Paulo: T.A. Queiroz
editor, 2002. p. 73-74). Esta relao justamente esse sistema simblico partilhado, de forma mais ou menos ampla,
entre o autor e os mltiplos pblicos receptores possveis.
124
Deixamos de lado, aqui, o tema dos valores sem tocar no problema sempre atual e difcil dos valores universais.
Numa abordagem pelo vis da cultura, porm, seria necessrio considerar a articulao dialtica do universal e do
particular que explica a diversidade das culturas especficas e a universalidade de certos valores comuns.
63
qualidade e pelo grau de complexidade da mimesis que ela constri e oferece ao nosso
julgamento
125
.
Em sntese, para Ricur, imitar ou representar a ao , antes de mais nada, pr-
compreender aquilo que constitui o agir humano: sua semntica, sua simblica, sua
temporalidade
126
.
3.2. Mimesis II - configurao
Com a mimesis II, Ricur ingressa propriamente no reino do como se, ou da
fico, que ele define como a configurao da narrativa da qual a construo da intriga o
paradigma.
127
A palavra construo denota mais uma vez o aspecto dinmico da representao,
mas note-se agora que se trata de uma dinmica de integrao. A funo de mediao da mimesis
II deriva do carter dinmico da operao de configurao prpria dessa etapa do processo.
esta posio de mediao o trao mais especfico desse momento do processo, centro do mesmo.
Como observa o filsofo, mimesis II s possui uma posio intermediria porque ela tem uma
funo de mediao
128
.
De fato, a intriga mediadora pelo menos em trs sentidos: 1) ela faz a mediao
entre os acontecimentos isolados da narrativa e a histria como um todo; 2) ela articula um
conjunto a partir de fatores diversos (agentes, finalidades, circunstncias, resultados inesperados,
125
O tema do julgamento, que abordaremos em diversas outras ocasies, em particular no captulo V, parece-nos de
fundamental importncia. No entanto, mais importante do que julgar ou condenar uma obra o que produz efeitos
prticos inteis ou, no mais das vezes, nefastos , julgar com a obra que interessa. Ou seja, conversar, discutir,
brigar, elogiar ou repreender as aes e os personagens que determinada obra inventa em seu mundo.
126
RICUR, Paul, op. cit., p. 125.
127
Cf. Ibidem, p. 126.
128
Ibidem, p. 127. Note-se, porm, que essa funo mediadora no de importncia secundria. Ao contrrio, sua
posio central justifica-se tambm por seu poder criador: a mimesis II que cria a nova realidade do mundo do texto.
64
etc.); 3) a mmesis II organiza as trs hipstases do tempo
129
, fazendo uma sntese do
heterogneo.
Do ponto de vista da organizao do tempo, existem duas dimenses presentes na
construo da mimesis II: uma episdica (histria feita de acontecimentos) e outra configurante (as
aes so tomadas em conjunto e formam uma histria). Por esta razo, compreender uma
histria compreender como e porque os episdios sucessivos conduziram a esta concluso.
Esta articulao do episdico e do configurante ultrapassa, porm, o problema
temporal, pois uma soluo dialtica do paradoxo distenso-inteno, ou seja, da oposio entre
a ateno ao presente e a ateno ao fluir dos acontecimentos. Soluo potica, claro, como
observa o filsofo, mas prxima do ato de julgar (no sentido kantiano) na medida em que a
operao de construo da intriga fruto de uma inteligibilidade constituda pela imaginao
produtora e organizadora do aparente caos da realidade.
130
Pode-se falar, portanto, de um
esquematismo, funo narrativa.
Mas a histria da manifestao desse esquematismo em ao na literatura mundial
revela outra caracterstica do ato configurante que constitui a mimesis II: a tradicionalidade. Ou seja,
falar de esquematismo no significa enrijecer a teoria da composio literria. Ao contrrio, a
tradicionalidade a transmisso viva de uma inovao suscetvel de ser reativada.
Ricur nota que a tradio se situa entre inovao e sedimentao.
131
Mas, uma vez
que a intriga uma construo que busca a concordncia no meio da discordncia, a
sedimentao o paradigma desse processo. Essa sedimentao se manifesta em trs aspectos
129
Essa noo devida a Santo Agostinho, retomada no incio da argumentao de Ricur. Para o telogo, o tempo
formado de trs formas de presente hipostasiadas: um presente do passado, um presente do presente e um presente
do futuro. Sua concepo est contida no captulo XI das Confisses.
130
Numa veia ainda kantiana, no deveramos hesitar em aproximarmos a produo do ato configurante do
trabalho da imaginao produtora. Por imaginao produtora deve-se entender uma faculdade no psicologizante,
mas transcendental. A imaginao produtora no somente no sem regras, como constitui a matriz geral das
regras. In: Ibidem, p. 132.
131
Tais noes encontram outro paralelo no pensamento de Antonio Candido, quando este fala em arte de agregao
(que insiste mais na continuidade de um sistema simblico de certa poca em certa sociedade) e arte de segregao
(apontando mais para a ruptura e para a inovao. Cf. CANDIDO, Antonio, op. cit., p. 23).
65
literrios: a) forma (grau de concordncia discordante); b) gnero literrio (trgico, pico, etc); c)
obras singulares (tipo). A inovao sempre possvel e so as obras singulares que a produzem.
esse o lugar do imprevisvel, sendo a inovao responsvel pelo movimento da tradio. Mas o
trabalho no exclui jamais as regras, e o processo de construo da mimesis II se situa
inevitavelmente entre inovao e sedimentao, numa imensa diversidade de referncias
tradio, da aplicao servil ao desvio calculado
132
.
3.3. Mimesis III - refigurao
Por sua prpria funo mediadora, como j se repetiu aqui tantas vezes, a mimesis II
pede um complemento. Ricur, finalmente, sustenta que a narrativa s atinge sua completude de
sentido quando restituda ao tempo do agir e do sofrer humanos. a mimesis III, que marca a
interseo entre o mundo configurado pelo poema (mundo do texto) e o mundo no qual a ao
se desenvolve (mundo da ao). A demonstrao de Ricur segue quatro etapas: a) A progresso
entre mimesis I, II e III; b) O ato de leitura e a configurao; c) O problema da referncia; d) Uma
fenomenologia do tempo.
3.3.1 Progresso entre mimesis I, II e III
132
Ricur observa que a inovao pode se referir a todos os nveis: forma, gnero e tipo. Caso segussemos a linha
dessas inovaes, teramos uma histria da tradio narrativa, com suas constantes e rupturas. Mas tal distino
uma preciosa indicao de mtodo para a considerao da permanncia e da ruptura de certas tradies numa obra
singular. Transpondo a lei de Lavoisier, pode-se dizer que nada se perde na selva da literatura, tudo se transforma.
Pode-se buscar, ento, aquilo que permanece por mais que haja transformao. Ou, inversamente, buscar o que h de
inovao por mais que se esteja apegado a uma tradio.
66
O processo de representao da ao, para Ricur, constitui certamente um crculo
que vai da ao humana e volta a ela, passando por uma forma literria de representao da
mesma. Mas esta forma circular no viciosa, fechada. uma forma espiral, dinmica, que
escapa violncia e redundncia duas grandes acusaes feitas teoria da trplice mimesis.
A acusao de violncia consiste em dizer que esse modelo de configurao da intriga
impe a consonncia dissonncia, alimentando a iluso de sentido do agir. De certo modo, esta
violncia feita multiplicidade do real revela o carter de concordncia-discordante da relao
narrativa-tempo. Mas a dialtica posta em movimento no simples discordncia e no um
triunfo da ordem. o crculo inevitvel (no vicioso) da concordncia.
J a acusao de redundncia diz que a mimesis I um simples efeito de sentido da
mimesis III. O argumento que, se toda ao humana j simbolicamente mediatizada, seria
redundante para a compreenso da ao o recurso narratividade. Mas esta busca da
narratividade no uma projeo. Ela o fruto de uma estrutura pr-narrativa da experincia que
demanda explicitao. A ao humana pede, precisa ser contada para ganhar sentido.
Ricur se defende recorrendo situao da ao ainda no narrada,
133
apontando
duas situaes exemplares: a psicanlise e a investigao policial. O importante em ambas as
situaes que a histria da ao possa emergir e ser contada. E, junto com a histria, emerge
o sujeito, pois o homem, como diz belamente o filsofo, um ser incrustado nas histrias.
134
133
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 142. 3 volumes. (Poche, 227).
134
Ibidem, p. 143. Este assunto toca novamente o tema da identidade narrativa, explicitamente o problema da ascrio
da ao a que j aludimos. Ao contar a ao, trs questes se articulam inevitavelmente: Ns nos encontramos
muitas vezes face exigncia de realizar esta unio [da ao e do agente]; ela resulta em ltima instncia da
necessidade mesma de conjugar o quem? ao qu? e ao por qu? da ao, necessidade oriunda ela mesma da estrutura de
intersignificao da rede conceitual da ao. [RICUR, Paul. Soi-mme comme un autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. p.
133(Poche, 330)]. O termo ascrio, novo no vernculo, de origem inglesa (to ascribe, quer dizer atribuir ou
creditar algo a algum. Nos domnios da tica e da biotica tem sido usado para designar "atribuio de certa
dignidade pessoal, outorgada criteriosamente, a seres que julgamos merecedores dela, pela proximidade que intumos
desfrutar conosco, apesar do fato de eles no satisfazerem os critrios da definio clssica da pessoa, sujeito
racional, livre, autnomo e responsvel" (LEPARGNEUR H. Biotica: novo conceito. So Paulo: Loyola, 1996 apud
67
Temos necessidade de contar a vida humana e ganhamos com o conhecimento das intrigas que
portam tantas vidas s quais no teramos acesso seno por elas.
3.3.2 O ato de leitura e a configurao
Outro momento da argumentao de Ricur a relao entre a configurao
operada pela construo da intriga e a refigurao realizada pelo ato de leitura. de fato para
serem lidas, assistidas, em todo caso conhecidas que as histrias foram criadas.
135
Quem opera a
transio entre as mimesis II e III, portanto, no outro seno o ato da leitura que d vida obra.
E se a configurao (mimesis II) uma forma aparentada ao julgamento na medida em que associa
e seleciona elementos diversos numa unidade coerente e explicativa, o mesmo vale para a leitura,
momento da refigurao (mimesis III) onde o processo mimtico levado a cabo.
Um exemplo da interseo entre o dentro e o fora da intriga pode ser observado
nesses dois traos da intriga destacados por Ricur: a esquematizao e a tradicionalidade, categorias
da interao entre a operatividade da escritura e a da leitura
136
. Presentes na construo da
intriga, ambas impem ao leitor tambm suas regras.
Quanto primeira categoria, o modo de organizao da obra num gnero ou tipo
particular predispe o leitor a um tipo de expectativa que sempre pode ser frustrada, o que no
revoga, mas confirma a regra. Por outro lado, a tradicionalidade diz respeito capacidade da
XAVIER, Elias Dias, A biotica e o conceito de pessoa. Disponvel em:
<http://www.portalmedico.org.br/revista/bio2v8/simpo2.pdf>. Acesso em: 31 out. 2006).
135
Reforce-se que tudo o que escrito, escrito para ser lido. Podemos nos perguntar, mesmo, se as narrativas
aparentemente privadas como os dirios, no so escritas com a pretenso implcita de torn-las pblicas. Mas ainda
que elas sejam rigorosamente privadas, sendo seu suporte material destrudo para que outros no possam conhec-
las, as histrias que algum escreveu em segredo foram fixadas para que pudessem ser acessadas novamente, pelo
prprio sujeito, depois de certa dilao temporal.
136
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 1. 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. p. 145. 3 volumes. (Poche, 227).
68
histria em se deixar seguir, atualizar pela leitura. Nesse aspecto, no faltam exemplos na
literatura contempornea para um alto grau de solicitao do leitor em vista da construo da
sntese proposta pela obra. Como lembra Ricur, citando Roman Ingarden e Wolfgang Iser, a
obra escrita um esboo para a leitura; o texto, com efeito, contm buracos, lacunas, zonas de
indeterminao, por exemplo, como o Ulisses de Joyce, que desafia a capacidade do leitor de
configurar ele mesmo a obra que o autor parece ter um perverso prazer em desfigurar. nesse
sentido que a leitura o ltimo vetor da refigurao do mundo da ao sob o signo da
intriga
137
.
3.3.3 O problema da referncia
Mais um argumento em favor de uma terceira etapa da mimesis apontando para o
fora da obra sempre como parte do processo, porm o problema da referncia na obra
literria. nesse momento que intervm a noo de mundo do texto, que j encontramos no incio
desta seo. Recorde-se, portanto, que Ricur argumenta que a escritura est para a leitura assim
como a comunicao est para a referncia. E enquanto ato de comunicao precisamente, a
escritura est implicada no problema da referncia, ainda quando esta no direta. Vejamos seu
raciocnio.
Sendo discurso, a linguagem orientada para alm dela mesma. Ela faz referncia a
algo fora de seu sistema mesmo quando no visa a algo do mundo real. Por exemplo, em seu uso
da linguagem, fases do tipo: isto uma cadeira no visam uma cadeira real como na linguagem
ordinria. Mas suas descries, ainda quando se apiam sobre uma referncia real, criam um
137
Ibidem, p. 145-146.
69
mundo de natureza imaginria, mas sempre acessvel ao esprito humano (como a Vila de
Tapero do Romance da pedra do reino, de Ariano Suassuna, ou a Macondo de Cem anos de solido, de
Garca Mrquez). Nesse sentido ela um evento, enquanto transmite uma experincia humana. Esta
experincia tem um mundo por horizonte (simultaneamente interno ao texto e externo a ele).
Tal afirmao tem uma primeira pressuposio, ontolgica: a linguagem no um
mundo fechado em si mesmo. o nosso ser-no-mundo que nos leva linguagem. Outro
pressuposto que toda obra de arte, como ato de linguagem, faz referncia a uma experincia. Os
textos literrios tm tambm uma referncia (experincia trazida linguagem). Isso rompe com
uma certa forma de positivismo que fecha a interpretao sobre o texto e coloca em valor o
carter subversivo, inovador da literatura. De fato, a dialtica da inovao e da sedimentao
pode possuir um carter subversivo na fuso dos horizontes interno (obra) e externo (a recepo
que ela provoca).
Convm esclarecer, a essa altura, a noo de mundo implicada por essa fuso de
horizontes, em que o mundo do texto se choca com o mundo da ao. Para Ricur, este mundo
do texto o conjunto de referncias abertas por todas as formas de textos descritivos ou
poticos que eu li, interpretei e amei
138
.
Contra qualquer forma de neoplatonismo, tal concepo destaca que a escritura no
d uma imagem esmaecida da realidade. Ao contrrio, ela a aumenta. Isso constitui um ltimo
postulado da afirmao de uma certa referencialidade da obra literria: o postulado
hermenutico que renuncia reconstituio da inteno do autor e se preocupa em explicitar o
mundo descortinado diante do texto pela ao das estruturas contidas no prprio texto. esta a
capacidade referencial das obras narrativas, o aumento icnico
139
da lisibilidade prvia da ao. Uma
sobre-significao s possvel porque uma pr-significao j existia.
138
Ibidem, p. 151
139
Ibidem, p. 153.
70
Um problema se coloca, nesse momento: a pretenso verdade associada referncia.
Esse problema inaugurar a distino entre dois tipos de discurso narrativo que se entrecruzam
dentro desse modelo terico da construo da intriga: fico e histria
140
.
3.3.4 Uma fenomenologia do tempo
Finalmente, justificando a sua viso do processo, Ricur volta ao tema da
temporalidade. Para ele, o tempo da ao, sobretudo, que refigurado pela narrativa. No tempo
narrado, os traos temporais so aqueles de um mundo que foi refigurado pelo ato da
configurao. A obra narrativa consiste em ver nossa prxis como se, para o que
indispensvel o recurso a uma fenomenologia do tempo. Dentro de sua investigao sobre a
temporalidade, Ricur desenvolver uma demonstrao da forma dialtica dessa fenomenologia
em que se relacionam a narrativa e o tempo. Afinal, depois de Santo Agostinho, uma
fenomenologia pura do tempo no mais possvel. Ser necessrio articular historiografia, crtica
literria e fenomenologia.
3.3.5 O mundo do texto
Dentro da apresentao dessa terceira etapa da mimesis, parece-nos necessrio incluir
um parntesis relativamente extenso sobre esta noo complexa desenvolvida por Ricur para
140
Ricur desenvolver esse problema na continuidade da sua obra, especialmente na segunda parte do primeiro
Vol. e no terceiro Vol. de Tempo e narrativa.
71
explicar o evento da mimesis III. E para compreendermos ainda melhor o que Ricur pretende
com a noo de mundo do texto, necessrio ressalvar que no h curto-circuito brutal entre a
anlise puramente objetiva das estruturas da narrativa e a apropriao de sentido pelos sujeitos.
justamente entre esses dois plos objetivos que se desenvolve o mundo do texto. E Ricur
completa: se o sujeito chamado a se compreender diante do texto, na medida em que este
no se fecha sobre si mesmo, mas aberto sobre o mundo que ele redescreve e refaz
141
.
O mundo do texto, portanto, apesar de estar ligado ao tema da referncia do
discurso, no visa a uma referencialidade demonstrativa como no caso do dilogo. A literatura
rompe com o mundo para criar um novo mundo. Segundo Ricur,
a abolio de uma referncia de primeiro escalo, abolio operada pela fico e pela
poesia, a condio de possibilidade para que seja liberada uma referncia de segundo
nvel, que atinge o mundo no mais apenas ao nvel dos objetos manipulveis, mas ao
nvel que Husserl designava pela expresso Lebenswelt [mundo da vida] e Heidegger pela
de ser-no-mundo.
142
O cerne dessa noo de mundo do texto, assim, no tanto algo fixado por uma
interpretao cannica, por mais que ela esteja autorizada pela explicao estruturalista. O mundo
do texto uma proposio, a proposio de um mundo oferecida por um texto e cada vez
reconstituda pelo ato de leitura. ao mundo criado pela obra, cheio de possibilidades que
escapam rigidez do real, que a noo do filsofo se refere. Este mundo, no entanto, bem
aquele do texto, ou seja, preparado, induzido por ele e contido, de alguma forma, nas arestas de sua
estrutura.
sempre necessrio, de fato, distinguir aquilo que diz o texto daquilo que o texto faz
dizer. Isso corresponde justamente distino entre as etapas do processo interpretativo
(compreenso-explicao-compreenso), cabendo anlise estrutural fazer emergir a estrutura
significativa do texto sobre a qual pode se apoiar uma explorao mais profunda e mais ampla
141
RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 187. (Poche, 377).
142
Ibidem, p. 127.
72
dos caminhos abertos pela obra. Uma parte da interpretao ser sempre dependente de um alto
grau de objetividade.
No entanto, parece inevitvel a equao que estipula que quanto mais rica a obra
literria, mais diversas suas interpretaes. Boa parte do interesse de uma obra literria, alis, no
est apenas no que ela diz, mas no que ela provoca em quem se defronta com ela, no que ela faz
dizer. Porm, qualquer que seja a anlise proposta, esta ser dependente de uma etapa explicativa
rigorosa se quiser ser levada a srio. Ou seja, podem-se dizer coisas muito diversas sobre uma boa
obra, mas no se pode atribuir a ela tudo e qualquer coisa que desejaramos que ela dissesse.
Um dos interesses da teoria da mimesis como processo est justamente nessa
ampliao de horizontes que ela proporciona. No entanto, como insiste Ricur, o centro de uma
anlise literria dever sempre se articular com um momento no qual a etapa explicativa tem
grande relevo (mimesis II). E esse momento necessria e rigorosamente focado no texto, em suas
tenses internas, sua estrutura, etc.
4. Dois temas complementares
Depois de apresentarmos brevemente a teoria da trplice mimesis, ou da mimesis como
processo, retomaremos nossa anlise do ponto em que a deixamos, procedendo identificao
desses trs momentos na pea de Ariano Suassuna aqui analisada a partir do material considerado
no captulo precedente. No entanto, optando por nos concentrarmos no texto, mergulharemos
cada vez mais na compreenso da mimesis II. Por isso, nosso percurso no captulo seguinte seguir
o fio de um dos aspectos mais relevantes da pea, os elementos narrativos presentes na Farsa. E o
prosseguimento da anlise pedir a volta sobre dois temas do pensamento de Ricur que
73
apresentaremos no incio dos captulos IV e V. Primeiro, ao abordarmos a estrutura da
representao da ao na pea com a ajuda do modelo actancial, efetuaremos o momento de
aprofundamento, que o filsofo prev no segundo tomo de Tempo e narrativa. Depois ser a vez de
passarmos da ao ao agente, analisando o personagem e o julgamento de sua ao que
representado na pea. Para esta etapa, percorreremos novamente o conjunto do percurso
mimtico a partir da noo central de identidade narrativa, comentando suas implicaes ticas
143
.
A pertinncia da anlise estrutural como momento da compreenso do processo
mimtico j foi apresentada aqui. Mas o problema da identidade narrativa, que j aparece em
Tempo e narrativa,
144
desenvolvido especialmente em Si mesmo como um outro. Nessa obra, Ricur
recorre teoria narrativa para responder ao paradoxo da identidade pessoal atravs da trade
descrever-narrar-prescrever.
145
Seu interesse vai do pragmtico ao tico, passando pelo campo
literrio. Considerando sua perspectiva em negativo, porm, sua argumentao nos deixa ver
como a estrutura da narratividade pode funcionar como mediao entre descrever e prescrever, pois,
como nota o filsofo, a teoria narrativa no faz verdadeiramente a mediao entre a descrio e
a prescrio a no ser que o alargamento do campo prtico e a antecipao de consideraes
ticas estejam implicadas na estrutura mesma do ato de narrar
146
. Esta afirmao, entretanto,
corre o risco de nos induzir ao erro de analisar eticamente a literatura, o que seria confundir a
especificidade dos domnios tico e potico. Ora, toda a argumentao de Ricur se orienta na
inter-relao no na confuso que existe entre esses dois campos do saber. afirmao de
143
Sobre a implicao tica da literatura, podemos antecipar desde j uma citao na qual o filsofo aborda o tema
diretamente. Para ele, de fato, no h narrativa eticamente neutra. A literatura um vasto laboratrio onde so
ensaiadas estimativas, avaliaes, julgamentos de aprovao e de condenao pelos quais a narratividade serve de
propedutica tica (RICUR, Paul. Soi-mme comme un autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. p. 139. (Poche, 330). Grifos
nossos). Voltaremos a este assunto delicado com mais detalhe no captulo V. (Cf. p.156 et seq.).
144
A noo de identidade narrativa, introduzida em Tempo e narrativa III, respondia a uma outra problemtica: ao
termo de uma longa viagem atravs da narrativa histrica e da narrativa de fico, eu me perguntei se existia uma
estrutura da experincia capaz de integrar as duas grandes classes de narrativa. Eu formulei ento a hiptese segundo
a qual a identidade narrativa, seja de uma pessoa, seja de uma comunidade, seria o lugar procurado desse quiasma
entre histria e fico. In: Ibidem, p. 138, nota 1.
145
Uma trade se imps a mim: descrever, narrar, prescrever cada momento da trade implicando uma relao
especfica entre constituio da ao e constituio do si mesmo. In: Ibidem, p. 139.
146
Ibidem, p. 139.
74
que h elementos ticos em funcionamento na narratividade corresponde a considerao potica
do agir humano que no se compreende sem a narratividade.
Voltaremos a esse debate oportunamente com mais vagar. Antes, no entanto, cabe-
nos olhar de perto a Farsa com a ajuda das categorias de mimesis I, II e III, centrando-nos na
mimesis II e deixando-nos guiar, agora, pelos vestgios narrativos presentes no texto.
75
III
ANLISE DOS ELEMENTOS NARRATIVOS DA FARSA:
PREPARAR-CONDUZIR-JULGAR
Aps detalharmos nosso marco terico, convm retomar a anlise no ponto em que
a deixamos no captulo primeiro. Procederemos a essa retomada segundo as categorias da trplice
mimesis, organizando o contedo de acordo com as trs etapas do processo mimtico identificadas
por Ricur. A seguir, retomaremos nossa anlise, especialmente centrada na mimesis II, mas sem
deixar de indicar os elementos que apontam para a etapa preliminar e posterior da configurao
operada pelo muthos, ou seja, pela construo da intriga. A retomada ser feita seguindo um dos
elementos mais destacados da superfcie do texto, j apontado pela anlise das fontes: os
elementos picos presentes no texto dramtico. Dentre eles, a figura de um personagem-
narrador que nos interessar acompanhar, na medida em que ele parece preparar, conduzir e
julgar a ao.
Como se pode notar, ainda, essa trade de verbos (preparar-conduzir-julgar) evoca a
mediao da narratividade obra na identidade narrativa, que se faz atravs do percurso descrever-
narrar-prescrever. Embora ela se refira, em primeiro lugar, ao funcionamento interior intriga
(muthos) como parte do funcionamento da narrao na construo da identidade narrativa dos
personagens, a trade designa, tambm, os momentos que, dentro do texto, aproximam-se mais
do antes (preparar // mimesis I) e do depois do texto (julgar //mimesis III), etapas ligadas uma outra
pelo momento da mimesis II, ou do momento da conduo da ao. nesse segundo sentido,
sobretudo, que utilizaremos a trade verbal que indicamos, aplicada de modo mais preciso ao
76
funcionamento do personagem-narrador.
1. Retomando o trilho: a trplice mimesis e a construo da pea
Como vimos, Paul Ricur considera a mimesis, representao da ao humana, em
seu processo dinmico que comea com o domnio dos recursos simblicos e das categorias para
a representao do agir (mimesis I), passa pela construo efetiva da intriga (muthos) atravs da qual
se representa a ao (mimesis II) e se completa na construo de um mundo do texto a partir da
obra (mimesis III). Retomemos as aquisies do captulo introdutrio sob a luz dessas trs etapas
do processo.
1.1. Mimesis I Prefigurao
Na esfera da primeira etapa da construo da intriga, o processo de escritura e as
fontes da Farsa que descrevemos revelam um grande domnio na manipulao dos recursos
simblicos presentes na cultura popular nordestina, sem se fechar a uma perspectiva mais
universalizante. Na medida em que recorre ao imaginrio popular e rural do nordeste brasileiro,
estabelece um canal de contato privilegiado com o pblico dessa regio. Escolhendo o uso de
uma linguagem simples, abre-se a um leque ainda maior de pessoas. Se considerarmos que a
Farsa, enquanto literatura dramtica, escrita em vista da representao, o pblico amplia-se
ainda mais e inclui os iletrados. Por outro lado, ao retomar temas como o embate entre virtude e
77
vcio, a condio conflituosa do homem no mundo e o dilema da salvao, Suassuna inscreve-se
numa dimenso universal e estabelece as condies necessrias para um dilogo com todos.
A opo pelo no-ilusionismo
147
, ao exigir uma grande dose de convencionalismo do
leitor (e, sobretudo, do espectador), manifesta outra habilidade do autor em envolver o receptor
da pea. Algumas cenas de disfarce, por exemplo, s funcionam porque a criao do universo
potico popular da pea eficaz. Mesmo algumas incongruncias, como o fato de no se saber
como os diabos poderiam antecipar a sucesso de compras com a interveno de So Pedro (2
o
ato), passam despercebidas. Ainda, a precariedade na descrio do cenrio corresponde a uma
solicitao maior da imaginao do leitor (ou do espectador), que compensada pela riqueza da
ao.
Esta complexidade da ao, que se desenrola em diversos planos, com inmeros
episdios entretecidos, disfarces, disputas, o elemento talvez mais relevante desta etapa inicial
da construo mimtica. A habilidade de Suassuna em concatenar as aes das fontes primrias
um exemplo disso. A combinao do plano da ao terrestre com um outro plano celeste ,
que intervm como comentador da ao, completa o conjunto no qual a qualidade do material
que ser organizado na histria contada pela Farsa se destaca
148
.
147
O termo ilusionismo entendido aqui no sentido amplo de uma representao teatral que pretenda duplicar a
realidade, construindo a iluso da verdade no espectador. Com esta opo, seguimos Patrice Pavis, quando observa:
No teatro, o realismo nem sempre se distingue com clareza da iluso ou do naturalismo. Esses rtulos tm em
comum a vontade de duplicar a realidade atravs da cena, imit-la da maneira mais fiel possvel. O meio cnico
reconstitudo de modo a enganar sobre sua realidade. Os dilogos se inspiram nos discursos de determinada poca
ou classe socioprofissional. O jogo do ator torna o texto natural ao mximo, reduzindo os efeitos literrios e
retricos pela nfase na espontaneidade e na psicologia. Assim, paradoxalmente, para fazer o verdadeiro e o real,
necessrio saber manipular o artifcio. (Realista [Representao]. In: PAVIS, Patrice. Dicionrio de Teatro. So Paulo:
Perspectiva, 1999. p. 327). Se tanto nesse tipo de representao quanto no modelo escolhido por Suassuna o grau de
convencionalismo para a construo da verdade da pea elevado, a diferena entre os modelos pode ser encontrada
no fato de que a representao ilusionista de certo modo substitui-se ao espectador, oferecendo um modelo j
construdo sua contemplao, enquanto o modelo operante na Farsa deixa ao espectador a tarefa de cobrir as
lacunas da representao.
148
necessrio observar que a etapa da mimesis I refere-se, propriamente, ao estgio pr-narrativo da ao real que
representada pela construo da mimesis II. Ao falarmos na habilidade do autor implcito em manipular esse material,
situando essa observao na primeira etapa do processo mimtico, j nos situamos na passagem de uma etapa a
outra, quando o real comea a se tornar fictcio. Nesse sentido, a mimesis I pode ser entendida como uma antecipao
da narrao e a mimesis II como uma projeo do agir real.
78
1.2. Mimesis II Configurao
A etapa da mimesis II corresponde ao momento de construo da intriga
propriamente dita, com a articulao dos episdios, a configurao do tempo e a organizao das
aes, motivaes, circunstncias, finalidades e conseqncias do agir. Na Farsa da boa preguia,
vimos que a ao se d em dois planos que se completam, formando dois eixos. No plano
terrestre, a ao acontece principalmente atravs da oposio rico-pobre. No plano celeste,
porm, a ao articula-se num eixo vertical salvao-danao que s ser plenamente revelado no
terceiro ato, com o episdio da intercesso dos pobres em favor dos ricos, que iro para o
purgatrio
149
. Em torno a esse eixo, d-se constantemente o julgamento de uma atitude: a boa ou
a m preguia.
Quem arbitra a disputa Manuel Carpinteiro. Junto com os demais personagens
celestes, porm, ele inclui o leitor (e o pblico) na discusso promovida pela pea ao se dirigir
diretamente a ele, mais de uma vez.
A aparente simplicidade da Farsa esconde, portanto, uma grande complexidade de
estrutura. Grande parte dessa complexidade advm da dialtica entre a aparente independncia
das aes representadas nos atos e a fora do conjunto da pea, reflexo da tenso concordncia-
discordncia de que fala Ricur. Do ponto de vista da ao dos personagens terrestres, seramos
conduzidos a reforar a descontinuidade. O plano celeste, porm, coordena as trs partes da
pea, garantindo a coerncia e a unidade do todo. Dessa tenso, que solicita a forma hbrida
adotada por Suassuna, resulta uma pea com fortes elementos picos, como veremos a seguir.
149
O plano infernal tambm presente na pea, mas no como lugar de ao.
79
1.3. Mimesis III Re-figurao
O terceiro momento do processo mimtico, para Ricur, consiste na considerao
do mundo criado pela obra, situado diante dela e ativado pela participao de um terceiro, que
completa o tringulo autor-obra-leitor. No caso do gnero dramtico, essa terceira instncia se
desdobra, sendo a obra recebida de dois modos: pela leitura e pelo espetculo. Em nossa opo
de situar a anlise apenas no plano do texto, deixamos de lado o segundo modo de recepo
150
.
Convm observar, tambm, que a recepo a que nos referimos aqui consiste na anlise dos
indcios presentes na obra para a conduo da leitura. Em outras palavras, no nos colocamos do
lado dos leitores efetivos, com suas reaes dspares e dificilmente mensurveis. Buscamos uma
identificao dos vestgios (no mais que isso) de um efeito esperado pelo autor, ao escolher
determinadas opes estticas.
A pea de Suassuna contm um elemento particularmente importante na abertura
dessa etapa final da construo da intriga. Trata-se da figura do julgamento da boa preguia, ao
qual o leitor convocado. Aps ter acesso ao contedo da intriga, a pergunta pela justeza da
atitude do protagonista no parece ser resolvida. Nesse recurso que contrape o elemento de
moralidade (apologia da boa preguia) com o elemento farsesco (comportamento do heri), o
valor do cio criativo desmentido ou mal defendido pela atitude do poeta. Sua situao final, de
150
Deveramos dizer que, no teatro, dupla recepo corresponde tambm uma dupla emisso: ao escritor,
corresponde o encenador; ao leitor, corresponde o espectador. Visto dessa forma, teramos uma sucesso de
processos mimticos sobre uma mesma obra, na forma autor-texto-leitor encenador-texto declamado-espectador.
No exploraremos esse tema, uma vez que decidimos trabalhar sobre a pea escrita apenas. Mas vemos a uma
particularidade do teatro que mereceria um estudo mais aprofundado com essas mesmas categorias de Ricur.
80
fato, parece irresoluta ou precariamente resolvida: anncio da realizao de trs folhetos, com os
quais sobreviver. Nada em sua atitude durante a pea confirma que tal iniciativa possa ter xito.
Esta figura do julgamento preparada pela organizao da trama, que faz a pea
comear com uma proclamao de abertura por parte de Manuel Carpinteiro e o faz intervir na
abertura e no fechamento de todos os atos, dirigindo-se ao pblico. Ao despertar o interesse do
leitor para o tema, com maior ou menor intensidade, a Farsa completa o percurso mimtico,
oferecendo um mundo criado pela obra imaginao do leitor. Examinaremos esse tema no final
do nosso ltimo captulo.
Esta sntese elaborada por Suassuna, resultado da mistura de elementos nordestinos e
medievais, conseqncia do estilo e da esttica prprios a este autor. Aqui novamente
reencontramos a influncia das fontes. Mas, diferentemente do que verificamos na mimesis I, o
que conta, agora, o que as fontes se tornaram na pea, o mundo que elas permitiram ao autor
construir.
2. Vestgios narrativos presentes na Farsa da boa preguia
A retomada que acabamos de realizar j nos permite uma viso do conjunto do
processo da Farsa. A prospeco dos principais elementos influentes em sua composio
permitiu-nos no s uma explicitao da origem da intriga, mas tambm a identificao de seus
traos mais caractersticos. Dentre eles, a presena de vestgios narrativos
151
um dos mais
relevantes, razo pela qual retomamos nossa anlise a partir dele. Considerando que nossa anlise
tem como hiptese interpretativa a relao entre forma (ao modo da farsa) e matria (contedo
151
Por vestgios narrativos, entendemos os elementos caractersticos da mimesis II enquanto construo narrativa.
81
moral), a ateno dada aos elementos picos presentes na Farsa da boa preguia mais que
justificada. De fato, neles que essa interao dialtica se deixa perceber de modo mais explcito.
De modo especial, veremos a figura do personagem-narrador ao mesmo tempo necessria para a
coerncia do todo e indispensvel para a exegese do contedo moral da pea. Ao analisarmos o
funcionamento interno do texto, vale lembrar, concentramo-nos na etapa da mimesis II.
Assinalaremos, porm, as indicaes referentes s outras etapas do processo quando oportuno.
Em termos clssicos, o narrador , por definio, ausente do gnero dramtico. o
que nos recorda Anatol Rosenfeld, ao descrever os traos estilsticos fundamentais desse gnero:
[o mundo] se apresenta como se estivesse autnomo, absoluto (no relativizado a um sujeito),
emancipado do narrador e da interferncia de qualquer sujeito, quer pico, quer lrico
152
. No
entanto, alguns vestgios do narrador emergem freqentemente aqui e ali no texto dramtico, o
que justifica o sentido adjetivo dos termos dramtico, pico e lrico proposto pelo mesmo Anatol
Rosenfeld.
153
Vejamos quais so esses elementos narrativos presentes na Farsa, ligando-os com as
razes dramticas da pea que acabamos de identificar. Isso nos permitir polemizar com a opo
de alguns estudiosos em tratar o teatro de Ariano Suassuna como teatro pico. Concluiremos o
captulo sobre a figura de Manuel Carpinteiro. J o dissemos h pouco, esse personagem polariza
a articulao entre a forma e o contedo da pea, numa outra manifestao da relao entre a
esttica do texto e o contedo tico que ele porta.
152
ROSENFELD, A. O teatro pico. 4 ed. So Paulo: Perspectiva, 2004. p. 27.
153
Costuma haver, sem dvida, aproximao entre gnero e trao estilstico: o drama tender, em geral, ao
dramtico, o poema lrico ao lrico e a pica (epopia, novela, romance) ao pico. No fundo, porm, toda obra
literria de certo gnero conter, alm dos traos estilsticos mais adequados ao gnero em questo, tambm traos
estilsticos mais tpicos dos outros gneros. (Ibidem, p. 18).
82
2.1. As rubricas
As rubricas (didasclias ou indicaes cnicas) tm importncia varivel ao longo da
histria do teatro. Inicialmente ausentes, elas ganharo pouco a pouco importncia o que,
curiosamente, acontece aproximadamente na mesma poca em que o texto de teatro torna-se
mais acessvel ao pblico leitor, o que advm especialmente com o desenvolvimento da imprensa
no ocidente. Mas, como nos lembra Patrice Pavis, sobretudo a tradio do realismo no teatro
que torna essas particularizaes uma exigncia:
A partir do momento que a personagem no mais um simples papel, que assume
traos individuais e se naturaliza, torna-se importante revelar seus dados num texto-
guia. o que se passa historicamente nos sculos XVII e XIX: a busca do indivduo
socialmente marcado (drama burgus) e a conscientizao da necessidade de uma
encenao provocam um aumento das didasclias. como se o texto quisesse anotar sua
prpria futura encenao. As indicaes cnicas dizem ento respeito no s s
coordenadas espao-temporais, como sobretudo interioridade da personagem e
ambincia da cena. Estas informaes so to precisas e sutis que pedem uma voz
narrativa. O teatro se aproxima ento do romance, e curioso constatar que no
mesmo momento em que se prope a ser verossimilhante, objetivo, dramtico e
naturalista que ele passa para a descrio psicolgica e recorre ao gnero descritivo e
narrativo.
154
Quando aparecem as rubricas, portanto, elas carregam consigo normalmente fortes
elementos narrativos, mais ou menos velados, aportando ao gnero dramtico um trao estilstico
(em sentido adjetivo) pico. De fato, geralmente nas rubricas que esto contidas as indicaes
sobre o modo da ao e sobre seu enquadramento, j que o texto dramtico quase sempre
desprovido de outros elementos descritivos. Assim sendo, elas so em geral o lugar onde se
manifesta a compreenso prtica do autor ao manipular a construo da intriga, momento ligado
mimesis I. Numa imagem, como se as rubricas fossem a parte da escritura que lana os dilogos
no vo, a parte do texto a ficar para trs quando o texto ganhar vida na cena.
154
Indicaes cnicas. In: PAVIS, Patrice, op. cit. p. 207.
83
A Farsa da boa preguia no foge regra. A pea inaugura-se com um texto descritivo
de trs pargrafos. O primeiro descreve o cenrio, terminando com a afirmao desconcertante,
j citada anteriormente: a pea pode ser montada sem cenrio
155
. O pargrafo seguinte, que
descreve os personagens e sua aparncia nos mnimos detalhes, no apresenta a mesma liberdade.
Ao contrrio, adiciona uma generalizao: no meu teatro, a roupa nunca somente um
acessrio apenas decorativo: tem sempre uma funo teatral a desempenhar
156
. Tal ressalva se
justifica se lembrarmos a simplicidade do cenrio. Sem este, a caracterizao dos personagens
pela roupa torna-se ainda mais necessria. Apesar de sua importncia, porm, o figurino
descrito com relativa sobriedade, deixando o autor grande espao aos responsveis pela
montagem. O ltimo pargrafo d a indicao da luz gradativa que marca o incio da pea.
Depois dessas observaes mais detalhadas, no entanto, o texto contm apenas
rubricas breves, a maior parte delas no ultrapassando uma linha e indicando movimentos e
aes. Apenas dezenove outras (sobre 170 rubricas, ao todo) trataro das roupas ou da
apresentao dos personagens, em especial dos disfarces dos seres divinos no segundo ato (seis
indicaes). Apenas uma rubrica prope que se cante o bordo repetitivo: mulher, traz meu
lenol,/ que eu estou no banco deitado!
157
. H raras indicaes diretas dos sentimentos dos
personagens
158
(apenas doze rubricas). O cenrio repete-se nos trs atos, isso lembrado numa
brevssima indicao na abertura de cada um deles.
Em sntese, se h inegavelmente elementos narrativos eminentemente descritivos
contidos nas rubricas do texto, eles so de menor importncia se comparados a outros que
destacaremos a seguir. Mas, para retomar o primeiro termo da trade empregada no ttulo deste
captulo, devemos dizer que as rubricas participam da preparao da representao da ao (mimesis)
155
SUASSUNA, Ariano. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 4.
156
Ibidem, p. 4.
157
Ibidem, p. 21.
158
Com apenas uma exceo, essas rubricas so postas junto ao nome do personagem que fala por exemplo:
ANDREZA, com raiva [segue a fala]. In: Ibidem, p. 18.
84
como momento da construo da intriga (muthos). Ressaltemos apenas que a funo descritiva
reduzida dessas indicaes condiz com o estilo simples buscado pelo autor, inspirado nos
espetculos populares. Sua importncia maior para a estrutura dramtica consiste em indicar os
movimentos de entrada e sada, os gestos, caretas e disfarces que do agilidade pea e fazem a
fbula funcionar.
2.2. Narraes feitas pelos personagens
Como j tivemos ocasio de observar, os personagens da Farsa da boa preguia podem
ser divididos em duas categorias: naturais e sobrenaturais (estes se dividindo em dois grupos de
trs personagens cada: os divinos e os infernais). Como j vimos, o andamento da ao parece
descartar os personagens sobrenaturais. No entanto, a trama da pea no poderia se sustentar
sem eles. A maior parte das peripcias constroem-se com a interveno deles, sendo motivos
associados dinmicos
159
. Quase todas as cenas de seduo, por exemplo, passam-se com a
presena dos diabos: Andreza, alcoviteira, traz recados de Aderaldo para Nevinha (primeiro ato) e
de Clarabela para Simo (segundo ato); Fedegoso e Quebrapedra so amantes de Clarabela no
terceiro ato. No final do primeiro ato, Quebrapedra e Fedegoso iro enganar Clarabela para
roubar-lhe o cheque com toda a riqueza de Aderaldo. So os trs diabos que ameaaro
carregar os personagens para o inferno, no final da pea, caso no haja quem reze um Pai-
nosso e uma Ave-Maria por eles dentro de sete horas tempo cujo decurso ser marcado pela
159
Os conceitos de motivo livre e motivo associado (o primeiro gratuito, o segundo necessrio ao funcionamento da
trama) tambm so propostas por Tomachevski, assim como os de fbula (intriga) e trama. Cf. TOMACHEVSKI, B.
Temtica. In: TOLEDO, Dionsio (org.) Teoria da literatura. Formalistas russos. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. p.
169-204.
85
presena dos trs personagens divinos que se contrapem aos diabos. H, ainda, a troca que
engana o pobre Simo no segundo ato e na qual intervm Fedegoso e Quebrapedra, mas sua
estrutura muito mais complexa do que a do engodo do rico Aderaldo no primeiro ato. Se
naquela entram em cena apenas os diabos, nesta Fedegoso e Quebrapedra apenas do o ponto de
partida ao oferecer uma cabra ao santo Simo Pedro. o santo que, no intuito de ajudar o poeta,
aceita a cabra e a oferece a Nevinha. Para completar o jogo, o arcanjo Miguel resolve desfazer a
ajuda do santo, enganando Joaquim Simo atravs de uma srie de trocas que o deixam apenas
com um pedao de po, no final. essa srie de trocas que se prestar aposta entre Simo e
Aderaldo no final do segundo ato.
160
Os personagens divinos um santo, Simo Pedro, um arcanjo, Miguel e Manuel,
representante de Jesus Cristo
161
intervm tambm na intriga. Mas, diferentemente dos diabos,
cuja posio menos problemtica, entre eles no existe uma nica opinio sobre os
personagens. Simo Pedro defende o poeta, que acusado de preguioso por Miguel. Manuel
mantm-se aparentemente neutro at o final da pea. No plano da intriga, o papel reservado aos
personagens divinos semelhante ao dos personagens terrestres: agir, agir e agir.
De fato, a pea repleta de ameaas, sedues, trocas, enganos, roubos. Tal
organizao diegtica deixa pouco espao para narraes feitas diretamente pelos personagens
terrestres. As nicas excees notveis so as duas cantigas apresentadas pelo poeta Simo a
160
Aqui percebemos uma aparente lacuna na pea. Parece difcil explicar por que os diabos oferecem a cabra ao
santo, ainda que soubessem que este desejava favorecer Simo. A menos que atribuamos a eles a qualidade de
oniscincia com a qual pudessem prever que o santo seria enganado pelo arcanjo, tal ao no se explica. Afinal, se
fossem oniscientes, seria difcil explicar por que no saberiam que seriam derrotados pela esperteza de Nevinha.
Ainda assim, se eles possuem tal virtude, parece estranho que o santo no a tenha. Uma hiptese que resta, ainda,
que tal gesto seria combinado entre Miguel Arcanjo e os diabos, afinal ele quem levar adiante o que poderia ter
sido a runa completa de Simo e que s foi evitada pela sabedoria da esposa do poeta. Em favor dessa alternativa
teramos o fato de que tanto Miguel quanto os demnios so seres sobrenaturais (sendo Pedro humano). Pode-se
considerar, enfim, que toda a trama manipulada por Manuel Carpinteiro, cujo poder de conduzir a ao
progressivamente manifesto ao longo da pea.
161
Tal recurso distanciador ou desvinculador precisado pela prpria fala do personagem: Como eu no sou o
Cristo, como apenas o represento... (SUASSUNA, Ariano, op.cit., p. 176). Mas parece-nos que a distncia se estabelece
no entre o ator e o personagem, como costuma ocorrer em situaes dramticas semelhantes, mas entre o
personagem e o seu referente divino. Continuamos vendo Manuel Carpinteiro atuando, mas com a conscincia de
que ele apenas personagem com conscincia de personagem, sem a pretenso de encarnar o Cristo.
86
Clarabela, que se mostra interessada na arte popular. A primeira, mais curta, a Cantiga do
Canrio.
162
A segunda a Cantiga dos Macacos
163
.
Embora tais canes sejam entoadas pelo protagonista e constituam uma histria
dentro da histria, tm mais relevncia para a caracterizao do personagem do que para a fbula,
podendo ser consideradas como motivos livres. Do ponto de vista dramtico, as histrias tm
por funo principal ilustrar o trabalho de poeta desempenhado pelo protagonista da ao. No
mais, quando muito a segunda histria refora o tema da preguia com a dupla inatividade: a dos
macacos (preguia destrutiva) contraposta do cavalo (inativo, mas til). Todos esse elementos
tambm funcionam, como no caso das rubricas, como preparao da ao, mas no seguindo o
rastro desses elementos que iremos encontrar os vestgios picos mais importantes na Farsa da boa
preguia.
2.3. O personagem-narrador
com os personagens divinos que teremos o exemplo mais prximo da figura do
narrador na Farsa da boa preguia, sobretudo com Manuel Carpinteiro, camel representante do
Cristo. Sua caracterizao justifica o seu papel: como vendedor de feira ele tem que anunciar
ao pblico o seu produto, que a moralidade da histria que ele, junto com o santo e o
arcanjo, tiraro no final.
162
Ibidem, p. 36
163
Ibidem, p. 38-40. No entremez que precedeu a escritura definitiva da pea (O homem da vaca e o poder da fortuna),
uma outra cantiga, o Romance de clara Menina, que est presente. Ela estar ausente da Farsa. Poder-se-ia acrescentar,
ainda, lista o folheto Romance da Gata que Pariu um Cachorro, cujo enredo enunciado no incio do primeiro
ato por Simo (Ibidem, p. 23) e o excerto do folheto As Perguntas do Rei e as Respostas de Cames, que o poeta
atribui a Cirilo e recita novamente para D. Clarabela, dessa vez no terceiro ato (Ibidem, p. 127).
87
curioso notar a escolha do nome desse personagem, evocao de um dos nomes
hebraicos do messias, Emmanuel, que significa Deus conosco. De fato, o papel de
coagulador e articulador da histria corresponde bem a esse nome. O texto se abre com uma fala
sua, apresentando os personagens. Os personagens atravessam o palco em desfile rpido,
enquanto a fala pronunciada. Todos os atos, alis, abrem-se com uma fala sua e fecham-se com
uma espcie de coro dos personagens divinos por ele comandado, cumprindo uma funo
nitidamente pico-narativa e exegtica que nos permite situ-lo francamente, com essa fala de
abertura (semelhante na abertura de todos os atos), dentro do momento de preparao, de certo
modo mais prximo da mimesis I. Em certos momentos, porm, como no incio do terceiro ato,
evidencia-se a atuao do narrador como condutor da ao.
Retornando fala inicial da pea dita por Manuel Carpinteiro, ela carregada de
matizes lricos e convoca o olhar do espectador a entrar num ambiente estranho para uma pea
cmica. O vocabulrio utilizado remete inevitavelmente a certas passagens do grande romance de
Suassuna, A pedra do reino
164
. Nessa fala manifesta-se logo a cosmologia de matriz crist a que j
164
Os indcios so vrios: o uso da maiscula para certos vocbulos, algumas imagens do mundo animal
normalmente associadas a cores fortes (em especial o vermelho e o castanho), etc. Compare-se, por exemplo, o texto
da abertura com o belo texto da revelao que Quaderna tem da Moa Caetana, a morte, que lhe diz: A
Sentena j foi proferida. Saia de casa e cruze o Tabuleiro pedregoso. S lhe pertence o que por voc for decifrado.
Beba o Fogo na taa de pedra dos Lajedos. Registre as malhas e o pelo fulvo do Jaguar, o pelo avermelhado da
Suuarana, o Cacto com seus frutos estrelados. Anote o Pssaro com sua flecha aurinegra e a Tocha incendiada das
macambiras cor de sangue. Salve o que vai perecer: O Efmero sagrado, as energias desperdiadas, a luta sem
grandeza, o Herico assassinado em segredo, O que foi marcado de estrelas tudo aquilo que, depois de salvo e
assinalado, ser para sempre e exclusivamente seu. Celebre a raa de Reis escusos, com a Coroa pingando sangue; o
Cavaleiro em sua Busca errante, a Dama com as mos ocultas, os Anjos com sua espada, e o Sol malhado do Divino
com seu Gavio de ouro. Entre o Sol e os cardos, entre a pedra e a Estrela, voc caminha no Inconcebvel. Por isso,
mesmo sem decifr-lo, tem que cantar o enigma da Fronteira, a estranha regio onde o sangue se queima aos olhos
de fogo da Ona-Malhada do Divino. Faa isso, sob pena de morte! Mas sabendo, desde j, que intil. Quebre as
cordas de prata da Viola: a Priso j foi decretada! Colocaram grossas barras e correntes ferrujosas na Cadeia.
Ergueram o Patbulo com madeira nova e afiaram o gume do Machado. O Estigma permanece. O silncio queima o
veneno das Serpentes, e, no Campo de sono ensangentado, arde em brasa o Sonho perdido, tentando em vo
reedificar seus Dias, para sempre destroados. (SUASSUNA, Ariano. A pedra do reino. 3. ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1972, p. 241-242). Analisaremos mais em detalhe o texto da Farsa no nosso ltimo captulo. (Cf. item 2.2.2,
p. 179 et seq.).
88
aludimos, que concebe a estrutura do mundo em camadas que se superpem sem se separarem
165
:
do baixo ao alto, do mal ao bem, das trevas luz. Coerente com seu matiz lrico, mais do que
descrever, essa fala intriga, atia, desperta a curiosidade:
O cavalheiro pode ver aqui
inteligente e culto como
O Fogo escuro, o enigma deste Mundo
e o rebanho dos Homens em seu Centro!
Que Palco! Quantos planos! Que combates!
Embaixo, o turvo, as Cobras e o Morcego.
No meio, o que esta Terra tem de cego e esquisito.
Em cima, a Luz Anglica esta Luz mensageira
Com seu vento de Fogo puro e limpo!
Embaixo, trs Demnios que aqui passam.
166
A continuao do discurso revela o foco narrativo caracterstico desse personagem
que , ele sim, personagem-narrador a ttulo pleno:
De cima, entramos ns, dirigindo o espetculo!
Um dos santos: So Pedro, o Pescador!
Um Arcanjo: Miguel, guerreiro Fogo!
E eu, o lume de Deus, o Galileu!
[...]
Agora, me pergunta o cavaleiro:
Que tem esse idiota para mostrar?
simples: duas Cobras venenosas,
um Jacar terrvel,
e a luta que esses trs iro travar
contra um Pssaro alado e benfazejo!
167
Desde o prlogo, portanto, o leitor informado da oniscincia desse personagem,
elemento de seu papel na conduo da ao. Se ele no antecipa a fbula de modo claro, d o seu
tom: assistiremos a uma luta do bem contra o mal. Esse tema reforado pouco depois, quando
Manuel anuncia o incio da ao dramtica propriamente dita, que se passar no plano terrestre:
Vamos, ento, comear!
As Cobras contra o Pssaro de Fogo,
165
Entre cu, terra e inferno, de fato, as interferncias so mltiplas e constantes, como o demonstra toda a histria
das ajudas divinas e provaes diversas. Nesse sentido, no plano terrestre representado pelo palco, esto presentes
em tenso e interao os mesmos trs planos.
166
SUASSUNA, Ariano. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 5.
167
Ibidem, p. 5-6. (Grifos nossos).
89
o Escuro contra a Luz,
o cio contra o mito do Trabalho,
o Esprito contra as foras cegas do Mundo!
Os homens nesse meio, sepultados
e ligados s Cobras pelo Mundo,
pela desordem do Pecado,
e ligados ao Lume, ao claro, ao solar,
por um Santo de carne, um Anjo de fogo
e por aquele que carne e fogo
e que se chamou Jesus!
Vai comear! Comecem! Luz!
168
A prpria identificao do narrador com o Cristo refora a posio de oniscincia.
Esta impresso ser ainda mais salientada quando Manuel voltar cena no final do primeiro ato
acompanhado dos outros dois personagens celestes para interpretar o acontecido. J havamos
sido advertidos pelo prprio ttulo e pelas falas dos personagens divinos na abertura que a pea
construda em torno da discusso sobre a boa e a m preguia. Depois de uma interpretao
apressada de Simo Pedro da m sorte do ricao Aderaldo, ele que perdera sua fortuna com o
engodo dos diabos no final do primeiro ato, Manuel Carpinteiro intervir propondo, em
concluso, uma posio mais equilibrada em estilo sapiencial. Assim se posicionando, denota
conhecimento mais profundo, como se soubesse o que estaria por vir e pudesse j antecipar a
concluso de toda a histria
169
:
Simo Pedro: Temos, ento, a lio
de que a preguia compensa!
Manuel Carpinteiro: A lio no foi essa, Simo,
mas, sim, de que preciso
temperar sabiamente
o trabalho com a contemplao e o descanso.
Existe um cio corruptor,
mas existe tambm o cio criador.
170
No incio do segundo ato, Manuel retoma o ato precedente e apenas alude ao
168
Ibidem, p. 11-12.
169
Palavras semelhantes, de fato, repetem-se no final da pea, desta feita na boca de Simo Pedro: H um cio
criador,/ h outro cio danado,/ h uma preguia com asas,/ outra com chifres e rabo!. In: Ibidem, p. 181.
170
Ibidem, p. 54-55.
90
futura quando adverte a Simo Pedro: Voc est pensando em enriquecer seu protegido!
171
. Sua
oniscincia manifestar-se- um pouco depois, de modo explcito e jocoso, quando, estando o
santo e o arcanjo escondidos para interferir na histria e contrariando a orientao dada por ele,
Manuel indica onde eles esto:
[...]Querem ver eu dizer onde eles esto?
Est So Pedro aqui e So Miguel ali, ou no ?
Modstia parte, oniscincia muita!
Mas vou deixar os dois no doce engano!
Assim eles, sem saber, servem melhor a meu plano!
Eles que fiquem. Cada qual que trabalhe para um partido:
no fim, sai tudo como quero
e hei de aclarar o sentido!
172
No somos informados do andamento da pea por antecipao. Mas somos,
entretanto, informados da oniscincia do narrador. Ele, que sabe o que vai acontecer, e que as
coisas se daro conforme ele deseja, anuncia que nos ir revelar o sentido oculto dos fatos. Tal
recurso j deixa o leitor (e o espectador) alerta para as suas prximas aparies no final do
segundo ato, no incio e no final do terceiro ato. De fato, acontece uma transformao na histria
da qual somente temos conhecimento pela informao que nos oferece o narrador. Diz Manuel,
no final do segundo ato e em tom de suspeita:
S tem, agora, um perigo:
Simo vai mudar de vida!
Venceu a misria, o que bom,
e sonho da pobreza.
Se ficar nisso, vai bem
e h de ganhar a partida!
Mas se deixar-se vencer
pelo esprito da riqueza,
est com ela perdida!
173
As suspeitas no tardam a se confirmar. O terceiro ato abre-se com a seguinte
171
Ibidem, p. 59. Desde o incio, de fato, Simo Pedro toma o partido do poeta Joaquim Simo. Miguel, no entanto,
tenta equilibrar a balana em favor de Aderaldo, exaltando seu lado trabalhador.
172
Ibidem, p. 62 (grifos nossos).
173
Ibidem, p. 110 (grifos nossos).
91
narrao que conta um episdio no encenado, mas determinante para a continuao da pea:
E, agora, devo dizer
que, contrariando um pouco,
o plano aqui de Simo,
eu tratei de empobrecer
de novo a Joaquim Simo.
174
De modo surpreendente, o personagem-narrador no apenas se apresenta como
aquele que conhece a intriga e que a transmite ao pblico, mas tambm como aquele que produziu
os acontecimentos. Como personagem divino, tem prerrogativas que ultrapassam a oniscincia e
manifestam seu papel na conduo da ao. Isso se confirma, ainda, na concluso da pea quando
Manuel nos informa a situao de Clarabela e de Aderaldo para alm deste mundo:
[...] vamos supor que os dois
em vez de entrarem no Inferno,
em cuja porta j se encontravam,
caram no Purgatrio
onde j se instalaram.
Vo levar trezentos anos de tapa
e mais cinqenta de belisco,
queimaduras e puxavantes de cabelo,
mas escaparam.
175
Somente no final da pea Manuel interage com os personagens terrestres. Mas
importante notar que sua ao, mesmo nesse momento, quase nunca interfere na intriga.
Enquanto os outros dois personagens divinos e os trs diabos disfaram-se mais de uma vez para
desempenhar outros papis na pea, interagindo com os quatro personagens do plano terrestre,
somente no final Manuel Carpinteiro disfara-se para pedir esmola a Aderaldo. a ltima
tentativa, como se ele fosse a ltima instncia oferecida ao ricao para se salvar (ocasio tambm
desperdiada). Alm dessa, a outra interveno comandada por Manuel com alguma relevncia
para a intriga, tambm no final, serve marcao do tempo. a histria da competio de
174
Ibidem, p. 116 (grifos nossos).
175
Ibidem, p. 176. Vale observar que, embora a fala comece com um vamos supor, acaba com verbos no indicativo,
o que denota certeza e no hiptese.
92
sonhos entre Simo Pedro, Miguel e Manuel. Como ele mesmo antecipa, essa histria, de efeito
retardador da ao, destina-se a enrolar o pblico enquanto as sete horas passam
176
. No
encontro final entre Manuel Carpinteiro (acompanhado dos dois outros personagens divinos),
Nevinha e o poeta Simo, temos a deixa que permite ao poeta contar como vai viver da por
diante, gancho para a moralidade da pea a ser tirada pelos personagens divinos.
Nesse ponto final da histria temos, reunidos numa mesma cena, os dois
protagonistas (do plano terrestre e do plano celeste). Porm, mesmo nesse encontro, h o
cuidado de resguardar o plano limitado da conscincia dos personagens terrestres. Espantado
com a naturalidade do poeta e da mulher ao encontrar Manuel, Simo ouvir deste ltimo:
Eu passei uma nuvem nos olhos dele
e tambm nos da mulher,
para que os dois se esquecessem
de todas as coisas escondidas e sagradas,
divinas e diablicas que viram hoje, aqui!
177
Do comeo ao fim da pea, portanto, Manuel Carpinteiro apresenta-se como um
personagem onisciente, cujo poder de ao inclui o de conduzir os acontecimentos e de alterar o
nvel de conscincia dos personagens
178
. Mas o tipo de informao que ele transmite ao pblico
diz respeito apenas a eventos aos quais no se tem acesso pela ao dramtica. Em momento
algum somos informados por ele da interioridade dos personagens. Durante toda a pea, com as
duas excees finais j mencionadas, este personagem-narrador est rigorosamente separado do
plano terrestre onde se passa quase toda a histria.
176
Ibidem, p. 165.
177
Ibidem, p. 178.
178
Os outros personagens divinos no tm acesso mesma oniscincia que Manuel. Simo Pedro deixa-se enganar
pelos diabos, por exemplo, quando aceita a cabra que oferece a Nevinha, no segundo ato. Miguel e Simo Pedro
tentam enganar Manuel, interferindo na histria do segundo ato.
93
2.4. Duas polmicas
A esta altura de nosso percurso, temos elementos suficientes para comentar e
esclarecer outras duas polmicas criadas em torno ao teatro de Suassuna, incluindo naturalmente
a Farsa da boa preguia. A primeira, mais sugerida do que defendida, consiste em aproximar Boal e
Suassuna em torno do sistema curinga criado pelo primeiro. A segunda parece mais complexa,
qualificando o teatro de Suassuna de pico. Sem negar seus traos picos, que demonstramos
saciedade aqui, discutiremos a abrangncia de tal apelao.
2.4.1. Boal e Suassuna: um falso paralelo
A figura de Manuel Carpinteiro, bem como a dos outros personagens sobrenaturais,
tem um certo ar de famlia para algum acostumado histria do teatro brasileiro. Ela parece se
aproximar muito do Curinga, elemento do sistema criado por Augusto Boal para o Teatro de
Arena. o que sugere Silviano Santiago, no seu comentrio ao entremez O homem da vaca e o poder
da fortuna:
Neste entremez estamos bem prximos da teoria a ser exposta posteriormente por
Augusto Boal nos espetculos do Teatro de Arena, de So Paulo, quando props e
botou em prtica a concepo do ator como um curinga. No pquer, como sabemos,
esta carta muda de valor segundo a combinao que o jogador tem nas mos. Aqui, os
atores vo mudando de personagem de acordo com o drama que toma conta da cena.
179
179
Cf. SUASSUNA, Ariano. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1974. p. 59. importante notar
que a pea e o entremez no tm a mesma estrutura nem os mesmos personagens. Parece-nos que Santiago tem
razo ao propor o paralelo entre Boal e Suassuna neste entremez, em que cinco atores fazem todos os personagens.
Na pea, entretanto, a estrutura muda consideravelmente.
94
Idelette F. dos Santos concorda inicialmente com essa posio, mas j estabelecendo
certa distncia: sem falar de preeminncia ou de influncia, pode-se constatar aqui um
paralelismo das pesquisas e das solues encontradas para problemas idnticos
180
. H, de fato,
certa proximidade entre as opes estticas de Boal e as de Suassuna. De perto, porm, revelam-
se mais disparidades do que concordncias.
O personagem-narrador de Ariano Suassuna, presente em vrias de suas peas, ,
como o Curinga, um personagem mltiplo, onisciente e criador de um ambiente mgico.
Polivalente, no teatro de Boal ele pode desempenhar qualquer papel. Temos, j aqui, uma
diferena, posto que o teatro de Ariano Suassuna no comporta a mesma elasticidade. Se no
entremez O homem da vaca e o poder da fortuna apenas cinco atores davam conta de todos os papis,
na Farsa da boa preguia assim como na maior parte das peas do dramaturgo paraibano h
quase coincidncia entre o nmero de atores e o nmero de papis (exceo feita aos disfarces,
que no chegam a constituir rigorosamente outro personagem). Se para ambos dramaturgos o
personagem-narrador onisciente, em Ariano Suassuna ele no partilha essa oniscincia com
outros personagens, sendo esta faculdade restrita a um ou poucos papis. Embora tenha em
ambos dramaturgos a funo teatralista, criadora da realidade mgica em que se inserem,
Suassuna no apresenta seu Curinga como criador do personagem que ele assume,
caracterstica do teatro de Boal, como destaca Anatol Rosenfeld:
O Curinga no o historiador que conhece as personalidades histricas s de fora;
representa o autor de uma obra fictcia (embora baseada em dados histricos) e como
tal transforma as pessoas histricas reais em personagens de quem conhece os segredos
mais ntimos, j que so suas criaes.
181
Em suma, se h algum paralelismo entre os dois, ele consiste no tipo de soluo que
ambos encontram para problemas parecidos, problemas que iro da questo econmica Idelette
180
SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da potica popular: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.
Campinas: Ed. da Unicamp, 1999. p. 276.
181
ROSENFELD, Anatol. O mito e o heri no moderno teatro brasileiro. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1996. p. 18.
95
F. dos Santos falar com justeza de um teatro do pobre
182
incorporao de elementos
prprios cultura brasileira.
Diferentemente de Boal, Suassuna no constri um sistema, no escreve uma teoria
do teatro, embora sua concepo esttica seja explicitada num movimento, o Armorial
183
.
Coerente com ele, o retorno s razes medievais essencial para a esttica teatral de Suassuna,
aportando-lhe muitos traos picos que, no teatro medieval, se justificam pela inclinao a
misturar estilos. Paralelamente, as manifestaes populares nordestinas caras ao armorial que
esto na base da Farsa da boa preguia (em especial o cordel, o mamulengo e o bumba-meu-boi),
so tambm elas emprenhadas da tradio medieval, reforando assim os elementos pico-
narrativos do teatro armorial de Suassuna. Tanto por sua matriz erudita quanto por sua matriz
popular, enfim, o teatro de Ariano Suassuna sofre a influncia da estrutura pico-narrativa
prpria da Idade Mdia. De modo mais especfico, na pea de Suassuna a estrutura pica est
diretamente relacionada ao seu carter moralizador, no que ele se vincula de modo mais sensvel
s moralidades, s farsas e s stiras do que aos mistrios e autos. da que seu teatro se nutre,
num desenvolvimento paralelo ao do sistema de Boal.
182
As pesquisas de Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna, no mbito do Teatro do Estudante de Pernambuco
(TEP) e, posteriormente, do Teatro Popular do Nordeste (TPN), traduzem fundamentalmente a mesma exigncia
trata-se de criar peas possveis de serem montadas, nas condies econmicas e culturais difceis de um pas em via
de desenvolvimento e, em particular, na regio Nordeste. Tais restries, tais limitaes impostas no devem
acarretar uma viso empobrecida do teatro e da encenao, mas, ao contrrio, levar busca de um conceito novo, de
uma dinmica prpria a um teatro do pobre, implicando uma pesquisa comum, uma economia de meios
conduzindo a uma maior participao e integrao do autor, dos atores, do diretor e do pblico. Assim, antes de
Boal, e depois, paralelamente, Hermilo Borba Filho e Suassuna conduzem uma reflexo que se manifesta
principalmente na construo do espetculo e no modo de representao das personagens. (SANTOS, Idelette
Muzart Fonseca dos, op. cit., p. 274).
183
O nome armorial, originalmente substantivo designativo da herldica aplicada sobre as armas de cavalaria,
adquire com Suassuna um significado adjetivo. Ele mesmo o explica, no texto do manifesto que inaugura o
movimento: Em nosso idioma, armorial somente substantivo. Passei a empreg-lo tambm como adjetivo.
Primeiro, porque um belo nome. Depois, porque ligado aos esmaltes da Herldica, limpos, ntidos, pintados
sobre metal ou, por outro lado, esculpidos em pedra, com animais fabulosos, cercados por folhagens, sis, luas e
estrelas. Foi a que, meio srio, meio brincando, comecei a dizer que tal poema ou tal estandarte de Cavalhada era
armorial, isto , brilhava em esmaltes puros, festivos, ntidos, metlicos e coloridos, como uma bandeira, um braso
ou um toque de clarim. (In: SUASSUNA, Ariano. O Movimento Armorial. Recife: Editora Universitria - UFPE, 1974.
p. 9).
96
2.4.2. Estatuto pico do teatro de Ariano Suassuna
A forte presena desses elementos pico-narrativos na obra de Ariano Suassuna
levou estudiosos a caracterizar sua obra dramtica de teatro pico. precisamente esta a tese
defendida por Theotonio Botelho em sua dissertao de mestrado
184
. Embora concordemos com
a afirmao de que temos, em Suassuna, um teatro de fortes motivos picos
185
, no
consentimos em dizer que o drama (em sentido substantivo) pico (em sentido adjetivo) de
Suassuna se configure, de modo preciso, com o teatro pico tal como desenvolvido por Wilder,
Brecht e Claudel
186
, nos Estados Unidos e na Europa, e por Augusto Boal
187
, no Brasil.
De fato, como acabamos de ver, encontramos na obra de Suassuna e de modo
especial na Farsa da boa preguia
188
elementos picos evidentes. Alm das rubricas e do
personagem-narrador, h tambm a interao ator-pblico. Uma anlise atenta precisaria, porm,
que esta relao refere-se muito a uma relao personagem- pblico, isto , sem que os atores se
distanciem dos tipos que encarnam (o que acontece com freqncia no teatro pico em sentido
prprio). Outra caracterstica pica pode ser vista na relativa fragmentao da Farsa. Porm,
como j foi mostrado acima, uma certa unidade da ao, alm da unidade temtica construda em
184
Acreditamos trazer uma nova abordagem da sua concepo teatral, ao procurarmos aprofundar o estudo sobre a
construo do teatro pico de Ariano Suassuna, naquilo que esse teatro estabelece como um movimento dialtico, a
par a incorporao das diversas formas dramticas, no desenvolvimento de uma narrativa apoiada, no num
confronto, mas na criao de um dilogo constante entre o popular e o erudito. In: BOTELHO, Theotonio de Paiva.
O teatro pico de Ariano Suassuna: a construo de uma narrativa erudita e popular. 2002. 343 f. Dissertao (Mestrado
em Teoria Literria) Ps-Graduao da Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2002. p. 15.
185
Ibidem, p. 292.
186
Segundo Anatol Rosenfel, somente estes trs autores fizeram teatro pico, na plena acepo da palavra, e no se
limitaram a somente escrever peas mais ou menos epicizantes. In: ROSENFELD, Anatol. O teatro pico. 4. ed. So
Paulo: Perspectiva, 2004. p. 124.
187
Cf. BOAL, Augusto. Teatro do oprimido [7 ed.]. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005; e ______. O teatro como
arte marcial. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.
188
Pea que, alis, foi curiosamente esquecida por Theotonio Botelho na constituio do seu corpus para a qual,
alis, falta uma justificativa convincente.
97
torno da moralidade, alcanada na alternncia pobreza-riqueza-pobreza do poeta Simo
contraposta riqueza-pobreza-riqueza de Aderaldo, apenas para citar um exemplo.
Parece-nos, enfim, mais acertado dizer que a raiz medieval-erudita (via teatro ibrico)
e medieval-popular (via cultura popular nordestina) marca fortemente a dramtica de Suassuna,
do que recorrer categoria de teatro pico para caracteriz-lo. Apoiamo-nos, mais uma vez, em
Anatol Rosenfeld, quando afirma:
Na poca que vai dos fins da Idade Mdia ao Barroco multiplicam-se as formas
dramticas e teatrais caracterizadas por forte influxo pico em conseqncia do uso
amplo de prlogos, eplogos e alocues intermedirios ao pblico, com fito didtico,
de interpretao e comentrio, semelhana de tcnicas usadas no nosso sculo por
Claudel, Wilder e Brecht.
189
Se h confuso, porque h proximidade. Mas proximidade apenas, entre o modelo
dramtico de Suassuna e o que se pode chamar a justo ttulo de teatro pico.
3. Relevncia tico-esttica da figura do narrador na Farsa da boa preguia
Os vestgios narrativos presentes na Farsa da boa preguia, dentre os quais se destaca a
figura do personagem-narrador, permitem-nos agora tecer algumas consideraes conclusivas em
torno relevncia esttica e tica dessa figura fundamental para a pea.
Sendo uma pea longa, h inevitavelmente uma certa tendncia fragmentao. A
relativa autonomia dos atos (cada ato tem seu ttulo prprio) o maior exemplo dessa tendncia
discordncia, para usar o termo de Ricur. E, se considerarmos que o segundo e o terceiro atos
foram fabricados a partir de outras peas autnomas, tal concluso inevitvel: h uma certa
189
ROSENFELD, Anatol, op. cit., p. 55.
98
tendncia disperso no conjunto da pea. O argumento final nesse lado da balana que as
histrias contadas em cada ato so praticamente independentes. No entanto, no meio de todos os
elementos que tendem a fragmentar a fbula, alguns dispositivos muito bem empregados
asseguram uma coerncia e uma coeso da tenso dialtica concordncia-discordncia da Farsa
que garante sua integridade: uma pea s e no trs peas em uma.
J mencionamos um certo cruzamento nos percursos do protagonista e do
antagonista, circulando entre pobreza e riqueza
190
. A coerncia dos personagens, alis, um dado
essencial da unidade. Como vimos no incio do captulo, tais personagens so resultado de uma
criao nova, posto que suas identidades estavam apenas esboadas nos entremezes ou sequer
existiam nesse estgio. Nevinha aparece, mas no tem nome em O homem da vaca. Os trs
personagens divinos no existiam anteriormente. Havia apenas dois diabos, em O rico avarento. Ao
compor a Farsa, as histrias, embora um tanto distintas, passam a ser vividas pelos mesmos
personagens que mantm sempre ao longo da pea uma grande coerncia prtica, construindo
uma identidade narrativa constante e uma ao verossmil.
Mas, no meio de todos esses elementos, sobretudo o narrador enquanto intrprete
da ao que assegura a unidade ao conjunto
191
. O que sustenta o interesse at o final da pea no
a curiosidade de saber o final da histria de Simo que, alis, permanece aberto uma vez que ele
termina anunciando uma ao futura (a composio de trs folhetos, com os nomes dos atos da
pea
192
), que no vemos se realizar. A ateno do pblico conduzida de modo mais eficaz pela
interveno dos personagens divinos liderados por Manuel, cujas falas consistem particularmente
em interpretar a ao para delas tirar a moral da histria. O recurso formal esttico escolhido
190
O poeta comea a pea pobre (1
o
ato), fica rico (2
o
ato) e volta a ser pobre (3
o
ato). O ricao comea rico e perde
toda a sua fortuna (1
o
ato), volta a ficar rico e perde uma grande soma para Simo (2
o
ato), volta a ficar rico, mas
vivendo pobremente por avareza (3
o
ato).
191
Este recurso no indito na obra de Suassuna. Funo semelhante pode talvez ser atribuda ao palhao do Auto
da Compadecida e a Cheiroso e Cheirosa, de A pena e a lei.
192
Essa passagem constitui uma metalinguagem sutil, pois o espectador no tem acesso direto ao texto escrito onde
constam os nomes dos atos. Pode-se supor, no entanto, que uma montagem bem feita disponibilize um folheto onde
constem, alm da ficha tcnica, os nomes das partes.
99
(um personagem-narrador) corresponde, assim, a uma opo de contedo (articular o assunto
tico que julgado com a representao da ao que preparada e conduzida). A relao dialtica,
no cabendo, portanto, saber se a forma pede o contedo ou vice-versa. Interessa, no entanto,
saber que a articulao entre os dois funciona de modo eficaz no nvel do texto e, pode-se supor,
no nvel do espetculo. Sendo dialtica, a temtica tica em torno dos dois tipos de preguia
alimenta a opo formal atravs de um grupo de personagens que discute o paradoxo de uma
ao ociosa (criativa, artstica) do protagonista da intriga. Uma parte dos personagens ir pr
prova, contestar, tentar mudar ou, finalmente, aceitar essa atitude. E essa construo orgnica
que alimentar a retomada freqente da discusso at a concluso da pea, na qual efetivamente
se pronuncia um juzo final sobre o assunto.
Vendo sob outro ponto de vista a relao forma-contedo, podemos dizer que a
ambigidade moral do tema abordado encontra forte respaldo no uso de elementos grotescos,
pardicos, ligados ao baixo corporal tal como definido por Bakhtin
193
, conforme pondera Lgia
Vassalo no estudo j citado
194
. Tal escolha provocou reaes poca da encenao da pea,
levando o autor a se defender no prlogo explicativo j mais de uma vez mencionado: Na
verdade, o elogio que eu queria fazer na pea era, em primeiro lugar, o do cio criador
195
. E o
faz. No entanto, o elogio no poupa o anti-heri que o ilustra. Afinal, o poeta Joaquim Simo
est longe de ser perfeito. Se algum sai justificado da pea , talvez, Nevinha, personagem-tipo
de uma pureza um tanto idealizada, cujo nico fraco gostar de Simo. O poeta, por seu turno,
apresentado como artista o que respalda o elogio do cio criador -, mas tambm preguioso
para o trabalho. Mesmo para o trabalho como artista, pois no consegue sequer alimento para a
193
BAKHTIN, Mikhail A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto de Franois Rabelais. So Paulo:
Editora Hucitec, 1987. p. 16 et. seq.
194
O baixo corporal prepondera em Farsa da boa preguia por causa do seu gnero mesmo (VASSALO, Lgia.
Permanncia do medieval no teatro de Ariano Suassuna. 1988. 338 f. Tese (Doutorado em Letras) Ps-graduao em
Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988. p. 187).
195
SUASSUNA, Ariano. A Farsa e a preguia brasileira. In: ______. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio Ed., 1979. p. x.
100
famlia com sua atividade, embora prometa maravilhas.
O carter problemtico de Joaquim Simo aparece de modo mais evidente no incio
do terceiro ato, quando o narrador no s anuncia sua derrocada, mas tambm revela que ele
mesmo a conduziu para afast-lo do vcio. Seus defeitos so acentuados tanto por Manuel
Carpinteiro (a primeira coisa que ele inventou de praticar [...] foi enganar a mulher) como por
Miguel (O pior que Simo foi-se deixando possuir pelo esprito da riqueza. Foi ficando
parecido com Aderaldo Cataco
196
). No h, pois, heri no sentido clssico presente na Farsa,
como veremos no ltimo captulo ao examinarmos a identidade narrativa do poeta
197
. Mas, como
j dissemos, o equilbrio parece ser a marca dessa pea, inclusive nesse ponto. E adiante-se que o
comportamento do protagonista chega a se aproximar, num certo momento, ao do seu
antagonista. A moralidade ambgua de Joaquim Simo confunde o sentimento de empatia, sendo
este um outro elemento que contribui para a fragmentao da pea. No final, espera-se saber
mais quem verdadeiramente Simo, que tem ele a revelar do que saber o resultado de suas
desventuras. Isto permite caracterizar a intriga da Farsa mais como de revelao do que de resoluo.
E Manuel Carpinteiro, o deus da pea representando Deus de verdade, quem conduz a exegese
assegurando a unidade (sob este aspecto especialmente temtica) da pea:
Manuel Carpinteiro: E ento, a moral essa,
que mostramos porfia!
Simo Pedro: Viva a preguia de Deus
que criou a harmonia,
que criou o mundo e a vida,
que criou tudo o que cria!
Manuel Carpinteiro: Viva o cio dos Poetas
que tece beleza e fia!
198
O narrador , destarte, essencial. Do ponto de vista tico, como acabamos de ver, tal
personagem tem papel central. Assim como ele serve estrutura, garantindo sua unidade pela
196
Ibidem, p. 115 (ambas as citaes).
197
Cf. captulo quinto, item 2.1.1 , p. 163 et seq.
198
Ibidem, p.181
101
articulao dos atos, serve igualmente ao tema, garantindo a retomada constante do assunto
posto em discusso ao longo da pea.
Ao falarmos em discusso, aproximamo-nos da palavra julgamento. Mas se a pea
conduz a leitura a se comportar como um julgamento, por conta de seus artifcios literrios, esse
julgamento de outra natureza que o julgamento moral, embora se aproxime muito dele. Na
anlise dos personagens que se far no captulo quinto, ver-se- mais em detalhe como essa
situao configura-se na obra, para o que voltaremos a definir algumas ferramentas tericas com
a ajuda de Paul Ricur, tais como as noes de identidade narrativa e de julgamento tico-
literrio.
Mas a investigao da identidade dos principais personagens da Farsa e do tipo de
julgamento contido no texto e proposto por ele supe uma anlise mais profunda da estrutura da
pea. Retomando nosso marco terico, somente com a anlise da mimesis II poderemos
compreender as aberturas do processo em direo ao que Ricur denomina mimesis III. Passemos
a ela.
102
IV
NAS PROFUNDEZAS DO TEXTO:
ESTRUTURA E MIMESIS II DA FARSA DA BOA PREGUIA
A opo de concentrar nossa anlise no texto, deixando em segundo plano os nveis
mais ligados composio (mimesis I)
199
e recepo (mimesis III), impe-nos a tarefa de investigar
os princpios que organizam a construo narrativa da pea que analisamos (mimesis II). No
estando a linguagem, salvo exceo
200
, dentre os aspectos mais relevantes da pea, o estudo da
representao da ao que ela contm tem um valor ainda maior para sua compreenso. Essa
uma das razes que nos impelem ao aprofundamento da nossa inteligncia do texto, ou seja,
busca das estruturas profundas das quais as configuraes narrativas concretas seriam a
manifestao na superfcie da narrativa, como diria Ricur
201
.
Tendo como foco a relao entre a esttica do texto e os elementos ticos que sua
composio contm, este compromisso com a anlise do texto torna-se ainda mais exigente. Caso
a relao seja apenas extrnseca, construda somente aps o texto e desvinculada de sua estrutura
(como um discurso sobre o texto e no a partir dele), nossa hiptese interpretativa cairia no vazio.
J tivemos ocasio de perceber que os indcios apontam para outra direo, porm. O captulo
199
Novamente importa, aqui, fazer a ressalva de que a mimesis I refere-se ao estgio pr-narrativo da ao real.
Quando aproximamos a composio (que seria mais prpria da mimesis II) dessa primeira etapa, estamos nos
referindo habilidade do autor em manipular elementos do real que sero selecionados e organizados pela
construo da intriga na etapa seguinte. De modo mais preciso, este enfoque nos situa na passagem da mimesis I
mimesis II. (Cf. notas 72 e 146).
200
Assinalamos, aqui, a importncia do discurso de abertura da pea, na boca do personagem-narrador, que
analisaremos no prximo captulo. Se deixamos de lado o estudo da linguagem em si, no entendemos que a
linguagem seja secundria. De fato, no haveria obra sem linguagem. No entanto, dentre os recursos utilizados pelo
autor, a linguagem no o que conhece maior elaborao no exigindo, em geral, uma anlise mais detalhada.
201
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 2. 1. ed. 1984. Paris: Seuil, 1991. p. 58. 3 volumes. (Poche, 228).
103
precedente permitiu-nos ver, guiados pelos vestgios narrativos da pea, como a Farsa combina
dialeticamente forma e contedo sob o signo da discusso em torno da qualidade de um
comportamento, vicioso ou virtuoso. Convm, agora, verificar como o uso desses elementos
narrativos de superfcie relaciona-se com o nvel profundo das oposies fundamentais da pea.
Na perspectiva da trplice mimesis, o prprio Ricur destaca o papel da estrutura e da
anlise estrutural do texto, correlativo etapa da mimesis II. Como j foi dito no captulo segundo,
esta etapa da mimesis que constitui o piv do processo de composio mimtica, sendo tambm
o eixo do processo interpretativo na medida em que ela que constitui a obra enquanto tal.
Noutros termos, no h interpretao correta que no a inclua ou que esteja em desacordo com o
estudo da constituio estrutural do texto e de suas tenses significativas, exercendo neste
momento uma funo de controle da interpretao. Como observa Anne Ubersfeld, sem dvida
suficiente que a determinao da estrutura actancial nos permita evitar anlises to confusas
quanto anlise psicolgica das personagens, e to aleatrias quanto a tambm clssica
dramaturgia do texto de teatro
202
. Poderamos listar outras formas de desajuste, alm deste
exemplo dado pela pesquisadora.
Do lado oposto, porm, h um outro extremo a ser evitado: o do enrijecimento do
modelo estrutural. Boa parte da anlise feita no segundo captulo do tomo II de Tempo e narrativa
dedicada a mostrar a dificuldade desse modelo explicativo em lidar com a realidade do tempo.
Ricur identifica uma certa contradio nas teorias de Propp, Bremond, Todorov e Greimas,
todos eles tentando, em maior ou menor grau, conjugar um modelo taxeonmico com um
modelo orgnico para dar conta da dinamicidade da narrativa
203
. Sendo esse aspecto dinmico um
202
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. So Paulo: Perspectiva, 2005. p. 31.
203
Ricur dir, por exemplo, do modelo de Propp, que sua morfologia se reclama abertamente de Lineu, quer
dizer, de uma concepo taxeonmica da estrutura, mas tambm discretamente de Goethe, quer dizer, de uma
concepo orgnica da estrutura (RICUR, Paul, op. cit., p. 68). Dir ainda, a propsito de Greimas: o modelo de
Greimas me parece submisso a uma dupla limitao: lgica, de um lado, prxico-ptica do outro. Mas ele no satisfaz
primeira, adiando sempre a inscrio sobre o quadrado semitico dos componentes da narratividade introduzida a
104
de seus vetores centrais, a narrativa no pode ser considerada sob a tica exclusiva da fixidez da
estrutura.
Para entender melhor a posio de Ricur, preciso lembrar novamente sua
refutao crtica feita tradio hermenutica que ope o modelo da compreenso (prprio das
cincias humanas) e o modelo da explicao (prprio s cincias exatas). Superando essa
separao aqui apresentada de modo simplista, ele articular as duas formas de conhecimento
como etapas de um processo complexo que inclui um momento de aprofundamento. No campo
da literatura, a configurao prpria da mimesis II exigiria tambm uma abordagem explicativa do
texto, recorrendo anlise de sua estrutura. Podemos isolar o texto do mundo e estud-lo
abundantemente de maneira separada. Mas este conhecimento deve ser re-situado num horizonte
mais amplo, o da totalidade do processo mimtico. Como diz Ricur,
[se] ns temos a anlise estrutural como uma etapa e uma etapa necessria entre
uma interpretao inocente e uma interpretao crtica, entre uma interpretao
superficial e uma interpretao profunda, agora parece possvel recolocar explicao e
interpretao sob um nico arco hermenutico e integrar as atitudes opostas da explicao
e da compreenso em uma concepo global da leitura como retomada do sentido.
204
Avanando nessa direo e esclarecendo sua noo de interpretao, Ricur dir
ainda que explicar, extrair a estrutura, quer dizer, as relaes internas de dependncia que
constituem a esttica do texto; interpretar tomar o caminho de pensamento aberto pelo texto,
pr-se a caminho em direo ao oriente do texto.
205
Situados por essa introduo, passemos a uma anlise mais concentrada na estrutura
da pea. Em primeiro lugar, buscaremos identificar os princpios e oposies mais facilmente
perceptveis a partir da considerao da intriga e da trama com os elementos j apresentados nos
cada novo degrau, que por mais paralela que seja a inteligncia que ns temos da narrativa e da intriga suscita
adjunes apropriadas de ordem francamente sintagmtica, sem as quais o modelo taxeonmico permaneceria inerte
e estril. Mas se apressa em acrescentar: Reconhecer o carter misto do modelo de Greimas no absolutamente
refut-lo: ao contrrio, trazer luz do dia as condies de sua inteligibilidade. In: Ibidem, p. 114.
204
Ibidem, p. 174.
205
Ibidem, p. 175.
105
captulos precedentes. Em seguida, identificaremos a estrutura profunda da pea com o suporte
do modelo actancial, tal como adaptado ao teatro por Jean-Pierre Ryngaert
206
e, sobretudo, pela j
citada Anne Ubersfeld
207
.
1. Primeira abordagem das oposies fundamentais da pea
Como vimos no captulo precedente, uma das conseqncias formais mais relevantes
da opo esttica de Ariano Suassuna, ao conciliar elementos do teatro ibrico com elementos
populares nordestinos, a insero de certos traos picos na sua obra. Mas sua escolha implica,
tambm, a valorizao da temtica religiosa e moral, coerente com a mistura de formas descrita
no captulo primeiro. em torno dessa temtica que se articula a unidade da pea. A cena de
abertura enuncia imediatamente o problema na forma de uma dupla oposio: uma no plano
vertical (bem x mal), outra no horizontal (rico x pobre). Tal esquematizao explica melhor o tom
srio-cmico da pea. como se o conflito pobre-rico, to acessvel comdia, fosse temperado
pelo tema grave da luta do bem contra o mal, da virtude contra o vcio. Seria errneo, porm,
fazer coincidir as duas oposies, simplificando-as demasiadamente como se o bem coincidisse
com a pobreza e o mal com a riqueza. As tenses so distintas e articuladas entre si.
Tal luta atravessa toda a intriga, dando-se em planos muito distintos. No nvel mais
evidente, esto os personagens celestes opostos aos trs demnios. Mas h diviso mesmo no
interior do mbito celeste, no propriamente opondo o bem ao mal, mas dividindo os
personagens divinos em torno ao julgamento da bondade ou da maldade da atitude (preguiosa)
206
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introduo anlise do teatro. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
207
UBERSFELD, Anne, op. cit.
106
de Joaquim Simo. Num outro plano, mais decisivo ainda para a intriga e para nossa anlise, a
oposio mal x bem posta diante dos personagens, que tm vrias vezes que decidir entre um
ou outro, entre vcio e virtude. Embora seja apresentada de forma cmica, a seriedade do tema se
impe: a perda da vida que est em jogo. E no s da vida eterna, mas da vida terrestre mesmo,
posto que os diabos vm levar imediatamente os ricos e tentar levar tambm os pobres no
final.
Portanto, a oposio mais profunda da pea parece no estar no eixo horizontal
pobre-rico e sim no eixo vertical mal-bem. Os dois eixos articulam-se, entretanto, e so
enquadrados numa cosmologia de tipo crist que se divide em trs planos, correspondentes aos
trs tipos de personagem: plano celeste, plano terrestre e plano infernal. Note-se que a situao
era bem diversa nos entremezes que originaram o segundo e o terceiro atos. Em O homem da vaca e
o poder da fortuna, temos apenas a oposio pobreza x riqueza, apresentada na situao do
personagem Simo que, sendo preguioso, no ganha bem a vida. A apario do rico no final do
entremez refora a oposio, da qual sai o pobre vitorioso ao ganhar a aposta. Em O rico avarento,
temos outra vez a oposio riqueza x pobreza, sendo que neste entremez no vemos nenhuma
tentativa do pobre em melhorar de vida, hiptese que no se realiza. Mas nesse entremez aparece,
no final, o vestgio que ser desenvolvido na Farsa, ao vermos o rico levado pelos diabos. A
intriga no se conclui bem para nenhum dos personagens, nesse entremez, j que o pobre fica
pobre e o rico danado. Na Farsa, a temtica da salvao final e da qualidade da vida na terra so
discutidas com mais profundidade, sendo a oposio pobreza x riqueza posta a servio dela.
De forma grfica, tal estrutura poderia ser assim desenhada:
107
Com esta estrutura complexa, a Farsa resiste a uma aparente fragmentao dos
episdios que a compem justamente pela fora da dupla oposio. No plano terrestre, palco da
oposio pobre x rico, d-se a unidade da intriga contada em cada ato. Mas o todo englobado
na cosmologia cu-terra-inferno
208
e o conjunto da pea alinhado em torno da oposio bem x
mal.
Estes elementos j nos situam na pista da compreenso da estrutura profunda da
pea, mas carecem de uma considerao mais detalhada da ao na pea. Recorrendo ao suporte
do modelo actancial, verifiquemos at que ponto essas tenses correspondem construo da
mimesis da ao na Farsa, lanando luz sobre o seu funcionamento.
2. Anlise actancial da Farsa da boa preguia
O modelo actancial desenvolveu-se sobretudo a partir dos anos 70, retomando no
plano do discurso narrativo o que fora comeado no plano da lngua por Saussure, na primeira
208
Entre o cu e a terra, existe ainda o purgatrio, mas apenas como etapa provisria e ligada ao cu como estgio
preparatrio e, como diz o nome, purificador.
PLANO CELESTE
PLANO TERRESTRE
PLANO INFERNAL
POBRE RICO
BEM
MAL
108
metade do sculo XX. Herdeiro da tradio dos formalistas russos e integrando a vertente
estruturalista, o que motiva o tipo de investigao prprio no modelo actancial a busca de
estruturas lgicas permanentes no plano da narrativa, que permitam superar a diversidade
vertiginosa das formas narrativas
209
. Esse tipo de abordagem sincrnica parte da homologia entre
lngua e narrativa, buscando as estruturas mnimas que garantiriam uma explicao estrutural da
macroestrutura, sendo que esta precede sempre logicamente as partes dentro da lgica dedutiva
que caracteriza esse mtodo. Nessa viso orgnica, as unidades mnimas do todo s teriam
significado em funo de suas relaes mtuas na totalidade da narrativa. assim que se dar a
busca dos elementos mnimos da narrativa que, articulados segundo um nmero mensurvel de
relaes, constituem o sentido de qualquer histria.
Claude Lvi-Strauss pode ser considerado o pioneiro desta tradio, com sua
investigao sobre as estruturas universais dos mitos ou mitemas, organizados segundo ele
conforme certas relaes significativas que so inerentes mente humana. Mas normalmente
aponta-se o trabalho de Vladimir Propp, Morfologia do conto maravilhoso
210
, como o ponto de partida
da investigao actancial em literatura, ao distinguir o plano das funes do plano dos
personagens. Analisando os contos russos, ele identificar sete esferas de ao (heri, ajudante,
vilo, pessoa procurada, etc.) e trinta e um elementos fixos ou funes. O desenvolvimento deste
modelo que passar por autores essenciais como Tzvetan Todorov
211
, Claude Bremond
212
,
tienne Souriau
213
dentre outros encontrar um momento decisivo em sua trajetria com o
semanticista lituano Algirdas Julius Greimas
214
, que dar nome ao modelo ao propor o conceito
209
Como diria Ricur, o que move esse tipo de investigao essencialmente a ambio de fundar a perenidade da
funo narrativa sobre regras de jogo subtradas histria. In: RICUR, Paul, op. cit., p. 59.
210
PROPP, Vladimir Iakovlevich. Morfologia do conto maravilhoso. Rio de Janeiro: Forense-Universitria, 1984.
211
TODOROV, Tzvetan. Potica da prosa. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
212
BREMOND, Claude. Logique du rcit. Paris: d. du Seuil, 1973.
213
SOURIAU, tienne. As 200 mil situaes dramticas. So Paulo: tica, 1993.
214
O pensamento de Greimas conhece um desenvolvimento complexo, que se inicia com sua obra Semntica estrutural
(de 1966) e continuar com Du sens (de 1970) e Maupassant (1976). Concentrar-nos-emos, sobretudo, no esquema de
base proposto pelo modelo actancial. Optamos, ainda, por seguir a interpretao do modelo proposta por Anne
109
de actante, que no nem a narrativa especfica, nem um personagem, mas uma unidade
estrutural
215
.
Greimas construir seu modelo em nveis diferentes de abstrao, partindo do mais
geral ao mais especfico. No nvel I, temos o que ele denomina quadrado semitico, definido
pelas relaes de contradio (branco x no-branco), de contrariedade (branco x preto) e de
pressuposio (no-branco x preto).
O nvel II, dependente deste e preparado por ele, o do esquema de base em que se
articulam seis actantes: Sujeito e Objeto, Destinador (ou Emissor) e Destinatrio (ou Receptor),
Adjuvante e Adversrio (ou opositor)
216
, normalmente apresentadas da seguinte forma:
Como observa Ricur, este esquema organiza-se em torno a trs eixos de oposies
binrias: o eixo do desejo, que relaciona sujeito a objeto; o eixo comunicativo, relacionando
destinador e destinatrio; finalmente o eixo pragmtico, no qual se opem adjuvante e adversrio e
Ubersfeld, que o adapta ao campo do teatro. Patrice Pavis ir criticar esta autora pela modificao imposta ao
modelo de Greimas. (Cf: Actancial (Modelo), in: PAVIS, Patrice. Dicionrio de Teatro. So Paulo: Perspectiva, 1999. p.
8-9). Segundo Pavis, ao dar prioridade ao sujeito na relao com o destinador e o destinatrio, ela tende a
supervalorizar a natureza do sujeito, vinculado a uma relao de natureza ideolgica com o eixo comunicativo. No
modelo original, tal perigo seria evitado pela construo progressiva do sujeito em relao ao objeto. No entanto,
parece-nos que a prioridade deve ser dada no a um ou outro ponto de vista, mas constituio do ncleo da ao
(que Ricur denomina eixo do desejo) e que Ubersfeld prope como ponto de partida da anlise.
215
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura. Uma Introduo. So Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 143.
216
Como nota Anne Ubersfeld, Greimas corrige o modelo de Souriau ao eliminar a funo do rbitro, ou de ponto
de vista, irredutvel a uma funo sinttica e assimilvel a outras das seis funes (cf. UBERSFELD, Anne, op. cit., p.
35).
Sujeito
Objeto
Destinador
(ou Emissor)
Destinatrio
(ou Receptor)
Adjuvante Adversrio
(ou oponente)
110
que pode interferir seja no eixo do desejo, seja no eixo da comunicao
217
. Vale lembrar
novamente que os actantes no correspondem aos personagens, podendo esta categoria referir-se
a mais de um personagem ou o mesmo personagem ocupar simultaneamente duas casas no
esquema.
A anlise com base neste modelo consiste, enfim, na identificao dos actantes de
uma narrativa e, sobretudo, de suas relaes mtuas de conjuno e de disjuno. Mas a relao
deste nvel com a superfcie do texto preparada ainda por outra etapa, o nvel III, onde se
encontram os atores (conceito diverso da noo de ator fsico, ser humano) e os papis, entidades
mais definidas que os actantes, mas ainda no identificveis com os personagens. Ao contrrio, os
personagens sero construdos com base num complexo de actantes e na possvel relao com
papis, como veremos no final da anlise.
Esta explicao do jogo complexo de tenses permite lanar luz sobre a estrutura da
intriga. Porm a pretenso de uma considerao meramente sincrnica da narrativa sofre um
revs, como se v pela importncia dada noo de prova, como salienta Paul Ricur:
Em um modelo puramente actancial, esta estratgia [de buscar as relaes de disjuno
e conjuno dos trs eixos] no atinge seu objetivo. Ela contribui, ao contrrio, para
destacar o papel irredutvel do desenvolvimento temporal na narrativa, na medida em
que ela mesma coloca em relevo a noo de prova. Esta constitui o momento crtico da
narrativa, caracterizado no plano diacrnico como busca.
218
A crtica pertinente de Ricur no invalida, porm, o modelo, que continua
guardando toda sua relevncia na identificao das oposies fundamentais que estruturam a
histria, ainda que seja necessria uma correo para incluir o tempo na narrativa. No por
217
O modelo combina trs relaes: de desejo, de comunicao e de ao, referindo-se cada uma a uma oposio
binria. In: RICUR, Paul. Idem. p. 90.
218
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol. 2. 1. ed. 1984. Paris: Seuil, 1991. p. 91. 3 volumes. (Poche, 228).
111
acaso que o filsofo inclui este modelo interpretativo no momento de aprofundamento da mimesis II
em sua prpria teoria
219
.
Mas veremos melhor o significado e a pertinncia dessas categorias na anlise
concreta da Farsa. Seguiremos a progresso dos nveis I, II e III para chegarmos superfcie do
texto, indo dos actantes aos personagens.
2.1. Estruturas elementares de significado na Farsa
Antes de nos dedicarmos anlise do esquema de base, necessrio identificar quais
so os principais elementos de significado da pea (lexemas) para a construo da intriga. com
base nestes, em suas relaes de contrariedade, contradio e pressuposio que as relaes sero
estabelecidas nos trs eixos do modelo actancial.
Tomando como ponto de partida as oposies que identificamos na introduo deste
captulo, o seguinte conjunto de relaes aparece como o conjunto principal de significado da
pea. Ele pode ser assim representado:
Pobre x no-pobre Rico x no-rico Vcio x no-vcio Virtude x no-virtude
Pobre x rico Rico x pobre Vcio x virtude Virtude x vcio
219
Mais do que modificar o modelo, a observao do filsofo afirma a precedncia da inteligncia narrativa em
relao explicao lgico-sinttica: a mediao operada pela narrativa essencialmente prtica, seja que, como o
prprio Greimas sugere, ela vise restaurar uma ordem anterior que ameaada, ou que ela vise projetar uma nova
ordem que seria a promessa de uma salvao. Que a histria contada explique a ordem existente ou projete uma
outra ordem, ela coloca, enquanto histria, um limite a todas as reformulaes puramente lgicas da estrutura
narrativa. nesse sentido que a inteligncia narrativa e a compreenso da intriga precedem a reconstruo da
narrativa sobre a base de uma lgica sinttica (RICUR, Paul, idem, p. 92-93). Mais adiante, no mesmo captulo,
Ricur voltar a esta posio: minha dvida inicial [...] que, desde seu primeiro estgio, a saber a construo do
quadrado semitico, a anlise teleologicamente guiada pela antecipao do estgio final, a saber o da narrao
enquanto processo criador de valores (Du sens, p. 178) onde eu vejo a equivalndia, no plano da racionalidade
semitica, do que nossa cultura narrativa nos faz compreender como intriga. Entendamos bem: esta dvida no
desqualifica em nada o empreendimento. Ela coloca em questo a autonomia presumida das iniciativas semiticas.
In: Ibidem, p. 107.
112
No-pobre x rico No-rico x pobre No-vcio x virtude No-virtude x vcio
Infernal x no-infernal Celeste x no-celeste
Infernal x celeste Celeste x infernal
No-infernal x celeste No-celeste x infernal
J o elemento terrestre parece-nos dever ser descrito de forma um pouco mais
complexa, tendo como relao no apenas um termo, mas simultaneamente dois, na medida em
que seu significado sempre relacionado a cu e inferno, neste caso:
Terrestre x no-terrestre
Terrestre x infernal Terrestre x celeste
No-terrestre x infernal No-terrestre x celeste
Este quadro deve, ainda, ser completado por outro conjunto significativo correlato a
ele, mais explicitamente ligado representao de pessoas:
Homem x no-homem
Homem x diabo Homem x Deus
No-homem x diabo No-homem x Deus
Essas unidades parecem conter o essencial do que se desenvolver no esquema de
base. Outras unidades, porm, iro interferir na construo da ao, interagindo com estes outros
elementos. Em particular, destacamos estes outros:
Preguia x no-preguia Trabalho x no-trabalho Fidelidade x no-fidelidade Traio x no-traio
Preguia x trabalho Trabalho x preguia Fidelidade x traio Traio x fidelidade
No-preguia x trabalho No-trabalho x preguia No-fidelidade x traio No-traio x fidelidade
O nmero de combinaes entre os termos poderia ser multiplicado muito mais,
como no caso dos elementos infernal, terrestre e celeste (que apresentamos em conjunto para
respeitar a cosmologia implcita nos elementos). A dinmica da pea ir relacionar, por exemplo,
os elementos pobreza x riqueza com preguia x trabalho, assim como pobreza x riqueza e
113
fidelidade x traio (no somente das esposas, mas tambm dos diabos interferindo este
elemento na fidcia atribuda aos personagens). Enfim, sobre essas estruturas de base que todo
o desenvolvimento da Farsa ser construdo. Eles compem, de fato, um complexo de oposies
que responde pelo conjunto de interaes e reviravoltas da pea, compondo tambm um certo
nmero de paradigmas de ao que integraro a definio dos atores e, por conseqncia, dos
personagens no nvel da superfcie do texto. Vejamos como elas se configuram no nvel II da
anlise, atravs do esquema de base.
2.2. O ncleo sujeito-objeto na Farsa
O ncleo central do modelo actancial a relao Sujeito-Objeto (S-O), unidos os
termos por uma flecha que indica o sentido da busca, do querer, e que desencadeia toda a ao.
a esse par que Ricur denomina justamente eixo do desejo.
Embora os actantes no coincidam necessariamente com os personagens, comum
que o sujeito coincida com o heri. necessrio, no entanto, que essa relao esteja fundada
textualmente e se faa gradualmente. Mas a coincidncia explica-se pela exigncia de consistncia
do ncleo (uma pessoa ou uma comunidade, mas sempre seres animados
220
), capaz de sustentar a
verossimilhana de um movimento claramente definido em direo a um objeto desejado
221
.
220
O sujeito pode ser coletivo; pode ser um grupo que deseja sua prpria salvao ou sua liberdade (ameaadas ou
perdidas), ou a conquista de um bem; isso no pode ser uma abstrao. O destinador e mesmo o destinatrio, a
rigor, o adjuvante ou o oponente, podem ser abstratos, o sujeito sempre animado, apresentado como vivo e
atuante. In: UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 43.
221
Ricur apresenta a tipologia do desejo proposta por Greimas no Du sens com a ressalva de que este
procedimento, situado no segundo nvel, das estruturas superficiais, acrescenta ao nvel da estrutura profunda
(quadrado semitico) com o recurso filosofia analtica e fenomenologia: A tipologia do desejar fazer, do desejar
ser, do desejar ter, do desejar saber e do poder desejar excelente. Mas ela depende, do ponto de vista lingstico, de
uma gramtica bastante especfica que a filosofia analtica elaborou com o maior refinamento possvel sob o nome de
114
Como observa Anne Ubersfeld, a determinao do sujeito s pode dar-se em relao ao, em
sua correlao com o objeto
222
.
Em termos prticos, a determinao do sujeito na anlise simultnea
determinao do objeto e da relao que existe entre ambos. insuficiente, por exemplo,
identificar o sujeito pelo seu protagonismo na pea, ainda que este se respalde na contagem do
nmero de falas e de aparies do personagem. Sem o qu e o porqu da ao, seria
impossvel determinar o sujeito ainda que a relao de desejo que une sujeito e objeto no
tenha exatamente o mesmo significado que a motivao. De fato, a flecha do desejo no se limita
s razes da ao. Trata-se do impulso que impele o personagem a agir
223
.
No caso da Farsa, encontramos uma primeira dificuldade em identificar este
movimento se tomamos como hiptese inicial a identificao do ator poeta
224
(pobre/no-
trabalho), com o actante sujeito. O tipo de relao que este par estabelece como objeto, de
fato, consiste justamente na defesa da sua inao, ou seja, a permanncia na boa preguia
aparentemente boa, pois inclui as desavenas da falta de dinheiro que resultar na misria. Uma
considerao mais atenta da qualidade do objeto, porm, ou de sua modificao ao longo da
intriga parece resolver o impasse. A atitude do ator poeta no incio da pea certamente
orientada no sentido do no-trabalho, mas nada nos permite associ-la a virtuoso. Somente
no final da pea, vemos o poeta, com o apoio dos personagens celestes, aproximar-se da atitude
preguia/virtuoso que poderamos chamar, finalmente, de boa preguia. A inrcia tambm
lgica intencional. E se uma gramtica original requerida para colocar em forma lgica a relao entre os
enunciados modais em desejar que... e os enunciados descritivos do fazer, a fenomenologia implcita semntica
da ao que d sentido declarao de Greimas que os enunciados modais tendo o desejo como funo instauram o
sujeito como uma virtualidade do fazer, enquanto dois outros enunciados modais, caracterizados pelas modalidades
do saber e do poder determinam este fazer eventual de duas maneiras diferentes: como um fazer provindo do saber
ou se fundando unicamente sobre o poder (Maupassant, p. 169). In: RICUR, Paul, op. cit., p. 110.
222
UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 42.
223
A flecha determina ao mesmo tempo um querer (classema antropomorfo [...] que instaura o actante como sujeito,
isto , como operador eventual do fazer, segundo Greimas, Du sens, t. I, p. 168) e um fazer decisivo, j que determina
o fazer dramtico, in: UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 45.
224
A anlise detalhada dos atores ser realizada a seguir. Nesta etapa, basta-nos ter acesso relao do ator com os
elementos fundamentais dos termos do quadrado semitico que o compe, lembrando novamente que o ator no
coincide com o personagem. Um personagem pode incluir vrios atores.
115
desapareceria, se considerarmos as provas que o ator poeta sofre na passagem dos atos dois e
trs.
Tomando esta hiptese, teramos o seguinte ncleo:
Apesar do que acabamos de dizer, haver sempre algo de desconcertante nessa
tenso entre ao e inao no mesmo actante, a cujo significado voltaremos no prximo captulo.
Uma interpretao diferente possvel, porm, tomando como ponto de partida a definio de
outro sujeito e de outro objeto. Esta hiptese privilegia a inverso acontecida no terceiro ato,
quando o poeta (pobre/preguia) torna-se rico e o rico (rico/trabalho) deixa de
trabalhar.
O que esta inverso sugere que o tipo de desejo do poeta partilhado tambm por
outros, podendo o ator rico participar da esfera sujeito da pea, com sua carga significativa
determinada pelos elementos no-trabalho/rico, aos quais se pode acrescentar avarento,
espcie do gnero vicioso. Neste caso, teramos a relao:
Esta hiptese tem a seu favor a definio bastante clara de um ncleo volitivo
(sujeito), relacionado a um objeto determinado, com os quais estabelecer relaes diversas
(aquisio e conservao, por exemplo), mas todas de posse. Um inconveniente, porm, estaria
em que esta relao no inclui toda a intriga da pea, visto que o ator rico desaparece antes do
ltimo evento no plano terrestre, do qual participa.
Mas poderamos ampliar ainda mais o espectro do campo sujeito para incluir nessa
categoria no s os personagens terrestres masculinos, mas todos os personagens terrestres (aqui
Poeta (S) Boa preguia (O) deseja ter
Rico (S) riqueza (O) deseja ter
116
designados pelo ator ser humano). Este alargamento da categoria sujeito, porm, implica
tambm um alargamento da categoria objeto, que no mais seria o cio criativo, mas sim uma
vida boa (no sentido de vida virtuosa, equilibrada, incluindo o bem estar fsico e a salvao
espiritual). Nessa hiptese, o esquema seria:
Esta hiptese interpretativa plausvel, encontrando respaldo no texto. A
caracterizao dos personagens no conjunto da pea e a fala dos seres divinos que abrem e
fecham os atos, no entanto, parecem contradiz-la. Na medida em que a oposio pobre x rico
muito marcada, inclusive pela diviso do espao na cena (casa do pobre casa do rico), essa
descrio contrastada impediria uma interpretao que inclusse os dois na mesma casa sujeito.
Mas embora seja constante em toda a pea, o momento de hesitao na passagem do segundo
para o terceiro ato atenua as oposies rico x pobre e preguia x trabalho, no deixando
que o ator poeta assuma um perfil completamente positivo e o ator rico outro
completamente negativo. Ainda no temos elementos suficientes, porm, para contestar a
primeira hiptese, que coloca na casa sujeito o ator poeta. Tomemos esta hiptese como
ponto de partida, guardando a alternativa que acabamos de apresentar para um novo exame aps
identificarmos os outros termos do esquema de base.
2.3. Os tringulos actanciais
O modo de abordagem do modelo actancial proposto por Anne Ubersfeld difere um
pouco da identificao dos eixos, proposta por Ricur. Em lugar destes, ela prev a identificao
Ser humano (S) vida boa (O) deseja ter
117
de certas relaes entre os termos do esquema de base que a pesquisadora denomina tringulos
actanciais, em nmero de trs: o tringulo ativo (relacionando sujeito, objeto e oponente),
o tringulo psicolgico (ligando destinador, sujeito e objeto) e o tringulo ideolgico
(reunindo sujeito, destinatrio e objeto). Vejamos cada um desses tringulos, examinando
as partes antes de chegar ao esquema actancial completo da pea.
2.3.1. O tringulo ativo: sujeito-objeto-oponente
O nome de tringulo ativo ou conflituoso explica-se porque ele constitui a ao.
Segundo Anne Ubersfeld, todos os outros actantes podem a rigor estar ausentes ou pouco
claramente indicados, mas nenhum desses trs poderia faltar
225
. Tudo organiza-se a partir do
ncleo S-O (sujeito-objeto), ligado pelo sentido que a flecha do desejo determina. O campo
oponente ser posto em relao com o objeto ou com o sujeito.
Na Farsa da boa preguia, o desacordo concentrado nos atores pobre
(pobre/no-trabalho) e rico (definido pelos elementos rico e trabalho), no plano
terrestre, e nos atores anjo (celeste/ no-humano) e santo (celeste/ no-divino), no
plano celeste. A estes, soma-se o ator diabo (infernal/ no-divino), facilmente
reconhecvel como componente dos personagens dos trs diabos: a hostilidade de Andreza
manifestada desde o incio da pea
226
, Fedegoso e Quebrapedra armam a cilada das trocas no
225
UBERSFELD, Anne, op. cit., p.47.
226
No primeiro encontro entre Andreza e Simo, vemos o seguinte dilogo: Simo: Ai, ai, ai! Eu, hein?/ Andreza,
com raiva: L vem! (SUASSUNA, Ariano Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 18).
Nesta ocasio, Andreza ajudava seu Aderaldo a seduzir a mulher do poeta. Convm destacar mais uma vez que a
meno de passagens concretas da Farsa, que se situam no nvel de superfcie, no significa a identificao do actante
com o personagem, sendo essa ltima categoria mais determinada (singular) do que a de actante (universal), que a
inclui. A passagem de um nvel a outro ser explicitada a seguir.
118
segundo ato para indispor o poeta com sua esposa, favorecendo Aderaldo. Os diabos tambm
tentaro levar Simo e Nevinha para o inferno, no final do terceiro ato.
O tringulo pode ser desenhado assim:
No plano terrestre, onde se desenrola a intriga, esta oposio formalizada na
diviso do espao nos atos um e dois, quando a descrio do cenrio coloca a casa do rico de um
lado, do outro a casa do pobre. Esta diviso do espao ser nuanada, porm, no terceiro ato, que
se passa inteiramente na casa do rico, mas com a contradio de apresent-la num ambiente de
pobreza (escassez provocada pela avareza). Tal mudana parece-nos significativa. Mas devemos
admitir que, a este ponto da intriga, a rivalidade rico x pobre sobretudo partindo do rico j foi
estabelecida pelos eventos anteriores da intriga.
A relao de adversidade, sendo centrada no sujeito e no no objeto, muito
mais radical. Ao menos em um momento, o ator rico deseja que o ator poeta desaparea
(quando Aderaldo Cataco aposta com Simo, no segundo ato, que Nevinha iria reclamar, caso
em que o poeta deveria abandonar o lar). Outro exemplo desta oposio radical a tentativa dos
diabos em condenar Joaquim Simo. Em todos os casos, a relao de rivalidade intensa, no
centrada no objeto.
2.3.2. O tringulo psicolgico: destinador-sujeito-objeto
Poeta (S)
Boa preguia (O)
Rico
Anjo
Diabo (Adv)
119
Neste tringulo, a relao S-O permite relacionar as determinaes psicolgicas do
desejo que leva a agir com a caracterizao ideolgica. Como nota Anne Ubersfeld, este
tringulo que poderemos interrogar, para a determinao psico-ideolgica do objeto: a escolha do
objeto no pode ser compreendida como se faz tradicionalmente apenas em funo das
determinaes psicolgicas do sujeito S, mas em funo da relao D1[destinador]-S
227
.
Aplicando esta observao casa sujeito, tal como definida at aqui, no bastaria a
relao narcsea pobre/preguia para orientar a ao ao objeto. Esta forte o suficiente
para justificar a associao preguia/no-virtuoso
228
. Mas sua motivao precisa estar
vinculada a uma esfera maior, a do destinatrio. Na pea, podemos identificar o elemento Deus
para esta casa. Vejamos o tringulo:
Esta relao de destinao, que inclui o desejo do sujeito numa perspectiva mais
ampla (social e, no caso da Farsa, sobrenatural) no deixa de ser problematizada, porm. De fato,
o prprio Manuel Carpinteiro, nico personagem na pea que pode ser relacionado com o ator
Deus (mas no somente com este ator), dir no comeo da pea que preguiar demais
ruim
229
, o que parece ser s vezes a atitude do personagem-poeta relacionado certamente com o
perfil de sujeito proposto.
227
UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 48.
228
Nas duas intervenes de Nevinha incentivando Simo a trabalhar, ela menciona exatamente a situao dos filhos
do casal: [...] Mas acontece que a bolacha dos meninos, hoje, /ainda no est garantida!/ V ver se d um jeito!
(SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 23). O poeta, por sua vez, parece fazer pouco caso, sugerindo solues que apenas
disfaram os problemas, como nesta fala, na discusso com Nevinha no segundo ato: Simo: [...]No tem batata de
imb?/ Nevinha: Tem!/ Simo: Pois pise e passe no ralo:/ junte gua com pimenta/ e faa aquele piro/ o tal
cabea de galo./ A filho de pobre no falta fome!/ Garanto que todos eles comem/ e inda acham que regalo!. In:
Ibidem, p. 79.
229
Ibidem, p. 9.
Deus (Destinador) Poeta (S)
Boa preguia (O)
120
Os defeitos de Simo ficaro ainda mais evidenciados novamente na transio crucial
dos atos dois e trs, quando ele enriquece e se corrompe. Neste momento, no se aplicaria mais
ao poeta o perfil de sujeito como pobre/no-trabalho. Mas curioso que tudo isso se
passe fora da cena, no intervalo do atos. Porque, exatamente na crise cujo desfecho presenciamos
ao abrir-se o terceiro ato, a esfera destinador mais claramente pode ser relacionada a Manuel
Carpinteiro, na medida em que ele orienta o poeta na direo da boa preguia (a de uma riqueza
corrupta no o seria), fazendo-o ficar pobre de novo:
E, agora, devo dizer
que, contrariando um pouco,
o plano aqui de Simo,
eu tratei de empobrecer
de novo a Joaquim Simo.
230
Simo parece ter aprendido a lio, pois no ltimo ato, alm da enunciao de uma
mudana de vida
231
, vai buscar trabalho e, escapando ao assdio dos diabos, promete escrever os
trs folhetos. A esta proposta corresponde uma fala exortativa, com conotao de bno:
Muito bem! Siga em paz
o Poeta com sua Amada!
Sirvam Deus e Igreja,
Guardem amor, fidelidade,
Se querendo sempre muito bem,
Gozando geraes e geraes de paz
Entre seus amigos e descendentes,
Coisa que desejo a todos os que prestem
Agora e para todo sempre!
232
Como esta aparente mudana do poeta no inclui uma mudana de atitude em
relao ao trabalho (ele j compunha poesias para vender na feira desde o incio da pea),
podemos nos perguntar o alcance da converso. Mas esse aspecto ser objeto de nossa anlise
no captulo seguinte. Por ora, basta-nos assinalar o problema.
230
Ibidem, p. 115
231
Deixou a amante de lado,/ a mulher o perdoou,/ ele voltou Igreja,/ segurana da Casa/ que o Cristo que
eu represento /fundou para todos ns!. In: Ibidem, p. 116.
232
Ibidem, p. 177.
121
2.3.3. O tringulo ideolgico sujeito-objeto-destinatrio
O conjunto de relaes deste tringulo serve para descobrir como a ao, tal como
se apresente no decorrer do drama, acontece em favor de um beneficirio, individual ou
social
233
. Neste sentido, este tringulo completa o precedente, ampliando a abordagem
ideolgica
234
. Observe-se, ainda, que a incluso do destinatrio da ao inclui um elemento de
diacronia na estrutura ao indicar o desenlace da histria o que refora a crtica de Ricur, que
percebe este paradoxo numa explicao que busca fugir diacronia, como vimos anteriormente.
O que nos interessa com essa observao, no entanto, que a distino entre um antes e um depois
induz pergunta: a quem serviu a ao motivada pelo desejo?
Na Farsa, a resposta a esta pergunta aponta novamente o sujeito, mas ampliado
pelo uso do termo pobre. De fato, a qualificao do objeto preguia/ virtude implica
provavelmente uma alterao na atitude do sujeito ao longo da intriga. Se pensamos no poeta,
por exemplo, teramos que incluir tambm a Igreja que o recebe como membro afinado com
233
UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 49.
234
Convm esclarecer, aqui, qual o conceito de ideologia a ser utilizado. Para o jovem Marx, especialmente nos
Manuscritos econmico-filosficos de 1843-44 e nA ideologia alem, o conceito de ideologia construdo a partir da
metfora da imagem invertida na cmera obscura, utilizada por Feuerbach em sua crtica ao cristianismo. Feuerbach,
de fato, ir dizer que os atributos do sujeito humano seriam projetados num sujeito divino imaginrio de modo que
as qualidades divinas do homem seriam vistas como atributos humanos do sujeito divino. Esta inverso servir de
paradigma para a extenso que Marx far do conceito para todo o campo do agir humano: existe o campo real da
praxis e sua projeo imaginria, a ideologia, que falsifica o domnio real. Mas um outro entendimento do conceito de
ideologia visado aqui. Embora no seja elaborado por Marx, este toca o problema ao notar que as idias da classe
dominante s passam por dominantes na medida em que se fazem crer idias universais. este procedimento de
dominao e de legitimao que o conceito, aqui, designa. Como nota Paul Ricur, todo sistema de autoridade
implica uma busca de legitimidade que excede aquilo que seus membros podem oferecer em termos de crena
[RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 423(Poche, 377)]. Como observa, ainda, o filsofo,
a construo do simbolismo social faz-se com o recurso a uma retrica da persuaso que recorre ao uso constante
de figuras e de tropos, tais como a metfora, a ironia, a ambigidade, o paradoxo, a hiprbole. (Ibidem. p. 422).
Voltaremos mais em detalhe sobre o tema da ideologia assim considerado no prximo captulo e, sobretudo, na
concluso de nosso trabalho.
122
seu produto, para usar o termo de Manuel Carpinteiro e sua famlia, admitindo que ele tenha
xito na venda dos trs folhetos que anuncia compor no final da pea e que, tendo o mesmo
nome dos trs atos, j remete ao sucesso alcanado pela prpria pea. O tringulo seria
representado assim:
O aspecto ideolgico mais relevante denotado pela oposio pobre x rico,
privilegiando o primeiro elemento. Olhando a superfcie do texto, notamos, por exemplo, que
verdade que Aderaldo e Clarabela tambm escapam de um final infeliz, sendo provavelmente
salvos do inferno
235
. Mas, alm de passarem pelo castigo no purgatrio, so salvos mediante a
interveno da orao dos pobres, que continuam em posse da vida os ricos, lembre-se, vo
para outra vida e saem de cena antes do fim da pea.
O mais importante, no entanto, o valor atribudo a estes elementos. Esta indicao
valorativa, na forma de generalizaes que revelam o aspecto propriamente ideolgico em
funcionamento neste tringulo actancial, encontra-se especialmente em algumas rubricas e nas
falas dos personagens celestes, especialmente Manuel Carpinteiro.
Na primeira rubrica da pea, antes da ao, l-se a propsito do vesturio:
Para as roupas usadas na Farsa (como em todas as minhas peas, alis), duas coisas
devem ser levadas em conta: primeiro, que o povo nordestino em geral e em particular os
atores dos espetculos populares conseguem, com imaginao maravilhosa, criar a
beleza, a grandeza e o festivo partindo da maior pobreza.
236
235
Manuel Carpinteiro dir: Olhem, provavelmente/ o caso de Aderaldo e Clarabela/ era de inferno mesmo.
/[...Mas] vamos supor que os dois/ em vez de entrarem no Inferno,/ em cuja porta j se encontravam,/ caram no
Purgatrio/ onde j se instalaram (SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 176). necessrio observar, no entanto, que a
suposio temperada com o uso dos verbos no indicativo, e no passado.
236
Ibidem, p. 4 (grifos nossos).
Igreja
Pobre (Destinatrio)
Poeta (S)
Boa preguia (O)
123
Pouco depois, outra generalizao encontra-se na rubrica que apresenta Joaquim
Simo na pea, ao dizer que ele veste com a elegncia dos miserveis, isto , de modo pobre mas
imaginoso e decorativo, contraposto ao rico que se veste de maneira rica, pretensiosa e feia
237
.
H, portanto, uma certa idealizao do pobre ao se associar a pobreza elegncia de
modo genrico, ou o povo nordestino em geral capacidade de criar beleza, embora isso possa
ser verdade em inmeros casos. Ou seja, o que aparece como propriamente ideolgico, aqui, a
generalizao de uma verdade particular.
O acesso aos demais contedos da ideologia que legitima a relao sujeito(pobres
antes da provao que precede o terceiro ato)-destinatrio(pobres depois da prova) nos dado
pelas falas de Manuel Carpinteiro, ele mesmo associado pobreza
238
. E reaparece, aqui, a
importncia do qualificativo do objeto: boa preguia. Esta preguia virtuosa aparece associada a
outros aspectos da ideologia crist, formando o produto que o camel-Cristo oferece:
Os distintos cavalheiros e senhoras
tiveram moralidade, religio,
teatro, diverso,
aqui e ali um pouco de pavor,
aqui e ali um pouco de alegria!
Este o produto que venho tentando passar
Em benefcio de nossa distinta freguesia!
239
De modo mais claro, a ideologia expressa na voz dos trs personagens celestes, no
final do segundo ato:
Miguel: Que a gente nunca blasfeme
e tente fazer o bem.
Queira s o necessrio,
D, quem tem, a quem no tem,
Que a luz do Deus de ns todos
Abraa a todos, tambm!
Manuel Carpinteiro: Quando aqui se fala em bens
No somente em dinheiro.
237
Ibidem, p. 5 (grifos nossos).
238
Manuel Carpinteiro: E o Cristo sempre foi pobre!. In: Ibidem, p. 10.
239
Ibidem, p. 180.
124
Eu penso nos dons de Deus,
Fortes, puros, verdadeiros.
Sobre o sangrento do mundo,
Todo o cantar da alegria,
Tendo o Sol como roteiro!
Simo Pedro: O pobre tem o direito
De lutar pra melhorar!
Dinheiro bom! No demais!
Sobretudo no se pode
Somente nisso pensar!
Quem encontre a Sorte faa
Por onde ser dono dela,
Sem a ela se curvar!
Nosso Povo no se esquece:
A quem muito se agacha,
o fiof lhe aparece.
240
Esta associao entre a renncia busca da riqueza pela riqueza e os ideais cristos
(no-rico/ virtuoso) justificar, no caso de Simo, sua provao (chegar riqueza e voltar
pobreza). De fato, somos prevenidos por Manuel Carpinteiro, no final do segundo ato, de que:
S tem agora um perigo:
Simo vai mudar de vida!
Venceu a misria, o que bom,
e o sonho da pobreza.
Se ficar nisso, vai bem
e h de ganhar a partida!
Mas se deixar-se vencer
pelo esprito da riqueza,
est com ela perdida!
241
Esta ameaa revela-se verdadeira, mas o empobrecimento produz o efeito esperado.
Segundo Manuel Carpinteiro, Simo muda de vida:
Isso [o empobrecimento] lhe foi salutar:
deixou a amante de lado,
a mulher o perdoou,
ele voltou Igreja.
242
240
Ibidem, p. 111 (grifos nossos).
241
Ibidem, p. 110 (grifos nossos).
242
Ibidem, p. 116.
125
A provao prepara o poeta, assim, para entrar em possesso do bem que deseja:
uma preguia de Deus, no a do diabo; um cio criativo, ou seja, produtivo, e associado prtica
crist. Nisso se revela a continuidade ideolgica entre destinador e destinatrio, concordante
com a natureza da esfera objeto.
Reunindo os resultados da anlise dos trs tringulos actanciais, chegamos finalmente
ao esquema de base da Farsa, que tem, em princpio, a seguinte configurao:
Nada havamos visto, no entanto, sobre a esfera adjuvante, onde situamos os
atores esposa fiel e santo, relacionados a Nevinha e Simo Pedro de forma mais ou menos
evidente, na medida em que o discurso de ambos revela posies claras sempre favorveis ao ator
do poeta. Nevinha, apesar de todos os defeitos do marido, dir que minha sina Simo
mesmo
243
. Simo Pedro, desde a abertura da pea, defende Joaquim Simo que, sendo pobre,
vive contente,/ sem a sede e a doena da ambio
244
.
curioso notar, porm, que o par adjuvante-oponente separa os personagens
celestes, colocando anjo ao lado de diabo. Isso se explica pelo fato de que as relaes de
oposio e de ajuda no se do no mesmo plano para todos os personagens. A rivalidade do ator
243
Ibidem, p. 17.
244
Ibidem, p. 11.
Deus (Destinador)
Santo
Esposa fiel (Adj)
Poeta (S)
Boa preguia (O)
Igreja
Pobre (Destinatrio)
Rico
Anjo
Diabo (Adv)
126
anjo no visa, como nos outros casos, ao sujeito, e sim ao objeto. Do outro lado, no
campo adjuvante, a postura mais ampla, expressando simultaneamente apoio busca do cio
criativo e ao actante sujeito
245
.
2.4. Estrutura complexa do esquema actancial da Farsa
Tudo o que vimos at aqui encontra fundamentos slidos no texto e permite uma
melhor compreenso da estrutura da pea. Nada nos impede, no entanto, de apresentar o
esquema actancial construdo sobre outro ponto de vista, o do ator rico
246
, como propusemos
acima. Se o tomssemos como sujeito, teramos o seguinte resultado:
245
Essas relaes esto representadas no esquema acima pelas setas vermelhas.
246
Anne Ubersfeld acena com esta possibilidade, quando nota que outra inverso possvel, tambm ela virtualmente
inscrita nos textos, a que faz, em alguns casos, no em todos, do oponente o sujeito do desejo. In: UBERSFELD,
Anne. Para ler o teatro. So Paulo: Perspectiva, 2005. p. 51.
Rico (S)
Riqueza (O)
O sistema poltico-
econmico rural
(Destinador)
Rico
O sistema poltico-
econmico rural
(Destinatrio)
Esposa infiel
Diabo (Adj)
Pobre
Celeste
Diabo (Adv)
127
Esta forma de compreender a pea parece to legtima quanto a primeira
247
. Temos,
de fato, uma relao sujeito-objeto to constante e slida quanto no caso do esquema
anterior. Neste caso o elemento pobre representa adversrio na medida em que significa o
oposto do programa do actante sujeito. Diferentemente do primeiro esquema, porm, a
rivalidade no se d quanto pessoa do sujeito, e sim quanto sua atitude. A posio do
elemento celestes semelhante, oposta somente ao objeto. A radicalizao da relao de
adversidade se d apenas com diabo (flecha vermelha).
Curioso notar que diabo participa tambm da esfera adjuvante. Este indicativo
refora a relao rico/trabalho/vicioso no actante sujeito, que implicar no final em
quase-danao. Isso explica, tambm, a presena da esposa infiel ao lado do diabo, ligada a ele
pelo elemento vicioso.
A esfera destinador pode ser atribuda ao elemento abstrato sistema poltico-
econmico rural, ao qual se faz referncia no texto de modo alusivo, por exemplo, no caso da
venda do gado para exportao mencionada no final do primeiro ato, por ordem do gringo que
faz aliana com Aderaldo e que, naturalmente, tem interesse na manuteno da relao de
dominao exercida pelo ricao em sua regio.
Finalmente, a casa destinatrio corresponde ao prprio sujeito, mas tambm ao
mesmo sistema poltico-econmico que funciona como destinador, aparecendo nesse eixo o
perfil ideolgico das relaes representadas. Neste caso, trata-se da ideologia prpria
manuteno das elites rurais no nordeste.
247
A multiplicidade de modelos actancias no teatro pode ser uma de suas caractersticas prprias, como observa
Anne Ubersfeld. Para ela, a presena de dois modelos actanciais em torno de dois eixos sujeito-objeto pode ter como
conseqncias no nvel, no somente da leitura, mas da prtica, isto , da representao, no uma escolha, mas uma
oscilao, que apresenta ao espectador exatamente o problema dramtico do texto. A terica acrescenta, ainda, a
hiptese de uma leitura dupla, dialgica, que impe ao espectador de teatro esse movimento, esse vaivm constitutivo
do trabalho teatral (Ibidem, p. 54-55). Deixamos de lado, em nossa pesquisa, a anlise dos elementos propriamente
teatrais para nos concentrarmos no texto. Porm, mesmo no plano textual, verificamos esta oscilao de paradigmas
que, no entanto, parece decorrer da prpria complexidade da construo mimtica, no sendo uma especificidade da
literatura dramtica nem do teatro. No por acaso, portanto, que a terica recorre noo de dialogismo, citando
Bakhtin, que no a forja para o teatro.
128
Este esquema, como podemos notar, tem sua solidez e legitimidade. Um de seus
grandes defeitos, porm, o de no dar conta de toda a pea, j que os personagens que poderiam
inscrever-se na esfera sujeito desaparecem antes do fim da intriga. O depois (compreendido
como termo) da histria, de fato, no explicado pelo esquema. Mas este defeito no retira
totalmente sua validez. Antes, solicita a construo de um modelo mais complexo para
compreender a estrutura da Farsa.
No raro, de fato, que a anlise actancial permita encontrar mais de um esquema
possvel, articulados entre si. Como nota Anne Ubersfeld, se a determinao de um sujeito da
frase actancial , s vezes, difcil, porque h outras frases possveis, com outros sujeitos ou
transformaes da mesma frase, que fazem do oponente ou do objeto possveis sujeitos
248
Ela
falar, por exemplo, nos deslizamentos do modelo, sugerindo que o esquema pode se deslocar
ao longo da pea. o que poderamos detectar, no caso da Farsa, no funcionamento do terceiro
ato, ou pelo menos no episdio da quase danao dos ricos, em que poderamos passar do nosso
primeiro esquema (pobre como sujeito) para o seguinte:
Mas esse deslizamento seria logo revertido ao esquema primeiro, de natureza mais
geral em relao pea e que permite melhor compreender o desfecho da Farsa. como se o
esquema mais geral inclusse este, mais ligado a um episdio.
248
Ibidem, p. 50.
Salvao (O)
Deus
(Destinador)
Pobre
Celeste (Adj)
Diabo (Adv)
Rico (S)
Rico
(Destinatrio)
129
No difcil perceber o interesse em considerar os esquemas complementares ou
alternativos. No caso da hiptese que pe rico como sujeito em busca do objeto
riqueza, ganhamos em clareza com relao a um plano ideolgico que, justamente,
contestado pelo plano ideolgico da primeira hiptese (pobre=sujeitoobjeto=Boa
preguia). De fato, na pea esto em debate dois modos de se relacionar com o trabalho e com a
riqueza. Ambos tm suas virtudes e vcios: o pobre no exaltado somente por sua pobreza, o
rico no condenado somente por sua riqueza.
Ganhamos em inteligncia da estrutura da pea, tambm, se considerarmos a
continuidade da esfera destinador no primeiro esquema e no esquema relativo ao episdio da
ameaa de danao dos ricos, apesar da inverso operada. Deus, entidade representada no
texto por Manuel Carpinteiro, pode ser includo na esfera destinador por excelncia do
objeto vida boa. Nesse sentido, somos levados a reconsiderar a hiptese que havamos
levantado no comeo da anlise, e que via a relao sujeito-objeto em termos mais amplos,
que configuraria o esquema abaixo:
Como havamos dito no incio de nossa aplicao do modelo actancial, este esquema
plausvel, apesar de contestado pela oposio marcada entre rico e pobre no interior do
elemento seres humanos. No entanto, a apresentao de mais de um esquema no invalida o
Seres
humanos (S)
Vida boa (O)
Deus
(Destinador)
Seres humanos
(Destinatrio)
Celeste
(Adj)
Infernal
(Adv)
130
conjunto, na medida em que cada um se respalda no texto, seja no texto por inteiro ou em parte
dele. Mais ainda, nos trs modelos que apresentamos, vemos uma progresso de nveis que vai do
mais parcial ao mais abrangente. A apresentao de rico como sujeito, j o notamos, no
explica o desfecho. J a colocao de poeta na casa sujeito no valoriza a inverso ocorrida
no terceiro ato. Este ltimo esquema, porm, embora no destaque elementos importantes da
intriga da Farsa (como a oposio rico x pobre, ou a disputa anjo x santo), resolve em nvel
mais profundo a ao no conjunto da pea, colocando em relevo a relao forma-contedo que j
encontramos nos captulos primeiro (a propsito da forma hbrida da pea) e terceiro (analisando
a figura do personagem-narrador).
Nesse nvel mais profundo nvel II do modelo de Greimas , tambm aparece a
confirmao das oposies constitutivas da Farsa que havamos levantado como hiptese na
abertura deste captulo. Os tringulos psicolgico e ideolgico, por exemplo, renem os planos
terrestre e celeste, opostos ao plano infernal. No desejo de um bem ao mesmo tempo terrestre e
celeste (a vida boa, virtuosa, e a salvao), os personagens terrestres so destinados por Deus
busca de algo para seu prprio bem, que se realiza na terra (boa preguia, afastamento da misria)
e no plano celeste (escapar do inferno).
Este esquema mais geral, enfim, ratifica essa nossa primeira abordagem, que situava
todos os personagens terrestres submissos tenso cruzada virtude-vcio e pobreza-riqueza. De
fato, como revela o esquema acima, nas esferas adjuvante e adversrio encontram-se apenas
elementos celestes ou infernais que tendem a corrigir o vcio ou estimul-lo. A esse esquema
todos os quatro personagens terrestres so submetidos: Simo tentado pela preguia, depois
corrigido pelo empobrecimento; Aderaldo tentado pela luxria, pela inveja e pela avareza;
Clarabela, caracterizada por uma vida sem limites, v esses traos serem acentuados pela
influncia dos dois diabos, dos quais chega a ser amante; Nevinha, enfim, personagem mais
131
virtuoso (embora revele astcia ao ludibriar o ricao no segundo ato), comea a pea sendo
assediada por Aderaldo atravs de Andreza.
Esta considerao dos personagens concretos, no entanto, ainda que a ttulo de
exemplo como fizemos aqui mais de uma vez, no prpria deste nvel da anlise. As esferas dos
actantes referem-se a um grau de abstrao que permite tanto a incluso de mais de um
personagem em uma s casa, quanto a duplicao do mesmo personagem em mais de uma esfera.
Alm do mais, este nvel sozinho insuficiente para caracterizarmos os personagens. A
progresso do mais profundo ao mais superficial exige a considerao do nvel III da anlise,
onde se encontram os atores e os papis.
3. Progresso do nvel profundo ao nvel superficial
Aps o mergulho na estrutura actancial da Farsa da boa preguia, resta-nos completar a
volta superfcie do texto. A sutileza de certos conceitos exige que avancemos com prudncia e
preciso. A designao dos atores ou de termos abstratos para as casas actanciais procurava evitar
esta dificuldade. O recurso a exemplos em personagens concretos, que dissemos estarem
relacionados, no identificados com determinadas esferas actanciais, pode no entanto ter sugerido
certa confuso entre nveis diversos de generalidade como os actantes, os atores e os
personagens. Mas um esclarecimento mais efetivo s pode advir agora, quando nos aproximamos
novamente da superfcie do texto atravs da anlise do processo de construo dos personagens.
132
A passagem do nvel profundo ao nvel superficial s pode ser compreendida de
modo progressivo ou, como diz Ricur, como percurso
249
. Do mais geral ao mais especfico,
teramos os nveis do actante, do ator (completamente distinto de ator fsico), do papel e,
finalmente, do personagem.
Antes de prosseguir, no entanto, convm lembrar a observao feita por Ricur
segundo a qual, na medida em que a intriga construda prope uma configurao ordenada do
agir, a inteligncia narrativa e a compreenso da intriga precedem a reconstruo da narrativa
sobre a base de uma lgica sinttica
250
. De modo mais explcito, Ricur dir que sua hiptese
consiste em que desde seu primeirssimo estgio, [...] a anlise teleologicamente guiada pela
antecipao do estgio final
251
. O que no invalida a anlise, alis, mas apenas revela que seu
percurso, aparentemente iniciado no nvel profundo, exige ao menos uma antecipao do
resultado final e de certo modo depende do nvel superficial da totalidade da obra concluda.
Em termos mais concretos ainda, a relao entre estrutura profunda e estrutura de
superfcie dialtica, na medida em que a realidade de uma se explica com o recurso outra. Isto
explica nossa tendncia a buscar exemplos da estrutura profunda na superfcie do texto. Mas esta
relao no constitui um crculo vicioso e fechado sobre o interior da obra. Ao contrrio, trata-se
da espiral intelectiva consagrada na frmula de Ricur compreenso-explicao-compreenso.
A passagem do plano profundo ao plano superficial no corresponde somente
passagem da estrutura ao discurso. Nessa passagem, o que nos parece mais relevante,
especialmente no gnero dramtico, a passagem de estruturas da ao onde se identificam
esferas de ao, paradigmas, todas entidades genricas ao plano das individualidades, dos
249
Em suma, a semitica, ao termo de seu prprio percurso indo do plano mais imanente ao plano de superfcie, faz
aparecer a prpria narrativa como percurso. Mas, este percurso, ela o tem como estritamente homlogo das operaes
implicadas pela estrutura elementar de significao no plano da gramtica fundamental. In: RICUR, Paul. Temps et
rcit. Vol. 2. 1. ed. 1984. Paris: Seuil, 1991. p. 100. 3 volumes. (Poche, 228).
250
Ibidem, p. 93.
251
Ibidem, p. 107.
133
personagens. Nisso confirma-se e compreende-se melhor a afirmao aristotlica da precedncia
da ao sobre os personagens no gnero dramtico.
Vejamos como se desenha essa transio do nvel profundo ao superficial na Farsa,
identificando os atores e os papis, materiais que servem construo complexa dos
personagens. Concluiremos com uma discusso sobre a pertinncia do conceito de personagem,
que nos preparar para o captulo seguinte, no qual o conceito de identidade narrativa ir nos
permitir melhor compreender a figura do julgamento do heri, ponto maior e terminal de nossa
investigao.
3.1. Actantes, atores, papis, personagem
Os actantes, como j tivemos ocasio de dizer, so unidades estruturais abstratas que
reconstituem a teia da ao num conjunto de relaes que explica o movimento geral da intriga.
As imagens locativas que empregamos para falar dessa categoria (esfera, campo, casa)
sugerem que, neste espao, incluem-se outras categorias, menos genricas. Nas esferas actanciais,
de fato, esto inscritos um ou mais atores, que podem corresponder a um ou mais personagens.
Em outros termos, os actantes (nvel II da anlise) so os ncleos de ao mais abstratos depois
do nvel I de significao da narrativa (quadrado semitico). O nmero de actantes sempre igual
ou inferior a seis (algumas das esferas actanciais podem no ser explicitadas na narrativa).
Embora o ator seja mais particular que o actante, no se pode dizer que ele seja a
particularizao de um actante apenas. Assim como a esfera actancial pode ser ocupada por mais
de um ator, os traos caractersticos de um mesmo ator podem ser compostos pela presena em
diversas casas actanciais. justamente esta maior complexidade da categoria, aliada ao seu maior
134
grau de determinao, que a situa um nvel acima ao dos actantes e mais prximo do nvel dos
personagens.
Mas importante distinguir desde logo estes ltimos dois nveis. Se tanto o ator
quanto o personagem so dotados de individualidade (o que no era o caso do nvel actancial,
mais abstrato e genrico), a categoria ator ainda abstrata, dotada de determinao, mas no de
personalidade
252
. por esta distino sutil, mas importante, que poderemos verificar a presena
de um mesmo ator em vrios personagens. Na Farsa, este o caso dos trs diabos, por exemplo,
como veremos adiante.
3.1.1. Atores e personagens da Farsa
Neste ponto da anlise, o da identificao dos atores, j nos situamos no nvel III,
prximo superfcie do texto, podendo nomear estas entidades que se definem por um certo
nmero de processos (nome + ao) e traos caractersticos (de funcionamento binrio). Na
Farsa da boa preguia, identificamos treze atores principais:
Poeta Cria folhetos e preguioso
Esposa fiel cuida dos filhos e do marido
Marido infiel Trai a esposa
Marido fiel No trai a esposa
Rico trabalha e acumula riqueza
Esposa infiel Trai o marido
Falso intelectual julga saber
Ser humano busca uma vida boa
Deus destina o homem salvao
Diabo faz o mal (trapaa) a todos
Santo ajuda os homens
252
As aspas remetem discusso que fecha esta seo, em torno ao antropomorfismo e pertinncia da categoria de
personagem.
135
Anjo combate o mal
Representante de Deus julga os homens
A partir desta lista, no difcil identificar certos personagens nos quais agem certos
atores, como poeta e Simo, esposa fiel e Nevinha. Mas verificamos tambm que esses
personagens incorporam mais de um ator, pois Simo inclui tambm, inicialmente, marido fiel,
passa a marido infiel na inverso do intervalo entre os atos dois e trs e volta a ser fiel no
terceiro ato. Este exemplo revela melhor o funcionamento binrio de uma mesma caracterstica,
atribuda ao mesmo personagem (fiel x no-fiel). Esta oscilao pode servir tanto para acirrar
as oposies (estando aplicada a personagens diferentes, como rico x pobre) ou para dar
dinamicidade narrativa (referindo-se ao mesmo personagem, como no caso de Simo).
Aderaldo rene tambm mais de um ator, sendo simultaneamente rico e marido
infiel. O significado de sua riqueza, marcada em relao no-riqueza de Simo, liga os dois
personagens ao menos neste plano de tenso. Mas ambos participam do ator ser humano,
sendo semelhantes neste aspecto, embora em Aderaldo esta busca esteja ligada ao vcio (seduo
de Nevinha, acmulo de riqueza, desejo do desaparecimento de Simo e, enfim, avareza).
Clarabela assume o paradigma
253
esposa infiel, estando nesse ponto (alm dos elementos
riqueza e no- trabalho) associada a Aderaldo. Ela inclui tambm um ator menos importante
para a intriga (no para a trama), que falso intelectual. Seu aspecto de falsidade (contrastada
naturalidade do ser poeta em Simo, que no problematizado) refora sua vinculao ao
elemento vicioso.
O ator diabo, ao qual j nos referimos a ttulo de exemplo, comum a todos os
trs personagens infernais da Farsa. So eles os personagens menos particularizados da pea,
embora recebam o influxo de outros atores, atravs dos disfarces. Mas no aspecto de
generalidade que eles possuem, todos recebem a influncia de uma outra categoria do nvel III,
253
Por paradigma entendemos padres constantes de ao dos personagens.
136
situada entre os actantes e os personagens e pouco mais abstrata que o ator: o papel. Antes de
detalharmos esta funo, porm, convm completar a identificao dos atores, em sua relao
com os personagens.
Se os diabos so menos particularizados, o mesmo no se pode dizer dos
personagens celestes. Todos os trs so muito diferenciados por suas aes e caractersticas.
Simo Pedro, por exemplo, alm de ser santo (esfera celeste) ser humano (esfera terrestre),
procurando assim ajudar seus protegidos, como dir Manuel Carpinteiro na pea
254
. Ao menos
em um momento, em disputa com Miguel Arcanjo, ele remeter ao seu passado humano, pelo
qual participa do ator ser humano busca vida boa. Miguel Arcanjo, relacionado com o ator
anjo, ser definido em relao s realidades celeste e infernal, caracterizado por suas pisas no
diabo, sendo defensor do bem. Nesse sentido ele estar sempre oposto ao que se inclina para o
mal (vcio) e defende o que lhe parece buscar o bem (virtude). Isso explica porque sua atitude
inicial mais favorvel ao rico (trabalho) do que ao poeta (preguia). Seu posicionamento ir
transformando-se pouco a pouco na medida em que Aderaldo vai mostrando-se cada vez mais
vicioso e Simo, aps a prova da passagem da pobreza riqueza e de volta pobreza, cada vez
mais virtuoso. No final, Miguel interceder em favor de Simo, expulsando os diabos que querem
carreg-lo para o inferno.
Manuel Carpinteiro, enfim, o personagem mais importante da pea ao lado de
Joaquim Simo, tem um perfil complexo na medida em que rene os atores Deus e ser
humano. De fato, como ser humano que ele se apresenta. Esse paradoxo, no entanto,
metfora da prpria realidade do Cristo, mediador por excelncia, segundo a doutrina crist.
Vemos a fala explcita do personagem na abertura da pea:
Dir o cavalheiro: impossvel!
O Cristo, um camel?
254
SUASSUNA, Ariano Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 59.
137
Mas no ser verdade
que o Cristo o camel de Deus, seu Pai?
255
Esse personagem buscar descolar-se do seu referente, quando afirma que apenas
representa o Cristo
256
. Mas isto no impedir que exera a funo de mediao e julgamento que
s a reunio desses dois atores (sobretudo a incluso na divindade) pode dar. deste ponto de
vista que ele assume o protagonismo da conduo da ao (enquanto determina acontecimentos,
como a provao de Simo) e do julgamento da atitude da preguia, tirando a lio no final.
Voltaremos em detalhe fora desse personagem no captulo seguinte.
Enfim, esta lista de atores pede um complemento. Existem aes menores, de fato,
exercidas apenas em parte da intriga atravs de situaes como emprego e disfarce. Elas so em
nmero de oito:
Alcoviteira ajuda a seduzir
Calunga de caminho engana o rico
Frade engana o rico
Vaqueiro d cabra
Negociante faz trocas
Amante mantm relao ilcita
Mordomo atende s pessoas
Pedinte pede ajuda
Todos eles servem para caracterizar melhor alguns personagens, explicando algumas
incluses de personagens em esferas actanciais distintas. enquanto alcoviteira que Andreza
participa da esfera adjuvante em relao a Aderaldo, por exemplo. Fedegoso e Quebrapedra se
distinguem apenas, como personagens, pelo nome e pela diferena de disfarces. No mais, ambos
executaro a mesma ao, que enganar, ser amante e, de modo mais geral, fazer o mal.
255
Ibidem, p. 5.
256
Como eu no sou o Cristo,/ como apenas o represento.... In: Ibidem, p. 176.
138
Eles assumiro, a partir do segundo ato, o ator vaqueiro, antes de se revelarem
somente como diabos no final da pea
257
. Esse ator vaqueiro ser assumido como disfarce
tambm por Simo Pedro, para dar a cabra a Simo, cabra que fora dada pelo ator vaqueiro-
diabo. Uma vez a cabra entregue, a vez de Miguel Arcanjo que, assumindo disfarces
diferentes, incorpora sempre o mesmo ator negociante, ator partilhado com Simo.
O ator mordomo, enfim, aparece no comeo do terceiro ato, sendo assumido pelo
personagem Simo. Ele ser o intermedirio da avareza do ricao, ao receber os pedintes e ter
que negar ajuda a eles, por ordem do patro. Os pedintes, por sua vez, so assumidos por
Miguel, Simo Pedro e o prprio Manuel Carpinteiro, na nica interveno direta deste na pea,
que aparece como a ltima tentativa dada ao rico de ser generoso.
O recurso a esta rede de atores ajuda a compreender a complexidade dos
personagens. o momento do particular, na passagem do universal (actantes) singularidade dos
personagens, tendo como vantagem suplementar uma melhor compreenso dos personagens
pelo jogo de oposies que permite caracteriz-los em sua interao. o caso, por exemplo, das
oposies maiores:
a) Trabalho (x no-trabalho)
b) Rico (x no-rico)
c) Virtude (x no-virtude)
Aplicadas aos personagens terrestres, teramos o seguinte jogo
258
:
Simo - a -b -c/c
Aderaldo a b -c
Nevinha a -b c
Clarabela - a b -c
257
curioso notar, quanto ao uso de disfarces, que tanto os diabos quanto os personagens celestes os utilizam para
interagir no plano terrestre. Mas, enquanto os celestes somente usam disfarces temporrios, os diabos, alm dos
temporrios, apresentam-se o tempo todo disfarados, somente revelando suas figuras caprinas no episdio final. Este
aspecto refora a falsidade dos diabos, cuja ao principal fazer o mal.
258
Este quadro inspirado no modelo apresentado por Anne Ubersfeld; In: UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 64.
139
Esse quadro permite constatar de modo mais objetivo como os dois casais so
construdos com base em caractersticas quase todas opostas. A nica hesitao consiste
justamente na caracterstica virtude, que no se aplica inicialmente a Simo, mas que no ser
jamais aplicada ao rico.
3.1.2. Entre actantes e personagens: os papis
Outro elemento intervm, ainda, na passagem dos actantes ao personagem, embora
no de modo necessrio
259
. Trata-se do papel, que pode ser definido como o sentido de ator
codificado limitado por uma funo determinada
260
. Anne Ubersfeld dar o exemplo dos papis
ou funes exercidas pelos atores na Commedia dellArte. o espao do tipo, que interfere tambm
na construo dos personagens, ao lado dos atores, reforando a complexidade daqueles.
Na Farsa da boa preguia, seria inadequado aplicar papis muito claramente definidos
na construo de atores. O tipo pcaro, por exemplo, ou zanni, embora interfira na construo do
personagem Simo de modo especfico no terceiro ato, quando assume o perfil do criado
espirituoso , muito modificado por outros elementos como veremos no prximo captulo
261
.
Quanto aos demais personagens, sobretudo no ato terceiro, quando Aderaldo se aproxima do
velho ridculo, que a influncia de um tipo como Pantaleo pode ser evocada. De modo muito
259
Nem sempre a determinao do personagem obedece interferncia de um papel ou, pelo menos, nem sempre
com uma influncia muito determinante. Situamos este elemento no mesmo nvel III, sendo mais genrico que o
ator, apesar de mais codificado. Nesse sentido, no seguimos a classificao de Patrice Pavis, que separa atores e
papis em dois nveis distintos de manifestao da personagem (Cf. Papel, in: PAVIS, Patrice. Dicionrio de Teatro. So
Paulo: Perspectiva, 1999. p. 274-275). Em nosso entendimento, os processos de mediao do papel e do ator tm
ambos natureza particular, na dialtica de passagem do universal (actante) ao singular (personagem).
260
UBERSFELD, Anne, op. cit., p. 65.
261
Cf. cap. V, item 2.1.2, p. 167 et seq.
140
geral, ainda, podemos considerar a constante presena de inverses, quiprocs, etc., uma
influncia dos tipos da Commedia, especialmente quando organiza os papis em dois partidos
opostos exercendo diversos jogos de cena cmicos deste tipo.
Podemos acrescentar a este panorama os personagens sobrenaturais: santos, anjos, o
prprio Cristo e os diabos. Como vimos no primeiro captulo, estes elementos do teatro religioso
interferem diretamente na forma da Farsa da boa preguia.
3.1.3. Personagem: noo necessria e em crise
Chegando superfcie do texto aps este longo mergulho na estrutura profunda da
pea, compreendemos melhor a construo da intriga e dos personagens que se destacam dela.
Mas, se podemos tratar dos personagens de um determinado texto como entidades relativamente
autnomas, sua vinculao ao texto um requisito imprescindvel para uma crtica correta. Em
termos mais claros, os personagens como toda a literatura no so coisas, mas quase-
coisas como diria Paul Ricur.
Embora devamos concordar com a afirmao de que a personagem de teatro no se
confunde com nenhum discurso que se possa construir sobre ela
262
, no se pode chegar realidade
textualmente fundada do personagem sem a reconstituio dos processos que o compem. E isso se
configura inevitavelmente num outro discurso, a prpria anlise, como esta que empreendemos
agora. Mas Ricur nos ajuda a perceber esta distncia, ao situar nossa apreenso da realidade
textual no plano da mimesis III (sempre ligada de forma necessria ao momento central da mimesis
262
Ibidem, p. 73.
141
II, a configurao operada pelo texto), ou do mundo do texto, quando estamos certamente ligados
ao contedo, mas de forma criativa.
H sempre excessos, porm, a corrigir. Anne Ubersfeld observa, por exemplo, que a
nfase dada noo de personagem est relacionada necessidade de encontrar um sentido
preexistente ao discurso dramtico
263
, aspecto relacionado ao tema da intencionalidade da obra.
No entanto, como observa a autora, este sentido propriamente uma construo. Encontramos
aqui novamente a noo de poiesis to cara a Aristteles e a Ricur, que nos recoloca no caminho
da mimesis como construo processual que parte de uma entidade autor, mas que no vive sem
uma construo complementar, aquela que ativa o processo em sua recepo. Sobre a
importncia desta noo de construo da personagem, Anne Ubersfeld dir, de modo muito
claro:
De uma certa maneira, podemos tomar a personagem como uma abstrao, um limite,
o cruzamento de sries ou de funes independentes ou ento podemos tom-la
como o agregado de elementos no autnomos -, mas no podemos neg-la: dizer que
uma noo a a relao, a adio ou o produto de dois elementos b e c no significa que
a no exista (a = b + c ou a = b x c ou a = b/c). Que a personagem no seja uma
substncia, mas uma produo, que ela esteja no cruzamento de funes ou, mais
precisamente, que ela constitua a interseco de vrios conjuntos (no sentido
matemtico do termo), no significa que no tenhamos de consider-la, mesmo que
fosse de um ponto de vista puramente lingstico: ela um sujeito de enunciao. Ela o
sujeito de um discurso marcado com o seu nome.
264
A crise da noo de personagem, ainda, como observa a mesma autora, relaciona-se
com o problema da dissoluo do indivduo na cultura contempornea
265
. Neste ponto curioso
observar em Paul Ricur uma certa resposta a esta problemtica a que se refere Anne Ubersfeld,
na medida em que o filsofo busca na literatura recursos para resolver o problema da identidade
263
Ibidem, p. 70.
264
Ibidem, p. 74.
265
Aquilo que quase no se pode dizer de seres humanos presos nas malhas de suas existncias concretas, ser que
ainda poder ser dito de personagens literrias? Por isso no nos causar espanto o lugar-comum infinitamente
cmico que as apresenta como seres mais verdadeiros que certos seres vivos, mais reais que o real, como se fosse
possvel transportar para o plano fantasmtico da criao literria a noo idealista de pessoa, quando esta se encontra,
por outro lado, desmantelada.... In: Ibidem, p. 70.
142
pessoal. Voltaremos a este tema no prximo captulo. Note-se, no entanto, que no h sentido
em opor identidade narrativa e identidade pessoal. Ao contrrio, a relao entra ambas
necessria. De um lado, a identidade narrativa ficcional construda como representao da
identidade pessoal. Do outro, no h personalidade que no conhea um processo de construo,
ou seja, no h identidade pessoal sem narratividade, contando quem somos que acedemos
nossa identidade. Personagem e pessoa, portanto, embora conceitos ontologicamente distintos,
so relacionveis como momentos de um processo dialtico.
Voltando nossa ateno Farsa, basta-nos complementar o que j foi dito na seo
precedente. A construo das personagens na pea, como vimos, obedece a uma estrutura que
cruza qualidades e paradigmas marcados por oposies em cruz (pobre x rico na esfera
horizontal, vcio x virtude na esfera vertical, estando os seres humanos situados na intercesso
dos dois eixos). E aos elementos da ao somam-se outros de natureza descritiva que os
reforam.
o caso, por exemplo, da caracterizao da figura de Joaquim Simo e de sua famlia
como pobres, salientada vrias vezes e de modos muito diversos, quase sempre atribuindo a esta
um valor positivo. Os ricos, pelo contrrio, sero caracterizados de forma negativa.
Assim, na construo dos personagens terrestres, interferem a descrio do cenrio
(o texto falar apenas de casa do pobre, enquanto a casa do rico descrita com alpendre,
janelo e um ba
266
), a descrio das roupas (no comeo do terceiro ato Simo e Nevinha
aparecem esfarrapados, com sacos de viagem nas costas
267
), as falas dos prprios personagens
terrestres (Aderaldo ir contrapor vrias vezes sua riqueza pobreza de Simo) e as falas dos
personagens divinos.
266
Cf. SUASSUNA, Ariano Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 4.
267
Ibidem, p. 116.
143
Podemos incluir nesta lista, ainda, o tipo de linguagem empregada pelos personagens,
por exemplo no modo de expresso de Clarabela, onde a linguagem erudita satirizada
268
. Mas
nesse aspecto temos um ponto curioso que une Aderaldo, Simo e Nevinha, em que se revela
certa co-naturalidade: todos usam linguagem simples, embora somente o poeta recorra ao
esculacho
269
. Deve-se dizer que as diferenas entre eles podem ser encontradas mais em
elementos extrnsecos, como as posses, do que em caractersticas mais interiores, como a
linguagem e o comportamento. Como j tivemos ocasio de dizer no primeiro captulo, Aderaldo
rico, mas rstico assim como Clarabela em certa medida, apresentada como intelectual falsa.
Esta nfase na ao e no descritivo completa de algum modo o pequeno grau de interioridade
dos personagens da Farsa.
J os personagens celestes e infernais tm menos necessidade de uma caracterizao
complementar, como a que encontramos nos personagens terrestres. Os diabos, quando no
recorrem aos disfarces, assumem formas temporrias: criada, vaqueiro, para chegar, enfim,
forma animalesca, como bodes. Os personagens celestes possuem apenas um pouco mais de
elementos, quando, alm dos elementos da realidade bblica de onde so tirados e que
permanecem at certo ponto implcitos, so apresentados como camel (Manuel Carpinteiro),
homem da cobra (Miguel) e pescador (Simo Pedro)
270
. Explica-se o grau menor de
singularizao desses personagens por sua interferncia menor na intriga. Mas pela mesma
razo que os personagens celestes tero um pouco mais determinao que os diabos, cujo papel
268
Basta recordar o dilogo entre Clarabela e Aderaldo: Clarabela: Voc precisa fazer um curso, Aderaldo!/
Aderaldo: Curso de qu, Clarabela?/ Clarabela: Qualquer curso! Se for dado por um alemo neomarxista/
melhor! Mas, na falta dele, um francs estruturalista/ ou um socilogo tropicalista tambm serve! In: Ibidem, p. 30.
269
Curioso notar que o outro personagem a utilizar um termo do baixo corporal precisamente Manuel Carpinteiro,
no final do captulo terceiro (fundo do camelo). Consideramos esta meno um indcio de certo paralelismo entre
os personagens, ambos progatonistas, mas em planos distintos, como veremos no prximo captulo.
270
Na rubrica inicial, lemos: Miguel Arcanjo, seu secretrio[...] tem na mo uma maleta, de onde retira, de vez em
quando, uma balana e uma cobra, dessas que se mexem. Presume-se, com certo matiz cmico, que, dentro da
maleta, esto uma cobra e um jacar enormes como, alis, acontece com os homens-da-cobra[...]. Simo Pedro
veste pobremente e tem utenslios populares de pesca na mo. De Manuel Carpinteiro, alm da auto-designao que
j se mencionou aqui, dito na rubrica associada sua primeira fala, que a diz em tom de camel. In: SUASSUNA,
Ariano, op. cit., p. 4-5.
144
ainda mais restrito. A apresentao de Manuel Carpinteiro como camel suficiente para situ-lo
como arauto ou anunciador do produto, que a exegese da pea que ele ir propor em cada ato
e, sobretudo, no final da pea.
Esta sua funo (destacada, sobretudo, no captulo precedente) est situada no centro
de inteligncia da pea, embora no no plano da ao propriamente. Nesse plano, como vimos
nessa etapa de aprofundamento da mimesis II, destaca-se a ao dos personagens terrestres,
sobretudo de Joaquim Simo e, em segundo plano, de Aderaldo Cataco. Mas pela interao
dos dois personagens (Manuel-Simo) que chegamos ao ponto a que queramos chegar, vendo a
o elemento maior da inteligncia da pea. Esta interao se d em pleno eixo comunicativo
(destinador-destinatrio). No ponto de transio entre a mimesis II e a mimesis III, deparamo-nos
com o julgamento do heri que far o objeto do captulo a seguir. esta figura que ao mesmo
tempo encerra a pea e abre-a progresso do processo mimtico.
145
V
ENTRE TICA E ESTTICA:
JOAQUIM SIMO NO BANCO DOS RUS
Na abertura de nossa pesquisa, tivemos ocasio de verificar como a pea de Suassuna
aqui analisada retoma traos formais da farsa ibrica, do entremez e da moralidade, misturados
com elementos do teatro religioso. Sobre esta composio hbrida, conclumos que o tema
religioso da oposio vcio x virtude que convoca o tema mais amplo da salvao
temperado por elementos temticos mais prximos da tica, atravs da discusso de uma
moralidade (boa ou m preguia). Essa discusso manifesta-se simbolicamente na constituio de
dois planos, um terrestre e outro sobrenatural (inferno e cu), comunicveis entre si.
Nessa diviso de planos, a ao fica restrita ao plano terrestre. No mbito
sobrenatural, o plano infernal quase no conhece ao: temos apenas a narrao da chegada dos
personagens ricos porta do inferno, alm da volta dos diabos para este plano, mas estas aes
sempre se passam fora de cena. J o plano celeste mais explcito. De fato, a interferncia do
plano celeste na ao mais restrita ao Santo e ao Anjo, intervindo o personagem-narrador
apenas no final. Essa figura pica, representada na pea atravs de Manuel Carpinteiro,
totalmente ausente dos entremezes e ser convocada a desempenhar um papel central no plano
celeste da Farsa (sendo o protagonismo do plano terrestre, porm, reservado a Joaquim Simo). A
funo hermenutica deste personagem um dos elementos formais mais eficazes para construir
a unidade da pea. Essa funo consiste de modo particular em enunciar, desenvolver e concluir
o ponto central do tema, a moralidade da pea, a partir da ao dos personagens terrestres. Foi o
146
que verificamos no captulo terceiro, depois de termos dedicado um captulo inteiro
apresentao da teoria da mimesis como processo, de Paul Ricur (captulo segundo).
Com o recurso teoria do filsofo francs, pudemos organizar nossa anlise em trs
etapas mimesis I, II e III , dando sempre prioridade mimesis II, etapa centrada na construo
(poiesis) da narrativa que, como vimos, retoma inmeros recursos picos (em sentido adjetivo)
numa forma dramtica (em sentido substantivo). Esses elementos picos apareceram-nos como
recursos formais solicitados por uma temtica de natureza tico-religiosa.
Esta opo de concentrao sobre a mimesis II levou-nos, ainda, a dar seguimento a
nossa investigao atravs da anlise da estrutura da Farsa com a ajuda do modelo actancial.
Pudemos ento verificar at que ponto essas afirmaes podiam ser confirmadas no plano da
estrutura, investigando em que medida a relao forma-contedo, articulando elementos ticos e
estticos, refletia o plano mais profundo do texto. Este momento do processo interpretativo,
Ricur denomina precisamente aprofundamento. E os resultados a que chegamos deixaram ainda
mais evidente a dupla tenso (de natureza tica e de natureza religiosa) a que so submetidos os
personagens terrestres, situados entre riqueza e pobreza, vcio e virtude, revelando uma estrutura
que combina dois eixos responsveis pela dinamicidade da ao (representada no plano terrestre)
e da exegese (ao comentada no plano celeste).
Nesse panorama, os dois personagens que se destacam dos demais so Joaquim
Simo e Manuel Carpinteiro. Vimos outras possibilidades de interpretao: uma situando
Aderaldo no centro da intriga (que no d conta de toda a pea, embora lance luz sobre certos
elementos da pea, em especial sobre o terceiro ato), outra que situa no apenas o poeta, mas
todos os seres humanos no centro da intriga. Chegamos porm concluso de que, embora essas
hipteses sejam possveis e a ltima delas evidencie ainda mais a relao entre os eixos vertical
(bem x mal) e horizontal (rico x pobre) da intriga, parece ser de alguma forma a expanso do
modelo particular centrado no poeta. Neste sentido, poderamos falar de funo metonmica do
147
personagem Joaquim Simo
271
.
O estudo da interao entre os dois protagonistas far o objeto deste ltimo captulo:
de um lado, Manuel Carpinteiro; do outro, Joaquim Simo (e, atravs dele, os demais personagens
terrestres)
272
. Num gnero como o dramtico, a interao dos personagens uma categoria
essencial, especialmente numa pea que no conhece monlogos e na qual jamais um
personagem est sozinho em cena. Nossa investigao partir, porm, de outro conceito, o de
identidade narrativa, antes de chegar ao tipo de relao estabelecida entre os dois protagonistas da
pea. De modo mais preciso, antecipando um pouco nossa concluso, atravs da investigao
da identidade narrativa desses dois personagens que ns chegaremos forma do relacionamento
estabelecido entre eles, qual seja, uma forma particular de julgamento.
1. A identidade narrativa
Em Si mesmo como um outro, Ricur discute o problema da identidade pessoal, que
inclui o paradoxo da identidade idem e da identidade ipse, a identidade como mesmo e a
identidade reflexiva. Segundo ele, por elidir essa distino que outras tentativas ignoram o papel
da narratividade na constituio da personalidade. Anne Ubersfeld j notara a atualidade desse
271
Enquanto lexema, a personagem pode estar integrada em um discurso que o discurso textual integral, em que
ela figura como elemento retrico. Assim, a personagem pode ser a metonmia ou a sindoque (figura que representa a
parte pelo todo) de um conjunto paradigmtico, ou a metonmia de uma ou vrias outras personagens, in:
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. So Paulo: Perspectiva, 2005. p. 76.
272
Por protagonista, designamos os personagens principais de uma pea (Protagonista. In: PAVIS, Patrice.
Dicionrio de Teatro. So Paulo: Perspectiva, 1999. p. 310). Neste sentido, estamos em concordncia com a etimologia
da palavra: protos o primeiro mais agoon assemblia ou, na Grcia antiga, encenao em competio teatral nas
dionisacas. (Ver tambm: Protagonist. In: VV.AA. Dictionary of Theatre. Londres: Penguin Books, 2004. p. 485); e
BERTHOLD, Margot. Histria Mundial do Teatro. So Paulo: Perspectiva, 2004. p. 104-118). Devemos destacar, no
entanto, que a referncia a mais de um protagonista no segue o mesmo princpio do teatro antigo, que se referia a
um deterogonoista e a um tritagonista. Designamos dois personagens assumindo funo protagnica em planos
distintos, em relao.
148
problema, na passagem que comentamos no captulo precedente a propsito da relao entre a
necessidade de defesa do conceito de personagem e o problema da consistncia do indivduo no
mundo contemporneo. Nesse sentido, a investigao de Ricur de certa forma uma resposta
ao problema, na medida em que ele relaciona positivamente os dois planos quando constata que
o homem s pode aceder sua personalidade narrando-a.
Voltando aos conceitos-base do filsofo, a noo geral de identidade idem diz
respeito, sobretudo, identidade numrica (duas ou mais ocorrncias da mesma realidade se
referem mesma coisa) e identidade qualitativa (semelhana extrema, quando notamos que duas
coisas X e Y , por serem muito parecidas, so ditas idnticas). Mas a fragilidade desses dois
critrios solicita um terceiro termo, o da continuidade ininterrupta entre o incio e a continuao do
desenvolvimento de uma mesma realidade. Nesse momento a mudana representa uma ameaa
identidade. Mas a ameaa pode no se cumprir, quando a similitude fundada sobre o princpio
de permanncia no tempo.
O que a reflexo de Ricur manifestar que o campo conceitual da identidade idem
vlido no s para o ser humano, mas de abrangncia universal no consegue suprir a
necessidade de definio da identidade pessoal como si-mesmo, na medida em que a questo pelo
quem? irredutvel questo qu?. Noutros termos, a resposta ipseidade um se
reflexivo (si-mesmo), no um sujeito objetivado segundo o modo do Cogito cartesiano. Ricur
colocar o problema da relao entre estas duas formas inter-relacionadas de identidade em duas
situaes em que os dois aspectos aproximam-se e distinguem-se: o carter e a permanncia do si
mesmo.
Ricur definir carter como o conjunto de disposies durveis pelas quais se pode
reconhecer uma pessoa. E continua: a este ttulo que o carter pode constituir o ponto limite
149
onde a problemtica do ipse torna-se indiscernvel da do idem e inclina a no as distinguir
273
. Ele
chegar a dizer que o carter , verdadeiramente, o qu do quem
274
, para reforar essa
aproximao dos dois momentos da identidade narrativa.
Devemos fazer um parntesis, aqui, para notar que a reflexo de Ricur concentra-se
sobre um problema propriamente tico, o da compreenso da personalidade humana
responsvel. Seu recurso literatura para compreender o processo de construo da
personalidade corresponde, do ponto de vista da ao, ao estudo da ao considerada como
texto, em sua obra Do texto ao. Mas se nos ativermos ao campo literrio, o ponto de vista
outro, no podendo jamais haver extrapolao dos processos de construo do personagem em
direo a uma entidade separada, como o alerta Anne Ubersfeld, citada no captulo precedente.
A identidade do personagem literrio, no entanto, construda como imitao de seres humanos
sobre a base de um qu diverso de outros objetos, mas sem existncia separada. Da a
importncia da noo de carter como disposies durveis identificadoras (como a preguia
de Joaquim Simo e o artificialismo de Clarabela, por exemplo), que nos d acesso a outros
aspectos da identidade do personagem. E sua diferena com relao s outras realidades est na
representao (mimesis) da realidade reflexiva (ipse) do ser humano, cuja tenso dialtica com o
elemento idem narrativamente posterior descrio do seu carter. Em outros termos, se
podemos dizer que a literatura cria quase-coisas, podemos dizer tambm que ela cria quase-
pessoas que, como as pessoas, podem ser descritas como possuidoras de maior ou menor
reflexividade.
273
RICUR, Paul. Soi-mme comme un autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. p. 146. (Poche, 330). Ricur definir de
modo mais preciso o carter como o conjunto de marcas distintivas que permitem de re-identificar um indivduo
humano como sendo o mesmo. Pelos traos descritivos que vamos enunciar, ele cumula a identidade numrica e
qualitativa, a continuidade ininterrupta e a permanncia no tempo. por a que ns designamos de modo
emblemtico a mesmidade da pessoa. In: Ibidem, p. 144.
274
Ibidem, p. 147.
150
Retomando nossa exposio da dialtica idem-ipse na identidade narrativa, a distino
entre os dois aspectos da identidade levada ao limite na segunda situao analisada, a da
permanncia do si mesmo. Apresentada sob o ponto de vista da palavra empenhada, ela aparece como
um outro modo de permanncia no tempo diverso do carter. De fato, nessa situao a referncia
ao quem muito mais relevante do que a referncia ao qu prprio do carter. A situao
anloga, por exemplo, nos casos da amizade e da manuteno de uma promessa, nos quais se
realiza de modo semelhante um desafio ao tempo e mudana. As situaes de fidelidade-
infidelidade na Farsa, por exemplo, so um momento em que esta tenso entre os dois plos da
identidade aparecem.
A importncia da distino entre identidade-idem e identidade-ipse para responder ao
problema da identidade pessoal testata por Ricur no confronto com trs situaes-limite,
tiradas da obra de Derek Parfit
275
. Este autor apresenta o que ele denomina casos-enigma
(puzzling-cases) de identidade pessoal: transplantao do crebro, bisseco do crebro, cpia
idntica do crebro de uma pessoa. No encontro da pessoa com sua cpia, qual seria a
qualidade da permanncia? Quem ou o qu permanece? Ricur observa em primeiro lugar que a
identidade aqui reduzida ao crebro
276
, com o que Parfit quer contestar a afirmao de um
ncleo separado de permanncia da identidade. Mas essa reduo, observa o filsofo, exclui algo
essencial para a identidade pessoal (em seu aspecto reflexivo), que a possesso por algum de
seu corpo prprio e de seu vivido.
Em segundo lugar, no seu exame dos casos-enigma, Ricur observar que no h
resposta possvel pergunta quem permanece?. Trs alternativas sucedem-se, sem que se possa
optar por nenhuma: 1) no h ningum que seja o mesmo que eu; 2) eu sou o mesmo que um dos
275
PARFIT, Derek. Reasons and Persons. Oxford: Oxford University Press, 1986 apud RICUR, Paul. Soi-mme comme un
autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. p. 156, nota 1, et seq.. (Poche, 330).
276
nesse ponto que a tese reducionista exerce todo o seu controle: numa ontologia do evento e numa
epistemologia da descrio impessoal dos encadeamentos portadores da identidade, o lugar privilegiado das
ocorrncias nas quais a pessoa mencionada o crebro. In: RICUR, Paul, op. cit., p. 162.
151
indivduos produzidos pela experincia; 3) eu sou o mesmo que os dois indivduos. E completa:
o paradoxo bem um paradoxo da mesmidade
277
.
De todo modo, mesmo nesses casos extremos, evidencia-se que a resposta questo
pelo sujeito (quem) no jamais um nada: um no-sujeito no jamais nada, mas a questo
quem, simplesmente reconduzida nudez da questo ela mesma
278
. Ou seja, a questo qu?
aplicada identidade conduz a situaes em que no h resposta possvel e a questo torna-se
vazia de sentido. Contrariamente questo pelo qu, que conduz identidade como mesmo, a
questo quem? conduz o sujeito a afirmar-se, mesmo quando procura negar a si mesmo
279
. No
confronto com o mesmo, o sujeito acede sua identidade reconhecendo-se em sua
interioridade como si-mesmo.
nesta altura que Ricur contesta a terceira afirmao de Parfit, para quem a
identidade pessoal no o mais relevante. Em sua obra, Parfit contesta a racionalidade da moral
utilitarista, que leva ao que ele denomina de teoria do interesse prprio
280
. para fundar sua
argumentao que Parfit dir que a identidade pessoal no o que importa
281
. No entanto, por
mais que as situaes-limite coloquem em cheque a identidade reflexiva o que a literatura no
cessa de fazer a questo quem? jamais desaparece completamente. Como nota Ricur,
como seria possvel interrogar-se pelo que importa se no fosse possvel perguntar a quem a coisa
importa ou no?
282
. Ou seja, trata-se de uma crise interna ipseidade em que se pe em cheque a
noo da pertena de minhas experincias vividas a mim mesmo. Mas justamente aqui que se
revela o papel mediador da narratividade, capaz de conectar o qu do vivido ao quem sujeito que se
percebe vivente. Embora no tenhamos na Farsa nenhuma situao anloga a estas situaes
277
Ibidem, p. 162.
278
RICUR, Paul. Lidentit narrative. In: Esprit, jul-agost, 1988, n. 7-8. Trimestral. p. 302.
279
Nesse sentido, o filsofo pergunta-se: Quem eu, quando o sujeito diz que no nada? Precisamente um si
mesmo privado do recurso identidade-idem.. In: Ibidem, p. 302.
280
A cada pessoa [a teoria] S d por finalidade as concluses que seriam as melhores para ele e que assegurariam a
sua vida o melhor possvel para ele. . In: PARFIT, Derek, op. cit., p. 3 apud RICUR, Paul, op. cit., p. 164, nota 1.
281
PARFIT, Derek, op. cit., p. 255 passim apud RICUR, Paul, op. cit., p. 156.
282
RICUR, Paul, op. cit., p. 165.
152
limtrofes, esta ligao do qu ao quem um dos pontos centrais ao qual queramos chegar,
tendo grande relevncia para a figura do julgamento que analisaremos no final deste captulo.
O argumento consiste em que a identidade pessoal, que solicita a narratividade, no
se deixa perceber plenamente seno na dialtica entre idem e ipse. Ricur o demonstra em dois
momentos. Primeiro, ao conjugar eventos dispersos na construo coerente de uma intriga, a
narratividade integra permanncia no tempo elementos que escapam identidade-idem, quais
sejam, a diversidade, a variabilidade, a descontinuidade e a instabilidade. Segundo, dentro do
espao das variaes imaginativas prprio da fico literria, Ricur examinar casos nos quais a
dialtica idem-ipse tende a levar ao limite a distino entre os dois aspectos da identidade dos
personagens agentes, revelando o carter problemtico e dialtico da identidade pessoal.
1.1. A dialtica entre a construo da intriga e a construo do personagem
Em sua primeira abordagem da dialtica idem-ipse na narrativa, Ricur parte da
correlao entre a identidade da construo da intriga e a identidade da construo do
personagem
283
. No plano da construo da intriga, a identidade compreendida como o processo
dinmico no qual a exigncia de concordncia e a admisso de discordncias se articulam. Em
termos mais amplos, a identidade da composio narrativa vem da sntese do heterogneo: entre
diversos eventos e a unidade temporal da histria contada; entre os componentes dspares da
ao, intenes, causas e acasos, e o encadeamento da histria; enfim, entre a pura sucesso e a
283
Vale lembrar que, aqui, identidade narrativa equivale a identidade do personagem. de fato essa perspectiva que
nos interessa, diferentemente de Ricur que avana em direo da designao do sujeito agente responsvel. Em
termos visuais, paramos nosso percurso antes do fim da estrada: enquanto Ricur avana do modelo narrativo da
identidade (do personagem) para o momento final da identidade (da pessoa) construda atravs do momento
narrativo, ns interrompemos a viagem no primeiro pedgio.
153
unidade da forma temporal
284
. Quem opera esta sntese o ato potico configurante, que articula
o evento (matria-prima do modelo de conexo prprio da narrativa) em seus aspectos de
instabilidade, na medida em que ameaa a concordncia, e de estabilidade, enquanto assegura o
andamento da narrativa. Aqui revela-se um paradoxo da construo da intriga: ao cristalizar o
andamento de uma ao, ela inverte o efeito de contingncia, incorporando de certo modo ao
um efeito de necessidade ou de probabilidade exercido pelo ato configurante. O evento que
aparece como surpresa, ao termo transfigura-se em necessidade que se revela apenas na totalidade
temporal da narrativa concluda.
Mas somente ao passarmos da ao ao personagem que tocamos o problema da
identidade, pois o personagem quem executa a ao na narrativa. A tese de Ricur que a
identidade do personagem se compreende pela transferncia sobre ele da operao de construo
da intriga inicialmente aplicada ao narrada; o personagem, diramos, ele mesmo colocado na
teia da intriga (mis en intrigue)
285
. Para fundamentar sua afirmao, Ricur voltar-se- para a
narratologia, depois de lembrar que Aristteles j sugere essa subordinao do personagem ao
no plano potico. De fato, como vimos no captulo precedente, a identidade dos personagens,
em Greimas, vem da progresso actante ator (papel) personagem. Assim, pois,
comentando a postura dos formalistas russos (especialmente Propp) e dos estruturalistas
(Bremond e Greimas), Ricur analisa essa tentativa de estabelecer um lao lgico estrito entre
ao e actante. Conforme nota, j Propp encontrava certa dificuldade em, aps identificar as
funes, justificar sua relao com os personagens ele o far recorrendo ao conceito de esferas
de ao identificadas aos personagens, que podem incluir uma ou mais funes.
284
RICUR, Paul, op. cit., p. 169. Ricur prossegue no mesmo pargrafo: Essas mltiplas dialticas no fazem seno
explicitar a oposio, presente j no modelo trgico segundo Aristteles, entre a disperso episdica da narrativa e a
potncia de unificao desenvolvida pelo ato configurante que a poiesis ela mesma.
285
Ibidem, p. 170.
154
Em Greimas, nota Ricur, esta correlao entre ao e identidade ainda mais
arraigada, anterior mesmo constituio do personagem
286
. Esta postura radicaliza-se tanto do
lado dos actantes (construdos sobre as categorias do desejo, da comunicao e da ao
propriamente dita) quanto do lado do percurso narrativo (quando define, no plano mediano entre
as estruturas profundas e o plano figurativo, a noo de relao polmica que se instaura entre dois
programas narrativos rivais e convergentes, manifestando que ao interao).
Em todos esses casos, porm, trata-se da convergncia entre a descrio da ao de
um personagem e a construo do seu carter, na medida em que toda construo de uma intriga
procede de uma gnese mtua entre o desenvolvimento do carter e da histria narrada. Assim, a
estrutura narrativa rene os dois processos de construo da intriga: o da ao e o do
personagem. [...] Narrar, dizer quem fez o qu, porqu e como, organizando no tempo a
conexo entre estes pontos de vista
287
.
Nesse ponto, Ricur observa que se chega a uma soluo potica ao problema da
ascrio, ou seja, da relao de atribuio de uma ao a uma pessoa, contra as aporias a que
chegara Kant no registro filosfico. Se tal rplica potica pode ser discutida em outro jogo de
linguagem, no campo da literatura ela nos servir adiante plenamente.
1.2. A dialtica idem-ipse em funcionamento na experincia literria
Em sua segunda abordagem da relao idem-ipse, Ricur observa que, da correlao
entre ao e personagem, resulta uma dialtica interna a este:
286
por esta razo que o narratlogo fala em actante, no em personagem, a fim de subordinar a representao
antropomrfica do agente a sua posio de operador de aes sobre o percurso narrativo. In: Ibidem, p. 173.
287
Ibidem, p. 174.
155
A dialtica consiste em que, segundo a linha da concordncia, o personagem tira sua
singularidade da unidade de sua vida considerada como a totalidade temporal ela
mesma singular que o distingue de todo outro. Segundo a linha da discordncia, esta
totalidade temporal ameaada pelo efeito de ruptura dos eventos imprevisveis que a
pontuam (encontros, acidentes, etc.); a sntese concordante-discordante faz que a
contingncia do evento contribua para a necessidade de certo modo retroativa da
histria de uma vida, qual se iguala a identidade do personagem. Assim, o acaso
transmutado em destino. E a identidade do personagem que ns podemos dizer
colocada na teia da intriga (mis en intrigue) no se deixa compreender seno sob o signo
dessa dialtica.
288
No h distino entre a identidade e uma entidade abstrata separada de seu vivido,
contra a qual reagia Parfit. Recordemos mais uma vez a posio de Anne Ubersfeld, que reagia
contra uma tendncia a tratar o personagem como uma substncia autnoma em relao sua
construo. Mas j podemos compreender melhor de que modo a identidade de uma histria
narrada que faz a identidade do personagem. A identidade narrativa, com sua dialtica prpria
de concordncia e discordncia, inscreve-se entre os plos da permanncia no tempo que so a
mesmidade do carter e a ipseidade da permanncia do si mesmo. Aparece a novamente sua
funo mediadora, especialmente atravs do que Ricur denomina variaes imaginativas
289
,
situaes s quais a narrativa submete a problemtica da identidade, constituindo este aspecto um
elemento central da inteligncia narrativa. Mais ainda, nesse sentido, a literatura demonstra ser
um vasto laboratrio para experincias de pensamento nas quais so submetidas prova da
narrativa os recursos de variao da identidade narrativa
290
.
Ricur observa que a literatura, de fato, varia de momentos nos quais aparecem
personagens facilmente identificveis e reidentificveis como mesmo, nos quais os elementos
idem e ipse da identidade parecem se confundir, a outros momentos em que a distino levada ao
limite. o caso, por exemplo, dos romances de fluxo de conscincia, onde aparentemente a
288
Ibidem, p. 175.
289
Ricur dir mais tarde, comentando o pensamento de MacIntyre, que na fico literria que a ligao entre a
ao e seu agente se deixa melhor apreender, e que a literatura demonstra ser um vasto laboratrio para experincias
de pensamento onde esta juno submetida a variaes imaginativas sem nmero. In: Ibidem, p. 188.
290
Ibidem, p. 176.
156
relao se inverte e a intriga parece depender do personagem. Escapando ao controle da intriga,
este tipo de identidade pe prova a dialtica da identidade narrativa, como nos casos-
enigma
291
. Nesses casos, no entanto, a crise de identidade pode ser compreendida como a perda
da referncia de uma identidade-idem, causando um fechamento do personagem na esfera da
reflexividade inativa e dando origem a uma crise da concluso da narrativa. De fato, o ponto final
de uma narrativa, quando no orientado pelo encadeamento de uma ao cuja necessidade deixa-
se perceber no depois, desemboca no fim aleatrio no qual a continuao da histria aludida.
Em todo caso, a literatura revela-se como um espao onde a experimentao, o sonho e os jogos
com a identidade exploram os limites do possvel, sem jamais escapar da dialtica inerente ao,
estando ligada a ela pela mimesis enquanto processo.
1.3. Funo-chave da identidade narrativa e suas implicaes ticas
Enfim, neste ponto em que se revela o papel-chave da identidade narrativa nas
fronteiras entre as mimesis I e II, e entre as mimesis II e III. No primeiro caso, parte-se da estrutura
do agir humano cujas leis prprias condicionam sua representao, seja enquanto agente ou como
paciente, e do conjunto simblico no qual a construo da representao inscrita. Nesse estgio,
d-se uma certa precedncia da ao sobre o agente, no que podemos notar um certo paralelismo
entre o percurso da mimesis I, II e III e a trade descrever-narrar-prescrever. A descrio da ao
inaugura a narrativa, modelando progressivamente o personagem medida que narra seu agir-no-
291
Ricur distinguir, porm, as variaes imaginativas da literatura em geral, das de fico cientfica, quanto ao
tratamento da dimenso corporal. Esta seria o invarivel da literatura convencional que transgredido pela fico
cientfica. No entanto, ainda que se pretenda eliminar a dimenso terrestre, alguma forma de condio corporal
permanece necessria, fazendo novamente aparecer o problema da identidade em seu funcionamento dialtico.
157
mundo e em interao com outros. como se o momento da passagem da primeira etapa do
processo ao segundo se desse progressivamente a partir do momento em que as primeiras linhas
so escritas, quando os primeiros vestgios da histria, com seu maior ou menor domnio do
campo conceitual do agir humano, comeam a soprar vida nas narinas dos personagens. Vemos
no ato da escritura o momento dessa passagem progressiva entre a mimesis I e II. E nessa
passagem, a questo da identidade que est em jogo: a identidade da histria, da qual se destaca
a identidade de certos personagens.
No segundo caso, a passagem da mimesis II III corresponde entrada progressiva
numa forma de julgamento da ao anlogo ao ato interpretativo, no qual o elemento
propedutico tica manifesta-se de modo mais evidente. Identificamos o momento dessa
passagem como o ato de leitura. No se trata, aqui, de medir o alcance da recepo, tarefa de
difcil execuo e intil para nossa anlise. Trata-se de ver como o ato de leitura instaura um
processo o processo de interpretao no qual um elemento judicativo nos leva ao elogio ou
condenao de certas atitudes
292
. O prazer da leitura consiste, em grande parte, na explorao
desses limites, muitas vezes impossvel na realidade. Mas essencial ressalvar a natureza
propriamente literria, potica desse julgamento, que, se possui ligaes com o agir humano real
(campo da tica), no seno atravs da imaginao produtiva, em carter propedutico,
preliminar, antecipatrio e no-determinante com relao ao agir real. Ao falar sobre o prazer
esttico da literatura, Ricur deixa clara essa situao de distino sem separao desses dois
campos, a literatura e a tica:
292
Ricur afirma claramente a relao de implicao entre potica e tica: Que a funo narrativa no seja sem
implicaes ticas, o enraizamento da narrativa literria no solo da narrativa oral, o plano da prefigurao da narrativa
j o deixa entrever. Em seu famoso ensaio sobre o narrador, W. Benjamim lembra que, sob sua forma mais
primitiva, ainda discernvel na epopia e j em via de extino no romance, a arte de narrar a arte de trocar
experincias; por experincias, ele entende no a observao cientfica, mas o exerccio popular da sabedoria prtica.
Ora, essa sabedoria prtica no deixa de comportar apreciaes, avaliaes que caem sob as categorias teleolgicas e
deontolgicas [...]; na troca de experincias que a narrao opera, as aes no deixam de ser aprovadas ou
desaprovadas e os agentes de serem elogiados ou contestados.. In: Ibidem, p. 194.
158
Pode-se dizer que a narrativa literria, no plano da configurao narrativa propriamente
dita, perde suas determinaes ticas em benefcio de determinaes puramente
estticas? Seria mal compreender a prpria esttica. O prazer que ns desfrutamos em
seguir o destino dos personagens implica certamente que ns suspendamos todo
julgamento moral real ao mesmo tempo que ns colocamos em suspenso a ao efetiva.
Mas, no recinto irreal da fico, ns no deixamos de explorar novas maneiras de
avaliar aes e personagens. As experincias de pensamento que ns conduzimos no
grande laboratrio da imaginao so assim exploraes conduzidas no reino do bem e
do mal. Transvalorizar, ou mesmo desvalorizar, ainda avaliar. O julgamento moral
no abolido; ele submetido s variaes imaginativas prprias fico.
293
Na passagem do segundo para o terceiro momento da mimesis, o texto abre para o
leitor um espao no qual a experincia de descoberta o trao distintivo. Nesse dilogo com o
texto, trata-se da descoberta de um novo mundo, do mundo criado pelo texto.
Tocamos, enfim, o cerne de nossa pesquisa, atravs do tema da identidade narrativa.
com base nesse material terico que iremos analisar a inter-relao entre os dois protagonistas
da Farsa, voltando ao tema da construo de ambos como personagens, mas concentrando-nos
no modo como os dois interagem. Acompanhando a figura do heri e do narrador, veremos
como a figura do julgamento, imagem situada dentro do texto, mimetiza o que se passa no
prprio ato de leitura, fazendo funcionar o laboratrio tico-literrio. De modo mais explcito,
enquanto intrprete da ao e na medida em que convida explicitamente o leitor (e o pblico) a se
posicionar diante dos acontecimentos, Manuel Carpinteiro instaura uma forma de julgamento
(inspirado do julgamento apocalptico) que permanece de certa forma aberto, abrindo a pea para
uma continuidade possvel no plo da mimesis III. nessa figura literria, correspondente
estrutura profunda da pea e coerente com as formas literrias amalgamadas pelo autor, que
aparece de modo mais explcito a relao dialtica entre forma esttica e contedo tico.
293
Ibidem, p. 194.
159
2. Manuel e Simo em processo: a construo das identidades na Farsa
Para fundar essa nossa afirmao e para alcanarmos uma maior clareza do tipo de
relao que se estabelece entre os dois protagonistas, voltemos ao processo de construo das
identidades de Manuel Carpinteiro e de Joaquim Simo. Retomando alguns pontos tratados nos
captulos precedentes, enriquec-los-emos com novas observaes, sobretudo a partir dos
elementos do carter obtidos atravs da anlise do discurso desses personagens. Optamos por
analisar os dois processos separadamente, destacando a interao sempre que necessrio, para
depois concentrar nossa ateno sobre o tipo de julgamento que se estabelece em torno ao do
poeta.
2.1. Como se faz um poeta preguioso
A construo do personagem Joaquim Simo manifesta a habilidade de Ariano
Suassuna em manipular materiais de fontes muito diversas, alguns retirados da cultura nordestina
e outros inditos, como vimos no primeiro captulo. Neste plano, correspondente passagem da
mimesis I mimesis II, a coerncia do personagem mascara sua filiao a personagens to distintos
como o cantador Simo de O homem da vaca e o palhao Tirateima de O rico avarento, diversidade
que no compromete a identidade idem de Simo. J havamos tocado neste ponto no incio do
terceiro captulo, retomando as concluses do captulo primeiro sob a tica da mimesis I. O que
faremos agora buscar uma melhor compreenso da natureza desse personagem, que nos
aparecer mais claramente com a explicitao do processo de construo de sua identidade
160
narrativa, que opera a mediao entre o qu de sua ao e o quem de sua personalidade
literria. No detalharemos os aspectos j considerados na anlise das fontes e na abordagem
actancial. Voltaremos nossa ateno para o plano simblico, sobretudo, que, no caso de Simo,
significa verificar as conseqncias para seu carter de sua vinculao ao tipo anti-herico,
analisando em que medida esta categoria pode ser aplicada ao poeta. A fim de melhor pr em
evidncia a construo da intriga e a construo do personagem, consideraremos a progresso do
texto e a descrio das disposies durveis (carter) de Joaquim Simo.
Na Farsa da boa preguia, o poeta Joaquim Simo mencionado pela primeira vez j na
terceira fala, na boca de Manuel Carpinteiro que o apresenta simplesmente como pobre e
poeta
294
. Mas imediatamente intervm Miguel Arcanjo, qualificando o poeta de preguioso e de
leviano
295
. Simo Pedro defende o poeta, acusando o anjo de jamais haver trabalhado. Assim, j
nas sete primeiras falas esto dadas as cartas: de um lado o anjo, do outro o santo, no meio
Manuel Carpinteiro e, diante de todos, o poeta cuja preguia contestada. Devemos notar, no
entanto, que a caracterizao de Joaquim Simo como poeta j prepara o leitor (e o espectador)
para acolher um comportamento menos afeito ao trabalho, segundo o esteretipo do poeta
difundido na cultura hodierna, do qual d testemunho uma das definies do termo: Aquele que
devaneia ou tem carter idealista
296
. Mas o qualificativo ambguo, pois esta definio um tanto
negativa do termo convive com significados positivos. Esta ambigidade do termo, porm,
apenas mais um elemento que reforar a ambigidade tica de Joaquim Simo, dificultando a
passagem da ao imputao, como veremos.
a atitude preguiosa que questionada pelos personagens celestes. Mesmo Miguel,
que se ope a Simo, contesta no o personagem, mas uma atitude que ele julga viciosa. De fato,
294
Cf. SUASSUNA, Ariano Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 6.
295
Miguel Arcanjo: O tal do Joaquim Simo/ um poeta preguioso,/ que, detestando o trabalho,/ vive atolado e
ainda tem coragem/ de se exibir alegre e animoso. In: Ibidem, p. 6.
296
Poeta. In: FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Dicionrio Aurlio Eletrnico -sculo XXI. (CD-rom). Verso 3.0.
Rio de Janeiro, Nova Fronteira e Lexicon Informtica, 1999.
161
a discusso entre os personagens celestes ir destacar a ambivalncia que pode haver tanto na
preguia quanto no trabalho. A questo toda ser de saber qual a natureza da preguia do poeta.
E com a finalidade de ver e apurar este ponto que Manuel Carpinteiro convocar a ao, o
que nos remete diretamente trade descrever-narrar-prescrever. A anlise da construo do
personagem-narrador revelar, de fato, como sua funo conduzir esta progresso mimtica que
culminar com a situao judicativa. Mas j podemos observar como, desde o incio, estabelece-se
o perfil de Joaquim Simo sob o olhar atento dos personagens celestes, sob a conduta de Manuel
Carpinteiro.
Da por diante, ao longo dos atos um e dois, Joaquim Simo apresentado de modo
extremamente ambguo, que nos leva quase a concordar com Miguel Arcanjo. Ele pobre, mas
no luta por uma melhor condio de vida para si e, o que pior, para a famlia. Recusa diversas
propostas de trabalho feitas por sua esposa, mas deixa-se levar pelos encantos de Dona Clarabela,
esposa de Aderaldo. Jamais demonstra preocupar-se convenientemente com os filhos. Nesse
contexto, o maior trunfo em favor de Simo parecem ser seus aliados: sua esposa, que se mantm
no apenas fiel, mas tambm defensora do esposo, e o apoio de Simo Pedro. A estes, associam-
se como elementos favorveis a pobreza, circunstncia atenuante do comportamento de Simo, e
o contraste com o vcio oposto de Aderaldo, vido por trabalho e riqueza.
A reviravolta da passagem dos atos dois e trs leva este perfil ambguo de Simo para
o lado negativo. Ao enriquecer, o poeta assume traos de Aderaldo, deixando-se levar pelo
esprito da riqueza
297
e traindo Nevinha. Neste ponto encontramos um dos elementos fortes da
descontinuidade da identidade de Simo, cuja traio manifesta uma ruptura na permanncia do si
mesmo. E caso a pea terminasse a, o poeta certamente no ganharia o apoio dos personagens
celestes. neste momento, no entanto, que o personagem ganha mais profundidade, revelando
um certo trao de reflexo por sua capacidade de voltar atrs, com a ajuda de Manuel Carpinteiro
297
SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 115.
162
que empobrece o poeta. Ou seja, ele sai vitorioso e purificado da prova. Esta mudana de atitude
indicada por uma situao inusitada para um poeta, quanto mais para um poeta preguioso: ele
pede trabalho. Da por diante, apenas aspectos positivos so atribudos a Simo. Ao se aproximar
da casa de Aderaldo para pedir emprego, por exemplo, ele defender sua mulher do rico que
havia tentado seduzi-la no primeiro ato:
Simo (a Nevinha) (...)Por outro lado,
depois do que voc me contou de Seu Aderaldo,
eu no quero expor voc
s safadezas daquele safado!
298
E, se verdade que Simo entra e sai da pea sem deixar seu bordo ( mulher, traz
meu lenol, que eu estou no banco, deitado!), sua preguia parece enfim estar mais prxima do
cio criativo. E o que caracteriza esta atitude como boa parece ser justamente a criatividade,
reflexo da criatividade de Deus, que criou tudo o que cria
299
. Simo afirma que agir assim. Mas
a ambigidade volta a fazer seu ninho na sua ltima fala na pea:
Carregar pedra pra jumento!
O que eu vou fazer
escrever trs folhetos arretados,
Trs folhetos chamados
O Peru do Co Coxo, A Cabra do Co Caolho
e O Rico Avarento.
Vendo tudo e da vez que fico rico!
Rico e desocupado,
Vivendo s de escrever,
De tocar e de cantar!
300
De fato, a meno de folhetos com os nomes dos atos da prpria pea pode at ser
considerada um indicativo do sucesso que Simo promete. Mas o sonho de riqueza e de uma vida
sem trabalho, ou com pouco trabalho (indicado pela partcula s, na expresso vivendo s de
escrever) muito ambguo para afastar totalmente as suspeitas de um comportamento negativo
298
Ibidem, p. 118.
299
Ibidem, p. 181.
300
Ibidem, p. 177 (grifos nossos).
163
do poeta. Convm, portanto, perguntar-nos se o poeta no poderia ser caracterizado como anti-
heri e, em caso afirmativo, em que termos.
2.1.1. Simo, o anti-heri?
Em texto de 1964 sobre A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, Sbato Magaldi afirma
que no gosto de pintar seres frgeis e pecadores, Ariano Suassuna se liga a uma das
caractersticas da fico moderna, nutrida de preferncia pelo anti-heri
301
. Embora o crtico trate
de um texto especfico, no hesita em alargar o horizonte de sua afirmao para incluir esta
caracterstica como um trao estilstico do autor, presente em outras obras. Para entender a
afirmao, convm ressaltar a dupla anttese que compe o significado da categoria genrica de
anti-heri. O prefixo anti, de fato, indica uma definio pela negativa, que deve ser entendida
em duas direes: de um lado, temos a anttese entre heri cmico e heri clssico; do outro, a
anttese entre heri clssico e heri moderno. As matizes contidas nesta categoria, dentro do
universo anti-herico, esclarecem ainda mais o perfil ambguo do protagonista da Farsa da Boa
Preguia.
A primeira e mais antiga anttese contrape o heri clssico (trgico ou pico) ao
heri cmico. A hiptese que, na prpria definio do heri cmico, estaria algum elemento
anti-herico, tomando o termo em sentido lato. Ou seja, tal idia de anttese do herosmo trgico
estaria presente na essncia do heri cmico.
Convenciona-se chamar de heri clssico aquele personagem, trgico ou pico,
herdado da antiguidade grega e possuidor de uma virtude extraordinria, quase sempre fruto de
301
MAGALDI, Sbato. Moderna dramaturgia brasileira. So Paulo: Perspectiva, 1998. p. 72.
164
uma origem divina. Tal virtude ser provada numa srie extraordinria de peripcias, cujo
desenlace poder ser negativo sem que isso abale a qualidade especial do heri.
O tipo de heri clssico grego influenciar diretamente os poetas latinos e, com eles,
toda a era medieval. No foi por acaso que Dante escolheu Virglio como guia de seu priplo no
outro mundo. Pouco a pouco, porm, vai-se acentuando o aspecto humano do heri. O heri
cavalheiresco, por exemplo, j no possui origem divina, embora seja diretamente ajudado pela
divindade e o tema da linhagem seja de extrema fora, associado ao ideal de pureza. Galaaz, heri
de A demanda do Santo Graal
302
, recebe sua dignidade tanto de sua origem filho de Lanalot, o
melhor cavaleiro do mundo quanto de sua casta virgindade. Alm disso, embora a
comunicao entre o mundo divino e o mundo humano seja intensa idia que se refora com a
doutrina crist da encarnao do Verbo , a ao do heri ser cada vez mais humana, sempre
ajudada pela divindade. O sentimento do sagrado, onipresente no heri cavalheiresco, reforar
sua busca pelo maravilhoso e seu itinerrio de aperfeioamento espiritual. O maravilhoso acaba
se tornando o ambiente onde este ideal herico se realiza. Mas a virtude extraordinria do heri
ser agora marcada pelo iderio cristo e pela honra. Diferentemente do heri clssico, resignado
diante da necessidade (anank) e do destino (moira), o heri cavalheiresco encara o sofrimento e a
provao como ocasio de maior merecimento para a outra vida.
No encontraremos em Simo nenhum vestgio de filiao nobre ou divina, pelo que
ele se distancia totalmente do padro clssico de herosmo, incluindo em seu perfil o aspecto
negativo da primeira anttese (heri cmico x heri clssico). No entanto, a influncia medieval
sobre esta pea aparece tambm na comunicao entre homem e Deus. Simo ajudado pela
esfera celeste na provao da qual se pode dizer que ele sai vitorioso (embora talvez no
completamente corrigido).
302
DEMANDA DO SANTO GRAAL, A. Trad. e notas de Augusto Magne. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro,
1944. 3 vols.
165
Mas em meio ao ideal do heri de cavalaria aparece Dom Quixote, o cavaleiro da
triste figura de Cervantes, que representa uma mudana radical na compreenso do heri na
cultura ocidental. O maravilhoso, tambm presente, no se encontra mais no exterior do
personagem, mas na interioridade do heri. Tal elemento maravilhoso ao mesmo tempo o incita a
agir e lhe perturba a ao. A partir de agora, como observa Lukcs, a existncia subjetivamente
no apreensvel e objetivamente afianada da idia transformou-se numa existncia
subjetivamente clara e fanaticamente segura, mas despida de toda a relao objetiva
303
.
De modo mais amplo, Lukcs observa que um novo tipo de heri aparece medida
que a cultura ressente o abandono do mundo por Deus. Numa afirmao clssica, ele observa
que essa nova realidade revela-se na inadequao entre alma e obra, entre interioridade e
aventura, na ausncia de correspondncia transcendental para os esforos humanos
304
. Inaugura-
se assim a era do heri moderno, no mais ajudado nem coagido pelos deuses, obrigado a agir
sem qualquer apoio transcendental.
Simo no se enquadra completamente neste perfil, at mesmo porque sua existncia
no desvinculada do apoio divino como observamos. Mas o personagem ter aspectos de
inadequao entre alma e obra que o aproximam do cavaleiro, como o sonho de ficar rico que
sobrevive a todas as peripcias da Farsa
305
. Por este trao, Simo aproxima-se da categoria de anti-
heri no sentido da segunda anttese, ou seja, na passagem do herosmo clssico para o herosmo
moderno.
No entanto, o perfil cmico de Simo situa-o mais decididamente na contramo do
herosmo clssico no sentido da primeira anttese (heri cmico x heri clssico). Segundo
303
Cf. LUKCS, George, O idealismo abstrato. In: ______. A teoria do romance. So Paulo: Duas Cidades; Editora
34, 2000. p. 108.
304
Ibidem, p. 99
305
Segundo comentrio do prprio autor, Ariano Suassuna, o poeta Simo um misto de Quixote e Sancho
Pana. In: SIMES, Eduardo. Suassuna defende sonho quixotesco na Flip. Folha de So Paulo, So Paulo, 11 jul. 2005.
Folha Ilustrada, C.4.
166
Aristteles, de fato, a comdia [...] imitao de maus costumes, no, contudo, de toda sorte de
vcios, mas s daquela parte do ignominioso que o ridculo. O ridculo reside num defeito e
numa tara que no apresentam carter doloroso ou corruptor
306
. Na comdia, portanto, os
homens so representados de modo inferior ao que na realidade so
307
. precisamente nisso que
o heri cmico representa uma anttese do heri trgico. Talvez seja mais acertado dizer que o
heri cmico inverte o modo de representao do heri trgico, ambos tendo como parmetro o
homem comum. De qualquer modo, o perfil do heri cmico no ter nada de superior. Ao
contrrio, a sua comicidade pode estar precisamente em mostrar como baixo o que pretende ser
no s alto, mas elevado, sem que a necessariamente se mostre o baixo como elevado
308
.
A exaltao do poeta por Nevinha no segundo ato obedece a esse princpio cmico
da pretenso, por exemplo. Ademais, Simo certamente enquadra-se na categoria do herosmo
cmico por sua postura certas vezes ridcula, como ao rejeitar todas as propostas de Nevinha, ou
ao mascarar a massagem dada por Clarabela danando xaxado. Esses seus traos, embora
viciosos, no so dolorosos. O aspecto vicioso, porm, ao se manifestar na extrema pobreza que
implica na falta de comida para ele e para sua famlia, tempera o ar cmico da pea.
Com isto tocamos um ponto relevante da pea de Suassuna, o da sua qualidade
cmica. Deixaremos para desenvolver esse tema no fechamento deste captulo, pois a mistura de
elementos srios e cmicos poder ser melhor explicitada ao analisarmos a figura do julgamento.
Mas notemos desde j que a Farsa no induz a mesma qualidade de riso que outras peas de
306
ARISTTELES. Potica, cap. V, nn. 1 e 2 grifos nossos. (As citaes que seguem abaixo so extradas da traduo
de Antonio Pinto de Carvalho Arte Retrica e Arte Potica. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]).
307
Como a imitao se aplica aos atos das personagens e estes no podem ser seno bons ou maus (pois os
caracteres dispem-se quase s nestas duas categorias, diferindo apenas pela prtica do vcio ou da virtude), da
resulta que as personagens so representadas ou melhores ou piores ou iguais a todos ns. (...) A mesma diferena
distingue a tragdia da comdia: uma prope-se a imitar os homens, representando-os piores, a outra melhores do
que so na realidade. In: Ibidem, cap. II, nn. 1 e 7.
308
ROTHE, Flvio, R. O Heri. So Paulo: Ed. tica, 1985. p. 43. E o autor continua, exemplificando: No incio da
comdia As Nuvens, de Aristfanes, o filsofo Scrates (considerado na pea como um supremo sofista) aparece
sentado numa cesta que paira bem no alto do palco, esperando-se que, com isso, ele tenha pensamentos mais
elevados... Colocado, assim, num plano alto, ele rebaixado, mas isto s ocorre porque ele considerado alto por
outros segmentos sociais.
167
Suassuna. Embora outras comdias do autor conciliem o riso frouxo com temas difceis como a
morte e o julgamento (referimo-nos ao Auto da Compadecida e a A pena e a lei), aqui temos um
tratamento um pouco diferente, perceptvel de modo mais claro na presena do imaginrio
apocalptico que comentaremos a seguir, a propsito de Manuel Carpinteiro. Esse tipo de mistura
srio-cmico, em nosso parecer, semelhante atmosfera do romance maior do mesmo autor, o
Romance da pedra do Reino. A proximidade entre a fala inaugural de Manuel Carpinteiro e um dos
textos centrais do romance j foi objeto de nossa considerao no captulo terceiro. Mas qualquer
que seja o caso, o que nos importa adiante verificar no tanto a origem, mas o significado desta
opo esttica, que em nosso entender tem fortes implicaes ticas.
2.1.2. Simo, heri neopicaresco
A aproximao da Farsa e do Romance da Pedra do Reino a partir da mistura srio-
cmico coloca-nos na pista de um outro paralelo, referente aos protagonistas do romance e da
pea. Trata-se da vinculao de ambos ao tipo picaresco. Mario Gonzlez quem nos indica o
caminho, ao incluir o Romance da Pedra do Reino entre os romances neopicarescos que analisa em seu
livro A saga do anti-heri
309
. Vale notar, porm, que esse aspecto j fora sugerido de certa forma por
Idelette Muzart, referindo-se linhagem dos principais personagens cmicos de Suassuna:
Para compreender melhor o processo de recriao da personagem por Suassuna, parece
necessrio definir este tipo a partir de seu universo prprio. Em primeiro lugar, est
Pedro Malasarte, o av, o modelo (...). Joo Grilo o segundo desta galeria (...). Canco de
Fogo parece ser o mais original e o mais brasileiro dos pcaros-malandros criados por
Leandro Gomes de Barros.
310
309
GONZLEZ, Mario M.. A saga do anti-heri. So Paulo: Nova Alexandria, 1994.
310
SANTOS, Idelette Muzart F. dos. Em demanda da potica popular. SP: Ed. da Unicamp, 1999. p. 250-251. A
aproximao dos personagens de Suassuna com o tipo pcaro tambm foi abordada por Mrio Guidarini. (Cf.:
168
Convm lembrar desde o incio que o tipo pcaro no nasceu no teatro, podendo-
se falar, no entanto, de uma extenso da picaresca a este campo. Como observa Mario Gonzlez,
o corpus original onde o pcaro forjado constitudo pelo Lazarillo de Tormes, pelo Guzmn de
Alfarache e por La vida Del Buscn, romances espanhis dos sculos XVI-XVII
311
. Portanto, a fim
de manter a distino entre um tipo pcaro em sentido prprio (cujo lugar de nascimento o
romance espanhol do perodo mencionado, sendo o romance de certa forma seu lugar
privilegiado de manifestao) e suas derivaes, preferimos utilizar o adjetivo picaresco para
nos referirmos aos traos desse tipo cmico que realmente encontramos em Simo, personagem
da Farsa. Seguindo o raciocnio de Gonzlez, devemos acrescentar, ainda, o sufixo neo para
caracterizar o poeta Simo. De fato, como observa o crtico, a retomada de certos aspectos do
romance picaresco espanhol num outro contexto exigir uma reavaliao do uso do termo, com
modificaes significativas do tipo pcaro:
[...]A maior diferena entre a picaresca europia e seu precedente espanhol est no
diferente contexto social em que o pcaro colocado agora: ele j no mais se espelha
na aristocracia, mas tem como horizonte e modelo a burguesia emergente.
Posteriormente, com a definitiva transformao desse contexto devido instalao da
burguesia num plano predominante, e com o aparecimento dos subprodutos do
capitalismo que acabariam por se definir no Terceiro Mundo, a picaresca sofre uma
profunda transformao. Por outro lado, desaparecer, em muitos casos, a noo da
existncia de um modelo clssico. Ao mesmo tempo, a linguagem narrativa, com a
superao do realismo do sculo XIX, sofrer transformaes que permitiro o uso de
novas frmulas para a picaresca. Tudo isso nos leva a falar em neopicaresca, como j
outros o fizeram no mesmo ou em outros sentidos, para referirmo-nos a toda a
abundante produo que, principalmente nos pases ibero-americanos, pode ser lida
GUIDARINI, Mrio. Os pcaros e trapaceiros de Ariano Suassuna. So Paulo: Ateniense, 1992). Esta obra, no entanto, visa
mais uma abordagem genrica da obra de Suassuna atravs dos personagens principais que um estudo detalhado da
presena do tipo pcaro na obra do autor paraibano.
311
Cf. GONZLEZ, Mario M., op. cit, p. 19 passim. A esses trs romances principais so acrescentados outros de
menor importncia, mas todos situados no contexto espanhol entre os sculos XVII e XVIII. O prprio Mario
Gonzlez alertar para os limites de sua abordagem: Cabe outra advertncia, no sentido de que conscientemente
deixamos de lado dois universos vinculados picaresca, por no fazerem parte do nosso objetivo de estudar as suas
manifestaes apenas no romance : um deles o que chamamos de picaresca popular, povoada de heris como
Pedro Urdemales, Pedro Malazartes e outros, que faz parte, na verdade, do precedente da picaresca culta [...].Outro
segmento que no consideraremos o da existncia de elementos picarescos em outras artes, como a pintura, o
teatro ou o cinema. (In : Ibidem, p. 262). Nosso interesse converge exatamente para este ponto ausente do estudo de
Gonzlez, do qual aproveitaremos as caractersticas da neo-picaresca para verificar sua aplicabilidade ao heri da
Farsa.
169
luz da picaresca clssica.
312
Em outros termos, a referncia picaresca clssica (espanhola) o ponto de
referncia original de uma corrente posterior que a ela se vincula, mas com modificaes
significativas. A fim de entender melhor a inovao introduzida pela neopicaresca, porm,
necessrio esclarecer os principais traos da picaresca tradicional.
Em primeiro lugar, Gonzlez apressa-se em desvincular-se do sentido comum do
termo picaresco, tal como definido nos dicionrios onde relacionado, por exemplo, aos
termos burlesco, ridculo e, s vezes, picante. A definio que ele prope muito mais
precisa, concentrada no romance picaresco clssico que o lugar de nascimento da picaresca.
Essa opo o faz partir do corpus original espanhol, mas com uma definio abrangente o
suficiente para incluir a retomada da forma nos sculos seguintes. Ele dir, assim, que nossa
noo de romance picaresco se apia num trip: o anti-heri denominado pcaro, seu aventureiro
projeto de ascenso social pela trapaa e a stira social traada na narrao desse percurso
313
. De
modo ainda mais preciso, o romance picaresco ser definido como
a pseudo-autobiografia de um anti-heri, definido como marginal sociedade, o qual
narra suas aventuras, que, por sua vez, so a sntese crtica de um processo de tentativa
de ascenso social pela trapaa e representam uma stira da sociedade contempornea
do pcaro, seu protagonista.
314
Ao propor uma definio mais precisa da picaresca, Gonzlez nota que a preciso
conceitual no foi objeto de preocupao da maior parte da crtica interessada na picaresca.
Apesar disso, ele identifica alguns traos constantes da picaresca apontados pelos crticos, que so
a presena do pcaro, a forma auto-biogrfica, o aspecto anti-herico do pcaro e a crtica social
312
Ibidem, p. 261.
313
Ibidem, p. 18.
314
Ibidem, p. 263.
170
da narrativa picaresca
315
. Dentre os crticos analisados por Gonzlez, porm, Claudio Guilln se
destaca como o nico a tentar uma definio estrita do termo
316
. Apesar de muito rgida, a
definio de Guilln ilumina certos aspectos do tipo. sobre ele que concentrar-nos-emos,
sendo o principal ponto de intercesso entre o romance picaresco e os elementos picarescos na
pea que estudamos.
Em primeiro lugar, o tipo pcaro se diferencia do vagabundo, do bufo, do
despossudo e do delinqente histrico [...]. Ele , antes de mais nada, um rfo que, solitrio,
deve-se valer por si mesmo, num meio para o qual ele no est preparado e acabar sendo um
semimarginal
317
. Mas o pcaro tambm aquele que se movimenta verticalmente na sociedade (e
horizontalmente no espao), oferecendo uma viso reflexiva, filosfica, crtica no terreno moral
ou religioso
318
. Sua viso permite, ainda, uma stira social por sua viso de certas condies
sociais do mundo em que vive. Acrescente-se a isso que o pcaro muitas vezes o piv em torno
do qual articulam-se uma srie de episdios que compem o romance picaresco
319
.
Antonio Candido, descrevendo o tipo pcaro em seu famoso artigo Dialtica da
malandragem
320
, destacar alguns aspectos semelhantes aos de Guilln, como origem humilde e
um tanto suspeita, vida levada sem grandes previses, o temperamento amvel e espontneo
associado a uma certa confiana numa forma de destino que rege a sua conduta, a ausncia de
315
Cf. Ibidem, p. 247-248.
316
Cf: GUILLN, Claudio. Toward a definition of the picaresque. Third Congress of the International Comparative Literature
Association. Gravenhage, Mouton, 1962. p. 71-106. (Apud GONZLEZ, Mario M., op. cit, p. 225).
317
GONZLEZ, Mario M., op. cit, p. 226.
318
Ibidem, p. 226.
319
O romance picaresco estruturado mediante a seriao dos episdios que, aparentemente, no tm outro elo
comum a no ser o heri. In: Ibidem, p. 227.
320
CANDIDO, Antonio. Dialtica da Malandragem. In: ______. O discurso e a cidade. SP: Duas Cidades, 1993. p. 20
passim. Nesse artigo, em que o crtico traa o paralelo entre o tipo pcaro clssico e o tipo malandro, a descrio do
tipo pcaro elaborada com referncia s obras de Frank Clandler (CHANDLER, Frank W. Romances of roguery: an
episody in the history novel. In two Parts. Part I, The picaresque novel in Spain. Nova York:[s.e.], 1899) e ngel Valbuena Prat
(PRAT, ngel V. La novela picaresca espaola. Madrid: Aguilar, 1943), como nota Antonio Gonzlez (cf.: GONZLEZ,
Mario M., op. cit., p. 284). Embora no concorde com o procedimento compilatrio de Candido, nem com a seleo
de autores de referncia do crtico, Gonzlez ir concordar com ele quanto no filiao de Memria de um sargento de
milcias picaresca, vendo nesse romance precisamente o que Gonzlez denominar de neopicaresca como o
desenvolvimento de um processo anlogo [no Brasil] ao acontecido na Espanha dos ustrias. In: Ibidem, p. 286.
171
sentimentos que o tornam apto a acomodaes, tolice e esperteza, aspecto satrico ou de crtica
social.
Curioso notar que, dentre os protagonistas das peas cmicas mais longas de
Suassuna, Simo justamente o menos esperto. Pelo contrrio, seu perfil aproxima-se do tolo, ao
menos na cena das trocas em que sai perdedor. Assim sendo, sua viso no tem nada de
filosfico, nem de reflexivo. No se pode dizer, tambm, que Simo seja um solitrio. Alm da
ajuda celeste, Simo encontrar um apoio constante em Nevinha. O temperamento de Simo no
propriamente amvel. Basta recordar seu costume de comparar pessoas a animais, como vemos
no incio do primeiro ato
321
. Enfim, o projeto de ascenso pela trapaa no pode ser atribudo a
Simo, que parece estar mais preocupado com a manuteno da sua preguia que em ascender
socialmente. A tirar por esses pontos, Simo afasta-se do tipo pcaro tradicional.
Mas outros aspectos estaro fortemente presentes na construo da identidade de
Simo e que permitem aproxim-lo da picaresca. A confiana na Fortuna
322
, a acomodao, o
temperamento espontneo, sua condio humilde e quase marginal (especialmente no incio do
terceiro ato, quando aparece mendigando emprego), seu programa de vida sem projetos e seu
comportamento satrico (em relao a Clarabela e a Aderaldo, por exemplo, que acaba se
estendendo como uma crtica ao capitalismo desenfreado) so alguns exemplos. Um aspecto
formal que o aproxima do pcaro a importncia do poeta para a articulao de diversos
episdios que se sucedem na pea, embora no seja ele o nico nem o principal fator de
integrao da intriga da Farsa. A movimentao de Simo tanto vertical, na sociedade, quanto
321
Simo: [...] Andreza parece um bicho,/ um desses bichos malignos,/ uma mistura de cobra,/ morcego e sapo
hidrofbico! Andreza: E sua me, com que parece? Nevinha: Dona Andrea, no se zangue!/ Simo tem essa
mania de achar gente parecida com bicho!. (In: SUASSUNA, Ariano Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos
Olympio Ed., 1979. p. 19-20). O procedimento se repetir pouco adiante, entre Simo e Aderaldo. (Cf.: Ibidem, p. 31).
322
Simo: Trabalhar, cansa e di muito,/ coisa que no me convm./ Se a Fortuna nos quiser,/ de qualquer modo
ela vem! in: SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 81-82.
172
horizontal, como retirante completa o quadro do parentesco do personagem com o tipo
picaresco.
O que mais nos interessa, no entanto, verificar a modificao do tipo pcaro pela
neopicaresca. Comentando a situao de Leonardo, protagonista de Memria de um sargento de
milcias, um dos romances que Gonzlez situa na neopicaresca, este autor notar que sua situao
no mais definida em relao nobreza, mas sim em relao pequena burguesia:
Seu problema ser afirmar-se nela ao menor custo possvel, j que ele nasce vadio e ser
sempre vadio. Esto ausentes, assim, na sua viso da realidade, os universos do trabalho
e da nobreza. Estes foram fundamentais para o pcaro, que aspirava a prescindir do
primeiro para atingir o segundo.
323
De modo ainda mais explcito, Gonzlez dir que:
Na neopicaresca salvo excees em que a fbula situada em outro contexto
histrico , a linha divisria no mais passa entre a nobreza e o terceiro estado, mas
entre a burguesia e o proletariado. Os neopcaros so, em geral, marginais quela por
pertencerem a este. E, alm disso, ocupam muitas vezes posies claramente inferiores
dentro desse grupo. Isto , os malandros em questo tendem a ser marginais absolutos,
com relao sociedade como um todo, em funo do sistema vigente.
324
Suassuna parece escapar em parte dessa caracterstica, tanto pela pretenso
nobilirquica do protagonista do Romance da Pedra do Reino, quanto pela dificuldade em enquadrar
o poeta Simo como marginal absoluto, ou defin-lo em relao ao proletariado. Sobre este
ltimo ponto, o fato de a pea situar-se no campo parece interferir na caracterizao (note-se que
a picaresca em geral situada nas cidades
325
). Mas Simo realmente marginal em relao ao meio
em que vive: tanto em relao ao modelo capitalista que interfere no campo (presente na pea
323
GONZLEZ, Mario M., op. cit., p. 288.
324
Ibidem, p. 340. Note-se que o uso do termo malandro por Gonzlez denuncia sua dvida para com Antonio
Candido.
325
A cidade o espao das relaes humanas adequadas e at necessrias para a picaresca. [...] Fora da cidade, o
pcaro desaparece, a menos que esteja indo de uma cidade para outra. In: Ibidem, p. 74.
173
pela proposta dos galegos a Aderaldo
326
), seja em relao ao prprio modelo rural, uma vez que
jamais sugerida qualquer atividade de Simo como agricultor.
Mas , sobretudo, a relao com o trabalho que nos interessa. De fato, a negao do
trabalho um dos elementos centrais da caracterizao do personagem Joaquim Simo, sendo
este um dos traos marcantes da neopicaresca como observa Gonzlez:
Os romances brasileiros que ora consideramos, mesmo que em outro contexto scio-
econmico, situam-se, segundo nos parece, na mesma linha de rejeio do trabalho por
parte dos seus protagonistas. No mximo, algum tipo de subemprego aceito como
meio de sobrevivncia, mas em nenhum caso o trabalho valorizado como recurso
vlido para se atingirem degraus scio-econmicos mais elevados.
327
Este parece ser um trao que Joaquim Simo compartilha perfeitamente com a
neopicaresca. Mas h uma ressalva. Na Farsa da boa preguia simplesmente no h interesse em atingir
nveis sociais mais elevados por parte do protagonista. Mesmo quando chega a ficar rico, isto
acontece a Joaquim Simo por pura sorte ou pela astcia de Nevinha, sem que haja planejamento
algum em vista disso. Ou seja, se a negao do trabalho em geral pelo romance neopicaresco pode
ser entendido como um descrdito de que o trabalho possa servir para melhorar as condies de
vida das pessoas, a negao do trabalho na Farsa funciona especialmente como uma crtica ao
modelo que coloca a obteno da riqueza como valor maior.
Outro aspecto da neopicaresca presente tambm na Farsa, ainda que de modo
secundrio, um certo erotismo
328
, quase sempre associado na pea aos personagens Aderaldo e,
sobretudo, a Clarabela. A proposta de uma utopia, ainda, outro elemento da neopicaresca que
podemos identificar na obra de Suassuna. Segundo Gonzlez, a permanente duplicidade do
protagonista que leva adiante um projeto pessoal de ascenso social escorado numa mitologia de
326
Cf. SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 28.
327
GONZLEZ, Mario M., op. cit., p. 346.
328
Os neopcaros brasileiros que nos ocupam herdam, em muitos casos, o erotismo onipresente em Macunama. In:
Ibidem, p. 350.
174
carter ficcional um trao marcante de A Pedra do Reino
329
Embora este elemento seja mais
claramente identificvel no romance do que na pea, a Farsa da boa preguia tambm recebe seu
influxo, cujos vestgios podem ser encontrados na defesa de uma preguia de Deus por parte
dos personagens celestes, no final da pea. A estas caractersticas, finalmente, devemos
acrescentar a ausncia de maniquesmo que refora a ambigidade da pea. Segundo este ponto,
o bem e o mal so rtulos que, s vezes, so trazidos de fora at o universo dos protagonistas,
mas que no partem da conscincia destes
330
. Tal parece ser o caso do poeta, para o qual no h
preocupao quanto ao carter vicioso ou virtuoso de sua atitude. Tal reflexo acontecer fora
dele, no mbito dos comentrios feitos pelos personagens celestes. O poeta simplesmente adere
aparentemente atitude apontada como virtuosa, no final da pea.
A presena de elementos picarescos na construo do perfil de Simo, devemos
concluir, s refora a ambigidade desse personagem. A esfera simblica qual ele se liga, de
fato, no induz uma atitude admirativa ou um julgamento positivo de seu agir. Se, por outro lado,
algumas atitudes e projetos do poeta caracterizam-no positivamente, a conseqncia de tal
procedimento parece ser no a elevao do personagem, mas o aumento de complexidade do
juzo feito sobre ele. Seus elementos negativos (inao, defeitos, etc.) servem mais ao riso positivo
que ao sarcasmo, mais defesa de um programa de vida do que crtica de carter. E se h,
enfim, uma oposio constante no texto, esta refere-se refutao de um modo de vida que
exclui o prazer em funo da acumulao de riqueza.
329
Ibidem, p. 354.
330
Ibidem, p. 349.
175
2.2. Deus demasiado humano: o processo de construo de Manuel Carpinteiro
So muitos, portanto, os elementos que tornam a figura de Joaquim Simo ambgua.
Mas esta descrio do poeta, que determina sua interao como os outros personagens, no
suficiente para descrever o protagonismo complexo em funcionamento na Farsa da boa preguia. J
observamos como a posio sujeito, no modelo actancial, atribuda ao ator poeta que
inclumos no personagem Joaquim Simo, determina toda uma rede de relaes em torno ao eixo
ativo poeta Boa Preguia. Poderamos detalhar melhor esta rede de interaes,
verificando como as caractersticas ambguas de Joaquim Simo levam mesmo os personagens
que se inscrevem na casa adjuvante a mencionar um juzo negativo sobre Simo, embora no
de forma condenatria
331
. Deixamos de lado esta pista, no entanto, para nos concentrarmos em
sua relao com o protagonista do plano celeste. em torno deles dois, de fato, que poderemos
compreender melhor que tipo de julgamento se estabelece em torno ao poeta, conduzido por
Manuel Carpinteiro. Para tanto, ser necessrio proceder anlise da construo da identidade de
Manuel Carpinteiro, dando nfase no plano simblico, como o fizemos para Joaquim Simo.
Como observamos no captulo terceiro, a posio de Manuel Carpinteiro como
personagem-narrador, central tanto para a forma da pea (contribuindo fortemente para a
coerncia do todo), quanto para o contedo (atravs da interpretao da ao, da qual tira a
moralidade). Destacamos sua oniscincia, manifestada em mais de um episdio e explicitamos
a incluso nesse personagem dos atores Deus e ser humano, situao nica na pea.
Observamos tambm como sua aparente neutralidade disfara um perfil ideolgico mais
claramente perceptvel na anlise do eixo comunicacional (destinador destinatrio). Em
331
No primeiro ato Nevinha, apesar de reafirmar seu amor pelo marido, reconhece que ele pode ser safado e
podre de preguia (Ibidem, p. 17). J So Pedro, ao menos no incio do terceiro ato, ser forado a reconhecer as
falhas do poeta.
176
todas as hipteses interpretativas que formulamos com base no modelo actancial, de fato, Manuel
Carpinteiro enquadra-se na casa destinador, por sua situao divina. Como tambm j tivemos
ocasio de observar, seu discurso revela uma certa idealizao da pobreza ou, mais precisamente,
uma condenao da busca da riqueza pela riqueza com base em certos valores cristos.
Todos esses elementos bastam para fundar o protagonismo desse personagem, mas
um protagonismo partilhado com Simo
332
. Devemos analisar, agora, o perfil de juiz que a pea
atribui a Manuel Carpinteiro, pois este trao de sua identidade que lhe permitir exercer a
funo hermenutica da ao. A construo desse personagem se far com base na sua dupla
natureza (humano-divina) e na evocao do imaginrio apocalptico (recursos simblicos), dentro
de uma concepo do juzo final segundo a tradio crist. A explicitao da constituio dessa
identidade complexa e de tamanha fora simblica revelar tanto a passagem da mimesis I mimesis
II (enquanto o processo manipula elementos simblicos articulados com a construo da
identidade de um personagem complexo humano-divino), quanto a passagem da mimesis II III
(sobretudo atravs da figura do julgamento, que conclui a pea e sugere uma abertura no plano
interpretativo).
2.2.1. Um Cristo diferente
O personagem Manuel Carpinteiro no tem nenhum antecedente nos entremezes de
Ariano Suassuna que serviram de base para a Farsa. Em outras comdias do mesmo autor,
porm, no raro vermos o Cristo representado de modo demasiado humano, sendo essa demasia
332
Designaremos o lugar de Manuel Carpinteiro, mais ligado ao plano celeste, de plano exegtico, pois neste
mbito que se opera a interpretao da ao. Ao lugar de Simo, mais ligado ao plano terrestre, denominaremos
plano ativo, sendo a que se passa o principal da ao da intriga.
177
um recurso propriamente cmico, mas de forte significado teolgico
333
. O Auto da compadecida,
por exemplo, joga com a apresentao de um Cristo negro, tambm chamado Manuel
334
. Em A
pena e a lei, o mamulengueiro Cheiroso assumir o papel de Cristo, mas destacando muito mais
sua distncia em relao ao ser divino
335
. Manuel Carpinteiro aparece como a meio caminho entre
uma e outra opo de aderncia do personagem ao Cristo. De um lado, a Farsa toma o mesmo
nome do Cristo do Auto, nome cujo poder simblico muito acentuado e faz pensar que o
personagem o Cristo mesmo
336
. O personagem assume, ainda, em seu prprio nome, a provvel
profisso de Cristo, herdada do carpinteiro Jos. Por outro lado, porm, o personagem se
distanciar do referente divino quando, no terceiro ato, dir que apenas o representa
337
.
Esse distanciamento, enquanto manifestao de uma reflexo sobre seu prprio ser,
um indcio de interioridade do personagem, o nico na pea a manifestar de modo to explcito
este tipo de reflexo. Sequer Joaquim Simo ter procedimento parecido, apesar de ter operado
uma mudana de vida. Essa falta de interioridade dos personagens no deixa de estar ligada
vinculao da pea com relao tradio cmica e popular. Esse elemento no impedir, porm,
que algum tipo de juzo sobre a atitude de Simo seja realizado. Mas este acontecer de forma
tambm pouco profunda. Sem isso, o tom grave do tema impediria o tratamento cmico dado
pelo autor.
333
Tal sentido no nos interessa aqui diretamente. Ele apontaria na direo de uma imagem de Deus muito prxima
da humanidade, ponto discutido pela teologia contempornea crist, catlica ou no. Veja-se, por exemplo, o
maravilhoso texto de Karl Barth, Lhumanit de Dieu (BARTH, Karl. Lhumanit de Dieu. Genve, Labor et Fides, 1956)
ou a reflexo do telogo belga Adolphe Gsch (GESCH, Adolphe. Dieu pour penser VI. Le Christ. Paris, Cerf, 2001.
p. 21-53 e 223-248 publicado em traduo para o portugus pelas Edies Paulinas). O nico ponto teolgico que
nos interessa para a construo da pea, ou para o reforo de sua verossimilhana, o papel mediador do Cristo que
se funda justamente na manifestao de sua dupla natureza, humana e divina.
334
Cf. SUASSUNA, Ariano. Auto da compadecida. 30. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1996.
335
Cf. SUASSUNA: Ariano. A pena e a lei. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998.
336
Emmanuel significa Deus conosco em hebraico e um dos nomes do messias segundo a tradio bblica judaico-
crist, como tivemos ocasio de ver no captulo terceiro.
337
Nesta fala, porm, vemos que tal distanciamento se justifica mais pelo trocadilho fundo da agulha - fundo do
camelo, que poderia chocar se posto diretamente na boca de Cristo. Lamentavelmente, de fato, so poucas as
representaes do Cristo brincalho e sorridente, embora a alegria seja uma das marcas da doutrina crist. De fato,
como observa Vilma reas comentando Northrop Frye, a tragdia nos ensina a inevitabilidade da morte, enquanto
a comdia, a inevitabilidade da ressurreio, in: ARAS, Vilma. Iniciao comdia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1990. p. 22.
178
Outro elemento que afasta Manuel Carpinteiro do Cristo real sua apresentao
como camel de feira. Mas tal procedimento aparece nas trs comdias do autor j citadas, que
conhecem uma apario do Cristo, sendo um trao estilstico de Suassuna: no Auto da compadecida,
o Cristo negro; em A pena e a lei, o messias representado como dono de mamulengo; na Farsa,
camel. Mas o autor no se contenta em provocar inserindo uma imagem. O significado destas
opes sempre comentado nas peas. No Auto da Compadecida, ao ser contestado por Joo
Grilo, Manuel dir:
Vim hoje assim de propsito, porque sabia que isso ia despertar comentrios. Que
vergonha! Eu Jesus, nasci branco e quis nascer judeu, como podia ter nascido preto.
Para mim, tanto faz um branco como um preto. Voc pensa que eu sou americano para
ter preconceito de raa?
338
Cheiroso, por sua vez, no dilogo com Cheirosa, esclarecer o significado da
metfora do mamulengueiro, reforada pelo fato de terem aparecido eles prprios como
mamulengos, assumindo progressivamente uma gesticulao humana a cada novo ato:
Cheirosa: Era o que faltava! O Cristo veio como carpinteiro, que era uma coisa
melhor, ningum acreditou que ele era filho de Deus, quanto mais aparecendo como
dono de mamulengo!
Cheiroso: Mas no isso o que ele ? No Deus o dono do mamulengo?
339
No de estranhar, portanto, que Manuel Carpinteiro induza uma explicao
semelhante, quando lana a pergunta:
Mas no ser verdade
Que o Cristo o camel de Deus, seu Pai?
340
Em todos os trs casos, o papel de Cristo assume, com traos populares, um aspecto
da identidade do messias tal como fixado pela cultura religiosa crist. A qualidade desta
338
SUASSUNA, Ariano. Auto da compadecida. 30. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1996. p. 149.
339
SUASSUNA: Ariano. A pena e a lei. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998. p. 142-143.
340
SUASSUNA, Ariano. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 5.
179
associao dos personagens com o referente real, atravs de figuras tiradas do meio popular,
revela grande habilidade na etapa da mimesis I
341
. Isto acontece na medida em que a seleo do
material utilizado na composio do personagem articula-se com um contexto do qual o autor
retira, com muita propriedade, elementos com forte carga simblica. O Cristo negro, por sua
fora inclusiva, destaca o aspecto redentor universal do messias. Como dono de mamulengo, por
exemplo, associa-se o Cristo onipotncia e realeza divinas
342
. Como camel, destaca-se a
funo proftica, o anncio da boa notcia (eu-anguelion). Mas a evocao do perfil proftico de
Cristo inclui, tambm, o papel de juiz.
Manuel Carpinteiro exercer, de fato, este papel proftico de anncio e julgamento
ao longo da Farsa. Ele inicia a pea propondo seu produto, fechar tambm a pea com o
mesmo gesto que repetido outras vezes ao longo do texto. No entanto, nem o produto
cristo que o personagem anuncia apenas religioso (sendo tambm moral), nem sua atividade se
resume a oferecer o produto.
2.2.2. De carne e de fogo: um juiz apocalptico
Acompanhemos as atividades de Manuel Carpinteiro na pea. Inicialmente
apresentado como mero comentador dos acontecimentos, seu papel assume uma importncia
gradativa, destacando-se na passagem do segundo para o terceiro ato quando interfere na ao
fazendo o poeta empobrecer novamente. Neste momento Manuel Carpinteiro aproxima-se do
341
Como j observamos nas notas 146 e 197, referimo-nos aqui habilidade em selecionar e manipular, no plano do
real, os elementos que sero utilizados na composio da mimesis II.
342
Logo aps a fala citada acima, o personagem Cheiroso diz a Cheirosa que lhe coloque nos ombros um manto
(smbolo de realeza), caso o pblico duvide de seu papel.
180
perfil de dono do espetculo, para usar a metfora de A pena e a lei. Seu poder manifesta-se
tambm na oniscincia do personagem, conforme comentamos no captulo terceiro. Porm o
trao mais constante de seu agir, mais do que apregoar as virtudes crists, o de fazer a exegese
da ao no s comentar, mas descobrir-lhe o significado e julgar que se passa no plano ativo
(terrestre). Nisso se d a evocao do Cristo-juiz, cujo significado bastante revelador de sua
relao com o poeta e, mais ainda, com todos os personagens humanos.
Uma fala de Manuel Carpinteiro deixa transparecer este trao judicativo, mas pela
negativa. Ao anunciar o que teria acontecido aos ricos ameaados de condenao pelos diabos,
ele dir:
Mas, como eu no quero levar
o Poeta a julgar
vamos supor que os dois
em vez de entrarem no Inferno,
em cuja porta j se encontravam,
caram no Purgatrio....
343
Ou seja, o poeta no deve ser levado a julgar. Mas Manuel Carpinteiro dar o
veredicto, ainda que sob a forma de probabilidade (indicada pela expresso vamos supor). Esse
apenas um dentre inmeros elementos de seu papel de juiz na pea. Mas ser talvez o exemplo
mais extremo e relevante, pois estamos diante da salvao ou da condenao, numa situao
supra-terrestre que evoca o outro elemento simblico da construo deste personagem como
juiz. Trata-se do imaginrio apocalptico, gnero literrio bblico desenvolvido nos perodos que
vo do sculo III a.C. ao sculo IV da era crist.
A caracterstica mais destacada desse gnero precisamente o uso de metforas e
smbolos extremos para falar da realidade da morte, do fim do mundo, da volta do messias e do
julgamento divino. Vrios escritos cannicos ou apcrifos escritos em gnero apocalptico
exerceram grande influncia sobre a cultura ocidental. Basta dizer que o livro do Apocalipse dito
343
SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 176 (grifos nossos).
181
de So Joo o livro bblico mais representado nas artes, depois dos evangelhos. Tambm sobre
a Farsa, a influncia do livro do Apocalipse ser grande. A presena do Arcanjo Miguel, por
exemplo, cujo nome significa em hebraico Quem como Deus?, tirada diretamente desse
livro
344
. A roupagem de homem da cobra dada a este personagem, alm de reforar o
imaginrio apocalptico
345
, salienta o aspecto judicativo, pois ele eventualmente tira de sua maleta
uma balana, smbolo da aplicao da justia.
O fato de a pea abrir-se com um convite de Manuel Carpinteiro dirigido ao leitor (e
ao pblico), revela no apenas mais um indcio de seu papel protagnico, mas, sobretudo, de sua
funo mediadora. Ele se posicionar mais de uma vez, alis, entre o leitor (pblico) e os
acontecimentos da narrativa (ou da cena). A associao dos aspectos de mediao e de juzo,
note-se, muito importante. por sua situao de mediao que Manuel Carpinteiro pode
exercer um julgamento. Essa posio representada graficamente nessa mesma fala inaugural, j
citada no captulo terceiro, mas que voltamos a apresentar de modo estruturado:
O cavalheiro pode ver aqui
inteligente e culto como
O Fogo escuro, o enigma deste
Mundo
e o rebanho dos Homens em seu
Centro!
Que Palco! Quantos planos! Que combates!
Embaixo, o turvo, as Cobras e o
Morcego.
No meio, o que esta Terra tem de
cego e esquisito.
Em cima, a Luz Anglica esta Luz
mensageira
Com seu vento de Fogo puro e
limpo!
Embaixo, trs Demnios que aqui
passam.
[...]
344
Houve, ento, um combate no cu: Miguel e seus anjos combateram contra o drago. Tambm o drago
combateu, mas no conseguiu vencer, in: Ap. 12, 7. Todas as citaes bblicas sero tiradas da Traduo ecumnica da
Bblia TEB. So Paulo: Edies Loyola, 1994.
345
Miguel derrota o drago, no Apocalipse. Mas o drago metfora do diabo. O prprio Apocalipse o diz, ele a
antiga serpente do gnesis (Cf. Gn. 3,1 et. seq.).
182
De cima, entramos ns, dirigindo o
espetculo!
Um dos santos: So Pedro, o
Pescador!
Um Arcanjo: Miguel, guerreiro de
Fogo!
E eu, o lume de Deus, o Galileu!
[...]
Agora, me pergunta o cavaleiro:
Que tem esse idiota para mostrar?
simples: duas Cobras venenosas,
um Jacar terrvel,
e a luta que esses trs iro travar
contra um Pssaro alado e benfazejo!
A feroz sucuri do Alto Amazonas!
O feroz jacar do Rio Una,
E esta Jia vermelha, a Ave-do-
Paraso!
346
Este discurso retomado em seu vigor simblico pouco mais tarde, logo antes de
comear a cena, deixando mais explcito o aspecto de mediao e de juzo:
Vamos ver e apurar:
Depois se tem um roteiro
para este caso julgar!
Vamos, ento, comear!
As Cobras contra o Pssaro de Fogo,
o Escuro contra a Luz,
o cio contra o mito do Trabalho,
o Esprito contra as foras cegas do Mundo!
Os homens nesse meio, sepultados
e ligados s Cobras pelo Mundo,
pela desordem do Pecado,
e ligados ao Lume, ao claro, ao solar,
por um Santo de carne, um Anjo de
fogo
e por aquele que carne e fogo
e que se chamou Jesus!
Vai comear! Comecem! Luz!
347
Esse texto de grande importncia para compreendermos o tipo de posio de
Manuel Carpinteiro, o qu de sua identidade. Se no possumos informaes muito claras sobre
seu carter (seus hbitos arraigados e caractersticas permanentes), tanto mais relevantes so os
346
SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 5-6 (grifos nossos).
347
Ibidem, p. 11-12 (grifos nossos).
183
elementos simblicos que o constituem, em particular os elementos apocalpticos que
encontramos neste discurso, alguns dos quais retornaro em outros momentos.
O imaginrio apocalptico evocado pelas imagens animalescas, tanto positivas
quanto negativas. As cobras, morcego, jacar so associados a demnio, como no
Apocalipse de so Joo o diabo representado pelo drago e pela serpente. Do outro lado,
guerreiro de Fogo e Anjo de fogo referem-se a Miguel. Santo de carne designa So Pedro e
evoca os 144 mil eleitos purificados no julgamento derradeiro
348
. Para Manuel, vemos serem
empregadas explicitamente as expresses lume de Deus e carne e fogo. Mas a maior parte
das imagens que designam o plano celeste referem-se seja ao prprio Manuel Carpinteiro, seja ao
campo do divino em geral, influente sobre os homens que se situam no meio. So as imagens:
Luz anglica, luz mensageira, Fogo puro e limpo, Pssaro alado e benfazejo, Pssaro de
Fogo, a Luz, Esprito, Lume, claro e solar. O que nos permite considerar estes
elementos como influncia divina sobre o homem a simultnea atribuio desses elementos a
Deus e o emprego da metfora da luz. Essa luz lanada sobre o meio onde esto os homens
sepultados, palco onde acontecem os combates e a luta. Este meio do mundo, de fato,
representado como necessitado de luz (escuro, cego e esquisito). O combate se dar,
portanto, entre escuro contra a luz.
No jogo de oposies enumerado nesse discurso programtico, bom observar o
cruzamento da temtica religiosa com a temtica moral, quando vemos a organizao das
oposies (note-se que invertemos a posio dos dois ltimos termos):
As Cobras
x
o Pssaro de Fogo,
o Escuro a Luz,
o mito do Trabalho, o cio
as foras cegas do Mundo! o Esprito
348
Cf. Ap. 7, 9 et. seq..
184
Nesta srie, identificamos uma progresso que passa de termos identificveis com
personagens (cobras=diabos x Pssaro de Fogo=Cristo) a termos que designam a influncia
de cada uma dessas esferas sobre os homens (Escuro x Luz), chegando a atitudes eticamente
discutveis (mito do Trabalho x cio
349
) para voltar, enfim, a elementos que podem se referir
tanto influncia como aos entes diablicos e divinos (foras cegas do Mundo x Esprito).
No meio deste panorama conflituoso, a figura do rbitro apontada de modo
explcito no apenas por sua posio superior em relao a todos os personagens
350
, mas por sua
prpria fala que emprega as expresses ver e apurar e julgar.
O exame deste pequeno trecho do discurso encontra respaldo em inmeras outras
passagens da Farsa. Antes de propor seu produto Providencial no final do primeiro ato,
Manuel Carpinteiro introduzir a idia de temperana, propondo um critrio tico que ser
empregado no julgamento da ao na pea: o equilbrio
351
. O segundo ato abre-se com novas
imagens apocalpticas (luz do Santo, fogo deste Pssaro) e com o inqurito das duas
testemunhas celestes: Que opinio vocs tm de Simo?
352
. J no final da abertura do mesmo
segundo ato, a ao ser introduzida com nova fala de Manuel Carpinteiro que salienta sua
posio de imparcialidade, tpica de juiz:
[...] Deixemos que esses dois ajam.
Voc, Simo, no se meta!
Deixe que os dois, livremente,
Sigam, por l, seu caminho!
353
349
A palavra cio, ao ser grafada com maiscula, indica em nosso entender a Boa Preguia, contraposta ao mito do
trabalho (no ao trabalho em si que, tambm grafado com maiscula, visto de forma positiva).
350
Esta posio evoca o actante rbitro, apontado por Souriau e eliminado por Greimas, enquanto Manuel
Carpinteiro colocado em situao de julgar toda a ao. Como destinador, porm, este seu papel j est de certa
forma assegurado.
351
[ preciso] temperar sabiamente/ o trabalho com a contemplao e o descanso./ Existe um cio corruptor, mas
existe tambm um cio criador, in: SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. 55.
352
Ibidem, p. 57.
353
Ibidem, p. 60.
185
O final desse ato revela que saiu tudo mais ou menos, segundo Miguel
354
, pois o
poeta (protegido por Simo Pedro) sai beneficiado. Manuel Carpinteiro apresenta nesse momento
os perigos da riqueza a que estar sujeito o poeta, sendo ainda mais explcito sobre os critrios do
julgamento que acontecer no final da pea.
O terceiro ato se abre, como todos os outros, com a fala de Manuel Carpinteiro
dirigida ao leitor (e ao pblico). Nesta altura da pea, com o reiterado convite a comprar o
produto divino e a julgar o comportamento dos personagens, reconhecemos os vestgios da
passagem da mimesis II mimesis III, quando o leitor (e o espectador) so induzidos a assumir
papel semelhante ao de Manuel Carpinteiro, julgando a ao. Neste sentido, poderemos falar
tambm de uma figura metonmica de Manuel Carpinteiro, no em relao a um personagem da
pea, mas em relao ao prprio leitor. Mas trata-se, aqui, de uma extrapolao e uma imagem
que, se pode ser iluminadora ao olhar o texto de fora para dentro, no pode ser provada
textualmente. Quando muito, podemos indicar seus vestgios, como aqui fizemos.
O terceiro ato conhece uma maior interveno dos personagens divinos, inclusive a
nica interveno de Manuel Carpinteiro que aparece como o ltimo pedinte a Aderaldo Cataco,
imagem da ltima chance dada ao rico. Isso no impede que, ao final da pea, Manuel Carpinteiro
pronuncie de certa forma o veredicto, anunciando a situao dos ricos e abenoando os pobres.
Mas a estes no bastar sua condio social. Eles devero comprar o produto de Manuel
Carpinteiro:
Sirvam Deus e a Igreja,
Guardem amor, fidelidade,
Se querendo sempre muito bem,
Gozando geraes e geraes de paz
Entre seus amigos e descendentes.
355
354
Ibidem, p. 109.
355
Ibidem, p. 177.
186
A concluso da intriga se d com esta fala. Mas a pea continua um pouco mais,
como se abrira pouco antes de a ao comear: Manuel Carpinteiro e seus dois auxiliares tiram a
moral da histria, mesclando novamente religio e tica ao propor a apologia da preguia de
Deus
356
, que evoca o repouso do Criador aps os seis dias da criao, um dos fundamentos
teolgicos do princpio do Sabbat judeu
357
.
A figura de juiz , em nosso parecer, o trao principal do personagem Manuel
Carpinteiro, estando todos os outros ligados a ele como fundamento (como a dupla natureza
humano-divina) ou como conseqncia (a posio de hermeneuta da ao). E atravs desta
funo de juiz e de juiz divino, que exerce seu poder para alm da vida e da morte, julgando
no apenas o mrito e a punio, mas a salvao e a danao que Manuel Carpinteiro se
relacionar com o poeta e com todos os humanos.
3. O juzo derradeiro de Joaquim Simo ou um julgamento sem pena
Percorremos a Farsa da boa preguia verificando como sua temtica tica demanda
uma apresentao esttica, numa relao dialtica entre forma e contedo. Em primeiro lugar,
observamos que os elementos formais empregados na composio da pea combinam-se com
um tema de natureza tico-religiosa: a escolha de uma atitude equilibrada diante do trabalho e da
criao potica, imitadora da criatividade divina (captulo primeiro). Na progresso do processo
mimtico entendido segundo Paul Ricur, notamos como os elementos narrativos compem
uma intriga coesa, apesar de dividida em dois planos (exegtico e ativo) e em trs atos
356
Ibidem, p. 181.
357
Cf. Gn 2,2ss e Ex. 20, 11.
187
relativamente autnomos do ponto de vista da intriga (captulo terceiro). Verificamos, tambm,
que a estrutura profunda articula dois eixos: o eixo vertical da oposio mal x bem (ou vcio e
virtude) e o eixo horizontal da oposio pobre x rico (captulo quarto). Enfim, vimos que a
identidade dos dois protagonistas da pea construda em relao mtua, cabendo a Manuel
Carpinteiro a posio de mediador entre a ao e o leitor-espectador, posio correspondente ao
imaginrio de juiz da ao que lhe associado. Ao pensar a literatura como um laboratrio onde
o agir humano reproduzido, suscitando um julgamento propedutico tica, Paul Ricur nos
coloca sobre a pista para darmos esse ltimo passo na compreenso do tipo de relao que se
estabelece entre a construo esttica do texto e seus elementos ticos
358
.
Joaquim Simo, personagem construdo de modo a preservar um perfil eticamente
ambguo ao longo de toda a pea, submetido a uma forma de juzo que examinaremos agora.
Mas identificamos no apenas em um julgamento, seno dois. Em primeiro lugar, o poeta
julgado por Manuel Carpinteiro enquanto Cristo, numa forma de juzo de inspirao crist e
apocalptica, juzo do qual Joaquim Simo sai sem sentena. Em segundo lugar, a incluso da
figura de um julgamento na pea antecipa de certa forma o julgamento literrio. Nesse
julgamento, situado j no mbito da mimesis III, a fico literria oferece tica um espao de
experimentao para a imaginao produtiva. Diferente do julgamento tico, porm, este
julgamento submetido s mesmas variaes imaginativas que produzem a intriga. Noutros
termos, trata-se de uma espcie de jogo com o comportamento humano, no qual o juzo que
fazemos dos personagens, por assim dizer, no pode ser levado a srio. Mas, antes de
detalharmos esse julgamento mais amplo, vejamos o primeiro tipo de juzo que a Farsa prope,
tomando do imaginrio cristo do Cristo Juiz os elementos para sua composio.
358
Como observamos na nota 72, o elemento do julgamento estaria mais propriamente ligado ao elemento moral
enquanto obrigao de buscar o bem ou, mais precisamente, sabedoria prtica necessria para o julgamento moral
na situao concreta.
188
3.1. Um julgamento sem condenao
Vimos como o personagem Manuel Carpinteiro apresentado como camel de
Deus, representante de Cristo e hermeneuta da ao que se passa no planto ativo, em cujo centro
est um personagem de comportamento ambguo, o poeta Joaquim Simo. Sob esse ponto de
vista, a pea pode ser considerada como um grande julgamento, no qual o juiz Manuel
Carpinteiro, protagonista no plano exegtico, ajudado por seus dois secretrios Miguel e Simo
Pedro, assiste ao desenrolar das situaes envolvendo Joaquim Simo e os demais personagens
naturais para emitir um veredicto no final. Essa interpretao respaldada, como vimos, na
construo do perfil dos dois protagonistas, situados um face ao outro, numa situao de
paralelismo cujo nico vnculo o do julgamento, ou seja, a Simo cabe agir (embora sua ao
seja paradoxalmente ligada mais ao pathos que prxis, mais ao cio que preguia), a Manuel
Carpinteiro cabe julgar.
Por julgamento, no entanto, no devemos entender simplesmente o juzo moral ou
jurdico. Sendo Manuel Carpinteiro associado a Deus, seu julgamento se d no plano
escatolgico, embora individual
359
. Basta lembrar que a situao de Aderaldo e Clarabela se passa
no ps-vida, incluindo a ida deles ao purgatrio, situao supra-terrestre
360
. Mas o poeta Joaquim
Simo parece situar-se na fronteira dessa situao limite. De fato, a ao conclui-se com sua
despedida e sua volta vida terrestre, depois de ter testemunhado os acontecimentos no plano
359
Devemos notar, de fato, que a doutrina do julgamento final individual tardia. (Cf. Jugement. In: RAHNER, Karl;
VORGRIMLER, Herbert. Petit dictionnaire de thologie catholique. Paris: Seuil, 1970. p. 244-245). Embora Suassuna recorra
muitas vezes a cenas de juzo final em suas peas, ser sempre no plano individual (mesmo quando inclui muitos
personagens, como em A pena e a lei e Auto da Compadecida). Jamais estamos na situao de Parusia (segunda vinda do
messias, ligada ao fim do mundo).
360
Essa situao ps-vida pode ser depreendida do recurso ao apagar e acender de luzes que, em A pena e a lei,
representa a chegada de mais uma alma ao tribunal de Cheiroso-Cristo.
189
sobrenatural. Por isso ser necessria a meno da nuvem, que o Cristo passa nos olhos dele e
da esposa para esquecerem o que viram
361
.
Essa situao-limite parece corresponder tambm dupla natureza do julgamento
operado pelo personagem-narrador. Esta duplicidade, ademais, representativa dos dois eixos
que estruturam a pea. Ao mesmo tempo em que julga a possibilidade de salvao ou condenao
dos seres humanos, Manuel Carpinteiro emite um juzo de natureza tico-valorativa sobre o
comportamento de Simo. Essa dupla natureza, religiosa e tica, porm, tambm presente no
julgamento divino tal como compreendido na doutrina crist.
3.1.1. O julgamento divino na doutrina crist
Antes de ser desenvolvida no imaginrio escatolgico cristo, a imagem do
julgamento remonta ao direito das civilizaes antigas que influenciaram as Escrituras. O juiz a
instituio social que, por delegao comunitria, pode conter a violncia e interromper a
vingana no nvel privado. No direito bblico, por exemplo, a instituio dos juzes no sculo XII
a. C. representa um avano em relao ao cdigo da Aliana, contido no livro do xodo, que
previa a aplicao direta da justia. No teatro grego, a Orstia d testemunho do mesmo
procedimento, quando o julgamento de Orestes interrompe o crculo da violncia
362
. Mas o ideal
de justia que se manifesta, tanto num caso como no outro, o de uma justia restauradora e
punitiva, que consiste em restabelecer uma certa ordem alterada pela violncia. A imagem do
Cristo Juiz no estar isenta do aspecto punitivo, do qual d testemunho a constituio ps-
361
Cf. SUASSUNA, Ariano. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979. p. 178.
362
Cf. SQUILO. Orstia: Agammnon, Coforas, Eumnides. Trad., introd. e notas: Mrio da Gama Kury. 6. ed. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
190
bblica do inferno. Mas seu trao principal ser outro: o da justia misericordiosa, mais
preocupada em socorrer, perdoar e corrigir do que em punir.
De fato, a identidade evanglica do messias tem pouco do Deus justiceiro vetero-
testamentrio. O prprio nome de Jesus (Deus Salva) indica outro acento. Se ele no nega sua
funo de juiz
363
, deixa clara sua inteno, porm, como no texto fundamental do Evangelho de
Joo: Eu no vim para julgar o mundo, mas salvar o mundo
364
.
esse perfil, sobretudo, que iluminar o personagem Manuel Carpinteiro. De fato, se
ele age como juiz ao deixar a ao desenrolar-se como quem informa-se sobre os fatos
relatados em um processo para depois julgar, em certa altura ele ir intervir para procurar
salvar. Isso certamente verdade em relao ao poeta Joaquim Simo, que submetido prova
do empobrecimento. Mas tambm verdade em relao a Aderaldo quando, depois de duas
tentativas frustradas de faz-lo manifestar um pouco de generosidade atravs de Miguel e de So
Pedro, o prprio messias se disfara de pedinte, dando uma ltima chance ao ricao
365
.
o paradigma da misericrdia que norteia a aplicao da justia divina na Farsa,
portanto. Alis, esta afirmao pode incluir no s a Farsa, mas tambm as outras grandes
comdias do autor (Auto da Compadecida e A pena e a lei). Em todas elas, ningum condenado,
embora s vezes por pouco. Esse critrio coerente, porm, com a doutrina crist mais ortodoxa.
O Catecismo da Igreja Catlica, por exemplo, insiste em que o Filho no veio para julgar, mas
para salvar e para dar a vida que est nele
366
, evocando o princpio joanino j citado h pouco. A
salvao de todos os personagens tambm no estaria em desacordo com o princpio formulado
pelo grande telogo Hans Urs von Balthasar, segundo o qual o cristo tem o dever de esperar por
363
Um dos textos mais explcitos sobre este tema certamente o apocalipse de Mateus cf. Mt. 25, 31-46 onde
os bons (cordeiros) e os maus (cabritos) so separados e premiados ou punidos.
364
Jo. 12, 47b.
365
Esse recurso evoca uma das imagens principais do julgamento segundo Mateus a que fizemos referncia a pouco.
Perguntados como tinham feito o bem ao messias, os bons ouviro: Todas as vezes que o fizestes a um destes mais
pequenos, que so meus irmos, foi a mim que o fizestes, in: Mt. 25, 40.
366
CATECISMO DA IGREJA CATLICA. Petrpolis: Vozes; So Paulo: Ed. Paulinas, Edies Loyola e Ed. Ave Maria,
1993. (n. 679) p. 168.
191
todos
367
. Esse princpio se aplica aos ricos, que escapam do inferno sem razo aparente (na pea
nenhum ato virtuoso deles relatado), a no ser a orao dos pobres em favor deles. Mas esta
situao pedir um complemento, em coerncia com o imaginrio catlico que serve de matriz ao
paradigma do julgamento: os ricos devero ser purificados, indo parar no purgatrio.
Segundo o telogo Joo Batista Libnio, a doutrina do purgatrio firma-se apenas no
sculo XII, embora possua fundamentos escriturrios
368
. Ela corresponde a uma maior
considerao da mudana de vida como processo. De todo modo, no plano simblico a incluso
do purgatrio representa [a superao das] oposies radicais por meio de uma trade mais
complexa [cu, inferno e purgatrio]
369
.
3.1.2. Misericrdia e riso
Em termos estticos, o recurso ao purgatrio na Farsa enfatiza o final cmico,
salientando a misericrdia divina, apesar da seriedade do tema. Mas a mistura de srio e de
cmico apenas mais uma expresso da relao entre tica e esttica na construo da Farsa da
boa preguia.
Como j tivemos ocasio de ver, essa no uma novidade de Suassuna. Segundo
Ernst Curtius, as conferncias populares (diatribes) dos cnicos e esticos desenvolvem o estilo
misto do spoudolegoion (joco-srio), imitado por Horcio em suas stiras
370
. Ele afirma ainda que
367
Cf. BALTHASAR, H. U. von. Lenfer. Une question. Paris, Descle de Brower, 1988.
368
Cf. LIBNIO, J. B. e BINGEMER, M. Clara. Escatologia crist. Petrpolis: Vozes, 1985. p. 232 et. seq.
369
Ibidem, p. 239.
370
CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europia e Idade Mdia Latina. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1957.
p. 436.
192
essas formas hbridas perduraram at o fim da Antiguidade e mesmo durante a Idade Mdia,
apesar da crtica dos filsofos e de uma parte da Igreja Catlica a partir do sculo IV d. C.
Curioso notar que a posio da Igreja no chega a ser unvoca na condenao do
riso. Embora tenha, de fato, separado o cmico do oficial (mbito em que prevaleceu quase
exclusivamente o estilo srio), encontram-se posies dspares e contraditrias. A norma de So
Bento, por exemplo, francamente contrria ao riso e ao gracejo, ao passo que Sinsio de Cirene
(aprox. 400 d.C.) divide sua existncia entre a seriedade e o gozo
371
e Suplcio Severo reproduza
gracejos de So Martiniano. Em suma, Curtius defende a tese de que
a Idade Mdia gostava do cruzamento e a mistura de gneros de estilo em qualquer
forma. Com efeito, na Idade Mdia encontramos ludicra em setores e gneros que, para
o nosso sentimento moderno, educado na esttica classicista, excluem totalmente essa
mistura.
372
Esta opinio parece concordar com a posio de Mikhail Bakhtin que, estudando o
problema da compreenso de Rabelais do sculo XVII em diante, constata que a compreenso
dos contemporneos era ingnua e espontnea. E que para o sculo XVII e os sculos seguintes
se tornara um enigma.
373
Este enigma parece ser, precisamente, a compreenso do valor do riso
para a Idade Mdia e para o Renascimento. Por isso, Bakhtin afirma:
para a teoria do riso do Renascimento (como para as suas fontes antigas), o que
caracterstico justamente o fato de reconhecer que o riso tem uma significao
positiva, regeneradora, criadora, o que a diferencia nitidamente das teorias e filosofias
do riso posteriores, inclusive a de Bergson, que acentuam de preferncia suas funes
denegridoras.
374
D-se, porm, uma passagem progressiva de um riso regenerador a um riso de
carter denegridor medida que o Renascimento deixa espao para a era burguesa e moderna. De
princpio positivo que era na cultura popular e depois integrado, no Renascimento, cultura
371
Apud ibidem, P.439.
372
Ibidem, P. 445.
373
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento. SP: Hucitec, 1987. p. 53.
374
Ibidem, p. 61.
193
elevada , o riso sofrer uma mudana de sentido. Disso testemunha, j no final do sculo XVI e
incio do sculo XVII, a desvalorizao das obras de Rabelais e de Cervantes, por exemplo
375
. Os
sculos XVII e XVIII conhecem uma reduo dessa forma de riso ao cmico de baixa qualidade.
A raiz grotesca da literatura dita de qualidade perde-se e se formaliza.
O riso na Farsa da boa preguia, nesse sentido, estaria mais prximo do riso
regenerador renascentista. Alm de sua funo positiva
376
, no diretamente preocupado em fazer
crtica social e distante de formas negativas do riso como o sarcasmo e a ironia, o cmico dessa
pea no se faz s custas do mal de nenhum personagem. E nisso manifesta-se tambm a
conformidade com o julgamento divino na pea, um julgamento sem condenao. Porm, se no
h condenao, h sentena. Essa expressa-se na absolvio dos ricos e na proclamao do
produto divino, que consiste na defesa do cio criativo e de uma vida desvinculada de ambio
desmedida, segundo os valores cristos.
Em termos mais precisos, deveramos dizer que no julgamento presente na Farsa,
no h propriamente julgamento das personagens e sim de uma atitude. Isso tambm inscreve-se
no mbito de uma opo valorativa crist, segundo a qual se deve condenar o pecado, no os
pecadores, ensina Santo Agostinho
377
.
Mas o perfil ambguo que constitui o carter de Joaquim Simo parece driblar
mesmo essa condenao do pecado que seria a m preguia, o que se manifesta na ausncia de
veredicto a propsito de Simo. Sabemos que ele no condenado, pois no vai ao inferno. Mas
375
nessa poca [fim do sc. XVI] que se comea a crer que Rabelais no passava de um autor divertido, um escritor
extravagante. Essa foi tambm, como se sabe, a sorte que teve o Dom Quixote, por muito tempo mantido na categoria
das leituras fceis e agradveis. In: Ibidem, p. 56.
376
Veja-se, a propsito da funo positiva do riso, a defesa que faz Ariano Suassuna do risvel em sua Iniciao
esttica. Constata Suassuna que, talvez impelidos pelo velho conceito ou preconceito europeu do Belo, ainda hoje
existem pensadores que relutam em aceitar a legitimidade do Cmico ou do Humorstico como categorias estticas.
E acrescenta ele em defesa do risvel: Parece-nos, ao contrrio, que o Risvel com seus dois tipos mais
importantes para a Arte, isto , o cmico e o humorstico uma categoria esttica to legtima quanto qualquer
outra. In: SUASSUNA, Ariano. Iniciao esttica. Recife: Ed. Universitria da UFPE, 1996. p. 132-133.
377
O prprio Ariano Suassuna o menciona, quando diz: Santo Agostinho dizia: Abominar o pecado e amar o
pecador. O pecador perdoado. In: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. So Paulo: Instituto Moreira Salles,
novembro de 2000, n. 10. Semestral. ISSN 1413-652X. p. 41.
194
no sabemos se ele ir ao cu, pois continua na terra. O fato de ele continuar a vida terrestre,
alis, com a bno de Manuel Carpinteiro, pode ser entendido como uma segunda chance, ou
seja, uma abertura. E essa abertura que permite ao leitor (espectador) formar seu prprio juzo,
encontrando na pea argumentos tanto condenatrios quanto absolventes do personagem em
questo.
3.2. Do julgamento derradeiro ao julgamento literrio
J havamos tocado anteriormente na hiptese que acabamos de formular de que a
forma da pea abre espao para incluir o receptor , quando dissemos que a figura de Manuel
Carpinteiro poderia ser de algum modo considerada uma metonmia do leitor, numa imagem que
iria de fora para dentro do texto. Nessa ocasio, dissemos que essa hiptese seria uma
extrapolao do texto, e provavelmente o sob o ponto de vista de um paralelo entre um
personagem do texto e uma realidade extratextual como o receptor. Mas a hiptese pode ser
retomada agora num outro nvel, mais prximo do texto, atravs do paralelo entre a imagem do
julgamento na Farsa e o processo de interpretao como um julgamento. Nesse caso, nossa tese
seria remodelada para dizer que a relao entre tica e esttica no texto, percebida atravs da
dialtica forma-contedo at este ponto de nossa investigao, realiza-se tambm num outro
plano, situado na fronteira entre as mimesis II e III, qual seja, o da passagem do texto ao mundo
do texto ativado pelo leitor. Na medida em que a pea recorre figura de um julgamento da ao
como um dos elementos centrais de sua construo, essa relao interior ao texto. Mas ela se
volta para fora do texto na medida em que antecipa o processo de interpretao que o prprio
texto da pea provoca em quem o l (ou assiste ao espetculo). Entre um e outro aspecto, entre o
195
interior do texto e o fora de sua interpretao, funciona a mediao da inteligncia narrativa
obra na literatura como laboratrio do agir, inteligncia narrativa que fruto de uma imaginao
capaz tanto de criar o texto quando de criar julgamentos diversos sobre a mesma obra. Em
outros termos, a mimesis processual, comeando numa instncia polarizada pelo autor,
concluindo-se em outra polarizada em torno ao pblico receptor.
Mas devemos dizer que essa afirmao s tem sustentao aps um percurso como o
nosso, quase inteiramente centrado na mimesis II, ou seja, sobre o texto mesmo da Farsa da boa
preguia. Explorar o que se pode dizer a partir do texto, de fato, j no seria mais fazer a anlise do
texto. Seria tarefa da filosofia, da tica, da teologia ou da antropologia. Para respeitar as fronteiras
de uma crtica literria, quando muito podemos chegar aonde chegamos agora, aos indcios de
uma passagem do texto para o tipo de movimento que ele induz.
Sobre a interpretao como um julgamento, preciso dizer que a importncia dada
ao texto no exclui a diversidade das interpretaes. O que se exige a fundamentao do
processo em elementos reais que funcionam como limites ou regras para a atividade
interpretativa, assim como um veredicto deve fundar-se sobre evidncias. Mas interpretaes
diversas de uma mesma construo mimtica da ao sempre iro conviver lado a lado. Como diz
Ricur, a plurivocidade comum aos textos e s aes trazida luz sob a forma de um conflito
de interpretaes, e a interpretao final aparece como um veredicto do qual possvel apelar
378
.
E isto se funda sobre uma concepo da interpretao como produtora, poiesis, continuadora do
processo mimtico que consiste na criao de um quase-mundo, ou de um mundo imaginrio, no
qual variaes imaginativas da ao so propostas e submissas a um julgamento tico-literrio.
No de estranhar que tenhamos formulado mais de uma hiptese do modelo
actancial, por exemplo, todos com certa validez. De fato, podemos considerar a Farsa como uma
pea centrada sobre Joaquim Simo, ou como a comdia (acrescentaramos o qualificativo
378
RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 229. (Poche, 377).
196
dramtica) da humanidade que oscila nos dois eixos, entre pobreza e riqueza e entre vcio e
virtude. Tambm no estranho que o personagem Simo possa ser visto positiva ou
negativamente, sendo essa discusso exatamente um aspecto do convite da pea interpretao,
como o julgamento eternamente inconcluso da Capitu machadiana.
A expresso tico-literrio, porm, deve ser entendida pela modificao que o
trao de unio aporta aos dois termos. Ou seja, no se trata de um julgamento propriamente tico
(cujo foco a ao humana real e suas conseqncias no plano do agir inter-humano), nem de
um julgamento esttico puro (considerao das formas literrias). Como vimos no primeiro
item deste captulo, a literatura no abole o julgamento tico, mas o submete s mesmas variaes
imaginativas que levam a imaginao produtiva a pr em funcionamento a clula meldica
muthos-mimesis, quer dizer, fico e re-descrio da realidade da ao
379
.
Uma conseqncia importante dessa ressalva que acabamos de fazer a defesa da
liberdade de criao na literatura. A fico o lugar do sonho, da explorao dos limites, mesmo
(e sobretudo) de sonhos proibidos pela exigncia de comportamento tico na vida ordinria.
Comentando o poma sdico Pomo do mal, de Antnio da Fontoura Xavier, por exemplo, Antonio
Candido dir que
Pomo do mal desvenda [re-descreve] um pouco a dualidade que faz da vida do sexo, de
um lado, fruio e alegria; de outro, bestialidade e tormento como preo eventual do
prazer. Este lado turvo suscita com freqncia na arte e na literatura o impulso
sublimador, como se fosse necessrio compens-lo por meio de mundos inventados, ou
por meio de testemunhos (fictcios) que aliviam como confisso. Isso ocorre, seja
expondo aspectos excntricos, medonhos, seja lavando-os, filtrando-os at
transform-los em lmpido cristal.
380
De modo semelhante, a propsito dos situaes-limite apresentados por Derek
Parfit, Ricur afirma que
379
Sobre a tragdia grega, Ricur dir que ela vai diretamente essncia da ao, precisamente porque ele liga
muthos e mimesis, quer dizer, no nosso vocabulrio, fico e re-descrio (Ibidem, p. 248). por sua possibilidade de
re-descrever o real atravs da ao, portanto, que a tragdia (e, generalizando, a literatura) consegue pr em destaque
o sentido da ao e toda a sua fora simblica.
380
CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. SP: Duas Cidades, 1993. p. 223
197
se um imaginrio que respeita o invariante da condio corporal e terrestre tem mais
afinidade como o princpio moral da imputao, uma ciso do outro imaginrio, aquele
que atinge com a contingncia esse mesmo invariante, no seria ele por sua vez imoral
sob todo ponto de vista, enquanto interdito de sonhar? Um dia ser sem dvida
necessrio impedir a realizao daquilo que a fico cientfica se limita a sonhar. Mas o
sonho no foi desde sempre a transgresso do interdito? Sonhemos, pois, com Parfit!
381
O prprio Ariano Suassuna, ainda, defende a literatura dessa intromisso de uma
tica cerceadora, quando diz que a tica no tem poder condenatrio nem mutilatrio sobre a
arte, mas tem poder declaratrio
382
. Ou seja, uma vez assegurada a liberdade criadora da arte e
da literatura, no se pode negar seu imenso poder tico, que se manifesta na possibilidade de
imaginar a ao, seu significado e imaginar, inclusive, o seu julgamento, cujo carter literrio se
evidencia de modo mais expressivo na relao de descompromisso com a realidade
383
. a essa
faculdade, a esse poder da literatura que se pode chamar com Ricur de laboratrio e de
consider-lo como propedutico tica na medida em que revela significados novos da ao
atravs da operao de um aumento icnico sobre ela
384
.
Por a se v como o julgamento da boa preguia pode ser retomado na etapa da
mimesis III, apoiada sobre o julgamento de Manuel Carpinteiro segundo valores cristos, que
condenam a busca da riqueza pela riqueza e, segundo a pea, valorizam o cio de Deus, ou
seja, o cio ligado atividade criadora. Este posicionamento testado no espao de
experimentao aberto pela Farsa atravs da criao das identidades de Simo, mas tambm de
Nevinha, Aderaldo e Clarabela, sobretudo, na medida em que so eles que sero julgados. Ao
381
RICUR, Paul. Soi-mme comme un autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. p 179-180. (Poche, 330).
382
CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. So Paulo: Instituto Moreira Salles, novembro de 2000, n. 10.
Semestral. ISSN 1413-652X. p. 41.
383
nesse estado de no-engajamento que ns ensaiamos idias novas, novos valores, maneiras novas de estar no
mundo. In: RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 245. (Poche, 377).
384
Sobre esse poder revelador, Ricur dir: O paradoxo da fico que a anulao da percepo condiciona uma
aumento de nossa viso das coisas (Ibidem, p. 246). E ainda: Quer se trate da tragdia antiga, do drama moderno,
do romance, da fbula ou da lenda, a estrutura narrativa fornece fico as tcnicas de abreviao, de articulao e de
condensao pelas quais obtido o efeito de aumento icnico que se descreve na pintura e nas outras artes plsticas.
no fundo o que Aristteles tinha em vista na Potica, quando ele ligava a funo mimtica da poesia quer dizer,
no contexto de seu tratado, da tragdia estrutura mtica da intriga construda pelo poeta. In: Ibidem, p. 247-248.
198
interpretarmos a Farsa, portanto, entramos na discusso desses valores, tomando nossas prprias
posies a favor ou contra os personagens, mais prximos ou mais distantes do produto
oferecido por Manuel Carpinteiro e seus secretrios, mas no indiferentes ao que lemos ou
assistimos. E nesse sentido continuamos o papel de hermeneutas da ao, tarefa presente no
prprio texto atravs da atividade dos personagens celestes. Enfim, alm da relao dialtica
forma-contedo que integra na Farsa elementos ticos e estticos, articulam-se tambm, na pea
de Suassuna, um exerccio tico e uma interpretao literria.
199
A MODO DE CONCLUSO:
DO MUNDO DO TEXTO AO UNIVERSO DE SUASSUNA
Aps este longo percurso, no nos resta muito a acrescentar. No entanto, inmeras
janelas se abriram, quanto mais avanvamos na explorao do texto da Farsa. O processo de
leitura-releitura exige um termo sempre arbitrariamente delimitado. Alis, arbitrado e delimitado
por ns desde o incio, o que nos permitiu a salvaguarda da coerncia de nossa anlise. Nossa
hiptese interpretativa, segundo a qual a construo esttica da Farsa da boa preguia se articula
dialeticamente com uma temtica tica, foi verificada em diversas instncias do texto. Seguindo a
progresso do processo mimtico proposta por Ricur , vimos como Suassuna seleciona um
material simblico e formas eficazes para a construo de uma trama complexa, apesar da
aparente simplicidade que a linguagem utilizada sugere (mimesis I). Vimos como a mimesis da ao
construda com habilidade no plano da intriga, mas comentada em paralelo no seio da prpria
pea, recurso que nos d acesso a uma forma de crtica interna ou um tratamento dialgico da
temtica da preguia (boa ou m). Essa construo, constatamos no quarto captulo, apia-se
numa estrutura que combina dois eixos, o que permite um duplo olhar sobre a intriga: somente
centrada no heri ou centrada em todos os seres terrestres (mimesis II). Enfim, constatamos que a
relao dos dois planos manifesta-se de modo mais explcito na figura de um julgamento, em que
a relao entre esttica e tica se deixa perceber de modo mais claro ainda. Em primeiro lugar,
trata-se do julgamento do poeta por Manuel Carpinteiro, ou, de modo ainda mais genrico, da
representao cmica do julgamento das atitudes humanas por Deus. Em segundo lugar,
tambm uma estratgia do autor que convida o leitor (espectador) a julgar ele prprio as atitudes
que contempla, mas um julgamento que deixa espao para considerar a ambigidade do agir
200
humano no mundo, na medida em que o texto no fecha o veredicto sobre Joaquim Simo
(mimesis III).
Podemos considerar nosso percurso relativamente concludo, portanto. No entanto,
as inmeras janelas abertas sem que as pudssemos explorar (sob pena de disperso) legam-nos a
tarefa de ao menos apont-las, agora. Encontramos essas encruzilhadas fascinantes desde o
comeo do trabalho, quando poderamos ter aprofundado a relao da Farsa e de Suassuna com a
cultura popular e com a cultura erudita. Deixamos pouco espao, tambm, para a anlise da
mimesis I, quando poderamos ter explicitado melhor o manuseio do material simblico recolhido
pelo autor, assim como os recursos empregados para a construo de um discurso capaz de
configurar o agir humano na pea. Outra janela, ainda, poderia ter sido mais explorada para
revelar melhor a figura do personagem-narrador, aprofundando o paralelo entre as iniciativas de
Boal e de Suassuna. Tudo isso para no mencionar a reflexo sobre a cena, que colocamos entre
parnteses em nosso mtodo. Assim por diante, deixamos entreabertas portas importantes
mencionemos, ainda, uma possvel anlise detalhada da construo dos demais personagens sem
funo protagnica, o dilogo da Farsa com outros textos do autor, etc para nos concentrarmos
numa anlise da mimesis II do texto de Suassuna, sob o prisma da relao entre tica e esttica
385
.
Mas, sobre esse ponto, vemo-nos na obrigao de acrescentar um derradeiro tema,
ainda que de forma sinttica: o mundo do texto. Em vista disso intitulamos essa etapa de a modo de
concluso, mais para indicar aberturas do que para fechar um percurso. Com essa opo, somos
coerentes com a teoria de Ricur , que apresenta a interpretao como processo. Vejamos, afinal,
385
Uma outra perspectiva da anlise que no abordamos, destacada pelo Prof. Abraho Costa Andrade, a de
considerarmos Joaquim Simo como autor implcito da Farsa. De fato, ao sugerir no final da pea que iria escrever
trs folhetos com os nomes dos atos, legitima-se esta hiptese. Chegamos a observar que esta meno pode ser
compreendida como um indcio do sucesso do propsito de Simo. Pensamos que a categoria de autor implcito no
se aplicaria convenientemente a Joaquim Simo. Mas essa hiptese nos oferece um outro elemento da relao forma-
contedo: ao imaginarmos Simo como autor de todas as peripcias que assistimos, e que por terem sido criao sua
no pertenceriam ao mundo real, o aspecto farserco posto em relevo. Nessa espcie de curto-circuito entre fico
(a pea tal como a lemos ou assistimos) e fico da fico (Simo como autor de uma pea que lemos ou assisitmos),
seria ainda mais interessante a relao entre as etapas da mimesis, sobretudo a situao da mimesis I enquanto plano
pr-narrativo da ao.
201
em que consistiria uma investigao desse horizonte do mundo do texto situado na etapa da mimesis
III.
Com o conceito de mundo do texto, Paul Ricur enfrenta o problema epistemolgico
da referencialidade da obra ficcional. A questo central o problema da realidade, conceito que
ele desmonta com a crtica viso inocente de histria que a situa diretamente ligada a um real
que, na verdade, tambm fruto de uma construo narrativa, embora com mtodos e
pretenses diferentes da literatura. No campo da fico, Ricur prope uma soluo anloga
que ele oferece para o campo do conhecimento histrico atravs da funo de representncia
do conhecimento do passado. A resposta para a literatura consiste numa esttica da recepo que
inclui uma fenomenologia da leitura, opo que valoriza tanto o papel do autor implcito obra
quanto o do leitor que ativa o processo, os dois em relao dialtica. Assim dada obra a
possibilidade de constituir, pela configurao da mimesis II, uma refigurao da realidade na etapa
da mimesis III, precisamente atravs do mundo criado pelo texto.
A inscrio deste momento na etapa da mimesis III explica-se pelo papel mediador da
leitura e pelo cruzamento dos horizontes da obra e do receptor, como diz Ricur :
[A mimesis III] marca a interseo entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do
leitor, a interseo, portanto, entre mundo configurado pelo poema e mundo no seio
do qual a ao efetiva se desenvolve e desenvolve sua temporalidade especfica. A
significao da obra de fico procede dessa interseo.
386
Ricur sustentar sua posio com o recurso crtico noo de autor implcito,
proposta por Wayne Booth
387
, e com a dialtica que este autor implcito estabelece com o papel
ativo do leitor. A noo de autor implcito de grande importncia, como nota o filsofo, pois
ela permite escapar objeo de recada na falcia intencional, e mais geralmente de confuso
386
RICUR, Paul. Temps et rcit. Vol 3. 1. ed. 1985. Paris: Seuil, 1991. p. 287. 3 volumes. (Poche, 229).
387
BOOTH, Wayne. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1961 (trad. port. A Retrica da Fico,
Lisboa, Arcdia, 1980) apud RICUR , Paul, op. cit., p. 289.
202
com uma psicologia do autor, na medida em que ela pe o acento no sobre o processo
presumido de criao da obra, mas sobre as tcnicas pelas quais uma obra se torna comunicvel
388
.
Mas Ricur discordar de Booth quanto avaliao que este faz do narrador no
digno de confiana ou equvoco
389
, crtica que aponta na direo da incluso de uma tenso
necessria entre autor implcito e leitor: a afirmao segundo a qual o autor cria seus leitores
parece desconsiderar uma contrapartida dialtica
390
. a deixa para que o filsofo apresente sua
fenomenologia e esttica da recepo.
Com o termo esttica, note-se, Ricur volta ao sentido grego do termo aisthesis, o
sentir ou ser afetado, para dizer que este ser afetado [...] combina, numa experincia de tipo
particular, uma passividade e uma atividade, que permitem designar como recepo do texto a
prpria ao de l-lo
391
. Reconhecemos novamente a importncia dada pelo filsofo noo de
poiesis, incluindo o prprio leitor no processo de construo da mimesis.
A relao dialtica entre a instncia do leitor e a do autor implcito d-se segundo trs
figuras: a do combate (como no romance moderno, quando as expectativas do leitor so
constantemente frustradas pelo autor implcito), a do excesso de sentido (pela qual a leitura se
revela como possibilidade de inovao) e a do equilbrio sempre instvel entre a conivncia com a
iluso da obra e sua crtica
392
.
A este ponto de nossa sntese compacta deste momento da mimesis III, podemos
abordar o assunto que nos interessa aqui. Trata-se de poder ver a literatura em geral e a Farsa da
boa preguia em particular como a possibilidade de descobrir novos mundos, de experimentar
novas maneiras de ser e de habitar a histria a partir das aberturas que nossa relao com as obras
388
RICUR, Paul, idem, p. 289-290. com essa inteno que utilizamos o nome prprio Ariano Suassuna em
diversos momentos, sempre relacionando-o enquanto autor implcito ao texto especfico que analisamos. Apesar de
limitada, a noo apresenta inmeras vantagens, como a de poder articular em torno a uma mesma instncia as
rubricas, o texto das falas e, at mesmo, outras referncias a obras do mesmo autor, sem cair no biografismo.
389
Cf. ibidem, p. 294-296.
390
Ibidem, p. 297.
391
Ibidem, p. 303.
392
Cf. ibidem, p. 307-308.
203
oferece. J havamos abordado este tema antes, ao acompanharmos Ricur em sua tese das
variaes imaginativas prprias da fico. Mas agora temos um enfoque mais especfico, mais
distante do texto (razo pela qual situamos estas consideraes ao final de nosso percurso
analtico), mas no desligado dele na medida em que se trata de um dilogo com o texto, voltando
ao real refigurado a partir do texto. Reaparecem, nesse momento, aspectos da mimesis I como a
importncia dos recursos simblicos, mas em um outro patamar, no nvel das possibilidades
novas de significao do real oferecidas pela mediao simblica proposta pela obra. Ricur o
diz admiravelmente:
O momento em que a literatura atinge sua mais alta eficincia talvez aquele em que ela
coloca o leitor na situao de receber uma soluo para a qual ele deve encontrar
sozinho as questes apropriadas, aquelas que constituem o problema esttico e moral
levantado pela obra.
393
Isso no significa absolutamente reduzir a literatura a uma instncia de discusso do
real, como se desvalorizssemos sua funo esttica. Ao contrrio, trata-se de valorizar a
mediao esttica da literatura, o que a situa num altssimo grau de pertinncia para a vida
humana (que se define pelo acesso conscincia da conscincia e pela conscincia que o homem
tem do seu sentir). Ricur o refora ao dizer:
Contrariamente idia comum de que o prazer ignorante e mudo, Jauss [esteta da
recepo sobre o qual se apia o filsofo] reconhece o poder de abrir um espao de
sentido no qual se desenvolver ulteriormente a lgica da questo e da resposta. Ele faz
compreender (donne comprendre).
394
De modo ainda mais explcito, aps considerar com Jauss o valor da noo de
catharsis
395
, Ricur dir:
393
Ibidem, p. 317.
394
Ibidem, p. 320.
395
Um efeito mais sutil ainda se refere catharsis: em favor da clarificao que ela exerce, a catharsis delineia um
processo de transposio no somente afetiva, mas tambm cognitiva, que pode ser aproximado da alegorese, cuja
histria remonta exegese crist e pag. H alegorizao desde que algum se proponha a traduzir o sentido de um
texto de seu contexto primeiro para um outro contexto, o que significa dizer: dar-lhe uma significao nova que
204
[Uma ltima dialtica] diz respeito a dois papis, seno antitticos, ao menos
divergentes, assumidos pela leitura. Esta aparece vez por outra como uma interrupo no
curso da ao ou como um relanamento em direo ao. Essas duas perspectivas
sobre a leitura resultam diretamente da sua funo de afrontamento e de ligao entre o
mundo imaginrio do texto e o mundo efetivo do leitor. Enquanto o leitor submete
suas expectativas s que o texto desenvolve, ele se irrealiza a si prprio na medida da
irrealidade do mundo fictcio para o qual ele migra; a leitura se torna, ento, um lugar
irreal onde a reflexo faz uma pausa. Ao contrrio, enquanto o leitor incorpora
consciente ou inconscientemente, pouco importa os ensinamentos de suas leituras
sua viso de mundo a fim de aumentar sua legibilidade prvia, a leitura no para ele
um lugar onde ele pra; ela um meio que ele atravessa.
396
Temos conscincia da limitao da discusso que abrimos exatamente no momento
de fechar a pesquisa, impertinncia que consiste em passar da anlise do texto ao significado do
ato de ler. Mas, como dissemos mais de uma vez, no gostaramos de perder a oportunidade de
sugerir elementos para uma possvel continuao da pesquisa, sobretudo a partir de um marco
terico ainda pouco explorado no meio acadmico literrio brasileiro.
Coerentes com a linha de pesquisa qual nos inscrevemos, leituras do texto literrio, na
rea de literatura e cultura, tal impertinncia parece ter seu sentido, porm. De um lado, no
renunciamos ao princpio que adotamos no incio do percurso, o da fidelidade ao texto em nossa
anlise principal. Sequer agora, quando partimos do texto. E, por outro lado, ganhamos em
perspectiva ao poder considerar outras facetas da Farsa que abrem a perspectiva do interior do
texto aos horizontes do mundo criado pela Farsa e do universo artstico de Suassuna.
No mundo criado pela Farsa, de fato, encontramos o espao onde convivem Deus,
santos, demnios e gente comum no tabuleiro da vida, complexa e cmica como costuma ser em
seu real vivido. A essa viso de mundo Suassuna alude diretamente no prlogo da edio da pea,
quando diz que, em segundo lugar, o que eu desejava ressaltar, na pea, era a diferena da viso
ultrapassa o horizonte de sentido delimitado pela intencionalidade do texto no seu contexto original [JAUSS, H-R,
Limites et tches dune hermneutique littraire. In: ______. Pour une esthtique de la rception. Paris: Gallimard, 1978. p.
124]. finalmente esta capacidade de alegorizao, ligada catharsis, que faz da aplicao literria a rplica mais
aproximada da apreenso analogizante do passado na dialtica do face-a-face e da dvida. In: RICUR , Paul, op. cit., p.
232.
396
Ibidem, p. 327-328.
205
inicial que ns, povos morenos e magros, temos do Mundo e da vida, em face da tal
cosmoviso dos povos nrdicos
397
. Mas o que mais toca nesse mundo a singularidade da
construo proposta pelo autor, que se exprime, sobretudo, em seu estilo
398
, outra janela que
poderia ter sido explorada na anlise.
Enfim, a presena de uma ruralidade um tanto utpica, uma religiosidade ao mesmo
tempo tradicional e criativa e outros elementos, ainda, no so exclusividade da pea que
analisamos. Eles esto presentes no ambiente imaginrio criado pelo autor. Extrapolando a obra
e a noo de mundo do texto proposta por Ricur, podemos dizer que, atravs do mundo
ficcional criado por esta obra em particular, estamos conectados com o universo formado pela
constelao das obras de Suassuna. Maria Aparecida Lopes Nogueira faz uma abordagem desse
tipo, ao propor uma anlise dos elementos mticos, imaginrios, culturais e utpicos do universo
de Suassuna
399
. De modo semelhante, Cludia Leito proceder a uma reflexo sobre uma tica da
esttica armorial, partindo da obra ficcional para voltar a re-significar a realidade com a carga de
sentido adquirida por meio da fico
400
.
No entanto, essas consideraes nos distanciam cada vez mais do terreno literrio,
ainda que partindo dele, e sugerem uma abordagem imensamente vlida, mas incabvel aqui.
Terminamos apenas voltando a destacar o interesse de uma abordagem como a que propusemos,
capaz de conjugar uma anlise profunda da obra em si mesma com sua importncia para a vida
humana. E, se quisssemos apontar uma ltima janela, esta seria a da crtica das ideologias e
397
SUASSUNA, Ariano, A Farsa e a preguia brasileira. In: SUASSUNA, Ariano, op. cit., p. xi.
398
Por estilo, seguimos a posio de Ricur : Se ns consideramos a obra como a resoluo de um problema [...],
podemos chamar de estilo a adequao entre a singularidade da soluo que constitui por ela mesma a obra e a
singularidade da conjuntura da crise, tal qual o pensador ou o artista a apreenderam. Esta singularidade da soluo,
respondendo singularidade do problema, pode receber um nome prprio, o nome do autor. In: RICUR, Paul, op.
cit., p. 292-293.
399
NOGUEIRA, Maria Aparecida L. Ariano Suassuna, o cabreiro tresmalhado. So Paulo: Palas Athena, 2002.
400
LEITO, Cludia. Por uma tica da esttica: Uma reflexo acerca da tica armorial nordestina. Fortaleza: UECE,
1997.
206
utopias que essa viso de mundo proposta pela obra de Suassuna (e por qualquer obra literria)
solicita
401
. Mas isso mote para um outro comeo.
401
Cf. RICUR, Paul. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. p. 367 et. seq.. (Poche, 377).
207
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. Bibliografia especfica de e sobre Ariano Suassuna
1.1. Livros
BOTELHO, Theotonio de Paiva. O teatro pico de Ariano Suassuna: a construo de uma narrativa
erudita e popular. 2002. 343 f. Dissertao (Mestrado em Teoria Literria) Ps-Graduao
da Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.
CASTRO, ngela Maria Bezerra de. Gil Vicente e Ariano Suassuna: "acima das profisses e dos
vos disfarces dos homens". 120 f. Dissertao (Mestrado em Literatura Portuguesa)
Departamento de Letras e Artes, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 1976.
DIAS, Vilma Thereza Barbosa. Suassuna; procedimentos estilsticos: anlise quantitativa de O santo e
a porca. 1981. 123 f. Dissertao (Mestrado em Literatura Brasileira) Ps-graduao em
Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1981.
DIDIER, Maria Thereza. Emblemas da Sagrao Armorial. Recife: Ed. Universitria da UFPE,
2000.
LEITO, Cludia. Por uma tica da esttica: Uma reflexo acerca da tica armorial nordestina.
Fortaleza: UECE, 1997.
208
GUAPIASS, Paulo Roberto. A marmita e a porca: a presena plautiniana na comdia nordestina.
1980. 216 f. Tese (Doutorado em Letras) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1980.
GUIDARINI, Mrio. Os pcaros e os trapaceiros de Ariano Suassuna. So Paulo: Ateniense, 1992.
MATOS, Geraldo da Costa. O palco popular e o texto palimpsstico de Ariano Suassuna. 1987. 307 f.
Tese (Doutorado em Literatura Brasileira) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1987.
______ O riso e a dor no Auto da compadecida. 1979. 124 f. Dissertao (Mestrado em Teoria
Literria) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro (em convnio
com a Universidade Federal de Juiz de Fora), Juiz de Fora, 1979.
NEWTON JUNIOR, Carlos. A ona malhada e o esprito castanho : uma viso armorial da cultura
brasileira. Natal: Cooperativa Cultural UFRN, 1991.
______ O pai, o exlio e o reino: a poesia armorial de Ariano Suassuna. Recife: Ed. Universitria
da UFPE, 1999.
NOGUEIRA, Maria Aparecida Lopes. Ariano Suassuna, o cabreiro tresmalhado. So Paulo: Palas
Athena, 2002.
NOVAIS, Maria Ignez Moura. Nas trilhas da cultura popular: o teatro de Ariano Suassuna. 1976.
242 f. Dissertao (Mestrado em Teoria Literria e Literatura Comparada) FFLCH, USP,
So Paulo, 1976.
PONTES. Catarina Santana. O riso-a-cavalo no galope do sonho: Auto da compadecida. 1981. 226 f.
Dissertao (Mestrado em Literatura Brasileira) Instituto de Letras, Universidade Federal
Fluminense, Niteri, 1981.
REGO, George B.; MACIEL, Jarbas. Suassuna e o Movimento Armorial. Recife: Editora
Universitria da UFPE, 1987.
209
SANTOS, Idelette Muzart Fonseca dos. Em demanda da potica popular: Ariano Suassuna e o
Movimento Armorial. Campinas: Ed. da Unicamp, 1999.
SILVA, Rivaldete M. Oliveira da. Recursos cmicos em A pena e a lei de Ariano Suassuna:
personagem e linguagem. Joo Pessoa: FUNESC, 1994.
SUASSUNA, Ariano. Aula magna. Joo Pessoa: Ed. Universitria da UFPB, 1994.
______. Farsa da boa preguia. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio Ed., 1979.
______. A ona castanha e a ilha Brasil: uma reflexo sobre a cultura brasileira. 1976. 200 f.
Tese (Livre docncia) Centro de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade Federal de
Pernambuco, Recife, 1976.
______. Auto da compadecida. 30. ed. Rio de janeiro: Agir, 1996.
______. Fernando e Isaura. Recife: Ed. Bagao, 1994.
______. Iniciao esttica. 4. ed. Recife: Ed. Universitria da UFPE, 1996.
1974.
______. A pedra do reino. 3. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1972.
______. A pena e a lei. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998.
______. La Pierre du Royaume. Paris: Mtaili, 1998.
______. Poemas. Recife: Editora Universitria da UFPE, 1999.
______. O rei degolado. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1977.
______. O santo e a porca e O casamento suspeitoso. 10. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1994.
______. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1974.
______. Uma mulher vestida de sol. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 2003.
VASSALO, Lgia Maria Ponde. Permanncia do medieval no teatro de Ariano Suassuna. 1988. 338 f.
Tese (Doutorado em Letras) Ps-graduao em Letras, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 1988.
210
RABETTI, Beti (org.). Teatro e comicidades: estudos sobre Ariano Suassuna e outros ensaios. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2005.
1.2. Revistas, artigos e entrevistas
BARBOSA, Diana Moura. Paixo pela vida move a escrita. Jornal do Commercio, Recife, 6 out.
2005. Caderno C, p. 6.
BRASIL, Ubiratan. Filme pretende desmistificar as opinies radicais do autor. O Estado de So
Paulo, So Paulo, 15 de jun. 2002. Caderno 2, D-3.
______. Suassuna une poesia e gravuras em novo romance. O Estado de So Paulo, So Paulo,
15 de jun. 2002. Caderno 2, D-3.
______. Suassuna vai transformar Garrincha em personagem. O Estado de So Paulo, So
Paulo, 27 ago. 2005. Caderno 2, D-2.
BRITO, Dario. Ariano Suassuna inspira estilistas. Jornal do Commercio, Recife, 31 maio 2005.
Caderno C, C-1.
CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA. So Paulo: Instituto Moreira Salles, nov. 2000, n.
10. Semestral. ISSN 1413-652X.
CAMAROTTI, Gerson. Encontro decisivo com Joo Cabral. O Globo, Rio de Janeiro, 11 jun.
2005. Prosa & Verso, p. 3.
CARPEGGIANI, Schneider. A obra, o homem e o carisma. Jornal do Commercio, Recife, 6 out.
2005. Caderno C, p. 7.
______. Ariano arrebata platia na Flip. Jornal do Commercio, Recife, 12 jul 2005. Caderno C-4.
CONTINENTE MULTICULTURAL. Recife: CEPE, 2002, n 20. ISSN 1518-5095.
211
CONY, Carlos Heitor. Sou Ariano. Folha de So Paulo, So Paulo, 29 ago. 2005. A-4.
COURI, Norma. Suassuna iluina o Brasil com suas cores. O Estado de So Paulo, So Paulo, 18
dez. 2000. Caderno 2, p. D7.
ENTRE LIVROS. So Paulo: Duetto Editorial, jul. 2005, ano I, n 3. ISSN 1808-1010.
ESCRITA ARMORIAL, A. Continente Multicultural. Recife: CEPE, 2005, n 53, p. 18-19.
LIMA, Maringela Alves de. Tramas mantm seu encanto entre amadores e profissionais. O
Estado de So Paulo, So Paulo, 15 de jun. 2002. Caderno 2, D-3.
LINS, Letcia. Caleidoscpio da cultura brasileira. O Globo, Rio de Janeiro, 11 jun. 2005. Prosa
& Verso, p. 2.
MACHADO, Cassiano Elek. Ano Suassuna tem volta de marcos e promessa de novo. Folha de
So Paulo, 5 mar. 2005. Ilustrada, E-6.
NEUMANNE, Jos. A volta de Quaderna, o Quixote da caatinga. Correio da Paraba. Joo
Pessoa, 2 jun. 2005. Cultura, C-6.
S, Nelson de. As utopias de Quaderna-Suassuna. Folha de So Paulo, So Paulo, 19 jan. 1997.
Mais!, 5-7.
SIMES, Eduardo. Polmica quixotesca racha mundo das letras. Folha de So Paulo, So Paulo,
16 jul. 2005. Ilustrada, E-6.
______. Suassuna defende sonho quixotesco na Flip. Folha de So Paulo, So Paulo, 11 jul.
2005. Ilustrada, C.4.
SUASSUNA, Ariano. Antonio Madureira. Folha de So Paulo, S. P., 9 mar. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. A arte e o mal. Folha de So Paulo, So Paulo, 21 set. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Arte erudita e arte popular. Folha de So Paulo, So Paulo, 23 fev. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Arte no mercado, mas vocao e festa (sic.). Entrevista concedida a Luiz Zazin
Oricchio. O Estado de So Paulo, So Paulo, 12 jul. 1997. Cad. 2, D-3.
______. Beiarg. Folha de So Paulo, So Paulo, 9 fev. 1999. Cad. 1, p. 2.
212
______. Brasil um pas indigno? Folha de So Paulo, So Paulo, 25 maio 1999. Cad. 1, p. 2.
______. O brasileiro do sculo. Folha de So Paulo, So Paulo, 16 mar. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Cabras. Folha de So Paulo, So Paulo, 30 maio 2000. Cad. 1, p. 2.
______. As cabras, Raduan e eu. Folha de So Paulo, So Paulo, 23 maio 2000. Cad. 1, p. 2.
______. O cabreiro, a cantadora e Roberto Campos. Folha de So Paulo, So Paulo, 21 dez.
1999. Cad. 1, p. 2.
______. Canudos, ns e o mundo. Folha de So Paulo, So Paulo, 7 dez. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Capiba e Elyanna Caldas. Folha de So Paulo, So Paulo, 16 fev. 1999, Cad. 1, p. 2.
______. Carlos Fuentes e o Brasil. Folha de So Paulo, So Paulo, 20 jul. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Uma carta. Folha de So Paulo, So Paulo, 10 ago. 1999, Cad. 1, p. 2.
______. Cartas. Folha de So Paulo, So Paulo, 29 fev. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Cervantes e Arrabal. Folha de So Paulo, So Paulo, 6 jul. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Ciro Gomes e o Brasil. Folha de So Paulo, So Paulo, 22 jun. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Cludia Leito e a festa do povo. Folha de So Paulo, S. P., 26 fev. 2001. Ilustrada, E-8.
______. Cludia Leito e Niezsche. Folha de So Paulo, So Paulo, 5 mar. 2001. Ilustrada, E-8.
______. Cony. Folha de So Paulo, So Paulo, 13 abr. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Cony e a ABL. Folha de So Paulo, So Paulo, 4 abr. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. A cultura e o presidente. Folha de So Paulo, So Paulo, 9 maio 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Cultura e televiso. Folha de So Paulo, So Paulo, 20 jun. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Darwin e o capitalismo. Folha de So Paulo, So Paulo, 8 jun. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Desaforo. Folha de So Paulo, So Paulo, 2 mar. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Despedida. Folha de So Paulo, So Paulo, 26 mar. 2001. Ilustrada, E-8.
______. Dias Jnior e Kawall. Folha de So Paulo, So Paulo, 11 abr. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Dines e os judeus. Folha de So Paulo, So Paulo, 11 mai. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Dois tiros pela culatra. Folha de So Paulo, So Paulo, 28 mar. 2000. Cad. 1, p. 2.
213
______. Dom Hlder. Folha de So Paulo, So Paulo, 7 set. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Dostoiski e o mal. Folha de So Paulo, So Paulo, 28 set. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Um economista. Folha de So Paulo, So Paulo, 18 maio. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Um editor. Folha de So Paulo, So Paulo, 27 jul. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Eleio na ABL. Folha de So Paulo, So Paulo, 24 ago. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Em defesa de Edlson. Folha de So Paulo, So Paulo, 29 jun. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Entrega da televiso. Folha de So Paulo, So Paulo, 18 abr. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Esquerda e direita. Folha de So Paulo, So Paulo, 14 set. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Eu no fao concesso nenhuma. Entrevista concedida a Mariana Caramotti, Ciana
Moura, Marco Bah, Incio Frana, Miguel Falco e Samarone Lima. In: Caros Amigos, jun.
2003, mensal, p. 34-41.
______. A favela e o arraial. Folha de So Paulo, So Paulo, 27 abr. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Uma filha do Brasil real. Folha de So Paulo, So Paulo, 13 jun. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Um fillogo. Folha de So Paulo, So Paulo, 21 mar. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. As Foras Armadas. Folha de So Paulo, So Paulo, 16 nov. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Ghandi, De Gaulle e Ieltsin. Folha de So Paulo, So Paulo, 4 jan. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. O Grupo Grial de dana. Folha de So Paulo, So Paulo, 30 abr. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Guimares Rosa e Eu. Folha de So Paulo, So Paulo, 27 nov. 2000. Ilustrada, E-8.
______. Guimares Rosa e o Brasil Real. Folha de So Paulo, S. P., 4 dez. 2000. Ilust., E-8.
______. Uma histria mal contada. Folha de So Paulo, So Paulo, 5 fev. 2001. Ilustrada, E-8.
______. Hitler e os aiatols. Folha de So Paulo, So Paulo, 4 maio 1999. Cad. 1, p. 2.
______. ndices de crescimento. Folha de So Paulo, So Paulo, 12 out. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Joo. Folha de So Paulo, So Paulo, 26 out. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Joo Cabral e eu. Folha de So Paulo, So Paulo, 2 nov. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Joo Grilo, Chic e os clssicos. Folha de So Paulo, S. P., 6 abr. 1999. Cad. 1, p. 2.
214
______. Joo, Jorge e a ABL. Folha de So Paulo, So Paulo, 9 nov. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Um juiz. Folha de So Paulo, So Paulo, 30 mar. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. A literatura de cordel. Folha de So Paulo, So Paulo, 1 jun. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Lula e Mestre Salustiano. Folha de So Paulo, So Paulo, 14 mar. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Maquiavel e Roberto Campos. Folha de So Paulo, S. P., 11 jan. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Marilene e Raduan. Folha de So Paulo, So Paulo, 16 maio 2000. Cad. 1, p. 2.
______. O Mesre, o Discpulo e a Espada. Folha de So Paulo, S. P., 14 ago. 2000. Ilust., E-8.
______. Meu comunismo. Folha de So Paulo, So Paulo, 31 ago. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. A misso. Folha de So Paulo, So Paulo, 2 fev. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Mocinha. Folha de So Paulo, So Paulo, 27 jun. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. A nau e o Brasil. Folha de So Paulo, So Paulo, 2 maio 2000. Cad. 1, p. 2.
______. A nova Padaria Espiritual. Folha de So Paulo, So Paulo, 15 jun. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. O paraibano do sculo. Folha de So Paulo, So Paulo, 12 mar. 2001. Ilustrada, E-8.
______. Um poeta. Folha de So Paulo, So Paulo, 5 out. 1999. Cad. 1. p. 2.
______. O Policarpo Quaresma do serto no novo sculo. Entrevista concedida a Ubiratan
Brasil. O Estado de So Paulo, So Paulo, 24 abr. 2005. Cad. 2, Cultura, p. D8-D9.
______. A poltica e eu. Folha de So Paulo, So Paulo, 28 dez. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Um projeto de lei. Folha de So Paulo, So Paulo, 25 abr. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Uma quase-despedida. Folha de So Paulo, So Paulo, 4 jul. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. A redeno de Suassuna. Entrevista concedida a Letcia Lins. O Globo, Rio de
Janeiro, 11 jun. 2005. Prosa & Verso, p. 1-2.
______. Roberto Campos: caoada. Folha de So Paulo, So Paulo, 17 ago. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Rosa e a literatura brasileira. Folha de So Paulo, So Paulo, 12 fev. 2001.. Ilust., E-8.
______. Rosa e Bial. Folha de So Paulo, So Paulo, 23 mar. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Sucesso brasileiro na Europa. Folha de So Paulo, So Paulo, 3 ago. 1999. Cad. 1, p. 2.
215
______. Televiso e identidade nacional. Folha de So Paulo, S. P., 19 out. 1999. Cad. 1, p. 2.
______. Telma. Folha de So Paulo, So Paulo, 6 jun. 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Tinhoro e o quinteto. Folha de So Paulo, So Paulo, 22 fev 2000. Cad. 1, p. 2.
______. Valquria e o Carandiru. Folha de So Paulo, So Paulo, 13 jul. 1999. Cad. 1, p. 2.
VELOSO, Caetano. Dostoievski, Ariano e a pernambuclia. Folha de So Paulo, So Paulo, 2
nov. 2005. Ilustrada, 4-7.
VICENTE FILHO, Antnio. Edio especial marca 50 anos da obra de Ariano. Correio da
Paraba, Joo Pessoa. 5 mar. 2005. Caderno 2, C-1.
VICTOR, Fbio. A epopia sem fim de Suassuna. Folha de So Paulo, So Paulo, 30 nov. 2003.
Ilustrada, E-4.
2. Bibliografia geral
ARAS, Vilma. Iniciao comdia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990.
______. Na tapera de Santa Cruz. So Paulo: Martins Fontes, 1987
ARISTTELES, HORCIO, LONGINO. A potica clssica. 12. ed. So Paulo: Cultrix, 2005.
ARISTTELES. Arte Retrica e Arte Potica. Trad. de Antonio Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro:
Ediouro, [s.d.]
BAKHTIN, Mikhail A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto de Franois
Rabelais. So Paulo: Editora Hucitec, 1987.
BALL, David. Para trs e para frente: um guia de leitura de peas teatrais. So Paulo: Ed. Unesp,
Hucitec, 1998.
BERTHOLD, Margot. Histria Mundial do Teatro. So Paulo: Perspectiva, 2004.
216
BLANCH, Antonio. El hombre imaginario. Madrid: PPC Editorial, 1995.
CANDIDO, Antonio et al. A personagem de fico. 10. ed. So Paulo: Perspectiva, 1998.
CANDIDO, Antonio. Dialtica da Malandragem. In: ______. O discurso e a cidade. SP: Duas
Cidades, 1993. p. 17-46.
______. Iniciao literatura brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre papel, 2005.
______. Literatura e sociedade. 8. ed. So Paulo: T.A. Queiroz Ed., 2002.
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro: Estudo histrico-crtico, dos gregos atualidade. So
Paulo: Fundao Editora da Unesp, 1997.
CARVALHEIRA, Luiz Maurcio Britto. Por um teatro do povo e da terra: Hermilo Borba Filho e o
Teatro do Estudante de Pernambuco. Recife: Fundarpe, 1986.
CATECISMO DA IGREJA CATLICA. Petrpolis: Vozes; So Paulo: Ed. Paulinas, Edies
Loyola e Ed. Ave Maria, 1993.
COSTA, In Camargo, A comdia desclassificada de Martins Pena. In: ______. Sinta o drama.
Petrpolis: Vozes, 1998.
CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europia e Idade Mdia Latina. Rio de Janeiro: Instituto
Nacional do Livro, 1957.
DEMANDA DO SANTO GRAAL, A. Trad. e notas de Augusto Magne. Rio de Janeiro: Instituto
Nacional do Livro, 1944. 3 vols.
DOSSE, Franois. Paul Ricur: Les sens dune vie. Paris: La Dcouverte, 2001.
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura. Uma Introduo. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
SQUILO. Orstia: Agammnon, Coforas, Eumnides. Trad., introd. e notas: Mrio da Gama
Kury. 6. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
GONZLEZ, Mario M.. A saga do anti-heri. So Paulo: Nova Alexandria, 1994.
GREISCH, Jean. Paul Ricur: Litinrance du sens. Grenoble: Jrome Millon, 2001. (Krisis)
217
GUINGSBURG, J, FARIA, Joo R. e LIMA, M. A. de (orgs). Dicionrio do teatro brasileiro: temas,
formas e conceitos. So Paulo: Perspectiva/SESC-SP, 2006.
LIBNIO, J. B. e BINGEMER, M. Clara. Escatologia crist. Petrpolis: Vozes, 1985.
LIMA VAZ, Henrique Cludio. Escritos de filosofia II. So Paulo: Loyola, 1993.
LUNA, Sandra. Arqueologia da ao trgica: o legado grego. Joo Pessoa: Idia, 2005.
LUKCS, George, O idealismo abstrato. In: ______. A teoria do romance. So Paulo: Duas
Cidades; Editora 34, 2000.
MACIEL, Digenes. Ensaios do nacional popular no teatro brasileiro moderno. Joo Pessoa: Ed.
Universitria/UFPB, 2004.
MACIEL, Digenes; ANDRADE, Valria (orgs.). Por uma militncia teatral. Campina Grande:
Bagagem; Joo Pessoa: Idia, 2005.
MAGALDI, Sbato. Moderna dramaturgia brasileira. So Paulo: Perspectiva, 1998.
PAVIS, Patrice. Dicionrio de Teatro. So Paulo: Perspectiva, 1999.
PINHEIRO, Helder (org.). Pesquisa em literatura. Campina Grande: Bagagem, 2003.
PRADO, Dcio de Almeida. Histria concisa do teatro brasileiro. So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo, 2003.
______. O Teatro brasileiro moderno. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1996.
RAHNER, Karl; VORGRIMLER, Herbert. Petit dictionnaire de thologie catholique. Paris: Seuil, 1970.
RICUR, Paul. lcole de la phnomnologie. 1. ed. 1986. Paris: Vrin, 2004.
______. Du texte laction. 1. ed. 1986. Paris: Seuil, 1998. (Poche, 377).
______. Lidentit narrative. Esprit, Paris, n. 7-8, jul.-ago. 1988, trimestral, p. 295-314.
______. La critique et la conviction. Paris: Calmann-Lvy, 1995.
______. La mtaphore vive. 1. ed. 1975. Paris: Seuil, 2002. (Poche, 347).
______. Leituras I: em torno ao poltico. So Paulo: Loyola, 1995.
______. O Discurso da ao. Lisboa: Edies 70, 1988.
218
______. O discurso e a cidade. So Paulo: Duas Cidades, 1993.
______. Parcours de la reconnaissance: trois tudes. Paris: ditions Stock, 2004.
______. Rflexion faite: autobiographie intellectuelle. Paris: ditions Esprit, 1995.
______. Soi-mme comme un autre. 1. ed. 1990. Paris: Seuil, 1996. (Poche, 330).
______. Temps et rcit. vol. 1 1. ed. 1983. Paris: Seuil, 1991. 3 volumes. (Poche, 227).
______. Temps et rcit. vol. 2. 1. ed. 1984. Paris: Seuil, 1991. 3 volumes. (Poche, 228).
______. Temps et rcit. vol. 3. 1. ed. 1985. Paris: Seuil, 1991. 3 volumes. (Poche, 229).
ROMERO, Slvio. Histria da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Jos Olympio; Braslia: INL,
1980.
ROSENFELD, Anatol. O mito e o heri no moderno teatro brasileiro. 2. ed. So Paulo: Perspectiva,
1996.
______. O teatro pico. 4. ed. So Paulo: Perspectiva, 1997.
ROTHE, Flvio, R. O Heri. So Paulo: Ed. tica, 1985.
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introduo anlise do teatro. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
TOMACHEVSKI, B. Temtica. In: TOLEDO, Dionsio (org.) Teoria da literatura. Formalistas russos.
Porto Alegre: Editora Globo, 1978.
TRADUO ECUMNICA DA BBLIA TEB. So Paulo: Edies Loyola, 1994.
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. So Paulo: Perspectiva, 2005.
VERSSIMO, Jos. Histria da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Topbooks, 1998.
VICENTE, Gil. Stiras sociais. Introd. e notas de Maria de Lourdes Saraiva. Mira-Sintra Mem
Martins: Publicaes Europa, 1975.
VV.AA. Dictionary of Theatre. Londres: Penguin Books, 2004.
XAVIER, Elias Dias, A biotica e o conceito de pessoa. Disponvel em:
<http://www.portalmedico.org.br/revista/bio2v8/simpo2.pdf>. Acesso em: 31 out. 2006).
Potrebbero piacerti anche
- Panorama Sobre o TabernáculoDocumento31 paginePanorama Sobre o TabernáculoFredson Afonso De Oliveira Costa100% (2)
- Meditação para iniciantes: um guia passo a passoDocumento21 pagineMeditação para iniciantes: um guia passo a passojohnnykpvNessuna valutazione finora
- Instrumentos Populares PortuguesesDocumento36 pagineInstrumentos Populares PortuguesesburnononoNessuna valutazione finora
- Metodologias de Malba Tahan para melhoria do ensino de matemáticaDocumento21 pagineMetodologias de Malba Tahan para melhoria do ensino de matemáticapissiniNessuna valutazione finora
- Simulado Concurso Professor de Educacao Fisica Questoes Concurso Pedagogia Simulado Avaliacao Da AprendizagemDocumento5 pagineSimulado Concurso Professor de Educacao Fisica Questoes Concurso Pedagogia Simulado Avaliacao Da AprendizagemviniciuslymaNessuna valutazione finora
- O Deus da misericórdia e o povo que espera por elaDocumento4 pagineO Deus da misericórdia e o povo que espera por elajcbneves7558Nessuna valutazione finora
- Asa Branca - Instrumentos Baião 1 AnoDocumento2 pagineAsa Branca - Instrumentos Baião 1 AnomonimiuxaNessuna valutazione finora
- Como se portar no bondeDocumento3 pagineComo se portar no bondeJoão Mário SantanaNessuna valutazione finora
- O Ator No Processo Colaborativo Do Teatro Da VertigemDocumento9 pagineO Ator No Processo Colaborativo Do Teatro Da VertigemRaquel MoralesNessuna valutazione finora
- O Rouxinol e A Rosa - Oscar WildeDocumento6 pagineO Rouxinol e A Rosa - Oscar WildeNilton RosaoNessuna valutazione finora
- Avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa para o 7o anoDocumento8 pagineAvaliação diagnóstica de Língua Portuguesa para o 7o anoJanieRodriguesNessuna valutazione finora
- Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Energia: Lista de ExercíciosDocumento7 pagineTransitórios Eletromagnéticos em Sistemas de Energia: Lista de ExercíciosRenato Kobayashi JuniorNessuna valutazione finora
- Fala Comigo Doce Como A Chuva - Tennesse Williams PDFDocumento5 pagineFala Comigo Doce Como A Chuva - Tennesse Williams PDFpedroteixeira1Nessuna valutazione finora
- Camisinha femininaDocumento2 pagineCamisinha femininaAndressaLelli100% (1)
- Casa de boneca: Nora e Cristina conversam sobre suas vidasDocumento61 pagineCasa de boneca: Nora e Cristina conversam sobre suas vidasMario Matiello71% (7)
- Licenciatura em Letras - Plano de curso Didática IDocumento6 pagineLicenciatura em Letras - Plano de curso Didática Ithais_scogNessuna valutazione finora
- Propriedades do AAQ-IIDocumento11 paginePropriedades do AAQ-IIWeslley CarneiroNessuna valutazione finora
- Alexandre Cumino - Ciência de UmbandaDocumento2 pagineAlexandre Cumino - Ciência de UmbandaDavidWSNessuna valutazione finora
- Lendas Da AmazôniaDocumento4 pagineLendas Da AmazôniaTonny AquinoNessuna valutazione finora
- Poesia Épica No Arcadismo Brasileiro - Lit. Brasileira IDocumento16 paginePoesia Épica No Arcadismo Brasileiro - Lit. Brasileira IPamella Pinto100% (5)
- Sobre Nós e Vocês - Mensagem Do Povo Azul de Orion.Documento13 pagineSobre Nós e Vocês - Mensagem Do Povo Azul de Orion.JessikaNessuna valutazione finora
- Dicas De Tradução Em Língua LatinaDa EverandDicas De Tradução Em Língua LatinaNessuna valutazione finora
- Ricardo AleixoDocumento4 pagineRicardo AleixoRimbaud32Nessuna valutazione finora
- MACSDocumento63 pagineMACSPaideia Orientação EducativaNessuna valutazione finora
- Kevin Kelly - para Onde Nos Leva A TecnologiaDocumento16 pagineKevin Kelly - para Onde Nos Leva A TecnologiaShirlei AlvesNessuna valutazione finora
- BORGES - Ficções (A Forma Da Espada)Documento4 pagineBORGES - Ficções (A Forma Da Espada)Osvaldo FerreiraNessuna valutazione finora
- Artigo Analise Comparativa Entre A Obra e o Filme Auto Da CompadecidaDocumento11 pagineArtigo Analise Comparativa Entre A Obra e o Filme Auto Da CompadecidaCorrea Luciane100% (1)
- Um Mar de Escolas: Mergulhos na História da Educação (1850-1980)Da EverandUm Mar de Escolas: Mergulhos na História da Educação (1850-1980)Nessuna valutazione finora
- Runas Da URDocumento2 pagineRunas Da URPablo BetancorNessuna valutazione finora
- Calendário Acadêmico 2022 PUC MinasDocumento2 pagineCalendário Acadêmico 2022 PUC MinasThaisa Torres BotelhoNessuna valutazione finora
- Resumo de artigo científicoDocumento22 pagineResumo de artigo científicoMariah BezerraNessuna valutazione finora
- Roteiro aborda racismo estrutural e violência policialDocumento9 pagineRoteiro aborda racismo estrutural e violência policialRODRIGO BRITO SERAFIM0% (1)
- Registro de Práticas PedagógicasDocumento131 pagineRegistro de Práticas PedagógicasRafael Silva CavalcanteNessuna valutazione finora
- Slides SarauDocumento9 pagineSlides SarauLEOSYLVANessuna valutazione finora
- Estrutura Na PoesiaDocumento40 pagineEstrutura Na PoesianicotoshNessuna valutazione finora
- Atividade III Unidade 2021.1 - Cronograma - 19-10-2012 (1) BsiDocumento39 pagineAtividade III Unidade 2021.1 - Cronograma - 19-10-2012 (1) BsiOdete Rocha da SilvaNessuna valutazione finora
- Livros Álgebra e MatemáticaDocumento15 pagineLivros Álgebra e MatemáticaTiago CaetanoNessuna valutazione finora
- Sintagma e ParadigmaDocumento9 pagineSintagma e Paradigmanubess1Nessuna valutazione finora
- Questão Prova Objetiva 1 Fundamento de FisicaDocumento6 pagineQuestão Prova Objetiva 1 Fundamento de Fisicanatalia costaNessuna valutazione finora
- História da Dança no Mundo e BrasilDocumento3 pagineHistória da Dança no Mundo e Brasilfabio_muniz_12Nessuna valutazione finora
- d15 3c2aa Sc3a9rie Ens Mc3a9dio L PDocumento8 pagined15 3c2aa Sc3a9rie Ens Mc3a9dio L PLuan Dreiz100% (1)
- Plano Curricular da Educação Básica do AmapáDocumento266 paginePlano Curricular da Educação Básica do Amapáelianemarreiros60% (5)
- Exercícios Rec Física - 2 Série - VetoresDocumento9 pagineExercícios Rec Física - 2 Série - VetoresAntonio Silva50% (2)
- PO-19-TAQ-04 - Abertura e Fechamento de Ligação Flangeada Rev2Documento14 paginePO-19-TAQ-04 - Abertura e Fechamento de Ligação Flangeada Rev2Hugo RanquiniNessuna valutazione finora
- A Árvore dos Meus AmigosDocumento1 paginaA Árvore dos Meus AmigosFernando FelixNessuna valutazione finora
- Atividade Complementar B2 - 2Documento1 paginaAtividade Complementar B2 - 2dgbezerraNessuna valutazione finora
- Base Escola S Valid A DasDocumento135 pagineBase Escola S Valid A DasRafa BorgesNessuna valutazione finora
- 3 - Falsificação Da Chuva Serôdia em 1914Documento10 pagine3 - Falsificação Da Chuva Serôdia em 1914Angelo SilvaNessuna valutazione finora
- História do violãoDocumento6 pagineHistória do violãoGislaineNessuna valutazione finora
- QUESTÕES SSA1 e SSA2 - GEMDocumento9 pagineQUESTÕES SSA1 e SSA2 - GEMLívia CoutoNessuna valutazione finora
- Projeto Gincana MissionáriaDocumento10 pagineProjeto Gincana MissionáriaMirelle AparecidaNessuna valutazione finora
- Deus restaura BartimeuDocumento12 pagineDeus restaura Bartimeufilipe alvesNessuna valutazione finora
- Diferença entre grupo vocal e coralDocumento3 pagineDiferença entre grupo vocal e coralronaldNessuna valutazione finora
- O Significado Da Cruz Celta para o Presbiterianismo Reformado - MADocumento5 pagineO Significado Da Cruz Celta para o Presbiterianismo Reformado - MACarlos VasquesNessuna valutazione finora
- APS PênduloDocumento16 pagineAPS PênduloLuiz Fernando F. De AndradeNessuna valutazione finora
- Evento comunitário no Teatro ItapicuraíbaDocumento1 paginaEvento comunitário no Teatro ItapicuraíbaMarcelo AlvesNessuna valutazione finora
- Correçao Exercícios 3anoDocumento3 pagineCorreçao Exercícios 3anojhemerson lobato0% (2)
- Classificacao Quadro Geral-TODocumento764 pagineClassificacao Quadro Geral-TONoVitrineNessuna valutazione finora
- Memória, Alteridade, Performance - Narrativas e Poéticas Da e Sobre A AmazôniaDocumento160 pagineMemória, Alteridade, Performance - Narrativas e Poéticas Da e Sobre A AmazôniaSocorro CordeiroNessuna valutazione finora
- Circuito Série e ParaleloDocumento6 pagineCircuito Série e Paraleloandersonlima21Nessuna valutazione finora
- A Prova Operatoria Ressignificando BloomDocumento6 pagineA Prova Operatoria Ressignificando BloomAna Paula GurgelNessuna valutazione finora
- Roteiro de Plano de Aula - Trilha 3 - LudmilaDocumento2 pagineRoteiro de Plano de Aula - Trilha 3 - LudmilaLudmila Tonelo100% (1)
- AAP - Recomendações de Língua Portuguesa - 3 Série Do Ensino MédioDocumento32 pagineAAP - Recomendações de Língua Portuguesa - 3 Série Do Ensino MédioWilliam Ruotti0% (1)
- Análise crítica sobre os avanços e retrocessos da Lei no 9.394/96Documento3 pagineAnálise crítica sobre os avanços e retrocessos da Lei no 9.394/96Silvia Pegoraro Generoso100% (1)
- Exercícios Colocação Pronominal, Crase e QUE e SEDocumento3 pagineExercícios Colocação Pronominal, Crase e QUE e SEasassenzaNessuna valutazione finora
- CAP37-Lothar MeyerDocumento2 pagineCAP37-Lothar MeyerMárcio Marques MartinsNessuna valutazione finora
- Resolução atividades complementares físicaDocumento27 pagineResolução atividades complementares físicaJucelino Santos CarvalhoNessuna valutazione finora
- Aula 7 - Mec Solidos 1 - Centro de Gravidade, Centro de Massa e CentroideDocumento16 pagineAula 7 - Mec Solidos 1 - Centro de Gravidade, Centro de Massa e Centroideyayamuhohjomail.comNessuna valutazione finora
- Listagem Geral Por Local Votacao Pt2012Documento939 pagineListagem Geral Por Local Votacao Pt2012chinabhzNessuna valutazione finora
- "A Escola": Memórias de um Jornal Codoense (1916-1920)Da Everand"A Escola": Memórias de um Jornal Codoense (1916-1920)Nessuna valutazione finora
- As Tramas Formadas Pela Psicossociologia e A HermenêuticaDocumento19 pagineAs Tramas Formadas Pela Psicossociologia e A HermenêuticaLucas PassosNessuna valutazione finora
- Interface entre Literatura e FísicaDocumento152 pagineInterface entre Literatura e Físicahecaicedo77Nessuna valutazione finora
- AGUIAR, Saulo Santana De. Mímesis e Didáxis Uma Investigação Acerca Da Poesia Didática em Hesíodo e LucrécioDocumento256 pagineAGUIAR, Saulo Santana De. Mímesis e Didáxis Uma Investigação Acerca Da Poesia Didática em Hesíodo e Lucréciojamersonvitorsilvadelira36Nessuna valutazione finora
- Plano Leitura PDFDocumento1 paginaPlano Leitura PDFAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Regras de uso da vírgula em pontuárioDocumento3 pagineRegras de uso da vírgula em pontuárioAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Grade Unidade PinheirosDocumento2 pagineGrade Unidade PinheirosAndressaLelliNessuna valutazione finora
- OioiDocumento2 pagineOioiAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Reflexão Máscaras - Andressa Lelli 18.04Documento2 pagineReflexão Máscaras - Andressa Lelli 18.04AndressaLelliNessuna valutazione finora
- Regulamento de InscriçãoDocumento8 pagineRegulamento de InscriçãoAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Roteiro Revisado - Versão 27.08.18Documento72 pagineRoteiro Revisado - Versão 27.08.18AndressaLelliNessuna valutazione finora
- Modelo de Ficha.Documento2 pagineModelo de Ficha.AndressaLelliNessuna valutazione finora
- Regulamento de InscriçãoDocumento8 pagineRegulamento de InscriçãoAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Resenha Criìtica - Black TieDocumento4 pagineResenha Criìtica - Black TieAndressaLelliNessuna valutazione finora
- TextoDocumento1 paginaTextoAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Fala Comigo Doce Como A Chuva Tennesse Williams PDFDocumento1 paginaFala Comigo Doce Como A Chuva Tennesse Williams PDFAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Modelo Novo 07032018Documento1 paginaModelo Novo 07032018AndressaLelliNessuna valutazione finora
- BonadioMariaClaudia PDFDocumento295 pagineBonadioMariaClaudia PDFbernardeteNessuna valutazione finora
- Análise Da Peça MDocumento3 pagineAnálise Da Peça MAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Memorial CronologiaDocumento4 pagineMemorial CronologiaAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Entrevista Marcos Torres BSMDocumento12 pagineEntrevista Marcos Torres BSMAndressaLelliNessuna valutazione finora
- 14 How Stange - Rue PlumetDocumento2 pagine14 How Stange - Rue PlumetAndressaLelliNessuna valutazione finora
- OiDocumento1 paginaOiAndressaLelliNessuna valutazione finora
- O Papel Do Corpo No Corpo Do AtorDocumento177 pagineO Papel Do Corpo No Corpo Do AtorAndressaLelli100% (1)
- Aula 5 - 1. Malagueta, Perus e BacanaçoDocumento39 pagineAula 5 - 1. Malagueta, Perus e BacanaçoAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Se Pelo Menos A Cor Lhe Voltasse Aos OlhosDocumento1 paginaSe Pelo Menos A Cor Lhe Voltasse Aos OlhosAndressaLelliNessuna valutazione finora
- Normas Jurídicas ABNTDocumento15 pagineNormas Jurídicas ABNTAndressaLelliNessuna valutazione finora
- ABNT - Referência de Docs JurídicosDocumento15 pagineABNT - Referência de Docs JurídicosAndressaLelliNessuna valutazione finora
- O Papel o Dever e o Poder Do Juiz - Gustavo Torres Rebello HortaDocumento88 pagineO Papel o Dever e o Poder Do Juiz - Gustavo Torres Rebello HortaAlexander SteeleNessuna valutazione finora
- As Três Dimensões Do Caráter CristãoDocumento6 pagineAs Três Dimensões Do Caráter CristãoHéber Vinícius AbadeNessuna valutazione finora
- Unidades de Cuidados ProlongadosDocumento29 pagineUnidades de Cuidados ProlongadosDionisiosemedoNessuna valutazione finora
- Os participantes da reunião mediúnicaDocumento32 pagineOs participantes da reunião mediúnicaJoao Paulo100% (2)
- Sintagma Frankenstein Gui 17 de Jun Reescrito Aos 7 e 8 de JulDocumento14 pagineSintagma Frankenstein Gui 17 de Jun Reescrito Aos 7 e 8 de JulCentro Acadêmico LINCOMNessuna valutazione finora
- Ensino de Física Laboratório Didático Formação ProfessoresDocumento11 pagineEnsino de Física Laboratório Didático Formação ProfessoresJosé Antonio Ferreira PintoNessuna valutazione finora
- Revisão de Simulado sobre Teorias AdministrativasDocumento3 pagineRevisão de Simulado sobre Teorias AdministrativasMarcio Peregini100% (1)
- Implementação de Redes Neurais Artificiais utilizando JavaDocumento7 pagineImplementação de Redes Neurais Artificiais utilizando JavaTiago LisboaNessuna valutazione finora
- 03 Licao Os PastoresDocumento4 pagine03 Licao Os PastoresPalhaço PopNessuna valutazione finora
- Anotações Constitucional TRT Cers. Aula 1Documento12 pagineAnotações Constitucional TRT Cers. Aula 1Anonymous hKVBSkNessuna valutazione finora
- A Porção Dobrada Do Espírito SantoDocumento2 pagineA Porção Dobrada Do Espírito SantoJoaoFugantiNessuna valutazione finora
- 22 03 12 18da Doenca A DesordemDocumento286 pagine22 03 12 18da Doenca A DesordemSombrianyxNessuna valutazione finora
- Guião Do FilmeDocumento3 pagineGuião Do FilmeCátia EliasNessuna valutazione finora
- A obra multifacetada de Mira SchendelDocumento12 pagineA obra multifacetada de Mira SchendelÉrico FumeroNessuna valutazione finora
- Análise Shift-Share Sul 2005-2008Documento12 pagineAnálise Shift-Share Sul 2005-2008economistacaseNessuna valutazione finora
- Lógica proposicionalDocumento7 pagineLógica proposicionalNathanael LacerdaNessuna valutazione finora
- Valores e superação de atletas e familiares com deficiênciaDocumento3 pagineValores e superação de atletas e familiares com deficiênciaEduardo MachadoNessuna valutazione finora
- Fragmentos UrbanosDocumento36 pagineFragmentos Urbanos1IQUIMNessuna valutazione finora
- CT6Documento4 pagineCT6Andreia TeixeiraNessuna valutazione finora
- LÚCIO KREUTZ A Educação de Imigrantes No Brasil PDFDocumento25 pagineLÚCIO KREUTZ A Educação de Imigrantes No Brasil PDFBreno FernandesNessuna valutazione finora