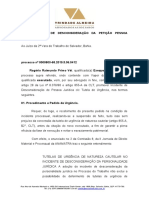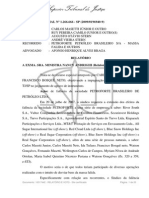Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Revista DeJure - 01
Caricato da
MiguelCelestinoChissaqueTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Revista DeJure - 01
Caricato da
MiguelCelestinoChissaqueCopyright:
Formati disponibili
REVISTA JURDICA
MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIA
CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIOAMENTO
FUNCIONAL
REVISTA JURDICA
MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
Rev.Jurd.
Ministrio v. abr. Belo Imprensa 400
Pblico 1 1997 Horizonte Oficial P.
Capa
Edifcio-Sede da Procuradoria-Geral de
Justia do Estado de Minas Gerais
Ficha Catalogrfica
MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Centro de Estudos e
Aperfeioamento Funcional.Revista J urdica do Ministrio Pblico, v.1. (abril de
1997). Belo Horizonte, Imprensa Oficial.
v.1. - 1997
1 - Direito - Peridico - Minas Gerais 2 - Ministrio Pblico - Centro de Estudos
e Aperfeioamento Funcional.
Procuradoria-Geral de Justia
do Estado de Minas Gerais
Procurador-Geral
Epaminondas Fulgncio Neto
Corregedora-Geral
Ruth Lies Scholte Carvalho
Procurador-Geral Adjunto
Marcos Viola de Carvalho
Chefe de Gabinete
Antnio de Pdua Pontes
Secretrio-Geral
Bertoldo Mateus de Oliveira Filho
Diretora-Geral
Mriam Pereira Esteves de Sousa
Diretor do Centro de
Estudos e Aperfeioamento Funcional
Antnio Lopes Neto
Resoluo PGJ n
0
09/96
de 04/03/96
Institui a publicao da Revista Jurdica
do Ministrio Pblico do Estado de
Minas Gerais
O Procurador-Geral de
J ustia, no exerccio de suas atribuies, com
fundamento nos artigo 18, XI e XII, e 265, da
Lei Complementar n 34/94, resolve instituir a
publicao da Revista J urdica do Ministrio
Pblico do Estado de Minas Gerais, na forma
desta Resoluo.
Art. 1 A Revista J urdica
rgo de divulgao dos trabalhos jurdicos
de interesse dos membros do Ministrio
Pblico de Minas Gerais.
Pargrafo nico. A Revista
J urdica do Ministrio Pblico do Estado de
Minas Gerais ser publicada, divulgada e
distribuda pela Procuradoria-Geral de
J ustia, integrando a estrutura organizacional
do Centro de Estudos e Aperfeioamento
Funcional.
Art. 2 O Conselho Editorial
da Revista J urdica ser presidido pelo
Procurador-Geral de J ustia e composto pelo
Corregedor-Geral do Ministrio Pblico, pelo
Diretor do Centro de Estudos e
Aperfeioamento Funcional, pelo membro
mais antigo da Cmara de Procuradores de
J ustia, pelo membro mais antigo do
Conselho Superior do Ministrio Pblico, por
dois Procuradores de J ustia e por dois
Promotores de J ustia, em atividade ou no,
designados pelo Procurador-Geral de J ustia.
Art. 3 Compete ao
Conselho Editorial:
I - promover a divulgao
das atividades da Revista J urdica;
II - indicar, entre os
componentes, o coordenador das funes de
seleo dos trabalhos remetidos para
publicao;
III - aprovar, na forma do
inciso anterior, a publicao dos trabalhos
selecionados;
IV - definir a periodicidade
da publicao da Revista J urdica, zelando
por sua regularidade;
V - participar de seminrios,
debates ou outra forma de intercmbio
cultural, atravs do respectivo coordenador ou
outro membro escolhido;
VI - acompanhar a aplicao
dos recursos financeiros destinados ao
custeio das atividades desenvolvidas;
VIl - apresentar,
trimestralmente, relatrio dos trabalhos
desempenhados;
VIII - exercer outras
atribuies compatveis com a sua finalidade.
Art. 4 A condio de
componentes do Conselho Editorial
observar, em relao ao Procurador-Geral
de J ustia, ao Corregedor-Geral do Ministrio
Pblico, ao Diretor do Centro de Estudos e
Aperfeioamento Funcional e aos integrantes
dos rgos Colegiados, o prazo de exerccio
no cargo respectivo.
Pargrafo nico. Os
Procuradores e Promotores de J ustia,
designados na forma do artigo 2, integraro
o Conselho Editorial pelo prazo de um ano,
permitida a reconduo.
Art. 5 A reunio do
Conselho Editorial ocorrer na forma do
calendrio aprovado por seus integrantes.
Art. 6 A Revista J urdica
ser distribuda gratuitamente entre os
membros do Ministrio Pblico, para as
bibliotecas mantidas por estabelecimentos de
ensino na rea jurdica e para as entidades de
classe que exeram atividades culturais
assemelhadas.
Art. 7 A Procuradoria-Geral
de J ustia poder firmar convnios ou outra
forma de intercmbio cultural para a
publicao, divulgao e distribuio da
Revista J urdica.
Art. 8 A Procuradoria-Geral
de J ustia promover o custeio das atividades
da Revista J urdica, atravs de recursos
oramentrios prprios ou destinados ao
Centro de Estudos e Aperfeioamento
Funcional.
Art. 9 Esta Resoluo entra
em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.
Belo Horizonte, 4 de maro de 1996.
EPAMINONDAS FULGNCIO NETO
Procurador-Geral de J ustia
Revista Jurdica
Ministrio Pblico do
Estado de Minas Gerais
Conselho Editorial
Presidente
Procurador-Geral de Justia
Epaminondas Fulgncio Neto
Corregedora-Geral do Ministrio Pblico
Ruth Lies Scholte Carvalho
Diretor do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional
Antnio Lopes Neto
Procuradores de Justia
Antnio Carlos de Barros
Francisco Mrcio Martins Miranda Chaves
Edilson Olmpio Fernandes
Joo Cancio de Melo Junior
Promotores de Justia
Antnio de Pdua Pontes
Selma Maria Ribeiro Arajo
Obra publicada pela Procuradoria-Geral de Justia por intermdio do
Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional
Coordenao Editorial
Procurador de Justia Antnio Lopes Neto
Diretor do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional
Digitao, reviso, projeto grfico, normalizao bibliogrfica, editorao
eletrnica e impresso de laser film
Setor de Publicaes do Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional
Cristina Pedrosa Garabini - Marco Antnio Gibim - Maria Amlia Brando
Szuster - Marise Borges de Mattos Carneiro - Merchid Milen Filho - Rizza
Marina de Freitas Santos
Endereo
Av. Alvares Cabral n 1.690 - 10 andar - Santo Agostinho
Belo Horizonte - CEP 30170-001
Tel.: (031) 330.8181 - 330.8182 - 330.8028
Fax: (031)330.8027
Estrutura
do Centro de Estudos e
Aperfeioamento Funcional
Diretoria
Setor Administrativo Setor de Publicaes Setor de
Superviso de Estgios
Ncleo de Pesquisas Jurdicas
Belo Horizonte
Ncleos de Estudos Jurdicos
Barbacena
"Procurador de J ustia Helvcio Miranda Magalhes"
Coordenadora: Promotora de J ustia Dilma J ane Couto Carneiro Santos
Itana
"Procurador de J ustia J os Valeriano Rodrigues"
Coordenador: Promotor de J ustia Franklin Higino Caldeira Filho
Montes Claros
"Promotor de J ustia Alberto Eduardo Arajo Barreto"
Coordenadora: Promotora de J ustia Tereza Ligia Franco Manha
Pouso Alegre
"Promotor de J ustia Carlos Ferreira Brando"
Coordenador: Promotor de J ustia Daniel Francisco dos Santos
Tefilo Otoni
"Procurador de J ustia Cristovam J oaquim Fernandes Ramos"
Coordenador: Promotor de J ustia Cristovam J oaquim Fernandes Ramos Filho
Ub
"Promotor de J ustia Levindo Ozanam Coelho"
Coordenador: Promotor de J ustia Andr Resende Padilha
Uberaba
"Promotor de J ustia Luciano J ustiniano Ribeiro
Coordenadora: Promotora de J ustia Miralda Dias Dourado
Uberlndia
"Promotor de J ustia Nilson Marques de Souza
Coordenador: Promotor de J ustia Luiz Henrique Acquaro Borsari
Varginha
"Promotor de J ustia Celso Ribeiro Lima
Coordenador: Promotor de J ustia Raphael Garcia Monteiro
Viosa
"Procurador de J ustia Sizenando Rodrigues de Barros Filho
Coordenador: Promotor de J ustia Fernando antnio Nogueira Galvo da Roei
APRESENTAO
A realizao de atividades culturais, como
instrumento permanente de aprimoramento profissional dos
membros do Ministrio Pblico, apresenta-se nos dias atuais
como necessidade indeclinvel no desenvolvimento das
finalidades institucionais do Parquet.
A par disso, a produo intelectual a marca
indelvel, o elemento que registra e esclarece a importncia
do indivduo no contexto social vivido. Os livros permanecem
no tempo como a memria inamovvel do homem, sondando-
lhe o esprito no exato instante em que perpassam os xitos,
as agruras, o desfolhar da esperana, o renascimento dos
ideais, os avanos e recuos da experincia humana.
O lanamento, no mercado editorial, de uma
revista produzida no Ministrio Pblico de Minas Gerais foi,
durante certa poca, apenas um projeto, seno uma inteno
quase sonhadora. O objetivo, no entanto, mereceu a
coragem definitiva de Procuradores e Promotores de J ustia,
convertendo-se na realidade deste nmero inaugural.
Mas se a implantao da obra jurdica enseja,
por si s, motivao suficiente para o justo orgulho de todos,
preciso notar que se caminhou muito adiante. A qualidade
dos artigos, a inteligncia de seus autores, a relevncia e o
alcance doutrinrio dos pensamentos expendidos so
concluses que emergem naturalmente do seu manuseio e
leitura.
A semente impelida ao solo no demandou,
para a metamorfose em fruto, outra exigncia alm da f na
chance de germinao. Sim, pois j admoestou Edoardo
Giusti:
importante saber correr riscos que se
apresentam, concedendo-se, sem muita
ansiedade, a possibilidade de errar. O medo
de errar muitas vezes paralisa a ao,
mantendo a imobilidade. Uma vida sem erros
vida sem crescimento.
Na condio de Procurador-Geral de J ustia
conforta-me o estabelecimento da proposta inserida no
programa de gesto, sentimento precedido pela certeza de
que a conquista devida, sobretudo, participao dos
valorosos integrantes da Instituio. Em decorrncia,
consigno, de modo extensivo a todos os colaboradores, o
agradecimento pessoal ao Procurador de J ustia antnio
Lopes Neto que, na direo do Centro de Estudos e
Aperfeioamento Funcional, reservou os melhores esforos
para a tarefa vitoriosa de promover a edio da Revista
J urdica do Ministrio Pblico.
Epaminondas Fulgncio Neto
Procurador-Geral de Justia
SUMRIO
DOUTRINA
A Desjuridicizao dos Procedimentos de Jurisdio
Voluntria Civil e Penal. - Atividade de Mera Fiscalizao -
Atribuio Exclusiva do Ministrio Pblico
Cludio de Barros Pinheiro - Promotor de J ustia ....................... 29
Acesso Frutfero Justia e a Realizao dos Direitos
Geraldo de Faria Martins da Costa - Promotor de J ustia ........... 51
Alguns Aspectos sobre a Reforma do Cdigo Penal
Alexandre Victor de Carvalho - Procurador de J ustia ................ 59
Comentrios sobre a Aplicao da Pena em Crime
Continuado
Duarte Bernardo Gomes - Procurador de J ustia ........................ 107
Crimes Omissivos e Dolo Eventual
Hlvio Simes Vidal - Promotor de J ustia ................................. 117
Do Exerccio das Atribuies Constitucionais do Ministrio
Pblico e de sua Atuao junto ao Tribunal de Contas
Estadual
Mrcio Etienne Arreguy - Promotor de J ustia ............................ 143
Do Valor Instrutrio do Inqurito Civil
Luciano Luz Badini Martins - Promotor de J ustia........................ 151
Independncia Funcional e Obedincia Hierrquica:
Princpios Harmnicos no Ministrio Pblico
J os antnio de Lemos Sobrinho - Procurador de J ustia .......... 159
Juizados Especiais e Defesa do Consumidor
J ane Ribeiro da Silva - J uza do Tribunal de Alada ................... 165
O Movimento Mundial dos Consumidores do Sculo XXI
Mrio Frota - Presidente da Associao Internacional de Direito
do Consumidor - Vice-Presidente da Associao Europia de
Direito Farmacutico - Presidente da Associao Portuguesa de
Direito do Consumo APDC ........................................................ 189
O Princpio da Moralidade Administrativa no Direito
Brasileiro
Galba Cotta de Miranda Chaves - Promotor de J ustia
J esus Augusto Carvalho Filho - Acadmico/Estagirio do
Ministrio Pblico (Colaborador) .................................................. 221
Os Direitos Polticos no mbito do Direito Eleitoral e
Partidrio: Perspectivas Atuais e Futuras
J oel J . Cndido - Escritor, Professor e Advogado ......................... 273
Polmica Constitucional do Princpio da Oportunidade na
Remisso
Simone Montez Pinto - Promotora de J ustia .............................. 281
Reflexes sobre a Culpa na Separao Judicial
Selma Maria Ribeiro Arajo - Promotora de J ustia ..................... 293
Roteiro Prtico para Anlise dos Expedientes Enviados pelo
TCE e Verificao de Idoneidade dos Convnios Firmados
pelos Municpios na Esfera Cvel
Marcelo Matar Diniz - Promotor de J ustia ................................... 307
" Sursis Antecipado" (Art. 89 - Lei n 9.099/95): Direito
Subjetivo do Acusado ou Mecanismo Jurisdicional nsito na
Discricionariedade Regrada do Acusador Pblico?
J os Ronald Vasconcelos de Albergaria - Promotor de J ustia .. 323
Tutela Penal do Patrimnio Gentico
Fernando A. N. Galvo da Rocha - Promotor de J ustia
Marcelo Dias Varella - Acadmico/Estagirio do Ncleo de
Estudos J urdicos Procurador de J ustia Sizenando Rodrigues
de Barres Filho.............................................................................. 339
Vida e Morte - A Tutela Jurisdicional dos Soropositivos
Fernando Rodrigues Martins - Promotor de J ustia .................... 385
Doutrina
A Desjuridicizao dos
Procedimentos de Jurisdio
Voluntria Civil e Penal - Atividade
de Mera Fiscalizao - Atribuio
Exclusiva do Ministrio Pblico
Cludio de Barros Pinheiro
Promotor de Justia
Sumrio: l - Introduo. II - A J urisdio Voluntria. Ill - Os
Procedimentos Voluntrios. IV - O J uiz nos Procedimentos
Voluntrios. V - A Instituio do Ministrio Pblico. VI - Os
Procedimentos Voluntrios e o Ministrio Pblico. Vil - Uma
Nova Ordem Legislativa. VIII - Concluso. IX - Referncias
Bibliogrficas.
l - Introduo
A proposio do tema que ousamos
apresentar para apreciao e estudo tem por escopo focalizar
dois aspectos importantes para o contexto processual em
vigor, quais sejam:
1 - a desnecessidade da intromisso da
atividade judiciria em questes processuais que no se
submetem ao princpio do contraditrio constitucional;
2 - a resoluo destas questes pelo
Ministrio Pblico.
O que se pretende deixar o rgo judicirio
mais fortalecido para cumprir sua mais sublime misso, que
a de promover com presteza e eficincia a composio de
litgios, com atuao exclusiva no contencioso jurisdicional e,
ao mesmo tempo, fortalecer a funo institucional e a
atuao funcional do Ministrio Pblico.
nosso objetivo demonstrar que o Ministrio
Pblico encontra-se estruturado orgnica e funcionalmente
para exercer funes decisrias nos procedimentos
voluntrios, podendo avocar para si a responsabilidade de
administrar interesses privados.
II - A Jurisdio Voluntria
A jurisdio voluntria, com suas
caractersticas prprias, ser o nosso norte, ser a fonte
imediata para o desenvolvimento da nossa apresentao.
E isto porque nessa seara do Direito
Processual que nos deparamos com uma funo anmala da
atividade judiciria, dado que atua fiscalizando interesses
jurdicos privados, divorciando o poder judicirio de sua
verdadeira vocao constitucional de compor conflitos de
interesses, o que s se verifica na jurisdio contenciosa.
Sabemos que a jurisdio graciosa no tem
nenhuma caracterstica jurisdicional. ela uma atividade
meramente administrativa, definida para tutelar negcios e
atos jurdicos privados que poderiam muito bem dispensar a
ingerncia jurisdicional, sem que sofressem prejuzo algum.
O eminente professor ANTNIO CARLOS
MARCATO mostra que a jurisdio voluntria tem funo
administrativa (e no jurisdicional), que tem por pressuposto
bsico um negcio ou ato jurdico, dando origem a um
procedimento (e no a um processo) que se desenvolve entre
interessados (e no entre partes), que pode ser livremente
modificado, caso sobrevenha fato superveniente, posto no
estar coberto pela coisa julgada (Cdigo de Processo Civil,
art. 1.111).
Continuando a lio, ensina o professor
MARCATO que na jurisdio voluntria inexiste litgio, e o juiz
no fica vinculado ao princpio da legalidade estrita (Cdigo
de Processo Civil, art. 1.109). Se isso no bastasse, falta-lhe
o carter substitutivo, dado que o rgo judicial no substitui
os interessados, mas participa com eles na realizao do ato
ou negcio jurdico. Por fim, diz que alguns procedimentos
podem ser instaurados por iniciativa do prprio juiz (ex
officio), vulnerando outro princpio, o da inrcia da jurisdio
(alienaes judiciais, abertura e cumprimento de testamento,
arrecadao da herana jacente etc. - Cdigo de Processo
Civil, arts. 1.113, 1.125 e 1.142, entre outros).
Resumindo, o que se tem, conforme dito,
uma fiscalizao a interesses jurdicos dos particulares nos
casos em que a identidade do sujeito ou a atividade
pretendida acarreta para o Estado Administrao o dever de
vigia.
No se justifica continuar o judicirio
encarregado de tutelar interesses voluntrios. Os tempos so
outros, as instituies se modernizaram. Assim como existem
procedimentos de interesse jurdico longe dos olhos da toga,
podendo ser citados como exemplos: a)- a habilitao para o
casamento, qui muito mais importante que o processo de
separao judicial; b)- a instituio de fundaes; c)- a fase
preliminar administrativa para regularizao de loteamentos
urbanos; d)- a emancipao do incapaz feita pelo pai e pela
me, dentre outros procedimentos, talvez bem mais
importantes que muitos da atividade voluntria, pode-se sem
dvida alguma afastar da funo jurisdicional todas as
questes referidas como de jurisdio voluntria, tanto as
elencadas na legislao processual, nominadas e
inominadas, como as da legislao extravagante.
Ill - Os Procedimentos Voluntrios
Muitas so as questes de procedimento
voluntrio espalhadas pela nossa legislao. Na sua maioria
esto elas enumeradas na legislao civil, outras so de
carter penal. Vejamos.
1 - Questes Voluntrias de Natureza Civil
O Cdigo de Processo Civil destinou um
captulo inteiro para tratar da jurisdio voluntria.
Encontramos ali as exigncias para seu processamento (arts.
1.103/1.111), assim como suas hipteses (art. 1.112), cujo rol
no taxativo, como veremos.
As Hipteses na Legislao Civil
Os procedimentos voluntrios nominados
esto elencados no Cdigo de Processo Civil. Vejamos:
1 -alienaes judiciais (arts. 1.113/1.119);
2 - separao judicial (arts. 1.120/1.124);
3 -testamentos e codicilos (arts. 1.125/1.141);
4 - herana jacente (arts. 1.142/1.158);
5 - bens dos ausentes (arts. 1.159/1.169);
6 - curatela dos interditos (arts. 1.177/1.193) e
7 - organizao e fiscalizao das fundaes (arts.
1.199/1.204).
Entretanto, muitos outros existem e a redao
do art. 1.103 do Cdigo de Processo Civil nos orienta nesse
sentido ao preceituar: "Quando esse Cdigo no estabelecer
procedimento especial, regem a jurisdio voluntria as
disposies constantes deste captulo".
Dessa forma, muitas outras questes de
procedimento voluntrio existem que no esto presentes
nominalmente naquele captulo e, podemos ento anunciar,
de modo no exaustivo, algumas outras da legislao comum
e extravagante, a saber:
I - Previstas no Cdigo Civil:
a) pedido de aprovao de estatutos de fundaes (art.
26);
b) pedido de suprimento de idade para fins matrimoniais
(art. 185);
c) pedido de suprimento de consentimento para fins
matrimoniais (art. 188);
d) pedido de nomeao de curador especial para incapaz
(art. 387);
e) ao de prestao de contas de inventariante, tutor ou
curador (art. 394);
f) ao de interdio (art. 447);
g) pedido de inscrio de hipoteca legal nas hipteses
enumeradas na lei (arts. 840/842) e
h) pedido de nomeao de curador para o ausente (art.
463).
// - Previstas no Cdigo de Processo Civil:
a) ao de prestao de contas quando competir a algum
oferec-las, onde haja interesses de incapazes (art.
914);
b) pedido de sub-rogao de vnculos (arts. 1.112, II e
1.104);
c) pedido de alienao, arrendamento ou onerao de
bens de incapazes (arts. 1.112, III e 1.104);
d) pedido de alienao de coisa comum, ou de quinho,
alienao, locao ou administrao onde haja
interesses de incapazes (arts. 1.112, IV e V 1.104).
/// - Previstas no Estatuto da Criana e do
Adolescente (Lei n 8.069/90):
a) pedido de guarda de criana ou adolescente (art. 33);
b) pedido de tutela (art. 36);
c) pedido de adoo (art. 39);
d) pedido de autorizao para viajar (art. 83);
e) pedido de curador (art. 142, pargrafo nico);
f) pedido de procedimento administrativo (art. 201, VI e
VIl).
IV- Previstas na Lei de Registros Pblicos (Lei n
6.015/73):
a) pedido de habilitao para o casamento, inclusive o
elaborado quando um dos contraentes estiver em
iminente risco de vida (arts. 67 e 76);
b) pedido de registro de casamento religioso para efeitos
civis (art. 71);
c) pedido para averbaes em geral (arts. 97/105):
d) pedido de retificao, restaurao e suprimento de
assento de registro civil (arts. 13, III e 109);
e) pedido para instituio de bem de famlia (art. 260).
V - Previstas na Lei do Divrcio (Lei n 6515/77):
a) pedido de separao consensual (art. 4);
b) pedido de divrcio consensual (art. 24);
c) pedido de converso em divrcio da separao judicial
(arts. 25 e 35).
2 - Questes Voluntrias de Natureza Penal
As Hipteses na Legislao Penal
No mbito da legislao criminal encontramos
procedimentos voluntrios tpicos para serem fiscalizados
por rgos que no os do poder judicirio, dado que melhor
atenderia os interesses do Estado e da legislao penal,
podendo a incumbncia ser promovida pelo Ministrio
Pblico.
/- Previstas no Cdigo Penal:
a) pedido para confisco dos produtos e instrumentos
usados na prtica de crimes (art. 91);
b) pedido de reabilitao (art. 93).
// - Previstas no Cdigo de Processo Penal:
a) ao para dirimir dvida acerca do estado civil das
pessoas, de cuja soluo dependa o julgamento de
processo-crime de ao pblica;
b) pedido de restituio de coisas apreendidas (art. 118);
c) pedido de hipoteca legal sobre imveis do indiciado
(arts. 134, 142 e 144);
d) pedido de seqestro de imveis adquiridos com
proventos da infrao (arts. 125, 127, 136, 147, 142);
e) o incidente de falsidade documental (art. 145);
f) o exame de insanidade mental do acusado (art. 149).
/// - Previstas na Lei das Execues Penais (Lei n
7.210/84):
a) procedimento de apurao de faltas disciplinares, com a
aplicao da medida cabvel (arts. 49/60);
b) pedido para progresso e regresso de regime de
cumprimento de pena (arts. 112/119);
c) pedido de autorizao de sada (art. 120/121);
d) pedido de sada temporria (arts. 122/125);
e) pedido de remio (arts. 126/130);
f) pedido de livramento condicional (arts. 131/146);
g) cobrana administrativa de multas penais (arts.
164/170);
h) pedido para execuo das medidas de segurana, e sua
cessao (arts. 171/175);
i) as converses (arts. 180/184);
j) pedido de anistia e indulto (arts. 187/193).
A justificativa simples, posto que tanto na
esfera civil da jurisdio voluntria, como na criminal, seus
procedimentos pautam-se pela exigncia de, to-somente,
apresentao de documentos, clculos e avaliaes, quando
muito declaraes que podem muito bem ser tomadas de
modo informal. A jurisdio voluntria , a meu aviso,
matemtica. A mera leitura de peas de informao, de
alguns dados, acerca do provimento requerido, atende ao
propsito da lei.
Alguns exemplos vo ilustrar melhor a
explanao.
a - Para a venda de bens pertencentes a incapaz, o que se
exige sua manifesta vantagem, ou necessidade, precedida
de avaliao judicial e hasta pblica (Cdigo Civil, arts. 429 e
453).
b - Para suprir a idade nbil de menor sem capacidade para
casar, exige-se a anuncia de seus pais e, quando em
estado gravdico, o atestado mdico acompanhado da
declarao de que se encontra em condies de coabitar
(Cdigo Civil, art. 180, III). Sabe-se que a ONU, pela
Conveno sobre Consentimento para Casamento, de 1962,
regulou a matria, autorizando o casamento da mulher menor
de 16 anos e do homem menor de 18 anos, desde que
existam causas justificadas e no interesse dos futuros
cnjuges, derrogando, assim, o art. 214 do Cdigo Civil.
c - Para a concesso da guarda de criana ou adolescente
necessrio juntar os documentos exigidos pelo estatuto
especial (arts. 33/35 e 165 e seguintes da Lei n 8.069/90).
d - Para a reabilitao penal ser concedida o interessado
dever comprovar, via certido, o transcurso do prazo de dois
anos do dia em que for extinta a pena ou terminar sua
execuo. Mais, comprovar domiclio no pas durante esse
binio, assim como comportamento pblico e privado e o
ressarcimento do dano causado pelo crime ou a
impossibilidade de o fazer, podendo exibir documento que
comprove a renncia da vtima ou novao da dvida (Cdigo
Penal, arts. 93/94).
Notamos que, em todas estas questes, a
presena da atividade jurisdicional desnecessria, haja
vista que inexiste litgio a ensejar sua atuao, face a
ausncia do contraditrio constitucional, e, a par disso, a
fiscalizao exercida pelos interessados e pelo Ministrio
Pblico, efetivamente, a dispensa.
IV - O Juiz nos Procedimentos Voluntrios
Aps discorrer um pouco sobre a idia que,
repito, ousamos apresentar, falaremos a respeito da posio
do magistrado nos procedimentos voluntrios.
Por imposio legislativa o juiz o rgo
estatal incumbido de apreciar e decidir as questes de
procedimento voluntrio (Cdigo de Processo Civil, art. 1).
Contudo, conforme j foi abordado,
participando destes procedimentos o Poder J udicirio se
divorcia de sua identidade constitucional, que se harmoniza
com a composio das lides, o que se observa,
exclusivamente, na jurisdio contenciosa.
Face a previso legal da atuao do Poder
J udicirio nos procedimentos voluntrios e sendo esta
distinta, como j foi visto, da contenciosa, no podem,
conseqentemente, os aios praticados em uma serem
rotulados da mesma forma.
Na jurisdio voluntria o magistrado atua
como mero gestor de interesses privados. o que se verifica
quando, no curso de um inventrio, surge uma questo de
alta indagao, momento em que o juiz remete os
interessados para discuti-la nas vias ordinrias (Cdigo de
Processo Civil, arts. 984, 1.000, pargrafo nico, e 1.001).
No havendo parte nem lide, mas apenas um
ato jurdico ou apenas um negcio jurdico processual
envolvendo o juiz e os interessados, a FUNO DO J UIZ SE
EQUIPARA DO TABELIO, ou seja, a eficcia do negcio
jurdico depende da interveno pblica do magistrado,
Nesta linha de raciocnio, o juiz, dentro da
jurisdio voluntria, por um zelo desarrazoado do legislador
em exigir sua ingerncia em atos e negcios jurdicos de
interesses privados, restringe-se a acompanhar questes
sobremaneira fiscalizadas, ora pelos interessados, ora pelo
Ministrio Pblico, de maneira que, para a validade jurdica
dos seus atos, efetivamente, no h necessidade da
chancela jurisdicional.
Tem o rgo judicirio atividade
eminentemente administrativa, ora de carter civil, ora de
cunho penal.
V - A Instituio do Ministrio Pblico
O Ministrio Pblico instituio
eminentemente independente e seus membros so
caracterizados como agentes polticos.
Os agentes polticos, entre os quais situam-
se os membros do Ministrio Pblico, so os componentes
do Governo nos seus primeiros escales, investidos de
cargos, funes, para o exerccio de atribuies
constitucionais, atuando com plena liberdade funcional,
desempenhando suas atribuies com prerrogativas prprias,
estabelecidas na Constituio e em leis especiais (Direito
Administrativo Brasileiro, 18. ed. So Paulo: Malheiros
Editores, 1993).
Os agentes polticos exercem funes
governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando
normas legais, conduzindo os negcios pblicos, decidindo e
atuando com independncia nos assuntos de sua
competncia. So as autoridade pblicas supremas do
Governo e da Administrao, na rea de sua atuao, pois
no esto hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e
limites constitucionais e legais de jurisdio (ob. citada, p.
73).
Os membros do Ministrio Pblico, de um
lado, s devem obedincia aos rgos superiores e de
direo da instituio (Procuradoria-Geral de J ustia, Colgio
de Procuradores, Conselho Superior do Ministrio Pblico e
Corregedoria-Geral do Ministrio Pblico), mormente por
deterem parcela da autoridade estatal.
Lado outro, atuam com absoluta liberdade
funcional, s submissos a sua conscincia e aos seus
deveres profissionais, pautados pela Constituio e pelas leis
regedoras da instituio (autonomia funcional).
Foi com a Constituio Federal de outubro de
1988 que o Ministrio Pblico se transformou
verdadeiramente numa instituio permanente, essencial
funo jurisdicional do Estado, tornando-se, portanto,
autnomo e imune a arbitrariedades de carter poltico e
governamental. A Carta Federal traou normas gerais de
organizao institucional e funcional para o Ministrio
Pblico, deixando, porm, as leis orgnicas especficas a
cargo de cada um dos Estados federados.
As conquistas alcanadas pelo Parquet so
memorveis e sem precedentes, jungido condio de
instituio poltica e funcional com absoluta autonomia e
independncia , at mesmo com dotao financeira exclusiva
(CF art. 127 2).
A Lei Federal n 8.625 de 12 de fevereiro de
1993 - LEI ORGNICA DO MINISTRIO PBLICO -
acompanhando as normas constitucionais dispe sobre:
a - princpios institucionais (unidade - indivisibilidade -
independncia funcional);
b - as funes institucionais (defesa e observncia da
Constituio Federal e das leis e sua execuo;
promoo da ao penal pblica; promoo do inqurito
civil pblico e da ao civil pblica);
c - a organizao de seus quadros (por meio de carreira) e
d - a autonomia administrativa e financeira.
Continuando, informa:
a - os rgos da Administrao Superior (Procuradoria-
Geral de J ustia - Colgio de Procuradores - Conselho
Superior do Ministrio Pblico);
b - os rgos de execuo (no segundo grau de jurisdio,
o Procurador-Geral de J ustia e os Procuradores de
J ustia e, no primeiro grau de jurisdio, os
Promotores de J ustia) e
c - os rgos auxiliares (Centro de Apoio Operacional -
Comisso de Concurso - Centro de Estudos e
Aperfeioamento Funcional - rgo de apoio
administrativo - os estagirios).
Aps, trata das garantias (regime jurdico
especial - independncia nas funes - garantias
constitucionais - foro especial), das prerrogativas (tratamento
especial), - vestes talares - insgnias privativas - intimao
pessoal - priso especial - comunicao e apresentao ao
Procurador-Geral de J ustia, na priso - cdula de identidade
- carteira - porte de arma) e impedimentos (exerccios do
comrcio - participao em sociedade comercial - exerccio
da advocacia).
Com sua evoluo e com a inovao das leis
o Ministrio Pblico, como instituio, vem adquirindo
prestgio e credibilidade espetaculares, sendo de reconhecer,
de modo absoluto, sua influncia decisiva e indispensvel
nos destinos polticos e jurdicos do pas.
Hoje podemos compactuar com aqueles que
sempre lutaram para ver o Ministrio Pblico como titular de
maior parcela da autoridade estatal. O Ministrio Pblico
moderno, com as recentes conquistas legislativas, no pra;
ao contrrio, continua trabalhando para seu aprimoramento
constante.
Por tudo isso , sem dvida alguma, o
Ministrio Pblico um rgo com muita identidade com o
Poder J udicirio, com estrutura e organizao eficiente, com
autoridade constitucional definida para servir administrao
da justia, naquilo que for considerado de seu interesse
pblico e privado.
VI - Os Procedimentos Voluntrios e o
Ministrio Pblico l
Sem adentrar na polmica que o tema
proporciona, nos procedimentos voluntrios tem o Ministrio
Pblico obrigao de intervir, sob pena de viciar juridicamente
o ato (Cdigo de Processo Civil, art. 1.105).
Na interveno do Ministrio Pblico existe
para o Estado-Administrao especial interesse pblico nos
atos ou negcios jurdicos dos particulares.
Compete, ento, ao Ministrio Pblico tomar
todas as providncias que entender necessrias ou
convenientes para a comprovao da veracidade dos fatos
apresentados, ou sua proteo, para que receba a chancela
autorizativa do juzo.
Assim, bastante amplo o campo de atuao
do Ministrio Pblico nos procedimentos voluntrios.
Lembrando a lio de CARLOS HENRIQUE PERPTUO
BRAGA, magistrado mineiro, as funes do Ministrio Pblico
no contexto da jurisdio voluntria so:
a- requerer (arts. 1.177, III - 1.178, 1.163, 2, - 1.188,
pargrafo nico, e 1.194);
b- ser citado (arts. 1.105 e 1.169);
c - ser representante (art. 1.182, 1 );
d- administrar bens e governar pessoas (art. 1.189);
e - elaborar estatutos (art. 1.202);
f - aprovar estatutos (arts. 1.200, 1.201 e 1.202);
g - conceder vista a processo (art. 1.203, pargrafo nico);
h - promover a extino de fundao (art. 1.204);
i - apresentar oposio (art. 1.151);
j - ser intimado (arts. 1.131, III e 1.145, 2) e
l - ser ouvido (arts. 1.122, 1, 1.126, 1.141, 1.133 e
1.172).
Conforme notamos, a atuao do Ministrio
Pblico no fica limitada a mera fiscalizao, mas tem
identidade com a prpria funo jurisdicional, qual seja, a de
administrar interesses privados, podendo, por isso mesmo,
substitu-la.
O Ministrio Pblico age inspirado nos
mesmos princpios que norteiam a atividade administrativa,
sendo eles os princpios da oportunidade e convenincia em
prol da execuo de uma funo social do Estado (por
PERPTUO BRAGA, Carlos Henrique. Revista do Curso de
Direito da Universidade Federal de Uberlndia, 1989. Vol. 18.
p. 227 e segs.)
VIl - Uma Nova Ordem Legislativa
Demonstrado que o Ministrio Pblico tem
estrutura orgnica e autoridade constitucional para atuar
como rgo decisrio das questes voluntrias, de todo
conveniente a alterao legislativa do art. 1 do Cdigo de
Processo Civil, que seria assim redigido:
Art. 1. A jurisdio civil contenciosa
exercida pelos juzes e os procedimentos voluntrios pelos
promotores de justia, em todo o territrio nacional, conforme
as disposies que este Cdigo estabelece.
Para tanto, torna-se imprescindvel um
projeto de lei ordinria, propondo a alterao da redao do
referido artigo de lei, com os consectrios alcanando todo o
captulo dos procedimentos especiais e de jurisdio
voluntria, assim como da legislao extravagante correlata,
que seria firmada pela nova ordem legislativa.
VIII - Concluso
A nova ordem constitucional consagrou
especial ateno ao Ministrio Pblico. Sua autonomia est
assegurada por um leque de garantias constitucionais,
institucionais e funcionais, chegando mesmo a autogovernar-
se, tornando-o, portanto, importante organismo estatal, com
status de um quarto poder, podendo a ele ser estendidas
muitas outras atribuies processuais e administrativas.
A estrutura orgnica do Parquet, inclusive
contando com dois rgos de execuo em segundo grau de
jurisdio que deliberam e decidem questes de natureza
penal e civil, dando a ltima palavra sobre assuntos de suas
reas de atribuio, quais sejam, o Procurador-Geral de
J ustia nos casos de parecer em pedidos de arquivamento de
inquritos policiais (art. 28 do Cdigo de Processo Penal), e o
Conselho Superior nos casos de arquivamento de inquritos
civil (art. 9 da Lei n 7.347/85), e, em primeiro grau de
jurisdio, os Promotores de J ustia nas habilitaes de
casamento (art. 67 da Lei n 6.051/73), nos procedimentos
para criao de fundaes (art. 1.199/1.204, do Cdigo do
Processo Civil), na titularidade de promover inquritos civis
(art. 5, da Lei n 7.347/85), e, por ltimo, com autoridade
para dar azo a ttulo executivo extrajudicial (art. 55, da Lei n
7.244/84), nos induz a pensar na real possibilidade de ver o
Ministrio Pblico tomando para si mais uma fatia da
autonomia estatal, aquela pertinente s questes de
jurisdio voluntria, aumentando ainda mais sua
responsabilidade frente ao ordenamento jurdico nacional.
Com estas consideraes, algumas
sugestes podem ser aventadas a ttulo de simples
contribuio.
a - .Sendo a atividade do juiz idntica do tabelio na
jurisdio voluntria, pode-se conferir ao Ministrio
Pblico a funo de resolver as questes
voluntrias, tanto as de cunho civil, como as de
carter penal;
b - o Ministrio Pblico nem por isso perderia a
legitimidade para iniciar os procedimentos voluntrios,
fazendo-o com as formalidades exigidas pela
legislao em vigor, inclusive com a notificao
compulsria de todos os interessados, se necessrio;
c - a supresso da figura do magistrado nos procedimentos
no alteraria em nada o seu ter, mas seria
abreviado, posto que o promotor oficiante, sem muito
formalismo, apreciaria os documentos e ouviria os
interessados e, se no houvesse a necessidade
de outras providncias, seria lavrado um termo
autorizativo, firmado pelo promotor de justia, para os
efeitos de direito, aproveitando-se todo o complexo
judicirio para a devida e necessria documentao da
autorizao, inclusive no que diz respeito cobrana dos
emolumentos;
d - o rgo do Ministrio Pblico responderia por
perdas e danos quando desse causa a demora, sem
justo motivo, concesso do requerimento, assim como
se procedesse com dolo, fraude ou omisso (Cdigo de
Processo Civil, art. 133);
e - os recursos, se houvesse, seriam apreciados por grupo
de Procuradores de J ustia, mediante simples
requerimento, ou mesmo via telefone ou fax, com
resposta imediata ao Promotor oficiante e,
f - quando surgisse uma questo voluntria, no curso de
um processo contencioso, seria ela resolvida pelo
magistrado, sempre com a participao do Ministrio
Pblico nos casos de interveno obrigatria.
Estas so as sugestes que apresentamos
aos colegas. Todas so possveis, necessrias e
merecedoras de ateno, eis que podero servir para tornar o
Ministrio Pblico um autntico e independente rgo poltico
e administrativo do Estado, invadindo esfera de atribuio
hoje pertencente ao Poder J udicirio, mas que, efetivamente,
prescinde da sua atuao.
Para tanto, ser necessrio contar com uma
profunda conscientizao jurdica e poltica e com algumas
mudanas legislativas, o que, com o ambiente reformador
que foi implantado no pas, poder sem dvida vir a ocorrer.
Seria a grande desburocratizao da justia
brasileira.
IX - Referncias Bibliogrficas
DELMANTO, Celso. Cdigo Penal Comentado - atualizado e
ampliado por Roberto Delmanto. 3. ed. Renovar, 1991.
GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil. Volumes 1
e 3. Saraiva, 1989.
J ESUS, Damsio Evangelista de. Cdigo de Processo
Penal Anotado. 8. ed. Saraiva, 1990.
MARCATO, antnio Carlos. Procedimentos Especiais. 2.
ed. Revista dos Tribunais, 1988. p. 199 e segs.
MAZZILI, Hugo Nigri. Manual de Promotor de Justia.
Saraiva, 1987.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil
Volume 1.15. ed. Saraiva, 1977. p. 12 e segs.
NEGRO, Theotnio. Cdigo Civil e Legislao em Vigor.
12. ed. Malheiros Editores, 1993.
NEGRO, Theotnio. Cdigo de Processo Civil e
Legislao Processual em Vigor. 24. ed. Malheiros
Editores, 1993.
Constituio Federal
J US n 5 - 1985. Revista Jurdica do Ministrio Pblico de
Minas Gerais. ZUCHERATO, J os Maria. Impedimentos e
Garantias Constitucionais, p. 121 e segs.
J US n 9 - 1990. Revista Jurdica do Ministrio Pblico de
Minas Gerais. MEIRELLES, Hely Lopes. Ministrio Pblico
Estadual - Organizao, p. 127 e segs.
J US n 10 - 1990. Revista Jurdica do Ministrio Pblico de
Minas Gerais. VALADO, Alfredo. Ministrio Pblico, p 175
e segs.
Lei Orgnica Nacional do Ministrio Pblico
Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de
Uberlndia. Volume 18 - Dezembro de 1989. BRAGA,
Carlos Henrique Perptuo. Da Imprestabilidade da
Atividade do J uiz na J urisdio Voluntria, p. 227 e segs.
Revista dos Tribunais - Volume 629/21. CLEVA, Clemerson
Merlin. Ministrio Pblico e a Reforma Constitucional.
XVIII Seminrio J urdico dos Grupos de Estudos.
Associao Paulista do Ministrio Pblico, 1990. p. 24 e
segs.
Acesso Frutfero Justia
e a Realizao dos Direitos
Geraldo de Faria Martins da Costa
Promotor de Justia
A idia de "acesso frutfero justia" foi
proclamada pelo professor KAZUO WATANABE na sua
palestra sobre o tema, proferida por ocasio do Congresso
Internacional de Responsabilidade Civil - Consumidor e Meio
Ambiente, promovido pelo BRASILCON (Blumenau, nov. /95),
tendo ela o sentido de justia efetiva ao alcance de todos.
No interessa sociedade apenas a
declarao formal dos seus direitos em textos legais. A
realizao da idia do direito pressuposto essencial da vida
social.
O conceito de direito est necessariamente
ligado pessoa que o "possui e est apta a exerc-lo".
1
1
MATA MACHADO, Edgar Godi. Elementos de Teoria Geral do Direito. Belo Horizonte:
Editora Vega S/A, 1981, p.259.
Buscando o ncleo da sua teoria sobre direito
subjetivo em obra de J ACQUES MARITAIN, que considera o
direito sob o ponto de vista tico, MATA MACHADO
vislumbra o seu contedo "a partir da noo de debitum"
2
.
Nesta perspectiva, o direito subjetivo "o que me devido, o
devido a mim, devido a mim como meu".
3
O ordenamento jurdico confere aos;
consumidores os direitos que lhes so devidos toda vez que
esses direitos so ameaados ou feridos. O direito proteo
da vida, sade e segurana, e a proteo dos seus
interesses econmicos so garantidos por normas e
princpios de ordem pblica constitucional. Saliente-se que
esta proteo tem carter preventivo e reparatrio.
A leso ou ameaa a esses direitos na
podem ser excludas da apreciao do poder judicirio. Esta
uma garantia constitucional fundamental.
Mas o problema da realizao dos direitos
individuais e coletivos est inserido no contexto da sociedade
de consumo. Nela, a produo, a comercializao e a
contratao de produtos e servios so feitas em massa. A
massa despersonalizada de vulnerveis consumidores o
alvo das mensagens publicitrias, que muitas vezes, criam
falsas necessidades de consumo. A cada dia, novos produtos
e servios so oferecidos ao consumidor. Muitos deles
inseguros ou inadequados. Colocando em risco a sua sade
ou seus interesses econmicos.
2
obra citada, p.277.
3
obra citada, p.277.
Em resumo, o consumidor, estando em
situao de desvantagem na relao de consumo, necessita
da efetivao de direitos bsicos que reequilibrem essa
relao entre desiguais.
J o sistema judicial no est suficientemente
aparelhado para solucionar o grande nmero de litgios que
decorrem das relaes de consumo.
A garantia constitucional de acesso ao
servio pblico prestado pelo poder judicirio amide se
frustra. Barreiras de toda ordem nos impedem de ter acesso
ao servio jurisdicional, impossibilitando a concretizao dos
direitos conferidos pela ordem jurdica, comprometendo ainda
mais o combalido sentimento jurdico do povo e agravando o
fenmeno da anomia social.
Fatores econmicos, culturais, psicolgicos,
entre outros, impedem que a maior parte da populao tenha
assegurado seu direito de acesso ao servio jurisdicional.
O professor francs J EAN CALAIS-AULOY,
da Universidade de Montpellier, traa com muita clareza o
quadro das dificuldades do acesso justia:
"Todo cidado que se sente lesado tem
teoricamente a liberdade de recorrer a um
tribunal para obter justia. Mas se trata de
uma liberdade formal, cujo exerccio
entravado pelo peso das realidades. Entre os
consumidores que sofrem prejuzos
causados pelos fornecedores, raros so os
que intentam individualmente uma ao na
justia. Trs obstculos os dissuadem de
faz-lo.
Inicialmente, razes psicolgicas. A
dificuldade de saber qual o tribunal
competente, a complexidade dos
procedimentos, o esoterismo da linguagem
jurdica, at a beca dos magistrados e dos
advogados fazem nascer nos simples
cidados a impresso que a justia um
mundo parte onde melhor no se
aventurar.
Um outro motivo dissuade os consumidores
de agir: a lentido da justia [...].
O custo do processo constitui a terceira
razo que impede os consumidores de
procurar a justia. As despesas so, na
maior parte dos litgios de consumo,
superiores ao interesse em jogo.
A justia est mal adaptada aos pequenos
litgios. Esta situao no pode ser tolerada,
primeiro, porque um litgio nunca pequeno
para aquele que se sente vtima de uma
injustia; e tambm porque os litgios de
consumo somente so pequenos se isolados
uns dos outros: eles tomam uma dimenso
considervel quando vistos em sua
multiplicidade."
4
A situao de debilidade estrutural do
consumidor se revela particularmente mais grave no
panorama de empobrecimento e analfabetismo da sociedade
brasileira.
4
CALAIS-AULOY, Jean. Droit de Ia Consommation. Paris: Prcis Dalloz, 3. ed., 1992, p.
353-354.
Reconhecendo esta realidade, a ONU, por
meio da Resoluo n 39/284, de 10-4-85, recomendou aos
pases membros a adoo de regras para "facilitao da
defesa dos consumidores".
Neste enfoque, o CDC estabeleceu como
direitos bsicos dos consumidores o acesso aos rgos
judicirios e administrativos, com vistas preveno ou
reparao de danos patrimoniais e morais e a facilitao da
defesa dos seus direitos.
Para a efetiva facilitao da defesa dos
direitos do consumidor, o cdigo estabeleceu instrumentos
tais como a manuteno de assistncia jurdica gratuita, a
instituio de promotorias de justia e delegacias de polcia
especializadas, a criao de varas especializadas e de
juizados especiais para a soluo de litgios de consumo e a
concesso de estmulos criao e desenvolvimento das
associaes de defesa do consumidor.
A legitimao dessas associaes e dos
PROCONS para a propositura de aes coletivas permite a
proteo de interesses meta-individuais e individuais
homogneos das massas de consumidores. So os
consumidores organizados provocando Themis para que ela
abra os seus olhos e promova a transformao das
realidades de mercado, tornando-o mais justo e juridicamente
equilibrado.
O juizado especial - bem estruturado como
instituio e bem divulgado - tem por objetivo fornecer ao
consumidor uma justia rpida, barata e efetiva para os
problemas de consumo. Ele "e a ao coletiva so
concebidos como dois mecanismos que tm como finalidade
facilitar o acesso aos tribunais e garantir o reconhecimento do
direito a um verdadeiro acesso justia".
5
Com os seus direitos concretizados, os;
consumidores se sentem mais motivados a lutar pelo direito.
Antes dispersos, se organizam cada vez mais. Ganham aj
sociedade e a sua essncia material: o direito.
A aptido dos cidados para o efetivo;
exerccio dos direitos constitudos pela ordem jurdica
depende da implementao constante do princpio da
educao e informao de fornecedores e consumidores
quanto aos seus direitos e deveres. Somente se exige ou sei
recebe o que devido quando se tem conscincia do que
devido.
Uma sociedade que se quer justa no
prescinde de renovao persistente da sua conscincia
jurdica.
A nossa cultura jurdica se consolidar
quando o direito for respeitado e cultuado como valor humana
e social.
Neste aspecto, o nosso CDC desempenha
fundamental papel, na medida em que abre perspectivas d
transformao de mentalidades e estruturas sociais, jurdica
e econmicas arcaicas, instituindo uma poltica nacional d
relaes de consumo dotada da instrumentalidade
5
LHEUREUX, Nicole. Acesso eficaz justia. Revista de Direito do Consumidor. So
Paulo: RT, n. 5, jan/mar. 93, p.21.
substancial
6
que potencializa a renovada realizao dos
direitos subjetivos individuais e coletivos.
Referncias Bibliogrficas:
CALAIS-AULOY, J ean. Droit de Ia Consommation. 3. ed..
Paris: Prcis Dalloz, 1992.
LHEUREUX, Nicole. Acesso eficaz justia. Revista de
Direito do Consumidor. So Paulo: Revista dos Tribunais, n.
5, jan/mar. 1993. p. 5/26.
MATA MACHADO, Edgar Godoi. Elementos de Teoria Geral
do Direito. Belo Horizonte: Editora Vega S/A, 1981.
NOGUEIRA, Tnia Lis Tizzoni. Direitos bsicos do
consumidor: a facilitao da defesa dos consumidores e a
inverso do nus da prova. Revista de Direito do
Consumidor. So Paulo: Revista dos Tribunais, n. 10, abr/jun
1994. p. 48/60.
WATANABE, Kazuo. Ao Civil Pblica - Reflexes aps dez
nos de aplicao - (coord. Edis Milar). So Paulo: RT,
1995.
6
Observa o prof. Kazuo Watanabe que "partem hoje os processualistas para um
instrumentalismo mais efetivo do processo, com viso mais penetrante de toda problemtica
scio-econmica-juridica" (in Ao Civil Pblica - Reflexes aps dez anos de aplicao -
(coord. dis Milar). So Paulo: RT, 1995, p. 326.
Alguns Aspectos sobre
a Reforma do Cdigo Penal
Alexandre Victor de Carvalho
Procurador de Justia
Este trabalho visa examinar a reforma do
Cdigo Penal Brasileiro, que j se iniciou e prosseguir
gradualmente, exigida por vrios setores da sociedade, com
exame de alguns aspectos das leis que j entraram em vigor
e, por outro lado, dos projetos que se encontram tramitando
no Congresso Nacional, bem como apresentar sugesto para
soluo de grave problema da legislao criminal ptria.
O tema muito amplo e complexo, razo pela
qual deliberei fracionar a exposio em quatro distintas
etapas, as quais denominei:
I - Da Subsidiariedade do Direito Penal;
II - Das Modificaes Ocorridas (Comentrios sobre alguns
aspectos;
III - Dos Projetos de Lei que Tramitam no Congresso
Nacional (Comentrios sobre alguns aspectos);
IV- Da Sugesto para Alterao na Legislao Penal
Codificada.
l - Da Subsidiariedade do Direito Penal
H no pas, induvidosamente, uma sanha
reformista, no que diz respeito legislao processual e
material.
Movida por uma idia, cada vez mais forte, de
que o aumento de ilcitos civis, penais, tributrios, comerciais,
administrativos etc., teria origem na impunidade, que por sua
vez seria ensejada pela formalidade da legislao processual
e ineficcia da legislao material, que estariam em
dissonncia com as necessidades da vida contempornea, a
parcela da sociedade que consegue exteriorizar sua opinio
e, portanto, tida como porta-voz dos anseios da
coletividade, pressiona os Poderes Executivo e Legislativo
para a efetivao das modificaes que reputa necessrias.
No conjunto destas alteraes, insere-se a
reforma do Cdigo Penal, especialmente da Parte Especial,
onde so descritos os delitos e cominadas as sanes
respectivas. que a referida poro do Diploma Penal
cinquentenria, tendo vindo tona com o Decreto-Lei n
2.848, de 7.12.1940, ao contrrio da Parte Geral, que sofreu
profunda modificao em 1984, pela Lei n 7.209, de 11 de
julho.
Se no fosse pela motivao j mencionada,
o sentimento de que a impunidade gera o aumento dos
ilcitos penais e est umbilicalmente ligada ausncia de
meios legais de coero eficaz, em virtude da caducidade do
ordenamento positivo, ainda assim justificar-se-ia o
movimento reformista.
Com efeito, conforme salienta ALBERTO
SILVA FRANCO:
"entre o Cdigo de 40 e a atualidade j
transcorreu mais de meio sculo e, nesse
lapso temporal, o mundo (e nele o Brasil) se
modificou, de modo marcante. Uma guerra
mundial e conflitos limitados foram travados.
Assistiu-se derrubada dos "muros"
ideolgicos, mas os totalitarismos
continuaram s soltas. As sociedades
modernizaram-se e os processos de
desenvolvimento tecnolgico, desprovidos de
qualquer direo tica, tiveram impulso
incomum. A energia atmica tanto foi
manipulada para o bem, como para o mal.
Avies supersnicos, satlites com as mais
variadas finalidades, e msseis reduziram os
espaos fsicos e tornaram menor o universo:
puseram em xeque a idia de soberania
nacional e desvendaram os segredos
militares estatais. Os meios de comunicao
de massa assumiram um poder poltico de
incrvel expanso e de difcil controle. Os
computadores, dos mais simples aos mais
aprimorados, passaram a ser instrumentos de
uso comum, armazenando um volume
inimaginvel de informaes. Aparelhos
extremamente sofisticados invadiram a
privacidade das pessoas. As cincias
biomdicas chegaram s tcnicas de
reproduo assistida e a engenharia gentica
no ter dificuldade maior, num futuro no to
remoto, de produzir concretamente o
homem-clone do Admirvel Mundo Novo. A
psicanlise desvendou os intrincados atalhos
da alma humana e a mulher, aps longa luta,
ocupou, na sociedade, o seu espao pblico"
(em artigo intitulado A Reforma da Parte
Especial do Cdigo Penal - Propostas
Preliminares, publicado na Revista Brasileira
de Cincias Criminais, RT n 03/93, p. 69).
bvio, como frisa o citado professor
bandeirante, que "participando desse mundo to complexo e
to diferenciado, o Brasil conheceu, em confronto com o ano
de 1940, transformaes profundas, radicais..." (ob. cit, p.
69).
A imperiosidade das alteraes resulta;
evidenciada. Todavia, o grau de interveno reformista devei
correlacionar-se, ao meu sentir, com a idia de'
subsidiariedade do Direito Penal.
Segundo CLAUS ROXIN, em modelar lio:
"o direito penal de natureza subsidiria. Ou
seja: somente se podem punir as leses de
bens jurdicos e as contravenes contra fins:
de assistncia social, se tal for indispensvel
para uma vida em comum ordenada. Onde
bastem os meios do direito civil ou do direito
pblico, o direito penal deve retirar-se. Com
efeito, para a pessoa atingida, cada pena
significa um dano dos seus bens jurdicos
cujos efeitos atingem no raro o extermnio
da sua existncia ou, em qualquer caso,
restringem fortemente a sua liberdade
pessoal. Conseqentemente, e por ser a
reao mais forte da comunidade, apenas se
pode recorrer a ela em ltimo lugar..." (trecho
do estudo Sentido e Limites da Pena Estatal,
contido no livro Problemas Fundamentais de
Direito Penal, edio portuguesa da Vega, p.
28).
A natureza subsidiria do Direito Penal
fundamenta o princpio da interveno mnima, pelo qual tal
ramo jurdico "s deve intervir em relao s condutas
humanas que constituam ataques graves e consistentes a
bens jurdicos de relevncia", excluindo do seu raio de
abrangncia todas aquelas questes que possam ser
razoavelmente solucionadas por outras vias (o trecho entre
aspas refere-se a citao constante do artigo de ALBERTO
SILVA FRANCO, j mencionado, p. 73).
Configurar as mudanas da Parte Especial,
tendo-se em mente o princpio da interveno mnima, uma
diretriz unnime entre os criminalistas, especialmente no
momento em que percebida uma tendncia criminalizadora,
como se a insero de fatos materiais no mbito do ilcito
penal e o aumento desmesurado das penas fossem a
panacia para todos os males de que padece a sociedade
brasileira.
Corre-se o risco, caso este alerta no seja
entendido pelos legisladores, de ser criada a figura de um
Direito Penal Simblico, ao qual se refere o penalista alemo
WINFRIED HASSEMER.
Conforme o criminalista germnico:
"este tipo de reao, em tempos de especial
temor generalizado em virtude da
delinquncia, muito capaz a curto prazo de
jogar por terra os esforos de muitas dcadas
para se conseguir um Direito Penal
equilibrado e moderno e pode reduzir o
Direito Penal a uma mera funo simblica:
as normas e as cominaes sociais penais
sobre as quais recaem srias dvidas acerca
de sua efetividade frente ao delito, somente
podem ter sentido se o sistema penal
demonstrar sua presena e capacidade de
reao ante o interesse socializado da vtima,
dizer, de transmitir a aparncia de
efetividade e proteo social. Um Direito
Penal que em muitos de seus mbitos tenha
to-s um efeito simblico no ser capaz de
cumprir com sua tarefa..." (trecho extrado do
livro Fundamentos del Derecho Penal,
traduo espanhola de Francisco Munoz
Conde e Luis Arroyo Zapatero, Editora Bosch,
Barcelona, Espanha).
O Eminente Ministro do Superior Tribunal de
J ustia, FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, respeitado
estudioso do Direito Penal, adverte que com a falncia das
"instncias informais de controle da criminalidade, tais como
a moral, religio, famlia, escola, clubes", que se constituam
em verdadeiros filtros de conteno dos "comportamentos
desviantes" em seu nascedouro, ocorrida em funo da
"anomia que contamina a sociedade contempornea", h
crescente utilizao do Direito Penal como instrumento de
substituio destas entidades retentoras da delinquncia,
atribuindo-lhe funo para a qual no foi arquitetado e nem
pensado, "e portanto no est preparado" (trechos extrados
de palestra proferida na Associao Mineira do Ministrio
Pblico sobre a Reforma do Cdigo Penal, quando do 1
Seminrio de Direito Penal e Processual Penal do MPMG,
realizado de 26 a 28/10/1994).
Idntica preocupao foi revelada na
exposio de motivos da proposta de Lei n 92/VI, de
Portugal, que autorizou o governo lusitano a rever o Cdigo
Penal daquele pas, verbis:
"Um sistema penal moderno e integrado no
se esgota naturalmente na legislao penal.
Num primeiro plano h que se destacar a
importncia da preveno criminal nas suas
mltiplas vertentes: a operacionalidade e
articulao recproca das foras de
segurana e, sobretudo, a eliminao de
factores da marginalidade atravs da
promoo da melhoria das condies
econmicas, sociais e culturais das
populaes e da criao de mecanismos de
integrao das minorias. Paralelamente, o
combate criminalidade no pode deixar de
assentar numa investigao rpida e eficaz e
numa resposta atempada dos tribunais. Na
verdade, mais do que a moldura pena
abstractamente cominada na lei, a
concretizao da sano que traduz a medida
da violao dos valores pressupostos na
norma, funcionando, nessa medida, como
referncia para a comunidade. Finalmente, a
execuo da pena revelar a capacidade
ressocializadora do sistema com vista a
prevenir a prtica de novos crimes."
importante que as propostas reformistas
no contenham qualquer desvio s concepes e principio
de poltica criminal que inspiraram a mudana da Parte Geral
em 1984, assim como a edio da Lei n 7.210.
Embasando a Teoria do Crime na noo de
culpabilidade e inspirando a Teoria da Pena no princpio da
preveno especial, que v no fim da sano criminal a
melhoria do delinqente, objetivando a sua ressocializao, a
reforma levada a cabo em 1984 props uma poltica criminal
absolutamente aceitvel, mesmo que possamos critic-la
num ou noutro aspecto.
:
Os princpios estatudos pela alterao
ocorrida na legislao penal h doze anos conformam-se
induvidosamente, com os valores e interesses
fundamentadores do Estado Democrtico de Direito.
Desejo, sinceramente, que nesta reforma j
iniciada o legislador no macule o sistema jurdico-penal com
textos desarmnicos do resto do ordenamento positivo, tal
qual fez quando editou a Lei n 8.072/90 (Dos Crimes
Hediondos).
Feitas estas iniciais reflexes, passo ao
exame de alguns aspectos das modificaes j ocorridas.
II - Das Modificaes Ocorridas (Comentrios sobre
alguns aspectos)
No plano das principais alteraes j
existentes, h alguns aspectos que devem ser examinados.
A Lei n 9.099, de 26/09/1995, que disps
sobre o J uizado Especial Criminal, estabeleceu este como
competente para a conciliao, o julgamento e a execuo
das infraes penais de menor potencial ofensivo,
considerando-se como tais as contravenes penais e os
crimes a que a lei comine pena mxima no superior a um
ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento
especial.
Tal diploma legal, que se constituiu na mais
profunda modificao da legislao penal e processual penal
brasileira desde a reforma da Parte Geral do Estatuto
Repressivo em 1984, foi objeto, desde sua publicao e
perodo de vacatio, de exame em vrias obras doutrinrias,
todas construdas para o aclaramento dos inovadores
institutos constantes do supra mencionado texto legal.
Procurarei, em breves consideraes,
manifestar-me sobre alguns tpicos que considero mais
importantes e que so de natureza material.
Disciplina-se, no art. 84 e seu pargrafo
nico, o pagamento da pena de multa e a conseqente
extino da punibilidade.
Inexiste dvida que a execuo da multa
resultante de definitiva condenao dever ser feita nos
moldes estabelecidos nos arts. 50 e 51 do Cdigo Penal e
dos arts. 164 e seguintes da Lei de Execuo Penal.
Assim sendo, apesar de no constar
expressamente do texto do referido art. 84, o prazo para o
pagamento espontneo da sano pecuniria ser de dez
dias depois do trnsito em julgado da sentena condenatria,
podendo haver parcelamento para a quitao, segundo os
termos da legislao penal codificada e da LEP.
Suprimida que foi a hiptese da converso da
multa em pena privativa de liberdade, ocorrente com a
vigncia da Lei n 9.268/96, evidencia-se, a meu juzo, a
revogao tcita do art. 85 da Lei n 9.099/95, restando
vedada qualquer possibilidade de converso da sano
pecuniria resultante de condenao transitada em julgado,
inclusive a inovao relativa sua transformao em pena
restritiva de direitos.
Isto porque, apesar da derrogao no ter
sido expressa, o sobredito art. 85 determinava que a
converso se fizesse nos termos da lei, devendo-se entender
por esta tanto o Cdigo Penal quanto a Lei n 7.210/84.
Poder-se-ia objetar: mas os dispositivos
revogados previam apenas a converso da multa em
deteno, espcie de pena privativa de liberdade, no se
referindo transformao da sano pecuniria em pena
restritiva de direitos, uma inovao surgida na Lei n
9.099/95. Assim sendo, o sistema conversional estabelecido
pela referida lei, neste particular, seria especial e, inexistindo
expressa referncia sua revogao, como ocorreu com os
do art. 51 do CP e com o art. 182 da LEP, no
permaneceria em vigor?
Parece-me que no. Como argumento cito a
exposio de motivos do projeto de lei que deu origem
9.268/96, em que S. Exa. o Ministro da J ustia aduz:
"Com efeito, a execuo da multa criminal
deve ser revigorada atravs de procedimento
adequado e infenso s dificuldades que
atualmente se opem eficcia desta forma
de reao penal. A sano pecuniria uma
das mais importantes alternativas da pena
privativa de liberdade e uma das fontes de
receita que deve alimentar o fundo
penitencirio, institudo pela Lei
Complementar n 79, de 07 de janeiro de
1994, e regulamentado pelo Decreto n
1.093, de 23 de maro de 1994. Como se
verifica por esses diplomas, existe uma
generosa e necessria destinao dos
recursos obtidos: construo, reforma,
ampliao e aprimoramento de
estabelecimentos penais; manuteno dos
servios penitencirios; formao,
aperfeioamento e especializao do servio
penitencirio, alm de programas de
assistncia aos presos, aos internados
carentes e s vtimas do crime... Se o Estado,
como ente poltico de representao da
sociedade, responde a determinada conduta
delituosa com a pena de multa esta sano
que, efetivamente, se apresenta como
necessria e suficiente para represso e
preveno do delito. A converso da pena de
multa em priso, por fato posterior sua
aplicao (omisso do pagamento ou
frustrao de sua execuo), perde o sentido
de proporcionalidade que deve ser inerente a
todas as formas de reao punitiva..."
Infere-se do texto que a modificao no
visou impedir a converso da multa em deteno, mas sim
vedar a possibilidade da transformao da sano pecuniria
em outra espcie de pena, para permitir a execuo da multa
criminal, o que dificilmente ocorria com a licena legal para a
mutao do tipo de pena a ser executada.
A busca de recursos para a implementao
de uma poltica penitenciria, pelo que se depreende, falou
mais alto para a mudana. Pouco importa. O certo que a
alterao objetivou pr fim a qualquer possibilidade de
converso da multa, seja em deteno ou em pena restritiva
de direitos.
Finda a possibilidade de converso da multa
aplicada em outra espcie de sano criminal, privilegiando-
se a execuo da pena pecuniria e o recebimento do seu
valor pelo Estado, submetem-se o pagamento espontneo e
coativo da pena pecuniria regra geral, obstruda a via da
transformao da natureza da sano.
Entretanto, ser que a impossibilidade da
converso pode ser arguida na hiptese da multa resultante
da transao penal proposta pelo Ministrio Pblico, no caso
do art. 76 da Lei n 9.099/95?
Proponho tal questionamento, que pode
parecer primeira vista absurdo, em virtude da discusso
acerca da natureza jurdica desta sano originada da
deciso que homologa a transao penal havida entre o
rgo do Parquet, no exerccio de sua discricionariedade
regulada, e o acusado, autuado ou indiciado (repilo a
expresso "autor do fato", imprpria e abusiva).
Com efeito, vozes de doutrinadores
renomados levantaram-se contra o instituto introduzido na
legislao penal brasileira pelo referido art. 76, ao argumento
de que permite ele aplicao de pena, seja de multa ou
restritiva de direitos, conversveis, uma ou outra, em pena
privativa de liberdade, sem que o acusado responda ao
devido processo legal.
A tese fundamenta-se na prpria dico legal,
onde se observa a locuo "o juiz aplicar a pena...,
afirmando tais doutrinadores no ser admissvel tal aplicao
inexistindo ao penal e sem a garantia dos princpios do
contraditrio e da ampla defesa, com ofensa ao princpio
maior do nulla poena sine judicio.
Este entendimento, pelo que se nota das
construes doutrinrias e pretorianas, foi superado pela
considerao de que se cuida de instituto novo, que deve ser
examinado sem as amarras das idias doutrinrias
tradicionais, constituindo-se em importante instrumento para
a "despenalizao", ou seja, propiciar, sem descriminalizar,
que a mquina judiciria no seja movimentada
desnecessariamente para os delitos pouco significantes, que
importem em diminuta lesividade social, conforme, com
outros termos, afirmou LUIZ FLVIO GOMES em sua obra
Suspenso Condicional do Processo, RT, 1995.
Assim, abriu-se o leque para as especulaes
dogmticas acerca da natureza jurdica da sano decorrente
da transao penal.
Alguns, como AFRNIO SILVA J ARDIM,
entendem haver em tal procedimento preliminar a aplicao
de efetiva sano penal, averbando existir uma atividade
jurisdicional do Estado (em palestra proferida na AMMP em
dezembro de 1995).
Diz o referido doutrinador:
"quando o J uiz aplica a pena...em razo da
transao aceita pelo ru, no se viola o
Princpio do Devido Processo Legal, como
alguns andaram dizendo, porque esse o
Devido Processo Legal. H atividade
jurisdicional do Estado, por isso h pena. O
J uiz aplica a pena e, parece-nos que no
deixa de ser, temos que pensar a respeito,
um outro tipo de ao penal que est sendo
exercitada pelo Ministrio Pblico. O
Ministrio Pblico est indo ao Poder
J udicirio, manifestando uma determinada
pretenso e sugerindo a aplicao de uma
determinada pena. Sano no sentido penal
mesmo, restritiva de direito, pena no
privativa de liberdade, pena de multa".
Esta idia pode ser encontrada inclusive na
exposio de motivos do Projeto de Lei n 1.480/89, em que
se declara, sobre a medida aplicada em funo da transao
penal, que "a sano tem natureza penal, mas sem reflexos
na reincidncia...".
Em trabalho de flego constante do Boletim
n 35 do Instituto Brasileiro de Cincias Criminais,
consideram os Drs. PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e
J ORGE ASSAF MALULY, Promotores de J ustia de So
Paulo, no possuir a sano resultante da sentena prevista
no art. 76 carter penal, constituindo-se, conforme doutrina
de MANUEL DA COSTA ANDRADE, professor portugus
citado pelos referidos articulistas, em "sano de ndole
especial, a que no est ligada a censura tico-jurdica da
pena nem a correspondente comprovao de culpa" (em O
Novo Cdigo de Processo Penal, Consenso e Oportunidade,
Almedina, 1988).
Adiro, modestamente, a esta ltima posio.
No concebo a imposio de pena sem culpa. Alis, a Carta
Magna brasileira contm esta vedao pelos princpios
adotados no art. 5. No procedimento da transao no h
aferio de culpa, h, to-somente, um acordo de vontades,
"de um lado, o Ministrio Pblico deixa de
exercer o poder-dever de instaurar a ao
penal (com a excluso do processo); e, de
outro, o acusado aceita submeter-se a uma
multa ou a algumas regras de conduta, que,
uma vez adimplidas, motivaro a extino da
punibilidade" (trecho extrado do artigo
Breves Consideraes sobre A Proposta do
Ministrio Pblico, publicado no Boletim n
35/95 do IBCCrim, de autoria dos Promotores
paulistas retromencionados).
, em verdade, um consenso, excluidor do
processo e da prpria pretenso punitiva, caso seja cumprida
a medida aplicada, mas no estabelecedor de culpa, tanto
assim que a sentena no importar em reincidncia ( 4),
no gerar antecedentes criminais ( 6) e no se constituir
em ttulo executivo judicial, cabendo a discusso do mrito do
fato supostamente delituoso na esfera cvel, onde inclusive
poder-se- julgar improcedente o pedido por ausncia de
responsabilidade dolosa ou culposa do ru.
Trilhando o mesmo caminho, o Dr. antnio
CARLOS BATISTA TORRES, Promotor de J ustia em So
Leopoldo, Rio Grande do Sul, diz que "a 'sano consentida'
no implica em confisso ou reconhecimento de culpa..., no
produz qualquer efeito de uma sentena condenatria
criminal...", entendendo-a como de natureza declaratria, pois
no absolve nem condena (trecho extrado do artigo A Nova
Justia Criminal, publicado na Revista J urdica da Editora
Sntese, n219, p. 140).
Assentada tal premissa, para responder
primeira pergunta cabe um outro questionamento: no sendo
de natureza penal a sano aplicada em razo da transao,
aplicam-se hiptese as regras da Quarta Seo do Captulo
III da Lei n 9.099/96, denominada Da Execuo?
PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e J ORGE
ASSAF MALULY, Promotores bandeirantes j mencionados,
sustentam que:
"as medidas cumuladas na proposta,
eventualmente descumpridas, no devem ser
submetidas a processo de execuo, que fica
reservado para as penas aplicadas no
procedimento sumarssimo" (artigo supra-
referido).
Todavia, ainda quando no havia sido
vedada a possibilidade de transformao da multa em
privao da liberdade ou restrio de direitos, no foram
poucos os que responderam afirmativamente pergunta e
defenderam uma idia mista, negando a hiptese da
converso da sano pecuniria em pena privativa de
liberdade, sob a alegao de que para a aplicao desta
espcie de pena seria necessrio um devido processo legal,
e admitindo, por outro lado, a mutao da multa em restrio
de direitos, em virtude de o prprio dispositivo legal permitir a
imposio alternativa de uma ou outra por proposta do
Ministrio Pblico.
Apesar de inadmitir a execuo por entender
que ela s possvel quando da condenao resultante do
procedimento sumarssimo, inclino-me a aceitar a tese da
converso da multa em restrio de direitos, quando do no-
pagamento daquela, ao fundamento de que o prprio art. 76
admite a imposio de uma ou de outra atravs de proposta
do Ministrio Pblico.
Ora, se a imposio de uma das duas
espcies da sano no penal alternativa, o no-
cumprimento da multa poderia, perfeitamente, ser convertido
em cumprimento de sano restritiva de direitos,
precipuamente porque a finalidade da transao, como j se
disse, a no movimentao da burocracia judiciria para o
processamento e julgamento das infraes de pequeno
potencial lesivo, enquadrando-se neste objetivo - atrevo-me a
afirmar - a ausncia de movimentao da mquina para a
execuo coativa das sanes.
Retorno ao questionamento inicial: mas a
vedao da converso da multa em outro tipo de pena no
teria suprimido a hiptese de transformao tambm na
situao do art. 76?
Lembremo-nos da anterior exposio acerca
da natureza jurdica da sano originada da transao.
Considerando que o art. 51 do Cdigo Penal cuida do
cumprimento ou da execuo da pena de multa, dizer, da
pena pecuniria prevista no art. 32, inc. Ill, do mesmo
diploma, que, por sua natureza, deve resultar de sentena
condenatria definitiva, e que a sano pecuniria resultante
do procedimento prvio do art. 76 da Lei n 9.099/95 no tem
estrita natureza criminal, por no se originar de decreto
condenatrio, configurando-se em medida de ndole especial,
logo no teria sido atingida pela modificao havida com a
vigncia da Lei n 9.268/96.
Sendo assim, possibilitada ainda estaria a
converso, em caso de omisso no pagamento da multa
aplicada em razo de transao penal, da sano pecuniria
em medida de restrio da liberdade.
evidente que esta apenas uma tese,
lanada para a anlise criteriosa e severa de todos aqueles
que se dignarem a apreci-la.
Ainda sobre a Lei n 9.099/95, h um outro
aspecto relevante, que merece exame.
Respeita suspenso condicional do
processo, prevista no art. 89.
Disciplinam os 3 e 4 do dispositivo suso
indicado as hipteses de revogao obrigatria e facultativa
do sursis processual.
Excluda a hiptese de no-reparao do
dano injustificadamente, no foi estabelecida pela lei
qualquer forma de prorrogao do perodo de prova quanto
s demais, semelhana do que pode ser encontrado no
anlogo instituto da suspenso condicional da pena (art. 81,
2 e 3, CP) e no livramento condicional (art. 89, CP).
Tal se deu, creio, em virtude da natureza do
instituto, por haver o legislador entendido que havendo
suspenso do curso da ao penal, e no da pena, as
hipteses de revogao deveriam ser mais rgidas,
existentes, inclusive, quando o beneficirio viesse a ser, no
curso do prazo, processado por outro crime ou por
contraveno.
A soluo, neste particular, no foi das
melhores, pois poder ensejar injustias quando de decises
revocatrias do benefcio.
que, inexistente o mecanismo da
prorrogao do perodo de prova at a condenao definitiva,
possvel ser que o beneficirio possa ser processado, por
ao penal instaurada no curso do prazo, pela prtica de
crime ou contraveno e, ao final do processo criminal, seja
absolvido (por haver praticado o fato tpico em legtima
defesa, por exemplo).
Neste caso, a suspenso condicional do
processo j ter sido revogada e o acusado, muito
provavelmente, condenado.
Ora, alm de injusta, a hiptese traduz
soluo contrria aos objetivos da lei, pois haver dispndio
de trabalho, tempo e pessoal, quando o fim legislativo foi
abortar o trmite do processo, com considervel economia
judiciria.
Constata-se, com facilidade, que a
suspenso da ao penal contm os mesmos matizes do
sursis e relativamente a ela deveriam ter sido adotados os
mesmos efeitos da suspenso condicional da pena. Frise-se
que h extino da punibilidade quanto ao delito objeto da
denncia, efeito semelhante ao prescrito no art. 82 do
Estatuto Penal.
Mesmo sendo benefcio, a suspenso do
processo, desde que aceita pelo acusado, constitui forma de
extino da punibilidade, direito pblico subjetivo que no lhe
pode ser retirado por presuno de culpa. H que estar
provada a culpa.
Friso que entendo a suspenso condicionada
do processo como instituto que se insere no princpio da
discricionariedade regulada, tal qual a transao penal,
considerando que somente pode ser proposta pelo Ministrio
Pblico.
Antes, portanto, da formulao da proposta,
do aceite do denunciado e da deciso judicial, no h
qualquer direito subjetivo daquele suspenso processual.
Contudo, aps o aperfeioamento deste ato
complexo, tenho como direito pblico subjetivo do beneficiado
o cumprimento das condies impostas na suspenso,
durante o perodo de prova fixado, inexistindo possibilidade
de revogao do benefcio, caso tenha havido a reparao do
dano, salvo impossibilidade de faz-lo, e o beneficirio estiver
cumprindo as demais condies impostas, apenas em virtude
do trmite de processo por crime ou contraveno, instaurado
no curso do prazo probatrio.
H, creio, indireta afronta ao princpio da
presuno de inocncia, insculpido no art. 5, LVII, da
Constituio da Repblica.
No sei como os juzes iro se comportar
diante deste problema. Pelo menos, de lege ferenda,
indispensvel, ao meu sentir, a insero ao art. 89 de um
pargrafo disciplinando a prorrogao do perodo de prova na
hiptese de o beneficirio vir a ser processado, no curso do
prazo, por outro crime ou contraveno.
Volto os olhos, agora, para a Lei n 9.268, de
01/04/1996. Tal lei, traduo da nova estratgia legiferante
de reforma dos sistemas positivos, modificou
substancialmente o regime da execuo da pena de multa,
suprimindo, como j afirmado alhures, a possibilidade de
converso desta em deteno, quando o condenado solvente
deixasse de pag-la ou frustrasse a sua execuo, e
estabelecendo que a multa ser, doravante, considerada
dvida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislao
relativa dvida ativa da Fazenda Pblica, inclusive no
concernente s causas interruptivas e suspensivas da
prescrio.
Algumas dvidas surgiram a respeito da
modificao. Duas, contudo, desejo examinar.
A primeira respeita submisso da
execuo da multa ao regime da dvida ativa da Fazenda
Pblica.
Ou seja, ser que ao determinar a aplicao
execuo da pena pecuniria das normas da legislao
relativa dvida ativa pretendeu o legislador sujeitar a sano
penal ao burocratizado procedimento de constituio da
dvida ativa da Fazenda Pblica?
Em outubro de 1994, estando no auditrio da ,
Associao Mineira do Ministrio Pblico para proferir;
palestra sobre A Reforma Do Cdigo Penal, o Eminente
Ministro do STJ , Professor FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, l
apreciado doutrinador do Direito Penal, elencou algumas
mudanas que considerava necessrias para corrigir
distores da legislao, inserindo, dentre elas, a no-
submisso da pena de multa prescrio penal do art. 114
do Cdigo Penal, que a torna incobrvel na maioria dos
casos, pois, como dvida de valor, "deveria sujeitar-se
prescrio quinquenal das dvidas ativas da Fazenda Pblica,
com as mesmas causas interruptivas e suspensivas".
No surpreendente, pela autoridade do
digno Ministro e penalista e por sua influncia na reforma,
que a idia por S. Exa. esposada ainda em 1994. tenha sido
praticamente agasalhada na Lei n 9.268/96.
Note-se que a preocupao do Professor
ASSIS TOLEDO ao propor a modificao embasou-se no
aspecto da falta de cobrana da pena de multa, que S. Exa.
entendeu em grande parte ocorrente pelo curto prazo
prescricional estabelecido no art. 114 (2 anos), alm da
inexistncia de hipteses interruptivas ou suspensivas da
perda do direito estatal de execuo da sano.
Anloga preocupao demonstrou o no
menos eminente Ministro NELSON J OBIM na exposio de
motivos do projeto gerador da Lei n 9.268/96, afirmando que:
"duas grandes frustraes com a execuo
da pena de multa resultam de fatores
histricos. O primeiro deles, diz respeito
inflao que corri o valor nominal da moeda;
e o segundo, resulta da prescrio. Para
corrigir a primeira distoro, a Lei n
7.209/84, de 11 de julho de 1984, instituiu o
sistema do dia-multa, cuja introduo no
Cdigo Criminal do Imprio demonstrava, j
naquele tempo, a necessidade de adequao
s flutuaes do valor monetrio. E, para
obviar o problema da prescrio, tanto pela
pena cominada como pela pena aplicada, o
projeto contm duas propostas; a) trata
diferentemente a multa quando for cominada,
alternativa ou cumulativamente, com a pena
privativa de liberdade, regulando-se a
prescrio pelo tempo da pena de priso; b)
amplia as causas de interrupo da
prescrio...".
Verifica-se, iniludivelmente, que o ponto
fulcral da ateno dos Ministros do STJ e da J ustia foi a luta
contra a usina prescricional que, verdade, havia no
processo executivo da pena de multa.
Realmente, a demora no ajuizamento da
ao executiva e qualquer suspenso em seu curso,
delineado conforme os contornos previstos nos arts. 164 e
seguintes da Lei de Execuo Penal, propiciava a fluncia do
lapso prescricional, tornando a multa, no dizer de TOLEDO,
incobrvel.
Do exposto, inclino-me a concluir no haver
sido a pena de multa submetida ao regime de constituio da
dvida ativa da Fazenda Pblica, apesar da abrangncia que
a Lei n 6.830/80 d ao conceito de Dvida Ativa, admitindo a
execuo fiscal como procedimento judicial aplicvel tanto
cobrana dos crditos tributrios como dos no-tributrios.
Em verdade, a meno feita legislao
relativa Dvida Ativa da Fazenda Pblica teve dois
objetivos, ao meu sentir: a) explicitar claramente qual o
procedimento da execuo da multa, em virtude da redao
constante do 2 do art. 164 da LEP; b) criar barreiras
interruptivas ou suspensivas da prescrio, aproveitando-se
dos marcos existentes na Lei n 6.830/80.
Se diferente fosse, porque o legislador no
utilizou a orao: "...a multa ser considerada como dvida
de valor, constituindo-se em dvida ativa da Fazenda
Pblica..."? Por que a manuteno do procedimento especial
previsto no art. 164 da LEP (considerando que foi revogado
expressamente o art. 182 da LEP, que tratava da converso
da multa em deteno)?
Desta forma, parece-me, a matria nova e
tormentosa, que para a execuo da sano pecuniria no
se cogita de inscrio e nem da lavratura do Termo de
Inscrio, nos moldes mencionados na Lei de Execuo
Fiscal.
A ao de execuo da sano pecuniria
de natureza penal, respeitando as opinies em contrrio,
configurando uma hiptese anmala, eis que depende de
citao necessria para a formao vlida existncia da
ao executria, ao contrrio das penas privativas de
liberdade e das restritivas de direitos, cuja execuo
"inicia-se independentemente da provocao
dos rgos da persecuo penal, procedendo
o juiz de ofcio ao ordenar a expedio da
guia de recolhimento ou execuo" (trecho
extrado da obra Execuo Penal, de J LIO
FABBRINI MIRABETE, Atlas, 2. ed., p. 413).
Entretanto, uma questo avulta-se como
extremamente complexa: se ao processo executivo da multa
devem ser aplicadas as causas interruptivas e suspensivas
da prescrio, qual o marco inicial do impedimento da marcha
do curso prescricional previsto no 3 do art. 2 da Lei n
6.830/80?
Reza o sobredito dispositivo:
"A inscrio, que se constitui no ato de
controle administrativo da legalidade, ser
feita pelo rgo competente para apurar a
liquidez e certeza do crdito e suspender a
prescrio para todos os efeitos de direito,
por 180 dias ou at a distribuio de
execuo fiscal, se esta ocorrer antes de
findo aquele prazo."
De acordo com antnio CARLOS COSTA
E SILVA:
" a partir da inscrio, vale dizer da
constituio definitiva do crdito (art. 174
C.T.N.), que se verifica a suspenso" (trecho
extrado da obra Teoria e Prtica D<
Processo Executivo Fiscal, Aide, 2. ed., p
64).
A expresso "constituio definitiva d
crdito", ainda segundo COSTA E SILVA, significa que
crdito transforma-se em divida pblica, ou seja, tornai
apto provocao da jurisdio executiva (ob. cit, p. 61).
Na execuo da sano pecuniria, cedio
que somente aps ultrapassado o dcimo dia da citao do
condenado (art. 164 da LEP) exigvel o dbito. Durante tal
perodo o pagamento espontneo.
Logo, poder-se-ia imaginar uma hiptese de
inscrio da exigncia na Secretaria do J uzo Criminal, caso
o condenado, ultrapassados os dez dias, no efetuasse o
pagamento da multa ou o depsito da respectiva importncia
ou, ainda, no nomeasse bens penhora, o que
caracterizaria a necessidade de execuo, havendo a
suspenso da prescrio.
Aps, a execuo tramitaria da forma como
mencionado nos arts. 6 e seguintes da Lei n 6.830/80.
Como no considero haver a lei tornado a
sano criminal pecuniria dvida ativa da Fazenda Pblica,
entendo no haver perdido eficcia o disposto no art. 166 da
LEP, que dispe sobre a prorrogao da competncia do juiz
da execuo penal para processar a execuo caso a
penhora no recaia em bens imveis.
Isto porque a regra de que a competncia
das Varas da Fazenda Pblica para processar e julgar a
execuo da dvida ativa da Fazenda Pblica absoluta,
excluindo a de qualquer outro J uzo, no se aplica hiptese,
pois neste caso h execuo de uma sano penal, no
transformada em dvida ativa.
Desta forma, subsistem as disposies dos
arts. 165 e 166 da Lei de Execuo Penal.
Como consequncia do entendimento
esposado, no considero haver o Ministrio Pblico sido
alijado da execuo da sano pecuniria, mantendo sua
legitimidade para a propositura da ao penal executiva.
Alis, tendo natureza penal, a ao de
execuo da multa prolongamento necessrio, inexistindo o
pagamento espontneo, da ao de conhecimento criminal,
motivo pelo qual sujeita-se aos princpios desta, quais sejam,
em se tratando de ao penal pblica incondicionada ou
condicionada: legitimao privativa do MP; obrigatoriedade;
indisponibilidade etc.
Confesso aos senhores que o tema por
demais complexo, ainda mais em razo da dubiedade da
redao legal e da ausncia de elementos possibilitadores de
uma interpretao mais clara acerca do objetivo da
modificao. Desejo ouvir outras opinies, sujeitando-me,
humildemente, mudana de entendimento, caso seja
convencido por argumentos contrrios.
O segundo aspecto a ser abordado em
relao alterao procedida no art. 51 do Cdigo Pena
refere-se definio da multa penal como dvida de valor.
Dvida de valor aquela na qual a moeda
aparece como a medida de valor, contrapondo-se dvida de
dinheiro, onde a moeda recebe tratamento de mercadoria.
A distino entre as duas espcies de dvida
tem grande importncia no campo da incidncia da correo
monetria.
Antes da vigncia da Lei n 6.899/81, que
determinou a aplicao da correo monetria nos dbitos
oriundos de deciso judicial, admitia o Supremo Tribunal
Federal a correo monetria apenas em relao a hipteses
de dvidas de valor, nos casos de responsabilidade civil por
ato ilcito, no tolerando a incidncia dos fatores e ndices de
recomposio nas dvidas caracterizadas como de dinheiro,
casos de responsabilidade decorrente de culpa contratual.
"Posteriormente, evoluiu a jurisprudncia do
Excelso Pretrio no sentido da equiparao
das dvidas, uma e outra, para fim da
incidncia da correo monetria. Assim se
fez sob o fundamento de que a obrigao do
devedor no a de pagar uma quantia em
dinheiro, mas sim, a de restaurar o Patrimnio
do credor na situao em que se encontrava,
anteriormente, leso" (trecho extrado da
obra Comentrios s Smulas do Superior
Tribunal de Justia, Editora Saraiva,
LOURIVAL GONALVES DE OLIVEIRA,
1993, p. 138).
Consolidando e consagrando a construo
pretoriana veio a Lei n 6.899/81, estendendo a incidncia de
correo monetria aos casos em que legalmente ainda no
se aplicava.
Todavia, questo polmica surgiu aps a
vigncia da referida lei. que a Lei n 5.670/71 excluiu a
incidncia de fatores de correo monetria legalmente
prevista sobre perodo anterior a sua instituio. Mas, a partir
da Lei n 6.899/81 ficou legalmente admitida quanto dvida
de dinheiro, ou no que diz respeito a responsabilidade por
ilcito contratual.
Subsistiu, pois, indagao acerca da
incidncia da correo monetria em perodo anterior Lei
n 6.899/81, cuidando de dvidas de valor, diga-se,
decorrentes de atos ilcitos contratuais ou extracontratuais.
Conforme esclarece o Ministro do STJ ,
CUEIROS LEITE:
"a orientao jurisprudencial que se
prolongou aps a Lei n 6.899/81 deve ser
mantida... em face do princpio da mais ampla
reparao do dano (CC, art. 159). Como a
reparao deve ser expressa pelo seu valor
em moeda corrente (CC, art. 1.534) e esse
valor encontra-se corrodo pela inflao,
importa seja corrigido monetariamente a partir
do evento, quando se tratar de dvida de
valor" (REsp. 1.519-PR).
O entendimento de que a incidncia da
correo monetria, nas dividas de valor, ocorre a partir do
efetivo prejuzo, restou sumulado pelo Superior Tribunal de
J ustia (Smula n 43), nos seguintes termos: "Incide
correo monetria sobre dvida por ato ilcito a partir da data
do efetivo prejuzo".
Penso que a considerao da multa como
dvida de valor termina com a discusso que havia quanto ao
momento da incidncia da correo monetria.
Havia vrias posies, a saber:
a) incide a partir da data da infrao penal;
b) incide a partir da data da sentena condenatria;
c) incide a partir da data do trnsito em julgado da
sentena condenatria para o ru;
d) incide a partir da data do trnsito em julgado da
sentena para ambas as partes;
e) incide quando esgotado o prazo para o recolhimento
espontneo da pena de multa;
f) incide a partir da citao do ru para a execuo;
g) incide a partir da data da infrao, mas desta ao trnsito
em julgado o valor da multa ser corrigido pela variao
do salrio mnimo. A partir da, sua atualizao ser
pelos ndices de correo monetria.
No tenho dvidas na subsistncia da
primeira posio, to-somente. Ou seja, a correo monetria
dever incidir a partir da data do evento infracional,
tornando-se por base o salrio mnimo vigente ao tempo da
infrao.
No que se refere s modificaes realizadas,
finalizo fazendo breve comentrio sobre o reflexo que haver
na prescrio da pretenso punitiva com o estabelecimento,
peia Lei n 9.271, de 17 de abril de 1996, ainda no
vigorante, de uma causa de suspenso do prazo
prescricional.
Altera a lei mencionada a redao dos arts.
366 a 370 do Cdigo de Processo Penal, prevendo, no art.
366,que
"se o acusado, citado por edital, no
comparecer, nem constituir advogado, ficaro
suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a
produo antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar priso preventiva, nos termos do
disposto no art. 312".
Conforme a exposio de motivos do Projeto
de Lei n 4.897-A/95, gerador da retroreferida lei modificativa:
"em relao citao por edital, artigo 366,
cogita-se da suspenso do processo e do
prprio curso da prescrio para a hiptese
do no comparecimento do acusado. Tal
hiptese, sem dvida, leva incerteza quanto
ao conhecimento, pelo acusado, da acusao
a ele imputada, o que pode motivar a
alegao, posterior, de cerceamento de
defesa. Com efeito, os princpios da ampla
defesa e do contraditrio, adotados no
ordenamento jurdico brasileiro, e a previso
da Constituio Federal de que 'ningum ser
privado de liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal (art. 5, LVI) conferem
o respaldo legal nova pretenso do art. 366,
ainda mais quando a ela se acrescenta ( 1)
a autorizao para que se produzam,
antecipadamente, as provas consideradas de
maior urgncia. No entanto, a revelia do
acusado aps o seu comparecimento inicial
no pode servir de obstculo ao
prosseguimento da instruo criminal (art.
367)".
Tencionando, portanto, evitar seja o acusado
processado e julgado sem conhecer a imputao, alude a
alterao legislativa a uma suspenso do processo e do
curso do prazo prescricional.
Suspenso do curso do prazo prescricional
"significa um hiato, uma parada momentnea": a fluncia do
lapso fica pendente, recomeando o trmite aps a cessao
da causa impeditiva, com o cmputo do tempo anteriormente
decorrido (trecho em parnteses extrado da obra Manual de
Direito Penal, de J LIO FABBRINI MIRABETE, Atlas, 6. ed,
p.389).
Evidente resta que a suspenso impede o
curso da prescrio da pretenso punitiva com lastro na pena
em abstraio.
Tambm esta a concluso a que se pode
chegar no pertinente denominada prescrio retroativa,
ocorrente, neste particular, entre a data do recebimento da
denncia e a data da prolao da sentena condenatria
recorrvel, ou sua publicao em mos do escrivo, e
regulada pela pena em concreto, conforme a permisso
constante do 1 do art. 110 do CP.
que a suspenso determinada pelo art. 366
do curso do prazo da prescrio da pretenso punitiva,
como ocorre tambm na denominada prescrio retroativa,
que fulmina o ius puniendi estatal e no a pretenso
executria.
Outro no pode ser o entendimento, eis que a
chamada "usina prescricional" ocorre exatamente pela
possibilidade de reconhecimento da prescrio da pretenso
punitiva regulada pela pena em concreto, tendo como
referncia prazos anteriores prpria sentena.
A suspenso da fluncia do prazo da
prescrio da pretenso punitiva, neste caso e na hiptese
do art. 368, medida salutar, que trar reflexos, no tenho
dvidas, na reduo da impunidade.
Ill - Dos Projetos de Lei que Tramitam no
Congresso Nacional (Comentrios sobre
alguns aspectos)
Est em tramitao no Congresso Nacional
uma srie de projetos de lei objetivando a modificao de
vrias disposies do Cdigo Penal, em especial quanto
Parte Especial.
Os mais importantes, respeitados os demais,
so os que tiveram origem no Poder Executivo, emanados da
Comisso de J uristas constituda pelo Ministrio da J ustia
para a reformulao gradual da legislao penal brasileira.
Destaca-se, preambularmente, o de n 724-
A/95, que, modificando os arts. 33, 83, 121 e 334 do Estatuto
Repressivo, define os delitos de especial gravidade.
Segundo consta da exposio de motivos
elaborada pelo Ministro NELSON J OBIM:
"o projeto cria uma nova categoria de crimes
denominados 'de especial gravidade',
enumerando-os taxativamente para evitar
controvrsias a respeito. So espcies de
crimes cometidos com emprego de violncia
pessoa ou que apresentam essa
potencialidade, como o caso do narcotrfico
e da quadrilha. Essa proposta, transformada
em Lei, permitir o tratamento rigoroso destes
crimes, que se irradiar para todo o sistema,
seja na aplicao da pena, seja na sua
execuo, sem contudo viabilizar a
individualizao dessa mesma pena. A nova
categoria de crimes contm uma distino
tcnica, justifica-se luz de princpios de
Poltica Criminal e, alm disso, tem o mrito
de no trazer em seu bojo a carga de
indefinio e de emocionalidade de que
padece a inusitada e recente denominao
'crimes hediondos', to criticada por todos".
Como se percebe, o projeto visa dar nova
regulamentao ao inc. XLIII do art. 5 da Constituio
Federal, elencando novamente os crimes hediondos,
renomeados "de especial gravidade", derrogando a Lei de
Crimes Hediondos (Lei n 8.072/90) em vrios aspectos, que
eram objeto de severas crticas doutrinrias e jurisprudncias.
Assim que haver permisso da progresso
de regimes, malgrado seja obrigatrio o cumprimento de pelo
menos metade da pena, terminando com a odiosa vedao
constante do 1 do art. 2 da Lei n 8.072/90, que colide
com o principio constitucional da individualizao da pena,
previsto no art. 5, XLVI, da Magna Carta.
Outras mudanas propostas, no
relacionadas diretamente com os delitos de especial
gravidade, so:
a) "a permisso da execuo do regime aberto, com
repouso noturno em casa de albergado, em recinto
especial e separado de estabelecimento penal, nas
Comarcas em que no haja casa de albergado. Essa
possibilidade evitar a prtica de colocar-se em regime
fechado o condenado que obteve o regime aberto, como
tambm a de conceder-se liberdade plena ou priso
domiciliar a quem a isso no faa jus" (conforme
exposio de motivos);
b) a previso de uma nova qualificadora para o delito de
homicdio, quando praticado com plano de extermnio.
Alude a exposio de motivos, como exemplo desta
hiptese de qualificao do homicdio, ao crime dos
denominados "justiceiros";
c) a previso de uma nova qualificadora para os crimes de
contrabando ou descaminho de armas ou munies.
Obviamente que esta medida visa coibir, pela punio
mais grave, o ingresso ilegal de armas e munies para
os traficantes e seqestradores;
d) a revogao expressa dos pargrafos nicos dos arts.
213 e 214 do CP, acrescentados pelo Estatuto da
Criana e do Adolescente, "nos quais contraditoriamente
so estabelecidas penas menores para o estupro e o
atentado violento ao pudor quando a vtima seja criana
menor de quatorze anos" (conforme exposio de
motivos). Esta questo j estava resolvida pela doutrina
e jurisprudncia, que consideraram revogados
tacitamente os pargrafos, ao argumento de que a
anterioridade da lei se estabelece pela promulgao e
no pela vigncia, razo pela qual a Lei n 8.072/90,
promulgada depois que a Lei n 8.069/90, teria
derrogado implicitamente as figuras qualificadas, ao
aumentar os limites mnimo e mximo da pena abstraa
cominada aos tipos fundamentais dos delitos de estupro
e atentado violento ao pudor, tornando-as maiores que
as penas cominadas aos pargrafos.
A par dos aspectos positivos da proposta,
detecto alguns negativos:
a) a ausncia de referncia expressa revogao do rol
dos delitos previstos no art. 1 e pargrafo nico da Lei
n 8.072/90. Esta medida seria providencial, porquanto a
epidemia com resultado morte (art. 267, 1), no
constante do elenco dos crimes de especial gravidade,
pode continuar, em interpretao absolutamente
admissvel, a ser entendida como crime hediondo,
sujeitando-se o agente ao cumprimento integral de dois
teros da pena em regime fechado, com o que lhe estar
sendo imposta situao mais gravosa que os praticantes
de delitos de especial gravidade, tambm resultante da
mesma matriz: o art. 5, XLIII, CF, em evidente ofensa
ao princpio da isonomia;
b) a falta de definio expressa do nmero mnimo de
participantes para a configurao do grupo de
extermnio. No comungo, concessa venia, com o
entendimento expendido por DAMSIO EVANGELISTA
DE J ESUS, no sentido de que tal mnimo seria de cinco.
Diz o respeitado doutrinador que o nmero no seria de
duas pessoas, porque a legislao, quando se contenta
com tal mnimo, refere-se expressamente, como no furto
e no roubo. No seria de trs, porque a legislao,
quando se contenta com tal mnimo, utiliza-se de
expresso genrica, como no art. 141. No seria de
quatro, porque seno o legislador teria usado a
expresso quadrilha ou bando, do art. 288. Ento,
conclui, seria de cinco. Malgrado o respeito que nutro
pelo penalista citado, discordo. Parece-me que o nmero
mnimo seria de quatro pessoas, porque o legislador no
quis vincular a hiptese da existncia do homicdio
cometido com participao em grupo de extermnio
existncia da quadrilha ou bando, em virtude da
exigncia, para a caracterizao deste delito, do
elemento subjetivo referente especial finalidade de
agir ("para o fim de cometer crimes"). Pode ocorrer que
haja eventual associao das pessoas para o
extermnio, como no caso dos "justiceiros", no se
configurando a figura tpica o art. 288 por falta da idia
de estabilidade ou permanncia da associao. Todavia,
concordo com DAMSIO quando alerta se teria o
legislador pretendido tratar como de especial gravidade
o homicdio cometido por um grupo de cinco e no
aquele cometido por um grupo de quatro. Creio que
no, mas o legislador tem a oportunidade, neste projeto
de lei, de esclarecer a duvidosa interpretao (o
entendimento do penalista suso mencionado foi extrado
da palestra sobre Crimes Hediondos, que S. Exa.
proferiu no 1 Seminrio de Direito Penal e Processual
Penal, promovido pela AMMP, de 26 a 28 de outubro de
1994).
Outro projeto de lei que demanda apreciao
acurada o de n 725/95, que modifica os arts. 155, 157,
180, 309, 310 e 311 do Estatuto Penal.
Tal projeto prope a alterao da Parte
Especial para o "combate a uma crescente e inquietante
forma de criminalidade contempornea", qual seja, "o roubo,
furto, receptao, remarcao, desmanche e transporte para
outras regies do Pas e at para o exterior, de veculos
automotores" (cf. exposio de motivos).
So vrias as modificaes sugeridas.
Destaco, como mais importantes, a criao
de uma figura qualificada de furto, consistente na subtrao
de veculo que venha a ser transportado para outro Estado
ou para o exterior; o aumento de pena do roubo na hiptese
supra aludida e quando o agente mantiver a vtima em seu
poder restringindo sua liberdade; a elevao para sete anos
do mnimo da pena cominada ao roubo qualificado por leso
grave; a ampliao do rol das condutas configuradoras da
receptao dolosa, com a adio, ao tipo bsico, dos verbos
transportar e conduzir; a criao de figura qualificada da
receptao dolosa, com a seguinte formulao: "Adquirir,
receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depsito,
desmontar, montar, remontar, vender, expor venda, ou de
qualquer forma utilizar, em proveito prprio ou alheio, no
exerccio de atividade comercial ou industrial, coisa que
deveria saber ser produto de crime", com evidente supresso
da exigncia de dolo direto constante do tipo fundamental e
contentamento com a existncia de dolo eventual; a criao
do tipo autnomo de "adulterao de sinal identificador de
veculo automotor" (art. 311).
Respeitante a estas modificaes, que
tencionam coibir especificamente os crimes contra o
Patrimnio que tiverem por objeto material veculos
automotores, desejo tecer duas consideraes.
A primeira concerne figura da receptao
qualificada. Pelo projeto ir se configurar tal hiptese quando
o agente desmontar, no exerccio de atividade comercial ou
industrial, em proveito prprio ou alheio, coisa que deveria
saber ser produto de crime. A pena, no caso, de recluso
de trs a oito anos e multa. Diz o 2 do art. 180 "equiparar-
se- atividade comercial, para efeito do pargrafo anterior,
qualquer forma de comrcio irregular ou clandestino, inclusive
o exercido em residncia".
Supondo que o proprietrio de um ferro-
velho, clandestino ou no, subtraia um automvel, desmonte-
o, com a ajuda de um auxiliar e venda suas peas, repartindo
o dinheiro com o assistente, qual delito cometeria?
Num primeiro momento a resposta parece
fcil. Toda a doutrina afirma no poder ser sujeito ativo do
delito de receptao o autor, co-autor ou partcipe do delito
anterior ou original.
Assim sendo, tendo cometido o delito de
furto, responderia o agente pelo fato tipificado no art. 155,
caput. Acresa-se, para reforar a mencionada soluo, a
tese doutrinria de que o dano posterior ao furto no
punvel, se praticado pelo mesmo sujeito ativo, contra o
mesmo bem jurdico e do mesmo sujeito passivo, objetivando
o proveito do delito anterior (pelo princpio da consuno -
post factum impunvel).
Contudo, tal soluo, dependendo das
circunstncias do fato, pode configurar-se injusta. Imaginando
ter havido furto simples, do caput, o agente do exemplo
acima proposto seria punido com pena de recluso de um a
quatro anos e multa. Tal apenao seria muito menor que
aquela prevista no sugerido 1 do art. 180 (recluso de trs
a oito anos e multa). Com uma agravante: este agente do
nosso exemplo, que furtou o veculo e depois o desmontou,
auferindo grande lucro com a venda das peas, seria punido
de uma forma mais branda que o seu auxiliar que, devendo
saber que a coisa era produto de crime, ajudou a desmontar
o automvel em proveito comum.
Penso que, na hiptese, h de se estipular,
legalmente, uma preferncia punitiva pelo delito mais grave
ou determinar-se um concurso de crimes, sob pena de ser
estabelecida mais uma polmica doutrinria e jurisprudncia),
semelhana da ocorrente entre os delitos de falsificao de
documento pblico e estelionato.
A segunda abordagem toca construo do
delito de adulterao de sinal identificador de veculo
automotor. Conforme a exposio de motivos:
"o anteprojeto procura coibir a adulterao ou
remarcao de chassi ou sinal identificador
de veculo automotor, de seu componente ou
equipamento, instituindo crime autnomo a
respeito. Tal conduta, indispensvel para o
sucesso da comercializao do produto do
crime, predominantemente veculo automotor
ao qual se restringe o tipo, tem encontrado
srias dificuldades de enquadramento na
legislao vigente, tornando-se necessria a
medida ora cogitada".
Com razo o Ministro da J ustia, autor da
exposio de motivos. Em verdade, enorme dificuldade existe
para a tipificao correia da conduta daquele que adultera
ou remarca nmero de chassi ou qualquer sinal identificador
de veculo automotor, de seu componente ou equipamento.
H decises discrepantes. Existem julgados
que consideraram tal conduta como caracterizadora de
favorecimento real (art. 349).
A criao de um tipo autnomo afigura-se-me
a soluo mais correia e, mesmo que o agente tenha
participado do delito anterior, de furto, roubo ou receptao,
parece-me caracterizado o concurso de crimes, por serem
diferentes os bens jurdicos ofendidos (Patrimnio em relao
aos delitos mencionados e f pblica em relao ao crime do
art. 311).
IV - Da Sugesto para Alterao na Legislao Penal
Codificada
Apresento, por derradeiro, de forma tmida,
uma sugesto para mudana a ser introduzida na legislao'
penal ptria.
Dispe o art. 28, II, do Estatuto Penal, que a
embriaguez, voluntria ou culposa, pelo lcool ou substncia
de efeitos anlogos, no exclui a imputabilidade penal.
Norteia-se a regra, como se infere da
exposio de motivos da Parte Geral de 1940, aplicvel por
expressa meno da exposio de motivos de 1984, pelo
princpio da actio libera in causa seu ad libertatem relata, que,
modernamente, no se limita ao estado de inconscincia
preordenado, mas a todos os casos em que o agente se
deixou arrastar ao estado de inconscincia.
Vem a doutrina afirmando, com razo, que
nem em todos os casos de embriaguez voluntria ou culposa,
ao contrrio da hiptese de preordenao, o agente, ao
ingerir a substncia que o levou ao estado de inconscincia,
poderia alcanar a previso do delito que vem a cometer no
estado de intoxicao.
Assim mesmo, o legislador, utilizando-se de
uma verdadeira fico jurdica (deu por imputvel quem, na
realidade, no o era), considerou o agente, em qualquer
hiptese, como portador tanto da capacidade de entender o
carter ilcito do fato , como da capacidade de determinar-se
de acordo com esse entendimento.
H, evidentemente, uma hiptese de
responsabilidade penal objetiva, ofensiva ao princpio do
nulium crimen sine culpa, princpio maior em que se assenta
toda a reforma da Parte Geral ocorrida em 1984.
Para solucionar a questo, entendo, como
anota ALBERTO SILVA FRANCO, que melhor seria a
insero na legislao brasileira de frmula semelhante
concebida no Cdigo Penal Portugus.
Reza o art. 282 do CP lusitano, sob a rubrica
"Crime praticado em estado de embriaguez":
"1 - Quem, pela ingesto, voluntria ou por
negligncia, de bebidas alcolicas ou outras
substncias txicas, se colocar em estado de
completa inimputabilidade e, nesse estado,
praticar um ato criminalmente ilcito, ser
punido com priso at 1 ano e multa at 100
dias.
2 - Se o agente contou ou podia contar que
nesse estado cometeria factos criminalmente
ilcitos, a pena ser de priso de 1 a 3 anos e
multa at 150 dias.
3 - A pena aplicada nunca pode, porm, ser
superior prevista para o facto que foi
praticado pelo inimputvel e o procedimento
criminal depende de queixa se o
procedimento criminal pelo crime cometido
tambm o exigir."
Apreciando o dispositivo, VICTOR S
PEREIRA, magistrado e doutrinador portugus, ensina que:
"a criao de estados de inimputabilidade no
consente correlativa impunibilidade. Da este
tipo autnomo, que se funda em perigo
abstracto. A inimputabilidade exclui a culpa
do acto criminalmente ilcito que o agente
praticou. Mas esta regra tem de ceder s
hipteses em que aquele se tenha posto,
propositada ou intencionalmente, em estado
de completa inimputabilidade, para cometer o
fato criminoso. Ento haver dolo do facto
cometido, funcionando o n 4 do art. 20
(actio libera in causa)" (in Cdigo Penal,
Livros Horizonte, p. 319).
Averba o mesmo autor, examinando o n 2 do
art.282:
"O n 2 no se refere punio do acto ilcito
perpetrado, em cujo mbito no existe uma
verdadeira vontade do facto. O agente limita-
se a prever ou a estar em condies de
prever eventual comisso de factos
criminalmente tipificados. E no tem de
aceitar esta mesma comisso, porque a
agravao qualificativa - reportada ao n 1 - a
propsito, se funda na personalidade, ao
nvel da preparao para manter uma
conduta lcita (art. 72) (ob. cit, p. 319)."
Verifica-se que o legislador portugus
soluciona a hiptese da embriaguez de forma interessante.
Pune a prpria conduta, voluntria ou negligente (culposa),
daquele que se embriaga sem ao menos prever o fato pelo
qual depois vem a responder.
No se trata, como visto, de punio pelo fato
ilcito causado pelo agente em estado de embriaguez. Mas de
punio da grave falta de preparao para a manuteno de
uma conduta lcita, manifestada no fato.
Discordo da soluo lusitana para as
hipteses em que o agente, ao se embriagar, teve previso
do evento lesivo, malgrado no o admitisse, no aceitasse
sua ocorrncia (n 2 do art. 282 do CP portugus).
Este caso, entendo, soluciona-se pela regra
geral da actio libera in causa, manifestada no art. 28, II, do
CP brasileiro, assim como na hiptese de dolo eventual, em
que o agente previu o resultado lesivo e consentiu na sua
ocorrncia.
Penso, arrimado nestes argumentos, que
nossa legislao penal poderia conter um dispositivo assim:
Quem, pela ingesto voluntria ou culposa de
lcool ou substncia de efeitos anlogos,
colocar-se em estado de completa
inimputabilidade e, assim, praticar um fato
tipicamente ilcito, ser punido com pena de
recluso de um a cinco anos.
1 A pena ser aumentada de um a dois
teros no caso de resultar morte ou leso
corporal de natureza grave.
2 A ao penal depender de
representao ou queixa, se assim o exigir a
relativa ao fato tipicamente ilcito cometido.
Comentrios sobre a Aplicao
da Pena em Crime Continuado
Duarte Bernardo Gomes
Procurador de Justia
Diz o art. 71 do Cdigo Penal:
"Quando o agente, mediante mais de uma
ao ou omisso, pratica dois ou mais crimes
da mesma espcie e, pelas condies de
tempo, lugar, maneira de execuo e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser
havidos como continuao do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um s dos crimes, se
idnticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a
dois teros. Pargrafo nico: Nos crimes
dolosos, contra vtimas diferentes, cometidos
com violncia ou grave ameaa pessoa,
poder o juiz, considerando a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os
motivos e as circunstncias, aumentar a pena
de um s dos crimes, se idnticas, ou a mais
grave, se diversas, at o triplo, observadas as
regras do pargrafo nico do art. 70 e do art.
75 deste cdigo."
Assevera, em linhas gerais, a melhor doutrina
penal, que o crime continuado constitui, em sua essncia, a
forma de concurso de crimes, configurando espcie amena
de concurso material, em que se observa o sistema de
absoro de penas e no de cumulao delas.
"O crime continuado realmente uma fico
jurdica criada com propsitos de poltica
criminal e objetivando impedir excessos
decorrentes do acmulo material de penas".
(RT 521 388)
Nesse sentido j decidiu o Egrgio
Tribunal de J ustia de So Paulo, em processo cujo relator
foi o eminente Desembargador OLIVEIRA LIMA.
Pois bem, evidenciada a fico criada pelo
legislador penal, resta-nos traar alguns comentrios sobre o
citado instituto, positivando, de forma singela, aspectos
distintos insertos no conceito de crime continuado.
Existe a nvel dogmtico aberta discusso
sobre a discrepncia de conotao subjetiva, isto , unidade
de propsito, em confronto com elementos de carter
objetivo, estruturados pela reforma de 1984.
A objetividade do crime continuado vem
estampada nas condies de unidade de tempo, lugar, modo
ou maneira de execuo, ou, ainda, outras semelhantes,
alm da violao do bem jurdico alheio, e a utilizao, pelo
agente, de uma dada situao pessoal.
Comentaristas penais apontam dois
momentos diferentes no crime continuado, podendo ser ele
real ou fictcio.
Real, quando se caracteriza por duas ou mais
aes seguidas, com a inteno de se obter, no fim, um
resultado previamente planejado (elo subjetivo-objetivo entre
as aes).
Fictcio, por ser figura imaginria criada pela
lei para evitar pena excessiva no caso de dois ou mais crimes
seguidos, guardando circunstncias semelhantes de tempo,
lugar e modo de execuo. Finge-se uma ligao entre os
vrios crimes para permitir a aplicao de uma s pena (elo
puramente objetivo entre as aes). In R. Dir. Penal, p. 109-
110.
Anteriormente reforma penal (Parte Geral)
de 1984, o crime continuado vinha disposto no art. 51, 2,
do Cdigo Penal e silenciava quanto pluralidade de vtimas.
Duas posies distintas se apresentavam
ante o impasse jurdico ocorrido no caso concreto.
A chamada corrente liberal dispensava a
homogeneidade de vtimas para a caracterizao do crime
continuado.
De outra margem, a corrente ortodoxa
inadmitia tal situao, entendendo que s havia possibilidade
de crime continuado quando cometido contra a mesma
vtima.
O prprio Supremo Tribunal Federal admitia a
continuidade delitiva em crimes de roubo com vtimas
diferentes, mas no a admitia em crimes de homicdio, a
ponto de sumular a matria no verbete de n 605:
"No se admite continuidade delitiva nos
crimes contra a vida." (Justitia, n. 140, p.
116).
Hoje, o verbete no mais se aplica diante do
novo enunciado legal que prev essa modalidade de delito
nos crimes contra a vida.
A bem da verdade, a inovao legal de
destinar artigo e pargrafo regulando a matria sobre o crime
continuado, substituindo o pargrafo 2, do art. 51, deu
destaque especial ao assunto, ampliando, sobremaneira, a
previso legal de situaes at ento inapreciveis, fadadas
a entendimentos diversos, por vezes, prejudicando o
acusado.
Bem leciona HERMENEGILDO DE SOUZA
REGO (RT 622/398), lembrando o saudoso jurista MANOEL
PEDRO PIMENTEL, citado por LYDIO MACHADO
BANDEIRA DE MELLO, quando assevera que:
"Adota-se a fico legal do crime continuado
para evitar, por exemplo, que o autor de trinta
pequenos furtos, merecendo, cada um, um
ano de recluso, seja condenado a trinta
anos de recluso, exatamente como o mais
feroz e desumano dos homicidas."
Com efeito, de modo mais abrangente, o
legislador penal de 1984 aferrou entendimento diverso para
delitos praticados continuadamente, distinguindo as
infraes de menor potencial ofensivo (art. 71, caput, CP)
daquelas de maior gravidade (art. 71, pargrafo nico, CP),
nestas podendo o julgador aplicar a pena at o triplo,
obviamente observado o esprito da fictio juris, isto , o limite
legal da pena imposta, que no poder ultrapassar trinta
anos (art. 75, CP), nem assemelhar-se ao rigor do concurso
material (art. 70, pargrafo nico, CP).
Com relao ao clculo da pena, - e aqui
reside o principal fator destes comentrios - adotou a reforma
penal de 1984 a forma tripartida, em consonncia com o
entendimento do inigualvel NELSON HUNGRIA, j que,
anteriormente, a forma bipartida, defendida pelo no menos
brilhante ROBERTO LYRA, tambm era utilizada ante a
lacuna legal existente.
Dirimida a questo (art. 68, CP), fixa-se no
primeiro momento a pena-base, levando-se em considerao
as circunstncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Cdigo
Penal, ou seja, a personalidade do agente, seus
antecedentes, intensidade do dolo, grau da culpa, motivos
determinantes do fato etc.
No segundo momento, considera-se sobre a
pena-base a incidncia de eventuais circunstncias legais
genricas, agravantes ou atenuantes, previstas nos arts.
61,62, 65 e 66, todos do Cdigo Penal.
No derradeiro instante e sobre a pena
resultante da operao anterior, considerar-se-o as causas
de aumento e diminuio, previstas na Parte Geral e Especial
do Cdigo Penal.
Em se tratando de continuidade delitiva,
conforme ensina o Professor FRANCISCO DE ARAJ O
(Justitia, n 140), quando da anlise das circunstncias
judiciais atinentes ao art. 59 do Cdigo Penal, para a
aplicao da pena deve o julgador acercar-se de especial
cautela, pois seis delas esto reproduzidas no pargrafo
nico do art. 71 do CP, para que no sejam consideradas
mais de uma vez, pois o fato redundaria em inadmissvel
dupla valorao da mesma circunstncia ou causa.
Trazendo-se, ainda, colao, lies de
preclaro autor (op.cit.), quando menciona o critrio utilizado
pelo Egrgio Tribunal de Alada Criminal do Estado de So
Paulo, tem-se que a aplicao da pena em crimes
considerados continuados depende do nmero de infraes
cometidas e no das circunstncias judiciais que j influram
na fixao da pena-base.
Continua o eminente autor dizendo que
quanto maior for o nmero de delitos, maior ser o aumento
sobre a pena.
No desapontando o traado na encimada
linha de raciocnio sobre o discutido tema, o Egrgio Tribunal
de Alada Criminal do Estado de So Paulo, na Reviso
Criminal n 117.450 - Relator J uiz ERCLIO SAMPAIO, sob
forma de ementa, dessa maneira se posicionou:
"Assim, em se tratando de dois crimes, o
aumento ser, no mnimo, de um sexto,
incidindo sobre a pena imposta ao crime mais
grave; de trs crimes, o aumento ser de um
quinto; de quatro, um quarto; de cinco, um
tero; de seis, a metade e, finalmente, de dois
teros, quando forem mais de sete delitos."
Tambm daquela j mencionada Augusta
Corte de J ustia, em acrdo relatado pelo eminente J uiz
ADAUTO SUANNES - Recurso n 306021, tem-se a seguinte
ementa:
"Na considerao dos processos para fins de
unificao de pena, o magistrado deve
abstrair da pena do processo levado em
considerao adicionais ali feitos em razo da
continuidade delitiva.
Em compensao, ao estabelecer o
percentual de acrscimo, deve levar em
considerao no o nmero de processos
unificados mas o nmero de crimes
praticados."
Para os crimes continuados especficos, cuja
regra vem insculpida no pargrafo nico, do art. 71 do Cdigo
Penal, isto , os de maior gravidade, cometidos com violncia
ou grave ameaa pessoa, figurando vtimas diferentes,
analisados os motivos e circunstncias dos delitos (caso a
caso), desconsiderados os fatores influenciadores da pena-
base, poder o julgador, com fulcro no entendimento do
Egrgio Tribunal de J ustia do Estado de So Paulo, aplicar o
acrscimo de um tero dos valores punitivos para o caso de
dois crimes (RT 605/267).
Nessa esteira, ficaria a punio da seguinte
maneira, no entender de F. ARAJ O (op.cit.):
Duas infraes, aumento de um tero; trs,
a metade; quatro, dois teros; cinco, o dobro; seis, o dobro
mais um tero; sete, o dobro mais a metade; oito, o dobro
mais dois teros. A partir de nove infraes, inclusive, o triplo.
Dessa forma, os limites legais so
respeitados, inolvidada semelhana ou enquadramento
qualquer em concurso material que pioraria a situao do
acusado, cuja vedao legal mostra-se evidente.
Mesmo alterando substancialmente o teor da
definio de crime continuado em relao Parte Geral de
1940, o legislador de 1984 sofreu vrias crticas de
doutrinadores.
Sob o forte argumento de que, mesmo
modificada, a legislao instituiu o crime continuado comum e
o especfico, no reprime a criminalidade violenta dos
grandes centros urbanos, exige esta, represso incompatvel
com o abrandamento das penas resultantes de
indiscriminado reconhecimento de continuidade delitiva.
de se notar que crticas no faltaram
legislao em vigor. Todavia, o tecnicismo jurdico criado pelo
legislador de 1984, ao menos, trouxe nova sistemtica para a
aplicabilidade de sanes aos infratores contumazes,
distinguindo-se, quanto ofensa produzida ao bem jurdico,
bem como divisando-os especificamente quando da
considerao das circunstncias da prpria causa de
aumento de pena.
Sensvel ao tratamento diferenciado,
entende-se que o legislador procurou enfrentar com maior
severidade a criminalidade profissional organizada,
destinando a ela sanes que implicam apenao de at c
triplo dos valores punitivos especificados no preceito
secundrio do tipo penal infringido.
Em concluso, cumpre-me afianar que o
sistema de aplicabilidade da pena nos crimes continuados,
estudado pelos citados juristas ptrios e sob o enfoque
destes comentrios, assim como a prpria experincia
jurisprudencial consolidada, se ainda no se mostra como
ideal, muito se aproxima, pois, com estruturao na letra da
lei, cobe apenao exagerada ou aplica justo acrscimo,
formulando dosimetria compatvel e adequada para a punio
da continuidade delitiva.
Crimes Omissivos
e Dolo Eventual
Hlvio Simes Vidal
Promotor de Justia
Sumrio: l - Teorias do Dolo: a) Teoria da Representao; b)
Teoria da Vontade. II - Dolo Direto e Dolo Eventual. Ill -
Dolo Eventual nos Crimes Omissivos. IV - Dolo Eventual nos
Crimes Comissivos por Omisso. V - Tentativa e Dolo
Eventual. VI - Dolo Eventual e Culpa Consciente. Vil -
Prova do Dolo. VIU - Referncias Bibliogrficas.
l - Teorias do Dolo
Para definir o crime doloso duas teorias
disputaram o consenso dos criminalistas, notadamente as
teorias da representao e da vontade, constituindo-se a
essncia do delito doloso, para a primeira, no elemento
intelectivo, ou seja, na previso do evento, e, para a segunda
(teoria da vontade), o tpico proeminente no momento
volitivo, exigindo, para que se tenha agido com dolo, a
vontade de causao do evento (ALFREDO DE MARSICO,
Coscienza e Volont Nelia Nozione del Dolo, 1930, p. 143).
Para a teoria da representao, a existncia
do dolo requer a representao subjetiva ou previso do
resultado como certo e provvel e, para a segunda, a
vontade ou consentimento no resultado. Dissdio este, como
lembra NELSON HUNGRIA, Comentrios ao Cdigo Penal,
vol. l, T. II, p. 115, superado, pois "dolo , ao mesmo tempo,
representao e vontade".
Diz o Cdigo Penal que o crime doloso
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo (art. 18, l). Pode-se, ento, afirmar, com SLVIO
RANIERI, Manuale di Diritto Penale, Padova, 68, p. 293, vol.
l, Parte Generale, que: "Si ha reato doloso quando Ia volont
direita a realizzare il fatto, previsto dalla legge come
penalmente illecito, che il soggetto si rappresentato".
Vontade e representao so os dois elementos essenciais
para que haja dolo e para a configurao dos
crimes desta modalidade (FRANCISCO DE ASSIS
TOLEDO, Princpios Bsicos de Direito Penal, 2. ed. p. 212,
1986).
No mesmo sentido, GIULIO BATTAGLINI,
Direito Penal, 1 Volume, Saraiva, 73, p. 287, para quem a
subsistncia do dolo requer: 1) previso ou representao do
evento; 2) volio do mesmo (dolus facti).
II - Dolo Direto e Dolo Eventual
A doutrina costuma classificar o dolo em
direto e eventual, admitindo alguns autores a subdiviso do
primeiro em dolo direto de primeiro e segundo grau, quando o
resultado desejado com fim direto ou quando este resultado
consequncia necessria do meio eleito, EUGNIO RAUL
ZAFFARONI Manual de Derecho Penal, Parte General, Ediar,
6. ed. 1991, p. 420), como na hiptese em que existe relao
necessria entre o meio e o resultado pretendido pelo agente
na sua conduta tpica. Se este sabe que a ao
necessariamente acarreta resultado concomitante e, no
obstante, pratica a ao, quer, por certo, tambm este
resultado.
Como doutrina HELENO CLUDIO
FRAGOSO, Lies de Direito Penal, Forense, 1986, vol. l, p.
177:
" o caso de quem, visando eliminar seu
inimigo, coloca engenho explosivo no avio
que o transporta, sabendo que o mecanismo
ser acionado durante o vo. o dolo de
consequncias necessrias".
No dolo direto (de primeiro ou segundo grau),
quer-se, diretamente, o evento como fim ou como
consequncia necessria do meio eleito e escolhido.
ZAFFARONI, ob. cit., p. 419, estudando o
aspecto conativo do dolo e suas distintas classes, informa
que:
"Se llama dolo directo a aqul en que el autor
quiere directamente Ia producin del
resultado tpico, sea como el fin directamente
propuesto o sea como uno de los medios
para obtener ese fin. Cuando se trata del fin
directamente querido se llama dolo directo de
premer grado y cuando se quiere el resultado
como necessria consecuencia del medio
elegido para Ia obtencin del fin, se llama
dolo directo de segundo grado o dolo de
consecuencas necesaras. Cuando un
sujeto quiere matar a otro y le dispara cinco
balazos, quiere directamente el resultado
como fin propuesto (dolo directo de primer
grado). En lugar, cuando un sujeto quiere
matar a otro y aprovecha un viaje en avin
para introducir un artefacto explosivo en el
equipaje y provocar una catstrofe area,
querr como consecuencia necesaria del
medio elegido y directamente querido Ia
muerte de los restantes pasajeros de Ia
aeronave (dolo directo de segundo grado)."
LVARO MAYRINK DA COSTA, Direito
Penal, Parte Geral, Forense, 3. ed., 1991, vol. l, T. l, p. 725,
admite a existncia do dolo direto, nele abrangido o
chamado dolo de consequncias necessrias, e, noutra
classe, o dolo eventual que existe "quando o autor representa
o resultado como relativamente provvel e inclui essa
probabilidade na vontade realizadora (assume o risco de sua
realizao)". Cita, tambm, o caso dos mendigos russos que
mutilavam crianas para excitar a compaixo pblica.
Naquelas circunstncias, informa o autor, algumas crianas
vinham a falecer e, obviamente, se os mendigos viessem a
saber que as crianas poderiam vir a morrer, jamais as
mutilariam, pois de nada lhes serviriam mortas. No
aceitavam, diretamente, a morte das crianas, porm,
sabendo que poderiam vir a falecer diante das mutilaes,
aceitaram a possibilidade do resultado (ob. cit, p. 723).
J o dolo eventual existe quando o agente
assume o risco de produzir o resultado (CP, art.18, l, parte
final). Nele a vontade no se dirige ao resultado, mas sim
conduta, com previso de que esta pode produzir aquele. O
agente percebe que possvel causar o resultado e, no
obstante, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta
e causar o resultado, prefere o agente que este se
produza (DAMSIO DE J ESUS, Comentrios ao Cdigo
Penal, Parte Geral, vol. l, Saraiva, 86, p. 318).
Para a subsistncia do dolus eventualis
necessrio que o agente, tendo previsto o resultado, ainda
que somente possvel, haja aceitado o risco de sua produo
e desde que no tenha agido com a segura convico de que
aquele no ocorreria (FRANCESCO ANTOLISEI, Manuele
di Diritto Penale, Parte Generale, Giufr, 1991, vol. l, p.
309), pois, como explica SLVIO RANIERI, Manuale, Parte
Generale, cit, p. 305:
"Infine, rientrano nelia volont del soggetto
pur quelle consequenze che si
rappresentate connesse in modo possibile
con 1'evento vietato, direitamente voluto,
purch abbia esteso il suo consenso alia loro
eventuale produzione, accettando il rischio
delia sua condotta. Ed invero il soggetto, pur
avendo previsto il possibile avverarsi di
queste consequenze, pu agire o con Ia
sicura fiducia che non si sarebbero verificate
o senza avere tale convinzione. Qualora,
portanto, tale convinzione non abbia avuta,
anche l consequenze previste come
possibili sono volute, perche il soggetto
ha consentito alla foro eventuale
produzione con l'accettare il richio inerente
alla sua condotta" (g. n.).
Para exemplificar, quem fuma nas
vizinhanas de material inflamvel e prev como possvel um
incndio e, malgrado tal previso, continua a fumar, sem ter
absoluta segurana de que o incndio no se produzir,
porm aceitando o risco da sua conduta, consente,
implicitamente tambm com o incndio (DELITALA, Do/o
eventuale e colpa cosciente, Annuario Univ. Cattolica di
Milano, 1932).
Outro exemplo tem-se no caso de Tido que,
desejando a morte de Caio, prev, como possvel, atingir
mortalmente Semprnio, que est ao lado daquele, e,
todavia, aceitando o risco da sua conduta, dispara, acabando
por atingir Semprnio.
Ill - Dolo Eventual nos Crimes Omissivos
Nos crimes omissivos ou de omisso prpria,
o sujeito viola um comando de ao, ou seja, no faz aquilo
que deve fazer, porm em confronto com um indefectvel
predicado normativo (teoria normativa da omisso, cf.
GIUSEPPE BETTIOL, Diritto Penale, Cedam, 86, Parte
Generale, p. 292 "L'omissione, quindi, una creazione della
legge; ha caratere normativo" ). FRAGOSO, Lies, vol. l,
p, 238, adepto da teoria em comento, acrescenta que
"a omisso, sendo absteno de atividade
que o agente podia e devia realizar, no
mero no fazer, mas no fazer algo que, nas
circunstncias, era ao agente imposto pelo
direito e que lhe era possvel submeter ao
seu poder final de realizao",
sendo o conceito da omisso necessariamente normativo,
pressupondo a existncia de uma norma que imponha a ao
omitida.
Ou seja, a conduta havida julgada em
relao de contradio com uma norma que, se no existisse,
impediria valorar o comportamento humano (vide PAULO
J OS DA COSTA J NIOR, Comentrios ao Cdigo Penal,
Parte Geral, vol. l, Saraiva, 89, p. 51).
Nossa legislao prev apenas crimes
omissivos prprios dolosos (FRAGOSO, Lies, cit., p. 239).
Indaga-se: ser/a admissvel o dolo eventual nos crimes
omissivos prprios? O Cdigo Penal diz que o crime
doloso quando o agente quis o RESULTADO ou assumiu o
risco de produzi-lo. A princpio, pareceu ao legislador
somente admitir crimes dolosos nas condutas de ao e
resultado. No se referiu ao dolo nos crimes de omisso
prpria.
Sucede que tambm estes podem ser
cometidos dolosamente (e somente com dolo), no obstante
no se possa falar em resultado, como modificao no
mundo fsico. que nos delitos de simples atividade (ou
desobedincia, cf. Binding), em que no existe resultado, "o
dolo representao, vontade e conscincia da ilicitude da
ao" (MAGALHES NORONHA, Direito Penal, vol. l,
Saraiva, p. 135).
Com efeito, tambm o Cdigo Penal italiano,
ao definir o crime doloso (ou secondo 1'intenzione), acresce
que se d este quando
"l'evento dannoso o pericoloso, che il
risultato dell'azione od omissione e da cui Ia
legge fa dipendere l'esistenza del delitto,
dall'agente preveduto e voluto come
conseguenza della prpria azione od
omissione" (art. 43).
Entretanto, nos crimes de conduta omissiva
prpria, para que subsista o dolo, suficiente que o sujeito
tenha a conduta omissiva e, alm desta, tenha-se recusado a
ter a conduta comandada pela norma (SLVIO RANIERI,
Manuale, cit., p. 303).
A pergunta principal ainda no se encontra
respondida. Do conceito de dolo eventual, porm, extrai-se
que o mesmo requer uma conduta positiva, um facere que,
conduzido pela vontade, desge na produo de um outro
evento ao qual o agente anuiu, aquiesceu, assumiu o risco de
caus-lo. FRANCESCO ANTOLISEI, estudando o momento
volitivo do dolo, in Manuale, cit., p. 309/310, e sobre o dolo
eventual, aps aduzir que para a subsistncia deste seria
necessrio que o agente tivesse se comportado sem a
segura convico de que o resultado no ocorreria, acresce
que a norma incriminadora no requer expressamente que o
sujeito tenha agido com um determinado fim, para poder-se
falar em vontade do evento e, mais precisamente, para
poder-se considerar querido um certo resultado no
necessrio que este seja o ponto de mira ou um dos pontos
de mira da atividade criminosa.: "basta che il reo Io abbia
previsto come possibile, accettando il rischio della sua
verificazione; basta, in altri termini, che egii ABBIA AGITO
a costo de determinar-lo" (g. n.).
Ou seja, basta que o ru tenha previsto
como possvel, o resultado, aceitando-o como possvel,
AGINDO a custo de determin-lo. O chamado doius
eventualis, pois, requer uma CONDUTA POSITIVA, um
facere, um operar no mundo externo ftico, que conduza
produo do resultado antijurdico.
No se compadece, pois, com os crimes
omissivos prprios. A natureza da omisso dolosa requer o
dolo direto. A tese sustentada encontra respaldo no direito
positivo. Existem, tambm, outros crimes que no podem ser
praticados com dolo eventual porque a conduta tpica o
exclui. Ex.: receptao, art. 180 CP, denunciao caluniosa,
art. 339 CP, etc. (FRAGOSO, Lies, p. 178).
Alm destes, os crimes omissivos prprios
tambm inadmitem a prtica com dolo eventual. J nas
chamadas frmulas de Frank para forjar-se o conceito de
dolo eventual, pode-se divisar, inequivocamente, a exigncia
de uma conduta eminentemente positiva: "seja assim ou de
outra maneira, suceda isto ou aquilo, em qualquer caso,
AGIREI".
Esta indiferena, que particularmente
configura o dolo eventual, somente ocorre quando o sujeito
AGE, rene suas foras numa conduta positiva, aps prever
que, dela, o resultado conexo e possvel poder advir. Nos
crimes omissivos, o sujeito no faz aquilo que podia e devia
fazer, contrapondo-se ao imperativo legal. No pode, pois,
agir com dolo eventual, que somente tipifica crimes
comissivos, ou seja, de ao e resultado.
IV - Dolo Eventual nos Crimes Comissivos por
Omisso
Os crimes comissivos por omisso so
aqueles em que o sujeito, mediante uma omisso, permite a
produo de um resultado posterior, que os condiciona
(DAMSIO DE J ESUS, Comentrios, Parte Geral, vol. l, 86,
p. 193), no havendo relao de causalidade fsica alguma
entre a omisso e o resultado. O que a lei dispe, com efeito,
sobre a relevncia da omisso, ou equiparao desta
ao. O sujeito responde pelo resultado no porque o causou
com a omisso, mas porque no o impediu, realizando a
conduta a que estava obrigado (DAMSIO, ob. cit., p. 267).
Equvoco, pois, o conceito de CELSO
DELMANTO, Cdigo Penal Comentado, 3. ed., Renovar,
p. 19, quando, tratando dos crimes comissivos por omisso,
afirma que tais so aqueles em que o agente, por deixar de
fazer o que estava obrigado, produz o resultado. FRAGOSO,
Lies, p. 240/241, com razo, acrescenta que os crimes
comissivos por omisso ou omissivos imprprios no so,
como geralmente se supe, crimes comissivos. "So crimes
omissivos em que a punio surge, no porque o agente
tenha causado o resultado (no h causalidade alguma na
omisso), mas porque no o evitou. O que d vida ao ilcito ,
pois, aqui, a violao do dever jurdico de impedir o
resultado". Igualmente equivocado o conceito de SILVIO
RANIERI, Manuale, Cedam, 1968, p. 232, informando que
so comissivos mediante omisso os delitos em que "il
soggetto viola un comando d'azione insieme con un divieto di
comissione, ossia, se non fa cio che deve fare cagionando un
evento che non deve essere cagionato".
Parte da doutrina aceita a adjetivao dos
crimes omissivos imprprios como sendo de omisso
qualificada, justamente porque a condio de garante da no-
supervenincia do resultado est limitada, num dado crculo
de autores, pela lei.
"Solo pueden ser autores de conductas
tpicas de omisin impropia quienes se hallan
en posicin de garante, es decir, en una
posicin tal respecto del sujeto pasivo que les
obligue a garantizar especialmente Ia
conservacin, reparacin o restauracin del
bien jurdico penalmente tutelado"
(ZAFFARONI, Manual de Derecho Penal, 91,
p. 455).
Embora sem referir-se, expressamente,
existncia ou no de relao de causalidade nos crimes
comissivos por omisso, ALFREDO DE MARSICO, Diritto
Penale, J ovene, 1969, Parte Generale, n. 69, p. 98, informa
que a obrigao de ativar-se ocorre no s por fora de lei,
mas, tambm, em decorrncia de um costume ou de uma
norma de prudncia comum.
Ponto concorde, porm, na doutrina que os
crimes em questo, ditos omissivos imprprios, esto
abrangidos na classe maior dos crimes de omisso, sendo
tambm denominados delitos de no impedimento
"che consistrio nel mancato impedimento di
un evento materiale e per Ia esistenza del
quali occorre, portanto, il verificarsi di un tale
evento (es.: omicidio del neonato per
mancato allattamento da parte della madre;
disastro ferrovirio per omesso azionamento
del Io scambo da parte dell'addetto). Qui Ia
legge attribuisce rilevanza penale non alia
omissione come tale, ma al non impedimento
dell'evento" (FERRANDO MANTOVANI,
Diritto Penale, Cedam, 92, Parte Generale, 3.
ed. p. 168).
Interessante estudo sobre a multiplicao
universal dos crimes omissivos no direito penal feito pelo
Prof. MANTOVANI, ob. cit, p. 165. Observa o A. que,
tradicionalmente, o direito penai um direito repressivo, ou
seja, de proibies, constitudo de crimes de ao e,
excepcionalmente, de crimes de omisso. Nos Estados
totalitrios, constituindo-se a liberdade uma exceo e a
coao a regra, finalizando o indivduo em funo dos
interesses superiores e absorventes, impe o Estado uma
srie de obrigaes comportamentais em razo da sua
posio no mbito da comunidade, terminando o
ordenamento totalitrio por ser, tambm, de comandos. A
tendncia expansiva dos crimes omissivos , a outro lado,
uma caracterstica da passagem do Estado liberal ao Estado
social de direito ou solidarstico, o qual, absorvendo novos
deveres em amplas esferas, impe aos cidados a obrigao
de determinadas aes, voltadas ao conseguimento de
algumas finalidades que assume como prprias, quais sejam,
antes de tudo, o cumprimento dos deveres de solidariedade
do corpo social, em vista de uma homogeneizao
econmico-poltco-social. Mostra o A. que o recurso aos
tipos legais omissivos corresponde, de outra forma, a uma
exigncia imposta pela sempre maior complexidade da vida
de relao, causada tambm pelo progresso tecnolgico e da
sempre mais complicada mecanizao, que comportam a
emanao de um sempre maior nmero de normas
cautelares de conduta, cuja violao consiste, quase sempre,
em omisses (ex.: normas em matria de circulao, trfego
e segurana do trabalho).
No aspecto que interessa ao mbito do
estudo, resta a indagao feita a propsito dos crimes
omissivos puros, ou seja, se a classe dos crimes comissivos
por omisso admite o dolo eventual.
Integrando os delitos sub examen a
subespcie dos delitos omissivos, evidentemente que o dolo
requer representao e vontade diretas de no-ativao, ou
seja, da vontade de no realizar a ao impeditiva do
evento. No admitem, pois, tal como os delitos de pura
omisso, a prtica atravs de dolo eventual.
Aps informar que nos delitos omissivos
prprios o dolo constitudo: a) pela representao do
pressuposto do dever de agir (encontro de um corpo
inanimado; notcia de crime); b) da vontade de no cumprir a
ao devida (idnea e possvel), ou seja, de no fazer
concomitantemente ao final do termo ou em colocar-se, de
antemo, na impossibilidade de cumprir o dever, FERRANDO
MANTOVANI, Diritto Pena/e, Parte Generale, cit., p. 324,
acrescenta que, nos crimes omissivos imprprios o dolo
constitudo:
"a) dlla rappresentazione dell'obligo giuridico
extrapenale di garanzia e del presupposti di
esso (doe Ia situazione di pericolo per il bene;
b) dlla volont di non tenere l'ultima azione
impeditiva (idonea e possibile) e dell'evento
materiale quale conseguenza di tale
omissione".
Esta parece ser a posio assumida por
FRAGOSO, Lies, Parte Geral, n. 225, que, sobre os
aspectos subjetivos da omisso, frisava:
"Nos crimes comissivos por omisso dolosos,
a parte subjetiva do comportamento requer
vontade de realizao da conduta diversa,
que corresponde vontade de omitir a ao
devida. Como nota Welzel, o que
costumamos chamar de omisso querida ,
em realidade, um omitir consciente, ou seja,
uma omisso com a conscincia do poder de
atuar. O dolo deve corresponder, nos crimes
omissivos puros, vontade consciente de
absteno da atividade devida. Nos crimes
comissivos por omisso, a ele deve
corresponder, alm disso, tambm o desejo
de atingir o resultado atravs da omisso,
tendo o agente conscincia de que ocorrem
as circunstncias de fato que fundamentam a
sua posio de garantidor."
luz destes ensinamentos, dificilmente pode-
se concordar com HUNGRIA, Comentrios, vol. l, T. II, p.
120, que, citando caso ocorrido no Rio de J aneiro, inseriu
como dolo eventual a conduta da proprietria de um co que,
acometido de hidrofobia, atacara uma criana, sem que a
dona do mesmo, sabendo do perigo, tomasse providncias
impeditivas. No caso vertente, no se tratava de um tpico
crime comissivo, mas, sim, de um delito comissivo por
omisso, em que o dolo situava-se, precisamente, na
vontade da proprietria do co raivoso em no se ativar,
de qualquer forma, para impedir o evento material (morte da
criana, mordida pelo animal hidrfobo). Se o crime era,
como inquestionavelmente se nota, comissivo por omisso,
inadmitia a figura do dolo eventual!
ZAFFARONI, ob. cit, p. 457, estudando o
elemento subjetivo na omisso e, principalmente, o aspecto
cognoscitivo do emitente, assevera com clareza:
"En el aspecto cognoscitivo, el dolo dentro de
Ia estructura tpica omisiva, requiera el
efectivo reconocimiento de Ia situacin tpica
y Ia previsin de Ia causalidad. Cuando se
trata de una omisin impropia, requiere
adernas que el sujeto conozca Ia calidad o
condicin que le pone en posicin de
garante (padre, enfermera, guia, etc.), pero
no el conocimiento de los deberes que le
incumbem como consecuencia de esa
posicin, porque ese conocimiento es un
problema de culpabilidad. Del mismo modo,
el sujeto debe tener conocimiento de que e
es posible impedir a produccn del resultado
, es decir, del "poder de hecho"(Welzel) que
tiene para interrumpir Ia causalidad que
desembocar en el resultado. As, quien
viendo que se ahoga su enemigo, y, teniendo
el deber de salvarle, por su condicin de
guarda-vidas, contratado para atender esa
playa y en ese horario, decide dejarle morir
ahogado, actuar con dolo de homicdio si el
aspecto cognoscitovo del mismo se integra:
con el conocimiento de que el sujeto pasivo
se halaa en peligro; con Ia previsin de que el
agua le causr Ia muerte; con el conocimiento
de su condicin de guarda-vidas, y con el
conocimiento de que tiene el poder de
impedir que el agua le cause Ia morte"
(Manual, n. 295, p. 457).
Em todas as fases, pois, do desenvolvimento
da conduta, requer-se, quando se trata de crime comissivo
por omisso, dolo direto, tanto no que pertine ao momento
cognoscitivo (representao), quanto no volitivo (vontade
direta de no ativar-se ou cumprir a ao impeditiva do
evento) (MANTOVANI, ob. cit, p. 324). Em concluso,
tambm os delitos omissivos imprprios no podem praticar-
se seno com dolo direto, excludo o dolo eventual.
V - Tentativa e Dolo Eventual
Nos crimes que admitem o cometimento sob
forma de dolus eventualis tambm a tentativa deve admitir-
se. Ou seja, suficiente para a subsistncia da tentativa,
alm do dolo direto, o dolo eventual.
Sobre a absoluta COMPATIBILIDADE da
existncia de tentativa com dolo eventual, vale citar SILVIO
RANIERI, Manuale di Diritto Pena/e, CEDAM, 1968, vol. l, p.
404/405:
"Poich, pro, nel tentativo gli ati debbono
essere diretti a commettere un delitto, e,
perci, anche Ia volont che li guida deve
avere tale direzione, ne deriva si a che i l
tentativo possibile soltanto nei delitti dolosi,
sia che Ia volont del soggetto, in quanto via
ha rilievo per Ia sua direzione, vi deve essere
intesa propriamente come intenzione.
Tuttavia, se nel tenttivo eil dolo quello del
delitto consumato, tale identit importa che
valida a costituirlo quella stessa forma di dolo
che valida per i l delitto consumato. E,
quindi, anche per il tentativo sufficiente,
oitre che il dolo diretto, il dolo eventuale.
Es. s/' ha omicidio tentato, e non lesione
personale, se si pu stabilire che il sogetto ha
agito, pur tendendo ad altro risultato, ma
avendo preventivamente accettato 1'evento
mortale, che non si verificato"(g.r\.).
Em sentido contrrio, porm, MANTO.VANI,
Diritto Pena/e, cit, p. 439:
"II che vuol dire che si ha delitto tentato solo
se il soggetto agisce con dolo intenzionale, e
che non possibile punire il tentativo con
dolo eventuale, senza violare il divieto di
analogia in malam partem, dovendosi
ammettere un tentativo com "atti non dirett'.
A concepo do A. ltimo citado, entretanto,
est apoiada no que diz textualmente o CP Italiano que, para
a configurao da tentativa, exige "atos idoneos" e "no
equvocos" (art. 56, Cdigo Penal) diretos ao cometimento do
delito. Porm, o mesmo informa no existir dvidas de que
deva ser punido o agente sabedor que, para conseguir seu
escopo fraudulento, teria, necessariamente, que dar causa
morte de uma velha senhora, moradora da casa incendiada
por aquele, porm, milagrosamente salva das chamas,
pelos bombeiros.
Tambm, LVARO MAYRINK DA COSTA,
Direito Penal, cit, p. 725, afirma ser o dolo eventual
suficiente para a tentativa, sendo esta a opinio dominante
na Alemanha (Frank, Hippel, J agusch, Weizel, Lees,
Schnke-Schrder, Mezger, Mezger-Blei e Maurach), salvo
opinies minoritrias.
No pode ser negada a existncia de
tentativa de homicdio com dolo eventual no caso do
motorista inabilitado que, embriagado, e dirigindo em via
movimentada num grande centro urbano, imprime velocidade
excessiva ao automvel, fazendo, ainda, manobras perigosas
em ziguezague, levando-o a capotar e atropelar dois
passantes, sendo que um deles morre e outro sai gravemente
ferido. Restando apurada a existncia do dolo eventual, os
ferimentos ocasionados numa das vtimas somente poderiam
ser atribudos a ttulo de tentativa, sob a forma de dolo
eventual e em concurso com homicdio tambm doloso. Ou
seja, o agente responderia por homicdio doloso (decorrente
de dolo eventual), em concurso com tentativa de homicdio.
Sendo o dolo nico, e no podendo ser fracionado, o
resultado menos grave dever ser imputado a titulo de
conatus.
VI - Dolo Eventual e Culpa Consciente
Questo complexa, em doutrina e
jurisprudncia, a diferenciao entre o dolo eventual e a
culpa consciente . Vrios critrios tm sido utilizados para a
individualizao de ambos os elementos, valendo citar: 1)
critrio da doutrina finalista; 2) o critrio da predisposio
ou no de medidas destinadas a impedir o evento; 3)
teoria da representao; 4) teoria do atteggiamento
interiore e, enfim, 5) o critrio do consenso hipottico
(MANTOVANI, ob. cit, p. 321/322).
E, contra os quais se objeta: 1) a teoria
finalista da ao esta incapaz de diferenciar o dolo
eventual da culpa consciente: ou se pe como pedra de
toque a finalidade real, faltante em ambas as
modalidades, ou a finalidade potencial (dominabilidade do
evento previsto), presente em ambas; 2) o critrio da
predisposio de meios ou medidas destinadas ao
impedimento do evento no convence, porque admissvel a
possibilidade de dolo eventual, no obstante a predisposio
daqueles meios (ex: caso de quem, colocada a bomba para
fins intimidatrios, procure, sem xito, afastar os presentes),
bem como admissvel a possibilidade da culpa consciente,
no obstante a falta de adoo das medidas de cautela; 3) a
teoria da representao tambm no resolve o problema,
porque, objeta-se, dolo no somente representao, mas
vontade. De outra forma, dever-se-ia admitir a existncia de
culpa com respeito a todos os crimes culposos, praticados no
desenvolvimento de atividades perigosas (circulao estradai;
atividades industriais perigosas); 4) contra a teoria do
atteggiamento nteriore, que faz corpo sobre critrios
emocionais, e para a qual o dolo eventual requer um quid
pluris consistente na adeso interior ao evento (aprovao,
consenso, indiferena), enquanto a falta de tal adeso, ou
seja, a esperana da no-ocorrncia do evento, d lugar
culpa consciente, tambm no pode prevalecer, porque o
direito penal, centrado sobre bases objetivas , no pode ter
por escopo impedir meros estados interiores, mas concretas
posies de vontade; 5) o critrio do consenso hipottico,
pelo qual o dolo eventual subsistir sempre que se possa
presumir que o agente teria igualmente agido, ainda que se
tivesse previso do evento como consequncia da conduta,
porque tal critrio substitui, arbitrariamente, a natureza do
dolo, como entidade psicolgica real, e posicionado sobre
dados efetivos, por dados hipotticos, que so de mais rduo
acertamento (MANTOVANI, Diritto Pena/e, cit, p. 322).
Por isto, a diferenciao entre as duas formas
de manifestao do elemento subjetivo deve centrar-se sobre;
o critrio da aceitao do risco , havendo dolo eventual
quando a vontade no se dirige face ao evento, mas quando
o agente o aceita, como consequncia eventual, acessria da;
prpria conduta (Cf. MANTOVANI, ob. cit, p. 320/1).
Aceitam este critrio: DELITALA, Dolo
eventuale e colpa cosciente, Annuario dell'Universit
Cattolica, 1932; RICCIO, // dolo eventuale, Napoli, 1940;
ALTAVILLA, Do/o eventuale e colpa con previsione, Riv. It.
1957, p. 169 e PROSDOCIMI, Doius eventualis, Milano,
1988. PAULO J OS DA COSTA J NIOR, Comentrios, cit,
p. 174, leciona que sendo o dolo algo de positivo, no pode
ser configurado negativamente (no recusar o evento, no
abster-se da conduta etc.).
"Sendo o dolo eventual integrante da parte
mais grave da culpabilidade, embora menos
intenso que o dolo determinado, no pode ser
expresso em termos aproximativos ou
negativos. O agente haver de emitir um
JUZO AFIRMATIVO"
O evento pode dizer-se consentido: a)
quando o agente representa pelo menos a possibilidade
positiva de seu verificar-se; b) permanece na convico, ou
somente na dvida de que aquele possa ocorrer; c) tem, no
obstante, a conduta, mesmo que a custo de ocasionar o
evento, e, por isto, aceitando o risco da supervenincia
causal.
J na culpa consciente, embora tenha o
agente previsto o evento, age com a segura convico de
que o mesmo no ocorrer; ou seja, o agente no aceita a
produo do resultado que entrou em seu conhecimento. "La
colpa cosciente o con previsione caracterizzata dlla fiducia
che ha il soggetto sulla non verficazione del fatto tpico"
(SLVIO RANIERI, ob. cit, Parte Generale, p. 342 ; tambm
ANTOLISEI, Manuale, Parte Generale, n. 135: "nelia quale il
reo ha agito con Ia s/cura fiducia che 1'evento previsto come
possibile non si sarebbe avverato").
Vil - Prova do Dolo
Como lembra GIUSEPPE BETTIOL, Diritto
Pena/e, 12. ed., Padova, CEDAM, 86, p. 513, por algumas
vezes, na jurisprudncia e na doutrina se falou de dolus in r
ipsa ou de dolo presumido, como se existissem fatos tpicos
respeito aos quais no fosse necessrio provar, caso por
caso, a presena do dolo no nimo do agente. Informando
que o dolo deve existir durante todo o decurso causal e
tambm no momento em que o evento se realiza, o mestre
acrescenta que o dolo deve ser sempre direta e
cumpridamente acertado.
Mas, se isto verdade, como se faz a prova
do dolo, caso por caso? Se rduo reconstruir
acontecimentos no mundo externo, as dificuldades
aumentam quando se trata de acertar fatos puramente
internos, quais a representao e a vontade, o movente, ou o
consenso ou a aceitao do risco nos delitos que admitem o
dolo eventual.
Neste campo, preciso achar um
entendimento racional que no coloque a acusao em frente
a uma probatio diabolica (MANTOVANI, ob. Cit., p. 328), e
para que o rgo acusador no se situe em franca
inferioridade, porm, rejeitando-se as presunes legais,
que seriam um cmodo pretexto para Subtrair tanto o juiz
quanto o acusador da tarefa de provar o elemento
psicolgico.
H certos comportamentos que mais
rapidamente proporcionam o acertamento e prova da conduta
dolosa. Assim, atos de violncia carnal, subtrao de valores,
ofensas corporais com arma de fogo ou com instrumentos
explosivos, cuja sintomatologia do dolo imediata. Porm,
em outros casos as dificuldades emergem quase
insoluvelmente, como, v.g., quando se trata de estabelecer
se se trata de homicdio doloso ou preterintencional ou de
homicdio tentado. Nestes casos, somente a apreciao dos
dados referentes natureza e sede das leses, quantidade,
modalidade e meios (veneno, p.ex.) , o nmero de golpes, a
regio do corpo atingida, sinais de luta corporal, distncia e
posies entre os contendores, bem como o estado de
movimento ou inrcia de um ou de outro.
Algumas circunstncias factuais podem ser
hbeis e precisas no descobrimento do elemento
psicolgico, podendo-se destacar: a) a considerao de todas
as circunstncias exteriores que possam ser expresso do
estado psquico do agente', b) de acordo com as regras da
comum experincia, inferir-se a existncia daquelas
circunstncias indicativas da representao e da vontade,
segundo o quod plerumque accidit; c) as regras da
experincia (v.g., apontar e disparar a arma carregada contra
o peito do ofendido); d) na considerao das eventuais
circunstncias que deixam razoavelmente de supor um
desvio do modo como as coisas normalmente se
desenvolvem (ex.: profunda amizade e harmonia entre o
agente e a vtima, que renderia plausvel a verso de culpa
no disparo com a arma carregada).
Mais complexa torna-se a prova do dolo
eventual, e mais difcil aferir-se a sua existncia das
circunstncias do fato material. Circunstncia apenas
indiciaria a falta de adoo, pelo agente, de medidas
voltadas a evitar o evento. O lanador de facas de uma casa
de espetculos que provoque ferimentos na companheira
adorvel, que sempre sara indene de tantas outras
exibies, poder ter sido atingida, intencionalmente, sempre
que se possa provar ter o lanador agido aps grave
discusso com a vtima.
Os elementos integrantes do dolo eventual
so dois: representao do resultado como possvel e a
anuncia do agente verificao do evento, assumindo o
risco de produzi-lo. Porm, como informa PAULO J OS DA
COSTA J NIOR, ob. cit, Parte Geral, Vol, 1, p. 174,
"Tais elementos no podem ser extrados da
mente do autor, mas deduzidos das
circunstncias do fato. Em caso de dvida por
parte do julgador, dever concluir pela
soluo menos rigorosa: a da culpa
consciente."
No caso de dolo eventual, o objeto do
acertamento refere-se: a) a no-intencionalidade do evento;
b) a previso do mesmo; c) a aceitao na sua ocorrncia,
que se infere das circunstncias sintomticas a tal fim
(MANTOVANI, ob. cit, p. 330).
Age com dolo eventual o terrorista que, para
matar um poltico, coloca uma bomba na praa, sabendo que,
seguramente, e muito provavelmente, poderia matar outras
pessoas que ali transitavam. A existncia ou no de meios
predispostos a impedir o evento, tambm, no afasta a
existncia do dolo eventual. No caso do agente que,
colocada a bomba para fins de intimidao, procure, sem
xito, afastar os presentes, no se pode dizer que no tenha
agido com doius eventualis, para o resultado que procurou
afastar, de forma infausta.
VIII - Referncias Bibliogrficas
ALTAVILLA, E. Dolo Eventuale e Colp con Previsione.
Riv. it., 1957.
ANTOLISEI, Francesco. CONTI, Luigi. Manuale di Diritto
Penale, Parte Generale. 12. ed. Giufr, 1991.
BATTAGLINI, Giuiio. Direito Penal, Parte Geral. 1 vol.,
Saraiva, 1973.
BETTIOL, Giuseppe - MANTOVANI, Pettroello. Diritto Penale.
12, ed. Cedam, 1986.
COSTA, lvaro Mayrink da. Direito Penal, Parte Geral, v 1,
T. II, 3. ed. Forense, 1991.
COSTA J NIOR, Paulo J os da. Comentrios ao Cdigo
Penal, Parte Geral, v. 1., Saraiva, 1989.
DELITALA, Giacomo. Dolo Eventuale e Colp Coselente.
Annuario dell'Universit Cattolica, 1932.
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de Direito Penal, Parte
Geral. 9. ed. Forense, 1985 (atualizada por Fernando
Fragoso).
HUNGRIA, Nelson. Comentrios ao Cdigo Penal, vol. l, T. 2,
Forense, 1958.
J ESUS, Damsio de. Comentrios ao Cdigo Penal, Parte
Geral. 2. ed.1 v., Saraiva, 1986.
MANTOVANI, Ferrando. Diritto Penale, Parte Generale.
Cedam, 1992.
MARSICO, Alfredo de. Diritto Penale, Parte Generale.
J ovane, 1969.
NORONHA, Magalhes. Direito Penal, v. 1, Saraiva, 23.
ed. (atualizada por ARANHA, Adalberto J os Q.T, de
Camargo). 1985.
PROSDOCIMl. Dolus Eventualis. Milano, 1988.
RANIERI, Silvio. Manuale di Diritto Penale, Parte Generale. 1.
v. 4. ed. Cedam, 1968.
RICCIO, Stefano. //Dolo Eventuale. Napoli, J ovene, 1940.
TOLEDO, Francisco de Assis. Princpios Bsicos de Direito
Penal. 2. ed. Saraiva, 1986.
ZAFFARONI, Eugnio Raul. Manual de Derecho Penal, Parte |
General. 6. ed. Ediar, 1991.
Do Exerccio das Atribuies
Constitucionais do Ministrio
Pblico e de sua Atuao junto
ao Tribunal de Contas Estadual
Mrcio Etienne Arreguy
Promotor de Justia
l - Introduo
A implementao do Estado de Direito,
iniciada com a convocao da Assembleia Nacional
Constituinte e consagrada com a promulgao da nova Carta
Magna, em 1988, se fez sentir, com especial intensidade,
quando analisada sob a tica do mbito de atuao do
Ministrio Pblico.
O Poder Constituinte concebeu a Instituio
como garantia primordial da Cidadania, incumbindo-a da
defesa do Regime Democrtico, da Ordem J urdica e do
prprio Estado de Direito, deixando evidente a importncia
fundamental do Ministrio Pblico no quadro institucional
brasileiro.
Pode-se dizer, diante destas circunstncias,
que a concepo do Ministrio Pblico, nos parmetros
estabelecidos pela Constituio, foi a mais notvel inovao
institucional desde a proclamao da Repblica, retomando o
caminho histrico da Liberdade, que norteia a Histria da
Humanidade.
Ta! nos parece o perfil do decantado
"Ministrio Pblico do Terceiro Mundo", voltado para a defesa
dos mais caros valores da Sociedade e da Civilizao,
II - Da Ampliao das Atribuies do
Ministrio Pblico
Considerada sua importncia no quadro
institucional, em consequncia da natureza de suas
atribuies e das garantias que lhe so asseguradas, pode-
se perceber, primeira vista, que o Ministrio Pblico exerce
o papel de pea fundamental no "sistema de freios e
contrapesos", mediante o qual o Estado procura o equilbrio
no exerccio do Poder.
Os novos contornos dados ao Parquet
trouxeram tona a noo de "Quarto Poder", inclusive porque
lhe foi conferida, de forma legtima, a autonomia
oramentaria, financeira e administrativa, pelas disposies
da Lei Maior.
Considerado como indispensvel ao exerccio
da funo jurisdicional, e incumbido da defesa dos direitos de
carter social e coletivo, o Ministrio Pblico experimentou
significativo aumento qualitativo de suas atribuies.
Para viabilizar o exerccio de suas funes
institucionais guindou-se a ao civil pblica ao patamar
constitucional, colocando-a a servio de tais direitos, com a
modificao de sua instrumentalidade, antes restrita aos
casos previstos na lei ordinria.
Hoje, que respiramos o ar da Liberdade e da
Democracia - no foi por outro motivo que nossos bravos
soldados morreram nas montanhas da Itlia - vivemos sob
uma "Nova Ordem", fundada no Direito e na Cidadania, dos
quais o Parquete guardio perene e inderrogvel.
Ill - O Ministrio Pblico Junto ao Tribunal de
Contas Estadual
O Tribunal de Contas, ao contrrio do que
sugere sua denominao, no exerce funo jurisdicional.
Trata-se de rgo de assessoramento do Poder Legislativo,
incumbido do exerccio do controle poltico dos atos da
Administrao.
O Ministrio Pblico, por sua vez, est
incumbido da defesa dos direitos sociais e indisponveis,
dentre os quais a legalidade e a moralidade dos atos da
Administrao se destacam prima fade.
Assim, sua atuao junto quele rgo deve
consistir na fiscalizao das prestaes de contas pblicas,
para, com base nos dados existentes e na anlise tcnica
que os acompanham, adotar medidas cabveis em cada
caso, de natureza civil ou penal, exigindo, perante o Poder
J udicirio, o respeito dos direitos cuja violao se constatar.
Existem, portanto, dois tipos de controle dos
aios da Administrao que no se confundem, nem se
vinculam: o controle poltico, exercido pelo Poder
Legislativo, com a assessoria do Tribunal de Contas, e o
controle judicial, exercido pelo Poder J udicirio, mediante a
provocao do Ministrio Pblico, das entidades legitimadas
propositura da ao civil pblica, e por cada um dos
cidados, sujeito ativo da ao popular.
E disso se conclui que a aprovao das
contas, pelo Tribunal de Contas ou pelo Poder Legislativo,
no fato impeditivo da propositura da ao que vise
recomposio de dano ao Patrimnio pblico, decorrente do
abuso da atividade administrativa.
Por outro lado, a defesa desse Patrimnio,
atribuda ao Parquet, no se exaure em sua atuao junto ao
Tribunal de Contas, nem se restringe a outros limites, que
no os estabelecidos legalmente, observado o princpio da
hierarquia das normas.
IV - Da Ao Civil Pblica como Instrumento
Vivel para o Exerccio do Controle
Judicial dos Atos Administrativos
A ao civil pblica, em sua verso original,
antes da vigncia da Carta Magna, tinha sua
instrumentalidade restrita s hipteses legalmente
elencadas.
Entretanto, seu novo perfil constitucional
destinou-a defesa dos direitos sociais e coletivos,
ampliando-se o campo de abrangncia.
Apesar disso, estabeleceu-se controvrsia a
respeito de ser ou no tal ao o remdio jurdico adequado
ao exerccio do controle judicial dos atos da Administrao.
Alguns Tribunais se posicionaram no sentido
de que a via processual correia seria a ao popular, por ser
a mesma destinada especificamente a tal finalidade.
A polmica parece ter sido encerrada aps a
vigncia do Cdigo do Consumidor que, repetindo as
disposies constitucionais, estabeleceu a adequao da
ao civil pblica, para a defesa de "qualquer outro interesse
coletivo".
Parece-nos duvidoso que algum possa
excluir a integridade administrativa e o Patrimnio pblico do
rol desses interesses, seno mediante a fora e o arbtrio.
H, ainda, a expresso legal: SEM
PREJ UZO DA Ao POPULAR, que afasta qualquer tipo
de obstculo do caminho da viabilidade da ao civil pblica;
como instrumento de exerccio do controle judicial dos atos
da Administrao.
Tal expresso consagra a convergncia de
finalidade dessas medidas, no mbito do exerccio do aludido
controle judicial.
V - Concluso
Admitida a instrumentalidade da ao civil
pblica para os fins expostos, fica evidenciada a legitimidade
ativa do Ministrio Pblico, titular nato de tal ao, para atuar
no mbito do controle judicial dos atos da Administrao.
Anterior entendimento dos Tribunais,
negando a legitimidade ativa do Parquet, se fundava na tese
de que o Ministrio Pblico s poderia postular a defesa dos
direitos elencados na redao original do art. 1 da Lei n
7.347/85, hoje modificado pelas disposies inseridas no
Cdigo do Consumidor, conforme j foi explicado.
Outra polmica que tambm parece
superada diz respeito questo de o conceito "Patrimnio
pblico" abranger ou no o Errio, eis que a insero da
expresso "qualquer outro interesse coletivo" torna flagrante
a possibilidade de enquadramento legal do Errio, e de sua
proteo pela ao civil pblica, ainda que fora do conceito
"Patrimnio pblico".
Esse conjunto de posies contrrias ao
instituto da ao civil pblica e, ipso facto, plenitude do
desempenho das atribuies Ministeriais, jamais foi corrente
predominante nos Tribunais de J ustia dos Estados.
Ainda assim, espantou-nos ter visto negada
a vigncia da Constituio, apesar da clareza de seu texto e
da aplicabilidade das normas pertinentes ao tema {In claris,
interpretatio cessat).
Pareceu-nos bvio o propsito do legislador
constituinte no sentido de instrumentalizar a ao civil
pblica, de legitimar o Ministrio Pblico como sujeito ativo e
de incluir o Errio no rol dos interesses juridicamente
tutelados.
O entendimento de que todas essas
questes s foram contempladas depois da vigncia da lei
ordinria desafia a valiosa contribuio de Hans Kelsen e a
teoria do primado constitucional, reconhecida pelo
ordenamento jurdico nacional.
A Lei Maior se sobrepe a todas as outras,
revogando as disposies em contrrio!
A aceitao dessa simples premissa teria
evitado numerosos recursos e calorosos debates,
pacificados apenas depois da edio do Cdigo do
Consumidor.
A atuao do Ministrio Pblico junto ao
Tribunal de Contas, sob a tica dos novos contornos da
Instituio, inerentes ao regime democrtico, ainda fato
novo em nossa cultura jurdica e poltica e de muito servir
para a represso dos abusos que, impiedosamente, nos
assolaram ao longo do curso da Histria.
Do Valor
Instrutrio do Inqurito Civil
Luciano Luz Badini Martins
Promotor de Justia
Sumrio: l - Introduo. II - Inqurito Civil. Valor Probante.
Concluso.
l - Introduo
O inqurito civil, criado atravs da Lei n
7.347/85 (art. 8, 1), tem sido objeto de escassa literatura
e, no raro, limitam-se os compndios a tecer comentrios
acerca dos dispositivos inseridos no referido diploma legal.
Nem sua consagrao expressa no texto da Constituio
Federal de 1988 (art. 129, III) teve o condo de estimular
anlise mais detalhada do instituto em seara doutrinria.
A despretenso deste trabalho inviabiliza o
preenchimento desta lacuna, notadamente em razo de ser
diverso seu escopo.
evidncia, a precisa inteligncia da
natureza e valor instrutrio do inqurito civil permitir, em
nossa tica, que aes civis pblicas que, atualmente, esto
vocacionadas ao fracasso, passem a coroar-se de xito,
notadamente aquelas propostas no exerccio da Curadoria de
Defesa do Patrimnio Pblico.
rduo o exerccio das atribuies ministeriais
nesta esfera. Censurveis "prticas polticas" tm-se
perpetuado. As verses tm prevalecido ante os fatos.
momento de o Poder J udicirio se aperceber de sua funo
essencial na reconstruo dos valores ticos do pas, e
atribuio do Ministrio Pblico fornecer elementos que
permitam a mudana da postura judicial. No h tempo a
perder, adverte o mestre NORBERTO BOBBIO
1
:
"Comecei com Kant. Concluo com Kant. O
progresso, para ele, no era necessrio. Era
apenas possvel. Ele criticava os 'polticos'
por no terem confiana na virtude e na fora
da motivao moral, bem como por viverem
repetindo que 'o mundo foi sempre assim
como o vemos hoje'. Kant comentava que,
com essa atitude, tais 'polticos' faziam com
que o objeto de sua previso - ou seja, a
imobilidade e a montona repetitividade da
histria - se realizasse efetivamente. Desse
modo, retardavam propositalmente os meios
1
A Era dos Direitos , ed. Campus, 1992, p. 64.
que poderiam assegurar o progresso para o
melhor. Com relao s grandes aspiraes
dos homens de boa vontade, j estamos
demasiadamente atrasados. Busquemos no
aumentar esse atraso com nossa
incredulidade, com nossa indolncia, com o
nosso ceticismo. No temos muito tempo a
perder."
II - Inqurito Civil. Valor Probante
Em nosso entendimento, a alterao deste
sombrio quadro passa, necessariamente, pela perquirio do
valor instrutrio do inqurito civil. Multiplicam-se decises
judiciais que tm conferido a este, sob o prisma axiolgico,
importncia secundria e, em consequncia, tm julgado
improcedentes as postulaes ministeriais ento formuladas.
O fim da "imobilidade e montona
repetitividade da histria" passa, necessariamente, pela
correta anlise e valorao do arcabouo instrutrio
produzido no curso de aes civis pblicas.
Para tal mister, a fortiori, faz-se necessrio
traar um quadro comparativo acerca da natureza e valor
instrutrio do inqurito policial e inqurito civil.
De regra, conceitua-se o inqurito policial
como procedimento inquisitorial, instaurado e presidido por
autoridade policial, que visa demonstrar a materialidade e
revelar a autoria dos delitos, de tal sorte a permitir,
oportunamente, ao Ministrio Pblico, a propositura da
competente ao penal.
De feito, ressalta com acerto antnio
AUGUSTO MELLO DE CAMARGO FERRAZ, em precioso
artigo jurdico
2
, "que ao contrrio do que ocorre com o
inqurito policial (em que se imputa a algum a prtica de um
crime), no inqurito civil o que se investiga a ocorrncia e
autoria de um mero ilcito civil". E conclui: "Em caso de desvio
de poder, ou de finalidade, portanto, as conseqncias
danosas sobre a pessoa do 'investigado' so bastante
diversas, num e noutro caso (so muito mais severas no
primeiro)."
De mais a mais, o inqurito civil presidido
pelo prprio rgo do Ministrio Pblico e visa proteo de
direitos individuais homogneos ("acidentalmente coletivos",
na feliz expresso de J OS CARLOS BARBOSA MOREIRA
3
)
ou direitos superindividuais (difusos e coletivos),
"essencialmente coletivos".
Reafirme-se, de tudo quanto fora exposto
tem-se que as mazelas do inqurito policial superam, em
muito, as que, em tese, maculam o inqurito civil.
No bastasse, o procedimento inquisitorial
criminal, presidido por autoridade distinta da que efetuar a
propositura da ao penal, poder servir de substrato para a
restrio do status libertatis do cidado. Em contrapartida, o
2
Apontamentos Sobre o Inqurito Civil, Jn Revista J USTITIA 157/33.
3
Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos, in Temas de Direito Processual,
terceira srie, cit. p. 195-6.
inqurito civil, presidido pelo prprio Parquete tem o escopo
de apurar violaes a direitos individuais homogneos,
difusos ou coletivos; contudo, as consequncias ao infrator
limitar-se-o, em princpio, esfera cvel.
Diz-se mais: nos termos do artigo 9 da Lei n
7.347/85 (LACP), convencendo-se da inexistncia de
fundamento para a propositura da ao civil, cabe ao rgo
Ministerial promover o arquivamento do inqurito civil, sem
qualquer interveno judicial.
Ipso facto, o Ministrio Pblico empreende
diligncias, instrui o procedimento e, ao final, com iseno,
fundamentadamente, opta dentre dois caminhos diversos - o
da promoo do arquivamento ou do ingresso em J uzo com
a ao civil pblica - o rumo correio a ser trilhado. Neste
diapaso, vale transcrever a lio irretocvel de J OS
CELSO DE MELLO FILHO
4
acerca da natureza do inqurito
civil, seno observe-se:
"O projeto de lei que dispe sobre a ao civil
pblica institui, de modo inovador, a figura do
inqurito civil. Trata-se de procedimento
meramente administrativo, de carter pr-
processual, que se realiza extrajudicialmente.
O inqurito civil, de instaurao facultativa,
desempenha relevante funo instrumental.
Constitui meio destinado a coligir provas e
quaisquer outros elementos de convico,
que possam fundamentar a atuao
processual do Ministrio Pblico. O inqurito
4 Nota constante do processo relativo ao projeto de que resultou a Lei n 7.347/85.
civil, em suma, configura um procedimento
preparatrio, destinado a viabilizar o
exerccio responsvel da ao civil
pblica. Com ele, frustra-se a possibilidade
, sempre eventual, de instaurao de lides
temerrias."
Apesar de todas as mazelas que revestem o
procedimento inquisitorial criminal, corrente o
entendimento no sentido de que seu valor probatrio
demonstra-se inequvoco.
As provas colhidas em fase pr-processual
criminal, encontrando " algum suporte probante judicial"
5
,
obtido em instruo contraditria, so suficientes para
autorizar a expedio de decreto condenatrio em desfavor
do acusado, e, dessarte, limitar seu status libertatis. Em obra
especfica sobre a matria, pontifica o insigne FERNANDO
DE ALMEIDA PEDROSO
6
, litteris:
"Sendo o inqurito policial simples informatio
delicti, isto , o continente ou o todo que
materializa as investigaes policiais levadas
a efeito para apurao preliminar de
determinado fato tido como crime, e estando
inserida em seu conceito a idia de
investigao, bvio que a pea policial
informativa no poderia seguir, como de fato
no segue, o princpio constitucional do
contraditrio. O inqurito policial, por espelhar
5
TJ SP, A p. 37.024-3, Rel. Des. SILVA LEME, in RT 611/353.
6
Prova Penal, ed. AIDE, 1. ed. , 1994, p.141.
uma instruo preliminar provisria e
subsidiria, cujo desiderato , to-s servir de
lastro para eventual ao penal, constitui
caderno de cunho eminentemente inquisitivo.
De tal arte, as provas coligidas unicamente
em inqurito policial, sem a mnima
corroborao pela instruo judicial, no
so aptas a alicerar um decreto
condenatrio."
7
Ora, impe-se raciocnio lgico. Inicialmente,
tem-se que as provas colhidas em inqurito policial, se
minimamente corroboradas pela instruo realizada em juzo,
servem de amparo para a expedio de decreto
condenatrio e cerceamento da liberdade do acusado. Em
contranota, conceitua-se o inqurito civil - tambm de
natureza inquisitorial, contudo presidido por rgo isento -
como instrumento destinado a viabilizar o exerccio
responsvel da ao civil pblica, frustrando a possibilidade
de instaurao de lides temerrias.
Em concluso, tem-se, com evidncia palmar,
que o arcabouo instrutrio produzido no curso de inqurito
civil, se encontrar algum suporte probatrio judicial, ser apto
a amparar o julgamento da procedncia do pedido formulado
na ao civil pblica.
7
Em sede jurisprudencial, tal entendimento encontra igualmente amparo, seno vejamos:
"Havendo algum suporte probante na fase judicial, a prova colhida no inqurito policial pode
ser convocada para fundamentar deciso condenatria" (RT 621/290)."A prova policial
inquisitria s deve ser desprezada, afastada, arredada como elemento vlido e aceitvel de
convico quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatria ou
quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em J uzo,
atravs de regular instruo" (RT 622/276).
Ill - Concluso
Inestimvel o valor probante do inqurito civil.
O arcabouo instrutrio neste produzido suficiente para
amparar a pretenso ministerial deduzida em ao civil
pblica desde que minimamente corroborado pelo suporte
probatrio produzido em sede judicial. Vale dizer, quando no
desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos
probantes colhidos em J uzo, a prova inquisitria civil no
pode ser desprezada como elemento vlido e aceitvel de
convico.
Entendimento contrrio corresponde a
recusar-se ao inqurito civil seu inequvoco e inestimvel
valor instrutrio e, em contrapartida, autorizar que, com
nossa incredulidade, indolncia e ceticismo, permanea
imvel e montona a repetitividade de nossa histria.
Independncia
Funcional e Obedincia
Hierrquica: Princpios Harmnicos
no Ministrio Pblico
J os antnio de Lemos Sobrinho
Procurador de Justia
O Ministrio Pblico "no rgo
jurisdicional, mas administrativo - segundo PONTES DE
MIRANDA - j que se afigura corpo autnomo, ao mesmo
lado e diferente da magistratura, ligado mas independente do
Poder Executivo" (Comentrios Constituio de 1934, v. 1,
p.776).
Entendendo com mais acuidade, ainda, a
questo, ALLORIO afirmou que ele est na zona extrema da
administrao, justamente onde esta confina com a atividade
jurisdicional.
So, inegavelmente, serventurios pblicos
mas, conforme acentuaram bem GLASSON e TISSIFE,
guardam uma certa independncia, que no tm os demais
funcionrios, apud FREDERICO MARQUES (Instituies de
Direito Processual Civil, v. 1, p. 258).
"O rgo, no exerccio especfico de suas
funes, age em nome do Ministrio Pblico" (princpio da
unidade), uma vez que o Ministrio Pblico (e, no, a
pessoa fsica que ocupa, eventualmente, o cargo) quem, por
exemplo, denuncia, encetando a ao penal. Neste particular,
o rgo, no avaliar se criminosa, ou no, a conduta, e, se
criminosa, qual incidncia, no presta obedincia ao seu
superior hierrquico (Procurador-Geral) nem, tampouco, ao
chefe do Governo a que esteja formalmente vinculado
(Presidente da Repblica ou Governador de Estado).
Age, soberanamente, de acordo com a sua
conscincia, com a sua cultura jurdica (dentro dessa,
consoante a corrente doutrinria ou jurisprudncia!
esposada), com a sua inteligncia posta a servio da Ptria,
como rgo do Estado e no do Governo, com misso
vinculada realizao da J ustia, em todas as suas nuanas.
J OCTACLIO PAULA SILVA asseverou (Ministrio Pblico,
p. 13):
"A submisso do membro do Parquet
disciplina interna da Instituio no significa,
por outra parte, abdicao da liberdade de
opinar."
A adoo do princpio do promotor-natural (ou
procurador-natural), que guarda razes profundas nos l
predicamentos da magistratura, estendido aos integrantes do i
Ministrio Pblico pela Constituio da Repblica vigente, J
no pode e no deve ser compreendido com tanto dilargue, a
ponto de marcar a Instituio com a insubordinao, a
desordem, a anarquia.
A prpria democracia no tem tamanha
amplido conceptual, posto que nada mais se afigura do que
um governo de Povo pelo Povo, todavia sob o imprio das
leis feitas pelo mesmo Povo atravs de seus representantes.
verdade que ningum obrigado a fazer,
ou a no fazer algo, sem que haja preestabelecimento legal;
contudo, h princpios nsitos que, certamente, no
conduzem insurreio contra a direo institucional.
No pode o rgo do Ministrio Pblico ser
censurado porque amplexou um conceito doutrinrio ou
porque abraou uma corrente jurisprudencial No pode, por
esta razo, ser substitudo, temporria ou definitivamente,
mesmo porque no pode ser submetido a uma norma de agir
que seja adversa ao seu modo de pensar.
Inclusive, a designao de outro procurador
ou promotor para funcionar em feito determinado de
atribuio do titular apenas se acha possvel se houver
concordncia deste, nos termos da lei.
Mutatis mutandis, a mesma questo do juiz
que se no mostra subordinado fora interpretativa das
smulas, da jurisprudncia uniformizada, dos acrdos
reiterados dos tribunais quando decide, transplantado para o
Ministrio Pblico, valendo dizer que o Ministrio Pblico
somente deve obedincia lei.
CSAR SALGADO, no mandamento X do
declogo famoso, fora incisivo declarando: "S independente.
No te curves a nenhum poder, nem aceites outra soberania
seno a da lei."
Volta-se a insistir que se no apresenta
delida ou inexistente a subordinao hierrquica fora do
campo da independncia funcional.
OCTACLIO PAULA SILVA orienta dizendo
que "esto, de um lado, as atribuies legais (com
independncia) no desempenho dos deveres do cargo, e, de
outro, a subordinao administrativa aos superiores
hierrquicos" (Ministrio Pblico, p. 270).
obrigado, pois, a acatar, no plano
administrativo, as decises dos rgos da administrao
superior do Ministrio Pblico (art. 43, inciso 14, da Lei n
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, do art. 110, inciso 15, da
Lei Complementar Estadual n 34, de 12 de setembro de
1994).
O membro do Ministrio Pblico, como lider-
nato da Sociedade em que exerce as suas atividades
funcionais, tem a obrigao, por exemplo, de combater o
crime!
E este bom combate no se faz to-s na
represso, mas tambm na preveno.
Os rgos superiores do Ministrio Pblico
podem traar normas neste sentido, que importam e
comportam obedincia.
H situaes, anlogas ou semelhantes, em
que igualmente se impe a obedincia.
Distinguidos e expostos os princpios da
independncia de natureza funcional e da obedincia
hierrquica, colunas mestras do templo do Ministrio Pblico,
resta dizer, apenas, que elas devem conviver
harmoniosamente, reinando sempre, na tomada de decises,
o bom-senso, a serenidade, o equilbrio (muitas vezes, a
prvia discusso, posta pelo Procurador-Geral ao Conselho
Superior ou Cmara de Procuradores, ainda que a
atribuio se lhe mostre exclusiva, denota vontade maior em
acertar).
Juizados Especiais
e Defesa do Consumidor
J ane Ribeiro da Silva
Juza do Tribunal de Alada
Os J uizados Especiais Criminais tm
constitudo tema de nossa preferncia, no s enquanto
ideal, mas, agora tambm, pelo sucesso, na prtica, do
procedimento e inovaes determinados na Lei n 9.099/95.
No bastassem tais consideraes, outro
tema sempre nos preocupou, ou seja, a tutela legal do
consumidor, sonho que comeou a se tornar possvel, de
modo eficaz e especfico, primeiramente, quando o legislador
constituinte o inseriu expressamente no art. 5, XXXII, da
Constituio Federal de 1988, dizendo: "O Estado
promover, na forma da lei, a defesa do consumidor".
Dispondo, ainda, no art. 48 do Ato das Disposies
Constitucionais Transitrias que o Congresso Nacional,
dentro de cento e vinte dias da promulgao da Constituio,
elaboraria cdigo de defesa do consumidor.
Os juristas convidados para elabor-lo, Ada
Pelegrini Guinover, antnio Herman de Vasconcelos e
Benjamim, Daniel Roberto Fink, J os Geraldo Buto Romeno,
Kazuo Watanabe, Nelson Nery J nior e Zelmo Denari, cujos
nomes foram sugeridos ao Ministro Paulo Brossard,
aceitaram o desafio e, j em 04 de janeiro de 1989, o Dirio
Oficial continha o Anteprojeto e, em 11 de setembro de 1990,
era promulgada a Lei n 8.078, denominada Cdigo
Nacional de Defesa do Consumidor.
O Cdigo de Defesa do Consumidor, ao lado
de outras normas existentes nos Cdigos Civil, Comercial,
Penal e outros diplomas legais, passou a ser uma arma
eficiente para a grande parte dos males que afligem os
consumidores, mas faltavam ainda meios judiciais eficazes,
rpidos, informais e simplificados que lhes consolidassem a
almejada proteo, ao lado das medidas j previstas na Lei
n 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Outrossim, quando dos trabalhos da
Assembleia Constituinte, dois juzes de So Paulo, Pedro
Luiz Ricardo Gagliardi e Marco antnio Marques da Silva,
apresentaram Associao Paulista dos Magistrados um
anteprojeto de lei federal sobre juizados especiais criminais e,
tendo havido a promulgao da Carta Magna de 1988, onde
se previa expressamente a criao dos J uizados Especiais
Criminais, o Presidente do Tribunal de Alada de So Paulo
nomeou quatro juzes para o examinarem: antnio Carlos
Vieira de Moraes, Paulo Costa Manso, Ricardo Antunes
Andreucci e Rubens Gonalves, sendo convidada para
integrar o grupo a professora Ada Pellegrini Guinover, que j
presidira a comisso dos trabalhos do Anteprojeto do Cdigo
de Defesa do Consumidor, a qual, por sua vez, convidou
outros professores, os Procuradores de J ustia antnio
Magalhes Gomes Filho e Antnio Scarance Fernandes.
A Comisso, assim formada, elaborou
substitutivo, que foi apresentado ao Presidente do Tribunal
de Alada de So Paulo, e depois submetido Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional de So Paulo, sendo
enriquecido com sugestes das mais diversas categorias
jurdicas do Estado, at que, aperfeioado, o anteprojeto foi
levado ao Deputado Michel Temer, que o transformou no
Projeto de Lei n 1.480/89.
Vrios projetos haviam sido apresentados
sobre o mesmo assunto, sendo relator de todos eles, na
Comisso de Constituio e J ustia da Cmara dos
Deputados, o Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que acabou por
selecionar o Projeto Michel Temer, no que dizia respeito aos
J uizados Especiais Criminais, unindo-o ao Projeto Nelson
J obim, referente aos J uizados Especiais Cveis, num nico
substitutivo, que foi aprovado na Cmara dos Deputados e
encaminhado ao Senado, sendo relatado pelo Senador J os
Paulo Bisol, que apresentou um substitutivo de sua autoria.
Retomando Cmara dos Deputados, o Deputado Abi-Ackel
manteve o substitutivo anterior, j aprovado pela Cmara, e
assim se aprovou definitivamente o substitutivo resultante dos
Projetos Temer e Nelson J obim, consistente na Lei n 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que passou a vigorar a partir de
26 de novembro de 1995.
Ora, at ento, no Brasil, para se chegar
punio, como meio de resguardar a sociedade, recuperar o
criminoso e prevenir a delinqncia, nosso sistema penal e
processual penal reclamava mudanas urgentes e a Lei n
9.099, de 26 de setembro de 1995, constitui um primeiro e
grande passo para a reestruturao que se impe.
O Cdigo Penal Brasileiro, conquanto tenha
sofrido, em sua parte geral, modificaes substanciais, ainda
contm infraes penais que no mais tm razo de ser, e
outras condutas esto a reclamar punio, como, por
exemplo, os crimes contra o meio ambiente, os que
nasceram com a informtica, novos delitos ligados relao
de consumo, no previstos na legislao especfica, e outros
diplomas legais, alm de tantos outros.
Novos tipos penais devem ser previstos pelo
legislador para tutelar situaes novas ante atuais condutas
lesivas sociedade e que, antes, jamais foram imaginadas.
Por' outro lado, nosso Estatuto Processual
remonta a 1941, data da vigncia inicial do Decreto-Lei n
3.698/41, e sob essas normas, em sua grande maioria
ultrapassadas, extremamente formais, que se apuram as
infraes penais e seus autores, e que o Estado concretiza o
seu direito de punir, no o alcanando, na maioria das vezes,
quer pela prescrio, quer pela imprestabilidade das sanes
impostas ou pela ineficincia de seus rgos e instituies e
deficincia das prprias leis .
No se atentava, naquela ocasio, para a
desmedida violncia, hoje patente, e para as modificaes
operadas na sociedade brasileira, com novos hbitos e
natural progresso, e onde impera acentuado desnvel social e
de renda per capita, com uma grande parcela da populao
vivendo em estado de extrema penria, em favelas,
amontoada em barracos, crianas que se transformam em
adultos, sem nenhuma educao e que, desde cedo, fazem
do crime o seu meio de subsistncia e do traficante, que o
assiste na misria, o seu modelo de heri.
Considerando tudo isso, denunciar,
processar, defender, julgar e, sobretudo, punir algum,
principalmente com pena privativa de liberdade, atribuio
de grande responsabilidade, mormente quando se verifica
que a priso vem representando um grave risco para a
sociedade, pois a contaminao dos males carcerrios
evidencia-se, a cada dia , a tal ponto que hoje se entende
que a pena de priso s deve ser imposta em casos
extremos, quando o sentenciado representar, efetivamente,
um perigo para a sociedade.
As estatsticas demonstram que a
reincidncia muito mais frequente entre os condenados
que passaram pelo crcere do que aqueles que foram
beneficiados com penas substitutivas ou com a sua
suspenso condicional.
Acrescente-se que a populao carcerria
cresce, desmedidamente, a cada ano, e o valor gasto para
mante-la, bem como toda a estrutura penitenciria, tem
constitudo impeditivo para destinao de maiores verbas
para a sade, educao e obras pblicas de grande
significao social.
Muitas das infraes penais, cujas
consequncias interessam mais diretamente ao ofendido que
ao prprio Estado, podem ser resolvidas de modo mais
simplificado, atravs da iniciativa da prpria vtima ou- atravs
de representao, bem como a maioria das penas privativas
de liberdade podem ser substitudas por outras, notadamente
a pecuniria e as substitutivas de direito.
Tal entendimento no restrito somente ao
nosso Pas, mas vem sendo exposto em todo o mundo,
sendo que, em 1991, na promulgao do "Criminal Justice
Act", na Inglaterra, ficou estabelecido para os magistrados
que
"ningum deve ser enviado para a priso, a
menos que o juiz considere a infrao
cometida to sria que apenas a privao de
liberdade seja capaz de proteger o pblico
do dano que poderia ser causado pelo
infrator".
Ante todas essas consideraes, testa-se,
agora, no Brasil, um novo modelo de J ustia Criminal,
conforme acentua LUIZ FLVIO GOMES em sua obra
Suspenso Condicional do Processo. Provoca-se uma
verdadeira revoluo jurdica e de mentalidade, substituindo-
se o princpio da obrigatoriedade da ao penal pblica pelo
principio da oportunidade, logicamente limitado pela prpria
lei:
Acentua o mesmo autor que a verdade
material pode ser substituda pela verdade consensuada,
bem como a vtima agora lembrada, pois previu-se a
reparao dos danos.
O consenso entre o ofendido e o autor do
fato, nas aes penais privadas e nas pblicas sujeitas
representao, substitui um longo , formal e demorado
processo.
Com efeito, o art. 92 da Lei n 9.099/95, ao
apontar os princpios orientadores dos J uizados Especiais
Criminais, indica a oralidade, informalidade, economia
processual e celeridade, objetivando, sempre que possvel, a
reparao dos danos sofridos pelas vtimas e aplicao de
pena no privativa de liberdade.
Entretanto, a Lei n 9.099, no que se refere
aos J uizados Criminais, embora contenha pouco mais de
trinta artigos, tem ensejado controvrsias em relao
interpretao de muitas de suas disposies, que j se
fazem acirradas, sendo que nossa exposio tentar
preferencialmente enfoc-las, dada a exiguidade de tempo.
O J uizado Especial Criminal alcana
infraes penais de menor potencial ofensivo, ou seja, as
contravenes penais e os crimes a que a lei penal comine
pena mxima no superior a um ano, excetuados os casos
em que ela preveja procedimento especial.
O novo J uizado passou a ter competncia
para conciliao, julgamento e execuo das infraes penais
de menor potencial ofensivo que, para os efeitos da Lei n
9.099/95, so as contravenes penais e os crimes a que a
lei comine pena mxima no superior a um ano, excetuados
os casos em que se preveja procedimento especial; logo, as
infraes penais previstas no Cdigo de Defesa do
Consumidor, desde que no tenham pena superior a um ano,
podero ser examinadas atravs do procedimento dos
juizados especiais, pois o legislador no lhes previu qualquer
rito especial, limitando-se a defini-las.
O Cdigo do Consumidor, nos arts. 63, 2;
66, 2; 69; 73 e 74, prev penas privativas de liberdade de
um a seis meses ou multa, alternativamente; nos arts. 66,
caput, e 1; 67; 70; 71, penas de trs meses a um ano e
multa, cumulativamente; no art. 72, seis meses a um ano de
pena privativa de liberdade ou multa , alternativamente,
sendo que tais infraes permitem o procedimento da Lei n
9.099/95.
J as infraes penais previstas no art. 63,
caput e 1; 64, caput e pargrafo nico; 65 e 68, embora
no alcanadas pelo referido procedimento, o so pela
suspenso condicional do processo prevista no art. 89 da Lei
n 9.099/95, que alcana toda e qualquer infrao penal, cuja
pena mnima no exceda um ano, mesmo aquelas que
tenham procedimento especial; logo, todas as infraes
penais previstas no Cdigo do Consumidor foram
alcanadas de algum modo pela lei nova, da o justificado
interesse de todos aqueles que, de alguma maneira, labutam
pela defesa do consumidor.
Entre os crimes praticados contra o
consumidor, previstos no Cdigo Penal, quase todos foram
tambm alcanados pela Lei n 9.099/95, alguns sujeitos ao
procedimento ali previsto, outros suspenso condicional do
processo, excetuando-se o do art. 272 e seu 1, e as
formas qualificadas previstas no art. 285 c.c. 258, quando
resultar leso corporal grave ou morte, se considerarmos
abstratamente as penas aumentadas, o que alguns
entendem possvel, desde que os mnimos superem um ano.
V-se, assim, que a ao penal, para alguns
crimes previstos na Lei n 8.078, sofreu alteraes.
Como todos os delitos ali previstos eram
punidos com deteno, no lhes tendo o legislador
determinado procedimento especial, estavam eles, at ento,
em sua totalidade, sujeitos, exclusivamente, ao rito sumrio
dos crimes.
Por outro lado, apesar de permitida a ao
penal privada subsidiria, em princpio, a ao penal
referente aos crimes previstos no Cdigo de Defesa do
Consumidor de ao penal pblica incondicionada, o que
gera consequncias das mais diversas.
No se tem, em relao s referidas
infraes, o inqurito policial, salvo quando dificuldades na
apurao dos fatos fizerem necessria apurao mais
detalhada, quando, neste caso, o procedimento a ser
imprimido no ser mais o dos J uizados Especiais, mas sim o
do J uzo comum, ainda que alguns entendam que as normas
despenalizadoras devam ser aplicadas, enquanto outra
corrente esposa o entendimento de que s seria ento
possvel a aplicao da suspenso condicional do processo,
sendo este o entendimento do ilustre Procurador de J ustia
ALBERTO VILAS BOAS DE SOUZA, em artigo que integra a
publicao Juizados Especiais, divulgada pela Associao
Mineira do Ministrio Pblico.
Tambm no h que se falar em priso em
flagrante nas chamadas infraes penais de pequeno
potencial ofensivo, sendo que , repita-se, vrios crimes
previstos no Cdigo de Defesa do Consumidor passam a ser
assim considerados, desde que o autor da infrao assuma o
compromisso, perante termo firmado com a autoridade
policial, de comparecer, posteriormente, ao J uizado (art. 69
da Lei n 9.099/95), tornando discutvel a possibilidade de
lavratura do flagrante nos crimes e contravenes a ele
sujeitos, o que acarretar, notadamente no que se refere ao
Cdigo de Defesa do Consumidor, graves consequncias,
tornando inaplicvel a tais infraes o art. 79 do Cdigo de
Defesa do Consumidor.
Entretanto, sendo o flagrante a certeza visual
do crime , prova por excelncia da acusao, entende-se que
a situao de flagrncia persiste, sendo que s a priso
afastada e o auto de priso em flagrante substitudo pelo
termo circunstanciado de encaminhamento; logo, embora no
se prenda o autor da infrao, ele ter contra si o prprio
termo.
Todavia, tem-se abordado questo prtica de
grande relevncia: se o autor da infrao no quiser assinar o
termo de compromisso e se recusar ao encaminhamento
para o J uizado Especial, caber a lavratura do auto de priso
em flagrante?
Alguns entendem que, neste caso, o auto de
priso em flagrante deve ser lavrado e substitudo o termo
circunstanciado, mas a questo no pacfica. O mesmo Dr.
Vilas Boas, no artigo j anteriormente referido, entende que,
ante a recusa do autor do fato ao seu encaminhamento ao
J uizado, ou quanto assinatura do compromisso de a ele
comparecer, dever a priso ser imposta.
O procedimento da Lei n 9.099/95 prev
duas fases distintas: a preliminar, nitidamente conciliatria, e
o procedimento sumarssimo.
Na primeira, qual devero comparecer o
autor do fato, a vtima, o responsvel civil, sempre que
possvel, bem como seus advogados, temos, inicialmente, a
possibilidade do acordo civil entre as partes, gerando ttulo
executivo judicial, mas nada obsta que, ali mesmo, seja
satisfeita a obrigao assumida.
Entendo que o acordo civil, quanto aos
danos, possa sempre ser feito, mas s levar extino da
punibilidade quando se tratar de ao penal exclusivamente
privada ou pblica condicionada, o que no ocorre com os
crimes previstos no Cdigo do Consumidor.
A maioria dos autores de obras sobre
J uizados Especiais Criminais esposam o entendimento de
que o acordo possa ser feito nas aes penais pblicas
incondicionadas pois, alm de gerar ttulo executivo judicial,
mesmo no implicando sua homologao causa extintiva da
punibilidade, se rejeitada a transao, no sendo caso de
arquivamento, com oferecimento da denncia e oferta da
suspenso condicional do processo, se aceita pelo ru, o
J uiz, ao receber a pea acusatria, estando presentes os
requisitos legais, dever aplic-la, e uma das suas condies
a reparao do dano; logo, nada impede que este seja feito
inicialmente, atravs de acordo civil entre as partes, j
ficando satisfeito o requisito do art. 89, 1, da Lei n
9.099/95, com a garantia de se ter em mos um ttulo
executivo judicial, imediatamente executvel,
independentemente do prosseguimento da ao penal.
Se no houver acordo preliminar quanto
reparao do dano, concedida a suspenso do processo,
sendo ela um requisito do benefcio, poder ser satisfeita ao
longo da referida suspenso do processo, mas no haver
um ttulo executivo judicial, devendo-se atentar que, se no
cumprida, haver apenas revogao da suspenso efetuada,
restando vtima, para obter a reparao do dano sofrido,
promover a competente ao no juzo cvel, podendo, no
caso, tratar-se do J uizado Especial Cvel, se preenchidos os
requisitos da Lei n 9.099/95, uma vez feita a opo pelo
interessado ou perante o J uzo Comum.
Quanto execuo do ttulo executivo
resultante do acordo entre autor da infrao e vtima,
segundo entendimento esposado na obra escrita por Ada
Pellegrini Grinover, antnio Magalhes Gomes Filho, antnio
Scarance Fernandes e Luiz Flvio Gomes, o competente s
poder ser o J uzo Cvel Comum, uma vez que a Lei n
9.099/95, no 1 do seu art. 1, restringiu a competncia dos
J uizados Especiais Cveis, no que se refere ao processo de
execuo, apenas de seus julgados.
Na obra Juizados Especiais, lanada pelo
Departamento Cultural da Associao Mineira do Ministrio
Pblico, j referida, por mais de uma vez, quando so
abordados "Estudos Referentes aos J uizados Especiais
Criminais" feitos pela Procuradoria-Geral de J ustia de So
Paulo, s fis. 64, item 3.10, diz-se que:
"nos casos de ao penal pblica
incondicionada, a composio dos danos no
exclui possibilidade de aplicao do
procedimento previsto no artigo 76, podendo
ser considerada como critrio no
oferecimento da proposta pelo representante
do Ministrio Pblico".
No aceito o acordo preliminar, em se
tratando de ao penal pblica condicionada, ser dada
oportunidade vtima para oferecer a representao .
Oferecida a representao, ou se tratando de
ao penal pblica incondicionada, abre-se oportunidade
para a transao a ser oferecida pelo Ministrio Pblico.
Muito se tem discutido em relao recusa
do Ministrio Pblico quanto ao oferecimento da transao,
principalmente para se admitir ou no a possibilidade de o
J uiz faz-la de oficio ou o autor da infrao requer-la.
Entendeu a Comisso Nacional de
Interpretao da Lei n 9.099/95, quando de reunio em Belo
Horizonte, na Escola J udicial da Magistratura Mineira, em
sua dcima terceira concluso, que:
"Se o Ministrio Pblico no oferecer
proposta de transao penal e suspenso do
processo nos termos dos arts. 79 e 89,
poder o Juiz faz-lo."
Conquanto a soluo proposta possa parecer
salutar, ante a recusa injustificada do Ministrio Pblico em
oferecer a transao e a suspenso do processo, entendo
que no possa o J uiz, em hiptese alguma, mesmo na fase
do art. 79 do Cdigo Penal, j no incio da fase do
procedimento sumrio, depois de oferecida a denncia,
efetuar, de ofcio, as propostas em questo, pois, alm de
estar-se substituindo a vontade do acusador, ainda estaria
exercendo poderes que no lhe so prprios.
Melhor soluo, entendo, foi dada pelos
juzes criminais do Tribunal de Alada de Minas Gerais, em
recente concluso tomada, por unanimidade, em reunio do
seu centro de estudos, quando se entendeu que o J uiz no
pode jamais oferecer, de ofcio, as propostas de transao e
suspenso condicional do processo. Entretanto, no as
oferecendo o Ministrio Pblico, injusficadamente, dever o
magistrado, j na fase do art. 79 da Lei dos J uizados
Especiais, ouvir a defesa, ante o princpio da isonomia
processual, e, requerendo esta a sua aplicao, ouvida a
acusao sobre o requerimento feito, em face da disposio
do art. 5, XXXV, da Constituio Federal, no poder o J uiz
esquivar-se da resposta jurisdicional.
Sugerem outros que adote o J uiz, por
analogia, o disposto no art. 28 do Cdigo de Processo
Penal, submetendo tal questo ao crivo da Procuradoria-
Geral de J ustia.
S a J urisprudncia dos Tribunais Superiores
resolver o impasse.
Outro ponto de grande divergncia diz
respeito ao prazo de representao que, em regra, de seis
meses (art. 38 do Cdigo de Processo Penal), mas nos
inquritos e processos em andamento, inclusive em fase
recursal, o ofendido ou seu representante legal deve ser
intimado para oferec-la no prazo de trinta dias, sob pena de
decadncia (arts. 88 e 91 da Lei n 9.099/95). Entendem
alguns que o prazo de trinta dias diz respeito no s aos
processos e inquritos em andamento por ocasio da
vigncia da Lei, mas tambm a qualquer infrao ocorrida
aps 26 de novembro de 1996.
Feita a representao, nos casos em que se
fizer necessria, no oferecida ou recusada a transao, ser
dada oportunidade ao Ministrio Pblico ou ao querelante
para oferecimento da pea acusatria, ainda na fase
preliminar, que ser produzida oralmente, sendo reduzida a
escrito, fornecendo-se cpia ao autor da infrao, que, na
mesma oportunidade, ser citado, se presente, bem como
intimados a vtima e os advogados, para a audincia do rito
sumrio, ento designada. Entendo que s dois crimes de
exclusiva ao penal privada estaro sujeitos ao
procedimento dos J uizados Especiais Criminais: o do
exerccio arbitrrio das prprias razes e o dano qualificado,
pois os demais esto sujeitos a procedimento especial.
No haver, no J uizado especial, citao
editalcia e, se ela se fizer necessria, os autos devero ser
remetidos ao juzo comum, atentando-se ali para as recentes
modificaes no Cdigo de Processo Penal, que determinam
a suspenso do processo e do prazo prescricional, desde que
o ru, assim citado, no comparea ou no constitua
advogado.
Na audincia, se no tiver sido possvel a
conciliao na fase preliminar, compreendendo o acordo civil
e a transao, poder o J uiz ensej-la inicialmente.
Primeiramente, o ru apresentar sua defesa
e, s depois, na prpria audincia, dever ou no o J uiz
receb-la, decidindo sobre a suspenso condicional do
processo, se ofertada e aceita pelo ru.
Questes de grande relevncia devem ser
enfatizadas em relao suspenso condicional do
processo. Previu o legislador que, nos crimes em que a pena
mnima cominada for igual ou inferior a um ano, sujeitos ou
no ao procedimento do J uizado Especial, entendendo-se
que, mesmo estando sujeitos a procedimento especial,
sendo o, seu exame de competncia da justia estadual ou
federal, desde que no esteja sendo processado ou no
tenha sido condenado por outro crime, presentes os
requisitos que autorizariam a suspenso condicional da pena,
poder beneficiar-se da suspenso do processo.
Entende-se tambm possvel a suspenso no
que se refere s contravenes penais, embora o legislador
tenha se referido apenas aos crimes.
Afastada a questo do oferecimento do
benefcio de ofcio, pelo J uiz, a que aplico o mesmo
entendimento j exposto sobre a oferta de transao, da qual
j falamos anteriormente, surge a primeira controvrsia no
que diz respeito ao concurso de crimes. Uma corrente,
majoritria, entende que ele s seria admissvel se, somadas
as penas mnimas dos crimes componentes do concurso, o
total no excedesse a um ano. Dentro dessa corrente
existem ainda aqueles que acham que as causas especiais
de aumento e diminuio devem ser consideradas, e existem
aqueles que no admitem tal hiptese, dizendo que se trata
de questo a ser considerada na pena em concreto e, no
caso, o legislador quis se referir pena em abstraio, uma vez
que a pena em concreto s surgir ao final do procedimento
sumrio, caso haja condenao.
Outros entendem que as infraes devem ser
consideradas isoladamente, semelhana do disposto no art.
119 do Cdigo Penal, no que se refere ao reconhecimento da
extino da punibilidade. Tal hiptese mais benfica aos
rus, mas acho que conduzir impunidade, devendo ser
repelida, embora creia que a jurisprudncia se orientar
nesse sentido, assim como o fez anteriormente a 1984, no
que dizia respeito prescrio.
Ainda com referncia suspenso
condicional do processo, discute-se a constitucionalidade do
art. 89 da Lei n 9.099/95, no que se refere aos processos em
andamento, mesmo os que j registrem sentena
condenatria recorrvel, pois, ante a presuno de inocncia
estabelecida em relao aos rus, at que transite em
julgado a condenao pelo crime anterior, processos em
andamento no lhes podem gerar qualquer efeito.
Entendo que processos em andamento, por
crimes presumidamente praticados, no podem, por si s,
ensejar recusa no oferecimento do benefcio, mas a situao
poder ser analisada ante o exame das condies previstas
no art. 77 do Cdigo Penal, que devem ser vistas tambm em
relao suspenso do processo.
O legislador se referiu apenas a crimes, no
fazendo meno s contravenes, mas igual exame das
condies do art. 77 do Cdigo Penal poder impedir a
oferta.
Recebida a denncia, no sendo oferecida ou
recusada a suspenso do processo, sero ouvidas a vtima e
as testemunhas, cujo nmero legal, no que diz respeito s
testemunhas arroladas pelas partes, entende-se no deva
ultrapassar o previsto no Cdigo de Processo Penal, no caso
da ao penal vir a ser examinada pelo juzo comum,
entendendo-se que o J uiz poder limitar o seu nmero, bem
como ouvir outras.
O interrogatrio ser feito ao final,
evidenciando que se empresta hoje ao interrogatrio,
nitidamente, a funo de pea da defesa mais que meio de
prova.
Os debates sero produzidos oralmente,
passando-se prolao da sentena, cujo relatrio
dispensado, uma vez que se lavra termo contendo os fatos
relevantes ocorridos em audincia.
Os atos processuais, sempre que possvel,
sero concentrados numa nica audincia, no se
permitindo, como regra geral, adiamentos que, todavia, na
prtica, podem vir a ocorrer ante situaes relevantes.
Entendo tal concentrao salutar, no s dada a celeridade,
como tambm por aplicao de um princpio que no se
exige no Processo Penal, mas de grande importncia, ou
seja, o da identidade fsica do J uiz, possibilitando quele que
colheu as provas proferir a sentena de imediato.
Da sentena cabe apelao, podendo ela ser
para as turmas recursais, compostas por trs juzes em
exerccio no primeiro grau de jurisdio, reunidos na sede do
J uizado.
No se atribuiu turma recursal competncia
para exame de habeas corpus contra as decises dos juzes
dos J uizados Especiais Criminais, entendendo-se, em Minas
Gerais, que competentes seriam os tribunais, conforme lhes
foi atribudo pela Constituio Estadual.
Alm da apelao, cabem embargos
declaratrios.
Alguns autores entendem que tambm seria
cabvel, em alguns casos, o recurso em sentido estrito, porm
competentes no seriam as turmas recursais, mas sim os
tribunais estaduais.
Quanto reviso criminal, no a tendo
excludo o legislador, como o fez em relao ao
rescisria, conclui-se que ela admissvel, mas competente
para o seu exame sero tambm os tribunais estaduais e no
as turmas recursais.
Quanto aplicao retroativa das medidas
despenalizadoras previstas na Lei n 9.099, de 26 de
setembro de 1995, no se pode deixar de constatar que:
* a norma do art. 74 (extino da punibilidade
atravs da homologao do acordo referente ao dano civil,
nas aes penais privadas e pblicas dependentes de
representao, acarretando renncia ao direito de queixa ou
representao, ex vi do pargrafo nico do artigo 74 da Lei n
9.099/95);
** a do art. 76, a transao, ou seja, a
proposta de penas preliminares de multa ou restritivas de
direito, efetuadas pelo Ministrio Pblico, que, se aceitas,
colocaro fim ao processo e no importaro em antecedentes
criminais, salvo para impedir a concesso de igual benefcio
no prazo de cinco anos;
*** as do art. 88 c.c. 91, ou seja, a
representao, nas hipteses em que a lei passa a exigi-la
(no caso de leses corporais leves e culposas), como norma
de procedibilidade nas aes penais a serem instauradas na
vigncia da lei nova e como condio de prosseguibilidade,
com referncia aos processos em andamento, pois, se
houver decadncia, ocorrer, igualmente, a extino da
punibilidade;
**** bem como a suspenso condicional do
processo, prevista no art. 89 da referida lei, aplicvel aos
crimes cuja pena mnima no exceda de um ano (e tambm
s contravenes, segundo entendimento unnime da
comisso nacional de interpretao da Lei n 9.099), desde
que presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos,
vez que, se cumpridas suas condies, ocorrer, ao final do
prazo, extino da punibilidade,
"todas elas no so normas puramente
processuais, vez que so tambm
despenalizadoras, logo de natureza tanto
processual como penal".
Conseqentemente, a disposio do art. 90
da referida lei inaplicvel em relao s referidas normas
penais benficas, pois no se pode limitar princpio
constitucional hierarquicamente superior referida lei.
A retroatividade benfica das hipteses de
despenalizao dos artigos 74, 76, 88 c.c. 91 e 89, da lei
nova, atinge os processos em andamento, inclusive os que
se encontram em fase recursal, ante a disposio contida no
art. 5, inciso XL, da Constituio Federal.
Despacho proferido pelo Ministro CELSO
MELLO, do Supremo Tribunal Federal, em processo no qual
relator, no ms de fevereiro do corrente ano, considerou
taxativamente a retroatividade benfica das referidas normas,
sendo evidente que tanto a doutrina como a jurisprudncia se
orientam nesse sentido.
Assim, urge que os juzes, verificando, em
tese, a possibilidade de aplicao de tais normas
despenalizadoras, facultem-na, de imediato, em todos os
processos que ainda no transitaram em julgado, ouvindo o
Ministrio Pblico, o ru e seu defensor e convocando a
vtima para a proposta de conciliao, quando possvel; que
os promotores requeiram, de imediato, a designao de
audincia para tais fins, sempre que necessria a presena
da vtima, do ru e seus defensores, ou que os advogados
requeiram ao J uiz que oua o Ministrio Pblico e determine
as devidas audincias, onde alguns atos devero ser
realizados; que os Procuradores de J ustia, sempre que
verificarem a possibilidade de aplicao da norma, em tese,
antes de darem seus pareceres recursais, tambm
requeiram a baixa dos autos ao juzo de primeiro grau para
que ali igualmente se proceda, bem como os tribunais
transformem os julgamentos em diligncia para que o J uiz de
primeira instncia lhes d aplicao .
O Centro de Estudos J uiz Ronaldo Cunha
Campos, do Tribunal de Alada de Minas Gerais, em reunio
extraordinria, com a presena dos seus juzes criminais,
ocorrida no dia 27 de novembro de 1995, concluiu, por
unanimidade, quanto imediata aplicao das normas penais
despenalizadoras e sua retroatividade benfica.
Finalmente, ressalte-se que, em Minas
Gerais, j foram criados, atravs de lei estadual e
organizados e instalados atravs de Resoluo do Tribunal
de J ustia, os J uizados Especiais, desde o inicio da vigncia
da Lei n 9.099/95, tendo sido criadas tambm as turmas
recursais, ainda que, em muitos locais, os prprios juzes
criminais comuns estejam examinando as infraes sujeitas
ao juizado especial, uma vez que no foram ainda instaladas
varas especficas, mas o fazendo mediante o procedimento
prprio da Lei n 9.099/95.
A Lei n 9.099/95, na experincia vivida em
Minas Gerais, notadamente em Belo Horizonte, tem sido um
sucesso indiscutvel, sendo que os J uizados Criminais esto
aqui funcionando durante vinte quatro horas, assim como os
recursos contra as decises impostas tm sido sobremaneira
reduzidos.
Depender, em grande parte, do Ministrio
Pblico de primeira instncia o sucesso da Lei n 9.099, de
26 de setembro de 1995, no que pertine aos J uizados
Especiais Criminais, e o Ministrio Pblico de Minas Gerais, a
quem respeitamos, pela qualidade moral, inteligncia e
operosidade de seus integrantes, cumprir, sem dvida
alguma, a misso que lhe foi imposta, revestindo-se de nova
mentalidade e aceitando a revoluo jurdica que se inicia.
Os advogados, como sempre, indispensveis
administrao da J ustia, tambm esto presentes no novo
sistema, desde a fase conciliatria at o julgamento final, e
a misso que deles se espera impe, tambm, renovao da
mentalidade e aceitao da revoluo jurdica que o J uizado
Especial Criminal est trazendo, voltados, como sempre,
para o anseio comum da paz social.
Cabe aos juzes a orientao conciliadora e
aplicao das propostas do Ministrio Pblico, dentro dos
limites impostos pelo legislador e, se ultrapassadas, a direo
do processo sumrio e julgamento, devendo despir-se da
formalidade tradicional, voltar-se para a oralidade, para a
economia processual, a celeridade, a pronta resposta que
seus jurisdicionados exigem e merecem, princpios contidos
no art. 62 da Lei n 9.099/95, tendo como objetivo, sempre
que possvel, a reparao dos danos sofridos pela vtima e a
aplicao da pena no privativa de liberdade.
Uma vara do J uizado Especial Criminal
voltada apenas para as infraes cometidas contra o
consumidor, que esto sujeitas ao procedimento da Lei n
9.099/95, notadamente em Belo Horizonte, uma
possibilidade que no pode ser afastada e, por certo, ser de
grande importncia para consolidar mais rapidamente a
defesa do consumidor.
O Movimento Mundial
dos Consumidores no Sculo XXI
Mrio Frota
Presidente da Associao Internacional de Direito do Consumidor
Vice-Presidente da Associao Europeia de Direito Farmacutico
Presidente da Associao Portuguesa de Direito do Consumo APDC
l - Preliminares
O associativismo constitui uma das
expresses do denominado "movimento de consumidores"
que, na era moderna, irrompeu como reaco a um modelo
econmico que se rev na frmula Smithiana, velha de dois
sculos, segundo a qual "o interesse do consumidor
sacrificado, na generalidade, ao do produtor", e (o sistema
econmico) parece considerar a produo, que no o
consumo, como supremo fim e objecto de toda a indstria e
de todo o comrcio.
1
O "movimento de consumidores" ou
"consumeirismo" no se esgota, pois, no associativismo.
1
Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, New York, The
modern Library, 1937, p. 625.
O movimento dos consumidores , no
entanto, susceptvel de se projectar, na esteira de Kotier
2
e
de harmonia com Zuizke
3
, em quatro perodos marcantes,
definidos em determinados termos, a saber:
o primeiro - de finais do sculo XIX dcada
de vinte;
o segundo - da dcada de vinte a meados da
dcada de quarenta;
o terceiro - do termo do segundo conflito
mundial a finais da dcada de sessenta;
o quarto - da dcada de setenta a meados da
dcada de oitenta;
um quinto perodo se abre com
peculiaridades que se revelaro, l
O primeiro perodo decorre at aos anos vinte
e caracterizado pela subida em flecha dos preos, por
problema ticos na produo, distribuio e dispensa de
medicamentos, pelas condies inerentes indstria da
carne, cujas denncias se acham na gnese de um sem
nmero de medidas legislativas, a saber, a da adopo do
Pure Food and Drug Act (1906), Meat Inspection Act (1906) e
a criao da Federal Trading Commission (1914) nos
Estados Unidos da Amrica.
2
Philip Kotier, Marketing. Ed. Atlas, compacta, 1986, p. 555.
3
Maria Lcia Zulzke, Abrindo a Empresa para o Consumidor, Ed. Qualitymark, Rio de
J aneiro, 1991, p. 5 e ss.
Em 1891, constituiu-se a N. Y. Consumers
League que como objectivo fundamental segrega o de prover
a uma adequada condio do estatuto dos trabalhadores do
comrcio.
Em 1899, as associaes de Nova York,
Boston, Chicago e Filadlfia fundem-se, instituindo a NCL -
National Consumers League, que principiara por acudir s
deplorveis condies de trabalho de mulheres e crianas
nos txteis.
O movimento dos consumidores comeou
intimamente associado ao dos trabalhadores. A filosofia
dominante do lucro, legitimada no pensamento capitalista ("o
que bom para mim bom para o pas"), alm de uma
reduzida oferta de mo-de-obra qualificada, exigia que se
aumentasse a produtividade, dando espao ao
desenvolvimento da administrao denominada cientfica de
que Taylor foi o maior expoente.
O segundo perodo decorre
4
at finais dos
anos 40 e tem como cenrios a "depresso e o surgimento na
Europa e no Novo Mundo de laboratrios e institutos de
qualidade".
A propriedade dilui-se entre os accionistas: os
gestores obrigam-se a zelar pela posio dos titulares das
aces, a intervir por forma a dirimir os interesses conflitantes
que opunham a empresa aos assalariados, estendendo-se
aos fornecedores e aos consumidores (o vocbulo , porm,
ulterior, bem como o conceito que o recobre).
Maria Lcia Zulzke, ob. cit., p. 8.
O terceiro perodo, de harmonia com os
reajustamentos introduzidos por Zulzke, que seguimos de
perto, atinge o auge com a proliferao de instituies de
consumidores na Europa, nos Estados Unidos e em outros
pases
5
.
Em 1960, criada a International
Organization of Consumers Unions - lOCU, que hoje se
denomina Cl - Consumers International e congrega 180
instituies oriundas de sessenta pases.
No clebre discurso do Congresso, J ohn
Kennedy confere decisiva nfase aos direitos que se
denegam ou no se reconhecem.
O movimento de consumidores tende a
expandir-se.
O quarto perodo, cujos marcos se situam
entre os finais dos anos sessenta e meados da dcada de
oitenta, registra, desde logo, a promulgaco da Carta
Europia de Proteo do Consumidor que o Conselho da
Europa dera estampa de 1973 e as Directrizes das Naes
Unidas que remontam a 1985.
O consumismo invade os pases
desenvolvidos e a qualidade de vida tende a travar o passo a
to pronunciada tendncia.
O departamento de consumidores preencheu
espao nos organogramas das empresas.
5
Dinamarca, Canad, Gr- Bretanha, Sucia, Holanda, Alemanha, Frana, Blgica, ustria,
Austrlia, J apo.
A poltica de consumidores desperta no seio
da Comunidade Econmica Europeia com o programa
preliminar de 14 de abril de 1975.
No quinto perodo, registram-se eventos de
marca.
Promove-se em Portugal o "l Grande
Congresso Internacional das Condies Gerais dos
Contratos", que suscita oposio interna no seio da
Universidade de Coimbra, mas desperta a Europa e os
demais continentes para as candentes questes nele
suscitadas.
Constitui-se, em Coimbra, a Associaco
Internacional de Direito do Consumo, a primeira instituio
cientfica internacional, que visa a alargar o seu mbito de
atuaco pelas sete partidas do globo.
Cria-se a sociedade cientfica de interveno
APDC - Associaco Portuguesa de Direito do Consumo, em
Coimbra, em 1989.
Cria-se a instituio homloga no Brasil - o
Brasilcon - o Instituto Brasileiro de Poltica e Direito do
Consumidor.
O movimento expande-se aos demais pases
da Amrica Latina - cria-se, entre outros, o Instituto Argentino
de Derecho del Consumidor, com sede em La Plata.
A actividade legiferante do Conselho da
Europa particularmente profcua - sucedem-se as
resolues vertidas em domnios especficos do crculo de
direitos dos consumidores.
Os direitos dos consumidores plasmam-se
nas Constituies de Portugal, da Espanha e do Brasil.
Os Congressos Internacionais de Direito do
Consumidor prosseguem, em ritmo cadenciado no Brasil, sob
impulso de antnio Herman Benjamim, que preside aos
destinos do Brasilcon at maro de 1996.
Em 1990, tem lugar em Portugal o Congresso Internacional da
Responsabilidade do Produtor por Produtos Defeituosos,
O ritmo das intervenes cientficas
intensifica-se,
Iniciam-se, em Lovaina, os primeiros cursos
europeus de direito do consumo,
O movimento de pendor cientfico expande-
se.
Opera-se o alargamento dos temas Europa
de Leste, Amrica Latina, frica.
editado o primeiro Cdigo de Direitos do
Consumidor no Brasil.
A Frana adopta, em 1992, um cdigo compilaco.
A Blgica prepara a sua lei geral, como se de
um cdigo se tratasse.
Em Portugal, acaba de ser admitido o
princpio da codificaco.
Instituem-se, na Comunidade Europeia,
primeiro, e na Unio, depois, os planos trienais de aco em
vista do respeito no espao econmico do mercado comum
dos direitos dos consumidores.
Os direitos do consumidor expandem-se e o
direito do consumo (o direito do consumidor) ganha a sua
carta de alforria.
As Universidades abrem-lhe as suas portas
num sem nmero de pases.
As primeiras revistas cientficas surgem:
- Revista Europeia de Direito do
Consumo (edio trilingue: francs, ingls e espanhol);
- Revista de Direito do Consumidor;
- Revista dos Tribunais, So Paulo, Brasil;
- Revista Portuguesa de Direito do Consumo,
Centro de Estudos de Direito do Consumo, Coimbra,
Portugal.
As agresses ao estatuto dos consumidores
tornam-se mais persistentes.
Os mecanismos reforam-se e aperfeioam-
se.
Os Governos nem sempre dispensam
problemtica em foco o cuidado requerido.
As associaes tornam-se mais
intervenientes.
Novas formas de associaes desabrocham,
porm, com significativos desvios ao ideal a que tais
estruturas apelam.
II - As Perverses Associativas
O que ora se observa, na Europa, no que
tange s associaes de consumidores, assume foros de
promiscuidade manifesta.
Associaes de consumidores h que,
revelia das normas imperativas dos cdigos civis, se enlaam
em sociedades mercantis cujo escopo necessariamente
egoistico - assentam no lucro e desenvolvem actividades de
ndole comercial, adentro da lgica prpria das sociedades de
capitais e de pessoas reguladas pelos cdigos comerciais ou
pelos cdigos das sociedades vigentes em cada um dos
ordenamentos jurdicos.
Frisante a situaco da CONSEUR S.A.,
que alberga, no seu seio, associaes de consumidores
estabelecidas na Blgica, na Grcia, na Itlia, em Espanha e
em Portugal, e tem , em cada um dos pases, uma antena,
em regra, sob a forma de sociedade por quotas, como o
caso da Edidica, Ld
, estabelecida em Lisboa.
A empresa, que tende a confundir-se com a
associaco, regida por uma administraco que comporta
dois administradores belgas residentes.
A actividade da empresa restringe-se aos
testes e publicaes - testes comparativos, em regra de
produtos, dados estampa, por igual, nas revistas editadas
em cada um dos pases. Em Portugal, a revista denomina-se
ProTeste. Nem sempre so fiveis os testes. Os mtodos
analticos no so revelados. As concluses, por vezes,
exorbitantes e infundadas. Em mercados no estabilizados, a
"autoridade" de tais testes e dos mtodos de divulgao
conhece de momento contestao, que tende a assaltar os
espritos.
Na Blgica, por exemplo, onde as empresas
desenvolvem projectos a este nvel, a revista homloga -
"Test Achats" - , no raro, objecto de contestao.
Deciso recente dos tribunais belgas
condena a empresa editorial da "Test Achats", emergente da
CONSEUR S.A., a divulgar publicamente a correco dos
erros em que tivera incorrido na apreciao de um novo tipo
de fotografias.
Ademais, a editora foi condenada a pagar um
milho de francos para cada dia que tardasse o desmentido
pblico!
Os mtodos de promoo dos produtos
editoriais so em tudo anlogos aos mais agressivos
mtodos adoptados por empresas do estilo das Seleces do
Reader's Digest e de outros produtos comercializados por
meio de catlogos, por correspondncia ou em qualquer
outro suporte audiovisual.
No h um recrutamento autnomo de
associados, j nem sequer se poder falar em filiados nas
associaes, ao menos na perspectiva destas pretensas
estruturas associativas de consumidores.
A representao esfuma-se.
A legitimidade esvai-se.
So corpos sem alma.
So, afinal, estruturas de interesses, que
pretendem manter a aparncia de associaes para se lhes
reconhecer valimento s actuaes.
So empresas que operam nos negcios de
consumo.
Assim como o ambiente , hoje por hoje,
domnio por excelncia de empresas que exploram tecnologia
de ponta, o consumo tende tambm a transformar-se em
hbil domnio de negcios que tem nos media a sua frtil
sementeira.
A estratgia a que segue:
1 - publicao de fundo a que se dirige
divulgao de testes comparativos de produtos;
2 - como publicao acessria, surge uma
revista que se debrua sobre questes que revelam
interesses econmicos dos consumidores: a "Dinheiro &
Direitos";
3 - outros domnios se invadem - o dos
estratos mdios que, sem governo, intentam canalizar o
aforro para investimentos ou produtos financeiros credveis e
susceptveis de valorizao - e surge a "Poupana Quinze";
4 - alarga-se o mbito tangendo domnio
sensvel aos homens e s mulheres: a sade - e surge o
"Teste Sade".
Outro tanto ocorre nos demais pases em que
a empresa transnacional penetrou: a estratgia mercantil no
se aparta da que a empresa-matriz traa para cada um dos
especficos mercados em que opera.
Que consequncias se registram?
Os consumidores, j no os sujeitos a que se
dirige qualquer aco, so, ao invs, objectivos. Na
coisificao a que se tende.
Perverteu-se o ideal. O material invadiu os
domnios, o sistema capitalista apoderou-se do movimento
consumeirista, abastardando-o e os robertos de feira
sobrantes, os que aparecem como campees de cidadania,
no conseguem sequer disfarar os seus intuitos.
Mas as populaes, tal como com as seitas
que as exploram at medula, batem palmas, crem na
pureza das intenes e acabam, afinal, por viver na mais
pura iluso.
As promiscuidades revelam-se.
O ideal tende a esboroar-se progresso dos
interesses que se consolidam em torno das empresas-
associaes em que scios so, afinal, os que conduzem os
destinos da sociedade annima ou das sociedades satlites
de responsabilidade limitada.
No h sequer aces de formao, a
informao restringe-se s de natureza comercial, a
proteco vagamente postergada.
E quando intervm de forma mais alarmista, o
que tm em mira "valorizar" o seu produto.
As concertaes com outras empresas
surgem amide - os negcios expandem-se a pretexto de que
so consumidores que se servem.
Paulo Duarte, invectivando o processo,
revelava em oportuno artigo
6
a ilegitimidade e a inutilidade
de muitos dos resultados.
A reaco da empresa-me
7
tende a
capitalizar em seu proveito a ignorncia geral a que se
reconduzem os consumidores que crem naturalmente que
6
O artigo sugere, em anexo, na ntegra (anexo 1).
A reaco surge, em anexo, tambm na integra e reflete o atual estado da questo (anexo
II).
h quem vele pela qualidade, eficcia e segurana dos
produtos e quem zele pela sua posio jurdica.
H um sem nmero de equvocos difceis de
superar e que tendem a inverter perigosamente a realidade.
Os testes comparativos que, em rigor, servem
de base publicaco so um elemento do sistema, que no
algo que contrarie as tendncias que nele se desenham.
Os testes provem ao consumo. No cortam
cerce o passo ao consumo desregulado a que se assiste.
Os testes ajudam a vender. No obrigam a
sustar quem compra.
E ningum garante, ademais, a sua
fidedignidade...
Os testes inscrevem-se nas tendncias do
consumismo.
No se enquadram nas reaces que o
consumeirismo aparelha.
Claro que os testes tero o seu lugar, mas
no podero, como ocorre nomeadamente com as edies
da transnacional Conseur S. A. (sediada e constituda no
Luxemburgo pela ABC - Test Achats, de Bruxelas e em que
se arregimentaram italianos, gregos, lusos e espanhis),
constituir preocupao marcante, preocupao primeira de
quem quer... E, no entanto, no ludbrio em que se enreda o
consumidor, uma das publicaes preenche as suas pginas
de testes, numa pretensa partilha temtica, que tende a
ampliar o nmero de publicaes e necessariamente a levar
a que o virtual consumidor das publicaes v abrindo
sucessivamente os cordes bolsa...
Todo o processo em que o consumidor
enredado tende a perspectiv-lo no como sujeito, antes
como objecto...
E no enxovalho que tal se traduz que
preocupante que os cidados consumidores sejam vtimas
das prprias associaes que os deveriam amparar...
essa, afinal, a chave da questo.
Os processos dos que deveriam merecer dos
consumidores o mais absoluto repdio so arvorados em
benficos por pretensas constituies, na sua gnese
empresas, que arvorando o pendo dos consumidores e
empenhando o gldio em sua homenagem, os transformam
em objecto da sua estratgia, relegando-os para essa
miseranda condio e anulando-o como sujeito da parte
inteira, como cidado, como consumidor, dotado de um
estatuto por que cumpre pugnar...
So as empresas emergentes das
associaes de consumidores que, no renegando os
processos odiosos do mercado, coisificam o consumidor, na
v iluso de que esto ao seu servio e de que pugnam pelo
reconhecimento e pela valorizao do seu estatuto.
Temvel iluso.
Inultrapassvel trapaa!
Ill - Modelos Prospectivos
No haver um s modelo de associaes de
consumidores. Os modelos poder-se-o definir consoante o
estdio de desenvolvimento dos povos e a necessidade
estrita de se embargar o passo a iniciativas que no mercado
contrariem frontalmente ou de flanco o estatuto dos cidados-
consumidores.
Observe-se o que, na Europa, ocorre com os
clubes de futebol: a tendncia que se registra, em particular
ante o futebol-espetculo, com intrpretes cujo estatuto
r m une rato ri o dos mais exigentes, a de se forjar um
modelo de clube-empresa com atenuaes de ndole
tributria que suporte, em termos empresariais, estruturas
que movimentam milhes e j no consentem bases de
organizao artesanal ou fundadas na devoo dos
dirigentes por "amor camisola", como si dizer-se.
A gesto tem de assentar em bases
empresariais, a lgica que subjaz explorao tem de se
inserir nas coordenadas do sistema, a vocao para um
escopo de ndole egostica, vazado no conceito de lucro,
objectivo primacial que se no pode preterir.
Um sem nmero de cenrios se perfila ante
os nossos olhos.
A situaco ideal, no que tange s
associaes de consumidores, a que se rev em estruturas
que emerjam da denominada sociedade civil sob o impulso
dos mais esclarecidos e devotados cidados que sintam o
denodado apelo da cidadania.
A situaco ideal, no que tange s
associaes - associaes que outro escopo no persigam
que o da formao, informao e tutela da posio jurdica
dos consumidores, susceptvel de recobrir os conceitos de
promoo dos interesses (formao e informao) e de
proteco dos direitos (acesso administraco da justia e
regularizao/superao dos conflitos de consumo que
estalem no mercado) mediante uma justa composio dos
interesses em presena.
Para tanto, porm, de rejeitar liminarmente
a subverso dos princpios e de opor tenaz resistncia a
todas as formas de dissoluo do primitivo modelo
associativo.
Decerto que as frmulas associativas que
desabrocharam na Gr-Bretanha e constituram sucesso
manifesto sejam irrepetveis ante a sociedade da informao
que ora se rev ante ns.
Por paradoxal que parea.
Mas h que proceder a adaptaes sem que
o esprito se subverta, o ideal se perverta ou prostitua.
A promiscuidade entre os objectivos
mercantis e os que se assinalaram s associaes de
consumidores que perseguem quejando formas de
interveno susceptvel de arruinar o movimento de
consumidores, volvendo-o em actividade subsidiria dos
objectivos traados para os negcios em que se envolvem.
Nos pases latinos h, em verdade, um dficit
de gregarismo que pode ser fatal s aspiraes das
associaes que almejam a intervir para se regular as
relaes econmico-jurdicas entretecidas no mercado entre
operadores econmicos e consumidores.
Os modelos sero distintos, como se
assinalou, e correspondero a distintos estdios de
desenvolvimento.
Parece, em rigor, na sociedade de massa em
que nos movemos, insusceptvel de manter o modelo
tradicional das associaes de consumidores.
Porm, poder-se-o descortinar cenrios em
que se desenvolvero modelos determinados.
Desfolhemos os que se nos afigurem mais
exequveis.
O primeiro, assente em um modelo
econmico que tende a recuperar o esforo de Rochdale ao
servio dos consumidores.
A criao de cooperativas de consumidores
que, pela conjugao dos factores ambiente e consumo,
podero oferecer vlida concorrncia s grandes superfcies
comerciais.
A cooperativa arregimentaria, pelos
objectivos a que tende, o maior nmero de consumidores e,
destarte, asseguraria o abastecimento em condies mais
vantajosas e, perseguiria, como de regra, os propsitos que
se apontam s associaes de consumidores nos planos da
formao, informao e proteco, podendo:
- dispor de um centro de formao que
prepararia os programas a difundir pelos cooperantes e pelos
que integram os respectivos agregados familiares;
- constituir um centro de informao com uma
revista de base que serviria de elo de ligao de suporte
entre os que aderissem ao projecto: a expanso das
actividades poderia permitir aceder a uma cadeia de estaes
de radiodifuso e, consoante os ordenamentos em que se
integrassem, aceder a um servio pblico de radiodifuso ou,
mediante o poder de penetrao conseguido, dispor de um
canal de televiso para que se pudesse desenvolver toda
uma pedagogia de cidadania, que, em regra, se acha
arredada das preocupaes;
- dispor de um parque laboratorial e de canais
expeditos tendentes superao dos conflitos que
opusessem os consumidores a terceiros.
O segundo, assente em uma estrutura de
base, susceptvel de congregar os mais esclarecidos,
interessados e devotados cidados, movidos pelo servio dos
outros e dominados por instantes preocupaes sociais, que,
sem capacidade de arregimentar um nmero exponencial de
consumidores directa e imediatamente, assumira expresso
atravs de tcnicas susceptveis de explorao, a saber:
- ou por meio de referendo e aps a
explanao na media dos programas de aco de
associaes constitudas em obedincia a um sem nmero
de pressupostos da base em que se assentam os planos,
projectos e programas que tendam a animar;
- ou por meio de escolhas a efectuar no
momento em que se redige a declarao de impostos e se
afecta uma porcentagem dos tributos s associaes que se
moldariam em face do volume de adeses destarte
efectuadas e do previsvel movimento processual que tal
acarretaria.
O terceiro, nos pases tecnologicamente mais
desenvolvidos, assente em um modelo de raiz tecnolgica,
ao estilo de um sistema dedicado, reagruparia os
consumidores atravs de uma rede de base regional,
nacional ou transnacional, que se religariam, como ora ocorre
com a Internet, e para alm de uma quota, susceptvel de
assumir a expresso dos encargos de acesso, suportariam o
inerente s consultas efectuadas e aos demais servios
prestados, consoante as tarifas estabelecidas, em termos de
acessibilidade directa e imediata ao manancial de informao
disponvel, mas de forma no to despersonalizada como
ocorre, na generalidade, sem a interposio pessoal em
sistemas do jaez destes.
Como no h, em rigor, modelos puros e os
nveis de desenvolvimento no seio dos pases se no pautam
por uma qualquer homogeneidade - e o Brasil , afinal,
paradigmtico neste particular com marcantes reflexos no
seu quotidiano - poder-se-iam intercruzar e interpenetrar os
modelos, sendo certo que outros se perfilariam de par com
estes que, de forma reducionista, se consignam.
No mais, no quadro actual, se vislumbra a
hiptese de refazer as associaes de base familiar ou com
expresso em lugares de mdia implantao das estruturas.
certo que se podero criar de raiz
estruturas que tendam a projectar-se no amanh, a nvel dos
ensinos bsico, bsico integrado e secundrio.
IV - Os Clubes Juvenis de Consumo
Como adjuvante e modelo terico-prtico da
educao para o consumo que mister desenvolver no
quadro dos programas escolares, ainda que de expresso
multidisciplinar, o associativismo susceptvel de ser
implementado a nvel juvenil atravs dos clubes juvenis de
consumo, onde se lanar a semente das associaes do
futuro ou da insero dos jovens no termo do seu ciclo
formativo, em sentido estrito.
Os clubes juvenis de consumo podero
representar vlida experincia com repercusses adequadas
na expanso do movimento de consumidores.
Os clubes juvenis de consumo, constitudos
sob a gide dos estabelecimentos de ensino em que se
inserem e sob a orientao prxima de docentes com
especial aptido para a animao de actividades circum-
escolares, devero possuir estrutura anloga das
associaes envolvendo directamente os jovens nos rgos
de direco.
Atravs de suportes vrios - das escolas aos
Institutos da J uventude - possvel dot-los de um quantum
mnimo que os habilite a desenvolver autonomamente as
suas actividades.
Ao clube cumprir definir um plano anual de
actividades que contemple as vertentes de actuao na
trplice direco formao, informao e proteco.
Um estudo de base acerca das necessidades
da comunidade juvenil e do modo de se enredar o mercado
constitui algo de insubstituvel.
As aces de formao devero contar com a
presena de especialistas.
As aces de informao dirigidas aos seus
membros devero comportar, entre outros, um jornal de
parede, um jornal reprografado ou com distinto grau de
exigncia grfica que constitua veculo adequado das
informaes de que carecem os jovens face aos embustes ou
aos desvarios em que tendem a enred-los.
No plano da educao para o consumo em
sentido amplo, cabem designadamente aces que se
religam educao para a qualidade, educao para a
segurana, nas suas mltiplas vertentes, educao para a
sade, educao alimentar e educao para o consumo
strcto sensu.
A composio dos interesses deve caber no
mbito da proteco que se integre no plano das actividades
do clube.
Face permanncia ad tempus dos
escolares nos estabelecimentos de ensino a que se acham
afectos, h que proporcionar uma permanente renovao dos
quadros no seio do clube de que se trata, para que no haja
de se processar permanentemente a recriao de tais centros
de interesses.
Os clubes juvenis de consumo, que
pressupem sobremodo a formao de formadores em que
mister empenharem-se as escolas superiores de educao e
as prprias faculdades, sero decerto, a substncia
susceptvel de levedar, o fermento que poder permitir que a
massa cresa e o po se reparta.
Os clubes juvenis de consumo constituiro
decerto o alicerce de estruturas mais operantes na sociedade
circum-envolvente: sero o alfobre de novos valores que
podero identificar-se com os problemas e as solues que
mister lograr para os superar.
Qualquer que seja a modelao que as
associaes vierem a assumir no sculo XXI, o estgio que
as escolas proporcionaro indispensvel para a renovao
do movimento consumerista, por forma a que se no se dilua
na sociedade em que as energias individuais se dissolvem a
capacidade de interveno dos que almejam se logre atingir a
consecuo do interesse geral perante os desvarios do
mercado e dos que lhe conformam o ser.
A aprendizagem que, a esse nvel, se busca
indispensvel para que os jovens ajam no mercado de
harmonia com critrio de razoabilidade e de equilbrio,
resistindo seduo dos mtodos adoptados,
agressividade de que se fazem protagonistas tantos dos
operadores econmicos e reagem ante a sistemtica afronta
aos seus direitos.
Os clubes juvenis de consumo sero frtil
campo em que essencial investir para que se colham
abundantes frutos.
Os clubes juvenis de consumo sero, em
rigor, a base matricial do consumeirismo nas modelaes que
assumir no sculo XXI.
Da a importncia que, no presente quadro,
seria imperioso reconhecer a tais iniciativas, implementando-
as em cooperao com as autoridades acadmicas, em regra
nada predispostas a cooperar com terceiros nas tarefas de
desbravamento das inteligncias.
V - O Papel do Estado
As directrizes das Naes Unidas de 9 de
abril de 1985 impem aos estados-nao a adopo de
medidas tendentes constituio de estruturas de base, em
particular emergentes da prpria sociedade civil, cujo escopo
o da promoo dos interesses e o da proteco dos direitos
dos consumidores.
De entre tais medidas, avulta obviamente a
da criao de condies para que as associaes se
constituam e desenvolvam em autonomia para que cumpram
em plenitude os objectivos que se lhes antepem.
As directrizes, que surgem com assinalvel
retardamento face a iniciativas institucionalmente assumidas
em distintos continentes, nem sempre foram objecto de uma
ntima adeso dos Estados.
E nem sempre as afirmaes de princpios
consignadas em documentos revestidos de autoridade se
impem decisivamente aos governos que declinam, no raro,
as responsabilidades que lhes cabem neste congenho.
Para alm das instituies emergentes das
estruturas orgnicas da administrao pblica, nem sempre
actuastes, nem sempre dominadas por objectivos que
tendem a favorecer os povos, nem sempre envolvidas no
processo de "libertao" da sociedade civil, nem sempre se
desencadeiam aces susceptveis de assegurar que os
cidados se envolvam em consequentes projectos j que
ao Estado que cumpre facultar os meios adequados
constituio e funcionamento das associaes, no como
ddiva, mas como estorno pelo cumprimento de funes que
s estruturas estaduais cumpria desenvolver e que destarte
se transferem para a denominada sociedade civil.
A Carta Europia de Proteco do
Consumidor, de 17 de maio de 1973, editada pelo Conselho
da Europa, define sob a epgrafe "O direito de representao
e consulta":
"l) As organizaes voluntrias de
consumidores devero ser fomentadas e
reconhecidas pelos governos e consultadas
em relao a leis, regulamentos, disposies
administrativas e servios consultivos para
consumidores, implicando tal reconhecimento
para estas organizaes a obrigao de
publicarem informaes exactas
acompanhadas de pareceres.
II) Cada pas dever estabelecer, de acordo
com as prprias tradies, uma forte,
independente e eficaz autoridade que
represente os consumidores e interesses
comerciais responsveis, que seja
encarregada de aconselhar os rgos
legislativos e executivos em todos os
aspectos de defesa do consumidor, capaz de
garantir, a nvel nacional e local, o inteiro
respeito pela legislao e regulamentos sobre
o consumidor e que disponha de adequada
informao e servios de consulta.
Ill) Os servios pblicos devero ter plena
considerao pelos interesses e direitos dos
consumidores, providenciando pela
nomeao de representantes dos
consumidores nos seus rgos de direco
em nmero considerado conveniente, ou de
comisses de consumidores que expressem
tais interesses junto dos rgos de direco.
IV) Cada Governo, directamente ou atravs
de um organismo nacional de consumidores,
dever efectuar inquritos e publicar
informaes sobre a composio e funo
dos produtos, etiquetagem e uso dos
mesmos, eficincia dos servios e todas as
questes de interesse para os consumidores,
devendo instalar, se necessrio, centros
consultivos locais de consumidores, onde
prontamente ser dada informao acerca
dos servios oferecidos pelos comerciantes
locais.
V) A aplicao de leis de proteco e a
administrao dos servios consultivos
dever ser feita, tanto quanto possvel, a
nvel local.
VI) As associaes responsveis de
fabricantes e comerciantes, a nvel nacional e
internacional na Europa Ocidental, devero
ser encorajadas na elaborao dos seus
prprios cdigos de prticas comerciais que,
conformando-se basicamente com as
legislaes nacionais, devero promover
normas mais exigentes e devero ser
submetidos - juntamente com propostas para
uma restrita e efectiva aplicao de tais
cdigos em colaborao com os
consumidores - aprovao dos organismos
nacionais de consumidores. As autoridades
devero dar proteco pblica e apoio aos
cdigos aprovados."
Os sucessivos programas da ora denominada
Unio Europia preconizam o reforo do movimento
associativo, conquanto se trate, afinal, de declaraes de
princpio sem contedo, j que no h nem reforo das
estruturas, nem suporte para as actividades autnticas e
autnomas desenvolvidas por associaes seriamente
fundadas e que desenvolvem consequente actividade neste
particular, antes se privilegiam empresas e gabinetes
privados de estudos em detrimento das associaes ou
abastecem-se as empresas que religam determinadas
estruturas, como flagrante via para as promiscuidades a que
se assiste e o definhamento do movimento de consumidores
na pureza do seu ideal e na fidedignidade das aces em
que se rev.
Dos mais de 400.000.000 de cidados-
consumidores, no mbito da Unio Europeia, nem sequer
10% se conectam no movimento de consumidores, mesmo
considerando os que hoje se limitem a assinar uma revista e,
como brinde, para alm de um livro de decorao e de uma
tradutora electrnica ou de uma calculadora, beneficiem da
hiptese de figurarem como "membro" da associao a que a
empresa de testes e publicaes se religa...
Os financiamentos das estruturas
associativas no so transparentes.
A administrao pblica que, em regra, no
cumpre os objectivos que se lhe impem, furta-se a dotar as
estruturas associativas adequadamente.
No h rigor, no h objectividade, no h,
em suma, critrios e o Estado nem sempre se rege por
princpios, o que tende a esvaziar-se de contedo e suporte
econmico-financeiro as instituies privadas que operam
neste domnio movidas por um qualquer escopo no
egostico.
VI - O Financiamento das Estruturas
Associativas de Consumidores
indispensvel que o Estado defina, com
rigor, as formas de financiamento das associaes.
semelhana, de resto, do que se vem
exigindo no que concerne ao financiamento de partidos e de
polticos.
Os financiamentos subterrneos e as
contrapartidas da emergentes tm feito adensar as suspeitas
sobre os partidos que hipotecam a sua autonomia a grupos
de interesses que no tardam em apresentar a "factura" para
os consequentes "favores" que os financiamentos propiciam
ou impem...
Mas financiamento pressupe o
preenchimento dos conceitos de representatividade e
legitimidade, nem sempre transparentes, nem sempre
coincidentes.
A representatividade, neste plano, em
particular quando em causa se acham as empresas de testes
e publicaes constitudas sob forma comercial, susceptvel
de ser algo de falacioso.
Da que se assevere em determinados
arepagos que nem sempre um expressivo nmero traduz
efectiva representatividade, em especial se o logro (assinante
de revista=membro) persistir,
O financiamento, porm, ou se funda em algo
de dissociado do processo de mera expresso numrica das
estruturas que se confundem em termos pragmticos
(empresas/associaes) ou tende a subverter os dados
subjacentes.
No fcil se definirem as dotaes se
persistir o equvoco, ou seja, se no houver associados de
raiz e se, afinal, os associados forem uma mera fico
assente no nmero dos que, atrados por vigorosas
mensagens de publicidade, nem sempre licitas, se tornarem
assinantes.
Os financiamentos, tal como ora se
processam, no assentam em base segura - no se
cumprem, em rigor, critrios objectivos e, em regra, as
dotaes inscritas nos oramentos do Estado so
manifestamente insuficientes.
Segundo os modelos propostos, h que
definir um quadro-padro de financiamento.
No que se concerne ao modelo cooperativo e
s actividades conexas nos domnios da formao,
informao e proteco, h que dissociar o financiamento
cooperativo no quadro geral dos incentivos indstria, ao
comrcio e aos servios do financiamento das actividades
prprias, no mbito de uma poltica de consumidores.
Seriam, pois, financiadas autonomamente as
aces de formao, as aces de informao e toda a sorte
de intervenes, a nvel da proteco em conseqncia da
anlise do bem fundado das propostas constantes do plano
de que se trata, rateando-se os valores para o efeito inscritos.
No que toca escolha referendaria entre
vrios projectos renovvel quadrienalmente, as dotaes
sairiam do errio pblico mediante um acrscimo
insignificante e para a dotao das associaes, com o que
satisfaz encargos para a sade ou a segurana social...
O financiamento, devidamente controlado
pelos tribunais de contas ou estruturas anlogas, imporia a
constituio de uma rede institucional susceptvel de
responder s mais caras aspiraes dos povos.
Se o processo se basear, porm, em opo
emergente do formulrio dos impostos, o Estado, apurado o
nmero de aderentes, carrear uma percentagem da
arrecadao global, a definir em funo do nmero dos que
se pronunciaram em favor de uma determinada estrutura, que
h de constituir o suporte econmico-financeiro da
associao.
Os cidados-consumidores percebero
graciosamente o veculo de comunicao que a estrutura
eleita editar.
Os cidados recorrero s estruturas a que
se acham afectos e que tero o poder-dever de adequar os
seus meios ao universo de consumidores que os distinguir
mediante a opo efectuada.
No modelo vazado nas tecnologias da
informao que, como hiptese enquadrvel na sociedade
tecnolgica, se perfilou, h que significar que necessrio
seria apetrechar adequadamente sucessivas bases de dados,
para o que o Estado suportaria parte considervel ou
celebraria com as emergentes associaes contratos-
programa.
O Princpio da Moralidade
Administrativa no Direito Brasileiro
Galba Cotta de Miranda Chaves
Promotor de Justia
J esus Augusto Carvalho Filho
Acadmico/Estagirio do Ministrio Pblico
(Colaborador)
"Os princpios jurdicos (...) tm em si valor
normativo; constituem a prpria realidade
jurdica. Em relao cincia do Direito,
constituem seu prprio objeto. Existem
independente de sua formulao; so
aplicveis ainda que a cincia os
desconhea. A misso da cincia com
relao aos mesmos no outra seno a de
sua apreenso. E a cincia ser mais ou
menos perfeita, segundo logre ou no a sua
determinao. Porque se o ordenamento
jurdico constitui o objeto da cincia do direito
positivo, esse conhecimento no ser
completo enquanto no se alcance a
determinao dos princpios que os
informam.
Os princpios jurdicos constituem a base do
ordenamento jurdico, a parte cambiante
mutvel, que determina a evoluo jurdica;
so idias fundamentais e informadoras da
organizao jurdica da nao."
(J esus Gonzales Peres)
Sumrio: l - Introduo. II - Moralidade Administrativa -
Conceituao. Ill - A Moralidade Administrativa como
Principio Constitucional. IV - A Moralidade Administrativa na
Lei n 8.429/92. V - Controle J udicial da Moralidade
Administrativa.
VI - Concluses.
l - Introduo
A partir da dcada de 80, e desde ento, a
moralidade administrativa vem se destacando como um dos
temas que mais tem suscitado questionamentos e estudos
por parte daqueles que lidam diretamente com a J ustia,
como advogados, juzes, promotores, juristas e tambm
administradores em geral.
Realmente, no Brasil, a partir do final da
ltima dcada, tem-se aprofundado o questionamento acerca
dos padres morais a serem observados pelas pessoas
polticas e pelos seus agentes.
Reflexo disso pode ser sentido na prpria
Constituio Federal de 1988 e na edio da Lei n 8.429/92.
Em verdade, com a formalizao dos
diplomas legais acima citados, o Brasil apenas aderiu a um
movimento de nvel mundial.
Nessa alheta:
" certo que esta fase de profundas
mudanas, visualizadas em seu pice com a
queda do muro de Berlim, contribuiu para a
mudana do plo do debate sobre o modo de
produzir riqueza, pela nfase dada ao
sistema capitalista. Este firmou-se
classificando a coisa (ou as coisas) em
superioridade sobre o homem. Sem coexistir
com uma contraproposta, o capitalismo sem
discusso suscitou o grande risco de
materializar os benefcios, inclusive os
pblicos, apenas para alguns homens. Ps-
se, ento, a imperiosidade do
questionamento da tica e da moral pblica, a
partir dos quais se devem realizar os valores
fundamentais da dignidade humana.
De outra parte, a fase de inexistncia de uma
dialtica poltica no mundo, que os ltimos
momentos da dcada de 80 encarnou,
determinou o repensamento imediato, srio e
profundo do Poder Pblico, no qual a opo
de um modelo de sociedade e de seus
instrumentos de ao no viesse a resultar na
aeticidade do seu exerccio e na amoralidade
da concepo de um modelo de Direito sem
fundamento na J ustia."
1
A nossa Carta Magna, em seu art. 1 e
incisos, fala em Estado Democrtico de Direito e, como um
dos fundamentos deste, a dignidade da pessoa humana.
Mais adiante, o seu art. 3 diz constituir objetivo fundamental
da Repblica Federativa do Brasil, dentre outros, o de
construir uma sociedade livre, justa e solidria.
Temos pois, como princpio fundamental da
nossa Repblica Federativa, a Democracia. Ora, o princpio
desta a liberdade e aquela jamais sobreviver sem
legitimidade, sendo que sem a legitimidade para fundamentar
a Democracia no se ter uma sociedade livre, justa e
solidria. E no se pode pensar em legitimidade como um
conceito gerado apartado dos padres morais.
Logo, questo atualssima indagar-se at
que ponto a norma moral inspira e condiciona a aplicao da
norma legal.
A expressa admisso do principio da
moralidade administrativa no atual texto constitucional
consequncia direta de um forte amadurecimento poltico e
de um desejo no menos intenso no sentido de se
reequilibrar a relao Estado e indivduo pois, na feliz
expresso do culto DIOGO DE FIGUEIREDO
1
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Princpios Constitucionais da Administrao Pblica.
Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 175.
"neste fim de sculo e milnio no mais basta
s conscientes e exigentes sociedades
contemporneas saberem que o Estado se
submete vontade da maioria, mas, ainda,
que os governantes se submetem s
exigncias da moral".
2
Ademais, um sistema jurdico democrtico,
assentado na legitimidade, essencial realizao do Estado
Democrtico, s pode ser erigido e firmado com a
acentuao da noo do dever administrativo, tendo-se a
proteo da moralidade como princpio fundamental, dotado
de natureza e vigor normativo.
O presente trabalho procurar, em breves
linhas, sem maiores ambies, dissecar um pouco a noo
do que seja moralidade administrativa, a sua
constitucionalizao como princpio, o seu controle judicial e
os instrumentos processuais existentes para corrigir os
abusos e comportamentos aticos por parte da Administrao
Pblica, com o fito de ajudar a todos aqueles imbudos da
honrosa misso de moralizar a Administrao Pblica, seja
por uma forma direta ou indireta e, principalmente, funcionar
como uma fagulha a provocar o debate, o estudo, em suma,
a no deixar que princpio to fabuloso para o homem se
torne letra morta na lei.
Teve participao fundamental na elaborao
deste, o estagirio do Ministrio Pblico Jesus Augusto
Carvalho Filho, tanto na busca de opinies doutrinrias e
2
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Moralidade administrativa - do conceito
efetivao - in RDA, n 190, p. 1-44.
decises jurisprudenciais, quanto na reviso final do texto e
demais normatizaes.
II - Moralidade Administrativa - Conceituao
"O princpio da moralidade administrativa de
difcil expresso verbal. A doutrina busca
apreend-lo, ligando-o a termos e noes que
propiciem seu entendimento e aplicao."
3
Entre os doutrinadores ptrios, HELY LOPES
MEIRELLES situa a moralidade como um dos princpios
bsicos da administrao pblica, ligando-o ao conceito do
bom administrador. Para o festejado mestre, a moralidade
administrativa necessria validade da conduta do
administrador pblico, sendo, mais do que isto, pelo art. 37,
caput, da Constituio Federal, um pressuposto de validade
de todo ato da Administrao Pblica,
"O certo que a moralidade do ato
administrativo, juntamente com a sua
legalidade e finalidade, constituem
pressupostos de validade, sem os quais toda
atividade pblica ser ilegtima."
4
Quem primeiro sistematizou o conceito de
moralidade administrativa foi MAURICE HAURIOU, em sua
3
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Brasileiro. So Paulo: RT, p. 142.
4
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. So Paulo: Malheiros, p. 83 a
85.
obra Prcis de Droit Administratif, em sede da qual faz
questo de ressaltar que quando se fala em moralidade
administrativa, em absoluto, est se falando da moral comum,
mas sim de uma moral jurdica
"a ser entendida como um conjunto de regras
de conduta, prprias do interior da
Administrao e que so impostas ao agente
pblico, a nortear-lhe a conduta, sempre e
sempre, com a finalidade de servir ao bem
comum".
5
Logo, para HAURIOU, a moralidade
administrativa apresentava-se segundo uma disciplina interna
da Administrao. Com isso,
"Hauriou reconheceu a Administrao Pblica
como uma instituio finalsticamente
orientada, exigindo de seus agentes, alm da
submisso formal lei, como qualquer agente
pblico, uma especfica honestidade
profissional".
6
Em suma, a Administrao Pblica rege-se
por um sistema prprio de moral fechada, que lhe inerente,
que exige de seus agentes absoluta fidelidade produo de
resultados que sejam adequados satisfao dos interesses
pblicos, assim por lei caracterizados e a ela cometidos.
7
5
Apud ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 197.
6
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Op. cit. p. 1 a 44.
7
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit. p. 1 a 44.
Mesmo porque, no se pode obrigar algum a ser
administrador pblico, porm, disposto a tal, imperiosa a
observncia de gerir a coisa pblica no apenas em
observncia ao preceito legal, mas tambm aos critrios do
que seja justo, honesto, segundo padres normativos a
revelar a moralidade, pois s assim, estar legitimado o seu
munus de gestor da coisa pblica.
Por sua vez, CELSO BASTOS parece aceitar
esta concepo da moralidade como conjunto de regras de
conduta da disciplina interna da Administrao, com a
finalidade ltima de servir ao bem comum, ao proclamar que
" imoral, administrativamente, aquele ato
que, sem encerrar uma violao frontal a um
preceito, termina, no entanto, por constituir
uma violncia aos fins com que deve ser
levada a efeito a atividade administrativa".
8
Lanada a semente por HAURIOU, o fato
que a noo de moralidade administrativa vem galgando, ao
longo da histria, amplos espaos no Direito Administrativo,
sendo certo que no Estado moderno, com os intricados
mecanismos de interveno do Estado na ordem econmica
e no domnio social, mais e mais os cidados vo exigindo
dos polticos e administradores uma postura, no trato com a
coisa pblica, pautada pela tica e pelo compromisso com a
idia de que o servio pblico h de atender ao justo e ao
honesto. De forma que, sem exagero, pode-se afirmar que
8
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. So Paulo: Saraiva, p. 226.
"a moralidade administrativa tornou-se no
apenas Direito, mas direito pblico subjetivo
do cidado: todo cidado tem direito ao
governo honesto".
9
Em apertada sntese, com um pouco de
ousadia, poder-se-ia dizer que um ato administrativo moral
quando nele no esto presentes o excesso, o desvio, o
arbtrio ou motivaes divorciadas do interesse pblico.
Destaca-se que, nada obstante a ausncia de
faltas legais, o ato poder ser acoimado de imoral, vindo a
ser anulado e provocar repercusses na esfera de seu
ordenador e daqueles que, com dolo ou culpa, tenham
infludo para a sua subsistncia pois,
"por consideraes de Direito e de moral, o
ato administrativo no ter que obedecer
somente lei jurdica, mas tambm lei tica
da prpria instituio, porque nem tudo que
legal honesto, conforme j proclamavam os
romanos: 'non omne quod licet honestam
est"
10
Nesse diapaso, vale a pena transcrever a
lio da mestra mineira CRMEN LCIA, para quem:
"A moralidade administrativa , pois, princpio
jurdico que se espraia num conjunto de
normas definidoras dos comportamentos
9
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 190.
10
MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p. 84.
ticos do agente pblico, cuja atuao se
volta a um fim legalmente delimitado, em
conformidade com a razo de Direito exposta
no sistema normativo. Note-se que a razo
tica que fundamenta o sistema jurdico no
uma razo de Estado (...) A tica da qual se
extraem os valores a serem absorvidos pelo
sistema jurdico na elaborao do princpio da
moralidade administrativa aquela afirmada
pela prpria sociedade, segundo as suas
razes de crena e confiana em
determinado ideal de J ustia, que ela busca
realizar por meio do Estado.
Assim, o Estado no fonte de uma moral,
segundo suas prprias razes, como se ele
fosse um fim e a sociedade um meio. (...)
A moralidade administrativa legitima o
comportamento da Administrao Pblica,
elaborada como ele por um Direito nascido
do prprio povo. Por isso, o acatamento da
moralidade administrativa, como princpio de
Direito, que dota o sistema de legitimidade, o
que se estende qualificao legtima do
Poder do Estado."
11
Em suma, a moralidade administrativa como
princpio que , inclusive a nvel constitucional, molda o
desempenho do administrador, no pelo voluntarismo deste
no exerccio de seu poder, e sim, por uma ordem tica
acordada entre Estado e homem e baseada em valores
sociais prevalentes para a realizao dos fins da pessoa
11
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 191.
pblica, quais, honestidade do comportamento do
administrador pblico, sua incorruptibilidade, prevalncia da
boa-f e da lealdade de seus agentes.
Ill - A Moralidade Administrativa como
Princpio Constitucional
"Os princpios constitucionais so os
contedos intelectivos dos valores superiores
adotados em dada sociedade poltica,
materializados e formalizados juridicamente
para produzir uma regulao poltica no
Estado."
12
Os princpios podem funcionar tambm como
um anteparo ao excesso ou desvio de poder, assumindo,
assim, uma funo positiva ao impor, positivamente, a
exigibilidade, adequao e proporcionalidade dos atos dos
poderes pblicos em relao aos fins perseguidos.
J . J . CANOTILHO, dissertando acerca dos
caracteres distintivos e constitutivos do Direito Constitucional,
ao falar da auto-garantia do Direito Constitucional, chega a
dizer:
"que o Direito Constitucional um direito que
gravita sobre si mesmo. Atravs desta frase
lapidar, pretende-se salientar a especificidade
dos meios de tutela e das sanes jurdicas
das normas constitucionais. Por vezes,
12
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op, cit., p, 23.
considera-se mesmo o direito constitucional
como direito sem sano ou como um
conjunto de normas 'imperfectae ou numus
quam perfectae', dado que a sua violao
no acompanhada por medidas de coero
(sanes) jurdicas adequadas. Trata-se de
uma perspectiva largamente tributria das
concepes imperativsticas do direito. Estas
concepes, alm de merecerem severas
crticas em sede de teoria geral do direito
relativamente exigncia de coercibilidade e
de sano como caractersticas das normas
jurdicas, revelam-se tambm inadequadas
para captar a funo promocional do Direito
Constitucional."
13
A esse respeito, disserta a mestra CRMEN
LCIA:
"que a Constituio, na qual se acredita e se
confia neste quase incio de novo sculo, no
mais a lei fundamental posta, mas a lei que
fundamenta o que se pe a cada dia segundo
o conceito de J ustia formulado socialmente.
(...) Para que a transformao libertadora seja
possvel no Estado Democrtico - que se
desempenha por norma vivas e eficazes, que
se oferecem renovao segundo a
criatividade permanente do ser humano - sem
comprometimento da segurana que o Direito
oferea, enfatizam-se mais e mais, os
princpios, agora dotados de normatividade e
13
CANOTILHO, J . J . Gomes. Direito Constitucional. Coimbra, 1995, p. 141.
eficcia, que no embaraam a criao
jurdica, nem se esvaziam como enunciados
sem fora ou forma de Direito. (...) Assim, o
princpio constitucional predica-se
diferentemente de qualquer outro princpio ou
valor prevalente na sociedade, mas no
jurisdicizado, por carecer da normatividade
que o torna impositivo ao acatamento
integral. Esta qualidade talvez represente o
maior avano a que chegou o
constitucionalismo contemporneo, pois a
normatividade dos princpios alterou a face e
o corao do conceito de Constituio. A
norma que dita um princpio constitucional
no se pe contemplao, como ocorreu
em perodos superados do
constitucionalismo; pe-se observncia do
prprio Poder Pblico do Estado e de todos
os que sua ordem se submeterem e da qual
participam. (...) Por isso, a tese segundo a
qual os princpios constitucionais no se
dotam de normatividade e vinculatividade
vem sendo desfeita e chega-se, agora, s
derradeiras luzes deste sculo, com a certeza
de que a Constituio uma lei e tudo o que
nela se contm - especialmente os seus
princpios - tem esta idntica natureza".
14
Nesse sentido, vlida a transcrio abaixo:
14
ROCHA, Grmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 25 a 27.
"Precisamente por isso, e marcando uma
decidida ruptura em relao doutrina
clssica, pode e deve falar-se da morte das
normas constitucionais programticas.
Existem, certo, normas-fim, normas-tarefa,
normas-programa que impem uma atividade
e dirigem materialmente a concretizao
constitucional. O sentido destas normas no
, porm, o assinalado pela doutrina
tradicional: simples programas, exortaes
morais, declaraes, sentenas polticas,
aforismos polticos, promessas, apelos ao
legislador, programas futuros, juridicamente
desprovidos de qualquer vinculatividade. s
normas programticas reconhecido hoje um
valor jurdico constitucionalmente idntico ao
dos restantes preceitos da constituio. No
deve, pois, falar-se de simples eficcia
programtica (ou directiva), porque qualquer
norma constitucional deve considerar-se
obrigatria perante quaisquer rgos do
poder poltico. (...) Todas as normas so
atuais, isto , tm uma fora normativa
independente do ato de transformao
legislativa. No h, pois, na constituio,
simples declaraes (sejam oportunas, ou
inoportunas, felizes ou desafortunadas,
precisas ou indeterminadas) a que no se
deva dar valor normativo, e s o seu
contedo concreto poder determinar em
cada caso o alcance especfico do dito
valor."
15
15
CANOTILHO, J . J . Gomes. Op. cit., p. 183 a 185.
O princpio constitucional da moralidade
administrativa est insculpido na Constituio Federal, pelo
seu art. 37, caput, onde se l:
"A administrao pblica direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da
Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municpios obedecer aos princpios da
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade" e, tambm, ao seguinte: (...)"
Sem dvida alguma, como j expressado, foi-
se o tempo em que os doutrinadores apegavam-se tese da
existncia de princpios constitucionais como normas
programticas ou enunciados de intenes despojados de
vigor jurdico, de normatividade ou de vinculatividade de
norma jurdica.
Com efeito, nos termos dos precisos e cultos
ensinamentos da mestra CRMEN LCIA:
"a incluso em textos constitucionais das
chamadas normas programticas, carentes
de vinculatividade e normatividade efetiva,
constituiu a criao de um freio legal aos
anseios de progresso do Direito. Direito sem
obrigao e aplicao mentira intil, que
esvazia o contedo da norma, desconstri o
sistema jurdico e cala a justia (...) Por isso,
a tese, segundo a qual os princpios
constitucionais no se dotam de
normatividade e vinculatividade, vem sendo
desfeita e chega-se, agora, s derradeiras
luzes deste sculo com a certeza de que a
Constituio uma lei e tudo o que nela se
contm - especialmente os seus princpios -
tem esta idntica natureza"^
6
"Da se afirmar pela impossibilidade de se
fornecer guarida na validade do Direito de um
Estado Democrtico aos comportamentos
humanos desconformes, ou incompatveis,
aos princpios constitucionais, mormente pelo
fato de que, se a definio do princpio
constitucional no afirmativa positiva, com
certeza, ela o ser afirmativa negativa, quer-
se dizer, no h comportamento que se lhe
possa contrariar o preceito."
17
A respeito dos princpios, pode-se afirmar que
os mesmos sero sempre aplicveis, ainda que com uma
funo negatria para aqueles atos que os atinjam. E aqui
vale a pena ressaltar as funes inibidora e desconstitutiva
dos princpios.
Para tanto, nos socorremos em DIOGO DE
FIGUEIREDO para quem:
"por funo inibidora, estritamente ligada
funo sistmica que ajuda a dar uma
identidade tica poltica a cada Constituio,
entende-se a decorrente lgica da sua
eficcia impeditiva da prtica de qualquer ato
16
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 27.
17
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit.. p. 41.
a contrariar o princpio e por funo
desconstitutiva, vinculada s funes
sistmica e inibidora, a decorrente da sua
eficcia resolutiva do princpio, seja ato
legislativo, administrativo, judicial ou
privado".
18
Outrossim, no se pode olvidar que a
obedincia aos princpios constitucionais no fica restrita
apenas queles a quem incumbida a tarefa de legislar
infraconstitucionalmente. Muito ao contrrio, a sua obedincia
dever de todos os cidados, podendo-se dizer que tais
princpios positivam-se como normas a direcionar no apenas
outras normas, mas todos os comportamentos estatais e at
mesmo particulares; ou, quando mais, dos administradores
pblicos.
Tambm, impossvel descurar para a
objetividade dos princpios constitucionais. Destarte, apesar
de seus contedos, via de regra, serem caracterizados pela
generalidade, no se cuidam os mesmos de subjetividade,
aleivosias ou lacunosidade.
Por isso, temos como acertado o
ensinamento abaixo transcrito:
"A indeterminao dos conceitos utilizados
pelo constituinte na principiologia traada na
Lei Maior no contm carncia de
significados ou equivocidade dos significados
a ele atribuveis, nem supe a sua
indeterminabilidade. Antes, exprime a sua
18
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 1 a 44.
determinabilidade em face das situaes
concretamente caracterizadas na experincia
constitucional. Dai, poder se afirmar que o
princpio nunca obscuro, pois se o fosse
no seria passvel de determinar-se no
momento de sua aplicao, eis que a
obscuridade dependeria de ato estatal tpico
para sanear tal condio. Mas assim no . O
princpio constitucional - como todo o
contedo de norma jurdica de qualquer
natureza, nvel, na qual comparea um
conceito no determinado pelo seu autor -
determinvel pela anlise da situao de fato
sobre a qual deve ele incidir, acoplado aos
instrumentos interpretativos postos pelo
Direito disposio de seu aplicador ou
intrprete.
Tambm no se h objetar ser a norma
constitucional contenedora de princpio
lacunoso, em razo dos conceitos
indeterminados nos quais muitas vezes
vazada.
A lacuna na lei importa em ausncia de
elementos que identifiquem perfeitamente o
objeto de que nela se cuida. O princpio
constitucional, elaborado com a no
determinao formal do conceito, no
apresenta lacunas, mas saciedade os
elementos que bem caracterizam e definem o
quanto nela posto."
19
19
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 35.
Logo, temos a normatividade dos princpios
constitucionais como caracterstica fundamental do Direito
Constitucional, pois sendo a Constituio uma lei, natural a
sua carga de coercitividade.
Estas consideraes introdutrias so
extremamente importantes para a correia compreenso do
alcance do princpio constitucional da moralidade
administrativa.
Ensina J OS AFONSO DA SILVA que:
"comete imoralidade, mediante desvio de
finalidade, o agente que pratica ato visando a
fim diverso daquele previsto na regra de
competncia".
Por este ensinamento, tem-se a moralidade
como elemento interno da legalidade, que foi, basicamente, o
ensinamento, a semente frtil plantada pelo mestre francs
MAURICE HAURIOU, ao fazer a integrao da moralidade
legalidade do ato administrativo e a sua vinculao inicial
questo do desvio de finalidade.
Todavia, conceitos mais amplos da
moralidade administrativa esto a imperar, de forma que esse
princpio passou a ter o seu conceito elaborado com fora de
elemento autnomo na formao e na informao do
comportamento administrativo juridicamente vlido.
Nesse sentido, os conceitos formulados por
MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO e CRMEN
LCIA ANTUNES ROCHA.
Para FRANCO SOBRINHO
20
"a moralidade administrativa est intimamente
ligada ao conceito do 'bom administrador',
que aquele que , usando de sua
competncia legal, se determina no s pelos
preceitos vigentes, mas tambm pela moral
comum. H que conhecer, assim, as
fronteiras do lcito e do ilcito, do justo e do
injusto nos seus efeitos. Quando usamos da
expresso nos seus efeitos, para admitir a
lei como regra comum e medida ajustada.
Falando, contudo, da boa administrao,
refermo-nos subjetivamente a critrios morais
que, de uma maneira ou de outra, do valor
jurdico vontade psicolgica do
administrador".
J para a professora CRMEN LCIA:
"A moralidade administrativa o princpio
segundo o qual o Estado define o
desempenho da funo administrativa
segundo uma ordem tica acordada com os
valores sociais prevalentes e voltada
realizao de seus fins. Esta moral
institucional, consoante aos parmetros
sociais, submetem o administrador pblico"
(ou. cit. p. 192).
20
Apud MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 85.
21
ROCHA, Carmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 192.
Tendo em vista que o princpio constitucional
da moralidade administrativa visa, sobremodo, aperfeioar a
virtude do comportamento do Administrador Pblico e que
esta virtude observada pela correia adequao do ato
administrativo ao fim posto, como meta a ser atingida,
verifica-se, prima fade, a sua completa inutilidade, caso
possvel no fosse o exame crtico, pelo J udicirio, dos meios
efetivamente usados pelos agentes, no exerccio de sua
competncia, e, em consonncia com a necessidade, e,
principalmente, honestidade do meio empregado e fim
almejado.
Mais uma vez, nos utilizamos dos
conhecimentos valiosos da eminente professora mineira
CRMEN LCIA, para quem,
"neste final de sculo, a moralidade
administrativa no se restringe verificao
da obteno de utilidade para a garantia de
um determinado interesse pblico tido como
meta da ao do agente. Mais que isto, a
moralidade administrativa, que se pretende
ver acatada, adentra o reino da finalidade de
garantia da realizao dos valores expressos
na idia do Bem e da Honestidade, que se
pretendem ver realizados segundo o Direito
legtimo".
Mais adiante, finaliza ao dizer que:
"A virtude, que se pretende ver obtida com a
prtica administrativa moral, fundamenta-se
no valor da honestidade do comportamento,
da boa-f, da lealdade dos agentes pblicos,
e todos estes elementos esto na moralidade,
como integrantes de sua essncia e sem os
quais no se h dela cogitar".
22
Pois bem, como j dito,
"a moralidade administrativa, tendo natureza
de princpio e forma de norma de Direito,
goza das qualidades de efetividade jurdica e
possibilidade de efetividade social
formalmente exigveis. Logo, a obrigao
jurdica de conduzir-se segundo os
parmetros de moralidade administrativa
submete o administrador pblico".
23
Evidente, tambm, que o fortalecimento deste
princpio constitucional, como norma possuidora de
efetividade jurdica, deu-se pela aceitao da idia, de resto
corretissima, de que o servio pblico, indelevelmente, h
que atender ao justo e honesto, seguindo padres normativos
de justia e de justeza, configurando-se esta pelo conjunto de
valores ticos que revelam a moralidade, como bem
esposado pela moderna doutrina a respeito.
Afora o conceito estampado no art. 37, caput,
encontramos, ainda a nvel constitucional, vrias referncias
prtica moral, como a dignidade da pessoa humana
24
, a
22
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 193,
23
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Op. cit., p. 195.
24
CF/88, art. 1, III.
prevalncia dos direitos humanos
25
, a vedao tortura e ao
tratamento desumano e degradante
26
, o respeito
integridade moral dos presos
27
, dentre outros. DIOGO DE
FIGUEIREDO enumera 58 normas constitucionais nesse
no
sentido, entre princpios e preceitos.
IV - A Moralidade Administrativa na Lei N
8.429/92
Esta lei foi editada para reprimir os atos de
improbidade na Administrao Pblica.
O art. 4 da citada lei diz que:
"Os agentes pblicos de qualquer nvel ou
hierarquia so obrigados a velar pela estrita
observncia dos princpios de legalidade
impessoalidade, moralidade e publicidade no
trato dos assuntos que lhe so afetos".
A seu turno, o art. 11 proclama que:
"Constitui ato de improbidade administrativa,
que atenta contra os princpios da
administrao pblica, qualquer ao ou
25
CF/88, art. 4,
26
CF/88, art. 5, III.
27
CF/88, art. 5, XLIX.
28
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit. p. 1 a 44.
omisso que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade s instituies e, notadamente: (...)"
As sanes vm disciplinadas no inciso III,
do art. 12, e fala em ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da funo pblica, suspenso dos direitos
polticos, pagamento de multa civil e proibio de contratar
com o Poder Pblico, pelo prazo de trs anos.
Escapa ao alcance deste trabalho uma
anlise aprofundada das hipteses elencadas nos incisos do
art. 11, bem como das penalidades previstas no art. 12.
Aqui, vale a pena destacar-se que, nada
obstante as hipteses casusticas previstas nos sete incisos
do art. 11 e a ausncia da palavra moralidade no caput do
art. 11, seria foroso engano interpretar referido artigo sem
estar atento ao art. 4 do mesmo diploma legal que, por sua
vez, esto inscritos no art. 37 da Carta Magna, pois bvio
"ululante" que os princpios enumerados no caput do art. 11
so decorrentes lgicos dos princpios emanados do artigo 4
da prpria Lei n 8.429/92 que, afinal, tiveram sua origem no
preceito constitucional insculpido no art. 37 da Constituio
Federal.
Dissertando a respeito, o ilustre Promotor De
J ustia MRCIO LUS CHILA FREYESLEBEN
29
diz que
"os agentes pblicos devem observar deveres
que lhes so impostos pela lei e pela tica
29
FREYESLEBEN, Mrcio Lus Chila. A Improbidade Administrativa, in Revista J urdica
do Ministrio Pblico, v. 17, p. 348.
jurdico-administrativa, bem como aqueles
que lhes so exigidos pelo interesse pblico.
Os deveres esto estabelecidos no
ordenamento jurdico, em especial na
Constituio e nas leis administrativas. O
conjunto dos deveres forma o que se chama
de ordenamento tico (...) O dever de
honestidade surge para o agente em
decorrncia do princpio da moralidade,
imposto Administrao Pblica (artigo 37,
Constituio)".
Aqui, faz-se a ousadia de dizer que a
moralidade administrativa pr-requisito para o cumprimento
dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e
lealdade s instituies.
O ato imoral no apenas e to-somente o
ato desonesto, mas tambm o ato eivado de parcialidade por
motivos diversos, como, por exemplo, egosmo, favoritismo
etc.; o ato legal juridicamente, porm ilegal perante a tica da
instituio, pois, como aqui j dito, nem tudo que legal
honesto; da mesma forma o ato desleal, vez que aqui estaria
em falta o dever de fidelidade, o que imoral por si s.
V - Controle Judicial da Moralidade
Administrativa
Inicia-se este tpico com uma reflexo do
eminente AGUSTIN GORDILLO para quem:
"Ia posicin del Poder J udicial se halla por Io
general bastante deriorada, en primer lugar, a
nuestro entender, por su propia culpa: los
jueces suelen entender, con descierto, que
tienen una cierta responsabilidad poltica en
Ia conduccin del gobierno, y bajo esa
impresin juzgan muy benevolamente los
actos del mismo, entendiendo asi cooperar
con l. De este modo no solo dejan de ejercer
su funcin, que no es gobernar sino juzgar de
Ia aplicacin del derecho a los casos
concretos, sino que tambin pierden poo a
poo critrio rector en Io que debiera ser su
atribucin especfica. El Ejecutivo, lejos de
agradecerle esa supuesta colaboracin, pasa
entonces a suponer que no est sino
haciendo Io que debe, y se Ilega as a que en
los pocos casos en que el Poder J udicial se
decide finalmente a sentar su critrio jurdico,
esto es poo menos que motivo de escndalo
pblico, y el Ejecutivo ser el primero en
protestar por una supuesta 'invasin' de sus
'atribuciones', que desde luego no es tal. Por
si esto fuera poco, el Poder J udicial tambin
limita su propio control de constitucionalidad
de Ias leyes, inventando princpios tales como
los de que no puede juzgar en general dicha
constitucionalidad, sino solo en los casos
concreos y con efectos restringidos a esos
casos; de que solo declarar Ia
inconstitucionalidad cuando esta sea 'clara y
manifiesta', como si no fuera su deber
declararia cuando existe, sea o no manifesta,
etctera".
30
Da reflexo do mestre, passamos para uma
pequena anlise da norma tida no art. 5 da Lei de Introduo
ao Cdigo Civil, segundo a qual "na aplicao da lei, o J uiz
atender aos fins sociais a que ela se dirige e s exigncias
do bem comum".
Referida norma acentua o princpio da
finalidade e indica o caminho correio a ser palmilhado pelo
aplicador do Direito.
Interessantssimo, pois, transcrevermos dois
acrdos que, at mesmo pela data em que foram proferidos,
indicam, sem sofismas, da imperatividade, para o julgador, de
decidir sempre visando aos fins sociais da lei e s exigncias
do bem comum. Assim, temos que:
"O J uiz no mais escravo da lei. No se
pode chumbar sua letra, muitas vezes
escrita h anos, h sculos passados,
quando outras eram as condies de
existncia social, que ela visou disciplinar.
Servir a lei aplicando-se humanamente,
tendo em vista as realidades sociais, as
exigncias da equidade e da moral coletiva,
livre dos exageros da dialtica e do
emaranhado de frmulas escritas. Como
disse eminente juiz: o magistrado no pode
ficar impassvel na majestade do cargo, como
30
GORDILLO, Agustin. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Macchi, 1974,
Tomo l, cap. Ill, p. 7.
se ele tambm no tivesse, dentro das
finalidades de sua misso social e poltica, tal
qualmente o legislador, o dever imperioso de
no relegar para segundo plano, com
lamentvel indiferena, ambiente e situaes
imprevistas que, por vezes, reclamam diverso
tratamento, por nsia de melhor e mais
perfeita justia."
31
"Nenhum J urista pode fugir, na hora presente,
atrao que a revoluo nas idias jurdicas
desdobre aos seus olhos, num convite
sedutor para lev-lo pela mo, cheio de
entusiasmo, ao centro dos acontecimentos
envolventes e de l, com os olhos voltados
para todos os ngulos em que se debatem os
problemas de direito, os mais agudos,
observar e lutar a boa luta dos que devem ver
na estruturao jurdica que se processa a
base slida para a verdadeira organizao da
paz social e jurdica.
Sentimos, a cada instante, essa atrao e,
sob a influncia dos fatos, entramos nas
pesquisas, cnscios do nosso dever
judicante. E foi por esse aceno de
envolvimento jurdico que no nos detivemos
no formalismo esttico, rebuscando, sem os
perigos de meros impressionismos, nos
novos cenrios, os quadros da vida nesta
grande hora de mobilizao espiritual, os
lugares preciosos donde pudssemos
escolher os rumos seguros para um
31
TJ ES - Acrdo proferido pelo Rel. Des. Bastos, RT 113/779.
reajustamento do aspecto jurdico do caso em
apreo.
J OSEPH HUTCHENSON J R., no seu
trabalho intitulado o 'julgamento definitivo',
refere-se como MAX RADIN, aludindo nova
concepo sobre a influncia da intuio que
parece desejvel ao J uiz aquilo que, de
acordo com a sua formao, a sua
experincia e as suas concepes reais, o
impressiona como sendo a consequncia
jurdica que deve resultar dos fatos."
32
Deve-se ressaltar, entretanto, que se a norma
insculpida no art. 5 da Lei de Introduo ao Cdigo Civil no
obriga ao J uiz, quando a norma for constitucional, mormente
aquela (princpio da moralidade), na qual se contm um
princpio fundamental do sistema, a observncia da finalidade
do ato e a sua resultante social, torna-se retor inafastvel do
comportamento interpretativo, a cargo do julgador.
A observncia desse imperativo de suma
importncia, sobretudo a fim de evitar a viso autoritria do
Direito Administrativo, que alguns ainda insistem em possuir,
evitando-se essa viso apertada, na qual, transcrevendo feliz
passagem do eminente SRGIO FERRAZ
33
,
"o indivduo no tem lugar, a no ser que o
prprio Estado o permita, traduzindo uma
crena autocrtica na exclusividade da
direo estatal no exerccio da
32
Voto vencido do Des. Cunha Barreto, no Ac. Cms. Civ. Reun. do TJ PE, aos 23/10/44,
in Arq. For., vol. 17, p. 553 - cit. parcialmente.
33
FERRAZ, Srgio. Controle Jursdicional do Mrito do Ato Administrativo., p. 295.
atividade administrativa, indiscutivelmente
favorecendo-a sobremodo".
O eminente mestre argentino AGUSTIN
GORDILLO preleciona que:
"El derecho administrativo es por excelencia
Ia parte de Ia ciencia del derecho que ms
agudamente plantea el conflicto permanente
entre Ia autoridad y Ia libertad. 'Estado e
indivduo, orden y libertad: Ia tensin
encerrada en estas ideeas sintticas es
insoluble', ha dicho un autor; pero aunque no
Ileguemos a pensar que Ia tensin o el
conflicto sea insoluble, y admitamos Ia
posibilidad de un equilbrio dinamico entre
ambos, es evidente que Ia obtencin de tal
equilbrio ha de ser una de Ias ms difciles y
delicadas tareas de Ia ciencia moderna."
34
De feito, o eminente mestre advoga a tese de
que necessrio trazer para o interior do conceito de Direito
Administrativo o indivduo como administrado, preferindo ver
este ramo do direito pblico como aquele que estuda o
exerccio da funo administrativa e a proteo judicial ao
administrado, quando ela se d ilegal ou abusivamente.
34
GORDILLO, Agustin. Op. cit., 1991, t. 1, cap. 3, p. 1.
Trazemos cola mais uma passagem da
monumental obra de GORDILLO:
"Aqui reside uno de los pilares esenciales de
Ia temtica del derecho administrativo: Ia
protecin del administrado contra el ejercicio
irregular o abusivo de Ia funcin
administrativa; si relegramos este problema
a ser uno de los aspectos secundrios de Ia
disciplina, estaramos quitndole a esta una
de sus notas caractersticas en el Estado de
Derecho, y por Io tanto su diferenciacin con
el derecho administrativo totalitrio. Es, pus,
muy importante destacar que el problema
central de esta matria no es solo Ia
administracin pblica (su organizacin, sus
actos, sus facultates, etc...), sino tambin su
contraposicin frente a los derechos
individuales de los habitantes. Consideramos
que el derecho administrativo debe estar
orientado hacia el estdio de los derechos
individuales y en definitiva de Ia libertad
humana, y que Ia proteccin de estos contra
el ejercicio abusivo o ilegal de Ia funcin
administrativa debe transformase en una de
sus ms transcendentales finalidades: debe
quitrse ai derecho administrativo su
aparncia de disciplina interesada casi
exclusivamente en Ia administracin publica y
sus fines y drsele en cambio una estructura
externa y conceptual que claramente
represente su busqueda consciente y
constante de un equilibrio razonado entre
indivduo y el Estado."
35
Equilbrio razovel entre indivduo e Estado.
Proteo contra o exerccio abusivo da funo administrativa.
Eis os grandes ensinamentos do mestre portenho.
1 - Possibilidade Jurdica do Controle
Exerccio abusivo da funo administrativa ou
desvio de poder ocorre quando a autoridade administrativa
faz uso do poder de que detentora, em casos e para fins
diversos dos pretendidos por lei, tais como, quando atua em
discordncia ao princpio da moralidade administrativa.
O desvio de poder envolve noo teleolgica,
por isso o fim perseguido pela autoridade administrativa
bsico para julgar a inteno de seu autor.
O bom resultado pretendido pela
Administrao Pblica, sob o plio da moralidade, no deve
ser considerado apenas em relao ao resultado
objetivamente considerado, mas tambm deve atender ao
esprito do mvel que impulsionou o agente ao atuar
administrativamente.
Desta sorte, a lei s permite que o
administrador se manifeste intencionalmente no interesse
pblico. Logo, se o administrador usa de sua competncia
35 Apud FERRAZ, Srgio. Op. cit., p. 296.
para editar determinado ato, ainda que sob a mscara da
legalidade, desviando-se do fim legal (moralidade) para
satisfazer interesses puramente privados, ainda que seja
apenas interesse de ordem moral, como mero capricho ou
vaidade, estar, sem dvida alguma, incorrendo em excesso,
desnaturando o ato, eivando-o de vcio no passvel de
convalidao, configurando-se, em suma, o desvio de poder.
Com o advento da Constituio Federal de
1988, que trouxe insculpido, em seu art. 37, o princpio da
moralidade administrativa, tem-se que o poder administrativo
dever sempre subordinar-se ao bem do servio pblico, sob
pena de desvio de poder, no importando mais a simples
aferio da legalidade estrita, permitindo-se, pois, restries
ao poder administrativo, no que concerne ao mvel que
impeliu o administrador a agir.
Ao ato administrativo inquinado de desvio de
poder falta o fim moral exigvel natureza do ato, nada
obstante, quase sempre, venha oculto sob o vu da
legalidade.
Abonando entendimento de SRGIO
FERRAZ, dvida alguma fica na veracidade da afirmao de
que em vrias hipteses o ato administrativo haver de ser
examinado sob o prisma de sua legalidade, com uma inflexo
ou uma reflexo sobre o seu mrito.
De forma alguma, porm, advogamos a tese
de
"que a perquirio judicial chegue ao ponto
de impor que o ato administrativo seja refeito
segundo a avaliao meritria do J uiz.
Haveria a, ao menos em principio
inconstitucional, invaso e conseqente
usurpao deatribuies e poderes."
36
"Ningum ousa defender o desaparecimento
da discricionariedade administrativa. Sabe-se
que os rgos administrativos no podem, de
modo algum, elaborar um cdigo de conduta
no-discricionrio, especfico e simples. Mas
no h dvida que a proteo fundamental
dos direitos repousa tanto em processos
formais como nos padres ticos da
Administrao e agentes pblicos, na sua
concepo de interesse pblico e do uso do
poder a eles confiado."
37
O que se preconiza aqui que a motivao
integra o campo da legalidade, que o ato imoral ilegal e
que este campo (legalidade/moralidade) jamais poder ser
questionado quanto sindicabilidade judicial, permitindo,
pois, ao J uiz descer aos casos particulares, para penetrar
nas regies dos motivos que levaram o agente a agir, sem
contudo ferir de morte a espontaneidade do poder
discricionrio.
J ulgados h que corroboram nosso
entendimento. Assim, destacamos:
" lcito ao Poder J udicirio examinar o ato
administrativo sob o aspecto da moralidade e
36
FERRAZ, Srgio. Op. cit., p. 300.
37
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira Franco. O Controle da Moralidade
Administrativa. So Paulo: Saraiva, 1974.
do desvio de poder. Com o princpio inscrito
no art. 37, a Constituio Federal cobra da
Administrao, alm de uma conduta legal
comportamento tico.
38
"O mrito do ato administrativo refoge
crtica judicial. Ressalvem-se os respectivos
fundamentos, ou seja, se a apreciao de
oportunidade e convenincia apoia-se em
fato legtimo."
39
"O controle jurisdicional se restringe ao
exame da legalidade do ato administrativo;
mas por legalidade ou legitimidade se
entende no s a conformao do ato com a
lei, como tambm com a moral administrativa
e com o interesse coletivo."
40
2 - Instrumentos Processuais
Pois bem, a Constituio Federal de 1988,
alm de mencionar a moralidade como um dos princpios da
Administrao, aponta instrumentos para sancionar sua
inobservncia.
38
Resp. 21.923.5, Rel. Min, Gomes de Barros, DJ U de 13/10/92, p. 17.662.
39
Rec. Esp. 4.790, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJ U de 05/11/90, p. 12,425.
40
TJ SP - Rel. Des. Cardoso Rolim, publicado na Revista de Direito Administrativo, vol
89, p. 134.
Um deles a ao popular que pode ser
proposta por qualquer cidado eleitor para anular ato lesivo
moralidade administrativa, consoante disposio contida no
artigo 5, inciso LXXIII.
Outro deles encontra-se previsto no art. 129,
inc. Ill, da Magna Carta, que reza:
"Art. 129. So funes institucionais do
Ministrio Pblico:
III - Promover o inqurito e a ao civil
pblica, para a proteo do Patrimnio
pblico e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos" (grifos
nossos).
Sobre este tema preleciona HUGO NIGRO
MAZZILLF
41
que:
"A mens legis consiste em conferir iniciativa
ao Ministrio Pblico seja para acionar, seja
para intervir na defesa do Patrimnio pblico,
sempre que alguma razo especial exista
para tanto, como quando o Estado no toma
a iniciativa de responsabilizar o
administrador anterior ou em exerccio por
danos por este causados ao Patrimnio
pblico, ou quando razes de moralidade
administrativa exigem (...)"
41
MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juzo. So Paulo: RT,
1994,p.114.
Prossegue o mestre:
"A prpria Constituio exige a moralidade
administrativa como princpio informador da
administrao pblica (art. 37, capuf).
Na teoria do direito administrativo, a noo de
imoralidade administrativa comeou por ligar-
se teoria do desvio de poder. Desta forma,
o ato imoral, pelos seus fins, fere o princpio
da legalidade e, assim como pode ser objeto
de questionamento em ao popular, pode
tambm ser atacado por meio de ao civil
pblica em defesa do Patrimnio pblico
(...)"
42
Na verdade, tendo o legislador inserido como
funo constitucional do Ministrio Pblico a Ao Civil
Pblica para a defesa do Patrimnio pblico e de outros
interesses difusos e coletivos e, atento ao bsico de que todo
cidado possui direito a um comportamento, por parte do
administrador, pontilhado pela ausncia do abuso e balizado
pela razoabilidade, pela tica e pela justia, e que esse direito
pblico subjetivo, entendo, data vnia, a Ao Civil Pblica
como instrumento processual apto a ser manejado em face
do ato imoral para desconstitu-lo, ainda que do mesmo no
se tenha registrado prejuzo ao Patrimnio pblico.
Como se v, a defesa da moralidade
administrativa cabe no s ao cidado, pela ao popular,
como tambm ao Ministrio Pblico, pelo vis da ao civil
pblica.
42
MAZZILLI, Hugo Migro. Op. cit., p. 114/115.
A seu turno, a Constituio Federal faz
previso de sanes para os agentes pblicos por atos ou
condutas de improbidade administrativa. Como cedio na
doutrina, a probidade, que h de caracterizar a conduta e os
atos das autoridades e agentes pblicos, aparecendo como
dever, decorre do princpio da moralidade administrativa.
Outrossim, o 4 do art. 37 prev, para os
atos de improbidade administrativa dos agentes pblicos em
geral, a suspenso dos direitos polticos, a perda da funo
pblica, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao
Errio, na forma e gradao indicados em lei.
Essa lei, de n 8.429, foi editada aos 02 de
junho de 1992 e, alm de caracterizar como de improbidade
administrativa os atos que importam enriquecimento ilcito e
prejuzo ao Errio (artigo 9 e 10), o referido texto tambm
qualifica os atos que atentam contra os princpios da
administrao pblica em seu art. 11. Desse modo, como j
falado, a lei em tela inseriu, em seu interior, condutas que
no implicam necessariamente locupletamento de carter
financeiro ou material.
WOLGRAN J UNQUEIRA, em obra intitulada
Enriquecimento Ilcito dos Servidores Pblicos no Exerccio
da Funo, p. 153, esclarece bem a questo ao dizer que
os princpios enumerados no art. 11 so decorrentes lgicos
dos princpios emanados do art. 4 da prpria lei que, afinal ,
tiveram sua origem no preceito constitucional insculpido no
art. 37 da Constituio Federal.
3 - Meios de Prova
"Se o administrador exercer os poderes em
que est investido, quer num fim pessoal,
quer num fim poltico, quer num fim religioso,
est caracterizado, de modo insofismvel, o
desvio de poder.
Por mvel pessoal entenda-se o interesse
econmico do autor do ato, ou qualquer tipo
de sentimento como a inimizade, o dio, a
vingana pessoal e os caprichos da vaidade
do poder.
Por mvel poltico, a deciso da autoridade
com o fito de prejudicar ou ridicularizar,
expressando sentimentos de mesquinhez, o
adversrio poltico."
43
As provas so os elementos que determinam
a convico do J uiz.
Preleciona ULDERICO PIRES DOS SANTOS
que:
"a funo da prova abonar acontecimento
posto em dvida. , por melhor dizer, declarao
instrumentada sobre a verdade do fato colocado sob
suspeiao.
44
43
CRETELLA J NIOR, J os. Dos Atos Administrativos Especiais. Rio de J aneiro:
Forense, p. 328.
44
PIRES DOS SANTOS, Ulderico. Meios de Prova. UPS Editorial, 1995, p. 03.
Regra geral, difcil encontrar provas diretas
a revelar a inteno do administrador, ao editar o ato
administrativo, no que diz respeito ao mvel que o
impulsionou para a edio do ato em si.
Isto porque, via de regra, o administrador que
agiu de m-f procura mascarar a medida ilegal, envolvendo-
a com o manto da ilegalidade.
Como bem diz CRETELLA J NIOR:
"Fcil compreender que, quando o
administrador usa os poderes de que
detentor para fim nefando, no ser ingnuo
em confess-lo ou em deixar vestgios
verdadeiros do ato praticado e apresenta,
oficialmente, um pretexto legal. Trata-se de
desmascarar o embuste."
Ou, ainda, pelo mesmo autor:
"Oculto sob a mscara da legalidade,
praticado quase sempre por autoridade sagaz
que, usando de todo o requinte de sutileza
que lhe proporciona a cmoda posio em
que se acha, procura dissimular o endereo
real do ato editado para que, mais tarde,
arguido o desvio, possa eximir-se facilmente
da culpa por ausncia absoluta de vestgios
incriminatrios, o ato administrativo viciado
nem sempre se revela primeira vista, mas o
45
CRETELLA J NIOR, J os. Op. cit., p. 326.
interessado procura coloc-lo em evidncia,
apontando-o e denunciando-o, fundamentado
nas provas e nos indcios repontveis aqui e
ali, na documentao administrativa, o que
denominamos de sintomas do desvio de
poder".
46
Evidente que, pelas suas peculiaridades, a
moralidade administrativa ir exigir de quem a julgue um
exame aprofundado em matria de prova, pois aqui no se
ir tratar de elementos externos do ato, como a forma e a
competncia; o que ir passar, em ltima anlise, pelo crivo
do J udicirio ser a psicologia do autor do ato, o mvel que o
inspirou na prtica do ato.
No se trata, obviamente, de se pedir a quem
julga que cumpra a tarefa impossvel e impertinente de
penetrar nos recnditos da alma, na indevassvel mente e no
inexplorvel pensamento do autor do ato administrativo.
Realmente, no se trata de perscrutar os rins e corao do
autor do ato administrativo.
Ao contrrio, trata-se de se pesquisar certos
sintomas, traduzidos estes por indcios, traos, presunes,
regras de experincia que, pela sua maneira ostensiva,
liberta o J udicirio a proclamar que a autoridade exorbitou,
agindo, pois, arbitrariamente, como bem ressalta CRETELLA
J NIOR.
De acordo, pois, com o salientado, tem-se
que, in casu, a prova ser indireta, porm, no menos vlida,
eis que tendo o nosso Direito sufragado o princpio do livre
46
CRETELLA J NIOR, J os. Op. cit., p. 310.
convencimento do J uiz e, assim, abolido e repudiado o
sistema hierrquico entre os diversos meios probatrios
existentes, impossvel aceitar qualquer assertiva de ser a
prova indireta possuidora de menor valor.
Com relao aos indcios, disserta
ESPNOLA FILHO
47
que:
"H um preconceito na doutrina e,
principalmente, na prtica, de que o indcio
uma fonte imperfeita, e menos atendvel, de
certeza do que a prova direta. Isso no
exato. A eficcia do indcio no menor que
a da prova direta, tal como no inferior a
certeza racional histria e fsica. O indcio
somente subordinado prova, porque no
pode subsistir sem uma premissa, que a
circunstncia indiciante, ou seja, uma
circunstncia provada; e o valor crtico do
indcio est em relao direta com o valor
intrnseco da circunstncia indiciante. Quando
esteja bem estabelecida, pode o indcio
adquirir importncia predominante e decisiva
no J uzo."
Vlidas tambm so as regras de experincia
dos julgadores, assim como as presunes baseadas na
experincia e conhecimento dos juzes.
Diz bem PONTES DE MIRANDA ao afirmar
que:
47
ESPNOLA FILHO, Eduardo. Cdigo de Processo Penal Brasileiro Anotado. Rio de
J aneiro: Borsoi, 1960, v. 3, p. 143.
"ao lado dos fatos notrios esto os
julgamentos da vida, observaes gerais, que
constituem mximas gerais, ditames, com
que exprimimos o que sabemos das nossas
reaes, de como nos comportamos, s
vezes chamados a 'nossa experincia de
vida', ou a 'experincia do J uiz', traquejo,
como, por exemplo, em matria de acidentes
de transportes, o perigo e a culpabilidade das
companhias pela queda de pingentes nos
curvos, o corvejar dos cunhados e tios em
torno das heranas."
48
Nesta alheta, as jurisprudncias abaixo:
"Realmente, h certas coisas no mundo que
se tornam conhecidas pela simples
experincia diria. a lio de vida. E a obra
humana, quando no encontra censura no
senso moral que cada um possui, torna-se
livremente consentida, vale dizer, lcita."
49
"O J uiz no pode desprezar as regras de
experincia comum ao proferir a sentena.
Vale dizer, o J uiz deve valorizar e apreciar as
provas dos autos, mas ao faz-lo pode e
deve servir-se da sua experincia e do que
comumente acontece."
50
48
Apud PIRES DOS SANTOS, Ulderico. Op. cit., p. 36.
49
RE 108.272-1 - RS, 2
a
Turma do STF, rel. Min. Clio Borja, RT 622/226-230.
50
J TA 121/139.
"As presunes assumem o papel de prova
privilegiada ou, mais precisamente, de prova
especfica. E, na avaliao da prova, deve,
evidentemente, concorrer a experincia do
J uiz o conhecimento que ele tem da vida dos
homens, no sentido de dar aos fatos trazidos
para o processo a sua real significao."
51
Com relao ao tema versado nesse texto, as
maiores contribuies doutrinrias para delinear os indcios
ou sintomas do desvio de poder partiram da doutrina italiana
e francesa que, a partir dos fins do sculo passado, com
esforo imensurvel, construram o conceito de desvio de
poder e a partir das construes pretorianas de seus
Conselhos de Estado, foram estabelecendo os critrios para
as hipteses concretas a serem apreciadas pelo J udicirio.
Hoje, com a consagrao doutrinria dos
autores mais representativos, possvel apontar os sintomas
principais e que so suficientes para suscitar o exame do ato
administrativo perante a administrao ou perante o
J udicirio, pedindo-se, via de consequncia, o
reconhecimento do desvio e a sua consequente
responsabilidade.
Nesse sentido, CRETELLA J NIOR, in
Sintomas Denunciadores do Desvio de Poder, Revista da
Procuradoria-Geral do Estado de So Paulo, 1976, p. 27 a
44, arrola, dentre outros, os seguintes indcios ou sintomas
de desvio que, para o caso em anlise, so de suma valia.
51
TJ RS, 4
a
C. ap. 586.011.116 - Porto Alegre, rel. Des. Oscar Gomes Nunes, Adcoos 10,
Ano XIX, p. 151.
Assim, temos: precipitao na edio do ato;
motivao escassa; circunstncias locais anteriores edio
do ato; alterao dos fatos; ilogicidade ou injustia manifesta;
contradio do ato com atos ou medidas posteriores e
convergncia de feixe de sintomas.
Com a ajuda de CRETELLA J NIOR, pelo
artigo citado, procurar-se-, em breve sntese, analisar-se os
sintomas referidos.
Logo, no que concerne motivao
insuficiente, tem-se que o ato administrativo exprime a
vontade da Administrao. Se esta escassa, o intrprete e
o destinatrio ficam perplexos a respeito da verdadeira razo
inspiradora do administrador. Sem dvida alguma, tal
circunstncia ofende trs incisos do art. 5 da Constituio
Federal, a saber: XXXIV, a; XXXV e LV. Sim, pois a
motivao insuficiente, por via oblqua, estar cerceando a
defesa do administrado e a possibilidade sua de levar
apreciao do Poder Pblico ou ao J udicirio a real
motivao da Administrao que lhe est a ameaar do
direito.
A seu turno, por circunstncias locais
anteriores edio do ato, leva-se em considerao o
momento ftico-poltico anterior edio do ato. Por
exemplo, um prefeito municipal que toma posse num dia e,
no seguinte, resolve colocar em disponibilidade remunerada
vrios funcionrios efetivos da edilidade que, durante a
eleio, ostensivamente, manifestaram-se contrariamente a
sua eleio, sendo que, com isso, fora a entidade a um
dispndio sem a devida contraprestao, movido, nica e
exclusivamente, pelo sentimento egostico e mesquinho.
No que diz respeito alterao dos fatos,
CRETELLA J NIOR menciona o douto CINO VITTA (VITTA,
Cino - Diritto amministrativo - 3. ed., v. II, p. 421-432) para
dizer que a alterao
"verifica-se como a averiguao ou a
avaliao dos fatos, em geral, de modo
artificial, com a finalidade de submet-los a
aplicao de preceito de lei, sob o qual, de
outro modo, no teriam sido enquadrados. O
ato inoportuno quando no parea
justificado por suficientes motivos de fato,
embora subsistindo alguns dos fatos que a lei
levou em conta, ao passo que viciado por
travisamento (alterao), quando nenhum dos
fatos apresentados corresponde realidade e
esteja assim ausente toda exigncia de
interesse pblico". Exemplo " a ordem de
fechamento de edifcio de habitao por
insalubridade, alterando-se para isso os fatos,
quando na verdade a casa modelo de
salubridade".
52
Injustia manifesta a diversidade ou
disparidade de tratamento atribuda a situaes idnticas. A
Administrao deve agir com tica. Veja-se a hiptese em
que um grupo de funcionrios cometem faltas disciplinares e
apenas um e outro punido por esta transgresso, quando
fica patente que esse um e outro pertencem a faco poltica
diversa.
52
CRETELLA J NIOR, J os. Op. cit., p. 06.
Tambm a motivao contraditria sintoma
inequvoco da presena do desvio de poder e se revela pelo
contraste insanvel entre os diversos incisos da motivao ou
entre a motivao e o dispositivo.
CRETELLA J NIOR cita um caso de
desapropriao de manso particular na Bahia, para a
instalao, no imvel, de escola-parque para excepcionais.
Neste caso, o professor MANOEL GONALVES FERREIRA
FILHO ofertou um parecer, publicado em RDA 118/435,
assim se manifestando:
"A meno deste segundo motivo serve,
entretanto, para colocar sob suspeita o
primeiro, se outras razes no houvesse para
tanto. Como duas cogitaes to dspares, o
interesse dos excepcionais e a preservao
da beleza citadina podem confluir numa
expropriao, sem que se suspeite de que
tais motivos foram indevida e falsamente
invocados, ou ao menos um deles?"
53
Enfim, por convergncia de feixe de sintomas
deve-se entender a presena de um ou mais sintomas.
VI - Concluses
1 - Nos dias atuais, a moral pblica revestiu
a forma jurdica de norma, com o comportamento moral
tornando-se questo objetiva integrando o Direito.
53
CRETELLA J NIOR, J os. Op. cit.. p. 06.
2 - O conceito de moralidade administrativa,
por ser de difcil expresso, quase sempre fornecido de
forma indireta, procurando-se destacar termos e noes
daquilo que representa uma conduta atica, arbitrria ou
excessiva.
3 - A moralidade administrativa um direito
pblico subjetivo do cidado.
4 - O princpio constitucional da moralidade
dotado de normatividade e vinculatividade.
5 - A moralidade administrativa pr-
requisito para o cumprimento dos deveres da honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade s instituies.
6 - Ato imoral no apenas o ato
desonesto, mas tambm o ato formalmente legal, porm
atico para com a instituio, como tambm so imorais os
aios eivados de parcialidade e deslealdade.
7 - Para o combate imoralidade
administrativa, a Constituio coloca para o cidado a Ao
Popular e para o Ministrio Pblico a Ao Civil Pblica.
8 - O poder administrativo dever sempre
subordinar-se ao bem do servio pblico, sob pena de desvio
de poder, no importando mais a simples aferio da
legalidade estrita, permitindo-se, pois, restries ao poder
administrativo, no que se refere ao mvel que impeliu o
administrador a agir.
9 - Para a anlise judicial da moralidade
administrativa, por vezes ter-se- que fazer a mesma com
uma inflexo ou reflexo sobre o seu mrito, o que vem
sendo aceito em algumas decises de nosso Tribunais, pois
com o princpio inscrito no art. 37, a Constituio Federal
cobra da Administrao, alm de uma conduta legal,
comportamento tico. Em suma, a motivao integra o campo
da legalidade; o ato imoral ilegal e o campo da
legalidade/moralidade jamais poder ser questionado quanto
possibilidade de sua apreciao judicial.
10- Para o controle eficaz da moralidade
administrativa, a nvel judicial, quase sempre dever se
lanar mo das provas indiretas, das regras de experincia
dos julgadores, assim como das presunes baseadas na
experincia e conhecimento dos juzes, sendo tudo isso
formalmente vlido em nosso Direito Processual, no se
podendo aceitar qualquer assertiva de ser a prova indireta de
menor valor.
Referncias Bibliogrficas
AMARAL, antnio Carlos Cintra do. Ato administrativo,
licitaes e contratos administrativos. So Paulo: Malheiros,
1995.
ARAJ O, Florivaldo Dutra de. Motivao e controle do ato
administrativo. Belo Horizonte: Del- Rey, 1992.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. So
Paulo: Saraiva, 1995.
CANOTILHO, J . J . Gomes. Direito constitucional. Coimbra:
Livraria Almedina, 1995.
CRETELLA J NIOR, J os. Dos atos administrativos
especiais. Rio de J aneiro: Forense, 1995.
ESPNOLA FILHO, Eduardo. Cdigo de Processo Penal
Brasileiro Anotado. Rio de J aneiro: Borsoi, 1960.
FERREIRA, Wolgran J unqueira. Enriquecimento ilcito dos
servidores pblicos no exerccio da funo. So Paulo:
EDIPRO, 1994.
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O controle da
moralidade administrativa. So Paulo: Saraiva, 1974,
GOMES, Orlando. Introduo ao Direito Civil. Rio de J aneiro;
Forense, 1988.
GORDILLO, Agustin A. Tratado de derecho administrativo.
Buenos Aires: Macchi Lopez, 1975.
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em
juzo. So Paulo: RT, 1994.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. So
Paulo: RT, 1996.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.
So Paulo: Malheiros, 17. ed. Mandado de segurana, ao
popular, ao civil pblica, mandado de injuno, habeas
data. So Paulo: RT, 1989.
MELLO, Celso antnio Bandeira de. Elementos de direito
administrativo. So Paulo: Malheiros, 1992.
PAZZAGLINI FILHO, Marino et alli. Improbidade
administrativa. So Paulo: Atlas, 1996.
ROCHA, Crmen Lcia Antunes. Princpios constitucionais da
administrao pblica. Belo Horizonte: Del-Rey, 1994.
SANTOS, Ulderico Pires. Meios de prova. So Paulo: UPS,
1995.
SILVA, J os Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. So Paulo: RT, 1989.
Os Direitos Polticos no
mbito do Direito Eleitoral
e Partidrio: Perspectivas
Atuais e Futuras
J oel J . Cndido
Escritor, Professor e Advogado no Rio Grande do Sul
1. No e nunca foi possvel falar em Direito Eleitoral sem
ter presente o conceito de direitos polticos. Estes, para J OS
AFONSO DA SILVA, "consistem na disciplina dos meios
necessrios ao exerccio da soberania popular" (Direito
Constitucional Positivo, 9. ed., 2
a
tiragem, Malheiros Editores,
So Paulo, SP, 1993, p. 305), ou, como quer CELSO
RIBEIRO BASTOS, "o poder que qualquer cidado tem na
conduo dos destinos de sua coletividade, de uma forma
direta ou indireta" (Curso de Direito Constitucional, 14. ed.,
Editora Saraiva, So Paulo, SP, 1992, p. 236).
2. Historicamente, podemos identificar quais foram as
preocupaes do Direito Eleitoral no Brasil, nos diversos
perodos de sua histria, desde o Cdigo Eleitoral de Assis
Brasil. Num primeiro momento - 1932, 1934 at 1946 - foi a
criao e fixao, na lei e no texto constitucional, da J ustia
Eleitoral como rgo do Poder J udicirio, moldado,
praticamente como ainda hoje se encontra, ou seja, J ustia
com organizao judiciria atpica, diferente da dos outros
rgos judicirios brasileiros. Aps, concentrou-se ela em
manter o alistamento prvio e permanente, instituto que vem
desde o Imprio. A concesso do ttulo eleitoral ao cidado
era o grande escopo que toldava at o brilho dos prprios
pleitos eleitorais. Em seguida, o corolrio deste, as eleies
passaram a ser o principal objetivo da J ustia Eleitoral, nesta
direo canalizando seu potencial de recursos humanos e a
prpria prestao jurisdicional. Nesta fase, a mais longa
delas, e que at hoje se pode nitidamente observar, bastava
J ustia Eleitoral realizar operacionalmente os pleitos,
propiciar facilidades de voto a um nmero maior de eleitores,
apurar os sufrgios com rapidez e publicar, tambm
rapidamente, os resultados. At disputas de presteza e
operacionalidade se tornaram moda entre os Tribunais
Eleitorais. Havia - e ainda h - uma mxima, hiperestimada
por muitos, de que "J ustia Eleitoral eleio" e em anos
sem pleito ela perde sua razo de ser. Em sntese, o melhor
Tribunal era o que melhor e mais rpido realizava a eleio.
3. Desde 1946 a esta parte, os fundamentos legais dos
direitos polticos no se ampliaram muito. Em razo de textos
constitucionais sobre este assunto no auto-aplicveis, a
J ustia Eleitoral praticamente no se preocupou com eles.
Constavam, como pena acessria, no velho Cdigo Penal de
1942, rarssimamente aplicada como tal. Nos anos 60,
apareceram, sob forma de "inabilitao", no conhecido
Decreto-Lei n 201, de 27 de fevereiro de 1967, regulador dos
Crimes de Responsabilidade dos Prefeitos Municipais, hoje,
nesta parte, sem recepo pela Constituio Federal. Esta lei
foi, tambm, pouco aplicada, at mesmo em decorrncia da
importncia de seus destinatrios especficos no cenrio
poltico nacional, o que at hoje acontece, apenas com
algumas poucas excees pretorianas. Somente agora,
nestas ltimas dcadas, e luz do crescimento das
hipteses do instituto constantes do art. 15 da Constituio
Federal, que foi ele enormemente prestigiado. Passou a
constar, como sano poltica importante na Lei n 8.429, de
2 de junho de 1992, conhecida como Lei da Improbidade
Administrativa.
Ressalva-se o perodo revolucionrio ps-
1964, poca de cassao de um grande nmero de direitos
polticos, mas em decorrncia de legislao eleitoral
extravagante e por motivos exclusivamente polticos.
4. Vale dizer, a J ustia Eleitoral nunca se preocupou,
efetivamente, com os direitos polticos stricto sensu no Brasil,
e, mesmo agora, no obstante algumas mudanas j
poderem ser observadas, ela passa, ainda, ao largo desse
instituto e de suas complexas e importantes variantes.
Mesmo porque, em mais da metade desses 64 anos de
J ustia Eleitoral no pas, vivemos, ou sob clima de ditadura,
ou, no mnimo, de anormalidade constitucional e
democrtica, onde o poder de sufrgio surge no cenrio
como mero coadjuvante, seno como vilo.
5. O mesmo se diga em relao ao Direito Partidrio,
medida em que, nesse perodo e at 1988, Direito Eleitoral e
Direito Partidrio se confundiam, e era sensvel a
interveno do Estado nos partidos polticos, sistema que
muitos nem se deram conta, ainda, que terminou.
6. Das matrias do Direito Pblico, nenhuma delas sofreu
modificao maior, nos ltimos tempos, do que o Direito
Eleitoral, mormente em decorrncia da aplicao da
informtica em seu sistema e em seu processo. Na prtica, a
prova dessa revoluo se nota at com o desaparecimento
das quatro grandes fases do microprocesso eleitoral
tradicional. Preparatria, Votao, Escrutnio e Diplomao -
que tnhamos desde 1932, hoje nitidamente reduzida em
decorrncia da adoo do chamado "voto eletrnico".
7. Assim, cumpre repensar a J ustia Eleitoral, sua
finalidade, objetivos, caminhos e fundamentos. Cumpre
reexaminar seus principais institutos, trabalho que no se
exaure e no se confunde com elaborao de projetos de
leis novas, repletos de idias velhas. E mister repens-la
profundamente, nestes tempos de tecnologia ousada,
acessvel e disponvel a curto prazo, nestes tempos de
possibilidade plena de informatizao de todo o processo
eleitoral, a concluir-se j antes mesmo do final deste milnio.
Da J ustia Eleitoral se haver de esperar mais, muito mais,
do que o mero desincumbir-se exitoso da administrao e
realizao de um pleito, o que uma terceirizao pode
resolver de modo mais eficaz e mais barato, reformulando-se,
se for o caso, para esse fim, nosso sistema constitucional. A
ela incumbe, com exclusividade, assegurar os direitos
polticos do cidado, bem como executar os casos de sua
restrio, observados o contraditrio e o devido processo
legal.
8. A garantia do pleno gozo dos direitos polticos, como
apangio natural da cidadania, e a perda ou suspenso
desses direitos, como sano poltica imposta pelo Estado
em casos de sria violao ordem jurdica, binmio
fundamental e imprescindvel num Estado Democrtico de
Direito, representativo e pluripartidrio, com sufrgio universal
e direto, voto obrigatrio e secreto. E a J ustia Eleitoral deve
dele amplamente se incumbir, e por ele se responsabilizar.
9. Muito, todavia, se haver de trilhar at que alcancemos
patamar razovel de dominio sobre este fundamental instituto
poltico. So inmeros os casos de violao a esses direitos,
de responsabilidade do prprio Estado, em tese o maior
interessado em assegur-lo e restringi-lo, luz das
circunstncias que indiquem o melhor caminho na busca de
sua finalidade: o Direito como instrumento de melhora da vida
social.
10. No chegamos, ainda, a bem conhecer e aplicar o
Direito Eleitoral tradicional, vindo da Repblica Velha, e j
estamos envoltos com os mil rumos ditados pela nova era, o
que confirma a moderna lio de Alvin Toffler: "nunca, em
poca alguma, o poder dependeu tanto da informao como
hoje".
No se asseguram os direitos polticos
quando, por exemplo, se nega s mulheres e a seus partidos
polticos a disponibilidade do percentual de vagas no nmero
de candidatos, direito que s neste pleito conquistaram (Lei
n 9.100, de 29 de setembro de 1995, art. 11, 3),
interpretao equivocada mas robustamente prevalente no
cenrio jurdico nacional. Negam-se os direitos polticos
quando se ameaa impedir o eleitor de votar se no exibir
documento pblico com fotografia (Lei n 9.100, de 29 de
setembro de 1995, art. 75, caput, e Resoluo n 19.515,
TSE, de 18.4.96, art. 32, 1 e 2), quando outra a
soluo dada pelo legislador para esse caso (CE, art. 147,
2), desprezada por intrpretes apressados e deslumbrados
com a nova tecnologia a servio da J ustia Eleitoral. Apesar
de ser a sano poltica mais eficaz na defesa dos interesses
da sociedade contra leses a seus bens jurdicos tutelados,
de aplicao rpida e barata - ao contrrio das mazelas das
penas tradicionais - no constam, os direitos polticos,
disciplinados sequer em uma lei eleitoral, ao contrrio das
inelegibilidades, instituto este menor e conceitualmente
abrangido por aquele. Por falar em inelegibilidades, duvida-
se tambm da eficcia desta que, em tese, no pode fugir do
texto constitucional e da lei complementar, mas que, na
prtica, imposta pela simples adaptao do julgador, que
assim rotula fatos tratados em lei ordinria, a seu exclusivo
talante, chancelado o raciocnio flagrantemente
inconstitucional por respeitveis arestos da Grande Corte,
todos a desafiar reestudo imediato, cientfico e mais
profundo (J TSE 5(2) 89-92 e 6(4) 285-302).
E que dizer do Ministrio Pblico Eleitoral, o
maior legitimado s lides dos direitos polticos em nossa
sistemtica processual? Como podemos ter esperana, a
curto prazo, de ver o instituto garantido ou negado, conforme
ditar o interesse maior da ordem jurdica, se a Instituio que
deve promov-lo sequer sabe, a partir de recente resoluo
do c. TSE (J TSE 6(4) 396-400), qual de seus agentes pode
represent-la junto aos rgos do Poder J udicirio? Como a
questo diz com a regularidade da representao processual
da parte - e, a, a importncia do tema subestimado por
muitos- com srios nus quando irregular (CC, art. 13 e CE,
art. 358, III), estamos, ou num barco sem timoneiro, ou em
aeronave com piloto sem habilitao. Em qualquer dos casos,
aqui, estamos sem rumo, e em perigo!
11. Enfoque breve se impe, ainda, e ao final - posto que
especfico - consequncia imediata advinda da introduo
mais efetiva e completa da informtica no Direito Eleitoral, no
que concerne execuo dos direitos polticos como sano
poltica imposta pelo Estado. Disciplina legal satisfatria e
razovel, embora j arranhada pelo transcurso do tempo,
constante do vetusto Cdigo Eleitoral de 1965 (arts. 74 a 81),
tem sido preterida quando se trata de executar a suspenso
ou perda dos direitos polticos, com srios prejuzos ao
cidado e organizao administrativa da J ustia Eleitoral.
Tem sido ela substituda pela facilidade processualmente
anrquica do acionar de teclas de computador, feito por
funcionrio burocrtico, revelia da jurisdio e da
competncia enquanto mecanismos processuais. Estes
mecanismos so inarredveis, cogentes e bsicos,
constantes da teoria geral do processo, e sua inobservncia
vem em prejuzo do devido processo legal e da ampla defesa,
princpios fundamentais alicerados na Constituio Federal.
S aos ingnuos pode ainda encantar um
"Direito Eleitoral meramente de resultado", no se sabendo o
que pior, nesta quadra da vida da J ustia distributiva do
pas, se os intrpretes do arbtrio ou o arbtrio dos intrpretes.
12. , porm, hora de terminar esta exposio. E bom
terminar logo para poder iniciar, tambm logo, posto que
urgente, os tempos de pensar. Pensar grande, pensar
cientfico, pensar num Direito Eleitoral moderno e eficaz, a
justificar sempre, e por tudo, o enorme sacrifcio do
contribuinte. verdade que, bem ou mal, a J ustia Eleitoral,
enquanto pde funcionar, avalizou, nesses anos todos de sua
existncia, a democracia e a liberdade neste pas. Em
metfora, ela chega a ser quase como uma criana: "quando
est perto, realmente incomoda um pouco; porm, quando
est longe, deixa saudade e faz muita falta".
Que no fique da crtica cientfica deste
trabalho a concluso equivocada do pessimismo. Troque-se a
idia da pregao da desordem ou da irreverncia, nunca
sugeridas, pela tentativa sincera de mudana. Troque-se o
erro pela indagao inovadora e conclua-se como o clebre
estadista americano, cujo mandato, alis, esteve muito
envolto com a J ustia Eleitoral de seu pas: "o futuro est a
nos oferecer no a taa do desespero, mas o clice da
oportunidade".
Polmica Constitucional
do Princpio da Oportunidade na
Remisso
Simone Montez Pinto
Promotora de Justia
l - Introduo
O constituinte brasileiro felizmente teve a
sensibilidade necessria para incluir na Carta Magna
preceitos de proteo ao menor, destacando-se o art. 227
caput, que assegura, com absoluta prioridade, uma gama de
direitos criana e ao adolescente.
Embora salvaguardados em seara
constitucional os direitos menoristas, a marginalizao destes
crescente, vez que a problemtica do menor no Brasil no
de natureza jurdica, mas, sim, poltica e socioeconmica.
Tal processo marginalizatrio est intimamente ligado ao
empobrecimento da famlia brasileira, sendo que, compelido
pela necessidade de sobrevivncia ou simplesmente
desassistido por ausncia de infra-estrutura familiar
adequada, o menor passa a delinqir.
Dados cientficos, levantados pelo J uizado da
Infncia e da J uventude da comarca do Rio de J aneiro e
ressaltados por ALYRIO CAVALLIERI em recente estudo,
apontam que 70% dos atos infracionais cometidos
constituem crimes contra o Patrimnio (fundamentalmente
furtos e roubos), enquanto que o perfil da maioria dos
menores que os praticaram corresponde a situao
socioeconmica familiar deteriorada (in Livro de Estudos
Jurdicos, n. 06, p. 290, 1. ed., Ed. IEJ ).
Atenta ao drama cada vez maior da criana e
do adolescente brasileiro, alis, drama que cresceu tanto que
virou tragdia, e necessidade imperiosa de mudanas, a
nova legislao - Lei n 8.069/90 - promoveu verdadeira
revoluo em diversas reas, sendo que uma das maiores
inovaes foi a sensvel ampliao das funes do Ministrio
Pblico, encarregando-o da defesa dos direitos sociais e
individuais indisponveis e conferindo-lhe verdadeira misso
social. Para sua consecuo, dotou-o de um instrumento
inovador, qual seja, a remisso.
II - Remisso: Conceitos Gerais
Remisso vem do latim remissio, remittere,
que significa renunciar, desistir, absolver. Exprime pois, o
sentido de perdo.
Essa nova figura da processualstica
brasileira vem cuidada nos arts. 126 usque 128 do Estatuto e
consiste na excluso, suspenso ou extino do processo
para a apurao de ato infracional atribudo a adolescente,
com o intuito de evitar ou atenuar os efeitos negativos da
instaurao ou continuao do procedimento na
administrao da justia de menores.
Esclarea-se que existem duas formas na
remisso. Uma, concedida pelo Ministrio Pblico como
forma de excluso do processo, devendo ser homologada
pela autoridade judiciria; e a outra, quando j instaurado o
procedimento judicial, importa na suspenso ou extino
deste, a critrio exclusivo da autoridade judicial, desde que
previamente ouvido o representante do Ministrio Pblico.
Fixar-nos-emos unicamente na anlise da
remisso concedida pelo rgo ministerial.
O Ministrio Pblico pode conceder a
remisso independentemente da natureza do ato infracional,
desde que observados os elementos estabelecidos no art.
126 do ECA. Entretanto, torna-se inconveniente a sua
aplicao nas infraes graves, tendo em vista que a
remisso, uma vez concedida, no prevalece para efeito de
antecedentes (art. 127) e, cometido posteriormente outro ato
infracional grave pelo agente, no se poder invocar a
reiterao para efeito de aplicao da medida da internao,
ex vi do art. 122, II. Destarte, o instituto da remisso deve
ficar reservado s infraes leves, como as contravenes e,
de regra, aos crimes apenados com deteno.
Outro aspecto interessante da remisso
ministerial a dupla forma pela qual esta pode ser concedida;
na primeira delas, o promotor de justia a concede
desacompanhada da aplicao de qualquer medida de
proteo ou socioeducativa, ou, no mximo, inclui alguma
que se esgote em si mesma, como, por exemplo, a
advertncia, ocorrendo por conseguinte a excluso do
processo. A esta chamamos de remisso como perdo puro
e simples. Em contrapartida a este tipo, apresenta-se a
remisso como um espcie de transao, que passaremos a
analisar.
Ill - Remisso Transacional
guisa do que ocorre com a remisso como
perdo puro e simples, a remisso como espcie de
transao deve observar as circunstncias descritas no art.
126 do ECA para sua concesso, diferenciando-se daquela
exclusivamente pela aplicao de uma medida especfica de
proteo (v.g., encaminhamento dos pais ou responsveis),
ou socioeducativa (art. 112), salvo a insero em regime de
semiliberdade e a internao, pois estas esto sujeitas ao
princpio do due process of law, consagrado na Constituio
Federal, art. 5, LIV.
J LIO FABBRINI MIRABETE leciona que:
"Essa transao sem a instaurao ou
concluso do procedimento tem o mrito de
antecipar a execuo da medida adequada, a
baixo custo, sem maiores formalidades,
diminuindo tambm o constrangimento
decorrente do prprio desenvolvimento do
processo." (in Estatuto da Criana e do
Adolescente Comentado, p. 387, 1. ed., Ed.
Malheiros).
Tal lio vem ao encontro da definio dada
por AURLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA
palavra "transao", que "combinao, convnio, ajuste",
pois o Ministrio Pblico tem o poder de, diante das
circunstncias de cada caso e em conformidade com o art.
126, antecipar a medida que seria aplicada no final do
processo ao adolescente, evitando assim, o constrangimento
que uma representao causaria.
Entretanto, a execuo desta medida
somente ocorrer com aquiescncia do menor infrator, em
atendimento s conhecidas "Regras de Bijing" ou "Regras
Mnimas da ONU para Administrao da Justia de Menores"
(Resoluo 40/33, de 29 de novembro de 1995) , que
exigem o consentimento do adolescente ou seu responsvel
legal nesta hiptese. Em caso de discordncia, o
adolescente, seu responsvel legal e at mesmo o prprio
Ministrio Pblico, podero requerer reviso da medida
aplicada autoridade judiciria, nos termos do art. 128 do
Estatuto. Como no foi previsto procedimento especfico
para tal pedido de reviso, aplicar-se- o art. 153 da
mencionada legislao.
Advirta-se que, como a remisso um ato
complexo, iniciado pelo representante do Ministrio Pblico e
concludo pela autoridade judiciria, a medida porventura
includa nesta, somente poder ser executada aps
determinao judicial, ficando o procedimento suspenso at o
seu fiel cumprimento. Como bem adverte IVAN SRGIO
TAVARES MERHI, in verbis:
"As medidas resultantes da remisso no tm
carter repressivo. O promotor, quando
exclui; o juiz quando suspende ou extingue o
processo, no impem, mas ajustam,
combinam, aplicam de comum acordo,
medida de carter meramente assistncia! ou
educativo, vedadas aquelas restritivas ou
privativas de liberdade." (in estudo jurdico
disposio na Coordenadoria das
Promotorias de Defesa dos Direitos da
Criana e do Adolescente do Estado de
Minas Gerais).
De significativa importncia apresentou-se
para o tema sub examine, o colquio: O Estatuto da Criana
e do Adolescente e a Remisso, promovido pelo Centro de
Estudos J urdicos do Tribunal de J ustia do Estado de Santa
Catarina, contando com a participao de juristas de todas as
partes do Brasil, que em sua quarta concluso estabeleceu:
"A medida socioeducativa, includa como
condio de remisso, no admite
substituio ex officio podendo apenas ser
revista mediante provocao do adolescente,
seus pais ou responsveis e Ministrio
Pblico."
Conclumos, face ao exposto, que a remisso
transacional resultou em imenso avano e modernizao
para a justia do menor.
IV - O Princpio da Oportunidade na
Legislao Menorista
O Ministrio Pblico detm, como
exclusividade, a iniciativa processual nos procedimentos de
apurao de atos infracionais cometidos por adolescente,
como se depreende do art. 180 III e art. 201 II do ECA.
Todavia, o promotor de justia no fica
obrigado a oferecer representao em todos os casos em
que se verifique a ocorrncia de ato infracional praticado por
inimputvel, podendo conceder a remisso desde que
presentes os elementos descritos no art. 126 da mencionada
legislao. Nisto consiste o princpio da oportunidade, na
permisso que dada ao rgo incumbido da persecuo de
abster-se de processar dependendo da situao.
O princpio da oportunidade surge, na seara
menorista, pois ao Estado interessa a defesa da sociedade
quanto prtica de atos infracionais, mas tambm lhe
importa a proteo integral do adolescente, ainda que
infrator, cabendo ao representante do Ministrio Pblico
valorar a situao in casu.
Conforme observa J ASON ALBERGARIA,
ipsis litteris:
"No princpio da oportunidade, alm dos
pressupostos necessrios, o Ministrio
Pblico ter que examinar a convenincia do
incio da ao, com a valorao do momento
e circunstncias." (in Comentrios ao Estatuto
da Criana e do Adolescente, p. 138, 2. ed.,
Ed. Aide).
Antagnico a tal princpio, o da
obrigatoriedade ou da legalidade vigora atualmente no
Cdigo de Processo Penal ptrio. Advirta-se entretanto, que o
"Anteprojeto Frederico Marques do CPP", em trmite perante
o Congresso Nacional, insere de forma especial o princpio
da oportunidade (arts. 92 e 233), com semelhante
possibilidade de transao.
Recente deciso do Egrgio Tribunal de
J ustia do Estado de Santa Catarina, analisa singularmente o
tema em pauta:
"O Estatuto da Criana e do Adolescente
instituiu a ao de pretenso socioeducativa,
atribuindo-a ao Ministrio Pblico, a quem
conferiu o critrio de oportunidade,
autorizando o dominus litis a transacionar em
torno de medidas que no impliquem
restries liberdade pessoal. A remisso
no se caracteriza pela imposio, mas pelo
ajuste, com aceitao voluntria de medida
de proteo ou socioeducativa." (Apelao
Civel n. 38.098, relator: desembargador
Amaral da Silva).
Hodiernamente, portanto, o princpio da
oportunidade encontra-se consagrado no s no mbito
doutrinrio, como no legislativo ejurisprudencial.
V - Da Constitucionalidade da Remisso
O instituto da remisso no apresenta
qualquer ndoa de inconstitucionalidade, a par da existncia
de acesa controvrsia gravitando em torno da magna
quaestio. Entretanto, cremos que opinies apressadas
levaram a este entendimento, visto que o argumento
invocado no resiste mais tmida anlise jurdica. Seno
vejamos.
Alguns alegam que a remisso
inconstitucional, pois viola o princpio da inafastabilidade do
controle jurisdicional, consagrado no art. 5, XXXV, da
Constituio Federal, que estabelece:
"A lei no excluir da apreciao do Poder
J udicirio leso ou ameaa de direito."
Entretanto, esquecem-se que a remisso,
embora concedida pelo Ministrio Pblico, sujeita-se ao crivo
judicial, devendo ser homologada pela autoridade judiciria
para que possa ser executada, conforme dispe o art. 181 da
Lei n 8.069/90. Outrossim, a lei faculta ainda ao adolescente
ou seu responsvel legal, bem como ao prprio Ministrio
Pblico, o direito de requerer a reviso judicial, a qualquer
tempo, desde que insatisfeitos com a medida aplicada na
remisso.
Conforme aduzem HUGO NIGRO MAZZILLI
e PAULO AFFONSO GARRIDO DE PAULA, in verbis:
"O Ministrio Pblico, como rgo
independente do Estado, detm parcela da
sua soberania, a ele conferida pela prpria
lei. Quando resolve no acusar ou no
efetuar uma representao, fundado em
estrita hiptese legal, o prprio Estado
soberano a decidir-se por no efetuar
representao. O poder-dever de acusar, de
acionar o Estado-juiz para obter uma
prestao jurisdicional positiva ou tambm
negativa sobre uma imputao ou sobre uma
representao, tem como seu titular o Estado
soberano. (...)"
E conclui " - dai no se gera leso alguma de
direito individual, a merecer apreciao do
Poder J udicirio." (in O Ministrio Pblico e o
Estatuto da Criana e do Adolescente, p.
32/33, 1. ed, Ed. Apmp).
Por ltimo, o maior mrito do novo instituto,
como assevera J URANDIR NORBERTO MARURA,
consiste em sua utilidade prtica, uma vez que grande parte
dos casos de menor gravidade podem e devem receber
tratamento clere por parte da justia, com orientao e
advertncia instantneas aos menores infratores por parte
dos rgos do Ministrio Pblico, (in A Remisso um
Instrumento Valioso, artigo publicado em 24.04.91, no jornal
O Estado de So Paulo).
Portanto, no h que se cogitar em violao
ao principio da proteo judiciria, vez que o legislador
submeteu esta nova atribuio do promotor de justia
estrita fiscalizao judicial, embasando-se, para tanto, no
conhecido principio democrtico de freios e contrapesos.
Alis, foi esta uma das concluses do colquio promovido
pelo TJ -SC, supramencionado.
VI - Concluso
A nosso ver, destarte, o Estatuto da Criana e
do Adolescente uma lei civilizatria e promoveu neste
campo uma verdadeira revoluo jurdica, plenamente
constitucional, inovando acertadamente em diversos pontos,
e em especial quanto ao instituto da remisso.
importante, por conseguinte, que se
compreenda a evoluo da realidade social e, sobretudo, que
os juzes, os promotores, os advogados, no estabeleam
obstculos que os impeam de observar e compreender as
modificaes ocorridas neste campo.
In terminis, deixamos aqui algumas palavras
do ilustre Procurador de J ustia MUNIR CURY, que
merecem reflexo:
"Bem comum e interesse pblico, sendo
expresses que se identificam e se
incorporam reciprocamente, so a grande
nsia finalstica do Ministrio Pblico na luta
pelo resgate dos direitos humanos violados,
no esforo permanente e na esperana
inabalvel de construo de uma sociedade
mais justa e fraterna." (in Temas do Direito do
Menor, p. 16, 1.ed., Ed. RT).
Reflexes sobre
a Culpa na Separao Judicial
Selma Maria Ribeiro Arajo
Promotora de Justia
"... e minha alma no podia viver sem ele...
Com que dor se ensombreou meu corao! Tudo
que via era morte para mim... E tudo o que o
lembrava transformava-se para mim em crudelssimo
martrio. Cheguei a odiar todas as
coisas, porque nada o continha.... Tornei-me para
mim mesmo um grande problema, perguntando minha
alma por que estava triste e me conturbava tanto,
e ela no sabia o que responder-me."
(Santo Agostinho, Confisses, Ed. Das Amricas,
SP, 1964, Livro IV, cap. 4, p. 113)
O relacionamento homem-mulher, alm de
ser objeto de estudos jurdicos, tema preferido e debatido
por artistas:
"poetas, romancistas, compositores,
escultores descreveram, cantaram ou
esculpiram, das mais variadas formas, as
vicissitudes de tal relacionamento. Dramas,
tragdias, comdias, aproximaes,
afastamentos, nascimentos, mortes, amor,
dio, alegrias, tristezas, aceitao, rejeio,
luta, cooperao, iluses, desiluses,
marcaram, marcam e certamente
acompanharo a histria do encontro
homem-mulher at o final dos tempos.
Essa "multido de dois", tendo como bero a
paixo, na realidade constitui desafio para
qualquer pesquisador pois no passa de um
elogio da In/Completude". (Adaptado de artigo de
autoria de J oo Francisco Neves, membro do
IEPSI, em artigo intitulado "Casal ou Pro/cura
da In/Completude", publicado na revista
Grfhos, n 8, setembro de 1996, p. 15/19).
As leis atinentes ao Direito de Famlia
percorreram um longo e lento caminho at que se
conseguisse vencer as resistncias da conscincia do povo
brasileiro segurana advinda da indissolubilidade do
casamento.
As pessoas que, por qualquer motivo, no
conseguiam manter a convivncia marital, passavam a viver
margem da vida, mas mantinham o vnculo indissolvel
que, um dia, as unira a outra pessoa.
Esta marginalizao era visvel no s em
relao Igreja Catlica, no que se referia ao sacramento do
matrimnio, que permanece indissolvel, mas tambm em
relao ao aspecto civil do contrato matrimonial.
A resistncia do povo brasileiro se devia a
uma falsa moral que imperava na sociedade brasileira (ser
que no impera mais?), que repudiava qualquer
relacionamento entre homem e mulher que no tivesse,
antes, sido abenoado por Deus e contratado pelas leis dos
homens.
Aos poucos, o legislador brasileiro,
atendendo aos anseios cada vez mais visveis e latentes do
povo, foi modificando a legislao ptria, admitindo o
desquite, sem a possibilidade de novo casamento, depois
transformando-o em separao com a possibilidade de
convert-la em divrcio, o prprio divrcio direto, a
possibilidade de novo casamento, at o reconhecimento, pela
Constituio de 1988, da unio estvel entre homem e
mulher como entidade familiar, hoje regulamentada por lei.
A evoluo legislativa se fez sentir, via de
consequncia, com relao filiao, reconhecimento de
filhos havidos fora do casamento, com a proibio de
qualquer discriminao referentemente filiao, dita,
anteriormente, ilegtima.
Com relao mulher, finalmente,
conquistou-se a igualdade de direitos e deveres referentes
sociedade conjugal.
Com toda essa evoluo legislativa, e tendo a
seu dispor institutos capazes de dissolver, at com facilidade,
o vnculo que se estabelece com o casamento civil, o nmero
de separaes e divrcios aumentou assustadoramente,
chegando mesmo a preocupar aqueles que vem, na famlia
constituda pelo casamento, a "clula mater da sociedade",
usando um chavo antigo e retrico.
Entretanto, o valor desta evoluo apenas
histrico e didtico, no tendo qualquer aplicao prtica,
principalmente para aqueles que trabalham com o Direito de
Famlia, seja como juzes, Promotores ou Advogados.
As separaes e os divrcios feitos de forma
consensual apresentam menos dificuldades e minoram o
desgaste daqueles que se separam. Feito o acordo e
homologado pelo J uiz, transforma-se, como qualquer outro
contrato, em lei entre as partes, guardada a possibilidade de
se rever apenas, e to-somente, a questo alimentcia, face
aplicao do princpio rebus s/c stantibus, s obrigaes de
natureza alimentar.
Inexistindo o acordo, e partindo o casal para
uma separao ou divrcio litigiosos (ainda que no se
discuta nesta ltima hiptese a questo da culpa, mas
simplesmente o lapso de tempo), o processo para se obter o
desfazimento da relao conjugal desgastante, vez que
leva ao questionamento das causas elencadas no art. 5 da
Lei n 6.515/77, competindo ao cnjuge, autor da ao, o
nus de provar que o fracasso da sociedade conjugal e,
conseqentemente, a insuportabilidade da vida em comum
decorreram da conduta desonrosa, ou de grave violao dos
deveres do casamento pelo cnjuge-ru.
A prova produzida nestes autos que vai
autorizar o J uiz a decidir a causa, declarando de quem a
culpa e decretando a dissoluo da sociedade conjugal.
So as conseqncias para o cnjuge-ru da
declarao da culpa questo que sempre nos preocupou,
quando da nossa atuao nos processos das Varas de
Famlia. A prova produzida nos autos fruto do trabalho do
advogado, patrono da parte. Vai depender da maior ou menor
habilidade do causdico a robustez da prova e,
conseqentemente, o convencimento do J uiz e o
direcionamento da manifestao ministerial.
Havendo reconveno, a soluo processual
do litgio se torna mais fcil, devido possibilidade do
reconhecimento da culpa recproca. No havendo
reconveno, ao magistrado s se permite decidir pela
procedncia do pedido, com o reconhecimento da culpa
atribuda ao ru, ou pela improcedncia, se no restarem
provados os fatos alegados. Neste caso, o casamento
mantido, embora absolutamente falido.
A jurisprudncia continua resistindo
possibilidade de se reconhecer culpa recproca, quando no
h reconveno.
A subordinao do processo de separao
judicial litigiosa s regras rgidas e comuns do Processo Civil
sempre nos pareceu desumana, face s peculiaridades da
matria e das questes ali decididas.
O reconhecimento da culpa, segundo a Lei
do Divrcio, ainda influi no direito guarda dos filhos, ao uso
do nome do marido pela mulher e penso alimentcia.
A questo da guarda dos filhos, inobstante o
disposto no art. 10, da Lei n 6.515/77, tem sido decidida,
observado o interesse efetivo do menor.
Com o divrcio, a mulher volta a assinar seu
nome de solteira, exceto nas hipteses previstas na Lei
(pargrafo nico do art. 25, da Lei n 6.515/77).
Quanto aos alimentos, a tendncia atual se
decidir pela exonerao recproca do dever de prestar
alimentos, tendo em vista o alegado princpio constitucional
da igualdade entre os sexos e o fato de a mulher ter
conquistado sua independncia financeira, no mais
necessitando ser provida pelo ex-marido.
Face a estas constataes, de se
questionar qual a validade do pedido de declarao de culpa
na inicial das aes de separao judicial litigiosa e,
conseqentemente, o valor de seu reconhecimento na
sentena que dissolve a sociedade conjugal.
No teria o reconhecimento da culpa o
condo de somente tranquilizar a conscincia daquele que se
diz inocente? Ou de demonstrar para a sociedade que o
casamento faliu por culpa do outro?
Todas estas indagaes foram motivo de
inquietao para nossa conscincia quando, por fora do
ofcio, opinamos pelo reconhecimento da culpa nos mais
diversos processos de separao judicial em que atuamos,
tanto perante a 8
a
Vara de Famlia desta Capital, como nas
comarcas do interior por onde passamos.
E, ainda hoje, continuamos questionando o
sentido da declarao de culpa nas separaes judiciais
Estabelecer o conceito de culpa tarefa
rdua a que se tm dedicado todos os juristas doutrinadores
da matria, tanto no mbito do Direito Penal, como Civil.
"Savatier, ao definir a culpa, afirma que
necessrio assentar ser impossvel faz-lo
sem partir da noo de dever, que ele analisa
em vrias hipteses ou espcies (deveres
legais, deveres de famlia, deveres morais,
obrigaes de observar regulamentos, dever
geral de no prejudicar o outrem, etc).
Resta por assim definir " a culpa a
inexecuo de um dever que o agente
podia conhecer e observar. Se conhecia
efetivamente e o violou deliberadamente, h
delito civil, ou em matria de contrato, dolo
contratual. Se a violao do dever foi
involuntria, podendo conhec-la e evit-la,
h culpa simples, fora destas matrias
contratuais, denomina-se quase delito"
(Trait de Ia responsabilit civile, vol. l, n 4,
apud Rui Stoco, "Responsabilidade Civil e
sua Interpretao Jurisprudencial 2. ed., Ed.
Rev. dos Tribunais, 1995, p. 51).
Na hiptese do casamento, que pressupe a
existncia de um contrato, de se observar quais os deveres
que, se violados, importam no reconhecimento da culpa. no
Cdigo Civil, estatuto revogado e alterado
consubstancialmente no que se refere parte especial que
trata do Direito de Famlia, que vamos encontrar os deveres
de ambos e cada um dos cnjuges.
O art. 231 enumera como deveres de ambos
os cnjuges: a fidelidade recproca, a vida em comum no
domiclio conjugal, a mtua assistncia e o sustento, guarda
e educao dos filhos.
Ocorre que, anteriormente celebrao do
contrato matrimonial, o casal livremente se comprometera,
por fora de um sentimento ento existente denominado
"amor" e foi em funo deste que os dois decidiram
comungar, antes de qualquer bem, principalmente as suas
vidas.
Visto sob a tica de comunho de vida,
destinada a realizar plenamente cada um dos cnjuges em
uma sociedade reconhecida como familiar, preciso que se
analise com reserva qualquer construo jurdica que
transforme o casamento numa sociedade como outra
qualquer, tutelada pelo Direito.
Melhor seria que a sociedade familiar se
desvinculasse da tutela do Estado, que passaria a se
preocupar to-somente com os aspectos patrimoniais
resultantes da sociedade e com a proteo dos filhos.
Estabelecer normas para a celebrao da
sociedade conjugal consideravelmente mais fcil, vez que,
quando da celebrao do vnculo, o sentimento que impera
o da afetividade e o casal a tudo aquiesce.
Estabelecer normas para o desfazimento
desta mesma sociedade tarefa quase impossvel para o
Direito, uma vez que as normas esbarram, agora, na maioria
das vezes, em sentimentos opostos queles que uniram o
casal e que os impedem de decidir sem rancor, sem mgoa e
sem dio, a respeito do fim do relacionamento.
A ns nos parece que o legislador est atento
para a realidade que se nos apresenta. As leis recentemente
promulgadas, que tratam da unio estvel entre homem e
mulher, versam sobre temas objetivos, tais como alimentos,
participao na sucesso do companheiro, condies para
que se tenha direito meao, no ditando qualquer norma
sobre o descumprimento dos deveres, que incluem lealdade,
respeito, considerao e assistncia moral e material (Lei n
9.28.7, de 10/05/96, art. 2).
Ao que se constata, descumprido qualquer
dos deveres, independentemente de culpa, estar rompida e
dissolvida a unio estvel, sem a interferncia do Estado para
dizer de quem ou foi a culpa pelo desfazimento da unio.
A nosso aviso, interferindo o Estado na
celebrao do casamento, estaria ele autorizado a interferir
na separao e no divrcio, mas apenas, e to-somente, nos
seus aspectos legais, jamais para dizer a respeito da culpa
de qualquer dos cnjuges.
O momento da separao representa o fim da
dissoluo progressiva de uma vida em comum, e por isso
mesmo uma das mais dolorosas experincias da pessoa
humana, mesmo quando aqueles que se separam j no
mais se amam.
O fracasso no diz respeito s ao casamento,
sociedade conjugal. A sensao de fracasso quanto a
um projeto inicial de vida. Esta constatao leva qualquer um
ao sofrimento pela perda, ainda que do status de pessoa
casada.
VIRGLIO DE S, em 1923, j dizia em sua
obra Direito de Famlia, p. 59/63:
"A famlia no criada pelo homem, mas pela
natureza, porque o legislador no cria a
primavera, dado que sendo um fenmeno
natural, ela antecede necessariamente ao
casamento que fenmeno legal" (in
Informativo ADV Boletim Semanal n 41, p.
512).
Chega-se dissoluo da sociedade
conjugal por incompatibilidade de gnios, pela decomposio
de fato do grupo familiar, pela intolerncia recproca, pela
ausncia de condies propcias manuteno da vida em
comum, inclusive econmico-financeiras, pela cessao
definitiva da affectio maritailis, pela frustrao das relaes
matrimoniais, pelo desencanto ou decepes da convivncia
conjugal e so estas e muitas outras as causas que levam
um ou ambos os cnjuges ao descumprimento dos deveres
conjugais.
Pergunta-se: de quem a culpa?
No teria o outro, dito inocente, esperado
demais de uma relao que envolve pessoas humanas
absolutamente diferentes, pelo simples fato de serem homem
e mulher?
Por outro lado, ainda que cumpridos todos os
deveres legais do casamento, a prpria
"doutrina reconhece a existncia de deveres
implcitos do casamento, no expressamente
previstos em lei, que decorrem da natureza
mesma do casamento, que implica na mais
ntima comunho de vida e que, se
descumpridos, impem a separao, com o
reconhecimento de culpa recproca" (neste
sentido decidiu a Segunda Turma Cvel do
TJ DF, em 20.09.85, Rev. de Doutrina e
Jurisprudncia 23/134).
Estes deveres implcitos so enumerados por
alguns doutrinadores como: respeito, sinceridade, tolerncia,
comunicao espiritual, zelo para que a prpria honra do
consorte no seja atingida, respeito pela dignidade do
cnjuge, entre outros, deveres estes que se resumem no
affectio que deve existir entre os cnjuges.
A violao desses deveres implcitos no
acontece do dia para a noite. paulatina e mina a relao
aos poucos. um desgaste hoje, uma decepo manh, uma
intolerncia que, com o passar do tempo, enfraquecem a
relao, fazem com que o casal perca a cumplicidade e
chegue ao desamor e, s ento, acontecem as hipteses
previstas no art. 5 da Lei do Divrcio: conduta desonrosa ou
atos que importem na violao dos deveres do casamento e
tornem insuportvel a vida do casal. Isto consequncia do
descumprimento dos deveres implcitos, hiptese em que
achar um culpado matria de difcil prova. Afinal, no se
trata de um fato isolado, mas de uma sequncia de
desgastes na relao do dia-a-dia, uma trama da qual
participam ambos os cnjuges e que acaba por tornar
insuportvel a vida a dois.
FERREIRA PINTO sabiamente preleciona
que:
"a causa ltima, real, verdadeira, decisiva do
divrcio culposo , no a violao dos
deveres conjugais, mas, sim, o
comprometimento da vida em comum dos
cnjuges. Aquela apenas a objetivao
deste, o seu despoletar..." (Causas do
Divrcio, p. 101, apud Divrcio e Separao
de YUSSEF SAID CAHALI, Tomo 1, 6. ed,
Ed. Rev. dos Tribunais, p. 451).
Portanto, em matria de dissoluo de
sociedade conjugal, a no ser em hipteses
excepcionalssimas e devidamente comprovadas, seria mais
prudente no se falar em culpa exclusiva de qualquer dos
cnjuges, sem antes proceder a um exaustivo exame do
carter complementar daquela relao, independentemente
de reconveno.
Vislumbramos como urgente a modificao
dos principais dispositivos legais que regulam a separao e
o divrcio litigiosos, bem como o seu processo e a criao de
outros, que disponham e disciplinem mais humanamente
sobre o fim da comunho de vida representada pelo
casamento civil.
Nesta modificao, com toda certeza, a
redao do atual art. 5 da Lei n 6.515/77 autorizaria a
propositura da ao de separao por um dos cnjuges, sob
a alegao de que a vida em comum tornou-se insuportvel,
rompendo-se os laos de comunho.
No haveria qualquer imputao de culpa,
nem qualquer referncia aos efeitos de uma presumida
culpabilidade.
Ainda que no mudem as leis, a sua
aplicao pode se adequar nova realidade e aos novos
tempos, vez que o Direito cincia essencialmente dinmica
e deve ser colocada a servio do homem e da soluo de
seus conflitos e anseios.
Referncias Bibliogrficas e Obras Consultadas
CAHALI, Yussef Said. Divrcio e Separao. 6. ed., Tomos 1
e 2. SP: Ed. Rev. dos Tribunais, 1991.
CARUSO, Igor. A Separao dos Amantes. 2. ed. SP: Ed.
Diadorim, 1982.
GOMES, Orlando. Direito de Famlia. 7. ed. RJ : Ed.
Forense, 4
a
tiragem, 1992.
LEITE, Eduardo de Oliveira. Origem e Evoluo do
Casamento. PR: J u rua Editora, 1991.
SANTOS, Regina Beatriz T. da Silva Papa dos. SP: Ed.
Forense Universitria, 1990. S
STOCO, Rui. Responsabilidade e sua Interpretao
Jurisprudencial. 2. ed. SP: Ed. Rev. dos Tribunais, 1995.
VILHENA, J nia de. Escutando a Famlia: Uma Abordagem
Psicanaltica. RJ: Ed. Relume - Dumar, 1991.
Cdigo Civil
Cdigo de Processo Civil
Constituio da Repblica Federativa do Brasil
Revista Grfhos, n 8, setembro, 1990.
Roteiro Prtico para Anlise
dos Expedientes Enviados pelo
TC E e Verificao de Idoneidade dos
Convnios Firmados pelos
Municpios na Esfera Cvel
Marcelo Matar Diniz
Promotor de Justia
O objetivo da elaborao deste roteiro prtico
o auxlio aos colegas membros do Parquet na difcil tarefa
de anlise dos expedientes enviados pelo Tribunal de Contas
do Estado, rgo responsvel pela emisso de parecer sobre
as contas municipais e estaduais. Excessivamente tcnico e
afeto somente ao aspecto formal das contas apresentadas, o
TCE, apesar de tudo, presta relevante servio moralidade
administrativa. Contudo, o mesmo no apura as grandes
fraudes praticadas pelos maus administradores contra o
errio pblico, apurando somente as pequenas
irregularidades contbeis, como se demonstrar a seguir,
salvo algumas excees.
Com efeito, ao analisar as contas do
municpio, o TCE analisa aspectos tcnico-formais, como:
- respeito ao princpio do prvio empenho;
- respeito ao princpio do procedimento licitatrio;
- notas fiscais, notas de empenho e ordens de pagamento
devidamente quitadas pelos emitentes;
- reajuste dos vencimentos do Prefeito, Vice-Prefeito,
Presidente da Cmara e Vereadores, respeitando o VBCC
(Valor base de clculo corrigido), com base na ltima
resoluo reajustando vencimentos deixada pela
legislatura anterior;
- aplicao do mnimo legal constitucional de 25% na
manuteno e desenvolvimento do ensino etc.
Mas o TCE no analisa aspectos materiais,
como:
- idoneidade das notas fiscais apresentadas;
- concluso das obras realizadas pela Prefeitura,
financiadas pelas receitas correntes do municpio ou pela
verba originria de convnios estaduais e federais;
- idoneidade das empresas prestadoras de servio etc.
Com efeito, considera o TCE que as contas
municipais esto em ordem desde que a prova documental
esteja correia. O mesmo procedimento seguem as entidades
estatais que assinam convnios com os municpios. Apesar
de ser obrigao da entidade convenente, estipulada em
todos os contratos, a fiscalizao in loco das obras, compras
ou servios realizados, tal fiscalizao nunca feita. As
justificativas so as costumeiras: falta de pessoal,
impossibilidade material etc. Contudo, a conseqncia de tal
procedimento a extrema facilidade dada aos maus gestores
da coisa pblica para fraudarem o errio. Sem fiscalizao,
estando a entidade convenente presa puramente aos
aspectos formais, a nica preocupao trazida aos
administradores que, formalmente, as contas sejam
prestadas. Exemplifica-se:
1. faz-se procedimento licitatrio com cartas marcadas;
2. providenciam-se notas fiscais fraudulentas, noras frias;
3. preenche-se toda a documentao contbil necessria;
4. prestam-se contas como se a obra estivesse concluda.
Como nenhum tcnico ou fiscal comparece
ao local, estando a documentao correta, o convenio
considerado cumprido e o procedimento arquivado. E a
comunidade ento lesada, sem conhecimento de causa.
Inmeros desvios de verba foram praticados desta maneira
em nosso Estado e em nosso Pas. Trata-se de prtica
antiga, de difcil combate, amplamente conhecida, pois as
facilidades so imensas. Inmeras pessoas, sob o disfarce de
lobistas ou Empresas de Consultoria, vivem de intermediar
verbas entre as Prefeituras e o Estado, cobrando comisses
pela liberao. Comisses estas que tambm sero
contabilizadas por meio de noras frias.
Considero obrigao do MP, atravs de seu
rgo de execuo na comarca, como curador do Patrimnio
Pblico, esta fiscalizao e acompanhamento.
Feitas estas consideraes iniciais,
passemos anlise flica das irregularidades constatadas
pelo TCE e suas conseqncias, bem como a forma de agir
quanto verificao do efetivo cumprimento dos convnios.
Cabe salientar que o TCE apenas emite Parecer quanto s
contas e que a competncia para julgamento da Cmara
Municipal. Contudo, como de amplo conhecimento, a
aprovao das contas pelo Legislativo no elide a
responsabilidade do Alcaide quanto ao controle jurisdicional
da legalidade do ato administrativo. A respeito, cita-se:
"A prestao de contas se refere aplicao
do dinheiro pblico conforme o Oramento,
de acordo com as normas legais sobre
despesas, compreendendo aspectos formais
e de diretrizes poltico-administrativas.
Eventuais desvios que possam configurar
ilicitudes so detectados e por isso o parecer
do Tribunal de Contas se inclinando pela
rejeio das contas ou sua aprovao parcial.
Em alguns casos so situaes formais que
se corrigem com as diligncias. Em outros
casos so situaes configuradoras de ilcitos
- e a no adianta organizar maioria poltica
na Cmara Municipal para aprovao de
contas. Um conluio de polticos no pode
negar vigncia a lei penal. Alis, a lei
nenhuma." (Excerto do voto do eminente
Ministro Edson Vidigal, em H.C. n. 1583-A-
TO, do STJ )
"A Cmara Municipal, Poder Legislativo, no
pode substituir o J udicirio, este sim,
responsvel pela aplicao da lei. Aprovar
prestao de contas no elimina crime, em
tese, a ser apurado quando indcios
evidentes do conta disso no perodo, no
mbito da administrao" (Prefeito Municipal -
J urisprudncia - J oo Carlos Menezes, 1. ed.,
1994,p.203)
Irregularidades mais Comuns
1. Despesas sem respeito ao princpio do Prvio Empenho,
conforme art 64 e seguintes da Lei n 4.320/64
Deve-se atentar para o julgamento das contas pela
Cmara Municipal. Se a Cmara considerar que as
despesas, embora irregulares, foram de interesse pblico,
estar sanada a irregularidade, conforme smula n 12 do
TCE. O mesmo se aplica quanto ao desrespeito ao estgio
de liquidao.
Smula n 12 do TC Estadual:
"As despesas realizadas sem prvio
empenho so irregulares e de
responsabilidade pessoal do gestor, salvo se
o Legislativo as considerar de interesse
pblico e autorizar a competente
regularizao".
2. Despesas sem o necessrio procedimento licitatro
Primeiramente, deve-se solicitar ao TCE a tabela de
valores para licitao, em todas as modalidades, para
prova da irregularidade. Se a irregularidade for posterior
Lei n 8429/92, a simples dispensa constitui ato de
improbidade administrativa punvel. Sendo anterior,
necessria a prova, em juzo, de que houve efetivo
prejuzo ao Estado (considerando que estamos tratando do
aspecto civil, pelo que, quanto ao aspecto criminal, existem
as sanes da lei de licitaes n 8666/93, mas tratando-
se de Prefeito, possui o mesmo foro privilegiado, por
prerrogativa de funo, cabendo tanto a requisio de
Inqurito Policial quanto o ajuizamento de Ao Penal ao
Exmo, Sr. Procurador-Geral de J ustia), ou seja:
a) superfaturamento nas compras ou falta de entrega de
mercadoria;
b) em se tratando de obras, no-realizao das mesmas
ou utilizao de material de qualidade inferior ao
constante das notas fiscais, a ser apurado por percia;
c) em se tratando de servios, a no-prestao dos
mesmos, ou preos superiores aos usuais.
3. Notas de empenho e ordens de pagamento sem a
necessria quitao
Tal constatao pressupe dois aspectos: ou o
. servio/mercadoria no foi prestado/entregue ou no foi
efetivamente quitado pelos cofres pblicos. Em ambos os
casos, existe a irregularidade, punvel como
enriquecimento ilcito, conforme a Lei n 8429/92 c/c a de
n 7347/85, pois o numerrio foi efetivamente
contabilizado, tendo sado dos cofres estatais. Deve, pois,
o Alcaide provar que efetivamente efetuou o pagamento,
ou, na impossibilidade, que efetivamente recebeu a
mercadoria ou servio.
4. Reajuste dos vencimentos do Prefeito e demais agentes
polticos em desacordo com as normas legais
O TC analisa tal aspecto com base nas resolues a ele
enviadas pela Prefeitura na prestao de contas, votadas
pela Cmara, e com base na ltima resoluo votada. Se
todas as resolues foram enviadas e o TC apurou a
irregularidade, esta lquida e certa e de difcil defesa.
5. Subvenes, auxlios e contribuies sem leis autorizativas
Relacionadas como despesas no afeias ao municpio,
normalmente exigem a celebrao de convnios, como,
por exemplo, auxlio-moradia a membros da Polcia Militar,
fornecimento de combustvel para viaturas etc.
Apresentado o convnio, considera-se regular.
6. Aplicao do mnimo legal de 25% da arrecadao na
manuteno e desenvolvimento do ensino
Como estamos tratando do aspecto civil, especificamente
de ACP, entende certa parcela da J urisprudncia que a
mesma no o procedimento correio para obrigar o
municpio a aplicar tal percentual na educao. Constitui a
infrao a este dispositivo crime de responsabilidade,
conforme Decreto-Lei n 201/67, e motivo para
requerimento de interveno no municpio, conforme
consta na Constituio Estadual. Nem possvel
responsabilizar-se ex-Prefeito por tal conduta, na esfera
cvel, requerendo ressarcimento ao errio, pois o prejuzo
porventura ocorrido deve ser compensado pela prxima
administrao, em exerccios seguintes. A respeito, cita-se:
"Inadmissvel a responsabilizao de ex-
Prefeito Municipal por leso a Patrimnio
pblico decorrente do descumprimento do art.
212 da CF que determina a aplicao
obrigatria de percentual de receita municipal
na manuteno e desenvolvimento do ensino,
pois referida obrigao, uma vez no
efetivada em determinado exerccio,
transfere-se regularmente ao exerccio
seguinte. o que se depreende da Lei
editada sob sistema constitucional anterior,
referente a principio anlogo e aplicada ao
caso concreto em face da inexistncia de Lei
complementar atual, reguladora de matria, o
pedido indenizatrio, ademais, torna-se
incabvel na espcie, diante da ausncia de
comprovao do prejuzo." (Apelao Cvel n.
179.369 -1/9 - Caconde/SP - 5
a
Cm. Cvel
TJ SP - v. u - Apelante: J os Eduardo de
Oliveira Costa - Apelado: Ministrio Pblico -
Relator: Mrcio Bonilha - 26.11.92 - RT
694/88)
Todavia, considero possvel, quanto atual
administrao, a propositura de Ao Civil Pblica visando a
obrigar a Municipalidade a aplicar os citados 25% no ensino.
Contudo, o recomendvel e prtico que, em sede de
Inqurito Civil Pblico ou Procedimento Administrativo,
resolva-se a questo por Compromisso de Ajustamento de
Conduta, fazendo-se a necessria compensao dos
percentuais a maior aplicados, posteriormente ao exerccio
em que o preceito no foi cumprido, nunca anteriormente.
Exemplifica-se:
- 1989:29%
- 1990:26%
- 1991:19%
- 1992:27%
- 1993:25%
- 1994:25%
Deve-se compensar somente o ano de 1992,
2%, desconsiderando-se as aplicaes anteriores a maior.
Convnios
Ao receber denncias quanto a irregularidade
na aplicao de recursos oriundos de convnios assinados
pelo Municpio com entidades estatais, as seguintes
providncias devero ser tomadas:
1. Instaurar Inqurito Civil Pblico ou Procedimento
Administrativo.
2. Requisitar, com base na Lei n 8.625/93, Lei
complementarEstadual n 34/94, na forma do art. 10 da
Lei n 7.347/85, informaes completas quanto ao
cumprimento do convnio, procedimento licitatrio e
prestao de contas, bem como repasse de numerrio
pela entidade convenente e contrapartida pelo municpio,
tanto da Prefeitura Municipal quanto da prpria entidade
convenente, para averiguaes.
3. Ao receber a documentao, verificar a licitude do
processo licitatrio, se a modalidade de licitao (tomada
de preos, carta-convite ou concorrncia pblica) era a
adequada para o caso, com base na tabela do TCE, e
se a documentao dos participantes est correia.
4. Enviar as notas fiscais constantes da Prestao de contas
AF (Arrecadao Fazendria Estadual) do municpio,
visando verificao de idoneidade das mesmas, quantos
aos seguintes aspectos: regularidade da inscrio
estadual, regularidade da AIDF (Autorizao para
impresso de documentos fiscais), se a Empresa
registrada regularmente como fornecedora daquela
espcie de mercadoria ou servio, idoneidade da grfica e
da transportadora da mercadoria, recolhimento de tributos
etc.
5. Vistoria, utilizando perito nomeado, no local das obras,
se for o caso, para fins de verificao do efetivo
cumprimento do convnio. Para tanto, deve ser
requisitado o Plano de trabalho e croqui das obras
porventura realizadas.
6. Oitiva de testemunhas residentes no local de realizao
das obras, para fins de verificao dos trabalhos
efetivamente realizados e a poca em que foram feitos,
pelos motivos expostos adiante.
Fraudes mais Comuns
1. Obras
Inclui-se na prestao de contas trecho j concludo em
tempos anteriores, em outra administrao, tratando-se de
calamento, esgoto, prdios etc. Combate-se com prova
testemunhal.
Faz-se apenas a fachada da obra, sendo que,
internamente, nada consta. Ex.: Em redes de esgoto,
cava-se a valeta e depois cobre-se de terra, sem a manilha
no interior da mesma e sem ligao com as residncias.
Faz-se um trecho inferior ao estipulado no contrato,
prestando contas como se a totalidade do mesmo tivesse
sido concluda. Ex.: De 5.000 m
2
de calamento,
constrem-se apenas 4.000 m
2
e prestam-se contas. A
percia prova tais fraudes.
2. Notas Frias
Nota calada - Preenchem-se as vias do comprador em
um valor e as vias do vendedor em outro, para burlar o
fisco.
Copia-se de outra empresa ou imagina-se AIDF falsa e,
em parceria com grfica inidnea, confecciona-se bloco de
notas fiscais para venda, com numerao no autorizada,
o qual, como no consta no cadastro da Receita, no ser
fiscalizado.
Tambm em parceria com grfica inidnea, confecciona-se
bloco de notas fiscais fraudulentas, de empresas
inexistentes, emitindo notas fiscais para si mesmo (para a
prpria empresa que pretende vender notas frias),
justificando, desta forma, a entrada de mercadorias, as
quais iro constar na nota vendida ao interessado. Assim,
contabiliza-se a entrada e a sada de mercadorias.
Todavia, com os expedientes de investigao
anteriormente demonstrados, torna-se muito difcil ao mau
gestor mascarar possvel desvio de verba. Comprovado o ato
de improbidade, normalmente ser tipificado como
enriquecimento ilcito, art. 9 e seus incisos da Lei n
8.429/92. Aconselhvel, na ACP ajuizada visando ao
ressarcimento do errio e realizao das obras, requerer,
liminarmente ou como Tutela Antecipada, a Declarao de
Indisponibilidade dos bens dos rus, conforme o art. 7 da
Lei n 8.429/92, para garantir possvel condenao em
dinheiro. Tambm, se necessrio instruo processual,
pode-se requerer, ad limine, o afastamento temporrio do
agente de suas funes, sem prejuzo de sua remunerao,
conforme o art. 20, pargrafo nico da citada lei e os ditames
da CF, quanto moralidade e probidade administrativas,
trazidas no art. 37 e pargrafos. Fazer, ainda, relatrio,
juntando a prova colhida e enviando-a Procuradoria, para
anlise da repercusso criminal, em se tratando, obviamente,
de Prefeito Municipal.
Quanto legitimidade do MP para propositura
de Ao Civil Pblica em defesa do Patrimnio pblico, a
corrente dominante, tanto jurisprudencial quanto
doutrinariamente, positiva e favorvel. As disposies
constantes das Constituies Federal e Estadual conferem
legitimidade ao MP para a propositura de Ao Civil Pblica
para a proteo do meio ambiente, Patrimnio cultural e dos
consumidores, e, ainda, para a defesa de "outros interesses
difusos e coletivos", frmula genrica que abrange,
obviamente, o Patrimnio pblico. A Constituio Federal de
1988, de maneira clara e inequvoca, conferiu expressamente
ao MP tal legitimidade, como se expe:
"Art. 129, III : promover o inqurito civil e a
ao civil pblica para a proteo do
Patrimnio pblico e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos".
Ainda a Lei n 8.625/93, LONMP, em seu art.
25, preceitua:
"Art. 25, IV : promover o inqurito civil e a
ao civil pblica, na forma da lei:
b) para a anulao ou declarao de nulidade
de atos lesivos ao Patrimnio pblico ou
moralidade administrativa do Estado ou do
Municpio, de suas administraes indiretas
ou fundacionais ou de entidades privadas de
que participem."
Por fim, na lio de HUGO NIGRO MAZZILLI,
em sua obra A Defesa dos Interesses Difusos em Juzo, 6.
ed, p.114:
"A 'mens legis' consiste em conferir iniciativa
ao Ministrio Pblico, seja para acionar, seja
para intervir na defesa do Patrimnio pblico,
sempre que alguma razo especial exista
para tanto, como quando o Estado no toma
a iniciativa de responsabilizar o administrador
anterior ou em exerccio por danos por estes
causados ao Patrimnio pblico, ou quando
razes de moralidade administrativa exigem
seja nulificado algum ato ou contrato da
administrao que esta insiste em preservar,
ainda que em grave detrimento do interesse
pblico primrio. Como se v, a defesa do
Patrimnio pblico cabe no s ao cidado,
pelo sistema da Ao Popular, como tambm
ao Ministrio - Pblico e aos demais
legitimados do art. 5 da LACP, que podem
promover a defesa judicial de qualquer
interesse difuso ou coletivo - no excluda
naturalmente a defesa do Patrimnio pblico."
Tambm a J urisprudncia j se posicionou a
respeito, positivamente:
"A idoneidade da ao civil pblica, como
instrumento de defesa e proteo ao
Patrimnio pblico, com manejo assegurado
pelo artigo 129, III, da Constituio Federal,
adquiriu amplitude maior do que aquela
prevista na Lei n 7.347/85, motivo por que a
sua propositura e a ilegitimidade do seu
patrocinador s devem encontrar obstculos
nos outros interesses difusos e coletivos"
(TJ MG, Apelao n 42.928/2).
Ao Civil Pblica - Defesa do Patrimnio
Pblico - Ministrio Pblico - Legitimidade
Ativa - Inteligncia do art. 129, III da CF/88,
c/c o art. 1 da Lei n 7.347/85 - Precedente -
Recurso Especial no conhecido. "O campo
de atuao do MP foi ampliado pela
Constituio de 1988, cabendo ao Parquet a
promoo do inqurito civil e da ao civil
pblica para a proteo do Patrimnio pblico
e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, sem a
limitao imposta pelo art. 1 da Lei n
7.347/85" (Resp. n. 31.547 -9/SP).
dever primordial do MP a defesa do
Patrimnio pblico. O Promotor possui meios para obteno
de informaes inacessveis ao cidado comum. No existe
necessidade de representao de quem quer que seja para a
atuao do MP. Ao verificar a ocorrncia de ato de
improbidade, o Inqurito ou Procedimento pode ser
instaurado de ofcio. A Curadoria de Defesa do Cidado, em
Belo Horizonte, possui ampla matria a respeito, bem como
cpias de Peties Iniciais em defesa do Patrimnio pblico,
em todos os aspectos, inclusive com relao a concurso
pblico fraudulento, fato corriqueiro no interior (principalmente
quanto concesso de vantagens indevidas a servidores
nomeados a ttulo precrio, sem concurso), ou a simples
inexistncia do mesmo. No caso, o objeto da ao no a
defesa do Patrimnio pblico, propriamente dito, mas a
defesa da moralidade administrativa que, pelo atual
ordenamento jurdico , inclusive, requisito autnomo para
ajuizamento de Ao Popular, logo, obviamente, tambm de
Ao Civil Pblica. A legitimidade do MP em propor Ao Civil
Pblica em defesa do Patrimnio pblico no elide a
legitimidade do cidado, eleitor regularmente inscrito, em
propor Ao Popular.
A defesa do Patrimnio pblico pelo MP
matria nova e a J urisprudncia ainda rara e vacilante,
quanto matria de fato, principalmente com relao Lei n
8.429/92. Cabe, ento, aos membros do Parquet, no
exerccio suas funes, contriburem para a formao de
J urisprudncia, com o ajuizamento das respectivas aes,
levando a matria apreciao do Poder J udicirio.
" Sursis Antecipado" (Art.
89 - Lei N 9.099/95): Direito
Subjetivo do Acusado ou
Mecanismo Jurisdicional nsito
na Discricionariedade Regrada do
Acusador Pblico?
J os Ronald Vasconcelos de Albergaria
Promotor de Justia
A questo acima posta tem sido alvo de
inmeras controvrsias, com opinies das mais variadas,
dividindo os doutrinadores em sede penal.
Nossos doutos Tribunais, por sua vez,
acolhendo, data venia, as concluses precipitadas da
Comisso Nacional da Interpretao da Lei n 9.099/95,
sobretudo aquelas estatudas na sua 13
a
clusula, que
assentou que "se o Ministrio Pblico no oferecer a proposta
de transao penal e suspenso do processo nos termos dos
arts. 76 e 89, poder o juiz faz-lo", esto agindo, a meu
juzo, de forma equivocada, desrespeitando, inclusive, a
Constituio Federal.
Sob a falsa crena de que a suspenso
processual do art. 89 da Lei n 9.099/95 seria "ntido direito
subjetivo do acusado", nossos seletos Tribunais esto
determinando a baixa dos autos para ali remetidos em grau
de recurso, quando existe apenas o inconformismo da
defesa, para as suas Comarcas de origem, a fim de que os
Promotores de J ustia, com atribuies nas mesmas, j
findas as jurisdies dos seus respectivos Magistrados,
formulem o "sursis antecipado".
Sem embargo disso, na maioria das vezes,
as penas aplicadas ultrapassam o limite temporal de um ano,
estabelecido como condio para o questionado "benefcio"
e, mesmo assim, os Em. juzes Relatores insistem para que
a proposta despenalizada seja feita pelo Parquet,
argumentando que o trnsito em julgado das decises de 1
a
Instncia ainda no aconteceu. As causas de aumento de
pena, descritas nas denncias e acatadas pelos juzes de 1
Grau e que, por isso, elevaram as reprimendas para patamar
superior a um ano, so simplesmente desconsideradas em 2
Grau de J urisdio.
Pior ainda. Se o membro do Parquet se
recusa a apresentar a proposta de suspenso, o J uiz Relator
"impe" ao colega de 1
a
Instncia que o faa, provocando a
ao da parte adversa para que ela se manifeste nos autos,
dizendo se deseja ou no a concesso do "benefcio".
Da se percebe a pouca importncia conferida
ao Ministrio Pblico, porque os preclaros Sobrejuzes fazem
tabula rasa do princpio da aplicao consensual da pena,
violentam a autonomia da vontade do acusador e
conspurcam o princpio do contraditrio, ferindo, outrossim, a
prpria Magna Carta.
Para exemplificar o que vem ocorrendo em
todo o Estado de Minas Gerais, quero salientar um caso
prtico acontecido em minha Promotoria, a 11
a
da Capital (9
a
Vara Criminal), a fim de melhor abordar a hiptese vertente
aqui questionada. Fui surpreendido pela deciso de uma Em.
J uza do Tribunal de Alada, Relatora de um processo-crime
onde uma mdica, condenada a um ano e quatro meses de
deteno, por incursa nas sanes do art. 121 , 3 e 4, do
Cdigo Penal, em grau de apelao, buscava a sua
absolvio. No houve recurso do Ministrio Pblico, que se
limitou s premissas do silogismo apresentado pela d.
defesa.
Uma exposio sucinta do caso, como forma
de digresso para a resposta da indagao em estudo, como
disse anteriormente, parece-me de grande valia, porque
colegas no interior de Minas tm sofrido com o mesmo
problema.
Pois bem, a Em. J uza acima citada entendeu
ser aplicvel ao caso supra-referido o instituto da suspenso
(art. 89 da Lei n 9.099/95), razo pela qual devolveu o feito
ao J uzo a quo, para que o Parquet formulasse a sua
proposta para a paralisao do processo.
Diante da recusa justificada do Ministrio
Pblico, que compreendeu ser incabvel a suspenso
processual, o MM. J uiz Sentenciante enviou os autos ao
Tribunal ad quem. Todavia, por mais uma vez, a J uza
Relatora, interpretando que a suspenso seria de fato direito
subjetivo da sentenciada, determinou o retorno dos autos ao
J uzo de 1
a
Instncia, quando o nclito Magistrado,
secundando o entendimento de sua colega, ouvidos e
acordes advogado e apelante, suspendeu o feito, revelia do
Parquet.
Com efeito, em ltima anlise, travestiu-se o
Magistrado a quo em verdadeiro J uiz-acusador ao conceder,
de oficio, j finda a sua jurisdio, o beneficio em foco,
violando, assim, direito liquido e certo do Parquet, pois
somente o rgo ministerial detm, com exclusividade, a
oportunidade e a convenincia para formular a proposta
despenalizadora em tela, na condio de titular da ao
penal.
Some-se a isso a disposio contida no art.
90 da lei que criou os J uizados Especiais Criminais, verbis:
"Art. 90. As disposies desta lei no se
aplicam aos processos penais cuja instruo j estiver finda."
A exegese do referido artigo clarssima.
Uma vez iniciada a instruo criminal, as disposies da Lei
n 9.099/95 so inaplicveis.
Eis a a primeira razo para que os colegas
rejeitem as decises dos seus respectivos juzes,
notadamente nos casos em que a suspenso atinge feitos j
decididos em 1
a
Instncia e que retornam s Comarcas de
origem para o mister acima apontado.
bom lembrarmos que se o mencionado
artigo, em face do princpio constitucional da retroatividade
incondicional da lei nova menos severa (art. 5, XL, CF; art.
2, pargrafo nico, CP), a priori, merece algumas ressalvas,
tambm certo admitirmos que ele ainda se encontra em
plena vigncia, at porque, sobre o assunto, o Supremo
Tribunal Federal no se manifestou.
Sendo assim, como concluso lgica,
podemos inferir que o art. 90 da Lei n 9.099/95, no tendo
sido revogado, ainda regula a matria em discusso.
De outra face, uma segunda questo tambm
merece a nossa ateno. O fim precpuo da jurisdio a
composio da lide atravs do processo. O J uiz, ouvindo os
litigantes, colhendo os elementos probatrios para a sua
convico, desinteressada e imparcialmente, emite juzo de
valor sobre a pretenso que serviu de base ao litgio, dando a
cada um o que seu.
Todavia, uma vez esgotada a sua jurisdio,
prolatada a sentena que tornou efetiva a vontade concreta
da lei, como poderia o magistrado manifestar-se novamente
no feito, suspendendo o processo, como querem os
Sobrejuzes dos nossos dois Tribunais? Demais disso, os
rgos jurisdicionais precisam ser provocados para atuar.
Logo, a atividade jurisdicional no pode automovimentar-se.
Trata-se de atividade inicialmente inerte, expressa na mxima
wo kein anklager ist, auch kein richter (onde no h acusador,
no h juiz).
Logo, contrapondo-se a atividade jurisdicional
atividade provocadora, cumpre gizarmos que sem ter
cobrado pela ao da parte o magistrado no tem como
entregar-lhe a sua prestao judicial.
Portanto, se o detentor da oportunidade para
a feitura da suspenso antecipada, no caso, o rgo do
Ministrio Pblico, fundamentando sua posio, se recusa a
apresentar a proposta do art. 89, da Lei n 9.099/95, o juiz,
por sua livre conta, de ofcio, no poderia exercit-la porque
estaria invadindo atribuies conferidas, com exclusividade,
ao Parquet.
Ora, vigora no processo de tipo acusatrio,
prprio do Estado Democrtico de Direito, consagrado pela
nossa Constituio Federal, a regra de igualdade processual,
segundo a qual as partes se encontram no mesmo plano,
com direitos iguais.
Cumpre lembrar que se a ao penal o
direito de se invocar a tutela jurisdicional do Estado, no se
concebe, por incongruente, que o prprio Estado-J uiz
invoque a si mesmo a tutela em apreo. O prprio juiz estaria
solicitando uma providncia a si mesmo. Haveria, como muito
bem diz CARNELUTTI, jurisdio sem ao como se tem no
processo de tipo inquisitrio adotado pelos Estados
totalitrios.
Por isso, a soluo mais consentnea com a
J ustia seria, ento, nos casos em que o juiz e promotor
divergem quanto aplicao da suspenso, a remessa do
feito para a apreciao do ilustre Procurador-Geral, nos
moldes do art. 28, do CPP.
Na realidade, no exemplo comentado, desde
a minha primeira manifestao nos autos, solicitei do MM.
J uiz a quo o envio do processo ao Exmo. Sr. Procurador-
Geral. Como no fui atendido, impetrei a segurana de estilo.
V-se, com isso, que toda a questo at aqui
gizada est cingida, indiscutivelmente, ao alegado "direito
pblico subjetivo" do acusado.
O conceituado professor AFRNIO SILVA
J ARDIM posicionou-se da seguinte maneira, verbis:
"J a suspenso condicional do processo
seria uma mitigao do princpio da
indisponibilidade da ao penal. O artigo 42
do Cdigo de Processo Penal diz que o
Ministrio Pblico no pode desistir da ao
que tenha exercitado. A Lei n 9.099/95 diz
que, naqueles casos, presentes determinados
requisitos, o Ministrio Pblico pode propor
ao ru a suspenso condicional do processo,
aps o que, cumpridos aqueles requisitos que
a Lei prev e que o J uiz pode estipular, est
extinta a punibilidade atravs desse instituto:
suspenso condicional do processo. O ru
teria direito suspenso condicional do
processo ou uma mitigao ao princpio da
indisponibilidade? uma faculdade jurdica
do Ministrio Pblico? Parece-me que uma
faculdade jurdica do Ministrio Pblico."
Para fazer essa ilao, o eminente mestre,
doutor em Direito Penal e Processual Penal, estudou o
perdo judicial na ao privada. Nela, o querelante, usando a
discricionariedade, excepcionando o princpio da
indisponibilidade da ao penal, concede o perdo ao
querelado. Pergunta-se: o querelado teria o direito de exigir o
perdo do querelante? bvio que no. O perdo somente
ocorreu em virtude da discricionariedade utilizada pelo
querelante. O mesmo raciocnio deve ser aplicado em face do
Ministrio Pblico.
Enfocando a mesma questo acima aduzida,
defendendo a premissa de que a suspenso processual no
um "direito pblico subjetivo do acusado", MARINO
PAZZAGLINI FILHO, ALEXANDRE DE MORAES,
GIANPAOLO POGGIO SMANIO e LUIZ FERNANDO
VAGGIONE, in Juizado Especial Criminal-Aspectos Prticos
da Lei n 9.099/95, p. 95, anotaram o seguinte, verbis:
"Como detentor da exclusividade da ao
penal pblica, somente o Ministrio Pblico
poder disp-la nos termos da prpria
Constituio Federal (art. 98, l) e da Lei n
9.099/95, propondo, J untamente com a
denncia, a suspenso condicional do
processo, que somente poder ser
homologada pelo Poder J udicirio aps
expressa aceitao do acusado e anlise de
sua legalidade. Assim, somente em virtude de
consenso, ou seja, da possibilidade desta
transao processual entre o Estado, atravs
do Ministrio Pblico, e o acusado,
devidamente acompanhado por seu
advogado, permitida no texto constitucional
(art. 98, l), que poder afastar-se o
processo suspendendo-o, por tempo
determinado, e aplicando condies ao
acusado."
"Existindo, pois, jus puniendi e jus punitionis
do Estado na aplicao e efetivao da pena
pela autoridade judicial competente, por crime
definido em lei, atravs do devido processo
legal, no h como sustentar existncia de
direito subjetivo do acusado suspenso
condicional do processo."
No mesmo diapaso, LUCAS PIMENTEL DE
OLIVEIRA (Juizados Especiais Criminais, Edipro, 1995, p.
76), sustenta que a suspenso do processo,
"ao contrrio do infeliz entendimento que se
aflora, no um direito subjetivo do acusado,
constituindo verdadeiro mecanismo
jurisdicional nsito na discricionariedade
limitada ou regrada do acusador pblico,
emanada do ordenamento jurdico... a
discricionariedade regrada, reitere-se, confere
ao acusador pblico, e s a ele, a anlise da
convenincia de se propor ou no a
suspenso, de acordo com a poltica criminal
exigida pela realidade de cada comarca.
preciso abandonar o vetusto sistema da
obrigatoriedade da ao penal e aceitar o
revolucionrio instituto da forma como
previsto, sem distores".
De outra parte, o competente DR. GIOVANI
MANSUR DE SOLHA PANTUZZO, digno Promotor de J ustia
da Capital, assessorando o preclaro Procurador-Geral de
J ustia, em recente recurso ordinrio por ele aviado e
endereado ao seleto Superior Tribunal de J ustia, teceu
argumentos irretorquveis contra o alegado "direito pblico
subjetivo" do acusado, o fazendo da seguinte maneira:
"Outro aspecto que chama a ateno que,
nos termos do artigo 89 sub oculi, so
requisitos para a concesso da suspenso do
processo, alm do fato de que o acusado no
esteja sendo processado ou tenha sido
condenado por outro crime, aqueles outros
que autorizam a concesso da suspenso
condicional da pena, elencados no artigo 77
do Cdigo Penal.
O primeiro requisito ali contido de aferio
objetiva: diz respeito no reincidncia em
crime doloso. Porm, as condies previstas
no inciso II, do referido artigo 77, so de
ndole exclusivamente subjetiva:
culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos e
circunstncias,
Fica difcil conceber a idia da suspenso da
pena como direito subjetivo do acusado,
tendo em vista a existncia de requisitos cuja
satisfao somente poder ser definida a
partir da anlise de ordem subjetiva. Como
poderia o acusado afirmar-se detentor de
todos os requisitos legais exigidos para a
obteno da suspenso, se no lhe compete
formular juzo acerca dos itens arrolados no
inciso II, do artigo 77, do Cdigo Penal?
Antes da aferio oficial da satisfao de tais
requisitos, no se pode afirmar que tenha o
acusado qualquer direito suspenso
preconizada no artigo 89 da Lei dos J uizados
Especiais."
Cumpre destacarmos o que disseram, sobre
o tema em exame, os membros que elaboraram o
Anteprojeto de Lei, do qual resultou a Lei n 9.099/95, os
ilustres professores ANTNIO MAGALHES GOMES FILHO,
ANTNIO SCARANCE FERNANDES e ADA PELLEGRINI
GRINOVER, verbis:
"Mesmo para a transao posterior ao
oferecimento da denncia, permitir que o juiz
homologue uma transao que elimina ou
suspende o processo, contra a vontade do
Ministrio Pblico, significa retirar deste o
exerccio do direito de ao, de que titular
exclusivo, em termos constitucionais."
Ensinaram, ainda, os doutrinadores, verbis:
"Mesmo porque o direito de ao no se
esgota no impulso inicial, mas compreende o
exerccio de todos os direitos, poderes,
faculdades e nus asseguradas s partes ao
longo de todo o processo."
Mais adiante, repisaram o entendimento,
verbis:
"Em suma, presentes todos os requisitos
legais da suspenso condicional do processo,
deve o Ministrio Pblico formular a proposta
respectiva. E se, mesmo assim, no o fizer?
Cremos que agir de oficio o juiz no pode (h
quem pense de modo contrrio: Damsio E.
de J esus, por exemplo)."
Das lies supracitadas, percebe-se, sem
sombra de dvida, que o J udicirio no pode sobrepor-se ao
Ministrio Pblico, porquanto a segunda instituio detm,
com exclusividade, como parte acusatria, a titularidade da
ao penal.
A competente ADA PELLEGRINI
GRINOVER, procurando solucionar a questo controvertida
em exame, de forma magistral, asseverou o seguinte, verbis.
"So essas as razes pelas quais nos
animamos a oferecer outra sugesto, menos
simples - verdade - mas consentnea com
os princpios constitucionais do processo e
com a preservao da autonomia da
vontade: consiste ela na aplicao analgica
do art. 28 do Cdigo de Processo Penal.
Considerando improcedentes as razes
invocadas pelo representante do Parquet
para deixar de propor a transao - e essas
razes devem ser necessariamente
manifestadas, em respeito ao princpio
constitucional da motivao do ato
administrativo, implcito no art. 37, CF e
expresso no art. 11 da Constituio do
Estado de So Paulo, aplicando-se, ainda,
ao Ministrio Pblico o art. 129, VIII, CF e o
art, 43, III, de sua lei Orgnica Nacional (Lei
n 8.625, de 12 de fevereiro de 1993) - o juiz
far a remessa das peas de informao ao
Procurador-Geral e este poder oferecer a
proposta, designar outro rgo do Ministrio
Pblico para oferec-la, ou insistir em no
formul-la. Neste ltimo caso, nada mais
resta a fazer do que designar a audincia
prevista na lei para o rito sumarssimo (art.
77 ss.), o que tambm ocorrer se se tratar
de queixa-crime e no quiser o querelante
oferecer proposta de acordo penal."
A soluo apontada pela ilustre professora
tem o condo de coibir equvocos ou mesmo abusos
porventura praticados pelos rgos de execuo do
Ministrio Pblico, alm de preservar o sistema acusatrio
adotado pelo nosso Cdigo de Processo Penal e, finalmente,
de melhor se adequar ao esprito da nova lei, que conferiu ao
Parquet, unicamente, a possibilidade de oferecimento da
transao penal em estudo.
De outro lado, em sentido contrrio ao at
aqui estudado, argumentam os defensores da corrente
doutrinria do alegado direito pblico subjetivo que tal
instituto se assemelharia ao sursis, que a seu turno, por sua
tica, tambm se trataria de direito subjetivo do condenado.
No entanto, segundo DAMSIO
EVANGELISTA DE J ESUS, in Comentrios ao Cdigo Penal,
Editora Saraiva, p. 720, verbis:
"O instituto, na reforma penal de 1984, no
constitui mais um direito pblico de liberdade
do condenado nem incidente de execuo.
medida penal de natureza restritiva da
liberdade. Trata-se de pena. No um
benefcio."
De igual maneira, MIGUEL REALE J NIOR,
REN ARIEL DOTTI, RICARDO ANTUNES ANDREUCCI e
SRGIO MARCOS DE MORAES PITOMBO (Forense, 1987,
p. 211 - Penas e Medidas de Segurana no Novo Cdigo),
entendem que o sursis encerra uma autntica pena restritiva
de direitos, no se tratando, assim, de mero benefcio ou
mesmo de um direito do ru. Dizem eles que a essncia,
claramente sancionatria, da suspenso condicional, como
manifesta e evidente restrio de direitos, vem indicada pela
Lei de Execuo Penal, que a retirou dos incidentes de
execuo e a incluiu na parte referente execuo das
penas em espcie.
Na mesma esteira, J ASON SOARES DE
ALBERGARIA, in Comentrios Lei de Execuo Penal,
Editora Aid, dispe que a doutrina ainda discordante
quanto natureza jurdica da suspenso condicional. Para
uns pena, para outros, medida de segurana. Ou um misto
de pena e medida de segurana. Sob a perspectiva jurdica,
a suspenso condicional uma pena porque h intromisso
na esfera jurdica do condenado, com a submisso a medidas
de tratamento social e a obrigaes impostas pelo juiz ou por
lei. Sob o enfoque da poltica criminal, o sursis uma
modalidade de tratamento reeducativo em meio livre.
Na realidade, em sntese, o sursis uma
pena cujo fim preventivo especial se confunde com o
tratamento reeducativo em meio livre.
Assim, importando o sursis em verdadeira
restrio de direitos do condenado, bvia a concluso de
que tal instituto jamais poderia ser tido como sendo um
benefcio ou direito do ru.
Deduz-se, portanto, que as premissas do
silogismo ardorosamente advogado por aqueles que
entendem ser a suspenso do processo um direito do
acusado, porque idntico, o falado instituto, ao sursis, se
equivocam inteiramente, porquanto sua argumentao est
centrada em aforismos falsos. O sursis, como se viu, no
um direito subjetivo do condenado. Logo, a suspenso do art.
89 da Lei n 9.099/95, data venia, tambm no pode ser
considerada como um direito do imputado.
A comparao entre os dois institutos, peo
venia mais uma vez, traria como ilao lgica justamente
silogismo antagnico ao defendido por aqueles que pensam
ser a suspenso do art. 89 direito pblico subjetivo do
acusado. Se o sursis e a suspenso antecipada trazem em
seu bojo medidas restritivas de direitos, da decorre que
ambos, por certo, jamais poderiam ser taxados sob a
perspectiva de serem direitos subjetivos dos condenados e
acusados.
Tutela Penal
do Patrimnio Gentico
Fernando A. N. Galvo da Rocha
Promotor de Justia
Marcelo Dias Varella
Acadmico/Estagirio do Ncleo de Estudos
Jurdicos Procurador de Justia Sizenando
Rodrigues de Sarros Filho
l - Introduo
A evoluo da pesquisa cientfica tem
fornecido ao homem uma gama considervel de
conhecimentos novos, capacitando-o a intervir de maneira
eficiente em acontecimentos verificados na natureza.
Paralelamente ao progresso cientfico, a sociedade moderna
vivncia assombroso desenvolvimento tecnolgico que
confere suporte prtico s conquistas cientficas. A qumica, a
fsica, a biologia e, sob uma tica mais recente, a informtica,
a imunologia, a tecnologia aeroespacial, entre outras, so
exemplos de reas que apresentaram significativo
desenvolvimento.
Neste contexto, a biotecnologia constitui tema
de especial interesse. Modernamente, a manipulao de
genes uma realidade. Na agricultura, possvel obter-se
melhoria e variedade de elementos vegetais destinados ao
consumo humano, aumentar-se a produtividade das lavouras,
adaptando os cultivos' aos terrenos antes considerados
improdutivos. No campo da medicina, a biotecnologia induz a
descoberta de novas drogas aptas ao melhor combate das
doenas que assolam a humanidade, ao mesmo tempo em
que possibilita a interferncia no processo de fecundao
dos seres humanos.
Os avanos tecnolgicos fizeram surgir novas
situaes sociais, que exigem a interveno do direito, e as
normas jurdicas devem adequar-se ao progresso cientfico e
enfrentar, at mesmo, as questes ticas que se apresentam
sociedade moderna. Para satisfazer tais pretenses, o
ordenamento jurdico ptrio vem sendo atualizado,
principalmente nos ltimos cinco ou dez anos, com a
incorporao de novas leis, decretos e portarias, visando
regulamentar a matria.
Dentre as questes que demandam
regulamentao, uma das mais importantes a que trata do
tema da biossegurana. A expresso pouco conhecida
entre os profissionais do Direito, mas seu significado se
deduz do prprio nome, pois refere-se necessidade de
segurana quando das pesquisas e manipulao de seres
vivos, entendendo-se como organismos vivos as clulas
humanas, de outros animais ou at mesmo de vegetais. A
manipulao gentica possibilita a criao de novas formas
de vida bem como a alterao do Patrimnio gentico de
espcies vivas. As atividades laboratoriais e a emisso de
organismos geneticamente modificados no meio ambiente
devem ser controladas pela ordem jurdica, de modo a
garantir a vida e a sade do homem, dos animais e vegetais,
bem como o equilbrio do meio ambiente. Os perigos que a
nova realidade proporciona aos interesses sociais devem ser
considerados, de modo que a interveno do Direito possa
fornecer tutela eficaz aos bens jurdicos importantes
comunidade.
Na oportunidade, pretende-se fomentar o
debate sobre a legislao que busca regulamentar o tema da
biossegurana e, especificamente, sobre os tipos penais
previstos na Lei n 8.974/95.
II - Biotecnologia
A biotecnologia, segundo a Associao
Brasileira de Empresas de Biotecnologia (ABRABI), pode ser
definida como qualquer "tecnologia que utiliza seres vivos (ou
suas partes funcionantes) na produo industrial de bens ou
servios"
1
. J a Organization for Economic Cooperation and
Development - OECD
2
define biotecnologia como a
ABRABI. Contribuio para um tratamento da biotecnologia moderna na nova lei de
propriedade industrial. Braslia, 1991, p. 13.
2
A Organizao para a Cooperao e o Desenvolvimento econmico (OECD) uma
organizao inter-governamental, fundada em 1960 e que rene hoje as 25 importantes
economias do planeta.
"aplicao dos princpios cientficos e da engenharia ao
processamento de materiais, atravs de agentes biolgicos,
para prover bens e servios".
3
A biotecnologia utiliza
processos biolgicos na produo industrial, relacionando os
princpios da microbiologia, bioqumica, qumica industrial e a
engenharia de fabricao.
4
A biotecnologia caracteriza-se por
seu aspecto interdisciplinar e visa produzir, artificialmente e
de maneira rpida, o que a natureza pode fazer por meio da
seleo natural, ao longo dos sculos.
Em termos gerais, a biotecnologia trabalha
com duas linhas bsicas de atividade. A primeira delas
consiste nas fermentaes e a outra, na cultura de tecidos e
clulas.
5
O tema da biossegurana envolve o
conhecimento de noes prprias s cincias biolgicas e os
operadores do Direito no podero fugir da anlise
interdisciplinar. Assim, vale observar que o material
fermentado utilizado em biotecnologia advm das fuses
celulares e de DNAs recombinantes.
A fuso celular "consiste na fuso de duas
clulas de forma a transmitir os seus cdigos genticos a um
3
PATRCIO, Ins Emlia de Moraes Sarmento. Biotecnologia e agricultura - Perspectivas
para o caso brasileiro. Petrpolis: Vozes/Biomatrix Empr. Biotecnologia Ltda. 1984, p.54.
4
ANCIES, Wanderley e CASSIOLATO, J os Eduardo, Biotecnologia: seus impactos no
setor industrial. Braslia: CNPq, 1985, p.155.
5
FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Direito ambiental e
Patrimnio gentico. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 147.
s hbrido"
6
. A fuso celular importa na criao de novas
formas de vida, com inovao de Patrimnio gentico.
A Lei n 8.974/95, em seu artigo 3, define o
cido desoxirribonuclico como material gentico que contm
informaes determinantes dos caracteres hereditrios
transmissveis descendncia, e molculas de DNA (ADN-
deoxyribonucleic acid) recombinantes aquelas manipuladas
fora das clulas vivas, mediante a modificao de seus
segmentos naturais ou sintticos que possam multiplicar-se
em uma clula viva, ou ainda as clulas resultantes dessa
multiplicao. O dispositivo legal dispe que devam ser
considerados segmentos sintticos de DNA os equivalentes
aos naturais. A previso legal colheu auxlio na literatura
cientfica, que define o cido desoxirribonuclico - DNA
recombinante como sendo a "modificao do Patrimnio
hereditrio de um organismo pela introduo de uma nova
mensagem gentica pertencente a um organismo de espcie
diferente"
7
.
O material da cultura de tecidos e clulas
advm das tcnicas de manipulao desenvolvidas pela
biotecnologia, como as do DNA recombinante e da fuso de
clulas.
A biotecnologia capaz de produzir materiais
biolgicos antes inexistentes e tal fato adquire significativa
repercusso social. Na agricultura, por exemplo, a
biotecnologia provocou mudana nos paradigmas
6
PATRCIO, Ins Emlia de Moraes Sarmento. Ob. Cit. p. 53.
7
PATRCIO, Ins Emlia de Moraes Sarmento. Ob. Cit. p.56.
tradicionais, de modo que hoje, ao contrrio do que vinha
ocorrendo at ento, promove-se a adaptao da planta ao
meio ambiente, o que pode tornar 30% dos solos do planeta
considerados imprprios, cultivveis.
8
Pode-se verificar a existncia de quatro tipos
bsicos de invenes biotecnolgicas, que se relacionam a
produtos, s composies, aos processos e aos mtodos de
utilizao de tcnicas de biotecnologia.
9
Os produtos biotecnolgicos consistem em
materiais ou organismos novos, como tais podendo-se
considerar os microorganismos (como bactrias, fungos),
partes de organismos (como linhagens celulares),
substncias produzidas por qualquer um desses (como
enzimas, antibiticos) e substncias obtidas por ou
utilizadas em tcnicas de DNA recombinante (como
plasmdios, molculas de DNA). Conforme a Lei n 8.974/95,
em seu art. 3, inciso l, para fins de biossegurana,
considera-se organismo toda entidade biolgica capaz de
reproduzir e/ou transferir material gentico, incluindo vrus,
prions e outras classes que venham a ser conhecidas.
As composies so invenes
biotecnolgicas que advm da mistura de substncias ou
organismos que, individualmente, podem ser conhecidos,
mas combinados possuem novas propriedades ou produzem
novos efeitos.
8
PATRCIO, Ins Emlia de Moraes Sarmento. Ob. Cit. p.83.
9
GANHOS, Dora Ann Lange. Patentes em biotecnologia. Campinas: FTPT Andr Tosello,
1991, p.6. No mesmo sentido: FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo
Abelha. Ob. cit. p. 164.
Os processos biotecnolgicos so mtodos
utilizados para a manufatura de produtos e incluem
bioconverses, fermentaes e mtodos de isolamento,
purificao ou cultivo. Para caracterizar uma inveno, os
mtodos podem ser originais, quando nunca utilizados para a
produo de substncias j conhecidas ou novas, como
tambm mtodos conhecidos, quando utilizados em novas
situaes ou na produo de novas substncias.
As invenes biotecnolgicas relacionadas
aos mtodos de utilizao dizem respeito ao processamento
ou tratamento de materiais (matria prima industrial ou
produtos agrcolas), tratamentos no-mdicos de soros
humanos e animais, mtodos mdicos fora-do-corpo
(mtodos de diagnsticos), mtodos de testes (como
controle de qualidade) e, ainda, tratamento mdico em seres
humanos e animais.
A biotecnologia subdivide-se em vrios ramos
de atividades especficas, que podem ser identificados pela
microbiologia, a engenharia gentica, a biologia molecular, a
bioqumica e a engenharia bioqumica, entre outras.
10
Desta
forma, a biotecnologia se apresenta importante para dezenas
de setores da economia.
11
Com o crescimento da indstria internacional
e consequente avano tecnolgico, o interesse pela melhoria
das caractersticas genticas cresceu de maneira
extraordinria. Em pouco tempo, tornou-se uma das mais
10
PATRCIO, Ins Emlia de Moraes Sarmento. Ob. Cit. p. 37.
11
MOREIRA FILHO, Carlos Alberto. Investimento e inovao em setores usurios de
biotecnologias no Brasil. 1995, p.29.
importantes reas do conhecimento. Transformou-se numa
fonte de esperana para a populao mundial, uma vez que
descobriu novos mtodos para o combate de doenas, novas
tcnicas para a destruio de pragas e novas variedades de
plantas, estas mais produtivas, mais resistentes, mais
proteicas. Acredita-se que a biotecnologia representar a
melhor arma contra a fome que assola diversas regies do
planeta.
No Brasil, a biotecnologia clssica possui um
mercado de US$ 16 bilhes anuais, maior que o mercado da
qumica fina e o da informtica. Embora a biotecnologia
moderna ainda tenha participao pequena, estando hoje em
torno de US$ 600 milhes, projeta para o ano 2000
movimentar cerca de US$ 2 bilhes
12
. As atividades de
biotecnologia envolvem cerca de 15 mil pesquisadores em
todo o pas, sendo que 4 mil so cientistas que atuam em
biotecnologias modernas e intermedirias
13
. O direito no
poderia ficar alheio a um setor cientfico com tamanho
alcance social.
A manipulao gentica em animais mostrou-
se capaz de criar diversos novos seres. Entre os exemplos
mais famosos, o rato de Harvard ficou mundialmente
conhecido por possuir capacidade de desenvolver o cncer
de mama e, assim, ser objeto de estudos cientficos que
12
ABRABI. Contribuio para um tratamento da biotecnologia moderna na nova lei de
propriedade industrial. Braslia, 1991., p.38.
13
ABRABI apud BEZERRA, Fernando. Voto do Senador Fernando Bezerra, relator do
Projeto de Propriedade Industrial, na Comisso de Assuntos econmicos do Senado
Federal. Braslia, 1995, p. 6.
visem alcanar a cura para a doena.
14
Mas outras
aplicaes j chegaram ao conhecimento pblico, como os
sunos com baixa percentagem de gordura; os bovinos
resistentes aos climas do Centro-Oeste brasileiro,
provenientes da raa zebu; peixes hbridos, como o tambacu,
que resulta do cruzamento laboratorial do tambaqui com o
pacu, e que tem como vantagem possuir as caractersticas
boas de ambas as raas, alm de muitas outras.
No que diz respeito aos medicamentos,
estima-se hoje que 30% dos produtos farmacuticos advm
dos avanos biotecnolgicos.
15
As pesquisas mais avanadas
buscam a preveno de doenas por meio da anlise das
sequncias genticas do feto. Nesse sentido, vale ressaltar o
trabalho desenvolvido no projeto Genoma Humano, que visa
decifrar todas as caractersticas da mensagem hereditria
humana presente no DNA at 2005.
16
O trabalho envolve o
mapeamento dos quase 100 mil genes, distribudos pelos 23
pares de cromossomos humanos. Caso se obtenha xito,
ser possvel determinar, com preciso, as caractersticas de
determinado indivduo, como a cor dos olhos, cabelos, ou tez,
antes mesmo de sua fecundao.
Neste ponto especfico, diversas questes
ticas se apresentam e merecem a ateno do Direito. No
se pode olvidar que na segunda metade da dcada de trinta
e incio dos anos quarenta, Adolf Hitier conseguiu convencer
14
FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ou. Cit. p. 156. O rato de
Harvard ficou conhecido por ser o primeiro ser vivo a ser patenteado.
15
CORRA, Carlos M. Indstria farmacutica y biotecnologia. Oportunidades y desafios
para los pases en desarollo. Mxico: Comrcio Exterior. V. 4. n. 11., 1992, p.1009.
16
FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ob. cit. p.141.
milhes de pessoas da superioridade da raa ariana que,
mais evoluda que as demais, deveria ser a etnia dominante
em todo o mundo. A segunda grande guerra foi o instrumento
de realizao de seu sonho e a experincia custou a vida de
cerca de 30 milhes de vidas humanas.
Como se sabe, durante a segunda guerra
mundial muitas experincias foram realizadas com seres
humanos visando ao aperfeioamento das raas. No
desenvolvimento de tais experincias, praticaram-se
violncias contra a pessoa humana nunca antes imaginadas.
Caso Hitler conhecesse a engenharia gentica com a
evoluo que se apresenta nos dias de hoje, talvez seu
sonho no fosse to difcil de alcanar, mas seria igualmente
nocivo moral e tica.
Atualmente, os estudos da engenharia
gentica e molecular no campo humano atingiram nveis de
desenvolvimento espantosos. Em 24 de outubro de 1992, um
jornal relatava que um pesquisador conseguira a clonagem
de embries humanos com sucesso.
17
Isto significa que seria
possvel a criao de dezenas de seres humanos com
determinadas caractersticas idnticas, em laboratrio.
Outro aspecto que merece a ateno do
Direito, relaciona-se com a emisso de organismos
geneticamente modificados no meio ambiente. Estes
organismos podem ser encontrados na natureza e isolados
por processos laboratoriais, ou ainda criados em laboratrio,
a partir da alterao em seu cdigo gentico.
17
BEREANO, Philip. L.. Patent nonsense. Seatie: Seatie Times Op. 21/08/95,
A grande questo em torno dos organismos
lanados no meio ambiente, alterados geneticamente ou no,
o fato de estes no estarem l antes disto e, portanto, sem
um estudo prvio, no possvel saber quais sero as
conseqncias desta insero de novos seres em ambientes
estveis. Com a insero de um elemento vivo novo em um
ecossistema equilibrado, teremos a alterao do equilbrio
vigente e a provvel alterao das condies de vida dos
demais componentes daquele meio. Por consequncia,
poderemos observar a extino das espcies que no se
acostumarem com a nova situao e a perda da
biodiversidade, o que violenta o meio ambiente.
A manipulao de organismos vivos uma
atividade que envolve srios riscos. No Brasil, vrios
exemplos indicam que a introduo de organismos
estrangeiros no territrio nacional causou significativos
prejuzos agricultura e pecuria nacionais. ELIANA
FONTES bem demonstra a situao:
"O cancro ctrico, causado pela bactria
Xanthomonas campestris pv. citri foi
introduzido e foram gastos mais de cinco
milhes de dlares na tentativa de
erradicao da doena, a qual continua
presente em So Paulo e em outras partes do
pas... O mldio do sorgo (Peronosclerospora
sorgh), o moko da bananeira (Pseudomonas
solanacearum raa 2), a ferrugem do caf
(Hemileia vastatrix) e mais recentemente o
bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis) e
o nematide de cisto da soja (Heterodera
glycines) so alguns dos exemplos de
doenas e pragas exticas introduzidas no
pas... Estima-se que desde o aparecimento
do nematide do cisto da soja na safra de
91/92, as perdas na produo acumulam
360.000 toneladas, o equivalente a US$
54.000.000... Em meados dos anos 20, a
introduo de gado da Blgica provocou um
surto de peste bovina no Estado de So
Paulo dizimando a maior parte dos rebanhos
e causando um prejuzo de centenas de
milhares de dlares. Em 1978, restos de
alimentos trazidos em aeronave introduziram
a peste suna em Paracambi-RJ que dizimou
criaes de sunos no Brasil inteiro. Em 1980,
ovinos introduzidos dos EUA trouxeram a
doena Scrapie causando a morte de um
grande nmero de animais e muito prejuzo
ao pas."
18
Em outros casos, o contato entre
microorganismos isolados na natureza com animais ou at
mesmo com o homem pode disseminar doenas at ento
desconhecidas. Entre os exemplos mais preocupantes,
podemos citar a Aids e o bola, que marcaram os ltimos
vinte ou trinta anos com males terrveis que vm assolando a
humanidade.
Os avanos cientficos e tecnolgicos devem
ser direcionados a produzir melhor qualidade de vida das
pessoas, preservando-se, para tanto, o meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Cabe ordem jurdica fornecer
18
FONTES, Eliana. Biossegurana. Braslia: Cenargem, 1996, pp. 7 e 12.
mecanismos eficazes proteo dos bens jurdicos face aos
riscos advindos do emprego das novas tcnicas. A cincia
que estuda tais mecanismos de proteo conhecida como
biossegurana, que advm do ingls biosafety. Nesse
sentido, no se compreende o tema denominado por
expresso semelhante, biosecurity, que implica no exame do
controle ao acesso biodiversidade da nao, que constitui
outra questo importante, mas que no o objeto deste
estudo
19
.
A biossegurana envolve diversos bens
jurdicos j tutelados pela legislao nacional, tais como o
meio ambiente, a sade pblica, a vida e integridade fsica
das pessoas. Dessa forma, relaciona-se com o direito
constitucional, civil, penal, agrrio e econmico.
Ill - Legislao Nacional sobre Biodiversidade
No ordenamento jurdico brasileiro, podemos
observar diversos dispositivos aplicveis ao setor da
biotecnologia. O quadro abaixo pretende sistematizar a
legislao em vigor sobre o tema.
19
Para saber mais sobre biossegurana, neste sentido, consulte "VARELLA, Marcelo Dias.
Propriedade intelectual de setores emergentes. So Paulo: Atlas, 1996".
Compo-
nentes da
Regula-
mentao
reas Objeto da Regulamentao
Humana
Animal
Vegetal
Regulamen-
tao do
Meio
Ambiente
Produo
e Uso
Lei n 8.974/95
Lei n 8.078/90
Lei n 8.080/90
Lei n 6.360/76
Decreto n
Lei n" 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Lei n 9.279/96
Lei n 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Lei n 9.279/96
Lei n 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Biossegu-
rana
Lei n 8.974/95
Lei n 8.080/90
Lei n 6.360/76
Decreto n
Lei n 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Lei n 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Lei n 8.974/95
Decreto n"
1.520/95
Pesquisa
e
Desenvol-
vimento
(P&D)
Lei n 8.974/95
Lei n 8.080/90
Resoluo CNS
n 01/88
Lei n 8.974/95
Decreto n
1520/95
Lei n 9.279/96
Lei n 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Lei n 9.279/96
Lei n 8.974/95
Decreto n
1.520/95
Observao: no inclui dispositivos da Constituio Federal de 1988
20
.
Com relao biossegurana, a legislao se
concentra principalmente em torno da Lei n 8.974/95, que
regula a manipulao gentica, a emisso de novos
organismos no meio ambiente, o desenvolvimento de
pesquisas laboratoriais com organismos geneticamente
modificados (OGMs). A Lei n 8.974, de 05 de janeiro de
1995, primeira lei assinada pelo Presidente Fernando
20 OLIVEIRA, Cezar Luciano C. Regulamentao da biotecnologia: rea da sade humana.
Rio de J aneiro: Seminrio Biotecnologia: Proteo e Regulamentao, 1995, p.31.
Henrique Cardoso, logo no quinto dia de mandato, foi objeto
de muitas crticas, devido s inmeras dificuldades que
apresenta para sua aplicao.
Com a Lei n 8.974/95, criou-se a Comisso
Tcnica Nacional de Biossegurana - CTNBio. Esta
Comisso composta por pesquisadores provenientes do
setor pblico e privado, de empresas nacionais e
multinacionais atuantes no cenrio brasileiro, bem como de
representantes da sociedade. Sua tarefa avaliar o
desenvolvimento das pesquisas e a emisso de organismos
geneticamente modificados no meio ambiente.
Lamentavelmente, a CTNBio no recebeu atribuies para
controlar a emisso de organismos no geneticamente
modificados no meio ambiente. Tal limitao adquire
relevncia, j que, nos exemplos citados por ELIANA
FONTES, os danos ao meio ambiente foram causados por
organismos preexistentes, que foram apenas retirados de
seus ecossistemas naturais e lanados em outros meios.
IV - Tutela Penal do Patrimnio Gentico
A Constituio Federal, nos incisos II e V do
1 de seu art. 225, dispe que todos tm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial sadia qualidade de vida, e, para assegurar
a efetividade desse direito, determina que ao poder pblico
incumbe preservar a diversidade e a integridade do
Patrimnio gentico do pas, fiscalizar as entidades dedicadas
pesquisa e manipulao de material gentico, bem como
controlar a produo, comercializao e o emprego de
tcnicas, mtodos e substncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
Ao impor a preservao da diversidade e da
integridade do Patrimnio gentico do pas, a Constituio da
Repblica admitiu o uso de tcnicas de engenharia gentica
sempre que a manipulao de genes visar melhoria da
qualidade de vida das pessoas e preservao do meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Regulamentando os referidos dispositivos
constitucionais, a Lei n 8.974, de 05 de janeiro de 1995,
estabeleceu normas de segurana e mecanismos de
fiscalizao no uso de tcnicas de engenharia gentica na
construo, cultivo, manipulao, transporte,
comercializao, consumo, liberao e descarte de
organismos geneticamente modificados. Assim, a
biotecnologia constitui tema muito mais amplo do que o
alcance da Lei n 8.974/95, que somente se refere s
tcnicas de engenharia gentica.
A manipulao gentica, em seu sentido mais
amplo, denominada de engenharia gentica e, em sentido
mais especfico, identifica-se com a tcnica do DNA
recombinante.
21
Em seu 13 artigo, a Lei n 8.974/95 definiu
hipteses de incriminao ligadas ao tema da biossegurana
em sede de engenharia gentica, visando proteger a vida e a
sade do homem, dos animais e das plantas, bem como o
meio ambiente. Para o alcance de tal objetivo, em
21
FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ou. Cit. p.163.
conformidade com a Constituio Federal, a Lei n 8.974/95
tratou o Patrimnio gentico como um bem juridicamente
protegido.
O interesse na preservao do Patrimnio
gentico reside no fato de que hoje possvel, por meio da
manipulao gentica, construir um ser vivo. J na dcada de
70, os estudos cientficos sobre a fertilizao in vitro com
vulos humanos, a formao de embries com transferncia
para o tero revelaram ao mundo que o sonho de Aldous
Huxiey tornara-se realidade: nasce o primeiro beb de
proveta. Sem dvidas, a utilizao irresponsvel desse
conhecimento pode colocar em risco a vida e sade das
pessoas, bem como o equilbrio do meio ambiente natural. A
introduo de molculas geneticamente modificadas em uma
bactria, como a Escherichia Coli, que um habitante normal
do intestino humano e pode trocar informaes genticas
com outros microorganismos, capaz de fazer disseminar a
alterao gentica nas populaes humanas, vegetais ou
animais, com resultados imprevisveis.
22
1 - Descrio Tpica da Atividade Proibida
A tutela jurdico-penal estabelecida pelo
legislador nacional para o Patrimnio gentico enseja uma
srie de dificuldades para sua aplicao prtica. De incio,
percebe-se que, em todas as hipteses de incriminao da
Lei n 8.974/95, o legislador abandonou a tcnica tradicional
22
PELCZAR, Michel J oseph e outros. Microbiologia. So Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
1981, p.265.
para a construo de figuras tpicas, deixando de descrever,
com a devida preciso, a conduta humana proibida.
Utilizando nova tcnica, o legislador define como criminosa a
atividade que pretendeu evitar, e no a conduta humana que
a realiza. Tal mudana de paradigma recebeu crticas ferozes
de autores do porte de ALBERTO SILVA FRANCO, que
chegou a qualificar a lei de "verdadeiro besteiro! jurdico".
23
Mas ser que a maneira diferente de definir crimes
representa verdadeiro retrocesso, com violao s garantias
fundamentais do indivduo?
Como se sabe, o tipo penal tradicionalmente
entendido como uma figura conceitual que descreve formas
possveis de conduta humana e define a matria de
proibio.
24
Com base na teoria de Welzel, concluiu-se que a
observncia do princpio constitucional do nulla poena, nulium
crimen sine praevia lege exige que o tipo penal descreva
exaustivamente a conduta que constitui matria de proibio,
de modo a possibilitar ao cidado identificar o que
socialmente proibido. Nesse sentido, o tipo penal possui
especial funo de garantia ao indivduo, que somente
poder ser punido por praticar conduta previamente
identificada como proibida.
25
23
FRANCO. Alberto Silva. A Criminalizao das tcnicas de engenharia gentica. In Boletim
do Instituto Brasileiro de Cincias Criminais, So Paulo, 1996, n 26, p. 01 e 02.
24
WELZEL, Hans. Derecho penal aleman. Chile: ed. jurdica de Chile, 1987, p. 76. No
mesmo sentido: ZAFFARONI, Eugnio Raul. Tratado de derecho penal - parte general.
Buenos Aires: Ediar, 1981, vol.Ill, p. 83.
25
ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Buenos Aires: Depalma, 1979, p. 170.
A noo de tipo, introduzida por BELING
26
,
deu o impulso inicial para a formulao dos conceitos
analticos do delito, sendo que todas as elaboraes
posteriores ao sistema causal-naturalista tomaram como
ponto de partida a considerao de que o delito deve ser
analisado sob o enfoque da ao humana. O tipo, como
ponto de referncia para os juzos de ilicitude e culpabilidade,
na realidade, representa importante suporte para a funo
de garantia da lei penal, na medida em que define com
clareza o comportamento juridicamente proibido.
27
Mas a teoria do tipo penal, como proposta por
Welzel, no se mostra plenamente adequada realizao da
garantia individual almejada, posto que nos delitos culposos e
nos omissivos imprprios o legislador descreve apenas parte
do modelo de comportamento proibido, delegando ao juiz a
tarefa de complet-lo. Os tipos que necessitam deste
complemento so denominados de tipos abertos
20
Nos
delitos culposos, os tipos abertos identificam apenas o
resultado naturalstico indesejado (leso ou perigo de leso
ao bem jurdico), cabendo ao julgador materializar a vontade
26
BELING, Ernest Von. La doctrina del delito-tipo. Buenos Aires: Depalma, 1944, p.11. O
festejado professor da Universidade de Munich, em 1906, apresentou pela primeira vez a
sua teoria do "delito-tipo", ou gesetziiche tatbestand, em que pretendeu estabelecer um
conceito funcional, um "esquema retor", para a identificao do delito. O delito-tipo de
Beling, no entanto, no se identifica com a figura delitiva correspondente. Defendeu Beling
que o delito-tipo representaria apenas uma "estampa jurdico-penal", uma cpia do fato
externo, sem qualquer referncia ao aspecto interno de seu autor. Assim, o delito-tipo
"matar um homem" serviria tanto para a figura delitiva do homicdio doloso como do
homicdio culposo.
27
TAVARES, J uarez. Teorias do delito. So Paulo: Rev. Tribunais, 1980, p. 20-21. No
mesmo sentido: WELZEL, Hans. Ob. Cit. p. 74 e 79-83.
28
ZAFFARONI, Eugnio Raul. Ob. Cit. p. 388; TOLEDO, Francisco de Assis. Princpios
bsicos de direito penal. So Paulo: Saraiva,1991, p. 136; e FRAGOSO, Heleno Cludio.
Lies de direito penal. Rio de J aneiro: Forense, 1993, p.157.
da norma proibitiva com a identificao da conduta que,
concretamente, viola o cuidado objetivo exigvel no mbito
das relaes sociais. Nos delitos imprprios de omisso, da
mesma forma, o legislador pretende que o julgador complete
a descrio do comportamento tpico, com a utilizao do
critrio da posio de garantidor da no-produo do
resultado, para relacionar uma inatividade descrio legal
de uma atividade e determinar a autoria.
29
CLAUS ROXIN sustenta que a superao
destas dificuldades exige a utilizao da noo de tipo total.
30
O tipo total conceito que pretende estabelecer ntima
relao entre descrio do comportamento proibido e a
valorao jurdica sobre a adequao da conduta, de modo
que as circunstncias excludentes da ilicitude passam a
integrar o juzo de tipicidade. Este modo de conceber o tipo
fundamenta-se na teoria dos elementos negativos do tipo e
faz com que a presena ftica de qualquer das causas de
justificao descaracterize o tipo de injusto. Para ROXIN, a
noo de tipo total essencialmente correia, pois a descrio
do comportamento adequado contribui para a caracterizao
do injusto, j que limita uma descrio demasiadamente
ampla do fato-crime, circunscrevendo-o de maneira mais
clara.
No entanto, a idia do tipo total no foi aceita
pelos penalistas nacionais, que consideram desnecessrio e
29
WELZEL, Hans. Ob. Cit. p. 75. O prprio Welzel, que sustentou um juzo de tipicidade
avalorativo para distingui-lo do juzo de ilicitude, reconhece a insuficincia da teoria do tipo
para oferecer as devidas garantias individuais nas hipteses de delitos culposos e omissivos
imprprios.
30
ROXIN, Claus. Ob. Cit. p. 294.
desaconselhvel confundir os juzos de tipicidade e ilicitude.
Conforme ressaltou J OS CIRILO DE VARGAS, a legislao
brasileira, ao definir expressamente os tipos permissivos no
artigo 23 do Cdigo Penal, rejeitou a noo de tipo total,
estabelecendo que os mesmos so excludentes da ilicitude.
31
Em verdade, a noo do tipo total no
capaz de superar as limitaes descritivas verificadas nos
tipos abertos. foroso reconhecer que, ao menos na
hiptese dos tipos abertos, a teoria da tipicidade no oferece
a almejada garantia individual.
32
Mas, o fato que a Lei n 8.974/95 no
estabeleceu modelos de comportamento proibido, mas
atividades proibidas, o que possibilitou o questionamento
sobre a violao ao princpio da reserva legal. Na verdade,
os dispositivos incriminadores da lei sobre engenharia
gentica no definem expressamente as condutas capazes
de desenvolver as atividades tidas como proibidas e, assim,
constituem modalidade de tipos abertos, nos quais a
atividade integradora do julgador assume particular
importncia. A indefinio desses tipos abertos no
amenizada pela expressa referncia a hipteses justificantes,
como acontece nos inciso II e IV do art. 13, pois o tipo
permissivo tambm apresenta elementos de amplitude
imprecisa, como se discutir mais adiante.
31
VARGAS, J os Cirilo de. Introduo ao estudo dos crimes em espcie. Belo Horizonte:
Del Rey, 1993, p.66-67. No mesmo sentido: TOLEDO, Francisco de Assis. Ob. Cit. p.136; e
FRAGOSO, Heleno Cludio. Ob. Cit. p. 156-157.
32
TAVARES, J uarez. Direito penal da negligncia. So Paulo: Rev. Dos Tribunais, 1985, p.
133. Mesmo no concordando com a teoria dos tipos abertos, o autor reconhece que os
delitos negligentes possuem uma tipificao deficiente, cuja impreciso afeta o princpio da
legalidade.
Poder-se-ia imaginar que a nova tcnica
inviabilizaria a aplicao das normas incriminadoras. No
entanto, aps a obra clssica de BINDING sobre a teoria das
normas, foi possvel perceber que a norma, como
proposio jurdica, que expressa um valor sobre a conduta
humana. O preceito incriminador apenas descreve a conduta
proibida, mas a norma, ainda que no formulada
expressamente em lei, que determina a contrariedade do fato
com a ordem jurdica. No exemplo do homicdio, o preceito
descreve a conduta proibida de matar algum e a norma
jurdico-penal impe a todos os indivduos o dever de no
matar algum. a violao da norma, por meio da realizao
da conduta descrita no preceito, que autoriza a realizao do
jus puniendi.
O objeto do juzo de valor, a partir do qual se
constri a norma jurdico-penal, sempre a conduta humana,
que representa o exerccio de uma atividade finalstica.
33
A
conduta pressuposto indispensvel a todos os elementos
constitutivos da noo jurdica de crime e, como observa
EDUARDO CORREIA, sua considerao deve ocorrer antes
da doutrina da tipicidade e mesmo fora dela, embora j na
construo conceituai do crime.
34
A Lei n 8.974/95 estabeleceu preceitos
incriminadores relacionados s atividades indesejadas, mas a
mudana de paradigma, por si s, no impede a punio do
autor da violao ao bem jurdico, caso seja possvel a este
33
KAUFMANN, Armin. Teoria de Ias normas. Buenos Aires: Depalma, 1977, p. 135.
34
CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, 1971, v. l, p. 232-233.
conhecer e entender a norma jurdica que lhe impe
comportamento diverso.
Vale observar que as normas mais
importantes para a construo da noo de delito no se
encontram inseridas de maneira expressa no direito escrito.
35
J OO MESTIERE, nesse sentido, j alertou que
"ao exame de um tipo penal devemos
identificar a norma de agir, de natureza
cultural, ordenando conduta determinada,
consentnea com a finalidade perseguida
pelo sistema jurdico ao criar a figura
delituosa".
36
Assim, se o preceito descritivo da lei
possibilitar a compreenso da norma jurdico-penal que lhe
subjacente, bem como da finalidade protetiva do bem jurdico,
ser possvel aplicar o dispositivo incriminador ao indivduo
violador dessa norma. Afinal,
"visando aplicao prtica do Direito, a
interpretao jurdica de natureza
essencialmente teleolgica. O intrprete (isto
, o juiz) h de ter sempre em vista a
finalidade da lei, o resultado que se quer
alcanar na sua atuao prtica".
37
35
KAUFMANN, Armin. Ob. Cit. p. 04.
36
MESTIERE, J oo. Teoria Elementar do Direito Criminal. Rio de J aneiro: ed. Do Autor,
1990, p.28.
37
VARGAS, J os Cirilo de. Ob. Cit. p. 97.
A tcnica de incriminar atividades
indesejadas, na verdade, no pode ser considerada absurda,
pois o pargrafo 3 do art. 225 da Constituio Federal
dispe que
"as condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitaro os
infratores, pessoas fsicas ou jurdicas, a
sanes penais e administrativas,
independentemente da obrigao de reparar
os danos causados".
Este dispositivo constitucional, de maneira
clara, possibilita o estabelecimento da responsabilidade penal
da pessoa jurdica, tendo como base a' realizao da
atividade considerada socialmente inadequada.
A responsabilidade penal da pessoa jurdica
constitui tema cujo debate bastante atual e de soluo no
uniforme no direito comparado.
38
Porm, para materializar a
vontade do legislador constituinte em sancionar a pessoa
jurdica, quando dela se servir a pessoa natural para a
realizao de atividades proibidas, necessria ampla
reforma do sistema penal brasileiro, com a prescrio de
novas penas, adequadas aplicao aos entes morais, bem
como a definio das hipteses em que o ato culpvel da
pessoa natural autoriza a sano da pessoa jurdica, j que
esta forma de punio no poder vincular-se ao princpio da
38
TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad Penal de Personas Jurdicas y Empresas en
Derecho Comparado. In Revista Brasileira de Cincias Criminais. So Paulo: Rcv. Dos
Tribiin;iis. 1995. vol. II. p. 21-35. c PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurdica: o Modelo Francs. In
Boletin do Instituto Brasileiro de Cincias Criminais,
1996, n 46, p.03.
culpabilidade. Desse modo, como no basta a descrio
das atividades consideradas proibidas, ainda no possvel
reconhecer, no Brasil, a possibilidade da responsabilizao
criminal da pessoa jurdica .
A Lei n 8.974/95, em seu art. 2, 2,
estabelece que as atividades e projetos, inclusive os de
ensino e pesquisa cientfica, desenvolvimento tecnolgico e
de produo industrial que envolvam organismos
geneticamente modificados, no territrio brasileiro, ficaro
restritos a entidades, de direito pblico ou privado, que sero
tidas como responsveis pela obedincia aos preceitos
legais, bem como pelos eventuais efeitos ou consequncias
advindas de seu descumprimento, vedando expressamente a
pessoas fsicas, enquanto agentes autnomos
independentes, o exerccio de tais atividades.
Entretanto, conforme o art. 12 da referida lei,
a responsabilidade da pessoa jurdica ficar restrita ao mbito
administrativo, j que a inobservncia das normas de
biossegurana vigentes possibilita a aplicao, pela
Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana - CTNBio, de
multas, cujo valor mnimo ser equivalente a 16.110,80 Ufir e
guardar proporcionalidade com o dano direto ou indireto
causado.
A referncia que a Lei n 8.974/95 faz s
atividades proibidas, ao menos por enquanto, no poder
atribuir responsabilidade criminal s pessoas jurdicas. No
sistema do Cdigo Penal brasileiro, tem plena vigncia o
39
DOTTI, Ren Ariel. A Incapacidade Criminal da Pessoa Jurdica - Uma perspectiva do
direito brasileiro. In Revista Brasileira de Cincias Criminais. So Paulo: Rev. Dos Tribunais,
1995, v. 11, p. 184-207.
princpio societas delinquere non potest. Caso o sistema do
ordenamento jurdico penal venha a sofrer reforma que
possibilite a identificao de tal responsabilidade, as
hipteses de incriminao relacionadas ao tema da
biossegurana podero responsabilizar tambm as pessoas
jurdicas, pois estas so capazes de desenvolver atividades
mencionadas na Lei n 8.974/95.
No momento, a mudana de paradigma
quando da definio dos crimes ligados ao tema da
biossegurana constitui uma dificuldade inicial ao tema da
tutela jurdico-penal do Patrimnio gentico. A esta
dificuldade se acrescentam outras, especificamente
vinculadas s atividades de manipulao gentica;
interveno em material humano in vivo; produo,
armazenamento ou manipulao de embries humanos;
interveno em material gentico de animais; liberao ou
descarte de organismos geneticamente modificados no meio
ambiente, que devero ser enfrentadas.
2 - Manipulao Gentica em Clulas Germinativas
Humanas
A primeira das hipteses de incriminao est
prevista no inciso l, do art. 13 da Lei n 8.974/95, que dispe
constituir crime "a manipulao gentica de clulas germinais
humanas". A pena cominada de trs meses a um ano de
deteno.
Para viabilizar a aplicao da hiptese
incriminadora, como nova categoria de tipicidade aberta,
necessrio reconhecer que a proposio jurdica implcita
descrio da atividade proibida se apresenta no seguinte
sentido: no manipular geneticamente clulas germinais
humanas. Diante da nova tcnica da lei em estabelecer nova
hiptese de tipicidade aberta, todas as consideraes acerca
da tipicidade devero ser desenvolvidas diretamente sobre
essa proposio jurdica.
A manipulao de molculas ADN/ARN
recombinantes, segundo o inciso V, do art. 13 da Lei n
8.974/95, a atividade caracterstica da engenharia gentica.
As siglas ADN e ARN, mencionadas no texto legal,
correspondem s denominaes, em lngua inglesa, de cido
desoxirribonuclico e cido ribonuclico.
A tecnologia do DNA recombinante consiste
em um conjunto de tcnicas que permite aos cientistas
identificar, isolar e multiplicar genes dos mais diversos
organismos. Estas atividades implicam a modificao do
genoma, que constitui a base hereditria de uma clula viva,
de modo a produzir novos produtos qumicos e at mesmo
novos seres vivos.
40
A expresso recombinante significa que
a manipulao produziu nova combinao de genes. Vale
ressaltar que o material gentico extrado do cromossomo de
um organismo vivo pode ser transplantado para combinao
com o gene de outro organismo vivo, fazendo com que sejam
incorporadas ao segundo organismo as caractersticas
somente encontradas no primeiro. Em animais j realidade
o uso do qualificativo transgnico para designar o resultado
do transplante de genes.
40
FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo Abelha. Ob. Cit. p. 151.
Assim, a manipulao gentica proibida pelo
inciso l, do art. 13 da Lei n 8.974/95 uma atividade que
importa necessariamente em alterao na estrutura gentica
de cromossomos, no havendo crime, portanto, quando
apenas se tem em mos o material gentico (manusear).
Nesse sentido, vale distinguir a descoberta da inveno. A
descoberta de elementos constantes em clulas humanas
no atividade criminosa, mas sim a alterao de seus
componentes genticos.
O dispositivo legal restringe o objeto da
atividade criminosa s clulas humanas germinativas. Clulas
germinativas so aquelas com potencialidade para se
reproduzir ou gerar outro ser. As clulas somticas, por outro
lado, no possuem tal potencialidade.
Desta forma, pode-se concluir que previso
legal proibitiva da atividade de manipulao gentica de
clulas germinais humanas constitui crime material, posto
que a manipulao pressupe a ocorrncia do resultado
naturalistico de alterao da estrutura gentica da clula,
produzindo um organismo geneticamente modificado.
Vale ressaltar que o pargrafo nico do art.
3 da Lei n 8.974/95 dispe no ser considerado organismo
geneticamente modificado aquele resultante de tcnicas que
impliquem a introduo direta, num organismo, de material
hereditrio, desde que no envolvam a utilizao de
molculas de ADN/ARN recombinante ou organismos
geneticamente modificados, tais como: a fecundao in vitro,
conjugao, transduo, transformao, induo poliplide e
qualquer outro processo natural. Note-se que a engenharia
gentica promove a alterao da estrutura gentica dos
cromossomos e, assim, quando no ocorrer tal alterao no
se poder falar em manipulao gentica ou conduta
criminosa.
Como o Patrimnio gentico foi considerado
pela Constituio Federal um bem juridicamente protegido, a
manipulao gentica constitui crime de dano, que exige do
agente o elemento subjetivo direcionado produo da
alterao da estrutura gentica.
Embora a Lei n 8.974/95 no enfrente a
questo, a atividade de manipulao gentica de clulas
germinais humanas no pode ser praticada por qualquer
pessoa, mas, unicamente, por pesquisadores e cientistas
que possuam conhecimentos compatveis com os objetivos
de alterao. A conduta que realiza a atividade proibida
dolosa e o agente deve possuir vontade livre e consciente de
promover a alterao gentica nas clulas objeto de sua
atividade. Embora referindo-se atividade, o legislador
tambm previu a hiptese de atividade proibida realizada por
conduta culposa, no pargrafo 4 do art. 13 da Lei n
8.974/95.
3 - Interveno em Material Gentico Humano in
Vivo
Segundo o inciso II, do art. 13 da Lei n
8.974/95, a interveno em material gentico humano n vivo
atividade criminosa, exceto para o tratamento de defeitos
genticos, respeitando-se princpios ticos tais como o
princpio da autonomia e o princpio de beneficncia, e com a
aprovao prvia da CTNBio. A pena cominada tambm de
trs meses a um ano de deteno.
A hiptese retraa incriminao por tipo
aberto, em que se faz necessria a atividade integradora do
rgo jurisdicional. A aplicao da norma incriminadora
depende do reconhecimento de que a proposio jurdica
implcita descrio da atividade proibida se apresenta no
seguinte sentido: no intervir em material gentico humano in
vivo, salvo para o tratamento de defeitos genticos,
respeitando-se princpios ticos tais como o princpio da
autonomia e o princpio de beneficncia, e com a aprovao
prvia da CTNBio.
Diferente da primeira hiptese de
incriminao, a proposio se apresenta complexa, pois
tambm se refere s circunstncias nas quais a interveno
autorizada. Note-se que o tratamento de defeitos genticos
autorizado pela CTNBio exclui a tipicidade da conduta. Caso
a interveno se apresente necessria para evitar perigo
atual ou iminente e no houver tempo hbil para obter-se
autorizao da CTNBio, a conduta pode ser justificada por
causa excludente de ilicitude, o que impedir a
caracterizao do crime.
A interveno atividade que deve
apresentar alguma distino em relao manipulao, pois
no se pode crer que o legislador fez inserir disposies
inteis na lei. certo que no inciso anterior encontra-se
proibida a atividade que se direciona a alterar clulas
germinativas, mas se a inteno do legislador fosse
estabelecer proibio para alteraes em outros organismos,
bastaria no restringir o objeto da primeira hiptese de
incriminao. Assim, na atividade de interveno reside a
diversidade de hipteses.
Se a manipulao pressupe a alterao da
estrutura gentica da clula, a interveno no
necessariamente produz tal resultado. Embora o objeto da
ao seja o material gentico humano in vivo, a interveno
no deve produzir alterao no cdigo gentico. Intervir
verbo que descreve a conduta do agente que se faz presente
em determinado acontecimento e impe sua vontade sob
determinado aspecto desse acontecimento. Mas ser
possvel intervir sem produzir alteraes no acontecimento?
Certamente, no. Assim, a melhor interpretao para o
dispositivo indica que a alterao produzida pela interveno
no ocorre na estrutura gentica do cromossomo, mas em
processos biolgicos que lhe so inerentes.
A interveno criminosa dever influir de
maneira nociva sade do homem, alterando o curso de
processos biolgicos inerentes ao material gentico, pois a
interveno s autorizada pela lei para o tratamento de
defeitos genticos. A atividade que o legislador quer evitar
a que possui potencialidade lesiva sade, sendo que a
simples interveno considerada pelo legislador como
causadora de dano ao material gentico.
O crime de mera conduta, pois o legislador
no estabeleceu vinculao da atividade a qualquer resultado
lesivo sade individual. A tentativa possvel, pois a
interveno em material gentico, certamente, conduta
plurisubsistente.
Ao referir-se a material gentico humano in
vivo o legislador no pretendeu evitar somente intervenes
realizadas em indivduo vivo, mas no prprio material
gentico. Toda a interveno gentica deve ocorrer em
material vivo, o que significa que a clula deve estar viva. Se
a clula estiver morta, no haver qualquer processo
biolgico e, logo, de nada adiantar a interveno.
A interveno em material gentico humano
no pode ser praticada por qualquer pessoa, mas unicamente
por pesquisadores e cientistas que possuam conhecimentos
e instrumentos compatveis com os objetivos propostos. A
conduta que realiza a atividade proibida dolosa e o agente
deve possuir vontade livre e consciente de promover a
interveno.
A finalidade teraputica, autorizada pela
CTNBio, causa excludente da tipicidade. Caso o agente
no saiba da necessidade da autorizao, mas atue com
finalidade teraputica, ocorrer nova modalidade de erro de
mandamento, que constitui espcie do erro de proibio, pois
o agente desconhece a norma preceptiva que impe o dever
jurdico de obter prvia autorizao para sua atividade.
41
Conforme o pargrafo 1 do inciso II, do
artigo 13 da Lei n 8.974/95, a interveno em material
gentico humano in vivo, como atividade criminosa, poder
ser qualificada, caso ocorra qualquer dos resultados que
menciona. Assim, dispe a lei que, ocorrendo incapacidade
para as ocupaes habituais por mais de trinta dias, perigo
de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou
41
TOLEDO, Francisco de Assis. Ob. Cit. p.270.
funo e acelerao de parto, a pena cominada passa a ser
de um a cinco anos de recluso. Caso ocorra incapacidade
permanente para o trabalho, enfermidade incurvel, perda ou
inutilizao de membro, sentido ou funo, deformidade
permanente ou aborto, a cominao de penas passa a ser de
dois a oito anos de recluso. Se a interveno resultar em
morte, a cominao ser de seis a vinte anos de recluso.
ALBERTO SILVA FRANCO considerou a
articulao legal para o delito qualificado pelo resultado,
ridcula e grotesca, indagando como a interveno em
material gentico humano poderia produzir tais resultados.
42
Na verdade, o legislador aproveitou a articulao elaborada
para as hipteses de leso corporal e as copiou quando da
elaborao da hiptese incriminadora que ora se discute.
Mas as tcnicas de interveno em material gentico
apresentam espantoso desenvolvimento e parece que o
legislador foi precavido ao estabelecer estas hipteses de
incriminao. No realidade distante a interveno em
material gentico existente no prprio indivduo e a
negligncia verificada na realizao dessa atividade poder
produzir os resultados mais graves previstos pela lei.
43
Por outro lado, ALBERTO SILVA FRANCO
tem razo ao criticar a desproporo de penas estabelecida
pela lei. A desproporo de penas realmente manifesta,
pois a interveno com resultado morte somente se
42
FRANCO, Alberto Silva. Ob. Cit. p.02.
43
PELCZAR, Michel J oseph e outros. Ob. Cit. p. 267. Afirmam os autores que alguns
cientistas esto seriamente empenhados em tratar as doenas genticas do homem pela
substituio de genes "errados" por outros normais. Por meio desta tcnica seria possvel
tratar uma ampla variedade de doenas, que poderiam ser diagnosticadas durante a vida ou,
at mesmo, durante a gestao.
caracterizar quando a morte for decorrente de culpa. Se, no
plano delitivo do autor, a interveno em material gentico
humano constituir meio para a produo da morte, estar
caracterizado crime de homicdio. Desta forma, a Lei n
8.974/95 estabelece para interveno com a produo
culposa da morte uma cominao de pena superior ao
concurso material da interveno em sua figura simples e ao
homicdio culposo, tornando-se idntica produo dolosa do
resultado morte.
Convm observar que o dispositivo legal
permite a interveno quando esta possuir fins teraputicos,
mas impe a observncia aos princpios da autonomia e da
beneficncia. Neste particular, a lei apresenta outra
importante dificuldade, consistente na definio de tais
princpios. Qual seria a correia aplicao de um principio de
autonomia? Certamente, este tema proporcionar
interessantes debates.
4 - Interveno em Material Gentico de Animais
O art. 13 da Lei n 8.974/95, em seu inciso IV,
dispe ser criminosa a atividade de interveno in vivo em
material gentico de animais, excetuados os casos em que
tais intervenes se constituam em avanos significativos na
pesquisa cientfica e no desenvolvimento tecnolgico,
respeitando-se princpios ticos, tais como o princpio da
responsabilidade e o principio da prudncia, e com
aprovao prvia da CTNBio. A pena cominada tambm de
trs meses a um ano de deteno e, nesse aspecto, o
legislador considerou de mesmo valor, para fins de tutela
penal, o material gentico humano e o dos demais animais.
No parece que a equiparao foi feliz, pois h que se
distinguir ontologicamente os bens jurdicos.
A hiptese tambm retraa incriminao por
tipo aberto em que se faz necessria a atividade integradora
do julgador. A aplicabilidade da norma incriminadora depende
do reconhecimento de que a proposio jurdica implcita
descrio da atividade proibida se apresenta no seguinte
sentido: no intervir em material gentico de animais in vivo,
excetuados os casos em que tais intervenes constituam
avanos significativos na pesquisa cientfica e no
desenvolvimento tecnolgico, respeitando-se princpios
ticos, tais como o princpio da responsabilidade e o princpio
da prudncia, e com aprovao prvia da CTNBio.
A atividade interventiva se distingue da
anteriormente discutida pelo objeto alvo da interveno e
pelos critrios que se apresentam para a autorizao da
atividade. O material gentico de animais poder sofrer
intervenes por atividades humanas desde que constituam
avano significativo na pesquisa cientfica e no
desenvolvimento tecnolgico. O legislador permite, assim,
que -o Patrimnio gentico de animais seja sacrificado em
benefcio do progresso da cincia e tecnologia, considerados
bens de maior valor. O dispositivo legal impe, entretanto,
que a atividade seja aprovada previamente pela CTNBio e
respeite princpios ticos, tais como o princpio da
responsabilidade e o princpio da prudncia. Certamente, o
delineamento de tais princpios constituir tema para longas
discusses, o que importa em insegurana jurdica.
5 - Produo, Armazenamento ou Manipulao de
Embries Humanos
A produo, armazenamento ou manipulao
de embries humanos destinados a servirem como material
biolgico disponvel tambm foram considerados como
atividades proibidas pela Lei n 8.974/95, conforme seu art.
13, inciso III. A pena cominada para a prtica dessas
atividades delituosas bastante severa: seis a vinte anos de
recluso.
Tratando-se de tipo penal aberto, importa
perceber que o dispositivo contm trs proposies jurdicas
implcitas, que se apresentam no seguinte sentido: 1) no
produzir embries humanos destinados a servirem como
material biolgico disponvel; 2) no armazenar embries
humanos destinados a servirem como material biolgico
disponvel; e 3) no manipular embries humanos
destinados a servirem como material biolgico disponvel.
Vale observar que a Resoluo n 1.358/92,
do Conselho Federal de Medicina, enfrentando o tema da
fecundao assistida, estabeleceu normas ticas a serem
observadas pelos mdicos quando da utilizao de tcnicas
de reproduo assistida. Tal resoluo considerou a
interinidade humana como um problema de sade importante,
com implicaes mdicas e psicolgicas, bem como legtimo
o anseio por super-lo. Reconheceu, ainda, que o avano do
conhecimento cientfico j permite solucionar vrios dos
casos de infertilidade humana e que as tcnicas de
reproduo assistida tm possibilitado a procriao em
diversas circunstncias em que isso no era possvel pelos
procedimentos tradicionais.
No entanto, a mencionada resoluo
considerou possvel a preservao de pr-embries e, neste
particular, dever adequar-se aos dispositivos da Lei n
8.974/95. Ao dispor que o tempo mximo de desenvolvimento
de pr-embries in vitro ser de 14 dias, a resoluo deixa
transparecer o eufemismo da expresso pr-embrio,
revelando que a tcnica se utiliza de organismos vivos,
provenientes de fecundao assistida, e tanto a produo
como o armazenamento de tais embries constitui atividade
proibida, caso destinados a constituir material biolgico
disponvel.
A atividade de fecundao in vitro, no
considerada como produtora de organismos geneticamente
modificados, conforme o art. 3, pargrafo nico, da Lei n
8.974/95, estimulou uma situao de superovulao. Como
somente cerca de 60% dos vulos se transformam em
embries que podem ser reimplantados no tero materno, as
tcnicas de fecundao assistida lanam mo de mais de
uma combinao de gametas, de modo a aumentar as
possibilidades da produo de embries viveis. Os embries
excedentes costumam ser congelados e, aps o sucesso da
atividade, no sendo reclamados por seus pais, so
destrudos ou doados para outros casais infrteis.
44
O banco
de embries tornou-se coisa comum e a Lei n 8.974/95 tenta
impedir que tal situao perdure no pas.
certo que a fertilidade um direito a ser
reconhecido para o pleno desenvolvimento das
potencialidades humanas, mas no se pode permitir que
embries sejam manuseados como se fossem mercadorias.
44
LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriaes artificiais e o Direito. So Paulo: Rev. dos
Tribunais, 1995, p. 63.
J uridicamente, a questo se apresenta
relevante na determinao do conceito de nascituro, pois,
conforme o art. 4 do Cdigo Civil, a personalidade civil
comea do nascimento com vida, mas a lei pe a salvo,
desde a concepo, os direitos do nascituro.
Sem aprofundar a discusso com argumentos
de natureza tica ou religiosa, preservando-se a anlise da
questo aos argumentos biolgicos, foroso reconhecer
que a utilizao da expresso pr-embrio no poder
possibilitar a produo, armazenagem e a manipulao de
organismos vivos provenientes da fecundao humana.
Segundo a teoria gentico-desenvolvimentista, a gestao do
ser humano passa por trs fases: pr-embrio, embrio e
feto. At o 14 dia, ou seja, duas semanas de gestao,
admite-se o uso dos embries para pesquisa, desde que os
pais manifestem consentimento informado e que os embries
sejam destrudos. Para os defensores desta teoria, o embrio
humano com desenvolvimento anterior a 14 dias no adquire
dignidade humana, o que manifestamente inadmissvel em
termos jurdicos.
45
A teoria concepcista, adotada pela legislao
brasileira, sustenta que o embrio existe desde a fecundao
como organismo vivo distinto do organismo materno. O
embrio um ser humano em potencial, desde o momento
da fecundao dos gametas humanos. Assim, por embries,
deve-se entender os organismos vivos resultantes da
fecundao humana, sendo que estes organismos vivos no
podem ser produzidos, armazenados ou manipulados para
determinar-se o sexo, a cor dos olhos ou quaisquer outras
45
LEITE, Eduardo de Oliveira. Ob. Cit. p. 384-385. Pondera o autor que no se pode
submeter a condio de ser humano a atributos tais como tamanho, forma e funo.
caractersticas humanas para servirem de material biolgico
disponvel.
6 - Liberao ou Descarte de Organismos
Geneticamente Modificados no Meio Ambiente
A Lei n 8.974/95, em seu inciso V, dispe
que a liberao ou o descarte no meio ambiente de
organismos geneticamente modificados em desacordo com
as normas estabelecidas pela CTNBio e constantes na
regulamentao desta lei, constitui atividade criminosa. A
pena cominada de trs meses a um ano de deteno.
Tratando-se, novamente, de tipo penal
aberto, as proposies jurdicas implcitas no dispositivo
penal se apresentam no seguinte sentido: 1) no liberar no
meio ambiente organismos geneticamente modificados, em
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e
constantes na regulamentao desta lei; 2) no descartar no
meio ambiente organismos geneticamente modificados, em
desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e
constantes na regulamentao desta lei.
As condutas que violam as proposies
jurdicas mencionadas ho de ser dolosas, sendo necessrio
que o agente possua vontade livre e consciente de liberar ou
descartar o organismo geneticamente modificado no meio
ambiente. O crime de mera conduta, pois a violao
proposio jurdica no est vinculada a qualquer resultado
naturalstico e possvel que a liberao do organismo
geneticamente modificado no venha a causar danos ao
meio ambiente. Presumindo uma situao de perigo ao bem
jurdico, o legislador incrimina a atividade,
independentemente da produo de qualquer resultado.
Nestas hipteses de incriminao, o
legislador estabeleceu qualificao das figuras tpicas
fundamentais, caso se verifiquem os seguintes resultados:
leses corporais leves, perigo de vida, debilidade permanente
de membro, sentido ou funo, acelerao de parto, dano
propriedade alheia ou dano ao meio ambiente. Nestas
hipteses, a pena cominada de dois a cinco anos de
recluso. Caso ocorra incapacidade permanente para o
trabalho, enfermidade incurvel, perda ou inutilizao de
membro, sentido ou funo, deformidade permanente,
aborto, inutilizao de propriedade alheia ou dano grave ao
meio ambiente, a pena cominada passa a ser de dois a oito
anos. Se a atividade produzir morte, a pena ser de seis a
vinte anos. Neste aspecto, cabe a mesma observao feita
hiptese prevista no inciso II. O resultado morte, que qualifica
a atividade criminosa, s poder ser obtido por culpa. No
caso de dolo, o crime ser o de homicdio. No entanto, a
cominao de pena para a liberao ou descarte com
resultado morte idntica do homicdio, em sua figura
fundamental. Certamente, as duas situaes no se
equiparam.
O legislador entendeu por bem tambm
incriminar a liberao ou o descarte de organismos
geneticamente modificados no meio ambiente, proveniente
de culpa. Esta previso legal apresenta outra dificuldade,
diante do sistema de nosso ordenamento jurdico. Como se
sabe, os tipos culposos so considerados tipos abertos por
fazerem referncia exclusiva produo de um resultado
indesejado. No caso em exame, a liberao ou descarte de
organismos geneticamente modificados no constitui
resultado algum, pois, se a finalidade protetiva da norma se
dirige ao meio ambiente, este pode no sofrer qualquer dano
ou perigo com a liberao ou descarte. Novamente, mudando
o paradigma tradicional, o legislador estabelece um tipo
aberto, culposo, em que se faz meno apenas atividade
indesejada e no ao resultado. Estabelecendo delito de
perigo abstraio, o legislador presume que a mera atividade
produza perigo ao bem jurdico.
Vale notar que impossvel conceber a
prtica de uma atividade involuntria. Nos delitos culposos, a
atividade negligente, consciente ou inconsciente, sempre
voluntria.
46
A doutrina consolidou o entendimento de que os
delitos culposos se caracterizam pela ocorrncia de atividade
voluntria e produo de resultado involuntrio.
47
A hiptese
de incriminao que ora se discute estabelece
responsabilidade pela prtica de uma atividade voluntria,
que poder ser consciente ou inconsciente da presuno
estabelecida pelo legislador para a caracterizao da
situao de perigo. MAGALHES NORONHA sustenta
possvel a caracterizao do crime culposo de mera conduta,
justamente nas hipteses de perigo abstraio.
48
Certamente,
este tema merece reflexo bastante aprofundada. Por ora,
cabe ressaltar que o manuseio de organismos geneticamente
modificados no se apresenta possvel a qualquer pessoa,
46
TAVARES, J uarez. Direito penal da negligencia. Cit. p. 173.
47
J ESUS, Damsio Evangelista de. Cometros ao cdigo penal. So Paulo: Saraiva, 1985,
vol. l, p. 324. No mesmo sentido: COSTA J NIOR, Heitor. Teoria dos delitos culposos. Rio
de J aneiro: Lumen J ris, 1988, p. 57-59.
48
NORONHA, Edgard Magalhes de. Do crime culposo. So Paulo: Saraiva, 1974, p.59-61.
devido necessidade de conhecimentos tcnicos
especficos. Assim, o requisito da previsibilidade da
ocorrncia da atividade involuntria indispensvel, sob
pena de se estabelecer responsabilidade objetiva.
V - Concluso
A Lei n 8.974/95 tratou de tema de especial
relevncia e estabeleceu, em boa hora, tutela penal ao
Patrimnio gentico. O espantoso desenvolvimento
tecnolgico de nossos dias faz com que a engenharia
gentica alcance resultados cada vez mais significativos e o
direito no pode ficar alheio s questes que se apresentam
com a nova realidade.
Sob o ponto de vista do sistema jurdico, a Lei
n 8.974/95 promove mudanas em paradigmas tradicionais
e, por isso, apresenta dificuldades em sua aplicao prtica.
Reconhecer as dificuldades o primeiro passo no caminho
da superao.
Considerando que as alteraes legislativas
so sempre morosas e muitas vezes no atendem aos
reclamos dos operadores do Direito, a efetividade da
necessria proteo ao Patrimnio gentico depender do
esforo de todos ns em aprofundar as discusses sobre as
questes abordadas no texto legal, de modo a propiciar a
proteo ao bem jurdico, sem violar os direitos fundamentais
do indivduo.
Referncias Bibliogrficas
ABRABI. Contribuio para um tratamento da biotecnologia
moderna na nova lei de propriedade industrial. Braslia, 1991.
ANCIES, Wanderley e CASSIOLATO, J os Eduardo.
Biotecnologia: seus impactos no setor industrial. Braslia:
CNPq,1985.
BELING, Ernest Von. La Doctrina del delito-tipo. Buenos
Aires: Depalma, 1944, p. 11.
BEREANO, Philip L. Patent nonsense. Seatie: Seatie Times
Op. 21/08/95.
BEZERRA, Fernando. Voto do Senador Fernando Bezerra,
relator do projeto de propriedade industrial, na Comisso de
Assuntos econmicos do Senado Federal. Braslia: 1995.
DOTTI, Ren Ariel. A incapacidade criminal da pessoa
jurdica - Uma perspectiva do direito brasileiro. In Revista
brasileira de cincias criminais. So Paulo: Rev. dos
Tribunais, v. 11, 1995.
GANHOS, Dora Ann Lange. Patentes em biotecnologia.
Campinas: FTPT Andr Tosello, 1991.
CORRA, Carlos M. Indstria farmacutica y biotecnologia.
Oportunidades y desafios para los pases en desarollo.
Mxico: Comrcio Exterior, v. 42, n. 11, 1992.
CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, v. l,
1971
COSTA J NIOR, Heitor. Teoria dos delitos culposos. Rio de
J aneiro: Lumen J ris, 1988.
FIORILLO, Celso A. Pacheco e RODRIGUES, Marcelo
Abelha. Direito ambiental e Patrimnio gentico. Belo
Horizonte: Del Rey, 1996.
FONTES, Eliana. Biossegurana. Braslia: Cenargem, 1996.
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal. Rio de
J aneiro: Forense, 1993.
FRANCO, Alberto Silva. A criminalizao das tcnicas de
engenharia gentica. In Boletim do Instituto Brasileiro de
Cincias Criminais, So Paulo, 1996, n. 26.
J ESUS, Damsio Evangelista de. Comentrios ao Cdigo
Penal. So Paulo: Saraiva, v. l, 1985.
KAUFMANN, Armin. Teoria de Ias normas. Buenos Aires:
Depalma, trad. Enrique Bacigalupo e Ernesto Garzon Vaids,
1977.
LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriaes artificiais e o Direito.
So Paulo: Rev. dos Tribunais, 1995.
MESTIERE, J oo. Teoria elementar do direito criminal. Rio
de J aneiro: Ed. do Autor, 1990.
NORONHA, Edgard Magalhes de. Do crime culposo. So
Paulo: Saraiva, 1974.
OLIVEIRA, Cezar Luciano C. Regulamentao da
biotecnologia: rea da sade humana. Rio de J aneiro:
Seminrio Biotecnologia: Proteo e Regulamentao, 1995.
PATRCIO, Ins Emlia de Moraes Sarmento. Biotecnologia e
agricultura - Perspectivas para o caso Brasileiro. Coord.
Anna Luiza Ozrio de Almeida. Petrpolis: Vozes/Biomatrix
Empr. Biotecnologia Ltda., 1984.
PELCZAR, Michel J oseph e outros. Microbiologia. So
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1981.
PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade penal da pessoa
jurdica: o Modelo Francs. In Boletim do Instituto Brasileiro
de Cincias Criminais, 1996, n. 46, p. 03.
ROXIN, Claus. Teoria del tipo penal. Buenos Aires: Depalma,
trad. Enrique Bacigalupo, 1979.
TAVARES, J uarez. Teorias do delito. So Paulo: Rev.
Tribunais, 1980.
TAVARES, J uarez. Direito penal da negligncia. So Paulo:
Rev. .Dos Tribunais, 1985.
TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas
jurdicas y empresas en derecho comparado. In Revista
brasileira de cincias criminais. So Paulo: Rev. dos
Tribunais, v. 11, 1995.
TOLEDO, Francisco de Assis. Princpios bsicos de direito
penal. So Paulo: Saraiva, 1991.
VARGAS, J os Cirilo de. Introduo ao estudo dos crimes
em espcie. Belo Horizonte: Del Rey, 1993.
WELZEL, Hans. Derecho penal aleman. Chile: Ed. jurdica de
Chile, trad. J uan Bustos Ramrez e Srgio Yanez Perez,
1987.
ZAFFARONI, Eugnio Raul, Tratado de derecho penal -
parte general. Buenos Aires: Ediar, 1981.
Vida e Morte -
A Tutela Jurisdicional
dos Soropositivos
Fernando Rodrigues Martins
Promotor de Justia
"Se o governo tem dinheiro para dar aos
bancos, tem dinheiro para a Aids. um crime
no comprar os remdios para os doentes.
Existem hoje dois tipos de pessoas com Aids:
as que tm dinheiro para fazer um tratamento
eficaz e as que no tm esse dinheiro. A
diferena entre esses dois grupos determina
a vida ou a morte de cada um."
Herbert de Souza
I - Introduo
Ao buscar dentre todos os medos e receios
do ser humano frente ao sono eterno depara-se,
axiologicamente, com o pnico da Aids. Morte certa, lenta e
vexatria. Certa, porque de seu mal ningum ainda desviou-
se com xito. Lenta, porque na realidade ela no mata,
simplesmente deixa sua vtima assistir falta de defesa
orgnica frente s infeces oportunistas. E vexatria, posto
que a ausncia de humanidade e solidariedade do-lhe um
toque grotesco de hansenase.
Enquanto no Brasil a populao pouco
esclarecida a respeito dessa pandemia e os infectados
continuam entregues prpria sorte, no primeiro mundo os
cientistas deram passos largos nas pesquisas mdicas. A
ltima grande descoberta a associao dos inibidores de
protease, atravs da ingesto dos medicamentos Saquinavir,
Indinavir e Ritonavir aos inibidores da transcriptase reversa
(AZT, DDI, DDC, D4T e 3TC). Longe da cura, essa
associao mais conhecida como o coquetel da vida prolonga
a vida dos infectados pelo vrus HIV.
J se sabe que o Brasil um pas rico e os
nmeros comprovam: desde de 1980 j foram diagnosticados
oitenta mil casos de HIV soropositivo; trinta e seis mil
pessoas j faleceram; atualmente h uma estimativa de
setecentos mil portadores de HIV: destes, dois mil so
adolescentes; vinte pessoas morrem por influncia direta do
vrus diariamente; e somente vinte e dois mil portadores so
medicados apenas com AZT.
De outro lado, enquanto esse quadro terrvel
se alastra, os rgos pblicos se omitem.
II - A Vida como Postulado Mximo na Constituio
A Constituio Federal em seu art. 5 e nos
desdobramentos de seus incisos fez garantir ao cidado
moderno, como princpio magno a ser observado em
qualquer relao jurdica ou extrajurdica, o due process of
law. Neste aspecto, cumpre, antes de mais nada, tecer breve
comentrio sobre o tema.
Referido princpio ganhou forma e
fundamento na Charla Magna de J OO SEM TERRA, no
Reino Unido. Posteriormente, consagrou-se de vez na Carta
de Filadlfia, Confederao Norte-Americana. Em ambas
utilizaes do postulado, buscaram seus idealizadores definir
suas premissas bsicas assentadas no direito vida,
propriedade e liberdade.
O renomado jurista e membro do Ministrio
Pblico paulista, NELSON NERY J NIOR, em sua brilhante
tese Princpios do Processo Civil na Constituio Federal,
identificou que:
"A clusula due process of law no indica
somente a tutela processual, como primeira
vista pode parecer ao intrprete menos
avisado. Tem sentido genrico, como j
vimos, e sua caracterizao se d de forma
bipartida, pois h o substantive due process e
o procedural due process. para indicar a
incidncia do princpio em seu aspecto
substancial, vale dizer, aluando no que
respeita ao direito material, e de outro lado, a
tutela daqueles direitos por meio do processo
judicial ou administrativo"
1
. Grifos do autor.
Tais premissas tambm foram observadas
por nossa Constituio Federal. Da correio dizer que o
princpio due process of law no atinente somente s
prerrogativas promulgadas s partes quando em esfera de
procedimento contencioso. Cedio deste posicionamento, os
doutrinadores ptrios ou os cientistas do direito comparado
subdividiram o consagrado postulado em duas nuances.
A primeira adstrita parte material dos
direitos, ou seja, o substantive due process, prevista em
nossa Constituio Federal no art. 5, caput e incisos II, III,
IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XII, etc...
A segunda nuance relativa aos direitos
processuais do cidado quando situado nas rbitas de
processos judiciais e administrativos, denominada, agora,
como procedural due process. Tais prerrogativas tambm
esto insertas em nossa Carta Magna em idntico artigo e
foram diretamente dirigidas ao nosso Cdigo de Processo
Civil da seguinte forma: a) princpio da isonomia (artigo 5,
capuf); b) princpio da inafastabilidade do Poder J udicirio
(inciso XXXV): c) princpio do juiz e promotor natural e
proibio de juzos de exceo (incisos Llll e XXXVII,
respectivamente): d) princpio do contraditrio (inciso LV); e)
princpio da proibio de provas ilcitas (inciso LVI): f)
princpio do acesso justia (inciso LXXIV).
1
NERY, Nelson J nior, in Princpios do Processo Civil na Constituio Federal, 2. ed. So
Paulo: RT. p.33.
A Constituio Federal de 1988 representa
um grande avano para a defesa da coletividade, das
minorias, enfim de todo o segmento que pretexta seu direito
fundamental. Enquanto na Carta de 1969, os direitos do
homem se inscreviam no distante artigo 153, sob o ttulo "Dos
Direitos e Garantias Individuais", no atua! ordenamento
mximo, a colocao do tema ganhou prevalncia,
inscrevendo-se no captulo l do ttulo II da CF e recebendo o
tratamento de Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.
Esta, ao que parece, uma das diferenas havidas entre o
Estado de Direito e o Estado de Direito Democrtico.
Tem-se, ento, que o caput do art. 5 da
Constituio Federal cuida de proteger, imediatamente, como
direito bsico e primrio do cidado a vida. Neste sentido,
como postulado due process of law, a vida no pode ser
compreendida apenas como dado biolgico, mas em todos os
seus aspectos materiais (fsicos e psquicos) e imateriais
(espirituais)
2
, isto porque corolrio lgico dessa qualidade o
indivduo, a pessoa. Da que, se a vida direito primrio do
cidado, o direito existncia tambm segue a mesma linha,
pois consiste no exerccio do indivduo em lutar pelo viver, de
defender a prpria vida, de estar vivo, de permanecer vivo
3
.
desse postulado que resulta a obrigao do
poder pblico em cuidar daqueles que padecem da sndrome
de imunodeficincia adquirida, haja vista que a pandemia no
tem cura, seno, to-somente, paliativos, sob pena de
2
SILVA, J os Afonso da, in Curso de Direito Constitucional Positivo, 7. ed. So Paulo: RT,
177p.
3
SILVA, Jos Afonso da, in opus cit., 177p.
omisso com a prpria vida humana e desrespeito ao
cidado como assentado por J ACQUES ROBERT
4
.
Ill - Estado e Municpio
A Sade e a Assistncia aos Desamparados
O SUS e a Prestao de Servio Pblico
Logicamente, outro princpio em que se
encerra a obrigao de auxlio aos portadores de HIV por
parte do poder pblico advm da prpria Constituio
Federal, ao definir em seu art. 6 que "so direitos sociais a
educao, a sade, o trabalho, o lazer, a segurana, a
previdncia social, a proteo maternidade e infncia, a
assistncia aos desamparados, na forma desta Constituio".
A Constituio do Estado de Minas Gerais, a
exemplo do texto maior, circunscreveu o dever do Estado em
promover a sade, mediante polticas sociais e econmicas,
com dignidade, gratuidade e boa qualidade, ex vi do art. 186,
Tambm com bero na Constituio Federal,
cabe ao municpio "prestar, com a cooperao tcnica e
financeira da Unio e do Estado, servios de atendimento
sade da populao" (art. 30, Vil).
4
Cf. Liberts Publiques. 234p. O respeito vida humana a um tempo uma das maiores
idias de nossa civilizao e o prprio principio da moral mdica. nele que repousa a
condenao do aborto, do erro ou da imprudncia teraputica, a no-aceitao do suicdio.
Ningum ter o direito de dispor da prpria vida, a fortiori da de outrem e, at o presente, o
feto considerado um ser humano.
Definida a sade e a assistncia aos
desamparados como direitos sociais, o art. 196 da
mesma Carta Magna, identificou a responsabilidade do
Estado por sua manuteno, in verbis:
"Art. 196. A sade direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante polticas
sociais e econmicas que visem reduo do
risco de doena e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitrio s aes e
servios para sua promoo, proteo e
recuperao."
Nesta mesma linha de raciocnio seguiram-se
os arts. 200, 203 e 204 do diploma constitucional ao criar o
Sistema nico de Sade que, posteriormente, foram
regulamentados pela Lei n 8.080/90, tendo em destaque os
arts. 2, 5 e 6
5
. Com isso, averbe-se que a obrigao para
o auxlio aos aidticos no nem de longe somente da
Unio, mas difusa entre todos os componentes da federao.
Em alguns casos, como fato, a Unio vem
prestando modestamente medicamentos aos portadores do
vrus HIV, mas isso no quer dizer que a responsabilidade
somente sua. Primeiro, porque a Constituio Federal
estabeleceu regra concorrente entre os participantes da
5
Art. 2. A sade um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as
condies indispensveis ao seu bom exerccio.
Art. 5. So objetivos do Sistema nico de Sade: III - assistncia s pessoas por
intermdio de aes de promoo e recuperao da sade, com a realizao integrada,
aes assistenciais e das atividades preventivas.
Art. 6. Esto incluidos no campo de atuao do Sistema nico de Sade - SUS:
I - a execuo de aes;
II - de assistncia teraputica integral, inclusive farmacutica.
Federao; segundo, porque as unidades federativas, em
tese, tm at melhor controle de seus pacientes; terceiro,
porque pelo Sistema nico de Sade os Municpios recebem
mensalmente verbas da Unio justamente com o fim de
resguardo da sade dos muncipes e assistncia aos
carentes, sem falar, claro, de sua prpria receita.
Aguardar uma providncia dos burocratas
respeitante deciso quanto competncia e
responsabilidade de qualquer ente federativo (Unio,
Estados e Municpio) em salvar as vidas de milhares de
pessoas que esperam a morte dar valor aos grilhes
formais em detrimento do direito constitucional e primrio da
vida e secundrio da sade pblica.
Dvidas no restam que o Sistema nico de
Sade institudo pela Lei 8.080/90 tem o carter de prestao
de servio comunidade, legitimando a sociedade por
interesse difuso a cobrar as providncias para sua adequada
tutela. Conforme assenta CELSO antnio PACHECO
FIORILLO
"a sade, enquanto direito de todos (art. 196),
ao se adequar perfeitamente enquanto direito
difuso (transindividual, de natureza indivisvel
tendo como titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstncias de fato) visa
possibilitar o acesso universal e igualitrio s
aes e servios para sua promoo,
proteo e recuperao"
6
.
6
FIORILLO, Celso antnio Pacheco, in Os Sindicatos e a defesa dos interesses difusos. 1.
ed. RT, 98p.
A par da concluso que o Sistema nico de
Sade representa um instituto pblico com finalidade de
prestao de servios na rea de sade aos mais
necessitados, v-se, lapidarmente, que o mesmo funciona
mal, pois no est cumprindo sua tarefa essencial que a
de salvar vidas, especialmente no que concerne aos
pacientes soropositivos de HIV. Da que calha invocar a
responsabilidade civil quanto aos rgos pblicos disposta
no art. 22 do Cdigo de Defesa de Consumidor. Se h
omisso do servio pblico, deve haver uma compensao
dessa leso.
A respeito do assunto, o festejado AGUIAR
DIAS, relembra AMARO CAVALCANTI:
"Somos, assim, pela aplicao, entre ns, da
doutrina do risco administrativo, como
defendia j o insigne Amaro Cavalcanti,
escrevendo que 'assim como a igualdade dos
direitos, assim tambm a igualdade dos
encargos hoje fundamental no direito
constitucional dos povos civilizados'.
Portanto, dado que um indivduo seja lesado
nos seus direitos, como condio ou
necessidade do bem comum, segue-se que
os efeitos da leso, ou os encargos de sua
reparao, devem ser igualmente repartidos
por toda a coletividade, isto , satisfeitos pelo
Estado a fim de que, por este modo, se
restabelea o equilbrio da justia cumulativa:
Quod omnes tangit ab omnibus debet
supportari."
7
7
DIAS, J os de Aguiar, Da responsabilidade civil, tomo II. 4. ed., Rio de J aneiro: 678p.
IV - Remdio Jurdico aos Aidticos: ACP e
Tutela Antecipada
Se para prolongar a vida dos portadores do
vrus HIV necessrio ministrar aos pacientes um coquetel,
para conseguir essa associao de remdios, especialmente
aos carentes, salutar o ajuizamento de medida judicial,
dada a omisso dos rgos pblicos.
certo que o art. 1 da LACP, com a redao
que lhe foi dada pela Lei n 8.078/90 (CDC), menciona como
bem jurdico por ela tutelado, alm do meio ambiente,
consumidor e bens de valor esttico, turstico, histrico e
paisagstico, "qualquer outro interesse difuso ou coletivo"
(inc.lV). Em consequncia, evidente a legitimidade do
Ministrio Pblico para tutelar via ao civil pblica os
diversos interesses (difusos, coletivos e individuais
homogneos) e em especial o social relacionados aos
pacientes quase mortos.
Nesse sentido restou verberado por NELSON
NERY J NIOR:
"A tendncia legislativa , portanto, a de
alargar, sempre que necessrio e possvel, a
legitimidade do Ministrio Pblico e dos
demais co-legitimados, para a defesa de
direitos metaindividuais em juzo. Os doutos
entendimentos em contrrio esto, portanto,
na contramo da evoluo do direito positivo
brasileiro, concessa maxima venia. No artigo;
5 dessa mesma LACP, encontra-se
legitimado o MP para agir na defesa dos bens
jurdicos tutelados pela LACP. O Ministrio
Pblico tem, portanto, legitimidade para
ingressar com ao civil pblica na defesa de
"qualquer outro interesse difuso ou coletivo"
(art. 1, n. IV, LACP). Entre outros, so
exemplos de interesse difuso ou coletivo: a) a
higidez do mercado financeiro; b) a correta
instituio e cobrana de impostos, taxas e
contribuies de melhoria; c) a proteo dos
aposentados; d) a proteo da comunidade
indgena (CF 129, art. V); e) a proteo da
criana e do adolescente (v. ECA 208 ss.); f)
a proteo das pessoas portadoras de
deficincias (Lei 7.853/89); g) a proteo dos
investidores no mercado mobilirio (Lei
7.913/89); h) a defesa do Patrimnio pblico e
social (CF, art. 129, III); i) a proteo do
Patrimnio pblico contra o enriquecimento
ilcito do agente ou servidor pblico (LEnI -
Lei 8.429/92); j) a proteo do meio ambiente
(natural, cultural, do trabalho etc.); k) a
proteo do consumidor (CDC); l) a proteo
da vida, sade e segurana das pessoas."
8
Veja-se, neste aspecto, que o art. 82 do CDC
confere legitimidade ao Ministrio Pblico para aforar aes
coletivas na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais
homogneos dos consumidores. No presente caso o
Ministrio Pblico vem tutelar justamente o interesse social,
mesmo porque esta funo lhe afeta, conforme se
8
NERY, Nelson J nior, in Ao Civil Pblica, Lei n 7.347/85 - Reminiscncias e Reflexes
aps dez anos de aplicao, 1. ed., RT, p.357-358.
depreende do art. 127, caput, CF, bem como artigo 129, inc.
IX do mesmo diploma magno. Com isso, assenta-se que
funo institucional do Ministrio Pblico a defesa dos
interesses sociais (art. 127, caput, CF), sendo que a
legitimidade conferida pelo artigo 82 do CDC obedece o
disposto no artigo 129, inc. IX, CF, pois a defesa coletiva do
cidado, no que tange a qualquer espcie de seus direitos
(difusos, coletivos ou individuais homogneos), , ex vi legis,
de interesse social. Volvendo ao mestre j citado, tem-se
que:
"Assim, sempre que se estiver diante de uma
ao coletiva, estar a presente o interesse
social, que legitima a interveno e a ao
em juzo do Ministrio Pblico (CF 127 caput
e CF 129 IX).
De consequncia, toda e qualquer norma
legal conferindo legitimidade ao Ministrio
Pblico (CF 129 IX) para ajuizar ao
coletiva, ser constitucional porque funo
institucional do Parquet a defesa do interesse
social (CF 127 caput).
Como o CDC 82 l confere legitimidade ao MP
para ajuizar ao coletiva, seja qual for o
direito a ser defendido nessa ao, haver
legitimao da instituio para agir em juzo.
O CDC 81 pargrafo nico diz que a ao
coletiva poder ser proposta para a defesa de
direitos difusos, coletivos e individuais
homogneos (incs. l a III).
O argumento de que ao MP no dada a
defesa de direitos individuais disponveis no
pode ser acolhido porque em desacordo com
o sistema constitucional e do CDC, que d
tratamento de interesse social defesa
coletiva em juzo. O Parquet no pode, isto
sim, agir na defesa de direito individual puro,
por meio de ao individual. Caso o interesse
individual seja homogneo, sendo defendido
coletivamente (CDC 81 par. n. Ill) essa
defesa pode e deve ser feita pelo Ministrio
Pblico (CDC 82, l, por autorizao da CF
129 IX e 127caput)."
9
No caso dos aidticos com baixo CD-4, ou
seja, em estado de crises oportunistas, trs so os
interesses. O primeiro, de ordem difusa, pois um sem-
nmero de habitantes deseja melhor qualidade de sobrevida
aos aidticos, bem como garantias de que estaria o poder
pblico comprometido em salvar a vida de todos aqueles
infectados. Caso deferido, a todos aproveita, caso negado, a
todos prejudica. O segundo, de ordem coletiva, pois tais
doentes geralmente esto organizados em associaes. O
ltimo, classificado como individual homogneo, pois os
milhares de soropositivos com baixo CD-4 se consubstanciam
em grupo de pessoas cujas peculiaridades decorrem de
origem comum (HIV).
Assim, o manejo da ao civil pblica em face
do Estado e Municpio tendente a firmar obrigao de fazer,
com estabelecimento de multa diria, tendo como pedido
principal o fornecimento do coquetel da vida, totalmente
vivel e prprio.
9
NERY, Nelson J nior, in opus cit. 366p.
Urge to-somente esclarecer que de melhor
alcance, ao revs do pedido liminar previsto no art. 12 da
Lei 7.347/85, a utilizao da tutela antecipada de que trata o
art. 461, 3 do CPC, cuja redao foi importada do art. 84
do CDC, pois certamente presente o requisito do justificado
receio de ineficcia do provimento final (morte).
Potrebbero piacerti anche
- Direito Penal - ResumãoDocumento8 pagineDireito Penal - ResumãoCarol FalconeryNessuna valutazione finora
- Lei 1818 Estatuto Servidor Publico Do Estado Do TocantinsDocumento408 pagineLei 1818 Estatuto Servidor Publico Do Estado Do TocantinsLennielon Veloso100% (2)
- Sinalização e Amarração de Cargas PDFDocumento154 pagineSinalização e Amarração de Cargas PDFEdgard Alves Nunes67% (3)
- Os Antigos Landmarques da Ordem MaçônicaDocumento9 pagineOs Antigos Landmarques da Ordem MaçônicaPabloNessuna valutazione finora
- Direito Internacional Carreau 2.edDocumento37 pagineDireito Internacional Carreau 2.edRobson Junior0% (2)
- Introdução À Teoria Geral Do Estado - 1Documento12 pagineIntrodução À Teoria Geral Do Estado - 1MiguelCelestinoChissaqueNessuna valutazione finora
- Formas EstadoDocumento26 pagineFormas EstadoMiguelCelestinoChissaqueNessuna valutazione finora
- Sistem PartidáriosDocumento18 pagineSistem PartidáriosMiguelCelestinoChissaqueNessuna valutazione finora
- Apontamentos de CPolitica II - 1Documento17 pagineApontamentos de CPolitica II - 1MiguelCelestinoChissaqueNessuna valutazione finora
- ConstituinteDocumento15 pagineConstituinteLeleu1Nessuna valutazione finora
- Sahlin SDocumento1 paginaSahlin SMiguelCelestinoChissaqueNessuna valutazione finora
- FDUEM - MJ I - Plano TemáticoDocumento1 paginaFDUEM - MJ I - Plano TemáticoMiguelCelestinoChissaqueNessuna valutazione finora
- Arb REQUERIMENTO INICIAL ARBITRAGEM CMARP 1Documento2 pagineArb REQUERIMENTO INICIAL ARBITRAGEM CMARP 1Will WilsonNessuna valutazione finora
- 19pet - Modelo Incidente de Desconsideração PetDocumento5 pagine19pet - Modelo Incidente de Desconsideração Petcibelle trindadeNessuna valutazione finora
- Modelo de Estatuto OngDocumento5 pagineModelo de Estatuto OngLeonardo Anselmo100% (1)
- Recurso ExtraordinárioDocumento7 pagineRecurso ExtraordinárioCarlos Alexandre Vieira ManfrinatoNessuna valutazione finora
- Ação de cobrança de diferenças de GDPGTASDocumento3 pagineAção de cobrança de diferenças de GDPGTASSimoneNessuna valutazione finora
- A Banalização Dos Danos Morais No Direito Brasileiro ContemporâneoDocumento15 pagineA Banalização Dos Danos Morais No Direito Brasileiro ContemporâneoGean GonçalvesNessuna valutazione finora
- Modelo Registro Tardio Maria Da ConceiçãoDocumento8 pagineModelo Registro Tardio Maria Da Conceiçãoyvesprado0% (2)
- Introdução à política criminal: abolicionismo, direito penal do inimigo e enfoque garantistaDocumento4 pagineIntrodução à política criminal: abolicionismo, direito penal do inimigo e enfoque garantistaGiovanni ParizeNessuna valutazione finora
- Leis - Decretos - Portarias: 23 de Junho de 2023 Diário Oficial Do Município de Guarulhos - Página 1Documento39 pagineLeis - Decretos - Portarias: 23 de Junho de 2023 Diário Oficial Do Município de Guarulhos - Página 1Lucas SantosNessuna valutazione finora
- Defesa requer absolvição em processo por ameaçaDocumento4 pagineDefesa requer absolvição em processo por ameaçaleandro santosNessuna valutazione finora
- Código de Ética Dos Alunos Do CTPM PDFDocumento26 pagineCódigo de Ética Dos Alunos Do CTPM PDFHelbert Wagner NascimentoNessuna valutazione finora
- Resolução Sme #223 de 1 de Dezembro de 2020 - Dispõe Sobre A Utilização de Imóvel Municipal Vinculado À Unidade Escolar Por Servidor-ResidenteDocumento3 pagineResolução Sme #223 de 1 de Dezembro de 2020 - Dispõe Sobre A Utilização de Imóvel Municipal Vinculado À Unidade Escolar Por Servidor-ResidenteProfessor_AdoniasNessuna valutazione finora
- Proc. 0809311-23.2018.4.05.8100Documento274 pagineProc. 0809311-23.2018.4.05.8100Patricia FonteneleNessuna valutazione finora
- Resp 1266666 SP 1327140335460Documento20 pagineResp 1266666 SP 1327140335460Marina Gondin RamosNessuna valutazione finora
- AÇÃO DIVÓRCIO E ALIMENTOSDocumento7 pagineAÇÃO DIVÓRCIO E ALIMENTOSAlexandreFreitasBastosNessuna valutazione finora
- 50º Simulado MegeDocumento91 pagine50º Simulado MegeDiego MendoncaNessuna valutazione finora
- Admin Pública em provasDocumento2 pagineAdmin Pública em provasLuiz PantojaNessuna valutazione finora
- Processo seletivo para professor substituto de Física Geral e ExperimentalDocumento4 pagineProcesso seletivo para professor substituto de Física Geral e ExperimentalEnzo Victorino Hernandez AgressottNessuna valutazione finora
- 04.01.2020 Portaria CGRH-01, de 3-1-2020 Inscrição e Cronograma Categoria ODocumento2 pagine04.01.2020 Portaria CGRH-01, de 3-1-2020 Inscrição e Cronograma Categoria OApeoespjauNessuna valutazione finora
- DICA e EPM nas pequenas fraçõesDocumento258 pagineDICA e EPM nas pequenas fraçõesewertonNessuna valutazione finora
- Contestação de ação indenizatória por dano causado por objeto lançado de apartamentoDocumento3 pagineContestação de ação indenizatória por dano causado por objeto lançado de apartamentoDavid LopesNessuna valutazione finora
- INSS Histórico de Créditos Pensão por MorteDocumento1 paginaINSS Histórico de Créditos Pensão por MorteMatheus PongeluppeNessuna valutazione finora
- Defesa Leonardo Lopes Pimenta 144 ZeDocumento8 pagineDefesa Leonardo Lopes Pimenta 144 ZeAlberto Jonathas Maia de LimaNessuna valutazione finora
- Apostilas Senior - Rubi - Processo 01 - APO - Conceitual RubiDocumento3 pagineApostilas Senior - Rubi - Processo 01 - APO - Conceitual RubiFabio OliveiraNessuna valutazione finora
- Guarda de menor em caso de alienação parentalDocumento9 pagineGuarda de menor em caso de alienação parentalMarcos NardelliNessuna valutazione finora