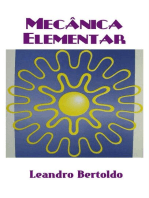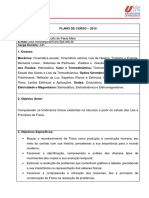Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Apontamentos de Física PDF
Caricato da
DalsTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Apontamentos de Física PDF
Caricato da
DalsCopyright:
Formati disponibili
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
APONTAMENTOS DE FSICA
Curso de Cincias Biomdicas
2008/2009 4 Mdulo
Docente: Carla Silva
DEPARTAMENTO DE FSICA
DA FACULDADE DE CINCIAS E TECNOLOGIA
2
INTRODUO 5
I COMPLEMENTOS DE MECNICA 6
1. Corpos em equilbrio 6
1.1 Equilbrio do corpo humano 8
2. O mecanismo das alavancas 9
2.1 O brao como exemplo de alavanca 11
2.2 As costas como exemplo de alavanca 12
3. Elasticidade e Compresso 14
3.1 Distenso e compresso de corpos por aco de uma fora 14
3.2 Elasticidade dos tecidos biolgicos 16
3.3 Foras impulsivas e ruptura dos tecidos sseos 17
II COMPLEMENTOS DE MECNICA DE FLUIDOS 20
4. Aplicaes da hidroesttica ao corpo humano 20
4.1 Medio da presso arterial 22
5. Tenso superficial e capilaridade 24
5.1 Funcionamento dos pulmes e tenso superficial 27
6. Aplicaes da hidrodinmica ao corpo humano 28
6.1 Movimento de fluidos no viscosos 28
6.2 Movimento de fluidos viscosos 29
6.3 Foras de atrito no interior de fluidos 31
6.4 Aspectos da circulao sangunea 33
III MOVIMENTO OSCILATRIO E PROPAGAO DE ONDAS 37
7. Movimento harmnico simples 37
8. Propriedades das ondas 38
8.1 Descrio das ondas 39
8.2 Reflexo, refraco e interferncia 40
8.3 Alguns aspectos das ondas sonoras 42
8.4 Alguns aspectos sobre o efeito de Doppler 43
8.5 As ondas electromagnticas e a sua interaco com a matria 44
IV RADIOACTIVIDADE 48
9. Produo de radioistopos 49
10. Decaimento radioactivo 51
11. Lei do inverso do quadrado 54
V APLICAES LASERS MEDICINA 55
12. Princpios fsicos do funcionamento dos lasers 55
13. Interaco da luz LASER com os tecidos 57
3
14. Aplicao dos lasers a diferentes reas mdicas (facultativo) 60
VI ALGUNS ELEMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO E APLICAES
AOS SISTEMAS BIOLGICOS 62
15. Introduo ao campo magntico 62
16. Reviso de alguns conceitos sobre os principais elementos dos circuitos elctricos
(facultativo) 66
17. Equipamentos, sistemas de medida e de controlo 68
18. O electrocardigrafo 70
19. O electroencefalgrafo 71
19.1 Registos electroencefalogrficos 71
19.2 Equipamento (facultativo) 73
19.3 Logstica (facultativo) 76
20. Aspectos da electricidade do sistema nervoso 77
20.1 As clulas gliais 77
20.2 As clulas nervosas ou neurnios 79
20.3 O potencial de repouso 79
20.4 O potencial de aco 82
20.5 O papel da mielina na propagao dos potenciais de aco 83
20.6 As sinapses 83
20.7 Organizao cerebral e actividade elctrica 85
21. Aspectos da electricidade dos msculos 86
21.1 Os msculos esquelticos 86
21.2 Os msculos lisos 89
21.3 O msculo cardaco 90
VII ELEMENTOS DE TERMODINMICA 93
22. Transporte passivo e activo 93
22.1 Difuso livre 93
22.2 Difuso atravs de membranas 96
22.3 A importncia da difuso na oxigenao 98
23. Leis da Termodinmica 98
23.1 Primeira Lei da Termodinmica 98
23.2 Segunda Lei da Termodinmica 99
23.3 Aplicao das duas Leis da Termodinmica s necessidades energticas dos seres vivos
100
23.4 Entropia e Segunda Lei 101
23.5 Aspectos da energtica do corpo humano 101
VIII OS SENTIDOS DA AUDIO E DA VISO 104
24. Funcionamento do ouvido humano 104
24.1 Gama de frequncias e sensibilidade do ouvido humano 106
25. Elementos de ptica geomtrica 107
25.1 ndices de refraco, Lei de Snell e ngulo crtico 108
25.2 Lentes 109
4
26. A viso humana 112
26.1 Estrutura e funcionamento do olho 113
BIBLIOGRAFIA 115
ANEXO A REVISO DE ALGUNS CONCEITOS DE CLCULO
VECTORIAL 117
ANEXO B REVISO DE ALGUNS CONCEITOS DE MECNICA 121
Cinemtica 121
Dinmica 125
ANEXO C CLCULO DE UM NGULO DE UM TRINGULO
CONHECENDO DOIS LADOS E UM OUTRO NGULO 131
ANEXO D ALGUNS CONCEITOS ESSENCIAIS SOBRE A ESTRUTURA
ATMICA DA MATRIA 132
Breve contextualizao histrica do aparecimento dos modelos atmicos 132
Os modelos atmicos 132
ANEXO E TPICOS SOBRE ALGUNS CONCEITOS DE RELATIVOS A
FENMENOS ELCTRICOS 138
ANEXO F ALGUNS CONCEITOS ESSENCIAIS RELACIONADOS COM
CALOR E TEMPERATURA 145
Escalas de temperatura 145
Expanso trmica de corpos 147
ANEXO G TPICOS SOBRE TEORIA CINTICA DOS GASES E
TRANSFERNCIAS DE CALOR 148
Tpicos de teoria cintica 148
Transferncia de calor 150
5
INTRODUO
A disciplina de Fsica do curso de Cincias Biomdicas tem como principal
objectivo aplicar ao corpo humano algumas das noes j adquiridas ao nvel do
Ensino Bsico e Secundrio e abordar algumas novas matrias como a elasticidade
dos corpos, os fenmenos de superficialidade nos lquidos e os efeitos da viscosidade
dos mesmos, introduzir o formalismo das ondas (tanto mecnicas como
electromagnticas), referir as implicaes das Leis da a Termodinmica nos sistemas
biolgicos e fornecer alguma informao bsica ao nvel das radiaes ionizantes.
de notar que a leitura destes apontamentos permitir uma primeira
abordagem aos temas discutidos nas aulas, abrindo perspectivas para exploraes
mais aprofundadas de cada um deles. Ou seja, aconselha-se o aluno que pretenda
obter uma boa classificao na disciplina a que consulte bibliografia adicional acerca
dos assuntos abordados.
A Fsica uma cincia cujo principal objectivo estudar os princpios nos
quais o Universo se baseia. Para tanto, desenvolve teorias sustentadas em conceitos
fundamentais, tentando encontrar equaes simples, mesmo que estas derivem de
aproximaes, desde que razoveis. de notar que estas aproximaes determinam,
geralmente, os limites de aplicabilidade aos sistemas em estudo da teoria proposta.
considerada uma cincia experimental, na medida em que esses modelos necessitam
de ser coerentes com as observaes feitas e devem, tambm, prever resultados que
venham a poder ser confirmados experimentalmente. Como em outras cincias
exactas, usa, fundamentalmente, a matemtica como linguagem de expresso, sendo,
porm, muito importante para o estudante de Fsica compreender os conceitos que se
encontram expressos nas frases matemticas atravs das quais a Fsica se expressa.
Na introduo a uma disciplina para alunos cujos principais interesses so
associados s Cincias da Sade importante faz-los compreender o interesse do
estudo da Fsica neste contexto. Antes de mais, pertinente enfatizar que, por um
lado, a Cincia no geral e as que envolvem os estudos dos seres vivos em particular,
so cada vez mais interdisciplinares, pelo que exigido a um bom profissional que
esteja apto a partilhar de uma linguagem comum a outras reas. Por outro, deve ter-se
em ateno que a Fsica no apenas necessria no contexto das Cincias Biomdicas
por estar presente nos mtodos de diagnstico e terapia
1
, mas tambm porque o
funcionamento dos seres humanos se rege pelas mesmas regras do restante Universo e
a compreenso dessas regras , como j foi referido, o principal propsito da Fsica.
Acresce ainda a este captulo introdutrio algumas questes associadas s
grandezas fsicas. sobejamente compreendido que, estando a cada varivel fsica
associada uma unidade, esta tenha que estar definida da forma mais rigorosa possvel,
no contendo ambiguidades, nem sendo dependente das condies do meio. Para dar
alguns exemplos, pode-se referir as quantidades bsicas da Mecnica: a) a massa, cuja
unidade do SI (de Sistema Internacional) o kilograma (kg) e dada como a massa de
um padro que se encontra no Gabinete Internacional de Pesos e Medidas em Svres,
Frana; b) o tempo, em que a unidade SI o segundo (s) e cuja definio a seguinte:
1s so 9192631770 perodos da radiao emitida pelos tomos de csio 133 e c) o
comprimento cuja unidade o metro (m) e dado como a distncia percorrida pela
1
Imagens de raios-X (radiografia e TAC), de Ressonncia Magntica Nuclear, de Medicina Nuclear, de
ultrassons, aplicaes de lasers, monitorizao de variveis importantes como a actividade elctrica
cardaca e cerebral, aplicao de radiao ionizante em oncologia; desenvolvimento de biomateriais
para prteses, etc.
6
luz em 1/299792458 s. Existem ainda outras unidades bsicas ( custa das quais
possvel representar todas as restantes) como o kelvin (K - unidade de temperatura
absoluta); o ampere (A unidade de corrente elctrica); a candela, unidade de
intensidade luminosa e a mol, quantidade de substncia.
Relativamente s unidades das grandezas fsicas aconselha-se ainda os alunos
a serem coerentes com o sistema de unidades usado (em muitos casos o mais sensato
reduzir todas as unidades ao SI para que no haja erros); a fazerem uma anlise
dimensional das expresses que usarem, quando tm dvidas da sua correco; terem
noo da ordem de grandeza da varivel que pretendem medir ou calcular e considerar
os algarismos significativos, tema que ser desenvolvido com maior detalhe no
decorrer das aulas laboratoriais.
I COMPLEMENTOS DE MECNICA
O domnio da Mecnica foi o primeiro da Fsica a ser aplicado, com xito,
compreenso do funcionamento dos sistemas vivos, revelando-se particularmente
eficaz na descrio dos mecanismos do movimento. O desenvolvimento desta rea
tem tido particular interesse na recuperao de doentes com dificuldades motoras, no
desempenho dos atletas e na construo de prteses e dispositivos de apoio
locomoo humana.
Neste primeiro captulo assume-se que o aluno esteja familiarizado com o
clculo vectorial
2
conhea as equaes do movimento de corpos, tenha presente
conceitos como os de: vector posio no espao, velocidade instantnea e velocidade
mdia, acelerao de um corpo, massa, fora, centro de massa, momento linear,
energia cintica, energia potencial e trabalho realizado por uma fora. Espera-se ainda
que o aluno domine as trs leis de Newton, reconhea o atrito como um fenmeno de
resistncia ao movimento dos corpos, compreenda e aplique nas situaes adequadas
o Princpio de Conservao da Energia Mecnica e conhea as unidades de todas as
grandezas relacionadas com a Mecnica
3
.
1. Corpos em equilbrio
Como j foi discutido em outros nveis de Ensino
4
, o estado de movimento de
um corpo depende das foras que actuam sobre ele. do conhecimento geral que, se
a um corpo no est aplicada nenhuma fora, este se mantm em repouso ou com um
movimento rectilneo e velocidade constante (1 Lei de Newton). No entanto, no
nosso quotidiano, impossvel afirmar que um corpo no est sujeito a foras, uma
vez que, basta que possua massa para que seja actuado pela fora gravtica
5
. Nesta
perspectiva, uma das condies para que um corpo esteja em equilbrio que a soma
de todas as foras,
i
F
r
, aplicadas sobre ele, seja nula (equao 1). Realce-se que o
somatrio considerado representa uma soma de vectores, uma vez que a fora uma
grandeza vectorial, ou seja, caracterizada no apenas por um valor e uma unidade,
mas tambm por uma direco, um sentido e um ponto de aplicao.
2
Ver ANEXO A.
3
Ver ANEXO B.
4
Para uma breve reviso, ver ANEXO B.
5
Embora em rigor a fora gravtica e o peso de um objecto no sejam exactamente a mesma fora (na
verdade o peso a resultante da soma da fora gravtica com uma fora de inrcia que corresponde ao
facto de todos os corpos superfcie da Terra no se encontrarem num referencial de inrcia), neste
texto os dois conceitos iro ser utilizados com o mesmo significado, desprezando-se, deste modo, a
fora de inrcia aplicada nos corpos devido rotao da Terra.
7
0
r r
=
i
i
F .
equao 1
Se a condio descrita pela equao 1 necessria para que um corpo esteja
em equilbrio, no menos verdade que no suficiente. De facto, o ponto de
aplicao das foras um aspecto importante a ter em conta quando se estuda o
equilbrio dos corpos. Se atendermos a que o peso de um corpo tem o seu ponto de
aplicao no seu centro de massa, sabemos da nossa experincia diria que este tem
que se encontrar alinhado com a base de sustentao do corpo, para que o corpo se
mantenha em equilbrio. Enquanto que os corpos na situao das Figura 1 a) e Figura
1 b) se encontram estveis (o seu centro de massa encontra-se sobre a base de
sustentao), um corpo na situao da Figura 1 c) encontra-se instvel (uma vez que
desenhando uma linha vertical que passe pelo seu centro de massa, esta se encontra
fora da base de sustentao).
Figura 1 - Os objectos a) e b) encontram-se em equilbrio, embora o objecto b) abandone o estado
de repouso mais facilmente, uma vez que a sua base de sustentao menor do que a do objecto
a). O objecto c) encontra-se em desequilbrio, visto que a vertical que passa pelo seu centro de
massa cruza o solo num ponto fora da sua base de sustentao. (Adap. de P. Davidovits, 2001).
A grandeza que permite quantificar a estabilidade de um corpo no que respeita
ao ponto de aplicao das foras a que este est sujeito, ou, dito de uma outra forma,
fornece a maior ou menor tendncia para que essas foras lhe confiram um
movimento de rotao, o momento da fora. O momento da fora tambm uma
grandeza vectorial e o seu mdulo dado pela equao 2:
sen . .d F L = ,
equao 2
onde: F o valor da fora, d a distncia do ponto de aplicao da fora ao ponto de
rotao e o ngulo formado pela fora e pelo vector que liga o ponto de aplicao
da mesma ao ponto de rotao. Nos diagramas da Figura 2 possvel compreender de
que forma que os momentos das foras que esto aplicadas ao corpo (o seu peso,
representado pela letra P e a reaco do plano sobre o corpo, representado pela letra
R), tendem a impor-lhe um movimento de rotao.
Deste modo, para que um corpo se mantenha em equilbrio, deve
acrescentar-se equao 1, a condio de, tambm a soma dos momentos das foras
aplicadas ao corpo ser nula (equao 3):
0
r r
=
i
i
L .
equao 3
8
Figura 2 - Representao do peso e da reaco do plano sobre o corpo em duas situaes
distintas: o corpo a) tende a rodar no sentido contrrio ao dos ponteiros do relgio, enquanto que
o corpo b) tende a rodar no sentido dos ponteiros do relgio. (Nota: Repare-se que a reaco do
plano sobre o corpo no est, nestes casos, representado no seu correcto ponto de aplicao que
seria, obviamente, aquele que corresponde ponta da seta.) (Adap. de P. Davidovits, 2001).
1.1 Equilbrio do corpo humano
Sabe-se que, em mdia, o centro de massa de um indivduo se encontra
localizado a uma altura de 56% da sua altura mxima contando a partir das solas dos
ps. Em p o centro de massa encontra-se, pois, sob a base de sustentao (ver Figura
3 a)). Alis, compreende-se que a estabilidade de um indivduo aumente quando
afasta as pernas, uma vez que, desta forma, est a aumentar a sua base de sustentao.
No entanto, quando os indivduos se encontram em marcha, a posio do seu centro
de massa vai-se alterando, sendo necessrio mant-la no alinhamento dos ps, caso
contrrio o indivduo desequilibra-se e cai. O mesmo acontecendo quando outras
foras, para alm do peso, se encontram aplicadas nos corpos, como o ilustrado nas
Figura 3 b) e Figura 3 c).
Figura 3 - a) Indivduo em repouso. O centro de massa encontra-se sobre a sua base de
sustentao. b) Indivduo que transporta uma mala com a mo esquerda. Neste caso, o centro de
massa do sistema homem + mala tende a desviar-se para o lado esquerdo, pelo que o indivduo
inclina o corpo ligeiramente para a direita, para que o centro de massa do conjunto continue
sobre a base de sustentao. c) Indivduo sobre o qual se aplica uma fora lateral. A fora
aplicada tende a desequilibrar o indivduo que reage atravs de foras internas que se opem
fora aplicada de modo a manter o seu centro de massa sobre a base de sustentao. (A nota da
Figura 2 tambm vlida para esta representao da fora
a
F
r
.) (Adap. de P. Davidovits, 2001).
9
Em situaes em que outras foras se encontram aplicadas ao corpo, os
indivduos tendem a mover-se de forma a reposicionarem o seu centro de massa,
como o ilustrado nas alneas b) e c) da Figura 3, evitando a queda.
2. O mecanismo das alavancas
Uma alavanca uma mquina simples formada por uma barra rgida que pode
rodar em torno de um ponto fixo, ao qual se chama fulcro. Estas mquinas podem ser
utilizadas tanto para iar volumes de um modo bastante eficiente, como para transferir
um determinado movimento de um ponto para o outro. Se nos concentrarmos na
tarefa de iar um determinado peso, possvel dividir as alavancas em trs tipos:
classe 1 (aquela em que o fulcro se encontra entre o peso a levantar e a fora exercida
para o fazer Figura 4 a)), classe 2 (aquela em que o peso se encontra entre o fulcro e
a fora Figura 4 b)) e a classe 3 (aquela em que a fora se encontra entre o fulcro e o
peso Figura 4 c)).
Figura 4 - Representao das trs classes de alavancas, classificadas segundo a localizao
relativa dos pontos de aplicao das foras envolvidas. (Mais uma vez vlida a nota da Figura 2
para a fora representada nestas figuras.) (Adap. de P. Davidovits, 2001).
Considerando-se que P
r
representa o peso que se pretende iar com o recurso
a uma alavanca, que d
1
a distncia entre o ponto em que esse peso est aplicado e o
fulcro e que d
2
a distncia entre o ponto de aplicao da fora exterior F
r
e o fulcro,
obtm-se a seguinte relao entre as variveis:
2
1
d
Pd
F = .
equao 4
Se definirmos amplificao mecnica,
m
, como o quociente entre a
amplitude do peso e a amplitude da fora exterior que exercemos sobre a alavanca
com o objectivo de iar o peso:
F
P
m
,
equao 5
ento, combinando esta definio com a equao 4, facilmente se verifica que:
1
2
d
d
m
= ,
equao 6
10
o que implica que, para as alavancas da classe 1, a amplificao mecnica possa ser
maior ou menor do que 1, dependendo de d
2
ser maior ou menor do que d
1
; para as
alavancas da classe 2, a amplificao mecnica seja maior do que 1, ou seja, para iar
um determinado peso necessrio aplicar uma fora menor do que esse mesmo peso;
e, por fim, nas alavancas da classe 3, a amplificao mecnica seja sempre menor do
que 1, o que exige que a fora aplicada seja maior do que o peso que se pretende iar.
Um ponto interessante para a discusso sobre a utilizao de alavancas nos sistemas
biolgicos o reconhecimento de que a grande maioria dos membros dos animais
pode ser representado por alavancas da classe 3. O que coloca a questo de qual a
vantagem de utilizar esta classe, uma vez que, do ponto de vista mecnico, no parece
ser vantajosa.
Na verdade, se atendermos Figura 5, onde, para alm da representao de
uma alavanca da classe 1, se encontram indicadas as grandezas: L
1
e L
2
, como sendo
as distncias percorridas pelos pontos de aplicao do peso e da fora,
respectivamente, e v
1
e v
2
como sendo as velocidades desses mesmos pontos quando
est a ocorrer o movimento, obtemos, atravs de consideraes geomtricas:
2
1
2
1
L
L
d
d
= .
equao 7
Alm disso, atendendo definio de velocidade, observa-se tambm que:
2
1
2
1
v
v
d
d
= .
equao 8
Figura 5 - Relao entre as grandezas L
1
, L
2
, v
1
e v
2
num alavanca de classe 3. (A nota da Figura 2
volta a se adequar fora aplicada, estando apenas representados a sua direco e sentido.)
(Adap. de P. Davidovits, 2001).
Destas ltimas relaes facilmente se conclui que a relao das amplitudes dos
movimentos e a relao das velocidades inversamente proporcional amplificao
mecnica. O que implica que, em situaes para as quais d
1
seja maior do que d
2
(como o caso das alavancas de classe 3), a amplitude do movimento do ponto de
aplicao do peso maior do que a do ponto de aplicao da fora e, alm disso, o
movimento nesse ponto mais rpido, o que pode significar uma enorme vantagem
em determinadas situaes, nomeadamente aquelas que impliquem o lanamento de
corpos.
11
2.1 O brao como exemplo de alavanca
A ttulo de exemplo discuta-se a aplicao dos conceitos introduzidos
anteriormente ao que se passa quando se eleva um objecto numa mo, atravs da
aco dos msculos do brao. Como se poder observar da Figura 6 esta situao
representvel por uma alavanca da classe 3.
Figura 6 - Esquemas do que se passa em termos de foras quando um indivduo ia um peso com
umas das mos, como representado em a). (A nota da Figura 2 tambm vlida para a
representao da fora
a
F
r
da figura c)). (Adap. de P. Davidovits, 2001).
Na Figura 6 b) poder-se- observar as variveis importantes na discusso deste
sistema. Nela encontram-se representados a distncia da articulao ssea (que
funciona como fulcro) ao ponto de ligao com o msculo (onde est aplicada a fora
muscular), o comprimento total do antebrao (que d informao sobre o ponto de
aplicao do peso do objecto) e do brao que, conjuntamente com o conhecimento do
ngulo entre o brao e o antebrao, permitem a determinao do ngulo ,
representado na Figura 6 c). De facto, por consideraes trignomtricas
6
possvel
mostrar que o ngulo tem, nas condies descritas na Figura 6, o valor 72.7.
Assim, as incgnitas do problema so: a fora realizada pelo msculo,
m
F
r
, a
fora aplicada na articulao,
a
F
r
e o ngulo formado pela direco da fora na
articulao e o antebrao, . Apliquem-se, ento, os conhecimentos apresentados
anteriormente, situao em que o corpo iado tem um peso designado genericamente
por P. Antes de mais, a soma das foras ter que ser igual a zero:
0 0
r r r r r r
= + + =
P F F F
a m
i
i
.
equao 9
Ou, considerando, separadamente, as componentes segundo x e segundo y:
P F F
F F
a m
a m
+ =
=
sen sen
cos cos
.
equao 10
Para alm destas equaes, necessrio acrescentar a expresso que resulta da soma
dos momentos das foras ter, tambm, que ser nula (equao 3). Atendendo a que, em
relao ao fulcro, possvel considerar duas foras com momentos opostos (
m
F
r
, que
6
Ver ANEXO C.
12
seria responsvel por uma rotao segundo o sentido contrrio ao dos ponteiros do
relgio e P
r
, que seria responsvel por uma rotao no sentido dos ponteiros do
relgio) possvel escrever, para que haja equilbrio:
( )
P
P
F
b
Pd
F Pd b F
m
m m
5 . 10
72.6 sen 4
40
sen
90 sen sen
=
= =
.
As distncias b e d so as representadas na Figura 6 c).
Atravs dos clculos fica, ento, claro que a fora muscular realizada pelo
bcepedes necessria para levantar um objecto na mo cerca de 10 vezes superior ao
peso desse objecto.
Retomando a equao 10, podemos, agora, calcular a fora aplicada na
articulao e a direco dessa fora:
( )
( )
=
=
=
=
+ =
=
0 . 70
6 . 9
...
sen 02 . 9
cos 14 . 3
sen 6 . 72 sen 5 . 10
cos 6 . 72 cos 5 . 10
P F
F P
F P
P F P
F P
a
a
a
a
a
.
Repare-se, ainda, que nestes clculos no foi tido em ateno o peso do brao,
que, obviamente, em anlises mais rigorosas, ter que ser considerado.
2.2 As costas como exemplo de alavanca
Tal como o movimento do antebrao pode ser analisado aproximando-o ao de
uma alavanca, tambm muitos outros movimentos apoiados nos msculos
esquelticos aceitam a mesma abordagem. Nesta seco considerar-se- o que se
passa em termos de foras aplicadas quando um indivduo se inclina, como mostra a
Figura 7.
Figura 7 - Esquema do que se passa em termos de foras quando um indivduo se inclina. (Adap.
de P. Davidovits, 2001).
13
Neste caso, considera-se que o fulcro da alavanca se encontra localizado na
quinta vrtebra lombar. As foras aplicadas so:
1
P
r
, peso do tronco que, embora esteja
uniformemente distribudo pelas costas, se pode considerar aplicado no centro de
massa das mesmas (ponto E), ou seja, aproximadamente a meio;
2
P
r
, o peso da cabea
e dos membros anteriores, que est fundamentalmente aplicado no extremo das costas
(ponto B);
m
F
r
, a fora exercida pelo msculo erector espinal, que se encontra ligado
coluna vertebral a cerca de dois teros a partir da regio mais posterior (representado
pelo ponto D) e
f
F
r
, a fora aplicada sobre o fulcro (ponto A). A partir de medidas
mdias possvel assumir que, para uma inclinao de 30 da coluna vertebral (ver
Figura 7 b) ) o ngulo entre o msculo e a coluna vertebral de 12. Alm disso, para
um homem com massa de 70 kg o peso do tronco tipicamente 320 N e o peso da
cabea e dos braos de aproximadamente 160 N.
Similarmente ao exemplo anterior, comece-se por aplicar a expresso do
equilbrio das foras (equao 1), j subdividida nas suas componentes segundo x e
segundo y:
sen 72 cos
cos sen72
2 1 f m
f m
F F P P
F F
= + +
=
.
equao 11
Em seguida, aplique-se a expresso referente aos momentos das foras,
considerando d o comprimento das costas:
N 1998 14 . 0 277 12 sen
3
2
sen60
2
1
320 sen60 160
12 sen
3
2
sen60
2
1
sen60 12 sen
3
2
sen60
2
sen60
2 1 2 1
= = +
= + = +
m m m
m m
F F F
F P P
d
F
d
P d P
.
Retomando a equao 11 e substituindo o valor da fora muscular, obtm-se o
valor das restantes variveis:
=
=
= + +
=
sen 1097
cos 00 19
sen 72 cos 1998 160 320
cos sen72 1998
f
f
f
f
F
F
F
F
,
dividindo uma equao por outra possvel encontrar o ngulo :
30.0
1900
1097
tg = = ,
e, por fim, substituindo numa das equaes, encontra-se o valor da fora exercida no
fulcro:
N 2193 =
f
F .
Note-se que estes valores so obtidos apenas quando o indivduo permanece
na posio indicada. Valores superiores para as foras seriam obtidos se o indivduo
estivesse a segurar num peso suplementar.
14
3. Elasticidade e Compresso
Uma parte significativa da Mecnica aplicada ao corpo humano diz respeito ao
efeito que as foras tm no movimento do corpo. No entanto, a aplicao de foras
no provoca apenas movimentos, mas pode ser responsvel por deformaes nos
tecidos: esticando-os, comprimindo-os, dobrando-os ou torcendo-os. Esta rea tem
particular interesse uma vez que, se at determinados valores das foras aplicadas, o
corpo tem capacidade de regressar ao estado inicial (a esta propriedade d-se o nome
de elasticidade), noutras ocasies, para valores superiores das foras, a deformao
provocada no corpo no recupervel ou, em casos limites, pode haver ruptura dos
tecidos.
3.1 Distenso e compresso de corpos por aco de uma fora
Como j se referiu, os corpos possuem a propriedade de, quando sujeitos a
foras suficientemente pequenas, sofrerem deformaes temporrias, regressando
situao inicial logo que a fora cessa. Nesta seco sero abordados alguns conceitos
teis na descrio deste tipo de fenmeno e tambm o comportamento dos tecidos
quando sujeitos a foras de maior intensidade que causam danos permanentes e/ou
rupturas. Por simplicidade, iremos apenas referir as deformaes associadas
distenso e compresso de corpos, deixando de parte a anlise das deformaes por
dobragem ou toro.
Comece-se por definir presso (que poder ser de compresso ou de
distenso, consoante tenda a diminuir ou aumentar as dimenses do corpo em que est
aplicada). A presso, P, a que um corpo fica sujeito definida como a fora aplicada a
esse corpo, F, por unidade de rea da seco transversal, A (ver Figura 8):
A
F
P .
equao 12
Figura 8 - Deformao provocada num corpo (representado a cinzento) por aco de foras: a)
de distenso e b) de compresso.
Pode ainda definir-se deformao de um corpo como a razo entre a variao
do seu comprimento, l, (que, note-se, pode ser no sentido de aumentar ou diminuir a
sua dimenso) e o seu comprimento, l:
l
l
.
equao 13
a) b)
15
Um dado importante no estudo dos efeitos mecnicos provocados num corpo
sujeito a presses quer de compresso, quer de distenso, a relao existente entre a
presso e a deformao, que geralmente encontrada experimentalmente e
caracterstica do material em estudo. Na Figura 9 a) encontra-se esquematizado esse
comportamento num grfico que representa a presso em funo da deformao, para
um material dctil
7
. Nesse grfico, so estabelecidos quatro pontos: at ao ponto A a
deformao varia linearmente com a presso exercida; entre o ponto A e o ponto B o
material, embora sofra uma deformao que ainda reversvel, esta deixa de ser
linearmente proporcional presso; entre o ponto B e o ponto C a deformao cresce
muito rapidamente com a presso e as deformaes passam a ser permanentes,
embora, geralmente, no degradem de forma significativa o desempenho do material;
entre o ponto C e o ponto D, as deformaes so j muito significativas e no ponto D
( ordenada do ponto D d-se o nome de presso de ruptura) ocorre ruptura do
material. Enquanto que nos materiais dcteis os pontos C e D se encontram afastados,
nos materiais quebradios estes dois pontos encontram-se muito juntos, como , por
exemplo, o tecido sseo (Figura 9 b)). Deve ainda chamar-se a ateno para a
existncia de fenmenos de fatiga, ou seja, se o ponto C for frequentemente atingido
observvel um desvio deste ponto para a esquerda, com o consequente desvio do
ponto de ruptura, pelo que o material quebrar mais facilmente, mesmo quando
sujeito a presses de valores menos elevados.
a)
b)
Figura 9 - a) Comportamento de um metal dctil - grfico da presso em funo da deformao:
at A a deformao varia linearmente com a presso aplicada, entre A e B a deformao ainda
reversvel, entre B e C as deformaes passam a ser permanentes e no ponto D ocorre ruptura do
material. Em b) encontra-se representado um grfico semelhante, mas referente ao
comportamento de tecido sseo. de notar que sendo o osso um material quebradio o ponto D
encontra-se praticamente sobreposto ao ponto C. Alm disso, atendendo a que os pontos A, B e C
correspondem a compresses de igual intensidade s distenses representadas por A, B e C,
verifica-se que o osso se comporta de forma muito distinta quando as foras a que sujeito so de
compresso ou de distenso. (Adapt. de Kane e Sternheim, 1988).
Pelo facto de a deformao entre a origem dos eixos e o ponto B ser apenas
temporria, considera-se que o material tem, nesta gama, um comportamento elstico.
Alm disso, a anlise dos grficos da Figura 9 sugere que at ao ponto A o corpo
possa ser caracterizado pelo declive da recta que representa a razo entre a tenso e a
deformao, e ao qual se d o nome de mdulo de Young, Y:
7
Um material diz-se dctil quando malevel, ou seja, quando facilmente transformado em fio.
16
P
Y = .
equao 14
de notar tambm que, para cada material, existem dois mdulos de Young,
um respeitante s presses de compresso, outro s presses de distenso.
3.2 Elasticidade dos tecidos biolgicos
De entre os tecidos biolgicos, podemos distinguir os tecidos sseos e os
tecidos moles, os quais tm, como veremos, comportamentos muito distintos no que
respeita sua elasticidade.
Ao analisar a composio dos tecidos sseos verifica-se que estes so
maioritariamente constitudos por minerais (70%) e por protenas (20%), sendo estes
dois componentes os principais responsveis pelas propriedades elsticas dos ossos.
interessante observar que estes dois materiais tm comportamentos muito distintos
quando sujeitos a foras de distenso e de compresso. Observe-se o grfico da Figura
10 e a Tabela 1, onde esto apresentados a dependncia da deformao com as
presses de compresso e de distenso e os mdulos de Young dos ossos e das suas
componentes mineral e proteica.
Mdulo de Young
(10
10
N m
-2
)
Compresso
osso compacto 1.02
componente mineral 0.64
componente proteica <0.001
Distenso
osso compacto 2.24
componente mineral 1.66
componente proteica 0.02
Tabela 1 - Mdulo de Young do tecido sseo e das suas componentes em separado, quer para
foras de compresso, quer de distenso. (Adapt. J.B. Marion e W.F. Hornyak, 1985).
deformao
tenso
Figura 10 - Grfico qualitativo sobre a dependncia da deformao sofrida por tecido sseo
compacto e pelas suas componentes em separado. O lado direito do grfico corresponde a tenses
de distenso, enquanto que no lado esquerdo est representado o comportamento associado a
tenses de compresso. (Adapt. J.B. Marion e W.F. Hornyak, 1985).
Osso compacto
Componente mineral
Componente proteica
17
Comece-se por analisar o que se passa ao nvel da compresso. Enquanto que
a componente proteica praticamente no oferece resistncia a foras de compresso (o
seu reduzido mdulo de Young significa que mesmo para presses muito pequenas a
deformao muito elevada), a componente mineral oferece maior resistncia. Alm
disso, enquanto que a componente proteica sofre deformaes permanentes quando
sujeita a presses muito pequenas, a componente mineral apresenta uma presso de
ruptura mais elevada. O mesmo tipo de comportamento se observa no que respeita a
presses de distenso, sendo, no entanto, notria uma maior resistncia deformao
tanto na componente proteica, como na mineral, quando comparada com a resistncia
oferecida s presses de compresso. Curioso verificar-se que as propriedades do
osso no que se refere resistncia a foras de compresso e de distenso, vm
notoriamente reforadas, quando as comparamos com as das suas componentes
maioritrias, como se pode comprovar pela anlise quer dos seus mdulos de Young,
quer pelas suas presses de ruptura.
Quanto aos tecidos moles, facilmente se prev um comportamento muito
distinto do observado nos ossos no que concerne sua elasticidade. Na verdade, na
constituio dos tecidos moles encontram-se molculas extremamente extensveis, as
quais denominamos por elastmeros. Estas molculas so caracterizadas por
estabelecerem ligaes cruzadas que permitem uma conformao mais compacta
quando sujeitas a foras de compresso (ver Figura 11 a) ) ou apresentarem-se quase
paralelas umas s outras quando lhes so aplicadas foras de distenso (ver Figura 11
b) ). Deste modo, os tecidos moles apresentam mdulos de Young que so 4 a 5
ordens de grandeza menores do que os dos ossos
8
e, enquanto os ossos apenas
suportam deformaes na ordem de 1% do seu comprimento, os tecidos moles
apresentam deformaes que podem ser duas a trs vezes as suas dimenses, sem
atingir o ponto de ruptura.
Figura 11 - Representao das molculas constituintes dos tecidos moles responsveis pela sua
elasticidade: a) quando se encontram comprimidas, b) quando se encontram distendidas. (Adapt.
de J.B. Marion e W.F. Hornyak, 1985).
3.3 Foras impulsivas e ruptura dos tecidos sseos
Como vimos anteriormente, os tecidos biolgicos podem ser caracterizados
pela sua elasticidade e pela sua tenso de ruptura que depende, simultaneamente, da
fora e da rea sobre a qual a mesma aplicada. Nesta seco ir-se- discutir os
efeitos de foras que so aplicadas em perodos muito curtos de tempo e como estes se
relacionam com a tenso de ruptura dos tecidos sseos.
Facilmente se aceita que, durante uma coliso, os corpos ficam sujeitos a
foras geralmente intensas de muito pequena durao - foras impulsivas. Embora o
valor da fora em cada instante seja difcil de determinar, facilmente se relaciona o
8
Os mdulos de Young dos elastmeros so tipicamente na gama entre 10
5
a 10
6
N m
-2
.
18
valor mdio da fora com a variao da quantidade de movimento ou momento linear,
atravs do teorema do impulso
9
:
t
mv mv
F mv mv t F p I
i f
med i f med
= = = ,
equao 15
onde: I - impulso da fora aplicada ao corpo;
p - variao do momento linear do corpo;
F
med
- fora mdia aplicada ao corpo durante a coliso;
t - perodo durante o qual a fora est a ser aplicada;
m - massa do corpo;
v
i
e v
f
- velocidades inicial e final do corpo (ou seja, antes e depois da
coliso).
Analisando a equao 15, facilmente se verifica que, para a mesma variao
de quantidade de movimento, a fora mdia aplicada muito dependente do intervalo
de tempo. Por este motivo, os efeitos de uma queda so to distintos quando a
recepo ao solo feita sobre um material duro (que reduz o intervalo de tempo) ou
num material mole (onde o intervalo de tempo de aplicao da fora
consideravelmente aumentado). A mesma justificao vlida quando se trata de
compreender os efeitos de uma queda em que o indivduo flicta as pernas, ao
contactar o cho. Neste caso, esses efeitosso muito menores do que quando a queda
ocorre sobre os membros esticados, uma vez que a chegada ao cho demora, no
primeiro caso, significativamente mais.
Para ilustrar estes conceitos analise-se qual a altura mxima a que um
indivduo se pode atirar sem que haja ruptura dos ossos das pernas. Para tanto, ser,
obviamente, necessrio fazer-se algumas aproximaes. O tempo estimado de coliso,
t, de uma queda num cho de cimento, quando o indivduo cai com as pernas juntas
no flectidas aproximadamente 10
-2
s. Alm disso a presso mxima de ruptura dos
tecidos sseos, P, de 10
8
N m
-2
. Se assumirmos ainda que a queda totalmente
suportada nos calcanhares, ento, a rea, A, sobre a qual a fora aplicada, de
aproximadamente 2 cm
2
. E, por fim, considera-se a massa do indivduo de 70 kg.
Comece-se por recordar que a velocidade, v, de chegada ao solo a partir de
uma altura h dada pela expresso (que poder ser deduzida com o recurso equao
119, equao 124 e equao 126 do
ANEXO B):
gh v 2 = ,
equao 16
onde g a acelerao da gravidade. Como, aps a queda, a velocidade final do corpo
nula, a variao do seu momento linear :
gh m mv p 2 = = ,
equao 17
9
Repare-se que, embora a abordagem aqui seja unidireccional, ou seja, assume-se que o movimento
realizado apenas numa direco, esta expresso tem, no seu formato mais geral, carcter vectorial, visto
que as grandezas: impulso, momento linear, fora e velocidade so grandezas vectoriais.
19
e, portanto:
g m
t PA
h
t
gh m
PA
t
p
F
med
2
1 2
2
|
\
|
=
= .
Substituindo valores:
cm 41.6 m 416 . 0
8 . 9 2
1
70
10 10 2 10
2
2 4 8
= =
|
|
\
|
=
h
claro que este valor poder ser drasticamente alterado se as condies forem
outras, pelo que este valor tem apenas carcter indicativo. O tempo da coliso, por
exemplo, poder ser aumentado para 8 vezes se o indivduo flectir as pernas, o que
alterar significativamente o resultado. E mesmo a rea de impacto bastante
varivel, dependendo do cho e da forma como o indivduo se defende da queda.
20
II COMPLEMENTOS DE MECNICA DE FLUIDOS
Os fluidos so substncias que, devido ao tipo de foras intermoleculares
existentes entre os seus constituintes, no conseguem manter uma forma prpria,
adquirindo a forma dos recipientes que os contm. Nesta definio incluem-se,
indubitavelmente, todos os lquidos e gases. Como facilmente se compreende, a
grande diferena entre estes dois estados da matria reside na sua compressibilidade:
enquanto os gases alteram significativamente o seu volume, quando sujeitos a foras,
os lquidos no. Neste captulo ir-se- estudar o comportamento dos lquidos,
deixando o estudo dos gases para mais tarde.
4. Aplicaes da hidroesttica ao corpo humano
Uma grandeza particularmente importante no estudo dos fluidos a presso.
A presso uma grandeza escalar, cuja unidade em S.I. o Pa (pascal) e que
definida pela razo entre o valor da fora, F, exercida perpendicularmente superfcie
A
10
:
A
F
P .
equao 18
A sua unidade deve o nome a um importante cientista que deu preciosos
contributos para o estudo dos fluidos Blaise Pascal (1623-1662) e, em particular,
enunciou o Princpio com o seu nome, no qual se estabelece que: A presso aplicada
num ponto no interior de um fluido transmitida, sem perdas, a qualquer outro ponto
do fluido e s paredes do recipiente no qual este se encontra. Matematicamente, este
princpio expresso atravs da equao 19 est inerente na expresso que relaciona a
presso num determinado ponto A de um fluido, P
A
, com a presso num outro ponto
B desse mesmo fluido, P
B
; a densidade do fluido, , a acelerao da gravidade, g, e a
diferena de alturas entre o ponto A e o ponto B, h, num fluido em equilbrio:
gh P P
A B
+ = .
equao 19
Em particular, se o ponto A for um ponto superfcie do fluido, a presso em
A substituda pela presso atmosfrica (ver, por exemplo, a Figura 12) e tem-se:
gh P P
atm B
+ = .
equao 20
Figura 12 - Ilustrao do princpio de Pascal. (Adapt. E.R. Jones e R.L. Childers, 1993).
10
Repare-se nas semelhanas desta definio com a fornecida anteriormente para as presses de
compresso e de distenso a que os slidos podem ficar sujeitos.
21
Vrias so as aplicaes desta lei ao corpo humano. A Figura 13, por exemplo,
apresenta a presso sangunea em vrios pontos do corpo humano, comparando-a com
a presso correspondente a uma coluna de sangue com diferentes alturas. Como se
pode observar, enquanto que um indivduo deitado apresenta presses sanguneas
semelhantes tanto ao nvel dos ps, como do corao, como da cabea; quando o
indivduo se encontra em p, essas presses so notoriamente distintas, uma vez que a
presso, conforme se conclui da equao 19, varia com a altura.
Figura 13 - A altura das colunas representa a presso sangunea em diferentes partes do corpo e
em diferentes posies. (Adap. de P. Davidovits, 2001).
Analise-se tambm o que se passa quando a um indivduo injectada uma
soluo salina (ver Figura 14). Assuma-se que a densidade da soluo de
1.0 x 10
3
kg / m
3
e que a presso no interior da veia 2.4 x 10
3
Pa
11
. Faamos uma
estimativa da altura a que o recipiente se deve encontrar a partir do brao do doente,
para que o lquido efectivamente entre na veia. Para efectuar os clculos comece-se
por resolver a equao 19 em ordem altura:
g
P P
h
A B
= ,
e, seguidamente, substitua-se os valores, tendo em conta que a presso no ponto B
corresponde presso na veia e que a presso no ponto A a presso atmosfrica:
8 . 9 10 1
10 4 . 2
3
3
= h = 0.245 m = 24.5 cm.
Ou seja, a altura entre a superfcie livre da soluo e o brao do indivduo
dever ser superior a 24.5 cm.
11
No esquecer que a esta presso acresce tambm a presso atmosfrica a que todas as veias do corpo
esto sujeitas.
22
Figura 14 - Representao da injeco de uma soluo salina numa veia do brao. (Adapt. E.R.
Jones e R.L. Childers, 1993).
A par do Princpio de Pascal, existe uma outra Lei que rege os fluidos em
equilbrio, qual se d o nome de Princpio de Arquimedes (tambm em homenagem
ao cientista que o enunciou - Arquimedes, 287-212 a.c.): Um corpo parcial ou
totalmente submerso num fluido fica sujeito a uma fora vertical, de baixo para cima,
de valor igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.
Com base neste princpio, determine-se a fora necessria para manter um
indivduo a flutuar na gua em funo da densidade da gua -
gua
da densidade
mdia do corpo humano -
corpo
, da fraco do corpo que se encontra submerso - f e do
volume do indivduo V. A fora que necessrio compensar para que o indivduo se
mantenha a boiar a diferena entre o seu peso e a fora de impulso
12
:
( )
gua corpo gua corpo g I
f gV gfV gV g m mg F P F = = = =
equao 21
4.1 Medio da presso arterial
A forma mais directa de medir a presso arterial atravs da introduo de um
tubo no interior da artria cheio de uma soluo salina de densidade , qual se
adiciona um anticoagulante (ver Figura 15). O tubo, por sua vez, encontra-se ligado a
um manmetro, no interior do qual se encontra um lquido de densidade . Desta
forma, a soluo salina encontra-se no interior da artria em contacto com o sangue e,
no exterior, em contacto com o lquido. Aplicando a equao 19 ao sistema,
facilmente se compreende que a presso sangunea seja:
' '
gh gh P P
atm sangue
+ = ,
12
No confundir fora de impulso com foras impulsivas, a primeira est relacionada com a fora a
que se refere o Princpio de Arquimedes, as segundas esto relacionadas com as foras que actuam num
curto intervalo de tempo, ou seja, esto relacionadas com o impulso da fora que se define como o
produto da fora pelo intervalo de tempo durante o qual ela est aplicada.
A
B
23
admitindo que o lquido no interior da manmetro tem uma superfcie livre em
contacto com a atmosfera e que a diferena ( ) ' h h corresponde diferena de alturas
entre as duas superfcies livres do lquido no interior do manmetro.
Figura 15 - Esquema de medida da presso de uma artria invasivamente. (Adapt. Kane e
Sternheim, 1988)
Este sistema de leitura da presso arterial , no entanto, bastante incmodo e
desaconselhado. Por esse motivo, habitualmente, utiliza-se um sistema indirecto com
o recurso a um aparelho denominado esfingmomanmetro. O sistema, representado na
Figura 16, composto por um saco de ar que colocado no brao
13
, uma bomba que
introduz ar no saco, uma vlvula que liberta ou no o ar, um manmetro que mede a
presso do ar no interior do saco e um estetoscpio que, colocado por cima da artria,
mede o rudo que o sangue faz ao passar. til lembrar que o sangue circula atravs
das artrias devido ao efeito de bomba do corao. Este facto determina que, na
realidade, a presso sangunea oscile entre dois extremos: um valor mximo (presso
sistlica) que corresponde contraco cardaca e, por conseguinte, expulso do
sangue pelos ventrculos, e um valor mnimo (presso diastlica) que corresponde ao
perodo de descontraco cardaca (ver Figura 17).
Figura 16 - Esquema de um esfingmomanmetro. (Adapt. Kane e Sternheim, 1988)
Do ponto de vista clnico, , obviamente, importante medir ambas as presses.
Ora o mecanismo utilizado para o fazer bastante simples: o saco insuflado at um
determinado valor de presso (superior presso sistlica), pelo Princpio de Pascal a
13
Sendo a medida feita ao nvel do brao e estando este mesma altura do corao, o valor obtido para
a presso arterial uma boa estimativa da presso cardaca.
24
presso no saco, propaga-se pelos tecidos do brao chegando artria e impedindo o
sangue de passar. Nesse instante, impossvel ouvir qualquer rudo atravs do
estetoscpio. Liberta-se, ento, cuidadosa e lentamente algum ar do saco, atravs da
vlvula, at atingir um ponto em que audvel um rudo ritmado (ver Figura 17)
correspondente passagem do sangue, apenas durante os instantes em que a presso
arterial ligeiramente superior presso do saco. No momento em que esse rudo
comea a ser ouvido, mede-se a presso no manmetro e esta que corresponde
presso sistlica. Prossegue-se, ento, com o processo de libertao do ar at o rudo
deixar de se ouvir. Nesse momento, significa que a presso arterial menor do que a
presso do saco, uma vez que o sangue circula na artria sem a oposio de presses
externas
14
.
Figura 17 - Representao do mecanismo de funcionamento de um esfingmomanmetro. (Adapt.
E.R. Jones e R.L. Childers, 1993).
5. Tenso superficial e capilaridade
Como se sabe, as molculas constituintes de um lquido interactuam atravs de
foras atractivas que as mantm num estado condensado, foras de coeso. Numa
molcula que se encontre no interior de um lquido, a soma dessas foras, uma vez
que se encontram igualmente distribudas em todas as direces, nula. No entanto, o
mesmo j no acontece com as molculas que se encontram na superfcie do lquido.
Essas molculas no sofrem influncia de molculas acima delas e, portanto, a fora
resultante que lhes est aplicada tem o sentido do exterior para o interior do lquido
15
.
Essa fora resulta numa contraco da superfcie do lquido a qual passa a
comportar-se como uma membrana sob uma certa tenso. Esta situao pode ser
descrita por uma fora tangencial superfcie do lquido. Deste formalismo resulta a
grandeza tenso superficial, que descrita do seguinte modo: considere-se um
segmento de recta, l, numa dada direco sobre a superfcie livre do lquido e F a
fora mnima perpendicular a esse segmento que necessrio aplicar-lhe para que a
14
Mais correctamente, o sangue nestas condies circula sem turbulncia, conceito que se ir abordar
mais tarde, e, por isso, a sua circulao no audvel.
15
Em rigor, as molculas pertencentes ao lquido, mas que se encontram na superfcie deste, sofrem
influncia de molculas acima delas constituintes do gs sob o qual o lquido se encontra. No entanto,
como as foras de coeso entre as molculas do gs e as molculas do lquido so muito diferentes e o
resultado continua vlido.
25
rea da superfcie do lquido sofra deformao, a tenso superficial ser, ento, dada
pela razo:
l
F
.
equao 22
Um outro fenmeno resultante das foras de coeso nos lquidos e observvel
nos pontos em que a superfcie livre do lquido toca no recipiente que o contm o de
capilaridade. Na verdade, as molculas que se encontram na vizinhana das paredes
do recipiente sofrem foras de atraco das molculas constituintes do recipiente,
foras de aderncia. E neste caso duas situaes podero ocorrer: ou as foras de
aderncia so superiores fora de coeso do lquido e, ento, o lquido tende a subir
pelas paredes do recipiente (ver Figura 18 a) ), ou as foras de aderncia so menores
do que as de coeso e a superfcie livre do lquido tende a curvar para o interior do
mesmo (ver Figura 18 b) ).
Figura 18 - Representao do comportamento dos lquidos em contacto com um recipiente,
devido s foras de aderncia. (Adap. de P. Davidovits, 2001).
O contacto entre o lquido e as paredes do recipiente , pois, caracterizado pelo
ngulo representado na Figura 18 que dependente da natureza do lquido e do
material do recipiente. Na Tabela 2 pode-se observar diversos ngulos de contacto,
para diferentes pares de interfaces.
Interfaces ngulo de contacto
gua-vidro (limpo) 0
lcool etlico-vidro (limpo) 0
Mercrio-vidro 140
gua-prata 90
gua-parafina 107
Tabela 2 -ngulo de contacto de diversas interfaces lquido-slido. (Adap. de P. Davidovits,
2001).
O fenmeno de capilaridade particularmente notrio quando se introduz um
tubo muito fino no interior de um lquido. Nessa situao possvel observar-se a
subida do lquido no interior do tubo (ver Figura 19 a) ) ou a sua descida (ver Figura
19 b) ).
26
Figura 19 - Ilustrao do fenmeno de capilaridade. (Adap. de P. Davidovits, 2001).
Em seguida, calcular-se- a variao da altura do lquido em funo da tenso
superficial, T; do raio do tubo, R; da densidade do lquido, ; do ngulo de contacto, ;
e da acelerao da gravidade.
O peso da coluna de lquido :
h R g Vg mg P
2
= = = .
equao 23
A fora mxima associada tenso superficial em redor da coluna de lquido
ser, tendo em conta o que anteriormente foi dito:
RT F
m
2 = .
equao 24
Ora a componente da fora superficial que compensa o peso a vertical, ou
seja, ser o produto: cos
m
F e, portanto, visto que o lquido se encontra em
equilbrio vlida a igualdade:
gR
T
h h R g RT h R g F
m
cos 2
cos 2 cos
2 2
= = = .
equao 25
Uma outra consequncia interessante da tenso superficial o facto de tanto as
bolhas, como as gotas terem um formato esfrico. Para compreender este efeito,
comece-se por referir que o valor da tenso superficial pode ser interpretado como
uma energia por unidade de rea
16
. Aplicando o critrio de energia mnima,
facilmente se compreende que, para um determinado lquido (o que corresponde a
uma dada tenso superficial), a geometria que minimiza a energia aquela que
corresponde menor rea. E, como sabido, a esfera o slido geomtrico que
menor rea superficial tem, para um dado volume considerado.
16
Para entender esta equivalncia basta fazer uma anlise dimensional: a tenso superficial tem
unidade N m
-1
, que equivalente a N m m
-2
, ou seja, J m
-2
que corresponde, efectivamente, a uma
unidade de energia por rea.
27
Relacionada com este aspecto est a Lei de Laplace que estabelece a relao
entre as diferenas de presso no interior, P
i
, e no exterior, P
o
, de uma gota; o seu
raio, r, e a tenso superficial do lquido de que formada, :
r
P P
o i
2
= .
equao 26
Note-se que esta diferena de presso dependente do sistema. Por exemplo,
ao analisar-se o que se passa com uma bolha
17
a diferena de presso no interior e no
exterior da bolha duas vezes superior, vindo dada por:
r
P P
o i
4
= .
equao 27
Ambas as expresses resultam em duas concluses extremamente
interessantes: o primeiro o facto de a presso no interior de uma gota (o mesmo
vlido para uma bolha) ser maior no interior do que no exterior da mesma; o segundo
refere que, para a mesma tenso superficial, quanto maior for o raio, menor ser a
presso no interior da gota (ou bolha). Embora com ligeiras adaptaes
18
, este o
motivo pelo qual se colocarmos em contacto dois bales semelhantes, um deles menos
cheio do que o outro, verifica-se que o balo menos cheio se esvazia, aumentando o
raio do outro (a presso no interior do balo de maior raio menor do que a presso
no interior do balo de menor raio).
5.1 Funcionamento dos pulmes e tenso superficial
Se atendermos anatomia pulmonar, recordamos que a troca de gs entre os
pulmes e os vasos sanguneos ocorre ao nvel dos alvolos, que so pequenos sacos
cujos raios so, em mdia, de 60 m. Se o mecanismo descrito no final da seco
anterior fosse aplicvel aos alvolos, facilmente se compreenderia que a respirao
era impossvel, uma vez que o ar dos alvolos de menor raio transferir-se-ia para os
alvolos de maior raio, criando uma situao limite em que alguns alvolos
rebentariam e outros colapsariam. Ora esta situao no se observa porque, a cobrir as
paredes internas dos alvolos, se encontra um lquido contendo lipoprotenas
19
que
alteram as propriedades elsticas da membrana. De facto, verifica-se que, por aco
dessas protenas, quanto menor for o raio dos alvolos, menor ser a sua tenso
superficial, pelo que a tendncia para, nestas condies, a presso interior aumentar,
17
Uma bolha, ao contrrio de uma gota, formada por uma fina camada de lquido, devendo
considerar-se duas superfcies (a interior e a exterior), e, portanto, os efeitos da tenso superficial so
duplicados.
18
Deve ter-se em ateno que num balo a tenso superficial se altera com o raio, enquanto que numa
bolha a tenso superficial se mantm constante (o aumento de raio numa bolha conseguido custa da
diminuio de espessura da pelcula de lquido de que feita). No entanto, a variao da tenso
superficial num balo no suficiente para que a maior parte dos resultados vlidos para uma bolha
no o sejam tambm para um balo.
19
A este lquido d-se o nome de surfactante, uma vez que, tal como outros agentes com o mesmo
nome, quando adicionado a algumas substncias diminui-lhes a tenso superficial.
28
compensada com o aumento da elasticidade das paredes dos alvolos e, portanto, os
alvolos menores no chegam a perder o seu gs interior.
O mesmo mecanismo explica como possvel, durante a respirao, a entrada
e a sada de ar dos pulmes. Durante a exalao a presso interior dos alvolos
diminui. Por outro lado, devido contraco muscular os alvolos tendem a diminuir
o seu raio. Ora, nestas condies, se a tenso superficial da membrana dos alvolos se
mantivesse constante, estes tenderiam a colapsar, uma vez que a diferena de presso
no seria contrabalanada. O mecanismo contrrio observar-se-ia durante a inalao,
ou seja, a presso no interior dos alvolos aumentaria e devido descontraco
muscular o seu raio tenderia a aumentar, rebentando os alvolos. Esta tendncia s
contrariada, uma vez mais, devido presena do agente surfactante que promove o
aumento da elasticidade (diminuio da tenso superficial) para menores raios.
Este mecanismo, explica, pois, a extraordinria importncia das concentraes
de surfactante nos alvolos. Alis, uma das causas de morte de recm-nascidos,
nomeadamente de bebs prematuros, precisamente a falta de surfactante nos
pulmes, o que dificulta imenso a sua respirao.
6. Aplicaes da hidrodinmica ao corpo humano
6.1 Movimento de fluidos no viscosos
A hidrodinmica a rea da mecnica dos fluidos que estuda o seu movimento
e, neste contexto, existem essencialmente duas leis especialmente relevantes: a
equao de continuidade e a equao de Bernoulli. Ambas so baseadas em
determinados pressupostos: a) que o fluido ideal, o que significa que no tem
viscosidade
20
, b) que incompressvel, c) que o escoamento laminar (a velocidade
de uma partcula do fluido num determinado ponto constante no tempo) e d) o
escoamento no rotacional (um objecto que se coloque no interior do fluido no
apresenta movimentos de rotao).
A equao de continuidade baseada no facto de a quantidade de massa se
manter constante e traduzida matematicamente atravs da expresso:
2 2 1 1
A v A v = ,
onde v
1
representa a velocidade do fluido no troo 1 de um tubo atravs do qual se faz
o escoamento em estudo (ver Figura 20), v
2
a velocidade do fluido no troo 2, A
1
a
rea da seco recta do troo 1 e A
2
a rea da seco recta do troo 2.
Figura 20 - Representao da equao da continuidade associada a um fluxo de fluido que circula
num tubo cilndrico com diferentes seces rectas. (Adapt. E.R. Jones e R.L. Childers, 1993).
20
A viscosidade a grandeza que mede a frico existente entre camadas adjacentes de um fluido e, do
ponto de vista do escoamento de fluidos, um fluido ter viscosidade nula significa que qualquer que seja
o ponto considerado num determinado troo, caracterizado por um determinado dimetro, a velocidade
do fluido constante (ver Figura 20).
29
Tendo em conta que ao produto da velocidade do fluido pela rea da seco
recta se d o nome de caudal:
vA Q ,
equao 28
uma outra forma de enunciar a equao de continuidade dizer que o caudal de um
escoamento laminar e no rotacional, de um fluido ideal constante qualquer que seja
a seco que se considere.
Quanto equao de Bernoulli, esta consequncia da conservao da energia
e, considerando, uma vez mais, dois troos de um tubo no qual circula um fluido
representada atravs da igualdade:
te 2
2 2 2
2
1 1 1
c
2
1
2
1
= + + = + + v gh P v gh P
equao 29
onde P
1
e P
2
so as presses do fluido respectivamente nos troos 1 e 2, v
1
e v
2
as suas
velocidades nos mesmos troos, h
1
e h
2
a altura respectiva de cada troo, a
densidade do fluido e g a acelerao da gravidade.
Retome-se, agora, a discusso feita em torno da presso sangunea em
diferentes pontos do corpo. Para se ser completamente rigoroso, atendendo a que o
sangue se encontra em movimento, a equao explicativa das diferenas de presso
em diferentes pontos do corpo humano dever ser a equao de Bernoulli
21
e no o
Princpio de Pascal. No entanto, se admitirmos que a medida de presso feita em
artrias com um dimetro aproximado e que o seu caudal idntico, ento a
velocidade em cada uma delas ser aproximadamente igual e a equao de Bernoulli
reduz-se equao 19 o que valida o raciocnio feito anteriormente acerca das
diferenas de presso sangunea medidas em diferentes partes do corpo.
6.2 Movimento de fluidos viscosos
Embora as equaes referidas na seco anterior sejam aplicadas em muitas
situaes prticas, h que ter em ateno que a maioria dos fluidos apresentam
viscosidade. Em particular, a grande parte dos fluidos biolgicos, cujo exemplo
paradigmtico o sangue, so caracterizados por uma viscosidade no desprezvel.
Comece-se, ento, por definir matematicamente viscosidade. Considere-se
duas lminas separadas por uma fina camada de fluido (ver Figura 21) de espessura
y. Mantendo-se a lmina de baixo fixa e aplicando-se uma fora F
r
na lmina de
cima, verifica-se que se estabelece-se uma variao da velocidade do fluido, v
r
medida que se consideram camadas sucessivas do fluido. Se A for a rea de cada uma
das lminas, verifica-se a seguinte relao:
y
v
A F
= ,
equao 30
onde a constante de proporcionalidade a viscosidade do fluido. Uma anlise
dimensional desta grandeza revela que a sua unidade S.I. o Pa s.
21
Repare-se que para que a equao de Bernoulli seja plenamente adequada a esta situao ser
necessrio considerar o sangue como um fluido no viscoso, o que, na prtica, no se verifica. Por este
motivo, em seces posteriores, discutir-se- a situao em que a viscosidade considerada.
30
Figura 21 - Representao das varveis envolvidas na definio de viscosidade de um lquido.
A consequncia mais visvel de se considerar a viscosidade de um fluido num
escoamento o seu perfil de velocidade ao longo de uma seco. Como se verifica na
Figura 22, mesmo em fluxos laminares, desde que o fluido tenha viscosidade a sua
velocidade varia com a distncia ao centro do tubo, o que aconteceria em fluidos no
viscosos sendo vlida a expresso
22
:
( )( )
2 2
2 1
4
1
r a P P
l
v =
,
equao 31
onde as grandezas tomam os seguintes significados: v - velocidade do fluido a uma
distncia r do centro do tubo, a - raio do tubo, - viscosidade do fluido, l -
comprimento do tubo, (P
1
-P
2
) - diferena de presses nas extremidades do tubo.
Figura 22 - Representao do perfil de velocidades num fluido viscoso que circula num tubo
cilndrico. (Adapt. de J.B. Marion e W.F. Hornyak, 1985).
Assim, segundo a equao 31 evidente que, considerando a viscosidade, o
fluido que circula prximo das paredes do tubo possui uma velocidade praticamente
zero e a velocidade mxima ocorre no seu centro.
Da expresso anterior , ainda, possvel deduzir a Lei de Poiseuille, que
aquela que fornece o caudal que atravessa uma seco recta do tubo em funo das
variveis anteriormente descritas:
( )
2 1
4
8
P P
l
a
Q =
equao 32
Tambm relacionado com a viscosidade do fluido est o tipo de escoamento
que este apresenta. Na verdade, em fluidos reais, com viscosidade no nula,
22
Considera-se que o tubo no interior do qual o lquido flui tem geometria cilndrica.
31
verifica-se que para valores de velocidade do fluido abaixo de um certo valor, o
escoamento considerado laminar. No entanto, quando esse valor ultrapassado, o
escoamento passa a ser turbulento. Geralmente, prev-se o tipo de escoamento de um
determinado fluido empiricamente atravs da anlise de um parmetro, ao qual se d o
nome de Nmero de Reynolds. Este factor que, como se poder verificar,
adimensional, calculado, para o caso de um tubo cilndrico atravs da expresso:
v a 2
= ,
equao 33
sendo v a velocidade mdia do fluido e tendo as restantes variveis o significado
anteriormente referido.
Estabelece-se, ento, que, quando o nmero de Reynolds tem um valor inferior
a 2000 o escoamento laminar, enquanto que quando o nmero de Reynolds for
superior a 3000 o escoamento turbulento. A gama entre 2000 e 3000 corresponde a
uma situao intermdia, instvel, em que o fluxo oscila entre o laminar e o
turbulento.
6.3 Foras de atrito no interior de fluidos
Quando objectos se movem no interior de fluidos viscosos e para valores de
velocidade considerados baixos, ficam sujeitos a foras de atrito proporcionais
viscosidade do fluido. Estabelece-se que para o caso de um objecto esfrico que se
mova num fluido, a fora de atrito proporcional sua velocidade quando o nmero
de Reynolds associado a esta geometria:
rv
= ,
equao 34
menor do que 1. Nestas condies, cumpre-se a relao:
rv F
a
6 = ,
equao 35
onde r o raio do objecto, v a sua velocidade, a densidade do fluido e a sua
viscosidade.
Assim, alm das foras de impulso, referidas a propsito da Lei de
Arquimedes, um objecto no interior de um fluido com viscosidade fica sujeito a uma
outra fora que se ope ao seu movimento, a qual, para valores adequados da
velocidade do objecto, proporcional a essa velocidade (ver Figura 23).
Repare-se, a este respeito, que, o facto de a fora de atrito sentida por objectos
que se deslocam em fluidos ser proporcional velocidade, implica que, ao contrrio
do que sucede nos slidos
23
, a velocidade de objectos que caiem no interior de fluidos,
no aumente sempre ao longo da sua trajectria, mas que exista uma velocidade
limite, a partir da qual, todas as foras aplicadas se anulam. Determine-se, ento essa
velocidade limite. A condio que a soma da fora de atrito, F
a
, com o impulso, I,
iguale a fora gravtica do objecto, F
grav
:
23
Nos slidos, numa primeira aproximao, assume-se que a fora de atrito constante e, portanto,
independente da velocidade com que os slidos se deslocam uns relativamente aos outros.
32
a grav
F I F + = .
equao 36
Substituindo cada uma das foras pela sua expresso e considerando o objecto
esfrico, obtm-se
24
:
( )
fluido obj
fluido obj fluido obj
g r
v
rv r g r g rv gV gV
=
+ = + =
9
2
6
3
4
3
4
6
2
3 3
,
V o volume do objecto,
obj
a sua densidade, r o seu raio, v a sua velocidade,
fluido
a densidade do fluido e a sua viscosidade. Neste caso necessrio que se cumpra a
condio do dimetro do recipiente ser muito maior do que o dimetro da esfera.
Figura 23 - Representao das foras aplicadas a um objecto imerso num fluido com viscosidade
e densidade
fluido
. (Adapt. E.R. Jones e R.L. Childers, 1993).
Para situaes em que o nmero de Reynolds apresentado na equao 34 seja
maior do que 1, vlido assumir-se que as foras de atrito so, por um lado,
proporcionais ao quadrado da velocidade, por outro independentes da viscosidade do
fluido. Nesse caso, a expresso da fora de atrito vem dada por:
2
2
2
v
r C F
fluido
D a
= ,
equao 37
sendo C
D
o coeficiente de atrito, obtido atravs de medidas experimentais e tendo as
restantes variveis o mesmo significado do que o descrito anteriormente.
24
Recorde-se que o volume de uma esfera dado pela expresso 4/3 r
3
.
33
6.4 Aspectos da circulao sangunea
Os princpios nos quais a circulao sangunea se baseia so, na sua maioria,
relacionados com os aspectos de movimento de fluidos explicados nas seces
anteriores. Como do conhecimento geral, a circulao sangunea responsvel pelo
transporte de oxignio, nutrientes e outros produtos essenciais vida das clulas e
retira destas dixido de carbono e diversos detritos resultantes do seu metabolismo.
A circulao sangunea pode ser descrita de uma forma simples do seguinte
modo: o sangue, aps ser oxigenado nos pulmes dirige-se para a aurcula esquerda
do corao passando pelas veias pulmonares. Em seguida, transferido para o
ventrculo esquerdo atravs da vlvula
25
mitral e deste bombeado para todo o corpo.
sada do ventrculo esquerdo, passa pela vlvula artica, que d passagem para a
artria aorta e conduzido atravs de uma rede complexa de artrias cada vez mais
pequenas
26
, indo alimentar todas as clulas. Aps as trocas gasosas, de nutrientes e de
detritos existentes ao nvel celular, o sangue regressa ao corao atravs de veias cada
vez de maior dimenso
27
, at entrarem no corao atravs da veia cava em direco
aurcula direita. A passagem da aurcula direita para o ventrculo direito feita atravs
da vlvula tricspide e, a partir do ventrculo direito, o sangue passa ainda na vlvula
pulmonar que d acesso artria pulmonar que o conduz no sentido dos pulmes onde
ser oxigenado (ver Figura 24 e Figura 25).
Figura 24 -Esquema de um corao humano. (Adapt. Vander, Sherman e Luciano, 1998).
Para aplicar circulao sangunea alguns dos resultados discutidos
anteriormente necessrio analisar-se as propriedades do sangue e assumir-se
algumas aproximaes. Antes de mais, deve ter-se presente que o sangue, embora
25
Repare-se que as vlvulas cardacas, tanto as que unem as aurculas aos ventrculos, como as que
unem os ventrculos s artrias, tm como funo garantir a unidireccionalidade do fluxo sanguneo. O
mau funcionamento das mesmas implica, invariavelmente, a existncia de refluxos, com indesejveis
efeitos no funcionamento cardaco.
26
s artrias mais pequenas d-se o nome de arterolas e estas desembocam em capilares com a
dimenso celular que permitem alimentar clulas individuais.
27
Similarmente ao que acontece com as artrias, s veias de menor dimenso d-se o nome de vnulas.
34
seja, em muitas situaes, considerado como um fluido homogneo, na verdade,
constitudo por diversas partculas em suspenso, o que, do ponto de vista de anlise
do seu escoamento, torna a sua descrio particularmente difcil, nomeadamente,
quando os vasos que o conduzem so muito estreitos. Um segundo ponto, prende-se
com a elasticidade dos vasos que conduzem o sangue. Apesar de se aceitar, nas
abordagens mais simples, que o sangue circula atravs de tubos rgidos, esta
aproximao no verdadeira, uma vez que, como se sabe, as paredes dos vasos so
extremamente elsticas, sendo, inclusivamente, um factor importante de regulao do
fluxo sanguneo como se discutir adiante. Por fim, o sangue dever ser considerado
um fluido viscoso, sendo caracterizado por uma viscosidade aproximada de
= 4 x 10
-3
Pa s e uma densidade = 1.0595 x 10
3
Kg m
-3
.
Figura 25 - Esquema do sistema circulatrio. (Adapt. de
http://www.cancer.help.org.uk/help/default.asp?page=116, consultado em Fevereiro de 2008).
Uma questo que se coloca saber se o escoamento do sangue nos vasos
sanguneos laminar ou turbulento. Para responder a este ponto necessrio conhecer
qual a velocidade mxima do sangue circulante. Para um determinado caudal, quanto
maior for a rea da seco dos vasos, menor ser a velocidade do fluido. Como
facilmente se compreende, a rea dos vasos atravs dos quais o sangue conduzido
aumenta com a distncia ao corao
28
. Ou seja, a velocidade do sangue maior nas
grandes artrias. , pois, til analisar o que se passa ao nvel da artria aorta.
Tendo em ateno que o caudal habitual do sangue 8 x 10
-5
m
3
s
-1
e que o
dimetro da artria aorta cerca de 2 cm, facilmente se calcula a velocidade mdia do
sangue que nela circula:
( )
1 -
2
2
5
2
s m 25 . 0
10 1
10 8
=
= = = =
v
r
Q
v
A
Q
v v A Q .
28
Repare-se que conforme nos afastamos do corao, o dimetro dos vasos diminui, mas o seu nmero
aumenta, de modo que o balano no sentido de a rea total tambm aumentar.
35
Estamos, pois, em condies de calcular o nmero de Reynolds para esta
situao:
1325
10 4
25 . 0 10 1 10 06 . 1 2
3
2 3
=
.
Ou seja, o nmero de Reynolds , em situaes normais, menor do que o valor
limite de 2000. De onde se pode concluir que o fluxo laminar. Deve, no entanto,
realar-se que, em situaes de maior caudal que ocorrem, por exemplo, durante
esforo fsico, o nmero de Reynolds pode exceder o valor 2000 e, nesse caso, o fluxo
na aorta, torna-se turbulento. Porm, clculos realizados para outros vasos levam a
concluir que, em situaes normais, apenas ao nvel da aorta existe a possibilidade de
ocorrncia de fluxos turbulentos e, geralmente, associados a situaes afastadas do
repouso.
Com os dados que se possui ainda possvel atravs da lei de Poiseuille
(equao 32), encontrar a diferena de presso nos extremos da artria aorta.
Admitindo que o seu comprimento aproximadamente 40 cm, a diferena de presso
vem dada por:
( )
( )
Pa 6 . 32
10 0 . 1
4 . 0 10 4 8
10 8
8
4
2
3
5
4
2 1
=
= =
P P
a
l
Q P P
.
Em seguida, ainda possvel utilizar este resultado para, atravs da equao
30 determinar o perfil da velocidade do sangue na artria aorta. A velocidade do
sangue variar entre o valor zero junto s paredes da artria e um valor mximo que
corresponde ao centro da artria e que, em termos matemticos, corresponde a
considerar r = 0:
( ) ( )
1 -
2
2
3
2
2 1
s m 5 . 0 10 0 . 1 6 . 32
4 . 0 10 4 4
1
4
1
=
= =
v a P P
l
v
.
Este resultado, em conjunto com a Lei de Bernoulli (equao 29), permite
concluir que a presso junto das paredes da artria maior do que a presso no seu
centro. devido a este resultado que, em situaes normais, as partculas que se
encontram em suspenso no sangue so conduzidas por este, maioritariamente na
regio central dos vasos, em vez de serem depositadas nas suas paredes (ver Figura
26). Esta tendncia, porm, no impede que, com o correr dos anos, as paredes dos
vasos se estreitem, devido a depsitos vrios, e percam elasticidade, fenmeno ao qual
se d o nome genrico de arteriosclerose. Uma vez formados esses depsitos a sua
remoo muito difcil uma vez que, como observmos, a velocidade do sangue junto
s paredes praticamente zero e, portanto, no tende a arrast-los.
36
Figura 26 - Esquema do perfil das velocidades do sangue que circula numa artria, representao
das foras a que as partculas constituintes do sangue so sujeitas e da varivel r correspondente
equao 31. (Adapt. de J.B. Marion e W.F. Hornyak, 1985).
Se analisarmos a equao 29, facilmente verificamos que a constrio de um
local no interior do vaso, implica um aumento de velocidade nessa regio. Quando
esse aumento significativo o fluxo pode tornar-se turbulento o que provoca graves
disfunes ao nvel da circulao sangunea.
A alterao do dimetro dos vasos pode, no entanto, ser um importante factor
de regulao. De facto, como j se referiu, os vasos sanguneos, particularmente as
arterolas, no possuem uma forma rgida, sendo as suas paredes revestidas de
msculos que contraem ou distendem, modificando, assim, o seu dimetro e
controlando o caudal. Utilizando a equao 32 pode estimar-se qual a alterao de
caudal provocada numa arterola quando o seu dimetro diminui, por exemplo, de
20%. Seja Q o caudal inicial, Q o caudal aps o estrangulamento da arterola e a e a
os seus raios em cada uma das situaes:
( )
( )
( )
Q Q
a
a
a
a
P P
l
a
P P
l
a
Q
Q
42 . 0 4 . 2
8 . 0 '
8
'
8
'
'
4
4
4
4
2 1
4
2 1
4
= = = =
conclui-se, ento, que apenas com uma pequena diminuio no raio, o caudal se altera
para menos de metade. Em situaes de funcionamento normal, este mecanismo ,
como se observou, extremamente eficiente no sentido de canalizar o sangue para as
regies que mais precisam dele.
37
III MOVIMENTO OSCILATRIO E PROPAGAO DE ONDAS
Como se ir observar nas prximas seces, o estudo da forma como as ondas
se propagam, sejam elas mecnicas (aquelas que necessitam de um meio material para
se propagarem, como as ondas sonoras) ou electromagnticas (aquelas que se
propagam no vazio) de extrema importncia para a compreenso de diversos
fenmenos que ocorrem ao nvel do corpo humano. Por este motivo este captulo ser
inteiramente dedicado forma como se descreve primeiramente um movimento
oscilatrio (movimento que ocorre segundo uma determinada frequncia) e em
seguida generalizao da propagao deste movimento e qual se d o nome de
onda.
7. Movimento harmnico simples
O movimento de uma partcula diz-se do tipo harmnico simples, quando
representado pela expresso:
) cos( + = t A x
equao 38
So exemplos de movimentos harmnicos simples o movimento executado por
uma massa ligada a uma mola ou um pndulo que oscila sem atrito. Este tipo de
movimento pode ser descrito graficamente observando a Figura 27.
Figura 27 Ilustrao das grandezas envolvidas num movimento harmnico simples e sua
representao num grfico de amplitude em funo do tempo. (Raymond A. Serway, 4 edio,
1996).
As grandezas envolvidas neste processo so, essencialmente: amplitude
mxima do movimento, A; a fase inicial do movimento, e a frequncia angular,
. Ao conjunto (t+) d-se o nome de fase do movimento, vem dada em radianos e
depende, obviamente, do instante considerado. Ao tempo que demora uma partcula a
executar um ciclo completo d-se o nome de perodo T. Usando esta ltima
definio e o facto de um ciclo corresponder a 2 possvel deduzir a equao 39,
substituindo na expresso x(t) o tempo por t+T
T
2
=
equao 39
38
) cos(
) ( sen
+ = =
+ = =
t A
dt
dv
a
t A
dt
dx
v
2
Quanto frequncia definida como o inverso do perodo, ou,
matematicamente:
T
f
1
=
equao 40
Para determinar a velocidade e a acelerao de uma partcula em movimento
harmnico simples, seguem-se as regras de derivao que permitem obter a
velocidade atravs da derivada da posio e a acelerao atravs da derivada da
velocidade
29
:
Tendo em conta as expresses anteriores, as relaes de fase entre estas
grandezas so dadas pela Figura 28:
Figura 28 Relaes de fase entre a posio a velocidade e a acelerao de uma partcula em
movimento harmnico simples. (Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
8. Propriedades das ondas
Se pensarmos que a informao que estimula dois dos nossos sentidos mais
importantes (a viso e a audio) e atravs das quais reconhecemos o mundo que nos
rodeia transmitida atravs de ondas, facilmente nos apercebemos da importncia do
seu estudo na compreenso do modo como se processa a nossa percepo. Na
realidade, apesar do som e da luz
30
serem fenmenos de natureza muito distinta,
29
Ver ANEXO B.
30
Deve ter-se presente que embora neste momento se esteja a referir apenas a luz, todo o formalismo
que se vir a desenvolver vlido para qualquer onda electromagntica, da qual luz apenas um
exemplo.
x a
A a
A v
2
2
=
=
=
mx
mx
39
possvel model-los atravs do formalismo ondulatrio, isto , assumir que ambos se
propagam atravs de uma perturbao do meio
31
, transportando, desta forma, energia,
sem que haja transferncia de massa.
8.1 Descrio das ondas
Uma das principais caractersticas das ondas o seu carcter peridico,
semelhana do que acontece com o movimento harmnico simples. Por este motivo,
como se observar, a sua descrio feita atravs de algumas grandezas comuns a
este movimento e que reflectem essa propriedade. Na verdade, uma onda sinosoidal
32
no mais do que um movimento harmnico simples que se propaga pelo espao.
Assim, para alm das grandezas j referidas a propsito do movimento harmnico
simples como a sua frequncia (nmero de ciclos existentes num segundo), cuja
unidade o hertz (Hz) e o seu perodo (durao do ciclo), dado em segundos (s) (ver
Figura 27), tem-se tambm a considerar o seu comprimento de onda (c.d.o.) (tamanho
espacial do seu ciclo) cuja unidade o metro (m) e a sua velocidade de propagao
(que tem, como se sabe, unidade de m s
-1
). Estas grandezas relacionam-se atravs de
expresses muito simples, que vale a pena recordar.
O comprimento de onda (), o perodo (T) e a velocidade de propagao (v)
relacionam-se atravs da expresso:
vT = .
equao 41
ainda de referir duas grandezas, muitas vezes associadas s ondas, s quais
se d o nome de frequncia angular () e nmero de onda (k) e cujas definies
matemticas so dadas pelas expresses:
f 2 = .
equao 42
2
= k .
equao 43
A frequncia angular dada em radianos por segundo (rad s
-1
) e contm o
mesmo tipo de informao que a frequncia, mas em unidades angulares, o mesmo
acontecendo com o nmero de onda em relao ao comprimento de onda, cuja
unidades rad m
-1
.
Por fim, resta complementar o conceito de fase, introduzido anteriormente. Se
admitirmos que a um ciclo completo corresponde 2 radianos (que , alis, o que est
subjacente na equao 42 e na equao 43), a cada instante possvel definir a fase
em que o ciclo se encontra, atribuindo a esta um ngulo. Assim, assumindo que
inicialmente a onda se encontra no princpio do ciclo, ento nesse instante a sua fase
nula; aps um quarto do perodo (T/4), a sua fase de 90; em T/2 a fase de 180 e
no final de um perodo a fase de 360, ou, o que o mesmo, novamente de 0.
31
No caso das ondas sonoras so as partculas constituintes do prprio meio que so perturbadas. No
caso da luz, existe uma perturbao nos campos electromagnticos na regio onde esta se propaga. Por
este motivo, enquanto que as primeiras exigem um meio material para se propagarem ondas
mecnicas, as segundas propagam-se no vazio.
32
Que so aquelas que se ir estudar.
40
Neste contexto , certamente, mais compreensvel as vrias notaes que se
usam para descrever uma onda caracterizada por uma amplitude A (intensidade da
perturbao), uma frequncia angular w e uma fase inicial . As restantes variveis
tm o significado dado anteriormente:
) ( )
2
(
)
2
( ) 2 ( ) ( ) (
+ = + =
= + = + = + =
kvt sen A
ct
sen A
T
t
sen A ft sen A t sen A t
.
equao 44
8.2 Reflexo, refraco e interferncia
Algumas das propriedades mais interessantes das ondas dizem respeito ao seu
comportamento quer quando atravessam um meio com diferentes propriedades, quer
quando uma ou mais ondas se sobrepem na mesma regio do espao.
Quando uma onda passa de um meio com determinadas caractersticas para
um outro com caractersticas diferentes, observa-se que uma parte da sua energia
reflectida (recuando para o meio de onde provinha) e outra parte segue para o segundo
meio, alterando as suas propriedades. Verifica-se ainda que quando as irregularidades
da superfcie da interface so pequenas relativamente ao comprimento da onda
incidente a reflexo ocorre numa direco especfica e diz-se especular. Quando,
pelo contrrio, as irregularidades da superfcie so maiores do que o comprimento da
onda, a reflexo diz-se difusa, uma vez que ocorre em todas as direces. Exemplo de
uma reflexo especular a que podemos observar quando um raio de luz incide num
espelho, exemplo de uma reflexo difusa a de um raio de luz que incide numa folha
de papel.
Quando uma onda incide numa interface segundo um determinado ngulo,
verifica-se que, quando a reflexo especular, a parte da onda que reflectida faz
com a perpendicular interface um ngulo de igual valor mas de sentido contrrio ao
do ngulo da onda incidente (ver Figura 29). Quanto parte da onda que segue para o
segundo meio sofre uma deflexo relativamente ao ngulo de incidncia. A este
ltimo fenmeno d-se o nome de refraco, sendo o ngulo da onda refractada
dependente das propriedades dos dois meios.
Figura 29 - Representao de uma reflexo especular. Compare-se o ngulo que a onda incidente,
a onda reflectida e a onda refractada fazem com a vertical. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
Na situao em que duas ou mais ondas viajam na mesma regio do espao a
perturbao total desse meio uma soma vectorial da perturbao associada a cada
uma delas, podendo o resultado corresponder a uma onda de maior intensidade, de
41
menor intensidade ou mesmo aniquilao das ondas. A este fenmeno d-se o nome
de interferncia (ver Figura 30).
Figura 30 - Exemplo de interferncias entre ondas com a mesma frequncia e fase: a)
interferncia construtiva, b) interferncia genrica e c) interferncia destrutiva. (Adapt. de P.
Davidovits, 2001).
Figura 31 - Exemplo de um sinal constitudo por diferentes frequncias. O primeiro sinal o
resultado da soma dos quatro restantes, sendo possvel recuperar estes ltimos atravs do uso do
formalismo da Transformada de Fourier. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
42
Realce-se que, quando a frequncia das ondas somadas no a mesma, o
resultado poder ser um padro muito complicado (ver Figura 31) de difcil
interpretao
33
. Ora, repare-se que a grande maioria dos sinais se encontram nestas
circunstncias e, portanto, para o seu estudo recorre-se, muitas vezes, tcnica de
processamento de anlise em Transformada de Fourier que permite a separao do
sinal nas suas diversas componentes cada uma das quais associada a uma frequncia,
sendo, portanto, possvel analisar cada onda em separado, avaliando a percentagem
com que cada uma delas contribuiu para o sinal.
8.3 Alguns aspectos das ondas sonoras
Como as ondas sonoras se apresentam numa vasta gama de intensidades,
usual representar a sua amplitude em decibel, que, sendo definido a partir da funo
logaritmo, torna mais simples a representao de valores afastados de muitas ordens
de grandeza:
0
log 10
I
I
dB = ,
equao 45
sendo I
0
uma intensidade de referncia.
A intensidade do som dependente da presso mxima no meio (P
mx
) onde
se propaga atravs da relao:
c
P
I
2
2
mx
= ,
equao 46
onde a densidade do meio e c a velocidade das ondas nesse mesmo meio. De tal
forma que a equao 44 poder tambm ser dada por:
0
mx
mx
log 20
P
P
dB = ,
equao 47
onde
0
mx
P a presso mxima do meio correspondente onda de referncia.
No que respeita velocidade do som em diferentes meios, facilmente se
verifica que, enquanto nos gases, a velocidade relativamente baixa, devido ao facto
de uma molcula no meio gasoso poder mover-se em distncias razoveis sem
interferir com molculas vizinhas; nos slidos, a velocidade dos ultra-sons bastante
mais elevada, pelo motivo inverso. Nos lquidos, o som possui velocidades
intermdias. Ao nvel dos tecidos biolgicos, exceptuando os pulmes (que
apresentam uma elevada percentagem de ar) e os ossos (que tm um comportamento
semelhante ao dos slidos), os restantes tecidos comportam-se, a este respeito, como
lquidos.
Como j foi referido para o caso geral de qualquer onda, o comportamento do
som quando encontra um obstculo depende do tamanho desse obstculo quando
comparado com o comprimento de onda. Para compreender o que se passa ao nvel de
uma interface, importante definir a grandeza impedncia acstica:
c Z = ,
equao 48
33
Este , alis, o caso mais comum
43
onde a densidade do meio e c a velocidade do som nesse meio. Ao considerar uma
onda sonora que incide perpendicularmente numa superfcie, a fraco de energia
incidente que reflectida (ou coeficiente de reflexo) dada por:
2
1 2
1 2
|
|
\
|
+
=
Z Z
Z Z
R
,
equao 49
em que Z
1
a impedncia acstica do primeiro meio e Z
2
a impedncia acstica do
segundo. Do mesmo modo, o coeficiente de transmisso (fraco da energia incidente
que transmitida) definido como:
( )
2
2 1
2 1
4
Z Z
Z Z
T
+
= .
equao 50
Das expresses anteriores, conclui-se que quanto maior for a diferena entre as
impedncias acsticas, maior ser a fraco de energia reflectida e menor a fraco de
energia transmitida. Por exemplo, na interface ar/tecido biolgico ou ar/gua a maior
parte da energia reflectida.
8.4 Alguns aspectos sobre o efeito de Doppler
O efeito de Doppler consiste na alterao da frequncia de ondas sonoras
quando existe uma velocidade relativa entre a fonte e o receptor das ondas.
Considere-se que a fonte de ultra-sons est a mover-se na direco do receptor com
uma velocidade v
s
. Aps um intervalo de tempo t depois da criao de uma
determinada frente de onda, a distncia entre a frente de onda e a fonte de (v-v
s
)t, o
que significa que o comprimento de onda do som na direco do movimento
diminudo para (ver Figura 32):
0
f
v v
s
= ,
equao 51
onde f
0
a frequncia do som ao sair da fonte. fcil verificar que a variao na
frequncia , ento, dada por:
|
|
\
|
=
S
S
v v
v
f f
0
,
equao 52
que toma a forma:
|
\
|
=
v
v
f f
S
0
,
equao 53
quando se considera a velocidade da fonte muito menor que a velocidade do som no
meio.
44
Figura 32 Esquema explicativo do efeito de Doppler. S representa a fonte das ondas sonoras e d
o detector. (Adapt. W.R. Hendee, E.R. Ritenour, 1992).
O mesmo efeito se verifica quando o detector que se encontra em
movimento.
Quando a direco contrria (em vez de ser no sentido de fonte e detector se
aproximarem, no sentido de se afastarem) a variao da frequncia vem negativa o
que significa que esta diminui.
Um ltimo caso a considerar, a situao em que o som reflectido por um
objecto em movimento. Nesse caso o objecto funciona como detector quando o feixe
o atinge e funciona como fonte quando o feixe reflectido, de modo que provoca um
desvio na frequncia que o dobro dos desvios atrs considerados.
No caso mais geral, em que o feixe no tem a direco do movimento, o
desvio causado pelo movimento do objecto reflector mvel dado por:
cos 2
0
|
\
|
=
v
v
f f
s
,
equao 54
sendo o ngulo formado pela direco do movimento com a propagao do feixe.
8.5 As ondas electromagnticas e a sua interaco com a matria
Um outro tipo de ondas de extrema importncia so as ondas electromagnticas, que
se distinguem das mecnicas, essencialmente, porque no necessitam de um meio
material para se propagarem. Aconselha-se para um melhor acompanhamento deste
sub-captulo a leitura do ANEXO D, onde so explorados alguns conceitos sobre a
estrutura da matria. A radiao electromagntica caracterizada pela propagao de
duas ondas perpendiculares uma outra (uma das ondas corresponde a um campo
elctrico e a outra corresponde a um campo magntico) que transportam a mesma
quantidade de energia e oscilam num plano perpendicular direco de propagao.
Dada a sua semelhana, para efeitos de alguns estudos, considera-se apenas uma
delas, uma vez que conhecendo uma, se conhece perfeitamente a outra (ver Figura
33).
O formalismo anteriormente descrito continua a ser vlido para estas ondas,
sendo, no entanto a sua velocidade de propagao no vcuo uma das mais importantes
constantes exibindo o valor 3x10
8
m/s.
45
Figura 33 - Esquema de uma radiao electromagntica. Note-se o facto de cada uma das ondas
(elctrica e magntica) se encontrarem perpendiculares uma outra e perpendiculares
velocidade de propagao, que tem a direco Z.
Neste ponto est-se em condies de introduzir o espectro electromagntico,
ou seja, toda a gama de ondas conhecidas que podem ser classificadas como ondas
electromagnticas, organizadas segundo o seu comprimento de onda
34
. Desde os
raios-, mais energticos, at s rdio-frequncias de menor energia (ver Figura 34).
Luz visvel
Espectro ptico
Raios
gama
Raios
X
Ultra
violeta
Luz
visvel
Infra
vermelho
Micro
ondas
Rdio
10
-12
m 10
-9
m 10
-7
m 10
-6
m 10
-3
m 1 m
Comprimentos de onda
Menos energticos Mais energticos
Azul Vermelho
Figura 34 - Tabela com as vrias radiaes electromagnticas considerando os seus
comprimentos de onda. Neste esquema encontra-se em evidncia a regio que corresponde ao
espectro visvel e ao espectro ptico.
Neste contexto, ir-se- considerar, basicamente, trs tipos de interaco dos
campos electromagnticos com a matria: o efeito fotoelctrico, o efeito de Compton
e a criao de pares. O efeito fotoelctrico aquele em que a energia do foto
incidente totalmente absorvida pela matria, sendo utilizada para ionizar
determinado elemento. Este efeito d-se prioritariamente a energias baixas (inferiores
a 35 keV
35
) e tanto mais frequente quanto maior for o nmero atmico efectivo da
matria. De facto, a probabilidade de um foto interactuar com uma dada substncia
atravs de efeito fotoelctrico aceita-se que tem uma dependncia entre a terceira e a
quarta potncia do nmero atmico efectivo dessa substncia. esta dependncia que
34
Repare-se que, tendo em considerao as relaes entre as vrias grandezas, pode dizer-se que esta
organizao estabelecida segundo os comprimentos de onda, ou segundo a frequncia, ou segundo a
energia (confrontar com a equao 41, a equao 42 e o ANEXO D).
35
1eV = 1.602 x 10
-19
J
46
, maioritariamente, responsvel pelo contraste existente nas imagens mdicas de
Raios-X e que explorada na fabricao de agentes que so injectados nos doentes
com o objectivo de aumentar o contraste destas imagem.
Figura 35 Esquema ilustrativo do efeito fotoeltrico. (Adapt. de:
http://www.oaep.go.th/physics/xrf/xrf02.html, consultado em Outubro de 2006).
Quando a energia dos fotes aumenta, o efeito de Compton que se torna
preponderante, ou seja, os fotes interagem com os electres livres da matria
36
,
adquirindo uma frequncia diferente da inicial (o que corresponde a uma diminuio
de energia). Este efeito pode ser visto como um choque elstico entre duas partculas
(entre o foto e o electro livre, estando este ltimo inicialmente em repouso),
mantendo-se o momento linear e a energia cintica do sistema antes e depois da
coliso. Neste caso, note-se que a probabilidade de interaco de um foto com a
matria no depende directamente do nmero atmico, mas sim do nmero de
electres por unidade de massa. Ora como o nmero de electres por unidade de
massa decresce com o nmero atmico de uma forma muito lenta, a razo entre o
coeficiente de atenuao devida ao efeito de Compton muito semelhante para todos
os materiais, excepo do hidrognio.
Figura 36 - Esquema ilustrativo do efeito de Compton. (Adapt. de:
http://www.oaep.go.th/physics/xrf/xrf02.html, consultado em Outubro de 2006).
O terceiro e ltimo processo considerado a criao de pares
electro/positro
37
, o qual s ocorre para energias superiores a 1.022 MeV, uma vez
que esta a soma das energias de um electro e um positro livres (E = 2mc
2
). Por
36
Entende-se por electres livres aqueles cuja energia de ligao ao tomo muito menor do que a
energia do foto incidente.
37
O positro a anti-partcula do electro. Ou seja tem exactamente a mesma massa, carga contrria e,
quando encontra um electro. Ambos se aniquilam, surgindo energia em forma de radiao
electromagntica.
47
exemplo, para efeitos de imagem com raios-X, este efeito considerado desprezvel,
uma vez que a gama de energias utilizadas no abarca valores to elevados, estando,
aproximadamente, no intervalo entre 20 keV e 100 keV.
Figura 37 - Esquema ilustrativo da criao de pares. (adapt. de:
http://www.oaep.go.th/physics/xrf/xrf02.html, consultado em Outubro de 2006).
Quanto atenuao sofrida por um feixe de radiao electromagntica num
determinado meio, esta ocorre graas s interaces consideradas anteriormente,
cumprindo-se a expresso:
x
I
I
d
d
= ,
equao 55
onde,
I
I d
a fraco de energia perdida por um feixe, quando ultrapassa um material
e dx a espessura desse material.
Ento, vlida a expresso:
h
e I I
=
0
,
equao 56
onde, o coeficiente de atenuao do material, h a sua espessura, I
0
a intensidade
inicial do feixe e I a intensidade do feixe aps ter atravessado o material.
48
IV RADIOACTIVIDADE
Do mesmo modo que a emisso de radiao-X provm da passagem de estados
excitados dos tomos para estados menos energticos (ver anexo D), a radioactividade
deve-se a instabilidades nos ncleos atmicos que correspondem a estados de energia
mais elevada (ver Figura 38). Estes estados correspondem a ncleos que sofrem
processos de decaimento (ou seja, passam a estados menos energticos), seguindo a
lei:
t
e N N
=
0
,
equao 57
onde N o nmero de ncleos radioactivos no instante t, N
0
o nmero de ncleos
radioactivos no instante t = 0 e a constante de decaimento, caracterstica de cada
ncleo (ver Figura 39). Repare-se na semelhana entre esta e a equao 56 da
absoro de radiao electromagntica em materiais (ambas expressas
matematicamente atravs de exponenciais negativas).
Esta lei pode tambm ser reescrita atravs da expresso:
t
e A A
=
0
,
equao 58
sendo A a actividade da fonte radioactiva que uma medida da taxa de decaimento e,
por conseguinte definida por n de desintegraes por unidade de tempo, a sua
unidade SI o becquerel (Bq) isto uma desintegrao por segundo. Existem, porm,
algumas outras unidades bastante usadas em radioactividade, nomeadamente o curie
(Ci), que ainda que seja muito tradicional deve ser evitada, por uma questo de
uniformizao das unidades ao SI. A converso de uma unidade para a outra : 1Ci =
3,7x10
10
Bq.
a) b)
Figura 38 a) Ilustrao da relao da razo entre o nmero de neutres e o nmero de protes
com a instabilidade dos ncleos. b) Representao da tendncia para um determinado tipo de
decaimento tendo em conta essa razo.
http://ithacasciencezone.com/chemzone/lessons/11nuclear/nuclear.htm consultado em 4/10/2006.
49
Figura 39 Ilustrao do decaimento radioactivo, , tempo de vida media e T tempo de
semi-vida.
Define-se tempo de semi-vida como:
/ 2 ln
2 / 1
= T ,
equao 59
sendo o tempo que demora uma amostra de ncleos radioactivos a reduzir-se para
metade.
E tempo de vida mdia como o inverso da constante de decaimento
introduzida na equao 57:
/ 1 = .
equao 60
9. Produo de radioistopos
Neste contexto, torna-se oportuno referir as diversas formas de produzir fontes
radioactivas. Assim, pode considerar-se quatro mecanismos essenciais:
a) captura de neutres (ou activao por neutres)
b) fisso nuclear
c) bombardeamento com partculas carregadas
d) gerador de radionuclidos
Todos estes mtodos interferem ao nvel da estabilidade nuclear, ou seja, ao
nvel da razo entre o nmero de protes e o nmero de neutres (ver Figura 38 a)).
A captura de neutres que, como o prprio nome indica, resulta do ncleo
receber um neutro (n) pode envolver a transformao de um istopo noutro (o
elemento mantm-se), com libertao de radiao (que ser introduzida adiante) ou
50
a transformao de um istopo de um elemento, num istopo de outro elemento, com
libertao de protes (p) (ver Figura 40). Como exemplos destas duas situaes,
temos:
+ + Mo Mo
99 98
n p n + + P S
32 32
Figura 40 Ilustrao da produo de fontes radioactivas por captura de neutres (esferas
azuis). As esferas vermelhas so protes.
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/Solar_interior/Nuclear_Reactions/Fusion/Fusion_in
_stars/ncapture.html&edu=high, consultado a 4 de Outubro de 2006.
Figura 41 - Ilustrao da produo de fontes radioactivas por fisso nuclear. Repare-se na
existncia de uma reaco em cadeia que, geralmente, este tipo de processo desencadeia.
http://www.oxfordreference.com/pages/VED_samples, consultado a 4 de Outubro de 2006.
51
Figura 42 - Ilustrao da produo de fontes radioactivas por bombardeamento de partculas
carregadas. http://www.bnl.gov/bnlweb/SNS/workings.html consultado a 4 de Outubro de 2006.
Na fisso nuclear existe tambm captura de neutres (uma vez que as amostras
so bombardeadas por este tipo de partculas), ficando, em seguida, o ncleo de tal
forma instvel que ocorre a fisso do ncleo em dois elementos de nmero atmico
menor:
n n 4 Sn Mo U U
132
50
99
42
236
92
235
92
+ + +
Muitos dos istopos produzidos por fisso so eles prprios instveis, decaindo,
geralmente, por emisso de electres (ver Figura 41).
No bombardeamento com partculas carregadas (protes ou partculas -
ncleos de hlio, formados por 2 neutres e 2 protes), tem-se alterao do elemento
(ver Figura 42). Como exemplo, pode apresentar-se as reaces:
n p
n p
+ + +
+ +
F O
2 Ga Zn
18 16
67 68
Quanto ao gerador de radionuclidos, tem-se um mecanismo de, a partir de um
istopo radioactivo pai (fonte), surgir um istopo radioactivo filho. O istopo pai
tem um tempo de vida superior e est continuamente a decair para o istopo filho,
que aquele que apresenta radiao relevante para determinada aplicao. A maioria
dos istopos utilizados em Medicina Nuclear, por exemplo, como o
99
Tc
m
, so obtidos
atravs de geradores de radionuclidos, fundamentalmente, porque, desta forma, se
evita a construo de um reactor perto do hospital. Assim, apenas necessria a
existncia da fonte e a realizao de um procedimento bioqumico que permita a
separao do istopo pai do istopo filho e que ligue este ltimo ao radiofrmaco.
10. Decaimento radioactivo
Quanto aos vrios decaimentos nucleares h a considerar:
libertao de partculas (ver Figura 43), ex:
+ Rn Ra
222
86
226
88
52
As partculas no tm aplicao em imagens mdicas, devido ao seu fraco poder
penetrante, mas podem ter interesse clnico ao nvel da terapia de leses superficiais.
Figura 43 Exemplo de um decaimento alfa.
http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html, consultado a 4 de Outubro de
2006
radiao
-
- libertao de electres (ver Figura 44), ex:
+ +
e
m 99 99
Tc Mo
Neste tipo de radiao tambm libertado um neutrino que uma partcula sem
massa e sem carga e que interage fracamente com a matria, cuja existncia foi
prevista pelos fsicos, precisamente para que as leis de conservao se mantivessem
vlidas em decaimentos como este. Tambm neste caso, os electres libertados no
so utilizados em diagnstico mdico, devido ao seu fraco poder penetrante, embora
apresentem utilidade ao nvel teraputico.
Figura 44 Exemplo de um decaimento beta menos.
http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html - 4 de Outubro de
2006.
radiao
+
- libertao de positres (ver Figura 45), ex:
+ +
+
e Zn Ga
68 68
neste tipo de radiao h libertao de um anti-neutrino . No que toca aplicao
em Medicina, os positres so teis em imagens mdicas, uma vez que se combinam
rapidamente com os electres do meio, libertando dois raios antiparalelos. Estes
penetram nos tecidos e so detectados no exterior do organismo, permitindo construir
uma imagem de actividade.
53
Figura 45 Exemplo de um decaimento beta mais.
http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html, consultado a 4 de Outubro de
2006.
captura electrnica - transformao de um proto num neutro,
acompanhada de captura electrnica por parte do ncleo (ver Figura 46),
ex:
+ + Te e I
123 - 123
Neste tipo de radiao h tambm libertao de raios-X, uma vez que os electres de
camadas mais externas vo ocupar o lugar dos electres capturados pelo ncleo,
habitualmente de camadas mais internas.
Figura 46 - Exemplo de um decaimento por captura electrnica.
http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html, consultado a 4 de Outubro de
2006.
radiao - libertao de radiao electromagntica atravs de rearranjos
nucleares de estados de energia mais elevada para estados de energia mais
baixa (ver Figura 47). Neste tipo de decaimento no h alterao de
elemento ou de istopo. O estado excitado pode ser prolongado no tempo e,
nesse caso, confere-se-lhe a denominao de metaestvel. Pode ainda
existir converso interna, que o mecanismo que ocorre quando a radiao
ioniza os tomos e, por este motivo, segue-se libertao de raios-X.
54
Figura 47 - Exemplo de um decaimento gama.
http://library.thinkquest.org/3471/radiation_types_body.html, consultado a 4 de Outubro de
2006.
11. Lei do inverso do quadrado
Uma lei vlida para qualquer fonte pontual e que governa a intensidade de um
feixe com a distncia, no considerando a atenuao a lei conhecida por Lei do
Inverso do Quadrado. Esta lei afirma que a intensidade do feixe de radiao
decresce com o inverso do quadrado da distncia fonte emissora e decorre da
conservao da energia: uma fonte emitindo a energia E, dispersa-a em todas as
direces e a intensidade que atravessa uma superfcie distncia r ser dada por:
2
4 d
E
I
= ,
equao 61
portanto, a dependncia da intensidade com a distncia inversamente proporcional
ao quadrado desta ltima.
55
V APLICAES LASERS MEDICINA
12. Princpios fsicos do funcionamento dos lasers
Como se sabe, a sigla LASER composta das iniciais de Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation e que corresponde, como o prprio nome indica,
emisso de luz muito intensa devido emisso de radiao estimulada.
Como do conhecimento geral, os modelos atmicos e moleculares
actualmente em vigor (ver anexo D), consideram estados quantizados de energia que
correspondem a energias bem definidas, sendo os estados de menor energia
primeiramente preenchidos. Assim, numa populao molecular, a maioria das
molculas encontram-se no estado fundamental, enquanto que apenas uma pequena
percentagem se encontra em estados excitados devido agitao trmica.
De facto, na construo de um laser, necessrio haver uma inverso de
populao, ou seja, tem que existir um mecanismo que bombeie electres que se
encontram no estado fundamental para um estado excitado, fornecendo-lhes energia.
As duas formas de fornecimento de energia so a ptica e atravs de descargas ou
correntes elctricas (alguns lasers utilizam formas de fornecimento de energia qumica
ou nuclear, mas estes no so utilizados em Medicina).
Como se sabe, a passagem de um nvel de energia menor para um nvel de
energia mais elevada, ocorre atravs de absoro de energia, enquanto que o contrrio
ocorre com libertao de energia.
, no entanto, de referir que existem dois mecanismos de passagem de um
nvel de energia mais alta para um nvel de energia mais baixa: por emisso
espontnea (quando o processo ocorre sem interferncia exterior) ou por emisso
estimulada (quando o processo ocorre devido passagem de um foto de energia igual
diferena de energias entre os nveis - ver Figura 48). Este ltimo caso apresenta a
particularidade de o foto libertado possuir exactamente a mesma frequncia e fase do
foto responsvel pelo estmulo, o que significa que ambos so coerentes e a sua soma
amplifica a intensidade da luz. Sabendo que os lasers utilizam este mecanismo de
libertao de luz, facilmente se compreende de que forma a luz laser to
monocromtica e pode ser to intensa.
Figura 48 Esquema que representa o mecanismo de emisso estimulada; hfi
n
a energia do
foto que estimula a emisso, enquanto que 2hf
out
a energia dos dois fotes resultantes, ou seja,
a soma do que estimula a emisso com o resultante da emisso. (Adapt. de:
http://www.jyi.org/volumes/volume3/issue3/images/peterson_laser2.gif consultado em Dezembro
de 2006).
56
O fenmeno da emisso estimulada tanto mais eficiente quanto mais
povoado estiver o nvel de energia mais elevado. por este motivo que nos lasers
criado um mecanismo atravs do qual existe inverso da populao, ou seja, o nvel
de energia mais elevado fica mais povoado do que o estado fundamental. A forma
mais simples de o fazer fornecer energia s molculas de modo a coloc-las num
nvel de energia elevado.
Na verdade, os meios de que os lasers so constitudos podem apresentar
vrios nveis de energia. Observe-se, por exemplo, os dois sistemas representados na
Figura 49. No primeiro existem trs nveis de energia: um nvel de energia mais baixo
(E
0
), onde a maioria das molculas se encontram, um nvel de energia mais elevado
(E
2
), com um tempo de vida mdio curto, e um nvel de energia intermdio (E
1
), com
um tempo de vida longo (meta-estvel). Fornecendo energia ao meio (usando uma
lmpada forte ou uma descarga elctrica, quando o meio activo gasoso) transfere-se
as molculas do estado E
0
para o estado E
2
, estas, rapidamente se transferem para o
estado E
1
, decaindo, por fim, mais lentamente para o estado E
0
. nesta ltima
transio que se est interessado. Assim, so os fotes libertados nesta ltima
transio que vo ser responsveis pela emisso estimulada de outros fotes. No caso
do sistema de 4 nveis, temos dois estados intermdios em que o E
2
o estado
considerado meta-estvel e, por este motivo, deste para o nvel imediatamente
abaixo que provm os fotes que interessam para a luz laser.
Figura 49 Esquema que representa a existncia de estados meta-estveis responsveis pela
inverso da populao, a qual permite a existncia de emisso estimulada.
Falta referir um ponto importante que corresponde ao modo como a energia da
radiao escolhida e amplificada (repare-se que no interior do meio existem vrias
transies e h que escolher aquela que se pretende optimizar). Para tanto, constri-se
uma cavidade de ressonncia de modo a atenuar os fotes de energia diferente da
pretendida. Ou seja, a cavidade composta por um cilindro com dois espelhos em
cada uma das bases, um deles dever ser totalmente reflector, enquanto que o outro
ser apenas semi-transparente para que apenas uma pequena percentagem do feixe
saia da cavidade (ver Figura 50). Alm disso, o comprimento do cilindro escolhido
de modo a ser um nmero inteiro de metades de comprimentos de onda, de modo a
que a onda reflectida somada onda incidente.
Devido quantidade de vezes que o feixe reflectido nos espelhos, o laser tem
tambm uma direco muito bem determinada, uma vez que vai ficando colimado
com os espelhos ( como se a fonte original estivesse cada vez mais distante e,
portanto, os raios tornam-se cada vez mais paralelos entre si).
E
0
E
1
E
2
E
0
E
1
E
2
E
3
Estado
meta-estvel
Estado
meta-estvel
57
Figura 50 Esquema de uma cavidade de ressonncia de um laser. Adapt. de:
http://www.acs.ryerson.ca/~kantorek/ELE884/laser.gif consultada em Dezembro de 2006.
A monocromaticidade garantida, no s porque os fotes so originados a
partir de uma transio bem determinada, como tambm devido geometria da
cavidade (a qual foi j anteriormente descrita).
possvel alcanar potncias muito elevadas com lasers, uma vez que a luz
extraordinariamente ampliada pela forma como obtida, mas tambm porque
possvel concentr-la numa rea muito pequena. A ttulo de exemplo pode observar-se
que uma radincia de 1W numa rea de 10
-6
m
2
e um ngulo slido de 10
-6
sr
corresponde a uma potncia de 10
12
Wm
-2
sr
-1
.
Alem disso, os lasers podem operar em modo contnuo ou pulsado. Ou seja, o
espelho semi-transparente pode deixar passar a luz apenas em perodos de tempo
muito pequenos (na ordem dos ns). Desta forma, a potncia do feixe ainda mais
concentrada durante esses pequenos intervalos de tempo.
13. Interaco da luz LASER com os tecidos
A radiao electromagntica proveniente dos lasers pode abranger a gama do
espectro entre o infra-vermelho e o ultra-violeta, numa gama de frequncias de,
aproximadamente, 10
14
Hz a 10
16
Hz. Ora estas radiaes, excepo das de mais alta
frequncia, possuem energias que no so suficientes para quebrar as ligaes
qumicas das molculas. De forma que os seus principais efeitos so ao nvel do
aumento local da temperatura dos tecidos, verificando-se que estes efeitos so
extremamente dependentes da forma como essa energia for depositada nos tecidos.
Com o objectivo de dispor de grandezas que permitam avaliar estes dois factores:
energia depositada e tempo durante o qual essa energia foi transferida, e analogamente
ao que acontece em outras reas, so definidas duas grandezas - a densidade de
potncia e a fluncia. A primeira tem a expresso:
A
P
I =
,
equao 62
onde P a potncia do laser (energia emitida por unidade de tempo) e A a rea da
seco recta do feixe. E a fluncia definida por:
58
E
IT F = ,
equao 63
onde T
E
e o tempo de exposio.
Analisando as duas expresses anteriores, pode concluir-se que, para a mesma
densidade de potncia, quanto menor a fluncia, mais rpido ser o processo de
deposio de energia.
Existem, pois, dois efeitos distintos associados a diferentes formas de
deposio de energia trmica nos tecidos atravs de irradiao com luz laser: a
fotocoagulao (quando as densidades de potncia dos lasers so menores e, portanto,
a deposio da mesma quantidade de energia mais lenta) e a fotovaporizao
(quando as densidade de potncia so maiores).
A fotocoagulao , em certa medida, uma espcie de cozedura. Na verdade,
os efeitos sobre os tecidos so muito semelhantes ao que acontece, por exemplo, ao
cozermos um naco de carne. O aumento de temperatura ir conduzir desnaturao
das protenas, ou seja, perda da sua estrutura terciria, tornando-as disfuncionais.
Em termos de aspecto fsico, e apelando nossa experincia quotidiana, sabemos, por
exemplo que a carne vermelha cozida, perde a sua cor tornando-se castanho
acinzentada. Este fenmeno deve-se, precisamente, desnaturao da hemoglobina e
da mioglobina (protenas que so responsveis pelo transporte do sangue nos vasos
sanguneos e nos msculos, respectivamente, e que conferem ao sangue a cor
vermelha). Sabemos ainda que a carne depois de cozinhada se torna mais fcil de
rasgar, devido desnaturao do colagnio, protena de estrutura constituinte de
grande parte dos tecidos orgnicos. E, por fim, j todos tivemos a infeliz decepo de
preparar uma refeio para vrias pessoas e o naco de carne que cozinhmos, ter
diminudo visivelmente, o seu volume. O que corresponde, precisamente,
evaporao (ainda que lenta) de uma parte significativa da gua que o constitua.
Tendo em conta estas consideraes, fcil compreender que a fotocoagulao pode
ser utilizada para destruir tecidos, infligindo-lhes desnaturao das protenas que os
constituem. Embora se v discutir adiante vrias aplicaes mdicas, pode desde j
adiantar-se que a fotocoagulao utilizada, essencialmente, na destruio de
tumores, em tratamentos da retina e como forma de evitar hemorragias (os vasos
sanguneos fotocoagulados so como que selados e evitam a perda de sangue).
Apesar de a fotocoagulao envolver a deposio lenta de energia trmica nos
tecidos, deve ter-se presente que esse processo no pode demorar demasiado tempo,
caso contrrio, corre-se o risco de o calor se transferir para os tecidos em redor e, por
um lado, no ser eficiente relativamente aos efeitos pretendidos na regio de aco,
por outro, ir lesar tecidos adjacentes sobre os quais no se desejava agir. A este
respeito, pertinente introduzir-se um outro conceito que o de tempo de relaxao
trmico. representado por T
R
e o tempo necessrio para que o calor depositado
numa determinada regio seja conduzido para fora dessa regio, de forma a que a
temperatura aumentada no tecido exposto diminua para metade. Com base nesta
definio, compreende-se que para que a aco do laser seja eficiente deve cumprir-se
a condio: T
e
<<T
R
.
Alm disso, observou-se que as densidades de potncia associadas ao efeito de
fotocoagulao esto na gama entre 10 W/cm
2
e 100 W/cm
2
, de modo que os lasers
utilizados nestas aplicaes possuem estas caractersticas.
Quando as densidades de potncia dos lasers so superiores a 100 W/cm
2
o
efeito mais evidente o de fotovaporizao, ou seja, a temperatura de ebulio da
59
gua rapidamente atingida e os tecidos so cortados. Por este motivo, estes lasers
tm aplicaes essencialmente ao nvel cirrgico, podendo funcionar como bisturi, ou
como uma forma de remover tecidos extremamente precisa. Esta aplicao tem ainda
a vantagem adicional de os tecidos adjacentes ao corte sofrerem fotocoagulao,
evitando, desta forma, o surgimento de hemorragias.
Ainda no domnio dos lasers com densidades de potncia elevadas, h a
considerar aqueles cuja gama de frequncias se situa no ultravioleta e cujas energias j
interfer ao nvel das ligaes qumicas. Neste caso, a transferncia de energia no
implica aumento da temperatura, sendo o corte dos tecidos devido quebra das
ligaes qumicas. A este fenmeno d-se o nome de fotoablao.
A discusso sobre a forma de interaco da luz com os tecidos s fica
completa referindo o facto de a absoro da luz pelos tecidos ser selectiva. Ou seja,
como se sabe, algumas substncias absorvem especificamente num dado c.d.o.,
podendo essa especificidade ser utilizada em diferentes cenrios.
Antes de mais, relembremo-nos que o espectro de absoro das molculas
muito mais complexo do que o dos tomos, parecendo contnuos. O que significa que,
embora absorvam preferencialmente em determinadas frequncias o seu espectro no
apresenta picos bem definidos como no caso dos tomos (ver anexo D). No que
respeita constituio dos tecidos, pode dizer-se que estes so formados por cerca de
70% de gua e 30% de molculas biolgicas. Enquanto que a primeira transparente
na gama do visvel, mas absorve no infravermelho e no ultravioleta, as segundas
absorvem em diversas frequncias na gama do espectro electromagntico que nos
interessa, desde o infravermelho (IV) ao ultravioleta (UV). Embora as protenas
absorvam, preferencialmente, no UV, h excepes como a hemoglobina, que absorve
na gama entre, aproximadamente, 510 nm e 600 nm. Chame-se, porm, a ateno para
o facto de a oxihemoglobina e a deoxihemoglobina absorverem em c.d.o. diferentes: a
primeira absorve mais na gama do azul e menos do vermelho do que a segunda (ver
Figura 51), embora ambas reflictam prioritariamente na regio do vermelho. Da,
apesar do sangue ser sempre vermelho, se associar oxihemoglobina a cor vermelha e
desoxihemoglobina a cor azul.
Figura 51 Representao dos espectros de absoro da oxihemoglobina e da
desoxihemoblobina. (Adapt. de: Susanne Amador Kane, Introduction to Physics in Modern
Medicine, 2003, Taylor & Francis).
claro que, tendo em conta a selectividade da absoro, o comprimento de
onda em que os lasers emitem, a par da sua potncia, vai condicionar as suas
aplicaes. O laser de Nd:YAG, por exemplo, emite no infravermelho (1064 nm), e ,
60
fundamentalmente, utilizado em fotovaporizao. Embora no seja absorvido
especificamente, pela gua, pelo sangue ou pelos tecidos moles muito potente,
permitindo essa aplicao. J o laser de dixido de carbono emite no infravermelho
(10600 nm) e, uma vez que absorvido pela gua, utilizado em situaes gerais em
que no existam pigmentos coloridos. Existe ainda o laser de Er:YAG que emite no
infravermelho (1540 nm) e que pode ter aplicaes semelhantes s do de dixido de
carbono, com a vantagem de, uma vez que possui um c.d.o. menor, poder ser
focalizado em reas muito pequenas, o que aumenta a sua densidade de potncia e,
portanto, permite que seja utilizado em odontologia e nos tecidos sseos. Os lasers de
rgon so selectivamente absorvidos pela hemoglobina, sendo, por isso, utilizados em
cirurgia geral. Alm disso, existem lasers, como o de kripton vermelho e o de rgon
que so absorvidos selectivamente em diferentes regies da retina, o que pode ser
utilizado para diferentes aplicaes associadas oftalmologia.
14. Aplicao dos lasers a diferentes reas mdicas (facultativo)
Como j se introduziu na seco anterior, as aplicaes dos lasers na Medicina
so imensas. A cirurgia em geral, a dermatologia, a oftalmologia e a oncologia, so
algumas das reas em que a popularidade dos lasers tem aumentado todos os anos. Em
dermatologia, por exemplo, contam-se, por exemplo, as seguintes aplicaes: 1)
Remoo de cancros da pele. O laser de dixido de carbono muito utilizado para
este efeito, actuando ao nvel da remoo dos tecidos. 2) Na cirurgia esttica. O
mesmo tipo de laser pode ser utilizado para retirar camadas de pele muito finas,
permitindo o rejuvenescimento de tecidos que tenham sido, por exemplo, queimados
do sol. 3) Na cosmtica. O laser de Er: YAG, por exemplo, muito utilizado em
depilao dita definitiva. 4) Ainda em cosmtica, os lasers podem ser utilizados para
remoo de manchas pigmentadas. Os lasers de corantes com c.d.o. no amarelo tm
sido utilizados para destruir os vasos sanguneos responsveis pelas manchas tipo
vinho do porto. E o laser de Nd:YAG e de rubi so utilizados na remoo de
tatuagens. A este respeito de referir que quando a cor das tatuagens coincide com a
da hemoglobina e da melanina o tratamento mais difcil, uma vez que implica
tambm a destruio de tecidos saudveis e sem tatuagem
Tambm em oftalmologia a utilizao dos lasers muito vulgar. Alis, note-se
que o simples facto de a lente e o cristalino serem transparentes luz visvel permite o
fcil acesso destas radiaes a reas como a retina que, de outra forma s poderem ser
acedidas por mtodos invasivos. Podem enumerar-se as seguintes aplicaes a esta
rea: 1) No tratamento do glaucoma, cuja origem o aumento excessivo da presso
ocular, so realizados pequenos orifcios, com o laser de rgon, que facilitam a
drenagem do humor aquoso. 2) No tratamento de diversas leses que tenham causado
lenhos ou orifcios ao nvel da retina, os lasers so utilizados para fotocoagular a
regio em volta, de forma a evitar o seu crescimento. 3) Na retinopatia diabtica, onde
formada uma rede de vasos sanguneos que dificultam a viso, os lasers de rgon
so utilizados para realizar pequenas queimaduras nas regies volta dos vasos
sanguneos, prevenindo a formao de novos (ver Figura 52). 4) Em doentes com
cataratas, ou seja, em quem ocorre opacidade da lente. Nestas situaes, a lente
destruda atravs de ultrassons e colocada uma nova lente de material plstico. Porm,
em alguns casos as cataratas desenvolvem-se novamente e, nessa altura, podem ser
removidas atravs da aplicao da luz laser. 5) Na correco da miopia, tem sido
muito usual a utilizao de lasers de excmeros para realizar cortes que permitem
corrigir o raio de curvatura da crnea.
61
Figura 52 Fotografia da retina a) logo aps tratamento contra a retinopatia diabtica com
fotocoagulao e b) algum tempo depois. Em ambas as imagens so visveis as leses causadas
pelo tratamento e que evitam o crescimento dos vasos sanguneos, os quais so responsveis pela
perda de viso nestes doentes. (Retirado de: Susanne Amador Kane, Introduction to Physics in
Modern Medicine, 2003, Taylor & Francis).
Os lasers tm tambm sido aplicados com sucesso em odontologia. Neste
mbito, contam-se 1) a remoo de tumores e de tecidos em excesso e 2) a remoo
de placa bacteriana.
Uma ltima aplicao que nos parece digna de nota a de remoo de
tumores, no atravs de cirurgia, mas utilizando-se a tcnica de terapia fotodinmica.
Nesta tcnica, o indivduo injectado com uma substncia com afinidade s clulas
cancerosas. Essa substncia formada por molculas fotosensveis que, uma vez
expostas a luz com determinado c.d.o. sofrem alteraes tais, que destroem as clulas
a que esto ligadas. Este processo de destruio de clulas cancerosas , quanto a ns,
muito interessante, sendo necessrio ter-se em ateno que o indivduo deve
permanecer s escuras at a substncia injectada ter-se fixado na regio do tumor,
caso contrrio, corre-se o risco de serem destrudas clulas ss.
62
VI ALGUNS ELEMENTOS DE ELECTROMAGNETISMO E
APLICAES AOS SISTEMAS BIOLGICOS
Sendo a electricidade um fenmeno extremamente eficiente quer no transporte
de informao, quer na sua sincronizao, no de admirar que os sistemas biolgicos
a utilizem nas mais sofisticadas e delicadas funes do corpo humano. Na verdade,
qualquer que seja a situao em que exista transporte inico, os fenmenos elctricos
marcam uma indelvel presena, revelando-se de particular interesse no
processamento dos sinais nervosos e na actividade muscular. Para a compreenso
deste captulo, os alunos devero conhecer conceitos como os de fora elctrica,
campo elctrico e diferena de potencial elctrico. Analogamente, ao que foi feito em
captulos anteriores tambm neste caso existe um ANEXO E, onde estes conceitos so
revistos. Tendo em conta que no que respeita ao campo magntico os alunos
apresentam, em geral, maiores lacunas, no incio deste captulo sero feitas, no
sub-captulo 9, algumas consideraes relativas a esta matria.
15. Introduo ao campo magntico
A par da descoberta da existncia de cargas, encontrou-se tambm materiais
com propriedades interessantes os manes que exerciam foras de atraco ou de
repulso entre eles. Porm, s muito mais tarde, no incio da segunda metade do
sculo XIX, Maxwell (1831-1879) veio a estabelecer uma relao entre os aspectos
elctricos e os magnticos, reunindo ambos numa das grandes reas da Fsica qual
se d o nome de Electromagnetismo.
Assim, de uma forma anloga ao que se fez com a fora elctrica e o campo
elctrico, tambm se pode definir uma fora magntica e um campo magntico, cuja
unidade o tesla (T). Podendo estes ltimos serem gerados pela presena de manes
ou de cargas elctricas em movimento.
Tambm no caso do campo magntico a sua presena comprovada atravs
do uso de um objecto de prova. Neste caso, ou de um man, ou de uma partcula
carregada animada de velocidade.
Assim, sempre que se coloca uma partcula carregada com uma determinada
velocidade, v
r
, no interior de um campo magntico, B
r
, esta fica sujeita a uma fora
magntica,
mag
F
r
, com as seguintes caractersticas: a) a sua amplitude proporcional
carga, q, sua velocidade, v , e amplitude do campo magntico, B
r
; b) se a
velocidade da partcula for paralela direco do campo, a fora nula, c) a fora
perpendicular ao plano formado pela velocidade da partcula e pelo campo magntico,
d) o sentido da fora sobre uma carga positiva o oposto ao que fica sujeita uma
carga negativa, e) A amplitude da fora proporcional ao seno do ngulo formado
pela velocidade e pelo campo magntico. Ora estas observaes conduzem equao
64 (para compreender as relaes entre as direces dos vectores envolvidos veja-se a
Figura 53):
B v q F
mag
r
r
r
=
equao 64
63
Figura 53 Relao entre os vectores campo magntico, velocidade da carga e fora a que esta
fica sujeita. (Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
Com o intuito de se realizar um paralelismo entre as caractersticas da fora
elctrica e a fora magntica, chame-se a ateno para as seguintes consideraes: a) a
fora elctrica paralela ao campo elctrico, enquanto que a fora magntica
perpendicular ao campo magntico; b) a fora elctrica actua sobre cargas em
repouso, a fora magntica actua sobre cargas em movimento; c) a fora elctrica
realiza trabalho ao deslocar uma partcula, a fora magntica no (desde que o campo
seja estacionrio).
Tendo em conta a equao 64, possvel encontrar a fora magntica criada
em diversas circunstncias, nomeadamente, em situaes em que se considera uma
corrente (no esquecer que uma corrente elctrica um conjunto de cargas em
movimento). Se a corrente constante, I, percorrer um fio rectilneo, representado pelo
vector, L
r
, no interior de um campo magntico B
r
, obtm-se uma fora magntica
dada por:
B L I F
mag
r r r
=
equao 65
At agora, tem-se discutido a que fora que uma carga em movimento (ou
uma corrente) fica sujeita, quando est no seio de um campo magntico, ir-se- agora
abordar em que condies se cria um campo magntico. lei que rege precisamente a
criao de um campo magntico devido presena de cargas em movimento d-se o
nome de Lei de Biot-Savart, tambm ela estabelecida com base numa srie de
observaes experimentais que levaram a concluir que o campo magntico B d
r
criado
num ponto P devido passagem de uma corrente I no elemento s d
r
de um fio
condutor, cumpre: a) B d
r
perpendicular a s d
r
e a r
r
, sendo r
r
o vector posio do
64
ponto P; b) B d
r
inversamente proporcional a
2
r ; c) B d
r
proporcional corrente I
e ao elemento de comprimento ds e d) B d
r
proporcional ao sen , sendo o ngulo
formado por s d
r
e r
r
. Com base nestas observaes, foi fcil concluir que esta lei se
traduzia matematicamente pela expresso:
2
r
u s d I
k B d
r
m
r r
r
= ,
equao 66
sendo
1 - 7 0
A m T 10
4
= =
m
k , com
0
- permeabilidade do vcuo cujo valor :
-1 -7
A m T 10 4
Uma aplicao importante e bastante simples desta expresso o clculo do
campo criado por um condutor linear rectilneo e infinito, cuja expresso dada por:
R
I
B
2
0
=
r
.
equao 67
Sem pretender entrar em grandes detalhes relativamente ao formalismo
associado ao electromagnetismo importante realar um dos seus aspectos mais
interessantes. Na verdade, em electromagnetismo existe uma dualidade bastante
interessante que se traduz no facto de, por um lado cargas em movimento (correntes
elctricas) gerarem campos magnticos, por outro, campos magnticos no
estacionrios gerarem correntes elctricas.
Estas duas observaes so governadas, respectivamente, pela Lei de Ampre
e pelas Leis de Faraday e Lenz. Como j se referiu anteriormente, no se ir fazer
uma abordagem demasiadamente formal a estas leis pretendendo-se to-somente
reconhec-las em situaes bastante simples.
No que respeita Lei de Ampre, esta pode ser simplificada afirmando-se
apenas que uma corrente elctrica que percorre um circuito fechado gera uma campo
magntico em seu redor. Um exemplo tpico que se pode explorar com esta lei o
campo magntico criado por um solenide (repare-se que um solenide um conjunto
de N espiras circuitos fechados - que podem ser percorridas por uma corrente
elctrica, I). Nestas condies, prova-se que, com base na j referida Lei de Ampre e
se o solenide tiver um comprimento, l, suficientemente longo, num ponto exterior ao
solenide o campo magntico se pode considerar nulo, por outro lado, num ponto
interior, o campo magntico vem dado atravs da expresso (ver Figura 54):
l
N
I B
0
= .
equao 68
65
Figura 54 Representao das linhas de campo magntico criadas por um solenide real.
Compreende-se com base neste esquema que num solenide infinito, num ponto exterior ao
solenide e suficientemente afastado o campo possa ser considerado nulo e que num ponto
interior este seja contante. (Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
Uma introduo prtica Leis de Faraday possvel ser feita utilizando um
man e uma espira ligada a um ampermetro (ver Figura 55). Como comummente
aceite, um man gera um campo magntico. Ora, ao mover-se um man, est,
precisamente, a alterar-se esse campo magntico no meio em seu redor. Se esse
movimento for feito nas proximidades de uma espira verifica-se que se induz uma
corrente na espira que tem um sinal caso o man se mova num sentido e o sinal
contrrio se o man se mover em sentido contrrio. Como uma outra forma de gerar
um campo magntico atravs de uma corrente elctrica pode concluir-se que uma
corrente oscilatria nas proximidades de uma espira, vai, tambm ela provocar uma
corrente nessa espira, provocando uma diferena de potencial aos seus terminais. A
este fenmeno d-se o nome de Induo Magntica e pode ser explicado de uma
forma bastante simples: repare-se que se um condutor, no interior do qual no
circulam cargas se deslocar relativamente a um campo magntico, as suas cargas vo
sofrer uma fora que as impelir a mover-se, ou seja, criar-se- uma corrente
induzida.
Figura 55 Representao da Lei de Faraday. (Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
66
Embora no se tenha definido formalmente fluxo de campo magntico,
lembrando a definio de linhas de campo elctrico e transferindo-a para o campo
magntico como sendo tambm uma representao possvel do mesmo. Facilmente se
compreende que o fluxo magntico atravs de uma linha fechada ser determinado
pelo nmero de linhas de campo magntico que atravessa essa linha. Com base nesta
definio possvel enunciar a Lei de Faraday da seguinte forma: A diferena de
potencial gerada por induo aos terminais de um circuito, iguala em valor absoluto,
a taxa de variao do fluxo de campo magntico atravs da superfcie delimitada pelo
circuito em causa.
Quanto Lei de Lenz diz-nos apenas que essa diferena de potencial se ope
causa que lhe deu origem. Ou, dito de uma outra forma, a corrente induzida vai, por
sua vez, gerar um campo magntico que se ope variao do campo magntico
responsvel pela sua existncia.
16. Reviso de alguns conceitos sobre os principais elementos dos circuitos
elctricos (facultativo)
A intensidade de corrente que flui entre dois pontos num determinado material
proporcional diferena de potencial entre esses dois pontos e dependente das
propriedades desse material. Neste contexto, os materiais podem apresentar
essencialmente trs comportamentos
38
: resistivo, capacitivo e indutivo. A resistncia,
R, de um material mede a oposio que este faz passagem da corrente elctrica, tem
como unidade SI o ohm () e define-se como a constante de proporcionalidade entre
a diferena de potencial, V, e a corrente elctrica, I:
RI V = .
equao 69
equao 69 d-se o nome de Lei de Ohm e, conjuntamente com as suas
generalizaes e com a Lei da Conservao da Carga, encerra, certamente, a essncia
de todas as aplicaes da electricidade e dos circuitos elctricos
39
.
As componentes elctricas podem associar-se basicamente de duas formas: em
srie ou em paralelo (ver Figura 56). Prova-se que o resultado R
T
da associao de
duas resistncias, R
1
e R
2
, em srie, simplesmente a soma dessas duas resistncias:
2 1
R R R
T
+ = .
equao 70
Enquanto que o resultado da associao de duas resistncias em paralelo cumpre:
2 1
1 1 1
R R R
T
+ = .
equao 71
38
Na realidade, cada material exibe, numa certa medida, os trs comportamentos, no entanto, em geral,
um deles predominante.
39
Para a maioria dos autores, toda a teoria da electricidade se encontra resumida na expresso mais
geral da Lei de Ohm, na Lei das Malhas e na Lei dos Ns, sendo estas duas ltimas consequncias
directas da lei de conservao da carga.
67
Figura 56 - Esquemas de a) um circuito formado por duas resistncias em srie b) de um circuito
formado por duas resistncias em paralelo.
Sempre que uma corrente elctrica atravessa um material resistivo, uma parte
da sua energia transformada em calor. A potncia dissipada por esta via depende
linearmente da resistncia do material, R, e quadraticamente da corrente que o
atravessa, cumprindo-se a relao:
2
RI P = .
equao 72
Um condensador um outro componente elctrico cuja principal
caracterstica armazenar cargas elctricas. O condensador mais simples formado
por duas placas condutoras entre as quais se encontra um material isolante (ver Figura
57). Verifica-se que, quando se estabelece uma diferena de potencial entre os
condutores, V, existe uma acumulao de cargas em cada uma das placas (positivas
numa delas e negativas na outra). Se Q for a quantidade de carga acumulada em cada
uma das placas, cumpre-se a relao:
CV Q = ,
equao 73
onde a constante de proporcionalidade C a capacidade do condensador, cuja
unidade o faraday (F).
Figura 57 - Esquema de um condensador de placas.
No que respeita associao de condensadores, verifica-se que a capacidade
resultante, C
T
, de dois condensadores C
1
e C
2
dispostos em srie, cumpre a relao:
2 1
1 1 1
C C C
T
+ = .
equao 74
+
R
1
R
2
a)
R
1
R
2
b)
68
Enquanto que a capacidade associada a dois condensadores dispostos em
paralelo igual soma das capacidades de cada um deles.
A energia armazenada num condensador , como seria de esperar, funo da
sua capacidade e da diferena de potencial entre os condutores:
2
2
1
CV E = .
equao 75
O indutor, por sua vez, um componente que se ope a mudanas na
intensidade de corrente, de modo que a indutncia, L, que mede essa oposio,
definida atravs da relao:
t
I
L V
= .
equao 76
Onde V a diferena de potencial nos terminais do indutor e a razo
t
I
mede a
variao da corrente num intervalo de tempo t . A unidade SI da indutncia o
henry (H) e a associao de indutores segue as mesmas regras que a associao de
resistncias.
17. Equipamentos, sistemas de medida e de controlo
possvel reduzir qualquer sistema de medida a um pequeno conjunto de
operaes que podero ser mais ou menos complexas. Desta forma, sempre que se
pretender aceder medida de uma grandeza, quer directamente atravs dos nossos
sentidos, quer utilizando equipamentos adequados, podemos distinguir cinco passos
(ver Figura 58): No primeiro, com o recurso a um sensor apropriado, transforma-se a
grandeza a que se pretende aceder num sinal analisvel (tipicamente um sinal
elctrico). No segundo passo, esse sinal amplificado, uma vez que, em particular nos
fenmenos biolgicos, a ordem de grandeza do sinal medido , em geral, to baixa
que se torna difcil de processar. Em seguida, ou se observa directamente o sinal ou se
processa o sinal e posteriormente se o observa. Por fim, o sinal poder ser guardado
de modo a poder ser novamente analisado ou posteriores processamentos.
Figura 58 - Esquema dos blocos existentes num sistema de medio.
Medio do
parmetro a
observar
Amplificao
Visualizao
Processamento
do sinal
Armazenamento
69
Para ilustrar a aplicao deste esquema a duas situaes considere-se: 1) a
percepo de uma imagem atravs dos nossos olhos e 2) a medio dos ultra-sons
emitidos pelos morcegos.
No primeiro caso os fotes de luz que formam a imagem que os nossos olhos
vm so registados pelos sensores (cones e bastonetes) existentes na retina,
especializados em transformar luz em sinais elctricos. Esses sinais so transferidos e
processados pelos neurnios, formando-se uma imagem que reconhecida pelo
crebro e que o resultado da actividade de determinados neurnios. Por fim, essa
imagem poder ser colocada na memria atravs de mecanismos ainda no totalmente
conhecidos.
No caso de estarmos interessados no registo dos ultra-sons emitidos pelos
morcegos, necessrio utilizar um sensor adequado, que nesse caso, poder ser um
cristal piezo-elctrico que transforma os ultra-sons em sinais elctricos. Estes sinais
so amplificados e podem ser visualizados num osciloscpio. Geralmente, antes de
serem observados, estes sinais sofrem um processo de filtragem (processamento) com
o objectivo de os libertar de rudo (frequncias indesejadas). Finalmente, o sinal
poder ser gravado no disco rgido de um computador, num CD ou qualquer outro
suporte.
Associados aos sistemas de medida esto, muitas vezes, mecanismos de
controlo. Neste caso os circuitos apresentam uma maior complexidade, uma vez que
existe um parmetro que controlado com base no valor medido
40
. Na Figura 59
encontra-se um esquema geral dos sistemas de controlo: Existe um parmetro que
monitorizado e um valor de referncia que pode ou no ser tambm ele medido.
Ambos so transmitidos a um dispositivo de comparao que actua sobre o parmetro
que se pretende controlar atravs de diferentes aces.
Figura 59 - Esquema dos blocos existentes num sistema de controlo.
Retome-se o primeiro exemplo. Como se sabe, o sistema nervoso tem
capacidade para avaliar a quantidade de luz que est a chegar retina e decidir qual a
abertura adequada da pupila. Neste exemplo a referncia um patamar previamente
estabelecido e o parmetro controlado diferente daquele que medido.
40
O parmetro a controlar tanto pode ser aquele que directamente medido, como outro que lhe esteja
associado.
Medio do
parmetro
Valor de
referncia
Comparao
Alterao do
parmetro a
medir
Factor do qual
o parmetro a
medir depende
Alterao de
um outro
parmetro
70
Imagine-se uma outra situao em que se pretende manter uma sala a uma
dada temperatura que depende da humidade relativa da mesma. Neste caso, medida
a temperatura da sala (que coincide com o parmetro a controlar) e simultaneamente a
sua humidade relativa, estabelece-se a referncia desejada e decide-se se os
dispositivos de aquecimento ou arrefecimento devem ou no ser ligados.
18. O electrocardigrafo
O electrocardiograma (ECG) um exame amplamente utilizado em clnica
que consiste na medio de potenciais que se estabelecem ao nvel da pele resultantes
da actividade elctrica cardaca. As diferenas de potencial relacionadas com a
contraco cardaca so responsveis por correntes elctricas que flem atravs dos
tecidos biolgicos, provocando diferenas de potencial em regies afastadas do
corao, nomeadamente, superfcie da pele. O sinal medido atravs de elctrodos
que so colocados em diversos pontos do corpo, resultando o sinal da diferena entre
dois desses pontos (ver Figura 60).
Existem trs derivaes principais no ECG
41
dependentes dos pontos
considerados: I) o sinal medido entre o pulso esquerdo e o pulso direito; II) o sinal
medido entre a perna esquerda e o pulso esquerdo e III) o sinal medido entre a perna
esquerda e o pulso direito. Em qualquer delas possvel distinguir, para cada
contraco cardaca, trs sinais (ver Figura 61): A onda P, associada actividade
elctrica que resulta na contraco das aurculas. O complexo QRS, que corresponde
contraco dos ventrculos. E a onda T, que est associada descontraco dos
ventrculos. O sinal respeitante descontraco das aurculas, para alm de pouco
amplo e, portanto, de difcil deteco, aparece, em termos temporais, sobreposto ao
complexo QRS, no sendo possvel distingui-lo deste.
Figura 60 - Esquema de um electrocardigrafo. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
Figura 61 - Sinal tpico de electrocardiografia. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
41
Estas derivaes correspondem situao em que o sinal de ECG recolhido nos pulsos e nos
tornozelos. Existem outras derivaes, nomeadamente aquelas que implicam colocao de elctrodos
na regio do trax, mas s quais no nos iremos referir.
71
Os sinais medidos so na ordem dos milivolt (mV), de modo que, embora
sejam filtrados com o objectivo de os libertar de frequncias indesejveis, so,
geralmente, muito fceis de medir. De qualquer forma, necessrio utilizar um gel
electroltico que garanta um bom contacto elctrico entre os elctrodos e a pele e o
sinal ser medido com melhor qualidade quando a pele se encontra limpa.
Embora actualmente sejam j correntemente usados equipamentos de ECG
digitais
42
, na prtica clnica continuam a ser amplamente utilizados os aparelhos com
registo em papel. Apesar destes ltimos no possibilitarem uma avaliao quantitativa
do sinal rigorosa, geralmente, para um clnico experiente, a sua anlise visual
estudo das amplitudes relativas dos picos, a sua relao temporal e morfologia das
ondas suficiente para detectar anomalias ao nvel do funcionamento cardaco.
19. O electroencefalgrafo
O electroencefalograma (EEG) tem um princpio muito semelhante ao do
ECG, mas mede a actividade elctrica cerebral. Em termos gerais estabelecem-se dois
tipos de exame: os registos espontneos, onde as diferenas de potencial so medidas
continuamente e sem a presena de estmulos exteriores, e os registos evocados que
so os potenciais associados resposta cerebral a um estmulo que pode ser visual,
auditivo ou sensorial.
19.1 Registos electroencefalogrficos
Os primeiros registos de EEG so datados de 1928 e, logo aps as primeiras
medies da actividade cerebral no-invasivamente, tornou-se claro que as
caractersticas do traado eram fortemente dependentes do estado de repouso do
indivduo. De facto, uma parte significativa do registo de EEG espontneo
extremamente irregular, tornando-se difcil a sua caracterizao. Porm, quer por simples
inspeco visual, quer atravs do recurso a tcnicas de Transformadas de Fourier que
permitem o clculo dos espectros de potncia dos registos, facilmente se verifica que
existem frequncias dominantes correspondentes a diferentes estados de viglia (na
Figura 62 encontram-se esquematizados exemplos de diversos traados espontneos).
Alm disso, possvel detectar diversas patologias atravs da anlise do EEG, uma vez
que se podem observar quer notrias alteraes nos padres de frequncias considerados
normais, quer a existncia de grafo-elementos especficos da doena.
Quanto aos potenciais evocados h a referir que quando um sujeito
estimulado visual, auditiva ou sensorialmente desencadeia-se, nos hemisfrios
cerebrais, um processo complexo de recolha, transmisso e processamento de
informao que corresponde s diversas etapas da percepo. Aps o estmulo,
existem, pois, neurnios, ou grupos de neurnios, que se encontram activos em
simultneo ou sequencialmente dando origem a potenciais elctricos passveis de ser
medidos ao nvel do escalpe. Refira-se, porm, que as amplitudes dos potenciais
correspondentes ao estmulo (potenciais ou respostas evocadas), quando comparadas
com as dos potenciais espontneos constantemente presentes no registo
electroencefalogrfico, so vrias vezes menores (os registos espontneos tm
tipicamente, uma amplitude de 10-30V, enquanto os potenciais evocados tm uma
amplitude mnima de 0.5V). Por este motivo, com o intuito de tornar visvel os
potenciais evocados (PE), usual repetir os estmulos (habitualmente entre 50 e 200
vezes, dependendo do tipo de estmulo e da relao sinal/rudo que se pretender) e ir
42
No captulo referente ao EEG sero feitos alguns comentrios sobre as caractersticas dos sinais
registados com equipamentos digitais que so igualmente vlidos para os equipamentos de ECG.
72
somando os registos dos potenciais referentes aos instantes subsequentes. Partindo do
princpio que os potenciais espontneos so independentes do estmulo, este
procedimento permite fazer emergir os PE do rudo provocado pelos potenciais
espontneos (ver Figura 63).
Figura 62 - Exemplos de diversos traados de EEG espontneo. Os fusos so sinais que aparecem
no incio do sono, as ondas delta so tpicas dos instantes de sono mais profundo, o ritmo beta
aparece tanto durante a fase de sono REM (Rapid Eyes Movements), como durante a viglia
quando o indivduo se encontra com a sua ateno focalizada e o ritmo beta aparece em repouso.
(Adapt. Guyton e Hall, 1996).
Figura 63 - Efeito da soma de potenciais evocados visuais. (Adapt. Le Cerveau, 1984).
73
Os PE referentes a um determinado estmulo podem apresentar diversos picos
de amplitude aos quais se d o nome de componentes (ver Figura 64). Cada uma
destas componentes est relacionada com uma ou mais etapas de processamento de
informao e caracterizada pela sua latncia (intervalo de tempo entre o estmulo e a
componente). Actualmente, existem diversos estudos onde so comparadas as
latncias das diferentes componentes dos PE relativos a indivduos saudveis e a
doentes, verificando-se, em muitos casos, desvios significativos. Assim, a medio de
PE em doentes com distrbios neurolgicos cada vez mais uma prtica corrente na
clnica, tendo-se revelado como uma importante ferramenta ao nvel do diagnstico.
Figura 64 - Exemplo de um potencial evocado auditivo onde so patentes diversas componentes
relativas a diferentes latncias. (Adapt. Kandel e Schwartz, 1985).
Atendendo ao que foi descrito anteriormente, um procedimento correcto para
obter potenciais evocados deve garantir que o intervalo de tempo entre dois estmulos
consecutivos seja suficientemente grande para que as respostas neuronais no se
sobreponham, ou seja, para que os circuitos neuronais envolvidos na resposta ao
estmulo retornem ao seu estado inicial. E alm disso, deve ter-se em ateno que o
estmulo seja exactamente o mesmo e feito nas mesmas condies. A este respeito
ser importante salientar que, se estas condies so razoavelmente satisfeitas no que
diz respeito s primeiras componentes de um PE, o mesmo no vlido para
componentes de maior latncia. Na realidade, e como seria de esperar, conforme a
latncia vai aumentando, os potenciais medidos vo sendo progressivamente mais
complexos, estando relacionados com processamentos cada vez mais elaborados.
Assim, se as primeiras componentes dependem maioritariamente do tipo de estmulo e
so respeitantes simples percepo do mesmo, as de latncia mais elevada so
fortemente dependentes de mecanismos cognitivos como a ateno ou a expectativa,
pelo que se torna difcil garantir que o indivduo mantenha a mesma atitude cognitiva
perante o estmulo desde o incio do exame at ao seu final.
19.2 Equipamento (facultativo)
Em traos gerais, os modernos equipamentos de EEG resumem-se a dois
grandes blocos: o sistema de medida (elctrodos, amplificadores e restante material de
registo) e todo um conjunto logicial necessrio para o processamento dos dados
74
(tcnicas de imagem, transformadas de Fourier de processamento rpido (FFT
43
),
estatstica de comparao de populaes, localizao de fontes elctricas neuronais,
etc.).
Tendo em conta que a posio dos elctrodos no escalpe uma questo que
deve obedecer a determinados critrios, em 1958 um comit da Federao
Internacional das Sociedades de Electroencefalografia e Neurofisiologia Clnica
44
emitiu uma recomendao onde descrevia um modo de padronizar a distribuio dos
elctrodos sobre o escalpe: o sistema internacional 10/20. O principal objectivo
desta recomendao foi permitir uma fcil comparao entre os resultados obtidos em
diferentes laboratrios.
Na Figura 65 encontra-se esquematizada a distribuio sugerida, com a
nomenclatura dos diversos elctrodos. Esta distribuio pressupe o posicionamento
de 21 elctrodos.
Figura 65 - Posio esquemtica dos elctrodos segundo o sistema internacional 10/20. (Adapt.
Lewine e Orrison Jr., 1995).
A colocao dos elctrodos reveste-se de grande importncia, visto que a
qualidade das medidas electroencefalogrficas extremamente dependente do modo
como o contacto entre os elctrodos e o escalpe feito. Para tanto, necessrio
esfregar os locais onde os elctrodos sero posicionados com um gel electroltico.
Este procedimento permite limpar essa regio, favorecendo o contacto. Em seguida,
colocam-se os elctrodos nas posies padronizadas, usando para o efeito um
capacete ou uma touca que de adapta medida das diferentes cabeas. Existem
diversos tipos de elctrodos, que variam na forma e no modo de fixao: podem ser
aderentes pele, no precisando de fixao adicional; podem usar um sistema de mola
para se segurarem pele (estes elctrodos no podem ser usados no escalpe e so
unicamente usados nas orelhas, como elctrodos de referncia) ou podem ser fixos
atravs de uma pasta que facilita a aderncia do elctrodo. O uso de toucas onde os
elctrodos so fixos, torna mais fcil manter os elctrodos na mesma posio durante
todo o exame. Por fim, deve garantir-se que a impedncia de todos os elctrodos a
adequado ao registo.
A escolha dos elctrodos de referncia tem sido amplamente discutida,
devendo ser criteriosa, visto que se o(s) elctrodo(s) de referncia estiver(em)
contaminado(s) com a actividade que se pretender observar, os dados ficam
mascarados e pode mesmo no se conseguir discernir os sinais em causa. As
estratgias de registo dos potenciais dividem-se em: montagens monopolares
montagens em que as medidas de todos os elctrodos so feitas com referncia a um
43
Do ingls - Fast Fourier Transform.
44
International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology.
75
ou mais elctrodos e montagens bipolares a medida de cada canal referente
diferena entre dois elctrodos, geralmente adjacentes. As montagens monopolares,
apesar de serem aquelas que permitem uma mais fcil comparao entre os registos,
tm a dificuldade de nenhum elctrodo ser suficientemente isento de actividade
elctrica. De um modo geral, a mdia de dois elctrodos colocados sobre as orelhas ou
sobre os mentos considerada como uma boa opo, ainda que mesmo assim haja
sempre contaminao por actividade elctrica. Uma outra referncia que se usa a
mdia dos valores medidos em todos os elctrodos. Esta uma forma de contornar
situaes em que a referncia no seja muito boa, ainda que apresente a desvantagem
de alisar as amplitudes medidas, em particular para actividades elevadas.
Apesar de as questes relacionadas com os elctrodos possurem uma enorme
relevncia num exame de EEG, existem ainda outros factores que devem ser
enfatizados: a calibrao do equipamento, a sua sensibilidade e resoluo, a sua
resposta temporal e os filtros utilizados. Durante o protocolo inicial para o registo dos
potenciais, aps a colocao dos elctrodos e a medida das suas impedncias,
procede-se calibrao dos amplificadores. Nessa operao sujeita-se os
amplificadores a uma tenso nula, de modo a fazer o ajuste do zero e, em seguida, a
uma determinada tenso, de modo a calibr-los.
Uma questo importante que se coloca o da resoluo do equipamento de
medida. Nos aparelhos mais antigos, em que o registo era apenas grfico, a resoluo
do mesmo estava associado diferena entre duas tenses prximas capazes de fazer
mexer a caneta. Actualmente, as medidas so, normalmente, arquivadas digitalmente
(disco rgido, disco ptico, diskette, etc.), aps serem submetidas a um conversor
analgico-digital (CAD), cujos nveis de amplitude determinam a sua resoluo. Em
termos de valor absoluto de tenso, esta resoluo pode variar de exame para exame,
uma vez que sempre possvel definir a gama de valores que se pretendem medir
atravs de adequadas amplificaes (valores mais baixos para potenciais evocados,
por exemplo). Associada resoluo existe ainda uma outra grandeza, importante em
qualquer sistema de medida, que a sensibilidade (valor mnimo capaz de ser
registado). Tendo em conta a sua definio, numa primeira abordagem, a
sensibilidade poder ser confundida com resoluo, no entanto, note-se que a
sensibilidade poder ser menor do que a resoluo, devido presena de rudo no
equipamento. Assim, a sensibilidade est dependente da qualidade do equipamento e
o seu valor deve ser tipo em conta em medies que envolvam pequenas amplitudes
do sinal.
Uma outra caracterstica de um exame de EEG a sua taxa de aquisio. Para
alm de uma quantizao em amplitude (imposta pelo CAD), um sinal de EEG
tambm quantizado em tempo, de modo que um sinal de EEG no mais do que uma
srie temporal, sendo o tempo entre amostras determinado pela rapidez com que o
equipamento electrnico consegue recolher e guardar informao. A escolha da taxa
de aquisio ou amostragem do sinal, para alm das limitaes tcnicas, deve ser
escolhida atendendo a um compromisso entre a resoluo temporal que se pretender e
a memria ocupada pelos dados. De facto, alguns dos potenciais evocados sensitivos,
por exemplo, de maior interesse, tm latncias na ordem das dezenas de milisegundo,
pelo que comum, nestes casos, usarem-se taxas de aquisio superiores a 500Hz. No
entanto, para exames de actividade espontnea cujo registo corresponde, em geral, a
cerca de 20 minutos, usar frequncias na ordem dos 500Hz para esses registos na
rotina clnica, colocaria alguns problemas de memria na manipulao desses dados.
O tipo de filtros utilizados num registo de EEG uma outra questo muito
pertinente. De facto, a escolha de um filtro sempre um compromisso entre o que se
76
pretende eliminar de um sinal exterior e o que se pretende manter do sinal medido.
Mais uma vez, a escolha dos filtros a aplicar deve ser feita em consonncia com o tipo
de medidas que se est a efectuar. Ou seja, as frequncias caractersticas do sinal a
analisar devem ser mantidas, na medida do possvel, inalteradas. Refira-se, a este
propsito, que actualmente, com a construo de filtros digitais bastante
fiveis, tende-se a abandonar o uso de filtros analgicos muito limitativos, os quais
no permitem a recuperao do sinal. Em vez destes tende-se a usar filtros digitais que
podem ser aplicados aps a recolha dos dados.
19.3 Logstica (facultativo)
Uma grande parte dos procedimentos abordados nas ltimas seces:
determinao da impedncia dos elctrodos, calibrao dos amplificadores, escolha da
amplificao dos sinais, da sua taxa de aquisio e dos filtros aplicados, so, nos
equipamentos modernos, controlados logicialmente. Para alm destas especificidades
tcnicas, o operador pode ainda controlar o tipo de registo que pretende efectuar:
registo espontneo ou potenciais evocados e, neste ltimo caso, explicitar os
parmetros dos estmulos tipo de estmulo, frequncia e intensidade do mesmo,
tempo de anlise, etc. Esta forma de fixar os parmetros muito eficiente no que
respeita a padronizar os resultados, uma vez que para cada exame existe um menu por
defeito que s no ser o usado em casos especiais.
Os equipamentos mais modernos de EEG so acompanhados por um mdulo
logicial completo que permite a anlise detalhada dos sinais recolhidos. Nesta seco
pretende-se referir algumas das capacidades desse equipamento.
Mapas - Antes de mais, possvel visualizar os sinais medidos quer de um
modo tradicional registo de uma curva que contm a amplitude do sinal ao longo
do tempo
45
quer em forma de mapa a actividade medida interpolada para
diferentes pontos da cabea e visualizada num mapa cerebral bi-dimensional (Figura
66).
Figura 66 - Exemplo de um mapa cerebral onde esto representados os potenciais medidos e o
resultado da interpolao dos mesmos.
45
A ttulo de curiosidade, mencione-se que, por conveno, os sinais de EEG so apresentados com os
potenciais negativos no sentido positivo do eixo dos yy e os potenciais positivos no sentido negativo do
eixo dos yy.
77
Mdias de pontas possvel seleccionar vrios sinais e som-los,
fazendo-os coincidir no tempo (escolhe-se o instante de amplitude mxima e
sobrepem-se os sinais). Este procedimento permite obter uma melhor relao
sinal/rudo, no entanto, pode revelar-se falacioso, uma vez que possvel realizar
somas de sinais que no provenham da mesma origem. Para evitar este inconveniente,
o operador deve escolher apenas sinais que sejam caracterizados por topologias
inequivocamente similares.
Estatstica - Com o intuito de proceder a uma objectiva avaliao do carcter
dos traados de EEG, cedo se tentou determinar parmetros ou grandezas que os
caracterizassem. Desta forma, surgiu a ideia de aplicar aos registos
electroencefalogrficos tcnicas estatsticas desenvolvidas para sistemas cujo
comportamento muito complexo e imprevisvel. Neste contexto, possvel, calcular
a mdia do sinal, os seus momentos, etc. e comparar diferentes sinais ou diferentes
troos de um mesmo sinal, atravs destas grandezas. Este tipo de anlise permite
ainda a comparao entre populaes, sendo, deste modo, possvel, avaliar a
influncia de determinado factor no EEG de um indivduo normal ou doente.
Transformadas de Fourier - Uma rea que tem sido extremamente explorada
no processamento de dados electroencefalogrficos o das tcnicas de transformada
de Fourier rpida. Alis, dada a importncia de que os ritmos cerebrais se revestem
esta ferramenta tem sido amplamente desenvolvida, sendo possvel, por exemplo: 1) a
construo de mapas correspondentes a determinadas bandas de frequncia, o que
permite estabelecer relaes entre estas e as regies cerebrais e 2) a comparao dos
espectros correspondentes a diferentes populaes ou mesma populao, mas em
diferentes condies.
Uso de diferentes montagens montagem laplaciana - Uma outra
possibilidade que se coloca ao operador que dispe dos dados guardados digitalmente
a de alterar a montagem dos elctrodos e pesquisar se existe alguma informao que
se torne mais visvel aps essa modificao. Assim, como foi anteriormente discutido,
de um modo geral, os dados so recolhidos atravs de uma montagem monopolar
(habitualmente, usando um ou dois elctrodos de referncia) e depois possvel
visualiz-los em montagens monopolares correspondentes a outras referncias (mdia
de todos os elctrodos, por exemplo) ou em montagens bipolares (basta calcular as
diferenas entre elctrodos).
20. Aspectos da electricidade do sistema nervoso
Neste captulo sero, pois, abordados os mecanismos associados
electricidade do sistema nervoso nas suas diversas vertentes: criao, manuteno e
transporte de informao quer ao nvel celular, quer num mbito mais geral,
relacionado com a organizao cerebral.
20.1 As clulas gliais
Algumas das funes mais interessantes das clulas (nomeadamente das
clulas cerebrais) esto associadas s propriedades das suas membranas e forma
como elas determinam a diferena de potencial que se estabelece entre o interior e o
exterior das clulas. Quando as concentraes inicas so diferentes no interior das
clulas relativamente ao exterior, h tendncia, como se sabe (ver captulo 8), para os
ies flurem no sentido das mais altas concentraes para as mais baixas. Porm, ao
sarem da clula, os ies, uma vez que so partculas carregadas, provocam diferenas
de potencial que se opem sada e/ou entrada de mais ies. H, pois, uma diferena
78
de potencial, a partir da qual deixa de haver fluxo inico
46
, uma vez que a tendncia
provocada pelo gradiente de concentraes , nessa circunstncia, totalmente
contrabalanada pelo gradiente de potencial que se estabelece. Ora a equao que
governa a dependncia do potencial elctrico com as concentraes inicas no interior
e no exterior de uma clula, no estado de equilbrio, a equao de Goldman que,
para ies monovalentes, toma a forma:
| | | |
| | | |
o i
i o
+
+
ln
F
RT
=
J P K P
J P K P
V
J
J
K
K
J
J
K
K
,
equao 77
onde:
R - constante dos gases raros (8.3144 J mol
-1
K
-1
);
T - temperatura (em kelvin);
F - constante de Faraday (9.6487 x 10
4
C mol
-1
);
K - percorre todos os ies positivos envolvidos no processo;
J - percorre todos os ies negativos envolvidos no processo;
P
n
- permeabilidade da membrana ao io n;
|n|
o
- concentrao do io n no exterior da clula, no equilbrio;
|n|
i
- concentrao do io n no interior da clula, no equilbrio.
Em relao s clulas neurogliais
47
, por exemplo, verifica-se que a
permeabilidade da membrana ao potssio muito superior de outro qualquer io e,
portanto, a equao anterior reduz-se conhecida equao de Nernst, aplicada ao
potssio (K
+
):
| |
| |
i
+
o
+
K
K
ln
F
RT
= V .
equao 78
Substituindo as variveis pelos seus valores aproximados, ou seja:
R = 8.3143 J.K
-1
.mol
-1
T = 310.15 K
F = 9.6487 x 10
4
C.mol
-1
|K
+
|
o
= 3 x 10
-3
M
|K
+
|
i
= 0.09 M
obtm-se: V = -90.9 mV.
46
Na verdade, o fluxo inico continua a existir, mas as partculas que entram so totalmente
contrabalanadas com as que saem, gerando-se, desta forma, um equilbrio dinmico.
47
As clulas neurogliais so, habitualmente, de pequena dimenso e circundam os corpos celulares e os
axnios das clulas nervosas. A elas se atribuem diversas funes tais como: 1) conferir firmeza aos
tecidos cerebrais, analogamente ao tecido conjuntivo de outras regies do corpo, isolando, por vezes,
grupos neuronais; 2) remover os detritos resultantes da morte celular; 3) formar a mielina que envolve
alguns axnios; 4) remover os neurotransmissores qumicos, aps estes terem sido libertados pelos
neurnios; 5) permitir armazenar K
+
, de modo a manter estvel a concentrao extracelular deste io;
6) conduzir os neurnios para as regies correctas durante o seu desenvolvimento e guiar o crescimento
dos axnios; 7) participar nas funes correspondentes barreira hemato-enceflica; 8) ter funes
nutrientes.
79
Este valor totalmente comprovado pelas medidas experimentais, que
apontam para a existncia de um potencial de cerca de -90mV no interior das clulas
gliais. Refira-se, ainda a este respeito, que a dependncia do potencial com as
concentraes de potssio segue de perto o comportamento sugerido pela equao 78,
de modo que se admite que o factor determinante para o aparecimento do potencial
das clulas gliais o transporte passivo de ies K
+
atravs de canais selectivos a este
io e presentes na membrana celular.
Estas consideraes conduzem-nos ao facto de as clulas neurogliais se
comportarem como reguladoras da concentrao de K
+
no exterior da clula. Como se
observar adiante, a alterao da concentrao de K
+
no espao extracelular um dos
factores modeladores do funcionamento neuronal, de modo que um desequilbrio na
funo das clulas neurogliais ao nvel da sua funo homeosttica relativamente s
concentraes de K
+
, pode desencadear um anormal processamento de informao por
parte dos neurnios.
20.2 As clulas nervosas ou neurnios
Os neurnios so as clulas responsveis por todo o tratamento da informao
envolvida nos processos cerebrais. Tipicamente, um neurnio constitudo por quatro
regies diferenciadas: as dendrites, o corpo celular ou soma, o axnio e os seus
terminais pr-sinpticos, correspondendo cada um deles, respectivamente, entrada,
integrao, conduo e transmisso da informao (ver Figura 67). O corpo celular
considerado o centro metablico e integrador da clula, nele se encontra o ncleo, o
retculo endoplasmtico e o sistema de Golgi. s dendrites ou rvore dendrtica fluem
numerosos terminais de outros neurnios, sendo este elemento considerado como a
regio atravs da qual, tipicamente, entra a informao. O axnio encontra-se, de uma
forma geral, do lado oposto maioria das dendrites e responsvel pela conduo da
informao at outros neurnios ou at aos msculos. Refira-se que alguns axnios
so revestidos por uma camada de mielina (formada por determinadas clulas gliais
as clulas de Schwann) que diversas vezes interrompida em regies a que se d o
nome de ns de Ranvier. Esta disposio do envolvimento isolante, permite que a
informao seja mais rapidamente conduzida. Quanto aos terminais do axnio, so
estes que estabelecem a comunicao entre dois neurnios, atravs do contacto directo
entre as membranas de ambos sinapse elctrica ou, mais comummente, mediada
por neurotransmissores sinapse qumica.
20.3 O potencial de repouso
A caracterstica mais determinante das clulas nervosas a sua excitabilidade,
a qual est intimamente relacionada com as propriedades do seu estado de repouso.
Os neurnios encontram-se, no estado de equilbrio, a cerca de -70mV relativamente
ao exterior (note-se que este um valor mdio que depende fortemente do tipo de
neurnios que se considere), e quando este valor sofre uma alterao de duas ou trs
dezenas de mV no sentido positivo, este desequilbrio acentua-se e o neurnio passa a
um estado excitado.
O estado de repouso neuronal resulta da interaco de diversos factores: a
permeabilidade da membrana aos ies presentes no espao intra e extracelular, as
concentraes desses ies, o transporte activo atravs da membrana e a diferena de
potencial entre o interior e o exterior da mesma.
80
Figura 67 - Esquema das diferentes estruturas de um neurnio: as dendrites; o corpo celular com
o ncleo e o citoplasma; o axnio com a blindagem de mielina e os ns de Ranvier e os terminais
sinpticos. (Adapt. Kandel et al, 1995).
Tal como j se referiu em relao s clulas neurogliais, tambm o potencial
de repouso dos neurnios regido, em primeira aproximao, pela equao de
Goldman (equao 77). Como exemplo ilustrativo pode tomar-se para as diversas
concentraes dos ies envolvidos as encontradas no axnio gigante da lula, as quais,
apesar de serem tipicamente 3 ou 4 vezes superiores s encontradas nos neurnios dos
mamferos so, em termos relativos, idnticas s destes. Assim, as concentraes
inicas tomam os valores: |K
+
|
o
=20mM; |K
+
|
i
=400mM; |Na
+
|
o
=440mM;
|Na
+
|
i
=50mM; |Cl
-
|
o
=560mM; |Cl
-
|
i
=52mM, sendo as permeabilidades relativas:
P
K
+
=1; P
Na
+
=0.04; P
Cl
-=0.45. Donde resulta, para o potencial de repouso,
temperatura de 25
o
C: V= -60.9mV. Este potencial negativo est relacionado com o
facto de a permeabilidade de membrana para o potssio ser muito maior do que para o
81
sdio (numa relao de 25 para 1). Assim, e uma vez que o gradiente de
concentraes do io K
+
no sentido da sada deste do interior para o exterior, cria-se
um potencial negativo que no compensado com o fluxo de ies Na
+
para o interior,
visto que a permeabilidade da membrana , para este io, muito pequena.
de referir que o potencial de repouso, que corresponde ao fluxo passivo de
ies atravs de canais de membrana selectivos, sendo, portanto, determinado pelos
gradientes de concentrao e pela permeabilidade relativa da membrana aos diferentes
ies, no o de equilbrio para o K
+
ou para o Na
+
isoladamente, o que implica que
cada um destes ies tenda a fluir continuamente por transporte passivo (o K
+
de
dentro para fora o seu potencial de equilbrio de aproximadamente -77mV; o Na
+
de fora para dentro o seu potencial de equilbrio de aproximadamente 56mV).
Quanto ao Cl
-
, tendo um potencial de equilbrio de cerca de -61mV, no tende a
exibir, nestas condies, fluxo efectivo. Quando, no entanto, o potencial de repouso
da membrana apresenta valores inferiores/superiores, o io Cl
-
tende a sair/entrar na
clula levando a um reajuste das suas concentraes. Na realidade, verifica-se que
existem fluxos inicos correspondentes aos ies K
+
e Na
+
segundo as direces
esperadas, mas que so compensados, como se mencionar adiante, atravs de
transporte activo isto , com gasto energtico. Quanto ao io Cl
-
apenas algumas
clulas nervosas apresentam transporte activo deste io e, neste caso, ser tambm,
completamente contrabalanado pelo transporte passivo atravs de canais
membranares.
Figura 68 - Esquema de alguns canais inicos existentes numa membrana neuronal: os canais de
Na
+
e de K
+
responsveis pelo transporte passivo destes ies (refira-se que a permeabilidade
relativa da membrana a estes dois ies de 0.04 para 1); os canais de Na
+
e de K
+
dependentes do
potencial e que so responsveis pela excitabilidade da membrana e a bomba de Na
+
/K
+
que
mantm as concentraes destes dois ies. (Adapt. Le Cerveau, 1984).
Um transporte activo extremamente importante ao nvel neuronal o
associado bomba de sdio/potssio. Esta bomba uma protena que, atravs da
hidrlise de uma molcula de adenosina trifosfato (ATP), transporta trs ies Na
+
para
o exterior do neurnio e dois de K
+
para o seu interior, contrariando o seu fluxo
passivo (ver Figura 68). Esta bomba, para alm de manter as concentraes inicas do
Na
+
e do K
+
nos nveis necessrios para manter o potencial de membrana nos valores
anteriormente calculados, aumenta-o em cerca de 10%, devido ao facto de ser
electrognica (isto , por cada dois ies positivos que entram na clula, saem trs ies
do mesmo sinal, gerando-se, assim, uma diferena de potencial negativa no interior
relativamente ao exterior).
82
20.4 O potencial de aco
Quando a clula, habitualmente polarizada com valores de cerca de -70mV,
sofre uma despolarizao de duas ou trs dezenas de mV, esta acentuada, atravs
de mecanismos de realimentao positiva, atingindo aproximadamente 40mV. Em
seguida, tem lugar uma repolarizao e, aps uma breve hiperpolarizao (que pode
atingir cerca de -90mV), o seu valor de equilbrio retomado (Figura 69). A esta
descrio corresponde o potencial de aco que dura, tipicamente, cerca de 2ms,
podendo variar entre 1 e 10ms e o responsvel pela transmisso de informao ao
longo do axnio.
Figura 69 - Esquema do potencial de aco. Quando o potencial da membrana atinge cerca de
-55mV abrem-se os canais de Na
+
dependentes da tenso, responsveis pela despolarizao. Ao
fim de algumas dcimas de ms so abertos os canais de K
+
e fechados os de Na
+
de modo a
repolarizar a membrana. O fecho tardio dos canais de K
+
implica um perodo final de
hiperpolarizao. (Adap. Tortora e Grabowski, 1996).
A criao deste potencial deve-se existncia, na membrana neuronal, de
canais de Na
+
e de K
+
dependentes do potencial. Ou seja, os canais abrem quando se
verifica uma despolarizao na membrana. Estes canais aumentam a permeabilidade
da membrana aos referidos ies de modo que, em conformidade com o que foi
exposto anteriormente, passa a existir maior fluxo de ies Na
+
para dentro da clula e
de ies K
+
para fora. Quanto morfologia do sinal, esta determinada pelas respostas
temporais de ambos os tipos de canais. Assim, como os canais de sdio abrem mais
rapidamente de que os de K
+
, o potencial de membrana aumenta abruptamente,
devido entrada de ies Na
+
para o interior do neurnio. Durante essa subida, abrem
os canais de K
+
que fluem em sentido contrrio e, portanto, se opem subida do
potencial. Este facto, conjuntamente com a circunstncia de os canais de Na
+
tambm
se fecharem rapidamente, o responsvel pela repolarizao da membrana. Como os
canais de K
+
so lentos a fechar, verifica-se a hiperpolarizao j mencionada.
O funcionamento dos canais explica ainda, a necessidade de atingir um
determinado patamar de despolarizao para o aparecimento do potencial de aco e a
existncia de um perodo refractrio, durante o qual no possvel o surgimento de
novo potencial de aco na mesma poro de membrana. Observa-se, pois, que,
quando a despolarizao no atinge um determinado valor, o potencial de aco no
desencadeado. Esta circunstncia verifica-se porque o aumento de permeabilidade ao
Na
+
suscitado por uma pequena despolarizao totalmente compensado pelos ies
K
+
que, mesmo no estado de repouso, tendem a fluir para o exterior do neurnio.
Quanto ao perodo refractrio durante o qual no possvel a criao de um novo
potencial de aco, existem essencialmente dois factores que o determinam: a
manuteno de canais de K
+
abertos para alm da reposio do potencial de repouso e
a existncia de um estado de inactivao dos canais de Na
+
. O primeiro est
relacionado com o facto de, durante o perodo de hiperpolarizao ser necessria uma
83
maior despolarizao para alcanar o patamar correspondente ao despoletar do
potencial de aco. O segundo, com a impossibilidade de reactivao dos canais de
Na
+
nos instantes posteriores ao seu fecho.
Refira-se tambm que os potenciais de aco se propagam ao longo do axnio,
transmitindo a informao de um dos seus extremos para o outro. Esta conduo
feita do seguinte modo: a criao de um potencial de aco numa determinada regio
do axnio aumenta o potencial de membrana em redor dessa regio, ora quando esse
potencial atinge o patamar anteriormente referido, novo potencial de aco criado e
assim sucessivamente em relao s regies adjacentes. H, porm, uma questo que
se deve ressalvar: a unidireccionalidade dessa propagao. De facto, se fosse possvel
gerar um potencial de aco a meio de um axnio, este propagar-se-ia em ambos os
sentidos. No entanto, os potenciais de aco surgem habitualmente no incio do
axnio, uma vez que ao nvel do soma que ocorre a integrao da informao que
aflui ao neurnio e a que se determina o aparecimento ou no do potencial de
aco. Assim, verifica-se que este se propaga apenas num sentido, graas ao perodo
refractrio a que se aludiu anteriormente.
20.5 O papel da mielina na propagao dos potenciais de aco
Resta enfatizar o papel da mielina na conduo do sinal. As clulas neurogliais
que envolvem alguns neurnios aumentam drasticamente a resistncia elctrica
destes, de modo que, praticamente, s possvel a criao de potenciais de aco nas
regies onde esta blindagem se interrompe nos ns de Ranvier, distanciados entre
si cerca de 1 ou 2 mm. Supondo que num desses ns se gerou um potencial de aco,
o aumento do potencial de membrana propaga-se atravs do citoplasma at ao n de
Ranvier mais prximo, onde se ir formar novo potencial de aco. Este sistema de
conduo tem como principal objectivo o aumento da velocidade de propagao dos
sinais que pode ser, nos casos mais eficazes, cerca de 100 vezes maior. Alm da
rapidez de propagao, este sistema tem como vantagem adicional a possibilidade de
aumentar a frequncia dos potenciais de aco por perodos de tempo mais
prolongados, sem saturar os tecidos, uma vez que as trocas inicas so muito
menores.
20.6 As sinapses
As sinapses so, como j se referiu, as regies de contacto entre dois
neurnios. Dividem-se em sinapses elctricas e qumicas. As primeiras so pouco
frequentes e nelas a clula pr-sinptica est fisicamente ligada ps-sinptica. O seu
funcionamento limita-se ao contacto entre os citoplasmas das duas clulas atravs de
canais de pequena resistncia, de modo que o potencial de aco, ao chegar ao
terminal da clula pr-sinptica, se replica na clula ps-sinptica (ver Figura 70).
Estas sinapses no apresentam caractersticas modeladoras to versteis como as
sinapses qumicas, no entanto, outras vantagens lhes so inerentes, tais como a
ausncia de atraso na transmisso do sinal de uma clula para a outra e a facilidade no
aparecimento de sincronia num grupo de clulas onde esta possa, eventualmente, ser
desejvel.
84
Figura 70 - Esquema de uma sinapse elctrica. O contacto entre a clula pr-sinptica e a
ps-sinptica feito atravs de canais que permitem uma transmisso rpida do sinal e facilitam
uma possvel sincronia entre as clulas. (Adapt. Kandel et al, 1995).
No caso das sinapses qumicas, a transmisso de informao modelada por
substncias libertadas pela clula pr-sinptica os neurotransmissores. O
mecanismo o seguinte: os sinais atingem o terminal do axnio, abrem canais de ies
clcio, cuja entrada para o interior da clula desencadeia a libertao de
neurotransmissores para o espao entre os dois neurnios (fenda sinptica); na clula
ps-sinptica encontram-se receptores sensveis a estes neurotransmissores qumicos,
de modo que, quando detectam a presena destas substncias, induzem fluxos inicos
que alteram a polarizao da membrana (ver Figura 71). Este processo permite uma
versatilidade muito grande, uma vez que a modificao da polarizao tanto pode ser
no sentido da despolarizao como no da hiperpolarizao. Ou seja, dependendo dos
canais inicos que so abertos, assim a chegada de sinais ao neurnio pr-sinptico
pode suscitar o aparecimento de potenciais de aco no neurnio ps-sinptico ou
inibi-lo. Deste modo, relativamente s sinapses qumicas, consideram-se sinapses
excitatrias ou inibitrias consoante o sentido da polarizao que provocam na
clula ps-sinptica.
Figura 71 - Esquema de uma sinapse qumica. Quando o potencial de aco chega ao terminal
nervoso da clula pr-sinptica desencadeia a entrada de ies Ca
++
que vo, por sua vez, motivar
a libertao de neurotransmissores contidos em vesculas que se fundem membrana
pr-sinptica. Os neurotransmissores iro ser reconhecidos por receptores existentes na clula
ps-sinptica que iro desencadear processos responsveis pela alterao do estado de
polarizao do neurnio ps-sinptico. (Adapt. Beatty, 1995).
85
Um conceito que emerge da discusso anterior o de potencial ps-sinptico:
d-se o nome de potencial ps-sinptico alterao do potencial de membrana,
provocada pela actividade da sinapse, a qual pode, como j se referiu, ser excitatria
ou inibitria. A cada potencial de aco que atinge o terminal de um neurnio
pr-sinptico pode estar associado um potencial ps-sinptico de, aproximadamente,
1 mV o que significa, tendo em considerao o valor do patamar a partir do qual surge
um potencial de aco, que necessria a soma de vrios potenciais para o
desencadeamento destes sinais no neurnio ps-sinptico. Na prtica verifica-se que,
estabelecendo cada neurnio centenas de sinapses (pode chegar a estabelecer, nos
casos em que o nmero de ligaes maior, cerca de 150 000 sinapses, o seu
comportamento determinado pela integrao de todas as fontes de informao que a
ele afluem. Essa integrao espacial e temporal responsvel pela durao dos
potenciais ps-sinpticos que pode ser na ordem do segundo, at vrios minutos.
Deste modo, as sinapses excitatrias e inibitrias, ao coexistirem no mesmo neurnio,
so responsveis pelo facto da resposta desse neurnio a diferentes estmulos, ser uma
integrao complexa dos diversos impulsos que a ele afluem. Ou seja, um neurnio
estimulado por diversas sinapses, pode ou no criar potenciais de aco, dependendo
das sinapses inibitrias que, em simultneo com as excitatrias, se tornem activas.
Assim, o aparecimento de potenciais ps-sinpticos excitatrios num neurnio to
determinante na criao de potenciais de aco como o surgimento de potenciais
ps-sinpticos inibitrios, uma vez que o efeito destes ltimos pode reduzir ou
cancelar o efeito dos primeiros.
20.7 Organizao cerebral e actividade elctrica
Nas seces anteriores foram abordadas diversas vertentes da actividade
elctrica das clulas cerebrais. Falta, porm, realar alguns aspectos relacionados com
fenmenos elctricos que envolvem populaes de neurnios. A
electroencefalografia, tcnica a que nos referiremos com maior detalhe em captulos
posteriores e que consiste na medio de potenciais elctricos ao nvel do escalpe,
revela-nos que existe actividade elctrica cerebral sncrona. Isto , verifica-se que
existem grupos de neurnios cuja actividade ocorre em simultneo, de modo que
geram ritmos susceptveis de ser medidos no exterior do crnio. Por este motivo, cedo
se especulou no sentido de o crebro se organizar segundo circuitos neuronais cada
um dos quais responsvel pelo processamento de um determinado tipo de informao.
Esta ideia tem sido corroborada por numerosos estudos que apontam para a
especificidade de determinadas regies do crebro. Aceita-se que no lobo occipital se
encontram os crtices visuais, associados ao processamento da viso; nos lobos
temporais os crtices auditivos, no lobo parietal os crtices somato-sensoriais e no
lobo frontal os crtices motor e pr-motor. Refira-se, no entanto, que, se a
comunidade cientfica assume unanimemente que as tarefas mais simples associadas
percepo dos sentidos esto razoavelmente localizadas no crebro, no menos
verdade que, ao nvel das actividades com carcter cognitivo mais evidente, muito se
tem especulado. De facto, as evidncias experimentais apontam para que as tarefas
mais complexas relacionadas com a memria, a aprendizagem ou as emoes,
abranjam reas cerebrais muito amplas e deslocalizadas. Estas reas ou circuitos
parecem trabalhar separadamente, numa espcie de processamento em paralelo, onde
cada uma se encontra envolvida num aspecto particular da tarefa comum. O que se
mantm sem resposta o modo como finalmente toda essa informao coligida,
guardada e recuperada em novas situaes.
86
21. Aspectos da electricidade dos msculos
Tal como o sistema nervoso central, tambm a actividade muscular depende
de uma forma crucial das propriedades elctricas das clulas constituintes dos
msculos. Os msculos dividem-se em trs categorias: os msculos esquelticos, os
lisos e o cardaco. Os primeiros encontram-se essencialmente ligados aos ossos e a
sua contraco, geralmente voluntria, responsvel pelo suporte e movimento do
esqueleto. Os lisos so msculos que envolvem diversos rgos ou estruturas como o
estmago, os intestinos ou os vasos sanguneos e as suas contraces, involuntrias e
coordenadas pelo sistema nervoso autnomo e pelo sistema endcrino, implicam o
movimento desses rgos e estruturas. Quanto ao corao, apresenta caractersticas de
ambos os tipos de msculo (esqueltico e liso) e tem a particularidade de contrair
espontaneamente.
21.1 Os msculos esquelticos
Os msculos esquelticos so constitudos por clulas denominadas fibras
musculares que, por sua vez, provm, em termos de desenvolvimento fetal, de um
conjunto de clulas indiferenciadas e mononucleadas s quais se d o nome de
mioblastos (ver Figura 72). Estas fibras tm dimetros entre 10 a 100 m e
comprimentos que podem ir at 20 cm, no apresentando capacidade de reproduo
ao longo da vida.
Quando vistas ao microscpio a principal caracterstica das fibras musculares
apresentarem um padro de estrias que podem ser observadas, em esquema, na
Figura 73
48
. Estas estrias correspondem existncia de pequenos filamentos com
diferentes espessuras organizados em finos cilindros no interior do citoplasma das
fibras musculares. O arranjo destes filamentos obedece a um padro que se repete,
cuja unidade fundamental o sarcmero. Cada uma destas unidades contm, no
centro, um conjunto de filamentos grossos que constituem a chamada banda A e em
cada um dos extremos um conjunto de filamentos finos que constituem a banda I.
Alm disso, os filamentos finos sobrepem-se, numa certa extenso, com os
filamentos grossos e pertencem simultaneamente a dois sarcmeros (ver Figura 73).
diviso entre dois sarcmeros d-se o nome de linha Z.
A forma como os msculos contraem est intimamente ligada a esta
disposio. Os filamentos grossos so compostos maioritariamente por miosina, uma
protena cuja estrutura evidencia pequenas cabeas mveis que apresentam afinidade
actina, protena que a principal constituinte dos filamentos finos. A contraco
muscular ocorre, pois, quando os filamentos grossos e finos deslizam uns sobre os
outros atravs de um mecanismo de encaixe entre as protenas que constituiem cada
um deles. ligao entre as cabeas da miosina e a actina d-se o nome de ligaes
cruzadas. De uma forma muito simples, possvel descrever a contraco muscular
considerando 4 fases fundamentais: 1) As cabeas da miosina ligam-se actina. 2) As
cabeas da miosina movimentam-se no sentido de aumentar a extenso em que os
filamentos se encontram sobrepostos (ver Figura 74). 3) As cabeas da miosina
separam-se da actina. 4) As cabeas da miosina sofrem um processo de aumento de
energia de modo a que o processo se repita.
48
Esta propriedade comum ao msculo cardaco e responsvel por estes dois tipos de msculos serem
tambm conhecidos por estriados.
87
Figura 72 - Esquema da constituio dos msculos esquelticos. (Adapt. A.J. Vander, J.H.
Sherman e D.S. Luciano, 1998).
Figura 73 - Esquema da constituio das miofibrilhas constituintes dos msculos esquelticos.
(Adapt. A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S. Luciano, 1998).
Um mecanismo igualmente importante aquele que impede que haja uma
contraco do msculo permanente. Verifica-se que os locais na actina que se ligam
s cabeas da miosina, esto, no repouso, inacessveis. S com a chegada de ies
clcio, estes locais se tornam acessveis e, portanto, permitem a ligao com a miosina
e a consequente contraco muscular.
88
Figura 74 - Ilustrao de como o movimento das cabeas da miosina responsvel pela alterao
das dimenses dos msculos esquelticos, determinando a sua contraco ou distenso. (Adapt.
A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S. Luciano, 1998).
neste ponto que os aspectos elctricos se tornam importantes na
compreenso da contraco muscular. A membrana das fibras musculares , tal como
a dos neurnios, capaz de gerar e propagar potenciais de aco. No caso dos msculos
o efeito crucial do aparecimento de um potencial de aco a libertao de ies
clcio
49
, que vo, por sua vez, induzir a contraco muscular segundo o mecanismo
anteriormente descrito. A este respeito, observa-se que, um nico potencial de aco
de 1 a 2 ms provoca um estado de contraco muscular que se prolonga tipicamente
por cerca de 100 ms. Este facto deve-se a que enquanto a libertao de ies clcio
bastante rpida, a sua remoo um processo mais lento e, portanto, o repouso, aps a
contraco, mais demorado de atingir.
Figura 75 - Esquema das junes neuromusculares que governam o movimento dos msculos. Na
alnea a) encontra-se representado um nico neurnio motor, enquanto que na alnea b)
encontram-se representados dois neurnios, deixando claro que cada neurnio no controla
necessariamente fibras musculares adjacentes (Adapt. A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S.
Luciano, 1998).
49
Neste mecanismo de libertao de clcio existe uma estrutura constituinte do msculo esqueltico
o retculo sarcoplasmtico que se reveste de particular interesse no armazenamento e libertao dos
ies clcio. No entanto, uma discusso aprofundada sobre o seu papel neste mecanismo encontra-se
fora dos objectivos desta disciplina.
89
Falta referir ainda a origem dos potenciais de aco: Os msculos esquelticos
encontram-se ligados a terminais nervosos de neurnios motores. Estes neurnios
estabelecem ligaes com as fibras musculares, as junes neuromusculares
50
, e so
eles que controlam a actividade dos msculos (ver Figura 75).
Os mecanismos de troca de informao ao nvel das junes neuromusculares
so muito semelhantes aos que ocorrem nas sinapses qumicas: o potencial de aco
ao atingir o terminal do axnio, liberta neurotransmissores que so reconhecidos pela
membrana da fibra muscular que, ao detect-los, desencadeia a abertura de canais de
clcio, iniciando o processo de contraco.
21.2 Os msculos lisos
Conforme se referiu anteriormente, os msculos lisos recobrem a maior parte
dos rgos e uma parte dos vasos sanguneos, conferindo-lhes movimentos de
contraco e distenso. Distingue-os dos msculos esquelticos o facto de no
apresentarem uma estrutura estriada e dos nervos que os controlam provirem do
sistema nervoso autnomo, o que torna os seus movimentos involuntrios. As fibras
constituintes do tecido do msculo liso, ao contrrio das fibras do msculo
esqueltico, so clulas em forma de fuso, com apenas um ncleo e que se
reproduzem. No interior destas clulas encontram-se tambm filamentos de miosina
(filamentos grossos) e de actina (filamentos finos), no entanto, a sua organizao no
semelhante encontrada nos msculos esquelticos. Os filamentos encontram-se
igualmente sobrepostos, sendo o mecanismo de contraco semelhante ao
anteriormente explicado a propsito dos msculos esquelticos, mas em vez dos
filamentos se encontrarem paralelos uns aos outros, encontram-se ancorados
membrana da clula e a certos pontos do citoplasma denominados corpos densos (ver
Figura 76). Esta geometria faz com que quando os filamentos deslizam uns sobre os
outros as dimenses da clula diminuam e, portanto, o msculo se contraia.
Figura 76 - Esquema das ligaes entre os filamentos finos e grossos num msculo liso em duas
situaes distintas: quando o msculo se encontra relaxado e quando se encontra contrado.
(Adapt. A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S. Luciano, 1998).
50
Cada neurnio motor estabelece ligao com mais do que uma fibra muscular, mas cada fibra
muscular s recebe informao de um nico neurnio. Alm disso, refira-se que fibras musculares
associadas ao mesmo neurnio no tm necessariamente que ser adjacentes (ver figura 46).
90
Embora, em detalhe, o mecanismo bioqumico atravs do qual as cabeas da
miosina se ligam actina seja diferente, a presena do clcio continua a ser o factor
que despoleta a ligao das duas protenas. interessante observar que a contraco
dos msculos lisos dependente da quantidade de clcio libertada, uma vez que um
potencial de aco induz contraco apenas numa poro das fibras dos msculos
lisos
51
. Alm disso, a contraco dos msculos lisos tem uma durao que pode
chegar a vrios segundos, visto que os mecanismos responsveis pela sua remoo so
muito lentos.
Para alm do que foi j referido como diferenas entre os msculos
esquelticos e os msculos lisos, h ainda a acrescentar o facto de alguns msculos
lisos apresentarem, tal como o corao, a possibilidade de gerarem, espontaneamente,
potenciais de aco. Nestes msculos o potencial de membrana, ao invs de se manter
constante, vai continuamente despolarizando. Deste modo, a dado momento,
atingido o limiar de excitao e gerado um potencial de aco. Aps a repolarizao o
ciclo repete-se, gerando-se sinais ritmadamente (ver Figura 77).
Figura 77 - Representao dos potenciais de aco gerados por clulas auto-excitveis
pertencentes a alguns msculos lisos. (Adapt. A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S. Luciano, 1998).
21.3 O msculo cardaco
O final da seco anterior uma boa introduo ao funcionamento do msculo
cardaco, uma vez que um dos aspectos mais interessantes das clulas constituintes do
corao a sua capacidade de auto-excitao. O msculo cardaco, como j
anteriormente se referiu, apresenta caractersticas hbridas dos msculos esquelticos
e lisos. Se por um lado o msculo cardaco estriado, tal como os esquelticos, por
outro apresenta pontos de contacto que podem ser considerados como anlogos aos
corpos densos dos msculos lisos. Os tecidos cardacos esto electricamente unidos de
modo que quando h contraco das paredes das aurculas ou dos ventrculos, estes
funcionam como um todo. H, no entanto, cerca de 1% de clulas que no participam
nessa contraco, mas que so responsveis pela conduo do sinal controlando,
rigorosamente, a sua propagao quer no tempo, quer no espao (ver Figura 78).
51
Recorde-se que nos msculos esquelticos apenas um potencial de aco capaz de induzir
contraco em todo o msculo.
91
Figura 78 - Representao do sistema de conduo dos sinais elctricos ao nvel do corao.
(Adapt. A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S. Luciano, 1998).
Comece-se por compreender esse mecanismo de conduo do sinal. O ndulo
sinoatrial (SA) o responsvel pelo ritmo cardaco e ele que gera os potenciais de
aco que se vo propagar por todo o corao e que do origem contraco cardaca.
Essa propagao ao nvel das aurculas no depende do sistema de conduo e ocorre
muito rapidamente graas ao facto de as clulas cardacas se encontrarem muito
ligadas, de modo que pode admitir-se que as aurculas se despolarizam essencialmente
em simultneo (ver Figura 79, a)). A despolarizao, aps ser propagada ao longo das
aurculas atinge o ndulo atrioventricular (AV), o qual tem a capacidade de atrasar a
sua propagao de cerca de 0.1 s. Ora este atraso fulcral para a que a contraco dos
ventrculos s ocorra quando a contraco das aurculas findou. Note-se que a
transferncia do sinal entre as aurculas e os ventrculos s possvel graas ao
ndulo atrioventricular visto que as paredes das aurculas se encontram electricamente
isoladas das paredes dos ventrculos atravs de uma camada de tecido conectivo
isolante. O sinal ento conduzido atravs do feixe atrioventricular atingindo a regio
mais posterior do corao. Nesse ponto o sinal continua a ser conduzido atravs das
fibras de Purkinje que se espraiam por todo o tecido dos ventrculos (ver Figura 79
b)). Esta forma de conduo implica que a contraco dos ventrculos ocorra de uma
forma muito sncrona, e que se inicie na regio posterior. Desta forma, a sada do
sangue ainda mais eficiente, uma vez que a aorta se encontra na regio anterior dos
ventrculos.
Figura 79 - Representao da conduo do sinal elctrico durante a excitao auricular e
ventricular. (Adap. http://www.afh.bio.br/cardio/Cardio2.asp, Outubro, 2004)
92
Quanto excitabilidade das clulas cardacas, h tambm alguns aspectos
interessantes a reter. A anlise dos potenciais de aco das clulas cardacas revela,
desde logo, algumas diferenas inequvocas (ver Figura 80 a)), relativamente aos
potenciais de aco neuronais. Apesar do potencial de repouso ser semelhante ao
descrito para os neurnios e ter a mesma origem diferentes permeabilidades ao
sdio e ao potssio notrio que a despolarizao causada pela abertura dos canais
de sdio dependentes da tenso se prolonga no tempo
52
. Esta observao deve-se
essencialmente ao facto de a despolarizao das clulas cardacas despoletar no
apenas a abertura de canais de sdio e posterior abertura de canais de potssio, mas
tambm a abertura de canais de clcio (ver Figura 80 b)). Estes canais de clcio so
responsveis pela entrada de ies clcio no interior da clula, prolongando a
despolarizao da clula. Esta justificao coadjuvada pelo facto de a
permeabilidade ao potssio diminuir no incio do potencial de aco e s mais tarde
aumentar, repolarizando as clulas.
No que respeita aos potenciais de aco das clulas auto-excitveis a principal
caracterstica a de, como j se observou anteriormente, apresentarem um potencial
de repouso que vai sempre aumentando. Este mecanismo garantido por um tipo de
canais de sdio especiais que so activados pela repolarizao do sinal anterior.
A propsito da auto-excitabilidade das clulas cardacas de referir que, ao
contrrio do que seria esperado, o ndulo sinoatrial no a nica regio que apresenta
auto-excitao. De facto, existem outras regies do sistema de conduo cardaco a
faz-lo, nomeadamente o prprio ndulo atrioventricular. No entanto, a frequncia de
criao de potenciais de aco menor nestes outros pontos, de modo que estes s
impem o seu ritmo se existir alguma falha nos mecanismos de auto-excitao
anteriores. Ou seja, funcionam como recurso em caso de avaria.
Figura 80 - Esquemas de a) um potencial de aco das clulas cardacas que no apresentam
auto-excitao; b) permeabilidades relativas aos ies sdio, potssio e clcio apresentadas pelas
membranas das clulas referidas na alnea a) e c) potencial de aco das clulas cardacas auto
excitveis. (Adapt. A.J. Vander, J.H. Sherman e D.S. Luciano, 1998).
52
A sua durao importante uma vez que ela que determina a intensidade e durao da contraco
cardaca.
93
VII ELEMENTOS DE TERMODINMICA
Neste captulo ir-se- assumir, uma vez mais, que alguns dos conceitos mais
importantes para a compreenso da Termodinmica, como as noes de calor,
temperatura e respectivas escalas, presso, volume e Lei dos Gases Ideais so
contedos que os alunos j dominam e pretende-se avanar para tpicos que estaro
mais aplicados aos sistemas biolgicos e que, por isso, sero mais apropriados a uma
disciplina de Fsica de um curso para Cincias Biomdicas, como sejam o transporte
de massa e as Leis Fundamentais da Termodinmica. Para uma reviso associada aos
conceitos de calor e temperatura os alunos podero consultar o ANEXO F destes
apontamentos. Alm disso, para os alunos mais interessados e que pretendam
aprofundar algumas noes relativas a Teoria Cintica dos Gases, sobre a forma como
o calor transferido para os corpos e de como estes se comportam nessas
circunstncias, existe tambm ao seu dispor o ANEXO G.
22. Transporte passivo e activo
Embora estejamos habituados a associar a Termodinmica ao transporte de
calor ou mesmo de trabalho, o transporte de massa tambm uma forma de
transportar energia que no se deve desprezar e muito menos nas Cincias da Sade.
De facto, a forma como as substncias se movimentam nos tecidos reveste-se de
particular interesse na compreenso do funcionamento do corpo humano. Por este
motivo, neste sub-captulo, ir-se- abordar, de uma forma simples, o formalismo
associado ao transporte de substncias atravs de um meio que poder ser homogneo
(difuso livre) ou heterogneo (atravs de membranas, por exemplo).
22.1 Difuso livre
A experincia diz-nos que se introduzirmos uma soluo colorida no interior
de um lquido, observa-se a cor da soluo a espraiar-se gradualmente atravs do
lquido. A este processo, em que as molculas da soluo se movimentam das regies
de maior concentrao para as regies de menor concentrao, d-se o nome de
difuso.
A difuso deve-se ao caminho aparentemente aleatrio que as molculas
percorrem nas suas constantes colises. A propsito da teoria cintica dos gases
referiu-se que as molculas no s possuam uma velocidade mdia, como colidiam
incessantemente umas com as outras. Seja L a distncia mdia que as molculas
percorrem sem colidir, tambm denominado o livre percurso mdio das partculas.
Verifica-se, atravs de clculos estatsticos, que a distncia a que uma molcula se
encontra do ponto de partida, aps colidir N vezes dada por:
N L S = .
Com base nesta informao possvel determinar o tempo necessrio para
uma determinada substncia difundir-se atravs de uma distncia S. Comece-se por
calcular o espao percorrido pela partcula:
L
S
L
S
L LN
2
2
2
percorrido espao = = = .
94
Se a velocidade mdia das partculas for v, ento o tempo necessrio para percorrer S,
ser:
Lv
S
v
t
2
percorrido espao
= = .
equao 79
Atendendo a que as molcula num lquido como a gua esto muito prximas
(L muito pequeno, da ordem de 10
-8
cm) e que a sua velocidade mdia ,
temperatura ambiente, cerca de 10
2
m s
-1
. Ento o tempo necessrio para uma
molcula de gua percorrer 1 cm ser:
( )
s 40 m 46 h 2 s 10
10 10
10
4
2 10
2
2 2
= =
= =
Lv
S
t .
Repare-se, no entanto, que, se a distncia de difuso for da ordem de 10
-3
cm
(que a dimenso tpica de uma clula tecidular a difuso extremamente rpida (da
ordem de 10
-2
s). Por este motivo, embora a difuso macroscpica num lquido seja
um processo relativamente lento, este mecanismo aplicado troca de oxignio,
nutrientes e detritos ao nvel celular bastante eficiente.
Note-se, ainda, que o facto de nos gases as molculas estarem mais afastadas,
implica que o livre percurso mdio seja maior do que nos lquidos (cerca de 3 ordens
de grandeza nos gases presso atmosfrica: cm 10
5
= L ). Pelo que, uma
molcula de gs, nessas condies, demora apenas cerca de 10 s para percorrer uma
distncia de 1 cm.
Uma outra abordagem da difuso livre consiste no clculo do nmero de
partculas que atravessam uma dada regio em funo da densidade
53
dessas partculas
no meio. Considere-se a Figura 81 que representa um conjunto de molculas num
recipiente cilndrico em duas regies distintas.
Figura 81 - Representao de um conjunto de molculas com concentraes diferentes em duas
regies distintas. (Adap. de P. Davidovits, 2001).
53
Neste contexto entende-se densidade como o nmero de partculas por unidade de volume.
95
Na regio 1 (considerada a origem dos eixos) a densidade das molculas
1
,
enquanto que na regio 2 ( distncia S da primeira) a densidade
2
. Se V
D
for a
velocidade de difuso
54
, obtm-se:
S
Lv
Lv
S
S
t
S
V
D
= = =
2
,
atendendo equao 79. Calculemos em seguida o nmero de molculas por unidade
de rea e de tempo, J
1
, que atravessa uma fatia x do recipiente na regio 1 em
direco regio 2. Comece-se por calcular o nmero total de molculas nessa fatia,
por unidade de rea e de tempo:
D
V
t A
x A
t A
V
t A
N
J
1
1 1 '
1
=
= ,
onde N o nmero total de molculas na fatia considerada, A a rea da seco recta, t
o intervalo de tempo, V o volume, x a espessura da fatia e
1
a densidade de
molculas na regio 1. Admitindo que estatisticamente metade dessas molculas se
movimentam no sentido da regio 2 e a outra metade em sentido contrrio, ento:
2 2
1
'
1
1
D
V J
J
= = .
De igual modo, o nmero de molculas por unidade de rea e de tempo que se
movimentam da regio 2 para a regio 1 (ou tambm chamado fluxo, em unidades de
m
-2
s
-1
), ser:
2
2
2
D
V
J
= .
Pelo que, o fluxo total da regio 1 para a regio 2 ser a diferena de ambos:
( ) ( )
S
Lv V
J J J
D
2 2
2 1 2 1
2 1
=
= = ,
onde a velocidade de difuso foi substituda pela sua expresso em funo do livre
percurso mdio, L, da velocidade mdia quadrtica, v, e do espao percorrido, S.
Podendo esta expresso ser reescrita em funo do coeficiente de difuso, D:
( )
S
D
J
2 1
= ,
equao 80
54
Repare-se que V
D
a velocidade mdia associada difuso (e, portanto, ser a razo entre o
deslocamento das partculas e o intervalo de tempo necessrio para esse deslocamento) e que v a
velocidade mdia associada totalidade do espao percorrido (ser, pois, a razo entre o espao total
percorrido pela partcula e o mesmo intervalo de tempo).
96
sendo esta equao conhecida como a Lei de Fick da difuso
55
. O coeficiente de
difuso no caso considerado metade do produto do livre percurso mdio com a
velocidade mdia quadrtica. No entanto, em situaes mais complexas poder ter
uma expresso mais complicada. Alis, para compreender a dependncia deste
parmetro com diversos factores basta atentar no facto de mesmo o livre percurso
mdio ser funo das dimenses das molculas e da viscosidade do meio de difuso.
22.2 Difuso atravs de membranas
Na seco anterior estudou-se o transporte de substncias num meio
homogneo. No entanto, na maior parte das situaes biolgicas as substncias so
transportadas atravs de membranas o que modifica de sobremaneira o fluxo de
matria. De uma forma muito simples possvel definir o fluxo atravs de uma
membrana atravs da expresso:
( )
2 1
= P J ,
equao 81
sendo P a permeabilidade da membrana substncia em estudo, com unidades de
velocidade e ( )
2 1
a diferena de densidades da substncia em cada um dos lados
da membrana
56
. O parmetro P mede a maior ou menor facilidade com que as
molculas atravessam a membrana, dependendo do tipo de canais que esta possui (ver
Figura 82).
Figura 82 - Representao de uma membrana com os respectivos canais. Nesta figura ilustra-se a
selectividade dos canais, neste caso, determinadas pelas dimenses das partculas. (Adap. de P.
Davidovits, 2001).
Em alguns casos as membranas so selectivas, ou seja, permitem a passagem
de algumas substncias, mas evitam a passagem de outras. Em particular, esta
situao verifica-se com muita frequncia no que respeita gua
57
. A este efeito
selectivo associado gua d-se o nome de osmose. Suponha que se divide um
55
Esta equao aparece muitas vezes representada com a grandeza densidade substituda por
concentrao. Nesse caso, a nica diferena reside nas unidades de fluxo que passam a ser mol m
-2
s
-1
.
56
Tambm neste caso, as densidades podem ser substitudas por concentraes.
57
A gua constituda por molculas muito pequenas cuja circulao raramente barrada pelas
membranas que evitam a passagem de molculas maiores, mas so completamente permeveis gua.
97
recipiente em dois atravs de uma membrana colocada no seu interior que s permita
a passagem da gua (Figura 83). Numa das divises coloca-se gua pura e na outra
uma soluo de gua com acar, por exemplo. Aps deixar sistema evoluir,
verifica-se que a situao de equilbrio corresponde a uma parte da gua na primeira
divisria ter sido transferida para a segunda. A explicao microscpica deste
fenmeno prende-se com o facto de as molculas de gua da soluo terem maior
dificuldade em chegar s paredes da membrana, uma vez que encontram pelo caminho
as molculas de acar. Por sua vez a gua pura atinge as paredes da membrana com
mais facilidade, o que implica que o fluxo de molculas de gua da primeira para a
segunda divisria seja maior do que em sentido contrrio.
incio equilbrio
Figura 83 - Ilustrao do fenmeno de osmose. (Adap. de J.B Marion e W.F. Hornyak, 1985).
Devido aos motivos anteriormente expressos, verifica-se que, no equilbrio, a
soluo apresenta uma altura superior da gua pura (Figura 83). quantidade gh
(onde h a diferena de alturas, g a acelerao da gravidade e a densidade da
soluo) d-se o nome de presso osmtica da soluo e representa-se pela letra
grega . Uma forma de compreender o significado fsico da presso osmtica
entender que esta a presso adicional que se teria que exercer na gua para que esta
no atravessasse a membrana. Um resultado bastante interessante foi o encontrado por
J.H. vant Hoff ao perceber que a presso osmtica directamente proporcional
concentrao da soluo e sua temperatura absoluta. Considerando a constante de
proporcionalidade o parmetro , obtm-se:
T n V T
V
n
CT = = = ,
equao 82
que uma expresso muito semelhante equao dos gases ideais discutida
anteriormente. Analogia que se torna tanto mais evidente quanto o facto de
apresentar um valor muito aproximo ao da constante dos gases ideais R.
ainda de referir a notvel influncia que o fenmeno da osmose tem ao nvel
do equilbrio dos tecidos. Repare-se que todas as clulas so revestidas por
membranas semipermeveis o que implica um enorme equilbrio entre as presses
osmticas no interior e no exterior das clulas para que estas no percam ou ganhem
demasiada gua com a consequente alterao do seu volume.
At aqui tem-se referido o transporte espontneo, ou seja, o transporte de
massa que ocorre no sentido das maiores concentraes para as menores
concentraes. No entanto, vrias so as situaes em que o transporte ocorre em
98
sentido contrrio com o natural consumo energtico. Este tipo de transporte, ao qual
se d o nome de transporte activo, perpetrado por protenas de membrana as
bombas que so muitas vezes responsveis pela manuteno das concentraes
inicas vitais para o funcionamento celular. Uma vez que este tipo de transporte
envolve, geralmente, o transporte de ies, o seu funcionamento est relacionado com
diferenas de potencial elctrico existente entre o interior e o exterior das membranas
e, por esse motivo, ser abordado com maior detalhe no captulo respeitante ao
comportamento elctrico dos sistemas biolgicos.
22.3 A importncia da difuso na oxigenao
Como do conhecimento geral, a energia necessria para a manuteno do
corpo humano fornecida essencialmente pela oxidao dos alimentos que ingerimos,
sendo, portanto, crucial o consumo de oxignio. Verifica-se que a forma mais simples
de oxigenar o corpo humano atravs da difuso de molculas de oxignio atravs da
pele. Porm, este mecanismo muito pouco eficiente verificando-se que no homem,
por exemplo, apenas 2% das suas necessidades em oxignio podero ser supridas
atravs deste processo. Os pulmes so, pois, a forma encontrada para tornar o ritmo
das trocas gasosas adequado s exigncias. De facto, a superfcie dos alvolos cerca
de 50 vezes superior superfcie da pele e, alm disso, a distncia entre os alvolos e
os capilares cerca de 4 x 10
-5
cm, pelo que a troca de oxignio e de dixido de
carbono atravs da difuso entre os pulmes e os capilares bastante rpida. Quanto
ao sentido do fluxo dos gases fcil compreender que este se processa tendo em conta
as diferenas de concentrao dos mesmos: no caso do oxignio ser dos pulmes
para os capilares, no caso do oxignio ser dos capilares para os pulmes.
23. Leis da Termodinmica
A Termodinmica tida como a cincia que estuda as relaes entre o calor, o
trabalho e as subsequentes trocas energticas. de referir que a termodinmica
assenta fundamentalmente em duas importantes leis: a primeira , na sua essncia, a
lei de conservao da energia, enquanto que a segunda regulamenta o tipo de trocas
energticas que podero existir entre os sistemas.
23.1 Primeira Lei da Termodinmica
Como j se referiu, a Primeira Lei da Termodinmica a Lei da Conservao
da Energia
58
que estabelece que a energia no gerada nem perdida, apenas
transformada noutras formas de energia. Ou seja, se um sistema receber energia
(qualquer que seja a sua forma) essa energia poder ser utilizada para aumentar a
energia interna desse sistema, ou poder ser libertada sob qualquer outra forma,
nomeadamente, atravs de calor ou da realizao de trabalho. Esta lei pode ser
representada atravs da expresso:
W Q E = .
equao 83
58
A Lei de Conservao da Energia inicialmente introduzida como uma lei de conservao da energia
mecnica. E neste formato estabelece que a variao de energia de um sistema ao qual s esto
aplicadas foras conservativas (cujo trabalho no depende da trajectria) nulo e a variao de energia
de um sistema ao qual esto tambm aplicadas foras no-conservativas (tambm chamadas
dissipativas) iguala a energia dissipada por essas foras. Quando o conceito de calor tomou o
significado de energia, a lei foi revista no sentido de englobar esta forma de energia, dando lugar
quela que actualmente conhecida como a Primeira Lei da Termodinmica.
99
onde E a variao de energia interna do sistema, Q o calor recebido pelo sistema
(se Q for negativo toma o significado de calor cedido pelo sistema) e W o trabalho
realizado pelo sistema (se W for negativo toma o significado de trabalho realizado
sobre o sistema)
59
.
23.2 Segunda Lei da Termodinmica
Facilmente se verifica que existe uma infinidade de fenmenos que, embora
sejam permitidos pela Primeira Lei da Termodinmica, no ocorrem
espontaneamente. Pense-se, por exemplo, no fluxo de calor cujo sentido sempre o
dos corpos a temperatura mais elevada para aqueles que se encontram a temperaturas
mais baixas e nunca o inverso. Existem ainda exemplos mais simples, como o facto de
um prato partido no regressar ao estado inicial espontaneamente, ou o de gua
derramada regressar ao copo de onde caiu. A irreversibilidade destes processos est
intimamente relacionada com questes probabilsticas. Para entender esta questo
coloque-se uma situao simples: imagine-se trs moedas que se encontram num
estado dito ordenado quando as trs faces cara se encontram viradas para cima.
Seguidamente as moedas so misturadas de maneira a que, uma vez largadas, seja
igualmente provvel aparecer a face cara ou a face coroa. Uma anlise das vrias
combinaes possveis indica-nos que existe apenas uma hiptese em oito de as
moedas regressarem ao estado inicial. Existindo sete hipteses em oito de adquirirem
qualquer das outras combinaes. Ou seja, os estados desordenados so mais
provveis do que os ordenados. Repare-se ainda que quanto maior for o nmero de
moedas, mais improvvel ser retomarem ao estado considerado ordenado, ou seja,
aquele que corresponde a todas as moedas terem a face cara voltada para cima. De tal
forma que, se o nmero de moedas for suficientemente grande, a possibilidade de elas
regressarem ao estado ordenado considerada negligvel
60
. luz deste exemplo, a
Segunda Lei da Termodinmica poder ser introduzida da seguinte forma: As
alteraes espontneas num sistema so no sentido dos estados de menor
probabilidade para os estados de maior probabilidade. Ou seja, dos estados mais
ordenados para os estados mais desordenados. Assim, alteraes que envolvam a
passagem para estados mais organizados exigem o consumo de energia, no podendo,
portanto, ser consideradas espontneas. Ou seja, um sistema ordenado deixado evoluir
livremente tender a perder a sua organizao.
Uma das reas em que a Segunda Lei tem uma aplicao directa limitando os
processos em que ocorre converso de calor em trabalho. Para compreender como,
debrucemo-nos sobre as diferenas entre o calor e as restantes formas de energia.
Na verdade, a principal caracterstica que distingue o calor das restantes
formas de energia a sua natureza aleatria. Vejamos, por exemplo, o que se passa
quando o calor transmitido por conduo ou por conveco. Como j foi discutido
anteriormente, esse transporte est relacionado com o movimento catico das
partculas, ou seja, corresponde a um processo no ordenado. Tambm quando o calor
transmitido atravs de radiao electromagntica, as ondas tomam qualquer
direco, so caracterizadas por uma larga gama de comprimentos de onda e
apresentam fases aleatrias. Se discutirmos as outras formas de energia verificamos
que se manifestam atravs de processos mais ordenados: a energia potencial gravtica
59
Note-se que os sinais das diferentes variveis so convencionais e possvel encontrar na literatura
outras convenes, com as consequentes alteraes nos sinais da expresso 43.
60
Repare-se que se para 3 moedas a probabilidade de obter um estado ordenado de 1/8 (0.125), para
10 moedas a probabilidade de 0.001!
100
de um objecto corresponde a uma posio bem definida no espao; o trabalho
realizado por uma fora est intimamente relacionado com a trajectria descrita pelo
objecto ao qual a fora aplicada; a energia qumica depende das conformaes
especficas que determinadas molculas adquirem Ou seja, enquanto a maioria das
formas de energia depende de processos bem determinados, o calor apresenta um
carcter desordenado e, por isso e tendo em ateno o que foi anteriormente discutido
referente maior probabilidade dos sistemas desordenados, enquanto que qualquer
forma de energia se transforma espontaneamente em calor, o contrrio no vlido.
Um modo mais formal de introduzir a Segunda Lei da Termodinmica
atravs do seguinte enunciado: Considerando um fluxo de calor, Q, entre uma
temperatura mais elevada, T
2
, e uma temperatura inferior, T
1
, apenas uma fraco
desse calor poder ser transformado em trabalho, W, cumprindo-se a relao:
1
2
1
T
T
Q
W
= .
equao 84
Analisando a equao anterior, facilmente se conclui que o calor s poderia ser
totalmente convertido em trabalho se a temperatura mais baixa (representada por T
1
fosse zero). Como esta expresso s vlida considerando as temperaturas na escala
Kelvin e o zero absoluto impossvel de alcanar, conclui-se que o calor nunca
totalmente transformado em trabalho.
23.3 Aplicao das duas Leis da Termodinmica s necessidades
energticas dos seres vivos
Embora seja evidente que os seres vivos no sobrevivem sem se alimentar, o
motivo pelo qual isso sucede menos fcil de compreender, sendo necessrio recorrer
conjugao das duas leis estudadas anteriormente para o justificar. Comecemos por
pensar num corpo que no s tem que manter a sua temperatura contra um meio que
se encontra a uma temperatura, por hiptese, menor, como tambm realiza trabalho,
atravs de movimentos musculares. luz da Primeira Lei compreende-se que s com
a entrada de energia possvel manter estas duas funes (ver Figura 84).
Figura 84 - Esquema das trocas energticas entre o corpo e o exterior. (Adap. de P. Davidovits,
2001).
Esta abordagem conduz-nos, no entanto, seguinte questo: Um corpo que se
mantenha termicamente isolado e no realize trabalho muscular sobreviver sem se
alimentar? E, em caso da resposta ser negativa, em que ser utilizada essa energia?
Repare-se que segundo a Primeira Lei a situao perfeitamente possvel: se no
Energia interna:
qumica
trmica
Entrada de energia
(alimentos)
Calor
Trabalho
101
entra nem sai energia do corpo, ento a energia interna manter-se- constante
61
.
Na verdade, necessrio recorrer Segunda Lei para compreender o que se passa
nestas circunstncias. Recorde-se que um sistema vivo um sistema
extraordinariamente ordenado. Um sistema com estas caractersticas, deixado evoluir
livremente, tenderia a perder a sua ordem e, no limite, tornar-se-ia disfuncional. Deste
modo, um ser vivo ainda que no interagisse com a vizinhana exigia energia para
manter a sua ordem interna.
23.4 Entropia e Segunda Lei
Neste captulo, vrias tm sido as referncias ordem de um sistema e sua
importncia. , pois, compreensvel que surja uma grandeza que a mea. A essa
grandeza d-se o nome de entropia e, a este nvel de conhecimentos, ,
habitualmente, definida em termos da sua variao, S . Em particular, num processo
que ocorra a uma temperatura constante, T , a variao de entropia de um sistema que
receba (ou perca) uma quantidade de calor Q definida como:
T
Q
S
= ,
equao 85
o que implica que a entropia tenha como unidade J K
-1
.
Com base nesta grandeza tem-se, ainda, uma outra formulao da Segunda Lei
que enunciada da seguinte forma: A entropia de um sistema isolado (ou seja, que
no realiza trocas energticas com o exterior) nunca diminui
62
.
A ttulo de discusso, gostaramos ainda de atentar no facto de a aquisio de
ordem por parte dos sistemas exigir no apenas energia, mas tambm informao. De
facto, para que a energia seja utilizada no sentido de ordenar um sistema necessrio
saber exactamente como faz-lo. Assim, associada a este tema est esta outra
grandeza (informao) que to crucial como a energia para que a entropia de um
sistema diminua. Ou seja, fazendo, uma vez mais, um paralelismo que o que se passa
nos seres vivos, poderemos afirmar que para manter estes sistemas funcionais,
necessrio que estes estejam ordenados, pelo que estes recebem energia por via dos
alimentos que ingerem (energia qumica) ou directamente do sol (no caso das plantas
com clorofila) e acedem informao de como essa energia pode ser utilizada atravs
do DNA.
23.5 Aspectos da energtica do corpo humano
Como j e referiu anteriormente o corpo humano necessita de energia para
diversas tarefas, por convenincia estipulou-se uma grandeza mdia de consumo
energtico a que se d o nome de taxa metablica e cuja unidade J m
-2
s
-1
em S.I.,
embora seja muito comum ser dada em kcal m
-2
hora
-1
. A taxa metablica mdia para
diferentes actividades est apresentada na Tabela 3.
61
Repare-se que esta situao , obviamente, hipottica, uma vez que um ser vivo nunca poderia ser
um sistema isolado De modo que esta hiptese deve ser considerada apenas como conceptual e
utilizada para introduzir a importncia da Segunda Lei da Termodinmica neste contexto.
62
Note-se que sendo a entropia uma medida da ordem, esta apenas uma outra forma de dizer que um
sistema que no troque energia com o exterior deixado evoluir espontaneamente, nunca tende para
estados de maior ordem.
102
Actividades Taxa Metablica (kcal m
-2
hr
-1
)
Dormir 35
Viglia (repouso) 400
Sentado 50
Em p 60
Andar 140
Trabalho fsico moderado 150
Andar de bicicleta 250
Correr 600
Tiritar de frio 250
Tabela 3 - Taxas metablicas para diferentes actividades. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
Em muitas situaes importante conhecer-se o consumo energtico de um
indivduo que realize determinada tarefa. Pelo que foi exposto, para tanto, ser
necessrio conhecer a rea da superfcie do corpo. Ora, geralmente, as variveis
susceptveis de medida so a massa e a altura dos indivduos. Uma expresso emprica
que permite obter a rea da superfcie a partir destas variveis :
725 . 0 425 . 0
202 . 0 h m A = ,
equao 86
onde A a rea da superfcie do corpo em metros quadrados; m ser a massa em
kilograma e h a altura em metros.
Para compreender a forma como so utilizadas estas expresses, calcule-se a
energia consumida por um indivduo de 70 kg e 1.55 m de altura durante um dia,
admitindo que no executa qualquer outra actividade a no ser permanecer deitado
63
.
Comece-se por calcular a rea aproximada do corpo:
( ) ( )
2 725 . 0 425 . 0
m 69 . 1 55 . 1 70 202 . 0 = = A .
Em seguida, calcule-se a energia consumida numa hora (consultar a Tabela 3):
-1 '
hora kcal 6 . 67 69 . 1 40 rea metablica taxa = = = E .
E, por fim, para o clculo da energia consumida num dia:
kcal 1622 24 67.6 horas 24
'
= = E E .
Tal como j foi referido, a energia necessria para o funcionamento do corpo
humano obtida a partir da oxidao dos diversos nutrientes, nomeadamente, hidratos
de carbono, protenas, lpidos (gorduras) e lcoois. Cada um destes tipos de nutrientes
tem reaces de oxidao associadas, nas quais existe libertao de energia. A
oxidao da glucose, por exemplo, descrita atravs da equao:
energia O 6H 6CO 6O O H C
2 2 2 6 12 6
+ + + .
63
Neste exemplo de aplicao no se ir fazer distino entre o consumo energtico durante as horas de
sono e as restantes.
103
Em mdia, aceite que por cada grama de hidratos de carbono ou protenas
oxidados so libertadas 4 kcal, por cada grama de lpidos, so libertadas 9 kcal e por
cada grama de lcool so libertadas 7 kcal. Relativamente a este balano energtico h
ainda a considerar dois pontos importantes, o primeiro diz respeito ao facto de a
oxidao dos nutrientes s temperaturas habituais do corpo no ocorrer
espontaneamente. Por este motivo, necessria a participao de catalizadores (que
no corpo humano so formados por molculas muito complexas a que se d o nome
de enzimas) que promovem estas reaces. Uma segunda questo est relacionada
com o facto destas reaces exigirem consumo de oxignio
64
, o que, por sua vez,
implica gastos energticos que devem ser tidos em conta quando se calculam doses
recomendadas de alimentos.
Um aspecto importante da energtica do corpo humano prende-se com o
controlo de temperatura, o qual envolve diversos mecanismos. Tendo em conta que da
energia muscular gasta, apenas cerca de 20% aproveitada sob a forma de trabalho,
observa-se que a restante energia transformada em calor, o qual, se permanecesse no
interior do corpo, torn-lo-ia disfuncional devido ao aumento de temperatura. Deste
modo, necessria a existncia de um processo eficiente de transferncia de calor do
interior para o exterior. E ainda necessria uma diferena de temperaturas entre a
pele e o interior do corpo que promova o fluxo de calor. No entanto, se o mecanismo
de transporte de calor no interior do corpo se limitasse conduo, este seria muito
ineficiente, dado o baixo valor de condutividade trmica dos tecidos. De facto, o
processo mais eficiente de libertao de calor o correspondente conduo atravs
do sangue. O fluxo sanguneo transporta calor que libertado ao nvel da superfcie da
pele atravs dos capilares que a irrigam. Alis, quando se pretende que a libertao de
calor seja menor, ocorre constrio ao nvel dos capilares, reduzindo as trocas
trmicas com o exterior.
Note-se que a perda de calor para o exterior feita por qualquer dos
mecanismos anteriormente estudados. No entanto, tendo em conta que a
condutividade do ar muito pequena, a perda de calor por condutividade diminuta,
s sendo considervel se uma parte considervel da superfcie corporal estiver em
contacto com um material com uma boa condutividade trmica (um metal, por
exemplo). Caso contrrio os dois mecanismos mais importantes de troca de calor entre
a pele e o exterior so a conveco e a radiao. No entanto, como facilmente se
conclui do que foi exposto na seco 8.4., estes dois mecanismos s so
verdadeiramente teis na dissipao de energia trmica do corpo quando a
temperatura do exterior menor do que a temperatura do interior. Caso contrrio, a
temperatura corporal fundamentalmente regulada atravs da evaporao do suor.
Um elevado calor de evaporao da gua (cerca de 0.580 kcal g
-1
) permite uma
eficiente perda de calor por esta via. Pode ainda referir-se a perda de calor por
evaporao devido respirao, no entanto, no homem, este mecanismo diminuto
quando comparado com o da transpirao.
64
Assume-se que por cada litro de oxignio utilizado na oxidao de alimentos, sejam consumidas
4.83 kcal.
104
VIII OS SENTIDOS DA AUDIO E DA VISO
24. Funcionamento do ouvido humano
Como se referiu nas seces anteriores, o som uma onda mecnica, ou seja, a
sua propagao ocorre graas oscilao das partculas do meio. O ouvido humano
no mais do que um eficiente transdutor que transforma essas pequenas alteraes
de presso em sinais elctricos interpretveis pelo sistema nervoso.
Habitualmente, o ouvido humano dividido em trs partes: ouvido externo,
ouvido mdio e ouvido interno. O primeiro detecta o som e conduze-lo em direco
ao ouvido mdio. Este, por sua vez, amplifica-o e faz uma adaptao da impedncia
acstica entre o ouvido externo e o interno. Por fim, o ouvido interno converte o som
em sinais elctricos dependentes da frequncia e da intensidade.
No que respeita sua anatomia (ver Figura 85), no ouvido externo possvel
distinguir a orelha, que recolhe os sons e os transmite directamente para o canal
auditivo. Este, num adulto mdio, tem aproximadamente 0.75 cm de dimetro e
2.5 cm de comprimento
65
e responsvel pela conduo do som at ao tmpano. O
tmpano uma membrana mvel muito fina recoberta por pele do lado de fora e por
membrana mucosa do lado interno. Como se pode observar, o conjunto orelha e canal
auditivo pode ser considerado uma espcie de funil, mais largo na regio da orelha e
que se estreita medida que se aproxima do tmpano. Tambm esta geometria
contribui para um ganho em termos de presso (para a mesma fora, diminuindo a
rea, aumenta a presso).
Figura 85 - Esquema do ouvido humano. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
65
interessante verificar que as dimenses deste canal conferem-lhe uma frequncia de ressonncia na
ordem de 3000 Hz (tipicamente a frequncia do discurso oral nos humanos), sendo, por este motivo,
que o ouvido humano to sensvel a esta gama de frequncias. Embora o estudo de cavidades de
ressonncia no se enquadre na profundidade do estudo que pretendemos fazer, ser til entender que
uma geometria que apresente ressonncia numa dada frequncia significa que amplifica mais essa
frequncia do que as restantes.
105
O ouvido mdio constitudo por uma cavidade com ar, no interior da qual se
encontram trs ossculos: martelo, bigorna e estribo. O martelo est ligado ao
tmpano, enquanto que o estribo se encontra ligado janela oval, que estabelece o
contacto com o ouvido interno. Este sistema de ossculos tem, basicamente, duas
funes: a de adaptar a impedncia acstica do ar (existente no ouvido externo) do
fluido existente no ouvido interno e a de amplificar, uma vez mais, a presso
(repare-se que o tmpano apresenta uma rea de aproximadamente 65 mm
2
, enquanto
que a rea da janela oval de cerca 3 mm
2
, o que permite um ganho de 20 a 30 na
presso. No ouvido interno existem ainda dois msculos com um funcionamento
muito interessante e que protegem o sistema auditivo contra sons de intensidade
excessivamente elevada. O primeiro encontra -se ligado ao tmpano e evita a
propagao de sons de frequncia muito baixa para os ossculos. O segundo
encontra-se ligado janela oval e reduz a intensidade do som transmitido para o
ouvido interno, quando este demasiado intenso. Este mecanismo, porm, demora
cerca de 50 ms a ser activado. Por este motivo, o nosso ouvido encontra-se protegido
contra o aumento gradual do som, mas no contra aumentos bruscos da intensidade do
som, como, por exemplo, os que ocorrem aquando de uma exploso. H ainda uma
segunda e sofisticada funo destes msculos. Sempre que ns falamos, eles so
activados com a antecedncia necessria para que o som da nossa voz (propagado
atravs dos tecidos da cabea e de intensidade extremamente elevada) seja fortemente
atenuado. O ouvido mdio encontra-se, ainda, ligado trompa de Eustquio que, por
sua vez, se encontra ligado boca e cuja funo a de manter o ouvido mdio
presso atmosfrica.
Figura 86 - Esquema do ouvido mdio e do ouvido interno. (Adapt. A.McCormick e A Elliot,
2001).
O ouvido interno essencialmente uma cavidade no interior do crnio e,
portanto, protegida por este, cheia de fluido. constitudo pelo vestbulo, a cclea e
os canais semicirculares. Os canais semicirculares so os nossos sensores de
controlo do equilbrio. So trs tubos cheios de fluido, que formam ngulos rectos
entre si (ver Figura 86). Desta forma, movimentos da cabea so acompanhados de
movimentos no fluido medidos por pequenos clios que se encontram no interior dos
canais e que fornecem informao aos nervos sobre esses movimentos. Esses nervos
transmitem essa informao ao crebro de modo a que este inicie os mecanismos
necessrios para manter o equilbrio. O vestbulo a cavidade que liga a janela oval
cclea. E a cclea um tubo em forma de espira que contm trs cmaras distintas:
scala vestibuli, o ducto coclear e a scala tympani (ver Figura 87). A scala vestibuli e
106
a scala tympani encontram-se ligadas no pex da cclea e contm o mesmo lquido no
seu interior: a perilinfa. A primeira est ligada janela oval, enquanto que a segunda
janela redonda. O ducto coclear, que se contra, na cclea, entre as outras duas
cmaras, encontra-se cheio de um lquido chamado endolinfa. A separ-lo da scala
tympani encontra-se a membrana basilar, recoberta de clulas sensveis vibrao.
Estas clulas, conhecidas por clulas ciliadas devido sua geometria em forma de
clio, transformam o movimento do fluido em sinais elctricos que so conduzidos at
ao crebro atravs do nervo auditivo. Ora o movimento do fluido determinado pela
presso na janela oval que estabelece a ligao entre os ossculos e o vestbulo. No
ainda muito claro o modo exacto de funcionamento da cclea, no entanto, conhecido
que as clulas basilares tm uma disposio tal que as que se encontram mais
prximas da base da cclea so sensveis s frequncias mais altas, enquanto que as
que se encontram mais prximas do pex so sensveis s frequncias mais baixas. De
referir tambm o papel da janela redonda, cujo movimento permite dissipar o excesso
de energia existente nas ondas de som que se propagam ao longo da cclea.
Figura 87 - Corte transversal dos trs canais da cclea. (Adapt. A.McCormick e A Elliot, 2001).
24.1 Gama de frequncias e sensibilidade do ouvido humano
O normal funcionamento do ouvido humano permite sermos sensveis a
frequncias que vo desde 20 Hz at 20 000 Hz nos adultos. , no entanto, sabido
que, com o passar dos anos o limite superior desta gama poder descer para valores de
15 kHz ou mais baixo. Quanto sensibilidade o nosso ouvido apresenta tambm uma
fantstica capacidade: geralmente, possvel detectar diferenas de som na ordem de
0.1 % da frequncia considerada. Para ter uma noo do que este valor significa
repare-se que entre o d e o r existe uma diferena de cerca de 6 %. Na verdade,
numa gama de frequncias entre 60 e 1000 Hz possvel distinguirmos sons
separados de 2 a 3 Hz. Para valores de frequncia superiores torna-se um pouco mais
difcil distinguir frequncias que se encontrem to prximas.
Na Figura 88 apresenta-se um grfico onde est apresentado o limiar de
audibilidade de um indivduo jovem sem problemas de audio (linha a cheio) em
funo da frequncia. Encontram-se ainda representadas as linhas associadas ao limiar
de audibilidade da mdia dos indivduos e aos limiares associados ao desconforto e
dor. Assume-se que para valores acima de 160 dB o tmpano pode sofrer ruptura.
107
Figura 88 - Grfico onde esto apresentados o limiar de audibilidade para um jovem com uma
audio normal, o limiar de audibilidade para a mdia da populao, o limiar de intensidade do
som a partir do qual o indivduo experincia uma sensao de desconforto e aquele em que
comea a sentir dor. (Adapt. A.McCormick e A Elliot, 2001).A ttulo de curiosidade, na
Tabela 4 encontram-se apresentados alguns valores tpicos de intensidade sonora
associados a determinadas situaes.
Nvel do
som (dB)
Situao
0 Som mnimo audvel
10 Movimento das folhas das rvores
20 Uma rua com pouco movimento
30 Sussurro
40 Conversao
50 Rudo mdio de uma casa
60 Conversao (de um indivduo para outro que se encontra a 1 m)
70 Rudo no interior de uma loja de grandes dimenses
80 Rudo de uma estrada com grande movimento a 18 m
85 Primeiro nvel de perigo
90 Rudo no interior de um camio ou de um metropolitano
100 A 8 m de um camio numa rua estreita
110 A 1 m de um grupo rock ou a 15 m de um apito de comboio.
120 A 175 m de um avio
130 A 35 m de um avio a jacto
Tabela 4 - Alguns rudos tpicos de diversas situaes. Observe-se que um rudo continuado de
85 dB pode j causar danos permanentes. (Adapt. A.McCormick e A Elliot, 2001).
25. Elementos de ptica geomtrica
As caractersticas dos componentes pticos habitualmente utilizados, tais
como espelhos e lentes, podem ser completamente obtidas a partir das propriedades
das ondas anteriormente referidas. No entanto, esses clculos so geralmente bastante
complexos, de modo que na maioria das aplicaes, assume-se que: as dimenses
desses componentes so muito maiores do que o comprimento de onda da luz (o que
verdade para a maior parte dos casos) e que possvel aproximar um feixe luminoso a
um conjunto de raios que se mantm perpendiculares frente de onda (ver Figura 89).
Nestas condies, admite-se que um raio luminoso num meio homogneo tem sempre
uma trajectria rectilnea, s apresentando desvios quando encontra uma interface
108
entre dois meios. Aos clculos realizados utilizando estas aproximaes d-se o nome
de ptica geomtrica.
Figura 89 - Representao da aproximao feita em ptica geomtrica, onde as frentes de onda
de um feixe luminoso so descritas atravs de um conjunto de raios que se propagam
perpendicularmente frente de onda. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
25.1 ndices de refraco, Lei de Snell e ngulo crtico
Como j se referiu anteriormente, o modo de propagao de uma onda
altera-se quando atravessa uma interface entre dois meios. Nomeadamente, altera a
sua velocidade de propagao. Tomando o caso da luz, como sabido, no vcuo, a
velocidade de propagao tem o valor 3 x 10
8
m s
-1
. No entanto, em qualquer outro
meio material, a velocidade da luz toma um valor menor e que cumpre a relao:
n
c
v = ,
equao 87
onde v a velocidade da luz no meio considerado, c a velocidade da luz no vazio e n o
ndice de refraco do meio, necessariamente maior do que 1.
Definido o ndice de refraco de um material possvel estabelecer as
relaes existentes entre o ngulo de incidncia,
1
, de um raio numa interface e o
ngulo de refraco,
2
, atravs da Lei de Snell:
1
2
2
1
sen
sen
n
n
=
,
equao 88
n
1
tem o significado de ndice de refraco do primeiro meio e n
2
o ndice de
refraco do segundo meio.
Na Figura 90 encontram-se representadas duas situaes distintas. Na alnea a)
um caso em que o ndice de refraco do meio 2 e maior do que o ndice de refraco
do meio 1 (por exemplo, um raio de luz que atravessa uma interface ar/gua). J na
alnea b) a situao ilustrada a de no meio 2 existir um ndice de refraco menor do
que no meio 1, verificando-se, portanto,
1
menor do que
2
. Neste segundo caso,
observa-se que existe um ngulo de incidncia a partir do qual deixa de existir
refraco. Ou seja, para esse ngulo crtico, a refraco tangente interface e para
valores superiores a esse ngulo existe reflexo total do raio.
109
a) b)
Figura 90 - a) Representao do raio incidente, reflectido e refractado quando passa de um meio
com um ndice de refraco menor para outro com um ndice de refraco maior. b)
Representao da trajectria dos raios quando o ndice de refraco do meio 1 maior do que o
ndice de refraco do meio 2. A tracejado encontra-se o raio incidente e o raio refractado numa
situao em que o ngulo de incidncia menor do que o ngulo crtico. A cheio a situao em
que o ngulo de incidncia maior do que o ngulo crtico. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
25.2 Lentes
Existem, basicamente, dois tipos de lentes: as convergentes e as divergentes.
Relativamente sua geometria, as primeiras so convexas e as segundas cncavas.
Nas lentes convexas verifica-se que, quando um feixe de raios paralelos passa pela
lente, converge num nico ponto o foco a uma determinada distncia da lente
distncia focal, f (ver Figura 91). Invertendo a situao, verifica-se que se a lente
for atravessada por um conjunto de raios provenientes de uma fonte pontual colocada
num ponto distncia focal da lente, esse feixe transforma-se num conjunto de raios
paralelos.
Figura 91 - Representao da trajectria de um feixe de luz a) paralelo, b) proveniente de uma
fonte pontual ao atravessar uma lente convergente. Ilustrao do conceito de distncia focal.
(Adapt. de P. Davidovits, 2001).
110
No caso das lentes divergentes, verifica-se que, quando um feixe de raios
paralelos atinge a lente, estes passam a ser divergentes, aparentando provirem de uma
fonte pontual (ver Figura 92). Neste caso, chama-se foco a essa fonte virtual e,
analogamente ao que se passa com as lentes convergentes, denomina-se distncia
focal distncia entre esse ponto e a lente.
Figura 92 - Representao da trajectria de um feixe de luz paralelo ao atravessar uma lente
divergente com indicao da sua distncia focal. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
A distncia focal de uma lente determinada atravs do ndice de refraco do
material de que constituda e do seu raio de curvatura. Convencionando-se que a luz
se propaga da esquerda para a direita e que uma lente apresenta um raio de curvatura
positivo quando a superfcie com que o raio se depara convexa e negativo quando
essa superfcie cncava, a distncia focal, f, de uma lente fina dada por:
( )
|
|
\
|
=
2 1
1 1
1
1
R R
n
f
,
equao 89
onde n o ndice de refraco da lente, R
1
o raio de curvatura da primeira superfcie e
R
2
o raio de curvatura da segunda (repare-se que no caso de uma lente convexa como
a apresentada na Figura 91, R
1
positivo, enquanto que R
2
negativo).
A potncia de uma lente tanto maior quanto menor for a distncia focal,
sendo definida atravs da expresso:
f
1
focal poder = ,
e expressa em dioptrias (m
-1
).
Em muitas situaes prticas so utilizadas vrias lentes em srie. Quando as
lentes se encontram encostadas, possvel obter a distncia focal do conjunto atravs
da expresso:
2 1
1 1 1
f f f
T
+ = .
Quando uma fonte pontual (objecto) colocada num ponto a uma distncia de
uma lente convergente maior do que a distncia focal, os raios de luz, aps
atravessarem a lente, convergem para um ponto ao qual chamamos imagem real (ver
Figura 93 a)). Quando o objecto colocada num ponto mais prximo da lente do que
o foco, os raios provenientes do objecto divergem e a imagem diz-se virtual, uma vez
que aparece do lado onde o prprio objecto se encontra (ver Figura 93 b)).
111
Figura 93 - Representao da trajectria de um feixe de luz proveniente de uma fonte pontual ao
atravessar uma lente convergente, quando a) a distncia do objecto lente superior distncia
focal (imagem real), b) a distncia do objecto lente menor do que a distncia focal (imagem
virtual). (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
Numa lente fina possvel relacionar a distncia entre o objecto e a lente, p, a
distncia entre a imagem e a lente, q, e a distncia focal, f, atravs da relao:
q p f
1 1 1
+ = .
Por conveno, q considerado positivo quando a imagem formada do lado
da lente contrrio ao lado do objecto e negativo quando o objecto e a imagem se
encontram do mesmo lado da lente.
tambm de enorme interesse prtico perceber o que que acontece quando o
objecto colocado no sobre o eixo da lente, como nos casos dos esquemas da Figura
93, mas a uma determinada distncia desse eixo, como mostra a Figura 94. Neste
caso, a razo entre a distncia ao eixo da imagem, y, e a distncia ao eixo do objecto,
x, igual razo entre a distncia da imagem lente, q, e a distncia do objecto
lente, p:
p
q
x
y
= .
Figura 94 - Representao da trajectria de um feixe de luz proveniente de uma fonte pontual
que se encontra a uma determinada distncia do eixo ptico. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
112
Apesar de, at agora, as situaes abordadas corresponderem apenas a
objectos pontuais, muito simples generalizar para os casos em que os objectos so
extensos. Na verdade, basta pensarmos que cada ponto do objecto se comporta como
uma fonte pontual. Desta forma, o formalismo descrito anteriormente aplicvel a
qualquer objecto, cumprindo-se, obviamente:
p
q
=
objecto do altura
imagem da altura
.
Para terminar esta breve introduo ptica geomtrica, parece-nos oportuno
discutir o que acontece quando uma lente, ao invs de estar mergulhada no ar
66
, se
encontra mergulhada em dois meios distintos, como o representado na Figura 95
67
.
Sejam n
1
o ndice de refraco do meio de onde provm os raios de luz, n
2
o ndice de
refraco do meio do outro lado da lente, n
L
o ndice de refraco do material
constituinte da lente, R
1
e R
2
, respectivamente o primeiro e o segundo raios de
curvatura da lente, p a distncia do objecto lente e q a distncia da imagem lente,
ento, vlida a expresso:
2
2
1
1 2 1
R
n n
R
n n
q
n
p
n
L L
= + .
Para a mesma situao, possvel definir a distncia focal efectiva, f, da lente,
atravs da relao:
2
2
1
1 2
1
R
n n
R
n n
f
L
= .
Figura 95 - Representao de uma lente convergente mergulhada entre dois meios de diferentes
ndices de refraco. (Adapt. de P. Davidovits, 2001).
26. A viso humana
A viso , indubitavelmente, um sentido de extrema importncia para observar
o que nos rodeia. Estima-se que 70% da informao sensorial recolhida por um
indivduo seja atravs da viso. Em traos gerais, possvel dividir a viso em trs
componentes distintas: o estmulo, que consiste nos raios de luz que atingem o olho;
os elementos pticos que constituem o prprio olho e o sistema nervoso que processa
e interpreta a informao recolhida.
66
Note-se que em todos os casos discutidos nesta seco se presume que as lentes se encontram no ar,
ou seja, assume-se que o ndice de refraco do meio onde a lente est mergulhada 1.
67
de referir que esta situao se reveste de especial interesse, uma vez que representa com rigor o
que se passa ao nvel do olho.
113
Alm do mais, interessante realar algumas das mais notveis
potencialidades do olho humano: 1) combina a possibilidade de observar eventos
numa larga gama de ngulos, com uma extrema acuidade no que respeita a um objecto
que se encontre exactamente sua frente; 2) apresenta a possibilidade de adaptar a
distncia focal e proceder limpeza da lente de um modo rpido e automtico; 3)
consegue operar numa extensa gama de intensidades luminosas (cerca de 7 ordens de
grandeza diferentes); 4) a crnea possui uma enorme capacidade de reparao dos
tecidos de que constituda; 5) regula de um modo extremamente eficiente a presso
no seu interior; 6) ao nvel do processamento cerebral, a informao recolhida por
cada um dos olhos utilizada para fornecer informao tri-dimensional. Por estes
motivos, o estudo do funcionamento do olho humano tem ocupado tanto os cientistas,
permanecendo algumas das funes mais sofisticadas, principalmente, ao nvel do
processamento, ainda por explicar.
26.1 Estrutura e funcionamento do olho
Atravs de um esquema simples do olho humano (Figura 96), possvel
distinguir as suas principais estruturas. A sua forma praticamente esfrica e possui
um dimetro com cerca de 2.4 cm. A luz atravessa a crnea que um tecido
transparente que se encontra na parte anterior do olho. A crnea apresenta um ndice
de refraco muito diferente do correspondente ao ar (ver Tabela 5), pelo que impe
aos raios luminosos uma significativa refraco. Em seguida, a luz atravessa uma
regio no interior da qual se encontra o humor aquoso, formado maioritariamente por
gua, na qual se encontram dissolvidos alguns sais. Neste compartimento encontra-se
a ris (regio colorida do olho) que delimita um orifcio (a pupila) por onde passam
os feixes luminosos e que pode ter dimetros que vo desde 2 mm at 8 mm. , pois, a
ris que controla a quantidade de luz que o olho recebe, determinando as dimenses da
pupila que funciona como diafragma. Os raios luminosos atravessam, ento, a lente
ou cristalino que se encontra protegida por uma cpsula e que responsvel pela
focagem dos objectos na retina. Esse processo de focagem, ou acomodao, que,
como se observou anteriormente, automtico est a cargo dos msculos ciliares que
se encontram ligados lente atravs de ligamentos. Quando estes msculos se
encontram relaxados a lente apresenta-se com o seu mximo dimetro e menor
espessura, estando na posio apropriada para focar na retina objectos provenientes de
grandes distncias (assume-se que neste caso os raios provenientes desses objectos
so paralelos uns aos outros). Pelo contrrio, quando os msculos ciliares se
contraem, os ligamentos exercem menor presso sobre a lente, esta relaxa e apresenta
um menor dimetro e uma maior espessura, ou seja, torna-se apta a focar na retina
objectos que se encontrem prximos do indivduo.
Componentes do olho humano ndice de refraco
Crnea 1.37
Humor aquoso 1.33
Superfcie das lentes 1.38
Interior das lentes 1.41
Humor vtreo 1.33
Tabela 5 - ndices de refraco de diversas componentes do olho humano. (Adapt. A.McCormick
e A Elliot, 2001).
114
Figura 96 - Esquema da estrutura do olho humano. (Adapt. A.McCormick e A Elliot, 2001).
Aps atravessar o cristalino, a luz propaga-se atravs de uma cavidade cheia
de humor vtreo, que uma substncia gelatinosa que confere a geometria esfrica ao
olho. Uma vez chegada retina, regio posterior do olho e onde se encontram os
receptores da luz) os raios luminosos so transformados em sinais elctricos atravs
dos bastonetes e dos cones, clulas nervosas que funcionam como transdutores. Os
primeiros so especializados em detectar diferentes quantidades de luz e encontram-se
principalmente na periferia da retina. Os cones so sensveis a trs cores: vermelho,
verde e azul, e permitem-nos ter a percepo de todas as restantes, atravs de
combinaes pesadas de cada uma destas trs. Esto densamente distribudos na
regio central da retina, mais prxima do eixo ptico do olho (analisar a Tabela 6).
Propriedades Bastonetes Cones
Respondem a: luz fraca luz intensa
Apresentam a sua mxima sensibilidade
ao comprimento de onda:
azul-verde (500 nm)
verde-amarelo (560 nm)
Apresentam uma resoluo espacial: baixa alta
Quanto viso a cores: no apresentam so necessrios, pelo menos, dois
tipos de cones
Tempo de adaptao escurido: cerca de 15 minutos cerca de 5 minutos
Tabela 6 - Algumas propriedades apresentadas pelos bastonetes e pelos cones. (Adapt.
A.McCormick e A Elliot, 2001).
No que respeita estrutura da retina importante referir ainda dois aspectos: o
primeiro a existncia de uma manha amarela, a mcula ltea, situada no eixo ptico
e no centro da qual se encontra uma importante rea qual se d o nome de fvea. A
fvea a regio da retina com maior densidade de cones, permitindo, por isso, uma
extrema clareza da imagem projectada nessa zona. Para ilustrar a acuidade desta
regio, basta chamar a ateno para a densidade de cones na rea central da fvea que
cerca de 150 000 cones por mm
2
. O segundo aspecto, a existncia de uma regio
da crnea que no possui bastonetes ou cones, e, por esse motivo, denominada de
regio cega, uma vez que nesse local que se renem todas as fibras nervosas
provenientes da retina para formar o nervo ptico, que, por sua vez, envia, para o
crebro, toda a informao visual recolhida.
115
BIBLIOGRAFIA
Livro seguido:
Physics in Biology and Medicine (2001) Paul Davidovits, 2 edio, Harcourt
Academic Press.
Outros livros essenciais:
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (1996), Raymond A.
Serway, 4 edio, Sauders College Publishing.
General Physics with Bioscience Essays (1985), Jerry B. Marion e William F.
Hornyak, 2 edio, John Wiley & Sons, Inc.
Physics (1988), Kane e Sternheim, 3 edio, John Wiley & Sons, Inc.
Contemporary College Physics (1992) Edwin R. Jones e Richard L. Childers, 2
edio, Addison-Wesley Publishing Company
Fundamentals of Physics (1993) David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker,
4 edio, John Wiley & Sons, Inc.
Physics Principles with Applications (1991) Douglas C. Giancoli, 3 edio,
Prentice_Hall International, Inc.
College Physics (1995) Vincent P. Coletta, Mosby.
Outra bibliografia consultada:
Processamento de Dados Electroencefalogrficos - aplicaes epilepsia (1998)
Carla Silva, tese de Doutoramento apresentada Universidade de Lisboa.
Essentials of Neural Science and Behavior (1995) E.R. Kandel, J.H. Schwartz e
T.M. Jessell, Appleton & Lange.
Principles of Neural Science (1985) E.R. Kandel e J.H. Schwartz, 2 edio,
Elsevier.
Clinical electroencephalography and event-related potentials. In: Functional Brain
Imaging (1995), J.D. Lewine e W.W. Orrison Jr. Editores: W.W. Orrison Jr., J.D.
Lewine, A.J. Sanders e M.F. Hartshorne, Mosby.
Le Cerveau (1984) vrios autores, Bibliothque pour la Science.
Principles of Anatomy and Physiology (1996) G.J. Torotora e S.R. Grabowski,
Harper Collins College Publishers.
Principles of Behavioral Neuroscience (1995) J. Beatty, Brown & Benchmark.
Textbook of Medical Physiology (1996) A.C. Guyton e J.E. Hall, 9 edio,
Saunders.
116
Human Physiology (1998) A. Vander, J. Sherman e Dorothy Luciano, 7 edio,
WCB McGraw-Hill.
Medical Imaging Physics (1979), William R. Hendee e E. Russell Ritenour, 3
edio, Mosby Year Book.
Health Physics (2001), A. McCormick e A. Elliot, Editor: David Sang, Cambridge
University Press.
117
Z
X
Y
A
z
A
x
A
y
ANEXO A Reviso de alguns conceitos de clculo vectorial
Como foi estudado em anteriores nveis de escolaridade Um vector
caracterizado por uma amplitude, uma direco e um sentido, ao contrrio de um
escalar que definido apenas por um nmero (amplitude e, eventualmente, uma
unidade). Ou seja, a distncia percorrida, a temperatura e a massa so exemplos de
escalares, enquanto que o deslocamento, a velocidade e a fora so exemplos de
vectores.
Sempre que necessrio localizar pontos no espao, necessrio usar um
sistema de coordenadas que envolve: uma origem (ponto fixo); um sistema de eixos e
instrues para definir um ponto relativamente origem e aos eixos. No sistema de
coordenadas cartesianas (que aquele que se torna mais intuitivo aos nossos sentidos)
possvel descrever um vector A
r
esquematicamente:
Figura 97 Representao de um vector no espao.
Ou analiticamente:
z z y y x x
u A u A u A A
r r r
r
+ + = , onde
x
A ,
y
A e
z
A so as
coordenadas do vector e esto representadas na Figura 97.
Relativamente s caractersticas dos vectores ainda essencial lembrar que
dois vectores so iguais se tiverem a mesma amplitude, direco e sentido e que a
adio de dois vectores B A R
r r r
+ = segue as regras grficas do tringulo ou do
paralelograma (ver Figura 98, que podem ser usadas indiscriminadamente, consoante o
gosto do aluno.
Regra do tringulo: Regra do paralelograma:
Figura 98 Representao grfica da regra do tringulo e da regra do paralelograma na adio
de vectores
r
A
r
R
r
A
r
B
r
R
r
A
r
B
118
tambm sabido que a adio de vectores comutativa, ou seja:
A B B A
r r r r
+ = + e associativa: ) ( ) ( C B A C B A
r r r r r r
+ + = + + . E que o vector A
r
o vector
que tem a mesma amplitude e direco que A
r
, mas sentido contrrio:
A
r
A
r
Figura 99 Representao do simtrico de um vector.
Esta ltima definio permite usar na subtraco as mesmas regras que na
soma.
Ainda com o objectivo de recapitular algumas noes sobre vectores, refira-se
que multiplicar um escalar por um vector equivale a multiplicar a sua amplitude por
esse escalar (se o escalar for negativo, o vector resultante tem o sentido contrrio ao
do vector inicial). E que, atendendo a que um vector pode ser expresso atravs das
suas componentes:
z z y y x x
u A u A u A A
r r r
r
+ + = ,
equao 90
a soma (subtraco) de A
r
com B
r
pode ser calculada atravs da expresso:
z z z y y y x x x
u B A u B A u B A R
r r r
r
) ( ) ( ) ( + + =
equao 91
O produto interno entre dois vectores um escalar dado por:
cos . AB B A =
r r
equao 92
sendo, A e B, as amplitudes dos vectores e o menor ngulo entre eles. Ou seja, o
produto interno de A
r
com B
r
a amplitude de A
r
multiplicada pela projeco de B
r
em A
r
. Tendo em conta a sua definio possvel demonstrar facilmente que o
produto interno comutativo: A B B A
r r r r
. . = , associativo: ) . .( ). . ( C B A C B A
r r r r r r
= e distributivo
relativamente soma: C A B A C B A
r r r r r r r
. . ) .( + = + .
Alm disso, como facilmente se verifica, o produto interno entre dois vectores
paralelos o produto das suas amplitudes e o produto interno entre dois vectores
perpendiculares zero:
119
B A B A B A . . // =
r r r r
0 . = B A B A
r r r r
.
Temos tambm que se A
r
e B
r
forem descritos como:
z z y y x x
u A u A u A A
r r r
r
+ + =
z z y y x x
u B u B u B B
r r r
v
+ + =
o produto interno ente esses dois vectores calculado atravs da expresso:
z z y y x x
B A B A B A B A + + =
r r
.
equao 93
Um outro conceito importante o de versor que definido como o vector
unitrio relativo a uma dada direco. Ou seja, o versor do vector A
r
tem a expresso:
z
z
y
y
x
x
u
A
A
u
A
A
u
A
A
A
A
A
r
r
r
r
r
r r
r
r
vers + + = =
equao 94
onde as quantidades
A
A
A
A
A
A
z
y
x
r r r ; ;
so os chamados cossenos directores do vector
A
r
(cos, cos, cos).
Quanto ao produto externo de dois vectores um vector cuja amplitude dada
por:
sen AB B A =
r r
equao 95
sendo, A e B, as amplitudes dos vectores e o menor ngulo entre eles.
Quanto sua direco sabe-se que se: B A C
r r r
= , ento: B A C
r r r
e
Como propriedades importantes do produto vectorial pode apontar-se:
1. ) ( A B B A
r r r r
=
2. 0 // = B A B A
r r r r
3. B A B A B A . =
r r r r
4. distributivo relativamente soma:
C A B A C B A
r r r r r r r
+ = + ) (
120
Para estabelecer o produto externo entre dois vectores arbitrrios til ter-se
presente que as coordenadas cartesianas cumprem as seguintes regras:
y z x x z
x y z z y
z x y y x
z z y y x x
u u u u u
u u u u u
u u u u u
u u u u u u
r r r r r
r r r r r
r r r r r
r r r r r r
= =
= =
= =
= = = 0
Existindo uma regra prtica, bastante til no clculo do produto externo entre
dois vectores que se representa da seguinte forma:
z y x y x y z x x z x y z z y
z y x
z y x
z y x
u A B B A u B A B A u B A B A
B B B
A A A
u u u
B A
r r r
r r r
r r
) ( ) ( ) ( + + =
= =
121
ANEXO B Reviso de alguns conceitos de Mecnica
Cinemtica
Nesta reviso sobre os conceitos e as Leis da Mecnica comearemos por
incidir o nosso estudo na descrio do movimento, pondo de parte a origem desse
movimento, ou seja, iremos abordar apenas a cinemtica. Ir-se- ainda considerar
objectos pontuais, iniciando o estudo a uma dimenso. Comece-se por recordar a
definio de algumas grandezas importantes.
D-se o nome de deslocamento (x) de uma partcula num determinado
intervalo t diferena entre a sua posio final e a sua posio inicial: x = x
f
x
i
. A
uma dimenso o deslocamento no mais do que a distncia entre os dois pontos, ou
seja, a distncia entre o ponto de chegada (x
i
) e o ponto de partida (x
f
), sendo,
obviamente, a sua unidade de SI o metro (m).
Quanto velocidade mdia define-se como a razo do deslocamento pelo
intervalo de tempo, ( v ):
i f
i f
t t
x x
t
x
v
=
,
equao 96
tendo unidades de m s
-1
.
Tendo em conta esta definio, de notar que a velocidade mdia
independente do percurso. Deste modo, se a posio final for igual posio inicial, a
velocidade mdia nula, ainda que se possa ter percorrido um determinado caminho.
De facto, a grandeza que contm informao sobre o caminho percorrido a
celeridade (ou rapidez) mdia ( cel ), tambm em unidades m s
-1
:
total tempo
percorrido caminho
cel .
equao 97
Repare-se, no entanto, que tanto a velocidade mdia, como a celeridade mdia,
no do informao sobre as variaes de velocidade (ou celeridade) ao longo do
percurso. Por este motivo, surge a necessidade de introduzir uma nova grandeza
qual se d o nome de velocidade instantnea, definida matematicamente atravs da
expresso:
dt
dx
t
x
v
t
=
0
lim
.
equao 98
Ou seja, num grfico em que a posio segundo a direco de x for representada em
funo do tempo, a velocidade instantnea ser a tangente a esse grfico, ver Figura
100.
Quanto celeridade instantnea ser definida pelo valor absoluto da
velocidade instantnea.
122
Figura 100 Representao grfica da posio de uma partcula em funo do tempo,
considerando um movimento a uma dimenso. Encontram-se representados o deslocamento, a
velocidade instantnea (a cheio) e a velocidade mdia (a tracejado).
Uma outra grandeza importante em cinemtica a acelerao, ou seja, a taxa
com que a velocidade se altera. Tambm neste contexto possvel definir acelerao
mdia, a , (em m s
-2
no SI):
i f
i f
t t
v v
t
v
a
=
,
equao 99
onde v
f
tem o significado de velocidade final (no instante t
f
) e v
i
tem o significado de
velocidade inicial (no instante t
i
)
Quanto acelerao instantnea, a, dada por:
2
2
0
lim
dt
x d
dt
dv
t
v
a
t
= =
,
equao 100
que ser a tangente ao grfico velocidade instantnea em funo do tempo.
Neste ponto de referir um movimento especial como aquele em que a
acelerao constante, ou seja, aquele em que a acelerao mdia coincide com a
acelerao instantnea. Nesse caso, tem-se:
at v v
t
v v
a
t
v
a a a
i f
i f
+ =
= =
.
equao 101
Nestas condies de acelerao constante, a velocidade varia uniformemente
e, portanto, a velocidade mdia, pode ser dada por:
P
Q
v
v
X
t
x
123
2
f i
v v
v
+
=
.
equao 102
Sendo a expresso do deslocamento dada por:
2
2
1
) (
2
1
) (
2
1
at t v x x t at v v t v v t v x
i i i i f i
+ + = + + = + = =
equao 103
Eliminando a varivel tempo atravs das equao 101 e equao 103,
obtm-se a expresso:
) ( 2
2 2
i i f
x x a v v = .
equao 104
ainda desejvel referir-se como que, nestas condies, estas grandezas so
representadas no tempo: num grfico de acelerao em funo do tempo, esta
representada como uma linha horizontal, a velocidade (que varia uniformemente),
atravs de uma linha oblqua e o deslocamento (que depende do quadrado do tempo)
representado por uma parbola.
Um outro caso interessante de se discutir aquele em que a acelerao nula.
Nestas condies, as equaes anteriores tomam aspectos mais simples:
t v x x v c v
i i
te
+ = = =
i
e
.
equao 105
Uma das aplicaes mais imediatas ao formalismo que foi introduzido
anteriormente o de descrever o movimento de corpos em queda livre. Como sabido
desde Galileu, os corpos em queda livre so animados de uma acelerao constante,
assumindo-se que esta aproximadamente g = 9.8m/s
2
, embora seja ligeiramente
dependente da altitude e da latitude.
Assim, adaptando as equaes j obtidas para o caso da acelerao constante e
assumindo que o sentido positivo dos eixos de baixo para cima (ou seja, a
acelerao negativa), obtm-se:
2
2
1
gt t v x
i
= e gt v v
i
= .
equao 106
Usando estas equaes, facilmente se prova que, quando um corpo lanado
de baixo para cima com uma velocidade v
0
demora v
0
/g a atingir a altura mxima, h,
que dada por:
124
g
v
h
2
2
0
= .
equao 107
Ou seja, demora 2v
0
/g a regressar ao solo com uma velocidade v
0
.
Como ltima nota relativamente a movimentos apenas a uma dimeso, deve
ter-se presente que o deslocamento de uma partcula pode ser calculado a partir de um
grfico de velocidade/tempo, determinando a sua rea, ou, o que o mesmo,
calculando o seu integral:
=
f
i
t
t
dt t v x ) (
.
equao 108
Todos os conceitos at agora referidos podem ser generalizados para o espao
tridimensional, ou seja, considerando os trs eixos cartesianos. Neste caso, o
deslocamento, r
r
, a velocidade media, v
r
, a velocidade instantnea, v
r
, a acelerao
mdia, a
r
, e a acelerao instantnea, a
r
, so quantidades vectoriais e tm que ser
reescritas como tal:
i f
r r r
r r r
i f
i f
t t
r r
t
r
v
r r
r
r
dt
r d
t
r
v
t
r r
r
=
0
lim
dt
v d
t t
v v
a
i f
i f
r
r r
r
=
dt
v d
t
v
a
r r
r
=
0 t
lim
.
Tendo em conta estas definies repare-se em algumas questes: 1)
r
r tem
que ser, necessariamente menor ou igual ao caminho percorrido; 2) se
r
a for nulo, a
amplitude e sentido de
r
v tm que ser necessariamente constantes; 3) e se
r
a for
constante, temos:
seja:
z y x
u z u y u x r
r r r r
+ + = ,
ento:
z z y y x x z y x
u v u v u v u
dt
dz
u
dt
dy
u
dt
dx
dt
r d
v
r r r r r r
r
r
+ + = + + = = .
Ora admitindo que a
r
constante, significa que cada uma das suas
componentes constante:
x
a
= cons
te
,
y
a
= cons
te
e
z
a = cons
te
. E, portanto, podemos
aplicar as leis da cinemtica anteriormente deduzidas, a cada uma das dimenses:
t a v v t a v v t a v v
z zi z y yi y x xi x
+ = + = + =
.
Ou seja:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) t a v v t u a u a u a u v u v u v
u t a v u t a v u t a v v
i z z y y x x z zi y yi x xi
z z zi y y yi x x xi
r r r r r r r r r
r r r r
+ = + + + + +
= + + + + + =
,
equao 109
125
que uma extenso da expresso deduzida anteriormente para uma dimenso.
Do mesmo modo, para a equao da posio vlido:
2 2 2
2
1
2
1
2
1
t a t v z z t a t v y y t a t v x x
z zi i y yi i x xi i
+ + = + + = + + =
.
Ou, em formalismo vectorial:
2
0 0
2
1
t a t v r r
r r r r
+ + =
.
equao 110
Dinmica
Nesta segunda parte deste anexo, admitindo que j se est familiarizado com a
forma de descrever movimentos tanto a uma como a trs dimenses, passar-se- para
a parte da Mecnica que procura compreender a origem dos movimentos: a Dinmica.
E neste mbito, as trs Leis de Newton so inevitveis para cumprir esses objectivos.
Comece-se por definir fora como uma grandeza vectorial responsvel pelas
alteraes de velocidade a que os objectos so sujeitos ou pelas deformaes nos
corpos (permanentes ou no), sendo a sua unidade SI o Newton (N kg m s
-2
). A
forma mais simples de medir foras utilizando molas que respeitam a Lei de Hooke,
ou seja, aquelas cuja deformao directamente proporcional fora que lhe
aplicada, dando-se o nome de dinammetro a estes dispositivos.
As Leis de Newton, como do conhecimento geral, estabelecem precisamente
os efeitos da aplicao de foras em corpos no deformveis. E a primeira delas,
tambm chamada Lei da Inrcia enuncia que um objecto em repouso ou com
velocidade constante mantm-se no seu estado de movimento, a menos que lhe seja
aplicada uma fora. I.e. a traduo matemtica da Primeira Lei de Newton resume-se
expresso:
= = 0 0
r
r
r r
a F .
Equao 111
Neste ponto importante compreender que a resistncia que cada objecto ope
mudana do seu estado de movimento (inrcia) uma caracterstica individual e
mensurvel. Na verdade, a massa uma medida da inrcia e tem como unidade SI o
kilograma (kg). De facto, verifica-se que quanto maior a massa de um objecto,
maior a sua oposio alterao do estado de movimento (alteraes na
velocidade), ou seja, menor ser a acelerao adquirida ao lhe ser aplicada uma fora.
de fazer notar que, por vezes, na linguagem comum, elabora-se na confuso
entre as grandezas massa e peso. Deve-se ter sempre em ateno que o peso de um
corpo a fora que a Terra exerce sobre esse corpo (, portanto, uma grandeza
vectorial e que depende do corpo e da prpria Terra), enquanto que a massa uma
grandeza escalar e dependente apenas do corpo.
Estas elucubraes acerca da massa conduzem Segunda Lei de Newton que
afirma que a acelerao adquirida por um objecto directamente proporcional fora
que lhe est aplicada e inversamente proporcional massa desse objecto. Ou,
matematicamente:
126
=
=
=
=
z
i
i z
y
i
i y
x
i
i x
i
i
ma F
ma F
ma F
a m F
,
,
,
r
r
.
Equao 112
Na sequncia desta discusso, repare-se em duas questes pertinentes: a
primeira que matematicamente a primeira Lei de Newton torna-se uma
consequncia da segunda lei; a segunda questo prende-se com a definio de peso
que, aplicando esta lei queda de graves, se obtm atravs da expresso:
g m P
r
r
= .
Equao 113
Por fim, a Terceira Lei de Newton, rege a forma como um corpo reage
aplicao de uma fora por parte de outro. Esta lei afirma que se dois corpos
interagem, a fora exercida no corpo 1 pelo corpo 2 igual em amplitude e tem o
sentido oposto fora exercida pelo corpo 2 no corpo1:
1 , 2 2 , 1
F F
r r
= .
Equao 114
Uma das curiosidades desta lei o facto de no existirem foras isoladas,
ocorrendo sempre aos pares, ainda que aplicadas em corpos diferentes.
Repare-se que at este momento tem-se ignorado a resistncia ao movimento
devido interaco de um corpo com o seu ambiente. A este tipo de fora d-se o
nome de fora de frico ou de atrito.
Na verdade, relativamente s foras de atrito distinguem-se dois tipos: o atrito
esttico, f
e
, (aquele que corresponde situao em que o corpo ainda no iniciou o
seu movimento) e o atrito dinmico ou cintico, f
d
, (aquele cujos efeitos surgem aps
o corpo ter iniciado o movimento). Em ambos os casos se observou
experimentalmente que, para velocidades consideradas baixas (pelo menos da ordem
de grandeza das que esto presentes nos laboratrios de Fsica Bsica), a fora de
atrito proporcional fora normal, N, que actua sobre o corpo, cumprindo-se:
N f N f
d d e e
= = e ,
equao 115
a
e
d-se o nome de coeficiente de atrito esttico, enquanto que a
d
o de coeficiente
de atrito dinmico ou cintico, ambos adimensionais. Verifica-se ainda que, em geral:
d e
> ,
127
e assume-se que nos exemplos estudados estes coeficientes so independentes da rea
de contacto do objecto com a superfcie entre a qual existe atrito.
Embora o formalismo newtoniano seja muitssimo poderoso para resolver a
maioria dos problemas simples que envolvem foras, mesmo situaes pouco
complexas, so, por vezes, mais facilmente explicadas atravs de uma abordagem
energtica. Por este motivo, iro introduzir-se alguns tipos de energia mecnica, cuja
unidade o joule, J (N m).
Principie-se por definir trabalho, W, realizado por uma fora constante, F
r
, ao
longo de um percurso r
r
atravs da expresso:
cos . Fr W r F W = =
r
r
,
equao 116
sendo o ngulo entre F
r
e r
r
.
Repare-se que o trabalho pode ser encarado como transferncia de energia
para um determinado sistema (positivo quando se trata de transferncia para esse
sistema, negativo quando se trata de transferncia do sistema para a sua vizinhana).
Generalizando o conceito de trabalho segundo um determinado percurso
segundo x realizado por uma fora que pode ser varivel, obtm-se a expresso:
W F dx
x
x
x
i
f
=
,
equao 117
que a rea do grfico F
x
em funo de x:
x
F
x
Figura 101 Ilustrao do conceito de trabalho como a rea subjacente ao grfico da fora
segundo uma dada direco em funo da distncia percorrida nessa direco.
Se se considerar uma fora constante aplicada a uma partcula, prova-se que
vlida a expresso:
128
( )
W m v v
f i
=
1
2
2 2
,
equao 118
onde v
f
e v
i
tm o significado de velocidade final e inicial, respectivamente.
E se se definir energia cintica como a quantidade:
E mv
c
1
2
2
.
equao 119
Ento, a equao 118 pode ser escrita sob a forma:
W E E E
cf ci c
= = ,
equao 120
onde os ndices f e i denotam, novamente, o estado final e inicial.
Alis, pode verificar-se que a equao 120 vlida tambm para foras
variveis aplicadas a partculas. Alm disso, repare-se que o trabalho transferido para
uma partcula totalmente transformado em energia cintica porque a partcula no
tem massa e, portanto, no pode ser transferido, por exemplo, para deformar o corpo.
E porque no foram consideradas foras de atrito.
Uma grandeza importante nesta discusso a taxa a que o trabalho realizado
potncia. A potncia mdia definida como (com unidades de watt - W):
P
W
t
.
equao 121
Enquanto que a potncia instantnea dada por:
v F
dt
r d
F
dt
dW
t
W
P
t
r
r
r
r
. lim
0
= = =
=
.
equao 122
Finalmente, falta referir uma importante forma de energia: a energia
potencial. A energia potencial mecnica de um objecto est relacionada com a sua
posio e uma energia latente que pode, a qualquer momento, ser transformada
numa outra forma de energia (como alis, todas as outras formas de energia).
Facilmente se observa que o trabalho realizado pela fora gravtica quando um
objecto de massa, m, cai de uma altura y
i
para uma altura y
f
dada por:
W mgy mgy
f i
= .
equao 123
129
Se, analogamente ao que fizemos com a energia cintica definirmos energia
potencial atravs da expresso:
E mgy
p
,
equao 124
a equao 123 pode tomar a forma:
W E
p
= .
equao 125
Repare-se que a variao da energia potencial s depende da altura inicial e da
altura final ( independente da inclinao do percurso). E esta constatao conduz a
um outro conceito importante que o de fora conservativa. As foras dizem-se
conservativas se o trabalho realizado por elas for independente do percurso. Por
exemplo, a fora gravtica ou a fora realizada por uma mola so conservativas. J as
foras de atrito so no conservativas. Na verdade, as energias potenciais (mecnicas
ou outras) s so definidas para foras conservativas e, nesse caso, vlida a equao
125:
A noo de fora conservativa permite enunciar uma importante lei da
Mecnica: Num sistema isolado em que os objectos s interajam atravs de foras
conservativas, vlida a conservao da energia mecnica. Em que a energia
mecnica a soma da energia cintica e da energia potencial. Traduzindo
matematicamente:
E E E c
M c p
te
= + = .
equao 126
H ainda um conjunto de situaes, nomeadamente aquelas que dizem respeito
s colises entre objectos, em que as leis de Newton no so facilmente aplicveis,
por este motivo, desenvolveu-se uma outra abordagem que se baseia na definio de
momento linear ou quantidade de movimento, p
r
, com unidades de kg m s
-1
:
v m p
r r
= ,
equao 127
onde m a massa da partcula e
r
v a sua velocidade.
Aplicando a segunda lei de Newton e utilizando esta definio, verificamos
que:
r
r
r r
F ma m
dv
dt
dp
dt
= = =
equao 128
130
o que significa que o momento linear de uma partcula se mantm constante quando a
resultante das foras que lhe esto aplicadas nula.
Alm disso, aplique-se tambm a terceira lei de Newton a um sistema isolado
constitudo por duas partculas. Neste caso obtm-se:
r r
r r r r
F F
d
dt
p p p p c
te
12 21 1 2 1 2
0 = + = + = ( ) ,
equao 129
o que significa que o momento linear se mantm constante quando duas partculas
isoladas no carregadas, interagem.
131
ANEXO C Clculo de um ngulo de um tringulo conhecendo dois
lados e um outro ngulo
Num tringulo qualquer de lados a, b e c e ngulos , e , como mostra a figura:
Cumprem-se as relaes, conhecidas pela Lei dos Cossenos:
cos 2
cos 2
cos 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
ba a b c
ca a c b
bc c b a
+ =
+ =
+ =
Seja a, por exemplo, o comprimento do brao (30 cm), b a distncia entre a
articulao e o ponto de contacto do msculo (4 cm) e o ngulo entre o brao e o
antebrao, usando a 3 relao, obtm-se, c, o comprimento do msculo na posio
indicada:
cm 95 . 30 100 cos 30 4 2 30 4 cos 2
2 2 2 2
= + = + = ba a b c .
Em seguida, com base neste resultado, possvel encontrar o ngulo , que
corresponde ao ngulo da figura 6, ou seja, o ngulo formado pelo antebrao e o
msculo, atravs da 1 relao:
7 . 72
95 . 30 4 2
30 95 . 30 4
arcos
2
arcos
2
cos cos 2
2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2
=
|
|
\
|
+
=
|
|
\
| +
=
+
= + =
bc
a c b
bc
a c b
bc c b a
.
a
b
c
132
ANEXO D Alguns conceitos essenciais sobre a estrutura atmica da
matria
Breve contextualizao histrica do aparecimento dos modelos
atmicos
No dealbar do sculo XX, poder-se- afirmar que existiam quatro grandes
reas na Fsica, que se encontravam bem fundamentadas e que, por isso, chegaram at
actualidade sem sofrerem alteraes significativas: A Mecnica Clssica, tal como a
conhecemos hoje, e que foi magistralmente estabelecida pelas trs leis de Newton
(1643-1727). O Electromagnetismo, com a sua elegante formulao sugerida por
Maxwell (1831-1879). A Termodinmica, cujo desenvolvimento contou com
cientistas como Thomson (1753-1814), Joule (1818-1889) ou Kelvin (1824-1907), e
permitiu o surgimento de duas das mais importantes leis que regem o Universo a 1
Lei da Termodinmica, que estabelece a conservao da energia e a 2 Lei que
estabelece as regras segundo as quais ocorrem transformaes de energia. E a Fsica
Estatstica, que ter aparecido fundamentalmente na segunda metade do sculo XIX
com o objectivo de compreender os fenmenos termodinmicos com base nos efeitos
macroscpicos do comportamento das partculas invisveis constituintes da matria.
Na verdade, no final do sculo XIX pouco mais se sabia sobre a estrutura da
matria excepo da existncia de partculas negativas (e, consequentemente, de
partculas positivas, uma vez que a matria era neutra) de modo que os primeiros
modelos atmicos eram bastante especulativos. No entanto, incrivelmente, tendo em
conta o equipamento da poca e os recursos existentes, depressa se convergiu para
modelos que, na sua essncia tm muitos pontos em comum com os actuais modelos
aceites pela Cincia.
Os modelos atmicos
O modelo de Pudim de Passas de Thomson - O primeiro modelo atmico
deste sculo foi imaginado por Thomson e ficou conhecido como o modelo de pudim
de passas, uma vez que era constitudo por uma pequena esfera de carga positiva
uniformemente distribuda e nesta esfera se encontravam incrustados os electres
(partculas de carga negativa) que possuam uma massa e um volume muito menor do
que a esfera ao qual se encontravam ligados (ver Figura 102). A carga dos electres
compensava completamente a carga positiva da esfera, de modo que o tomo era, no
seu todo, neutro. Esta descrio compatvel com os dados que se possuam acerca do
tomo. Ou seja, que tinha dimenses muito pequenas (0.1x10
-9
m), era estvel (no
se dividia nem colapsava espontaneamente), era neutro, embora tivesse na sua
constituio partculas negativas (os electres) e era capaz de emitir e absorver
radiao.
A estabilidade do modelo de Thomson devia-se ao equilbrio entre a fora de
atraco que a esfera exercia sobre os electres e a fora de repulso que estes
exerciam uns sobre os outros. De qualquer forma, numa abordagem clssica deste
sistema, os electres manter-se-iam em movimento oscilatrio em torno de um ponto
de equilbrio o que conduziria emisso de radiao (uma partcula carregada e em
movimento, segundo a teoria clssica, emite radiao electromagntica). Na verdade,
esta comeou por ser a primeira debilidade deste modelo, pois, embora se soubesse j
que, em determinadas condies, a matria poderia emitir radiao, as caractersticas
da radiao emitida (nomeadamente o seu comprimento de onda) no coincidiam com
133
as previstas pelo modelo. No entanto, foi a conhecida experincia de Rutherford que
colocou, definitivamente, de parte o modelo de Thomson.
O modelo de Rutherford - Rutherford projectou uma experincia no seu
laboratrio em que uma folha metlica era bombardeada com pequenas partculas
carregadas positivamente (partculas ) e em que se media a radiao aps a
interaco destas partculas com a matria. Nesta experincia verificou-se que a
grande maioria das partculas ou no era desviada, ou sofria desvios caracterizados
por ngulos muito pequenos. No entanto, observou-se que algumas das partculas
sofriam desvios muito grandes (superiores a 90) o que no era compatvel com o
modelo de Thomson em que a massa estava uniformemente distribuda por todo o
tomo. Assim, Rutherford sugeriu que a massa do tomo estaria praticamente toda
concentrada no seu centro, introduzindo, pela primeira vez, a noo de ncleo.
importante enfatizar que, apesar deste modelo continuar a no explicar o tipo de
radiao absorvida e emitida pelos tomos, conseguiu prever quantitativamente a
forma de disperso da radiao quando esta interage com a matria. Previu,
nomeadamente, a dependncia da intensidade da radiao segundo um determinado
ngulo, em funo da espessura da folha metlica, do seu material, da energia cintica
das partculas que eram projectadas e desse mesmo ngulo.
O modelo de Bhr Mantinha-se, pois, em aberto a questo relacionada com a
emisso e absoro de radiao pelos tomos. Alguns estudos baseados em descargas
elctricas em gases ou na incidncia de feixes luminosos atravs de gases, mostraram
que, nestas condies, se produziam espectros
68
caracterizados pelo aparecimento de
riscas estreitas, bem definidas e que apresentavam uma certa regularidade. de notar,
que se verificava que os espectros de emisso no coincidiam,em geral, com os de
absoro.
68
Obtm-se um espectro quando se sujeita um determinado meio a radiao e se mede a radiao
absorvida ou transmitida por esse meio para diferentes frequncias.
Figura 102 - Esquema do modelo atmico de Thomson (modelo de Pudim de Passas). Neste
modelo toda a carga positiva se encontra uniformemente distribuda numa esfera (a cinzento),
na qual se encontram incrustados os electres (a branco). Deste modo, assume-se que a massa
est, em primeira aproximao, igualmente distribuda por todo o espao.
134
Bhr props, ento, um modelo para o tomo de hidrognio
69
baseado na
geometria do sistema solar. Ou seja, o tomo seria formado por um ncleo central de
carga positiva e onde se concentraria a maior parte da massa. Em redor deste giraria o
electro descrevendo rbitas circulares (ver Figura 103). Mais uma vez a estabilidade
do tomo era conseguida atravs do equilbrio de foras, desta feita, entre as foras de
atraco que se estabelecem entre o ncleo e o electro, e a fora centrpeta associada
ao movimento circular do electro (similarmente ao sistema solar, onde a fora de
atraco a fora gravtica). Mais uma vez, segundo a teoria clssica, o contnuo
movimento do electro estaria associado emisso de radiao. Pelo que perderia
energia e precipitar-se-ia sobre o ncleo.
Para contornar esta questo, Bhr postulou a existncia de estados estacionrios, nos
quais o electro no emitiria radiao e que correspondiam s suas rbitas,
caracterizadas por determinados raios. De facto, Bhr estipula que o momento angular
dessas rbitas mltiplo de h
70
e determina o raio das mesmas a partir deste novo
postulado. Alm disso, como a energia total do sistema (soma da energia cintica com
a potencial) inversamente proporcional distncia do electro ao ncleo, a
quantizao dos raios implica necessariamente a quantizao da energia. Desta forma,
surgiu a noo de estados energticos quantizados, ou seja, a existncia de um sistema
atmico caracterizado por uma energia que no podia tomar qualquer valor, mas que,
pelo contrrio, apenas admitia valores discretos bem determinados. Este modelo
previu quantitativamente a energia de cada nvel, sendo o seu valor dado pela
expresso:
2
2
6 . 13
n
Z
E
n
=
equao 130
69
O tomo de hidrognio no s o mais simples para se trabalhar, como, precisamente por esse
motivo, tambm era o tomo do qual se possua melhor informao referente aos seus espectros (de
emisso e de absoro).
70
h definido como: h = h/2, sendo h a constante de Plank, que toma o valor 6.63x10
-34
Js (unidades
do SI).
Figura 103 - Esquema do modelo de Bhr para o tomo de hidrognio. Neste modelo o electro
descreve rbitas circulares em redor do ncleo, correspondendo cada uma dessas rbitas a um
estado estacionrio, caracterizado por um determinado raio e uma determinada energia.
135
Onde, Z o nmero atmico do tomo
71
e n um nmero inteiro positivo que
corresponde a uma das rbitas. Assim, como se poder observar a partir da anlise da
equao, os estados caracterizados por maiores valores de n, que correspondem a
maiores raios das rbitas, esto associados a maiores valores energticos
72
, sendo no
limite de n a energia considerada nula. Alm disso, o valor 13.6 uma constante
que depende de vrias grandezas fsicas, como a massa do electro (m), a carga do
electro (e), a constante dielctrica no vazio (
o
) e a constante de Plank (h).
Desta forma, estavam reunidas as condies para compreender a existncia de
riscas nos espectros dos tomos, que correspondem a transies dos electres entre
diferentes nveis de energia. Segundo esta perspectiva, a passagem do electro de um
nvel mais energtico para outro menos energtico d origem emisso de radiao,
enquanto que a passagem de um nvel menos energtico para um nvel mais
energtico, ocorre com absoro de energia (ver Figura 104).
A energia emitida ou absorvida nesta situao, cumpre a relao de Plank
73
:
h E =
equao 131
Onde E a diferena de energia entre os estados, h a constante de Plank e
a frequncia da radiao.
Com esta teorizao, Bhr consegue explicar quantitativamente as riscas dos
espectros do tomo de hidrognio. Inclusivamente consegue explicar porque motivo o
espectro de emisso no coincide com o espectro de absoro. De facto, embora no
71
Refira-se, a este propsito, que o modelo do tomo de Bhr, apesar de ter sido desenvolvido para o
tomo de hidrognio, pode facilmente ser estendido a ies com apenas um electro, mas com maior
massa nuclear. Relembrar que o nmero atmico de um tomo modernamente definido como o
nmero de protes existentes no seu ncleo.
72
Reparar que a expresso contm um sinal negativo que faz com que quanto maior for a relao Z
2
/n
2
,
menor seja a energia.
73
Plank tinha j estabelecido que a energia transportada por um foto (partcula associada radiao
electromagntica) proporcional frequncia da radiao, sendo a constante de proporcionalidade a
constante de Plank, anteriormente referida.
Figura 104 - Esquema do mecanismo de emisso e absoro de radiao, atendendo ao modelo
atmico de Bhr.
136
processo de emisso possam existir transies entre todos os nveis
74
, no processo de
absoro os nveis diferentes do primeiro tm um tempo de vida mdio to curto que
virtualmente impossvel ocorrerem transies, com ganho de energia, entre nveis que
no envolvam o primeiro (, por exemplo, impossvel ocorrer uma transio do nvel
2 para o nvel 3, embora j seja mais provvel ocorrer uma transio do nvel 3 para o
nvel 2). Assim, apesar do modelo atmico de Bhr ser bastante consistente com os
resultados obtidos at esse momento, apresenta, ainda, algumas debilidades, sendo as
mais importantes: s ser vlido para partculas mono-electrnicas e no explicar o
facto de algumas das riscas do espectro, quando eram utilizados equipamentos mais
sofisticados, serem desdobradas em vrias.
Os actuais modelos atmicos Actualmente, para alm de as partculas
elementares constituintes dos tomos serem bem conhecidas e estudadas, alguns dos
conceitos introduzidos por Bhr para explicar o tomo de hidrognio foram
desenvolvidos e sujeitos a um formalismo matemtico abrangente que suporta toda a
mecnica quntica actual.
No que respeita aos constituintes dos tomos sabe-se agora que existem dois
tipos de partculas que formam o ncleo: os protes e os neutres, em que os
primeiros possuem carga positiva de 1.60x10
-19
C e massa igual a 1.67x10
-24
g e os
segundos so electricamente neutros e possuem uma massa prxima da do proto.
Quanto aos electres, aceita-se que apresentam movimento em redor do ncleo, tm
uma massa muito menor (9.11x10
-28
g) e apresentam carga negativa com o mesmo
valor absoluto da carga do proto.
Relativamente s caractersticas essenciais dos tomos introduzidas pelo
formalismo da mecnica quntica h a destacar: 1) A substituio do termo rbita pelo
termo orbital; uma orbital tambm caracterizada por um nvel de energia bem
definido, mas em vez de associar ao electro uma trajectria bem determinada,
associa ao electro uma probabilidade de se encontrar em determinado ponto do
espao (ver Figura 105). 2) Associado ao termo orbital, surge ento o de nuvem
electrnica, como sendo o lugar geomtrico associado probabilidade de se encontrar
o electro. 3) Cada electro passa a ser caracterizado por quatro nmeros qunticos (n
nmero quntico principal; l nmero quntico secundrio; m
l
nmero quntico
magntico e m
s
nmero quntico de spin). O nmero quntico principal determina a
camada onde o electro se encontra e est intimamente relacionada com a constante n
74
Embora a este nvel se possa afirmar que as transies so todas possveis, a mecnica quntica
indicar algumas restries nessas transies, nomeadamente quando prev a existncias de nveis de
energia intermdios, entre os quais, nem todas as transies so permitidas.
Figura 105 Representao de uma orbital atmica. As regies associadas a uma cor mais escura
representam uma maior probabilidade de encontrar o electro.
137
encontrada por Bhr na frmula que fornece a energia das rbitas. O nmero quntico
secundrio permite associar orbital nveis mais finos de energia
75
, estando
relacionado com a geometria da nuvem electrnica que est associada a essa orbital
(ver Figura 106). O nmero quntico magntico relaciona-se com a orientao da
orbital. Enquanto que o nmero quntico de spin, numa interpretao clssica,
considerado como estando relacionado com um movimento de precesso do electro
em torno de um eixo imaginrio e, portanto, s pode tomar dois valores (digamos 1/2
e 1/2). 4) Criao de critrios de preenchimento das orbitais pelos electres. Estes
critrios determinam, entre outras coisas, que: as orbitais menos energticas sejam
primeiramente preenchidas; que s possam existir dois electres em cada orbital e que
o seu nmero quntico de spin seja diferente; que orbitais de nveis energticos iguais
sejam primeiramente preenchidas com um nico electro (tendo todos eles iguais
spins) e s depois vo sendo completamente preenchidas.
Uma questo que, a este respeito, deve ser referida o facto de, tendo em
considerao o modo de preenchimento das orbitais pelos electres, se verificar que,
no estado fundamental (de menor energia) apenas as ltimas orbitais (correspondentes
a estados de maior energia) podem ficar semi-preenchidas. Esta constatao confere
aos electres destas ltimas orbitais um papel preponderante nas caractersticas da
matria, uma vez que so eles que determinam essencialmente as suas propriedades
elctricas, mecnicas, trmicas e qumicas, sendo particularmente relevantes na
explicao da maior ou menor reactividade dos elementos.
75
Na mesma camada, podemos encontrar diferentes nveis de energia que, embora prximos, so
distintos e correspondem a diferentes nmeros qunticos secundrios.
orbital tipo s orbital tipo p
Figura 106 - Esquema de duas orbitais com diferentes nmeros qunticos principais (a do lado
direita uma orbital s e a do lado esquerdo uma p). A figura coloca em evidncia as diferentes
geometrias de cada uma delas.
138
ANEXO E Tpicos sobre alguns conceitos de relativos a fenmenos
elctricos
Qualquer introduo que se faa acerca do Electromagnetismo pressupe a
existncia de cargas elctricas diferentes: umas positivas, outras negativas. Alm
dessas propriedades, observa-se ainda que as cargas se conservam, que existem foras
de atraco e de repulso entre as cargas, caso sejam de sinais contrrios ou do
mesmo sinal, respectivamente; e que essas foras so proporcionais ao inverso do
quadrado da distncia entre as cargas, o que se traduz matematicamente pela
expresso:
2
1
d
F
Quanto capacidade de transportar cargas elctricas, os materiais dividem-se
em: condutores, aqueles que possuem cargas elctricas livres, capazes de se
deslocarem facilmente; isolantes, aqueles que apresentam dificuldade em transportar
carga elctrica e semicondutores, que se comportam electricamente de forma
complexa, mas que a este nvel, basta admitir que possuem propriedades intermdias
entre os condutores e os isolantes, dependentes das condies em que se encontram.
O estado de electrizao de um corpo, ou seja, a sua carga total ou mesmo a
sua distribuio de cargas pode ser alterado de diversas formas, nomeadamente, por
contacto, quando dois corpos so postos em contacto fsico entre eles e as cargas de
um se transferem para o outro. Ou por induo onde possvel carregar um condutor,
inicialmente neutro, da forma como est representado na Figura 107: comea-se por
aproximar um objecto carregado negativamente, por exemplo, de um condutor. Como
as cargas nesse condutor so livres de se moverem, as foras de atraco entre elas
fazem com que perto do objecto se encontrem as cargas positivas, enquanto que no
outro extremo fiquem as cargas negativas a). Se, continuando com o objecto
carregado negativamente nas proximidades do corpo a electrizar, este for ligado
massa (a um reservatrio neutro de carga elctrica), as cargas negativas movem-se em
direco massa b), ficando, ento, o objecto carregado positivamente c) e d).
Figura 107 Ilustrao de como se pode alterar o estado de electrizao de corpos por induo
no caso de condutores ( esquerda) e no caso de isolantes direita. (Raymond A. Serway, 4
edio, 1996).
139
No caso de isolantes a proximidade de um objecto carregado, apenas
redistribui as suas cargas elctricas, polarizando-o.
A Lei de Coulomb a lei que regulamenta a fora que se estabelece entre duas
cargas pontuais e foi encontrada graas aos seguintes dados experimentais: a) a fora
elctrica entre duas cargas pontuais tem a direco da linha que as une, b)
inversamente proporcional ao quadrado da distncia entre elas, c) proporcional ao
produto das cargas e d) atractiva quando as cargas tm sinais contrrios e repulsiva,
quando tm sinais iguais (ver Figura 108).
Figura 108 Representao as foras elctricas exercidas entre duas cargas do mesmo sinal (em
cima) e entre cargas de sinal contrrio (em baixo). (Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
Matematicamente, a lei de Coulomb expressa atravs da relao:
r e
u
r
q q
k F
r
r
2
2 1
elc
=
,
equao 132
com k
e
a constante de Coulomb:
2 2 9
0
C / Nm 10 9875 . 8
4
1
= =
e
k
, sendo
0
a
permissividade do vazio:
2 2 -12
0
Nm / C 10 8.8542 = .
Como seria previsvel pelo clculo vectorial, tambm as foras elctricas
cumprem o princpio da sobreposio das foras. De modo que a fora que actua
sobre uma partcula a soma de todas as foras exercidas sobre ela.
Uma outra grandeza elctrica de extrema importncia o campo elctrico. A
necessidade de definir esta grandeza nasceu, de certa maneira, com o objectivo de
compreender o que se passa no meio na presena de uma carga. Repare-se no
seguinte: se num determinado espao existirem duas cargas, sabemos que existe uma
determinada fora entre elas, tal como se acabou de referir. O que significa que, se
existir apenas uma carga, as propriedades do meio devero ser alteradas de tal forma
que uma segunda carga ser actuada pela referida fora (a qual no existiria se a
primeira no se encontrasse j nas imediaes). Ento pode concluir-se que a primeira
140
carga modificou o meio volta, modificao essa qual se d o nome de campo
elctrico e que definido pela razo entre a fora elctrica que actua sobre uma carga
de prova positiva colocada num determinado ponto do espao e o valor dessa carga.
Ou seja, matematicamente:
r e
u
r
Q
k
q
F
E
r
r
r
2
0
elc
= =
,
equao 133
sendo a sua unidade N C
-1
.
Ora, tendo em conta esta definio, facilmente se conclui, conforme est
ilustrado na Figura 109 que: a) O campo tem sempre a direco e sentido da fora, b)
o campo independente da partcula de prova (uma vez que esta se considera sempre
positiva), dependendo apenas das cargas que lhe do origem, c) O campo existe
mesmo na ausncia da carga de prova, d) a carga de prova deve ser to pequena
quanto possvel, para que no interfira no campo que est estabelecido.
Figura 109 Representao do campo elctrico criado no ponto P, na posio de uma partcula
de prova q
0
, na presena a) de uma carga positiva ou b) de uma carga negativa. (Raymond A.
Serway, 4 edio, 1996).
Uma forma de representar o campo elctrico atravs das chamadas linhas de
campo, que tm as seguintes propriedades, conforme se pode observar na Figura 110:
a) o vector campo elctrico tangente s linhas de campo; b) o n de linhas de campo
por unidade de rea que atravessam uma superfcie perpendicular ao campo
proporcional amplitude do campo nessa regio, c) as linhas comeam nas cargas
positivas e terminam nas negativas (ou ento comeam ou acabam no infinito se a
carga total no for nula), d) o n de linhas que chegam ou partem de uma carga
proporcional sua amplitude, e) as linhas no se cruzam.
Verifique-se que esta forma de desenhar as linhas de campo compatvel com
a lei de Coulomb, uma vez que fcil provar que:
2
4 r
N
E
,
desde que se considere uma esfera centrada numa carga pontual e onde N o n de
linhas de campo que atravessam a superfcie da esfera.
141
Figura 110 Representao de linhas de campo. (Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
Deve ter-se em conta que esta representao do campo elctrico apresenta
algumas debilidades: do a iluso de que o campo elctrico descontnuo, o que no
verdade, e aparecem como uma representao bi-dimensional de uma realidade
tri-dimensional. Na Figura 111 encontram-se alguns exemplos de distribuio de
linhas de campo devido a vrias conformaes de carga.
a) b) c)
d) e)
Figura 111 Representao das linhas de campo para diferentes distribuies de carga.
(Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
Repare-se que uma carga que seja colocada num campo elctrico uniforme
(com a mesma intensidade, direco e sentido), fica sujeita a uma fora, pelo que ter
um movimento uniformemente acelerado, com acelerao dada por:
m
E q
a
r
r
=
equao 134
142
Neste priplo pelas principais grandezas elctricas, uma das incontornveis o
potencial elctrico. Esta grandeza permite uma abordagem energtica acerca das
grandezas elctricas. Comece-se por calcular o trabalho, W
Fe
realizado por uma fora
elctrica,
e
F
r
, sobre uma carga, q
0,
sujeita a um campo elctrico, E
r
, que se desloca do
ponto A para o ponto B, atravs dos caminhos infinitesimais s d
r
:
= =
B
A
B
A
e F
s d E q s d F W
e
r
r
r
r
. .
0
equao 135
Se, tal como se fez na rea da Mecnica, a este trabalho for associada uma variao de
energia potencial U, possvel fazer-se a seguinte deduo:
= =
= = =
B
A
B
A
i f
B
A
i f
B
A
F
s d E V s d E
q
U U
s d E q U U s d E q U U W
e
r
r
r
r
r
r
r
r
. .
. .
0
0 0
,
onde a quantidade U/q
0
definida como a funo potencial elctrico.
Repare-se que o potencial elctrico dependente do campo, mas independente
da carga, enquanto a energia elctrica depende de ambos. Ou seja, o potencial
elctrico pode ser visto como uma espcie de energia em potncia, ou seja, se uma
carga for colocada num ponto onde est estabelecido um determinado potencial
elctrico, essa carga adquire uma energia potencial elctrica. Repare-se ainda que o
potencial elctrico definido atravs de uma diferena, o que pressupe a existncia
de uma referncia. Deste modo, por conveno, o potencial num ponto infinito nulo.
Pelo que a sua definio : O potencial elctrico num qualquer ponto P o trabalho
por unidade de carga realizado sobre uma partcula positiva para a fazer mover do
infinito at esse ponto. A sua unidade o volt (V), equivalendo a 1 J C
-1
.
Dada a definio de diferena de potencial fcil verificar que a diferena de
potencial entre os pontos A e B (pertencentes mesma linha de campo) criada por um
campo uniforme, vem dada por:
Ed V = ,
equao 136
sendo d a distncia entre os dois pontos.
Enquanto que a variao de energia potencial, vem dada por:
Ed q U
0
= .
equao 137
Repare-se como uma situao anloga ao que acontece com uma massa sob a
aco de um campo gravtico (ver Figura 112).
143
Figura 112 Representao da analogia do que se passa entre uma carga que se move no interior
de um campo elctrico e o que se passa com uma massa sob a aco de um campo gravtico.
(Raymond A. Serway, 4 edio, 1996).
Se o deslocamento no acontecer segundo a direco do campo, como no caso
da Figura 113, ento a diferena de potencial entre o ponto A e B vir dado por :
Ed s E V = =
r
r
.
equao 138
onde d o comprimento do segmento de recta AC.
Figura 113 Representao das linhas de um campo elctrico uniforme e de um deslocamento de
uma carga que no ocorre segundo a direco dessas linhas. (Raymond A. Serway, 4 edio,
1996).
Donde resulta que, qualquer plano perpendicular a um campo elctrico
uniforme se encontra ao mesmo potencial.
A este propsito pode definir-se superfcie equipotencial como o lugar
geomtrico que se encontra ao mesmo potencial elctrico.
E, por fim, ainda de referir que a diferena de potencial criada por uma carga
pontual, q, entre um ponto A e B, vem dada por:
|
|
\
|
=
A B
e
r r
q k V
1 1
equao 139
144
onde r
A
a distncia do ponto A carga q e r
B
a distncia do ponto B carga q.
Se se pretender saber qual o potencial elctrico num determinado ponto, criado
por uma carga pontual deve pensar-se que no infinito (r = ) V = 0 e ento:
r
q
k V
e
=
.
equao 140
Donde resulta, para um conjunto de partculas carregadas, um potencial
elctrico dado por:
=
i i
i
e
r
q
k V
,
equao 141
e a energia potencial referente interaco de duas partculas carregadas, q
1
e q
2
:
2 , 1
2 1
r
q q
k U
e
=
equao 142
Uma ltima grandeza importante para o estudo dos fenmenos elctrico a
corrente elctrica. A qual definida como a carga elctrica, q, que atravessa uma dada
superfcie por unidade de tempo, t. Matematicamente, toma a forma:
dt
dq
I =
equao 143
e a sua unidade o ampere (A), ou C s
-1
e a grandeza fsica que d a medida da
quantidade de cargas que se encontram em movimento num dado o material, num
determinado intervalo de tempo.
145
ANEXO F Alguns conceitos essenciais relacionados com calor e
temperatura
A noo de calor muito intuitiva, uma vez que faz parte das nossas
experincias dirias tocar em objectos a diferentes temperaturas e entender que,
quando estes so colocados em contacto, transferido calor do objecto a temperatura
mais elevada para aquele que se encontra a temperatura mais baixa. Neste processo,
quando o equilbrio alcanado, ambos os objectos atingem a mesma temperatura,
cujo valor se encontra entre os valores das temperaturas iniciais. O que j no to
imediato compreender que o calor uma forma de energia. De facto, uma anlise
histrica demonstra que, inicialmente, o que flua entre objectos a diferentes
temperaturas era tido como algo de natureza distinta das restantes formas de energia.
E apenas quando se percebeu que o calor se podia transformar em trabalho, se
estabeleceu que o calor seria uma nova forma de energia.
Escalas de temperatura
Um conceito de extrema importncia em termodinmica , indubitavelmente, a
temperatura. Esta grandeza mede, macroscopicamente a maior ou menor agitao
das molculas constituintes de um determinado objecto. Os termmetros so, pois,
dispositivos que medem a temperatura de um objecto tendo como base a variao de
uma determinada propriedade desse objecto com a temperatura. Cedo os cientistas
perceberam que a maioria dos materiais se expande com a temperatura, no sendo de
admirar que uma grande parte dos termmetros se baseie neste facto, como o caso do
termmetro de mercrio que foi, durante muito tempo, utilizado em aplicaes
clnicas.
Um procedimento que continua a ser importante na construo de qualquer
termmetro a sua calibrao. Neste processo so considerados dois pontos de
referncia: por exemplo, o ponto de ebulio da gua e o seu ponto de fuso (Figura
114). No caso dos termmetros de mercrio observa-se qual a altura do lquido em
cada uma destas temperaturas e, em seguida, estabelece-se uma escala em que cada
diviso corresponde mesma variao de temperatura.
Figura 114 - Esquema da calibrao de um termmetro, com base no ponto de fuso e de
ebulio da gua. (Adapt. R.A. Serway, 1996).
146
Como facilmente se compreende, para que este procedimento esteja correcto
ser essencial que iguais aumentos de volume do lquido correspondam exactamente
s mesmas variaes de temperatura na gama considerada. Ou seja, necessrio
garantir que a propriedade do material que varia com a temperatura tenha uma
dependncia linear com esta. O que em termos grficos se traduz por uma recta
quando nas ordenadas se representa a temperatura e nas abcissas a outra propriedade
(expanso volmica, por exemplo, como no caso da Figura 115).
Volume de um material em funo da
sua temperatura
0 50 100 150
Temperatura (C)
V
o
l
u
m
e
d
e
u
m
c
o
r
p
o
Figura 115 - Esquema de um grfico do volume de um material arbitrrio em funo da
temperatura a que este se encontra. A linearidade apresentada revela-se, neste caso, como
excelente para construir termmetros nesta gama de temperaturas.
Existem vrias escalas de temperatura. A mais utilizada continua a ser a de
Celsius (C), que corresponde quela em que ao ponto de fuso da gua se associa a
origem da escala (0 C) e ao ponto de ebulio se associa 100 C. A escala de
Fahrenheit continua tambm a ser utilizada, particularmente nos Estados Unidos da
Amrica e relaciona-se com na de Celsius atravs da seguinte relao:
32
5
9
+ =
C F
T T ,
equao 144
onde T
F
a temperatura em graus Fahrenheit e F
C
a temperatura em graus Celsius.
A unidade de temperatura no S.I. no , porm, nenhuma destas, mas sim o
kelvin. Esta escala de temperaturas tambm conhecida por escala de temperatura
absoluta (similarmente, a origem desta escala tambm chamada o zero absoluto).
A passagem da escala de temperatura absoluta para a escala de Celsius feita
atendendo a que o zero absoluto corresponde a -273.15 C e que um grau Celsius
corresponde a um kelvin. Assim, vlida a expresso:
273.15 + =
C K
T T ,
equao 145
sendo T
K
a temperatura em kelvin e T
C
a temperatura em graus Celsius. Uma questo
a realar o facto de diferenas de temperatura serem iguais querem estejam em graus
Celsius, quer estejam em kelvin, o que resulta de a variao de um grau Celsius
corresponder variao de um kelvin.
147
Expanso trmica de corpos
Tal como j foi referido anteriormente, a maioria dos materiais aumenta as
suas dimenses com a temperatura. Chamando-se a este fenmeno dilatao trmica
dos corpos (ver Figura 116).
Figura 116 - Ilustrao do fenmeno da dilatao trmica. (Adapt. R.A Serway, 1996).
A justificao microscpica desta observao est relacionada com o facto de
ao aumentar a temperatura no s as vibraes das partculas se tornarem mais amplas
como o seu ponto de equilbrio se afasta, aumentando a distncia entre elas. Um
exemplo bem conhecido de um comportamento distinto deste o que se passa com a
gua a temperaturas prximas do seu ponto de fuso. O grfico da densidade da gua
em torno de 4 C sofre uma inflexo (ver Figura 117), comeando a diminuir
conforme diminui a temperatura. Ou seja, com a diminuio da temperatura, a gua
passa a ocupar um volume superior. De facto, se observarmos a estrutura da gua no
estado slido, verificamos que apresenta uma geometria muito aberta, resultando num
volume superior ao ocupado pelas molculas de gua no estado lquido.
Figura 117 - Grfico da densidade da gua em funo da temperatura na gama entre 0C e 10C.
(Adapt. E.R. Jones e R.L. Childers, 1993).
Esta particularidade da gua a responsvel por continuar a existir vida na
hidrosfera, mesma em regies muito frias. Repare-se que conforme a gua vai
arrefecendo e aproximando-se de 0 C a sua densidade diminui e, portanto, a gua
mais fria sobe. Por este motivo, a gua comea a gelar superfcie, preservando-se em
estado lquido nas camadas mais profundas e, permitindo, assim, a continuao de
vida.
148
ANEXO G Tpicos sobre teoria cintica dos gases e transferncias
de calor
Tpicos de teoria cintica
O comportamento termodinmico dos materiais fortemente condicionado
pelo seu estado fsico, uma vez que, tal como j se referiu, a temperatura dos corpos
depende dos movimentos das molculas que os constituem e o movimento das
molculas depende muito do estado fsico em que se encontram. Basta recordar que as
molculas de um gs so fracamente ligadas entre si, mantendo-se em permanente
movimento errtico; que as dos slidos tm os seus movimentos muito condicionados
pela forte interaco que estabelecem com as molculas vizinhas e que as de um
lquido tm um comportamento entre estes dois extremos.
Formalmente, a situao em que mais fcil estabelecer um paralelismo entre
o que se passa ao nvel molecular e o que se observa ao nvel macroscpico a
correspondente aos gases. Considere-se as molculas de um gs como pequenas
partculas que apenas interagem entre si atravs de colises elsticas
76
. Nestas
condies, a energia cintica vai-se transferindo de molcula para molcula, embora
em mdia, ela se mantenha constante
77
. A energia cintica mdia de cada partcula
dada por:
2
2
1
v m E
c
= ,
equao 146
onde m a massa de cada uma das molculas constituintes do gs (que se consideram
iguais entre si) e v a sua velocidade mdia quadrtica. Se ignorarmos os
movimentos de rotao e de vibrao das molculas, esta energia multiplicada pelo
nmero de molculas existentes no gs, ser a sua energia interna. Ora verifica-se que
a energia interna de um gs ideal monoatmico, U, proporcional sua temperatura,
T; cumprindo-se a expresso:
nRT U
2
3
= ,
equao 147
sendo n o nmero de moles presentes no gs e R a constante dos gases perfeitos, que
toma o valor 8.314 J mol
-1
K
-1
.
Caso se pretenda considerar os movimentos de rotao das molculas do gs
78
,
a equao 147 tomar a forma:
76
Uma coliso diz-se elstica quando no s o momento linear se mantm constante, mas tambm a
energia cintica do sistema.
77
Desde, evidentemente, que a temperatura se mantenha constante.
78
Enquanto que os gases ideais monoatmicos apresentam apenas movimentos de translao, os gases
ideais diatmicos apresentam tambm movimentos de rotao (que podem ser segundo duas direces
e, por isso, apresentam dois graus de liberdade) e, caso a temperatura seja suficientemente alta, deve
ainda atender-se aos movimentos de vibrao (aos quais correspondem tambm dois graus de
liberdade).
149
nRT U
2
5
= ,
quando no so considerados movimentos de vibrao. E:
nRT U
2
7
= ,
no caso em que tambm os movimentos de vibrao sejam englobados.
Um outro resultado muito importante no estudo dos gases a conhecida Lei
dos Gases Ideais
79
(ver Figura 118). Nesta lei estabelece-se que existe uma
proporcionalidade directa entre o volume, V, e a temperatura de um gs, T, (Lei de
Charles e Gay-Lussac) e que a presso, P, e o volume so inversamente proporcionais
(Lei de Boyle). O que matematicamente se traduz atravs da expresso:
nRT PV = ,
equao 148
sendo n o nmero de moles do gs.
a) b)
Figura 118- Ilustrao da Lei dos Gases Ideais. a) Proporcionalidade directa entre o volume e a
temperatura; b) proporcionalidade inversa entre a presso e o volume. (Adapt. de
http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hillchem3/medialib/media_portfolio/05.html,
Setembro de 2004).
79
interessante referir que esta Lei, embora tenha sido estabelecida experimentalmente, consegue ser
deduzida a partir da anlise do comportamento cintico das molculas de gs.
150
Transferncia de calor
Em geral, associamos transferncia de calor um aumento de temperatura, no
entanto, esta no a nica consequncia de um transporte de calor. Na verdade, o
calor transferido de um corpo para outro pode ser utilizado: 1) num aumento de
temperatura; 2) na ocorrncia de uma mudana de estado ou 3) na converso deste
num outro tipo de energia. Nesta seco iremos discutir alguns conceitos associados
aos dois primeiros mecanismos (o terceiro ser discutido mais tarde) e referir as
diversas formas sob as quais o calor pode ser transferido.
Associado maior ou menor tendncia de um corpo alterar a sua temperatura
quando recebe ou liberta calor, est uma grandeza qual damos o nome de calor
especfico. O calor especfico de uma substncia, C, corresponde ao calor que
necessrio fornecer a um kg dessa substncia para que a sua temperatura aumente de
1 K. Em termos formais, seja Q o calor transferido (recebido) para (de) um dado
corpo de massa, m, e seja T a variao de temperatura a que esse corpo fica sujeito,
possvel escrever:
T mC Q = .
equao 149
Embora a unidade do S.I. de calor seja, obviamente, o joule (uma vez que se
trata de uma forma de energia), durante muito tempo foi utilizada uma unidade, que,
alis, no caiu ainda em desuso, que a caloria (cal). A definio da unidade caloria
est intimamente relacionada com a equao 149, uma vez que uma caloria define-se
como o calor necessrio para fazer subir um grama de gua pura de 14.5 C para
15.5 C. Ou seja, o calor especfico da gua pura, dado em cal g
-1
C
-1
1. Atendendo a
que 1 cal corresponde a 4.186 J, facilmente se verifica que o calor especfico da gua
em S.I. 4.186 x 10
3
J kg
-1
K
-1
. Na Tabela 7 esto indicados alguns valores de calor
especfico.
Substncias Calor especfico (cal g
-1
C)
gua 1
Gelo 0.480
Corpo humano (mdia) 0.83
Solo (dependendo da % de gua) 0.2-0.8
Alumnio 0.214
Protenas 0.4
Tabela 7 - Calor especfico de algumas substncias. (Adapt. de P. Davidovits,
2001).
A ttulo ilustrativo examine-se o que se passa com o corpo humano. Os seus
constituintes so fundamentalmente gua (cerca de 75%) e protenas (cerca de 25%),
conjuntamente com alguma gordura e minerais. O seu calor especfico reflexo desta
composio. Repare-se que, se considerarmos apenas a contribuio da gua e das
protenas, obtm-se um valor muito prximo do valor medido experimentalmente:
85 . 0 4 . 0 25 . 0 1 75 . 0 25 . 0 75 . 0
_
= + = + =
protenas gua humano corpo
C C C cal g
-1
C
-1
.
151
Uma outra grandeza importante para esta discusso o calor latente.
Conforme se referiu anteriormente a transferncia de calor de (ou para) um sistema
pode implicar uma mudana de estado e o calor latente mede a maior ou menor
extenso de massa que fica sujeita a essa mudana de fase quando existe transferncia
de calor. Como facilmente se compreende, cada substncia apresenta dois valores de
calor latente: o calor latente de fuso, L
f
(que tem o mesmo valor que o calor latente
de solidificao) e o calor latente de evaporao, L
e
, (que tem o mesmo valor que o
calor latente de condensao). Matematicamente so definidos atravs das expresses:
ou
f
mL Q =
e
mL Q = ,
equao 150
onde m a massa de substncia e Q o calor transferido. A unidade de calor latente no
S.I. J kg
-1
.
A transferncia de calor poder ser feita atravs de trs processos: por
conduo, conveco e radiao (ver Figura 119).
Figura 119 - Representao dos diferentes tipos de transporte de calor: a) conduo, b)
conveco e c) radiao. (Adap. de P. Davidovits, 2001).
Quando as extremidades de um mesmo objecto se encontram a temperaturas
distintas, ao fim de algum tempo, todo o objecto se encontra mesma temperatura,
tendo havido transferncia de calor por conduo de um extremo para o outro. Este
tipo de transporte de energia trmica envolve a vibrao dos tomos que se encontram
ligados e o movimento de electres livres que existe em alguns materiais. O
movimento de vibrao dos tomos transferido aos tomos adjacentes, conduzindo,
dessa forma, o calor. No entanto, como os tomos num slido se encontram bastante
ligados, esta forma de transferncia de energia bastante lenta. J os electres livres
de alguns materiais, nomeadamente, dos metais, por terem uma grande mobilidade no
interior do slido transferem calor de um modo muito mais eficiente. Por este motivo,
os metais so, geralmente, bons condutores de calor.
Matematicamente, a taxa de calor conduzido, Q, por unidade de tempo, t,
dada por:
152
( )
2 1
T T
L
A K
t
Q
c
=
,
equao 151
onde K
c
o coeficiente de condutividade trmica, caracterstico do material, A a rea
do seco recta do bloco (ver Figura 120), L o seu comprimento e (T
1
-T
2
) a
diferena de temperaturas entre os extremos do objecto.
Figura 120 - Fluxo de calor por conduo num bloco de rea A, comprimento L e sujeito a uma
diferena de temperaturas: (T
1
-T
2
). (Adap. de P. Davidovits, 2001).
Se nos slidos a forma mais eficiente de transferncia de calor atravs da
conduo, nos fluidos o mecanismo mais relevante a conveco. Quando uma
determinada regio de um fluido aquecida, este tende a tornar-se menos denso (ver
seco 8.2.) e, portanto, geram-se correntes de fluido que vo aquecer outras regies.
Quando um fluido se encontra em contacto com um slido, uma parte da energia
transferida para este, aquecendo-o. Mais uma vez possvel quantificar a taxa de
transferncia de calor, Q, por unidade de tempo, t, atravs de conveco com base na
expresso:
( )
2 1
'
T T A K
t
Q
c
=
,
equao 152
em que
'
c
K o coeficiente de conveco, funo da velocidade do fluido, A a rea
exposta s correntes de conveco e (T
1
-T
2
) a diferena de temperaturas entre a
superfcie e as correntes convectivas.
Falta abordar a ltima forma de transferncia de calor que corresponde
emisso de radiao electromagntica, fundamentalmente na gama entre o
infravermelho e o visvel. Como j se referiu, o aumento da temperatura implica um
aumento da amplitude dos movimentos das partculas constituintes da matria.
Quando essas partculas so carregadas (como o caso dos electres e dos ncleos
atmicos) passam a emitir radiao electromagntica. Na realidade, uma vez que os
electres so muito mais leves do que os ncleos, este mecanismo ocorre
prioritariamente devido vibrao electrnica. Alm disso, a energia irradiada tanto
maior quanto maior for a temperatura do objecto emissor. Neste caso, a taxa de calor
perdido, Q, por unidade de rea do objecto, A, dada por:
153
4
T e
A
Q
= ,
equao 153
onde e a emissividade da superfcie (e depende da temperatura, da natureza da
superfcie e pode variar de 0 a 1), a constante de Stefan-Bolzmann
(5.67 x 10
-8
W m
2
K
4
) e T a temperatura absoluta do corpo. A equao anterior
revela dois factos importantes: 1) que este tipo de transferncia de calor
particularmente importante para temperaturas muito elevadas (repare-se na
dependncia da perda de calor com a quarta potncia da temperatura); 2) que qualquer
que seja a temperatura de um objecto, ele perde calor atravs deste mecanismo.
Um outro ponto importante nesta discusso o facto de a equao 153 ser
tambm vlida para descrever a energia absorvida por um corpo. Deste modo, um
corpo temperatura T
1
, e num meio temperatura T
2
, liberta energia trmica por
radiao, com uma taxa de:
( )
4
2
4
1
T T e
A
Q
= ,
equao 154
uma vez que o parmetro e, igual quer o corpo esteja a libertar, quer esteja a
absorver radiao.
Potrebbero piacerti anche
- Cet792fisica PDFDocumento2 pagineCet792fisica PDFTalesNessuna valutazione finora
- Introdução à Físico-QuímicaDocumento20 pagineIntrodução à Físico-QuímicaLetícia RibeiroNessuna valutazione finora
- Mecânica Técnica IDocumento351 pagineMecânica Técnica IADRIANO GOMES DA SILVANessuna valutazione finora
- Introdução à Mecânica Aplicada IDocumento7 pagineIntrodução à Mecânica Aplicada ImarechalNessuna valutazione finora
- Introdução aos Sensores e InstrumentaçãoDocumento58 pagineIntrodução aos Sensores e Instrumentaçãonatanael nestorNessuna valutazione finora
- Trabalho de Fisica ModernaDocumento20 pagineTrabalho de Fisica Modernak4r4suNessuna valutazione finora
- Ensino de Física na Escola MédiaDocumento7 pagineEnsino de Física na Escola MédiaNaiana RodriguesNessuna valutazione finora
- Notasdeaula Mecâmnica EstáticaDocumento135 pagineNotasdeaula Mecâmnica EstáticadimitryPessoa100% (1)
- Introdução à Física – Mecânica BásicaDocumento52 pagineIntrodução à Física – Mecânica BásicaDalmedson Freitas FilhoNessuna valutazione finora
- 1.11.ET.Introdução à Sensores e InstrumentaçãoDocumento9 pagine1.11.ET.Introdução à Sensores e InstrumentaçãoArivaldo BispoNessuna valutazione finora
- Mecanica VetorialDocumento351 pagineMecanica Vetorialdedeprota83% (6)
- Mecânica Técnica: Aula 1 - Conceitos FundamentaisDocumento351 pagineMecânica Técnica: Aula 1 - Conceitos FundamentaisWallen FerreiraNessuna valutazione finora
- Introdução à Física I: Sistemas de unidades, grandezas, erros e vetoresDocumento50 pagineIntrodução à Física I: Sistemas de unidades, grandezas, erros e vetoresVismael Santos67% (3)
- Anexo-4 Programa Disciplinas PSV-1-2024Documento10 pagineAnexo-4 Programa Disciplinas PSV-1-2024Paula LaryssaNessuna valutazione finora
- FISICA - A - N2 e N3 2012 1Documento2 pagineFISICA - A - N2 e N3 2012 1Antonio SilvaNessuna valutazione finora
- De Que Maneira A Física Pode Ser Aplicada Na Área Da QUÍMICADocumento3 pagineDe Que Maneira A Física Pode Ser Aplicada Na Área Da QUÍMICAjoelson.araujoNessuna valutazione finora
- 03-Conceitos de Medidas e Teoria de ErrosDocumento8 pagine03-Conceitos de Medidas e Teoria de ErroseduardohcmendesNessuna valutazione finora
- Desvendando as habilidades e competências da Física para o EnemDocumento16 pagineDesvendando as habilidades e competências da Física para o EnemMauricio CostaNessuna valutazione finora
- Biofísica: conceitos básicos e aplicaçõesDocumento5 pagineBiofísica: conceitos básicos e aplicaçõesNathália CassianoNessuna valutazione finora
- Fisica Basica BDocumento140 pagineFisica Basica BMarcio Rodrigo de Oliveira SilvaNessuna valutazione finora
- Fis e Qui RadiologiaDocumento18 pagineFis e Qui RadiologiaMisael MarxNessuna valutazione finora
- TERMODINÂMICA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES INICIAISDocumento136 pagineTERMODINÂMICA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES INICIAISthaisNessuna valutazione finora
- Aula 1 - Medida e Grandezas Físicas PDFDocumento7 pagineAula 1 - Medida e Grandezas Físicas PDFNathália DurãesNessuna valutazione finora
- Física 1: Fenômenos Térmicos e MecânicosDocumento209 pagineFísica 1: Fenômenos Térmicos e MecânicosArnaldo Casimiro Nhavotso33% (3)
- Mecânica Técnica: Conceitos Fundamentais e Sistema Internacional de UnidadesDocumento351 pagineMecânica Técnica: Conceitos Fundamentais e Sistema Internacional de Unidadesazevedo_rasc9724100% (3)
- Halliday Plano de Aula Vol.1 CompletoDocumento182 pagineHalliday Plano de Aula Vol.1 CompletocelsoNessuna valutazione finora
- Laser na medicina cirurgia ópticaDocumento16 pagineLaser na medicina cirurgia ópticaSamuel MaundeNessuna valutazione finora
- Apostila Fenômenos de Transportes 2015-2Documento81 pagineApostila Fenômenos de Transportes 2015-2tatiane50% (2)
- Aula1 Metrologia e Controle GeométricoDocumento53 pagineAula1 Metrologia e Controle GeométricoRonie Almeida DuraesNessuna valutazione finora
- Apostila ObfDocumento201 pagineApostila ObfCleandsonvieiraNessuna valutazione finora
- Plano de Curso Física 2015Documento6 paginePlano de Curso Física 2015Edjan CastroNessuna valutazione finora
- Física II: Oscilações, Ondas, TermodinâmicaDocumento3 pagineFísica II: Oscilações, Ondas, TermodinâmicaRicardo PasquatiNessuna valutazione finora
- Física Na EngenhariaDocumento8 pagineFísica Na EngenhariaMiguel GongaNessuna valutazione finora
- Escola Secundária de Bili Vina (7)Documento9 pagineEscola Secundária de Bili Vina (7)osvaldo pessaneNessuna valutazione finora
- Conceitos de instrumentação e grandezas físicasDocumento15 pagineConceitos de instrumentação e grandezas físicasDouglas LourençoNessuna valutazione finora
- Tomografia Computadorizada: Bases Físico - MatemáticasDa EverandTomografia Computadorizada: Bases Físico - MatemáticasNessuna valutazione finora
- Estrutura Geral da FísicaDocumento16 pagineEstrutura Geral da FísicaSamuel P.Nessuna valutazione finora
- Física Moderna - EmentaDocumento2 pagineFísica Moderna - EmentaLucas PereiraNessuna valutazione finora
- Mapa 01 - Apresentação Plano de Ensino e Introdução A MecânicaDocumento1 paginaMapa 01 - Apresentação Plano de Ensino e Introdução A MecânicaSamuel FagundesNessuna valutazione finora
- Mecânica Quântica Atividades PráticasDocumento21 pagineMecânica Quântica Atividades PráticasAlessandro OliveiraNessuna valutazione finora
- Materiais ResistênciaDocumento30 pagineMateriais ResistênciaSwilannNessuna valutazione finora
- Conexão (Relação) Entre A Matemática e A FísicaDocumento7 pagineConexão (Relação) Entre A Matemática e A FísicaGabriel MozartNessuna valutazione finora
- MQ Unidade1Documento11 pagineMQ Unidade1daviNessuna valutazione finora
- Fenômenos térmicos e escalas termométricasDocumento84 pagineFenômenos térmicos e escalas termométricasPatricia100% (1)
- Termodinâmica: conceitos e definiçõesDocumento138 pagineTermodinâmica: conceitos e definiçõesfermancarNessuna valutazione finora
- Física Geral I: Sistemas de unidades e conversãoDocumento62 pagineFísica Geral I: Sistemas de unidades e conversãoWendel GomesNessuna valutazione finora
- Aula 1 - MecFlu - Conceitos Gerais e Sistemas de UnidadesDocumento27 pagineAula 1 - MecFlu - Conceitos Gerais e Sistemas de UnidadesDaniel MendonçaNessuna valutazione finora
- Eletroterapia Facial e Corporal 2Documento61 pagineEletroterapia Facial e Corporal 2Cyndy Diniz Faulstich100% (1)
- Aula 1Documento40 pagineAula 1Gabriel santanaNessuna valutazione finora
- Introducao A FisicaDocumento8 pagineIntroducao A FisicaDriko OficialNessuna valutazione finora
- POLINÓMIOSDocumento8 paginePOLINÓMIOSDalsNessuna valutazione finora
- Descrição Do Movimento de Uma Partícula MaterialDocumento10 pagineDescrição Do Movimento de Uma Partícula MaterialDals33% (3)
- Dica Fisica AfaDocumento27 pagineDica Fisica AfaGustavo GasparNessuna valutazione finora
- Marx PDFDocumento13 pagineMarx PDFDalsNessuna valutazione finora
- Achei InteressanteDocumento11 pagineAchei InteressanteMarcus StanfordNessuna valutazione finora
- Determinação Do Centro de MassaDocumento2 pagineDeterminação Do Centro de MassaDalsNessuna valutazione finora
- Articuladores Do DiscursoDocumento2 pagineArticuladores Do DiscursoDalsNessuna valutazione finora
- SífilisDocumento1 paginaSífilisDalsNessuna valutazione finora
- Determinação Do Centro de MassaDocumento2 pagineDeterminação Do Centro de MassaDalsNessuna valutazione finora
- Questões sobre Eletricidade e CondutoresDocumento16 pagineQuestões sobre Eletricidade e CondutoresDelan AbreuNessuna valutazione finora
- Lista - 2trim - MuvDocumento6 pagineLista - 2trim - MuvAyumiNessuna valutazione finora
- Queda Livre e Lançamento VerticalDocumento8 pagineQueda Livre e Lançamento Verticalshoto RuisuNessuna valutazione finora
- Universo Elétrico - Tom FindlayDocumento180 pagineUniverso Elétrico - Tom FindlayVitor M.100% (1)
- Balística - Questões sobre lançamento de projéteisDocumento5 pagineBalística - Questões sobre lançamento de projéteisAnderson EduardoNessuna valutazione finora
- As 9 Esferas após o 5o nívelDocumento3 pagineAs 9 Esferas após o 5o nívelSantosFagnerNessuna valutazione finora
- História Da Matematização Da NaturezaDocumento30 pagineHistória Da Matematização Da NaturezaHellal MohamedNessuna valutazione finora
- Família Equilibrada, Igreja Abençoada.Documento11 pagineFamília Equilibrada, Igreja Abençoada.Marli_rpsNessuna valutazione finora
- Avaliação de Físico-QuímicaDocumento4 pagineAvaliação de Físico-QuímicaCristina Rodrigues100% (1)
- Eletricidade TST tem e resume de forma concisa e otimizada para o conteúdo do documento, que trata de notas de aula sobre eletricidade para o curso técnico em segurança do trabalhoDocumento5 pagineEletricidade TST tem e resume de forma concisa e otimizada para o conteúdo do documento, que trata de notas de aula sobre eletricidade para o curso técnico em segurança do trabalhoÂngelo Fred TorresNessuna valutazione finora
- Raio-X ENEM H01Documento34 pagineRaio-X ENEM H01Luiz ClaudioNessuna valutazione finora
- Lista 1 TabataDocumento4 pagineLista 1 TabataNathalia Cristina Mafra BessaNessuna valutazione finora
- Velocidade queda objetos e cálculos mecânicosDocumento1 paginaVelocidade queda objetos e cálculos mecânicosHeloisa RomãoNessuna valutazione finora
- Unidade I GravitacaoDocumento16 pagineUnidade I GravitacaoPedro Rafael Afonso Afonso100% (1)
- Exercícios sobre Leis de Newton e MovimentoDocumento2 pagineExercícios sobre Leis de Newton e MovimentoIgor Roberto Dos SantosNessuna valutazione finora
- Forças em veículos de corrida: atrito, arrasto e centrípetaDocumento40 pagineForças em veículos de corrida: atrito, arrasto e centrípetaAna Caroline MartinsNessuna valutazione finora
- 2) PRINCÍPIOS FÍSICOS DA ÁGUA AtualizadoDocumento49 pagine2) PRINCÍPIOS FÍSICOS DA ÁGUA AtualizadoTiago VieiraNessuna valutazione finora
- Exercícios de bioestática e localização do centro de gravidadeDocumento11 pagineExercícios de bioestática e localização do centro de gravidadeErika AntalNessuna valutazione finora
- Mecanica - FisicaDocumento170 pagineMecanica - FisicaJotaro KujoNessuna valutazione finora
- Cursinho - Dinâmica - Com GabaritoDocumento24 pagineCursinho - Dinâmica - Com GabaritoTársis MarcosNessuna valutazione finora
- Análise granulométrica por elutriação de areia moídaDocumento27 pagineAnálise granulométrica por elutriação de areia moídaRhynara CarvalhoNessuna valutazione finora
- Problema de Edo Modelagem ParaquedasDocumento30 pagineProblema de Edo Modelagem ParaquedasGabriel Atahide da Silva PereiraNessuna valutazione finora
- Mecânica Orbital EspacialDocumento14 pagineMecânica Orbital EspacialJoão Gabriel Dal FornoNessuna valutazione finora
- Vetores e geometria analítica - lista de exercíciosDocumento8 pagineVetores e geometria analítica - lista de exercíciosBruno EmmelNessuna valutazione finora
- Teoria do peso e balanceamentoDocumento36 pagineTeoria do peso e balanceamentoDouglas DMartins100% (1)
- Lista 6Documento4 pagineLista 6Wagner NogueiraNessuna valutazione finora
- Física planetáriaDocumento4 pagineFísica planetáriagiovanna grazzieliNessuna valutazione finora
- Uma história sobre Mister BennyDocumento35 pagineUma história sobre Mister BennyWaldyr NoronhaNessuna valutazione finora
- Use Cabeca FisicaDocumento16 pagineUse Cabeca FisicaKassyo HirlleyNessuna valutazione finora