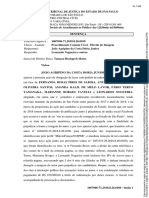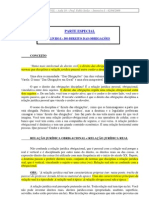Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lidia
Caricato da
mallaguerra0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
60 visualizzazioni209 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
60 visualizzazioni209 pagineLidia
Caricato da
mallaguerraCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 209
Data enia
ISSN 2182-6242 | Semestral | Gratuito
Ano 1 N. 02 Janeiro - Junho 2013
Revista Jurdica Digital
Revista Jurdica Digital
Publicao gratuita em formato digital
Periodicidade semestral
ISSN 2182-8242
Ano 1 N. 02 Janeiro-Junho 2013
Publicado em Agosto de 2013.
Propriedade e Edio:
DataVenia
Marca Registada n. 486523 INPI.
Administrao:
Joel Timteo Ramos Pereira
Internet: www.datavenia.pt
Contacto: correio@datavenia.pt
A Data Venia uma revista digital de
carcter essencialmente jurdico, destinada
publicao de doutrina, artigos, estudos,
ensaios, teses, pareceres, crtica legislativa e
jurisprudencial, apoiando igualmente os
trabalhos de legal research e de legal writing,
visando o aprofundamento do conhecimento
tcnico, a livre e fundamentada discusso de
temas inditos, a partilha de experincias,
reflexes e/ou investigao.
As opinies expressas so da exclusiva
responsabilidade dos respectivos autores e
no traduzem necessariamente a opinio dos
demais autores da Data Venia nem do seu
proprietrio e administrador.
A citao, transcrio ou reproduo dos
contedos desta revista esto sujeitas ao
Cdigo de Direito de Autor e Direitos Conexos.
proibida a reproduo ou compilao de
contedos para fins comerciais ou
publicitrios, sem a expressa e prvia
autorizao da Administrao da Data Venia e
dos respectivos Autores.
A Data Venia faz parte integrante do
projecto do Portal Verbo Jurdico. O Verbo
Jurdico (www.verbojuridico.pt) um stio
jurdico portugus de natureza privada, sem
fins lucrativos, de acesso gratuito, livre e sem
restries a qualquer utilizador, visando a
disponibilizao de contedos jurdicos e de
reflexo social para uma cidadania
responsvel.
ndice
DIREITO PBLICO
A Autarquia como Autora Popular ... 05
Joana Roque Lino
DIREITO LABORAL
O direito mentira da trabalhadora grvida 51
Marlene Alexandra Ferreira Mendes
DIREITO BANCRIO
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao
do intermedirio perante o cliente 101
Pedro Miguel S. M. Rodrigues
DIREITO ADMINISTRATIVO
Princpio da devoluo facultativa ou da suficincia discricionria no
comtencioso administrativo . 133
Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues
DIREITO DO TRABALHO
Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao ... 145
David Falco
CINCIA POLTICA
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de Direito . 153
Renato Lopes Milito
DIREITO DA INTERNET
Os novos direitos de autor em face de novos media .. 169
Joo Ademar Lima, Joaquim Escola e Vernica Lima
DIREITO FINANCEIRO
Responsabilidade pela entrega da coisa
nos contratos de locao financeira 183
Ruben Daniel Cardoso de Jesus
DIREITO DO DESPORTO
O direito de imagem do desportista profissional .. 195
Andrea Susana Linhas Lopes da Silva
DIREITO PBLICO
Ano 1 N. 02 [pp. 05-50]
5
JOANA ROQUE LINO
Advogada e Agente de Execuo
Doutoranda em Direito Pblico
SUMRIO:
Este trabalho analisa o exerccio do direito de ao popular por parte da
autarquia local, no quadro da conformao legal que lhe foi dada pelo
legislador nacional no n. 2 do artigo 2. da Lei n. 83/95, de 31 de agosto,
com especial incidncia sobre a matria dos interesses difusos, coletivos e
individuais homogneos, bem como da legitimidade, do interesse em agir e do
objeto do processo, no mbito do contencioso administrativo.
Discute-se se a ao popular de que as autarquias locais podem lanar mo
apenas passvel de ser utilizada quando o interesse a tutelar esteja inserido
nas respetivas atribuies e competncias e ou quando exista uma conexo
entre os interesses tutelados e a rea de circunscrio territorial da autarquia
autora, ou se foi atribuda s autarquias locais uma legitimidade processual
ativa originria para que atuem em nome prprio, por sua conta e no exerccio
de um direito prprio, embora em defesa de interesses alheios,
independentemente da titularidade de qualquer direito, estabelecendo-se um
nexo territorial entre os residentes das autarquias e a sua rea de circunscrio
e no entre esta e os interesses de que aqueles so titulares.
A AUTARQUIA COMO AUTORA POPULAR
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
6
A AUTARQUIA COMO AUTORA POPULAR
JOANA ROQUE LINO
Advogada e Agente de Execuo
Doutoranda em Direito Pblico
INTRODUO
(*)
O tema que escolhi para objecto deste trabalho,
a autarquia local como autora popular, reveste-se
de actualidade, no obstante a Lei n. 83/95 de 31
de Agosto ter sido publicada no ano de 1995, pelo
facto de estarmos a assistir ao desenvolvimento dos
chamados processos colectivos, quer ao nvel
internacional, designadamente, no Brasil, que conta
actualmente com um projecto de cdigo de
processos colectivos, quer ao nvel comunitrio,
onde se tm efectuado algumas audies pblicas
sobre o processo judicial colectivo, embora restritas
a certas matrias, como sucede com a defesa do
consumidor.
Os processos colectivos obrigam-nos a repensar
os cdigos de processo existentes, de cunho
individualista, no tocante tutela dos interesses
difusos, dos interesses colectivos e dos interesses
individuais homogneos, em matrias como as da
legitimidade, do interesse em agir e do objecto do
processo, entre outras.
(*)
Texto da Dissertao para obteno do grau de Mestre em
Direito Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
Orientador: Professor Joo Caupers.
Palavras-chave: Ao popular; Autarquia Local; Interesses difusos,
interesses coletivos e interesses individuais homogneos;
Legitimidade, interesse em agir, objeto do processo; Contencioso
administrativo; Atribuies e Competncias das Autarquias Locais;
Circunscrio territorial; Interesses dos residentes da Autarquia.
Os problemas que podem suscitar-se colocam-
se com especial acuidade em relao autarquia
local como autora popular, atenta a configurao
legal da titularidade do direito de aco popular
por parte das autarquias locais no ordenamento
jurdico portugus, nomeadamente, no n. 2 do
artigo 2. da Lei n. 83/95, cuja redaco a
seguinte:
So igualmente titulares dos direitos referidos
no nmero anterior as autarquias locais em relao
aos interesses de que sejam titulares residentes na
rea da respectiva circunscrio.
Esta configurao legal aliada ao facto de haver
autores que consideram que a aco de que as
autarquias podem lanar mo no uma
verdadeira aco popular, mas sim uma aco
pblica, passvel de utilizao apenas quando o
interesse a tutelar contenciosamente esteja inserido
nas atribuies e competncias das autarquias
locais e quando o interesse afectado ou ameaado
se situe no territrio da autarquia autora ou essa
afectao tenha, de algum modo, refraco no
territrio da autarquia autora, permitiu-nos
encontrar um tema de trabalho interessante, que
nos deu a oportunidade de levar a cabo uma
investigao da qual esperamos ter conseguido
alcanar alguns contributos de ordem prtica no
domnio do contencioso administrativo.
A Autarquia como Autora Popular
7
O presente trabalho visa, pois, analisar o
exerccio do direito de aco popular por parte das
autarquias locais no domnio da jurisdio
administrativa, e no tambm no quadro da
jurisdio cvel. Esta restrio prende-se com uma
opo de delimitao do tema, resultante dos
condicionalismos de tempo e de espao que
conformam este trabalho. Exclumos ainda do
nosso trabalho uma anlise mais aprofundada da
evoluo dos conceitos de interesse difuso,
interesse colectivo e interesse individual
homogneo, na medida em que tal anlise nos
obrigaria a sermos mais contidos na anlise das
restantes questes presentes no trabalho, quando
nelas que reside o cerne da problemtica a que
cumpre dar resposta.
Com este enquadramento, foi-nos possvel
estudar e questionar se as autarquias locais actuam
enquanto representantes ou substitutas dos
residentes na rea da respectiva circunscrio, ou se
a sua actuao, enquanto autoras populares, no se
insere em qualquer destas categorias; por seu
turno, debrumo-nos sobre a legitimidade e o
interesse em agir das autarquias locais, por ser
atravs dessa anlise, em nosso entender, que se
consegue verificar se a actuao das autarquias
locais no exerccio do direito de aco popular tem
como limite as suas atribuies e competncias e,
por outro lado, se existe uma conexo entre os
interesses tutelados e a rea da circunscrio
territorial das autarquias locais.
O trabalho estrutura-se em trs partes, seguidas
de concluses.
Na primeira parte, fazemos um sinttico cotejo
histrico da evoluo do direito de aco popular
no ordenamento jurdico portugus, seguido de
uma breve abordagem figura da aco popular no
direito brasileiro e no direito italiano.
Na segunda parte, procedemos anlise da
natureza da autarquia local, das suas atribuies e
competncias e do modo como o seu territrio se
organiza, aps o que fazemos uma anlise
generalizada de algumas questes relacionadas com
o direito de aco popular, com os bens e
interesses tutelados no seu mbito e com a
legitimidade, para entrar, num terceiro passo, na
dissecao do exerccio do direito de aco popular
por parte das autarquias locais no domnio do
contencioso administrativo.
Na terceira parte, em jeito de dilogo quer com
a doutrina quer com a jurisprudncia, fazemos a
anlise das relaes que possam ou no
estabelecer-se entre o exerccio do direito de aco
popular pelas autarquias locais e as suas atribuies
e competncias, bem como a anlise da existncia
ou no de um elemento de conexo entre a sua
rea de circunscrio territorial e os interesses
tutelados por via da aco popular.
Resta-nos dizer que todos os erros e omisses
de que o presente trabalho padea nos so inteira e
exclusivamente imputveis.
SIGLAS E ABREVIATURAS
Ac. Acrdo
al. Alnea
CA Cdigo Administrativo de 1940
CEAL Carta Europeia da Autonomia Local
CJA Cadernos de Justia Administrativa
CPA Cdigo do Procedimento Administrativo
CPTA Cdigo de Processo nos Tribunais
Administrativos
CRP Constituio da Repblica Portuguesa
DAR Dirio da Assembleia da Repblica
D.L. Decreto-Lei
ETAF Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais
LAL Lei das Autarquias Locais
LAP Lei da Aco Popular
LEPTA Lei de Processo dos Tribunais Administrativos
LTACA Lei da Transferncia de Atribuies e
Competncias
n. Nmero
NUTS Nomenclaturas das Unidades Territoriais
Estatsticas
RCM Resoluo do Conselho de Ministros
RSTA Regulamento do Supremo Tribunal
Administrativo
STA Supremo Tribunal Administrativo
TCA Tribunal Central Administrativo
TCN Tribunal de Conflitos
TUE Tratado da Unio Europeia
TFUE Tratado sobre o Funcionamento da Unio
Europeia
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
8
PARTE I
ABORDAGEM HISTRICA
E DE DIREITO COMPARADO
CAPTULO I
ABORDAGEM HISTRICA
1.1. Antes da Constituio de 1976
A aco popular tem a sua origem na actio
popularis do Direito Romano, a qual permitia a
qualquer membro da comunidade tutelar os
respectivos interesses pblicos.
No nosso pas, a aco popular surge nas
Ordenaes Manuelinas e Filipinas
1
sob a forma de
aco supletiva, susceptvel de ser utilizada por
qualquer membro da comunidade, sobretudo no
mbito do direito penal, mas tambm para suprir a
inaco das autarquias na defesa das coisas pblicas
contra o seu esbulho ou uso indevido.
No tendo tido relevncia no mbito do direito
medieval, onde ter surgido por fora do direito
comum romano, a aco popular desapareceu com
o regime feudal.
O artigo 124. da Carta Constitucional de
1826 consagra a aco popular, mas apenas quanto
a certos crimes praticados por magistrados
2
.
O Cdigo Administrativo de 1842 consagra no
seu artigo 29.
3
a aco popular correctiva no
domnio do contencioso eleitoral, surgindo este
1
Cfr. PAULO OTERO, A ACO POPULAR: configurao e
valor no actual Direito portugus, in Revista da Ordem dos
Advogados, ano 59, Lisboa, Dezembro 1999, .p. 873.
2
Reza assim este artigo, inserido no Ttulo VI da Carta, sob a
epgrafe do poder judicial: Por suborno, peita, peculato, e
concusso haver contra eles aco popular, que poder ser
intentada dentro de ano, e dia pelo prprio queixoso, ou por
qualquer do Povo, guardada a ordem do Processo estabelecida na
Lei (cfr. JORGE MIRANDA, As Constituies Portuguesas, de 1822 ao
texto actual da Constituio, 2. Ed., Livraria Petrony, 1984, p. 121).
3
Cfr. http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1123.pdf,
consultada em 21.09.2011.
tipo de aco igualmente nos Cdigos
Administrativos de 1878
4
e de 1886
5
6
.
, porm, atravs da Lei de 6 de Agosto de
1892
7
que se consagra pela primeira vez a aco
popular correctiva a ser instaurada por qualquer
cidado com o objectivo de impugnar actos de
rgos administrativos contrrios lei e ao
interesse pblico
8
.
No Cdigo Administrativo de 1896
9
, a aco
correctiva surge no domnio do recurso eleitoral e
do recurso de anulao das deliberaes dos corpos
administrativos
10
e na Lei n. 621, ela consagrada
no seu artigo 31.
11
.
com a natureza de aco supletiva que o
direito de aco popular surge no Cdigo
Administrativo de 1878. Podiam instaurar a aco
os eleitores domiciliados na respectiva
circunscrio, que tivessem obtido autorizao
prvia da junta geral do distrito ou do governo,
em nome e no interesse do distrito, municpio
ou parquia para reivindicar e reaver
quaisquer bens ou direitos usurpados ou que
tenham sido indevidamente possudos
12
.
A aco popular supletiva foi objecto de
consagrao legal, sucessivamente, nos Cdigos
Administrativos de 1886 e de 1896
13
14
.
4
Cfr. http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1127.pdf,
consultada em 21.09.2011.
5
Cfr. http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1176.pdf,
consultada em 21.09.2011.
6
Vide, respectivamente, os artigos 337. e 331..
7
No seu artigo 46..
8
Cfr. JOS ROBIN DE ANDRADE, A Aco Popular No Direito
Administrativo Portugus, Coimbra, 1967, p. 13.
9
Cfr. http://www.archive.org/stream/cdigoadministra00portgoog
#page/n8/mode/2up, consultada em 21.09.2011.
10
Vide os artigos 220., 241., e 421..
11
Cfr. JOS ROBIN DE ANDRADE, op. cit., p. 13.
12
Cfr. a meno ao artigo 369. do Cdigo Administrativo de
1878 por JOS ROBIN DE ANDRADE, op. cit., p.11.
13
Vide, respectivamente, os artigos 387. e 421..
14
Dispe o artigo 421. do CA de 1896: A qualquer cidado, no
gozo dos seus direitos polticos e civis, lcito reclamar contra as
deliberaes dos corpos administrativos que tenha por contrrias
ao interesse pblico, ou por ofensivas de preceitos legais, desde que
se ache recenseado na rea das funes do respectivo corpo
administrativo. ().
A Autarquia como Autora Popular
9
Tambm a Lei n. 88 de 7 de Agosto de
1913
15
prev no corpo do seu artigo 182. a aco
popular supletiva, em benefcio dos cidados
eleitores da respectiva circunscrio.
O direito de aco popular foi mantido no
Cdigo Administrativo de 1940, aprovado pelo
D.L. n. 31095, de 31 de Dezembro, nas duas
modalidades de aco popular correctiva e
supletiva.
No artigo 369. do CA, prev-se a aco
popular supletiva, a exercer nos tribunais comuns,
para defesa de bens ou direitos das autarquias
locais em caso de inrcia da mesma e no artigo
822., relativo defesa da legalidade objectiva
atravs da impugnao contenciosa de deliberaes
dos rgos autrquicos, prev-se a aco popular
correctiva. O artigo 826. do mesmo Cdigo
consagra a aco correctiva no domnio eleitoral.
A distino entre a aco popular correctiva e a
aco popular supletiva reside no facto de a
primeira visar a defesa da legalidade, ao passo que
a segunda tem por fim suprir a inaco dos rgos
administrativos.
Segundo MARCELLO CAETANO
16
, nos
tribunais comuns o particular actua como se fosse
rgo ocasional da autarquia, em nome e no
interesse daquela, e no recurso de anulao o
particular visa fiscalizar e corrigir os actos dos
rgos da autarquia
17
. Apesar da distino, o
particular actua sempre na qualidade de membro
da comunidade, em ordem a gerir os respectivos
interesses, o que sucede quer quando rgo
ocasional, quer quando participa directamente na
sua administrao.
15
Cfr. http://dre.pt/pdfgratis/1913/08/18300.pdf, consultada em
21.09.2011.
16
Cfr. MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo,
vol. II, Almedina, Coimbra, 10. ed., 3 reimpresso, 1990, p. 1364.
17
No mesmo sentido, veja-se JOS MANUEL DOS SANTOS
BOTELHO, Contencioso Administrativo, 3. ed., Almedina, 2000, pp.
705-706.
1.2. Depois da Constituio de 1976 e
antes do CPTA
A CRP de 1976 consagrava inicialmente no seu
n. 2 do artigo 49. o direito de aco popular, nos
casos e nos termos previstos na lei. A aco popular
foi consagrada como direito fundamental, mas a
CRP no concretizava o respectivo contedo.
Aps a Reviso Constitucional de 1982, o
direito de aco popular passou a estar integrado
no mbito dos direitos, liberdades e garantias de
participao poltica, tendo passado a constituir o
artigo 52. da CRP.
A Reviso Constitucional de 1989 densificou o
direito de aco popular, tendo o n. 2 do artigo
52. passado a n. 3
18
. Os interesses passveis de ser
defendidos pela aco popular foram enumerados
de forma exemplificativa. Especificou-se que a
legitimidade cabe a todos, pessoalmente ou atravs
de associaes de defesa dos interesses em causa, e
que o pedido pode destinar-se promoo da
preveno, cessao ou perseguio judicial das
infraces contra os interesses tutelados. A Reviso
Constitucional de 1989 aditou ainda a faculdade
de deduo cumulada de um pedido
indemnizatrio em sede do exerccio da aco
popular.
Nesta altura, a aco popular continuava a estar
prevista no Cdigo Administrativo de 1940,
restrita Administrao Local, pois a LAP apenas
foi aprovada atravs da Lei n. 83/95, de 31 de
Agosto.
Antes ainda da publicao da LAP, a aco
popular j havia sido consagrada ao nvel da
legislao ordinria para tutela do patrimnio
cultural portugus, ento prevista na Lei n. 13/85,
de 6 de Julho, sendo curioso notar que o diploma
18
Com a seguinte redaco: conferido a todos, pessoalmente
ou atravs de associaes de defesa dos interesses em causa, o
direito de aco popular nos casos e termos previstos na lei,
nomeadamente, o direito de promover a preveno, a cessao ou a
perseguio judicial das infraces contra a sade pblica, a
degradao do ambiente e da qualidade de vida ou a degradao do
patrimnio cultural, bem como de requerer para o lesado ou
lesados a correspondente indemnizao.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
10
atribua o direito de aco popular a qualquer
cidado no gozo dos seus direitos civis, e no
tambm polticos
19
. Tambm a Lei n. 95/88, de
17 de Agosto, prev que as associaes de
mulheres tm legitimidade para exercer o direito
de aco popular em defesa dos direitos das
mulheres
20
.
Finalmente, em 31 de Agosto de 1995,
publicada a Lei n. 83/95, que vem definir os casos
e termos em que conferido o direito de
participao popular em procedimentos
administrativos e o direito de aco popular.
Considera NUNO SRGIO MARQUES
ANTUNES que a publicao da LAP
consubstanciou a ultrapassagem de uma situao
de inconstitucionalidade por omisso
21
.
Com a Reviso Constitucional de 1997
aprofundou-se a densificao operada pela Reviso
de 1989. A aco popular corresponde a uma
legitimidade alargada de utilizao de qualquer dos
meios processuais colocados disposio do autor
popular, para defesa de bens que a CRP enumera a
ttulo exemplificativo e que a lei deve tipificar
(princpio da tipicidade legal da aco popular).
Com esta reviso, so acrescentados aos bens
tutelados os direitos dos consumidores, os bens do
Estado, das regies autnomas e das autarquias
locais.
1.3. Aps o CPTA
Com a aprovao do CPTA, a Lei n. 15/2002,
de 22 de Fevereiro revoga a parte IV do Cdigo
Administrativo de 1940, concernente ao
contencioso administrativo
22
. So, assim, revogados
os artigos 822. e 369. do CA, passando a aco
popular a que se refere o n. 2 do artigo 9. do
19
Embora o preceito faa referncia aos casos e termos previstos
na lei, que no existiam
20
Cfr. a alnea b) do n. 1 do artigo 6..
21
Cfr. NUNO SRGIO MARQUES ANTUNES, O Direito de Aco
Popular no Contencioso Administrativo Portugus, Lex, Lisboa, 1997, p.
21.
22
Cfr. a alnea a) do artigo 6. da Lei n. 15/2002.
CPTA a abranger quer a aco popular correctiva,
quer a aco popular supletiva, embora o n. 2 do
artigo 55. do mesmo Cdigo preveja a tradicional
forma de aco popular correctiva, facultando a
qualquer eleitor no gozo dos seus direitos civis e
polticos legitimidade para impugnar as
deliberaes adoptadas por rgos das autarquias
locais com sede na circunscrio em que o eleitor
esteja recenseado.
A evoluo do direito de aco popular verifica-
se tambm fora das fronteiras do CPTA, pois ele
tem vindo a ser consagrado no mbito de legislao
avulsa, como j sucedia antes da entrada em vigor
do CPTA. o que sucede, sem qualquer pretenso
de ser exaustiva: com a proteco e valorizao do
patrimnio cultural, aprovada pela Lei n. 29/96,
de 31 de Julho (cfr. n. 2 do artigo 9.); com as
associaes representativas das famlias, cujos
direitos e deveres foram aprovados pela Lei n.
9/97, de 12 de Maio (cfr. alnea d) do n. 1 do
artigo 6.); com o cdigo do mercado dos valores
mobilirios, aprovado pelo D.L. 486/99, de 13 de
Novembro (cfr. artigo 31.); com a lei de bases do
ambiente, na alterao da Lei n. 13/2002, de 19
de Fevereiro (cfr. artigo 45.).
Em Portugal, a publicao de uma lei geral
sobre o direito de aco popular, bem como as
diversas disposies legais constantes de legislao
avulsa a ele respeitantes, vieram permitir a tutela
jurisdicional efectiva dos interesses difusos,
interesses colectivos e interesses individuais
homogneos.
O aparecimento destes interesses, de que
falaremos infra, bem como o seu tratamento cada
vez mais desenvolvido por parte da doutrina e da
jurisprudncia, conduziu evoluo dos chamados
processos colectivos, pois o cunho individualista
dos cdigos de processo at aqui existentes, criados
para tutelar direitos e interesses individuais, no
capaz de dar uma resposta eficaz concretizao
daqueles interesses.
A Autarquia como Autora Popular
11
neste contexto que aprovado o Cdigo
Modelo de Processos Colectivos para a Ibero-
Amrica, em Assembleia Geral do Instituto Ibero-
Americano de Direito Processual, em Outubro de
2004, no decurso das XIX jornadas Ibero-
Americanas de Direito Processual realizadas na
Venezuela. Trata-se de um cdigo que contm um
modelo que pretende ser inspirador de reformas
legislativas, com o fito de tornar mais homognea a
defesa dos interesses difusos em pases de cultura
jurdica comum
23
.
Por seu turno, o Parlamento Europeu tem
vindo a realizar audies pblicas sobre a tutela
judicial colectiva na Europa, a respeito da qual no
existe ainda regulamentao no mbito do
contencioso comunitrio
24
.
Como ensina DIOGO CAMPOS MEDINA
MAIA, no contexto dos ps-totalitarismos
polticos, o primeiro grande passo para a
reconstruo de todo o sistema legal de valores foi
dado com a apresentao da Declarao Universal
dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia
Geral das Naes Unidas em 1948, que deu incio
internacionalizao dos direitos humanos,
culminando, em momento posterior, com a
afirmao da existncia de novas espcies de
direitos fundamentais: os direitos dos povos e os
direitos da humanidade, difundidos como direitos
difusos. A nota caracterstica desses novos direitos
reconhecidos que seu titular no mais
considerado o indivduo, mas sim a colectividade.
So direitos relativos ao desenvolvimento, paz,
autodeterminao dos povos, ao meio ambiente
sadio, qualidade de vida, especialmente o direito
de comunicao e os direitos ambiental e do
consumidor. () O reconhecimento dos direitos
23
Cfr. ADA PELLEGRINI GRINOVER, O projecto de lei
brasileira sobre processos colectivos, in Revista Portuguesa de Direito
do Consumo, Associao Portuguesa de Direito do Consumo, n. 62,
pp. 155-162.
24
Cfr.http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/
201109/20110920ATT27004/20110920ATT27004EN.pdf e
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/
20110920ATT27004/20110920ATT27004EN.pdf, acedidas em
21.09.2011.
emergentes neste perodo contribuiu para a
formulao de um sistema processual voltado sua
tutela, pois os novos conflitos e problemas
colectivos apresentados pela sociedade desafiavam
e colocavam em dificuldade a dogmtica jurdica
tradicional e suas modalidades individualistas de
tutela
25
.
CAPTULO II
BREVE ABORDAGEM
AO DIREITO COMPARADO
2.1 - O direito brasileiro
A Constituio brasileira, de 5 de Outubro de
1988, reparte as competncias entre a Unio, os
Estados, o Distrito Federal e os Municpios
26
. A
par da Justia Federal, encontramos a Justia dos
Estados
27
, sendo que cada um organiza a sua
estrutura judiciria
28
, cabendo-lhes a jurisdio que
no se encontre cometida aos tribunais federais em
razo da matria.
No direito brasileiro, no existe uma ordem
jurisdicional autnoma com competncia para
dirimir os litgios com a Administrao
29
e o
particular tem a possibilidade de optar entre os
meios processuais consagrados no Cdigo de
Processo Civil e os meios processuais prprios dos
litgios jurdico-administrativos para fazer valer as
suas pretenses contra a Administrao. Esta
tambm pode usar os mesmos meios contra os
particulares.
25
Cfr. A ao colectiva passiva: o retrospecto histrico de uma
necessidade presente, in Direito Processual, Coord. de ADA
PELLEGRINI GRINOVER, et al., Revista dos Tribunais, So Paulo,
2007, pp. 321-344.
26
Cfr. os artigos 21. e seguintes da Constituio brasileira.
27
Cfr. os artigos 92. e seguintes da Constituio brasileira.
28
Cfr. o artigo 125. da Constituio brasileira.
29
Mesmo nos casos em que existe um juzo privativo da
Administrao Pblica Federal, no se pode dizer que ele
corresponde a uma jurisdio administrativa em sentido orgnico,
tal como ensina JOS MANUEL SRVULO CORREIA, Direito do
Contencioso Administrativo, I, Lex, Lisboa, 2005, pp. 196-197 e 225.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
12
De entre os vrios meios que podem ser usados
pelos particulares contra condutas lesivas da
Administrao, temos o habeas corpus, o habeas
data, o mandado de segurana individual, o
mandado de segurana colectivo, o mandado de
injuno e a aco popular
30
.
Nos termos do disposto no inciso LXXIII do
artigo 5. da Constituio brasileira, qualquer
cidado parte legtima para propor ao popular
que vise a anular ato lesivo ao patrimnio pblico
ou de entidade de que o Estado participe,
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimnio histrico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada m-f, isento de custas judiciais
e do nus da sucumbncia.
O direito de aco popular encontra
consagrao constitucional, no enquanto direito
de cariz poltico, mas como direito colectivo,
inserido no Ttulo II da Constituio brasileira, que
tem por epgrafe Dos Direitos e Garantias
Fundamentais.
O direito de aco popular brasileiro foi
regulado pela Lei brasileira n. 4717, de 29 de
Junho de 1965, publicada no Dirio Oficial da
Unio (DOU), seco 1, de 5 de Julho de 1965
31
.
Contrariamente ao direito portugus, no direito
brasileiro, o legislador no conferiu aos municpios,
nem ao Ministrio Pblico, o direito de aco
popular, reservando-o exclusivamente aos
cidados
32
, mas isso no significa que estas
entidades no possam defender interesses difusos.
Elas tm competncia para a defesa desses
interesses, mas atravs do exerccio de um direito
de aco diverso.
30
Cfr. o artigo 5. da Constituio brasileira, nos seus incisos
LXVIII, LXIX, LXX, LXXI e LXXII.
31
Tendo sido alterada pelas Leis brasileiras n. 6014 de 27 de
Dezembro de 1973, publicada no DOU, seco 1, do mesmo dia, e
n. 6513 de 20 de Dezembro de 1977, publicada no DOU, seco 1,
de 22 de Dezembro de 1977.
32
Ou seja, ao eleitor, pessoa singular no gozo dos seus direitos
polticos.
Assim, a Constituio brasileira atribui ao
Ministrio Pblico, como funo institucional, a
promoo da ao civil pblica, para a
proteco do patrimnio pblico e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
(cfr. o inciso III do artigo 129. da Constituio
brasileira). Por seu turno, a Lei brasileira n. 7347,
de 24 de Julho de 1985, publicada no DOU,
seco 1, de 25 de Julho de 1985
33
, que regula a
aco civil pblica, estende no seu artigo 5. a
legitimidade activa para a instaurao da aco civil
pblica, entre outras entidades, aos municpios.
A assuno dos interesses difusos e colectivos
por parte do Ministrio Pblico brasileiro uma
das marcas do direito brasileiro e, no obstante
tratar-se de uma competncia concorrente, a
verdade que a maior parte das aces acaba por
ser instaurada pelo Ministrio Pblico
34
.
No mbito da aco popular, h uma
curiosidade do direito brasileiro, plasmada no
pargrafo 3. do artigo 6. da Lei n. 4717, que
consiste no facto de a pessoa de direito privado ou
de direito pblico cujo acto seja impugnado poder
optar entre ser r ou tornar-se assistente do autor,
desde que, neste ltimo caso, o considere til
defesa do interesse pblico.
Quanto ao Ministrio Pblico, ele acompanha a
aco popular, podendo efectivar a
responsabilidade civil ou criminal em causa
35
, bem
como promover o prosseguimento da aco, no
caso de o seu autor desistir da aco instaurada ou
der azo absolvio da instncia
36
.
33
Esta lei foi sucessivamente alterada pelas Leis brasileiras com o
n. 8078, de 11 de Setembro de 1990, publicada no DOU, seco 1,
de 12 de Setembro de 1990, n. 8884, de 11 de Junho de 1994,
publicada no DOU, seco 1, de 13 de Junho de 1994, n. 9494, de
10 de Setembro de 1997, publicada no DOU, seco 1, de 11 de
Setembro de 1997, n. 10257 de 10 de Julho de 2001, publicada no
DOU, seco 1, de 11 de Julho de 2001 e n. 11448 de 15 de Janeiro
de 2007, publicada no DOU, seco 1, de 16 de Janeiro de 2007.
34
Cfr. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Reforma do processo
colectivo: indispensabilidade de disciplina indiferenciada para
direitos individuais homogneos e para direitos transindividuais,
in Direito Processual, Coord. de ADA PELLEGRINI GRINOVER, et
al., Revista dos Tribunais, So Paulo, 2007, pp. 32-38.
35
Cfr. o pargrafo 4. do artigo 6. da Lei brasileira n. 4717.
36
Cfr. o artigo 10. da Lei brasileira n. 4717.
A Autarquia como Autora Popular
13
Ao passo que na aco popular o cidado pode
defender o patrimnio pblico, a moralidade
administrativa, o meio ambiente e o patrimnio
histrico e cultural, na aco civil pblica, o
Ministrio Pblico e os municpios podem
defender o patrimnio pblico e social, o meio
ambiente e outros interesses difusos e colectivos,
bem como, de acordo com o artigo 1. da Lei n.
7347, o consumidor, a ordem urbanstica, os bens
e direitos de valor artstico, esttico, histrico,
turstico e paisagstico. O leque de bens tutelados
est fechado no caso da aco popular, mas foi
deixado em aberto no tocante aco civil pblica.
A aco civil pblica no se limita a ser um
meio processual de controlo da Administrao
Pblica, j que pode ser instaurada contra qualquer
pessoa que tenha causado danos a interesses
difusos, seja uma pessoa colectiva de direito
pblico, de direito privado ou um particular.
semelhana da aco popular, esta aco tutela
interesses metaindividuais.
Trata-se de uma aco de responsabilidade por
danos morais e patrimoniais, em que deduzido
pedido de condenao em dinheiro
37
e ou em
obrigao de fazer ou de no fazer. De harmonia
com JOS MANUEL SRVULO CORREIA, ao
bastar-se com a condenao numa obrigao de
facere ou de non facere, poder dizer-se que o
legislador brasileiro dispensa a extino judicial dos
efeitos do acto, limitando-se a obrigar a
Administrao a repor a situao devida, pondo
termo aos efeitos do acto, o que envolve
implicitamente a extino do acto, com efeitos
retroactivos
38
. A sentena proferida na aco civil
pblica tem uma eficcia erga omnes, mas dentro
dos limites da competncia territorial do tribunal
que a profere.
O Brasil conta actualmente com um
anteprojecto de Cdigo de Processos Colectivos,
que amplia o leque de pessoas e entidades dotadas
37
O qual se destina a um Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
38
Cfr. op. cit., p. 264.
de legitimidade para instaurar processos com
aquela natureza, anteprojecto este que pretende
romper com os sistemas tradicionais que visam
conferir a legitimidade para a aco popular, com
uma certa exclusividade, ou a associaes e
organizaes no-governamentais, como sucede na
Alemanha, ou a indivduos, como ocorre nos
Estados Unidos com as class actions
39
.
2.2 - O direito italiano
A Constituio italiana, de 22 de Dezembro de
1947, foi objecto de Reviso Constitucional em
2001
40
, a qual operou uma grande transformao
na organizao do Estado, das Regies e das
Entidades Locais
41
, ampliando a esfera de
competncias destas duas ltimas entidades e
invertendo o precedente de que o poder legislativo
est centralizado no Estado
42
.
Entre as entidades locais constam as Comunas,
as Provncias e as Cidades Metropolitanas, que so
entidades autnomas, dotadas de estatutos,
poderes e funes prprios
43
. A Provncia uma
entidade local intermdia, situada entre a Comuna
e a Regio. A Cidade Metropolitana formada por
diversas comunas. O Estado e as Regies tm de
respeitar a autonomia local, mas a autoridade
governativa pode substituir-se entidade local em
caso de inrcia por parte desta (cfr. n. 5 do artigo
39
Neste sentido, veja-se ALUISIO GONALVES DE CASTRO
MENDES, O anteprojecto de Cdigo Brasileiro de processos
colectivos: viso geral e pontos sensveis, in Direito Processual,
Coord. de ADA PELLEGRINI GRINOVER, et al., Revista dos
Tribunais, So Paulo, 2007, pp. 16-32.
40
Cfr. Lei Constitucional n. 3, de 18 de Outubro de 2001,
publicada na Gazzetta Ufficiale (GU) n. 248 de 24 de Outubro de
2001.
41
Cfr. ROBERTO GAROFOLI; GIULIA FERRARI, Manuale di
Diritto Amministrativo, 4. Ed., Nel Diritto Editore, 2010.
42
Cfr. MAURICIO MIRABELLA; MASSIMO DI STEFANO;
ANDREA ALTIERI, Corso di diritto amministrativo, Giuffr Editore,
2009, p. 164.
43
Cfr. o artigo 2. do Decreto Legislativo italiano n. 267, de 18
de Agosto de 2000, publicado na GU n. 227 de 28 de Setembro de
2000, no suplemento ordinrio n. 162, o qual contm a disciplina
das entidades locais, bem como o artigo 114. da Constituio
italiana.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
14
117., e n. 2 do artigo 120. da Constituio
italiana).
No ordenamento jurdico italiano encontramos
a jurisdio ordinria e a jurisdio administrativa,
fazendo parte desta ltima o Conselho de Estado e
os tribunais administrativos
44
. No que toca s
condutas lesivas da Administrao, a proteco dos
direitos subjectivos dos particulares faz-se nos
tribunais ordinrios, ao passo que a proteco dos
interesses legtimos se faz nos tribunais
administrativos
4546
. Contudo, estes acabam por ter
tambm competncia para conhecer de direitos
subjectivos dos administrados, mas apenas nos
casos expressamente previstos na lei
47
.
A distino entre o direito subjectivo e o
interesse legtimo constitui uma peculiaridade do
ordenamento jurdico italiano. De harmonia com
ROBERTO GAROFOLI e GIULIA FERRARI,
volendo partire dal punto di approdo del
dibattito, pu dirsi, in linea com la dottrina e la
giurisprudenza oggi dominante, che linteresse
legittimo la posizione di vantaggio riservata ad un
soggetto in relazione ad un bene della vita
sotoposto allesercizio del potere amministrativo e
consistente nellattribuzione a tale soggetto di
poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del
potere, in modo da rendere possibile la
realizzazione dellinteresse al bene
48
.
Em contradio, diramos ns, com a criao e
o percurso histrico da figura no direito romano, a
Constituio italiana no prev expressamente o
direito de aco popular, o qual configura, de
acordo com PAULO OTERO, um instituto
excepcional e de rara aplicao no Direito
italiano
4950
.
44
Cfr. o artigo 103. da Constituio italiana e os artigos 4., 5. e
6. do Cdigo de Processo Administrativo italiano, aprovado pelo
Decreto Legislativo n. 104 de 2 de Julho de 2010, publicado na GU
n. 156 de 7 de Julho de 2010.
45
Cfr. JOS ROBIN DE ANDRADE, op. cit., p. 68.
46
Cfr. o artigo 113. da Constituio italiana.
47
Cfr. o n. 1 do artigo 103. da Constituio italiana.
48
Cfr. op. cit., pp. 1637-1638.
49
Cfr. PAULO OTERO, op. cit., p. 874.
To pouco existe uma lei geral da aco
popular no ordenamento jurdico italiano, ao
contrrio do que sucede em Portugal, embora o
direito de aco popular se encontre previsto em
legislao avulsa, a propsito das matrias a
reguladas
51
. Por seu turno, encontramos diversas
disposies legais relacionadas com a tutela de
interesses difusos e ou colectivos, que atribuem
legitimidade para agir em juzo a pessoas singulares
e ou a associaes, constitudas de acordo com
certos requisitos, mas sem que seja feita aluso
figura do direito de aco popular
52
.
Curiosamente, ao abrigo da chamada reforma
Bruneta, vertida no Decreto Legislativo italiano n.
150, de 27 de Outubro de 2009, publicado na
Gazzetta Ufficiale (GU) n. 254, de 31 de
Outubro de 2009, no suplemento ordinrio n.
197, elaborado ao abrigo da Lei de autorizao
legislativa n. 15, de 4 de Maro de 2009,
publicado na GU n. 53, de 5 de Maro de 2009,
o qual est relacionado com a eficincia da
Administrao Pblica, foi publicado o Decreto
Legislativo italiano n. 198, de 20 de Dezembro de
2009, publicado na GU n. 303, de 31 de
Dezembro de 2009, nos termos do qual se prev
que os utentes de servios pblicos que sejam
titulares de um interesse juridicamente relevante e
homogneo para uma pluralidade de utentes e
consumidores, que sofram uma leso directa,
concreta e actual do seu prprio interesse, podem
agir em juzo contra a Administrao Pblica e
contra os concessionrios de servios pblicos,
50
No mesmo sentido, veja-se SERGIO AGRIFOGLIO,
Riflessioni critiche sulle azioni popolari come strumento di tutela
degli interessi collettivi, Le Azioni a tutela di interessi collettivi, Atti del
Convegno di Studio, Pavia, 11-12 giugno 1974, Cedam, Padova, 1976,
pp. 182-190.
51
A ttulo de exemplo, encontramos este instituto no mbito da
defesa de interesses das comunas e das provncias. Sob a epgrafe de
azione popolare e dele associazione di protezione ambientale
dispe o n. 1 do artigo 9. do Decreto Legislativo italiano n. 267,
de 18 de Agosto de 2000, que qualquer eleitor pode fazer valer em
juzo as aces e os recursos respeitantes s comunas e s
provncias.
52
Vejam-se, a ttulo de exemplo, os artigos 139. e 141. (este
ltimo respeita a aces de classe) do Cdigo do Consumo,
aprovado pelo Decreto Legislativo italiano n. 206, de 6 de
Setembro de 2005, publicado na GU n. 235, de 8 de Outubro de
2005.
A Autarquia como Autora Popular
15
entre outras situaes, no caso de falta de emisso
de um acto administrativo geral obrigatrio, ou de
violao das obrigaes contidas na carta de
servios. Estes recursos so da competncia do juiz
administrativo
53
.
No mbito do procedimento administrativo,
dispe o n. 1 do artigo 9. da Lei italiana n. 241,
de 7 de Agosto de 1990
54
, publicado na GU n.
192, de 18 de Agosto de 1990, que qualquer
pessoa portadora de interesses difusos, que se
encontre constituda como associao, para quem
possam resultar prejuzos do procedimento, tem a
faculdade de intervir neste. Tal como ensina
FRANCESCO CARINGELLA, isto no significa
que estas entidades tenham automaticamente
legitimidade para interpor um recurso contencioso
destinado a fazer valer um interesse qualificado
relativo a um bem da vida
55
.
Segundo FRANCESCO CARINGELLA, a
jurisprudncia italiana fez um esforo de
interpretao para conceder tutela aos interesses
colectivos atravs da construo de um conceito
actualizado de interesses legtimos, que abarca os
interesses supraindividuais. Os interesses difusos
subjectivam-se em grupos sociais organizados de
forma estvel, os quais adquirem deste modo
interesse em agir para poderem tutelar os
interesses da colectividade que representam
56
.
Ainda de acordo com o mesmo autor,
tambm utilizado o critrio da vicinitas na outorga
de legitimidade processual a pessoas singulares, de
acordo com o qual necessrio que o autor seja
portador de um interesse localizado ou localizvel
num local mais ou menos circunscrito. Exemplifica
o autor com a impugnao de uma licena de
construo que afecte o ambiente, para a qual no
53
Cfr. o artigo 1. do Decreto Legislativo italiano n. 198, de 20
de Dezembro de 2009.
54
Que regula o procedimento administrativo e as patologias do
acto administrativo.
55
Cfr. Manuale di diritto amministrativo, Giuffr Editore, Milano,
2007, pp 1041-1044.
56
Cfr. op. cit., pp. 25 e 26.
tem legitimidade qualquer pessoa que se encontre
no territrio comunal no qual a licena se destina a
produzir os seus efeitos, mas apenas as pessoas a
sedeadas com estabilidade, e desde que se
encontrem na proximidade da zona onde o acto
ir produzir os seus efeitos. A pessoa singular pode
actuar em juzo para defesa de aspectos
directamente incidentes na sua esfera individual,
mas sempre em defesa de interesses
supraindividuais, comuns a uma pluralidade de
sujeitos
57
.
PARTE II
A AUTARQUIA LOCAL E A ACO
POPULAR ADMINISTRATIVA
CAPTULO I
A AUTARQUIA LOCAL
3.1-Natureza
De acordo com MARCELLO CAETANO, foi
a doutrina italiana do princpio do sculo XX que
construiu o conceito de autarquia, como noo
distinta da de autonomia
58
. Segundo aquele autor,
a autarquia local no pode ser considerada
meio de administrao indirecta do Estado-
administrao. () as autarquias locais
correspondem a substratos cujos interesses prprios
existem antes e independentemente do Estado
59
,
apesar de no serem soberanas e de ter de haver
uma coordenao de todos os interesses presentes
por parte dos rgos legislativos e do Estado-
administrao.
A expresso autarquia local foi acolhida na
Constituio portuguesa de 1933, bem como na
Reforma Administrativa Ultramarina, promulgada
em Novembro de 1933, cujo artigo 410. rezava
que os concelhos, com o seu corpo administrativo,
57
Cfr. op. cit., p 28.
58
Cfr. MARCELLO CAETANO, in Manual de Direito Admi-
nistrativo, 10. ed., vol. I, Coimbra, 1991, pp. 190-191.
59
Cfr. Idem, pp. 192-193.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
16
constituem autarquias locais dotadas de
personalidade jurdica e de autonomia, nos termos
da presente reforma.
Actualmente, as autarquias locais so pessoas
colectivas de populao e territrio, com rgos
representativos prprios, que visam a prossecuo
de interesses prprios das respectivas populaes
(vide o n. 2 do artigo 235. da CRP). Na definio
que nos dada por JOO CAUPERS, so
pessoas colectivas pblicas de base territorial
correspondentes aos agregados de residentes em
diversas circunscries do territrio nacional, que
asseguram a prossecuo de interesses comuns
resultantes da proximidade geogrfica, mediante a
actividade de rgos prprios representativos das
populaes
6061
.
Estamos perante pessoas colectivas de direito
pblico que so distintas do Estado, so dotadas de
autonomia
62
, patrimnio e finanas prprios
63
e
integram a administrao autnoma
64
. As
autarquias locais so pessoas colectivas de
territrio, o que significa que se encontram
organizadas numa poro de territrio, o qual
delimita o exerccio geogrfico das suas atribuies
e competncias. So ainda pessoas colectivas de
populao, ou seja, os residentes no territrio das
autarquias constituem a sua populao, sendo os
interesses a prosseguir pelas autarquias definidos
60
Cfr. JOO CAUPERS, Introduo ao Direito Administrativo, 10
ed., Lisboa, 2009, p. 136.
61
Vejam-se ainda as noes de autarquia local em MARCELLO
CAETANO, op. cit., p. 193, DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso
de Direito Administrativo, 3. ed., Almedina, Lisboa, 2008, pp. 480-481
e ANTNIO CNDIDO DE OLIVEIRA, Direito das Autarquias
Locais, Coimbra Editora, Braga, 1993, pp. 258-259.
62
Cfr. o n. 1 do artigo 6. da CRP e o n. 1 do artigo 3. da Carta
Europeia da Autonomia Local.
63
Cfr. o n. 1 do artigo 238. da CRP.
64
Cujo conceito, de acordo com Jos Eduardo Figueiredo Dias e
Fernanda Paula Oliveira, composto por vrios elementos
cumulativos: uma colectividade territorial ou outra dotada de
especificidade dentro da colectividade nacional global, o que
pressupe a existncia de interesses prprios, politicamente
relevantes, que reclamam uma esfera de aco prpria; a
prossecuo de interesses especficos dessa colectividade infra-
estadual, o que pressupe uma distino material entre as suas
tarefas e as tarefas do Estado; a administrao feita pelos prprios
administrados mediante rgos prprios (autogoverno); os rgos
gozam de autonomia de aco face ao Estado (Noes Fundamentais
de Direito Administrativo, 3 reimpresso, Almedina, Coimbra, 2009).
em funo dos interesses comuns do seu conjunto
populacional. Por fim, as autarquias esto dotadas
de rgos representativos das populaes que as
integram.
de referir que no conceito de residentes do
territrio autrquico devem considerar-se
integrados quer os cidados portugueses, quer os
cidados estrangeiros, os aptridas e os cidados
europeus. Para ANTNIO CNDIDO DE
OLIVEIRA, a segunda residncia ou o local de
trabalho no conferem o direito de pertena a
uma autarquia
65
.
Enquanto pessoas colectivas pblicas que so, as
autarquias locais: tm capacidade de direito
privado e patrimnio privado, podendo prosseguir
actividades de gesto privada; tm capacidade de
direito pblico, detendo poderes e deveres
pblicos; podem ser titulares de bens pblicos;
esto sujeitas tutela administrativa do Estado;
esto sujeitas jurisdio administrativa no mbito
de relaes jurdicas administrativas e fiscais, bem
como no mbito da competncia consagrada no n.
1 do artigo 4. do ETAF.
A autarquia local assenta sobre o princpio da
descentralizao administrativa, consagrado no n.
1 do artigo 6. e no artigo 237. da CRP, bem
como nos artigos 1. e 2. da LTACA, e no
princpio da autonomia local
66
, que a CEAL
consagra no n. 1 do seu artigo 3. como o
direito e capacidade efectiva de as autarquias locais
regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob
sua responsabilidade e no interesse das respectivas
populaes, uma parte importante dos assuntos
pblicos, parte esta determinvel de acordo com o
princpio da subsidiariedade
67
, consagrado no n. 1
do artigo 6. da CRP, no n. 2 do artigo 2. da
LTACA e no n. 3 do artigo 4. da CEAL.
65
Cfr. ANTNIO CNDIDO DE OLIVEIRA, op. cit., pp. 259-
260.
66
Cfr. o n. 1 do artigo 6. da CRP, o artigo 1. da LTACA e o n. 1
do artigo 3. da Carta Europeia da Autonomia Local, que
consagram este princpio.
67
Neste sentido, vide JOO CAUPERS, op. cit., pp. 136-137.
A Autarquia como Autora Popular
17
Segundo este ltimo normativo, regra geral, o
exerccio das responsabilidades pblicas deve
incumbir, de preferncia, s autoridades mais
prximas dos cidados. A atribuio de uma
responsabilidade a uma outra autoridade deve ter
em conta a amplitude e a natureza da tarefa e as
exigncias de eficcia e economia.
Subdivididas em trs categorias na Constituio
da Repblica Portuguesa de 1976, a saber,
freguesias, municpios e regies administrativas
68
;
at quela data, as autarquias locais existentes em
Portugal eram a freguesia, o concelho e o distrito.
Com a CRP de 1976, o distrito deixou de ser uma
autarquia local, tendo passado a ser uma mera
circunscrio administrativa; manteve-se o
concelho, agora denominado municpio, bem como
a freguesia, e previu-se a criao, no futuro, da
regio administrativa, que substituir a diviso
distrital (vide o n. 1 do artigo 291. da CRP).
Cada uma das autarquias locais est dotada de
rgos prprios: na freguesia, a junta de freguesia e
a assembleia de freguesia; no municpio, a cmara
municipal, a assembleia municipal e o presidente
da cmara municipal.
No existe qualquer hierarquia entre as
autarquias locais, uma vez que so estruturas
territorialmente independentes, apesar de se prever
a participao de rgos das juntas de freguesia nas
assembleias municipais do municpio sedeado no
mesmo territrio.
A par destas categorias, temos as associaes
municipais de fins mltiplos ou comunidades
intermunicipais institudas pela Lei n. 45/2008,
de 27 de Agosto, que so associaes de autarquias
locais, mas no autarquias locais e as associaes de
freguesias, previstas na Lei n. 175/99, de 21 de
Setembro, que, semelhana das comunidades
intermunicipais, tambm no so autarquias
locais
69
.
68
Cfr. o n. 1 do artigo 236. da CRP.
69
Cfr. o artigo 10. da CEAL e os artigos 247. e 253. da CRP.
A Lei n. 44/91, de 2 de Agosto criou as reas
metropolitanas de Lisboa e do Porto, cujo regime
jurdico foi depois alterado pela Lei n. 10/2003,
de 13 de Maio, a qual foi revogada pela Lei n.
45/2008. Nas suas disposies transitrias e
finais
70
, este diploma prev a obrigatoriedade de
aquelas se converterem em comunidades
intermunicipais em certo prazo, sob pena de se
transformarem automaticamente em associaes
de municpios de fins especficos, ou seja, em
pessoas colectivas de direito privado para a
realizao em comum de interesses especficos dos
municpios que dela fazem parte, na defesa de
interesses colectivos de natureza sectorial, regional
ou local
71
.
DIOGO FREITAS DO AMARAL imputa a
estas formas de cooperao intermunicipal a
desconformidade com a Constituio da Repblica
Portuguesa, quer em virtude do princpio da
tipicidade da noo de autarquia constante do n.
1 do artigo 236., quer pela concesso de poder
regulamentar a estas entidades, cujos rgos
deliberativos no tm legitimidade democrtica
directa (vide o artigo 243. da CRP)
72
.
Nem a CRP, nem a actual LAL nos do uma
definio de regio, de municpio ou de freguesia.
DIOGO FREITAS DO AMARAL prope os
seguintes conceitos: as regies so autarquias
locais supramunicipais, que visam a prossecuo
daqueles interesses prprios das respectivas
populaes que a lei considere serem mais bem
geridos em reas intermdias entre o escalo
nacional e o escalo municipal; o municpio a
autarquia local, que visa a prossecuo de
interesses prprios da populao residente na
circunscrio concelhia, mediante rgos
representativos por ela eleitos; as freguesias
so as autarquias locais que, dentro do territrio
municipal, visam a prossecuo de interesses
70
Cfr. os artigos 38. e 39. da Lei n. 45/2008, de 27 de Agosto.
71
Cfr. o n. 4 do artigo 2. da Lei n. 45/2008, de 27 de Agosto.
72
Cfr. op. cit., pp. 630 e ss..
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
18
prprios da populao residente em cada
circunscrio paroquial
73
.
3.2-Atribuies e competncias
Enquanto pessoas colectivas, as autarquias locais
so dirigidas por rgos, os quais esto investidos
dos poderes necessrios que lhes permitem
expressar a vontade daquelas, tomando decises
em seu nome, destinadas prossecuo dos
respectivos fins.
As autarquias locais actuam no interesse das
respectivas populaes e na medida desse interesse
(vide o n. 2 do artigo 235. da CRP e o n. 1 do
artigo 3. da CEAL).
A noo tradicional de assuntos locais ou de
assuntos prprios das autarquias uma noo
imprecisa, que no reflecte com exactido
determinadas realidades, como as que reclamam
actuaes de vrias entidades para resoluo do
mesmo assunto, alm de sugerir um papel de
menor importncia actuao das autarquias
locais
74
.
Esta noo tradicional foi preterida na CEAL e
na nossa CRP em benefcio de um entendimento
segundo o qual as autarquias locais tm um direito
de deciso prpria nos assuntos que podem ser
tratados a nvel local, a delimitar das tarefas que
incumbem Administrao Pblica, em virtude da
sua proximidade aos respectivos agregados
populacionais. As autarquias tm o direito de
intervir em todos os assuntos que interessem s
respectivas populaes e tm o direito de intervir
nas decises que se vo repercutir no seu territrio,
tomadas por outras entidades
75
.
Para concretizao dos interesses das respectivas
populaes, as autarquias locais so dotadas de
atribuies e competncias. Assim, nos termos do
73
Cfr. op. cit., pp. 507, 526 e 658.
74
Neste sentido, veja-se ANTNIO CNDIDO DE OLIVEIRA,
op. cit., pp. 189-196.
75
Cfr. Idem, p. 195.
n. 1 do artigo 237. da CRP, as atribuies e a
organizao das autarquias locais, bem como a
competncia dos seus rgos, sero reguladas por
lei, de harmonia com o princpio da
descentralizao administrativa
76
, o que
reafirmado no artigo 1. e no n. 1 do artigo 2. da
LTACA, com a finalidade de assegurar o reforo
da coeso nacional e da solidariedade inter-
regional, bem como a eficincia e a eficcia da
gesto pblica, assegurando os direitos dos
administrados.
Por outro lado, as atribuies e competncias
resultantes da descentralizao administrativa
visam concretizar o princpio da subsidiariedade, na
medida em que se pretende assegurar que aquelas
sejam exercidas pela Administrao que se
encontra mais prxima dos cidados, de forma
racional e eficaz
77
.
De acordo com o artigo 4. da CEAL: as
atribuies das autarquias locais so fixadas pela
Constituio ou pela lei, o que no impede a
atribuio s autarquias de competncias para fins
especficos; as autarquias locais tm liberdade de
iniciativa relativamente a qualquer questo que
no seja excluda da sua competncia ou atribuda
a outra autoridade; as atribuies das autarquias
locais devem ser normalmente plenas e
exclusivas (cfr. os n.s 1, 2 e 4 do artigo 4. da
CEAL).
Cumpre distinguir entre a noo de atribuies
e a de competncias, at em virtude da utilizao
indistinta que o legislador, por vezes, faz de ambas.
Atribuies so os fins ou interesses que a lei
coloca a cargo das pessoas colectivas pblicas.
Competncias so o conjunto de poderes, jurdicos
ou funcionais, que a lei coloca a cargo dos rgos
das pessoas colectivas pblicas para a prossecuo
das atribuies das pessoas colectivas pblicas a
76
Cfr. tambm o n. 1 do artigo 6. da CRP.
77
Cfr. o n. 2 do artigo 2. da LTACA, o n. 1 do artigo 6. da CRP
e o n. 3 do artigo 4. da CEAL.
A Autarquia como Autora Popular
19
que pertencem. As atribuies reportam-se
pessoa colectiva e as competncias aos rgos.
Os rgos das autarquias locais esto limitados
na sua actuao pelas atribuies da pessoa
colectiva em nome de quem actuam, no podendo
praticar actos sobre matria estranha s atribuies
da pessoa colectiva a que pertencem, sob pena de
nulidade, de harmonia com o disposto na al. b) do
n. 2 do artigo 133., do CPA; por outro lado,
esto limitados pela respectiva competncia legal,
no podendo invadir a esfera de competncia de
outros rgos, nem podendo renunciar sua
competncia prpria
78
, sob pena de anulabilidade,
segundo o disposto no artigo 135., do CPA.
Do princpio da legalidade da competncia (cfr.
artigo 29. do CPA) decorre que esta no se
presume
79
e que ela imodificvel, irrenuncivel e
inalienvel.
A sobreposio de atribuies, como sucede, a
ttulo de exemplo, com as atribuies do
municpio e da freguesia no tocante proteco do
ambiente, bem como a considerao de que faltam
atribuies para prosseguir um determinado
interesse por parte de dois ou mais rgos das
autarquias locais pode conduzir a um conflito de
atribuies, que no primeiro caso ser positivo e,
no segundo, negativo, cabendo aos tribunais decidir
tais conflitos, nos termos do disposto na al. a) do
n. 2 do artigo 42. do CPA. J os conflitos de
competncia so resolvidos pelo rgo de menor
categoria hierrquica que exercer poderes de
superviso sobre os rgos envolvidos
80
.
As atribuies dos municpios encontram-se
enumeradas de forma taxativa, respectivamente,
nos artigos 13. e 14. da LTACA
81
, o que
severamente criticado por DIOGO FREITAS DO
AMARAL, que considera que o desaparecimento
78
Cfr. o n. 1 do artigo 3. e o n. 1 do artigo 29., do CPA.
79
Isto , s h competncia quando a lei a outorga a um rgo.
80
Cfr. o n. 3 do artigo 42. do CPA.
81
Sendo desenvolvidas nos artigos 16. e seguintes do mesmo
diploma legal.
da clusula geral do elenco de atribuies das
freguesias e dos municpios significa um retrocesso
ao perodo anterior ao 25 de Abril e uma
contradio relativamente ao princpio da
subsidiariedade que a CRP e a LTACA
consagram
82
. De acordo com o autor, a
enumerao taxativa das atribuies das freguesias
e dos municpios impede, na prtica, o recurso ao
princpio da subsidiariedade como critrio de
prossecuo de fins de interesse pblico.
Temos para ns que o princpio da
subsidiariedade subjaz fixao legal de atribuies
e competncias a favor das autarquias locais, sendo
a que deve estar localizada a sua relevncia. Sem
que lhe estejam prvia e legalmente fixadas
atribuies e competncias, as autarquias no
podem actuar, sob pena de a sua actuao ser
considerada invlida.
Por outro lado, h competncias legais das
autarquias na LAL que no encontram
propriamente uma cobertura directa nas
atribuies constantes dos artigos 13. e 14. da
LTACA, o que nos permite afirmar que as
autarquias prosseguem outros fins para alm dos
que lhe so especificamente fixados naqueles
preceitos legais. Atrevemo-nos a dizer que, atenta a
utilizao indistinta do termo atribuies e
competncias por parte do legislador, as autarquias
locais tm competncias que, no fundo, so
verdadeiras atribuies. Veja-se, a ttulo de
exemplo, a competncia do presidente da cmara
municipal vertida na alnea a) do n. 1 do artigo
68., de representao do municpio em juzo e
fora dele. No encontramos ns aqui uma
atribuio genrica da prpria autarquia
83
de
representao do concelho, tal como constava do
artigo 56. do CA?
A competncia de cada um dos rgos do
municpio e da freguesia encontra-se regulada na
82
Cfr. FREITAS DO AMARAL, op. cit., pp. 560-561.
83
Apesar de a competncia estar atribuda ao rgo da autarquia,
presidente da cmara.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
20
LAL. O artigo 17. consagra a competncia da
assembleia de freguesia; o artigo 34., a da junta de
freguesia; o artigo 53., a da assembleia municipal,
o artigo 64., a da cmara municipal e o artigo 68.,
a do presidente da cmara.
No obstante as vrias transferncias de
atribuies e competncias entretanto j operadas
para as autarquias locais, a verdade que h uma
panplia de atribuies e competncias constantes
do Captulo III da LTACA que ainda no foi
objecto de descentralizao, tendo o legislador
vindo a prorrogar sucessivamente o prazo de 4
anos previsto no n. 1 do artigo 4. da LTACA
84
.
A recente Resoluo do Conselho de Ministros
n. 40/2011, de 8 de Setembro, publicada no
Dirio da Repblica I Srie, n. 183, de 22 de
Setembro de 2011, consagra os princpios
orientadores da reforma da administrao local
autrquica que o Governo pretende imprimir,
entre outros, nos domnios da organizao do
territrio e das atribuies e competncias das
autarquias e das comunidades intermunicipais, pelo
que so expectveis grandes alteraes nestas
matrias no ordenamento jurdico portugus.
3.3-Territrio
De acordo com o disposto no n. 4 do artigo
236. da CRP, a diviso administrativa do
territrio ser estabelecida por lei.
Como ensina DIOGO FREITAS DO
AMARAL, o territrio autrquico constitui uma
parte do territrio do Estado que se apelida de
circunscrio administrativa. Esta no se confunde
com a autarquia local, que a pessoa colectiva que
se organiza em torno dessa poro de territrio
85
.
84
Cfr. as Leis n.s 107-B/2003, de 31/12, 55-B/2004, de 30/12, 60-
A/2005, de 30/12, 53-A/2006, de 29/12, 67-A/2007, de 31/12, 64-
A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04 e 55-A/2010, de 31/12,
ltimo diploma este que prorrogou o prazo em apreo at 31 de
Dezembro de 2011.
85
Cfr. FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 482.
Note-se, porm, que a parte do territrio do
Estado que faz parte do territrio autrquico no
inclui o espao areo, ou seja, as camadas areas
superiores aos terrenos e s guas do domnio
pblico, bem como as situadas sobre qualquer
imvel do domnio privado para alm dos limites
fixados na lei em benefcio do proprietrio do
solo, nem integra as guas territoriais com os seus
leitos, as guas martimas interiores com os seus
leitos e margens e a plataforma continental, nem
os lagos, lagoas e cursos de gua navegveis ou
flutuveis com os respectivos leitos e margens e,
bem assim, os que por lei forem reconhecidos
como aproveitveis para produo de energia
elctrica ou para irrigao, nem os jazigos
minerais e petrolferos, as nascentes de guas
mineromedicinais, os recursos geotrmicos e outras
riquezas naturais existentes no subsolo
86
.
O territrio de uma autarquia local permite-nos
saber qual o agregado de pessoas cujos interesses
ho-de constituir os fins especficos da autarquia, o
que nos dado a conhecer pela residncia desse
agregado no espao da circunscrio. Alm disso,
em funo do lugar que se delimita o exerccio das
atribuies e competncias das autarquias, uma vez
que estas apenas podem actuar no espao da sua
circunscrio
87
.
As comunidades intermunicipais correspondem,
no aos limites territoriais das freguesias que delas
fazem parte, mas a uma ou mais unidades
territoriais definidas com base nas chamadas
Nomenclaturas das Unidades Territoriais
Estatsticas (NUTS)
88
.
86
Cfr. as alneas a), b), f) e g) do artigo 4. do D.L. n. 477/80, de
15 de Outubro.
87
Cfr. MARCELLO CAETANO, op. cit., p. 309.
88
Foi a RCM n. 34/86, de 26 de Maro que comeou por definir
as denominadas NUTS, constitudas por trs nveis de agregao
para unidades territoriais, os nveis I, II e III, correspondentes a
caractersticas especficas nacionais e a condicionantes e objectivos
de espao das polticas nacionais de desenvolvimento regional. Esta
diviso foi importada da Comunidade Econmica Europeia, com o
objectivo de harmonizao da informao estatstica regional. Hoje,
elas encontram-se consagradas no D.L. n. 46/89, de 15 de
Fevereiro, na sua redaco actual (a ltima alterao foi efectuada
pela Lei n. 21/2010, de 23 de Agosto). Atravs do D.L. n. 68/2008,
de 14 de Abril, o Governo definiu as unidades territoriais, para
A Autarquia como Autora Popular
21
As associaes de freguesias integram o
territrio que corresponde ao somatrio de cada
uma das freguesias associadas.
Cada municpio tem como limites territoriais os
que correspondem aos limites das freguesias que
dele fazem parte. As freguesias que integram cada
municpio constam do mapa de circunscries
administrativas anexo ao CA, aprovado pelo D.L.
n. 78/84, de 8 de Maro.
A Assembleia da Repblica a entidade
competente para alterar e fixar os limites
administrativos
89
(vide artigo 1. da Lei n. 11/82,
de 2 de Junho).
Por seu turno, o Instituto Geogrfico Portugus
detm actualmente competncia para delimitar os
limites administrativos das circunscries
territoriais das freguesias para efeitos cadastrais e
cartogrficos (cfr. os artigos 13. e 14. do D.L. n.
172/95, de 18 de Julho)
90
, sendo que, em caso de
desacordo quanto delimitao territorial entre
freguesias, o Instituto Geogrfico Portugus define
limites administrativos com carcter provisrio, os
quais apenas so vlidos para efeitos dos
procedimentos administrativos em que a
informao vai ser usada
91
.
efeitos de organizao territorial das associaes de municpios e
das reas metropolitanas, as quais, por seu turno, so definidas
com base nas NUTS de nvel III (cfr. o n. 1 do artigo 2. do D.L. n.
68/2008, na sua redaco actual). Veja-se ainda, a respeito da
instituio das NUTS ao nvel comunitrio, o Regulamento (CE)
n. 1059/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
Maio.
89
Neste sentido, veja-se FREITAS DO AMARAL, op. cit., p. 545.
90
O D.L. n. 142/82, de 26 de Abril atribuiu ao Instituto
Geogrfico e Cadastral a competncia exclusiva para a elaborao e
conservao da cartografia de base para a elaborao da Carta
Cadastral de Portugal. Posteriormente, o D.L. n. 172/95, de 18 de
Julho aprovou o Regulamento do Cadastro Predial, revogando os
artigos 1. a 18., 26. e 28. do D.L. n. 142/82, e consagrando
novas regras relativas s operaes de execuo do cadastro, no
mbito das quais o Instituto detm competncia para aprovar a
delimitao territorial das circunscries territoriais das freguesias,
embora sujeita aprovao das assembleias municipais dos
municpios interessados e das assembleias de freguesia das
freguesias delimitadas e das contguas destas. O D.L. n. 224/2007,
de 31 de Maio veio aprovar um regime experimental relacionado
com a informao cadastral, restrito s freguesias nele identificadas
(alterado pelo D.L. n. 65/2011, de 16 de Maio).
91
Cfr. o ponto 4 do Despacho Conjunto n. 542/99, de 31 de
Maio de 1999, publicado no Dirio da Repblica II Srie, n. 156,
de 7 de Julho, dos Ministrios dos Negcios Estrangeiros, do
Equipamento, do Planeamento e da Administrao do Territrio e
do Ambiente.
Nos termos do Despacho Conjunto n. 542/99,
o Instituto Portugus de Cartografia e Cadastro
(hoje, Instituto Geogrfico Portugus), foi
incumbido de elaborar uma carta administrativa
oficial com o registo da delimitao e demarcao
das circunscries administrativas de Portugal. De
harmonia com o n. 3 do artigo 3. do Decreto
Regulamentar n. 10/2009, de 29 de Maio, a
cartografia a utilizar para efeitos de delimitao dos
limites administrativos a que consta da Carta
Administrativa Oficial de Portugal, publicada pelo
Instituto Geogrfico Portugus.
Tambm a CEAL estipula no seu artigo 5. que
as autarquias locais interessadas devem ser
consultadas previamente no tocante a alteraes a
efectuar aos limites territoriais locais.
Os municpios podem ser classificados em
categorias diferentes, o que no deve ser
confundido com a classificao das povoaes
enquanto aglomerados urbanos, competindo ao
Governo proceder a essa classificao, de harmonia
com o disposto no artigo 6. do CA.
CAPTULO II
O DIREITO DE ACO POPULAR
3.4-A aco popular
A aco popular configura um dos meios
atravs dos quais os membros de uma comunidade
tm a faculdade de participar na respectiva vida
pblica. Na redaco actual do n. 3 do artigo 52.
da CRP, conferido a todos o direito de aco
popular.
A LAP atribui a titularidade do direito de aco
popular aos cidados, s associaes e fundaes,
independentemente de terem ou no interesse
directo na demanda, e s autarquias locais.
O n. 2 do artigo 9. do CPTA dispe que,
independentemente de terem interesse pessoal na
demanda, qualquer pessoa, as associaes e
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
22
fundaes, as autarquias locais e o Ministrio
Pblico tm legitimidade para propor e intervir em
processos principais e cautelares destinados
defesa dos valores e bens constitucionalmente
protegidos a indicados.
Entre a disposio constitucional, a LAP e a
norma do n. 2 do artigo 9. do CPTA no existe
uma identidade de previses normativas, o que
importa analisar.
Assim, o direito de aco popular conferido a
todos pela CRP. Por seu turno, a LAP diz-nos que
todos so os cidados no gozo dos seus direitos
civis e polticos, as associaes e fundaes
defensoras dos interesses protegidos e as autarquias
locais. Por ltimo, o CPTA dispe que todos so
qualquer pessoa, as associaes e fundaes, as
autarquias locais e o Ministrio Pblico, nos
termos previstos na lei.
Segundo JORGE MIRANDA e PEDRO
MACHETE
92
, quando se refere a todos, a CRP
parece pretender significar que a aco popular
para defesa dos bens do Estado, das regies
autnomas ou das autarquias locais est reservada
aos portugueses, aos cidados de pases de lngua
portuguesa com estatuto de igualdade de direitos
polticos e aos cidados de outros pases com
capacidade eleitoral relativa aos rgos das
autarquias locais, no domnio local, por se tratar de
um direito poltico. J no tocante aco popular
para defesa dos interesses difusos (que constam da
alnea a) do n. 3 do artigo 52. da CRP), a
legitimidade activa pertenceria a quaisquer pessoas
que se encontrem ou residam em territrio
nacional
93
, uma vez que a no estariam em causa
direitos polticos. Como bem esclarecem os
autores, a insero sistemtica do preceito no
pode valer contra o seu sentido literal e
teleolgico, pelo que o direito nele consagrado no
92
Cfr. JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, Constituio
Portuguesa Anotada, Tomo I, 2 ed., Wolters Kluwer, Coimbra,
anotao ao artigo 52. da CRP, por JORGE MIRANDA e PEDRO
MACHETE, p. 1027.
93
Cfr. o n. 1 do artigo 15. da CRP.
se restringe a cidados nacionais (e a estrangeiros
residentes em Portugal a quem, em condies de
reciprocidade, o mesmo direito tenha sido
reconhecido artigo 15., n.s 2, 3 e 4)
94
.
O direito de aco popular conferido a
todos nos casos e termos previstos na lei, o que
significa que o n. 3 do artigo 52. da CRP tem de
ser conjugado com a legislao ordinria existente
em cada caso, na qual se consagra a legitimidade
activa para a instaurao da aco popular.
Sucede que a LAP atribui o direito de aco
popular aos cidados no gozo dos seus direitos civis
e polticos, e o n. 2 do artigo 9. do CPTA atribui
o direito de aco popular a qualquer pessoa, nos
termos previstos na lei. Com JORGE MIRANDA
e PEDRO MACHETE, consideramos que esta
ltima previso legal supera as limitaes impostas
pela LAP quanto legitimidade processual de
estrangeiros e aptridas, uma vez que a remisso
para a LAP apenas opera quanto aos aspectos no
especificamente regulados no CPTA, como ser o
caso da legitimidade processual activa
95
.
Alis, temos dvidas acerca da conformidade
constitucional da limitao estipulada no n. 1 do
artigo 2. da LAP, bem como da conformidade
desta previso legal com o TFUE
96
, por fora do
disposto no artigo 8. da CRP. No obstante, os
tribunais administrativos tm vindo a considerar
que apenas so titulares do direito de aco
popular os cidados que se encontrem no gozo dos
seus direitos civis e polticos, ou seja, os eleitores.
Refira-se ainda, a ttulo de curiosidade, que o
projecto de lei n. 502/VI, da autoria do Deputado
Rui Machete, publicado no Dirio da Assembleia
da Repblica (DAR), II Srie, de 24 de Fevereiro
de 1995, previa no n. 2 do seu artigo 3. a
94
Cfr. op. cit., p. 1035.
95
Cfr. op. cit., p. 1041.
96
Nos termos do disposto na alnea b) do n. 2 do artigo 20. do
TFUE, os cidados da Unio gozam dos direitos e esto sujeitos aos
deveres previstos nos Tratados, nomeadamente, do direito de eleger
e ser eleito nas eleies municipais do Estado-Membro de
residncia, nas mesmas condies que os nacionais desse Estado.
A Autarquia como Autora Popular
23
titularidade do direito de aco popular por parte
dos estrangeiros e aptridas residentes em Portugal,
texto este que no ficou vertido na LAP.
Vrios so os autores que defendem que a
aco popular no consubstancia um novo meio
processual, mas apenas um alargamento da
legitimidade que atribuda aos seus titulares para
defesa dos bens a que se refere o n. 2 do artigo 1.
da LAP, o n. 2 do artigo 9. do CPTA e o n. 3 do
artigo 52. da CRP
97
.
Concordamos com tal posio, pois, em boa
verdade, a aco popular exerce-se mediante a
instaurao dos meios contenciosos j existentes,
quer no processo civil (aces e procedimentos
cautelares), quer no processo administrativo
(processos principais e cautelares). O que os artigos
13. e seguintes da LAP contm so
especificidades da tramitao processual das aces
populares que tm de ser tidas em considerao
em cada meio processual utilizado pelo autor
popular, ao abrigo do CPTA.
No tocante competncia material dos
tribunais, dispe a alnea l) do n. 1 do artigo 4.
do ETAF que os tribunais administrativos so
competentes para apreciar os litgios que tenham
por objecto promover a preveno, cessao e
reparao de violaes a valores e bens
constitucionalmente protegidos, em matria de
sade pblica, ambiente, urbanismo, ordenamento
do territrio, qualidade de vida, patrimnio cultural
e bens do Estado, quando cometidas por entidades
pblicas, e desde que no constituam ilcito penal
ou contra-ordenacional. Sendo a enumerao
meramente exemplificativa, tambm se integram
aqui os bens das regies autnomas e das
autarquias locais, em consonncia, alis, com o n.
2 do artigo 9. do CPTA.
97
Cfr. JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, op. citada, p. 1032;
MRIO AROSO DE ALMEIDA, O Novo Regime do Processo nos
Tribunais Administrativos, Almedina, 3. ed. revista e actualizada,
2004, p. 29; IDEM, Manual de Processo Administrativo, Almedina,
2010, p. 227.
A competncia dos tribunais administrativos
para a tutela daqueles bens afere-se pela natureza
da entidade que comete a violao dos mesmos, a
qual tem de ser uma entidade pblica, ou seja, o
litgio submetido apreciao dos tribunais
administrativos tem de resultar de um
comportamento, activo ou omissivo, ou de um
acto jurdico adoptado por uma entidade pblica.
Para MRIO ESTEVES DE OLIVEIRA e
RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, a
competncia pertence aos tribunais administrativos
independentemente da natureza privada ou
administrativa desse comportamento, omisso ou
acto
98
.
Por seu turno, MRIO AROSO DE
ALMEIDA defende que o critrio a adoptar para
se saber se um determinado caso concreto est
inserido na jurisdio dos tribunais administrativos
o de comear por verificar se existe disposio
legal que d resposta expressa a essa questo,
disposio que tanto pode estar inserida em
legislao avulsa, como no prprio ETAF, como
sucede com o seu artigo 4.. S em relao s
matrias que no sejam objecto de consagrao
especfica nem no artigo 4. do ETAF, nem em
legislao avulsa, que h que lanar mo do
disposto no n. 1 do artigo 1. do ETAF, ou seja, s
ento cumpre apreciar se estamos perante uma
relao jurdica administrativa
99
.
Outro tem sido, no entanto, o entendimento da
jurisprudncia, que defende que a competncia dos
tribunais administrativos para apreciar os litgios
que se inscrevam no mbito da matria dos
interesses difusos depende da existncia de uma
relao jurdica administrativa. No obstante, existe
um Ac. do TCN de 28 de Setembro de 2010,
tirado no processo n. 23/09, em que se decide
pela competncia material dos tribunais
98
Neste sentido, ver os autores no Cdigo de Processo nos Tribunais
Administrativos e Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
Anotados, vol. I, reimpresso da edio de Nov. de 2004, Almedina,
2006, p. 62.
99
Cfr. MRIO AROSO DE ALMEIDA, Manual, pp. 156-159.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
24
administrativos para decidir uma aco popular
instaurada pela Junta de Freguesia de Cafede, em
Castelo Branco, contra particulares para defesa do
domnio pblico local
100
.
De facto, o n. 3 do artigo 212. da CRP
delimita o mbito da jurisdio administrativa em
funo dos litgios emergentes das relaes
jurdicas administrativas
101
, o que reafirmado
pelo n. 1 do artigo 1. do ETAF, parecendo, assim,
fazer apelo distino entre o direito pblico e o
direito privado
102
.
A reforma do contencioso administrativo
entrada em vigor em 2004 admite que os tribunais
administrativos tenham competncias para
resoluo de litgios no includos na clusula geral
do n. 3 do artigo 212. da CRP, o que, de acordo
com JOS CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,
deve ser entendido no sentido de que o preceito
constitucional apenas tem o alcance de consagrar
os tribunais administrativos como os tribunais
comuns em matria administrativa
103
, estando
sujeitos sua jurisdio questes privadas, como
sucede com contratos puramente privados
resultantes de um procedimento pr-contratual
regulado por normas de direito pblico, e estando
dela excludas questes pblicas, como sucede, por
exemplo, com os actos materialmente
administrativos do Presidente do STJ, do Conselho
Superior da Magistratura e seu Presidente.
A respeito da alterao operada Lei de Bases
do Ambiente
104
, que alargou a jurisdio
administrativa em matria ambiental, CARLA
AMADO GOMES defende que, apesar de a alnea
l) do n. 1 do artigo 4. do ETAF parecer excluir a
100
Cfr. http://jusnet.coimbraeditora.pt/, com a referncia
5154/2010.
101
As quais, segundo JOS CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,
constituem uma relao jurdica de direito administrativo, ou seja,
aquela em que uma das partes uma entidade pblica ou uma
entidade particular no exerccio de um poder pblico, que actua
para realizao de um interesse pblico. Cfr. A Justia Administrativa
(Lies), 7. Ed., Almedina, pp. 54-55.
102
Cfr. Idem, pp. 55-56.
103
Cfr. op. cit., p. 113.
104
Atravs da Lei n. 13/2002, de 19 de Fevereiro.
iniciativa processual do autor popular quando
estejam em causa violaes cometidas por
entidades privadas, que no exercem funes
materialmente administrativas, isso no ser
admissvel, sob pena de violao da reserva
material de jurisdio administrativa
105
, pelo que
esto tambm abrangidas na jurisdio
administrativa as violaes levadas a cabo por
particulares, desde que a sua actividade seja
titulada por um acto de autorizao sujeito a
deveres de fiscalizao, apenas estando excluda da
jurisdio administrativa a situao em que no
existe uma autorizao
106
.
A propsito da questo levantada por CARLA
AMADO GOMES, MRIO AROSO DE
ALMEIDA diz-nos que o objectivo do preceito o
de ampliar o mbito das competncias da
jurisdio administrativa em matria ambiental,
no tendo o sentido de excluir da jurisdio
administrativa as violaes aos valores indicados na
al. l) do n. 1 do artigo 4. do ETAF por entidades
privadas, seja com a anuncia da Administrao,
seja com a sua omisso de cumprimento de
deveres de vigilncia da observncia de normas de
direito administrativo pelos privados, posto que as
aces destinadas a prevenir, a fazer cessar ou a
reparar actividades privadas lesivas dos valores
referidos na alnea mencionada s esto excludas
da jurisdio administrativa quando no
representem o exerccio de funes materialmente
administrativas, nem sejam reguladas por normas
de direito administrativo
107
.
De acordo com JOS MANUEL SRVULO
CORREIA, se se entender que a funo
objectivista do contencioso administrativo continua
a reportar-se eliminao de comandos ilegais e
105
Cfr. CARLA AMADO GOMES, A ecologizao da Justia
Administrativa: brevssima nota sobre a alnea l) do n. 1 do artigo
4. do ETAF, in Revista Jurdica do Urbanismo e do Ambiente, Lisboa,
Fevereiro de 2004, pp. 25-41.
106
Neste sentido, veja-se CARLA AMADO GOMES, Aco
pblica e aco popular na defesa do ambiente Reflexes breves,
in Em Homenagem ao Professor Dr. Diogo Freitas do Amaral, Almedina,
Nov. 2010, pp. 1181-1207.
107
Cfr. Manual, pp. 172-173.
A Autarquia como Autora Popular
25
que a funo subjectivista est relacionada apenas
com a reintegrao de direitos subjectivos e
interesses individuais legalmente protegidos, a
aco popular para defesa de interesses
metaindividuais constitui um tertium genus, com
uma funo metasubjectivista
108
.
Para o mesmo autor, a abertura da justia
administrativa iniciativa processual cvica tem
dois objectivos: impede que o controlo da
Administrao fique dependente da subjectivao
dos interesses lesados; e alarga o direito de
participao dos cidados na actividade
administrativa
109
.
3.5-Os bens e os interesses tutelados
O direito de aco popular est consagrado para
defesa de bens que a CRP enumera a ttulo
exemplificativo e que a lei deve tipificar (princpio
da tipicidade legal da aco popular).
O n. 3 do artigo 52. da CRP enumera como
bens protegidos pela aco popular a sade pblica,
o ambiente, a qualidade de vida, a proteco do
consumo de bens e servios, o patrimnio cultural
e os bens das pessoas colectivas a indicadas. O n.
2 do artigo 9. do CPTA acrescenta a estes bens o
urbanismo e o ordenamento do territrio, mas
subtrai a proteco do consumo de bens e servios.
A CRP menciona os bens do Estado, das
regies autnomas e das autarquias locais, o
mesmo sucedendo com o CPTA. J a LAP refere-
se ao domnio pblico. Devemos questionar se os
bens do Estado, das regies autnomas e das
autarquias locais que podem ser protegidos atravs
da aco popular so diversos nos diplomas em
apreo.
Uma vez que o legislador constitucional no
distingue, diremos ns que no compete ao
108
Cfr. op. cit., p. 590-591.
109
Cfr. Idem, p. 592.
intrprete distinguir, englobando-se nos bens em
apreo o domnio pblico e o domnio privado
110
.
Os bens do domnio privado, ou bens
patrimoniais, tambm podem realizar as
necessidades dos membros de uma colectividade,
tal como sucede com os bens do domnio pblico,
embora estes ltimos estejam fora do comrcio
jurdico privado em virtude da sua afectao a fins
de utilidade pblica.
O D.L. n. 477/80, de 15 de Outubro, criou o
inventrio dos bens do Estado, entre os quais se
contam os bens do domnio pblico, os bens do
domnio privado e o patrimnio financeiro do
Estado (cfr. artigo 3. do diploma). No quadro do
domnio privado, o diploma faz ainda uma
distino entre o domnio privado disponvel e o
domnio privado indisponvel, sendo que este
ltimo, apesar de inserido no comrcio jurdico
privado, aproxima-se do domnio pblico (cfr.
artigo 5. do diploma).
O D.L. n. 280/2007, de 7 de Agosto, instituiu
regras gerais sobre a gesto de bens imveis do
Estado, das Regies Autnomas e das autarquias
locais, bem como de gesto de imveis do domnio
privado do Estado e dos institutos pblicos.
JORGE MIRANDA e PEDRO MACHETE
fazem uma restrio no tocante aos bens do
domnio pblico. Consideram que se o aspecto
comum o do interesse na fruio de bens
indivisveis, sejam colectivos ou comuns, ento, de
entre os bens dominiais apenas relevam os que so
susceptveis de uso comum e relativamente aos
quais cada um possa tirar um proveito pessoal.
Exemplificam estes bens com o mar, os rios, as
estradas, um monumento nacional, coleces de
arte, bibliotecas pblicas, hospitais e escolas
pblicas. Fora do elenco deste tipo de bens
estariam bens como os quartis, as esquadras de
110
Neste sentido, cfr. MRIO ESTEVES DE OLIVEIRA;
RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, op. cit., p. 164.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
26
polcia, equipamento militar ou sistemas de
armas
111
.
O legislador consagrou na LAP como bens
susceptveis de tutela os do domnio pblico,
ignorando os bens patrimoniais ou de direito
privado que satisfazem necessidades colectivas. Em
nosso entender, esta ausncia da LAP impediria a
tutela efectiva de bens patrimoniais, caso o n. 2
do artigo 9. do CPTA no consagrasse a tutela de
bens do Estado, das regies autnomas e das
autarquias locais nos mesmos moldes em que ela
est prevista na Constituio portuguesa
112
.
J MRIO AROSO DE ALMEIDA e
CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA
consideram que, no obstante a formulao verbal
do n. 2 do artigo 9. do CPTA, a legitimidade
activa deste normativo apenas respeita aos bens
dominiais, visto os bens do domnio privado das
pessoas colectivas pblicas se encontrarem sujeitos
ao comrcio jurdico de direito privado, para cujos
litgios so competentes os tribunais judiciais
113
.
O grau de conexo que se estabelece ou pode
estabelecer-se entre os interessados e os bens
protegidos revela-nos os interesses tutelados.
Os autores que se debruam
pormenorizadamente sobre esta matria
distinguem trs categorias de interesses susceptveis
de tutela por via da aco popular. So eles: os
interesses difusos, os interesses colectivos e os
interesses individuais homogneos. H depois
quem faa corresponder os interesses difusos aos
interesses difusos em sentido estrito e os demais
interesses mencionados aos interesses difusos em
sentido amplo.
111
Cfr. JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, op. cit., p. 1034.
112
No contencioso civil, tutelam-se apenas os bens do domnio
pblico (veja-se o artigo 26.-A, do CPC), parecendo estar fora do
mbito da tutela popular os bens patrimoniais ou de direito
privado de qualquer das pessoas colectivas pblicas a que se refere a
al. b), do n. 3, do art. 52. da CRP, mesmo considerando que a
enumerao constante do preceito legal referido exemplificativa.
113
Cfr. op. cit., p. 75.
Os interesses difusos correspondem a situaes
jurdicas materiais supraindividuais ou
metaindividuais, indivisveis, insusceptveis de
apropriao individual, intransmissveis e
irrenunciveis, pertencentes a todas as pessoas que
faam parte da comunidade, enquanto o fizerem,
susceptveis de fruio individual, mas no
mensurveis. So os interesses difusos em sentido
estrito.
De acordo com JORGE MIRANDA e PEDRO
MACHETE, mesmo quando a prossecuo de
interesses difusos esteja atribuda a entidades
pblicas, como sucede com a proteco da sade,
que constitui uma incumbncia prioritria do
Estado, mantm-se o carcter comunitrio ou
difuso do interesse, que pode coincidir ou
sobrepor-se com interesses pblicos ou com
direitos subjectivos, como sucede com a emisso
de gases txicos, que afecta o ambiente, a
qualidade de vida e a sade pblica, mas tambm
pessoas concretas e determinadas
114
.
NUNO SRGIO MARQUES ANTUNES
considera que os interesses pblicos so interesses
comunitrios subjectivados nas pessoas colectivas
pblicas, em especial, de mbito territorial, razo
pela qual no so interesses difusos, apesar da sua
natureza ontologicamente comunitria
115
.
Para JOS MANUEL SRVULO CORREIA,
os interesses imateriais do n. 3 do artigo 52. da
CRP tm todos a natureza de interesses pblicos,
postos por lei a cargo da Administrao directa e
indirecta de pessoas colectivas pblicas de
populao e territrio e integrando matria das
atribuies dos municpios e, em alguma medida,
das freguesias
116
.
J MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA distingue
entre interesses pblicos e interesses difusos,
afirmando que os primeiros so os interesses gerais
de uma colectividade que abstraem dos interesses
114
Cfr. JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, op. cit., p. 1036.
115
Cfr. NUNO SRGIO MARQUES ANTUNES, op. cit., p. 37.
116
Cfr. op. cit, p. 659.
A Autarquia como Autora Popular
27
individuais que so ou podem ser satisfeitos, ao
passo que os segundos se aferem pelas
necessidades efectivas que atravs deles so ou
deviam ser satisfeitas aos membros de uma
colectividade
117
. O autor exemplifica a sua
distino com a seguinte situao: a populao que
se veja afectada por um aterro sanitrio tem um
interesse difuso na preservao da qualidade do seu
meio ambiente, mas ele pode contrariar o interesse
mais vasto da comunidade num tratamento
adequado do lixo, o qual corresponde a um
interesse pblico.
O mesmo autor chama a ateno para o facto
de a relao entre os interesses difusos e os bens
pblicos corresponder a uma fase inicial da sua
evoluo legal e doutrinria, pois pode haver
interesses difusos relativos a bens privados,
adquiridos por certas pessoas, como sucede com os
investidores no institucionais. Neste caso,
defende-se a aplicao de capital por cada um dos
investidores. So os chamados interesses difusos de
segunda gerao, que se definem pelo facto de
existir um conjunto mais ou menos vasto de
titulares de bens privados que podem ser
defendidos em conjunto, e no pela circunstncia
de o seu objecto ser susceptvel de ser usufrudo
por uma multiplicidade de sujeitos
118
. Ao passo
que estes seriam interesses acidentalmente
colectivos
119
, os interesses difusos que tm por
objecto bens pblicos pertencem a todos e no so
apropriveis por ningum, imprimindo-lhes o seu
objecto uma dimenso supra-individual.
Para LUIS FILIPE COLAO ANTUNES, o
interesse difuso o interesse, juridicamente
reconhecido, de uma pluralidade indeterminada ou
indeterminvel de sujeitos que, potencialmente,
pode incluir todos os participantes da comunidade
117
Cfr. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, A Legitimidade Popular na
Tutela dos Interesses Difusos, Lex, 2003, pp. 34-35.
118
Cfr. Idem, p. 30.
119
Qualificao esta que, de acordo com MIGUEL TEIXEIRA DE
SOUSA, foi atribuda por Barbosa Moreira. Cfr. op. cit., p. 30.
geral de referncia, o ordenamento geral cuja
normatividade protege tal tipo de interesse
120
.
Os interesses colectivos correspondem tambm
a situaes jurdicas materiais suprainviduais ou
metaindividuais, sendo, no entanto, mais restritos
do que os interesses difusos em sentido estrito,
pois a comunidade a que pertencem as pessoas
titulares destes interesses mais pequena. Trata-se
de interesses protegidos por uma entidade sem
cuja interveno eles no poderiam ser defendidos
na sua dimenso de grupo, mas os interesses no
so apropriveis pela pessoa colectiva, pertencendo
aos membros de uma categoria enquanto tais.
Segundo JOS MANUEL SRVULO
CORREIA, a conexo que se estabelece entre as
pessoas colectivas criadas para a defesa destes
interesses e os prprios interesses no de
titularidade, mas funcional
121
.
Os interesses colectivos so para NUNO
SRGIO MARQUES ANTUNES interesses
individuais, egostas e particulares, organizados em
ordem a adquirir uma estabilidade unitria e
organizada, de tal forma que se agregam a um
determinado grupo ou categoria de indivduos
relacionados com um determinado bem jurdico.
No deixa de ser interesse colectivo o interesse
individual de um sujeito colectivo ou de qualquer
dos seus rgos. A diferenciao destes interesses,
face aos interesses difusos, feita com base numa
diversa realidade ontolgica, pois os interesses
colectivos so interesses que apesar de pluri-
individuais, so titulados num determinado grupo
de indivduos que os prosseguem de forma
egostica
122
.
LUIS FILIPE COLAO ANTUNES sufraga o
entendimento de que os interesses colectivos,
fazendo apelo a uma pluralidade de cidados,
120
Cfr. LUIS FILIPE COLAO ANTUNES, A Tutela dos Interesses
Difusos em Direito Administrativo: para uma Legitimao Procedimental,
Almedina, Coimbra, 1989, pp. 20-21.
121
Cfr. op. cit, p.p. 652.
122
Cfr. op. cit., pp. 37 e 38.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
28
diferenciam-se em categorias de interesses, os quais
tm um portador concreto e determinado, ao
passo que os interesses difusos no tm um sujeito
concreto, mas indeterminado
123
. Para o mesmo
autor, a diferena entre ambos situa-se ao nvel
ontolgico, pois o interesse difuso no deixa de
ser a forma concreta, plural e heterognea do
interesse pblico, enquanto o interesse colectivo
um interesse privado, um interesse corporativo.
O interesse difuso um interesse pluralista,
solidrio, comunitrio e no patrimonial enquanto
o interesse colectivo um interesse de grupo, de
categoria, um interesse egostico
124
.
Segundo MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, os
interesses individuais homogneos consubstanciam
a refraco dos interesses difusos stricto sensu e
dos interesses colectivos na esfera de cada um dos
seus titulares, ou seja, so os interesses de cada um
dos titulares de um interesse difuso ou de um
interesse colectivo
125
.
JOS OLIVEIRA ASCENSO diz-nos que a
aco popular para defesa ou proteco dos
interesses dos investidores consagrada no artigo
31. do Cdigo do Mercado dos Valores
Mobilirios destina-se a proteger interesses
colectivos e interesses individuais homogneos dos
investidores. No se trata de interesses individuais,
porque se contrapem a colectivos, mas tambm
no consubstanciam interesses difusos, pois estes
so interesses de todas as pessoas de uma
comunidade, pelo facto de fazerem parte dela
126
.
JOS EDUARDO FIGUEIREDO DIAS
sustenta que os interesses individuais homogneos
so direitos subjectivos clssicos, divisveis por
natureza, mas que correspondem a um feixe de
interesses que pode ser tratado colectivamente,
123
Cfr. op. cit., p. 31.
124
Cfr. op. cit., p. 35.
125
Cfr. op. cit., p. 53.
126
Cfr. JOS OLIVEIRA ASCENSO, A aco popular e a
proteco do investidor, in Cadernos do Mercado de Valores
Mobilirios, n. 11, Agosto 2011, pp. 65-75.
sem prejuzo da sua tutela clssica, individualizada
para cada um
127
.
3.6-A Legitimidade
Ao atribuir o direito de aco popular a todos,
o legislador est a permitir que qualquer um
defenda interesses que no so seus, mas nos quais
todos so interessados pelo facto de integrarem a
comunidade a que os bens protegidos respeitam.
A legitimidade um pressuposto processual
que se reporta ao objecto do processo e no uma
condio de procedncia da aco. Apesar de
merecer tratamento autnomo no CPTA, em
virtude das especificidades do contencioso
administrativo, isso no significa que tenha um
tratamento substancialmente distinto do que lhe
conferido pelo Cdigo de Processo Civil
128
.
Por regra, ela afere-se pela titularidade da
relao jurdica controvertida tal como
configurada pelo autor e corresponde deteno
de uma posio subjectiva face a um determinado
objecto processual (cfr. n. 1 do artigo 9. do
CPTA). O regime geral do n. 1 do artigo 9. tem
depois de ser conjugado com as restantes
disposies do CPTA que se referem
legitimidade, a saber, com o disposto nos seus
artigos 55., 68., 73. e 77..
Na aco popular, no tem de existir uma
delimitao da legitimidade processual activa em
funo da leso ou potencial leso do direito (cfr.
n. 2 do artigo 9. do CPTA). O legislador
concretizou uma extenso da legitimidade
processual activa a quem no alegue ser parte
numa relao material que se proponha submeter
apreciao do tribunal
129
.
127
Cfr. JOS EDUARDO FIGUEIREDO DIAS, Os efeitos da
sentena na Lei de Aco Popular, Revista do centro de Estudos de
Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, n. 3, 1999, pp.
47-64.
128
Neste sentido, veja-se MRIO AROSO DE ALMEIDA, O Novo
Regime, p. 26.
129
Cfr. Idem, p. 27.
A Autarquia como Autora Popular
29
O que caracteriza a aco popular o facto de
a legitimidade ser averiguada no
concretamente com base na natureza do objecto
de cada processo, mas abstractamente a partir da
integrao objectiva de certas qualidades e da
insero em determinadas categorias de
indivduos
130
.
Antes de concluir que a aco popular vem
baralhar o esquema clssico, JOS LEBRE DE
FREITAS faz o seguinte exerccio de raciocnio:
devendo coincidir o titular do direito ou do
interesse porventura existente com aquele que
exerce o direito de aco, segundo uns em termos
objectivos, isto , abstraindo apenas da efectiva
existncia do direito ou interesse material, e
segundo outros em termos subjectivos, isto , com
abstraco tambm da sua efectiva titularidade, a
legitimidade processual verifica-se quando ocorre
essa coincidncia e d lugar ilegitimidade quando,
em vez dela, ocorre um desfasamento. Esta ltima
consequncia s no se verificar, segundo a
doutrina tradicional, quando estamos perante um
dos casos em que, a ttulo extraordinrio, a lei
admite a substituio processual. Acontece ento
que, dada a conexo existente entre o interesse
principal dum terceiro relativamente ao processo e
o interesse dependente da parte, esta admitida a
litigar em nome prprio, mas por conta do terceiro,
ainda que reflexamente tambm no seu prprio
interesse. o que se d na aco sub-rogatria
(art. 606 CC), na transmisso do direito litigioso
sem habilitao (art. 271 CPC) ou na execuo,
pelo exequente dum crdito do executado (art.
860-3 CPC)
131
.
Segundo o mesmo autor
132
, tem sido perfilhada
a ideia de que o autor popular tem uma
legitimidade originria especfica, baseada numa
norma que a consagra e independente da radicao
130
Cfr. Idem, p. 3.
131
Cfr. JOS LEBRE DE FREITAS, A aco popular do direito
portugus, in sub judice justia e sociedade, n. 24, Janeiro/Maro
2003, pp. 15-26.
132
Cfr. Idem, Ibidem.
de qualquer direito ou interesse material, que no
tem
133
.
De acordo com JOS MANUEL SRVULO
CORREIA, no h que proceder a uma
aferio da pertena material do agente da aco
popular ao crculo de portadores do interesse
difuso
134
. Para este autor, no mbito da aco
popular individual, o legislador no teve o
propsito de condicionar a legitimidade processual
activa a uma conexo substantiva entre o agente e
o bem tutelado, pois o que releva como fonte
de legitimidade o direito fundamental do cidado
de participao poltica na conduo dos assuntos
pblicos, incluindo o direito de participao no
controlo jurisdicional da actividade
administrativa
135
.
Em sentido diverso, MIGUEL TEIXEIRA DE
SOUSA defende que a exigncia de um interesse
em demandar impe que a legitimidade popular
no seja atribuda a qualquer cidado, mas apenas
aos titulares dos interesses difusos ameaados ou
lesados, ou seja, a quem, por ser titular do interesse
difuso que se pretende defender, tenha uma
relao com o objecto da aco popular ou possa
exigir algo do demandado nessa aco
136
.
Segundo JOS DE OLIVEIRA ASCENSO,
h casos em que no necessrio delimitar os
intervenientes, pois qualquer cidado tem interesse
na preservao do patrimnio cultural ou na defesa
do domnio pblico, mas situaes h em que
parece ser de exigir a integrao numa comunidade
quando a problemtica , de alguma maneira,
delimitvel
137
.
Como refere JOS MANUEL SRVULO
CORREIA a respeito do Ac. do STA de 15 de
Dezembro de 1999, publicado nos CJA, n. 30,
133
Note-se que o autor tece estas consideraes a respeito das
associaes enquanto autoras populares.
134
Cfr. op. cit., p. 661.
135
Cfr. Idem, p. 665.
136
Cfr. a referncia feita ao autor por JOS MANUEL SRVULO
CORREIA, op. cit., p. 655.
137
Cfr. Idem, pp. 655-656.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
30
2001, a pginas 20 e seguintes, se o grau de
conexo entre uma pessoa e o interesse protegido
for ao ponto de se falar em apropriao individual
do interesse difuso, j no poderemos falar de
aco popular, pois estaria ento em causa a
titularidade individualizada do interesse
alegadamente ofendido
138
.
J no podemos, no entanto, acompanhar o
autor quando defende que o modo pelo qual a
CRP admite a circunscrio da legitimidade
processual activa na aco popular o da aferio
da qualidade de eleitor dos rgos da pessoa
colectiva pblica que seja parte da situao jurdica
administrativa controvertida
139
.
Aquele autor considera no fazer sentido que
um eleitor recenseado num municpio do Sul do
pas, por exemplo, instaure uma aco popular
contra um municpio do Norte, pois no existiria
entre ambos qualquer nexo de participao poltica
e o eleitor no seria parte activa no desempenho
das atribuies do demandado
140
. O mesmo autor
apenas admite que as coisas seriam diferentes se
no municpio no qual o eleitor no est recenseado
ocorresse um incio de obras no licenciado num
monumento em vias de classificao como de
interesse nacional, pelo facto de estar em causa
matria da competncia de rgos e servios do
Estado, para cuja defesa no importa o local do
recenseamento, pois a Administrao do Estado
assunto pblico sujeito participao de todos os
cidados
141
.
Claro que o elemento de conexo do
recenseamento eleitoral sustentado por JOS
MANUEL SRVULO CORREIA, de acordo com
o prprio autor, no serve para aferir a legitimidade
das associaes e fundaes
142
. Nestes casos, h
138
Cfr. Idem, p. 657.
139
Cfr. Idem, p. 660.
140
Cfr. Idem, pp. 660-661.
141
Cfr. Idem, Ibidem.
142
Cfr. Idem, p. 662.
que procurar o elemento de conexo entre o fim
estatutrio das pessoas em causa e o bem tutelado.
Para ns, o autor popular singular no tem de
ser eleitor, nem a letra da lei parece comportar
uma semelhante restrio (cfr. o n. 2 do artigo 9.
do CPTA e o corpo do n. 3 do artigo 52. da
CRP), apesar de a LAP se referir no n. 1 do seu
artigo 2. aos cidados no gozo dos seus direitos
civis e polticos.
Consideramos que tambm os cidados
europeus, os estrangeiros e os aptridas tm
legitimidade activa para lanar mo de uma aco
popular administrativa. Se assim no se entendesse
quanto aos cidados europeus, estaria posto em
causa o princpio da igualdade entre os cidados da
Unio. No tocante aos estrangeiros e aptridas, e
semelhana do que defendem JORGE MIRANDA
e PEDRO MACHETE, a insero sistemtica do
artigo 52. da CRP no mbito dos direitos,
liberdades e garantias de participao poltica, no
pode valer contra o seu sentido literal e
teleolgico, sendo que o n. 2 do artigo 9. do
CPTA atribui o direito de aco popular a
qualquer pessoa, o que permite conferir
legitimidade processual aos estrangeiros e aptridas,
pois a remisso para a LAP apenas se faz em
relao aos aspectos no especificamente regulados
no CPTA, como sucede com a legitimidade
processual activa
143
.
MRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS
ALBERTO FERNANDES CADILHA criticam a
atribuio do direito de aco popular ao
Ministrio Pblico, na medida em que a
generalizao da interveno do Ministrio Pblico
como actor popular poder determinar de lege
ferenda a necessidade de compatibilizao com o
regime que decorre do artigo 16. da Lei n. 83/95,
que atribui igualmente ao MP a representao
processual do Estado e de outras entidades
pblicas quando estas forem intervenientes na
143
Cfr. JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, op. cit., p.1035 e p.
1041.
A Autarquia como Autora Popular
31
causa. Ou seja, o MP poder figurar como autor,
por iniciativa prpria, ou como ru, em
representao processual do Estado. E se o
eventual conflito de poderes poder solucionar-se
atravs do recurso aos mecanismos de substituio
processual e no suscita especial dificuldade,
parece inadequado que, ao menos no domnio da
aco popular administrativa, em que
frequentemente a agresso ao interesse difuso
imputvel Administrao Pblica, caiba ao MP o
exerccio da aco popular e, simultaneamente, em
representao processual, a defesa dos interesses
contrapostos, que nada justifica
144
.
Em suma, tem legitimidade para instaurar uma
aco popular qualquer das pessoas e entidades a
que a lei se refere no artigo 2. da LAP e no n. 2
do artigo 9. do CPTA, sem que seja necessrio
aferir se o autor popular ou no titular dos
interesses a defender na aco, at porque essa
radicao do interesse tutelado no autor popular
faria deslocar a questo levada a juzo para fora do
domnio da aco popular.
Quanto s associaes e fundaes, a alnea b)
do artigo 3. da LAP condiciona a respectiva
legitimidade incluso expressa nas suas
atribuies ou nos seus objectivos estatutrios da
defesa dos interesses em causa.
Diz-nos EURICO FERRARESI que o modelo
portugus de aco popular, ao legitimar o cidado,
aproximou-se do sistema da common law
(representative plaintiff), afastando-se, assim, dos
modelos brasileiro e francs, assentados sobre uma
legitimidade institucional (principalmente
Ministrio Pblico). Afastou-se, porm, do critrio
da representatividade adequada das class
actions
145
.
144
Cfr. MRIO AROSO DE ALMEIDA; CARLOS ALBERTO
FERNANDES CADILHA, Comentrio ao Cdigo de Processo nos
Tribunais Administrativos, 3. ed. revista, 2010, Almedina, pp. 76-77.
145
Cfr. EURICO FERRARESI, A pessoa fsica como legitimada
ativa ao colectiva, in Direito Processual, Coord. de ADA
PELLEGRINI GRINOVER, et al., Revista dos Tribunais, So Paulo,
2007, pp. 140 e ss..
CAPTULO III
O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3.7-Legitimidade da autarquia local como
autora popular
A CRP Portuguesa consagra o direito de aco
popular em benefcio de todos, pessoalmente
ou atravs de associaes de defesa dos interesses
em causa nos casos e termos previstos na lei.
A Lei n. 83/95, de 31 de Agosto, diz-nos que
so igualmente titulares do direito de aco
popular, alm dos cidados no gozo dos seus
direitos civis e polticos, das associaes e
fundaes, as autarquias locais em relao aos
interesses de que sejam titulares residentes na rea
da respectiva circunscrio (cfr. o n. 2 do artigo
2.).
Quis o legislador nacional, numa iniciativa
pioneira e indita entre ns, consagrar a favor das
autarquias locais o direito de aco popular.
Com a publicao do Cdigo de Processo nos
Tribunais Administrativos, o legislador portugus
reafirmou a legitimidade popular das autarquias
locais e estendeu a legitimidade popular ao
Ministrio Pblico no mbito do contencioso
administrativo de modo genrico, o qual havia
ficado apartado da titularidade do direito de aco
popular na LAP
146
.
Quando se referem ao direito de aco popular
de que so titulares as autarquias locais, h autores
que consideram que esta aco no consubstancia
uma verdadeira aco popular, mas antes uma
aco pblica
147
, semelhana da aco pblica de
146
No obstante ter-lhe sido atribuda legitimidade popular em
sede de contencioso civil com o D.L. n. 329-A/95, de 12 de
Dezembro (vide o seu artigo 26.-A), pouco tempo aps a
publicao da LAP. Por outro lado, h que ter em considerao que
j antes da publicao da LAP o Ministrio Pblico dispunha de
vrias disposies avulsas que lhe atribuam legitimidade para
instaurar aces relativas absteno de uso de clusulas
contratuais gerais, para defesa de valores relativos ao ambiente e a
bens culturais, bem como no domnio da defesa dos interesses
individuais homogneos, colectivos ou difusos dos consumidores.
147
Nesse sentido, JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, op. cit.,
p. 1041; JOS MANUEL SRVULO CORREIA, op. cit., p. 668;
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
32
que o Ministrio Pblico pode lanar mo. A razo
de ser destas posies prende-se sobretudo com o
facto de para estes autores a aco popular, tal
como o nome indica, significar uma manifestao
da sociedade civil, o que no sucederia com as
autarquias locais, que so pessoas colectivas de
direito pblico e, por outro lado, por se tratar de
um meio que as autarquias locais utilizariam no
mbito da prossecuo das suas atribuies e
competncias.
Divergimos destas posies, por duas ordens de
razes: mesmo quando a autarquia local a
instaurar a aco popular, ela promove os
interesses da sociedade civil e no os seus
interesses; por seu turno, a aco popular de que as
autarquias locais podem lanar mo no
consubstancia um mero autocontrolo do poder
pblico, nem est balizada pelas atribuies e
competncias das autarquias locais, o que a afasta
da aco pblica de que titular o Ministrio
Pblico, como tentaremos demonstrar.
Quando as autarquias locais actuam como
autoras populares, no pode afirmar-se que elas
sejam interessadas ou titulares dos interesses
protegidos, ainda que de forma mediata, enquanto
veculos da expresso dos interesses das pessoas
que pertencem sua comunidade, porquanto elas
detm legitimidade processual activa para defender
os interesses e bens protegidos de que so titulares
no as autarquias, mas sim os residentes na rea da
sua circunscrio territorial.
Mesmo que, porventura, em determinado caso
concreto, haja uma coincidncia entre os interesses
de que so titulares os residentes no seu territrio
e os interesses de que sejam titulares as prprias
autarquias locais, no exerccio do direito de aco
popular, tal como ele se encontra legalmente
configurado, as autarquias locais no so titulares
dos interesses e bens a defendidos.
NUNO SRGIO MARQUES ANTUNES, op. cit., p. 78; PAULO
OTERO, op. cit., p. 885.
De harmonia com o disposto no artigo 14. da
LAP, nos processos de aco popular, o autor
representa por iniciativa prpria, com dispensa de
mandato ou autorizao expressa, todos os demais
titulares dos direitos ou interesses em causa que
no tenham exercido o direito de auto-excluso
previsto no artigo seguinte, com as consequncias
constantes da presente lei.
Esta disposio legal pode levar-nos a
questionar se as autarquias locais, quando actuam
como autoras populares, estaro a actuar como
representantes dos residentes da rea da sua
circunscrio, ou se sero antes seus substitutos
processuais ou ainda se a sua actuao no se
enquadra em qualquer destas figuras processuais.
PAULO BARBOSA DE CAMPOS FILHO
diz-nos que na aco popular supletiva, o autor
actua em vez do poder pblico, para suprir a sua
inrcia, representando-o, mas j na aco popular
correctiva, uma vez que aquilo que se pretende
corrigir o mal consumado, o autor estaria a actuar
em substituio processual
148
.
JOS LEBRE DE FREITAS diz-nos que quer a
teoria da representao, quer a da substituio
partem da viso individualista do direito, quando a
tutela dos interesses colectivos e difusos faz apelo a
uma concepo objectiva do direito. Para o autor, o
direito de aco j no ser uma manifestao de
um direito material concreto, mas o exerccio de
um direito abstracto, integrado no direito
jurisdio e dirigido contra o Estado e
independente da existncia de um direito material
que quem o exerce afirma ter
149
.
Temos para ns que quando as autarquias locais
actuam como autoras populares, elas no esto a
actuar em representao dos residentes na rea da
sua circunscrio.
148
Cfr. PAULO BARBOSA DE CAMPOS FILHO, A ao popular
constitucional, in Revista Forense, vol. 157, 1955, pp. 21-33.
149
Cfr. op. cit., pp. 15-26
A Autarquia como Autora Popular
33
Desde logo, cremos ser possvel defender a
inaplicabilidade do disposto no artigo 14. da LAP
s autarquias locais. Aquele normativo parece estar
apenas direccionado para as pessoas singulares, na
medida em que prev que o autor popular est a
representar todos os demais titulares dos direitos
ou interesses em causa. Se representa todos os
demais titulares, isso significa que o autor popular
, tambm ele, titular dos direitos ou interesses em
causa, ainda que de forma conjunta com todos os
outros, o que no sucede com as autarquias locais,
pois quando elas actuam como autoras populares,
defendem interesses de que so titulares os
residentes na rea da sua circunscrio, e no
tambm interesses prprios.
Por outro lado, as autarquias locais no actuam
em nome e no interesse alheio, mas sim em seu
nome, por sua conta e no exerccio de um direito
prprio, pese embora para defesa de interesses
alheios.
Sucede, porm, que tambm no nos parece
que as autarquias locais actuem como substitutos
processuais dos residentes na rea da sua
circunscrio. Para que se pudesse falar em
substituio processual, necessrio seria que se
verificasse um fenmeno de dupla legitimidade,
bem como uma situao de legitimao anmala e
indirecta, para utilizar as expresses de JOS
ROBIN DE ANDRADE
150
.
Ora, em nosso entender, na medida em que as
autarquias locais no representam os interesses
de um residente, mas, de modo indistinto, os
interesses da populao residente na sua rea de
circunscrio, no se consegue descobrir aqui uma
legitimidade originria dessa comunidade, que
tivesse de ser averiguada a par da legitimidade que
atribuda s autarquias locais.
Por outro lado, a legitimidade atribuda s
autarquias locais no uma legitimidade anmala e
indirecta, que lhes permita beneficiar reflexamente
150
Cfr. op. cit., p. 87.
da satisfao dos interesses de que so titulares os
residentes na sua rea de circunscrio. As
autarquias locais no so admitidas a litigar por
terem um interesse dependente do interesse
principal de um terceiro, por conta de quem
tambm actuariam. s autarquias locais
conferida uma legitimidade originria, para exercer
um direito prprio, em defesa de interesses alheios.
Tambm LIVIO PALADIN considera que o
autor popular no um substituto processual, pois
essa posio iria brigar com a autonomia do
prprio direito de aco popular
151
.
As autarquias locais actuam, sim, ao abrigo de
uma legitimidade processual activa originria,
usando a expresso de JOS LEBRE DE
FREITAS
152
, em nome prprio, por sua conta, no
exerccio de um direito prprio, mas em defesa de
interesses alheios, baseadas numa norma jurdica
que lhes atribui essa legitimidade
independentemente da titularidade de qualquer
direito subjectivo material ou interesse material,
que no tm
153
.
A outorga de legitimidade popular s autarquias
locais por parte do legislador ordinrio
compreende-se bem, a nosso ver, pelo facto de se
encontrarem numa posio privilegiada de
proximidade com os titulares dos interesses difusos
que podem defender contenciosamente.
3.8-A legitimidade popular das autarquias no
processo civil
Em sede de processo civil, o artigo 26.-A do
CPC, introduzido pelo D.L. n. 329-A/95, de 12
de Dezembro, veio consagrar no mbito da tutela
de interesses difusos que tm legitimidade para
propor e intervir nas aces e procedimentos
cautelares destinados, designadamente, defesa da
151
Cfr. LIVIO PALADIN, Azione Popolare, Novissimo Digesto
italiano, vol. II, 1958, Torino, pp. 88-93.
152
Cfr. op. cit., p. 19.
153
Cfr. Idem, Ibidem.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
34
sade pblica, do ambiente e da qualidade de vida
e do patrimnio cultural o Ministrio Pblico, as
associaes de defesa dos interesses em causa e
qualquer cidado, nos termos previstos no diploma
regulador do exerccio do direito de aco
popular.
O D.L. n. 180/96, de 25 de Setembro, alargou
a legitimidade popular civil s autarquias locais,
alm de ter ampliado o leque exemplificativo de
interesses susceptvel de ser protegido neste
mbito ao domnio pblico e ao consumo de bens
e servios.
3.9-Distino da legitimidade da alnea c) do
n. 1 do art. 55. do CPTA
Quando uma autarquia local seja parte de uma
relao jurdica administrativa no mbito da qual
outra entidade lhe cause um prejuzo ou um
perigo de prejuzo, ela ter um interesse pessoal e
directo na resoluo da questo, podendo actuar
em juzo ao abrigo da legitimidade que lhe
conferida pelo disposto na al. c) do n. 1 do artigo
55. do CPTA.
A respeito do interesse pessoal e directo,
MRIO AROSO DE ALMEIDA considera
impor-se a distino entre ambos os requisitos,
defendendo que apenas o carcter pessoal do
interesse respeita ao pressuposto processual da
legitimidade, ao passo que o carcter directo do
interesse tem que ver com o interesse em agir
154
.
Assim, o carcter pessoal do interesse
corresponde exigncia de que a utilidade que o
interessado pretende obter com a anulao ou a
declarao de nulidade do acto impugnado seja
reivindicada para si prprio, de modo a poder
afirmar-se que o interessado parte legtima por
alegar ser o titular do interesse em nome do qual
actua em juzo
155
.
154
Cfr. MRIO AROSO DE ALMEIDA, Manual, pp. 235-236.
155
Idem, Ibidem.
Quanto ao carcter directo do interesse, ele
tem que ver com a questo de saber se existe um
interesse actual e efectivo em pedir a invalidade
do acto que se impugna, isto , se o interesse de
repercusso imediata na esfera jurdica do autor
156
.
Situao diversa a de reintegrao de um
interesse difuso ofendido, ou de preveno da sua
ofensa
157
, para as quais a autarquia local tem
legitimidade processual activa, ao abrigo do
disposto no n. 2 do artigo 9. do CPTA e no n. 2
do artigo 2. da LAP.
No caso de a autarquia local ter igualmente um
interesse pessoal e directo na resoluo da questo,
ela pode optar por lanar mo da aco popular
administrativa ou da aco administrativa especial,
ficando depois condicionada escolha processual
que efectuar.
3.10-Interesse em agir
O pressuposto da legitimidade distinto do
requisito do interesse em agir, o qual no se
encontra consagrado no CPTA enquanto
pressuposto processual geral. Ele vem
especialmente previsto no artigo 39. do CPTA, a
respeito das aces de simples apreciao, e
manifesta-se na exigncia de um carcter
directo ao interesse individual para impugnar
actos administrativos, ou seja, de um interesse
actual
158
.
Uma coisa ter legitimidade para estar em
juzo e outra, diferente, ter necessidade de tutela
judicial, a qual nos revelada pela utilidade que
pode advir para o interessado da procedncia da
aco.
Estando excluda da aco popular a defesa de
interesses meramente individuais, podemos
156
Idem, Ibidem.
157
Mesmo que tal interesse faa parte do leque de atribuies da
autarquia local.
158
Cfr. MRIO AROSO DE ALMEIDA, O Novo Regime, p. 62.
A Autarquia como Autora Popular
35
questionar-nos acerca de qual seja o interesse em
agir da autarquia local enquanto autora popular.
De acordo com JOS MANUEL SRVULO
CORREIA, o interesse em agir da autarquia local
como autora popular estar no facto de o interesse
difuso a defender constar das suas atribuies
159
.
Na mesma linha de orientao, ELIANA
PINTO defende que as autarquias locais tm
interesse em demandar quando defendam
interesses dos titulares de interesses difusos com
residncia na sua circunscrio territorial e quando
os interesses difusos se incluam no mbito das suas
atribuies e competncias
160
.
No podemos concordar com os autores, por
um lado, porque a lei no faz essa exigncia no
tocante s autarquias locais, contrariamente ao que
sucede com as associaes e fundaes na alnea b)
do artigo 3. da LAP e, por outro lado, porque o
que verdadeiramente est em causa o benefcio
que o autor popular pode retirar da aco, no para
si, mas para a comunidade enquanto tal, ou seja,
a refraco actual e efectiva do benefcio na
comunidade residente na rea da circunscrio da
autarquia local.
Neste sentido, vejamos o que nos diz CARLA
AMADO GOMES: uma aco promovida ao
abrigo da legitimidade singular tem reflexos
individuais directos , e pode ter reflexos
colectivos indirectos - o objecto do processo ,
no entanto, um s e traduz-se na defesa de uma
posio individual. Por seu turno, uma aco
promovida ao abrigo da legitimidade popular tem
efeitos colectivos imediatos , mas no tem
necessariamente efeitos mediatos na esfera pessoal
o objecto do processo traduz-se na defesa de um
bem do interesse colectivo
161
.
159
Cfr. op. cit., p. 668.
160
Cfr. ELIANA PINTO, Os Municpios Titulares da Aco
Popular, in Direito Administrativo das Autarquias Locais, Estudos,
Wolters Kluwer, Coimbra Editora, 2010, pp. 291-322.
161
Cfr. CARLA AMADO GOMES, A ecologizao , p. 36.
O interesse em agir da autarquia local enquanto
autora popular o do ganho directo que a aco
pode trazer para a comunidade residente na sua
circunscrio, independentemente de se
verificarem ou no efeitos mediatos na esfera
pessoal de cada um dos seus residentes e ou na
prpria esfera jurdica da autarquia local autora.
3.11-A causa de pedir e o pedido
Por regra, o objecto do processo define-se em
funo da pretenso que deduzida pelo autor, e
esta pretenso resulta da causa de pedir e do
pedido que o autor plasma na petio ou no
requerimento inicial. A causa de pedir corresponde
aos factos sobre os quais o autor faz assentar a sua
pretenso de reconhecimento da existncia ou
inexistncia de uma situao, de um efeito ou de
um facto jurdico. Por seu turno, a pretenso do
autor h-de resultar do pedido que deduzido
perante os tribunais administrativos.
Podem conjugar-se na causa de pedir da aco
popular a ilegalidade da conduta dos rgos da
Administrao (bem como dos particulares) e a
sua lesividade, ou potencial lesividade,
relativamente a interesses metaindividuais. A par
delas, o objecto da tutela pode abranger um pedido
indemnizatrio decorrente da responsabilidade
pela ofensa do interesse tutelado.
Quanto s pretenses, MRIO AROSO DE
ALMEIDA distingue entre as que podem ser
deduzidas no mbito da aco administrativa
comum e as que podem ser deduzidas no quadro
da aco administrativa especial. No primeiro caso,
temos as pretenses de contedo declarativo ou de
simples apreciao, as prestaes de contedo
condenatrio, e as prestaes de contedo
constitutivo. No segundo caso, temos as pretenses
relativas aos actos administrativos e as referentes a
normas regulamentares
162
.
162
Cfr. op. cit., Manual, pp. 74 e ss..
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
36
No tocante aos actos administrativos, possvel
configurar uma pretenso de anulao (que
constitutiva), uma pretenso de declarao de
nulidade e uma pretenso de declarao de
inexistncia, bem como uma pretenso de
condenao emisso de um acto administrativo
legalmente devido e uma pretenso de condenao
absteno da prtica de um acto administrativo
cuja emisso provvel, mas ainda no sucedeu
163
.
Esta ltima, no entanto, est inserida no mbito da
aco administrativa comum.
3.12-Meios de tutela contenciosa
O legislador comea por distinguir entre a aco
popular administrativa e a aco popular civil.
De harmonia com o disposto no n. 1 do artigo
12. da LAP, a aco popular administrativa
compreende a aco para defesa dos interesses
referidos no artigo 1. e o recurso contencioso com
fundamento em ilegalidade contra quaisquer actos
administrativos lesivos dos mesmos interesses.
Quando a LAP foi publicada, em 31 de Agosto
de 1995, estavam em vigor a LEPTA e os artigos
369. e 822. do CA. A aco popular supletiva
prevista no artigo 369. do CA era exercida no
domnio do contencioso civil e a aco popular
correctiva prevista no artigo 822. do CA
164
exercia-se por intermdio do recurso contencioso
de anulao. Quanto s demais decises ilegais da
Administrao que no fossem deliberaes das
autarquias locais, elas eram impugnveis em sede
de aco popular por via do recurso contencioso
de anulao previsto nos artigos 24. e seguintes da
LEPTA. Tambm era possvel lanar mo da aco
para reconhecimento de direito, prevista nos
artigos 69. e seguintes da LEPTA, bem como dos
meios processuais acessrios dos artigos 76. e
seguintes do mesmo diploma legal.
163
Cfr. Idem, Manual..., pp. 75-76.
164
Para impugnao de deliberaes ilegais dos rgos
autrquicos.
Actualmente, o recurso aco popular
administrativa faz-se atravs da utilizao da aco
administrativa comum, da aco administrativa
especial, dos processos urgentes
165
e dos processos
cautelares.
Quanto aco administrativa comum,
admissvel qualquer dos meios processuais que
tenha por objecto litgios cuja apreciao se
inscreva no mbito da jurisdio administrativa,
quer se trate de um dos meios expressamente
previstos no n. 2 do artigo 37. do CPTA, quer de
outro meio que no conste daquele elenco.
No tocante aco administrativa especial,
podem usar-se todos os meios processuais que
encerrem como pedidos principais os de
impugnao de actos administrativos ou de
normas, o de condenao prtica de acto
legalmente devido, bem como o de declarao de
ilegalidade por omisso (vide o artigo 46. do
CPTA). Com qualquer destes pedidos principais
podem ser cumulados outros que com eles
apresentem uma relao material de conexo (vide
o n. 1 do artigo 47. do CPTA), nomeadamente,
os que so indicados a ttulo de exemplo no n. 2
do artigo 47. do CPTA.
Os processos urgentes e os processos cautelares
constituem outros dos meios admissveis para
defesa dos interesses difusos ofendidos ou
ameaados. Mesmo que a LAP lhes no faa
qualquer referncia no n. 1 do seu artigo 12., e
que a letra da lei no n. 2 do mesmo preceito legal
opere uma remisso em bloco para qualquer dos
meios previstos no Cdigo de Processo Civil, a no
admissibilidade do uso dos processos urgentes e
dos processos cautelares no domnio da aco
popular administrativa consubstanciaria, em nosso
entender, uma violao do princpio constitucional
da tutela jurisdicional efectiva (vide artigo 20. da
CRP). O n. 2 do artigo 9. do CPTA sempre
165
Apesar de o n. 2 do artigo 9. do CPTA no fazer referncia
expressa aos processos urgentes, contrariamente com o que sucede
com a meno aos processos principais e cautelares.
A Autarquia como Autora Popular
37
superaria qualquer eventual lacuna que pudesse
considerar-se existir nesta matria, uma vez que
consagra expressamente a possibilidade de
utilizao de processos principais e cautelares por
parte do autor popular.
PARTE III
A AUTARQUIA LOCAL
COMO AUTORA POPULAR
CAPTULO I
ATRIBUIES E COMPETNCIAS
4.1- A aco popular e o limite de atribuies
e competncias
Podemos questionar se uma autarquia local
pode ser autora popular quando defende interesses
difusos que no constem do elenco de atribuies
e competncias que pode prosseguir e exercer ou
se, pelo contrrio, tem de ter os interesses difusos a
tutelar em sede de aco popular inseridos no
mbito das suas atribuies e competncias, como
modo de a legitimar a actuar como autora popular.
Colocada a questo de outro modo, ser que as
autarquias locais tm de ter atribuies e
competncias em matria de interesses difusos
como condio de adquirirem interesse em agir
para poderem defender os bens tutelados pela
aco popular?
A questo coloca-se, pois, por um lado, as
autarquias locais apenas podem actuar no mbito
das suas atribuies, por meio das competncias
legais que lhes so legalmente fixadas, sob pena de
a respectiva actuao ser invlida e, por outro lado,
h quem considere que a forma pela qual as
autarquias locais tm interesse em agir em sede de
aco popular atravs da integrao dos interesses
difusos a defender nas suas atribuies e
competncias. Para os autores que defendem esta
posio, ser essa integrao que dota as autarquias
locais do necessrio interesse em agir para a
propositura de uma aco popular em defesa dos
interesses dos residentes na rea da sua
circunscrio.
Relacionada com esta questo est ainda a de
saber se a aco de que as autarquias locais podem
lanar mo ao abrigo do n. 2 do artigo 2. da LAP
e do n. 2 do artigo 9. do CPTA uma verdadeira
aco popular ou, ao invs, uma aco pblica,
como aquela que o legislador outorga a favor do
Ministrio Pblico, quer seja por fora do facto de
a autarquia local ser uma pessoa colectiva de
direito pblico, quer seja em virtude de se
considerar, eventualmente, que a titularidade do
direito de aco popular pelas autarquias locais
corresponde a uma sua competncia jurdico-
pblica.
Comecemos por observar a nossa
jurisprudncia.
No Ac. do STA de 30 de Setembro de 1999,
proferido no processo n. 41668
166
, em que estava
em causa a legitimidade activa da Junta de
Freguesia da Vila do Prado para interpor recurso
contencioso de anulao de deliberaes da
Cmara Municipal de Vila Verde que deferiram
um pedido de licenciamento de construo de um
edifcio comercial apresentado por um particular, o
Tribunal decidiu-se pela legitimidade da autarquia,
nos termos do disposto nos art.s 821. do Cdigo
Administrativo e 46. do RSTA, aplicvel por fora
do art. 24., alnea b), da LPTA, e considerando o
disposto no art. 268., n. 4, da CRP. Sustentou o
STA a sua posio no facto de a defesa do
patrimnio cultural se inserir no acervo de bens e
interesses legalmente protegidos que constituem as
atribuies da freguesia enquanto autarquia local,
com o que se verificaria a radicao nos rgos
autrquicos de um interesse pessoal e directo em
sede de tutela de interesses difusos.
O Ac. do STA de 29 de Abril de 2003, lavrado
no processo n. 47545
167
, decidiu que a Junta de
166
Cfr. CJA, n. 31, Janeiro/Fevereiro 2002, pp. 3 e ss.
167
Cfr. http://jusnet.coimbraeditora.pt/, com a referncia
2883/2003.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
38
Freguesia da Morreira, concelho de Braga, com
base no n. 2 do artigo 2. da Lei n. 83/95, tem
legitimidade para impugnar contenciosamente o
acto administrativo do Senhor Secretrio de
Estado Adjunto e das Obras Pblicas, que aprovou
a localizao de um troo de auto-estrada.
No interessante Ac. do TCA Sul de 22 de
Junho de 2006, proferido no processo n. 1590
168
,
decidiu-se que uma junta de freguesia de Lisboa
tem legitimidade para deduzir pedido cautelar de
suspenso dos trabalhos de construo de um
condomnio licenciados pelo Municpio de Lisboa.
Afirma-se no acrdo que a legitimidade popular
das autarquias locais no tem como fundamento a
defesa das suas atribuies e interesses, mas dos
interesses da respectiva comunidade de pessoas,
sendo, como tal, duvidoso, que possa falar-se de
um limite de competncia. Tendo o acrdo
decidido pela legitimidade da autarquia local,
afirma depois que resta enquadr-la ou em sede
de legitimidade difusa para o elenco de interesses
catalogados nos art.s 52. n. 3 CRP, 53. n. 2
CPA e Lei 83/95, 31.08, art. 1. n. 2 ou de
legitimidade pblica em funo das atribuies e
competncias dos rgos, tudo dependendo de
saber se a ora Recorrente se apresenta por si em
juzo por interesses pblicos refractados sobre a
esfera jurdica individual dos cidados residentes na
rea territorial da Junta de Freguesia ou se est por
si em juzo por interesses pblicos prprios. E se a
Doutrina procura centrar em termos de coerncia
dogmtica o binmio autarquia local/actor popular,
no adjectivamente exigvel que o Requerente
cautelar assuma explicitamente que tea armas por
uma das teses, sendo certo que por banda do
Tribunal a seleco da factualidade levada ao
probatrio deve reflectir as vrias solues
plausveis da questo de direito (cfr. p. 12 do
acrdo).
Se considerarmos que todos os interesses
difusos consagrados no n. 3 do artigo 52. da CRP
168
Cfr. www.dgsi.pt, acedida em 25 de Julho de 2011.
constam das atribuies e competncias das
autarquias locais, como afirma JOS MANUEL
SRVULO CORREIA relativamente aos
municpios e, no tocante a alguns daqueles
interesses, tambm quanto s freguesias
169
, no
fundo, as autarquias locais nunca chegariam a ver-
se colocadas perante a situao de poderem actuar
fora do mbito das suas atribuies e competncias
no domnio da aco popular e, como tal, sem
interesse em agir. O eventual problema pareceria
estar resolvido por si mesmo partida e a
discusso seria travada no plano meramente
terico.
Ainda que assim se entendesse, parece-nos
possvel travar a discusso de saber se ou no
necessrio que os interesses difusos que as
autarquias locais vo defender contenciosamente
constem das suas atribuies e competncias para
que elas possam agir como autoras populares, por
um lado, porque quando as autarquias locais
actuam no exerccio do direito de aco popular,
ainda que haja coincidncia entre o interesse da
sua comunidade residente e o seu prprio
interesse, elas actuam para tutela do interesse dos
residentes na rea da sua circunscrio e, por outro
lado, porque consideramos que nem todos os
interesses e bens tutelados pelo n. 3 do artigo 52.
da CRP, pelo n. 2 do artigo 1. da LAP e pelo n.
2 do artigo 9. do CPTA constam das atribuies e
competncias das autarquias locais.
Seno vejamos:
a) Quanto ao bem da vida sade pblica, ele
no corresponde com exactido atribuio da
sade que conferida aos municpios
170
e, no que
toca s freguesias
171
, elas apenas tm atribuies no
domnio dos cuidados primrios de sade, o que
coisa diversa. A sade pblica uma noo que faz
apelo organizao de sistemas e servios de sade
para controlo do processo de sade e doena nas
169
Cfr. op. cit., nota 375 da p. 667 e pp. 667-668.
170
Cfr. a alnea g) do n. 1 do artigo 13. da LTACA.
171
Cfr. a alnea e) do n. 1 do artigo 14. da LTACA.
A Autarquia como Autora Popular
39
populaes, mediante aces de vigilncia e de
interveno do Estado, no se confundindo com a
noo de sade tout court. Nos termos da Lei de
Bases da Sade, aprovada pela Lei n. 48/90, de 24
de Agosto, na sua redaco actual, enquanto a
proteco da sade constitui um direito dos
indivduos e da comunidade, que se efectiva pela
responsabilidade conjunta da sociedade, dos
cidados e do Estado, a promoo e a defesa da
sade pblica so efectuadas atravs da
actividade do Estado e de outros entes pblicos
(cfr. n.s 1 e 3 da Base I da Lei n. 48/90). De
acordo com a Base IX da lei em apreo, sem
prejuzo de eventual transferncia de
competncias, as autarquias locais participam na
aco comum a favor da sade colectiva e dos
indivduos, intervm na definio das linhas de
actuao em que estejam directamente
interessadas e contribuem para a sua efectivao
dentro das suas atribuies e responsabilidades;
b) Relativamente ao bem da vida ambiente,
ele consta das atribuies quer dos municpios,
quer das freguesias
172
;
c) No que respeita ao bem da vida
urbanismo, ele consta das atribuies dos
municpios, mas j no das freguesias
173
;
d) Em relao ao bem da vida ordenamento
do territrio, ele consta das atribuies dos
municpios, mas as freguesias tm a atribuio do
ordenamento urbano e rural e no do
territrio
174
;
e) No que concerne ao bem da vida
qualidade de vida, no o encontramos enquanto tal
172
Cfr. a alnea l) do n. 1 do artigo 13. da LTACA e alnea h) do
n. 1 do artigo 14. da LTACA.
173
Cfr. a alnea o) do n. 1 do artigo 13. da LTACA e n. 1 do
artigo 14. da LTACA.
174
Cfr. a alnea o) do n. 1 do artigo 13. da LTACA e alnea j) do
n. 1 do artigo 14. da LTACA.
no quadro de atribuies dos municpios e das
freguesias
175
;
f) No que tange ao bem da vida patrimnio
cultural, as autarquias locais dispem da atribuio
da cultura, mas no do patrimnio cultural, que faz
apelo a uma noo diversa
176
;
g) J no tocante aos bens do Estado, das
Regies Autnomas e das autarquias locais, os
municpios tm a atribuio do patrimnio, mas
apenas do patrimnio autrquico, sendo que as
freguesias no tm tal atribuio
177
.
Apesar de a alnea m) do n. 1 do artigo 13. da
LTACA consagrar a atribuio da defesa do
consumidor a favor dos municpios, o mesmo no
sucedendo com as freguesias, o n. 2 do artigo 9.
do CPTA no consagra a tutela deste bem no
mbito do contencioso administrativo.
Vejamos agora como se posiciona a doutrina
quanto s questes levantadas.
JOS MANUEL SRVULO CORREIA
considera que a aco popular conferida
autarquia local uma verdadeira aco pblica, na
medida em que os interesses protegidos pelo n. 3
do artigo 52. da CRP so tambm atribuio dos
municpios e, em alguma medida, das freguesias.
Estaramos perante interesses pblicos, que a lei
coloca a cargo das autarquias na medida em que
tenham refraco na rea do territrio das
autarquias
178
.
Do mesmo passo, considera o mesmo autor que
a distino entre aco pblica e aco popular se
encontra na oposio entre a iniciativa processual
de uma pessoa colectiva pblica para defesa da
legalidade, no mbito de uma leso ou ameaa de
leso a um interesse pblico protegido, e a
175
Cfr. os artigos 13. e 14. da LTACA.
176
Cfr. a alnea e) do n. 1 do artigo 13. da LTACA e alnea d) do
n. 1 do artigo 14. da LTACA.
177
Cfr. a alnea e) do n. 1 do artigo 13. da LTACA e artigo 14.
da LTACA.
178
Cfr. op. cit., p. 668.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
40
iniciativa processual de um cidado como forma de
participao nos assuntos pblicos para defesa dos
mesmos interesses
179
.
JORGE MIRANDA e PEDRO MACHETE
afirmam que a legitimidade processual atribuda s
autarquias locais consubstancia um direito de aco
pblica, que cabe na liberdade de conformao do
legislador. Estaria em causa a prossecuo, directa
ou indirecta, de atribuies pblicas, ou o exerccio
de uma competncia pblica, razo pela qual
estaramos fora do direito de aco popular
180
.
Para aqueles autores, a aco popular
configura uma manifestao da sociedade que se
contrape a expresses da organizao dos poderes
pblicos. A aco popular e a aco pblica podem
coexistir e visar os mesmos objectivos (), mas
nem por isso se confundem: a primeira
corresponde a uma liberdade de defesa uti cives de
determinados interesses qualificados e oponvel
aos poderes pblicos e a terceiros particulares; a
segunda instituda como autocontrolo do poder
pblico (tutela da legalidade, em geral) ou como
instrumento de prossecuo das suas atribuies
sendo, em qualquer dos casos, uma competncia
jurdico-pblica, e no um direito fundamental
181
.
J MRIO AROSO DE ALMEIDA e
CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA
sustentam que, de harmonia com o disposto no n.
2 do artigo 2., da Lei n. 83/95, o direito de aco
popular foi delimitado em funo dos interesses de
que sejam titulares os residentes na rea da
circunscrio das autarquias locais, o que faz
supor que a autarquia pode agir em defesa de
interesses difusos nas mesmas condies em que o
poder fazer qualquer cidado, desde que se trate
de interesses que relevem no mbito da respectiva
rea territorial, no se encontrando condicionada,
nesse ponto, ao contrrio do que sucede com as
179
Cfr. op. cit., p. 670.
180
Cfr. idem, p. 1041.
181
Cfr. idem, p. 1030.
instituies associativas, por qualquer critrio de
competncia funcional
182
.
E defendem os mesmos autores que as
atribuies e competncias dos municpios e
freguesias apenas relevam para legitimar as
autarquias locais a actuar em juzo em defesa de
um interesse pessoal, como sucede quando elas se
situam no domnio de uma relao inter-
administrativa, no mbito da qual prosseguem um
interesse prprio que lhes cabe defender
183
. Mas
para alm disso, podero exercer o direito de aco
popular, em substituio dos cidados residentes
na respectiva circunscrio, sempre que esteja em
causa algum dos interesses ou valores mencionados
neste artigo 9., n. 2, independentemente de se
tratar de matria relativamente qual a autarquia
possua um especfico campo de interveno
184
.
Por seu turno, JOS CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE sustenta que as autarquias locais
apenas podem defender interesses difusos atravs
da aco popular no mbito das suas atribuies e
relativamente ao seu territrio
185
.
semelhana de MRIO AROSO DE
ALMEIDA e de CARLOS ALBERTO
FERNANDES CADILHA, MRIO ESTEVES
DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE
OLIVEIRA consideram que as autarquias locais
no tm um limite de competncia, pois a
legitimidade popular das autarquias locais no tem
como fundamento a defesa das suas atribuies
186
.
NUNO SRGIO MARQUES ANTUNES
advoga que a atribuio s autarquias locais de
legitimidade popular um mero corolrio da
descentralizao administrativa do Estado, como
modo de prosseguir os interesses comunitrios de
forma mais eficaz e como mais um meio de as
182
Cfr. op. cit., p. 74.
183
Cfr. a alnea j) do n. 2 do artigo 37., a alnea c) do n. 1 do
artigo 55., e a alnea b) do n. 1 do artigo 68., todos do CPTA.
184
Cfr. op. cit., p. 74.
185
Cfr. op. cit., pp. 177-178.
186
Cfr. op. cit., p. 163.
A Autarquia como Autora Popular
41
autarquias locais prosseguirem os interesses
colocados a seu cargo pela CRP
187
.
MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA considera
igualmente que a defesa do interesse difuso que a
autarquia pretende tutelar atravs da aco popular
tem de se incluir nas competncias da autarquia
188
.
Para ELIANA PINTO, as autarquias locais tm
interesse em demandar quando os interesses
difusos a tutelar se incluam no mbito das suas
atribuies e competncias
189
.
Finalmente, tambm PAULO OTERO
considera que o legislador atribuiu s autarquias
locais uma forma de aco popular pblica e no
uma verdadeira aco popular, na acepo de
aco popular de que so titulares os cidados
190
.
Admitir que a atribuio de legitimidade
popular s autarquias locais fosse a outorga de uma
competncia jurdico-pblica, na medida em que a
competncia corresponde ao conjunto de poderes,
jurdicos ou funcionais, que a lei coloca a cargo dos
rgos das pessoas colectivas pblicas para a
prossecuo das suas atribuies, seria ter de
admitir que ela serve para a prossecuo das
atribuies da autarquia.
Ora, no nos parece ter sido esse o escopo do
legislador ordinrio, at porque a utilizao do
direito de aco popular consubstancia uma
faculdade das autarquias locais, que elas podem ou
no utilizar, em funo do juzo de oportunidade e
convenincia que efectuem sobre a situao em
causa. As autarquias locais so livres de tomar a
iniciativa de exercer o direito de aco popular e a
sua actuao processual no se encontra
exteriormente condicionada.
O facto de as autarquias locais serem entidades
pblicas no afasta a nossa convico, pois a
situao legalmente configurada pelo legislador
187
Cfr. op. cit., p. 78.
188
Cfr. op. cit., p. 200.
189
Cfr. op. cit., pp. 291-322.
190
Cfr. op. cit., p. 882.
ordinrio portugus leva-nos a afastar as autarquias
locais da situao do Ministrio Pblico enquanto
autor popular.
Para ns, a aco popular de que as autarquias
locais podem lanar mo no consubstancia um
mero autocontrolo do poder pblico, em defesa do
princpio da legalidade no mbito do exerccio da
actividade administrativa, razo pela qual
afastamos a aco popular de que as autarquias
locais podem lanar mo da aco pblica de que
o Ministrio Pblico pode ser titular.
Tambm a actividade dos particulares
averiguada e fiscalizada pelas autarquias locais,
ainda que a actuao desses particulares apenas
seja contenciosamente sindicvel no domnio do
contencioso administrativo desde que inserida no
contexto de uma relao jurdica administrativa, ou
corresponda ao desempenho de uma funo
materialmente administrativa ou se encontre
sujeita a normas de direito administrativo.
Por outro lado, ao passo que o Ministrio
Pblico actua no exerccio das suas funes,
defendendo o princpio da legalidade, ele sim, num
autocontrolo do poder pblico, as autarquias locais
no actuam para mera defesa da legalidade
administrativa. Em sede de aco popular, elas
actuam como se de um mero particular se tratasse,
em defesa, no apenas da legalidade objectiva, mas,
prima facie, dos interesses difusos da sua
comunidade residente.
O Ministrio Pblico pode substituir-se ao
autor popular que instaurou a aco, precisamente,
para exercer a fiscalizao da legalidade, no caso de
o autor desistir da instncia, ou de celebrar
transaco lesiva dos interesses tutelados ou ainda
no caso de adoptar um comportamento lesivo de
tais interesses (cfr. n. 3 do artigo 16. da LAP).
Ora, as autarquias locais no tm este poder
substitutivo do autor popular, nas mesmas
circunstncias, o que faria sentido caso o direito de
aco popular atribudo s autarquias locais fosse
uma verdadeira aco pblica.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
42
Ainda no que ao Ministrio Pblico diz
respeito, veja-se a restrio operada legitimidade
processual activa pela alnea c) do n. 1 do artigo
68. do CPTA, por comparao com o tratamento
que conferido s autarquias locais na alnea d) da
mesma disposio legal. No mbito da condenao
prtica de um acto legalmente devido, o
Ministrio Pblico apenas pode ter impulso
processual quando o dever de praticar o acto
resulte directamente da lei, estejam ou no em
causa os bens a que se refere o n. 2 do artigo 9.
do mesmo Cdigo. Trata-se de uma ilegalidade
qualificada, na expresso de MRIO AROSO DE
ALMEIDA e de CARLOS ALBERTO
FERNANDES CADILHA
191
.
O direito de aco popular de que as autarquias
locais so titulares , pois, uma verdadeira aco
popular e no uma aco pblica ou uma aco
popular autrquica, na expresso de PAULO
OTERO
192
. No mbito do seu exerccio, a
autarquia local actua como se se tratasse de um
mero particular, promovendo os interesses da
sociedade civil, no sendo o facto de a autarquia
local ser uma entidade pblica que tem a
capacidade de transmutar a aco popular de que
pode lanar mo numa aco pblica, at porque
semelhante transmutao dificilmente se
harmonizaria com a configurao legal do direito
de aco popular das autarquias locais no
ordenamento jurdico portugus.
Se o interesse difuso a defender pela autarquia
local constar em determinado caso das suas
atribuies e competncias, essa coincidncia no
faz com que a autarquia local v prosseguir essa
sua atribuio quando actua como autora popular,
em defesa dos interesses de que so titulares os
residentes na rea da sua circunscrio. Se o fizesse,
estaria a actuar em defesa de um interesse pessoal
e directo e no em defesa do interesse difuso da
sua comunidade residente. Quando exista uma
191
Cfr. op. cit., p. 457.
192
Cfr. op. cit., p. 882.
coincidncia entre o interesse difuso e o interesse
pessoal e directo da autarquia, essa coincidncia
no interfere com a necessidade de se encontrarem
reunidos os requisitos e pressupostos da
instaurao da aco popular por parte das
autarquias locais.
Em sentido diverso, veja-se o que afirma
CARLA AMADO GOMES a este respeito:
em caso de coincidncia entre interesse pblico
local e interesse difuso, a invocao do mecanismo
do n. 2 do art. 2. da Lei n. 83/95 consubstancia,
no uma situao de legitimidade popular, mas
antes uma representao processual implcita e
atpica de titulares de interesses difusos. Ou seja, a
autarquia, agindo com base no art. 2., n. 2, da
Lei n. 83/95, estar a defender um interesse
titulado difusamente pelos seus fregueses ou
muncipes, que tambm um interesse seu,
porque integrado nas suas atribuies. Porm, no
pode, ao abrigo de tal dispositivo, invoc-lo como
tal, sob pena de ser considerada parte ilegtima,
devendo substituir o fundamento da legitimidade
pelo art. 46. do RSTA
193
. Para a autora, em caso
de coincidncia entre o interesse pblico local e o
interesse difuso, o interesse da autarquia seria
sempre directo e pessoal, porque as vantagens da
aco popular recaem sempre na sua esfera de
atribuies
194
.
Para ns, a aco promovida ao abrigo da
legitimidade colectiva tem, prima facie, efeitos
colectivos imediatos, verifiquem-se ou no
simultaneamente efeitos individuais mediatos, quer
na esfera jurdica da autarquia autora, quer na
esfera jurdica dos seus residentes (de cada um
deles), pois o objecto do processo corresponde
prossecuo da defesa de um bem do interesse
colectivo. O mesmo sucede, e por regra suceder,
quando a aco popular for instaurada por um
particular para defesa de interesses difusos que so
193
Cfr. Um por todos e todos pela proteco ambiental, in CJA,
n. 31, Janeiro/Fevereiro de 2002, p. 11, em anotao ao Ac. do STA
de 30 de Setembro de 1999, processo n. 41668.
194
Cfr. Idem, Ibidem.
A Autarquia como Autora Popular
43
de todos. Esta aco ter efeitos colectivos
imediatos, ainda que se verifiquem reflexos
individuais indirectos, pois o objecto do processo
traduz-se na prossecuo da defesa de um bem do
interesse colectivo.
As autarquias locais actuam como autoras
populares ao abrigo de uma legitimidade
processual activa originria, em seu nome e no seu
prprio interesse, o que afasta a ideia de
representao dos residentes na sua rea de
circunscrio, at porque entendemos que o
disposto no artigo 14. da LAP se aplica apenas ao
autor popular individual. As autarquias locais
actuam por sua conta, no exerccio de um direito
prprio, que o direito de aco, pese embora em
defesa de interesses alheios.
Por seu turno, as autarquias locais tambm no
actuam, a nosso ver, enquanto substitutas dos
residentes na sua rea de circunscrio, porquanto
no h uma legitimidade originria da comunidade
residente que cumpra averiguar a par da
legitimidade da autarquia local, nem a legitimidade
atribuda s autarquias locais uma legitimidade
anmala e indirecta, que lhes permitiria beneficiar
reflexamente da satisfao dos interesses dos
residentes na sua rea de circunscrio.
Quando actuam como autoras populares, as
autarquias locais baseiam-se numa norma jurdica
que lhes atribui essa legitimidade,
independentemente da titularidade de qualquer
direito subjectivo material ou interesse material,
que, no domnio da aco popular, no tm.
Mesmo quando existe a mencionada coincidncia
nos interesses em presena, os interesses
contenciosamente tutelados no so interesses
pessoais e directos das autarquias locais, sob pena
de a aco instaurada deixar de ser uma aco
popular, para passar a ser qualificada como uma
aco de defesa de um interesse pessoal e directo,
instaurada ao abrigo do disposto na alnea c) do n.
1 do artigo 55. do CPTA.
Se a autarquia local optou por ser autora
popular, em caso de coincidncia de interesses, que
meramente acidental, ela vai defender um
interesse difuso da sua comunidade residente e no
um interesse seu, independentemente de se
verificarem ou no efeitos mediatos na esfera
jurdica da autarquia local.
A LAP obriga ao preenchimento prvio de
requisitos condicionais de verificao da
legitimidade activa no seu artigo 3., no caso das
associaes e fundaes. Estas entidades tm de
incluir expressamente nas suas atribuies ou nos
seus objectivos estatutrios a defesa dos interesses
em causa no tipo de aco de que se trate.
Ora, a LAP no contm previso semelhante
para as autarquias locais, sendo certo que se o
legislador quisesse que assim fosse, t-lo-ia dito
expressamente, como fez com as associaes e
fundaes. No h, como tal, que tentar descobrir
um elemento de conexo funcional entre a
autarquia local autora popular e o objecto do
processo.
Como afirma JOS ROBIN DE ANDRADE,
para a lei, o interesse que justifica e fundamenta a
aco popular est nsito, a priori, nas qualidades
das pessoas a quem a lei atribui objectivamente
esse direito de aco judicial
195
. E continua o
autor, dizendo que em suma, a natureza objectiva
de uma certa espcie de legitimidade contenciosa
caracterizada primariamente, no s pela forma
abstracta da sua atribuio (a promoo da aco
judicial dependendo da posse de uma qualidade
objectiva), mas tambm pelo seu carcter
constitutivo (e no declarativo), sendo portanto
irredutvel aco particular estabelecida em
termos normais
196
197
.
195
Cfr. op. cit., p. 35.
196
Idem, p. 45.
197
O autor conclui que na aco popular correctiva no h que
invocar nem demonstrar a existncia e titularidade de um prejuzo
concreto causado pelo acto impugnado, quer no que respeita ao
prprio autor popular, quer no que toca aos interesses da
colectividade autrquica, bastando para ser parte legtima que se
alegue a posse objectiva das qualidades que definem a categoria de
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
44
Quanto ao interesse em agir das autarquias
locais, ele no pode deixar de corresponder ao
benefcio que a autora popular pode retirar da
aco, no para si, mas para a comunidade
enquanto tal, ou seja, o interesse em agir
corresponde refraco actual e imediata do
benefcio na comunidade residente na rea da
circunscrio da autarquia local,
independentemente de se verificarem ou no
efeitos mediatos na esfera pessoal da autarquia
local
198
.
A atribuio de legitimidade popular s
autarquias locais pelo legislador ordinrio deve-se
ao facto de estas entidades se encontrarem numa
posio privilegiada de proximidade com os
titulares dos interesses difusos, o que lhes permite
assumirem-se como a entidade mais apta a
defender os interesses da sua comunidade
residente.
O objecto da tutela da aco popular instaurada
por uma autarquia local so os interesses que so
defendidos nessa aco popular, que no so os
interesses da autarquia local, mas sim os interesses
difusos ameaados ou ofendidos de que so
titulares os residentes na rea da sua circunscrio.
Dizer que os interesses difusos tm de constar
das atribuies e competncias das autarquias
locais seria o mesmo, em nosso entender, que
exigir a subjectivao desses interesses nas
autarquias, um pouco semelhana do que a
jurisprudncia italiana tem vindo a fazer com a
interpretao da legitimidade activa das associaes
pessoas a quem o direito de aco atribudo, e sendo suficiente
alegar que o acto impugnado viola a legalidade e a ordem jurdica.
JOS ROBIN DE ANDRADE sustenta esta posio, porquanto
considera ser inconcebvel que uma colectividade indeterminada de
pessoas seja titular de um direito, estando em causa, apenas, a
defesa da legalidade objectiva. J na aco popular supletiva,
defende o autor que o autor popular tem de alegar prejuzos
concretos sofridos pela entidade cujos interesses prossegue e a
proteco jurdica com que os interesses se encontram tutelados
(cfr. op. cit., p. 121). Aqui, j o autor considera que o autor popular
actua como substituto processual da entidade cujos direitos so
prosseguidos em juzo.
198
E ou tambm na esfera jurdica de cada um dos residentes na
rea de circunscrio da autarquia local autora.
na defesa dos interesses colectivos dos seus
membros.
Essa no , para ns, a interpretao correcta a
fazer da legitimidade activa e do interesse em agir
das autarquias locais enquanto autoras populares,
na medida em que o legislador portugus
configurou essa legitimidade e esse interesse em
agir de modo diverso. Caso se verificasse a
subjectivao dos interesses a tutelar na esfera
jurdica das autarquias locais, deixaramos pura e
simplesmente de estar perante a figura da aco
popular para passar a estar perante o exerccio de
um direito pessoal e directo das mesmas.
No so, assim, as atribuies e competncias
das autarquias locais que esto em causa na aco
popular, mesmo quando exista uma coincidncia
entre o interesse difuso a tutelar contenciosamente
e o interesse constante do elenco de atribuies e
competncias das autarquias. Essa coincidncia ser
sempre meramente acidental e no apaga a opo
que tiver sido feita pela instaurao da aco
popular, com todas as consequncias que a escolha
acarreta.
As autarquias locais actuam, pois, como autoras
populares sem que se coloque em cima da mesa
um limite de competncia ou do fim, pelo que
podem instaurar a aco popular para defesa de
interesses que no constem das suas atribuies e
competncias.
CAPTULO II
O TERRITRIO
4.2-O territrio e o exerccio do direito de
aco
Num segundo passo, podemos questionar se a
autarquia local apenas se pode socorrer da aco
popular quando os interesses a tutelar por via
contenciosa esto situados ou sejam afectados na
sua circunscrio territorial, uma vez que a
A Autarquia como Autora Popular
45
actuao das autarquias est limitada do ponto de
vista territorial sua circunscrio.
Entendem que existe semelhante limitao
JORGE MIRANDA e PEDRO MACHETE
199
,
MRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS
ALBERTO FERNANDES CADILHA
200
, MRIO
ESTEVES DE OLIVEIRA e RODRIGO
ESTEVES DE OLIVEIRA
201
e JOS CARLOS
VIEIRA DE ANDRADE
202
.
A este propsito, afirmam MRIO ESTEVES
DE OLIVEIRA e RODRIGO ESTEVES DE
OLIVEIRA: quanto s autarquias locais, a sua
legitimidade difusa assenta no facto de os bens ou
valores constitucionalmente tutelados, embora
radicados em toda a colectividade, terem (ou
poderem ter) particular incidncia na rea de uma
ou mais freguesias ou municpios o que,
naturalmente, restringe a sua legitimidade aos
processos em que se discutam questes
respeitantes aos efeitos da medida administrativa
na sua prpria circunscrio (art. 2/2 da Lei n.
83/95), no podendo agir judicialmente para
defesa de interesses difusos postos em causa noutro
local do territrio nacional
203
.
Tambm no Ac. do STA de 30 de Setembro
de 1999, proferido processo n. 41668
204
, decidiu-
se que a junta de freguesia a autora tinha
legitimidade para estar em juzo, entre outros
fundamentos, pelo facto de o imvel a implantar
se situar no logradouro de um imvel situado na
rea territorial da autarquia autora popular.
No cremos que exista um limite territorial no
sentido de as autarquias locais apenas poderem
actuar quando a medida administrativa tomada
tenha efeitos na circunscrio da autarquia autora.
199
Cfr. JORGE MIRANDA; RUI MEDEIROS, op. cit., p. 1042.
200
Cfr. Comentrio, p. 74.
201
Cfr. op. cit., p. 163.
202
Cfr. op. cit., pp. 177-178.
203
Idem, Ibidem.
204
Cfr. CJA, n. 31, Janeiro/Fevereiro 2002, pp. 3 e ss.
O que o n. 2 do artigo 2. da LAP nos diz
que as autarquias so titulares do direito de aco
popular em relao aos interesses de que sejam
titulares residentes na rea da respectiva
circunscrio.
Ora, esta norma no restringe os efeitos da
medida administrativa que afecta os interesses dos
residentes ao territrio da autarquia autora, nem
obriga a que os bens ameaados ou ofendidos se
situem no territrio da autarquia. O que ela refere
uma coisa distinta, consagrando que as autarquias
apenas podem actuar nas situaes em que os
interesses dos residentes na sua rea de
circunscrio tenham sido afectados ou ameaados.
Quem est ligado circunscrio so os residentes
da autarquia local e no os interesses de que os
mesmos so titulares.
Claro que, por regra, a afectao dos interesses
de que os residentes na rea de circunscrio das
autarquias so titulares ter refraco na mesma
rea territorial, ou os bens afectados estaro
situados na rea de circunscrio das autarquias,
mas isso no tem de ser forosamente assim.
Os interesses de que os residentes na rea de
circunscrio das autarquias so titulares, e os
efeitos da sua afectao, no tm de se confinar,
obrigatoriamente, ao territrio da autarquia em
apreo, ainda que, por regra, seja isso que acaba por
suceder na maioria das vezes.
Pensemos, por exemplo, no patrimnio cultural
ou na qualidade de vida. A afectao do Castelo
de Almourol, situado em Vila Nova da Barquinha,
enquanto patrimnio cultural no corresponde
afectao do interesse dos residentes no municpio
de Abrantes ao patrimnio cultural, apesar de o
mesmo no se encontrar situado na rea de
circunscrio daquela autarquia? A afectao ilegal
de uma ciclovia situada num municpio confinante
com aquele em que residem pessoas que a
utilizam, por no disporem de nenhuma na rea do
municpio em que residem, no consubstancia a
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
46
afectao do interesse de tais pessoas qualidade
de vida?
No h que considerar que a autarquia local
apenas tem legitimidade para instaurar a aco
popular administrativa no que respeita a bens
radicados na sua comunidade ou na rea da sua
circunscrio, ou de algum modo a afectados,
porquanto a legitimao da autarquia local no lhe
conferida em virtude de semelhante critrio.
O que permite que a autarquia local instaure
uma aco popular o facto de o interesse
afectado ou ameaado ser da titularidade dos
residentes na sua rea de circunscrio.
Nem a LAP, nem o CPTA exigem um nexo de
proximidade territorial entre o autor popular e o
bem lesado ou os efeitos da afectao desse bem,
razo pela qual no h que exigir uma ligao entre
o territrio e a localizao do bem afectado ou a
refraco dessa afectao no territrio
correspondente circunscrio da autarquia local.
CAPTULO III
CONCLUSES
Aqui chegados, estamos em condies de
alinhavar algumas concluses.
a) Na aco popular, as autarquias locais
defendem os interesses difusos de que so titulares
os residentes na rea da sua circunscrio; elas no
defendem interesses de que sejam, elas prprias,
titulares, directa ou indirectamente;
b) O direito de aco popular de que as
autarquias locais so titulares no consubstancia
um mero meio de controlo da Administrao, mas
sim um meio de tutela jurisdicional de interesses
difusos pertencentes sua comunidade residente,
cuja leso ou ameaa de ofensa pode resultar da
actividade quer de entidades pblicas, quer de
particulares;
c) O direito de aco popular das autarquias
locais corresponde a uma verdadeira aco popular
e no a uma aco pblica, pois no s as
autarquias actuam como se fossem um mero
particular, como a configurao legal da aco
popular das autarquias locais no ordenamento
jurdico portugus a afasta da aco pblica de que
o Ministrio Pblico titular;
d) Quando o interesse difuso a defender
pelas autarquias locais constar das suas atribuies
e competncias, essa coincidncia acidental no faz
com que as autarquias locais autoras populares
prossigam as suas atribuies e competncias, pois,
se o fizessem, estariam a actuar em defesa de um
interesse pessoal e directo e no em defesa do
interesse difuso da sua comunidade residente;
e) O legislador ordinrio atribuiu s
autarquias locais uma legitimidade processual
activa originria para que actuem em nome
prprio, por sua conta e no exerccio de um direito
prprio, embora em defesa de interesses alheios,
independentemente da titularidade de qualquer
direito, que no tm; enquanto autoras populares,
as autarquias locais no actuam em representao,
nem em substituio dos residentes na rea da sua
circunscrio;
f) Ao contrrio do disposto na alnea b) do
artigo 3. da LAP, relacionado com as associaes e
fundaes, o legislador no exige que os interesses
difusos a defender constem das atribuies e
competncias das autarquias locais, no sendo,
assim, de exigir um nexo de conexo funcional
entre estas e as suas atribuies e competncias;
g) O interesse em agir das autarquias locais
autoras populares corresponde ao benefcio que
podem retirar da aco para a comunidade
enquanto tal; ele consiste na refraco actual e
imediata do benefcio na comunidade residente na
rea da sua circunscrio territorial, verifiquem-se
A Autarquia como Autora Popular
47
ou no efeitos mediatos na esfera jurdica da
autarquia autora;
h) Ao atribuir legitimidade s autarquias
locais para defender o interesse difuso da
comunidade residente na sua rea de circunscrio,
o legislador no subjectivou o interesse difuso nas
autarquias locais, pois o seu titular continua a ser a
comunidade residente na respectiva rea de
circunscrio; caso se verificasse essa subjectivao,
deixaramos de estar perante a figura da aco
popular para passar a estar perante o exerccio de
um direito pessoal e directo das autarquias;
i) As autarquias locais podem ser autoras
populares quando actuam fora do mbito das suas
atribuies e competncias, uma vez que no so
estas que esto em causa na aco popular;
j) Por seu turno, as autarquias locais no
esto limitadas no exerccio do direito de aco
popular ao mbito espacial da respectiva
circunscrio territorial;
k) O n. 2 do artigo 2. da LAP no restringe
os efeitos da medida administrativa que afecta os
interesses dos residentes em certa autarquia local
ao territrio da autarquia autora; o que a norma
refere que as autarquias apenas podem actuar nas
situaes em que os interesses dos residentes na
sua rea de circunscrio tenham sido afectados ou
ameaados, pelo que o nexo territorial existente
estabelece-se entre os residentes das autarquias e a
sua rea de circunscrio e no entre esta e os
interesses de que aqueles so titulares;
l) A lei no exige um nexo de proximidade
territorial entre o autor popular e o bem lesado ou
os efeitos da afectao desse bem, no havendo
que exigir uma conexo entre o territrio e a
localizao do bem afectado ou a refraco dessa
afectao no territrio correspondente
circunscrio da autarquia local.
BIBLIOGRAFIA
AGRIFOGLIO, SERGIO - Riflessioni critiche sulle azioni
popolare come strumento di tutela degli interessi collettivi, in
Le Azioni a tutela di interessi collettivi: Atti del Convegno di
Studio, Pavia, 11-12 giugno, 1974, Cedam, Padova, 1976.
ANTUNES, NUNO SRGIO MARQUES - O Direito de
Aco Popular no Contencioso Administrativo Portugus, Lex,
Lisboa, 1997.
AROSO DE ALMEIDA, MRIO - O Novo Regime do
Processo nos Tribunais Administrativos, 3. ed. revista e
actualizada, Coimbra, 2004.
IDEM, Manual de Processo Administrativo, Almedina,
2010.
AROSO DE ALMEIDA, MRIO; FERNANDES
CADILHA, CARLOS ALBERTO - Comentrio ao Cdigo de
Processo nos Tribunais Administrativos, 2 ed., Almedina,
Coimbra, 2007.
BRUNO, TOMMASO - Azione Populare, in Il Digesto
Italiano, vol. IV, parte seconda, 1893-1899, pp.951-974.
CAETANO, MARCELLO - Manual de Direito
Administrativo, 10 ed., 5 reimpresso, vol. I, Almedina,
Coimbra, 1991.
CNDIDO DE OLIVEIRA, ANTNIO - Direito das
Autarquias Locais, Coimbra, 1993.
CAPPELLETI, MAURO - Appunti sulla tutela
giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, in Le Azioni a
tutela di interessi collettivi: Atti del Convegno di Studio, Pavia,
11-12 giugno, 1974, Cedam, Padova, 1976, pp.191-221.
CARINGELLA, FRANCESCO - Manuale di diritto
amministrativo, Giuffr Editore, Milano, 2007.
CASETTA, ELIO - Manuale di Diritto Amministrativo,
quarta edizione riveduta ed aggiornata, Giuffr Editore, 2002.
CAUPERS, JOO - Introduo ao Direito Administrativo,
10 ed., ncora, 2009.
IDEM, A Administrao Perifrica do Estado, Estudo de
Cincia da Administrao, Aequitas, Editorial Notcias, 1994.
COLAO ANTUNES, LUIS FILIPE - A Tutela dos
Interesses Difusos em Direito Administrativo: para uma
legitimao procedimental, Almedina, Coimbra, 1989.
ESTEVES DE OLIVEIRA, MRIO; OLIVEIRA,
RODRIGO ESTEVES DE - Cdigo de Processo nos Tribunais
Administrativos e Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais, Anotados, vol. I, reimpresso da ed. de Novembro de
2004, Almedina, 2006.
FBRICA, LUIS - A Aco Popular no Projecto de
Cdigo do Processo Nos Tribunais Administrativos, in
Reforma do Contencioso Administrativo, Trabalhos
Preparatrios, O Debate Universitrio, Ministrio da Justia,
vol. I, pp. 167-177.
IDEM, A Aco Popular no Projecto de Cdigo de
Processo nos Tribunais Administrativos, in CJA, n. 21,
Maio/Junho 2000, pp. 16-22.
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
48
IDEM - A aco popular j no o que era, in Cadernos
de Justia Administrativa, n. 38, Maro/Abril 2003, pp. 35-54.
FERRARESI, EURICO - A pessoa fsica como legitimada
ativa ao colectiva, in Direito Processual, GRINOVER,
ADA PELLEGRINI (Coord.), et al., Revista dos Tribunais, So
Paulo, 2007, pp. 140 e ss..
FIGUEIREDO DIAS, JOS EDUARDO - Os Efeitos da
Sentena na Lei de Aco Popular, in Revista do Centro de
Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do
Ambiente, Ano II, n. 3, 1999, pp. 47-64.
FIGUEIREDO DIAS, JOS EDUARDO; OLIVEIRA,
FERNANDA PAULA - Noes Fundamentais de Direito
Administrativo, 3 reimpresso, Almedina, Coimbra, 2009.
FILHO, PAULO BARBOSA DE CAMPOS, A Aco
Popular Constitucional, in Revista Forense, vol. 157, 1955, pp.
21-33.
FREITAS DO AMARAL, DIOGO - Curso de Direito
Administrativo, I, 3. ed., 2. reimpresso, Almedina, Lisboa,
2006.
GAROFOLI, ROBERTO; FERRARI, GIULIA - Manuale
di Diritto Amministrativo, 4. ed., S.I.: Nel Diritto Editore,
2010.
GOMES, CARLA AMADO - Aco Pblica e Aco
Popular na Defesa do Ambiente: reflexes breves, in Em
Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral,
Coimbra, 2010, pp. 1181-1208.
IDEM, A ecologizao da Justia Administrativa:
brevssima nota sobre a alnea l) do n. 1 do artigo 4. do
ETAF, in Revista Jurdica do Urbanismo e do Ambiente,
Lisboa, Fevereiro de 2004, pp. 25-41.
IDEM, Um por todos e todos pela proteco ambiental,
in Cadernos de Justia Administrativa, n. 31, Janeiro/Fevereiro
de 2002, pp. 3-12.
GOMES CANOTILHO, J. J.; VITAL MOREIRA -
Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, Vol. I, 4. ed.
revista, Coimbra.
GRINOVER, ADA PELLEGRINI - O Projecto de Lei
Brasileira Sobre Processos Colectivos, in Revista Portuguesa de
Direito do Consumo, n. 62, Coimbra, 2010, pp. 155-162.
GRINOVER, ADA PELLEGRINI (Coord.); MENDES,
ALUISIO GONALVES DE CASTRO; WATANABE,
KAZUO - Direito Processual Colectivo e o Anteprojecto de
Cdigo Brasileiro de Processos Colectivos, Revista dos Tribunais,
So Paulo, 2007.
LEBRE DE FREITAS, JOS - A aco popular do direito
portugus, in sub judice, justia e sociedade, n. 24,
Janeiro/Maro 2003, pp. 15-26.
MAIA, DIOGO CAMPOS MEDINA - a Ao Coletiva
Passiva: o retrospecto histrico de uma necessidade presente,
in Direito Processual, GRINOVER, ADA PELLEGRINI
(Coord.), et al., Revista dos Tribunais, So Paulo, 2007, pp.
321-344.
MANCUSO, RODOLFO DE CAMARGO - Interesses
Difusos: Conceito e Legitimao para Agir, 6 ed., revista,
actualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, So Paulo, 2004.
MENDES, ALUISIO GONALVES DE CASTRO - O
Anteprojeto de Cdigo Brasileiro de Processos Coletivos: Viso
Geral e Pontos Sensveis, in Direito Processual,
GRINOVER, ADA PELLEGRINI (Coord.); et al., Revista dos
Tribunais, So Paulo, 2007, pp. 16-32.
MIRABELLA, MAURICIO; DI STEFANO, MASSIMO;
ALTIERI, ANDREA - Corso di diritto amministrativo, Giuffr
Editore, 2009.
MIRANDA, JORGE - As Constituies Portuguesas, de
1822 ao texto actual da Constituio, 2. ed., Livraria Petrony,
1984.
MIRANDA, JORGE; MEDEIROS, RUI - Constituio
Portuguesa Anotada, Tomo I, 2 ed., Wolters Kluwer, Coimbra
Editora.
OLIVEIRA ASCENSO, JOS DE - A Aco Popular e
a Proteco do Investidor, in Cadernos do Mercado de Valores
Mobilirios, 2001, n. 11.
OTERO, PAULO - A Aco Popular: configurao e
valor no actual Direito portugus, in Revista da Ordem dos
Advogados, ano 59, Lisboa, Dezembro de 1999, pp. 871-893.
PALADIN, LIVIO - Azione Populare, in Novissimo
Digesto Italiano, vol. II, p. 88.
PINTO, ELIANA - Os municpios titulares da aco
popular, in Direito Administrativo das Autarquias Locais,
Estudos, PINTO, ELIANA; et al., Wolters Kluwer, Coimbra
Editora, 2010, pp. 291-322.
ROBIN DE ANDRADE, JOS - A Aco Popular no
Direito Administrativo Portugus, Coimbra, 1967.
SANTOS BOTELHO, JOS MANUEL DOS -
Contencioso Administrativo, 3 ed., Almedina, 2000.
SRVULO CORREIA, JOS MANUEL - Direito do
Contencioso Administrativo, Lex, Lisboa, 2005.
SILVA PAIXO, J. DA; ARAGO SEIA, J.;
FERNANDES CADILHA, C.A. - Cdigo Administrativo
actualizado e anotado, 5 ed., Almedina, Coimbra, 1989.
SOTTO MAIOR, MARIANA - O Direito de Aco
Popular na CRP, in Documentao e Direito Comparado, 1998,
pp.239 e ss..
TEIXEIRA DE SOUSA, MIGUEL - A Legitimidade
Popular na Tutela dos Interesses Difusos, Lex, 2003.
VIEIRA DE ANDRADE, JOS CARLOS - A Justia
Administrativa (Lies), 7. ed., Almedina, Coimbra, 2005.
ZAVASCKI, TEORI ALBINO - Reforma do Processo
Coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para
direitos individuais homogneos e para direitos
transindividuais, in Direito Processual, GRINOVER, ADA
PELLEGRINI; et al., Revista dos Tribunais, So Paulo, 2007,
pp. 32-38.
A Autarquia como Autora Popular
49
Joana Roque Lino Advogada e Agente de Execuo
1. EXPERINCIA PROFISSIONAL
1997 | Advogada.
Atuao nas reas do Direito Administrativo,
nomeadamente, Autrquico, Sade, Farmacutico,
Aeroporturio, Urbanismo, Turismo e Restaurao, Direito
Cvel, Direitos Reais, Contratos, bem como no Contencioso e
Julgados de Paz. Atuao nas reas do Direito Societrio,
Insolvncia e Recuperao de Empresas, Processo Tributrio,
Laboral e Segurana Social. Na vertente mais tradicional, presta
servios relacionados com Direito Penal e Processo Penal,
Processo Contraordenacional, Direito da Famlia, Menores,
Sucesses e Arrendamento
2011 | Agente de Execuo.
Tramitao de processos executivos, citaes, notificaes e
notificaes judiciais avulsas.
2011 | Jurista do grupo de reviso do Plano Director
Municipal da Lourinh
2. FORMAO ACADMICA E PROFISSIONAL
2011 | Doutoranda em Direito Pblico na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa
2010-2012 | Mestrado em Direito Pblico na Faculdade
de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Classificao final
15 valores
2006-2007 | Ps-graduao em Direito Fiscal na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa. Classificao final 15
valores.
2002-2003 | Ps-graduao em Direito Pblico sobre o
Novo Contencioso Administrativo na Faculdade de Direito da
Universidade Catlica. Classificao final 15 valores.
1998 | DECO - Formao profissional sobre Direitos dos
Consumidores (250 horas)
1996-1997 | Ps-graduao em Cincias Poltico-
Administrativas na Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa. Classificao final 14 valores
1995 | Licenciatura pela faculdade de direito da
Universidade de Lisboa. Mdia de curso 13 valores
3. APTIDES E COMPETNCIAS TCNICAS
Realizao de tradues jurdicas do ingls, francs e
espanhol para o portugus.
4. COMUNICAES E PUBLICAES
Elaborao de artigos jurdicos em publicaes peridicas
2006-2010
Publicao de artigo no stio da Internet da Wolters
Kluwer, intitulado A condenao da Administrao no
emisso de um ato administrativo quando seja provvel a
emisso de um ato lesivo e a ao administrativa especial,
elaborado com base no trabalho final apresentado na ps-
graduao de contencioso administrativo (2003).
Publicao de livro com minutas de contratos civis, da
coleco jusformulrios, editado pela Wolters Kluwer e pela
Coimbra Editora (Julho 2009), com 2 edio em Dezembro
de 2012.
5. PARTICIPAES EM CONGRESSOS E SEMINRIOS
Participao em mini mba, no IRR, sobre energias
renovveis, em Janeiro de 2009.
Participao nas primeiras jornadas da qualidade
farmacutica, em Setembro de 2009.
6. OUTRAS INDICAES
Formadora titular de CAP
Formao em aes relacionadas com diversas matrias
na ANA, Aeroportos de Portugal, S.A.
Membro da Ordem dos Advogados desde 1997
(advogada); 1996-1997 (advogada estagiria).
A AUTORA
JOANA ROQUE LINO A Autarquia como Autora Popular
50
DIREITO LABORAL
Ano 1 N. 02 [pp. 51-100]
51
MARLENE ALEXANDRA FERREIRA MENDES
Docente no Departamento de Cincias Empresariais do Instituto Politcnico de Beja
Doutoranda em Direito
RESUMO:
O presente trabalho sobre o direito mentira da trabalhadora grvida composto por duas partes. Numa primeira parte
expoem-se as perspectivas moral, teolgica, tico-filosfica e poltica sobre a mentira com o objectivo de definir em que
consiste a/uma mentira. Daqui resulta que se por um lado se reconhece a omnipresena da mentira na sociedade por
outro lado a mentira sempre objecto de reprovao.
Sendo a mentira reprovada em qualquer uma das vertentes supra identificadas, ter tambm de o ser no Direito
enquanto cincia social. No entanto, tambm ao Direito que cabe assegurar a defesa dos direitos dos cidados. Defesa
essa que poder passar pelo silncio, pela omisso ou pela declarao de factos que constituam uma mentira.
Nesta perspectiva, como dever reagir a trabalhadora grvida, purpera ou lactante que, numa entrevista de emprego ou
perante a possibilidade de renovao de um contrato de trabalho a termo, se v confrontada com a questo que lhe
colocada pelo empregador (ou futuro empregador) em relao ao seu estado de gravidez ? Ou, mesmo que nada lhe
tenha sido perguntado, essa mulher declare por iniciativa prpria no estar grvida e/ou no pretender engravidar. Ser a
mentira admissvel nesta situao ?
No seio do Direito do Trabalho enquanto ramo do direito regulador do contrato de trabalho, cujo nomos
identificativo consiste na subordinao jurdica a procura das respostas s questes supra colocadas realizada, numa
primeira fase, atravs da ponderao dos deveres e dos direitos que contratual e legalmente so atribudos s partes,
quer pelo Cdigo do Trabalho Portugus quer pela Constituio da Repblica Portuguesa. E, numa segunda fase atravs
do recurso comparao com a posio processual do arguido em Direito Penal e em Direito Processual Penal.
Conclui-se que, no obstante a reprovao moral, teolgica, tico-filosofica, poltica e grosso modo jurdica que
sempre deve recair sobre a/uma mentira, admite-se que, em determinadas circunstncias, a/uma mentira no produza
quaisquer efeitos jurdicos, particularmente se essa mentira for o meio atravs do qual se tutelam e/ou protegem
efectivamente direitos legal e constitucionalmente consagrados.
O DIREITO MENTIRA
DA TRABALHADORA GRVIDA
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
52
O DIREITO MENTIRA DA TRABALHADORA GRVIDA
MARLENE ALEXANDRA FERREIRA MENDES
Docente no Departamento de Cincias Empresariais do Instituto Politcnico de Beja
Doutoranda em Direito
1. Introduo
Menti? No, compreendi.
Que a mentira, salvo a que infantil e
espontnea e nasce da vontade de estar a sonhar,
to-somente a noo da existncia real dos outros e
da necessidade de conformar a essa existncia a
nossa, que se no pode conformar a ela.
FERNANDO PESSOA
A mentira, quer queiramos quer no, assume
um lugar importante na vida humana e na cultura
contempornea. KOYR, filsofo do sculo XX,
afirmou que, apesar de nunca se ter mentido tanto
quanto em nossos dias e de forma descarada,
sistemtica e constante, incontestvel que o
homem sempre mentiu a si mesmo e aos outros e
que o homem moderno est mergulhado na
mentira, respira a mentira e est submetido
mentira em todos os instantes da sua vida
1
.
Tambm OSCAR WILDE, no seu ensaio O
declnio da mentira, afirma, com a extrema ironia
e cinismo que lhe eram peculiares, o lugar
proeminente da mentira na sociedade vitoriana
(O que devemos cumprir, o que em todo caso
constitui o nosso dever, renovar esta velha arte da
1
KOYR, Alexandre. Reflexes Sobre a Mentira. Lisboa, Frenesi, 1996.
mentira. () Mentir pelo aperfeioamento da
mocidade a base de uma educao na famlia
inglesa; () H o jeito de mentir para o qual todas
as boas mes sentem particulares disposies, mas
que ainda pode ser incrementado e mais cultivado
na escola.)
2
.
Se atentarmos bem, a prpria natureza
prdiga em mentiras ou enganos, desde a planta
carnvora que se disfara para melhor poder atrair a
si as suas vtimas ou a relativa invisibilidade da teia
da aranha para que os insectos voadores a no
vejam e nela fiquem presos, at aos diversos tipos
de camuflagens com que presas e predadores se
dotam para poder melhor iludir o seu adversrio,
nessa luta directa e diria que a luta pela
sobrevivncia e pela autopreservao, sempre
tendo como pano de fundo o objectivo
darwiniano de conseguir, com maior
probabilidade, transmitir os seus genes para as
geraes futuras. No deixa contudo de ser
espantoso o grau de sofisiticao a que alguns seres
vivos conseguiram chegar no s nas mscaras que
disfaram (por exemplo os camalees que mudam
de cor ou as orqudeas que simulam to bem a
forma e o cheiro das fmeas de insectos que
conseguem que os insectos-machos tenham um
contacto prximo com os rgos reprodutores das
2
WILDE, scar. O Declnio da Mentira. Lisboa, Passagens, 1991.
O direito mentira da trabalhadora grvida
53
plantas, conseguindo assim o transporte de plen
para os rgos reprodutores de outra planta) mas
tambm nos gestos que ludibriam (por exemplo,
nalgumas variedades de mosca domstica o macho
corteja a fmea oferecendo-lhe alguma comida e
enquanto esta se alimenta o macho acasala com
ela. O engano acontece quando surge um outro
macho que travestidamente faz a mmica da fmea
e que recebe a oferta para logo de seguida fugir do
acasalamento).
No caso das camuflagens o engano deriva de
uma iluso negativa, ou seja, de induzir o outro
organismo a no perceber o que l est. Nos
ltimos exemplos o engano deriva de uma iluso
positiva (a que tambm poderamos chamar de
desinformao), ou seja, de induzir o outro
organismo a perceber algo que, de facto, no est
l.
Certamente que parece inquestionvel o direito
sobrevivncia, quer no mundo animal quer no
mundo humano, mas a situao torna-se muito
mais complexa quando pensamos se deve existir
ou no uma forma tica ou moral de se sobreviver
(e de transmitir os genes) ou se a sobrevivncia
um bem que se deve procurar a qualquer custo. E
embora nos textos sagrados seja sugerido que a
verdade se deve sempre sobrepor (Fala a verdade,
mesmo que ela esteja contra ti.
3
), a realidade
humana bem diferente e a relao do conceito
de necessidade de sobrevivncia com a
admissibilidade do engano ou da mentira assim
imediatamente evidente, no sentido de se discutir
se h ou no um possvel direito a mentir, se isso
for necessrio sobrevivncia do indivduo.
Para vrios pensadores, inquestionvel que a
mentira algo extraordinariamente negativo, que
sempre prejudicial ou para o indivduo ou para a
sociedade (Efectivamente ela (a mentira), ao
inutilizar a fonte do direito, prejudica sempre
outrem, mesmo se no um homem determinado
3
Alcoro
mas a humanidade em geral
4
), e que deve ser
evitada a todo o custo. No entanto, muitos outros
autores reconhecem que a mentira faz
habitualmente parte da existncia e do quotidiano
humano e que, longe de ser considerada uma
conduta anti-social, a mentira ou pelo menos
algumas formas de mentira, pode ser vista como
uma forma de adaptao ou de relao social
aprendida desde a infncia.
Para alguns filsofos clssicos e modernos
(desde PLATO em A Repblica
5
a NIETZSCHE
no seu livro Verdade e Mentira no sentido
extramoral
6
) o nosso mundo to falso,
contraditrio, enganador, ilusrio e insensvel, que
a mentira vista como parte da essncia humana e
elemento necessrio para a sobrevivncia. E, para
essa mesma sobrevivncia, pode ser at necessria
uma capacidade de auto-iluso ou, em ltima
anlise, de se mentir a si prprio. Para
NIETZSCHE, o intelecto um rgo fingidor que
opera ocultando o fundo trgico da existncia, o
intelecto ilude, dissimula e forja imagens
luminosas, tudo para lanar um vu sobre esse
fundo trgico e assim continuar a viver.
A respeito de uma necessidade da mentira,
atribuda ao francs ANATOLE FRANCE, Nobel
da Literatura em 1921, a seguinte afirmao:
Gosto da verdade. Acredito que a humanidade
precisa dela; mas precisa ainda mais da mentira
que a lisonjeia, a consola, lhe d esperanas
infinitas. Sem a mentira, a humanidade pereceria
de desespero e de tdio.
Adicionalmente s questes da existncia
disseminada da mentira e da sua eventual
necessidade vivncia humana, muitos pensadores
tm questionado tambm as prprias noes
4
KANT, Immanuel. Sobre um suposto direito de mentir por amor
humanidade in Paz Perptua e outros Opsculos. Lisboa, Edies 70,
1989. Tambm disponvel em
www.lusosofia.net/textos/kant_immanuel_paz_perpetua.pdf
(consultado em 15/03/2010).
5
PLATO. A Repblica. Lisboa, Edies 70, 1997.
6
NIETZCSHE, Friedrich. Acerca da verdade e da mentira. Lisboa,
Relgio Dgua, 2000.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
54
apriorsticas sobre a verdade e a mentira, tornando-
se por vezes difcil determinar precisamente onde
comea uma e termina a outra. WITTGENSTEIN
7
caracteriza nas suas Investigaes Filosficas a
mentira como um jogo de linguagem, com regras
e que deve ser aprendido como qualquer outra
matria. NIETZSCHE avana com a ideia que
() a verdade e a mentira so construes que
decorrem da vida no rebanho e da linguagem que
lhe corresponde. O homem do rebanho chama de
verdade aquilo que o conserva no rebanho e
chama de mentira aquilo que o ameaa ou exclui
do rebanho. () Portanto, em primeiro lugar, a
verdade a verdade do rebanho
8
. E o homem
que, tal como no mito da caverna de PLATO
9
,
consegue sair e ver a verdade, quando retorna
caverna ridicularizado e maltratado pelos seus
concidados pois essa pretensa verdade no a
verdade do rebanho (ou nesse momento ainda no
a verdade do rebanho) e, portanto, mentira.
Tambm neste conceito de que a temporalidade
poder fazer a diferena entre o que hoje
considerado uma mentira mas que amanh poder
j ser considerado uma verdade, de acordo com a
afirmao atribuda a SCHOPPENHAUER
segundo a qual este filsofo alemo do sculo XIX
defende que a verdade atravessa trs fases: na
primeira ela ridicularizada, na segunda
contrariada e na terceira finalmente aceite como
verdade. Ou, como o poeta brasileiro MRIO
QUINTANA escreveu, a mentira uma verdade
que se esqueceu de acontecer.
Independentemente das consideraes acima
expostas, a mentira e a questo da sua
admissibilidade ou inadmissibilidade levanta
inmeras dvidas em vrias reas do Direito,
cincia social por excelncia que reflecte nas suas
7
WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lgico-Filosfico. Investigaes
Filosficas, 2 ed. Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1995.
8
NIETZCSHE, Friedrich. Acerca da verdade e da mentira, cit.
9
PLATO. A Repblica. Lisboa, Edies 70, 1997.
normas os valores e princpios inerentes vida
humana e vida em sociedade.
E estas dvidas existem tambm porque, de
uma forma geral, a mentira nunca analisada per
se, isoladamente, encontrando-se sempre em
confronto com outros direitos, alguns deles direitos
fundamentais dos cidados. Porque se analisarmos
a mentira isoladamente, descontextualizada, sero
poucos os que no lhe atribuiro um carcter
eminentemente negativo. Mas tomemos o
exemplo do tema deste trabalho: a mulher grvida
e candidata ao primeiro emprego que cr, face aos
circunstancialismos do mercado de trabalho, que se
for sabido que ela est grvida ningum lhe dar a
possibilidade de trabalhar e, nessa situao, a sua
capacidade de sobrevivncia e a do seu filho estar
posta em causa. Quando questionada sobre se est
grvida tem de responder ? E se responder tem de
o fazer com verdade ? Um outro exemplo destes
dilemas tico-morais o exemplo clssico da
guarida a fugitivos perseguidos injustamente (por
exemplo os judeus na Alemanha nazi). Se, nesse
caso, os perseguidores vierem perguntar pelos
perseguidos, o que lhes d guarida tem de
responder ? E se responder tem de o fazer com
verdade, incriminando-se e provavelmente
sentenciando os inocentes morte ? Ou seria mais
defensvel, do ponto de vista tico-moral, a
hiptese cnica de nem sequer lhes dar guarida
para depois no ter de mentir, mas desrespeitando
dessa forma princpios de compaixo e de auxlio a
indefesos, tidos como muito importantes em todas
as sociedades e religies ? E haver diferena entre
mentiras e no-verdades, haver mentiras
melhores, mais justificadas, do que outras ?
Decorre do exposto que teremos que comear
por nos questionar sobre o que , de facto, uma
mentira e para isso iremos iniciar este trabalho no
s com uma reflexo sobre a definio de mentira,
mas tambm com uma reflexo sumria sobre
algumas das vastssimas questes morais que lhe
esto conexas. S depois iremos tentar abordar a
questo do direito mentira, nomeadamente do
O direito mentira da trabalhadora grvida
55
direito mentira da trabalhadora grvida,
perspectivando-o tambm em comparao com o
direito ao silncio (e eventual direito mentira) do
arguido em processo penal.
2. A mentira: definio e a questo moral
Dizem que finjo ou minto
Tudo o que escrevo. No.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginao.
FERNANDO PESSOA
Ai quem me dera uma feliz mentira
que fosse uma verdade para mim!
JLIO DANTAS
Tu julgas que eu no sei que tu me mentes
Quando o teu doce olhar pousa no meu?
Pois julgas que eu no sei o que tu sentes?
Qual a imagem que alberga o peito meu?
Ai, se o sei, meu amor! Em bem distingo
O bom sonho da feroz realidade
No palpita damor, um corao
Que anda vogando em ondas de saudade!
Embora mintas bem, no te acredito;
Perpassa nos teus olhos desleais
O gelo do teu peito de granito
Mas finjo-me enganada, meu encanto,
Que um engano feliz vale bem mais
Que um desengano que nos custa tanto!
FLORBELA ESPANCA
2.1. Definio
O inverso da verdade tem dez mil formas e um
campo ilimitado.
MONTAIGNE
Em termos de definio, e segundo o dicionrio
da lngua portuguesa da Porto Editora, podemos
considerar mentira como um engano propositado
ou afirmao contrria verdade, com a inteno
de enganar, ou seja, afirmar como verdadeiro o
que se sabe ser falso, ou negar o que se sabe ser
verdade. Num mesmo sentido vai o Websters
Dictionary ao defini-la como A falsehood uttered
or acted for the purpose of deception; an intentional
violation of truth; an untruth spoken with the
intention to deceive. No entanto, ambos os
dicionrios tambm utilizam outros termos
definidores, relacionados mas no obrigatoriamente
com o mesmo sentido da anterior definio, como
sejam no caso portugus embuste; erro; iluso e,
no caso ingls, a fiction; a fable; an untruth,
sinnimos estes que no contm obrigatoriamente
o elemento volitivo da inteno de enganar que
domina claramente a primeira definio
apresentada. Estas diferenas, intuitiva e
imediatamente perceptveis e de certa forma
reflectidas nos conceitos de mentira apresentados
no excertos de um poema de FERNANDO
PESSOA
10
, fazem-nos claramente perceber a
necessidade de analisar em maior detalhe essa
definio, que provm muito do pensamento de
SANTO AGOSTINHO que remonta aos sculos
IV-V d.C..
Nas suas obras De Mendacio e Contra
Mendacium
11
defende que ningum duvida que
seja uma mentira, quando uma pessoa alega
propositadamente uma falsidade com o propsito
de enganar: pois uma alegao falsa defendida com
o propsito de enganar , manifestadamente, uma
mentira. E, de forma anloga, classifica como
mentiroso todo aquele que tem uma coisa na sua
mente, mas expressa algo diferente por suas
palavras ou por qualquer outro sinal possvel. Para
este Doutor da Igreja, mentir no simplesmente
dizer uma inverdade mas sim negar o prprio
Deus.
Com essa sua clssica definio de mentira,
SANTO AGOSTINHO deixa claro logo de incio,
no somente o que , mas tambm o que no
mentira: dizer algo que se achou verdadeiro,
10
PESSOA, Fernando. Cancioneiro. Disponvel em
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pe000006.pdf.
(consultado em 20/05/2010).
11
SANTO AGOSTINHO. De Mendacio e Contra Mendacio. Citado no
livro de SCHAFF, Phylip. On the Holy Trinity; Doctrinal Treatises; Moral
Treatises. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library. Disponvel
em http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.pdf (consultado em
17/06/2010).
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
56
estando sinceramente enganado, ou dizer uma
verdade que prejudique algum, por mais grave
que seja este prejuzo e por pior que seja o pecado
efetivamente cometido contra o outro, no
constitui de facto uma mentira. Pelo contrrio,
mentiroso todo aquele que mente para
aparentemente atingir um bem. A mentira ser
sempre corruptora e escravizante, enquanto s a
verdade pode libertar: no certamente por acaso
que SANTO AGOSTINHO repete vrias vezes
nas suas obras o dito bblico de que a boca que
mente escraviza a alma. Adicionalmente,
elaborada por este autor uma teorizao sobre os
diversos tipos de mentira a que, embora
sucintamente, regressaremos mais tarde.
Contudo, a definio de mentira acima indicada
(afirmao contrria verdade, com a inteno de
enganar), embora parea clara, coloca alguns
problemas. Por exemplo, uma pessoa que faz uma
declarao que acredita ser verdadeira mas com
inteno de enganar a outra pessoa estar ou no a
mentir se, sem que ele o saiba, a declarao afinal
for falsa. Neste caso, se A disser a B que no vai
haver reunio da Direco na 5 feira (o que A
julga ser verdade) com a inteno de levar B a crer
que j no ir haver reunio de Direco nessa
semana (o que A julga ser falso pois julga ir haver
reunio na 4 feira), ento A estar a mentir a B s
se A estiver enganado e se, de facto, houver uma
reunio na 5 feira. Mas ser que pode estar a
mentir se se estiver enganado? Um outro exemplo
poder ser o de dois conspiradores que, sem
qualquer desejo de se enganarem um ao outro,
fazem mutuamente falsas declaraes que ambos
sabem que so falsas mas cuja inteno enganar
bisbilhoteiros, pessoas que eventualmente possam
estar a escutar sem se mostrarem. Estaro estas
duas pessoas a mentir?
De facto, ambos os casos so controversos e
no claro que os devamos considerar a ambos
como mentiras.
Assim, surge uma outra definio de mentira,
proposta por WILLIAMS em 2002, que, para
ultrapassar estes problemas, postula que a mentira
uma assero cujo contedo o emissor acredita
ser falso e que feita com o intuito de enganar o
ouvinte em relao a esse contedo
12
ou, por
outras palavras, mentir fazer uma afirmao que
se acredita falsa a uma determinada audincia com
o intuito de enganar essa audincia sobre o
contedo dessa afirmao. Nesta definio h pelo
menos quatro condies necessrias para se poder
considerar uma mentira:
1- Mentir requer que a pessoa que mente
faa uma declarao ou afirmao: condio da
declarao (statement condition);
2- Mentir requer que a pessoa que mente
acredite que a declarao falsa: condio da
falsidade (untruthfulness condition);
3- Mentir requer que a falsa declarao seja
feita ou endereada a uma outra pessoa: condio
do endereamento (addressee condition);
4- Mentir requer que a pessoa que mente
tenha a inteno de fazer outra pessoa acreditar
que a falsa declarao verdadeira: condio da
inteno de enganar o destinatrio (intention to
deceive addressee condition).
Iremos, de seguida, tentar analisar, um pouco
mais em pormenor, cada uma destas quatro
condies desta definio e algumas das objeces
que lhe so colocadas.
A condio da declarao requer que a pessoa
que mente efectue uma declarao. Pode
considerar-se que uma pessoa faz uma declarao
quando a pessoa acredita que h a expresso de
uma proposio que se destina a ser compreendida
por outra pessoa, sendo que essa expresso pode
12
WILLIAMS, B. Truth and Truthfulness: An Essay in Genealogy.
Princeton, Princeton University Press, 2002.
O direito mentira da trabalhadora grvida
57
assumir a forma de linguagem oral ou escrita ou ser
efectuada atravs de sinaltica convencionalmente
compreensvel. Assim, perfeitamente possvel
efectuar uma declarao (e portanto mentir)
atravs de linguagem gestual, de cdigo Morse, de
sinais de fumo ou at atravs de gestos corporais
cujos significados esto perfeitamente bem
convencionados (por exemplo dizer no ou sim
com a cabea). No entanto, j no existir uma
proposio declarativa quando, por exemplo, a
pessoa use uma aliana sem ser casada ou um
uniforme sem ser militar. E, por esse motivo, ainda
que essa utilizao seja feita com o objectivo de
enganar outras pessoas, essa atitude no poder ser
considerada uma mentira. Ainda dentro deste
conceito, e considerando a necessidade de uma
declarao, uma pessoa no pode mentir por
omisso. No entanto, se o silncio for um sinal,
previamente combinado e com um determinado
significado, ento o permanecer em silncio pode
ser equivalente a uma declarao e, por isso, pode
constituir uma mentira, embora nunca seja
considerada uma mentira por omisso.
Como objeco a esta condio tem sido
referido por outros autores que qualquer forma de
comportamento que faa os outros acreditar em
falsidades ou que prive os outros da verdade pode
constituir uma mentira, mesmo que se trate s de
omitir informao sem fazer qualquer afirmao
que seja falsa.
A condio da falsidade requer que a pessoa
que mente faa uma declarao que acredite ser
falsa. Mas deve notar-se que, neste ponto, a
condio o emissor acreditar ser falso o que
declara, no sendo relevante se a declarao , de
facto, falsa ou verdadeira. Ou seja, de acordo com
esta condio, uma pessoa pode mentir mesmo
que depois se venha a verificar que o que disse era
verdade se, no momento da declarao, o emissor
estiver convencido da falsidade da sua declarao.
o que ocorre na situao narrada num conto de
SARTRE
13
, em que a aco decorre durante a
Guerra Civil Espanhola, no qual um prisioneiro
condenado morte pelos fascistas (Pablo Ibbieta)
interrogado sobre o paradeiro do seu camarada
(Ramn Gris). Pablo Ibbieta, convencido que Gris
se escondia com os seus primos afirma que Gris se
encontra escondido no cemitrio, com a inteno
de que os seus captores acreditassem nele e fossem
procurar Gris a um local onde ele no se
encontraria. Contudo, por ironia do destino, vem a
verificar-se que a afirmao afinal verdade: Gris
preso no cemitrio e Ibbieta colocado em
liberdade. Segundo esta definio de mentira que
estamos a analisar, Ibbieta mentiu, embora a
declarao falsa que ele emitiu afinal se tenha
vindo a revelar verdadeira. De forma anloga, uma
pessoa pode no estar a mentir mesmo quando faz
uma declarao que se vem a provar falsa, desde
que, no momento da declarao, o emissor estiver
convencido, ainda que erroneamente, da verdade
do que declara e pretender convencer a outra
pessoa dessa mesma verdade. Se A declara a B que
o inimigo tem armas de destruio macia, com a
inteno de que B acredite nessa afirmao, ento
A s estar a mentir se acreditar que essa
declarao falsa; A no estar a mentir se
acreditar que essa declarao no falsa.
Assim, de acordo com esta condio, se a
pessoa que faz a declarao no acredita que a
mesma seja falsa ento no estar a mentir, mesmo
que ela faa essa declarao com inteno de
enganar outra pessoa. Consideremos duas pessoas
que se encontram num comboio que sai de
Moscovo e que A pergunta a B para onde que
ela vai. B responde que vai para Pinsk, ao que A
responde:
-Ests a mentir. Tu queres-me enganar e fazer
crer que vais para Pinsk quando eu sei muito bem
que vais para Minsk. Neste caso, mesmo que seja
verdade a inteno de enganar, atribuda a B por A,
13
SARTRE, Jean-Paul. O muro. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira,
1974.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
58
no se pode considerar que B esteja a mentir pois
B acredita que a declarao que fez plenamente
verdadeira.
Finalmente, uma ltima implicao desta
condio da falsidade que uma pessoa no est a
mentir quando fizer uma declarao que ela saiba
que nem falsa nem verdadeira. Por exemplo, se
uma pedinte que traz ao colo uma criana de uma
vizinha ao pedir dinheiro disser O meu filho tem
fome e acreditar que essa afirmao no
verdadeira nem falsa porque a pedinte no tem
filhos, ento ela, de facto, no estar a mentir,
ainda que esteja a tentar enganar o seu possvel
benemrito. A propsito desta situao tem sido
contra-argumentado que no deve ser considerado
necessrio que o emissor saiba que a declarao
falsa, sendo provavelmente suficiente para se
considerar a condio da falsidade que o emissor
acredite que a declarao seja provavelmente falsa
ou que no acredite que a declarao seja
verdadeira.
Como objeco a esta condio da falsidade,
tem sido referido por alguns autores que a
falsidade no necessria para mentir, que basta a
inteno de enganar para que se possa considerar
essa afirmao como uma mentira, incluindo uma
afirmao que julgada verdadeira mas que
proferida com inteno de enganar. Por exemplo,
duas pessoas esto na plataforma de um comboio
da linha Lisboa-Porto e A, que afirma querer ir
para o Porto, pergunta a B se este sabe para onde
se dirige o comboio que est a chegar plataforma.
Se B afirmar que o comboio vai para Coimbra,
ainda que saiba que o comboio vai para o Porto,
passando e parando em Coimbra, B estar a mentir
pois pretende enganar A e, embora esteja a dizer
uma afirmao que cr verdadeira, est
implicitamente a afirmar que o comboio ir ter
como destino final Coimbra e no o Porto, o que,
se assim fosse dito, constituiria uma afirmao
falsa. Donde decorre que, e ligando com o que se
referiu anteriormente, a declarao que
intencionalmente omite partes da informao, que
so consideradas pelo emissor como essenciais para
o receptor formar o seu juzo, dever ser
considerada uma mentira. O mesmo se aplica ao
criminoso que, questionado sobre quem so os
seus outros cmplices, identifica apenas dois dos
trs cmplices efectivos. Assim, a declarao que
voluntariamente omite dados que o emissor sabe
fundamentais para o receptor dever ser
considerada uma mentira, pois tem como objectivo
enganar o receptor ou induzi-lo em erro. Nesta
mesma direco vai o aforisma popular que diz:
Com a verdade me enganas.
A condio do endereamento requer que a
pessoa que mente faa uma declarao para
outrem. De acordo com esta condio no
possvel mentir se no se est a falar para ningum
ou mentir para algum que esteja escuta, sem
que o emissor tenha disso conhecimento. Se A
simula estar a falar ao telefone e afirma ter a
certeza que as aces da companhia XPTO iro ter
uma valorizao rpida nos prximos dias, com o
objectivo de enganar quem quer que seja que
esteja a escutar a conversa sem autorizao de A,
ento A no estar a mentir. Nesta situao, tal
como na dos dois conspiradores acima referida
que, sem qualquer desejo de se enganarem um ao
outro, fazem mutuamente falsas declaraes que
ambos sabem que so falsas mas cuja inteno
enganar bisbilhoteiros, no se pode considerar que
exista, de facto, uma mentira pois no se encontra
cumprida esta condio do endereamento.
No entanto, possvel mentir a uma audincia
num congresso, mentir por afirmao efectuada
num e-mail e enviada para uma lista, mais ou
menos extensa, de endereos, mentir atravs de
um relatrio falso, de uma falsa declarao de
impostos ou mentir atravs de declaraes falsas
prestadas num anncio publicitrio. Todas estas
ltimas formas tm um ou mais destinatrios,
enquanto os dois exemplos acima no comportam
O direito mentira da trabalhadora grvida
59
a certeza da existncia de um qualquer
destinatrio.
Contra esta condio do endereamento tem
sido argumentado que a emisso de uma
declarao falsa deve ser suficiente para se
considerar tal declarao como uma mentira,
independentemente de essa declarao no ser
feita para ningum, propondo-se que se pode
mentir quando se faz uma declarao falsa a um
animal ou a uma mquina ou mesmo a um ladro
imaginrio. A base de algumas destas objeces
tambm se prende com a possibilidade, inerente e
que no pode ser excluda totalmente, de que
poder sempre haver algum que esteja a escutar e,
portanto, poder haver um destinatrio/receptor da
afirmao, ainda que no totalmente intencional.
Um outro argumento contra a condio do
endereamento prende-se com o conceito de
mentir a si prprio. Segundo esta condio, no
ser possvel uma pessoa mentir a si prpria. No
entanto, a pessoa pode emitir uma declarao falsa
enquanto est a falar sozinho com a expectativa
de que algum, no intencionalmente, venha a
receber essa mensagem falsa e, por ela, seja
enganada. Nessas circunstncias, e particularmente
se a emisso dessa declarao, pelo prprio e para
o prprio, for efectuada repetidamente, com o
objectivo consciente de, em alguma dessas vezes,
poder ser recebida no intencionalmente por
outrem, poderemos estar perante um acto de
mentir.
Adicionalmente, a pessoa pode mentir a si
prpria para tentar alterar as suas crenas ou para
se convencer de que verdadeiro algo que sabe ser
falso, no que alguns autores designam por auto-
sugesto ou auto-engano. Alis, como GIANETTI
afirma, Mentimos para ns o tempo todo:
adiantamos o despertador para no perder a hora,
acreditamos nas juras de amor eterno que fazemos
e recebemos da pessoa amada, s levamos
realmente a srio os argumentos que sustentam
nossas crenas. Alm disso, temos a nosso respeito
uma opinio que quase nunca coincide com a
extenso dos nossos defeitos e qualidades. Sem o
auto-engano a vida seria excessivamente dolorosa e
desprovida de encanto
14
.
Finalmente, a ltima condio, a condio da
inteno de enganar o destinatrio requer que a
pessoa que mente (emissor) faa uma declarao
que julga ser falsa mas com a inteno de que a
outra pessoa (receptor) acredite que essa
declarao verdadeira. Desta forma, a escrita
ficcionada, as metforas ou a ironia no constituem
mentiras pois no tm o objectivo de levar o
receptor a acreditar que essas afirmaes so
verdadeiras. Na mesma linha de raciocnio, no
possvel mentir a animais irracionais, a crianas
pequenas ou a adultos sem capacidade de
entendimento porque estes no possuem, em
princpio, capacidade para entender a declarao e,
portanto, no pode haver a inteno de que o
receptor acredite que a declarao verdadeira se
o receptor no tem qualquer capacidade de
entendimento. semelhana do exposto em
alguns dos pontos anteriores, tambm se a inteno
de enganar no se dirigir directamente ao
destinatrio ou receptor, e sim a terceiros que
possam estar a escutar, no se poder considerar
que exista mentira.
Tambm no existir mentira se o emissor fizer
uma declarao falsa mas sem ter a inteno de
que o receptor acredite na veracidade dessa
declarao. Por exemplo, se algum telefona para
A para falar com uma outra pessoa da casa, que
nesse momento est na casa de banho, a
declarao de A de que essa pessoa nesse
momento no est socialmente compreendida
como uma indicao de que esse no um
momento apropriado para estabelecimento desse
contacto e no propriamente como uma indicao
de que essa pessoa est ausente dessa casa. Se
14
GIANETTI, Eduardo. Auto-engano. Disponvel em
www.fgospel.com.br/portal/img/bd/536.pdf (consultado em
20/06/2010).
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
60
assim for, ento A no estar a mentir. Contudo A
estar a mentir se, por exemplo, pretender de facto
fazer crer ao receptor da mensagem que essa
pessoa no se encontra nesse local (o que seria
lgico se se tratasse de algum que queria prender
ou matar essa pessoa). Expresses como agora no
posso ou no tenho tempo so tambm
exemplos de declaraes frequentemente no
verdicas mas que, no pretendendo de facto
enganar ningum, so socialmente mais aceitveis
do que a afirmao verdadeira no quero.
J um exemplo em que existe inteno de
enganar poder ser o de um chefe do crime
organizado que, julgando que um seu empregado
na realidade um informador da polcia, lhe afirma
que tem a certeza que na organizao no existe
nenhum informador. Embora esta afirmao seja
reconhecidamente falsa, segundo a ptica do chefe
criminoso, e tenha o bvio propsito de enganar o
pretenso informador, mantendo-o descansado e
menos alerta, no poderemos dizer, luz da
definio supra-enunciada, que se trate de uma
mentira j que o emissor (chefe criminoso) cr que
o receptor (empregado/informador) saber que
essa informao no verdadeira j que o prprio
receptor um informador dentro da organizao.
Neste caso, pode considerar-se que no existe
mentira porque no h a inteno que o receptor
acredite na veracidade dessa declarao; a inteno
de tal afirmao que o receptor acredite que o
emissor (chefe criminoso) julga de facto no
existirem informadores na organizao.
Ainda, de acordo com esta condio da
inteno de enganar o destinatrio, suficiente que
o emissor pretenda que o receptor acredite na
veracidade da sua declarao falsa; contudo no
necessrio que o receptor acredite, de facto, na
veracidade dessa declarao. Assim, uma mentira
pode no ser acreditada e, nem por isso, deixar de
ser uma mentira. Ou, dito de outra forma, o acto
de mentir no depende de qualquer resultado que
se possa produzir no receptor, depende apenas de
caractersticas do emissor.
Por ltimo, esta condio permite tambm
estabelecer uma diferenciao entre mentira e
perjrio, na qual a mentira no condio nem
necessria nem suficiente para perjrio. Assim, se
algum sob juramento afirmar algo que sabe ser
falso mas sem inteno que ningum acredite que
tal falsidade verdica ento estar a cometer
perjrio mas no estar a mentir. Por exemplo, se
uma testemunha diz, em tribunal, que o filho de
Buda sabendo que isso no verdade, estar a
cometer perjrio mas no estar a mentir pois no
estar espera que ningum acredite nessa sua
afirmao e, portanto, no estar cumprida a
condio da inteno de enganar o destinatrio
relativamente ao contedo dessa afirmao. Por
outro lado, se algum sob juramento afirmar algo
que sabe ser falso e com inteno de enganar (
semelhana do sucedido no acima indicado conto
de SARTRE) mas que, afinal, se vem a revelar
verdade, essa pessoa no ter cometido perjrio
mas ter mentido.
No entanto, tem-se objectado a esta condio
da inteno de enganar o destinatrio que, no caso
supra-enunciado do informador da organizao
criminosa, bastar que o emissor queira enganar o
receptor para se considerar que h uma mentira,
independentemente do contedo da afirmao. E
que, no caso da afirmao falsa que no se
pretende que seja acreditada, se essa afirmao for
efectuada para se obter um qualquer benefcio para
o emissor atravs do engano do receptor, essa
afirmao constituir tambm uma mentira (por
exemplo, a testemunha de um homicdio ao se
identificar no tribunal como o filho de Buda,
sabendo que o no , pode pretender fazer crer
que o seu testemunho no tem qualquer valor,
tentando assim fugir de eventuais represlias por
parte do homicida). Apesar de no haver inteno
de enganar o destinatrio relativamente ao
contedo dessa afirmao h uma clara inteno
de enganar o destinatrio relativamente
veracidade atribuvel aos outros contedos do
testemunho.
O direito mentira da trabalhadora grvida
61
Com estas vrias crticas formuladas, tm sido
avanadas outras definies de mentira
15
, que no
iremos analisar em detalhe neste trabalho, e que
procuram colmatar este ou aquele aspecto menos
conseguido da definio de WILLIAMS. Embora
se lhe reconhea algumas insuficincias, a discusso
detalhada dessas insuficincias, bem como das
formas de as melhor colmatar, ainda que seja
muito interessante, sai fora do mbito da anlise
do direito mentira e, portanto, no ser mais
explanada.
Contudo, atrever-nos-amos a propor uma
definio de mentira, adaptada livremente da de
WILLIAMS e das propostas efectuadas por alguns
dos seus crticos. De um modo geral, a definio de
mentira que utilizaremos no presente trabalho a
seguinte:
Uma assero cujo contedo o emissor
acredita no ser totalmente verdadeiro mas
que feita como se de uma assero
totalmente verdadeira se tratasse, com o
intuito de enganar o receptor em relao a esse
contedo ou em relao a outros contedos
com ele relacionados.
2.2. A questo moral
A verdade a essncia da moralidade.
T. H. HUXLEY
Na abordagem moral da mentira h que
considerar as perspectivas religiosa ou teolgica e a
tica ou social, traduzida por filsofos, pensadores
e escritores. Afloraremos tambm, ainda que muito
superficialmente, a questo da perspectiva poltica
da mentira.
15
STANDFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY. The
definition of lying and deception. disponvel em
http://plato.standford.edu/entries/lying-definition/ (consultado em
14/04/2010).
2.2.1. A perspectiva teolgica
Ficaro de fora os ces e os feiticeiros, e os que se
prostituem, e os homicidas, e os idlatras, e qualquer
que ama e comete a mentira.
Apocalipse 22:15
Desde logo, na perspectiva teolgica crist em
que o prprio Deus equiparado Verdade, a
mentira, como contraste da verdade, tem, em si
mesma, um carcter demonaco. Inclusivamente,
no Novo Testamento, Jesus chama a Satans o pai
da mentira (Vs tendes por pai ao diabo e
quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi
homicida desde o princpio, e no se firmou na
verdade, porque no h verdade nele. Quando ele
profere mentira, fala do que lhe prprio, porque
mentiroso e pai da mentira. Joo 8:44). A
questo da mentira encontra-se extensamente
tratada (e criticada) no Velho Testamento, desde o
nono mandamento que ordena no levantar falso
testemunho contra o prximo (tambm
reafirmado por Jesus nos Evangelhos de So
Marcos), at vrias passagens que recorrentemente
afirmam que Deus abomina a mentira e os lbios
mentirosos (Provrbios 12:22) e ama os que
praticam a verdade. Inclusivamente, reconhecida
aos homens uma certa propenso para a mentira
(Suave ao homem o po da mentira, mas,
depois, a sua boca se encher de
cascalho(Provrbios 20:17)) que, contudo,
sempre apresentada com consequncias nefastas
visando a preveno de tal comportamento (O
que usa de engano no ficar dentro da minha
casa; o que profere mentiras no estar firme
perante os meus olhos Salmos 101:7). H ainda
vrios exemplos de mentirosos que, com os seus
actos, acabam por trazer sobre si a desgraa e a
perda (por exemplo, a mentira de Jacob que se faz
passar por Esa (Livro do Gnesis 27) ou a
mentira de Ananias e Saphira quanto ao valor de
venda de uma propriedade (Actos dos Apstolos,
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
62
5), que lhes causa a morte) e no livro do xodo
(23:7) est presente, com fora, a exortao s
pessoas para que estas se afastem da palavra
mentirosa (De palavras de falsidade te afastars, e
no matars o inocente e o justo; porque no
justificarei o mpio).
Em livros sagrados de religies monotestas no
crists tambm a mentira fortemente criticada e
vista claramente como um acto contrrio a Deus e
que deve ser absolutamente evitado:
no Talmude, a religio judaica considera a
mentira o pior dos roubos (Existem sete classes
de ladres e a primeira daqueles que roubam a
mente de seus semelhantes atravs de palavras
mentirosas) afirmando-se adicionalmente que
Deus odeia a pessoa que fala uma coisa com a
boca e outra com o corao;
no Alcoro a mentira inmeras vezes
criticada, por exemplo sendo dito Que peream
os inventores de mentiras! Que esto descuidados,
submersos na confuso! Perguntam: Quando
chegar o Dia do Juzo? (Ser) o dia em que sero
testados no fogo!".
Mas voltando Bblia, e apesar de nunca a ser
afirmado que seja possvel haver circunstncias em
que a mentira seja admissvel nem que haja
qualquer circunstncia em que a mentira seja a
atitude certa a tomar, h pelo menos trs situaes
narradas em que a mentira ou o engano
produziram um resultado favorvel ou, pelo
menos, no produziram um resultado desfavorvel:
No livro do xodo, captulo primeiro, as
parteiras das hebreias so mandadas pelo Fara
matar nascena todos os bebs hebreus do sexo
masculino (para evitar que os hebreus se
multiplicassem mais e pudessem constituir uma
ameaa ao Egipto). Contudo elas, por temor a
Deus no o fazem e, quando chamadas presena
do Fara para explicar o no cumprimento da
ordem dizem-lhe uma mentira ( que as
mulheres hebreias no so como as egpcias () e
j tm dado luz antes que a parteira venha a
elas. Esta atitude de mentira provavelmente
salvou a vida a muitos bebs hebreus e, segundo o
mesmo texto, foi recompensada por Deus
(Portanto Deus fez bem s parteiras () E
aconteceu que como as parteiras temeram a Deus,
ele estabeleceu-lhes casas);
a mentira de Raabe para proteger os
espies (uns homens dos filhos de Israel), em
que esta mulher, tendo escondido esses dois
espies em sua casa, responde, mentindo, ao rei de
Jeric, dizendo que eles j se tinham ido embora
(Josu 2:4-6);
a pretensa loucura do Rei David quando,
fugindo de Saul, chega ao reino de Gate e a
identificado e levado ao rei Aquis. Perante o risco
de vida que comportava essa identificao o rei
David fez-se como doido entre as suas mos, e
esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr
a saliva pela barba. Este comportamento enganoso
leva o rei Aquis a questionar faltam-me a mim
doidos, para que trouxsseis a este para que fizesse
doidices diante de mim ?, pelo que David se pde
retirar dali ileso.
Ou seja, mesmo nos textos sagrados existem
narraes de actos mentirosos que no tiveram
como resultado nem a crtica nem o castigo
divinos embora, se volte a salientar que nunca
referida qualquer circunstncia em que se
condescenda com a mentira ou em que esta seja
defendida.
Na perspectiva teolgica crist podemos
encontrar trs grandes posies sobre a mentira,
todas elas crticas da mentira mas com diferentes
matizes relativamente sua admissibilidade.
Podemos design-las da seguinte forma,
relativamente ao absolutismo das leis morais:
Absolutismo gradativo as leis morais
so absolutas mas existem algumas que so
superiores a outras e, quando duas leis entrem em
conflito, deve-se sempre respeitar a lei superior.
Assim, de acordo com esta posio, defendida
entre outros por Lutero, mentir pode estar certo
O direito mentira da trabalhadora grvida
63
porque, por exemplo, mostrar piedade para com
um inocente uma obrigao maior que dizer a
verdade a um culpado. Os exemplos bblicos acima
referidos so muitas vezes utilizados na apologia
desta viso teolgica;
Absolutismo conflituante nesta viso,
parte-se do princpio que todo o mundo est
envolto em maldade e, por isso, poder haver
circunstncias em que exista conflito entre leis
morais absolutas. Neste caso, a obrigao do ser
humano fazer o menor mal possvel e, por
exemplo, a mentira seria um mal menor do que a
induo da perda de uma vida. Repare-se que esta
viso est claramente distanciada da anterior, na
medida em que considera sempre errado a
mentira, mas considera que tambm errado no
mentir para salvar uma vida e que se deve escolher
o mal menor. Embora diferentes sob o ponto de
vista dos princpios, ambas as vises admitem a
prtica da mentira;
Absolutismo no qualificado nesta
ltima viso todas as leis morais absolutas so
igualmente importantes e inviolveis. Neste caso,
no existe nenhum conflito possvel que justifique
a quebra de qualquer destas leis e, portanto, a
mentira sempre inadmissvel. nesta viso que
se situam a maioria dos telogos e dos pensadores
religiosos, como o caso de Santo Agostinho ou
So Toms de Aquino, que inclusivamente afirma
que a mentira um mal em si mesmo, sendo em
determinadas circunstncias possvel o recurso
omisso mas nunca mentira.
Meramente a ttulo de curiosidade, refere-se
aqui a classificao que SANTO AGOSTINHO
elaborou sobre a gravidade de diversos tipos de
mentiras, aqui apresentadas por ordem decrescente
da sua gravidade:
a) a mentira relativa aos princpios e,
nomeadamente, a relativa doutrina religiosa.
Aqui incluem-se os falsos profetas mas tambm
todos aqueles que usem de mentiras para, por
exemplo, catequizar ou convencer outros a aderir
sua religio. Esta uma perversidade atroz, que
corresponde ao mais alto grau de mentira
detestvel;
b) a mentira que prejudica algum de forma
injusta. No deve existir mentira deste tipo pois
nenhum homem deve ser prejudicado pela
mentira;
c) a mentira contada em nosso benefcio mas
de mais ningum. No devemos considerar
qualquer bem de um homem em detrimento ou
injria de outro;
d) a mentira contada s pelo prazer de
mentir. No deve haver mentira pelo prazer de
mentir, o que em si mesmo vicioso;
e) a mentira contada para agradar pela fala
doce. No deve haver mentira deste tipo, pois,
nem mesmo a prpria verdade deve ser
proclamada com o objectivo de agradar a homens,
quanto menos uma mentira, que por si mesma,
como mentira, coisa grosseira;
f) a mentira contada em benefcio prprio e
em detrimento ou em prejuzo de algum mas no
de forma fsica. No certo corromper a verdade
do testemunho para a convenincia e segurana
temporal de quem quer que seja;
g) a mentira contada em benefcio prprio
mas que no prejudica ningum nem ajuda
ningum. No deve haver mentira deste tipo pois
no adequado que a comodidade de qualquer
homem seja preferida ao aperfeioamento da f;
h) a mentira que no prejudica ningum e
que liberta algum de sofrimento fsico. Nem to
pouco deve haver mentira deste tipo, pois tanto a
castidade da mente quanto a maior pudicidade do
corpo encontram-se entre as coisas boas; e entre as
ruins, encontram-se aquelas que ns cometemos
por ns mesmos, e no as que ns sofremos.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
64
Nesta perspectiva no existem nenhumas
mentiras que sejam aceitveis, embora as duas
ltimas formas sejam menos condenveis.
Os conceitos de mentira branca (do ingls
white lie) que seria aquela que julgamos incapaz
de causar dano a algum ou que, em alguns casos,
at socialmente aceitvel e que apelidada de
branca por se pensar que no h infraco (por
exemplo, dizer falsos elogios a uma amiga essa
saia fica-te mesmo bem ou dar desculpas
esfarrapadas no pude fazer os trabalhos de casa
porque faltou a luz) ou mentira piedosa, definida
como a afirmao falsa proferida com inteno
benevolente e que pode ter como objectivo tornar
mais aceitvel uma verdade que lhe est
subjacente, causando o menor dano possvel ou
ainda o conceito platnico de mentira nobre
justificado com o objectivo da obteno de um
bem pblico maior e explanado no livro A
Repblica (se h algum a quem seja concedido o
privilgio de poder mentir so os governantes do
Estado; e eles no trato com os inimigos ou com os
prprios cidados podero ser autorizados a mentir
para o bem pblico) so, assim, nesta perspectiva,
totalmente falsos e errneos, sendo perfeitamente
categorizveis segundo a classificao proposta por
SANTO AGOSTINHO, referida acima.
Nessa mesma perspectiva JEAN-JACQUES
ROUSSEAU comenta na sua obra, Os devaneios
do passeante solitrio, que raro e difcil que uma
mentira seja completamente inocente. Mentir para
a vantagem de outrem fraude, mentir para
prejudicar calnia; a pior espcie de mentira.
Mentir sem proveito nem prejuzo para si nem
para outrem no mentir: isso no mentira,
fico...
16
.
16
ROUSSEAU, Jean Jacques. Os devaneios do caminhante solitrio.
Lisboa, Livros Cotovia, 2004.
2.2.2. A perspectiva tico-filosfica
O homem um ser essencialmente mentiroso,
sempre e em tudo.
ARISTFANES
A mentira constitui uma realidade
indesmentvel inerente humanidade e sua vida
em sociedade. Como afirma LUIGI
BATTISTELLI
17
() a vida em sociedade ainda
hoje exige uma certa dose de dissimulao e de
mentira. A delicadeza, a modstia, a moral, a
obrigao de no ofender ou ferir os sentimentos
alheios, a necessidade de no estragar as boas
relaes com as pessoas que esto perto de ns e
de quem, no momento oportuno, poderemos vir
tambm a precisar, com frequncia nos fazem calar
a verdade, nos induzem a esconder as nossas
impresses e os nossos pensamentos. O que no
sucederia se cada um de ns se atravesse a dizer a
todo o momento, livremente e sem entraves, tudo
o que pensa?...
18
.
17
BATTISTELLI, Luigi. A mentira nos normais, nos criminosos e nos
loucos, Coleco Stvdivm temas filosficos, jurdicos e sociais.
Coimbra, Editor Armnio Amado, 1943. Este autor realiza uma
impressionante exposio na qual, em termos comparativos, ilustra a
necessidade da existncia de mentira, de engano como se se tratasse de
uma questo de sobrevivncia. A comparao realizada com recurso a
inmeros exemplos da vida animal e da vida vegetal, reconhecendo que
nesta matria da mentira, o homem foi buscar inspirao quer ao
mundo animal quer ao vegetal. A ttulo de exemplo, so comuns ao
longo da obra referncias como: Observai a Orvalhinha (Drosera
rotundifolia), a pequena planta que cresce no meio dos musgos; a
plantazinha de elegantes folhinhas redondas, cobertas, na pgina
superior, de inmeros filamentos vermelhos, cujos cimos, engrossados
maneira de clavas, esto permanentemente cheios de um lquido denso
e viscoso, maravilhosamente parecido com o nctar, de que o insecto
muito vido. Mas ai, que terrvel insdia!...A mosquinha, atrada pela
viva cor daqueles filamentos e pelo lquido iridiscente que brilha nas
suas extremidades, qual orvalho matutino, aproxima-se da folha e,
quando procura sugar o suposto nctar, fica presa como um passarinho
no visco. Os filamentos, logo que estimulados, curvam-se perante a
presa e, como se fossem tentculos, fecham-se volta dela, apertando-a
e premindo-a como entre mandbulas. Em vo o insecto se debate e
procura fugir morte iminente (); () o caso de uma raposa, que,
surpreendida num galinheiro, se fingiu morta e como tal de l foi
retirada, sendo atirada para um monte de estrume, sem ter dado sinais
de vida. Logo que se viu em segurana, endireitou-se nas pernas e
desatou a fugir, entre outros inmeros e maravilhosos exemplos que
este autor nos proporciona, sempre com o intuito comparativo ao
comportamento do homem.
18
BATTISTELLI, Luigi. A mentira nos normais, nos criminosos e nos
loucos, cit.
O direito mentira da trabalhadora grvida
65
Ser a mentira um instrumento que permita a
vida em sociedade e a sobrevivncia dos
indivduos? Existir assim um direito mentira?
Vrios filsofos, confrontando-se com tais
dificuldades e realidades, formularam concepes
sobre o assunto, algumas das quais j abordmos
anteriormente. Aqui iremos desenvolver um pouco
mais as perspectivas sobre o assunto de trs
filsofos que consideramos sumamente
interessantes e que nos proporcionam ampla
matria para reflexo: IMMANUEL KANT,
BENJAMIN CONSTANT e ARTHUR
SCHOPENHAUER.
KANT acredita que os indivduos no tm
direito de mentir; CONSTANT defende que
devemos dizer a verdade apenas quando o ouvinte
tiver direito a ela e SCHOPENHAUER acredita
que temos o direito de mentir em determinadas
condies.
2.2.2.1. Immanuel Kant
Na Metafsica dos costumes, KANT afirma que
a maior violao do dever do homem para consigo
mesmo (), o contrrio da veracidade: a mentira
(aliud lngua promptum, aliud pectore inclusum
gerere)
19
, na medida em que a desonra que a
acompanha (ser objecto de desprezo moral)
acompanha tambm, como sua sombra, o
mentiroso
20
. A mentira pode apresentar-se como
externa (converte o mentiroso em objecto de
desprezo aos olhos dos outros) ou como interna
(converte o mentiroso em objecto de desprezo aos
seus prprios olhos, e lesa a dignidade da
humanidade na sua pessoa). Esta segunda
formulao da mentira a mais gravosa na medida
em que a mentira a recusa e por assim dizer
a destruio da sua dignidade humana. Um
19
KANT, Immanuel, Metafsica dos Costumes, Parte II Princpios
metafsicos da doutrina da virtude, traduo de Artur Mouro. Lisboa,
Edies 70, 2004.
20
KANT, Immanuel, Metafsica dos Costumes, Parte II Princpios
metafsicos da doutrina da virtude, cit.
homem que pessoalmente no cr no que diz a
outrem (ainda que fosse apenas uma pessoa ideal)
tem um valor ainda menor do que se fosse
simplesmente uma coisa
21
na medida em que a
comunicao de seus pensamentos a algum
mediante palavras que contm (intencionalmente)
o contrrio do que pensa o falante um fim
oposto finalidade natural da sua faculdade de
comunicar os seus pensamentos, logo uma
renncia sua personalidade, uma mera aparncia
enganosa de homem, no o prprio homem
22
.
Este horror mentira de KANT derivado do
imperativo categrico age apenas segundo uma
mxima tal que possas ao mesmo tempo querer
que ela se torne lei universal
23
. Ao mentir, um
indivduo prejudica no somente aquele que ouve,
mas a ideia de direito, pois age de forma que a
mxima da sua aco no pode ser tomada como
lei universal e apenas como um dos meios para
alcanar determinado fim, usando o ouvinte
tambm como meio para determinado fim e no
como um fim em si mesmo. Ora, na medida em
que para KANT todo o ser racional existe como
um fim em si mesmo, e no deve ser tratado como
meio, isso faria com que os indivduos no
tivessem valor por si mesmos (um valor absoluto),
se todo valor fosse adquirido conforme os
interesses alheios, no poderia haver um princpio
prtico supremo de toda a razo () em todas as
suas aces, tanto nas que se dirigem a ele mesmo,
como nas que se dirigem a outros seres racionais,
21
KANT, Immanuel, Metafsica dos Costumes, Parte II Princpios
metafsicos da doutrina da virtude, cit.
22
KANT, Immanuel, Metafsica dos Costumes, Parte II Princpios
metafsicos da doutrina da virtude. cit. Para Kant, o homem, como ser
moral (homo noumenon), no se pode usar a si mesmo, enquanto ser
fsico (homo phaenomenon), como um simples meio (uma mquina
falante) que no estivesse ligado ao fim interno ( comunicao do
pensamento), mas est sujeito condio da concordncia com a
declarao (declaratio) do primeiro e est obrigado, perante si mesmo,
veracidade.
23
KANT, Immanuel. Fundamentao da Metafsica dos Costumes,
traduo de Paulo Quintela. Porto, Porto Editora 1995, () todos os
imperativos ordenam ou hipottica ou categoricamente. Os hipotticos
representam a necessidade prtica de uma aco possvel como meio de
alcanar qualquer outra coisa que se quer (ou que possvel que se
queira). O imperativo categrico seria aquele que nos representasse uma
aco como objectivamente necessria por si mesma, sem relao com
qualquer outra finalidade; () se a aco representada como boa em
si, por conseguinte, como necessria numa vontade em si conforme
razo como princpio dessa vontade, ento o imperativo categrico.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
66
ele tem sempre de ser considerado
simultaneamente como fim.
Para KANT, a veracidade nas declaraes (que
no se podem evitar), o dever formal do homem
em relao seja a quem for, por maior que seja a
desvantagem que da decorre para ele ou para
outrem; e se no cometo uma injustia contra
quem me fora injustamente a uma declarao, se
a falsificar, cometo em geral, mediante falsificao,
que tambm se pode chamar mentira, uma
injustia na parte mais essencial do Direito: isto ,
fao, tanto quanto de mim depende, que as
declaraes no tenham em geral crdito algum,
por conseguinte, tambm que todos os direitos
fundados em contratos sejam abolidos e percam a
sua fora o que uma injustia causada
humanidade em geral
24
. Continua este autor que,
mesmo uma mentira bem intencionada pode ser
passvel de penalidade, segundo a lei civil. Mas, o
que apenas por acaso se subtrai punio pode
igualmente julgar-se como injustia, segundo leis
externas. Adianta o autor a ttulo de exemplo que
mediante uma mentira, a algum ainda agora
mesmo tomado de fria assassina, o impediste de
agir s responsvel, do ponto de vista jurdico, de
todas as consequncias que da possam surgir. Mas
se te ativeres fortemente verdade, a justia
pblica nada em contrrio pode contra ti, por mais
imprevistas que sejam as consequncias
25
e no
mbito deste raciocnio , pois, possvel que, aps
teres honestamente respondido com um sim
pergunta do assassino sobre a presena em tua casa
da pessoa por ele perseguida, esta se tenha ido
embora sem ser notada, furtando-se assim ao golpe
do assassino e que, portanto, o crime no tenha
ocorrido; mas se tiveres mentido e dito que ela no
estava em casa e tivesse realmente sado (embora
sem o teu conhecimento) e, em seguida, o
assassino a encontrasse a fugir e levasse a cabo a
aco, poderias com razo ser acusado como autor
da sua morte, pois se tivesses dito a verdade, tal
24
KANT, Immanuel. Sobre um suposto Direito de Mentir, cit.
25
KANT, Immanuel. Sobre um suposto Direito de Mentir, cit.
como a conhecias, talvez o assassino, ao procurar
em casa o seu inimigo, fosse preso pelos vizinhos
que acorreram, e ter-se-ia impedido o crime
26
,
concluindo KANT que quem, pois, mente, por
mais bondosa que possa ser a sua disposio, deve
responder pelas consequncias, mesmo perante um
tribunal civil, e por ela se penitenciar, por mais
imprevistas que essas consequncias possam
tambm ser; porque a veracidade um dever que
tem de se considerar como a base de todos os
deveres a fundar num contrato e cuja lei, quando
se lhe permite a mnima excepo, se toma
vacilante e intil
27
.
Para KANT a verdade um princpio
supremo
28
, um dever que tem de ser considerado
como base de todos os outros deveres. Se h um
dever
29
ele incondicionado, pois seno no seria
dever. Dever uma necessidade da aco, que
deve ser vlida para todos os homens, por meio da
representao da lei. Age por dever aquele que
pratica aces sem nenhuma motivao egosta. E
existe verdade quando o conhecimento
adequado ao seu objecto. O indivduo no tem
pois, um direito verdade, pois a verdade uma
questo lgica e objectiva e no psicolgica e
subjectiva, isto , a verdade no algo de
subjectivo que pode pertencer ou no a
determinado indivduo, ela por si prpria
30
, a
coisa em si () seria precisamente a pura verdade
sem consequncias
31
.
26
KANT, Immanuel. Sobre um suposto Direito de Mentir, cit.
27
KANT, Immanuel. Sobre um suposto Direito de Mentir, cit.
28
KANT, Immanuel, Metafsica dos Costumes, Parte II Princpios
metafsicos da doutrina da virtude, cit.
29
Sobre o conceito de dever, cfr. KANT, Immanuel. Fundamentao
da Metafsica dos costumes, cit.
30
Esta uma das crticas que KANT faz a CONSTANT como
resposta sua observao, vide infra.
31
BELO, Fernando. Leituras de Aristteles e de Nietzsche a potica
sobre a verdade e a mentira. Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1994.
O direito mentira da trabalhadora grvida
67
2.2.2.2. Benjamin Constant
No De la force du governement actuel de la
France et de la ncessit de sy rallier des ractions
politiques, CONSTANT, comenta que a moral
uma cincia mais profunda que do que a poltica e
que no tem dvidas de que os princpios
principais no podem ser aplicados sem a
existncia de princpios intermedirios que
possibilitem a sua aplicabilidade. Sempre que
exista um princpio que parece inaplicvel, o que
se deve fazer descobrir os princpios que lhes
esto subjacentes. Assim, CONSTANT escreve:
O princpio moral de que dizer a verdade um
dever, se fosse considerado incondicionalmente e
isoladamente, tornaria impossvel qualquer
sociedade
32
. Temos a prova disso nas
consequncias directas que um filsofo alemo
33
tirou desse princpio, chegando at mesmo a
pretender que a mentira seria um crime em relao
a um assassino que nos perguntasse se o nosso
amigo, perseguido por ele, no estaria refugiado em
nossa casa. Embora para CONSTANT dizer a
verdade seja inequivocamente um dever, o filsofo
considera tambm que o conceito de dever
inseparvel do de direito: um dever o que, em
um ser, corresponde aos direitos de um outro.
Nesta sequncia, CONSTANT afirma que dizer a
verdade s um dever para quem tem direito
verdade
34
e que onde no existem direitos no
existem deveres
35
e nenhum homem, porm,
tem o direito a uma verdade que prejudica
32
Ainda que CONSTANT no tenha explicitado concretamente
como que a completa ausncia de mentiras resultaria na
insociabilidade, cremos ser possvel demonstrar essa ideia embora no o
faamos neste texto.
33
Pelo facto de CONSTANT ter exemplificado este princpio e ter
referido a determinada altura do seu comentrio um filsofo alemo,
KANT empreende uma resposta, intitulada Sobre um suposto direito
de mentir por amor humanidade, cit. Nesta resposta, KANT reafirma
a sua dogmtica filosfica, afirmando para alm do j referenciado supra
que Ser verdico (honesto) em todas as declaraes , portanto, um
mandamento sagrado da razo que ordena incondicionalmente e no
admite limitao por quaisquer convenincias ().
34
CONSTANT, Benjamin. De la force du gouvernement actuel de la
france et de la ncessit de sy rallier, des ractions politiques, des effets de la
terreur. Paris, Flammarion, 1988.
35
CONSTANT, Benjamin. De la force du gouvernement actuel de la
france et de la ncessit de sy rallier, des ractions politiques, des effets de la
terreur,cit.
outro
36
. Portanto, perante um determinado
princpio, por exemplo, o citado um dever dizer
a verdade, atravs da definio do princpio
descobrem-se princpios que com ele esto
relacionados ou subjacentes e desta relao surge o
modo de aplicao. Como se pode depreender do
que ficou dito acima, CONSTANT no est, de
modo nenhum, a rejeitar o princpio moral da
veracidade ou sinceridade, mas a afirmar que o
mesmo tem de comportar excepes, de tal modo
que no acarrete uma drstica e altamente
indesejvel consequncia: a de tornar
simplesmente invivel a sociabilidade. Por outras
palavras, CONSTANT aceita uma regra de
conduta universal, mas, ao mesmo tempo,
admitindo que h excepes em que a mentira
passa a ser moralmente aceitvel.
A propsito desta discusso, COMTE-
SPONVILLE afirma que a boa-f uma virtude,
claro, o que a mentira no poderia ser. Mas isto
no quer dizer que toda mentira seja condenvel
nem que devamos sempre nos proibir de mentir.
Nenhuma mentira livre, por certo, mas quem
pode ser sempre livre? E como o seramos, diante
dos maus, dos ignorantes, dos fanticos, quando
eles so os mais fortes, quando a sinceridade para
com eles seria cmplice ou suicida? () A mentira
nunca uma virtude, mas a tolice tambm no, o
suicdio tambm no. Simplesmente, s vezes
preciso contentar-se com o mal menor, e a mentira
pode s-lo.
37
. Ou seja, e fazendo um paralelismo
com o que se afirmou na perspectiva teolgica,
esta seria a posio semelhante ao do absolutismo
conflituante, enquanto a de KANT seria a posio
do absolutismo no qualificado.
36
CONSTANT, Benjamin. De la force du gouvernement actuel de la
france et de la ncessit de sy rallier, des ractions politiques, des effets de la
terreur, cit.
37
COMTE-SPONVILLE, Andr. Pequeno Tratado das Grandes
Virtudes, traduo de Eduardo Brando. So Paulo: Edies Martins
Fontes, 1999. Disponvel em
www.pfilosofia.pop.com.br/03_filosofia/03_03_pequeno_tratado_das_g
randes_virtudes/pequeno_tratado_das_grandes_virtudes.htm
(consultado em 13/07/2010).
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
68
2.2.2.3. Arthur Schopenhauer
Na sua obra O Mundo como vontade e
representao, SCHOPENHAUER equaciona a
questo da mentira, a propsito dos conceitos de
justia e de injustia. As injustias podem ser
cometidas atravs ou da violncia ou da astcia,
que este filsofo considera em termos morais a
mesma coisa
38
. Considera SCHOPENHAUER
que muitos dos casos de injustia so redutveis ao
fato de eu, praticando-a, obrigar outro indivduo a
servir, em vez de sua, minha vontade, a agir, em
vez de em conformidade com a sua, em
conformidade com a minha vontade. Se sigo a via
da violncia, alcano isso mediante causalidade
fsica; se sigo a via da astcia, entretanto, alcano
isso mediante motivao, isto , por meio da
causalidade que passa pelo conhecimento, logo,
apresento vontade de outrem motivos aparentes,
em funo dos quais segue a minha vontade,
embora acredite seguir a sua. Ora, visto que o
mdium no qual residem os motivos o
conhecimento, se consigo obter sucesso em
semelhante tarefa recorrendo falsificao do
conhecimento alheio, trata-se da mentira, a qual
intenta todas as vezes exercer influncia sobre a
vontade do outro, no exclusivamente sobre o seu
conhecimento, para si e enquanto tal, mas
servindo-se dele como meio, ao determinar sua
vontade
39
. Ou seja, para este filsofo, injusto
40
aquele indivduo que provoca dano a outrem,
tanto em relao sua liberdade, como sua
pessoa, sua propriedade ou sua honra. A
imposio de uma mentira sempre uma injustia,
admitindo, no entanto, que a no emisso de uma
declarao (uma omisso) no constitui uma
injustia
41
.
38
SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como vontade e como
representao, traduo de S Correia. Porto, Rs-Editora, 2005.
39
SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como vontade e como
representao, cit.
40
Conceito de injustia: ndole da conduta de um indivduo na
qual este estende to longe a afirmao da sua vontade, que provoca a
negao da vontade alheia. Cfr. SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo
como vontade e como representao, cit.
41
Quem se recusa a mostrar o caminho ao andarilho perdido no
comete uma injustia, mas j o faz quem lhe indica o caminho errado.
Ao contrapor os conceitos de justia e de
injustia considerados como simples determinaes
morais (conhecimentos morais que permitem o
auto-conhecimento da vontade de cada um),
SCHOPENHAUER defende que uma pessoa se
pode defender de uma violncia que est a ser
exercida contra si atravs do recurso astcia,
mentira, sem que com esse acto esteja a cometer
injustia. Quando cada um de ns mente tem um
motivo para o fazer, mas esse motivo, diz
SCHOPENHAUER, na maioria das vezes um
motivo injusto, pois se mentimos porque no
podemos usar de outro artifcio para fazer com que
o outro aja de acordo com nossa vontade. Ou seja,
para SCHOPENHAUER existem situaes nas
quais podemos fazer uso da mentira mas sem
injustia. E esses casos seriam os casos em que
usaramos a fora para nos defendermos de uma
agresso, isto , podemos fazer uso da astcia
quando precisarmos da fora para nos defender
mas no formos suficientemente fortes fisicamente
para nos defendermos da agresso fsica.
De acordo com esta perspectiva, e retomando
ao caso do assassino que nos pergunta por algum
com o objectivo de prosseguir a perseguio e
matar essa pessoa, SCHOPENHAUER deixa bem
claro que, nessa situao, no seria injusto mentir
sobre o paradeiro da pessoa procurada, pois aquele
que promete algo sob coaco, sob a ameaa da
fora ou acreditando em falsas premissas, no
obrigado a cumprir a promessa; e no caso
exemplificado, o dono da casa est a ser coagido
pelo assassino. Nesta linha de pensamento, todos
tm o direito de mentir para se livrarem de
assaltantes e violentos de qualquer espcie, para
defender a prpria vida, liberdade, bens ou honra.
A argumentao shopenhauriana, a favor do uso
da mentira defende inclusive que podemos mentir
em qualquer situao na qual uma pergunta seja
intromissiva, indevida, indiscreta, ou se refira a algo
que no nos convm dizer. E quando a
Cfr. SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como vontade e como
representao,cit.
O direito mentira da trabalhadora grvida
69
manifestao de no querer responder a
determinada pergunta puder vir a causar suspeita,
tambm podemos mentir para preservar nossa
intimidade contra a curiosidade alheia.
Afirma o autor: Pois que tenho o direito de
previamente contrapor, quando h perigo de dano,
vontade malvada de outrem e, pois, violncia
fsica presumida uma resistncia fsica e, portanto,
de guarnecer o muro do meu jardim com pontas
aguadas e de soltar ces bravos no meu quintal e,
mesmo, sob certas circunstncias, de pr
armadilhas e armas que disparam sozinhas, cujas
ms consequncias o invasor tem de atribuir a si
prprio, tambm tenho o direito de manter de
todo o modo em segredo aquilo cujo
conhecimento me poria a nu diante da agresso do
outro e tambm tenho causa para isto, porque
admito aqui como facilmente possvel a vontade
m do outro e tenho de encontrar antes as
providncias contrrias
42
. Ou seja, perante a
possibilidade de sofrer danos, podemos apresentar
uma astcia prvia com o objectivo de prevenir
esse dano. E, no caso de se usar uma mentira como
defesa, o risco dessa declarao levar algum ao
engano da total responsabilidade desse algum,
pois foi ele que no nos deixou nenhuma outra
alternativa para nos proteger da sua curiosidade.
Contudo, SCHOPENHAUER tem noo das
potencialidades da mentira como instrumento
perigoso e passvel de abuso e, por isso, neste caso
limita o uso da mentira s situaes de autodefesa:
mas como, apesar da paz no pas, a lei permite a
todos levar armas e us-las, a saber, no caso da
autodefesa, assim a moral consente, para o mesmo
caso, e s para este, o uso da mentira
43
.
42
SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o fundamento da Moral, traduo
de Maria Lcia Cacciola. So Paulo, Edies Martins Fontes, 1995;
43
SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o fundamento da Moral, cit.
2.2.3. A perspectiva poltica
Governar fazer crer!
NICOLAU MAQUIAVEL
A afirmao popular, frequentemente proferida
em todo o mundo, que proclama que os polticos
so mentirosos e corruptos apesar de ser abusiva,
desde logo porque generalizada, no pode deixar
de ser considerada como representando,
infelizmente em muitos casos, uma realidade to
recorrente que passa a ser vista, quase sempre,
como a regra e no como a excepo. Assim, no
campo poltico, quase que nos atreveramos a
afirmar que, embora no exista verdadeiramente
um direito mentira dos polticos e estes sejam os
primeiros a criticar as mentiras dos seus opositores,
existe como se fosse um direito consuetudinrio,
baseado nos costumes de falsas declaraes dos
polticos que fazem com que ningum fique
surpreendido nem ofendido por se verificar tal
situao. A frase atribuda ao general DE GAULLE
Como os polticos jamais acreditam no que
dizem, costumam ficar surpresos quando os outros
acreditam reflecte bem esta questo. No mesmo
sentido vai tambm um comentrio recente do
jornalista VITOR MATOS: A mentira em poltica
no um escndalo: uma arte. Sobrevive-se na
poltica embrulhando com mestria a verdade
44
.
O potencial da mentira na poltica tem a sua
explicao na origem da palavra, que vem do latim
mentire, que quer dizer inventar, de mens, mente,
que, por oposio a corpo, designa a actividade de
pensar. Explica HANNAH ARENDT que a aco
requer imaginao, ou seja, para mudarmos as
coisas h que ter a capacidade de pensar que as
coisas podem ser diferentes do que so
45
.
44
MATOS, Vtor. Freakpolitics. Revista SBADO, 30/07/2010.
45
ARENDT, Hannah. Verdade e Poltica, traduo de Manuel
Alberto. Lisboa, Relgio dgua, 1995.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
70
Entretanto, esta mesma imaginao, que permite
contestar os factos para se ter a iniciativa de
transform-los, permite desconsider-los, o que, em
outras palavras, quer dizer que a capacidade de
mudar factos e negar factos atravs da imaginao
est inter-relacionada. Esta autora considera que
existe uma afinidade inegvel da mentira com a
aco, com a mudana do mundo, ou seja, com a
poltica. Nesta lgica da mentira como
moduladora da aco percebe-se que o emissor de
mentiras no tem, nem remotamente, qualquer
compromisso com a verdade, o que ele deseja
exercer influncia, fazer acreditar e conduzir o alvo
das suas mentiras para a sua posio, para o seu
interesse. Assim, quanto menos instrudo e menos
crtico o alvo for mais fcil ser conseguir este
objectivo. Por isso que pensadores como
RUSSEL ao afirmarem que aquilo que preciso
no a vontade de acreditar, mas o desejo de
descobrir, que exactamente o contrrio
46
,
estavam a defender a necessidade de ser
encorajado um desejo de duvidar
47
por oposio
crena, que traduz um desejo de acreditar.
Tambm desnecessrio lembrar que a prpria
Histria, como registo de factos polticos, feita de
factos que no raramente so mentiras,
relembrando-se o aforisma popular de que a
Histria escrita pelos vencedores. H quem
cinicamente sugira que a histria constantemente
escrita de forma errada, pelo que sempre
necessrio reescrev-la e SAMUEL BUTLER
completou esta proposio acrescentando,
ironicamente, que Deus no pode alterar o
passado mas os historiadores podem.
Na anlise da perspectiva poltica, para alm da
obra j citada de PLATO
48
, que define um
direito de mentir limitado aos governantes, assume
46
RUSSEL, Bertrand. Ensaios Cpticos, traduo de Marisa Motta.
Porto Alegre, L&PM Editores, 2008.
47
RUSSEL, Bertrand. Ensaios Cpticos, cit.
48
PLATO. A Repblica, cit.
importncia crucial o pensamento de
MAQUIAVEL
49
. Embora tenha sido considerado
imoralista, MAQUIAVEL no rejeita a moral,
simplesmente ele separa a moral da poltica,
considerando que o bom homem de estado no
tem de ser moralmente bom ou virtuoso, j que
seguir a moral nos assuntos pblicos pode vir at a
revelar-se uma desgraa para o interesse pblico.
Em nome deste interesse pblico pode permitir-se,
quando necessrio, infraces moral (mentiras,
astcias, crimes), j que a poltica no pode
subordinar-se moral. Segundo os critrios do
realismo poltico (ou mais recentemente designado
por realpolitik), se o governante quiser ser virtuoso,
que o seja na sua vida privada, defende
MAQUIAVEL
50
.
No plano poltico, a utilizao da fraude ou da
mentira confunde e aumenta a opacidade e a
incerteza na arena poltica e MAQUIAVEL avalia
que a fraude at mais importante do que a fora
(os mesmos dois elementos astcia e violncia-
que SCHOPENHAUER
51
considera serem
igualmente maus no cometimento de injustias)
para assegurar o poder e consolid-lo. por este
motivo que a simulao, o segredo e a mentira so
armas da razo de Estado e a veracidade no
usualmente considerada uma virtude caracterstica
de governantes. No ser por acaso que o animal
poltico por excelncia a raposa, seguramente
devido s suas capacidades ardilosas e de iludir os
adversrios.
Em concluso, parece que na perspectiva
poltica a mentira , de forma ainda mais ntida,
um elemento que reconhecidamente fulcral para
a sobrevivncia do animal poltico. Inclusivamente,
muito se tem escrito sobre como a tornar mais
eficaz no campo poltico, o que desde logo um
reconhecimento implcito no s da sua
admissibilidade mas (e muito mais grave) tambm
49
Particularmente na sua obra mais conhecida: O Prncipe.
50
MAQUIAVEL, Nicolau. O Prncipe. Coimbra, Atlntida, 1935.
51
SCHOPENHAUER, Arthur, O Mundo como vontade e como
representao, cit.
O direito mentira da trabalhadora grvida
71
da sua utilidade. Mas apesar da mentira fazer, de
alguma forma, parte integrante da vida poltica,
neste campo que, paradoxalmente ela mais
demonizada. O aforisma popular mulher de
Csar no basta ser sria, tem de parecer sria
mostra bem como imprescindvel ao homem
poltico parecer verdadeiro. E hoje, numa
sociedade to extensamente mediatizada como a
nossa, muitas vezes a imagem (o parecer) e no
tanto o contedo (o ser) que realmente importa,
porque a imagem que serve melhor os propsitos
da eficcia. seguramente tambm por isso que o
poltico ensinado a evitar, acima de tudo, a
mentira factual pois aquela que pode ser muito
mais facilmente comprovada como mentira (vide o
caso Bill Clinton e Mnica Lewinski). Podemos
ento considerar que, na poltica, existe
infelizmente uma clara dicotomia entre o ser e o
parecer, entre o poder ser mentira mas ter de
parecer verdade, sob pena da ineficcia dessa
mentira, enquanto moduladora do comportamento
de outros, independentemente de ser para o bem
comum da sociedade ou para o bem individual do
emissor.
3. A trabalhadora grvida e a mentira
Mentir, eis o problema:
minto de vez em quando
ou sempre por sistema?
Ou mentirei apenas
no varejo da vida,
sem alvio de penas,
sem suporte e armadura
ante o imprio dos grandes,
frgil, frgil criatura?
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
3.1. Consideraes gerais
O direito uma cincia social e humana,
paradigma de coexistncia social
52
, porquanto
centrado na pessoa humana como seu valor
programtico e determinante
53
. Assim, a pessoa
humana - toda e qualquer pessoa humana o
bem supremo da nossa ordem jurdica, o seu
fundamento e o seu fim, e este entendido em
termos de igualdade e da universalidade
54
. A
dignidade da pessoa humana como objecto de
proteco independentemente do gnero - trata-se
simplesmente do ser humano.
Como cincia social, objectivo do Direito
regular a vida em sociedade de homens e
mulheres. Como cincia social cabe ao Direito o
papel de igualar os seres humanos
independentemente do seu gnero, pelo que se se
verifica existir socialmente uma diferenciao, cabe
ao direito tentar elimin-la. A maior parte da
legislao de gnero neutro e o objectivo , se
possvel, que toda ela o venha a ser
55
, ser mulher
um atributo pessoal a que, de acordo com o
Direito (), s algumas leis atribuem relevncia
jurdica
56
em termos de consagrar a aplicabilidade
das normas em funo do gnero. A regra de
facto, a da generalidade e abstraco das normas
jurdicas, tendo presente a igualdade como um
conceito prvio e subjacente iniciativa legislativa.
No entanto, esta circunstncia no obsta a que se
reconhea que por razes culturais, sociais,
educacionais existam efectivas diferenas de
tratamento consoante se seja do gnero masculino
ou do gnero feminino.
52
LUSA NETO, O direito fundamental disposio sobre o prprio corpo
(a relevncia da vontade na configurao do seu regime), Coimbra
Editora, Coimbra, 2004, p. 21
53
LUSA NETO, O direito fundamental disposio sobre o prprio
corpo, cit., p. 192
54
LUSA NETO, O direito fundamental disposio sobre o prprio
corpo, cit., p. 196
55
DAHL, T.S., O Direito das Mulheres: Uma introduo Teoria do
Direito Feminista, Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1992, pp. 3-4,
citada por REBELO, Glria, Trabalho e Igualdade, Celta Editora, Oeiras,
2002, p. 28.
56
Como refere DAHL, T.S., O Direito das Mulheres, citado por
REBELO, Glria, Trabalho e Igualdade, cit., p. 28.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
72
com base nesta conscincia que subjaz
realidade social que, desde logo a nvel do direito
internacional, vrios instrumentos visam a garantia
de igualdade entre homens e mulheres. Nessa
sequncia vem o reconhecimento pela ONU de
doze direitos das mulheres:
- o direito vida;
- o direito liberdade e segurana pessoal;
- direito liberdade e a estar livre de todas as
formas de discriminao;
- direito liberdade de pensamento;
- direito informao e educao;
- direito privacidade;
- direito sade e proteco desta;
- direito a construir relacionamento conjugal e a
planear a sua famlia;
- direito a decidir ter ou no ter filhos e quando
t-los;
- direito aos benefcios do progresso cientfico;
- direito liberdade de reunio e participao
poltica;
- direito a no ser submetida a torturas e maus-
tratos.
Estes direitos so proclamados em vrios
instrumentos legislativos, de que constituem
exemplo:
a) a Conveno sobre a eliminao de todas as
formas de discriminao contra as mulheres
57
,
adoptada e aberta assinatura, ratificao e adeso
pela resoluo n 34/180 da Assembleia Geral das
Naes Unidas, de 18 de Dezembro de 1979, que
entrou em vigor na ordem internacional a 3 de
Setembro de 1981. Portugal assina a conveno
em 24 de Abril de 1980 tendo esta entrado em
vigor na ordem jurdica portuguesa em 3 de
Setembro de 1981. Atravs da presente conveno
57
Acessvel em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/dm-con consultado em 11/10/2010.
reafirma-se a f nos direitos fundamentais do
homem, na dignidade e no valor da pessoa humana
e na igualdade de direitos dos homens e das
mulheres. No art. 5 deste instrumento
internacional prev-se que: Os Estados Partes
tomam todas as medidas apropriadas para: a)
modificar os esquemas e modelos de
comportamento scio-cultural dos homens e das
mulheres com vista a alcanar a eliminao dos
preconceitos e das prticas costumeiras, ou de
qualquer outro tipo, que se fundem na ideia de
inferioridade ou de superioridade de um ou de
outro sexo ou de um papel estereotipado dos
homens e das mulheres
58
;
b) no mesmo sentido a Declarao sobre a
eliminao da discriminao contra a mulher
proclamada pela Assembleia Geral na Resoluo
2263 (XXII), de 7 de Novembro de 1967
59
afirma no seu artigo 1 que: a discriminao
contra a mulher, porque nega ou limita sua
igualdade de direitos com o homem,
fundamentalmente injusta e constitui uma ofensa
dignidade humana pelo que, de acordo com o art.
2 devero ser tomadas todas as medidas
apropriadas para abolir leis, costumes, regras e
prticas existentes que constituam discriminao
contra a mulher e para o efeito devero ser
tomadas todas as medidas apropriadas para educar
a opinio pblica e dirigir as aspiraes nacionais
para a erradicao do preconceito e abolio dos
costumes e de todas as outras prticas que estejam
baseadas na ideia de inferioridade da mulher, de
acordo com o art. 3.
58
Posteriormente, o Protocolo opcional Conveno sobre a
eliminao de todas as formas de discriminao contra as mulheres
adoptado pela Assembleia Geral das Naes Unidas na sua resoluo n
A/54/4, de 6 de Outubro de 1999 e aberto assinatura em 10 de
Dezembro de 1999, assinado por Portugal em 16 de Fevereiro de 2000 e
onde entrou em vigor em 26 de Julho de 2002, reconhece a importncia
do Comit para Eliminao da Discriminao contra as Mulheres (o
Comit) como entidade para receber e apreciar as participaes que lhe
sejam apresentadas, acessvel em http://www.gddc.pt/direitos-
humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dm-prot, consultado
em 11/10/2010.
59
Acessvel em http://www.nepp-dh.ufrj.br/onu5-5.html,
consultado em 11/10/2010.
O direito mentira da trabalhadora grvida
73
Embora a adopo destes instrumentos
internacionais de proteco e de garantia dos
direitos do homem na ordem interna s tenha
ocorrido depois da entrada em vigor da
Constituio de 1976, esses instrumentos foram
no entanto, de influncia decisiva na elaborao da
prpria lei fundamental portuguesa
60
.
A consagrao de direitos, liberdades e garantias
na senda da consagrao do princpio da dignidade
humana no artigo 2 da CRP, apresenta-nos a
pessoa como o fim ltimo do direito Personae
est definitio: naturae rationabilis individua
substantia
61
- E essa dignidade humana, no
quadro do Estado Social de Direito, j no a
dignidade do homem isolado do liberalismo mas
sim a dignidade da pessoa humana, a um tempo
indivduo e cidado, ser livre e situado na
sociedade, ela tem uma das suas principais
revelaes no direito que cada indivduo deve ter
realizao e desenvolvimento da personalidade
em quaisquer direces, o que implica a defesa do
indivduo em relao, no s ao Estado, mas
tambm a terceiros, sociedade civil. O princpio
da dignidade do homem, encarado na sua actual
dimenso, vem pois fundamentar a extenso da
eficcia dos direitos fundamentais s relaes
privadas
62
.
E os Direitos Fundamentais como
categoria de posies jurdicas activas so talvez a
realidade tico-jurdica mais prxima dos cidados,
bandeira dos processos emancipatrios e das
pretenses justificadas de liberdade e igualdade dos
indivduos e dos grupos
63
. A teoria dos direitos
fundamentais integra os direitos fundamentais
como categoria dogmtica preocupada com a
60
Neste sentido, LUSA NETO, O Direito Fundamental disposio
sobre o prprio corpo, cit., p. 180.
61
Promio citado em MRIO A. CATTANEO, Persona e Stato di
Diritto, G. Giappichelli Editore, Torino, 1994, p. 25 apud LUSA NETO,
O Direito Fundamental disposio sobre o prprio corpo, cit., p. 183.
62
Cfr. ABRANTES, Jos Joo, A vinculao das entidades privadas aos
direitos fundamentais, AAFDL, 1990, Lisboa, p. 27
63
Citando GREGRIO PECES-BARBA MARTINEZ, Curso de
Derechos Fundamentales, Teoria General, Universidade Carlos III de
Madrid, Boletin Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 15 apud NETO,
Lusa, O Direito Fundamental disposio sobre o prprio corpo, cit., p. 113.
construo sistemtico-conceptual do direito
positivo, tendendo a assinalar uma nica dimenso
(subjectiva) e apenas uma funo (proteco da
esfera livre e individual do cidado),
entrecruzando-se a dimenso constitutiva e
declarativa dos princpios que, eles mesmos, na sua
fundamentalidade principal, exprimem, indicam,
denotam ou constituem uma compreenso global
da ordem constitucional
64
. Estes princpios
assentam numa base antropolgica comum, numa
trade mgica do homem como pessoa, cidado e
trabalhador, e articulam-se em termos de
complementariedade, condicionando-se
mutuamente
65
.
Na linha do consagrado nos instrumentos
internacionais identificados, a CRP no ttulo II
prev os direitos, liberdades e garantias onde se
incluem, entre outros: o direito liberdade e
segurana (art. 27), o direito identidade, ao bom
nome imagem e intimidade (art. 26), o direito
do desenvolvimento da personalidade (art. 26), a
garantia da dignidade pessoal e identidade gentica
do ser humano (art. 26, n 3).
A nossa Constituio consagra o princpio da
igualdade
66
como direito fundamental, na
sequncia da clebre forma do artigo 1 da
Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado
de 1798: Les hommes naissent et demeurent libres
et gaux en droits. Como direitos, liberdades e
garantias, o texto constitucional consagra o direito
reserva da intimidade da vida privada
67
e o
direito ao trabalho
68
, enquanto direito econmico
e social.
Neste contexto, homens e mulheres so iguais
perante a lei e, portanto, ambos abrangidos no
mbito de aplicao do direito reserva da vida
64
CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, 6 edio,
Livraria Almedina, Coimbra, 1995, p. 353.
65
Cfr. NETO, Lusa, O Direito Fundamental disposio sobre o prprio
corpo (a relevncia da vontade na configurao do seu regime), cit., pp. 118-
119.
66
Artigo 13 da CRP.
67
Artigo 26 da CRP.
68
Artigo 58 da CRP.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
74
privada e com igual direito ao trabalho. No
entanto, geneticamente, homem e mulher so
diferentes e, por imperativo da natureza, a
mulher que tem a misso de engravidar, dar luz e
assim assegurar a continuidade da espcie
humana
69
, o que, do ponto de vista social e laboral,
coloca homem e mulher em diferentes posies,
apesar da sua igualdade jurdico-formal
70
. No
entanto, e com vista efectiva concretizao do
princpio da igualdade de gnero, abrangendo todos
os direitos e/ou deveres, o ordenamento jurdico
visa implementar medidas com vista a obter a
igualdade real, jurdico-material e social.
Na rea laboral, e porque todos tm direito ao
trabalho, a concretizao do princpio da
igualdade
71
fez-se, na legislao laboral, positivando
regimes de proteco da maternidade e da
paternidade, com previso de direitos concedidos
aos progenitores, quer em termos de gozo de
licenas parentais, quer em termos de afastamento
de alguns dos regimes laborais que podiam colidir
com a vida familiar dos trabalhadores, prevendo-se
ainda medidas de proteco da trabalhadora
grvida, purpera ou lactante. O direito laboral tem
como base o princpio de compensao das partes
pelo dbito alargado que assumem no contrato de
trabalho
72
, princpio este que comporta duas
vertentes: a proteco do trabalhador e a
salvaguarda dos interesses de gesto
73
. Esta
segunda vertente, desde logo decorrente do
tambm princpio constitucional de liberdade e
direito de iniciativa econmica
74
, est consagrada,
69
Observao que no esquece, obviamente, o importante papel do
homem nesta misso de perpetuao da espcie, sem cuja interveno
no seria possvel sequer mulher engravidar.
70
MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui. Constituio Portuguesa
Anotada, Tomo I, 2 edio. Coimbra, Wolters Kluwer/Coimbra Editora,
2010, p 220.
71
Sobre a influncia e aplicabilidade dos princpios constitucionais
no direito do trabalho, cfr. CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de
Direito do Trabalho. Coimbra, Almedina, 1997, pp 141 e ss.
72
RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito do Trabalho Parte I
dogmtica geral. Coimbra, Almedina, 2005, p. 489.
73
Pormenorizadamente, cfr. RAMALHO, Maria do Rosrio Palma,
Direito do Trabalho Parte I dogmtica geral,cit., p. 489.
74
Artigo 61 da CRP.
tal como o direito ao trabalho, em sede de direitos
econmicos sociais e culturais.
A co-existncia destes vrios direitos facilmente
proporciona conflitos entre si, e apesar da
proteco legalmente conferida aos pais
trabalhadores e em concreto s mulheres, a
verdade que, em termos de organizao e gesto
empresariais, substituir uma mulher que est de
licena parental pode representar uma dificuldade
acrescida e que pode importar alguns custos
adicionais com a contratao do trabalhador
substituto, por exemplo dando-lhe formao para
desempenhar as suas funes, tendo de lhe
proporcionar algum tempo de adaptao ao
desempenho da tarefa, com a inerente perda de
produtividade da decorrente E, por isso, muitas
vezes os empregadores evitam contratar mulheres
ou, quando o fazem, tentam prevenir-se
questionando-as sobre questes que diramos ser,
do seu foro ntimo, como por exemplo em relao
a uma eventual gravidez actual ou em relao s
suas intenes futuras de engravidar. Estas
mulheres, quando confrontadas com tais questes,
podem optar por no responder mas o silncio
muitas vezes entendido como uma resposta
positiva, pelo que a trabalhadora pode considerar
que o melhor modo de no perder o seu emprego
ou de o vir a obter, emitindo uma declarao que
pode no corresponder verdade, ou seja, uma
mentira.
Como deve ento reagir o direito face
mentira emitida pela trabalhadora ou pela
candidata ao emprego que, com receio de perder o
seu emprego ou de o no conseguir obter, emite
uma declarao no verdadeira, assim ocultando a
gravidez actual ou a sua inteno de vir a ser me,
num futuro mais ou menos prximo. No
esqueamos que, quer no momento da celebrao
do contrato de trabalho quer no seu decurso, o
princpio geral da boa f
75
foi expressamente
75
Com previso genrica no artigo 227 do CC: quem negoceia
com outrem para concluso de um contrato deve, tanto nos
preliminares como na formao dele, proceder segundo as regras da boa
O direito mentira da trabalhadora grvida
75
acolhido na redaco do artigo 102 do CT, como
princpio estruturante da relao laboral (o
empregador e o trabalhador devem proceder de
boa f no exerccio dos seus direitos e no
cumprimento das respectivas obrigaes),
princpio este j decorrente das regras gerais
previstas no Cdigo Civil, at porque durante
algum tempo as normas laborais no se
preocuparam com a fase de formao do contrato,
com as negociaes que precediam a celebrao do
contrato de trabalho
76
, situaes que eram tratadas
no mbito do direito civil, atravs da aplicao das
regras contratuais gerais. Esta situao legislativa
encontra alguma justificao no facto de serem
raros ou nulos os litgios sobre responsabilidade
pr-contratual no contrato de trabalho, afirmando
alguma doutrina que a culpa in contraendo do
trabalho subordinado era um tema sem especial
interesse
77
. Esta aparente irrelevncia da
conflitualidade pr-contratual laboral pode
tambm encontrar justificao no facto de, depois
de celebrado o contrato de trabalho, a questo se
situar efectivamente no mbito laboral. E as
normas laborais dispem de mecanismos,
nomeadamente em termos de consagrao de
direitos e deveres das partes, que permitem e
exigem a manuteno da boa f ao longo da
durao do contrato de trabalho
78
.
Mas esta fase pr-contratual fundamental,
desde logo porque esta uma das fases em que
maior a disparidade de poder e a desigualdade
social, problemas que estiveram na prpria gnese
do Direito do Trabalho, como refere JLIO
f, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar outra
parte.
76
Afirma JLIO GOMES que no era de surpreender que assim
fosse, quer pelo facto de o contrato de trabalho ser, com frequncia, um
contrato de adeso, estipulado sem que as suas clusulas sejam objecto
de discusso ou de qualquer negociao individualizada, mas tambm
porque, antes da celebrao do contrato ainda, em bom rigor,
estaramos fora do mbito de aplicabilidade do direito do trabalho e por
isso das normas laborais. In GOMES, Jlio Manuel Vieira. Direito do
Trabalho, Vol. I Relaes Individuais de Trabalho. Coimbra, Coimbra
Editora, 2007, p. 337.
77
GOMES, Jlio Manuel Vieira. Direito do Trabalho, Vol. I Relaes
Individuais de Trabalho, cit., p. 337.
78
Assim, os deveres das partes consagrados nos termos dos artigos
127 e seguintes do CT, em particular o dever de lealdade e o dever de
mtua colaborao.
GOMES
79
. Entre o candidato ao emprego, para
quem o emprego constitui, normalmente, uma
necessidade vital, no apenas em termos
econmicos mas tambm sociais, e o candidato a
dador de emprego que, em regra, poder
facilmente substituir aquele candidato ao emprego
por outro, sobretudo num clima de desemprego
generalizado como o presente, no existe qualquer
igualdade material e bem visvel a
vulnerabilidade do candidato ao emprego. Como
refere JLIO GOMES, todo o processo de
recrutamento visa identificar, de entre os
candidatos disponveis, a pessoa mais qualificada
para uma determinada posio, da que o
empregador tente atravs de uma bateria de testes
e entrevistas recolher o mximo de informaes
para essa deciso, pelo que, nesta fase, existe um
perigo potencial acrescido de invaso da
intimidade do candidato ao emprego
80
.
A observncia das regras da boa f, actualmente
consagradas no CT, apresenta-se, nesta primeira
fase, como regras a observar na fase de negociao
do contrato de trabalho, ou seja, no mbito da
celebrao do contrato, pelo que nesta sede se
inserem o dever, de cada uma das partes, de
fornecer informao relevante outra parte que
lhe permita formar a sua vontade negocial.
Depois de celebrado o contrato de trabalho, e
devido ao carcter intuitu personae que caracteriza
a relao laboral, outros direitos e deveres devem
ser considerados por cada uma das partes na sua
79
GOMES, Jlio Manuel Vieira. Direito do Trabalho, Vol. I Relaes
Individuais de Trabalho, cit., pp 337-338.
80
GOMES, Jlio Manuel Vieira. Direito do Trabalho, Vol. I Relaes
Individuais de Trabalho, cit., pp 337-338. Este autor refere ainda, citando
JOHN D.R. CRAIG. Privacy and Employment Law. Oxford, Hart
Publishing, 1999, que o perigo de se ser sujeito a testes genticos ou a
testes grafolgicos, psicolgicos ou psicotcnicos e at mesmo a testes
de utilizao de drogas mais elevado para os candidatos a um emprego
que para os trabalhadores propriamente ditos. Para este autor, a
proteco concedida aos candidatos a emprego deve ser idntica
proteco concedida aos trabalhadores porque os direitos humanos no
devem depender da precisa natureza da relao jurdica, sendo
suficiente o facto de existir uma assimetria de poder, no sendo,
igualmente correcto alegar-se que o candidato a emprego pode sempre
afastar-se, caso no deseje ser sujeito a determinados testes; o
empregador oferece ao pblico um bem o trabalho que se reveste de
grande importncia e os candidatos podem ser pressionados a aceder s
solicitaes do empregador por fora da sua necessidade de obter
trabalho.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
76
relao com a outra, no mbito do cumprimento
do contrato de trabalho. Assim, o CT procede
definio de um conjunto de direitos, deveres e
garantias das partes contraentes de um contrato de
trabalho (trabalhador e empregador). O CT
contm, na seco VII relativa a direitos, deveres e
garantias das partes, alguns artigos, que
representam verdadeiros nus que incidem sobre
as partes, durante o cumprimento do contrato que
celebraram. So exemplos os seguintes artigos:
- o 126, nos termos do qual constituem
deveres gerais das partes procederem de acordo
com o princpio da boa f no exerccio dos seus
deveres e no cumprimento das suas obrigaes e
trabalhador e empregador tm o dever de
colaborao na obteno da maior produtividade e
na promoo humana, profissional e social do
trabalhador;
- o 127, que consagra os deveres do
empregador, deveres que se distribuem nos deveres
para com o trabalhador (tratar com respeito e
probidade), deveres contratuais (pagamento
pontual da retribuio, contribuir para a formao
e qualificao profissionais, permitir o exerccio de
cargos em estruturas representativas dos
trabalhadores), deveres no mbito da tutela do
ambiente de trabalho (preveno de riscos e de
doenas profissionais, adopo de medidas de
modo a obter e manter a sade laboral) e, em
geral, observar o princpio geral da adaptao do
trabalho ao homem, nomeadamente atravs da
conciliao da actividade profissional com a vida
pessoal do trabalhador;
- o 128, que consagra os deveres do
trabalhador, consistindo igualmente em deveres
para com o outro (tratar com respeito e
urbanidade o empregador e as restantes pessoas
que com o trabalhador se relacionem
hierarquicamente), deveres contratuais
(pontualidade, assiduidade, zelo e diligncia,
obedincia e lealdade) e deveres no mbito da
tutela do ambiente de trabalho (cooperar com o
empregador para a melhoria da segurana e sade
no trabalho, nomeadamente atravs do
cumprimento das ordens e prescries com esse
fim);
- o 129, que consagra as garantias do
trabalhador que, revestindo carcter essencialmente
contratual (relativas vida e regimes do contrato
de trabalho), se apresentam como verdadeiras
obrigaes para o empregador.
O nosso estudo incide ento sobre duas
questes fundamentais que, sendo conexas, so
diferentes do ponto de vista formal:
1) a grvida candidata a emprego que, no
mbito da fase pr-contratual, sabendo do
seu estado, quando questionada a esse
respeito afirma no estar grvida e no
pretender engravidar;
2) a trabalhadora grvida que, no
contexto de uma possvel renovao de
contrato de trabalho a termo, sabendo do
seu estado, quando questionada a esse
respeito declara no estar grvida e no
pretender engravidar.
Estas duas situaes reportam-se a uma mesma
questo, que a de saber se uma mulher, no acesso
ao emprego ou no mbito da manuteno da sua
relao laboral, tem a obrigao de responder
questo relativa ao seu estado actual de gravidez
ou sua inteno futura de engravidar e, se o fizer,
se tem de responder com verdade. Entendemos
tratar estas duas situaes simultaneamente, na
medida em que em ambos os casos estamos
perante circunstncias em que se acentua a posio
de inferioridade de uma das partes (mulher
candidata ao emprego ou mulher trabalhadora) em
contraposio posio de superioridade da outra
parte (empregador), ou seja, embora no segundo
caso a mulher j esteja a trabalhar, o carcter
precrio do vnculo que tem (contrato a termo)
O direito mentira da trabalhadora grvida
77
continua a deix-la numa posio de fragilidade
face posio da contraparte, o que justifica in
casu a sua anlise conjunta
81
.
A nossa base de anlise , realamos, a situao
concreta em que a trabalhadora, em vez de no
responder questo refugiando-se no silncio,
responde com uma mentira. Porque embora o
silncio possa sempre consubstanciar um meio de
auto-defesa contra perguntas indesejadas ou
indiscretas, existem situaes em que esse silncio
pode ser encarado como resposta afirmativa e,
desse modo, no produzir o efeito til de permitir
a auto-defesa. Efeito til esse que, muitas vezes, s
se consegue obter atravs da realizao de uma
afirmao consistente e coerente, que responda
especifica e concretamente questo colocada, de
preferncia de forma rpida e convincente.
3.2. Os deveres e direitos do trabalhador
Embora uma anlise do enquadramento
jurdico desta situao necessite de ter em conta
uma viso holstica dos deveres e direitos da
trabalhadora grvida, bem como das eventuais
colises entre esses deveres e direitos, por motivos
de organizao expositiva abordaremos sequencial
e isoladamente os deveres e direitos, para depois
abordarmos os eventuais conflitos entre estes.
Relativamente a deveres, o princpio geral da
boa f, enquanto instituto atravs do qual, nos
preliminares conducentes celebrao de um
contrato, as partes devem respeitar os valores
fundamentais da ordem jurdica
82
,
83
, tem
81
Com natural excepo para as situaes que, em termos de
regime, s se podem aplicar ou num caso ou no outro caso.
82
CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do Trabalho, cit.,
p. 557.
83
CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do Trabalho, cit.,
pp 557. Para este autor, os valores fundamentais da ordem jurdica
trazidos pela boa f so o valor da tutela da confiana e o valor da
primazia da materialidade subjacente. Pela tutela da confiana verifica-
se que no pode uma pessoa gerar noutra a convico justificada de
certo estado de coisas, procedendo depois de modo a defraudar a
convico criada. O valor da primazia da materialidade subjacente tem
presente que o Direito ao prescrever solues, faz relevar essencialmente
as solues materiais e as atitudes substantivas, em detrimento de meras
actuaes formais.
subjacentes, segundo MENEZES CORDEIRO
84
,
dois tipos de deveres: o dever de informao e o
dever de lealdade. Na trabalhadora j contratada
acrescentaramos, de acordo com o CT, um
terceiro dever: o de colaborao.
i) Dever de informao
O dever de informao impe s partes a troca
de todos os elementos necessrios ou teis para a
formao do contrato
85
. Efectivamente, face ao
carcter intuito personae do contrato de trabalho, a
prestao de informaes de peculiar
importncia.
Sob a epgrafe dever de informao, estipula
o artigo 106, no n 1, que o empregador deve
informar o trabalhador sobre aspectos relevantes
do contrato de trabalho e, no n 2, que o
trabalhador deve informar o empregador sobre
aspectos relevantes para a prestao da actividade
laboral, devendo actualizar essas informaes
(caso seja necessrio) no decurso do contrato de
trabalho, nos termos do artigo 109 do CT.
Como verificamos, existe um dever mtuo de
informao que incide sobre ambas as partes. Mas
apesar de, em termos nominativos, a letra da lei se
referir a dever de informao e at reunir a
incidncia desse dever sobre o empregador e sobre
o trabalhador num nico dispositivo legal, a
verdade que, consoante a parte contratual cujo
dever de informao se analise, o contedo
distinto. Por revestir particular pertinncia para o
presente caso o dever de informao a prestar pelo
trabalhador ao empregador, nesta perspectiva que
faremos a nossa anlise o trabalhador deve
informar o empregador sobre aspectos relevantes
para a prestao da actividade laboral
86
.
84
Cfr. CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do Trabalho,
cit., p 558.
85
Cfr. CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do Trabalho,
cit., p. 558; GOMES, Jlio. Direito do Trabalho, Vol. I Relaes Individuais
de Trabalho, cit., pp. 339 e ss.
86
Artigo 106, n 2 do CT.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
78
Como o dever de informao se refere
explicitamente a aspectos relevantes para a
prestao da actividade laboral
87
, o seu mbito
restringe-se exigibilidade de prestao de
informaes que sejam necessrias para aferir da
capacidade fsica ou psquica do trabalhador para o
desempenho de determinada actividade e desde
que funcional e objectivamente justificadas
88
. No
basta uma ligao ou conexo remota com a
prestao da actividade laboral para que se possa
falar de relevncia para a prestao da actividade
laboral, o empregador no tem legitimidade para
perguntar ou, atravs de outros mecanismos,
informar-se sobre as circunstncias que, embora
apresentem relevncia para a formao da vontade
contratual, s de forma remota se conexionam
com a prestao da actividade laboral
89
, ou seja,
situamo-nos no domnio objectivo porquanto as
questes tm de estar relacionadas com a
actividade que o trabalhador ir desempenhar.
Encontram-se na doutrina diferentes critrios
com vista a determinar a relevncia das
informaes para a prestao laboral
90
, que
acentuam:
1) a conexo objectiva com a actividade em
causa
91
;
87
Neste sentido, RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito do
Trabalho Parte II Situaes Laborais Individuais. Coimbra, Almedina,
2006, pp 134 e ss.
88
Neste sentido, RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito do
Trabalho Parte II Situaes Laborais Individuais, cit., p. 134.
89
APOSTOLIDES, Sara Costa. Do dever pr-contratual de informao e
da sua aplicabilidade na formao do contrato de trabalho. Coimbra,
Almedina, 2008, p. 226.
90
No presente trabalho s enunciamos as diversas hipteses na
medida em que essa anlise, embora complementar ao estudo
desenvolvido, no neste caso essencial, visto que aqui a informao
especfica em causa se encontra legalmente excepcionada.
91
MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera privada do
trabalhador e o controlo do empregador. Coimbra, Universidade de
Coimbra, Coimbra Editora, Boletim da Faculdade de Direito de
Coimbra, Stvdia ivridica, 78, 2004, pp 152. Esta autora acrescenta que
o empregador s pode obter informao e interrogar sobre factos que
tenham relao directa com o emprego. Esta concepo que preconiza
como relevantes as informaes que apresentem com a actividade a
prestar uma conexo objectiva, ou uma relao directa e necessria,
pode originar duas solues possveis: ou se considera que o que est em
causa apenas a actividade em si ou se considera que, para alm da
actividade, devem abranger-se outros aspectos, tais como o modo de
prestar ou as implicaes na organizao.
2) a relao objectiva com o trabalho a
prestar
92
;
3) a relao directa com o objecto negocial ou
com as condies especficas do contrato
93
;
4) os interesses do empregador, defendendo-
se que apenas so relevantes as informaes acerca
das quais o empregador tenha um interesse
justificado ou digno de proteco
94
.
Independentemente do critrio adoptado
relativo relevncia das informaes
95
, que implica
desde logo o reconhecimento de limites
qualitativos ao dever de informao do
trabalhador ao empregador, por todos
reconhecida a validade e pertinncia deste dever
de informao, porquanto fornece ao empregador
elementos que lhe permitem ajuizar da capacidade,
motivao e habilitaes do trabalhador para o
desempenho das funes objecto do contrato de
trabalho.
ii) Dever de lealdade
O dever de lealdade vincula o trabalhador com
o objectivo de prevenir comportamentos que
coloquem em causa a confiana depositada no
contrato celebrado
96
. O dever de lealdade
97
92
CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do Trabalho, cit.,
p. 560.
93
RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Da autonomia dogmtica do
Direito do Trabalho. Coimbra, Almedina, 2000, pp 775 e Direito do
Trabalho Parte II- Situaes laborais individuais, cit., pp 139; ABRANTES,
Jos Joo. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra, Coimbra
Editora, 2005, p. 195.
94
WIEDEMANN, Herbert, Zur culpa in contrahendo, 1982, pp. 470-
471 apud APOSTOLIDES, Sara Costa. Do dever pr-contratual de
informao e da sua aplicabilidade na formao do contrato de trabalho, cit., p.
227.
95
No cuidaremos em especial de explorar cada um desses critrios,
na medida em que a questo sobre a qual incidimos a nossa reflexo
est excepcionada por fora da prpria lei. A questo concreta em
anlise informaes relativas ao estado de gravidez encontra-se
legalmente excepcionada do mbito geral do dever de informao do
trabalhador.
96
CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do Trabalho, cit.,
p. 558.
97
Consagrado positivamente no artigo 128, n 1, alnea f) do CT.
Muitos tm sido os entendimentos relativos extenso do dever de
lealdade, cuja origem histrica radica na circunstncia de, durante
muito tempo, se ter considerado a relao de trabalho como uma
relao jurdico-pessoal comunitria. Na opinio de MARINA
WELLENHOFER-KLEIN, citada por JLIO GOMES in Direito do
Trabalho, Volume I, Relaes Individuais de Trabalho, cit., pp 531, o dever de
O direito mentira da trabalhadora grvida
79
geralmente entendido como consistindo no dever
de o trabalhador no negociar por conta prpria ou
alheia, em concorrncia com o empregador, e no
dever de no divulgar informaes referentes
organizao, mtodos de produo ou negcios do
empregador
98
. Mas este entendimento apenas
um dos afloramentos do dever de lealdade, cujo
contedo extenso
99
, tendendo hoje a considerar-
se que cabe a qualquer contratante o dever de
cumprir o seu contrato de acordo com as
exigncias da boa f, ainda que em certas hipteses
possa existir um elemento fiducirio especfico
100
.
iii) Dever de colaborao
Nos termos do artigo 126, n 2 do CT: na
execuo do contrato de trabalho, as partes devem
colaborar na obteno da maior produtividade,
bem como na promoo humana, profissional e
social do trabalhador, dever que de acordo com
MARIA DO ROSRIO PALMA RAMALHO
consiste na projeco do princpio da salvaguarda
dos interesses de gesto
101
. Este dever genrico,
encontra-se concretizado no artigo 128 do CT,
nos termos do qual deve existir cooperao com
vista ao incremento dos nveis de produtividade e
lealdade do trabalhador reporta-se empresa, ao passo que o dever de
lealdade do empregador relativo pessoa do trabalhador. De acordo
com esta autora, os deveres de lealdade e de cuidado esto relacionados
com as possibilidades que ambas as partes tm de influir sobre a esfera
jurdica e de interesses da outra parte, tendo ainda as partes conscincia
de que existem limites contratuais imanentes actuao de cada uma
delas, numa relao contratual de longa durao em que ambas se
expem mutuamente. Vide tambm, FERNANDES, Antnio Monteiro.
Direito do Trabalho, 12 edio. Coimbra, Almedina, 2004, pp 227 e ss.
98
Este o entendimento positivado no CT, segundo o qual e de
acordo com o artigo 128, n 1, alnea f), o trabalhador deve: guardar
lealdade ao empregador, nomeadamente no negociando por conta
prpria ou alheia em concorrncia com ele, nem divulgar informaes
referentes sua organizao, mtodos de produo ou negcios.
99
Cfr. MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera privada do
trabalhador e o controlo do empregador, cit., pp 397-398.
100
Entendimento acentuado pela doutrina alem (aps um longo
perodo em que se acentuou a dependncia pessoal do trabalhador face
ao empregador), vide GOMES, Jlio. Direito do Trabalho, cit., pp. 532.
Este autor reala que, actualmente, a maioria da doutrina rejeita a
existncia de um dever de lealdade ou de fidelidade pessoal e entende
que o que h fidelidade ao contrato, de acordo com o artigo 242 do
BGB. Tambm neste sentido, CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de
Direito do Trabalho, cit., pp. 558, que considera o dever de lealdade como
um dos deveres em que consiste o princpio geral da boa f.
101
Cfr. RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito do Trabalho
Parte I dogmtica geral, cit., p. 498.
observncia das prescries de segurana, higiene
e sade no trabalho.
Sobre a candidata a emprego incidem os
deveres de informao e de lealdade, e sobre a
trabalhadora, que j tendo celebrado contrato de
trabalho se encontra grvida e em fase de
renovao do contrato a termo, os deveres de
informao (uma vez que como referimos, h o
dever de ir actualizando a informao, sempre que
necessrio, no decurso do contrato de trabalho), de
lealdade e de colaborao. Assim, se s
considerssemos os deveres que impendem sobre a
trabalhadora seramos conduzidos concluso que,
perante a questo do empregador relativa ao seu
estado de gravidez, a mulher teria de responder e
de o fazer com verdade.
No entanto, fundamental identificar se, no
caso em concreto, assiste legitimidade ao
empregador para questionar ou ter acesso
informao relativa ao estado de gravidez da
trabalhadora ou da candidata a emprego, ou seja, se
o empregador tem direito a essa informao, na
medida em que possa existir coliso com direitos
do trabalhador tutelados pelo ordenamento
jurdico. Assim, se anteriormente abordmos a
questo do ponto de vista dos deveres do
trabalhador, o mesmo faremos agora, tendo como
base os seus direitos com o objectivo de verificar se
estes direitos do trabalhador colidem e/ou
excepcionam os supra-identificados deveres de
informao, de lealdade e de cooperao.
A nossa Constituio baseia a Repblica
Portuguesa na dignidade da pessoa humana,
princpio que confere unidade e coerncia de
sentido ao sistema constitucional de direitos
fundamentais
102
. Para alm disso, associa a
102
Neste sentido, Cfr. MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui.
Constituio Portuguesa Anotada, Tomo I, 2 edio. Coimbra, Wolters
Kluwer Portugal/Coimbra Editora, 2010; CANOTILHO, J.J. Gomes,
MOREIRA, Vital, Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, Vol. I, 4
edio. Coimbra, Coimbra Editora, 2007; AMARAL, Maria Lcia, AAVV.
O princpio da dignidade da pessoa humana na jurisprudncia
Constitucional Portuguesa in AAVV, Liber Amicorum de Jos de Sousa
Brito em comemorao do 70 aniversrio Estudos de Direito e Filosofia.
Coimbra, Almedina, 2009, pp. 948; BOTELHO, Catarina Santos. A tutela
directa dos direitos fundamentais avanos e recuos na dinmica garantstica
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
80
dignidade igualdade, no sentido de que todos os
indivduos gozam do mesmo quantum de
dignidade, merecendo igual respeito. com base
nestes princpios do nosso ordenamento jurdico
que podemos comear por explanar quais os
direitos que assistem candidata a emprego e/ou
trabalhadora grvida ou com inteno de
engravidar.
i) Direito igualdade
Mais do que um direito, a igualdade um
princpio estruturante do nosso sistema
constitucional, cuja base a igual dignidade social
de todos os cidados, princpio este que visa,
fundamentalmente, garantir uma igual posio em
matria de direitos e deveres
103
. Deste modo, e
conforme j antes dissemos, de modo a prosseguir
no somente uma igualdade jurdico-formal, mas
uma verdadeira igualdade material ou social, ao
lado do princpio geral da igualdade, a CRP
reconhece e garante especficos direitos
fundamentais que visam garantir e efectivar a
igualdade na sua dimenso material. Enquadram-se
neste caso, com especial relevncia para a nossa
anlise, o direito proteco contra quaisquer
formas de discriminao (art. 26, n 1 in fine), o
direito de igualdade dos cidados na constituio
da famlia e na celebrao do casamento (art. 36,
n 1) e a proteco da maternidade e da
paternidade (art. 68).
A proibio de discriminao em funo do
sexo significa que as diferenciaes de tratamento
tm de ser justificadas a fim de se combaterem as
discriminaes indirectas, inclinando-se hoje a
doutrina para a restrio de causas justificativas do
tratamento diferenciado a diferenas
das justias constitucional, administrativa e internacional. Coimbra, Almedina,
2010. Identificando e caracterizando as funes dos direitos
fundamentais (funo de defesa ou de liberdade, de prestao social, de
proteco perante terceiros e de no discriminao), cfr. CANOTILHO,
J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituio. 7 edio,
Coimbra, Almedina, 2003.
103
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., p. 338.
exclusivamente biolgicas que, de forma
imperativa, postulam essa diferenciao (ex.
gravidez). Logo, constitui violao do princpio da
igualdade, na sua vertente de tutela da igualdade
de gnero, a formulao da questo por parte do
empregador sem um motivo justificativo
adequado. Pois, se idntica questo no se colocaria
a um homem que se encontrasse nas mesmas
circunstncias, candidato a emprego ou cujo
contrato a termo estivesse em fase de renovao,
tambm no haver legitimidade para se colocar
essa questo a uma mulher
104
. O candidato a
emprego e a candidata a emprego esto numa
posio absolutamente igualitria em termos de
acesso ao emprego, excepto se uma qualquer razo
objectiva justificar uma diferenciao. Neste caso,
essa razo objectiva ter de se relacionar ou com
um elemento subjectivo imputvel aos candidatos
ao emprego, que justifique a tomada de uma
medida de discriminao positiva, ou com a
natureza especfica da natureza das funes a
desempenhar, nomeadamente com o risco para a
sade e/ou vida, no podendo nunca ter por base,
simplesmente, a diferena de gnero.
ii) Outros direitos pessoais
O artigo 26 consagra nove direitos distintos
105
,
mas todos eles apresentando em comum o facto
de estarem directamente ao servio da proteco
da esfera nuclear das pessoas e da sua vida
106
;
104
Tambm neste sentido, Cfr. REBELO, Glria, Trabalho e
Igualdade, Celta Editora, Oeiras, 2002, p. 31, autora que refere que o
princpio da no discriminao entre homens e mulheres interdita toda
a diferena de tratamento entre os indivduos fundada directamente
ou indirectamente em consideraes ligadas ao sexo, acrescentado
que o sentido da proteco da maternidade inclui a proibio imposta
ao empregador de praticar qualquer discriminao em razo da
gravidez, nomeadamente o questionar esse seu estado aquando da
admisso ao emprego.
105
A identificao dos nove direitos contidos no art. 26, n 1 da
CRP retiram-se do seu prprio texto que transcrevemos:1. A todos so
reconhecidos os direitos identidade pessoal, ao desenvolvimento da
personalidade, capacidade civil, cidadania, ao bom nome e
reputao, imagem, palavra, reserva da intimidade da vida privada
e familiar e proteco legal contra quaisquer formas de
discriminao.
106
Direitos tambm consagrados no direito civil como direitos de
personalidade com base legal nos artigos 70 e ss do CC. Cfr. GOMES
CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da Repblica Portuguesa
O direito mentira da trabalhadora grvida
81
tratam-se de outros direitos pessoais, alm da
vida e da integridade pessoal, mas integrantes da
mesma categoria especfica
107
. No artigo 26, n 1,
a CRP consagra como direitos pessoais os direitos
identidade pessoal, ao desenvolvimento da
personalidade, capacidade civil, cidadania, ao
bom nome e reputao, imagem, palavra,
reserva da intimidade da vida privada e familiar e
proteco legal contra quaisquer formas de
discriminao
108
. E, na senda da consagrao da
dignidade da pessoa humana
109
como princpio
fundamental, a CRP consagra no artigo art. 26, n
2, limites ao direito de informao relativas s
pessoas e famlias. De importncia determinante
para a nossa anlise, identificamos o direito
identidade pessoal, ao desenvolvimento da
personalidade e reserva da intimidade da vida
privada.
O direito identidade pessoal o direito que
permite que cada indivduo adquira e tenha
caractersticas prprias e distintivas,
caracterizadoras do seu eu, sendo reconhecidas e
tuteladas como direitos de personalidade
110
. Os
direitos de personalidade derivam,
fundamentalmente, de um direito ao segredo do
ser (direito imagem, direito voz, direito
intimidade da vida privada, direito de praticar
Anotada, Vol. I, 4 edio revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p.
461.
107
Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, p. 461.
108
Face ao elenco destes vrios direitos pessoais, procederemos
anlise e identificao somente daqueles que estejam em causa no caso
em concreto.
109
() a dignidade da pessoa humana obriga directamente as
entidades privadas a no fazerem uso da autonomia privada e negocial
para, de forma livre e atpica, reduzirem a pessoa a nada ou a objecto
(escravatura) ou eliminarem mesmo a existncia fsica dessa pessoa
(canibalismo). Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital. Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 387.
110
Os direitos de personalidade como os direitos inerentes
personalidade, incidindo sobre os seus bens fundamentais como sejam a
vida, a honra, o nome. Estes direitos teriam como caractersticas serem
absolutos, no patrimoniais, indisponveis, intransmissveis e providos
de tutela constitucional, penal e civil. Identifica e define direitos de
personalidade, Cfr. FERNANDES, Lus A. Carvalho. Teoria geral do direito
civil. Vol. I, 2 edio. Lisboa, Lex, 1995, pp 188 e ss. Vide tambm
CANOTILHO, J.J.Gomes, Direito Constitucional e teoria da Constituio, cit.,
p. 396.
actividades da esfera ntima sem
videovigilncia)
111
.
O direito ao desenvolvimento da personalidade,
na qualidade de expresso geral de uma esfera de
liberdade pessoal, constitui um direito subjectivo
fundamental do indivduo, garantindo-lhe um
direito formao livre da personalidade ou
liberdade de aco como sujeito autnomo dotado
de autodeterminao decisria, e um direito de
personalidade fundamentalmente garantidor da sua
esfera jurdico-pessoal e, em especial, da
integridade desta. O direito ao desenvolvimento da
personalidade recolhe, assim, no seu mbito
normativo de proteco, trs dimenses: a)
formao livre da personalidade, sem planificao
ou imposio estatal de modelos de personalidade;
b) proteco da liberdade de aco de acordo com
o projecto de vida e a vocao e capacidades
pessoais prprias; c) proteco da integridade da
pessoa para alm de proteco do art. 25, tendo
sobretudo em vista a garantia da esfera jurdico-
pessoal no processo de desenvolvimento.
Como nos ensinam GOMES CANOTILHO e
VITAL MOREIRA, a primeira e terceira
dimenses proteco da integridade da pessoa,
decorriam j do artigo 69 da CRP, onde se
consagra o direito das crianas ao desenvolvimento
integral, e no art. 73, n 2 CRP, onde se refere o
desenvolvimento da personalidade como um dos
fins da promoo da educao e cultura. Ora, estes
dois preceitos conjugados com o art. 26 CRP
mostram-nos que o sentido do direito ao
desenvolvimento da personalidade no se reduz a
um momento esttico de proteco da integridade
da pessoa; comporta tambm uma dimenso
dinmica que aponta para a pessoa em devir
112
de modo a que a pessoa possa enriquecer a sua
dignidade em termos de capacidade de
111
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital. Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., p. 469.
112
Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 464.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
82
prestao
113
no plano pessoal, social e cultural.
Relativamente segunda dimenso proteco da
liberdade de exteriorizao da personalidade esta
abrange um conjunto de factores, como a escolha
do modo de vida, a liberdade de profisso,
passando pela liberdade de orientao sexual, a
liberdade de ter ou no ter filhos, a liberdade de
estar s
114
.
De acordo com GOMES CANOTILHO e
VITAL MOREIRA
115
apresentam-se como
elementos nucleares do direito ao
desenvolvimento da personalidade: 1) a
possibilidade de interiorizao autnoma da
pessoa ou o direito a auto-afirmao
116
em
relao a si mesmo, contra quaisquer imposies
heternomas (de terceiros ou dos poderes
pblicos); 2) o direito a auto-exposio
117
na
interaco com os outros, o que ter especial
relevo na exposio no autorizada do indivduo
nos espaos pblicos; 3) o direito criao ou
aperfeioamento de pressupostos indispensveis ao
desenvolvimento da personalidade (ex. direito
educao e cultura, direito a condies
indispensveis ressocializao, direito ao
conhecimento da paternidade e maternidade
biolgica). O direito ao desenvolvimento da
personalidade o direito que permite a cada ser
humano ser dotado de uma identidade. De facto,
constituem direitos de personalidade, o direito
imagem, o direito maneira de ser e de estar, o
direito ao timbre de voz, entre outros. esta
identidade que permite distinguir os seres
113
Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 464.
114
Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 464.
115
Cfr. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 464-465.
116
Este direito auto-afirmao d guarida constitucional a vrios
direitos de personalidade inominados, como o direito aos
documentos pessoais, direito ao segredo das suas fichas mdicas,
pedaggicas e assistenciais, direito auto-determinao sexual, direito
autodeterminao informativa quanto a dados pessoais constantes de
ficheiros manuais ou informticos.
117
Ou direito identidade pessoal, comporta direitos como o
bom nome e reputao, o direito imagem, o direito palavra. Cfr.
GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., p. 464.
humanos entre si, tornando cada um desses seres
humanos num sujeito nico, que assim dotado de
caractersticas genticas e de personalidade prprias
e nicas o permitem distinguir e identificar entre
os seus semelhantes. Em suma, como nos ensina
JORGE MIRANDA, a identidade pessoal aquilo
que caracteriza cada pessoa enquanto unidade
individualizada que se diferencia de todas as outras
pessoas por uma determinada vivncia pessoal
118
.
Em sentido amplo, o direito identidade pessoal
abrange o direito de cada pessoa a viver em
concordncia consiga prpria, expressando
livremente a sua conscincia e modo de ser nas
opes de vida que vai tomando. Assim, o direito
identidade pessoal postula um princpio de
verdade pessoal
119
.
Este art. 26 tutela, ainda, o direito proteco
legal contra quaisquer formas de discriminao,
que se revela pela proeminente emisso de
diplomas legislativos e instrumentos legais contra a
discriminao, na medida em que se continua a
verificar uma discrepncia entre o princpio
jurdico da igualdade e a realidade social, esta
marcada por comportamentos, actos e situaes
discriminatrias.
Os direitos de personalidade, desenvolvidos por
imperativo constitucional, esto positivados no CC
e foram transpostos para o CT. O CT prev a
tutela dos direitos de personalidade das partes
120
,
v.g. do trabalhador, nomeadamente em sede de
reserva da intimidade da vida privada (artigo 16
121
), proteco de dados pessoais (artigo 17
122
) e
118
Cfr. JORGE MIRANDA, RUI MEDEIROS, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, Tomo I 2 edio, Wolters Kluwer
Portugal/ Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 609.
119
Cfr. JORGE MIRANDA, RUI MEDEIROS, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 609.
120
Artigos 14 e seguintes do CT, artigos estes que, no essencial,
transpem a tutela dos direitos de personalidade prevista nos artigos
70 e ss do CC. Os direitos de personalidade consagrados no Cdigo do
Trabalho so reconhecidos a ambos os sujeitos laborais empregador e
trabalhador, com as necessrias limitaes decorrentes da sua
aplicao mutadis mutandis s pessoas colectivas, cfr. MENDES, Marlene,
ALMEIDA, Srgio, BOTELHO, Joo. Cdigo do Trabalho Anotado. Lisboa,
Petrony, 2009, pp 47.
121
O artigo 16 do CT, sob a epgrafe reserva da intimidade da
vida privada dispe que: 1. O empregador e o trabalhador devem
respeitar os direitos de personalidade da contraparte, cabendo-lhes,
designadamente, guardar reserva quanto intimidade da vida privada.
O direito mentira da trabalhadora grvida
83
realizao de testes e exames mdicos (artigo 19
123
), o que constitui uma verdadeira limitao ao
direito de obter informao, mesmo que a
informao seja obtida por outros meios que no a
expresso verbal ou, mais amplamente, uma
excepo ao dever de informar.
O CT consagra expressamente que o direito
reserva da intimidade da vida privada abrange quer
o acesso, quer a divulgao de aspectos atinentes
esfera ntima e pessoal das partes
124,125
e consagra
especificamente que o empregador no pode
exigir a candidato a emprego ou a trabalhador que
preste informaes relativas: () sua sade ou
2. O direito reserva da intimidade da vida privada abrange quer o
acesso, quer a divulgao de aspectos atinentes esfera ntima e pessoal
das partes, nomeadamente relacionados com a vida familiar, afectiva e
sexual, com o estado de sade e com as convices polticas e religiosas.
122
Na ntegra, sob a epgrafe proteco de dados pessoais dispe
o artigo 17 do CT: 1. O empregador no pode exigir a candidato a
emprego ou a trabalhador que preste informaes relativas a: a) sua
vida privada, salvo quando estas sejam estritamente necessrias e
relevantes para avaliar a respectiva aptido no que respeita execuo
do contrato de trabalho e seja fornecida por escrito a respectiva
fundamentao; b) sua sade ou estado de gravidez, salvo quando
particulares exigncias inerentes natureza da actividade profissional o
justifiquem e seja fornecida por escrito a respectiva fundamentao. 2.
As informaes previstas na alnea b) do nmero anterior so prestadas
a mdico, que s pode comunicar ao empregador se o trabalhador est
ou no apto a desempenhar a actividade. 3. O candidato a emprego ou o
trabalhador que haja fornecido informaes de ndole pessoal goza do
direito ao controlo dos respectivos dados pessoais, podendo tomar
conhecimento do seu teor e dos fins a que se destinam, bem como exigir
a sua rectificao e actualizao. 4. Os ficheiros e acessos informticos
utilizados pelo empregador para tratamento de dados pessoais do
candidato a emprego ou trabalhador ficam sujeitos legislao em vigor
relativa proteco de dados pessoais. 5. Constitui contra-ordenao
muito grave a violao do disposto no n 1 ou 2.
123
Sob a epgrafe testes e exames mdicos, prev o artigo 19 do
CT que 1. Para alm das situaes previstas em legislao relativa a
segurana e sade no trabalho, o empregador no pode, para efeitos de
admisso ou permanncia no emprego, exigir a candidato a emprego ou
a trabalhador a realizao ou apresentao de testes ou exames mdicos,
de qualquer natureza, para comprovao das condies fsicas ou
psquicas, salvo quando estes tenham por finalidade a proteco e
segurana do trabalhador ou de terceiros, ou quando particulares
exigncias inerentes actividade o justifiquem, devendo em qualquer
caso ser fornecida por escrito ao candidato a emprego a respectiva
fundamentao. 2. O empregador no pode, em circunstncia alguma,
exigir a candidata a emprego ou a trabalhadora a realizao ou
apresentao de testes ou exames de gravidez. 3. O mdico responsvel
pelos testes e exames mdicos s pode comunicar ao empregador se o
trabalhador est ou no apto para desempenhar a actividade. 4.
Constitui contra-ordenao muito grave a violao do disposto nos n 1
ou 2.
124
Artigo 16, n 2 do CT.
125
A proteco da intimidade da vida privada assume expresses
ou dimenses relevantssimas no mbito das relaes jurdico-laborais.
A proteco dos direitos de personalidade dos trabalhadores impe que
o eventual acesso das entidades patronais a informaes relativas vida
privada do trabalhador (sade, estado de gravidez) deve obedecer a um
procedimento justo de recolha dessas informaes (ex: atravs de um
mdico sujeito ao dever de sigilo) e observncia estrita do princpio da
proibio do excesso (as informaes necessrias, adequadas e
proporcionais) para o exerccio de determinadas actividades (cfr. Ac.
306/03 do TC). Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., pp 468.
estado de gravidez, salvo quando particulares
exigncias inerentes natureza da actividade
profissional o justifiquem e seja fornecida por
escrito a respectiva fundamentao
126
. Nestes
casos excepcionais, essas informaes relativas
sade ou estado de gravidez tm de ser fornecidas
a um mdico que s pode comunicar ao
empregador se o trabalhador est ou no apto a
desempenhar a actividade
127
.
De facto, em sede de direitos de personalidade,
as informaes relativas ao estado de gravidez ou
inteno de engravidar no so devidas, a que
acresce que as limitaes voluntrias aos direitos de
personalidade, quando contrrias aos princpios da
ordem pblica so nulas, nos termos do artigo 81
do CC, aplicvel subsidiariamente em sede laboral,
o que significa que mesmo que a trabalhadora
tenha respondido veridicamente naquele
momento, afirmando no estar grvida e no
pretendendo ter filhos, essa informao futura (no
pretender ter filhos), enquanto limitao a um
direito de personalidade e contrria ordem
pblica (nos termos da qual a maternidade e a
paternidade so valores sociais eminentes
128
), no
vinculativa para a trabalhadora. O mesmo dizer
que, logo que ela mude de opinio e decida ter
filhos, nada tem a recear em termos de vinculao
a anteriores declaraes emitidas em sentido
contrrio.
A reserva da intimidade da vida privada
consubstanciada no Cdigo do Trabalho
129
consiste na transposio do direito sob o mesmo
126
Artigo 17, n 1, alnea b) do CT.
127
Artigo 17, n 2. A exigncia da prestao de informao por
parte da trabalhadora grvida ou candidata ao emprego, sempre que
existam razes objectiva e formalmente justificadas relacionadas com as
caractersticas da actividade a desempenhar, ser feita a mdico decorre
da restrio que foi imposta primeira redaco proposta para o artigo,
em relao ao qual se pronunciou o Tribunal Constitucional no
Acrdo n 306/03 de 25 de Junho de 2003, in CARVALHO, Paulo
Morgado (coord). Pronturio de Direito do Trabalho n 65, CEJ, Coimbra,
Coimbra Editora, 2003, pp 12-13. A anterior, e primeira redaco
proposta para o artigo, previa que as informaes relativas ao estado de
gravidez, quando exigveis, seriam prestadas ao empregador, facto que
no garantia o cumprimento do princpio da proibio do excesso
constitucionalmente consagrado no artigo 18, n 2 da CRP, hiptese
difcil de admitir na prtica.
128
Artigo 68 da CRP.
129
O referido artigo 16 do CT.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
84
nome, consagrado no artigo 26, n 1 in fine da
CRP. Como referem J. J. CANOTILHO e VITAL
MOREIRA, este direito reserva da intimidade da
vida privada e familiar subdivide-se em dois
direitos menores: a) o direito de impedir o acesso a
estranhos a informaes sobre a vida privada e
familiar, e b) o direito a que ningum divulgue as
informaes que tenha sobre a vida privada e
familiar de outrem
130
.
Alguma doutrina e jurisprudncia
131
tem
distinguido entre a esfera pessoal ntima
(absolutamente protegida) e a esfera privada
simples (apenas relativamente protegida e
podendo ter de ceder, quando em conflito com
outro interesse ou bem pblico) mas, de acordo
com os citados autores, e face redaco deste
preceito da CRP, a distino no relevante
132
. J.
J. CANOTILHO e VITAL MOREIRA ainda
afirmam que o critrio constitucional deve
arrancar dos conceitos de privacidade (n 1 in
fine) e dignidade humana (n 2), de modo a
definir-se um conceito de esfera privada de cada
pessoa, culturalmente adequado vida
contempornea. O mbito normativo do direito
fundamental reserva da intimidade da vida
privada e familiar dever delimitar-se, assim, como
base num conceito de vida privada que tenha em
conta a referncia civilizacional sob trs aspectos:
1) o respeito dos comportamentos; 2) o respeito
do anonimato; 3) o respeito da vida em
relao
133
.
Nestes termos, verifica-se que, no obstante a
consagrao do dever de informao, esse mesmo
dever afastado quando em conflito com direitos
130
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital. Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., pp 468. No mesmo sentido, Acrdo do TC n
368/02 de 25 de Outubro, acessvel em
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020368.html
(consultado em 27/06/2010).
131
Nomeadamente o Ac. do TC n 368/02 de 25 de Outubro, cit.
Vide tambm, LEITO, Lus Manuel Teles de Menezes. Direito do
trabalho, 2 edio. Coimbra, Almedina, 2010, p. 169.
132
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital. Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., p. 468.
133
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital. Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., p. 468.
fundamentais do trabalhador. No mesmo sentido,
tem decidido a nossa jurisprudncia:
inquestionvel que: a) as informaes relativas ao
estado de sade (em geral) e ao estado de gravidez
(em particular) da trabalhadora constituem direitos
de personalidade e direitos constitucionalmente
tutelados, porquanto respeitam intimidade da
vida privada; b) a intromisso na esfera ntima da
trabalhadora pode efectivar-se atravs da prestao
de informaes; c) a prestao de informaes por
parte da candidata a emprego ou da trabalhadora
constitui para ela um nus relativamente
obteno de emprego, na medida em que o
trabalhador j se encontra numa posio mais
fragilizada, em virtude da precariedade do emprego
e da incerteza e insegurana sempre presentes no
momento de tentar obter um emprego
134
.
Portanto, situamo-nos no mbito dos direitos
de personalidade e da tutela reserva da
intimidade da vida privada do trabalhador,
questes que consubstanciam por si s restries
ao direito informao do empregador,
circunstncia que ainda sofre um reforo de tutela
quando se trate da famlia, da maternidade ou da
paternidade valores sociais eminentes, como a CRP
prev no artigo 68. Nesta medida, nenhuma
restrio a estes direitos poder existir e se o meio
adequado de defesa da trabalhadora ou candidata a
emprego for o recurso falsidade, ento essa
mentira, essa falsidade deve ter-se por justificada,
excepto, claro nas situaes em que a lei, por
motivo de fora maior, impe restries aos
prprios direitos que confere ao trabalhador, por
exemplo no caso da ressalva feita no artigo 16, n
2 prpria reserva da intimidade da vida privada,
ao estipular salvo quando particulares exigncias
inerentes natureza da actividade profissional o
justifiquem e seja fornecida por escrito a respectiva
fundamentao
135
. Ora, esta excepo no pode ir
para alm da proteco da segurana e da sade da
grvida ou de terceiros, sob pena de carecer de
134
Ac. do TC n 306/03, de 25 de Junho, cit., p. 13.
135
Artigo 17, n 2, in fine do CT.
O direito mentira da trabalhadora grvida
85
justificao
136
. Nestes casos, temos de estar perante
exigncias muito particulares e sempre relativas
natureza da actividade que a trabalhadora grvida
v desempenhar, motivo pelo qual, numa situao
em que, por exemplo, o trabalho a realizar
implique a exposio a agentes radiolgicos e/ou
qumicos ou um esforo fsico exagerado (como
ser professora e praticante de yoga ou de judo) ou
um trabalho numa mina, que possam colocar em
risco a vida e a sade da trabalhadora, do feto ou
de terceiros, reconhece-se legitimidade ao
empregador para colocar a questo relativa ao
estado de gravidez actual da candidata a emprego,
considerando-se que, ao abrigo do dever de
informao, a candidata a emprego est adstrita a
responder e a faz-lo com verdade
137
.
Portanto, em jeito de concluso, e face
identificao e anlise do direito igualdade, do
direito personalidade e do direito reserva da
intimidade da vida privada
138
, todos formulados na
base do princpio da dignidade da pessoa humana,
136
No mesmo sentido, PAULO MOTA PINTO em declarao de
voto ao Ac. do TC n 306/03, de 25 de Junho, distingue a prestao de
informaes relativamente ao estado de sade do trabalhador das
informaes relativas ao estado de gravidez da trabalhadora grvida. Em
relao questo que aqui nos ocupa, considera este autor que a
frmula utilizada, na medida em que inclui como fundamento mais do
que a segurana e sade da trabalhadora ou de terceiros (incluindo o
feto), excessivamente ampla, permitindo ao empregador a exigncia de
informaes sobre um estado no patolgico e que, para alm do mais,
possibilita inaceitveis discriminaes em funo do gnero.
Designadamente, quando no est em causa a proteco e a sade da
trabalhadora (eventualmente) grvida ou de terceiros, a possibilidade de
o empregador exigir informaes sobre este estado para apurar a
aptido ou a melhor aptido para a actividade em causa afigura-se-
me de todo em todo inaceitvel. A meu ver e sempre na medida em
que no estejam em causa apenas a segurana e sade da grvida ou de
terceiros -, no basta ento um controlo da proporcionalidade da
exigncia no caso concreto, j que, por um lado, a informao em causa
se reporta maternidade, que merece especial proteco por parte do
Estado (artigo 68, n 3, da CRP), e, por outro lado, possibilita (ou
inculca mesmo, pois a exigncia de informao ter normalmente esse
objectivo) actuaes, por parte do empregador, de discriminao em
razo do gnero, e em funo da maternidade.
137
Neste sentido, cfr. RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito
do Trabalho Parte II - Situaes laborais individuais, cit., pp 138.
138
Ainda poderamos acrescentar ao nosso elenco de direitos, o
direito ao trabalho com previso no artigo 58 da CRP, at porque o
direito ao trabalho o primeiro dos direitos econmicos, sociais e
culturais, categoria que constitui uma das duas grandes divises
constitucionais dos direitos fundamentais, ao lado dos direitos,
liberdades e garantias, consistindo no direito de obter emprego ou de
exercer uma actividade profissional. Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA,
Vital, Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, cit., pp. 762 e 763,
respectivamente. Mas na medida em que este direito no directamente
aplicvel a entidades privadas, pois a nossa anlise realiza-se no mbito
do direito do trabalho, enquanto relao de direito privado e da a nosso
constante recurso s normas do CT, no analisaremos este direito em
particular.
sempre se dir, seguindo GOMES CANOTILHO
e VITAL MOREIRA, que os direitos dos
trabalhadores adquirem um dimenso objectiva,
que implica uma nova concepo da empresa (e
das organizaes de trabalho em geral), em que o
empregador encontra importantes restries no seu
poder de direco e na liberdade de empresa e na
liberdade negocial e em que os trabalhadores
deixaram de ser sujeitos passivos de uma
organizao alheia. Em linguagem mais actual, os
direitos fundamentais dos trabalhadores
consubstanciam a cidadania no trabalho,
contrabalanando a posio de dependncia do
trabalhador na relao de poder que a relao de
trabalho.
139
Efectivamente, o empregador est
adstrito observncia de todos estes direitos dos
trabalhadores, por fora do princpio da
aplicabilidade directa dos direitos fundamentais,
nos termos do artigo 18 da CRP, na medida em
que como realam J.J. CANOTILHO e VITAL
MOREIRA, em termos jurdico-dogmticos, os
direitos, liberdades e garantias so directamente
aplicveis porque: 1) concebem-se e valem
constitucionalmente como norma concretamente
definidora de posies jurdicas (norma normata) e
no apenas como norma de produo de outras
normas jurdicas (norma normans); 2) prima facie,
aplicam-se sem necessidade de interposio
conformadora de outras entidades, designadamente
do legislador (interpositio legislatoris); 3) tambm
em princpio, constituem direito actual e eficaz e
no apenas directivas jurdicas de aplicabilidade
futura
140
o mesmo dizer os direitos
fundamentais () tm eficcia imediata perante
entidades privadas
141
, a eficcia horizontal dos
direitos, liberdades e garantias implica que, tal
como o Estado, tambm todas as entidades
privadas esto sujeitas a um dever de no perturbar
ou impedir o exerccio dos direitos fundamentais.
139
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., pp 705-706.
140
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., pp 382.
141
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., pp 385.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
86
Os direitos, liberdades e garantias traduzem-se,
assim, num dever geral de todos os cidados de
respeitar e no infringir os direitos alheios
142
.
3.3. Tem a trabalhadora grvida direito a
mentir?
Apesar de no termos encontrado, na pesquisa
que efectumos, muitas referncias relevantes na
doutrina ou na jurisprudncia
143
relativas ao direito
da trabalhadora a mentir em determinadas
circunstncias, encontramos alguns autores que se
pronunciam pela existncia de um direito de
mentir do trabalhador. FRANCISCO ROSSAL
DE ARAJO escreve na sua dissertao, relativa
boa f, que pode parecer paradoxal abordar-se o
problema do direito a mentir em uma dissertao
sobre boa f. Trata-se, no entanto, de paradoxo
apenas aparente, no sentido de que tal direito
existir em circunstncias excepcionais,
caracterizando-se como uma faceta do prprio ius
resistentiae do empregado
144
. Num mesmo
sentido est a posio defendida por TERESA
COELHO MOREIRA que afirma que embora a
possibilidade de mentir a propsito do estado de
gravidez s deva ser de aceitar como ultima ratio j
142
Cfr. CANOTILHO, J.J., MOREIRA, Vital, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada, cit., pp 385.
143
Embora existam algumas decises jurisprudenciais,
essencialmente em sede de apreciao da licitude/ilicitude do
despedimento, as mesmas no abordam, em concreto, esta possibilidade
de a trabalhadora poder mentir. Nessas decises, protege-se a mulher
trabalhadora e a maternidade de acordo alis com o expressamente
consagrado no CT, consagrando por exemplo que o que pode constituir
justa causa de resciso do contrato de trabalho pela trabalhadora, o
facto desta, ao apresentar-se aps a alta da baixa por doena, por se
encontrar grvida e a sua gravidez ser considerada de alto risco, ter sido
instalada na sala de armazm de electrnica, numa mesa virada para a
parede sem janelas de iluminao directa, local insalubre, no lhe sendo
distribudos quaisquer trabalhos, cfr. Ac. do TRL de 27 de Setembro de
1995, CJ, 1995, 4, p. 154; ou a instaurao de procedimento disciplinar
sem a emisso de parecer pela Comisso para a Igualdade no Trabalho e
no Emprego, cfr. Ac. STJ de 18/04/2007; Ac. TRL de 24/09/2008 ou Ac.
TRP de 09/05/2007, entre outros, todos citados por MENDES, Marlene,
ALMEIDA, Srgio, BOTELHO, Joo, Cdigo do Trabalho Anotado, Petrony,
Lisboa, 2010, p. 107.
144
ROSSAL DE ARAJO, Francisco. A Boa f no Contrato de
Emprego, So Paulo, Editora LTR, 1996, pp. 247 apud MORAES LEAL,
Larissa Maria. Aplicao dos princpios da dignidade da pessoa
humana e boa f nas relaes de trabalho as interfaces entre a tutela
geral das relaes de trabalho e os direitos subjectivos individuais dos
trabalhadores, Revista Jurdica Braslia, v. 8, n 82, dez./jan., 2007.
Disponvel em
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/rev_82/Artigos/PDF/lari
ssa_rev82.pdf (consultado em 23/04/2010).
que obrigao das partes actuarem de boa f
145
,
no deixa de considerar ser necessrio o
reconhecimento de um direito mulher de no
responder quando questionada sobre o seu estado
de gravidez, tendo o direito de o ocultar, podendo
mesmo responder falsamente quando perguntada
pelo empregador
146
. JLIO GOMES, afirmando
que o empregador no pode colocar ao trabalhador
questes relativas sua sade e vida sexual refere
que se o empregador colocar questes deste tipo,
o trabalhador tem o direito de mentir ou de se
calar. O direito de mentir no um direito geral
de mentira, mas um direito particular em razo
da matria proibida sobre a qual incide a
questo
147
. Tambm LARISSA LEAL
148
considera que a simples contestao das indagaes
ou condutas do empregador no seria suficiente
para a proteco do empregado, porquanto
levariam ao mesmo resultado que o fornecimento
da informao pretendida
149
.
Na nossa perspectiva, e face a todo o atrs
exposto, verificamos que a trabalhadora ou a
candidata a emprego tm deveres dever de
informao, de lealdade e de cooperao mas tm
igualmente direitos, direitos estes de carcter
constitucional e consagrados como direitos
fundamentais direito dignidade da pessoa
humana, igualdade, personalidade, ao
desenvolvimento da personalidade, reserva da
145
MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera privada do
trabalhador e o controlo do empregador, cit., pp 174-175.
146
MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera privada do
trabalhador e o controlo do empregador, cit., pp 174-175.
147
GOMES, Jlio Manuel Vieira. Direito do Trabalho vol. I Relaes
Individuais de Trabalho, cit., p. 343.
148
Justificando a sua opo em virtude de ser o empregador quem
detm o poder de contratao, o que actualmente face s altas taxas de
desemprego pode configurar um abuso de poder econmico. MORAES
LEAL, Larissa Maria. Aplicao dos princpios da dignidade da pessoa
humana e boa f nas relaes de trabalho as interfaces entre a tutela
geral das relaes de trabalho e os direitos subjectivos individuais dos
trabalhadores, Revista Jurdica Braslia, v. 8, n 82, pp 95, dez./jan., 2007.
Disponvel em
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/rev_82/Artigos/PDF/lari
ssa_rev82.pdf (consultado em 23/04/2010).
149
MORAES LEAL, Larissa Maria. Aplicao dos princpios da
dignidade da pessoa humana e boa f nas relaes de trabalho as
interfaces entre a tutela geral das relaes de trabalho e os direitos
subjectivos individuais dos trabalhadores, cit., p. 95.
O direito mentira da trabalhadora grvida
87
intimidade da vida privada que consubstanciam
limitaes aos deveres anteriormente identificados.
Assim, em relao ao dever de informao que
recai sobre a trabalhadora, verificamos que a lei
estabelece os parmetros em que essa informao
desse ser fornecida e/ou obtida pelo empregador,
comeando por limitar o dever relativamente aos
aspectos relevantes para a prestao da actividade
laboral e no caso em concreto do estado de
gravidez, prevendo especificamente no artigo 17,
n 2 a proibio de acesso a essa informao pelo
empregador. Estamos no mbito da esfera ntima
do trabalhador, em que a proteco absoluta,
como se verifica da anlise do direito reserva da
intimidade da vida privada, direito tutelado
enquanto direito de personalidade e mais
amplamente no seio do princpio da dignidade do
ser humano. Ou seja, a questo no deve ser
colocada trabalhadora pelo empregador e, se o
for, uma questo ilegtima por contrria ao
direito.
Sendo a questo ilegtima, a trabalhadora no
incorre em violao do dever de informao pois,
se colocar a questo contrrio ao direito, no se
pode posteriormente querer retirar efeitos vlidos
de algo que est viciado na sua origem, ou seja, a
resposta mesmo ferida de falsidade no pode
acarretar quaisquer efeitos, em termos disciplinares
ou outros, para a trabalhadora. Admitir o contrrio
seria admitir que algum que, propositadamente,
provoca uma situao ilcita, venha dessa situao a
retirar proveitos.
Em relao ao dever de lealdade verifica-se que,
com o contedo que actualmente lhe
conferido
150
de carcter essencialmente
contratual relacionado com o modo de
cumprimento e de respeito do contrato celebrado,
obedincia s ordens legtimas que lhe sejam dadas
pelo empregador e, no geral, caracterizado pela
150
Face ao afastamento da interpretao ampla que decorria da
considerao deste dever como um dever de fidelidade que pressuponha
uma submisso pessoal do trabalhador ao empregador, interpretao de
duvidosa legalidade no nosso ordenamento jurdico.
observncia do princpio geral da boa f (quer na
fase negocial quer durante a vigncia do contrato)
, as questes pessoais do trabalhador, questes do
seu foro ntimo esto fora do mbito de
aplicabilidade do dever de lealdade. No
consubstancia pois violao do dever de lealdade a
trabalhadora que, no acesso ao emprego ou por
ocasio da renovao do seu contrato de trabalho a
termo (indicativo da existncia de um vnculo
contratual precrio), declara no estar grvida ou
no pretender engravidar. Poder-se-ia ponderar, em
virtude do carcter intuitu personae que caracteriza
o contrato de trabalho, que em situaes em que a
relao laboral tenha subjacente uma especial
relao de confiana, como por exemplo a
contratao para o desempenho de funes
directivas, este dever fosse objecto de uma leitura
reforada, no sentido de fazer corresponder
especial relao de confiana um maior nvel de
comprometimento entre empregador e
trabalhador. No entanto, mesmo neste caso no
vislumbramos nenhum motivo atendvel que possa
justificar uma resposta diferente da anterior.
Em relao ao dever de colaborao, possvel
considerar que o seu contedo , de uma forma
geral, idntico ao do dever de lealdade. Embora
tenha uma maior amplitude, tambm deste dever
no pode decorrer qualquer limitao aos direitos
fundamentais do trabalhador.
Ou seja, a candidata a emprego ou a
trabalhadora grvida ao responderem com falsidade
questo (sobre a sua gravidez) que lhes
colocada pelo empregador (salvo as situaes
excepcionais que se prendam com a proteco da
segurana e da sade da grvida ou de terceiros),
no s no violam qualquer dos deveres acima
identificados como ainda encontram tutela, quer
na legislao ordinria quer na constitucional, da
proteco de um direito que um dos seus
direitos fundamentais o direito de ser me.
Por outro lado, embora tenhamos centrado a
nossa anlise na perspectiva do trabalhador,
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
88
tambm o poderamos ter feito na perspectiva do
empregador. Nesta perspectiva, recaem sobre o
empregador, para alm do dever de respeito pelo
princpio geral da boa f, os deveres de respeito
pelo trabalhador
151
, de preveno de riscos e de
doenas profissionais
152
e de observncia do
princpio geral da adaptao do trabalho
pessoa
153
, nomeadamente proporcionando ao
trabalhador condies de trabalho que favoream a
conciliao da actividade profissional com a vida
pessoal
154
. Assim, tambm o empregador est
obrigado ao cumprimento destes deveres, o que
desde logo torna ilegtimo o colocar da questo
relativa eventual gravidez da trabalhadora. Para
alm disso, o empregador tem adicionalmente o
dever de respeitar as normas que tutelam os
direitos dos trabalhadores, direitos estes que at se
revestem de carcter constitucional
155
. Como
direitos do empregador, este tem direito
informao, lealdade e colaborao por parte
dos trabalhadores mas sempre dentro dos
parmetros e limites j supra identificados e que,
como vimos, no permitem a invaso da esfera
ntima do trabalhador.
Assim, quer se entenda que deveres colidem
com deveres (coliso dos deveres do empregador
com os deveres do trabalhador) quer se entenda
que deveres de uma das partes colidem com
direitos da outra parte, ou ainda que direitos
colidem com direitos (direitos do empregador
colidem com direitos do trabalhador), a
informao relativa ao estado de gravidez actual ou
inteno de engravidar da trabalhadora ou da
candidata a emprego uma informao do foro
ntimo, cujo contedo de reserva absoluta
(excepcionados os restritos casos identificados),
pelo que no tem de ser prestada, mesmo que
tenha sido ilegitimamente questionada.
151
Artigo 127, n 1, alnea a) do CT.
152
Artigo 127, n 1, alnea g) e h) do CT.
153
Artigo 127, n 2 do CT.
154
Artigo 127, n 3 do CT.
155
Nos termos do artigo 18 da CRP, o respeito pelos direitos
fundamentais vinculativo para entidades pblicas e privadas.
consensual que no existe qualquer
obrigatoriedade de resposta. Adicionalmente, h
ainda que considerar que, como o silncio pode
provocar na contraparte desconfiana e levar a
induzir um juzo que poder prejudicar a
trabalhadora grvida (pois na dvida, o empregador
poder no proceder sua contratao), o meio
mais adequado que a trabalhadora pode ter para
fazer valer os seus direitos, poder ser atravs do
recurso mentira. Mentira essa que, por se
encontrar justificada pela defesa de direitos dos
trabalhadores em geral, e da trabalhadora grvida
em particular, no deve ter quaisquer
consequncias. Queremos dizer que, com tal
conduta, a trabalhadora no incorre em violao de
nenhum dos deveres, no podendo por isso ser
alvo de qualquer processo disciplinar.
Neste caso, o recurso mentira pode assim ser
visto como uma espcie de exerccio de direito de
defesa ou uma legtima defesa contra uma
agresso ou tentativa de agresso que est a ser
feita aos direitos que, constitucional e legalmente,
foram conferidos trabalhadora. Pelo que, todas as
vezes que a trabalhadora ou a candidata a emprego
estiver diante de uma situao em que o
empregador, abusando do seu poder econmico,
procura obter informaes que possam agredir a
sua dignidade, essa mulher ter o direito de resistir,
utilizando at mesmo o artifcio da mentira, como
forma de ocultar uma informao que se lhe
parea impertinente questo laboral mas que,
contraditoriamente, possa prejudicar a
continuidade do seu contrato de trabalho ou sua
contratao.
E, se num Estado de Direito nos repugna, pelo
menos primeira vista, admitir a existncia de um
direito a mentir de quem quer que seja e
independentemente das circunstncias, recordemos
novamente que os princpios constitucionais e a
consagrao dos direitos fundamentais visam a
pessoa humana no s enquanto cidado mas
tambm como trabalhador. Este entrecruzar de
dimenses constitucionais implica que no se
O direito mentira da trabalhadora grvida
89
pode dissociar a dimenso da pessoa enquanto
cidad da pessoa enquanto trabalhador. Deste
modo, e se tivermos presentes que o
desenvolvimento da personalidade transporta uma
dimenso de liberdade indispensvel auto
conformao da identidade, da integridade e
conduta do indivduo, ou seja a liberdade
156
enquanto um poder de autodeterminao em
virtude do qual o homem escolhe ele mesmo o seu
comportamento pessoal. um poder que o
homem exerce sobre ele mesmo
157
atravs do
qual expressa a sua vontade. Ora, se a vontade ser
psicologicamente, o conjunto de fenmenos
psquicos. Eticamente, ser uma atitude ou
disposio moral para querer algo.
Metafisicamente, por ltimo, consistir numa
entidade qual se atribui absoluta subsistncia e se
converte por isso em substrato de todos os
fenmenos. A vontade no concebvel no estado
puro e exprime-se no mundo dos factos e das
estruturas sociais
158
.
Efectivamente, s possvel a pessoa auto-
afirmar-se, tomar as suas decises, firmar o seu
verdadeiro eu se dotado de liberdade. Estamos
no domnio da liberdade interna (a que se refere
ao grau em que as aces de uma pessoa so
guiadas pela sua prpria vontade, para fazer o que
se quer, ou poder satisfazer os desejos)
159
. E, como
156
J J.J. ROUSSEAU, admitia que o contrato pudesse instituir
uma forma de associao que defenda e proteja, atravs de toda a fora
comum, a pessoa e os bens de cada associado, e atravs da qual cada um
no obedece seno a si prprio e se mantm to livre como
anteriormente, cfr. o autor em Le contrat social, Paris, 1834, p. 32 citado
por CAUPERS, Joo. Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a
Constituio, Coimbra, Almedina, 1985, pp. 13-14. Ideia de liberdade que
comportaria outras duas ideias de acordo com o ensinamento de Joo
Caupers: a) a ideia de liberdade, ou de liberdade residual mnima como
aquela parcela de autonomia individual de que ningum pode
prescindir () sob pena de se atingirem os prprios fundamentos do
contrato referido, outorgado para preservar a espcia humana e no
para aniquilar e a ideia de igualdade ou melhor de igual margem de
liberdade para todos, cfr. CAUPERS, Joo, Os direitos fundamentais dos
trabalhadores e a Constituio, cit. pp. 13-14.
157
NETO, Lusa. O Direito Fundamental disposio sobre o prprio
corpo, cit., p. 117.
158
NETO, Lusa. O Direito Fundamental disposio sobre o prprio
corpo, cit., p. 295.
159
NETO, Lusa. O Direito Fundamental disposio sobre o prprio
corpo, cit., p. 232.
afirma BERLIN
160
a dimenso da (minha)
liberdade depende:
- de quantas possibilidades me so facultadas;
- de quo fcil ou difcil realizar cada uma
dessas possibilidades;
- de qual a importncia que no meu plano de
vida concedo a essas possibilidades;
- em que medida essas possibilidades so ou
no desencadeadas por actos humanos deliberados;
- que valor d no apenas o agente, mas o
sentimento geral da sociedade em que vive, a cada
uma das possibilidades
161
.
Cabe ao Direito fornecer o enquadramento
legislativo atravs do qual todas as pessoas tenham
igual acesso a condies que lhes permitam formar
a sua personalidade, garantindo a existncia de
liberdade como conceito eminentemente
normativo moral (a liberdade como autonomia) e
jurdico (a liberdade como liberdade fundamental
ou civil)
162
. Garante-se a liberdade, garantindo-se
uma esfera de no-interferncia dos outros na vida
de cada um, facto pelo qual se geram deveres
(negativos, de no interferncia) para qualquer um,
indivduo ou colectividade, em relao a quem
goza da liberdade
163
.
Ora, se constitui incumbncia do Estado, nos
termos do art. 9, alnea h) da CRP, promover a
igualdade
164
entre homens e mulheres, assim se
vinculando o Estado observncia e garantia dos
160
Citado por LUSA NETO, O Direito Fundamental disposio sobre
o prprio corpo, cit., p. 130.
161
NETO, Lusa. O Direito Fundamental disposio sobre o prprio
corpo, cit., p. 234.
162
LOPES, Jos Reinaldo de Lima. Liberdade e direitos sexuais o
problema a partir da moral moderna, in RIOS, ROGER RAUPP (org.) e
outros, Em defesa dos direitos sexuais, Livraria do Advogado Editora, Porto
Alegre, 2007, p. 46.
163
LOPES, Jos Reinaldo de Lima.Liberdade e direitos sexuais o
problema a partir da moral moderna, cit., p. 46.
164
Esta igualdade uma igualdade jurdico-formal, abrangendo,
quaisquer direitos e deveres existentes na ordem jurdica portuguesa.
Mas, porque se reconhece a existncia de desigualdade de facto (fsicas,
econmicas, sociais, geogrficas) cabe ao poder pblico criar as
oportunidades e as condies que permitam a todos usufruir dos
mesmos direitos e cumprir os mesmos deveres. Cfr. MIRANDA, Jorge,
MEDEIROS, Rui. Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, p. 221 e ss.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
90
direitos fundamentais, para que estes sejam
dotados de efectividade prtica h que ampliar a
sua aplicabilidade a todos os sujeitos pblicos ou
privados, singulares ou colectivos, sem excepo.
Nesta senda, e na sequncia do princpio geral de
que todos os cidados so iguais perante a lei, a
nossa Constituio alarga inclusive o mbito de
proteco subjacente aos direitos fundamentais a
todas as entidades privadas. Assim, o art. 18, n 1
da CRP dotado de eficcia externa, pelo que o
princpio da igualdade, enquanto proibio de
discriminao, pode impor-se s entidades privadas
pelo que se refora a ideia de uma igual posio
em matria de direitos e deveres. Estes direitos e
deveres, onde se incluem os direitos fundamentais
de que falamos, inclusive o direito identidade e
ao livre desenvolvimento da personalidade previsto
no art. 26 da CRP directamente aplicvel a
todas as pessoas, tendo como destinatrios os
prprios particulares nas relaes entre si
165
,
circunstncia em virtude da qual, eles prevalecem e
se impem no mbito laboral.
Em suma, a dignidade da pessoa humana
determina respeito pela liberdade da pessoa e pela
sua autonomia, nomeadamente na definio e
afirmao da sua identidade, da deciso da mulher
trabalhadora ou candidata a emprego ser ou no
ser me e do momento em que decide s-lo, sem a
existncia de qualquer tipo de constrangimento
por parte de terceiros.
Deve-se assegurar ao ser humano que este seja
capaz de escolher alternativas, de desenvolver a sua
capacidade de escolher, de tomar o leme da sua
vida individual como bem entender, sem receio de
sofrer quaisquer tipos de constrangimentos quer de
outras pessoas quer do Estado. O poder legislativo
tem assim o importante papel de incrementar a
eliminao destes constrangimentos, de consagrar a
165
Consistindo na eficcia horizontal do princpio da igualdade.
Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituio da
Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 347. Obra esta, onde esta matria
pode ser lida detalhadamente, p. 387 e ss; MIRANDA, Jorge,
MEDEIROS, Rui. Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, cit., p. 238
e ss.
liberdade como um valor - liberdade nesses
termos significa liberdade moral e liberdade civil
em primeiro lugar, ou seja, uma forma de organizar
a cooperao de modo a que alguns no vivam em
funo de outros
166
. Admitir um direito
mentira, mesmo nestas situaes identificadas e
restritas, pode levantar inmeras questes
nomeadamente no que concerne s ligaes entre
o direito e a moral. Trata-se, sem dvida, de uma
liberdade que assiste trabalhadora a liberdade
de ser ou no me, e de quando o ser que, no
pode ser condicionada, s assim se garantindo uma
efectiva igualdade
167
entre homens e mulheres no
acesso ao emprego ou na manuteno desse
emprego (com particular relevncia para as
situaes de emprego marcadas pela precariedade,
como referimos).
3.4. Perspectiva comparada: o direito a mentir
do arguido em processo penal
The privilege against self-incrimination is one of
the great landmarks in man's struggle to make
himself civilized...
ERWIN GRISWOLD
168
Consagra a nossa Constituio, nos termos do
artigo 32
169
, as garantias de defesa no processo
166
LOPES, Jos Reinaldo de Lima. Liberdade e direitos sexuais o
problema a partir da moral moderna, cit., p. 46.
167
Tal como ROUSSEAU referia, essencial para o suposto
outorgante do pacto social ter a certeza de que as restries sua
autonomia individual no ultrapassam um certo limite e que este limite
o mesmo que protege a autonomia individual dos seus concidados,
citado por CAUPERS, Joo. Os direitos fundamentais dos trabalhadores e a
Constituio, cit., p. 15.
168
United States Solicitor General, representante do Governo dos EUA
junto do Supremo Tribunal dos EUA, entre 1967 e 1973.
169
O teor do artigo 32 no se limita a consubstanciar uma norma
meramente programtica, h-de ser perante as circunstncias de cada
caso em concreto que se iro estabelecer os concretos direitos de defesa,
no quadro geral dos princpios estabelecidos na lei.
Pormenorizadamente sobre as garantias de defesa em processo criminal,
cfr. SILVA, Germano Marques. Curso de Processo Penal, vol. I, 5 edio.
Lisboa, Editorial Verbo, 2008, pp 69 e ss; SILVA, Germano Marques e
SALINAS, Henrique, em anotao ao artigo 32 da CRP, in MIRANDA,
Jorge, MEDEIROS, Rui. Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, cit.,
pp 702 e ss.
O direito mentira da trabalhadora grvida
91
criminal
170
, garantias estas que so depois
concretizadas em sede de legislao penal e
processual penal
171
.
O direito penal o ramo do Direito em que o
Estado exerce uma maior fora coerciva e onde as
penas podem revestir a caracterstica de restrio
de liberdade, indo muito alm das meras sanes
de carcter patrimonial. No ser pois de estranhar
que todo o direito penal e processual penal se
revista de cautelas, de modo a garantir a efectiva
punio dos agentes de um crime mas a no punir
eventuais inocentes. Essas cautelas encontram-se
plasmadas na atribuio de um estatuto especfico
ao arguido e na consagrao de direitos e garantias
que lhe permitam o exerccio efectivo de uma
defesa.
O direito a todas as garantias de defesa integra:
o direito ao silncio, ao contraditrio,
igualdade de armas e a dispor do tempo e dos
meios necessrios para a preparao da defesa;
o direito de apresentar prova em defesa e
contestar a prova da acusao;
o direito imediao;
o direito de ser informado dos seus direitos,
o direito de falar livre na sua pessoa e de
no prestar juramento
172
.
Processualmente, as garantias de defesa do
arguido permitem que lhe seja conferido um
estatuto especial, tendo nomeadamente a
faculdade de ser ouvido e de intervir no processo
sempre que o considerar necessrio e/ou
conveniente.
Esta interveno no processo pode ser utilizada
pelo arguido de modo activo, decidindo prestar
declaraes em relao aos factos que lhe so
imputados, ou de modo passivo decidindo
170
Garantias que tambm encontram expresso no artigo 6 da
Conveno Europeia dos Direitos do Homem, e no artigo 14 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Polticos.
171
Artigos 141, n 4; 143, n 2; 144, n 1 e 343, n 1 do CPP.
172
Neste sentido, Cfr. ALBUQUERQUE, Paulo Pinto. Comentrio do
Cdigo de Processo Penal luz da Constituio da Repblica e da Conveno
Europeia dos Direitos do Homem, 2 edio. Lisboa, Universidade Catlica
Editora, 2008, pp 181.
manter o silncio, ou seja no prestando quaisquer
declaraes, sem que dessa atitude decorra para si
qualquer sano e/ou penalizao. O direito ao
silncio uma garantia processual
173
e apresenta-se
como um direito de autodefesa. Historicamente, o
direito ao silncio e a no se auto-incriminar tem
parte das suas razes no pensamento de CESARE
BONESANA, marqus de Beccaria, na sua obra
Dos Delitos e das Penas, publicada em 1764 e
onde este jurista e filsofo italiano escreve contra a
barbrie que constitui a aplicao de tortura a um
acusado para que ele confesse a autoria do crime,
sendo que, nessa altura, a confisso, mesmo que
obtida por meio da tortura, era considerada como
uma prova incriminatria da maior relevncia
processual. Nos dias de hoje, a to mediatizada
quinta emenda da Constituio dos Estados
Unidos da Amrica, frequentemente invocada
frente a agentes da Administrao americana,
assegura aos norte-americanos o direito de
permanecer calados e evitar assim a auto-
incriminao, bem como a proteco contra buscas
e detenes descabidas.
No entanto, o arguido apesar de ter o direito ao
silncio no tem a obrigao do silncio, podendo
decidir prestar declaraes
174
e, se o fizer, pode
decidir mentir, ou seja, prestar falsas declaraes
com o intuito de que essas declaraes sejam tidas
como verdadeiras.
Ora, se em relao ao silncio se reconhece que
o direito ao silncio o selo que garante o
enfoque do interrogatrio como meio de
defesa
175
, em relao prestao de declaraes
falsas esta concluso no assim to linear. Manter
o silncio diferente de prestar declaraes falsas.
173
Muitas vezes utilizada pelos advogados de defesa como
estratgia processual, depois de identificados os factos a investigar e a
provar e de identificado o sujeito processual sobre quem recai o
respectivo nus da prova.
174
As declaraes em causa reportam-se aos factos que so
imputados ao arguido, em relao prtica do ilcito penal em causa.
Relativamente a declaraes relativas sua identidade e antecedentes
criminais, sempre que a lei o preveja, o arguido tem o dever de prestar
declaraes e de o fazer com verdade, nos termos do artigo 61, n 3 do
CPP. Portanto, no so estas declaraes as que aqui nos ocupam,
somente as declaraes relativas aos factos criminais que, imputados ao
arguido, levam formulao de um juzo de culpa.
175
Como descrito por COUCEIRO, Joo Claudino. A garantia
Constitucional do Direito ao Silncio. So Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2004, pp 23.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
92
Tem-se considerado que o arguido, em virtude
de no estar obrigado a prestar declaraes,
tambm estar dispensado do dever de veracidade
se decidir prest-las
176
, termos em que estaramos
ainda no mbito de tutela realizado atravs do
direito ao silncio e, genericamente, cumprindo o
constitucionalmente imposto, ou seja, assegurando
ao arguido garantias de defesa.
A discusso, quer doutrinria quer
jurisprudencial, em relao admissibilidade de
um direito mentira do arguido tem sido
equacionada, fundamentalmente, no mbito do
direito ao silncio e do direito no auto-
incriminao, enquadrados numa perspectiva
genrica de direitos de defesa do arguido.
Doutrinariamente, a explicao do direito ao
silncio objecto de opinies divergentes; para uns
existe um dever de responder ao interrogatrio e
de dizer a verdade, pois os que esto no processo
so partes processuais e, como tais, no agem em
interesse prprio mas sim em nome da
colectividade, razo pela qual no se pode mentir.
Todos devem contribuir para o fim do processo e,
nessa medida, contribuir para a descoberta da
verdade material. Por outro lado os que opinam
que o direito ao silncio um direito de auto-
defesa, mediante o qual o arguido no teria a
obrigao, o dever ou o nus de dizer a verdade,
podendo silenciar ou mentir, e nenhuma destas
circunstncias seria ameaa ao princpio da
presuno de inocncia que claramente diz que
ningum ser considerado culpado at prova em
contrrio. Esta ltima posio a adoptada em
sede de direito penal no nosso ordenamento
jurdico considerando-se que () a relao
intercedente entre o arguido e a finalidade de
obteno da verdade que o processo penal visa,
encontra-se como que cortada no sentido de
que aquele no obrigado a participar nesta
finalidade atravs das suas declaraes e no ,
portanto, destinatrio prprio do respectivo dever
176
REIS, Pedro. Dever de verdade direito de mentir histria do
pensamento jurdico, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, Vol. XLVIII, n 1 e 2. Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 460.
de colaborao na administrao da justia
penal
177
.
que a prtica do facto criminoso imputado ao
arguido e a necessidade natural que este tem de se
defender, colocam-no face a um conflito
psicolgico
178
e, por isso, sobre o arguido s incide
a liberdade de escolher como vai realizar a sua
defesa. E se essa defesa pode ser realizada atravs
do recurso ao silncio, por maioria de razo
tambm o poder ser atravs do recurso
prestao de falsas declaraes, entendendo-se
nesta linha de pensamento que estamos perante a
permisso intrnseca, dada ao arguido, de mentir,
uma vez que lhe permitido dizer o que quer com
a certeza de que no ser punido em consequncia
meramente das suas declaraes
179
.
Efectivamente, a lei no estabelece qualquer
sano para o arguido que, prestando declaraes
sobre os factos que lhe forem imputados falte
verdade. Mas o no estabelecimento de qualquer
sano poder no significar a admissibilidade e
licitude da mentira. J em 1974 FIGUEIREDO
DIAS
180
se pronunciava sobre um invocado direito
a mentir, repudiando-o, pois nada existe na lei,
que possa supor o reconhecimento de um tal
direito. As solues legais em matria de silncio e
de cessao do dever de colaborao explicam-se
pela oposio que se quer fazer velha e odiosa
ideia inquisitria (). Mas sendo assim poderia
pensar-se () que, podendo o arguido optar
livremente entre o silncio ou o prestar
declaraes, caso escolhesse esta segunda
177
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal, 1 ed. 1974,
reimpresso. Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp 448, citando
CORREIA, Eduardo, RDES 14, 1967, pp 34 e 38 ss. Tambm neste
sentido, O arguido no tem o dever de colaborao com o tribunal na
descoberta da verdade, como decorre do seu direito constitucional ao
silncio. Cfr. ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentrio do Cdigo de
Processo Penal luz da Constituio da Repblica e da Conveno Europeia dos
Direitos do Homem, cit., pp 183. No mesmo sentido, cfr. VECCHIO,
Giorgio del. A verdade na moral e no direito, traduo de Francisco Jos
Velozo. Braga, Editorial Scientia ivridica, 1950, p. 56.
178
CORREIA. Eduardo, RDES Revista de Direito e Estudos Sociais, 14,
1967, p. 34.
179
Embora essas declaraes possam ser objecto de apreciao no
mbito do processo, mesmo mentirosas, as declaraes do arguido
podem ser teis s averiguaes, se mais no for pelo que elas podem
reflectir como expresso livre da personalidade, FERREIRA, Cavaleiro,
Curso de Processo Penal, II, pp. 57 apud SANTOS, M. Simas, LEAL-
HENRIQUES, M., Cdigo de Processo Penal Anotado, 3 edio, I volume,
Lisboa, Editora Rei dos Livros, 2008, p. 999.
180
DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Processual Penal, cit., pp 450.
O direito mentira da trabalhadora grvida
93
possibilidade continuaria a recair sobre ele um
dever de verdade ou um mero dever moral, ou
mesmo um verdadeiro dever jurdico. A verdade,
porm, que do reconhecimento de um tal dever
no ressaltam quaisquer consequncias prticas
para o arguido que minta, uma vez que tal mentira
no deve ser valorada contra ele, quer ao nvel
substantivo autnomo das falsas declaraes, quer
ao nvel dos direitos processuais daquele. Conclui-
se, ento, que no existe, por certo, um direito a
mentir que sirva como causa justificativa da
falsidade; o que sucede simplesmente ter a lei
entendido, ser inexigvel do arguido o
cumprimento do dever de verdade, razo por que
renunciou nestes casos a imp-lo
181
.
Porm, uma coisa a inexigibilidade do
cumprimento do dever de verdade pelo arguido,
reconduzindo-o a um dever moral, e outra,
totalmente distinta, a inscrio de um direito a
mentir do arguido, inadmissvel num Estado de
Direito.
A nossa jurisprudncia tem decidido, em
conformidade com o artigo 32, n 2 da CRP, que
afirma que: o arguido goza do direito ao silncio,
sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o
contedo das declaraes, para o que deve ser
informado antes do interrogatrio (art. 141, n 4,
143, n 2, 144, n 1, e 343, n1, do CPP), sendo
que o silncio do arguido no pode ser
interpretado como presuno de culpa; ele
presume-se inocente. Com efeito, se o arguido se
negar a prestar declaraes ou a responder, seja
qual for a fase do processo o seu silncio no
poder ser valorado como meio de prova pois est
legitimado como exerccio de um direito de defesa
que em nada o poder desfavorecer (art. 343, n 1
e 345, n 1 do CPP); () tal realidade resulta,
desde logo, pelo estatuto do arguido, definido pelo
catlogo de direitos e deveres processuais do
arguido penal, (art. 61, do CPP), portanto o
arguido no tem o dever de falar, no est obrigado
a falar com verdade, salvo o caso das perguntas
feitas, por entidade competente, sobre a sua
181
O comportamento processual mentiroso do arguido configura o
que o autor veio a designar de acto processual de dupla funo, cfr.
DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Processual Penal, cit., pp 451.
identidade e, quando a lei o impuser, sobre os seus
antecedentes, a mentira nem sequer punida, o
que tambm no lhe confere um direito a mentir
() numa ordem jurdica assente na dignidade da
pessoa humana e em princpios de liberdade e
democracia inadmissvel a admisso de um
direito mentira do arguido.
182
Paralelamente, GERMANO MARQUES DA
SILVA
183
, em matria penal tributria
correlacionando o princpio da presuno de
inocncia, o direito ao silncio e o direito no
auto-incriminao, refere que: A Constituio no
estabelece expressamente o princpio da no auto-
incriminao (privilege against self-incrimination ou
nemo tenetur se ipsum accusare ou nemo tenetur se
delegere) mas ele resulta do princpio constitucional
da exigncia de um processo equitativo e do
direito de defesa, materializando a presuno de
inocncia (art. 32, n 1 e 2, da CRP). Resulta
tambm do artigo 6, n 1 e 2 da CEDH e do
artigo 14, n 3, alnea g) do PIDCP, aplicvel na
ordem interna portuguesa por fora do disposto no
artigo 8 da CRP. O direito no auto-
incriminao traduz-se no direito que tem
qualquer pessoa, e tambm o arguido, a no
contribuir para a sua prpria incriminao e
geralmente aceite como estruturante do processo
criminal. O Cdigo de Processo Penal contm um
vasto nmero de normas que so consequncias do
reconhecimento daquele princpio: o direito ao
silncio do arguido (art. 343, n 1, e 345, n 1), o
dever de esclarecimento ou advertncia sobre os
direitos decorrentes daquele princpio (art. 58, n
2 e 4; 61, n 1, alnea b); 141, n 4, alnea a) e
343, n 1). Se o princpio da no auto-
incriminao um princpio com matriz
182
Ac. do Tribunal da Relao de Lisboa de 09/11/2005 (proc.
7995/2001-3) disponvel em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/58c71
5ca1138e97e802570b900556bb, consultado em 01/04/2010.
No mesmo sentido os acrdos do STJ de 12/03/2008 (proc. n
08P694), disponvel em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6082
ccff48a8006980257421003b925, consultado em 01/04/2010 e de
03/09/2010 (proc. n 08P2044), disponvel em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4bd7
3ea7101a2a83802574ce002fe45, consultado em 01/04/2010.
183
SILVA, Germano Marques, Direito Penal Tributrio sobre as
responsabilidades das sociedades e dos seus administradores conexas com o crime
tributrio, Universidade catlica Editora, Lisboa, 2009, pp 176.
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
94
constitucional e um princpio do processo penal
portugus, ser lgico que esse princpio valha
tambm no processo penal tributrio, mais
considerando GERMANO MARQUES DA
SILVA
184
que a garantia de no auto-
incriminao vale tanto para os documentos no
obrigatrios como para as declaraes pessoais.
O Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem
185
tambm j considerou que um pedido
de informao sob ameaa de sano (pagamento
de uma multa caso no prestasse as informaes
solicitadas), enquanto incide directamente sobre a
vontade da pessoa intimada, constitui violao do
direito a no auto-incriminao, na medida em que
a pessoa tenha razes para crer que, cumprindo
com o que lhe pedido, pode ser incriminada. Em
sntese, pode extrair-se da sentena que contrrio
ao direito a um processo equitativo aplicar sanes
pelo incumprimento de deveres de informao, na
medida em que a informao pedida possa servir
como base para uma acusao penal ou qualquer
outro processo sancionador.
Apesar de alguns autores considerarem que a
questo de saber se existe um direito a mentir
sobre os factos da culpa tem pouco alcance prtico,
pois em qualquer caso seria inexigvel o
cumprimento do dever de verdade
186
, como se
verifica, a problemtica do direito mentira do
arguido tem sido equacionada e at se pode
considerar que a mentira tolerada, alegando que
se permitido calar (total ausncia de
comunicao), ento tambm ser permitido
mentir (comunicao de algo inverdico), no
184
SILVA, Germano Marques. Direito Penal Tributrio sobre as
responsabilidades das sociedades e dos seus administradores conexas com o crime
tributrio, cit., pp 176.
185
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem caso J.B vs.
Switzerland, sentena de 13 de Maio de 2001. Trata-se de um caso de
cariz tributrio, em que o contribuinte alegou em certa altura no estar
obrigado a proporcionar informaes eventualmente incriminatrias,
tendo a sua pretenso sido desatendida nos tribunais nacionais.
Interposto recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
este foi chamado a analisar a questo de saber se o facto de se aplicarem
multas a uma pessoa por no proporcionar informaes era compatvel
com o artigo 6 da Conveno. Cfr. http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pt
&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,sk,sv,&val=420659:cs&p
age=, consultado em 20/04/2010.
186
GONALVES, Manuel Lopes Maia, Cdigo de Processo Penal
Anotado e legislao complementar, 17 edio, Coimbra, Almedina, 2009,
em anotao ao artigo 61.
estranho sentido de que aquilo que for dito ao
abrigo dessa permisso pura benevolncia
()
187
, logo, e por maioria de razo, se a
declarao no devida tambm no se pode
responsabilizar o declarante em funo da
veracidade ou no do contedo das suas
declaraes. Est-se assim perante um axioma
formal
188
, na medida em que as consequncias de
manter o silncio ou de prestar declaraes
inverdicas so as mesmas, ou seja, nenhumas, pois
se no se probe no se pode punir, e se no se
pune no adianta proibir
189
.
Ou seja, a mentira tolerada e do facto de o
arguido faltar verdade nas declaraes que presta
em processo penal no decorrem para si quaisquer
efeitos -o que se enquadra no mbito das garantias
de defesa do arguido e do seu estatuto especial de
arguido- mas, apesar desta tolerncia, quer a nossa
doutrina quer a nossa jurisprudncia so unnimes
em afirmar que no se trata de um direito de
mentir, mas simplesmente da no punio da
mentira
190
ou, como refere FIGUEIREDO DIAS,
de um ponto de vista processual, ele no constitui
um acto processualmente inadmissvel () de um
ponto de vista substantivo, tal comportamento no
integra j o tipo incriminador das falsas
declaraes
191
.
De todo o exposto pode concluir-se que, no
obstante a inadmissibilidade de um direito a
mentir cujo principal argumento consiste na
contrariedade aos princpios de um Estado de
Direito, a verdade que o direito de defesa do
187
REIS, Pedro, Dever de verdade direito de mentir histria do
pensamento jurdico, cit., p. 461.
188
REIS, Pedro, Dever de verdade direito de mentir histria do
pensamento jurdico, cit., p. 463
189
Pedro Reis ainda aponta, a propsito das consequncias que
podem decorrer da mentira, o que designa como o desequilbrio da
tica do sistema
189
, porquanto uma declarao falsa produz
consequncias injustas e os mecanismos superficiais do sistema,
(violao de normas legais que tipificam comportamentos ilcitos) bem
como os seus mecanismos mais intrnsecos (princpios e valores plenos,
como a boa f), no respondem a esse efeito. Cfr. REIS, Pedro. Dever de
verdade direito de mentir histria do pensamento jurdico, cit., p.
468.
190
DIAS, Figueiredo. Direito Processual Penal, cit., pp. 450 e ss;
FERREIRA, Cavaleiro. Curso de Processo Penal, cit., p. 152; SILVA,
Germano Marques. Curso de Processo Penal, cit., p. 277; GONALVES,
Manuel Lopes Maia. Cdigo de Processo Penal Anotado e legislao
complementar, cit., em anotao ao artigo 343.
191
DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal, cit., p. 452.
O direito mentira da trabalhadora grvida
95
arguido lhe garante a liberdade de escolher o meio
que julgue mais adequado para prosseguir essa sua
defesa, utilizando uma ou vrias das garantias de
defesa que pelo complexo normativo so colocadas
sua disposio, podendo intervir no processo do
modo que entender conveniente aos seus
interesses e, por isso, tendo a liberdade de escolher
se presta ou no declaraes e, caso as preste, se o
faz ou no com verdade, no incidindo sobre ele
esse dever jurdico.
4. Concluso
Mas existir algum facto independente da opinio
e da interpretao?
HANNAH ARENDT
A mentira, porque considerada errada do ponto
de vista religioso, moral e social, sempre foi
tendencialmente repudiada, embora a histria da
humanidade se encontre repleta de relatos de
situaes em que a mentira foi utilizada, e at
nalgumas dessas situaes sem que da tenha
resultado, para o mentiroso, qualquer consequncia
nefasta desse seu comportamento.
Efectivamente, em virtude de ter na sua base o
engano do outro, assim alterando os seus actos
e/ou vontade, a mentira no pode ser admitida
numa sociedade como regra de vivncia geral sob
pena de vivermos numa sociedade baseada na
iluso.
No entanto, todo o exposto ao longo do
presente trabalho, inclusive, estas ltimas linhas
que acabmos de redigir, nos fazem pensar.ser
que a sociedade no ter sempre tido uma vasta
componente de iluso (mesmo sem considerarmos
o postulado platnico das ideias imperfeitas, e
portanto ilusrias, do mundo concreto) e ser que,
nos dias de hoje e numa sociedade to
extensamente mediatizada, essa componente de
iluso no at dominante ? Afinal, a verdade
muito mais dura do que a mentira, a qual pode
revestir um carcter muito mais suave e fcil de
vivenciar (e a este propsito referenciamos aqui
especificamente o filme Matrix, que reformula e
adapta a tempos ps-modernos o mito da caverna
de Plato).
A mentira com carcter genrico inadmissvel
mas em certas e determinadas situaes bem
delineadas pode ser tolerada, admissvel, justificada
e at desejvel. So exemplos, como vimos a
mentira branca, a mentira nobre, a mentira piedosa
ou at a mentira social, mentiras relativas a
determinados comportamentos mais ou menos
triviais que permitem a vida em sociedade.
Tambm a mentira pode encontrar-se
justificada enquanto meio ou instrumento de
defesa de direitos contra agresses que lhes sejam
infligidas por terceiros, se esse for o modo de
defesa mais adequado e proporcional em face da
concreta circunstncia.
Relativamente trabalhadora grvida parece-
nos que os argumentos da nossa doutrina e
jurisprudncia utilizados relativamente ao arguido
se aplicam mutatis mutandis trabalhadora grvida.
Em ambos os casos estamos perante situaes
em que um indivduo, no mbito do exerccio de
um direito ou enquadrado no mbito de tutela de
um direito, utiliza o meio que no momento e face
situao em concreto com que tem de lidar, lhe
parece ser o melhor meio para garantir a defesa e
efectividade do direito em causa. Em termos
comparados, se na hiptese do arguido a mentira
tolervel e at admissvel porquanto se tratar de
uma extenso do direito ao silncio, enquadrado
em termos amplos no mbito das garantias de
defesa do arguido, ento no caso da trabalhadora
grvida a factualidade idntica, embora no
exactamente igual. Vejamos:
- a trabalhadora grvida confrontada, no
momento da entrevista para admisso ao emprego
ou no momento em que se pondera a eventual
renovao do seu contrato de trabalho a termo,
com uma questo que, como vimos, ilegtima. Ao
ser colocada a questo, a resposta tem de ser
imediata, e no existe, em regra, qualquer perodo
de tempo intermdio entre a questo e a resposta,
que permitisse trabalhadora reflectir e ponderar
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
96
como melhor responder a essa questo e se ela
ou no legtima ou pertinente. Comparativamente,
o arguido em virtude das garantias de defesa que
lhe so conferidas tem a possibilidade de pensar
como ir realizar a sua defesa, podendo at, se o
quiser, ser assistido e aconselhado por advogado, o
que permite ao arguido delinear a melhor
estratgia de defesa a adoptar e agir em
conformidade com essa estratgia, passe ela por
manter o silncio, prestar declaraes verdadeiras
ou mentir. Portanto, deste ponto de vista, a mulher
candidata a emprego ou trabalhadora grvida
encontra-se numa posio at menos
favorvel/favorecida, em relao ao arguido, dado
no ter tempo para delinear a sua estratgia de
defesa;
- a trabalhadora grvida confrontada com uma
questo que sendo ilegtima e no devendo ter
sido colocada, no entanto foi efectivamente
colocada. Ou seja, no foi a trabalhadora que
iniciou o processo cujo desfecho ser a emisso
por si de uma mentira. Pois, no foi ela quem,
agindo contrariamente ao princpio geral da boa f,
colocou uma questo que no poderia colocar. No
esqueamos que estamos perante uma questo que
em hiptese alguma pode ser colocada
trabalhadora a no ser que se justifique
objectivamente a colocao da questo; mesmo
nestes casos ter se ser fornecida trabalhadora a
respectiva justificao escrita e a sua resposta ser
sempre dada a um mdico e no directamente ao
empregador. Por seu lado, se o arguido est a ser
chamado a responder perante a justia porque
recaem sobre ele suspeitas da prtica de um
determinado crime, ou seja, em princpio, foi ele
quem iniciou o processo, que poder tambm
culminar na emisso de uma mentira pelo arguido;
- a trabalhadora grvida pode defender-se, face
agresso dos seus direitos fundamentais.
Comparativamente, o arguido, no uso das garantias
constitucionais de defesa que lhe so conferidas,
tambm se pode defender. Ou seja, em ambos os
casos trata-se de direito defesa: no caso da
grvida face agresso dos seus direitos por parte
do empregador; no caso do arguido pelo legtimo
uso dos direitos que lhe so conferidos;
- em ambos os casos a lei no impe a
obrigatoriedade de responder. No caso da
trabalhadora grvida porque, desde logo, existe um
limite ao direito informao do empregador que
afasta o dever de informao por parte da
trabalhadora. No caso do arguido porque o CPP
adverte expressamente o arguido de que tem de
responder com verdade em relao s informaes
relativas sua identidade e antecedentes criminais,
mas nada refere nesse sentido relativamente aos
factos da culpa, ou seja, aos factos criminais que
esto a ser imputados ao arguido;
- embora no esteja expressamente positivado
(porque no o tem de estar, uma vez que a
questo em anlise questo sobre estado de
gravidez- est legalmente vedada), a mulher
grvida candidata a emprego ou trabalhadora pode
defender-se mantendo o silncio, ningum ser
obrigado a responder a algo que o possa prejudicar
ou a se auto-incriminar. Ao arguido
expressamente reconhecido o direito processual ao
silncio. Logo, a interpretao realizada da
extenso da aplicabilidade de tutela do direito ao
silncio aplicvel hiptese da trabalhadora
grvida;
- tambm nos parece que de um facto a que o
empregador ilegitimamente deu causa, no pode
vir depois a retirar qualquer proveito, o que
significa que se no tem legitimidade para colocar
a questo, no ter legitimidade para aplicar
qualquer sano decorrente e com fundamento
num facto (a resposta mentirosa), que em ltima
anlise, foi ele que fomentou. No caso do arguido,
este raciocnio realizado tendo em considerao
as consequncias comparativas de manter o
silncio ou de mentir, como vimos.
Sempre diremos que a hiptese da tolerncia da
mentira ou da sua admissibilidade relativamente
questo que aqui nos ocupa poder encontrar
justificao no facto de ser esse o meio
considerado mais adequado e proporcional para a
candidata a emprego ou trabalhadora grvida, no
momento em concreto, se defender da agresso
que lhe est a ser infligida. Pois sabemos que, no
obstante se poder tratar desde logo de uma
O direito mentira da trabalhadora grvida
97
questo de discriminao, muito difcil provar
esse facto. No h como provar que aquela no
contratao daquela trabalhadora ou a no
renovao daquele contrato tm como verdadeiro
motivo o estado de gravidez da mulher. No
esqueamos que, no primeiro caso, o empregador
no est vinculado a contratar a mulher grvida e a
formao da vontade contratual do empregador
composta pela apreciao de variados aspectos que
ele, em regra, nem tem de justificar. E, no caso da
renovao do contrato, se porventura o
empregador fizer caducar o contrato por causa da
gravidez da trabalhadora, o motivo que ir constar
dessa comunicao no ser, seguramente, o facto
de a trabalhadora estar grvida, ser sim um
motivo objectivo relacionado com o carcter
temporrio ou com o fundamento que esteve na
origem da prpria contratao mediante a
modalidade contratual de contrato a termo.
Se, porventura, a lei processual tivesse um
mecanismo que permitisse, nestes casos, a
presuno de que a no admisso ao trabalho
constitua um acto ilcito, cabendo ao empregador
o nus da prova de demonstrar que, pelo contrrio,
tinha sido um acto licito, nessa situao j a
trabalhadora teria, porventura, de responder
sempre com verdade questo. No entanto, este
mecanismo para alm de no existir, poderia
tambm no ser muito eficaz na medida em que,
por um lado, nem todas as trabalhadoras
recorreriam a tribunal para fazer valer os seus
direitos e, por outro lado, o desgaste que o
processo judicial iria provocar nas partes, acabaria
na maioria das vezes por inviabilizar a vontade de
celebrar contrato de trabalho, mesmo que a
deciso judicial fosse favorvel candidata a
emprego. Para alm disso, seria um processo que se
arrastaria no tempo, sem que a trabalhadora tivesse
iniciado a sua prestao laboral nem tivesse obtido
o rendimento que pretendia quando se candidatou
a esse trabalho.
Em resumo, embora no se admita no geral (e
pensamos que nunca ser possvel admitir) o
direito mentira, pois seria porventura admitir o
caos societrio, podero existir situaes
especficas e particulares, nas quais a mentira pode
ser tolerada, admissvel e justificada. Essa
tolerncia, admissibilidade e justificabilidade tem
contudo de ser enquadrada face s circunstncias
factuais e legais de determinada situao,
particularmente em casos em que se esteja perante
uma determinada agresso e em que , perante
essa agresso, que o sujeito levado a mentir
como meio de defesa. Assim, e tambm de acordo
com os princpios gerais do pensamento de
SCHOPENHAUER, nossa opinio que dever
ser permitido candidata a trabalhadora ou
trabalhadora grvida, para afastar uma injustia
(neste caso a questo ilegtima sobre a sua gravidez
actual ou sobre o seu desejo de engravidar), agir
com astcia, ou seja, mentir sobre a sua condio
de grvida ou sobre o seu desejo de engravidar.
BIBLIOGRAFIA
- ABRANTES, Jos Joo. Contrato de trabalho e direitos
fundamentais. Coimbra, Coimbra Editora, 2005;
- ABRANTES, Jos Joo. A vinculao das entidades
privadas aos direitos fundamentais. Lisboa, AAFDL, 1990;
- ALBUQUERQUE, Paulo Pinto. Comentrio do Cdigo
de Processo Penal luz da Constituio da Repblica e da
Conveno Europeia dos Direitos do Homem, 2 edio.
Lisboa, Universidade Catlica Editora, 2008;
- AMARAL, Maria Lcia, AAVV. O princpio da
dignidade da pessoa humana na jurisprudncia
Constitucional Portuguesa in AAVV, Liber Amicorum de
Jos de Sousa Brito em comemorao do 70 aniversrio
Estudos de Direito e Filosofia. Coimbra, Almedina, 2009;
- APOSTOLIDES, Sara Costa. Do dever pr-contratual
de informao e da sua aplicabilidade na formao do
contrato de trabalho. Coimbra, Almedina, 2008;
- ARENDT, Hannah. Verdade e Poltica, traduo de
Manuel Alberto. Lisboa, Relgio dgua, 1995;
- BATTISTELLI, Luigi. A mentira nos normais, nos
criminosos e nos loucos, Coleco Stvdivm temas
filosficos, jurdicos e sociais. Coimbra, Editor Armnio
Amado, 1943;
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
98
- BELO, Fernando. Leituras de Aristteles e de Nietzsche
a potica sobre a verdade e a mentira. Lisboa, Fundao
Calouste Gulbenkian, 1994;
- BOTELHO, Catarina Santos. A tutela directa dos
direitos fundamentais avanos e recuos na dinmica
garantstica das justias constitucional, administrativa e
internacional. Coimbra, Almedina, 2010;
- CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital.
Constituio da Repblica Portuguesa Anotada, Vol. I, 4
edio. Coimbra, Coimbra Editora, 2007;
-CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e
teoria da Constituio. 7 edio, Coimbra, Almedina,
2003;
- CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, 6
edio, Coimbra, Almedina, 1995;
-CARVALHO, Paulo Morgado (coord). Pronturio de
Direito do Trabalho n 65, CEJ, Coimbra, Coimbra Editora,
2003;
- CAUPERS, Joo. Os direitos fundamentais dos
trabalhadores e a Constituio. Coimbra, Almedina, 1985;
- CONSTANT, Benjamin. De la force du gouvernement
actuel de la france et de la ncessit de sy rallier, des
ractions politiques, des effets de la terreur. Paris, Flammarion,
1988;
- CORDEIRO, Antnio Menezes. Manual de Direito do
Trabalho. Coimbra, Almedina, 1997;
- CORREIA, Eduardo, RDES 14, 1967;
- DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal, 1
ed. 1974, reimpresso. Coimbra, Coimbra Editora, 2004;
- FERNANDES, Antnio Monteiro. Direito do
Trabalho, 12 edio. Coimbra, Almedina, 2004;
- FERNANDES, Lus A. Carvalho. Teoria geral do
direito civil. Vol. I, 2 edio. Lisboa, Lex, 1995;
- GOMES, Jlio Manuel Vieira. Direito do Trabalho,
Vol. I Relaes Individuais de Trabalho. Coimbra,
Coimbra Editora, 2007;
- GONALVES, Manuel Lopes Maia. Cdigo de
Processo Penal Anotado e legislao complementar, 17
edio, Coimbra, Almedina, 2009;
- KANT, Immanuel. Sobre um suposto direito de
mentir por amor humanidade, in A Paz Perptua e outros
opsculos. Lisboa, Edies 70, 1989;
- KANT, Immanuel. Metafsica dos Costumes, Parte II
Princpios metafsicos da doutrina da virtude, traduo de
Artur Mouro. Lisboa, Edies 70, 2004;
- KANT, Immanuel. Fundamentao da Metafsica dos
Costumes, traduo de Paulo Quintela. Porto, Porto Editora
1995;
- KOYR, Alexandre. Reflexes Sobre a Mentira. Lisboa,
Frenesi, 1996;
- LEITO, Lus Manuel Teles de Menezes. Direito do
trabalho, 2 edio. Coimbra, Almedina, 2010;
- LOPES, Jos Reinaldo de Lima. Liberdade e direitos
sexuais o problema a partir da moral moderna, in RIOS,
Roger Raupp (org.) e outros. Em defesa dos direitos sexuais.
Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 2007;
- MAQUIAVEL, Nicolau. O Prncipe. Coimbra,
Atlntida, 1935;
- MATOS, Vtor. Freakpolitics. Revista SBADO,
30/07/2010;
- MENDES, Marlene, ALMEIDA, Srgio, BOTELHO,
Joo. Cdigo do Trabalho Anotado. Lisboa, Petrony, 2009;
- MIRANDA, Jorge, MEDEIROS, Rui. Constituio
Portuguesa Anotada, Tomo I, 2 edio. Coimbra, Wolters
Kluwer/Coimbra Editora, 2010;
- MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera
privada do trabalhador e o controlo do empregador. Coimbra,
Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, Boletim da
Faculdade de Direito de Coimbra, Stvdia ivridica, 78,
2004;
- NETO, Lusa. O direito fundamental disposio sobre
o prprio corpo (a relevncia da vontade na configurao do
seu regime). Coimbra, Coimbra Editora, 2004;
- NIETZCSHE, Friedrich. Acerca da verdade e da
mentira. Lisboa, Relgio Dgua, 2000;
- PLATO. A Repblica. Lisboa, Edies 70, 1997;
- RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Da autonomia
dogmtica do Direito do Trabalho. Coimbra, Almedina,
2000;
O direito mentira da trabalhadora grvida
99
- RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito do
Trabalho Parte I dogmtica geral. Coimbra, Almedina,
2005;
- RAMALHO, Maria do Rosrio Palma. Direito do
Trabalho Parte II Situaes Laborais Individuais.
Coimbra, Almedina, 2006;
- REIS, Pedro. Dever de verdade direito de mentir
histria do pensamento jurdico, Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, Vol. XLVIII, n 1 e 2.
Coimbra, Coimbra Editora, 2007;
- ROSSAL DE ARAJO, Francisco. A Boa f no
Contrato de Emprego, So Paulo, Editora LTR, 1996;
- ROUSSEAU, Jean Jacques. Os devaneios do
caminhante solitrio. Lisboa, Livros Cotovia, 2004;
- RUSSEL, Bertrand. Ensaios Cpticos, traduo de
Marisa Motta. Porto Alegre, L&PM Editores, 2008;
- SANTOS, M. Simas, LEAL-HENRIQUES, M.. Cdigo
de Processo Penal Anotado, 3 edio, I volume, Lisboa,
Editora Rei dos Livros, 2008;
- SARTRE, Jean-Paul. O muro. Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira, 1974;
- SILVA, Germano Marques. Curso de Processo Penal,
vol. I, 5 edio. Lisboa, Editorial Verbo, 2008;
- SILVA, Germano Marques. Direito Penal Tributrio
sobre as responsabilidades das sociedades e dos seus
administradores conexas com o crime tributrio,
Universidade catlica Editora, Lisboa, 2009;
- VECCHIO, Giorgio del. A verdade na moral e no
direito, traduo de Francisco Jos Velozo. Braga, Editorial
Scientia ivridica, 1950;
- WILDE, scar. O Declnio da Mentira. Lisboa,
Passagens, 1991;
- Williams, B. Truth and Truthfulness: An Essay in
Genealogy. Princeton, Princeton University Press, 2002;
- WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Lgico-Filosfico.
Investigaes Filosficas. Lisboa, Fundao Calouste
Gulbenkian, 2 ed, 1995;
- SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o fundamento da
Moral, traduo de Maria Lcia Cacciola. So Paulo,
Edies Martins Fontes, 1995.
- SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo como vontade
e como representao, traduo de S Correia. Porto, Rs-
Editora, 2005.
RECURSOS ELECTRNICOS
Artigos e/ou monografias:
- COMTE-SPONVILLE, Andr. Pequeno Tratado
das Grandes Virtudes, traduo de Eduardo Brando. So
Paulo: Edies Martins Fontes, 1999. Disponvel em
www.pfilosofia.pop.com.br/03_filosofia/03_03_pequeno_tr
atado_das_grandes_virtudes/pequeno_tratado_das_grandes_
virtudes.htm (consultado em 13/07/2010);
-GIANETTI, Eduardo. Auto-engano. Disponvel em
www.fgospel.com.br/portal/img/bd/536.pdf (consultado
em 20/06/2010);
- KANT, Immanuel. Sobre um suposto direito de
mentir. Disponvel em
www.lusosofia.net/textos/kant_immanuel_paz_perpetua.pdf,
(consultado em 15/03/2010);
- MORAES LEAL, Larissa Maria. Aplicao dos
princpios da dignidade da pessoa humana e boa f nas
relaes de trabalho as interfaces entre a tutela geral das
relaes de trabalho e os direitos subjectivos individuais dos
trabalhadores, Revista Jurdica Braslia, v. 8, n 82,
dez./jan., 2007. Disponvel em
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/revista/rev_82/Arti
gos/PDF/larissa_rev82.pdf (consultado em 23/04/2010);
- PESSOA, Fernando. Cancioneiro. Disponvel em
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pe000006.pd
f (consultado em 20/05/2010);
- SANTO AGOSTINHO. De Mendacio e Contra
Mendacio. Citado no livro de SCHAFF, Phylip. On the
Holy Trinity; Doctrinal Treatises; Moral Treatises. Grand
Rapids: Christian Classics Ethereal Library. Disponvel
em http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf103.pdf
(consultado em 17/06/2010);
- STANDFORD ENCYCLOPEDIA OF
PHILOSOPHY. The definition of lying and deception.
Disponvel em http://plato.standford.edu/entries/lying-
definition/ (consultado em 14/04/2010).
MARLENE MENDES O direito mentira da trabalhadora grvida
100
Jurisprudncia:
-Acrdo do TC n 368/02 de 25 de Outubro,
acessvel em
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020368.html
(consultado em 27/06/2010);
-Acrdo do STJ de 12/03/2008, disponvel em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f00
3fa814/6082ccff48a8006980257421003b925
(consultado em 01/04/2010);
-Acrdo do STJ de 03/09/2010, disponvel em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f00
3fa814/4bd73ea7101a2a83802574ce002fe45 (consultado
em 01/04/2010);
- Acrdo do Tribunal da Relao de Lisboa de
09/11/2005, disponvel em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00
497eec/58c715ca1138e97e802570b900556bb
(consultado em 01/04/2010).
- Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (caso J.B
vs. Switzerland), sentena de 13 de Maio de 2001
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&
lng1=en,pt&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,nl,pl,pt,sk,s
v,&val=420659:cs&page (consultado em 20/04/2010).
Marlene Alexandra Ferreira Mendes nasceu em
Coruche em 22 de Abril de 1976. Em 1994 ingressou no
Curso de Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa e a termina esse seu ciclo de
estudos em 1999 com a classificao final de Bom 14
valores. Em 2003, ingressou no Curso de Mestrado
Cientfico em Direito na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, que vem a terminar em Dezembro
de 2008 com a defesa da Tese de Mestrado intitulada A
flexibilidade do contrato de trabalho, sob a orientao da
Exma. Professora Doutora Maria do Rosrio Palma
Ramalho. Obtm a classificao de 15 valores e o grau de
mestre em Cincias Jurdico-Empresariais. Em 2009
ingressou no Curso de Doutoramento em Direito na
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa,
curso que se encontra atualmente a frequentar sob a
orientao da Exma. Professora Doutora Helena Pereira de
Melo.
A ttulo profissional no perodo de 1999 a 2001
realizou o seu estgio como advogada estagiria findo o
qual, em 2001, obteve a sua cdula profissional de
advogada. De 2001 a 2003 exerceu a advocacia em
escritrio prprio. Desde 2003 exerce funes docentes no
Ensino Superior Politcnico, integrando, atualmente, o
departamento de Cincias Empresariais do Instituto
Politcnico de Beja. Docente da rea cientfica de Direito
leciona, atualmente, Direito do Trabalho, Direito das
Sociedades, Direito Aplicado Enfermagem e Direito das
Coisas. autora de: A Flexibilidade no Contrato de
Trabalho. Unpublished Master (MEd), dissertao de
Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
Lisboa, 2008. co-autora de: Cdigo de Processo de
Trabalho Anotado, Petrony, Lisboa, 2010; Cdigo do
Trabalho Anotado, Petrony, Lisboa, 2009; O Contrato de
Trabalho regime actual, Petrony, Lisboa, 2009.
A AUTORA
DIREITO BANCRIO
Ano 1 N. 02 [pp. 101-132]
101
PEDRO MIGUEL S. M. RODRIGUES
Mestrando em Direito
SUMRIO:
1. Introduo
2. O Contrato de Intermediao Financeira
2.1. Contratos de investimento
2.2. Contratos Auxiliares
3. Os Deveres do Intermedirio Financeiro perante o cliente: em especial, os deveres de informao
3.1. A ratio dos deveres de informao no Cdigo dos Valores Mobilirios
3.2. O regime dos deveres de informao no Cdigo dos Valores Mobilirios
4. A responsabilidade do intermedirio financeiro por violao dos deveres de informao
4.1. O regime do art. 304.-A do Cdigo dos Valores Mobilirios
4.2. O regime do art. 324. do Cdigo dos Valores Mobilirios
4.3. A natureza jurdica da responsabilidade civil do intermedirio financeiro perante o cliente
5. Concluso
6. Bibliografia
A INTERMEDIAO FINANCEIRA:
EM ESPECIAL, OS DEVERES DE INFORMAO DO INTERMEDIRIO
PERANTE O CLIENTE
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
102
A INTERMEDIAO FINANCEIRA:
EM ESPECIAL, OS DEVERES DE INFORMAO
DO INTERMEDIRIO PERANTE O CLIENTE
PEDRO MIGUEL S. M. RODRIGUES
Mestrando em Direito
RESUMO:
O presente estudo tem como objectivo analisar, reflectir e compreender os contratos de
intermediao financeira, mormente, os deveres de informao que recaem sobre o
intermedirio financeiro e as consequncias, jurdicas e dogmticas, da sua violao. Por
um prisma inicial, cabe-nos reconhecer que o contrato de intermediao financeira
desempenha um papel indispensvel na orgnica contratual dos mercados financeiros e,
mesmo, no dia-a-dia das operaes financeiras. Estamos perante um negcio jurdico que
abre as condies para o encontro da oferta e da procura nos mercados de valores
mobilirios. Permite assim ao indivduo, que pretende rentabilizar os seus rendimentos e
as suas poupanas, aceder a um conjunto de instrumentos com o objectivo de conseguir
acrscimos patrimoniais. Concomitantemente, constri-se uma relao de confiana entre
o investidor e o intermedirio financeiro, sendo este o interlocutor daquele nos mercados
financeiros.
No Cdigo dos Valores Mobilirios encontramos um composto leque de contratos de
intermediao financeira, no sendo uma lista taxativa. Estamos sim perante uma forma
contratual autnoma, que a lei reconhece e que lhe atribui regras prprias. Apesar dos
vrios tipos contratuais, conseguimos encontrar regras comuns como sejam a necessidade
de forma escrita, a existncia de vrios deveres informativos pr-contratuais comuns e,
ainda, a comercialidade destes contratos. Do mesmo modo encontramos uma diviso
legal no que toca aos contratos de intermediao financeira: de um lado, temos os
contratos de investimento, como sejam o contrato de gesto de carteira ou o contrato de
colocao e tomada firme, com o intuito de praticar servios na rea de intermediao
financeira; e os contratos auxiliares, como sejam, o contrato de assistncia ou o contrato
de recolha de intenes de investimento, com o objectivo de prestar servios auxiliares
aos contratos de intermediao.
O regime dos deveres informativos presentes no Cdigo dos Valores Mobilirios
extenso, profundo e abrangente, e visam proteger os investidores e defender o mercado e
a sua regulao. Pretende-se proteger o investidor no qualificado que no tem acesso
privilegiado informao dos mercados, construindo uma relao de confiana com o
intermedirio e o mercado. Ademais, pretende-se proteger o prprio mercado atravs da
confiana gerada na informao disponibilizada e divulgada pelos seus agentes. Assim,
podemos encontrar deveres de informao pr-contratual, que visam conduzir o
investidor a uma deciso fundamentada e esclarecida, ligada confiana sentida atravs
da informao disponibilizada; e, deveres de informao contratual, constituindo-se como
tpicos deveres da relao de mandato. A responsabilidade civil do intermedirio
financeiro por violao dos seus deveres de informao contm uma ndole subjectiva,
atravs da aferio da culpa do intermedirio financeiro, operada atravs da presuno de
culpa presente no Cdigo, e tambm uma natureza objectiva, atravs da previso do
incumprimento dos seus deveres contratuais aquando da execuo do contrato.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
103
1 Introduo
(*)
O presente trabalho tem como escopo principal
analisar o regime dos deveres de informao que
recaem sobre o intermedirio financeiro,
procurando a ratio que funda a sua existncia, ao
mesmo tempo que se ir procurar qual o melhor
caminho para a definio do tipo de
responsabilidade que est em causa, quando o
intermedirio financeiro viola os seus deveres
legais.
A escolha deste tema no foi displicente ou
tomada sem noo das dificuldades que acarreta.
Por detrs deste acervo legal podemos encontrar
um elenco de deveres informativos que no
encontram paralelo no regime legal portugus,
fruto da expanso que este actividade teve no
nosso pas. Falar dos contratos de intermediao
financeira e, em especifico, dos deveres
informativos do intermedirio financeiro
perceber a intrincada rede de proteco que o
legislador criou para proteger os clientes
investidores considerados como no qualificados,
em suma, o tpico cidado que tenta rentabilizar as
suas poupanas conseguidas ao longo de vrios
anos de trabalho e planeamento cuidado.
Por outro lado, o trajecto que propomos seguir
ir reflectir, tanto na argumentao, como na
anlise e tambm nas concluses tiradas, a
importncia que este tema merece na doutrina
actual civilstica. No mundo globalizado onde a
finana impera e onde os mercados de capitais
ditam leis no escritas, imprescindvel que os
instrumentos financeiros estema dotados de um
revestimento legal que consiga proteger a parte
mais fraca o cliente-investidor. No obstante este
objectivo imperial, iremos descobrir atravs da
nossa anlise que o profuso acervo legal de deveres
informativos a cabo do intermedirio financeiro
tambm tem como escopo a proteco do prprio
mercado, e a certeza que esto criadas condies
(*)
Relatrio de Mestrado Cientfico em Cincias Jurdicas
Especialidade de Direito Bancrio, sob a regncia de Professor Doutor
Janurio da Costa Gomes. Setembro de 2011.
para que a sociedade tenha confiana nos seus
agentes.
A primeira parte do trabalho ir debruar-se, de
forma genrica e breve, sobre os vrios contratos
de intermediao financeira que existem no regime
legal portugus. Tratar-se- de uma anlise aos seus
pontos principais de regime, com uma ateno
cuidada natureza jurdica que a doutrina
considera ser a mais justificada. Numa segunda
parte, iremos abordar e analisar o acervo normativo
que serve de base aos deveres informativos que
recaem sobre o intermedirio financeiro. Iremos
debruar-mo-nos sobre quem deve informar e
como deve informar, com uma especial ateno ao
contrato de gesto de carteira de ttulos. Por
ltimo, iremos analisar a responsabilidade do
intermedirio financeiro por violao dos deveres
legais de informao, em que moldes ela se
processa, quais as presunes existentes e quais as
consequncias. Na parte final iremos reflectir sobre
que tipo de responsabilidade est em causa e quais
as consequncias prticas na posio adoptada.
2 O Contrato de Intermediao Financeira
2.1 O Contrato de Intermediao
Financeira: em especial, os contratos de
investimento e os contratos auxiliares
A intermediao financeira
1
surge como uma
das actividades fulcrais inseridas no mercado de
1
Sobre a temtica da intermediao financeira, em geral vide,
ANTUNES, Jos A. Engrcia, Os Contratos de Intermediao
Financeira, in: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Volume LXXXV, Coimbra, 2007, pp. 277-319; ALMEIDA, Carlos
Ferreira de, Contratos II, Contedo, Contrato de Troca, Almedina, Coimbra,
2007; CMARA, Paulo, Manual de Direito dos Valores Mobilirios,
Almedina, Coimbra, 2007; FERREIRA, Amadeu Jos, Direito dos Valores
Mobilirios, AAFDL, Lisboa, 1997; GOMES, Ftima, Contratos de
Intermediao Financeira, Sumrio Alargado, in: Estudos dedicados ao
Prof. Doutor Mrio Jlio Almeida Costa, UCP Editora, Lisboa, 1 Edio,
2002, pp. 565-599; FARIA, Jos Manuel, Regulando a Actividade
Financeira: As Actividades de Intermediao Financeira Razes e
Critrios Gerais para a Compartimentao, in: AaVv, Caderno do
Mercado dos Valores Mobilirios, n. 15, Dezembro de 2002, pp. 1-24. Na
doutrina estrangeira, com particular enfoque sobre problemas
especficos dos contratos de intermediao financeira, vide, CAMUZZI,
Sergio Scotti, I Conflitti di Interessi fra Intermediari Finanziari e
Clienti nella Directiva MIFID, in: Banca Bolsa Titolo di Credito, Volume
LX, 2, Marzo-Aprile 2007, Giuffr Editore, 2007, pp. 121-132;
CASTALDI, Giovanni e FERRO-LUZZI, Paolo, La Nuova Legge Bancaria,
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
104
capitais e que permite, ao comum dos cidados,
aplicar as suas poupanas em produtos que visam
rentabilizar o investimento considerado. Regulado
pelo Cdigo dos Valores Mobilirios
2
, no seu
Ttulo VI, a intermediao financeira o
instrumento primordial, dentro do mercado de
capitais, para a reunio da oferta e da procura, com
o intuito de assegurar que o seu funcionamento
seja clere, eficaz e que transparea, para os seus
agentes, um sentimento de confiana
3
. No fundo,
estamos perante um ambiente onde as
disponibilidades monetrias circulam a uma
velocidade feroz, onde necessrio que as regras
sejam geis o suficiente para permitir aos seus
agentes uma desenvoltura que lhes permita reagir
atempadamente s oportunidades que surgem,
como tambm se exige que todos esses processos
estejam envoltos numa confiana extrema,
assegurada por um extenso acervo legal
4
.
Neste mbito os contratos de intermediao
financeira ganham uma particular importncia,
sendo o instrumento legal por excelncia onde se
encontram as vontades de quem procura investir e
de quem pretende possibilitar o investimento.
Tomo III, Giuffr Editore, 1996; MAFFEIS, Daniele, Intermediario
Contro Investitore: i Derivati Over the Counter, in: Banca Bolsa Titolo di
Credito, Volume LXIII, 6, Novembre-Dicembre 2010, Giuffr Editore,
2010, pp. 779-796; PERRONE, Andrea, Regole di Comportamento e
Tutele degli Investitori. Less is More, in: Banca Bolsa Titoli di Credito,
Volume LXIII, 5, Settembre-Ottobre 2010, Giuffr Editore, 2010;
PERRONE, Andrea, Gli Obblighi di Informazione nella Prestazione dei
Servizi di Investimenti, in: Banca Bolsa Titoli di Credito, Volume LIX, 4,
Luglio-Agosto 2006, Giuffr Editore, 2006, pp. 372-387; VIGO,
Ruggero, La Reticenza dellIntermediario nei Contrati Relativi alla
Prestazione di Servizio dInvestimento, in: Banca Bolsa Titolo di Credito,
Volume LVIII, 6, Novembre-Dicembre 2005, Giuffr Editore, 2005, pp.
665-674; POSER, Norman e FANTO, James, Broker-Dealer Law and
Regulation, 4 Edio, Aspen, New York, 2007.
2
Aprovado pelo Decreto-Lei n. 486/99, de 13 de Novembro e
republicado pelo Decreto-Lei n. 357-A/2007, de 31 de Outubro.
Alterado ainda pelos Decretos-Lei n. 61/2002, de 20 de Maro, n.
38/2003, de 8 de Maro, n. 107/2003, de 4 de Junho, n. 183/2003, de
19 de Agosto, n. 66/2004, de 24 de Maro, n 52/2006, de 15 de
Maro, n. 219/2006, de 2 de Novembro, n. 357-A/2007, de 31 de
Outubro e n 211-A/2008, de 3 de Novembro, pela Lei n. 28/2009, de
19 de Junho, pelo Decreto-Lei n. 185/2009, de 12 de Agosto,
pelo Decreto-Lei n. 49/2010, de 19 de Maio, pelo Decreto-Lei n.
52/2010, de 26 de Maio e pelo Decreto-Lei n. 71/2010, de 18 de Junho.
3
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 280.
4
Sobre uma perspectiva que envolve a dinmica do mercado de
capitais e como se concatena com os contratos de intermediao
financeira e que, por motivos de economia de espao, no podemos aqui
reproduzir, vide, por todos, ANTUNES, Jos Engrcia, ob.cit., pp. 278 e
segs.
Aqui, o papel do intermedirio financeiro
5
ganha
uma especial acuidade, sendo ele o middle man
que ir concatenar as vontades e ir prosseguir a
vontade do cliente-investidor. com este escopo
que iremos analisar, nos pontos subsequentes, os
vrios contratos de intermediao que esto
presentes no Cdigo dos Valores Mobilirios,
doravante, CVM.
Segundo ENGRCIA ANTUNES, posio que
adoptamos por completo, os contratos de
intermediao financeira so os () negcios
jurdicos celebrados entre um intermedirio
financeiro
6
e um cliente (investidor) relativos
prestao de actividades de intermediao
financeira.
7
. Nos termos do art. 289., n. 1 do
CVM
8
, a intermediao financeira est dividada
em trs grandes ncleos: o investimento em
instrumentos financeiros; o auxlio s actividades
referidas anteriormente; e a gerncia de instituies
que tenham a actividade de realizar investimentos
colectivos, e, ao mesmo tempo, o depsito dos
valores mobilirios que fazem parte do patrimnio
dessas instituies de investimento colectivo.
Em termos gerais, podemos considerar que os
contratos de intermediao financeira se englobam
numa categoria contratual autnoma. No s assim
se conclui porque estamos perante contratos
indispensveis para que o funcionamento dos
mercados financeiros seja eficiente, como tambm
5
Sobre o papel do intermedirio financeiro, e em moldes mais gerais,
sobre a sua figura, vide, por todos, LEITO, Lus Manuel Teles de
Menezes, Actividades de Intermediao e Responsabilidade dos
Intermedirios Financeiros, in: Direito dos Valores Mobilirios, Volume II,
Coimbra, 2000, pp. 129-156; MARTINS, Fazenda, Deveres dos
Intermedirios Financeiros, em especial, os Deveres para com os
Clientes e o Mercado, in: AaVv, Cadernos do Mercado dos Valores
Mobilirios, n. 7, Abril de 2000, pp. 328-348; NUNES, Fernanda
Conceio, Os Intermedirios Financeiros, in: Direito dos Valores
Mobilirios, Volume II, 2000, pp. 91-128.
6
Sobre quem pode ser intermedirio financeiro na legislao
portuguesa, vide, art. 293. do CVM.
7
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 281.
8
Nos termos do art. 289., n. 1 do CVM: So actividades de
intermediao financeira: a) Os servios e actividades de investimento em
instrumentos financeiros; b) Os servios auxiliares dos servios e actividades de
investimento; c) A gesto de instituies de investimento colectivo e o exerccio das
funes de depositrio dos valores mobilirios que integram o patrimnio dessas
instituies.. Pormenor importante aquele que se pode encontrar no
art. 289., n. 2 do CVM, ao determinar a exclusividade de exerccio das
actividades de intermediao financeira apenas aos intermedirios
financeiros.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
105
a sua anlise apenas poder ser possvel se for feita
de molde a integrar a actividade em causa, pois o
seu ncleo
9
. Na opinio de RUI PINTO DUARTE,
estaremos perante uma categoria jurdica aberta,
onde os tipos contratuais que o legislador previu
no abarcam toda a multiplicidade de contratos de
investimento que a prtica financeira reconhece
10
.
No obstante os vrios contratos que o CVM
prev no Captulo II do Ttulo VI, podemos
determinar a existncia de regras comuns a todos
eles. Desde logo, na esteira de ENGRCIA
ANTUNES, estaremos perante verdadeiros
contratos comerciais
11
. No que toca aos seus
sujeitos, todos eles devem ser celebrados entre um
intermedirio financeiro, luz do entendimento do
art. 289., n. 2 do CVM
12
, e investidores, tambm
denominados de clientes, que podem ser
classificados de qualificados ou no qualificados,
luz do art. 30. do CVM
13
. No que toca ao seu
objecto, podemos considerar que os contratos de
intermediao financeira tm, no seu ncleo
essencial, a regulao contratual de () veculos
instrumentais do exerccio da intermediao
financeira(), em que, de forma imediata,
pretendem prosseguir a () prestao de servios
de intermediao()
14
, e de forma mediata,
9
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 282; ALMEIDA, Jos
Queirs de, Contratos de Intermediao Financeira Enquanto
Categoria Jurdica, in: AaVv, Caderno do Mercado dos Valores Mobilirios,
n. 24, Novembro de 2006, pp. 292; e GOMES, Ftima, ob.cit., 566 e segs.
10
Cfr., DUARTE, Rui Pinto, Contratos de Intermediao Financeira
no Cdigo dos Valores Mobilirios, in: AaVv, Caderno do Mercado dos
Valores Mobilirios, n. 7, Abril de 2000, pp. 351-372.
11
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 282. Segundo o Autor,
esta posio encontra-se fundamentada por duas ordens de razes: por
um lado, atravs de um fundamento histrico pois os contratos de
intermediao financeira tero a sua origem nas operaes de bolsa,
previstas pelos arts.351. a 361. do Cdigo Comecial; e, por outro lado,
aduz o facto de os contratos de intermediao representarem uma
modalidade de contratos de empresa, ao serem realizados apenas por
colectividades constitudas como instituies de crdito, luz do art. 2.
do Regime Geral das Instituies de Crdito, empresas de investimento,
ou sociedades gestoras de fundos de investimento mobilirio,
respectivamente, reguladas pelo art. 293., n. 2 do CVM e art. 29. do
Regime Jurdico dos Organismos de Investimento Colectivo.
12
Sem prejuzo de o intermedirio financeiro poder ser representado
por um agente vinculado, nos termos dos arts. 292., b), 294.-A a 294.-D
do CVM.
13
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 283.
14
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 284. A questo da
natureza jurdica do contrato de intermediao financeira
controvertida, merecendo apenas da nossa parte, no sendo o escopo do
nosso trabalho, uma mera referncia. Na esteira de Engrcia Antunes,
ob.cit., pp. 284, estaremos perante contratos de prestao de servios,
pretendem abranger no s aquilo que se considera
como os tpicos valores moblirios
15
, como
tambm os novos produtos surgidos atravs dos
mercados. J quanto ao contedo e negociao
deste tipo de contratos, parece-nos de especial
importncia a distino que ENGRCIA
ANTUNES opera entre contratos de mercado
organizado e contratos de mercado de balco, em
que nos primeiros existem clusulas contratuais
gerais e nos seguros existe uma individualizao na
sua formao e concluso
16
. Por ltimo, uma breve
palavra sobre as regras comuns no que toca
disciplina jurdica que esto subordinados. Assim,
encontramos semelhanas nos diversos deveres
gerais que recaem sobre os intermedirios
financeiros, num acervo legal extenso
17
. Ademais,
indispensvel a forma escrita para os contratos que
sejam celebrados com investidores no
qualificados, luz dos arts. 4. e 321., n. 1 do
CVM; a existncia de um contedo mnimo
contratual nos termos do art.321.-A do CVM; e,
considerando-os de uma forma lata e apenas quanto ao seu objecto
imediato. J Ftima Gomes, ob.cit., pp. 569 e 570, afirma que estamos
perante contratos de prestao de servios, que so reconduzveis ao
subtipo do mandato. No entendimento de Carlos Ferreira de Almeida,
no seu escrito As Transaces de Conta Alheia no mbito da
Intermediao no Mercado de Valores Mobilirios, in: AaVv, Direito dos
Valores Mobilirios, Lex, Lisboa, 1997, pp. 294 e segs., deve-se proceder a
uma diviso em negcios jurdicos de cobertura e negcios jurdicos de execuo,
respectivamente, os negcios celebrados entre o intermedirio
financeiro e o cliente, em que este confere ao primeiro poderes para
celebrar negcios jurdicos de execuo encontrando aqui o mandato,
e os negcios celebrados pelos intermedirios, por conta dos clientes
que anteriormente lhe tenham conferido os poderes necessrios, para
adquirir ou alienar valores mobilirios. Para um maior detalhe da sua
posio que, por economia de espao aqui no podemos reproduzir, cfr.,
ALMEIDA, Carlos Ferreira, ibidem, pp. 296-303. Por ltimo, na opinio
de Rui Pinto Duarte, ob.cit., pp. 291-307, estamos perante contratos de
prestao de servios que, dependendo do subtipo em causa, se iro
reconduzir a figuras especficas da prestao de servios. No nosso
entendimento, consideramos que estamos perante, em termos gerais e
sem entrar nos detalhes especficos de cada contrato de intermediao,
uma prestao de servios que pode ser reconduzida ao mandato,
seguindo a diviso de Carlos Ferreira de Almeida em negcios de
cobertura e negcios de execuo.
15
Aqui referimo-nos s aces, obrigaes, entre outras.
16
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 284-285. Nas suas
palavras, Os contratos de mercado organizado () correspondem a contratos
padronizados (assentes em condies contratuais gerais elaboradas pela entidade
gestora do mercado e aprovadas pelas autoridades de superviso), de estrutura
plurilateral complexa () e negociados de forma massificada(). J os
contratos de mercado de balco consistem em () contratos
individualizados (adaptados s necessidades especficas do investidor, o que no
exclui a normalizao mnima das suas condies), de estrutura tipicamente
bilateral e negociados caso a caso ().
17
Para uma perspectiva mais geral sobre os deveres que recaem sobre
os intermedirios financeiros, nas suas variadas perspectivas, vide, por
todos, SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, A Responsabilidade Civil do
Intermedirio Financeiro Perante o Cliente, Almedina, Coimbra, 2008.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
106
last but not least, prev-se a possibilidade da
existncia de contratos de adeso, subordinados ao
regime da Lei das Clusulas Contratuais Gerais,
por fora do art. 321., n.
os
2 a 4 do CVM.
A lei, nos arts. 290. e 291., procede diviso
entre contratos de investimento e contratos
auxiliares, que ir ser utilizada na nossa anlise
breve e sumria s suas caractersticas interiores.
Deste modo, nos contratos de investimento,
iremos debruar-mo-nos sobre o contrato de
ordens para realizao de operaes sobre
instrumentos financeiros, o contrato de colocao e
tomada firme, o contrato de gesto de carteiras e o
contrato de consultoria para investimento. Nos
contratos auxiliares iremos falar sobre o contrato
de prestao de servios, o contrato de assistncia, o
contrato de recolha de intenes de investimento, o
contrato de registo e depsito, o contrato de
emprstimo, o contrato de consultoria empresarial e
o contrato de anlise financeira.
2.1.1. Os Contratos de Investimento
Os contratos de investimento tm como
escopo a prestao de servios na rea do
investimento em instrumentos financeiros, luz do
art. 290. do CVM, incluindo os seguintes
subtipos:
Contrato relativo a ordens para a
realizao de operaes sobre instrumentos
financeiros, regulado pelos arts. 325. a 334. do
CVM;
Contrato de colocao e tomada firme,
regulados pelos arts. 338. e 340. a 342. do
CVM, e art. 339. do CVM, respectivamente;
Contrato de gesto de carteira de ttulos,
regulado nos arts. 335. e 336. do CVM;
Contrato de consultoria para investimento,
regulado pelos arts. 294., 301. e 320. do CVM,
e ainda o Decreto-Lei n. 357-B/2007, de 31 de
Outubro de 2007;
2.1.1.1. Contrato de Ordens para Realizao
de Operaes sobre Instrumentos Financeiros
Segundo ENGRCIA ANTUNES, o contrato
de ordens para a realizao de operaes sobre
instrumentos financeiros consiste em declaraes
negociais com o objectivo de celebrar contratos
que podem ser de comisso, mandato ou
mediao, entre um intermedirio financeiro
legalmente habilitado e um cliente. O propsito
est na realizao de negcios que abarquem os
valores mobilirios em causa
18
, e est regulado nos
arts. 325. a 334. do CVM.
A execuo das ordens que o intermedrio
recebe a partir do seu cliente que pretende investir,
no s constituti o elemento fundamental para o
funcionamento de todo o mecanismo legal e
financeiro, como pode ser efectuada de duas
formas: ou por conta alheia do cliente, com base
nos art. 290., n. 1, a) e b) do CVM, ou por conta
prpria tornando-se na contraparte, nos termos dos
arts. 290., n. 1, e) e 346. do CVM
19
. Se a
execuo for efectuada por conta alheia do cliente,
pode-se falar de negcios de cobertura e negcios
de execuo, em que, no primeiro caso, o negcio
celebrado entre o intermedirio e o cliente para
que aquele possa celebrar os negcios de
execuo
20
.
No que toca ao seu regime legal, como j foi
referido, encontra-se regulado nos arts. 325. a
18
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 288. Para uma
perspectiva mais concreta, cfr., FERREIRA, Amadeu Jos, Ordem de
Bolsa, in: Revista da Ordem dos Advogados, Ano 52, Julho de 1992,
Lisboa, pp. 467-511.
19
Cfr., ALMEIDA, Carlos Ferreira de, ibidem , pp. 293 e 294.
Nomeadamente sobre as operaes por conta alheia, cfr., pp. 294 e segs.
20
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 288-289.
Nomeadamente, nos negcios de cobertura o cliente confere poderes ao
intermedirio para celebrar os negcios de execuo, sendo estes aqueles
para adquirir, alienar ou celebrar outros negcios sobre instrumentos
financeiros. Para esta distino, cfr., ALMEIDA, Carlos Ferreira de,
ibidem, pp. 293 e segs. Sobre se a atribuio de poderes por parte do
cliente ao intermedirio se reveste de um mandato representativo ou
no representativo, que escapa ao escopo do nosso trabalho, vide, por
todos, ALMEIDA, Carlos Ferreira de, ibidem, pp. 296 e segs.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
107
334. do CVM. Entre os seus mais variados
aspectos, parece-nos de salientar os seguintes
aspectos, como os mais emblemticos: a
possibilidade de as ordens poderem ser
transmitidas por via oral ou de forma escrita, nos
termos do art. 327., n. 1 do CVM; a existncia
de um dever de aceitao, por parte do
intermedirio, das ordens recebidas, no obstante
tendo ainda o dever de recusar segundo os trmites
do art. 326. do CVM; a possibilidade de o cliente
poder revogar ou modificar as ordens dadas por si,
segundo as regras prescritas pelo art. 329. do
CVM; a existncia de uma obrigao del credere,
em que o intermedirio financeiro garante o
cumprimento das obrigaes assumidas, nos
termos do art. 334. do CVM; e, por ltimo, o
cumprimento das ordens est balizada pelo
princpio legal de execuo das melhores
condies, nos termos dos arts. 330. a 333. do
CVM
21
.
No que toca natureza jurdica deste contrato
de intermediao financeira, ENGRCIA
ANTUNES defende que, nos negcios de
cobertura, se estar perante um contrato de
comisso, que regido pelas normas do CVM j
referidas anteriormente, e, de forma subsidiria,
pelas regras gerais do contrato de comisso
22
presentes nos arts. 266. e segs do Cdigo
Comercial, e ainda pelas normas do mandato no
representativo
23
, presente nos arts. 1178. e segs.
do Cdigo Civil
2425
.
21
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 291 e GOMES, Ftima,
ob.cit., pp. 582-585.
22
Sobre o contrato de comisso, vide, por todos, CORDEIRO,
Antnio de Menezes, Manual de Direito Comercial, 1 Edio ,Volume I,
Almedina, Coimbra, 2001, pp. 488-489.
23
Sobre o mandato no representativo, vide, por todos, LEITO, Lus
Manuel Teles de Menezes, Direito das Obrigaes, Volume III, Contratos em
Especial, 6 Edio, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 457 a 464.
24
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 289. Para uma posio
mais aprofundada sobre este ponto, cfr., FERREIRA, Carlos Ferreira de,
ibidem., pp. 294 e segs., e FERREIRA, Amadeu Jos, ibidem, pp. 467-511.
25
Segundo Engrcia Antunes, ainda deve ser feita uma especificao
no que toca recepo e transmisso de ordens por conta alheia,
situao prevista pelo art. 290., n. 1, a) do CVM. Aqui, o Autor entende
que se est perante um mandato comercial, que tanto pode ou no ter
poderes de representao; podendo ainda ser configurado como um
contrato de mediao, nos termos do art.290., n. 2 do CVM.
2.1.1.2. Contrato de Colocao e Tomada
Firme
Nos contratos de colocao, o intermedirio
financeiro fica obrigado, perante o cliente, numa
oferta pblica de distribuio, a colocar especficos
instrumentos financeiros
26
. Regulado pelos arts.
338. a 340. do CVM, podemos encontrar trs
momentos distintos dentro do tipo contratual,
entendido no seu sentido amplo: um, entre o
intermedirio financeiro e o emitente; outro, entre
os vrios intermedirios financeiros que estejam
unidos atravs de consrcio; e, por ltimo, entre o
intermedirio financeiro e o cliente-investidor.
Numa acepo mais restrita, iremos referimo-nos
apenas ao contrato celebrado entre o intermedirio
financeiro e o emitente, e tambm, as relaes
existentes com os investidores, sendo este o
regulado pelos arts. 338. a 340. do CVM
27
.
Dentro deste contrato podemos descortinar trs
modalidades: a colocao simples, a colocao com
garantia, e a colocao com tomada firme. Na
colocao simples, o intermedirio financeiro
apenas assume a obrigao de envidar os melhores
esforos de forma a que os valores mobilirios
sejam distribudos, tratando-se apenas de uma
obrigao de meios onde o intermedirio no tem
qualquer tipo de responsabilidade pelo resultado, e
regulada pelo art. 338., n. 1 do CVM
28
. Na
colocao com garantia, regulada pelo art. 340. do
CVM, para alm da obrigao de meios da
colocao simples, obriga-se a adquirir, para si ou
para terceiro, parte ou mesmo a totalidade dos
valores mobilirios que o pblico no tenha
26
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 292 e segs e GOMES,
Ftima, ob.cit., pp. 590 e segs. Para uma perspectiva mais especfica, cfr.,
BARROSO, H. Tapp, Subscrio de Aces atravs de Intermedirios O Caso
Especial da Tomada Firme, diss., UCP, Lisboa, 1994.
27
Cfr., GOMES, Ftima, ob.cit., pp. 591-592. A Autora especifica que,
nesta acepo ampla referida, o segundo momento refere-se ao disposto
no art.341. do CVM.
28
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 293 e GOMES, Ftima,
ob.cit., pp. 593. De referir que, nesta modalidade, o risco corre, por
completo, por conta do emitente.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
108
subscrito
29
. Na colocao com tomada firme,
regulada pelo art. 339., n. 1 do CVM, o
intermedirio financeiro fica obrigado a subscrever
e a adquirir os valores mobilirios para que,
posteriormente, possa ser ele a coloc-los junto do
pblico
30
.
No que toca natureza jurdica, segundo RUI
PINTO DUARTE, estaremos perante um contrato
com uma natureza mista, englobando elementos
do contrato de prestao de servios e () um
negcio que se insere num processo de distribuio de
valores mobilirios, dele resultando a obrigao de
aquisio dos valores por parte do intermedirio
financeiro e a obrigao de alienao dos mesmos
valores por parte do oferente.
31
.
2.1.1.3. Contrato de Gesto de Carteira
O contrato de gesto de carteiras surge como
um dos contratos nucleares e fundamentais dentro
da intermediao financeira. Regulado pelos
arts.335. e 336. do CVM, o contrato pelo qual
um intermedirio financeiro o gestor se obriga
perante o cliente a administrar um patrimnio
financeiro que este ltimo titular com o
objectivo de incrementar a sua rentabilidade, em
troca de uma remunerao paga pelo segundo ao
primeiro
32
.
29
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 293 e GOMES, Ftima,
ob.cit., pp. 593-594. Nesta modalidade o intermedirio financeiro j
assume o risco da emisso, que ir variar em funo do alcance da
garantia e da percentagem dos valores mobilirios no subscritos.
30
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 293 e GOMES, Ftima,
ob.cit., pp. 594. Neste subtipo contratual, a colocao, pelo
intermedirio, feita por sua prpria conta e risco, nos termos
acordados com o emitente. Ademais, obriga-se tambm a transferir para
o ltimo adquirente os direitos de molde patrimonial ligados aos
valores mobilirios, () respeitando os direitos de preferncia na subscrio
ou aquisio dos destinatrios a quem os valores mobilirios sero oferecidos,
como se no tivesse existido tomada firme., cfr., GOMES, Ftima, ob.cit., pp.
594. O intermedirio tambm assume o risco de emisso e, ao contrrio
do que acontece na colocao com garantia, adquire os valores
mobilirios antes da colocao per si. No que toca titularidade,
segundo Engrcia Antunes, esta ser directa e no fiduciria, cfr., ob.cit.,
pp. 293, nota 43. Com uma posio contrria, cfr., ALBUQUERQUE,
Pedro de, O Direito de Preferncia dos Scios em Aumentos de Capital nas
Sociedades Annimas e por Quotas, Almedina, Coimbra, 1993.
31
Cfr., DUARTE, Rui Pinto, ob.cit., pp. 370. Para uma perspectiva
diversa, cfr., BARROSO, H. Tapp, ob.cit., e GOMES, Ftima, ob.cit., pp.
594.
32
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 295 e segs, e GOMES,
Ftima, ob.cit., pp. 585 e segs. Para alm destes autores, para uma
perspectiva mais aprofundada sobre este subtipo contratual, vide,
Nos termos do art.332., n. 1, a) CVM, a
obrigao principal do intermedirio financeiro,
como gestor, realizar todos os actos necessrios
com vista valorizao da carteira e,
secundariamente, exercer os direitos inerentes aos
valores mobilirios que integram a carteira. Como
facilmente se pode constatar, o intermedirio
financeiro obriga-se a gerir, da melhor forma
possvel, um portfolio de activos financeiros que o
cliente, pelas mais variadas razes, se encontra
impossibilitado de o fazer
33
. No entendimento de
RUI PINTO DUARTE, esta actividade includa na
gesto de carteira devia ser individualizada e
discricionria, com uma autonomia durante o
exerccio da gesto, sem esquecer a limitao
constante das ordens vinculativas presentes no art.
334. do CVM
34
.
No que toca ao seu regime jurdico, apenas
breves notas para dar uma breve luz sobre as suas
regras. O contrato de gesto de carteiras deve ser
celebrado por escrito, nos termos do art. 321., n.
1 do CVM
35
, e deve ser celebrado entre um
intermedirio financeiro e um investidor, sendo
este, por regra, no qualificado, e que tem um
conjunto de activos financeiros que pretende ver
valorizado. O contrato tem como objectivo
desenvolver uma actividade de administrao de
bens alheios, com o intermedirio financeiro a
desenvolv-la por conta e no interesse do cliente
que, nos termos do art. 335., n. 1 do CVM,
incide sobre uma carteira individualizada de
instrumentos financeiros. Este contrato tem uma
AFONSO, A. Isabel, O Contrato de Gesto de Carteiras: Deveres e
Responsabilidades do Intermedirio Financeiro , in: AaVv, Jornadas
Sociedades Abertas, Valores Mobilirios e Intermediao Financeira, Almedina,
Coimbra, 2007, pp. 55-86; GONZALLEZ, P. Boullosa, Gesto de
Carteiras Deveres de Informao, Anotao Sentena da 5 Vara
Civel da Comarca do Porto, 3 Seco, Processo n. 2261/05.0TVPRT,
in: AaVv, Caderno do Mercado dos Valores Mobilirios, n. 30, Agosto de
2008, pp. 147-166; MASCARENHAS, Maria Vaz de, O Contrato de
Gesto de Carteiras: Natureza, Contedo e Deveres Anotao a
Acrdo do Supremo Tribunal de Justia, in: AaVv, Cadernos do Mercado
dos Valores Mobilirios, n. 13, Abril de 2002, pp. 109-128.
33
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 295-296 e GOMES,
Ftima, ob.cit., pp. 585-586.
34
Cfr., DUARTE, Rui Pinto, ob.cit., pp. 366-367.
35
Nos termos do n. 4 do mesmo artigo, as clusulas contratuais
gerais deste contrato de adeso devem ser previamente comunicadas
CMVM.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
109
mriade de direitos e deveres que ambas as partes
devem respeitar, destacando-se o dever do gestor
de uma execuo diligente da gesto, nos termos
do art. 335., n. 1 do CVM, sendo uma obrigao
de meios; e, do lado do cliente, o dever de pagar a
retribuio devida pelo servio que o gestor
presta
36
.
Por ltimo, uma breve palavra sobre a natureza
jurdica deste contrato. Segundo ENGRCIA
ANTUNES, estamos perante um mandato
mercantil
37
, que, regra geral, ter poderes de
representao, actuando o intermedirio em nome
do cliente
38
. J MARIA VAZ MASCARENHAS,
defende que estamos perante um contrato de
mandato, nos termos gerais do art.1157. CC
39
. Na
mesma esteira segue RUI PINTO DUARTE, ao
reconduzir este contrato figura da prestao de
servios, de forma geral, e figura do mandato, em
termos particulares
40
. Parece-nos ser a posio mais
acertada e aquela que perfilhamos, e que mais
consentnea se mostra com as caractersticas
internas do funcionamento deste subtipo
contratual.
36
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 296-299 e GOMES,
Ftima, ob.cit., pp. 585-589.
37
Sobre a figura do mandato mercantil, vide, por todos, CORDEIRO,
Antnio de Menezes, ibidem, pp. 483-489; ANTUNES, Jos A. Engrcia,
Direito dos Contratos Comerciais, 1 Edio, Almedina, Coimbra, 2009, pp.
363-368; LEITO, Lus Manuel Teles de Menezes, ibidem, pp. 464-468.
Em especial, com especial ateno para o contrato de intermediao
financeira e como contributo para a reconduo da gesto de carteiras
para o mandato bancrio, cfr., VASCONCELOS, Pedro de Pais,
Mandato Bancrio, in: AaVv, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor
Inocncio Galvo Telles, Volume II Direito Bancrio, Almedina,
Coimbra, 2002, pp. 131-155, em especial, pp. 149 e segs.
38
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 296. O Autor
argumenta que esta soluo tem uma consagrao legal expressa nos
arts. 199.-A, n. 1, d) e 1., n. 3, respectivamente, do Regime Geral das
Instituies de Crdito e do Decreto-Lei n. 163/94, de 4 de Junho de
1994. No seu entender, no se pode reconduzir esta figura ao contrato
de comisso, pois na gesto de carteiras, ao invs do que acontece na
comisso, institui-se uma relao jurdica duradoura, () que
desempenha uma funo econmico-social especfica (), em que no existe
uma prtica de actos de comrcio delimitados, mas sim a prtica de
vrios actos que viso aumentar a rentabilidade da carteira de activos.
Prtica essa que feita com uma verdadeira e extensa autonomia por
parte do intermedirio financeiro.
39
Cfr., MASCARENHAS, M. Vaz, ob.cit., pp. 122-123. A Autora cita os
mesmos argumentos legais que Engrcia Antunes, no obstante,
reconduz ao mandato comercial, citando a argumentao de Carlos
Ferreira de Almeida, pois estamos perante a prtica de actos de
comrcio.
40
Cfr., DUARTE, Rui Pinto, ob.cit., pp. 367-368. Adverte, porm, o
Autor de que pode haver casos em que a prtica dos actos jurdicos por
conta do cliente ultrapassam, de forma flagrante, as obrigaes
acordadas com o cliente. Neste caso, defende o Autor de que no
estaremos perante () meros mandatos..
2.1.1.4. Contrato de Consultoria para
Investimento
O contrato de consultoria para investimento
41
encontra-se, genericamente, regulado pelo art.
294. do CVM. Dispe esta norma que a
consultoria para investimento consiste na ()
prestao de um aconselhamento personalizado a um
cliente, na sua qualidade de investidor efectivo ou
potencial, quer a pedido deste quer por iniciativa do
consultor relativamente a transaces respeitantes a
valores mobilirios ou a outros instrumentos
financeiros.. Esta prestao de aconselhamento
personalizado feita mediante remunerao
42
.
Esta regulao genrica presente no art. 294.
do CVM, outras diposies avulsas podem ser
encontradas e que complementam o seu regime
jurdico. Falamos do art. 301. do CVM, sobre os
sujeitos habilitados para exercer consultoria para
investimento; do art. 314.-A do CVM, sobre os
deveres especficos de informao neste subtipo
contratual; e do art. 320. do CVM, no que toca
aos regulamentos necessrios para a regulao da
actividade de consultor para investimento.
No que toca ao seu regime jurdico, importa
salientar que o contrato de consultoria para
investimento foge regra no que toca aos seus
sujeitos, isto , para alm dos intermedirios
financeiros, tambm os consultores para
investimento podem celebr-lo, nos termos do art.
294., n. 4 do CVM. J quanto ao seu objecto, a
consultoria para investimento ir abranger as
modalidades previstas pelo art. 485. do Cdigo
Civil. As informaes, recomendaes ou
conselhos devem ser efectuados numa base
41
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 299 e segs; GOMES,
Ftima, ob.cit., pp. 596-597; VALE, Alexandre Lucena e, Consultoria
para Investimento em Valores Mobilirios, in: AaVv, Caderno do Mercado
dos Valores Mobilirios, Volume V, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp.
343-403.
42
Segundo Engrcia Antunes, estaremos perante um contrato de
prestao de servios, de indole profissional com vista a aconselhar no
mbito do mercado de capitais e que se distingue de outras figuras
afins, tais como sejam a gesto de carteira, a mediao de investimento,
a anlise financeira e a consultoria empresarial. Cfr., ANTUNES, Jos A.
Engrcia, ob.cit., pp. 299-300.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
110
individualizada, em vista a ajudar o cliente a tomar
decises sobre investimentos ou desinvestimentos
em instrumentos financeiros. Por ltimo, para alm
dos deveres gerais dos intermedirios financeiros, a
que tambm esto sujeitos, os consultores para
investimento tm ainda deveres especiais de
informao
43
.
2.1.1.5. Negcios por Conta Prpria
Segundo ENGRCIA ANTUNES, estamos
perante () negcios sobre instrumentos
financeiros, mormente contratos, que so concludos
por um intermedirio financeiro como contraparte de
um seu cliente.
44
. O Autor distingue entre duas
realidades: o intermedirio financeiro actuar por
conta do cliente demoninado-se broker ou o
intermedirio actuar por sua conta e risco
denominando-se dealer
45
.
Nos negcios por conta prpria, o intermedirio
surge como a () contraparte nos negcios sobre
instrumentos financeiros dos seus prprios clientes.,
ademais, existe um cruzamento de ordens, da
parte dos clientes, com a carteira individual do
intermedirio
46
. Previsto, de forma genrica, pelo
art. 346. do CVM, obrigatria a autorizao, por
escrito do cliente, para que haja uma autorizao
ou confirmao do negcio. Deste modo, os
deveres de informao a que est o intermedirio
financeiro adstrito, para alm de os gerais
constantes dos arts. 312.-C e segs., tambm
englobam normas especficas presentes no art.
350.-A do CVM
47
.
43
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 300-301 e GOMES,
Ftima, ob.cit., pp. 597.
44
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 302, com indicaes
bibliogrficas estrangeiras.
45
No primeiro caso, os riscos, e tambm, os beneficios dos negcios
so repercutidos na esfera jurdica dos clientes, tendo o intermedirio
uma funo de mediao. No segundo caso, os efeitos jurdicos
repercutem-se na esfera jurdica do intermedirio. Cfr., ANTUNES, Jos
A. Engrcia, ob.cit., pp. 302, com indicaes bibliogrficas nacionais mais
especficas.
46
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 302.
47
Cfr., ANTUNES, Jos. A. Engrcia, ob.cit., pp. 303-304.
2.1.2. Contratos Auxiliares
Nos termos do art.291. do CVM, os contratos
auxiliares so aqueles que tm por objecto a
prestao de servios auxiliares dos contratos de
investimento. Dentro desta categoria, podemos
encontrar os seguintes subtipos contratuais:
Contrato de assistncia, regulado pelo art.
337. do CVM;
Contrato de Recolha de Intenes de
Investimento, regulado pelo art. 342. do CVM;
Contrato de Registo e Depsito, regulado
pelo art. 343. do CVM;
Contrato de emprstimo, regulado pelo
art. 350. do CVM;
Contrato de Consultoria Empresarial,
regulado pelo art. 291., d) do CVM;
Contrato de Anlise Financeira, regulado
pelos arts. 12.-A e segs e 304.-D do CVM;
2.1.2.1. Contrato de Assistncia
Nos termos do art. 337. do CVM, o contrato
de assistncia consiste no negcio celebrado entre
o intermedirio e um oferente, onde se visa a
prestao de servios de ndole tcnica, econmica
e financeira, de molde a preparar, lanar e executar
uma oferta pblica de instrumentos financeiros
48
.
A celebrao deste contrato obrigatria
sempre que se pretenda efectuar algum dos
servios constantes do art. 337., n. 2 do CVM.
Existe, portanto, um princpio geral de
intermediao financeira obrigatria, sem esquecer,
contudo, que, apesar de o contrato de colocao e
o contrato de assistncia terem sido
autonomizados pelo legislador, a sua
complementaridade funcional continua intacta
49
.
48
Sobre esta figura contratual, vide, ANTUNES, Jos A. Engrcia,
ob.cit., pp. 306 e segs e GOMES, Ftima, ob.cit., pp. 589 e segs.
49
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 307.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
111
Os deveres do intermedirio financeiro surgem,
nesta sede, com particular veemncia. Assim, o
intermedirio est adstrito a um dever geral de
aconselhamento, nos termos do art. 149., n. 1, g)
do CVM, e, nos termos do art. 337., n. 3 do
CVM, o intermedirio est obrigado a assegurar o
cumprimento e o respeito de todas as normas
legais e regulamentares, especialmente no que toca
maneira e qualidade da informao
disponibilizada
50
.
2.1.2.2. Contrato de Recolha de Intenes de
Investimento
O contrato de recolha de intenes de
investimento, regulado genericamente nos arts.
164. e segs. do CVM, mas com densificao no
art. 342. do CVM, o negcio pelo qual se visa
determinar a viabilidade sucesso ou insucesso
de determinada oferta pblica de distribuio de
valores mobilirios. Recolha essa efectuada atravs
de sondagens no mercado sobre as intenes dos
seus agentes na aquisio dos valores mobilirios
em questo
51
.
No entendimento de ENGRCIA ANTUNES,
estamos perante () uma mera conveno
acessria integrante de um contrato de assistncia ou
de colocao, cuja qualificao e regime jurdico so
assim, em ltimo termo, determinados
remissivamente por estes ltimos.
52
. J segundo
FTIMA GOMES, estamos perante apenas
intenes de adeso e nunca propostas ou
aceitaes contratuais
53
. Segundo FTIMA
GOMES, esta recolha de intenes est
enquadrada no contrato de assistncia e colocao
providenciado pelo intermedirio financeiro, nos
termos do art. 337., n. 2 do CVM, sendo que o
segundo contrato poder ser realizado pelo mesmo
50
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 307-308.
51
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 308 e, com mais
detalhe, GOMES, Ftima, ob.cit., pp. 594-595.
52
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 308.
53
Cfr., GOMES, Ftima, ob.cit., pp. 594.
intermedirio ou por outro diferente, em
cumprimento do disposto dos arts. 338., n. 2 e
341. do CVM. No existe um concreto contrato
autnomo para a recolha destas informaes,
sendo uma clsula do contrato de assistncia e
colocao
54
.
2.1.2.3. Contrato de Registo e Depsito
Nas palavras de ENGRCIA ANTUNES,
estamos perante um () contrato celebrado entre
um intermedirio financeiro e o titular de
determinados instrumentos financeiros, pelo qual
aquele se obriga perante este a registar e/ou a manter
em depsito tais instrumentos, bem assim como a
prestar determinados servios relativos aos direitos a
eles inerentes.
55
.
Este contrato est sujeito forma escrita, caso o
titular dos valores mobilirios seja um investidor
no qualificado
56
, sendo que falta deste elemento
comina o negcio com a nulidade
57
. Por outro
lado, existe obrigaes de ndole geral constantes
dos arts. 304. e segs. do CVM, e outros de ndole
particular, como sejam os deveres constantes do
art. 306.-A do CVM. Nos termos do art. 343.,
n.1 do CVM, pode-se concluir, na esteira de
ENGRCIA ANTUNES, que as partes tm uma
ampla liberdade para comporem o contrato da
forma como por bem acharem e que sirva melhor
os seus interesses
58
.
O depsito dos valores mobilirios pode
assumir duas feies: ou temos um () depsito
de simples custdia (), ou um () depsito de
54
Cfr., GOMES, Ftima, ob.cit., pp. 595.
55
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 308 e segs e PEREIRA,
Maria Rebelo, Contrato de Registo e Depsito de Valores Mobilirios
Conceito e Regime, in: AaVv, Caderno do Mercado dos Valores Mobilirios,
n. 15, Dezembro de 2002, pp. 317-322, ainda ao abrigo da anterior
verso do cdigo, anterior reviso de 2007.
56
luz do art. 30. do CVM.
57
Vcio este que apenas pode ser invocado pelo investidor no
qualificado, nos termos do art. 220. do Cdigo Civil e os arts. 30. e
321., n. 1 do CVM. Conclui o Autor que estamos perante um contrato
de adeso, submetido Lei das Clusulas Contratuais Gerais e que deve
ser comunicado, antecipadamente, CMVM. Cfr., ANTUNES, Jos A.
Engrcia, ob.cit., pp. 309-310.
58
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 310.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
112
administrao ()
59
. No primeiro caso, o
intermedirio financeiro apenas ter a mera guarda
dos instrumentos financeiros depositados pelo
cliente, juntando a isso a obrigao de cobrar os
respecitovs rendimentos, luz do art. 405. do
Cdigo Comercial e do art. 1187., c) do Cdigo
Civil
60
. No segundo caso, o intermedirio
financeiro, para alm das obrigaes referidas
anteriormente, ainda est adistrito a, de forma
acessria, administrar os valores depositados
61
. A
maioria da doutrina considera que estamos perante
um contrato misto de mandato e depsito
62
.
2.1.2.4. Contrato de Emprstimo
No contrato de emprstimo de valores
mobilirios, regulado pelo art. 350. do CVM, o
intermedirio financeiro () coloca disposio
de um investidor ou cliente determinados
instrumentos financeiros, maxime, valores
mobilirios, por um certo perodo de tempo, ficando
este ltimo obrigado a pagar uma contrapartida,
usualmente a prestar uma garantia, e a restituir ao
primeiro aqueles instrumentos ou valores.
63
.
59
Sobre esta distino entre depsitos de simples custdia e de
administrao, vide, CAMACHO, Paula Ponces, Do Contrato de Depsito
Bancrio: natureza jurdica e alguns problemas de regime, Almedina,
Coimbra, 1998, pp. 88-91.
60
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 310. Refere o Autor
que o intermedirio financeiro fica obrigado a manter o registo e o
depsito dos instrumentos em causa, acrescido dos valores obtidos por
conta do titular, com a restituio do mesmo assim que este os exija. E
ainda ter que prestar os servios necessrios para a conservao e
frutificao dos valores.
61
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 310-311. Refere o
Autor que esta administrao ter um contedo varivel, podendo
abranger vrias opes.
62
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 309. Segundo o Autor,
este subtipo contratual, previsto pelo art. 343. do CVM, regido, de
forma subsidiria, pelo depsito e mandato mercantis. Maria Rebelo
Pereira considera que () integra, entre outros, os elementos tpicos do
contrato de mandato comercial () e do contrato de depsito (), cfr.,
REBELO, Maria Pereira, ob.cit., pp. 322. Rui Pinto Duarte alinha no
mesmo diapaso, afirmando que a recondutibilidade do contrato de
gesto de carteira, no que toca ao mandato, tambm poder ser usado
para o contrato de registo e depsito, cfr., DUARTE, Rui Pinto, ob.cit.,
pp. 372.
63
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 311 e segs. Cfr. ainda
GOMES, Ftima, ob.cit., pp. 597-598 e, para uma perspectiva antes da
reforma de 2007, RODRIGUES, Sofia Nascimento, Os Contratos de
Reporte e de Emprstimos no Cdigo dos Valores Mobilirios, in:
AaVv, Caderno dos Mercados dos Valores Mobilirios, n. 7, Abril de 2000,
mais especificamente pp. 306 e segs.
Segundo o art. 350., n. 1 do CVM, a
titularidade dos valores mobilirios passa para a
esfera do muturio. Como podemos facilmente
constatar, este negcio celebrado entre um
intermedirio financeiro o mutuante e um
cliente-investidor o muturio. Nos termos do
art.350., n. 1 do CVM, o emprstimo incindir
sobre valores mobilirios, mas entende
ENGRCIA ANTUNES que o contrato poder,
abranger, valores mobilirios ou outros
instrumentos financeiros desde que seja da
titularidade do intermedirio ou terceiros
clientes
64
. O contrato deve ser celebrado por
escrito, caso seja um investidor no qualificado, nos
termos do art. 30. e 321. do CVM, tratando-se
de um contrato de adeso com regulao atravs
da Lei das Clusulas Contratuais Gerais e
comunicao prvia CMVM, nos termos do art.
321., n.
os
3 e 4 do CVM
65
.
2.1.2.5. Contrato de Consultoria Empresarial
Neste subtipo contratual dos contratos
auxiliares aos contratos de investimento, um
intermedirio financeiro e uma empresa acordam
que, o primeiro fica adstrito, mediante
remunerao paga ao segundo, a prestar
recomendaes, conselhos e informaes sobre a
estrutura, estratgia e organizao da empresa
66
.
Nos termos do art. 291., d) do CVM, este
contrato apenas pode ser celebrado pelos
intermedirios financeiros, pertencendo sua
esfera de exclusividade. O seu contedo abarca,
no s informaes, recomendaes ou conselhos
sobre a estrutura de capital da empresa que
contratou este servio, sobre a estratgia da mesma
no mercado de capitais, ou, ainda, possveis
operaes de reorganizao estrutural da mesma
67
.
64
Para os terceiros clientes necessrio o seu consentimento escrito,
nos termos do art. 306., n. 3 do CVM. Cfr., ANTUNES, Jos A.
Engrcia, ob.cit., pp. 313.
65
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 313.
66
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 314.
67
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 315.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
113
2.1.2.6. Contrato de Anlise Financeira
Neste negcio integrado nos contratos
auxiliares, as partes intermedirio financeiro e
um cliente que, tipicamente, um investidor
institucional acordam envidar esforos para
realizar pesquisas e estudos de ndole tcnico-
financeira, de certos emitentes ou categorias de
instrumentos financeiros
68
.
Atravs deste contrato, as empresas tm acesso
a relatrios, especificados, sobre as empresas que
actuam no mercado de capitais, nomeadamente,
nos mercados onde colocam os seus produtos
venda. So realizados juzos de prognose sobre a
evoluo futura dos mercados e dos seus agentes,
ao mesmo tempo que so feitas recomendaes,
de mbito genrico, para investimentos nessa rea.
Este contrato pode resultar de duas formas: ou
atravs de um negcio autnomo celebrado entre
o intermedirio financeiro e o investidor
institucional, ou atravs de um negcio acessrio a
outro principal de intermediao financeira, como
seja, v.g., a gesto de carteira de ttulos
69
.
No que toca ao seu regime jurdico, h que
destacar que as informaes prestadas no mbito
deste contrato seguem os requisitos prescritos pelo
art. 7., n.
os
1 e 2, ou seja, a informao deve ser
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lcita.
No que toca, especificamente s recomendaes de
investimento, estas encontram-se abrangidas pelos
arts. 12.-A a 12.-E e 309.-D do CVM
70
.
3 Os Deveres de Intermedirio Financeiro
perante o Cliente: em especial, os deveres de
informao
68
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 315 e segs.
69
Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 316.
70
As recomendaes de investimento iro abranger, nomeadamente,
relatrios de anlise financeira que contenham, directa ou
indirectamente, recomendaes de investimento, ou desinvestimento,
sobre dado emitente de valores mobilirios ou instrumentos
financeiros. Cfr., ANTUNES, Jos A. Engrcia, ob.cit., pp. 317.
3.1. A ratio dos deveres de informao no
Cdigo dos Valores Mobilirios
Nos termos do art. 7., n. 1 do CVM, a
informao
71
prestada pelos intermedirios
financeiros, e que sejam respeitantes aos
instrumentos financeiros, deve ser divulgada com
completude, verdade, actualidade, clareza,
objectividade e deve ser lcita. Como j aflormos,
ligeiramente, anteriormente, os contratos de
intermediao financeira so o instrumento
privilegiado para uma regulao eficaz do mercado
de capitais. No devemos olvidar que estamos
perante a aplicao, na maioria dos casos, de
poupanas de indivduos e que pretendem v-las
rentabilizadas para um futuro patrimonial mais
prspero. Como tal, todos os intervenientes neste
jogo de oferta e procura de ganhos patrimoniais,
sintam que as suas aplicaes esto a ser bem
empregues. Mais, necessitam de sentir uma
confiana redobrada e extremamente slida que a
informao que lhes transmitida idnea a
provocar-lhes um sentimento de uma deciso
efectivamente tomada e que vai ao encontro dos
seus anseios financeiros. Desta forma, pensamos
que podemos autonomizar duas ordens de razo
para justificar os deveres de informao presentes
no CVM. Falamos do princpio da proteco dos
investidores e da defesa do mercado e a sua
regulao.
71
Importa aqui referir o conceito de informao que preside a nossa
reflexo. Podemos encontrar contributos importantes na obra de Sinde
Monteiro, onde o Autor defende que a informao () em sentido estrito
ou prprio, a exposio de uma dada situao de facto, verse ela sobre pessoas,
coisas, ou qualquer outra relao. Diferentemente do conselho e da
recomendao, a pura informao esgota-se na comunicao de factos objectivos,
estando ausente uma (expressa ou tcita) proposta de conduta.. Cfr.,
MONTEIRO, Jorge Ferreira Sinde, Responsabilidade por Conselhos,
Recomendaes ou Informaes, Almedina, Coimbra, 1989, pp. 14. Nas
palavras de Eduardo Paz Ferreira, a informao ser () dar forma a
alguma coisa que, por esse modo, se torna congnoscvel e, como tal, transmissvel.
Assim, informao designa simultaneamente o processo de formulao e
transmisso de objectos de conhecimento e estes ltimos como contedos., cfr.,
FERREIRA, Eduardo Paz Ferreira, Informao e Mercado de Valores
Mobilirios, in: AaVv, Separata da Revista da Banca, n. 50,
Julho/Dezembro de 2000, pp. 11.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
114
3.1.1. O princpio da proteco dos
investidores
Um dos esteios imprescindveis que
fundamenta a existncia de to abundante elenco
de deveres informativos radica na ideia de
proteco dos investidores
72
. Na esteira de SOFIA
NASCIMENTO RODRIGUES, este princpio
nuclear deve ser dividido em trs grandes pilares
que se complementam entre si: o interesse pblico,
a segurana nos mercados e a igualdade entre os
vrios agentes do mercado
73
.
O interesse pblico no bom funcionamento dos
mercados pode ser encontrado numa vertente
constitucional no art. 101. da Constituio da
Repblica Portuguesa
74
. Como podemos constatar
pelo normativo constitucional, uma das
preocupaes prementes e relacionadas com o
interesse pblico que o mercado de capitais seja
um porto de abrigo para a aplicao, correcta e
metdica, das poupanas geradas pelos indivduos.
Esta ideia de proteco do investidor surgiu muito
ligada ao fenmeno da Grande Depresso, aps o
crash bolsista de 1929, com o natural enfoque na
proteco dos agentes mais vulnerveis contra as
naturais fragilidades e ineficincias do mercado de
capitais
75
.
luz do que foi referenciado, parece-nos
importante estabelecer uma diferena, prvia, entre
o que so medidas directas e indirectas de
proteco. No primeiro caso estamos perante um
72
Sobre este ponto em especfico, vide, RODRIGUES, Sofia
Nascimento, A Proteco dos Investidores em Valores Mobilirios, Almedina,
Coimbra, 2001, pp. 23 e segs.; FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 5 e
segs. Para uma perspectiva mais geral, sobre a informao no mercado
de valores mobilirios, vide, por todos, CASTRO, Carlos Osrio de, A
Informao do Direito do Mercado de Valores Mobilirios, in: Direito
dos Valores Mobilirios, Lex, Lisboa, 1997, pp. 333 e segs. Numa
perspectiva anterior ao cdigo de 1999, PINA, Carlos Costa, Dever de
Informao e Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado Primrio de Valores
Mobilirios, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 27 e segs.
73
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 23.
74
Dispe o art. 101. da Constituio da Repblica Portuguesa: O
sistema financeiro estruturado por lei, de modo a garantir a formao, captao
e a segurana das poupanas, bem como a aplicao dos meios financeiros
necessrios ao desenvolvimento econmico e social.
75
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 24. Para uma
perspectiva mais aprofundada sobre o impacto da Grande Depresso na
relao entre o Estado, os indivduos e o mercado, vide, FERREIRA,
Amadeu Jos, Direito dos Valores Mobilirios, AAFDL, Lisboa, 1997, pp. 81
e segs.
elenco de medidas com o propsito de proteger os
investidores; no segundo caso no conseguimos
encontrar este leque. No obstante o que foi dito,
em ambos os casos visa-se complementar o
exerccio da regulao das entidades responsveis
por essa actividade no mercado de valores
mobilirios
76
.
Este interesse pblico que temos vindo a tratar,
de forma suave, tem como objectivo no a
proteco do investidor individualmente
considerado que aplica as suas poupanas, mas sim
a defesa da colectividade que representa a procura
e a oferta de activos financeiros no mercado de
capitais. Naturalmente que o interesse pblico
permanece sempre como uma ncora
argumentativa para a proteco do investidores,
mas como bem salienta SOFIA NASCIMENTO
RODRIGUES, no estamos perante a concesso
de direitos subjectivos, mas sim perante normas
programticas que existem com o objectivo de
superintender o mercado
77
. Deste modo, podemos
concluir que, para um eficaz funcionamento dos
mercados que inspire confiana aos seus agentes,
deve prevalecer o interesse pblico da
colectividade face ao interesse privado do
investidor individualmente considerado. Pretende-
se com isto proteger o mercado, e no apenas este
ou aquele investidor particular
78
.
76
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 24.
77
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 24-25. Refere a
Autora que, na senda do seu raciocnio, no estaremos sempre perante
normas que visam proteger interesses alheios, como prev o art. 483. do
Cdigo Civil. No obstante o que foi dito, a Autora admite a existncia
de direitos subjectivos dos investidores que levem constituio de
situaes de responsabilidade. Cfr., ainda, CASTRO, Carlos Osrio de,
ob.cit., pp. 334-335, quando refere que () por investidores entendemos aqui
a colectividade, composta por um nmero indeterminado de pessoas, que
corporiza a procura de valores mobilirios no mercado primrio, (), tal
proteco no , em primeira linha, visada em si mesmo, operando
principalmente como um meio de promover a predita eficincia dos mercados,
pelo que em jogo est sobretudo o interesse pblico, e no os interesses privados
dos investidores. A proteco dos investidores beneficia naturalmente os prprios,
(), mas essa proteco pode bem ser um puro efeito reflexo que lhes no outorga
direitos subjectivos. ().
78
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit.pp. 25. Acrescenta
ainda a Autora que ser, na sua ptica, dispensvel falar de uma
prevalncia do princpio da proteco dos investidores face ao princpio
da defesa do mercado, ou vice-versa, visto a sua relao ser de ()
sobreposio, dependncia ou mesmo complementaridade. Sobreposio na
medida em que mutas das exigncias consagradas para assegurar o funciomaneto
regular, transparente e eficiente dos mercados se traduzem tambm em edidas de
proteco dos investidores; dependncia porquanto no existe mercado sem
investidores tal como no existiro investidores sem mercado;
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
115
Outro pilar essencial do princpio da proteco
dos investidores, a segurana, necessria, para que
os investidores sintam confiana em aplicar as suas
poupanas, e que sirva de motivo fundamentador
para a tomada de deciso do mesmo
79
. No nos
podemos esquecer que o mercado de capitais
funciona, na base, atravs da aplicao das
poupanas dos seus agentes os investidores e,
com esta premissa, importante salientar que um
clima de segurana indispensvel para que os
investidores sintam que seguro, que podem
confiar, que este mecanismo de ganhos
patrimoniais para os seus activos o melhor e que
protege os seus interesses. Como tal, torna-se
fulcral que haja um dispositivo normativo que seja
eficaz na proteco desta confiana, conferindo a
segurana necessria ao investidor para que a sinta,
de forma a que tome decises fundamentadas e
acertadas
80
. O que aqui foi dito no ignora a
superviso prudencial dos mercados de valores
mobilirios, e a progressiva passagem de
competncias do Banco de Portugal para a
CMVM, o que constitui um importante contributo
para a segurana transmitida aos investidores.
O terceiro e ltimo pilar relaciona-se com a
igualdade entre os investidores, entendida como a
necessidade de proteger, especificamente, os
investidores mais desprotegidos, de forma a que
haja um tratamento, o mximo possvel, igualitrio
entre estes e os investidores mais qualificados
81
.
Pretende-se, com este pilar, que haja uma forma de
tratamento que seja formalmente igual entre os
dois tipos de investidores que a lei consagra,
tutelando-os contra actuaes prejudiciais de
outros agentes do mercado que sejam mais
complementaridade, porque o princpio da proteco dos investidores postula a
proteco da confiana individual e o da proteco dos mercados, por sua vez, se
funda na proteco da confiana colectiva..
79
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 26.
80
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 26-27. Nas
palavras de Osrio de Castro, a confiana do investidor ser baseada na
() capacidade funcional e a eficincia daqueles mercados (), visto que os
investidores procuram () uma aplicao empresarial () para as suas
poupanas, transformando () riqueza produzida e no consumida em
capital produtivo de nova riqueza., cfr., CASTRO, Carlos Osrio de, ob.cit.,
pp. 333.
81
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 28-29.
qualificados. A lei, neste mbito, serve como
instrumento primordial para combater as
desigualdades. Aqui, os deveres de informao
surgem como um mecanismo fulcral para
prosseguir este objectivo, visto que o vasto elenco
normativo presente no CVM obrigam a uma
divulgao exaustiva de informao, tanto maior
quanto menor for a instruo do devedor
82
.
A existncia deste pilar, e a sua ratio fundadora,
no ignora que a prpria lei mobiliria que
aponta para este caminho visto, ela prpria,
estabelecer a diferena entre o que um investidor
qualificado e um investidor no qualificado, nos
termos do art. 30. do CVM. Assim, para que haja
uma efectiva igualdade entre ambos os tipos de
investidor, a lei mobiliria tende a excluir os
investidores qualificados do apertado regime de
proteco do investidor mais fraco
83
.
3.1.2. A defesa do mercado e da sua
regulao
Como j foi referido anteriormente, um dos
pilares fundamentais que sustenta todo o edifcio
normativo dos deveres de informao relaciona-se
com a proteco do investidor. Mas toda esta
exigncia constante no unvoca, isto , no
exclusivamente virada para o investidor
individualmente considerado, mas sim com o
intuito de proteger o conjunto de investidores que
operam no mercado. E aqui devemos introduzir a
segunda grande ratio que preside ao profuso elenco
de deveres informativos presente no CVM:
falamos da defesa do mercado e da sua regulao.
Neste ponto, importa salientar, para o nosso
trabalho, que a defesa do mercado essencial para
a actividade econmica, com um especial enfoque
no mercado de valores mobilirios. Naturalmente
que com isto no se pretende negar que a especial
preponderncia dos deveres de informao visa a
82
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 28-29.
83
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 29.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
116
defesa do investidor, mas deve-se acentuar,
contudo, que a defesa do mercado implica a
proteco dos investidores, entendidos como uma
comunidade
84
. Desta forma, os deveres de
informao consagrados no CVM surgem,
primordialmente, como consequncia da tutela do
mercado e, como tal, no so um exclusivo dos
agentes individuais. O mercado de valores
mobilirios no o somatrio das vontades
individuais que visam a procura e a oferta de
valores mobilirios; ao invs, aquele deve ser
entendido () como uma instituio dotada de
regras prprias (), onde so buscadas garantias
de igualdade
85
.
A defesa do mercado, conseguida atravs do
vector dos deveres de informao, surge como uma
necessidade do prprio Estado, isto , cabe ao
Estado regular os excessos e as insuficincias do
mercado informativo, tentando atenuar ao mximo
as assimetrias naturalmente existentes entre
agentes do mercado com formaoes e
conhecimentos dspares. Isto consegue-se atravs
de um acervo normativo que contribua para um
fluxo regular e eficiente da oferta e da procura, que
possa proteger o mercado de especulaes que
ponham em causa o seu funcionamento, se o
pensarmos como um instrumento primordial para
que os investidores rentabilizem as suas
poupanas
86
. Para este ponto, no se pode olvidar
que o mercado informativo , por natureza,
imperfeito, contribuindo para esta ideia o facto de
o mercado de valores mobilirios ser composto por
investidores em situaes de desigualdade, quer
informativa, quer intelectual, quer financeira, o que
provoca distribuies imperfeitas de riqueza
87
.
Admitimos que a ideia de considerar que o
mercado deveria regular-se a si prprio, como um
pensamento interessante, mas ao mesmo tempo
ingnuo. No s porque a ausncia de informao
84
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp 5 e segs.
85
Cfr. FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 9.
86
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 13-17.
87
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 13 e 17.
conduz, fatalmente, ao mau funcionamento do
mercado, seno mesmo colocao em causa da
sua existncia; como tambm, a auto-regulao
poderia conduzir a situaes de manipulao do
acervo informativo por parte de agentes menos
preocupados com o mercado, e mais com os seus
interesses pessoais
88
. Com estas coordenadas em
mente, facilmente se percebe que cabe ao Estado
um papel de regulao e de constituio de regras
normativas que possam proteger os mercados
destas assimetrias. Esta interveno de ndole
estatal justifica-se com a necessidade de o Estado
ter que ditar um acervo de deveres informativos ao
mercado, abrangendo, ao mesmo tempos, os
investidores e os agentes de superviso
89
. Nas
palavras de EDUARDO PAZ FERREIRA: a
existncia de uma informao to completa,
verosmil e clara quanto possvel que constitui a
garantia essencial de funcionamento regular dos
mercados.
90
.
A exigncia assertiva de informao surge como
resultado da necessidade de proteco do mercado
constitucionalmente exigida
91
no sendo,
porm, a nica correspondncia pois no se deve
pr completamente de parte a necessidade de
equidade na prestao de informao e,
concomitantemente, tratamento dos investidores
no institucionais
92
. Com a exigncia de to
elevados deveres informativos, que mais tarde iro
ser explicitados na sua globalidade, pretende-se
controlar o nvel de risco que naturalmente existe
no mercado de valores mobilirios, dentro de
nveis que possam ser considerados razoveis. No
fundo, pretende-se tutelar os investidores mais
fracos, que tm mais dificuldade em chegar
informao necessria para que tenham uma
deciso de investimento racional
93
.
88
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 13-15.
89
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. pp. 15-17.
90
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 15.
91
Cfr., art. 101. da Constituio da Repblica Portuguesa.
92
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 17.
93
Cfr., FERREIRA, Eduardo Paz, ob.cit., pp. 17.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
117
3.2. O regime de deveres de informao no
Cdigo dos Valores Mobilirios
O dever de informar recai no s sobre os
intermedirios financeiros, abrangendo mais
agentes do mercado. No nos podemos esquecer
que a deciso de investimento de um investidor
no institucional fundamenta-se, no seu essencial,
na quantidade e na qualidade de informao que
esteja ao seu dispor atravs dos meios legais
admitidos. Nestes termos, podemos afirmar, com
toda a segurana, que o investidor procura uma
segurana jurdica para poder aplicar as suas
poupanas, com o objectivo de realizar ganhos
patrimoniais. Ademais, esta confiana e segurana
de que o mercado de valores mobilirios o mais
adequado para o que pretende, apenas pode surgir
depois de o investidor no institucional possuir um
conhecimento slido e suficientemente
esclarecedor para que possa compreender os riscos
associados a uma sua possvel deciso
94
.
Como tal, nos termos do art. 7., n. 1 do
CVM, a informao prestada aos investidores,
() deve ser completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lcita.. A ponderao deve ser feita de
forma casustica, e estes requisitos devem ser
preenchidos luz dos interesses de quem exige
este comportamento. No entendimento de SOFIA
NASCIMENTO RODRIGUES, estamos perante
94
As normas que seguidamente iremos analisar ajudam-nos a
configurar a relao existente entre o cliente-investidor e o
intermedirio financeiro, como uma relao de clientela. Sobre este ponto,
vide, por todos, ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Relao de Clientela na
Intermediao de Valores Mobilirios, in: Direito dos Valores Mobilirios,
Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 121-136. No entendimento de
Sofia Nascimento Rodrigues, podemos ter vrias configuraes no que
toca definio dos sujeitos que intervm no mercado de capitais.
Segundo a Autora, () as normas de proteco da clientela integram, sem
esgotar, as normas de proteco do investidor pois todo o investidor que investe
por recurso a um intermedirio financeiro , simultaneamente, seu cliente..
No obstante, a Autora admite a possibilidade de subsistir uma relao
de clientela mesmo que o sliente no seja investidor. Neste caso, as
normas que iremos fazer referncia, no seu entedimento que tambm
perfilhamos, () no podem considerar-se integrantes do regime de proteco
do investidor.. Defende ainda a Autora que a letra do art. 332., n. 2 do
CVM, no exclui a possibilidade de o conceito-base de cliente () estar,
por vezes, excludo da noo de investidor.. Conclui neste mbito que () a
lei protege o investidor-cliente, o cliente que ainda no decidiu investir e mesmo o
potencial cliente.. Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 43-45.
() concretizaes indeterminadas (), que se
transformam em () conceitos indeterminados
que, (), devero considerar-se preenchidos ou no
na ptica dos interesses luz dos quais so exigidas
os interesses de um investidor mdio.
95
.
3.2.1. Os sujeitos passivos do dever de
informar
3.2.1.1. Intermedirios Financeiros
Como j foi vrias vezes referenciado, recai
sobre os intermedirios financeiros um avultado
leque de deveres informativos que deve prestar
junto de clientes que manifestem vontade de
investir no mercado de valores mobilirios. A
dependncia que baseia a relao entre
investidores no institucionais e os intermedirios,
resultando no s de () uma verificao prtica
()
96
, como tambm provoca uma obrigao de
o Estado proteger a parte mais fraca. A partir do
art. 304., n. 1 do CVM, podemos encontrar esta
consagrao, visto que, Os intermedirios
financeiros devem orientar a sua actividade no
sentido da proteco dos legtimos interesses dos seus
clientes e da eficincia do mercado.. No
entendimento de MENEZES LEITO, estamos
perante o () cumprimento pelo intermedirio
financeiro das obrigaes que assumiu para com os
seus clientes no mbito dos negcios que com eles
celebra, acentuando a le um dever de especial
proteco do interesse do credor neste tipo de
contratos ()
97
.
Podemos constatar que a informao que a lei
exige que o intermedirio financeiro preste advm,
tambm, da ideia de uma conduta transparente
95
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit.., pp. 39.
96
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 42.
97
Cfr., LEITO, Luis Manual Teles de Menezes, Actividades de
Intermediao e Responsabilidade dos Intermedirios Financeiros, in:
Direito dos Valores Mobilirios, Volume II, Coimbra, 2000, pp. 143.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
118
que este deve ter na sua aco, ideia essa reforada
pelo art. 304., n. 2 do CVM
98
. Nas palavras de
GONALO CASTILHO DOS SANTOS, a
transparncia referida pelo CVM relaciona-se com
a adequao como a informao necessria e
exigida transmitida junto dos respectivos
destinatrios. No seu entender, o vector da
transparncia surge como um mecanismo de
proteco do cliente-investidor, pois permite um
acesso eficiente e organizado informao, de
molde a que o mercado permita transmitir
confiana aos seus agentes
99
. Deste modo,
facilmente se compreende que as regras constantes
destes deveres surjam como forma de proporcional
um modelo eficiente que possa proteger o
investidor, pois encontramos uma regulao
normativa que dispe sobre como os
intermedirios devem actuar nas suas relaes com
os seus clientes. Com isto, e segundo o
entendimento de GONALO CASTILHO DOS
SANTOS, a qual concordamos por inteiro, devido
evoluo da sociedade moderna e com a
crescente sofistificao da informao, em especial,
da forma como ela transmitida aos agentes em
questo, de facto para a maioria dos investidores
que apenas pensam em aplicar as suas poupanas,
os custos inerentes busca e recepo da
informao necessria para a sua deciso
fundamentada e esclarecida so proibitivos,
provocando a existncia de uma relao de ()
especial posio de confiana e dependncia do
cliente () face ao intermedirio financeiro que
est encarregue de aplicar as suas poupanas
100
.
Todo o regime dos deveres de informao pode
ser encontrado nos arts. 312. e segs. do CVM, nos
98
Dispe o art. 304., n. 2 do CVM que Nas relaes com todos os
intervenientes no mercado, os intermedirios financeiros devem observar os
ditames da boa f, de acordo com elevados padres de diligncia, lealdade e
transparncia..
99
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, A responsabilidade Civil
do Intermedirio Financeiro Perante o Cliente, Almedina, Coimbra, 2008,
pp. 135.
100
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 135-136.
Para o Autor, a conduta transparente referida pelo art. 304., n. 2 do
CVM, consiste na () instncia reguladora da posio relativa das partes
intervenientes no trfego jusmobilirio, precisamente na proteco do cliente-
investidor como parte informativamente mais dbil ().
arts. 314.-B e 314.-C do CVM, nos arts. 323. e
segs. do CVM e, ainda, no art. 332. do CVM.
3.2.1.1.1. Os deveres de informao pr-
contratual
Os deveres de informao pr-contratual
encontram-se previstos nos arts. 312. e segs. do
CVM. Tratam-se de informaes que o
intermedirio financeiro est obrigado a prestar
antes da celebrao do contrato de intermediao,
a um cliente que, na verdade, um potencial
investidor. Esta informao, nos termos do art.
312., n. 1 do CVM, deve ser suficientemente
esclarecida e fundamentada, de forma a que o
potencial investidor possa tomar uma deciso
consciente.
No estamos perante um elenco taxativo de
deveres informativos
101
, no obstante o
intermedirio financeiro est obrigado a cumprir
com a obrigao de prestar a informao que se
encontra elencada no texto normativo. Deste
modo, atravs de um estabelecimento de um
conjunto mnimo de informaes que devem ser
prestadas, o legislador cumpre com a sua funo de
dar condies, legais, para que a segurana e a
confiana sejam mantidas no mercado de valores
mobilirios
102
.
Um dos pormenores mais importantes nesta
sede dos deveres informativos pr-contratuais, a
pormenorizao da mesma que o legislador
determinou. Nos termos do art. 312., n. 2 do
101
Posio defendida por Sofia Nascimento Rodrigues, que ns
perfilhamos por completo. Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit.,
pp. 45.
102
Dentro deste conjunto mnimo, encontramos a qualidade da
informao (art. 312.-A do CVM), o momento da prestao de
informao (art. 312.-B do CVM), qual a informao mnima a ser
prestada pelo intermedirio (art. 312.-C do CVM), qual a informao
relativa aos instrumentos financeiros (art.312.-E do CVM), qual a
informao relativa proteco do patrimnio dos clientes (art. 312.-F
do CVM), qual a informao sobre os custos (art.312.-G do CVM) e,
por ltimo, qual a informao adicional que deve ser prestada no
contrato de gesto de carteira (art.312.-D do CVM).
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
119
CVM, a quantidade e a qualidade da informao
deve ser proporcional ao grau de conhecimentos
que o potencial investidor tem, ou no tem. Isto ,
vigora o princpio da proporcionalidade inversa, em
que a informao deve ser prestada numa maior
quantidade e com uma maior qualidade, quanto
menor for o conhecimento do cliente sobre os
produtos em causa. Trata-se assim, nas palavras de
SOFIA NASCIMENTO RODRIGUES, de ()
um dever de conhecimento do cliente (Know your
client rule) (), com o objectivo de estabelecer
um tratamento diferenciado entre clientes, de
forma a que as suas assimetrias sejam
diminudas
103
. Podemos concluir, na esteira de
GONALO CASTILHO DOS SANTOS, que
esta informao prvia exigida ao intermedirio
financeiro consiste num dever de conduta
secundrio
104
.
3.1.1.1.2. Os deveres de informao na fase
de execuo do contrato
Durante a execuo do contrato de
intermediao, nascem novos e subsequentes
deveres de informao na esfera do intermedirio
financeiro. Estes deveres encontram-se previstos
nos arts. 323. e segs. do CVM, onde o legislador
pressupe a prvia existncia de um contrato de
intermediao, com o resultado de estes deveres
acrescerem aos deveres j analisados presentes nos
arts. 312. e segs. do CVM
105
.
Neste mbito avultam os deveres de
informao que decorrem da execuo das ordens
e dos resultados das operaes efectuadas.
Ademais, o intermedirio financeiro ainda deve
informar o cliente-investidor de quaisquer
103
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 46.
104
Para o Autor, estaremos perante um conjunto de () deveres
secundrios de prestao, funcionalizados, certo, prestao principal () com
relevncia na relao obrigacional para, em termos de autonomia e de
influncia sobre a prossecuo do interesse do credor, (), justificar, por exemplo,
a aplicao dos meios de reaco perante o no cumprimento da obrigao..
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 141. Sobre a
figura dos deveres secundrios, vide, LEITO, Luis Manuel Teles de
Menezes, Direito das Obrigaes, cit., pp. 124.
105
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 47.
dificuldades que surjam durante a fase de execuo
das ordens, ou at a sua possvel inviabilidade. No
entendimento de MENEZES LEITO, estaremos
perante () deveres de informao tpicos da
relao de mandato ()
106
. Na mesma linha de
raciocnio, o intermedirio financeiro tambm deve
informar o cliente-investidor de todos os factos ou
circunstncias, no integrveis no segredo
profissional tal como entendido no Cdigo dos
Valores Mobilirios, que possam justificar a
alterao ou mesmo revogao das ordens
anteriormente formuladas
107
. Este conjunto de
informaes, para alm de constituirem deveres
semelhantes ao que podemos encontrar na relao
de mandato, tambm constituem-se como
informao sucessiva a ser prestada durante a
execuo contratual. Isto , estaremos perante
() deveres acessrios de informao (), em
que na sua gnese iro permitir a satisfao do
cliente-investidor aqui entendido como o credor
do dever de prestar a informao e, ao mesmo
tempo, garantir a inexistncia de danos
108
.
Um ltimo pormenor a ter em conta nesta
sede, o constante do art. 304., n. 3 do CVM
109
,
onde o intermedirio financeiro obrigado a
conhecer o cliente-investidor, procurando saber
todas as informaes necessrias para aferir dos
conhecimentos e experincia que este tem sobre o
mercado de valores mobilirios. Este pormenor
posterior densificado com mais detalhe no art.
314.-B do CVM, onde se procura sinalizar que o
intermedirio financeiro deve procurar saber a
maior quantidade de informao possvel sobre o
seu cliente, de forma a considerar a sua situao
106
Cfr., LEITO, Luis Manuel Teles de Menezes, ob.cit., pp. 144.
Opinio partilhada por RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 47.
107
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 47.
108
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 140. Sobre
a temtica dos deveres acessrios de conduta, vide, por todos, LEITO,
Luis Manuel Teles de Menezes, Direito das Obrigaes, cit., pp. 121-125 e
CORDEIRO, Antnio de Menezes, Da Boa F no Direito Civil, Volume I,
Almedina, Coimbra, pp. 586-631.
109
Segundo o art. 304., n. 3 do CVM, Na medida do necessrio para o
cumprimento dos seus deveres de prestao de servio, o intermedirio financeiro
deve-se informar junto do cliente sobre os seus conhecimentos e experincia no
que respeita ao tipo especfico de instrumento financeiro ou servio oferecido ou
procurado, bem como, se aplicvel, sobre a situao financeira e os objectivos de
investimento do cliente..
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
120
financeira, a sua experincia em matria de
investimentos, entre outros. Este conjunto de
informaes deve ser feito na medida do
necessrio, e deve ser deixado ao critrio do
intermedirio
110
.
4 A responsabilidade do Intermedirio
Financeiro por violao dos deveres de
informao
4.1.1. O regime do art. 304.-A do Cdigo
dos Valores Mobilirios
Nos termos do art. 304.-A do CVM, o
intermedirio financeiro que viole os seus deveres
perante o cliente, de ndole organizacional ou
referentes ao exerccio da sua actividade,
obrigado a indemniz-lo pelos prejuzos
causados
111
. Mais avana o Cdigo, ao prever uma
presuno de culpa do intermedirio financeiro,
quer nas relaes contratuais, pr-contratuais ou no
cumprimento dos deveres de informao
112
. J
noutro mbito, o art. 324. do CVM determina a
nulidade de clusulas que excluem a
responsabilidade do intermedirio financeiro
113
.
Estas so as coordenadas que pretendemos
analisar neste captulo. Como vimos at agora, o
intermedirio financeiro est adstrito a um
profundo e extenso manancial de deveres,
nomeadamente, de ndole informativa. Sendo a
base para a formao de uma relao de confiana
entre o intermedirio e o seu cliente-investidor,
110
Cfr., RODRIGUES, Sofia Nascimento, ob.cit., pp. 47.
111
Dispe concretamente o art. 304.-A, n. 1 do CVM: Os
intermedirios financeiros so obrigados a indemnizar os danos causados a
qualquer pessoa em consequncia da violao dos deveres respeitantes
organizao e ao exerccio da sua actividade, que lhe sejam imposto por lei ou por
regulamento emanado de autoridade pblica..
112
Estipula o art. 304.-A, n. 2 do CVM: A culpa do intermedirio
financeiro presume-se quando o dano seja causado no mbito das relaes
contratuais ou pr-contratuais e, em qualquer caso, quando seja originado pela
violao dos deveres de informao..
113
Prev o art. 324., n. 1 do CVM: So nulas quaisquer clusulas que
excluam a responsabilidade do intermedirio financeiro por actos praticados por
seu representante ou auxiliar..
para que este consiga sentir seguro de que est a
aplicar de forma correcta as suas poupanas, o
regime de ressarcimento dos danos, e o regime de
imputao da responsabilidade, seguem esta
tendncia de proteco da parte mais fraca, para
que haja uma tendencial igualdade entre os
agentes.
4.1.1.1. A violao dos deveres por parte do
intermedirio financeiro
Nos termos do art. 304.-A, n. 1 do CVM, o
intermedirio financeiro civilmente responsvel
quando viole os deveres que lhe so impostos por
lei ou regulamento, no exerccio da sua actividade
ou na sua organizao. Segundo a doutrina,
estaremos perante deveres de ndole legal e
regulamentar, que os intermedirios financeiros
devem cumprir, sob pena de violarem ()
disposies destinadas a proteger interesses alheios
(). Nesta perspectiva, a violao destes deveres
permitir o ressarcimento das perdas, patrimoniais,
que os clientes, ou terceiros, tenham sofrido devido
actuao do intermedirio
114
.
Na relao entre o intermedirio financeiro e o
cliente-investidor estabelece-se, na nossa opinio,
uma relao de ndole obrigacional em que o
primeiro esta obrigado, perante o segundo, a
prestar um conjunto de actividades que formam a
prestao deste vnculo. Isto , o cliente-investidor
tem o direito de exigir ao intermedirio o
cumprimento cabal das suas obrigaes, a que est
adstrito atravs de via contratual
115
. Temos assim
que a violo dos seus deveres que origina, na
114
Cfr., LEITO, Luis Manuel Teles de Menezes, ob.cit., pp. 147.
Conclui o Autor que estamos perante uma situao de responsabilidade
delitual, prevista e regulada pelo art. 483. do Cdigo Civil. Para um
contributo mais extenso, no que toca violao de um dever de
informao, entendida como uma disposio de proteco, vide,
MONTEIRO, Jorge Ferreira Sinde, ob.cit., pp. 237 e segs.
115
Opinio perfilhada por Gonalo Castilho dos Santos, sendo que o
Autor considera que estamos perante () um dever especfico de agir por
parte do intermedirio financeiro, precisamente o dever de realizar a prestao
devida.. Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 192.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
121
esfera jurdica do intermedirio, a obrigao de
indemnizar o cliente-investidor pelos eventuais
danos causados. Esta relao de natureza
obrigacional ter a sua fonte primordial no
contrato de intermediao financeira que deu azo
sua relao contratual, sendo que a definio das
obrigaes e a respectiva responsabilidade por
incumprimento tero a sua densificao nesse
documento
116
.
Para que a clusula do art. 483. do Cdigo
Civil funcione, em articulao com o art. 304.-A,
n. 1 do CVM, necessrio que os cinco
pressupostos da responsabilidade civil estejam
preenchidos: o facto voluntrio, a ilicitude, o dano,
a culpa e o nexo de causalidade
117
.
No que toca ao facto voluntrio do agente,
necessrio que este pressuposto seja revelado
atravs de uma aco ou de uma omisso. Pense-se
numa informao no dada pelo intermedirio
financeiro que se revele absolutamente
indispensvel para a tomada de deciso do cliente-
investidor. Nos termos do art. 312., n. 1 do
CVM, uma das principais obrigaes do
intermedirio financeiro divulgar a informao
necessria, ao seu cliente, para que este consiga ter
uma deciso esclarecida e fundamentada. A aco
do intermedirio financeiro deve ser pautada por
elevados nveis de profissionalismo e diligncia e a
no realizao da prestao a que est adstrito
quer atravs de uma aco ou de uma omisso
ir provocar um dano injustificado na esfera do
credor, ou seja, o cliente-investidor
118
. atravs do
seu facto voluntrio que o intermedirio financeiro,
violando os seus deveres, ir impedir que o cliente-
investidor consiga retirar vantagens patrimoniais
das suas decises, violando assim a obrigatoriedade
116
Assim tambm, SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp.
193.
117
Iremos, nas linhas subsequentes do nosso trabalho, seguir de perto
as consideraes de Gonalo Castilho dos Santos.
118
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 200.
de agir com uma conduta transparente, leal e
diligente em vista a proteger os legtimos interesses
do seu cliente
119
.
Para alm da voluntariedade da aco,
necessrio que a actuao do intermedirio seja
ilcita, isto , tem que existir uma ()
desconformidade entre a conduta devida (a
realizao da prestao) e o comportamento
observado pelo intermedirio financeiro.
120
.
Estaremos, portanto, perante uma ilicitude de
ndole obrigacional, em funo do tipo de relao
que, supra, configurmos como ser uma relao
obrigacional. Teremos aqui, no fundo, atravs de
uma actuao ilcita, () uma disfuncionalizao
da composio inicial de interesses vertida no
contrato de intermediao financeira ()
121
.
Para ser responsabilizado pela sua actuao,
necessrio que o intermedirio financeiro actue
com culpa. Sem adiantar muitos pormenores que
iro ser analisados, infra, no ponto 4.1.1.2.,
podemos adiantar que, nesta sede, estamos perante
a necessidade de a conduta do intermedirio
financeiro seja () censurada pelo facto deste no
ter adoptado a conduta que, de acodo com o
comando legal, deveria ter adoptado.
122
.
Em quarto lugar necessrio que a aco ou
omisso do intermedirio financeiro provoque
dano na esfera jurdica do cliente-investidor. No
entendimento de GONALO CASTILHO DOS
SANTOS, estaremos perante () a supresso ou
diminuio de uma situao favorvel que estava
protegida pelo ordenamento.
123
. No mercado de
valores mobilirios, este dano consistir na
119
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 200.
120
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 200.
121
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 202. O
Autor admite que o intermedirio financeiro, para alm dos casos de
no cumprimento definitivo da prestao a que est adstrito, pode
ainda ser responsabilizado em situaes de mora, de incumprimento
temporrio da prestao, cfr., pp. 203.
122
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 208.
123
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 216.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
122
desvantagem patrimonial suportada pelo cliente-
investidor, em fino do facto voluntrio do
intermedirio. Na esteira de GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, tambm
entendemos que a indemnizao pode abranger
quer danos patrimoniais, quer no patrimoniais, e
ainda os lucros cessantes e os danos emergentes
124
.
Por ltimo, necessrio aferir do nexo de
causalidade entre o facto voluntrio e o dano
provocado
125
. No nos cabendo a ns, no nosso
trabalho e no sendo o nosso escopo, pronunciar-
nos sobre qual a teoria que se coaduna melhor
com a letra do art. 563. do Cdigo Civil,
consideramos de seguir a posio de GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, ao referir que a
teoria da causalidade adequada a que se coaduna
melhor com o regime de responsabilidade do
intermedirio financeiro. Ou seja, a indemnizao
devida por este deve-se circunscrever () aos
danos que provavelmente no teriam sido sofridos
pelo cliente se no fosse a violao do seu direito de
crdito face ao intermedirio financeiro.
126
.
Como tivemos oportunidade de analisar, a
clusula do art. 304.-A, n. 1 do CVM funciona
sempre que esteja em causa uma situao em que
o intermedirio financeiro viola os seus deveres,
colocando em perigo a confiana que o meracdo
deve suscitar nos seus agentes, nomeadamente nos
clientes-investidores. A clusula particularmente
abrangente no que toca aos deveres de informao,
124
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 217 e nota
516, com contributos doutrinrios de Sinde Monteiro. No que toca
forma como ressarcido o dano, Gonalo Castilho dos Santos faz
referncia teoria da diferena presente no art. 566., n. 2 do Cdigo
Civil, porm com algumas excepes, cfr., ob.cit., pp. 219-222.
125
Para uma perspectiva mais geral sobre o nexo de causalidade como
pressuposto da responsabilidade civil, vide, VARELA, Joo de Matos
Antunes, Das Obrigaes em Geral, Volume I, 9 Edio, Almedina,
Coimbra, 1998, pp. 582 e segs., VARELA, Joo de Matos Antunes, ob.cit.,
Volume II, Reimpresso da 7 Edio, Almedina, Coimbra, 2003, pp.
105-106 e Leito, Luis Manuel Teles de Menezes, Direito das Obrigaes,
cit., pp. 343-350.
126
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 223-228,
onde tambm aborda a questo de se o intermedirio financeiro pode
invocar uma causa virtual para diminuir ou extinguir a sua
responsabilidade.
visto que o elenco normativo determina que a
responsabilidade accionada no caso da violao
de qualquer dever informativo. E assim bem se
compreende esta soluo visto que a informao
desempenha um papel fulcral, nuclear na
construo de um clima de confiana entre os
vrios agentes do mercado, no s assegurando
uma deciso esclarecida e fundamentada por parte
do cliente-investidor que assim se sente seguro ao
aplicar as suas poupanas na busca de ganhos
patrimoniais, como ainda assegura que o prprio
mercado possa funcionar de uma forma gil e
eficiente, protegendo assim o conjunto de
intervenientes que, pelas mais variadas razes e
dependente da posio em que ocupam neste jogo
de oferta e procura de valores mobilirios,
precisam que o pblico em geral interiorize que o
mercado um espao seguro, com regras definidas
em que a confiana desempenha um papel
primordial.
4.1.1.2. A presuno de culpa do art. 304.-
A, n. 2 do Cdigo dos Valores Mobilirios
Nos termos do art. 304.-A, n. 2 do CVM: A
culpa do intermedirio financeiro presume-se quando
o dano seja causado no mbito das relaes
contratuais ou pr-contratuais e, em qualquer caso,
quando seja originado por violao de deveres de
informao..
Segundo MENEZES LEITO, estamos perante
() uma unificao do critrio de apreciao da
culpa do intermedirio financeiro (), visto que o
art. 304., n. 2 estabelece o princpio de que o
intermedirio financeiro deve agir com elevados
padres de transparncia, lealdade e
profissionalismo. Com isto, resulta que a presuno
de culpa do art. 304.-A, n. 2 do CVM encerra
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
123
dentro de si o critrio da culpa levssima
127
. Mais
acrescenta, ao considerar que o nus da prova da
culpa do intermedirio financeiro cabe ao lesado,
escudado no art. 487., n. 2 do Cdigo Civil
128
.
No obstante, as consideraes agora feitas no
retiram utilidade ao argumento que, na presuno
de culpa do art. 304.-A, n. 2 do CVM, estaremos
perante um acentuar de responsabilidade, quer na
fase contratual, quer na pr-contratual, atravs
desta inverso do nus da prova ou seja, o nus
passa a pertencer ao intermedirio financeiro que
em nada, no nosso entender e seguindo a posio
de MENEZES LEITO, altera as consideraes
tidas anteriormente no que toca ao nus da prova
em termos gerais caber ao lesado, v.g., o cliente-
investidor, mantendo assim a unidade do sistema
de responsabilidade civil do intermedirio
financeiro
129
.
Posio semelhante parece ser a adoptada por
GONALO CASTILHO DOS SANTOS. No
entendimento deste Autor, o art. 304., n. 2 do
CVM introduz um padro distinto ao existente no
art. 487., n. 2 do Cdigo Civil, no que toca
verificao da culpa na actuao do intermedirio
financeiro. Se por um lado o art. 487., n. 2 do
Cdigo Civil nos fala da ideia do bom pai de
famlia, o art. 304., n. 2 do CVM, por sua vez,
exige que o intermedirio financeiro actue de boa
f e com () elevados padres de diligncia,
lealdade e transparncia.. Segundo GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, estamos perante um
() diligentissimus pater familias ()
130
.
127
Cfr., LEITO, Luis Manuel Teles de Menezes, ob.cit., pp. 147,
qualificando-a como uma situao de responsabilidade delitual luz do
art. 483. do Cdigo Civil.
128
Cfr., LEITO, Luis Manuel Teles de Menezes, ob.cit., pp. 147-148.
Esta concluso advm da classificao desta responsabilidade como
delitual, interpretando a contrario o art. 314., n. 2 do CVM, prova essa
facilitada pelo facto de estarmos perante um () elevado padro de
diligncia ().
129
Cfr., LEITO, Luis Manuel Teles de Menezes, ob.cit., pp. 148.
130
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 210.
No seu entendimento, na esteira de MENEZES
LEITO, a presuno constante do art. 304.-A,
n. 2 do CVM, entende-se face ao critrio de culpa
levssima presente na norma legal. Tambm
considera que a existncia da presuno se
coaduna com a ideia de que o agente profissional
deve actuar com a diligncia necessria a efectivar
a confiana e a segurana que os clientes-
investidores precisam de sentir
131
. No obstante
esta concordncia, sobre o nus da culpa, na sua
opinio, () o nus da prova da culpa, e para ns,
do nexo de causalidade, que fica a cargo do lesante
(devedor inadimplente) artigo.350, n. 1 do Cdigo
Civil (). Isto , para GONALO CASTILHO
DOS SANTOS, o nus da prova da culpa presente
no art. 304.-A, n. 2 do CVM pertencer ao
intermedirio financeiro. Mais acrescenta,
defendendo que, face ao constante no art. 342.,
n. 2 do Cdigo Civil, em termos de prova do
cumprimento, o nus estar na esfera jurdica do
intermedirio financeiro. Mas se estivermos
perante o () no cumprimento de obrigaes de
contedo negativo (), o Autor admite que o
nus deve pertencer ao cliente, por fora do art.
342., n. 1 do Cdigo Civil
132
.
Na nossa opinio consideramos que a posio
que melhor protege os interesses da parte mais
fraca, isto , do cliente-investidor aquela que
encontra expresso nas palavras de MENEZES
LEITO. Na verdade, nos termos do art. 487., n.
1 do Cdigo Civil: ao lesado que incumbe provar
a culpa do autor da leso, salvo havendo presuno
de culpa.. Isto , caberia ao cliente-investidor
provar a culpa do intermedirio financeiro em caso
de danos devido a uma aco ou omisso deste
131
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 213-214.
Acrescenta ainda que esta clusula de responsabilidade tanto inclui a
responsabilidade contratual como a extra-contratual.
132
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 236-238.
Nos termos do art. 342., n. 1 do Cdigo Civil: quele que invocar um
direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos dos factos alegados.. J o art.
342., n. 2 do Cdigo Civil dispe que: A prova dos factos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito invocado compete quele contra quem a
invocao feita..
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
124
agente do mercado, mas, e de acordo com o art.
487., n. 2 do Cdigo Civil, a presuno de culpa
atribui esse nus ao intermedirio financeiro.
Parece-nos uma soluo justa e equilibrada pois
no nos devemos esquecer que o cliente-investidor
a parte mais fraca nestes contratos e cabe ao
legislador proteg-lo de eventuais abusos. Mais, a
sua aco estar facilitada atravs do amplo crtrio
aferidor presente no art. 304., n. 2 do CVM,
atravs do padro da culpa levissima. No nos
podemos esquecer que o intermedirio financeiro
tem um papel fulcral na construo de um clima
de confiana e de segurana nos clientes-
investidores, papel esse bem delineado atravs do
acervo normativo exausto que lhe cabe cumprir.
Mal seria se o cliente tivesse que provar o no
cumprimento das obrigaes do intermedirio,
tendo ele, sendo um investidor no qualificado,
acesso a toda a informao necessria para aferir da
conduta do agente em questo. Consideramos
ainda que a inverso do nus da prova, com a
existncia desta presuno de culpa, proteger os
clientes-investidores de possveis abusos de que
podem ser alvo, obrigado o intermedirio
financeiro a provar que cumpriu com os seus
deveres contratuais, pr-contratuais e de
informao.
Posto isto conclumos, em suma, que o nus da
culpa presente no art. 304.-A, n. 1 do CVM cabe
ao lesado, prova essa facilitada pelo art. 304., n. 2
atravs das exigncias de actuao do
intermedirio financeiro. E, ao mesmo tempo,
consideramos que, por fora do art.487., n. 1 do
Cdigo Civil, o nus da prova presente na
presuno de culpa do art. 304.-A, n. 2 do CVM
pertencer ao intermedirio financeiro. Isto , deve
ser o intermedirio financeiro a provar que
cumpriu com os deveres contratuais, pr-
contratuais ou de informao.
4.2.1. O regime do art. 324. do Cdigo dos
Valores Mobilirios
Como j vimos no ponto subsequente, no art.
304.-A, n.
os
1 e 2, do CVM, encontramos a
clusulas geral de imputao da responsabilidade
do intermedirio financeiro. J no art. 324. do
CVM, encontramos uma clusula de imputao
especfica no mbito contratual. Falamos,
essencialmente, da nulidade de clusulas de
excluso de responsabilidade por actos de
representante ou auxiliar. Neste ponto iremos
tentar descobrir se a excluso da responsabilidade
do intermedirio financeiro por acto de
representante ou auxiliar pode ser admissvel.
4.1.2.1. A excluso da responsabilidade civil
do intermedirio financeiro
No art. 324. do CVM encontramos regras
autnomas de responsabilidade civil do
intermedirio, com certas especialidades face
responsabilidade contratual. Desde logo,
encontramos o art. 324., n. 1 do CVM que prev
a nulidade de clusulas que excluem a
responsabilidade do intermedirio devido a actos
praticados por representantes ou auxiliares. Na
opinio de MENEZES LEITO, estamos perante
uma derrogao do art. 800., n. 2 do Cdigo
Civil
133
, em que, no s se impede a excluso da
responsabilidade do intermedirio financeiro, como
o art. 800. do Cdigo Civil apenas poder ter
aplicao na esfera da responsabilidade contratual
do intermedirio financeiro, sendo que, nos
restantes casos, o intermedirio financeiro apenas
ir responder pelos actos de terceiro segundo o art.
500. do Cdigo Civil
134
.
133
Nos termos do art. 800, n. 2 do Cdigo Civil: A responsabilidade
pode ser excluda ou limitada, mediante acordo prvio dos interessados, desde que
a excluso ou limitao no compreenda actos que representem a violao de
deveres impostos por normas de ordem pblica..
134
Cfr., LEITO, Lus Manuel Teles de Menezes, ob.cit., pp. 148. Em
concordncia com a opinio que se trata de uma derrogao do art. 800,
n. 2 do Cdigo Civil, cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit.,
pp. 241.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
125
Uma questo pertinente e de aguda
importncia nesta sede a de saber se possvel a
estipulao, atravs de clusulas contratuais gerais,
de regras que limitem ou excluem a
responsabilidade civil do intermedirio financeiro
para efeitos do art. 324. do CVM, quando os
actos sejam praticados por seu representante ou
auxiliar.
Segundo o entendimento de GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, a anlise a este
problema ter que partir de um conjunto de
normas que contm importantes subsduos para
esta questo, nomeadamente, os arts. 324., n. 1, e
334., n. 2, ambos do CVM; o art. 809. do
Cdigo Civil e os arts. 18., alneas c) e d) e 21.,
alnea d), ambos da Lei das Clusulas Contratuais
Gerais, doravante LCCG
135
. No seu
entendimento, a regra constante do art. 324., n. 1
do Cdigo Civil, que veda a possibilidade de
excluso de responsabilidade, se coaduna com a
previso do art. 809. do Cdigo Civil, que probe
as clusulas em que o credor renuncia
antecipadamente aos seus direitos
136
. Entende o
Autor que a equiparao feita pelo art. 321., n. 3
do CVM
137
extempornea pois a articulao dos
artigos da LCCG so suficientes para ter obter esse
efeito. Ou seja, se atravs do art. 321., n. 3 do
CVM, temos a equiparao de investidores no
qualificados a consumidores, isto significa que, nos
termos da LCCG, iriam ser-lhes aplicado o regime
constante dos arts. 20. e segs. da LCCG. Ora, esta
remisso olvida o facto de, nos termos do art. 20.
da LCCG, o regime dos arts. 17. e segs. da
LCCG, aplicveis aos profissionais, tambm
135
Aprovado pelo Decreto-Lei n. 446/85, de 25 de Outubro,
republicado pelo Decreto-Lei n. 220/95, de 31 de Janeiro e alterado
pelo Decreto-Lei n. 249/99, de 7 de Julho. Cfr., SANTOS, Gonalo
Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 241.
136
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 242.
137
Nos termos do art. 321., n. 3 do CVM: Aos contratos de
intermediao financeira aplicvel o regime das clusulas contratuais gerais,
sendo que para esse efeito os investidores no qualificados equiparados a
consumidores..
extensivo aos consumidores. Por tudo isto, o
Autor, posio que perfilhamos, considera que a
existncia do art. 321., n. 3 do CVM dbia pois
o seu efeito j conseguido atravs da conjugao
dos vrios elencos normativos referidos da
LCCG
138
.
No entendimento de GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, no ser admissvel a
existncia de clusulas que excluem a
responsabilidade do intermedirio financeiro, ou
sequer que a limitem
139
. Defende o Autor que o
art. 324., n. 1 do CVM veda por completo a
possibilidade de derrogao do art. 800., n. 2 do
Cdigo Civil, proibindo a existncia de clusulas
de excluso da responsabilidade, em respeito ao
art. 809. do Cdigo Civil e do art. 18., alnea d)
da LCCG, mesmo que haja culpa leve
140
. Questo
diferente se coloca quando se trata de limitar a
responsabilidade civil obrigacional do
intermedirio, atravs de uma clusula contratual
geral ou outro qualquer molde negocial e perante
qualquer tipo de culpa.
Entende GONALO CASTILHO DOS
SANTOS, na nossa opinio acertadamente sendo
uma posio que aderimos por completo, que no
deve ser permitida a possibilidade limitao de
responsabilidade do intermedirio financeiro, por
respeito aos valores que presidem ao regime de
138
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 243.
139
No nos cabe a ns, por economia de espao e por estar fora do
mbito do nosso trabalho, discutir a concatenao possvel entre o
regime da LCCG e do art. 809. do Cdigo Civil, optamos apenas por
fazer uma referncia breve. Segundo Gonalo Castilho dos Santos, a
doutrina divide-se em trs correntes nesta matria: uns admitem uma
interpretao restritiva do art. 809. do Cdigo Civil, com o intuito de
admitir clusulas que excluem a responsabilidade sustentadas na culpa
leve; outros defendem que o Cdigo Civil no pode ser mais restritivo
que a LCCG, argumentado portanto que possvel a limitao ou a
excluso da responsabilidade por culpa leve; outros h ainda que
consideram que uma lei especial, como a LCCG, no poder derrogar
uma lei geral como o Cdigo Civil, concluindo pela nulidade de
qualquer clusula que viole o art. 809. do Cdigo Civil. No obstante
estas posies, a doutrina considera, pacificamente, a possibilidade de
excluir a responsabilidade do devedor por culpa leve, e limit-la quando
estejamos perante actos praticados por representantes ou auxiliares.
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 244-245, com
notas e referncias bibliogrficas.
140
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 245.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
126
imputao do Cdigo dos Valores Mobilirios. Se
por um lado o intermedirio financeiro est
adstrito a um conjunto pesado de deveres que
visam construir uma confiana e uma segurana
suficientes para o cliente-investidor possa procurar
no mercado de valores mobilirios as melhores
formas de ter ganhos patrimoniais, tambm
verdade que esta aco por parte do intermedirio
deve ser feito luz do art. 304., n. 2 do CVM,
ou seja, luz do critrio do diligentissimus pater
familias
141
. Com isto pretende-se dizer que o
intermedirio financeiro, de forma mais apurada e
exigente da frmula que encontramos na lei civil,
tem deveres acrescidos devido posio que ocupa
como agente do mercado. Isto , no chega, na
nossa opinio, dizer que o intermedirio financeiro
deve actuar como um bom pai de famlia. Mesmo
considerando que estamos perante uma clusula
geral que deve ser preenchida casuisticamente,
consideramos que ela no consegue preencher por
completo todas as funes, toda a importncia que
o intermedirio tem. No nos podemos esquecer
que ele est obrigado a cumprir um manancial
exaustivo de deveres de informao, sendo ele um
dos principais agentes que deve transmitir uma
confiana nos mercados que se extenda aos
clientes-investidores. A sua funo no pode ser
diminuda ao ponto que se deve comportar como
um normal contraente, bem mais do que isso, alis,
exige a prpria lei mobiliria ao exigir que o
intermedirio actue com elevados padres de
lealdade, transparncia e diligncia. Ns estamos
perante sujeitos com uma posio privilegiada, no
que toca ao acesso informao, no mercado de
capitais e essa mesma informao o vector
principal para criar os dois pilares que sustentam
todo o mercado de valores mobilirios: a confiana
e a segurana. Por isto, consideramos que no se
pode admitir a excluso ou mesmo a limitao da
141
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 246.
responsabilidade civil obrigacional do intermedirio
financeiro, porque estar-se-ia a criar uma distoro
num regime que, no seu elenco normativo, coloca
um acento tnico bastante forte na proteco dos
agentes mais fracos e na necessidade que o
intermedirio financeiro se comporte de forma a
no colocar em causa a confiana e a segurana
que os mercados necessitam para poder funcionar
de forma eficiente e, permitir, ao cliente-investidor
obter ganhos patrimoniais atravs da aplicao das
suas poupanas.
4.1.3. A natureza jurdica da
responsabilidade civil do intermedirio
financeiro perante o cliente
A dvida de saber qual a natureza jurdica do
esquema da responsabilidade civil do intermedirio
financeiro no , de todo, de resposta fcil. Numa
perspectiva inicial, na esteira de GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, podemos considerar
que a lei mobiliria aceita que a responsabilidade
civil do intermedirio seja aceite
independentemente de culpa: referimo-nos,
concretamente e a ttulo exemplificativo, relao
entre o art. 324. do CVM e o art. 800. do
Cdigo Civil
142
.
Refere o Autor que, para alm deste ponto
inicial, a responsabilidade do intermedirio tem
uma tendncia, nas suas palavras, ()
objectivizada ou objectivizante.. No seu entender,
para alm da responsabilidade objectiva presente
ao longo da lei mobiliria, temos ainda () outros
exemplos importantes e tambm eles nevrlgicos
(), que permitem uma densificao do tipo de
responsabilidade civil que estamos perante.
Relacionado com esta perspectiva, de realar que
a lei mobiliria, atravs do art. 304., n. 2 do
142
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 270-271.
Na anlise subsequente iremos seguir as suas consideraes de perto.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
127
CVM, impe ao intermedirio financeiro uma
actuao mais exigente que a do bom pai de
famlia, imputando-lhe a responsabilidade atravs
do mecanismo jurdico da presuno de culpa
143
.
No obstante estas consideraes, o Autor
considera e na nossa opinio, de forma correcta
que estamos perante uma responsabilidade
subjectiva, fundada na culpa do intermedirio
financeiro
144
. E neste ponto que GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, admite que existe
uma influncia objectiva ou objectivizante neste
regime de pendor subjectivista. No seu
entendimento, as normas de ratio objectiva, no
campo da responsabilidade do intermedirio
financeiro, surgem devido ao risco inerente
participao no mercado de capitais. Para o Autor,
existe uma () distribuio da respectiva
perigosidade enquanto susceptibilidade danosa
por quem, mais beneficiando dessa actividade,
estaria em condies de poder/dever indemnizar.
145
.
Para alm deste ponto, o Autor acrescenta ainda a
seguinte ideia-chave: nos contratos de
intermediao financeira existe uma lea, em que
o risco da operao ponderado pelo cliente-
investidor com o objectivo de ter ganhos
patrimoniais. Deste modo o cliente-investidor
surge como o beneficirio do risco que est
subjacente ao negcio em questo, negando,
consequentemente, a ideia de dano para efeitos de
imputao da responsabilidade em casos de
actuao diligente por parte do intermedirio
financeiro
146
.
143
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 270.
Considera o Autor que este regime deve ser articulado com os arts.
304.-A, n. 2 do CVM e com o art. 799. do Cdigo Civil. Isto sem
prejuzo, como iremos ver mais frente, de se considerar que estamos
perante uma responsabilidade subjectiva.
144
O Autor coloca o acento tnico nos arts. 304., n. 2 e 314., ambos
do CVM, para justificar a sua afirmao. Cfr., SANTOS, Gonalo Andr
Castilho dos, ob.cit., pp. 271.
145
Cfr, SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 271. No
obstante esta sua posio, o Autor considera que no se deve entender a
actividade do intermedirio financeiro luz do art. 493., n. 2 do
Cdigo Civil, isto , consider-la como uma actividade perigosa.
146
Gonalo Castilho dos Santos frisa que estamos perante a () lea
negocial (), e no perante o () risco enquanto instncia de ponderao de
Na tentativa de descobrir a ratio fundadora da
responsabilidade civil do intermedirio financeiro,
consideramos que, na esteira de GONALO
CASTILHO DOS SANTOS, devemos procurar a
soluo noutros quadrantes como sejam a tutela da
confiana e a funo econmico-social do contrato
de intermediao financeira. Se por um lado o
intermedirio financeiro encerra dentro de si a
necessidade de criar uma imagem de credibilidade
junto dos outros agentes do mercado de valores
mobilirios, ele tambm a pessoa, por estipulao
da lei mobiliria, que permite ao cliente-investidor
entrar no mundo dos valores mobilirios e ter a
possibilidade de obter ganhos patrimoniais
147
. Isto
no s provoca uma necessidade por parte das
autoridades reguladoras de conformar a actividade
do intermedirio financeiro dentro de regras claras,
como tambm faz com que, nas palavras de
GONALO CASTILHO DOS SANTOS, ()
esta intermediao gentica, assumida pelo
intermedirio financeiro junto do cliente, justifica que
a lei acabe por alargar as frmulas tradicionais (ex
vi da lei civil) de imputao objectiva (ou
exigentemente quase-objectiva) (). No fundo, o
Autor frisa o acento tnico na confiana que o
intermedirio financeiro transmite ao cliente-
investidor e, principalmente, ao papel de () elo
central () que este agente desempenha na
ligao fulcral que deve existir entre mercado,
intermedirios e clientes-investidores, de forma a
que seja criada uma redoma de confiana e de
segurana
148
.
Em suma, na nossa opinio consideramos que a
responsabilidade civil do intermedirio financeiro
envolve duas vertentes. Por um lado temos uma
danos (). Assim se compreende que o intermedirio financeiro no
responda por eventuais perdas decorrentes da operao inserida no
mercado de capitais, caso tenha actuado de acordo com a exigncia da
lei mobiliria, e a perda tenha sido resultado de desvalorizaes de
cotaes. Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 271-
272.
147
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 274.
148
Cfr., SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, ob.cit., pp. 274-275.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
128
responsabilidade subjectiva fundada na culpa do
intermedirio financeiro com a expresso legal
constante do art. 304.-A, n. 2 do CVM, com a
articulao com a clusula de aferio do
comportamento do intermedirio constante do art.
304., n. 2 do CVM. E por outro lado tambm
temos a manifestao de responsabilidade objectiva
do intermedirio, no s atravs da
responsabilidade contratual presente no art. 324.
do CVM, em colaborao estrita em termos de
funcionamento com os arts. 800. e 809. do
Cdigo Civil, como tambm na importncia que o
intermedirio financeiro tem no funcionamento do
mercado de valores mobilirios, em parte devido
excepcional posio que ele possui em termos de
conhecimento das informaes necessrias para
formar um clima de confiana e de segurana
indispensveis para o bom funcionamento do
mercado.
5 Concluso
O contrato de intermediao financeira surge
como um dos mais importantes e fulcrais inserido
no mercado dos valores mobilirios. Consiste no
negcio jurdico que permite o encontro da oferta
e da procura no mercado de valores mobilirios,
isto , permite a um indivduo aceder a um
instrumento para obter ganhos patrimoniais com o
investimento das suas poupanas, estabelecendo,
ao mesmo tempo, uma relao de confiana com o
agente do mercado que ir servir de interlocutor
o intermedirio financeiro.
O Cdigo dos Valores Mobilirios elenca um
quadro normativo contratual no taxativo. De uma
forma geral, podemos concluir que o contrato de
intermediao surge como uma categoria
contratual autnoma, com regras prprias. Entre
elas, encontramos a necessidade de ter forma
escrita, consubstancia-se como verdadeiros
contratos comerciais, contendo ainda vrios
deveres informativos que so comuns a todos os
subtipos legais. Mais especificamente, encontramos
a distino entre contratos de investiemento e
contratos auxiliares, sendo que os primeiros esto
dirigidos para a prtica de servios na rea da
intermediao financeira; e os segundos, tm como
funo pretar servios auxiliares aos contratos de
intermediao.
Tambm podemos concluir que os deveres
informativos presentes no CVM so extensos, de
um alcance e de uma profundidade tal que se
tornam numa pea fulcral para a sobrevivncia do
prprio mercado. Duas razes se destacam para
justificar este profuso elenco normativo: a
proteco dos investidores e a defesa do mercado e
da sua regulao. Por um lado os deveres
informativos protegem os investidores mais frgeis,
os investidores no qualificados, que dificilmente
tm acesso informao necessria para lhes
transmitir confiana. A regulao legal que
podemos encontrar no CVM tem como objectivo
proteger estes investidores, formando na sua esfera
um sentimento de confiana e de segurana que
lhes permita ter uma deciso esclarecida e
fundamentada sobre quais as melhores opes para
investir as suas poupanas. E, por outro lado, estes
deveres informativos tambm ganham uma
importncia especial porque so uma das traves-
mestras indispensveis para defender o prprio
mercado de agentes que pensem mais em ganhos
prprios. Ademais, a existncia de uma vasta
informao, completa e verosmil, ajuda o prprio
mercado a regular-se e a proteger-se, permitindo
que transparea para a sociedade a imagem de um
conjunto de agentes que actuam de boa f.
Os deveres de informao do intermedirio
financeiro podem ser divididos em dois grandes
grupos: os deveres de informao pr-contratual e
os deveres de informao contratual. Os primeiros
encontram-se regulados nos arts. 312. e segs. do
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
129
CVM e tm por objectivo levar o cliente-
investidor a tomar uma deciso esclarecida e
fundamentada sobre os seus projectos de
investimento, como tambm criar o clima de
confiana e segurana necessrios para o mercado
de capitais prosperar. Os segundos encontram-se
previstos nos arts. 323. e segs. do CVM e,
debruam-se principalmente, sobre os deveres de
informao nas operaes de execuo de ordens e
sobre os resultados das operaes. Constituem
deveres tpicos da relao de mandato, como
tambm se podem classificar como informao
sucessiva a ser transmitida, obrigatoriamente, pelo
intermedirio financeiro.
O regime da responsabilidade civil do
intermedirio financeiro pode ser encontrado,
principalmente, nos arts. 304.-A e 324., ambos
do CVM. Por um lado, no art. 304.-A, n. 1 do
CVM prev-se a responsabilidade do intermedirio
financeiro por violao dos seus deveres impostos
por lei ou regulamento, tratando-se de disposies
que visam proteger interesses alheios, luz do art.
483. do Cdigo Civil. Por outro, o art. 304.-A, n.
2 do CVM estabelece uma presuno de culpa
quando se viole os deveres respeitantes
organizao e ao exercico da actividade do
intermedirio financeiro, bem como quando esteja
em causa qualquer dever de informao. Estamos
perante uma relao de ndole obrigacional, onde o
intermedirio financeiro fica adstrito a cumprir
com uma prestao perante o cliente-investidor.
Deste modo, o incumprimento por sua aprte, de
qualquer dos seus deveres, tem como consequncia
que incorra em responsabilidade. E, na mesma
esteira mas aprofundando o raciocnio, a presuno
de culpa do art. 304.-A, n.- 2 do CVM coloca
uma tnica mais intensa nos deveres de
informao, sobressaindo ainda mais a sua
importncia.
Para a aplicao do mecanismo da
responsabilidade civil, previsto pelo art. 483. do
Cdigo Civil, necessrio que estejam reunidos os
cinco pressupostos: facto voluntrio, ilicitude, dano,
culpa e nexo de causalidade, em que o nus da
prova caber ao lesado. J no que toca presuno
de culpa, podemos concluir que, para alm de
existir uma unificao do critrio da culpa, no s
atravs do art. 304., n. 2 do CVM que impe
uma conduta diligentssima por parte do
intermedirio financeiro, institui uma inverso do
nus da prova, cabendo a este provar que cumpriu,
de acordo com a clusula constante do art. 304.,
n. 2 do CVM, os seus deveres.
J no regime do art. 324., n. 1 do CVM, que
prev a nulidade das clusulas que excluem a
responsabilidade civil do intermedirio financeiro
por actos praticados por representante ou auxiliar,
entendemos que, no s no pode ser permtida
clusulas que excluem a responsabilidade do
intermedirio nestes casos, como a limitao
tambm deve ser proibida. Assim pois o art.
809. do Cdigo Civil probe a renncia
antecipada dos direitos por parte do credor, e o art.
20. da LCCG equipara, para o regime do diploma
em questo, os consumidores aos profissionais
fazendo com que a proibio constante do art.
18., alnea d) do CVM tambm se aplique nesta
sede. Tambm a limitao deve ser afastada
porque a funo do intermedirio financeiro no se
coaduna com a possibilidade de admitir que no
cumpra os seus deveres de forma diligentssima.
Cabe a ele servir como elo de ligao entre a oferta
e a procura no mercado de valores mobilirios,
recaindo sobre ele deveres que se constituem
como mais amplos e exigentes face ao critrio geral
do bom pai de famlia. Com o acesso privilegiado
que este agente tem, e com o dever que lhe recai
para a divulgar da melhor forma possvel, com
eficincia e verdade, no poder haver margem
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
130
para uma desculpabilizao do mesmo, em caso de
violao dos deveres a que est obrigado.
A responsabilidade civil do intermedirio
financeiro tem duas vertentes, coincidentes com o
profuso regime legal. A sua responsabilidade de
ndole subjectiva com a necessidade de aferio da
culpa do intermedirio, luz da clusula do art.
304.-A, n. 2 do CVM. E a sua responsabilidade
tambm de pender objectivo, aquando do
incumprimento dos deveres legais a que est
adstrito, sem esquecer a responsabilidade civil
independente de culpa, que pode ser encontrada
no art. 324. do CVM.
6 Bibliografia
AFONSO, A. Isabel, O Contrato de Gesto de
Carteiras: Deveres e Responsabilidades do Intermedirio
Financeiro, in AaVv: Jornadas Sociedades Abertas,
Valores Mobilirios e Intermediao Financeira, Almedina,
Coimbra, 2007, pp. 55-86
ALBUQUERQUE, Pedro de, O Direito de Preferncia
dos Scios em Aumentos de Capital nas Sociedades
Annimas e por Quotas, Almedina, Coimbra, 1993
ALMEIDA, Carlos Ferreira de, As Transaces de
Conta Alheia no mbito da Intermediao no Mercado de
Valores Mobilirios, in AaVv: Direito dos Valores
Mobilirios, Lex, Lisboa, 1997, pp. 291-309.
- Contratos II. Contedo. Contratos de Troca, Almedina,
Coimbra, 2007
- Relao de Clientela na Intermediao de Valores
Mobilirios, in: Direito dos Valores Mobilirios, Volume III,
Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 121-136.
ALMEIDA, Joo Queirs de, Contratos de
Intermediao Financeira enquanto Categoria Jurdica, in:
AaVv, Caderno dos Mercados dos Valores Mobilirios, n.
24, Novembro de 2006, pp. 291-303.
ANTUNES, Jos A. Engrcia, Os Contratos de
Intermediao Financeira, in: Boletim da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXXXV,
Coimbra, 2007, pp. 277-319.
- Direito dos Contratos Comerciais, 1 Edio,
Almedina, Coimbra, 2009.
BARROSO, H. Tapp, Subscrio de Aces atravs de
Intermedirios O Caso Especial da Tomada Firme, Diss.,
UCP, Lisboa, 1994
CAMANHO, Paula Ponces, Do Contrato de Depsito
Bancrio: natureza jurdica e alguns problemas de regime,
Almedina, Coimbra, 1998
CMARA, Paulo, Manual de Direito dos Valores
Mobilirios, Almedina, Coimbra, 2009
CAMUZZI, Sergio Scotti, I Conflitti di Interessi fra
Intermediari Finanziari e Clienti nella Direttiva MIFID, in:
Banca Bolsa Titolo di Credito, Volume LX, 2, Marzo-Aprile
2007, Giuffr Editore, 2007, pp. 121-132.
CASTALDI, Giovanni e FERRO-LUZZI, Paolo, La
Nuova Legge Bancaria, Tomo III, Giuffr Editore, 1996
CASTRO, Carlos Osrio de, A Informao no Direito
do Mercado de Valores Mobilirios, in: Direito dos Valores
Mobilirios, Lex, Lisboa, 1997, pp. 333 e segs.
CORDEIRO, Antnio de Menezes, Tratado de Direito
Civil Portugus, Parte Geral, Tomo I, 2 Reimpresso da 3
Edio de Maro de 2005 (Aumentada e Inteiramente
Revista), Almedina, Coimbra, 2009
- Da Boa F no Direito Civil, Volume I e II, Almedina,
Coimbra, 1997
- Manual de Direito Bancrio, 4 Edio, Lisboa,
Almedina, 2010
- Manual de Direito Comercial, 1 Edio, Volume I,
Almedina, Coimbra, 2001
DUARTE, Rui Pinto, Contratos de Intermediao
Financeira no Cdigo dos Valores Mobilirios, in: AaVv,
Caderno do Mercado de Valores Mobilirios, n. 7, Abril de
2000, pp. 351-372
FARIA, Jos Manuel, Regulando a Actividade
Financeira: As Actividades de Intermediao Financeira
Razes e Critrios Gerais para a Compartimentao, in:
AaVv, Caderno do Mercado de Valores Mobilirios, n. 15,
Dezembro de 2002, pp. 1-24
FERREIRA, Amadeu Jos, Ordem de Bolsa, in:
Revista da Ordem dos Advogados, Ano 52, Julho de 1992,
Lisboa, pp.467-511
- Direito dos Valores Mobilirios, AAFDL, Lisboa, 1997
FERREIRA, Eduardo Paz, A Informao no Mercado
de Valores Mobilirios, in: AaVv, Separata da Revista da
Banca, n. 50, Julho/Dezembro de 2000, pp. 5 e segs.
GOMES, Ftima, Subscrio Indirecta e Tomada
Firme, in: Direito e Justia, Volume VIII, Tomo I, 1994,
pp. 201-292.
- Contratos de Intermediao Financeira, Sumrio
Alargado, in: Estudos Dedicados ao Prof.Doutor Mrio Jlio
Almeida Costa, UCP Editora, Lisboa, 1 Edio, 2002, pp.
565-599.
GONZALEZ, P. Boullosa, Gesto de Carteiras
Deveres de Informao, Anotao Sentena da 5 Vara
Cvel da Comarca do Porto, 3 Seco, Processo n.
2261/05.0TVPRT in: AaVv Cadernos do Mercado de
Valores Mobilirios, N. 30, Agosto de 2008, pp. 147-166.
LEITO, Lus Manuel Teles de Menezes, Actividades
de Intermediao e Responsabilidade dos Intermedirios
Financeiros, in: Direito dos Valores Mobilirios,Volume II,
Coimbra, 2000, pp. 129-156.
A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
131
- Direito das Obrigaes, Volume I, 8 Edio, Almedina,
Coimbra, 2009
- Direito das Obrigaes, Volume III, Contratos em
Especial, 6 Edio, Almedina, Coimbra, 2009
MAFFEIS, Daniele, Intermediario Contro Investitore: i
Derivati Over The Counter, in: Banca Borsa Titoli di
Credito, Volume LXIII, 6, Novembre-Dicembre 2010,
Giuffr Editore, 2010, pp. 779-796
MARTINS, Fazenda, Deveres dos Intermedirios
Financeiros, em especial, os Deveres para com os Clientes e
o Mercado, in: AaVv Cadernos do Mercado de Valores
Mobilirios, n.7, Abril de 2000, pp. 328-348
MASCARENHAS, Maria Vaz de, O Contrato de
Gesto de Carteiras: Natureza, Contedo e Deveres
Anotao a Acrdo do Supremo Tribunal de Justia, in:
AaVv, Cadernos do Mercado de Valores Mobilirios, n. 13,
Abril de 2002, pp. 109-128
MONTEIRO, Jorge Ferreira Sinde, Responsabilidade
por Conselhos, Recomendaes ou Informaes, Almedina,
Coimbra, 1989
NUNES, Fernanda Conceio, Os Intermedirios
Financeiros, in: Direito dos Valores Mobilirios, Volume II,
2000, pp. 91-128.
OGANDO, Jos Joo de Avillez, Os Deveres de
Informao Permanente no Mercado de Capitais, in:
Revista da Ordem dos Advogados, Ano 64, Novembro de
2004, Lisboa, pp. 201-256.
PEREIRA, Maria Rebelo, Contratos de registo e
Depsito de Valores Mobilirios Conceito e Regime, in:
AaVv Cadernos do Mercado de Valores Mobilirios, n. 15,
Dezembro de 2002, pp. 317-322
PERRONE, Andrea, Regole di Comportamento e
Tutele degli Investitori. Less is More, in: Banca Bolsa Titoli
di Credito, Volume LXIII, 5, Settembre-Ottobre 2010
Giuffr Editore, 2010
- Gli Obblighi di Informazione nella Prestazione dei
Servizi di Investimenti, in: Banca Bolsa Titoli di Credito,
Volume LIX, 4, Luglio-Agosto 2006, Giuffr Editore,
2006, pp. 372-387
PINA, Carlos Costa, Dever de Informao e
Responsabilidade pelo Prospecto no Mercado Primrio de
Valores Mobilirios, Coimbra Editora, Coimbra, 1999
POSER, Norman e FANTO, James, Broker-Dealer Law
and Regulation, 4 Edio, Aspen, New York, 2007
RODRIGUES, Sofia Nascimento, Aspectos jurdicos
da Actividade e dos Relatrios de Anlise Financeira, in:
AaVv, Cadernos do Mercado dos Valores Mobilirios, n.
14, Agosto de 2002, pp. 100-104
- Os Contratos de Reporte e de Emprstimo no
Cdigo dos Valores Mobilirios, in: AaVv, Cadernos do
Mercado dos Valores Mobilirios, n. 7, Abril de 2000, pp.
288-326.
- A Proteco dos Investidores em Valores Mobilirios,
Almedina, Coimbra, 2001
SANTOS, Gonalo Andr Castilho dos, A
Responsabilidade Civil do Intermedirio Financeiro Perante o
Cliente, Almedina, Coimbra, 2008
VALE, Alexandre Lucena e, Consultoria para
Investimento em Valores Mobilirios, in: AaVv, Direito
dos Valores Mobilirios, volume V, Coimbra Editora,
Coimbra, 2004, pp. 343-403.
VARELA, Joo de Matos Antunes, Das Obrigaes em
Geral, Volume I, 9 Edio, Almedina, Coimbra, 1998
- Das Obrigaes em Geral, Volume II, Reimpresso da
7 Edio, Almedina, Coimbra, 2003.
VASCONCELOS, Pedro de Pais, Mandato Bancrio,
in: AaVv, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor
Inocncio Galvo Telles, Volume II Direito Bancrio,
Almedina, Coimbra, 2002, pp. 131-155.
VIGO, Ruggero, La Reticenza dellIntermediario nei
Contrati Relativi alla Prestazione di Servizio
dInvestimento, in: Banca Bolsa Titoli di Credito, Volume
LVIII, 6 Novembre-Dicembre 2005, Giuffr Editore, 2005,
pp. 665-674.
O AUTOR
Pedro Miguel S.M. Rodrigues, nascido a 18 de Julho
de 1988, actualmente frequenta o curso de Mestrado
Cientfico da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, na rea de Direito Bancrio e Direito dos
Seguros, procedendo neste momento elaborao da
respectiva Tese de Mestrado, aps terminar o primeiro
ano com mdia final de 16 valores.
Comeou os seus estudos nos Salesianos de Lisboa,
mudando-se posteriormente para a Escola Bsica Lus
de Cames, onde estudou at ao 9. Ano. Efectuou os
estudos secundrios no Liceu D. Filipa de Lencastre, na
rea de Humanidades, e aps ter frequentado o Neues
Gymnasium Nrnberg ao abrigo de uma bolsa
concedida pelo Gethe Institut, terminou os estudos
secundrios com a mdia final de 16 valores.
Mais tarde, concluiu a Licenciatura em Direito, com
a mdia final de 14 valores, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, frequentando ainda, ao abrigo
do programa Erasmus, a Mykolas Romeris Universitetas,
em Vilnius.
PEDRO MIGUEL S.M. RODRIGUES A intermediao financeira: em especial, os deveres de informao do intermedirio perante o cliente
132
DIREITO ADMINISTRATIVO
Ano 1 N. 02 [pp. 133-144]
133
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES
Mestre e Investigador em Direito
RESUMO:
No presente estudo procuramos desenvolver, criticamente, os aspetos
mais marcantes do princpio da devoluo facultativa ou da suficincia
discricionria no contencioso administrativo.
O seu enquadramento dogmtico, os seus carateres fundamentais, a
concretizao prtica do substrato conteudstico dos dois princpios em
que se desdobra devoluo facultativa; suficincia discricionria.
Finalmente, a problematizao destes dois critrios jurdicos enquanto
instrumentos orientativos da conduta do interprete/julgador nos
tribunais administrativos.
PRINCPIO DA DEVOLUO FACULTATIVA
OU DA SUFICINCIA DISCRICIONRIA NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES Princpio da devoluo facultativa
134
PRINCPIO DA DEVOLUO FACULTATIVA
OU DA SUFICINCIA DISCRICIONRIA
NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES
Mestre e Investigador em Direito
Breve enquadramento
O princpio que pretendemos analisar no se
encontra isolado, mas como caractere
constitutivo de um micro sistema de princpios
relativos prossecuo processual (decurso,
conduo e extino)
1
que partilha um lugar, a
par de outros micro sistemas, num macro sistema
designado de princpios gerais do processo
administrativo. Todos os elementos
compreendidos nesse macro cosmos revelam-se
dos desgnios constantes do contedo das normas
adjetivas de direito administrativo, que () lhes
do concretizao e () permitem a sua
formulao a partir das solues estabelecidas.
Estes princpios processuais apresentam-se como
construes analticas feitas pelo intrprete
/aplicador do direito com base nas solues
jurdicas densificadas nas normas legais do
processo administrativo, exemplo expressivo de
um momento em que a cincia do direito
constri o seu prprio objecto.
2
3
1
ANDRADE, Vieira de - Justia Administrativa: Lies, 12. Ed.,
Coimbra: Almedina, 2012, pg. 441.
2
Ibidem, pg. 425.
3
Para mais desenvolvimentos sobre as caractersticas dos princpios
em geral e respetiva distino das regras, ver CANOTILHO, J.J. Gomes, -
Direito Constitucional e Teoria da Constituio, 7. Ed., Coimbra:
Almedina, 2012, pgs. 1160 e 1161.
1- Enquadramento Sistemtico
Dos princpio gerais do processo administrativo
4
I. Princpios relativos promoo processual
- Princpio da necessidade do pedido
- Princpio da promoo alternativa, particular ou
pblica
II. Princpios relativos ao mbito processual
- Princpio da vinculao do juiz ao pedido
- Princpio da limitao do juiz pela causa do
pedido
III. Princpio relativos prossecuo processual
ex:
- Princpio da tipicidade e da adequao formal da
tramitao
- Princpio da devoluo facultativa ou da
suficincia discricionria
- Princpio da igualdade das partes e da boa-f
processual
IV. Princpios relativos prova ex.
- Princpio da investigao
- Princpio da universalidade dos meios de prova
V. Princpios relativos forma processual ex.
- Princpio da fundamentao obrigatria das
sentenas.
4
ANDRADE, Vieira de - Justia Administrativa: lies (), op. cit.,
pgs. 425-429.
Princpio da devoluo facultativa
135
2- Princpio da devoluo facultativa ou
da suficincia discricionria
Em termos dogmticos, este princpio
basilar do sistema de contencioso administrativo
desdobra-se em dois princpios estruturantes
5
devoluo facultativa; suficincia discricionria
que se apresentam, valorativamente, numa
posio intermdia ou ecltica, em comparao
com o substrato das teses de devoluo
obrigatria (acolhida, entre ns, at 1984) e a
tese do conhecimento obrigatrio.
6
7
8
2.1- Densificao legal
A sede legal dos princpios em anlise est no
artigo 15. do CPTA (Lei n. 15/2002 de 22 de
Fevereiro) que, em termos sistemticos,
encontra-se no captulo III, seco I. Para o efeito
hermenutico pretendido bastante uma mera
interpretao literal, todavia, sem descurar o
elemento teleolgico constante da respetiva
norma jurdica, no caso do princpio da
devoluo facultativa (art. 15. n.1 do CPTA), e,
promover uma interpretao por inferncia de
princpios gerais implcitos, no demarcar dos
respetivos corolrios do princpio da suficincia
discricionria.
9
10
5
Ou diferentes perspetivas do mesmo princpio.
6
Este regime foi institudo pelo ETAF (art. 4. n.2)
[desenvolvido pelo art. 7. da LPTA], em 1984 (valia at ento o
princpio da devoluo obrigatria). Sobre o alcance deste poder do
juiz, v. o Acrdo do STA/Pleno de 16/4/97, P. 27375, nota de
rodap n. 979 de Vieira de Andrade, in Justia Administrativa: Lies,
pg. 425.
7
SANTOS BOTELHO, Jos Manuel da S. - Contencioso
Administrativo : anotado, comentado, jurisprudncia, Coimbra:
Almedina, 2002, pgs. 37 e seguintes., e 151-152
8
Realizando um contraponto de regimes o Acrdo do STA
/Pleno de 18-02-1998, de processo 125899 -no art. 4, n. 2 do
ETAF, consagrou-se inovatoriamente o princpio da suficincia da
jurisdio administrativa, e, ao contrrio do que acontecia no
direito anterior - art. 72 do RSTA -, o Juiz tem hoje a faculdade, no
o dever, de sobrestar na deciso at que o tribunal competente se
pronuncie.
9
Nome atribudo pelo autor Vieira de Andrade. ANDRADE,
Vieira de - Justia Administrativa: Lies (), op. cit., pg. 446-
447.
10
ESTEVES DE OLIVEIRA, Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA
, Mrio - Cdigo de Processo nos tribunais Administrativos,
Volume I, Coimbra: Almedina, pgs. 190.
Artigo 15.
(Extenso da competncia deciso
de questes prejudiciais)
1- Quando o conhecimento do objecto da aco
dependa, no todo ou em parte, da deciso de uma ou
mais questes da competncia de tribunal pertencente
a outra jurisdio, pode o juiz sobrestar na deciso at
que o tribunal competente se pronuncie.
2- A suspenso fica sem efeito se a aco da
competncia do tribunal pertencente a outra jurisdio
no for proposta no prazo de dois meses ou se ao
respectivo processo no for dado andamento, por
negligncia das partes, durante o mesmo prazo.
3- No caso previsto no nmero anterior, deve
prosseguir o processo do contencioso administrativo,
sendo a questo prejudicial decidida com efeitos a ele
restritos.
3- Dos Princpios
Partindo dos considerandos interpretativos,
acima mencionados, e do contedo das
disposies do artigo 15. do CPTA, estamos
habilitados, ora, a proceder anlise dos
particularismos processuais dos princpios em
anlise.
Assim, e de forma ainda incipiente, podemos,
concretizando, entender que quando o julgador
de um tribunal administrativo estiver perante
uma questo prejudicial, que inviabiliza a
continuidade do processo administrativo, por
fazer depender a questo principal da sua
resoluo, cuja competncia atribuda a
tribunais pertencentes a uma ordem de jurisdio
distinta (a fiscal includa)
11
, pode tomar uma de
duas decises: sobrestar na deciso at que o
tribunal [competente] se pronuncie (devoluo
facultativa), ou decidir a questo [prejudicial]
com base nos elementos de prova admissveis -
se bastantes - e com efeitos restritos quele
processo (suficincia discricionria).
12
11
ESTEVES DE OLIVEIRA, Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA,
Mrio - Cdigo de Processo nos Tribunais Administrativos,
Volume I, pg 188.
12
ANDRADE, Vieira de - Justia Administrativa: Lies (),
op. cit., pg. 446.
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES Princpio da devoluo facultativa
136
No entanto, o julgador dever decidir a
questo prejudicial e julgar, nesses termos, a
questo principal se, e tendo ele optado por
sobrestar, houver inrcia dos interessados por
mais de dois meses na instaurao da respetiva
ao ou negligncia no andamento do processo
relativo questo prejudicial. Dever, tambm,
ele optar por decidir a questo prejudicial se
(conjugando o princpio da suficincia com
princpio da economia processual) esta se
apresentar simples - pouco complexa ou ainda
que complexa de fcil alcance seja na
componente tcnico-dogmtica seja na
construo lgico-racional da deciso de facto
e/ou de direito - e existirem no processo todos
os elementos necessrios formao do juzo
respetivo.
13
3.1- Pontos a aprimorar
Do exposto permanecem latentes algumas
questes que devero ser desconstrudas, a par de
alguns esclarecimentos fundamentais, para que o
entendimento acerca do nosso comando jurdico
se torne suficientemente pleno.
As dvidas evidenciam-se no plano das
questes prejudiciais e da discricionariedade. J
os pontos a esclarecer incidem sobre a devoluo
facultativa, respectivos requisitos e consequncias,
mas, tambm, sobre a suficincia discricionria e
suas especificidades, a par de outros
esclarecimentos de teor terminolgico.
3.1.1- Das questes prejudiciais
O comando jurdico proposto para estudo
(art. 15. do CPTA), corresponde a um
dispositivo de extenso de competncias (para os
tribunais administrativos) a matrias (mbito das
13
Ibidem, pg. 447.
questes prejudiciais) distintas das constantes no
contedo do n. 1 do artigo 4. do Estatuto dos
tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF).
Nestes termos, e, sem esquecer a alnea 2 e 3 do
mesmo artigo, tendo em apresso a teoria tricolor
de Vieira de Andrade, permitir-se- a entrada de
matrias que, no mbito da competncia de
jurisdio, estariam compreendidas na zona
vermelha, ou seja, na zona de apreciao proibida,
ou vedada, pela Constituio da Repblica
Portuguesa (posteriormente designada de CRP).
Nesta zona, integram-se: todas as questes de
direito privado em que no intervenha a
Administrao (ou entes por ela formados), nem
tenham a ver com o exerccio da funo
administrativa, bem como, por regra, as questes
que consistam na impugnao directa de actos
tpicos de outras funes estaduais,
designadamente, de actos da funo poltica
(pelo menos daqueles que no sejam actos do
Governo), de normas editadas no exerccio da
funo legislativa (incluindo as constantes de
decretos leis) e de (ato) de natureza jurisdicional
(que no sejam os dos prprios tribunais
administrativos).
14
. Matrias da competncia
principal de tribunais pertencentes a outra ordem
de jurisdio.
15
ponto assente que se trata de uma questo
que deve prejudicar/ impedir, tanto total como
parcialmente, a deciso sobre o objeto da ao
administrativa. Tratando-se, nestes termos, de
uma questo cuja resoluo prvia constitui
condio da deciso de mrito.
16
14
ANDRADE, Vieira de, in mbito e limites da jurisdio
administrativa, Reforma da Justia Administrativa, Cadernos da
Justia Administrativa, pg. 12.
15
Ao contrrio do que acontece com a competncia
prejudicial dos tribunais judiciais que s abrange questes dessas
de natureza penal ou administrativa, ESTEVES DE OLIVEIRA,
Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA, Mrio - Cdigo de Processo
nos Tribunais Administrativos, Volume I, (), op. cit., pg. 189.
16
Ibidem, pgs. 187 e 188.
Princpio da devoluo facultativa
137
3.1.1.1- Caracteres da questo prejudicial
Para tratar-se de uma verdadeira questo
deste tipo dever reunir um conjunto de
requisitos cumulativos
17
:
- representar um antecedente lgico - jurdico
da deciso da questo principal, de tal modo que
se imponha e que se resolva antes da deciso
final da questo principal [Questo prvia /
prejudicial - Dependncia];
18
- ser autnoma, no sentido de, por si s, pelo
seu objecto ou natureza, poder legitimar a um
processo independente (no seu tribunal de
origem que pertencer a uma ordem de
jurisdio distinta da Administrativa)
[Autonomia];
19
- ser necessria, no sentido de a sua resoluo
ser plausvel - no meramente dilatria
[Necessidade]
3.1.1.2- Exemplos:
- Se o tribunal tem de julgar a validade do ato
administrativo de demolio de um prdio
urbano, caber-lhe- apurar, anteriormente, da
titularidade do bem demolido.
- Se o tribunal administrativo tem de julgar a
validade do ato administrativo que indeferiu a
atribuio de uma penso pblica de viuvez pela
morte de quem o(a) requerente reclama ser seu
17
SIMAS SANTOS, Manuel, LEAL - HENRIQUES, Manuel -
Cdigo de Processo Penal Anotado Volume I, 3. Ed., Rei dos
Livros, 2008, pgs. 121 e 122.
18
Segundo Alberto dos Reis uma causa prejudicial em
relao a outra quando a deciso daquela pode prejudicar a deciso
desta, isto , quando a procedncia da primeira tira razo de ser
existncia da segunda. REIS, Alberto dos Comentrio ao
Cdigo de Processo Civil. Coimbra: Coimbra Editora, III, 1946,
pg. 206. Por sua vez, Lebre de Freitas considera como questo
prejudicial toda aquela cuja resoluo constitui pressuposto
necessrio da deciso de mrito, quer esta necessidade resulte da
configurao da causa de pedir, quer da arguio ou existncia
duma (exceo) ([perentria] ou dilatria), quer ainda do objeto de
incidentes em correlao lgica com o objeto do processo, e seja
mais ou menos (direta) a relao que ocorra entre essa questo e a
pretenso ou o thema decidendum.FREITAS, Lebre de
Introduo ao Processo Civil. Conceitos e Princpios Gerais.
Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pgs. 130 -131.
19
Questes de natureza heterognea.
cnjuge, dever decidir-se, anteriormente, da
validade do casamento hipoteticamente
celebrado in articulo mortis.
20
3.1.2- Delimitao Parte I
Das questes incidentais (art.96. do
CPC)
21
3.1.2.1- Dos incidentes os procedimentos
anmalos, sequencias de (atos) que exorbitam da
tramitao normal do processo e tm, por isso,
carcter eventual, visando a resoluo de
determinadas questes que, embora de algum
modo relacionadas com o (objeto) do processo,
no fazem parte do encadeamento lgico
necessrio resoluo do pleito tal como ele
desenhado pelas partes
22
-, como sucede com a
verificao do valor da causa, com a interveno
de terceiros, a habilitao (arts. 302. ss. do
CPC
23
).
24
No entanto, a questo incidental
poder estar em correlao lgica necessria com
o thema decidendum, tal como ele se apresenta ao
juiz no final (...)
25
3.1.2.2- Das questes (jurdico-
administrativas) suscitadas pelo ru como meio
de defesa (as excepes dilatrias ou
peremptrias).
26
20
ESTEVES DE OLIVEIRA, Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA,
Mario, - Cdigo de Processo nos Tribunais Administrativos,
Volume I, (), op. cit., pg. 188
21
Art. 91. da Lei n. 41/2013, de 26 de junho, retificada
pela Declarao de Retificao n. 36/2013, de 12 de agosto, que
aprova o Cdigo de Processo Civil (mais adiante novo CPC). O
diploma legal revoga o Decreto-Lei n. 44129, de 28 de dezembro de
1961 (al. a), art. 4.) e entra em vigor a partir do dia 1 de setembro de
2013 (art. 8.).
22
Citando de Freitas et allii, - Cdigo de Processo Civil
Anotado, Vol. I, pg. 169. ESTEVES DE OLIVEIRA, Rodrigo,
ESTEVES DE OLIVEIRA, Mario, in Cdigo de Processo nos Tribunais
Administrativos, Volume I, (), op. cit., pg. 188.
23
Arts. 292 e ss. do novo CPC..
24
Ibidem.
25
FREITAS, Lebre de Introduo ao Processo Civil.
Conceitos e Princpios Gerais. Coimbra: Coimbra Editora, 2009,
nota n. 4, pg. 131.
26
ESTEVES DE OLIVEIRA, Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA,
Mrio, - Cdigo de Processo nos Tribunais Administrativos,
Volume I (), op. cit., pg. 188.
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES Princpio da devoluo facultativa
138
Atendendo ao disposto no supracitado art.
96./1 do CPC, podemos concluir que a
competncia atribuda ao tribunal administrativo
compreende a deciso das questes incidentais
postuladas no ponto dois, estando incumbido de
pronunciar-se sobre elas, sendo que tal
pronncia pode valer fora do processo (respetivo)
quando estiverem reunidas as condies do n.2
desse mesmo artigo j as questes da
competncia de tribunal pertencente a outra
jurisdio, como as de natureza jurdico - privada
suscitadas pelo ru como meio de defesa, ficam
sujeitas disciplina do art. 15. do CPTA.
27
O disposto no nmero 1 do artigo 96. do
CPC apenas faz meno s questes incidentais
que o ru suscite como meio de defesa, deixando
de fora as alegadas pelo autor como
fundamento do seu pedido, como integrantes da
(respetiva) causa de pedir. Trata-se de questes
que o tribunal [deve] necessariamente
considerar, na lgica do pedido deduzido, a fim
de chegar apreciao deste, isto , as
respeitantes causa de pedir (ex.: a validade do
contrato cujo cumprimento pedido). Tendo
embora a mesma natureza de questo prejudicial
que a (exceo perentria) (), a competncia
do tribunal para delas conhecer inerente
ligao necessria em que esto com o thema
decidendum ()
28
No que tange s questes reconvencionais
aplica-se o disposto no art. 98. do CPC
29
, que
vincula o tribunal a decidi-las desde que tenha
competncia para delas conhecer em razo da
matria e da hierarquia.
30
27
Ibidem, pg. 188.
28
Ibidem.
29
Art. 93. do novo CPC..
30
Ibidem.
3.1.3- Delimitao Parte II
Outros tipos de questes prejudiciais
31
3.1.3.1- As questes prejudiciais da
competncia de outro tribunal administrativo
3.1.3.1.1- Se essa questo prejudicial constitui
objecto de um processo e por efeito haver lugar
aplicao (supletiva, mas,) direta do regime do
art. 279. do CPC
32
de suspenso da ao
(administrativa) dependente at deciso do
processo prejudicial;
3.1.3.1.2- No tendo sido, a questo
prejudicial, levada a juzo, o tribunal
administrativo acionado pode ver a sua
competncia alargada, por fora do princpio de
extenso normal da competncia judicial s
questes incidentais da instncia, plasmado no
art. 96. do CPC, em articulao com os
princpios da economia e celeridade processuais,
e decidir a questo. Ou, ver suspensa a ao
principal at deciso da questo prejudicial, por
aplicao analgica do referido art. 279. do CPC.
Este ltimo caso, parece contrariar a convergncia
de sentido do atual sistema dogmtico.
3.1.3.2- As questes prejudiciais de Direito da
Unio Europeia (UE)
3.1.3.2.1- O tribunal administrativo,
enquanto tribunal comum da UE, como qualquer
outro tribunal nacional, estar, regra geral,
habilitado a decidir sobre questes prejudiciais de
direito da UE, mas, querendo sobrestar, dever
lanar mo do instrumento do reenvio prejudicial
31
Ibidem, pg. 189.
32
Artigo 292. do novo CPC.
Princpio da devoluo facultativa
139
previsto no art. 267. do Tratado sobre o
Funcionamento da Unio Europeia,
33
obrigatrio,
alis, quando a questo - de interpretao e/ou
de validade - se suscite num determinado
processo cuja deciso no seja suscetvel de
recurso jurisdicional.
3.1.3.3- As questes prejudiciais de direito
constitucional
3.1.3.3.1- No concernente s questes de
inconstitucionalidade das normas, tendemos a
considerar que tm cabimento na competncia
incidental dos tribunais administrativos (art.
204. da CRP).
Agora, atentando a questes respeitantes a
(atos) ou figuras jurdicas reguladas na lei
fundamental, e cujo conhecimento a ttulo
principal e, mesmo, a ttulo incidental est (ao
que parece) exclusivamente reservado ao
Tribunal Constitucional como acontece com os
impedimentos ou perda do cargo do Presidente
da Repblica (art. 7.da Lei do Tribunal
Constitucional), com a perda do mandato de
deputado, art. 7. - A, com os processos eleitorais,
no seu art. 8., com os processos relativos a
partidos polticos, art.9., etc., - questes que,
embora no frequentemente, podem surgir como
33
Artigo 267. (ex-artigo 234. o TCE)
O Tribunal de Justia da Unio Europeia competente para decidir,
a ttulo prejudicial:
a) Sobre a interpretao dos Tratados;
b) Sobre a validade e a interpretao dos (atos adotados) pelas
instituies, rgos ou organismos da Unio.
Sempre que uma questo desta natureza seja suscitada perante
qualquer rgo jurisdicional de um dos Estados-Membros, esse rgo
pode, se considerar que uma deciso sobre essa questo necessria ao
julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.
Sempre que uma questo desta natureza seja suscitada em
processo pendente perante um rgo jurisdicional nacional cujas
decises no sejam (suscetveis) de recurso judicial previsto no
direito interno, esse rgo obrigado a submeter a questo ao
Tribunal.
Se uma questo desta natureza for suscitada em processo pendente
perante um rgo jurisdicional nacional relativamente a uma pessoa
que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se- com a maior
brevidade possvel. (Negrito e parenteses nossos).
prejudiciais de causas administrativas (ou afetas
jurisdio administrativa), relacionadas, por
exemplo, com a impugnao de (atos)
administrativos ou (aes) de responsabilidade
extracontratual. Desta feita, encontra-se, em
princpio, vedado ao juiz do tribunal
administrativo o acesso a questes prejudiciais
desta natureza, no operando, nesses casos, o
comando jurdico de extenso de competncias
do art. 15. do CPTA.
4- Discricionariedade e Sindicabilidade
4.1- Discricionariedade
Nos termos do disposto no art. 15. n 1 do
CPTA, cabe ao tribunal, que, para concretizar
uma deciso emergente de um, determinado,
processo administrativo, necessite de resolver,
previamente, uma questo prejudicial da
competncia de outra jurisdio, escolher
34
:
- assumir o dever (e poder) de proferir uma
deciso incidental sobre a questo prejudicial
com efeitos restritos ao processo e proferindo a
respetiva deciso principal com base na sua
convico (princpio da suficincia discricionria);
ou
- sobrestar na deciso da causa administrativa
e remeter a parte, a quem interessa a questo
prejudicial, para o tribunal competente para que
ela seja a julgada a ttulo principal (princpio da
devoluo facultativa do processo), podendo
suspender-se o processo prejudicado (art. 279.
do CPC) at sobrevir tal deciso.
Para Antunes Varela
35
o tribunal que esteja
nas condies acima referenciadas dever, como
34
Ibidem, pg. 189-190.
35
Do autor citado. VARELA, Antunes; BEZERRA, Miguel;
Sampaio E Nora - Manual de Processo Civil, 2. edio, Coimbra:
Coimbra Editora, 2006, pg. 221 e ss. Vide. ESTEVES DE
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES Princpio da devoluo facultativa
140
posio de princpio, sobrestar na deciso da
questo prejudicial, e deixar que seja o tribunal
principalmente competente a decidir dela, sem
que isso constitua no entanto um vnculo legal
para o mesmo, isto , um dever jurdico, mas,
antes um verdadeiro poder de escolha.
36
Entendemos, no entanto, que o poder conferido
pela ordem jurdica ao julgador de sobrestar na
deciso (ou de decidir a questo prejudicial)
constitui uma verdadeira prerrogativa, um
verdadeiro poder funcional dirigido a uma
finalidade legal objetiva.
37
Segundo o autor, por efeito da falta de
especializao do tribunal administrativo sobre
matrias que, originariamente, no so da sua
competncia a deciso de conhecer
incidentalmente a questo prejudicial (), com
efeitos restritos ao [respetivo] processo, poder
no convir muito aplicao do Direito ().
Outra razo que poder sustentar a posio de
princpio do autor a importncia a da coerncia
entre julgados, ou melhor, o princpio da
homogeneidade das decises. Procurando-se
OLIVEIRA, Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA, Mrio, - Cdigo de
Processo nos Tribunais Administrativos, Volume I, (), op. cit.,
pg. 190.
36
Tratando-se, para o autor, de uma verdadeira
discricionariedade em que a expresso pode, ter,
necessariamente, o sentido de poder de escolha, de oportunidade,
de prudente arbtrio. No de um verdadeiro Poder /Funcional, ou
dever, que, a admitir-se, traria alguma incongruncia histrico
legislativa. Consideramos que no pelo facto de anteriormente se
acolher a tese da devoluo obrigatria e hoje a tese da devoluo
facultativa que a operatividade da devoluo deixa de existir. A
entender-se assim, tudo se resumiria a um problema de
sindicabilidade. De facto, o direito e a tutela so duas realidades
distintas, ainda que complementares.
37
Consideramos que expresso pode corresponde a uma
verdadeira prerrogativa, um verdadeiro poder/dever, um poder
funcional ou operado sobre o intrprete/aplicador do Direito (o
juiz). Alis, basta atentarmos a expresso prudente arbtrio ou
poder discricionrio para encontrar a carga de dirigismo legalista
operante (necessria) que recai sobre o juiz. Que devolve ou decide a
questo prejudicial sempre que os princpios de contencioso
administrativo fundamentais aplicveis reclamem aplicao efetiva
no caso em concreto. Princpios esses que devero ser entendidos,
sempre, por forma articulada, envolvendo-se e desenvolvendo-se no
seu prprio sistema dogmtico. De facto, discricionariedade so
impostos diversos limites, como o cumprimento do comando
jurdico, a articulao do mesmo dentro do sistema de regras e
princpios de carter mais geral e finalmente o cumprimento do
elemento teleolgico da norma. A discricionariedade num ato, nada
mais que um dever para uma finalidade. O que resulta da
discricionariedade nestes termos? Uma realidade com um contedo
perfeitamente determinvel, atravs de um mero juzo de prognose.
evitar pronncias no coincidentes sobre a
mesma questo. (vide Acrdo STA, Proc. n.
0312/04, 20 01 2005 /Acrdo STA, proc.
n. 0648/ 03, 03 07 2003). Por outro lado a
devoluo da questo ao tribunal principalmente
competente possibilita aos interessados para alm
de verem a sua questo a ser apreciada pelo
tribunal mais habilitado, beneficiar de uma fase
processual de prova, para alm de isso ver
garantida a sua posio jurdica atravs de uma
deciso final que faz caso julgado material.
Contudo no poderemos descurar o seguinte:
o julgador do tribunal administrativo apresentar
qualidades transversais a quaisquer outros de uma
outra jurisdio. Neste sentido, tratando-se de
questes de manifesta simplicidade (ex maxime
validade e eficcia de atos), e estando reunidos
todos os elementos indispensveis deciso, o
juiz ter mais certezas do que dvidas,
encontrando-se habilitado a decidir da questo
prejudicial, no havendo razes plausveis que o
levem a sobrestar na deciso.
Alm do mais, o princpio da suficincia,
(Acrdo do S T A, proc. n. 0648/ 03, de 03
07 2003/ Acrdo do STA, proc. n. 0312/04 ,
de 20.01.2005) ganha relevo, principalmente
quando articulado com o princpio da economia
processual e o princpio da celeridade
processuais
38
.
38
Segundo o princpio da economia processual, entendido
no seu sentido mais amplo, o processo h-de ser, tanto quanto
possvel, em funo do seu (objetivo), eficiente e clere, devendo
evitar-se trmites desnecessrios ou excessivamente
complicados, comportamentos dilatrios e decises inteis. O
princpio constitui uma manifestao do princpio da tutela
judicial (efetiva) e naturalmente um princpio relativo,
sobretudo no que respeita celeridade, devendo atender-se
complexidade do assunto e necessidade de salvaguardar os
direitos de defesa e outros interesses legtimos das partes, bem
como razoabilidade do (respetivo) comportamento. Interessa
que a durao do processo no ponha em causa a realizao
(efetiva) da justia material, o que se pode conseguir atravs das
providncias cautelares [quando legalmente admitidas], que
asseguram o efeito til sentenas (). (Negrito e parnteses
nossos) Vieira de Andrade, in Justia Administrativa, pg. 449. Ver
sobre: o princpio da tutela jurisdicional efetiva, princpio da
celeridade processual, princpio do prazo razovel e o princpio da
economia processual, respetivamente. BRITO, Wladimir, - Lies
Princpio da devoluo facultativa
141
Alis, e no obstante as consideraes iniciais,
Antunes Varela considera que a deciso de
conhecer incidentalmente a questo prejudicial
permite uma maior celeridade processual,
"sobretudo se a deciso principal sobre a questo
prejudicial que se tomasse na sua jurisdio
prpria for passvel de recurso o que constitui
uma relativa recomendao ao juiz administrativo
para s sobrestar na (respetiva) deciso quando se
tratar de questo acessvel apenas aos
conhecimentos experimentados dos juzes da sua
jurisdio prpria (a acrescentar s razes de
tecnicidade e complexidade das matrias,
relevar, tambm, o facto de o processo no
apresentar todos os elementos indispensveis
para uma deciso, o que implicar,
consequentemente, a criao de uma dvida
razovel na psique do juiz). Neste sentido e
respetivamente: o Acrdo do STA, de 20-01-
2005, proc. n. 0312/04: O respeito pelos
princpios da economia e da celeridade
processuais concorrem no sentido da mesma
concluso, devendo o Tribunal abster-se de, sem
que se revele imperioso, retardar com a utilizao
do reenvio o curso da justia; o Acrdo do
STA, Pleno, de 09-07-1997, de proc. n. 028598
o art. 4. n. 2 do ETAF consagrou
inovatoriamente o princpio da suficincia
administrativa, podendo o juiz sobrestar na
deciso a emitir pelo tribunal competente desde
que haja razes substantivas que, no caso,
aconselhem a paralisao da normal tramitao
do processo.
4.2- Sindicabilidade
Perante a opo do juiz
39
(que entendemos
corresponder a um poder funcional ou operado)
de Direito Processual Administrativo. Ed. Coimbra: Coimbra
Editora, 2008, pgs.. 117, 128, 129, 131.
39
I. Disciplina o art 15 do CPTA a competncia dos
tribunais administrativos para conhecer e decidir questes
de, em determinados casos, sobrestar na deciso
do objeto do processo administrativo ou devolver
a questo prejudicial ao tribunal (art. 15. n1 in
fine), originariamente competente, no existe
possibilidade de recurso, conforme o disposto no
artigo 679. do CPC
40
[e artigo 156.
41
, n. 4, do
CPC
42
] (questes meramente processuais).
43
44
Todavia, esse recurso tem viabilidade se tiver
como fundamento a falta dos carateres da
prejudicialidade, ou seja, no se tratar de uma
questo de que dependa a deciso de mrito
[fundo] da questo principal [dependncia e
necessidade], ou se ela no for da competncia
de outra jurisdio [autonomia] (cf. Acrdo do
STA, pleno, de 16.04.1997, proc. n. 27375).
45
46
prejudiciais do processo administrativo, sem as quais no se pode
conhecer o objeto da ao administrativa e que sejam da
competncia de tribunal pertencente a outra jurisdio, como as de
natureza jurdico-privada. II. Concede tal preceito legal ao tribunal
administrativo, a faculdade ou a opo, livre e discricionria, que
deve ser tomada em funo das circunstncias do caso concreto,
entre resolver a questo prejudicial com efeitos restritos na ao
administrativa ou sobrestar na deciso, devolvendo o conhecimento
da questo prejudicial ao tribunal competente, pertencente a outra
jurisdio.
III. Em termos semelhantes, disciplinava o art 4, n 2 do
ETAF/1984 e o art 7 da LPTA e disciplina a lei processual civil, no
art 97 do CPC. (Negrito nosso) Acordo do TCA Sul, CA- 2.
Juzo de 24-05-2012.
40
Art. 630. do novo CPC.
41
Art. 152. do novo CPC.
42
Como dispe o Acrdo do STA, de 06-07-2004, de proc. n.
01147/03 ()o poder do juiz de sobrestar ou no nessa deciso
no sindicvel (artigos 679. e 156., n. 4, do CPC).
43
Nesse sentido: o Acrdo do STA/Pleno de 16/4/97, P. 27375
- A legalidade da deciso no sobrestar insindicvel art 679
do Cdigo de Processo Civil , dada a sua natureza volitiva
totalmente livre, que torna intil qualquer esforo nessa
indagao.
44
As partes, mesmo no recorrendo da deciso de
desaforamento da questo prejudicial podem impedir os efeitos
dessa deciso, no lhe dando sequncia, ESTEVES DE OLIVEIRA,
Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA , Mrio, - Cdigo de Processo
nos tribunais Administrativos, Volume I, (), op. cit., pg. 190.
45
Ibidem, pg. 190.
46
Tambm neste sentido: o acrdo do STA, de 20- 01 2005,
proc. n. 0312/04 - certo que a suspenso da instncia uma
faculdade que depende do prudente arbtrio do julgador de acordo com o
princpio de devoluo facultativa ou suficincia discricionria, de que fala
V. de Andrade, in Justia Administrativa, 2. Ed. pg. 12 (v. entre
outros ac. deste S.T.A. de 5-2-91, ac. 27.751 in Ap. ao DR pg. 594 e
segs, de 3-3-94, rec. 30.248, in Ap. ao DR pg. 1556 e segs, de 18-10-
00, rec. 46.394), tambm , antes de mais, exacto, que a aplicao do
citado preceito, o qual representa a transposio para o contencioso
administrativo do art 97 do C.P.C.,[ver, tambm, ALMEIDA,
MRIO AROSO DE / CADILHA, CARLOS ALBERTO FERNANDES, -
Comentrio ao Cdigo de Processo nos tribunais
Administrativos, Coimbra: Almedina, 2010, pgs. 144 a 146] requer
a existncia de uma verdadeira prejudicialidade da questo que motiva a
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES Princpio da devoluo facultativa
142
Nesta linha de pensamento, se o juiz
considera erroneamente que a questo prejudicial
da competncia principal da jurisdio civil ou
criminal e, por esse motivo, remete a parte
interessada para os respectivos tribunais, h
recurso da sua deciso de desaforamento. J se
o julgador considerar que est perante uma
questo civil controvertida, opinio acolhida por
jurisprudncia firme e doutrina uniforme, a sua
opo j no poder ser objecto de recurso.
47
Se o juiz administrativo optar por resolver a
questo prejudicial na sua sede (art. 15. n. 1 in
fine)
48
, essa deciso no passvel de recurso
(em qualquer circunstncia), ainda que se trate
de uma questo especializadssima que as partes
julgassem prefervel submeter interveno do
tribunal principalmente competente (porque
mais habilitado).
49
Entendemos, imperioso atentar a
ponderao dos valores, dos interesses em jogo.
Consideramos que a concretizao do poder
operado do juiz de decidir ou sobrestar merece
um tratamento mais cauteloso, dirigido s
especificidades do caso. Nesta medida,
entendemos, sempre que haja um real interesse
jurdico material ou processual na lide, serem
sindicveis os atos processuais relevantes, no
que tange ao objeto do processo, ex maxime,
sempre que impliquem um prejuzo srio para
suspenso em relao ao conhecimento do objecto do recurso; o acrdo
STA, de 3 de Julho de 2003, proc. n. 648/03 uma causa depende
do julgamento de outra quando na causa prejudicial se tenha de
apreciar uma questo cuja soluo por si s possa modificar uma
situao jurdica que tenha de ser considerada para a deciso a
proferir na (ao) ou recurso (dependente).[ver, tambm,
ALMEIDA, MRIO AROSO DE / CADILHA, CARLOS ALBERTO
FERNANDES, - Comentrio ao Cdigo de Processo nos tribunais
Administrativos (), op. cit., pgs. 144 a 146]; o Acrdo do STA,
de 08-05-2002, de proc. n. 047909- a suspenso da instncia ao
abrigo do art 4 n 2 do ETAF uma faculdade que depende do
prudente arbtrio do julgador, mas requer a existncia de uma
verdadeira prejudicialidade da questo que motiva a suspenso em
relao ao conhecimento do (objeto) do recurso.
47
ESTEVES DE OLIVEIRA, Rodrigo, ESTEVES DE OLIVEIRA,
Mrio - Cdigo de Processo nos tribunais Administrativos,
Volume I, (), op. cit., p. 190-191.
48
Por inferncia de princpios gerais implcitos.
49
Ibidem, p. 191.
qualquer uma das partes intervenientes, para a
congruncia da lide processual ou para a
harmonizao das decises sobre assuntos de
natureza anloga.
5- Da deciso provocada
Suspenso o processo em virtude da deciso de
devoluo da questo prejudicial para o tribunal
da jurisdio principalmente competente, caber
(qualquer) parte interessada (por sua iniciativa
ou a convite do tribunal) fazer prova de que
impetrou uma ao prejudicial no respetivo
tribunal (com competncia originria). Caso
contrrio, e a ao no tendo sido concretizada
no prazo de dois meses contados da deciso de
suspenso, ou se o respetivo processo estiver
parado, durante o mesmo perodo de tempo, por
negligncia de qualquer uma das esferas
interessadas, o processo do contencioso
administrativo segue termos (repristina-se o
processo suspenso), e a questo prejudicial
decidida , ainda que com efeitos intra processuais
(art. 15. n. 2 e 3 do CPTA).
50
Doutra forma, no se comprovando a
instaurao da (ao) prejudicial no prazo referido
no n. 2 ou comprovando-se a sua escusada
demora a lei impem ao tribunal administrativo
que decida incidentalmente da questo prejudicial,
no autonomamente, claro, mas inscrevendo na
deciso da causa, como parte e fundamento desta.
Essa deciso tem efeitos restritos ao processo
administrativo s podendo ser objeto de recurso
como parte do recurso dirigido contra a deciso da
causa. Fora desta sede, a deciso prejudicial do
tribunal administrativo como se no existisse e
em rigor nem devia ser aceite como documento
instrutrio na (ao) principal, se e quando esta for
instaurada. Esta consequncia pode ser entendida
50
Ibidem, pg. 191
Princpio da devoluo facultativa
143
como uma sano conduta do interessado, que
ter de suportar uma deciso, por parte de um
tribunal que, poder encontrar-se pior posicionado,
porque menos habilitado, in casu, para decidir. Por
outro lado, no plano da segurana jurdica, ver a
sua posio garantida apenas no mbito do objeto
daquele processo (efeito de caso julgado formal).
Podendo haver trplice identidade processual
noutro tribunal, no mbito de outro processo.
51
Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues
Licenciatura em Direito (2010)
Mestrado em Direito (2012)
Docente / formador / (2008 at ao momento);
Investigador bolseiro da Fundao para a Cincia e a
Tecnologia (FCT) e Fundao Minerva Cultura Ensino e
Investigao Cientfica no domnio das polticas laborais anticrise
(2009-2010);
Colaborador no departamento administrativo e financeiro -
contencioso da optimus (2011-2012);
Formador na Cmara dos Solicitadores (2011);
Docente / formador (com Certificado de Competncias
Pedaggicas - CCP) na rea do Direito Civil, Direito Processual
Civil, Direito Comercial, Direito Comercial Internacional, Direito
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito
Processual Penal (2012);
Investigador - Instituto Jurdico da Universidade Portucalense
(2012);
PEPAC - Juzos de execuo do Porto (2013);
Artigos cientficos mais relevantes:
- Consensualismo contratual: um princpio do sistema ou uma
regra lgica, supletiva, e residual? In Temas de Direito dos
Contratos, Volume II, Coleo de Estudos Selecionados do IJP,
coordenao do Professor Antnio Pinto Monteiro, LISBOA,
Editora Rei dos Livros, 2013.
- A proteo do direito imagem (comentrio ao acrdo do
stj, 13-01-2011), in Direitos de Personalidade e sua tutela,
Volume I, Coleo de Estudos Selecionados do IJP, coordenao
do Professor Manuel Costa Andrade, LISBOA, Editora Rei dos
Livros, 2013;
- Pobreza e Desemprego Novo Paradigma (Poverty and
Unemployment in Portugal: New Paradigm), SSRN, 2013:
SOCIAL & POLITICAL PHILOSOPHY EJOURNAL - VOL
6, ISSUE 144, August 08, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
51
Ibidem, pg. 191
&journalid=950427&issue_number=144&volume=6&journal_type
=CMBO&function=showissue
UNEMPLOYMENT INSURANCE eJOURNAL - VOL 4,
ISSUE 11, July 15, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=1475472&issue_number=11&volume=4&journal_type
=CMBO&function=showissue
EMPLOYMENT LAW eJOURNAL - VOL 8, ISSUE 30, July
10, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=237464&issue_number=30&volume=8&journal_type=
CMBO&function=showissue
LAW & SOCIETY: PUBLIC LAW eJOURNAL - VOL 8,
ISSUE 113, July 09, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=912327&issue_number=113&volume=8&journal_type
=CMBO&function=showissue
LAW & SOCIETY: PRIVATE LAW eJOURNAL - VOL 8,
ISSUE 109, July 09, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=912326&issue_number=109&volume=8&journal_type
=CMBO&function=showissue
POVERTY, INCOME DISTRIBUTION & INCOME
ASSISTANCE eJOURNAL - VOL 5, ISSUE 12, June 20, 2013.
Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=1500171&issue_number=12&volume=5&journal_type
=CMBO&function=showissue
EUROPEAN ECONOMICS: LABOR & SOCIAL
CONDITION eJOURNAL VOL 7, ISSUE 57, June 19, 2013.
Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=992936&issue_number=57&volume=7&journal_type=
CMBO&function=showissue
DEVELOPMENT ECONOMICS: REGIONAL & COUNTR
Y STUDIES eJOURNAL Vol. 2, ISSUE. 93: June 14, 2013
Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=1979633&issue_number=93&volume=2&journal_type
=CMBO&function=showissue
LABOR: SUPPLY & DEMAND eJOURNAL - VOL 5, ISSUE
75, June 13, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=1480992&issue_number=75&volume=5&journal_type
=CMBO&function=showissue
MACROECONOMICS: EMPLOYMENT, INCOME &
INFORMAL ECONOMY EJOURNAL - VOL 6, ISSUE 66, June
13, 2013, Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=1154236&issue_number=66&volume=6&journal_type
=CMBO&function=showissue
COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY: SOCIAL
WELFARE POLICY eJOURNAL - VOL 1, ISSUE 60, June 13,
2013, Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2274226
&journalid=2199892&issue_number=60&volume=1&journal_type
=CMBO&function=showissue
O AUTOR
RICARDO ALEXANDRE CARDOSO RODRIGUES Princpio da devoluo facultativa
144
- Medidas anticrise nas reas da pobreza e do desemprego - A
realidade portuguesa: Resultados de investigao (Anti Crisis
Measures in the Poverty and Unemployment Areas - Portuguese
Context: Research Results), SSRN, 2013:
SOCIAL & POLITICAL PHILOSOPHY EJOURNAL - VOL
6, ISSUE 137, July 30, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=950427&issue_number=137&volume=6&journal_type
=CMBO&function=showissue
LAW & SOCIETY: PUBLIC LAW eJOURNAL - VOL 8,
ISSUE 107, June 17, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=912327&issue_number=107&volume=8&journal_type
=CMBO&function=showissue
ECONOMETRIC MODELING: MACROECONOMICS eJO
URNAL Vol. 3, No. 106: Jun 13, 2013, Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=1939263&issue_number=106&volume=3&journal_typ
e=CMBO&function=showissue
EUROPEAN ECONOMICS: LABOR & SOCIAL
CONDITIONS eJOURNAL - VOL 7, ISSUE 54, June 12, 2013.
Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=992936&issue_number=54&volume=7&journal_type=
CMBO&function=showissue
MACROECONOMICS: EMPLOYMENT, INCOME & INFO
RMAL ECONOMY EJOURNAL Vol. 6, No. 65: Jun 11, 2013.
Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=1154236&issue_number=65&volume=6&journal_type
=CMBO&function=showissue
COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY: SOCIAL
WELFARE POLICY EJOURNAL VOL. 1, NO. 59: Jun 11,
2013, Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=2199892&issue_number=59&volume=1&journal_type
=CMBO&function=showissue
DEVELOPMENT ECONOMICS: REGIONAL & COUNTR
Y STUDIES EJOURNAL VOL. 2, NO. 89: Jun 10, 2013.
Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/Journals/IssueProof.cfm?abstractid=2270810
&journalid=1979633&issue_number=89&volume=2&journal_type
=CMBO&function=showissue
- O Principio da Devoluo Facultativa ou Suficincia
Discricionria em Contencioso Administrativo, VERBO
JURDICO, 2013. Disponvel em:
http://www.verbojuridico.com/ficheiros/doutrina/administrativo/
ricardorodrigues_devolucaofacultativa.pdf
- Joint accounts upon death of one of the holders - a new
perspective on the application of art 516 of portuguese Civil
Code. / Das contas coletivas solidrias no caso de morte de um dos
seus cotitulares - uma nova perspetiva da aplicao do art. 516.
Cdigo Civil portugus, SSRN, 2013, Disponvel em:
EUROPEAN PUBLIC LAW eJOURNAL VOL 10, ISSUE
18, 2013. Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/journals/issueproof.cfm?abstractid=2199425&jour
nalid=500621&issue_number=18&volume=10&journal_type=cmbo
&function=showissue
PROPERTY, LAND USE & REAL ESTATE LAW eJOURNAL
. VOL 14, ISSUE 18, 2013.Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/journals/issueproof.cfm?abstractid=2199425
&journalid=157511&issue_number=18&volume=14&journal_type
=cmbo&function=showissue
LAW & SOCIETY: PRIVATE LAW EJOURNAL CMBO:
PROPERTY (TOPIC) VOL 8, ISSUE 41, 2013.Disponvel em:
http://hq.ssrn.com/journals/issueproof.cfm?abstractid=2199425
&journalid=912326&issue_number=41&volume=8&journal_type=c
mbo&function=showissue
- Medidas anticrise nas reas da pobreza e do desemprego a
realidade portuguesa (Anti Crisis Measures in the Poverty and
Unemployment Areas - Portuguese Context), VERBO
JURDICO, 2012, Disponvel em:
http://www.verbojuridico.com/doutrina/2012/ricardorodrigues_
medidasanticrise.pdf
- Regulao Apositiva da Contratao Internacional The
New Law Merchant, Dissertao de Mestrado, Repositrio da
Universidade Lusada do Porto, 2012 (Indito);
- Direito Internacional Privado Training Cases - QUID
JURIS, 2011.
DIREITO DO TRABALHO
Ano 1 N. 02 [pp. 145-152]
145
DAVID FALCO
Doutor em Direito e Professor do Ensino Superior
RESUMO:
Com a entrada em vigor das alteraes introduzidas pela Lei n
23/2012 de 25 de Junho no Cdigo de Trabalho, o regime jurdico do
despedimento por inadaptao sofre alteraes de fundo. Alteraes que
inclusive desvirtuam o que histrica e juridicamente foi o referido
regime at ento. Por outro lado, levanta-se a questo da
inconstitucionalidade do regime do despedimento por inadaptao, por
violao do Princpio da Segurana no Emprego previsto no art. 53 da
Constituio da Repblica Portuguesa, uma vez no referido regime se
prev causa de despedimento que ultrapassa as previstas no art. 53 da
Constituio da Repblica Portuguesa. Pretende-se, pois, provar com
este estudo a inconstitucionalidade do regime do despedimento por
inadaptao previsto no Cdigo de Trabalho Portugus em vigor
justamente por violao do Princpio da Segurana no Emprego.
DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO DESPEDIMENTO POR INADAPTAO
DAVID FALCO Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
146
DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO DESPEDIMENTO POR INADAPTAO
DAVID FALCO
Doutor em Direito e Professor do Ensino Superior
Palavras-chave: despedimento por inadaptao;
segurana no emprego; justa causa.
Introduo
Com a entrada em vigor das alteraes
introduzidas pela Lei n 23/2012 de 25 de Junho
no Cdigo de Trabalho, o regime jurdico do
despedimento por inadaptao sofre alteraes de
fundo
1
. Alteraes que inclusive desvirtuam o que
histrica e juridicamente foi o referido regime at
ento. Por outro lado, levanta-se a questo da
inconstitucionalidade do regime do despedimento
por inadaptao, por violao do Princpio da
Segurana no Emprego previsto no art. 53 da
Constituio da Repblica Portuguesa, uma vez no
referido regime se prev causa de despedimento
que ultrapassa as previstas no art. 53 da
Constituio da Repblica Portuguesa.
Este estudo pretende, pois, provar a
inconstitucionalidade do regime do despedimento
por inadaptao previsto no Cdigo de Trabalho
Portugus em vigor justamente por violao do
1
As alteraes introduzidas pela Lei n 23/2012 relativas ao
despedimento por inadaptao resultaram do acordo celebrado a
11 de Maio de 2011 entre a Troika e o Governo Portugus na
sequncia do pedido de ajuda financeira feito por Portugal. O
regime laboral actual prev ento que o empregador possa proceder
a despedimento por inadaptao mesmo sem a introduo de
alteraes no posto de trabalho;
Princpio da Segurana no Emprego. Para o efeito
iniciamos com a anlise do Princpio da Segurana
no Emprego e noo de justa causa no mbito
laboral, seguidamente com a caracterizao do
regime do despedimento por inadaptao antes e
aps a entrada em vigor da Lei n 23/2012 e, por
fim, aps se ter cruzado os dois regimes alerta-se
para a inconstitucionalidade do regime actual do
despedimento por inadaptao.
1-Princpio da Segurana no Emprego A
consagrao constitucional de justa causa de
despedimento
O art. 53 da Constituio da Repblica
Portuguesa, cujo art. 338 do Cdigo de Trabalho
reflexo, consagra o Princpio da Segurana no
Emprego. Neste sentido, so proibidos os
despedimentos sem justa causa ou por motivos
polticos ou ideolgicos. Cabe, pois, aferir o que se
entende por justa causa uma vez que, como refere
Gomes Canotilho e Vital Moreira
2
, o conceito de
justa causa em Portugal relativamente aberto pois
permite despedimentos com base em critrios
objectivos para alm do despedimento disciplinar
2
Cfr. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituio da Repblica
Portuguesa Anotada Vol. I, 4 Edio, Coimbra Editora, 2007, pg.
709;
Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
147
ou com base em critrios subjectivos. O que, sem
dvida, a Constituio exclui so os
despedimentos discricionrios ou arbitrrios.
Pode considerar-se uma dupla dimenso
do conceito de justa causa: a justa causa subjectiva
e a justa causa objectiva. No que concerne justa
causa subjectiva ou disciplinar, dependendo, por
sua vez, de comportamento culposo imputvel ao
trabalhador, legitima o despedimento desde que tal
comportamento torne imediatamente impossvel a
subsistncia da relao laboral (art. 351 n1 do
CT). Desta forma, como explica Joo Pedro
Regncio a funo tuitiva do Direito do Trabalho
impe a exigncia de justa causa para o
despedimento, no consentindo, desse modo, a
dissoluo ad nutum da relao laboral pelo
empregador
3
. No que diz respeito justa causa
objectiva, a lei, taxativamente, consagra situaes
que apesar de externas ou exgenas relao
laboral e, portanto, no imputveis nem ao
trabalhador nem ao empregador podem conduzir
ao despedimento. Desta forma, cumpridos
determinados requisitos o empregador pode
colocar fim relao laboral mesmo no existindo
qualquer comportamento culposo por parte do
trabalhador. A consagrao legal da justa causa
objectiva prende-se fundamentalmente com a
adequao do regime laboral a determinadas
realidades econmicas. Neste sentido, a dissoluo
do vnculo laboral com base em justa causa
objectiva apenas pode ter por base motivos de
mercado, estruturais ou econmicos. A lei consagra
taxativamente trs formas de cessao do contrato
de trabalho com base nos referidos motivos de
natureza objectiva: Despedimento colectivo (art.
340 al. d) do CT), despedimento por extino do
posto de trabalho (art. 340 al. e) do CT) e
despedimento por inadaptao (art. 340 al. f) do
CT).
3
Cfr. Joo Pedro Regncio, Da inadaptao do Memorando de
Entendimento ao Direito Laboral Portugus, artciencia.com, year VII,
Number 15, May 2012 November 2012, pg. 2;
Na sequncia do que se realou no
primeiro pargrafo deste captulo, e atentos os
motivos expostos, pode concluir-se que a
Constituio da Repblica Portuguesa no seu art.
53 alude a um conceito relativamente amplo de
justa causa
4
que prev no s o despedimento por
facto imputvel (justa causa subjectiva) ao
trabalhador mas igualmente o baseado em justa
causa objectiva
5
. Em entendimento semelhante
dispe igualmente o art. 30 da Carta dos Direitos
Fundamentais da Unio Europeia. O que a
Constituio probe so os despedimentos
arbitrrios, sem justa causa.
2-Despedimento por inadaptao antes e aps
a entrada em vigor da Lei n 23/2012 de 25 de
Junho
Historicamente o despedimento por
inadaptao surge pela primeira vez como regime
jurdico autnomo em 1991, em concreto por via
do DL n 400/91 de 16 de Outubro mantendo-se
na essncia, por sua vez, nos Cdigos de trabalho
de 2003 e de 2009
6
. Como no pretendemos
debruar-nos sobre a evoluo histrica do
despedimento por inadaptao, focalizar-nos-emos
apenas no estudo do regime antes e aps da
entrada em vigor das alteraes produzidas pela
Lei n 23/2012 de 25 de Junho.
Antes das alteraes, o despedimento por
inadaptao baseava-se na inadaptao
superveniente do trabalhador em virtude de
alterao introduzida no posto de trabalho
7
. Neste
4
Crf. Antnio Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 13 Ed,
Almedina, 2008, pg. 556; Cfr. Pedro Romano Martinez, Direito do
Trabalho, 3 Ed, Almedina, 2006, pags. 873 a 875;
5
Cfr. Acrdo do Tribunal Constitucional n 64/91, Processo n
117/91, () O conceito constitucional de justa causa susceptvel
de cobrir factos, situaes ou circunstncias objectivas, no se
limitando noo de justa causa disciplinar ();
6
Para aprofundar a evoluo histrica do regime do
despedimento por inadaptao cfr. Joo Pedro Regncio, Da
inadaptao do Memorando de Entendimento ao Direito Laboral
Portugus, Op. Cit, pgs. 6 e ss;
7
No est em causa a inadaptao originria do trabalhador uma
vez que o regime para tutelar essa situao o do perodo
experimental. Cfr. Joo Pedro Regncio, Da inadaptao do
DAVID FALCO Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
148
sentido, o art. 373 do Cdigo de Trabalho
considerava justamente despedimento por
inadaptao a cessao do contrato de trabalho
promovida pelo empregador e fundamentada em
inadaptao superveniente do trabalhador ao posto
de trabalho.
Por sua vez, o despedimento por inadaptao s
poderia ter lugar quando, cumulativamente se
verificassem os requisitos previstos no art. 375 ou
seja:
1. Tenham sido introduzidas
modificaes no posto de trabalho
resultantes de alteraes nos processos de
fabrico ou de comercializao, de novas
tecnologias ou equipamentos baseados em
diferente ou mais complexa tecnologia, nos
seis meses anteriores ao incio do
procedimento (art. 375 n 1 al.a));
2. Tenha sido ministrada formao
profissional adequada s modificaes do
posto de trabalho, sob controlo pedaggico
da autoridade competente ou de entidade
formadora certificada (art. 375 n 1 al.b));
3. Tenha sido facultado ao
trabalhador, aps a formao, um perodo de
adaptao de, pelo menos, 30 dias, no posto
de trabalho ou fora dele sempre que o
exerccio defunes naquele posto seja
susceptvel de causar prejuzo sou riscos para
a segurana e sade do trabalhador, de
outros trabalhadores ou de terceiros (art.
375 n 1 al.c));
4. No exista na empresa outro
posto de trabalho disponvel e compatvel
com a qualificao profissional do
trabalhador (art. 375 n 1 al.d);
5. A situao de inadaptao no
decorra de falta de condies de segurana e
Memorando de Entendimento ao Direito Laboral Portugus, Op. Cit,
pg. 7; Cfr. Maria do Rosrio Palma Ramalho, Direito do Trabalho,
Almedina, 2006, pg. 895;
sade no trabalho imputvel ao empregador
(art. 375 n 1 al.e),
e sempre que se verifique reduo continuada
de produtividade ou de qualidade ou avarias
repetidas nos meios afectos ao posto de trabalho
ou riscos para a segurana e sade do trabalhador,
de outros trabalhadores ou de terceiros desde que
sendo determinada pelo modo de exerccio de
funes do trabalhador, torne praticamente
impossvel a subsistncia da relao de trabalho
segundo o art. 374 n 1.
Da conjugao dos art. 373, 374 e 375
resultava um regime fechado e baseado
exclusivamente em causas objectivas (introduo
de elemento externo actividade laboral ao qual o
trabalhador no se adaptou).
Com a entrada em vigor das alteraes
introduzidas pela Lei n 23/2012 de 25 de Julho o
regime do despedimento por inadaptao
totalmente desvirtuado e processa-se uma clara
violao do Principio da Segurana no Emprego
previsto no art. 53 da Constituio da Repblica
Portuguesa. Pois introduz-se, como analisaremos
seguidamente, uma nova noo de justa causa de
despedimento que no se baseia nem em causas
objectivas nem subjectivas mas sim, claramente, na
arbitrariedade.
Do acordo celebrado a 11 de Maio de
2011 entre a Troika e o Governo Portugus na
sequncia do pedido de ajuda financeira feito por
Portugal podem retirar-se diversas ilaes. Em
primeiro lugar, o Governo Portugus obrigou-se a
redefinir as causas de despedimento, flexibilizando
por sua vez o vnculo laboral e, por outro lado, a
reduzir os custos relativos a compensao por
cessao de contrato de trabalho
8
; objectivos:
aumentar a produtividade, a competitividade das
empresas, reduzindo, por sua vez, gastos com
despedimentos baseados em causas objectivas.
8
Cfr. Lei n 53/2011 de 14 de Outubro;
Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
149
justamente neste sentido, centrando-nos
apenas no regime do despedimento por
inadaptao, que o acordo celebrado entre o
Governo e a Troika prev que este deva ser
possvel mesmo sem que se produza qualquer
alterao ao posto de trabalho
9
.
Desta forma, com a entrada em vigor da Lei
n 23/2012 de 25 de Junho, que arrasado o
regime jurdico do despedimento por inadaptao
e com reforma atrs de reforma se vai escrevendo
a crnica da morte anunciada do (j no) to
moderno Direito do Trabalho
10
.
Veja-se:
Em primeiro lugar, a noo de despedimento
por inadaptao prevista no art. 373 do Cdigo de
Trabalho em vigor no sofre qualquer alterao
1 incongruncia pois, Considera-se
despedimento por inadaptao a cessao de
contrato de trabalho promovida pelo empregador e
fundamentada em inadaptao superveniente do
trabalhador ao posto de trabalho.
Em segundo lugar, s situaes de inadaptao
previstas no art. 374, acrescenta-se a descrita n2
que prev que se verifica inadaptao de
trabalhador afecto a cargo de complexidade tcnica
ou de direco quando no se cumpram os
objectivos previamente acordados, por escrito, em
consequncia do seu modo de exerccio de funes
e seja praticamente impossvel a subsistncia da
relao de trabalho 2 incongruncia Por um
lado, porque se introduz uma espcie de perodo
experimental que faz depender a manuteno do
posto de trabalho do cumprimento de
determinados objectivos quando na verdade no
mbito laboral a figura dos objectivos apenas releva
para efeitos de retribuio (art. 261)
11
. Por outro
9
Cfr. Ponto 4.5. i) do Memorando de Entendimento sobre as
Condicionalidades de Poltica Econmica de 17 de Maio de 2011
celebrado entre Governo Portugus, Comisso Europeia, FMI e
Comisso Europeia;
10
Cfr. Joo Pedro Regncio, Da inadaptao do Memorando de
Entendimento ao Direito Laboral Portugus, Op. Cit, pg. 18;
11
Se se quiser chegar mais longe pode ainda afirmar-se que com o
estipulado no art. 374 n 2 se abala a prpria noo de contrato de
lado, porque sendo este tipo de despedimento
baseado em causas objectivas (no imputveis ao
trabalhador) no se pode de forma alguma
considerar situao de inadaptao o no
cumprimento de objectivos em consequncia do
modo de exerccio das funes adstritas ao
trabalhador (causa subjectiva) podendo, desta
forma, colocar-se a questo: inadaptao a qu?
Em terceiro lugar, naquela que provavelmente
constitui a alterao mais controversa
12
, o art 375
n 2 dispe:
O despedimento por inadaptao na situao
referida no n. 1 do artigo anterior, caso no tenha
havido modificaes no posto de trabalho, pode
ter lugar desde que, cumulativamente, se
verifiquem os seguintes requisitos:
a) Modificao substancial da prestao
realizada pelo trabalhador, de que resultem,
nomeadamente, a reduo continuada de
produtividade ou de qualidade, avarias repetidas
nos meios afectos ao posto de trabalho ou riscos
para a segurana e sade do trabalhador, de outros
trabalhadores ou de terceiros, determinados pelo
modo do exerccio das funes e que, em face das
circunstncias, seja razovel prever que tenha
carcter definitivo;
b) O empregador informe o trabalhador,
juntando cpia dos documentos relevantes, da
apreciao da actividade antes prestada, com
descrio circunstanciada dos factos, demonstrativa
de modificao substancial da prestao, bem
como de que se pode pronunciar por escrito sobre
os referidos elementos em prazo no inferior a
cinco dias teis;
trabalho mediante o qual o trabalhador est vinculado a uma
obrigao de meios e no de resultados o que, por sua vez,
distingue o contrato de trabalho (art.11CT) do de prestao de
servios (art.1154 do CC). Ou seja, para a perfeita execuo do
contrato de trabalho suficiente que o trabalhador se encontre
disposio do empregador para desenvolver de forma diligente e
reiterada a actividade contratada. A no obteno de um fim ,
normalmente, irrelevante para a referida perfeita execuo do
contrato. Desta forma totalmente desprovido de sentido que se
faa depender a manuteno de um contrato de trabalho da
obteno de um resultado/objectivo;
DAVID FALCO Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
150
c) Aps a resposta do trabalhador ou decorrido
o prazo para o efeito, o empregador lhe
comunique, por escrito, ordens e instrues
adequadas respeitantes execuo do trabalho,
com o intuito de a corrigir, tendo presentes os
factos invocados por aquele;
d) Tenha sido aplicado o disposto nas alneas b)
e c) do nmero anterior, com as devidas
adaptaes. 3 incongruncia concede-se ao
empregador a faculdade de fazer cessar a relao
laboral recorrendo ao despedimento por
inadaptao, mesmo no se tendo processado
qualquer alterao ao posto de trabalho; ento
hora de perguntar, de novo: inadaptao a qu?
Recordando, em conformidade com a noo de
despedimento por inadaptao prevista no art.
373, o empregador apenas poder fazer cessar o
contrato de trabalho por esta via com o
fundamento em inadaptao superveniente ao
posto de trabalho, inadaptao esta que resulte de
alterao introduzida no posto de trabalho qual o
trabalhador no se adaptou
13
. Por outro lado, o art.
351 n2 al.m) considera como justa causa
subjectiva de despedimento redues anormais de
produtividade bem como a al.d) do n2 do
mesmo artigo que consagra, igualmente, como
justa causa subjectiva de despedimento o
desinteresse repetido pelo cumprimento, com a
diligncia devida, de obrigaes inerentes ao
exerccio do cargo ou posto de trabalho a que est
afecto. , na realidade, absurdo que se consagrem
as mesmas situaes constituintes de justa causa
objectiva (despedimento por inadaptao no se
tendo processado qualquer alterao ao posto de
trabalho) e simultaneamente subjectiva de
despedimento (despedimento por facto imputvel
ao trabalhador) basta confrontar os arts. 375 n 2
e 351 n2 als. d) e m) para se constatar tal
realidade.
13
Pois se assim no fosse, todos os contratos de trabalho teriam
uma espcie de perodo experimental durante toda a sua durao
o que levaria a questionar o previsto no art. 53 da CRP sobre a
Segurana no Emprego;
Em suma, o despedimento por inadaptao
deve basear-se apenas na introduo de alteraes
ao posto de trabalho s quais o trabalhador no
logrou adaptar-se ou seja, sempre com base numa
causa objectiva, no imputvel ao trabalhador, em
concreto de natureza tecnolgica. Admitimos, de
facto, a importncia da modernizao dos postos
de trabalho com o objectivo de aumentar a
produtividade e consequentemente a
competitividade das empresas e que os
trabalhadores devem adaptar-se obrigatoriamente a
essa constante modernizao. O que no podemos
admitir um regime que considere a inadaptao
de um trabalhador ao posto de trabalho sem que
se tenha processado qualquer alterao nesse posto
de trabalho porque, se assim fosse, aceitaramos
uma forma de despedimento nova que no tem
por base nem causas objectivas nem subjectivas,
um despedimento arbitrrio e claramente
inconstitucional por violao do art. 53 da
Constituio da Repblica Portuguesa.
justamente a questo da inconstitucionalidade do
actual regime desta forma de cessao de contrato
de trabalho que vamos analisar.
3-Da inconstitucionalidade do actual regime
do despedimento por inadaptao notas
conclusivas
O art. 53 da Constituio da Repblica
Portuguesa permite efectivamente o despedimento
com base em causas objectivas (estruturais,
tecnolgicas ou de mercado) ou subjectivas
(comportamento culposo do trabalhador) sempre
que em qualquer das situaes se manifeste
impossvel a subsistncia da relao laboral.
Com o regime actualmente em vigor do
despedimento por inadaptao desaparece a
garantia da segurana no emprego prevista na Lei
Fundamental. Consagra-se, pois, uma forma de
despedimento estranha, arbitrria, baseada na
reduo de produtividade ou de qualidade, avarias
repetidas nos meios afectos ao posto de trabalho
Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
151
ou riscos para a segurana e sade do trabalhador
ou de outros trabalhadores por causa no
imputvel ao trabalhador e sem qualquer alterao
introduzida no posto de trabalho. Desta forma
no existindo qualquer modificao no posto de
trabalho, deixa de existir tambm qualquer
interesse da entidade empregadora digno de
tutela
14
.
Na conjuntura actual, a necessidade das
empresas aumentarem a produtividade, a
competitividade e reduzirem custos uma
evidncia. No entanto, quando se confronta essa
necessidade com um valor fundamental como o
previsto no art. 53 da Constituio da Repblica
Portuguesa que probe claramente despedimentos
arbitrrios obviamente que o valor
constitucionalmente tutelado se sobrepe s
necessidades de mercado.
Concluindo, pode dizer-se, ironicamente, que a
soluo passa pela alterao da Constituio da
Repblica Portuguesa de forma a legitimar um
regime jurdico morto nascena por ferido de
inconstitucionalidade.
Bibliografia
Canotilho, Gomes e Moreira, Vital,
Constituio da Repblica Portuguesa Anotada
Vol. I, 4 Edio, Coimbra Editora, 2007;
Leito, Lus Menezes, Direito do Trabalho, 2
Edio, Almedina, 2010;
Monteiro Fernandes, Antnio, Direito do
Trabalho, 13 Ed, Almedina, 2008;
Palma Ramalho, Maria do Rosrio, Direito do
Trabalho, Almedina, 2006;
Regncio, Joo Pedro, Da inadaptao do
Memorando de Entendimento ao Direito Laboral
Portugus, artciencia.com, year VII, Number 15,
May 2012 November 2012;
Romano Martinez, Pedro, Direito do Trabalho,
3 Ed, Almedina, 2006.
14
Cfr. Joo Pedro Regncio, Da inadaptao do Memorando de
Entendimento ao Direito Laboral Portugus, Op. Cit, pg. 14.
David Jos Geraldes Falco, nascido em Agosto de
1978, Doutor em Direito (Direitos Humanos e Filosofia
do Direito) pela Universidade de Salamanca no mbito do
programa de doutoramento Pasado y Presente de los
Derechos Humanos pertencente ao departamento de
Histria do Direito e Filosofia Jurdica, Moral e Poltica da
Faculdade de Direito da referida Universidade, concludo
em 27 de Setembro de 2006, com classificao mxima,
cujo registo foi efectuado na Reitoria da Universidade do
Minho.
Licenciou-se em Direito em 2001 e obteve o Mestrado
em Direito (Direitos Humanos e Filosofia do Direito) pela
Universidade de Salamanca, com classificao mxima e
reconhecimento de grau pela Universidade de Coimbra,
concludo em 2004.
Actualmente Professor do ensino superior politcnico e
universitrio, foi Professor-adjunto, em regime de dedicao
exclusiva, da Escola Superior de Gesto do Instituto
Politcnico de Castelo Branco (desde o ano lectivo
2006/2007); Equiparado a Professor-adjunto (em regime
de acumulao legal) da Escola Su-perior de Tecnologia
Gesto do Instituto Politcnico de Portalegre (desde o ano
lectivo 2008/2009); Professor Convidado do Instituto
Piaget (ano lectivo 2009/2010) e Professor Convidado da
Universidade Independente (ano lectivo 2006/2007).
Regente de unidades curriculares, docente em Ciclos de
Estudos Conferentes do Grau de Licenciado e em Ciclos
de Estudos Conferentes do Grau de Mestre.
Criador da Ps-Graduao em Solicitadoria de
Execuo ministrada pela Escola Superior de Gesto do
Instituto Politcnico de Castelo Branco 2007/2008.
Membro do Conselho Cientfico da Universidade
Independente de Lisboa no ano lectivo 2006/2007;
Coordenador da Licenciatura em Solicitadoria da Escola
Superior de Gesto do Instituto Politcnico de Castelo
Branco desde o ano lectivo 2007/2008 at actualidade;
Membro do Conselho Cientfico (actualmente designado
Conselho Tcnico-Cientfico) da Escola Superior de Gesto
do IPCB desde 2007 at actualidade;
Coordenador Cientfico da Ps-Graduao em
Solicitadoria de Execuo ministrada pela Escola Superior
de Gesto do Instituto Politcnico de Castelo Branco
2007/2008; Membro do Conselho de Representantes da
ESGIN desde Maro de 2010 (1 suplente) at
actualidade.
Foi igualmente Membro da Comisso de autoavaliao
do IPCB no mbito do programa de avaliao institucional
(IEP) levado a cabo pela European University Association
(EUA) (2008); Responsvel pela unidade curricular de
Enquadramento Legal da Empresa do Mestrado em
Empreendedorismo e Gesto de PMEs ministrado pela
ESTG do IP de Portalegre desde o ano lectivo 2008/2009
e Membro da Comisso Cientfica do Mestrado em Gesto
de Empresas da Escola Superior de Gesto do Instituto
Politcnico de Castelo Branco (desde 2009).
O AUTOR
DAVID FALCO Da Inconstitucionalidade do Despedimento por Inadaptao
152
Formador em vrios cursos da Escola Superior de
Gesto do Instituto Politcnico de Castelo Branco.
Participante em vrios Congressos e Seminrios
Nacionais e Internacionais.
Membro de Jris para Atribuio do Grau de
Doutor, para Atribuio do Ttulo de Professor
Especialista; Membro de Jris e Superviso de Estgios
para Atribuio do Grau de Licenciado; Membro de
Jris de Concursos Especiais.
Relator na Avaliao do Desempenho do Pessoal
Docente.
Actividade Cientifica:
Artigos:
Derechos Humanos y Diversidad Cultural, na
Revista Jurdica Jus Navigandi, Revista Jurdica
Especializada do Instituto Brasileiro de Informao em
Cincia e Tecnologia, Teresina, ano 11, n. 1453, 24 jun.
2007 (revista com reviso por pares);
Los Ms Recientes Esfuerzos de la UNESCO en
Materia de Derechos Humanos y Diversidad Cultural,
na Revista Jurdica Prolegis, 2007 (revista com reviso
por pares);
Derechos Humanos y Diversidad Cultural: Una
Posible Conciliacin, na Revista Jurdica Prolegis, 2007
(revista com reviso por pares);
Multiculturalismo: El Cncer de los Derechos
Humanos versus un Pluralismo Integrador Razonable,
na Revista Cientfica GESTIN, n 7, 2008;
Derechos Humanos: Historias de Consensos?, na
Revista Jurdica Prolegis, 2008 (revista com reviso por
pares);
Derechos Humanos y Dignidad: Fundamentos de la
Proteccin de las Diversas Identidades Culturales, na
Revista REID Revista Jurdica Internacional de
Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e Cidadania,
n 4, Instituto de Estudos de Direito e Cidadania, 2009
(revista com reviso por pares);
Noo de consumidor, na Revista Cientfica
GESTIN, n 8, 2010; Culturas y Derecho, na Revista
Jurdica Prolegis, 2010 (revista com reviso por pares);
Banco de Horas: A Escravatura Legal no Cdigo de
Trabalho Portugus (Lei n 7/2009), na Revista Jurdica
Julgar, Revista da Associao Sindical dos Juzes
Portugueses, 2012 (revista com reviso por pares);
Universalizacin de los Derechos Humanos a Partir
de la Diversidad Cultural: Polticas de Integracin, de
Flexibilizacin y de Dilogo, na Revista REID Revista
Jurdica Internacional de Direitos Humanos, Direitos
Fundamentais e Cidadania, n 12, Instituto de Estudos
de Direito e Cidadania, 2012 (revista com reviso por
pares);
Anlise ao Regime Jurdico da Venda de Bens de
Consumo, na Revista Jurdica Julgar, Revista da
Associao Sindical dos Juzes Portugueses, 2012
(revista com reviso por pares);
Invalidade do Registo da Marca por Falta de
Legitimidade: A confuso no Cdigo de Propriedade
Industrial Portugus, na Revista Jurdica Julgar, Revista
da Asso ciao Sindical dos Juzes Portugueses, 2013
(revista com reviso por pares);
Livros/Manuais:
Relatrio de Auto-avaliao do IPCB, no mbito do
programa de avaliao institu-cional (IEP) levado a cabo
pela European University Association (EUA), 2008;
Notas Sobre Direito do Consumo e Compilao de
Legislao Conexa, Chiado Editora, Lisboa, 2012;
Colaboraes Cientficas:
Colaborador da revista jurdica Prolegis desde 2007
at actualidade;
Colaborador da revista REID Revista Jurdica
Internacional de Direitos Humanos, Direitos
Fundamentais e Cidadania desde 2009 at
actualidade;
Membro do conselho editorial da revista cientfica
do ISCET (Instituto Superior de Cincias Empresariais
e do Turismo), Percursos & Ideias, desde 2009 at
actualidade;
Reviewer da revista cientfica Tchne, Revista de
Estudos Politcnicos, 2010;
Membro do conselho editorial da revista cientfica
Luso-Brasileira de Direito do Consumo desde Maro de
2011 at actualidade;
Colaborao em Unidades de Investigao
Coordenador do Gabinete de Estudos de Direito do
Consumo institudo atravs de protocolo entre o
Instituto Politcnico de Castelo Branco e a Associao
Portuguesa de Direito do Consumo e, cuja finalidade a
de formao e informao ao consumidor bem como, a
de desenvolver estudos de investigao e organizao de
congressos e seminrios para divulgao de
conhecimento,desde Novembro de 2010 at
actualidade;
Sebentas de Apoio Pedaggico Facultadas aos
Alunos: -Direito do Trabalho I (Relaes Individuais);
Direito do Trabalho II (Relaes Colectivas); Direito do
Consumo; Direito da Famlia, Marcas e Patentes
Distines: Distino Cum Laude na tese de
mestrado intitulada Derechos Humanos y Diversidad:
Una Posible Conciliacin apresentada na Faculdade de
Direito da Universidade de Salamanca em 2004.
CINCIA POLTICA
Ano 1 N. 02 [pp. 153-168]
153
RENATO LOPES MILITO
Advogado
SUMRIO:
Neste trabalho realizamos uma abordagem ao modelo do chamado Estado
social e democrtico de direito.
Embora dissequemos separadamente cada um dos seus elementos essenciais,
temos por objectivo evidenciar que foi a modulao, compatibilizao e
conjugao destes que permitiu, homogeneizou e representou esse modelo.
CONTRIBUTO PARA A ANLISE DO ESTADO
SOCIAL E DEMOCRTICO DE DIREITO
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
154
CONTRIBUTO PARA A ANLISE DO ESTADO
SOCIAL E DEMOCRTICO DE DIREITO
RENATO LOPES MILITO
Advogado
1. Introduo
Ao perodo compreendido entre a ecloso da
Primeira Guerra Mundial e a imploso da URSS,
com particular destaque para o segmento entre o
termo da Segunda Guerra Mundial e meados da
dcada de 1970, chamou Eric Hobsbawm o breve
sculo XX. Foram, de facto, extraordinrias as
transformaes econmicas, sociais e polticas que
ocorreram em to pouco tempo, no s a Leste
mas tambm a Ocidente. Aqui, com a
implementao do projecto do chamado Estado
social e democrtico de direito.
certo que, sobretudo a partir de meados da
dcada de 1970, fruto de mltiplos factores que
no cabe aqui abordar, a correlao entre as foras
sociais e polticas alterou-se e o retrocesso tem sido
enorme. Porm, como recordou Antonio Cantaro
(1997: 177), mostra-se perfeitamente actual o
problema mais profundo a que o Estado social
tentou proporcionar resposta. Ou seja, a procura de
outra racionalidade oposta econmica, de uma
racionalidade capaz de limitar e corrigir o cdigo
meramente calculador do homo economicus. O
que, perante a crise econmica de 2008-..., se
tornou ainda mais uma evidncia. Por isso, vale a
pena ponderar sobre as experincias encetadas no
breve sculo, nomeadamente sobre o chamado
Estado social e democrtico de direito, tanto mais
que, como notaram a este propsito Sami Nar e
Edgar Morin (1997: 216), o futuro, felizmente,
muito longo. Aqui fica, pois, um pequeno
contributo.
2. Estado (enonmico-)social
Perante a incontornvel falncia do modelo
liberal, as fortssimas lutas sociais e polticas que
este gerou (
1
) e os bons resultados que algumas
experincias encetadas na recm criada URSS
comearam a evidenciar (
2
), a construo do
(
1
) O que bem se compreender se se recordar, por exemplo, que a
evoluo do capitalismo no quadro liberal de tal modo degradou as
condies de trabalho e de vida dos trabalhadores que at
fisicamente estes se distinguiam dos patres. Por exemplo em
Inglaterra e na Frana, a estatura mdia dos filhos dos patres era
superior dos filhos dos operrios em 12 e 10 centmetros,
respectivamente (Lequim, 1983: 273).
(
2
) Por fora das vicissitudes subsequentes Revoluo Sovitica,
designadamente a invaso do pas por exrcitos das principais
potncias estrangeiras, apenas a partir do final da dcada de 1920
os bolcheviques conseguiram implementar de facto o seu projecto,
nomeadamente a colectivizao e planificao da actividade
econmica. Ora, neste quadro, o crescimento da economia sovitica
foi, efectivamente, impressionante. S entre 1929 e 1933, ou seja,
quando os principais pases capitalistas, mormente os EUA,
atravessavam uma gravssima crise econmica, a indstria da URSS
cresceu mais de 200%. Foi, pois, fundamentalmente a partir da que
a URSS desenvolveu o seu objectivo de incremento da igualdade
real entre os cidados. E, de facto, apesar do total isolamento e do
severo boicote a que esteve sujeito at Segunda Guerra Mundial,
foram extraordinrios os passos que esse pas deu em tal sentido. O
desemprego praticamente desapareceu a partir de 1931. Ento,
grande parte das fbricas dispunha j de creches, jardins de infncia
e cantinas, realidades que na poca eram quase inexistentes nos
demais pases. Em pouco mais de uma dcada, o nmero de
mdicos passou de 70.000 para 155.000, o nmero de camas nos
hospitais de 247.000 para 791.000, o nmero de tcnicos superiores
de 233.000 para 908.000, o nmero de engenheiros de 47.000 para
289.900 e o nmero de especialistas de 288.000 para 1.492.200. Os
esforos feitos nos domnios do ensino geral e tcnico e no da
cultura aproveitavam a todos e davam novas oportunidades de
promoo social aos filhos dos operrios, elementos de bem-estar
e de cultura ainda desconhecidos entre os operrios mdios do
Ocidente (Elleinstein, 1976: 222 e, para uma panormica geral da
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
155
chamado Estado social nos pases ocidentais foi em
grande medida o ltimo recurso encontrado para
que o sistema capitalista pudesse subsistir nestes
pases (v.g., Nunes, 2008: 49 e ss.). Mas justamente
por isso, essa via implicou a introduo de
expressivos elementos de natureza socialista nos
pases do Ocidente.
Desde logo, os Estados ocidentais serviram-se
em elevado grau do sistema fiscal, no apenas para
ampliarem as suas receitas mas igualmente para
redistriburem a riqueza. Foi enorme o incremento
quer dos impostos sobre o capital, quer da
tributao progressiva dos rendimentos (
3
).
De igual modo, o direito de propriedade
privada e as liberdades econmicas em geral no s
foram grandemente desvalorizadas e comprimidas,
como lhes foi imposta uma acentuada funo
social. Sobretudo as empresas privadas passaram,
pois, a estar em elevado grau socialmente
vinculadas.
Mas, mais do que isso, os Estados em referncia
passaram a regrar profusamente a actividade
econmica. Implementaram extensssimas polticas
econmicas (oramentais, monetrias, de preos,
salariais, de emprego, de concorrncia, etc.) (v.g.,
Almeida, 1979: 531 e ss.). Concretizaram
avultadssimos investimentos em mltiplos
sectores. E introduziram mesmo a planificao da
economia, tendencialmente indicativa para o sector
privado e em regra imperativa para o sector
pblico (v.g., Almeida, 1979: 559 e ss.).
Acresce que, sobretudo a partir do termo da
Segunda Guerra Mundial, os referidos Estados
evoluo econmica, social e cultural ocorrida entre 1922 e 1941,
212-245). Realidades que se prolongaram aps a Segunda Guerra
Mundial, apesar da colossal devastao que esta provocou nesse
pas. De facto, [o]s progressos da economia sovitica, a partir dos
anos cinquenta at aos anos setenta, foram espectaculares,
resolvendo alguns problemas bsicos das populaes de modo mais
satisfatrio que os pases ocidentais (...) (Torres, 1995: 306-307).
(
3
) Todavia, a utilizao do sistema fiscal assumiu outras formas.
A ttulo exemplificativo, destaca-se a criao da figura dos
chamados impostos extrafiscais, cujo escopo dominante o de
evitar certos comportamentos econmicos e sociais dos respectivos
destinatrios. Trata-se, pois, de verdadeiras medidas de interveno
econmica e social por via fiscal (v.g., Nabais, 2003: 17-18, 63-64 e
404-407).
igualmente nacionalizaram e criaram inmeras e
relevantssimas empresas em sectores econmicos
fundamentais. Por exemplo na Repblica Federal
Alem, o Estado passou a controlar 70% da
produo do alumnio, 45% da produo
automvel, 37% da produo de ferro, 27% da
construo naval, 25% da produo de hulha, 23%
de adubos azotados, 17% da produo de
electricidade, etc. (...). A Frana nacionalizou largos
sectores da Banca privada, empresas de gs e
electricidade, de produo de hulha, a produo
automvel Renaud e a indstria aeronutica. A
Inglaterra nacionalizou parte do sector bancrio, a
siderurgia, a produo de hulha, os transportes
ferrovirios e areos e sectores dos transportes
vrios (Torres, 1995: 309-310).
A par, os Estados ocidentais instituram
mltiplas entidades pblicas, designadamente de
carcter empresarial, destinadas prestao de
servios, quer de cariz sobretudo econmico (gua,
electricidade, gs, resduos, efluentes,
comunicaes, transportes, etc.), quer de jaez
fundamentalmente social (sade, ensino, cultura,
etc.). E estabeleceram mesmo monoplios pblicos
em algumas dessas actividades, subtraindo-as assim
totalmente iniciativa privada e ao mercado.
certo que as sociedades em anlise nunca
deixaram de ser essencialmente capitalistas. De
facto, em ltima instncia, a interveno dos
respectivos Estados na actividade econmica e,
genericamente, na sociedade civil, foi direccionada
para a sustentao do sistema capitalista. A prpria
propriedade pblica dos meios de produo jamais
foi a transformada em propriedade social. Enfim,
a orientao adoptada traduziu-se numa soluo
de capitalismo de estado, em que a propriedade
pblica se afirmou como uma nova forma de
propriedade capitalista (propriedade do estado
capitalista) (Nunes, 2008: 59).
Porm, esta realidade no deve obnubilar a
extraordinria evoluo que efectivamente
representou a tendencial racionalizao do sistema
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
156
econmico pelo sistema poltico, desenvolvida
sobretudo atravs da interveno do Estado na
actividade econmica, nomeadamente por via da
constituio de um sector pblico empresarial
fortssimo, o qual de modo algum se cingiu
subsidiariedade.
Tal como no deve obscurecer que este modelo
visou tambm em elevado grau a paulatina
realizao do bem-estar dos cidados e da justia
social. Com efeito, o projecto do Estado social teve
igualmente como desiderato a construo
progressiva de uma sociedade mais igualitria (v.g.,
Sousa e Matos, 2006: 107). E, de facto, como
melhor veremos adiante, os chamados Estados
sociais, ento j capacitados para tal, em face da
elevada subordinao do sistema econmico ao
sistema poltico, bem como das receitas
provenientes quer dos novos impostos quer das
suas empresas, consagraram e efectivaram,
designadamente atravs das inmeras entidades
que criaram para o efeito, mltiplos direitos a
prestaes de carcter econmico, social e cultural,
vulgo, direitos sociais.
Em suma, o Estado social traduziu-se na
sobreposio do sistema poltico ao sistema
econmico e, afinal, generalidade dos demais
sistemas e subsistemas sociais, bem como na
significativa publicizao destes, nomeadamente
atravs da constituio de um fortssimo sector
pblico empresarial, com a consequente
consagrao e satisfao de direitos sociais. Na
verdade, apenas a realizao destes direitos, sem a
ascendncia do sistema poltico sobre o sistema
econmico e a sociedade civil em geral, no s no
define o Estado social como jamais teria sido
possvel. Ou seja, o Estado social foi, somente
poderia ter sido e apenas poder continuar a ser
um Estado econmico-social.
Foi, alis, este o programa anunciado pela
primeira Constituio efectiva do Estado social, a
Constituio alem de Weimar, de 1919 (
4
). A se
consagrou pela primeira vez a funo social da
propriedade privada (art. 153, 3). Nela foi
estabelecido o princpio segundo o qual [a] ordem
econmica deve corresponder aos princpios da
justia tendo por objectivo garantir a todos uma
existncia conforme dignidade humana. S
nestes limites fica assegurada a liberdade
econmica do indivduo (art. 151.). L foi
afirmado o controlo do estado sobre a repartio
e utilizao do solo e de todas as foras naturais
susceptveis de utilizao econmica, bem como a
possibilidade de nacionalizao de empresas
privadas, e finalmente a administrao autnoma
da economia (Moreira, 1979: 79). Em
consequncia, essa Constituio procedeu
fundamentalizao de mltiplos direitos positivos a
prestaes de carcter econmico, social e cultural.
Tratou-se, na verdade, de um projecto reformista,
que visou no apenas a racionalizao da
economia, mas a transformao do sistema
econmico (Nunes, 2008: 51).
No foi, pois, apenas fruto do contexto
revolucionrio imediatamente posterior
Revoluo de Abril de 1974 que a verso
originria da CRP, alm do mais, incluiu nas tarefas
fundamentais do Estado portugus a socializao
dos meios de produo e da riqueza, a criao das
condies necessrias promoo do bem-estar e
da qualidade de vida do povo, particularmente das
classes trabalhadoras, e a abolio da explorao do
homem pelo homem (
5
), ou afectou Repblica
Portuguesa o desiderato de se transformar numa
(
4
) Antes ainda da Constituio de Weimar, j a Constituio
Mexicana de Queretaro, de 1917, resultante da Revoluo de 1910-
1917, havia revelado um projecto semelhante. Porm, este texto
constitucional nunca ultrapassou verdadeiramente a sua dimenso
programtica. Para um resumo das principais Constituies do
Estado social, vd. Ayala: 342-371.
(
5
) Cfr. art. 9, al. c), da verso originria da CRP. de notar que
essa norma foi aprovada sem votos contrrios, apenas com 11
abstenes.
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
157
sociedade sem classes (
6
) e ao Estado portugus
o de assegurar a transio para o socialismo (
7
).
Tratou-se, com efeito, pese embora muito
tardiamente, do reflexo no nosso pas de toda a
evoluo verificada na generalidade das sociedades
ocidentais.
Assim, nos pases em referncia, passaram a
vigorar, a par das clssicas Constituies polticas,
formal ou materialmente, amplssimas
Constituies econmico-sociais.
3. Princpio democrtico
Ora, em face da elevada subordinao do
sistema econmico e da generalidade dos demais
sistemas e subsistemas sociais ao sistema poltico,
todas as questes sociais, sobretudo as econmicas,
ao menos potencialmente, passaram a ser questes
estaduais e polticas.
Deste modo, inevitavelmente, tal como ocorreu
na experincia socialista da URSS e em grande
medida por presso da existncia desta, tambm
nos Estados econmico-sociais do Ocidente se
verificou uma alterao profunda das caractersticas
do sistema poltico e, portanto, dos princpios
jurdico-polticos inerentes ao liberalismo.
Desde logo, para mais em face da enorme
presso dos trabalhadores e da pequena e mdia
burguesia, o princpio democrtico no s veio a
adquirir uma dimenso de extraordinrio relevo
como acolheu significativas transformaes.
(
6
) Cfr. art. 1 da verso originria da CRP. Recorde-se que apenas
o PPD votou contra a norma citada. O prprio CDS votou
favoravelmente esse preceito, tendo relembrado, na respectiva
declarao de voto, que a referncia ao objectivo da transformao
da sociedade numa sociedade sem classes consta da declarao de
princpios do CDS (Caldeira e Silva, 1976: 489). Alis, deve notar-
se que ainda em 1984 um dos fundadores e mais carismticos
lderes desse partido continuava a reivindicar para a democracia
crist o ideal de uma sociedade sem classes (Amaral, 1984: 91).
(
7
) Cfr. art. 2 da verso originria da CRP. Saliente-se que esse
preceito foi aprovado sem votos contrrios, apenas com 32
abstenes.
Pese embora com alguma lentido, progrediu o
processo de universalizao do sufrgio, que a
partir de 1918 passou a ser tambm impelido pelo
facto de a URSS ter concedido o direito de voto
aos trabalhadores, incluindo s mulheres (
8
). Assim,
por exemplo no Reino Unido, o direito de voto foi
conferido aos trabalhadores em 1918, pelo
Representation of the People Act, e s mulheres,
irrestritamente, em 1928, pelo Equal Franchise Act.
A maioria dos demais pases do Ocidente seguiu o
mesmo caminho logo aps a Segunda Guerra
Mundial. A Frana, por exemplo, universalizou o
sufrgio em 1946. J na Sua e em Portugal,
porm, o sufrgio apenas foi plenamente
universalizado na dcada de 1970.
Muitos desses pases foram igualmente
adoptando formas de proporcionalidade dos
sistemas eleitorais. Por essa via possibilitou-se a
representao de vrias tendncias polticas e
diferentes grupos sociais nos parlamentos. Estes
ficaram, pois, mais representativos da realidade
poltica e social dos respectivos pases. E, desse
modo, foi ainda mais potenciada a dinmica
democrtica na sociedade (
9
).
Por seu lado, os governos, de um modo geral,
foram passando a resultar e depender apenas dos
parlamentos, eleitos pelo povo. Assim, os
executivos perderam definitivamente a
legitimidade extra-social que lhes havia sido
conferida pelo liberalismo originrio (
10
), tendo
(
8
) A primeira Constituio sovitica, de 10 de Julho de 1918,
concedeu o direito de voto, bem como o de ser eleito, a todos os
cidados maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que prestassem
trabalho produtivo, tendo, no entanto, transitoriamente, excludo
do sufrgio os que explorassem o trabalho dos outros, excluso
que, em face do anncio do fim da explorao do homem pelo
homem, veio a ser abolida pela Constituio de 1936, que
consagrou j o sufrgio universal, directo, igual e secreto (v.g.,
Miranda, 2003: 186).
(
9
) Importa ter presente que, de acordo com a famosa Lei
Duverger, a representao proporcional tende ao
multipartidarismo. Sobre a Lei Duverger, bem como sobre a
representao proporcional, vd. S, 1992: maxime 85-120.
(
10
) Na linha de Montesquieu, para quem o governo devia
continuar a depender do rei, decorrendo a sua legitimidade da
legitimidade prpria deste (v.g., S, 1994: 98-100), as monarquias
constitucionais do sc. XIX consagravam uma dupla legitimidade
do poder poltico, sendo o executivo ou, se se quiser, a
administrao, chefiada pelo monarca, baseada num ttulo prprio
e independente de legitimidade do poder (ou seja, em tudo o que
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
158
tambm eles adquirido, ainda que to-s por via
indirecta, legitimidade popular.
Em paralelo, os partidos polticos, no governo
ou na oposio, foram obtendo um estatuto
constitucional que lhes conferiu um papel
relevantssimo no sistema poltico (
11
). De tal
modo assim foi, que o prprio Estado
constitucional comeou mesmo a ser considerado
um Estado constitucional de partidos (Canotilho,
2003: 315 (
12
)) (
13
). O poder passou, pois, a ser
exercido e controlado por entidades colectivas,
exprimindo vontades colectivas. Com a mais valia
decorrente de muitos dos partidos possurem ento
um elevado nmero de militantes e significativos
nveis de participao interna (
14
). Assim, ainda
que em grande medida to-s indirectamente, os
partidos polticos permitiram alargar em muito a
interferncia do povo no exerccio do poder
estadual. Por outro lado, no menos importante se
mostrou a sua contribuio para a prpria
formao da opinio pblica e, de um modo geral,
para o robustecimento da dinmica scio-poltica.
Foi, pois, enorme o contributo dos partidos
polticos para o desenvolvimento da democracia.
Pese embora com o decorrer do tempo tenham
dissesse respeito esfera estatal prevalecia a legitimidade
dinstica) (Sousa e Matos, 2006: 106).
(
11
) Importa ter-se presente que, no liberalismo, alis pela essncia
e definio deste, os partidos polticos no possuam acolhimento
constitucional e, de resto, nem sequer existiam verdadeiramente, ao
menos na sua configurao hodierna.
(
12
) Como refere a o autor citado, chegou mesmo a haver quem
defendesse, pese embora impropriamente, que os partidos polticos
exerciam as funes de um rgo constitucional.
(
13
) [U]m Estado constitucional de partidos permitia, pois, a
existncia de vrios partidos polticos. Desse modo, apesar de
algumas similitudes tambm neste domnio, o constitucionalismo
dos Estados sociais e democrticos de direito diferenciou-se
substancialmente do constitucionalismo sovitico, o qual concedia
ao Partido Comunista o papel de nica fora dirigente e
orientadora da sociedade sovitica, o ncleo do seu sistema poltico
e de todas as organizaes estatais e sociais (art. 6 da
Constituio da URSS de 1977), razo por que, toda a estrutura do
Estado sovitico era duplicada pela organizao paralela do
Partido Comunista (Guedes, 1978: 237).
(
14
) No quer isso dizer que os partidos fossem ento, todos eles,
partidos de massas, pois o elemento distintivo destes no o
nmero dos seus militantes, mas a respectiva estrutura (v.g., S,
1994: 51). Contudo, tendencialmente, pode dizer-se que, [a]o
passo que os partidos do sculo XIX eram partidos de quadros ou de
notveis, os partidos do sufrgio universal tenderam a ser, at h
pouco, partidos de massas e de integrao (Miranda, 2007: 23,
citando concordantemente Neumann).
acabado por monopolizar o sistema poltico e, pior,
as direces e os chefes dos partidos da rea do
poder hajam adquirido um elevado domnio sobre
todo o aparelho estadual (S, 1994: 100-102).
Mas o certo foi que, como notou Jrgen
Habermas (2002: 51), [r]eacoplar o sistema
econmico ao poltico, que de certo modo
repolitiza as relaes de produo, cria uma
crescente necessidade de legitimao. De facto,
no obstante largamente ampliada, a democracia
representativa, por si s, deixou de dar resposta
satisfatria realidade resultante, sobretudo, do
colossal crescimento, quantitativo e qualitativo, da
interveno do Estado na sociedade civil, do
enorme incremento dos direitos sociais e da
imposio de deveres fundamentais, bem como
elevada dinmica social e poltica dos trabalhadores
e da classe mdia e ao extraordinrio peso que
assumiram inmeras organizaes, maxime os
sindicatos, tambm elas, como os partidos polticos,
entidades grandemente participadas.
Neste quadro, a mera legitimidade do
exerccio dos poderes pblicos, ainda que assente
no sufrgio universal, tornou-se manifestamente
insuficiente, tendo-se imposto a necessidade de
legitimao permanente desse exerccio. Mostrou-
se, pois, necessrio que os actos desses poderes
obtivessem validao por parte do povo, no
bastando a respectiva validade.
Assim, revelou-se indispensvel no apenas que
os representantes do povo no parlamento fossem
eleitos pela generalidade dos cidados, como
igualmente que estes controlassem em
permanncia o exerccio de grande parte das
funes estaduais, da base ao topo, e, mesmo, que
dispusessem de uma certa margem de participao
nesse exerccio. Em tal contexto, foi enorme o
desenvolvimento da publicitao da actuao dos
poderes pblicos. Mas, mais do que isso, assistiu-se
progressiva institucionalizao de certas formas
de controlo directo do exerccio dos poderes
pblicos e, inclusive, de participao nesse
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
159
exerccio por parte quer dos cidados, quer,
sobretudo, de entidades colectivas formadas por
estes.
Deste modo, em maior ou menor grau, o
princpio democrtico, entendido no s na sua
dimenso representativa mas tambm na
participativa, passou a conformar a organizao e o
funcionamento da generalidade das entidades
pblicas, das escolas pblicas aos hospitais pblicos,
dos institutos pblicos s empresas pblicas, das
autarquias locais e regionais (
15
) aos rgos
mximos do Estado.
Na verdade, o Estado social estreitou
enormemente o fosso entre o Estado ou, se se
quiser, o sistema poltico e a sociedade civil. E,
consequentemente, alargou em muito o espao
para o exerccio da cidadania.
Porm, em todo esse contexto, inevitavelmente,
o princpio democrtico, assim equacionado,
estendeu-se mesmo s prprias entidades privadas.
Alm do mais, que foi muito, mostrou-se
particularmente importante a institucionalizao,
que de facto se efectivou em grande medida, da
interveno dos trabalhadores na vida das empresas
privadas (
16
).
Em suma, tendencialmente, o princpio
democrtico estendeu-se generalidade das
dimenses sociais, nomeadamente econmica,
no s no sentido da subordinao destas ao poder
poltico democraticamente eleito, mas tambm no
da vinculao de todos os sistemas e subsistemas
sociais e, portanto, de todos os poderes, pblicos e
privados, ao controlo e, mesmo, relativa
participao do povo, porquanto todas essas
realidades passaram a ser perspectivadas como
(
15
) Importa notar que, por si s, [a] democracia local,
autrquica, assim como a democracia empresarial, so exemplos de
democracia participativa (Cunha, 2008: 161).
(
16
) Tenha-se presente o teor dos arts. 55, n 1 direito dos
trabalhadores criarem comisses de trabalhadores para (...)
interveno democrtica na vida da empresa (...) , e 56, als. b) e c)
Constituem direitos das comisses de trabalhadores: (...) b)
Exercer o controlo de gesto nas empresas; c) Intervir na
reorganizao das unidades produtivas , da verso originria da
CRP.
grandezas polticas que no podem nem devem
autolegitimar-se (Canotilho, 2006: 318).
Efectivamente, no contexto referido, no existem,
por definio, esferas da vida social subtradas s
determinaes da soberania popular, zonas
intangveis governadas por qualquer mo
invisvel, por qualquer autoridade extra social (...)
(Cantaro, 1997: 67).
Dito de outro modo, o princpio democrtico
foi normativamente conformado e efectivou-se
no apenas como forma de organizao,
racionalizao e legitimao do poder, mas afinal,
ao menos tendencialmente, como modo de vida
(Tapias, 2007: 206) e impulso dirigente de uma
sociedade (Canotilho, 2003: 288 (
17
)).
O que vale por dizer que esse princpio ocupou
em elevado grau o lugar do princpio liberal.
Efectivamente, o direito liberdade dos indivduos,
maxime dos indivduos-proprietrios, passou em
grande medida a ser conformado pela vontade
colectiva e pela participao alargada dos cidados
na generalidade das questes sociais.
A realidade do Estado econmico-social
facultou, pois, as condies e os estmulos para o
desenvolvimento da natureza social do homem.
Ou, dito de outro modo, permitiu em muito a
realizao deste enquanto ser genrico, indivduo
e cidado num s (Marx, 1994: maxime 104-128
e 155-161; Marx: 1997: maxime 90-91). De facto,
como reconheceria o papa Joo XXIII, na Encclica
Mater et Magistra (1961), a tendncia para a
socializao (...) deu origem, sobretudo nestes
ltimos decnios, a grande variedade de grupos,
movimentos, associaes e instituies, com
finalidades econmicas, culturais, sociais,
desportivas, recreativas, profissionais e polticas,
tanto nos diversos pases como no plano mundial
(
18
).
(
17
) Pese embora o autor citado se reporte a CRP, a afirmao
caracteriza o Estado de direito democrtico.
(
18
) Alis, em face de toda esta evoluo, a prpria igreja romana,
que at ento sempre afirmara peremptoriamente a origem divina
do poder e da propriedade privada, viu-se forada a reformular em
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
160
4. Princpio da separao de poderes
Porm, o progresso descrito teve igualmente
repercusses profundas no princpio da separao
de poderes.
Desde logo, foi patente a confluncia entre o
poder executivo e o poder legislativo, inclusive
com preponderncia daquele. Os governos,
resultando e dependendo agora dos parlamentos
eleitos pelo povo, isto , com legitimidade popular,
ainda que to-s indirecta, perante as necessidades
ditadas pelo enorme crescimento da interveno
do Estado na sociedade, maxime na economia, e
pela consequente implementao de direitos
sociais, viram no apenas largamente ampliadas as
suas competncias administrativas, como lograram
obter extensas competncias legislativas e, at,
jurisdicionais ou, pelo menos, quase-jurisdicionais
(
19
).
Por sua vez, o poder jurisdicional (
20
) passou a
ter competncia para controlar a
constitucionalidade das leis produzidas pelo
parlamento e pelo governo, podendo derrog-las.
Bem como passou mesmo a poder substituir-se em
certa medida aos outros poderes estaduais,
sobretudo por virtude da aplicabilidade directa dos
direitos fundamentais s relaes jurdicas privadas
(
21
). Ou seja, o poder jurisdicional passou a exercer
funes que antes pertenciam em exclusivo aos
demais poderes do Estado.
Por outro lado, no menos relevante se mostrou
o extraordinrio desenvolvimento de formas de
separao institucional-vertical ou territorial dos
certa medida os seus postulados. Joo XXIII, na citada Encclica
Mater et Magistra, sustentou, alm do mais, o interesse das naes
em que todos os cidados se considerem responsveis pela
realizao do bem comum, em todos os setores da vida social,
tendo inclusive pugnado pelo desenvolvimento de um ambiente
humano que favorecesse a possibilidade de as classes
trabalhadoras assumirem maiores responsabilidades mesmo dentro
das empresas.
(
19
) Assim sucedeu com a criao do chamado direito de mera
ordenao social.
(
20
) Sobre o conceito de poder jurisdicional, vd. Canotilho, 2003:
576.
(
21
) Sobre a extenso dos direitos fundamentais s ralaes
jurdicas privadas, justamente decorrente do processo de socializao,
vd. o ponto 7, infra.
poderes pblicos (Piarra, 1989: 265). Tal
realidade foi sobretudo exponenciada por via da
transferncia de poderes do Estado, inclusive
legislativos e, mesmo, jurisdicionais, ou quase-
jurisdicionais (
22
), para entidades infra-estaduais,
nomeadamente regies autnomas e autarquias
locais. Naturalmente, essa evoluo implicou um
elevado grau de diluio do prprio Estado e
aproximou ainda mais dos cidados o exerccio dos
poderes pblicos (
23
).
Porm, desta feita com vista limitao exgena
dos poderes do Estado (
24
), o princpio da
separao de poderes foi tambm grandemente
alargado pela incorporao de novos mecanismos e
pela valorizao de outros a que anteriormente no
era dada a mesma relevncia. Entre tantos,
nomeadamente os direitos atribudos oposio,
aos sindicatos e a muitas outras organizaes, bem
como a margem concedida auto-regulao ou
negociao colectiva, destacou-se o relevo e o
robustecimento conferidos opinio pblica e
liberdade de imprensa. Deste modo, tornou-se
ainda mais visvel uma progressiva simbiose entre o
Estado e a sociedade civil.
Todavia, importa ter-se presente que o
princpio da separao de poderes foi tambm
profundamente esbatido por razes perversas. De
facto, o peso que os partidos polticos maioritrios,
quais Modernos Prncipes (
25
), passaram a deter
levou a que neles ficassem em grande medida
concentradas enormes parcelas do poder
(
22
) Tenha-se presente, uma vez mais, o caso paradigmtico do
direito de mera ordenao social.
(
23
) A partilha dos poderes do Estado, com o consequente
esbatimento progressivo deste, comeou tambm a operar-se a
favor de instncias supra-estaduais (v.g., Gouveia, 2007: 223).
Todavia, nesse plano, a evoluo tem sido no sentido do
afastamento do exerccio dos poderes pblicos relativamente ao
povo.
(
24
) Note-se que, na construo iluminista-liberal do princpio da
separao de poderes, desde logo porque a mesma assumia em
absoluto a dicotomia governantes-governados, somente o poder
limitaria o poder (Fontes, 2006: 88).
(
25
) A expresso Moderno Prncipe, no sentido de Prncipe
colectivo, foi utilizada por Gramsci (1974: 254 e segs.) para
evidenciar o papel positivo dos partidos polticos modernos,
maxime dos partidos de classe, no sistema poltico.
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
161
legislativo, do poder executivo e, mesmo, do poder
jurisdicional (v.g., S, 1994: 100-102).
Em suma, pese embora o princpio da separao
de poderes no tenha sido totalmente aniquilado
pelos Estados sociais e democrticos, como
sucedeu na experincia socialista da URSS (
26
), a
verdade foi que tambm esses Estados o esbateram
e transformaram enormemente (
27
).
5. Estado de direito
Todavia, a realidade descrita influiu tambm
fortemente na abordagem do prprio princpio do
Estado de direito.
(
26
) O constitucionalismo sovitico radicalizou os fundamentos
que presidiram progressiva degradao do princpio da separao
de poderes nos Estados sociais e democrticos de direito. Assim, ali,
todo o poder pertencia exclusivamente aos Sovietes, enquanto
nicos rgos do Estado representativos do povo (princpio do
governo de assembleia). Porm, com vista diluio dos poderes
pblicos na sociedade e ampliao da participao dos cidados
no seu controlo e exerccio, os Sovietes encontravam-se
piramidalmente estruturados (locais, regionais, centrais, Supremo).
Desse modo, os poderes do Estado estavam repartidos
verticalmente pelos Sovietes de cada circunscrio geogrfica. Nas
correspondentes circunscries, os Sovietes detinham toda a
competncia legislativa (no sendo, por isso, conhecida a distino
entre lei em sentido formal e em sentido material). A eles estava
subordinada a administrao. E tambm os juzes eram eleitos por
essas assembleias ou, nalguns casos, por sufrgio directo, sendo de
todo o modo coadjuvados por assessores populares e, por vezes,
tambm por assessores sociais, igualmente eleitos. Acresce que os
Sovietes estavam obrigados a conjugar as suas actividades com
inmeras entidades no estaduais (colectivos de trabalho,
sindicatos, cooperativas, organizaes juvenis), as quais detinham
avultados poderes de fiscalizao e participao na administrao
dos assuntos do Estado e da sociedade (cfr., v.g., arts. 7 e 8 da
Constituio da URSS de 1977), estando igualmente os deputados,
cujos mandatos eram revogveis pelos eleitores, obrigados a prestar
regularmente contas das funes que desempenhavam no
respectivo Soviete e do trabalho deste, quer perante os eleitores,
quer perante os colectivos que tivessem promovido as
correspondentes candidaturas. Todavia, como se disse, jamais as
constituies soviticas deixaram de conceder ao Partido
Comunista o papel de fora dirigente e orientadora da sociedade
sovitica, o ncleo do seu sistema poltico e de todas as
organizaes estatais e sociais (art. 6 da Constituio da URSS de
1977), duplicando a sua organizao toda a estrutura do Estado.
Assim, nunca na URSS deixou de vigorar um regime de partido
nico, sendo avassalador o domnio unvoco daquele partido quer
sobre o sistema poltico, quer, afinal, sobre todas as dimenses da
sociedade.
(
27
) Alis, na sua verso originria, a CRP apenas aludia
separao de poderes em sede de organizao do poder poltico (cfr.
art. 114, n 1, que corresponde ao actual art. 111, n 1). S na
quarta reviso constitucional (Lei Constitucional n 1/97, de 20 de
Setembro) a separao e independncia dos poderes do Estado
foi includa no art. 2 da CRP, isto , no mbito dos princpios
fundamentais.
certo que este princpio manteve o seu
postulado originrio, de subordinao do Estado ao
imprio da lei, com vista a garantir a racionalizao
do Estado e a segurana das pessoas.
Contudo, passou a implicar tambm, desde
logo, a obrigao de o Estado, atravs do direito,
racionalizar a dimenso econmica da sociedade e
implementar o bem-estar do povo e a justia
social, designadamente restringindo o contedo e
as consequncias do direito de propriedade privada
e das demais liberdades econmicas e concedendo
as condies materiais necessrias ao
desenvolvimento e realizao do homem. O
Estado e o direito passaram, portanto, a estar
vinculados a uma funo social, tornando-se
instrumentais, ao menos tendencialmente,
daqueles desideratos.
Com efeito, no Estado social, como salientam
Marcelo Rebelo de Sousa e Andr Salgado de
Matos (2006: 107), [a] ideia de separao entre
Estado e sociedade recusada e em seu lugar
afirmada a misso estadual de transformao da
sociedade num sentido mais justo (...). Por isso,
alis, as respectivas Constituies, tal como as
soviticas, eram em certa medida documentos
programticos. Foi, de resto, significativa, nesse
enquadramento, a formulao do princpio do no
retrocesso social, segundo o qual deve considerar-
se constitucionalmente garantido e, portanto,
irreversvel, no mnimo, o ncleo essencial dos
direitos sociais j concretizado (
28
). Em suma, a
validade das leis passou, em elevado grau, a
depender da sua afectao prossecuo dos
referidos objectivos.
Mas, concomitantemente, a validade das
normas jurdicas passou tambm a estar
condicionada no s democraticidade da
respectiva produo como sua prpria funo
democrtica. Efectivamente, como sai precpuo do
que se disse, ao princpio do Estado de direito
(
28
) Sobre o princpio da proibio do retrocesso social, vd., v.g.,
Canotilho, 2003: 338-340.
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
162
tornou-se inerente a necessidade de legitimao
permanente do exerccio dos poderes. E isso
pressups tanto a inevitabilidade de as leis serem
democraticamente produzidas quanto a
necessidade de as mesmas contriburem para o
aprofundamento da democracia. Alis, nesse
enquadramento, a verso originria da CRP
absteve-se mesmo de utilizar a expresso Estado
de direito, tendo antes introduzido o conceito de
legalidade democrtica (
29
).
Assim, visando agora a concretizao
progressiva da igualdade entre os cidados, para o
que tinha de introduzir ela mesma tratamentos
diferenciados (
30
), ampliar cada vez mais os
direitos positivos e os deveres e reforar a sua
dimenso imperativa, bem como resultando e
devendo ser o estmulo de um processo
democrtico amplo e crescente, a lei perdeu em
muito quer as suas caractersticas liberais originrias
de abstraco, generalidade e eventualidade, quer a
sua tendencial durabilidade (Daz, 1989: 28-31)
(
31
). Dito de outro modo, a lei adquiriu uma
enorme politicidade, por isso havendo perdido em
grande medida os atributos que possua no Estado
liberal (
32
). Ou seja, tambm neste contexto foi
(
29
) Cfr. art. 3, n 4, da verso originria da CRP. Foram, alis,
elucidativas as declaraes de voto do PPD e do PS, produzidas
aquando da aprovao dessa norma. Com efeito, o primeiro deles,
representado por Mota Pinto, salientou que, com o conceito de
legalidade democrtica, no se indica apenas o mecanismo de
elaborao da lei; introduz-se uma exigncia relativa ao prprio
contedo da lei. Introduz-se obviamente na legalidade produzida
pelos detentores do poder um decisivo elemento crtico com vista a
neutralizar o absolutismo da lei. J o deputado Manuel Alegre, em
representao do PS, referiu que a expresso legalidade
democrtica tem um contedo mais preciso e mais concreto e
cujo respeito condio fundamental para que se possa construir
no nosso pas, no quadro de uma sociedade socialista democrtica,
um verdadeiro Estado de Direito, onde no mais seja possvel o
arbtrio e onde, tambm, no mais se invoque um direito abstracto
para violar as liberdades concretas dos cidados ou para manter,
seja sob que forma for, a explorao do homem pelo homem.
(
30
) Nesse contexto, o princpio da igualdade passou a comportar
trs dimenses: proibio do arbtrio (Willkrverbot), proibio de
discriminao e obrigao de diferenciao, sendo certo que esta ltima
legitima (rectius, impe) ao legislador a adopo de discriminaes
positivas, destinadas a compensar desigualdades de oportunidades
(Correia, 2008: 358-359).
(
31
) Autores h que vo ao ponto de afirmar que [a] crise do
conceito clssico de lei (...) , em rigor, a crise do Estado de Direito
liberal (Buesco, 1997: 648-649).
(
32
) Efectivamente, [c]om o Estado Social, o atributo da
politicidade da lei substituiu os atributos da generalidade e da
largamente acolhido o paradigma do direito em
movimento (
33
).
Em suma, o novo Estado de direito assumiu
inequivocamente a concretizao de um modelo
de sociedade, afirmando-se portanto como um
Estado de direito material.
6. Princpio da dignidade da pessoa humana
De todo o modo, para evitar que o indivduo
pudesse ser aniquilado nesse modelo de sociedade,
foi ainda consagrado o princpio da dignidade da
pessoa humana, enquanto referencial tico e limite
inultrapassvel do Estado social e democrtico de
direito.
Na sequncia da Carta das Naes Unidas, de
1945 (
34
), e da Declarao Universal dos Direitos
Humanos, de 1948, a Lei Fundamental de Bona,
de 1949, foi a primeira Constituio a acolher esse
princpio, fundamentalmente como reaco ao
perodo nazi.
Esse seu cdigo gentico evidencia sem dvida
que o princpio da dignidade da pessoa humana foi
referenciado, prima facie, ao indivduo, enquanto
abstraco que marcavam o seu contedo no Estado Liberal
(Morais, 2008: 24, acompanhando Paladin).
(
33
) De todo o modo, foi sobretudo na experincia socialista da
URSS que o direito em movimento substituiu o paradigma
liberal do direito estvel, duradouro, conservador (Sarotte, 1975:
281). A, foi radicalmente assumida a instrumentalidade do Estado
e do direito com vista construo do socialismo e do comunismo.
Assim, o princpio do Estado de direito foi substitudo pelo
princpio da legalidade socialista, luz do qual a legalidade
deixou de ser perspectivada enquanto forma de cristalizao do
statu quo, tendo passado a s-lo como instrumento de
transformao da sociedade, cumprindo assim que em cada
momento fossem aprovadas as leis mais adequadas prossecuo
daqueles desideratos. Justamente por isso, as constituies
soviticas desempenhavam antes de mais uma funo de balano
das etapas j percorridas e de programa das metas a atingir
(Miranda, 2003: 191). Desse modo, as leis apenas adquiriam
legitimao e se impunham por virtude da sua materialidade
socialista, e no por serem formalmente leis. Ademais, dado que
todas as leis possuam primordialmente uma funo social, no s
tinham sempre carcter imperativo, como eram obrigatrias quer
para a administrao, quer para os cidados. Porm, apesar de o
princpio da legalidade socialista nunca ter deixado de ser um
mtodo dinmico de construo do socialismo, a partir de
Krutchev passou a ser oficialmente entendido como comportando
uma componente de garantia dos direitos dos cidados, e assim
foi recebido na Constituio de 1977 (Novais, 1985: 192).
(
34
) Cfr. Prembulo da Carta das Naes Unidas.
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
163
ser dotado de razo e conscincia (
35
). Deste
modo, o Estado social e democrtico de direito foi
em grande medida subordinado ao dever de
respeito pelo indivduo conformador de si prprio
e da sua vida segundo o seu prprio projecto
espiritual (Canotilho, 2003: 225).
No entanto, tomando de emprstimo as
palavras lapidares de Reis Novais (2004: 34),
importa ter-se presente que a dignidade da pessoa
humana do Estado social e democrtico de Direito
no mais a do individualismo possessivo (...). A
representao constitucional do homem enquanto
pessoa, cidado e trabalhador, a desvalorizao
relativa da propriedade e iniciativa econmica
privada, a viso universalista dos direitos, a tnica
na criao de condies de uma igualdade real ou
o carcter profundamente social das tarefas
fundamentais atribudas ao Estado mostram que a
dignidade da pessoa humana (...) prpria de um
indivduo comunitariamente integrado e
condicionado, titular de direitos fundamentais
oponveis ao Estado e aos concidados, mas
socialmente vinculado ao cumprimento dos
deveres e obrigaes que a deciso popular
soberana lhe impe como condio da
possibilidade de realizao da dignidade e dos
direitos de todos.
7. Direitos fundamentais
Como decorre do que vimos dizendo, a
evoluo descrita implicou uma diferente
abordagem dos direitos fundamentais, face sua
conformao liberal.
Desde logo, como adiantmos de incio, com
vista a incrementarem o bem-estar do povo e a
justia social, os Estados econmico-sociais
procederam fundamentalizao dos j referidos
direitos sociais. E, nalguns casos, chegaram mesmo
a constitucionalizar polticas sociais destinadas
(
35
) Cfr. art. 1 da Declarao Universal dos Direitos Humanos.
Nesse sentido, vd. Miranda, 2000: 183.
efectivao desses direitos (
36
), semelhana do
que fez o constitucionalismo sovitico (
37
).
Pretendeu-se, assim, conjugar com a igualdade
jurdica abstracta a igualdade social concreta
(Miranda, 2006: 49-50).
Por isso, alis, os direitos sociais foram em
muito afectados aos trabalhadores, bem como a
outros grupos mais fragilizados (mulheres, crianas,
etc.). O que, como vimos, implicou em grande
medida a assuno de tratamentos diferenciados
pelo direito. Ou seja, inclusive no plano
constitucional, o homem passou a ser tratado no
apenas enquanto indivduo abstracto, mas tambm
como ser social, que se encontra condicionado
pelos grupos e relaes sociais que o envolvem.
Acresce que as Constituies do Estado social e
democrtico de direito, tal como fizeram as
soviticas, ampliaram extraordinariamente os
direitos de participao dos cidados. Bem como
concederam estes direitos aos partidos polticos,
sindicatos e outras entidades colectivas (
38
).
Concomitantemente, rejeitando a perspectiva
liberal do indivduo pr-social e visando em grande
medida comprimir o direito de propriedade
privada e as liberdades econmicas em geral, os
(
36
) Cfr., v.g., art. 64 da verso originria da CRP:
1. Todos tm direito sade (...).
2. O direito sade realizado pela criao de um servio
nacional de sade universal, geral e gratuito (...).
3. Para assegurar o direito proteco da sade, incumbe
prioritariamente ao Estado:
.
(
37
) Veja-se, por exemplo, o art. 119 da Constituio sovitica de
1936:
1. Os cidados da U.R.S.S. tm direito ao repouso.
2. O direito ao repouso assegurado mediante a instituio, em
benefcio dos operrios e empregados, do dia de trabalho de sete
horas e da sua reduo a seis horas em algumas profisses com
difceis condies de trabalho e a quatro horas nos
estabelecimentos nos quais elas sejam particularmente penosas;
mediante a instituio de frias anuais pagas, em benefcio dos
operrios e empregados; e, alm disso, mediante uma vasta rede de
sanatrios, casas de repouso e clubes postos disposio dos
trabalhadores.
(
38
) Uma vez mais foi paradigmtica a Constituio alem de
Weimar, a qual, entre outros direitos de participao,
fundamentalizou pela primeira vez a liberdade de organizao
sindical e a cogesto, ou seja, a interveno dos trabalhadores na
gesto das empresas privadas (Nunes, 2008: 52).
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
164
Estados econmico-sociais procederam
fundamentalizao de deveres para com o Estado, a
sociedade e os demais cidados, no s
autonomamente mas sobretudo associados a
direitos fundamentais, maxime aos novos direitos
sociais (
39
). Isto , limitaram em elevado grau a
autonomia do indivduo egosta e
responsabilizaram os cidados pelos interesses
comunitrios.
Mas a evoluo descrita foi de tal modo
profunda, que determinou mesmo uma nova
abordagem aos prprios direitos fundamentais de
liberdade oriundos do liberalismo. Para alm de
outros aspectos, destacou-se o tratamento da
liberdade no apenas como liberdadeautonomia
mas tambm como liberdadeparticipao
(Miranda, 2000: 31), o abandono do conceito de
liberdades abstractas em favor do conceito de
liberdades concretas (Andrade, 2007: 62), a
extenso desses direitos a entidades colectivas,
designadamente partidos polticos, sindicatos e
outras associaes, e a enorme vinculao social
(Novais, 2004: 33) e democrtica dos mesmos
(
40
).
Ademais, o processo de socializao descrito
levou mesmo extenso da fora jurdica dos
direitos fundamentais s relaes jurdicas privadas
(v.g., Crorie, 2005: 13-19). Com efeito, ao menos
tendencialmente, passou a estender-se a
obrigatoriedade dos direitos fundamentais s
relaes entre privados, sobretudo em situaes de
poder social, contando agora com o Estado para
(
39
) Cfr., v.g., art. 64, n 1, da verso originria da CRP: Todos
tm direito sade e o dever de a defender e promover. Sobre a
distino entre deveres fundamentais autnomos e deveres
fundamentais associados a direitos, vd. Andrade, 2007: 159-170.
Como esclarece a o autor citado, so sobretudo os segundos que
resultam do processo de socializao, j que os deveres
fundamentais autnomos no eram estranhos s constituies
liberais.
(
40
) Em face do enorme relevo conferido ao princpio
democrtico, a democracia passou mesmo a ser considerada no s
como garantia dos direitos fundamentais mas inclusive como
conformadora do contedo e do exerccio desses direitos. Assim,
perante o consequente desenvolvimento da teoria democrtica-
funcional dos direitos fundamentais (v.g., Canotilho, 2004: 33-34),
tornou-se devido encarar tais direitos, ou pelo menos muitos deles,
como funes de democracia (Andrade, 2007:56).
proteger os direitos de cada um perante as ofensas
provenientes da actuao de outros particulares
(Andrade, 2007: 62).
Em suma, no se tratou apenas, como muitas
vezes dito, do aparecimento de novas geraes
de direitos fundamentais, maxime dos direitos
sociais (
41
). A consagrao de direitos sociais e,
mais tarde, de direitos de solidariedade, a
extraordinria ampliao dos direitos de
(
41
) De resto, [a] ideia de generatividade geracional tambm no
totalmente correcta: os direitos so de todas as geraes. Por isso,
grande parte dos autores prefere falar de dimenses de direitos do
homem (Canotilho, 2003: 386-387). Ainda assim, como alertam
com toda a propriedade alguns outros, a doutrina continua
incorrendo no erro de querer classificar determinados direitos
como se eles fizessem parte de uma dada dimenso, sem atentar
para o aspecto da indivisibilidade dos direitos fundamentais (...). O
ideal considerar que todos os direitos fundamentais podem ser
analisados e compreendidos em mltiplas dimenses (...). No h
qualquer hierarquia entre essas dimenses. Na verdade, elas fazem
parte de uma mesma realidade dinmica. Essa e a nica forma de
salvar a teoria das dimenses dos direitos fundamentais. Veja-se, a
ttulo de exemplo, o direito a propriedade: na dimenso individual-
liberal (primeira dimenso), a propriedade tem seu sentido
tradicional, de natureza essencialmente privada (...); j na sua
acepo social (segunda dimenso), esse mesmo direito passa a ter
uma conotao menos individualista, de modo que a noo de
propriedade fica associada a ideia de funo social (...); por fim,
com a terceira dimenso, a propriedade no apenas dever cumprir
uma funo social, mas tambm uma funo ambiental. A mesma
anlise pode ser feita com os direitos sociais, como por exemplo, o
direito a sade. Em um primeiro momento, a sade tem uma
conotao essencialmente individualista: o papel do Estado ser
proteger a vida do indivduo contra as adversidades existentes
(epidemias, ataques externos, etc) ou simplesmente no violar a
integridade fsica dos indivduos (vedao de tortura e de violncia
fsica, por exemplo), devendo reparar o dano no caso de violao
desse direito (responsabilidade civil). Na segunda dimenso, passa a
sade a ter uma conotao social: cumpre ao Estado, na busca da
igualizao social, prestar os servios de sade pblica, construir
hospitais, fornecer medicamentos, em especial para as pessoas
carentes. Em seguida, numa terceira dimenso, a sade alcana um
alto teor de humanismo e solidariedade, em que os (Estados) mais
ricos devem ajudar os (Estados) mais pobres a melhorar a qualidade
de vida de toda populao mundial (...). Como se observa, a teoria
da dimenso dos direitos fundamentais, vista com essa nova
roupagem, possui implicaes praticas relevantes, j que obriga que
se faa uma abordagem de um dado direito fundamental, mesmo
aqueles ditos de primeira dimenso, atravs de uma viso sempre
evoluda, acompanhando o desenvolvimento histrico desses
direitos (Lima).
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
165
participao, a profunda reformulao dos direitos
de liberdade, a extenso da fora jurdica de todos
eles s relaes pblicas e privadas, a vinculao
social e democrtica desses direitos ou a
fundamentalizao de deveres correspectivos
operaram-se correlacionadamente, no contexto de
uma nova perspectiva sobre o homem, a sociedade
e o Estado.
8. Estado social e democrtico de direito
Pode, assim, dizer-se que, ao menos
tendencialmente, Estado (econmico-)social,
Estado democrtico e Estado de direito passaram a
ser uma s e incindvel realidade. Com efeito, o
princpio social, por permitir a tendencial igualdade
entre todos, prefigurou-se como pressuposto
essencial de uma concepo de democracia que, no
dizer de Thomas Humphrey Marshall, devia
traduzir-se na existncia de um s status o status
de cidado (Maravall, 1995: 174). De facto, nesta
perspectiva, como diz Jos Gil (2005: 41), [a]
cidadania poltica (...) no se concebe sem os
direitos sociais (...). Mas, a par, esta realidade
implicou uma vastssima interveno do Estado na
sociedade, o que, por sua vez, exigia no s a
eleio dos titulares dos cargos polticos pela
generalidade do povo como tambm o
permanente controlo popular e, mesmo, a
participao alargada dos cidados no exerccio dos
poderes pblicos e, at, privados. Contudo, pese
embora tambm ao servio desse modelo de
sociedade, l estava o princpio do Estado de
direito para assegurar a racionalizao do Estado,
conformar a interveno deste na sociedade e
garantir os direitos do homem, designadamente
protegendo o indivduo, no obstante um
indivduo socialmente vinculado, face vontade
das maiorias. Proteco esta reforada pelo
princpio da dignidade da pessoa humana. No
espanta, assim, que a Constituio espanhola de
1978, aprovada no ponto culminante da evoluo
descrita, haja assumido expressamente, no seu art.
1, n 1, que a Espanha um Estado social e
democrtico de Direito (...).
9. Notas finais
Pese embora toda a evoluo referida, as
sociedades ocidentais jamais perderam a sua
natureza eminentemente capitalista. Por isso, em
muitos e relevantssimos aspectos as alteraes
descritas mostraram-se bem mais programticas do
que efectivas. O que se mostrou to mais
decepcionante quanto certo que, ao contrrio do
liberalismo, o modelo do Estado social e
democrtico de direito no se anunciou como uma
soluo fim-de-histria, mas antes como um
projecto evolutivo, a desenvolver em crescendo.
Todavia, essa constatao no bastante para
permitir que se esquea ou faa esquecer que o
Estado social e democrtico de direito superou em
muito o modelo liberal. Dizer-se, como bastas
vezes se afirma, que aquele mais no foi do que o
prolongamento do Estado liberal, ao qual apenas
acrescentou alguns elementos correctores do
liberalismo, fundamentalmente os direitos sociais,
uma falsidade histrica, uma incorreco jurdica e
um embuste ideolgico.
De facto, o Estado social e democrtico de
direito representou uma categoria nova e superior
face ao modelo liberal. claro que manteve
relevantssimos componentes legados pelo
liberalismo. Porm, igualmente revelou uma
enorme aproximao s experincias socialistas.
De tal modo esta ltima realidade se
evidenciou que, relativamente ao sistema
econmico, inmeros autores comearam mesmo a
falar de uma convergncia dos dois sistemas ou
de um sistema misto (Nunes, 1991: 208-253).
E, no que concerne ao sistema poltico, ainda hoje
no falta quem aluda sovietizao da
democracia nos pases do Ocidente (Otero, 2001:
154-157).
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
166
O que tudo bem se compreender se se
assumir, como devido, que o Estado social e
democrtico de direito se traduziu em grande
medida na implementao do projecto social-
democrata, isto , de um projecto que visava a
evoluo para o socialismo e, mesmo,
longinquamente, para o comunismo, por via
reformista e democrtica (
42
). Ou, dito de outro
modo, de um projecto evolutivo de democracia
econmica, social, cultural e poltica. Tendo, por
isso, facultado e, mesmo, potenciado a permanente
confrontao de interesses sociais e polticos
antagnicos, fundamentalmente entre o trabalho,
fortalecido, justamente, pelo enquadramento
descrito, e o capital, a partir da qual iam surgindo
sucessivos compromissos histricos.
Mas ainda que queira obnubilar-se este
substrato ideolgico, no poder, no mnimo,
deixar de aceitar-se que a interveno do Estado
na actividade econmica, nomeadamente por via
da formao de um sector pblico empresarial
fortssimo, que no se cingiu subsidiariedade,
gerou trs dcadas consecutivas de extraordinrio
crescimento econmico, sem crises de relevo, com
pleno emprego, bem como desenvolveu
enormemente a igualdade social entre os cidados
(v.g., Maravall, 1995: 173 e segs. / grficos finais).
E, concomitantemente, proporcionou condies
para o desenvolvimento significativo da
democracia poltica, da democracia participativa e
da cidadania em geral.
(
42
) O emblemtico art. 2 da verso originria da CRP limitava-
se, afinal, eventualmente em termos mais arrojados, ou porventura
apenas mais explcitos, a afirmar o programa social-democrata.
Com efeito, de acordo com essa norma, [a] Repblica Portuguesa
um Estado democrtico, baseado na soberania popular, no respeito
e na garantia dos direitos e liberdades fundamentais e no
pluralismo de expresso e organizao poltica democrtica, que
tem por objectivo assegurar a transio para o socialismo mediante
a criao de condies para o exerccio democrtico do poder pelas
classes trabalhadoras. Ora, isso foi tudo o que preconizou a social-
democracia: evoluo progressiva para o socialismo, num quadro
de liberdade e democracia pluralista.
Bibliografia
- ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito Econmico,
II, Lisboa, AAFDL, 1979.
- AMARAL, Diogo Freitas do, Democracia Crist, in
Polis, II, So Paulo/Lisboa, Verbo, 1984.
- ANDRADE, Jos Carlos Vieira de, Os Direitos
Fundamentais na Constituio Portuguesa de 1976, 3
ed., Coimbra, Almedina, 2007.
- AYALA, Andoni Prez, Los orgenes del
Constitucionalismo Social. Una aproximacin desde una
perspectiva histrico-comparativa, in El
constitucionalismo, en la crisis del Estado social,
coordenado por Miguel ngel Garca Herrera, Bilbao,
Universidad del Pas Vasco, 1997.
- BUESCO, Juan Cano, Insuficiencias del
procedimiento legislativo en el Estado social, in El
constitucionalismo, en la crisis del Estado social,
coordenado por Miguel ngel Garca Herrera, Bilbao,
Universidad del Pas Vasco, 1997.
- CALDEIRA, Reinaldo, e SILVA, Maria do Cu,
Constituio Poltica da repblica Portuguesa 1976
Projectos votaes e posio dos partidos, Amadora,
Bertrand, 1976.
- CANOTILHO, J. J. Gomes, Brancosos e
Interconstitucionalidade, Itinerrios dos discursos sobre a
historicidade constitucional, Coimbra, Almedina, 2006.
- CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional
e Teoria da Constituio, 7 ed., Coimbra, Almedina,
2003.
- CANOTILHO, J. J. Gomes, O Crculo e a Linha,
Da Liberdade dos Antigos Liberdade dos
Modernos na Teoria Republicana dos Direitos
Fundamentais, in Estudos Sobre Direitos Fundamentais,
Coimbra, Coimbra Editora, 2004.
- CANTARO, Antonio, El declive de la
constitucin econmica del Estado social, in El
constitucionalismo, en la crisis del Estado social,
coordenado por Miguel ngel Garca Herrera, Bilbao,
Universidad del Pas Vasco, 1997.
Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
167
- CORREIA, Fernando Alves, A Concretizao dos
Direitos Sociais pelo Tribunal Constitucional, in Revista
de Legislao e Jurisprudncia, Ano 137, N 3951,
Julho-Agosto 2008, Coimbra, Coimbra Editora, 2008.
- CRORIE, Benedita Ferreira da Silva Mac, A
Vinculao dos Particulares aos Direitos Fundamentais,
Coimbra, Almedina, 2005.
- CUNHA, Paulo Ferreira da Cunha, Direito
Constitucional Anotado, Lisboa, Quid Juris, 2008.
- DAZ, Jos Ramn Cossio, Estado Social y
Derechos de Prestacion, Centro de Estdios
Constitucionales, Madrid, 1989.
- DOGLIANI, Mario, Los problemas del
constitucionalismo en la crisis del Estado social, in El
constitucionalismo, en la crisis del Estado social,
coordenado por Miguel ngel Garca Herrera, Bilbao,
Universidad del Pas Vasco, 1997.
- ELLEINSTEIN, Jean, Histria da U.R.S.S., II, O
Socialismo num s Pas (1922-1937), Mem Martins,
Europa-Amrica, 1976.
- FONTES, Jos, A Fiscalizao Parlamentar do
Sistema de Justia, Coimbra, Coimbra Editora, 2006.
- GIL, Jos, Portugal, Hoje O Medo de Existir, 8
reimpresso, Lisboa, Relgio D`gua, 2005.
- GOUVEIA, Jorge Bacelar, Manual de Direito
Constitucional, I, 2 ed. revista e actualizada, Coimbra,
Almedina, 2007.
- GRAMSCI, Antonio, Obras Escolhidas, I, Lisboa,
Estampa, 1974.
- GUEDES, Armando M. Marques, Ideologias e
Sistemas Polticos, Lisboa, Instituto de Altos Estudos
Militares, 1978.
- HABERMAS, Jrgen, A Crise de Legitimao no
Capitalismo Tardio, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
2002.
- JOO XXIII, Encclica Mater et Magistra, de
1961, disponvel na Internet, in
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals
/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater_po.html,
consultado no dia 3 de Novembro de 2010.
- LEQUIM, Yves, As Hierarquias da Riqueza e do
Poder, in Histria Econmica e Social do Mundo,
dirigida por LON, Pierre, vol. IV, tomo I, A
Dominao do Capitalismo, 1840-1914, Lisboa, S da
Costa, 1983.
- LIMA, George Marmelstein, Crtica Teoria das
Geraes (ou mesmo Dimenses) dos D. Fund.,
http://www.georgemlima.xpg.com.br/geracoes.pdf,
consultado no dia 11 de Novembro de 2010.
- MARAVALL, Jos Mara, Los resultados de la
democracia, Madrid, Alianza, 1995.
- MARX, Karl, Para a Questo Judaica (traduo e
notas de Jos Barata-Moura), Lisboa, Avante, 1997.
- MARX, Karl, Manuscritos Econmico-Filosficos
de 1844, Lisboa, Avante, 1994.
-MIRANDA, Jorge, Escritos Vrios sobre Direitos
Fundamentais, So Joo do Estoril, Principia, 2006.
- MIRANDA, Jorge, Manual de Direito
Constitucional, I, Preliminares, O Estado e os Sistemas
Constitucionais, 7 ed., Coimbra, Coimbra Editora,
2003.
- MIRANDA, Jorge, Manual de Direito
Constitucional, IV, Direitos Fundamentais, 3 ed.,
Coimbra, Coimbra Editora, 2000.
- MIRANDA, Jorge, Manual de Direito
Constitucional, VII, Estrutura Constitucional da
Democracia, Coimbra, Coimbra Editora, 2007.
- MORAIS, Carlos Blanco de, Curso de Direito
Constitucional, I, A Lei e os Actos Normativos no
Ordenamento Jurdico Portugus, Coimbra, Coimbra
Editora, 2008.
- MOREIRA, Vital, Economia e Constituio Para
o Conceito de Constituio Econmica, 2 ed., Coimbra,
Coimbra Editora, 1979.
- NABAIS, Jos Casalta, Direito Fiscal, 2 ed.,
Coimbra, Almedina, 2003.
RENATO LOPES MILITO Contributo para a anlise do Estado social e democrtico de direito
168
- NAR, Sami, e MORIN, Edgar, Uma Poltica de
Civilizao, Lisboa, Piaget, 1997.
- NOVAIS, Antnio Jorge Pina dos Reis Novais,
Contributo para uma Teoria do Estado de Direito Do
Estado de Direito liberal ao Estado social e democrtico
de Direito, Lisboa, 1985, Tese disponvel na Biblioteca
da Faculdade de Direito da Universidade Clssica de
Lisboa.
- NOVAIS, Jorge Reis, Os Princpios Constitucionais
Estruturantes da Repblica Portuguesa, Coimbra,
Coimbra Editora, 2004.
- NUNES, Antnio Jos Avels, O Estado
Capitalista. Mudar para Permanecer Igual a si Prprio, in
Constituio e Estado Social. Os Obstculos
Concretizao da Constituio, organizao de NETO,
Francisco Jos Rodrigues de Oliveira, e outros, Coimbra,
Coimbra Editora, 2008.
- NUNES, Antnio Jos Avels, Os Sistemas
Econmicos, Coimbra, Separata do Boletim de Cincias
Econmicas, XVI, 1991.
- OTERO, Paulo, A Democracia Totalitria, Do
Estado Totalitrio Sociedade Totalitria, A Influncia
do Totalitarismo na Democracia do Sculo XXI, So
Joo do Estoril, Principia, 2001.
- PIARRA, Nuno, A Separao dos Poderes como
Doutrina e Princpio Constitucional, Um Contributo
para o Estudo das suas Origens e Evoluo, Coimbra,
Coimbra Editora, 1989.
- S, Lus, Eleies e Igualdade de Oportunidades,
Lisboa, Caminho, 1992.
- S, Lus, O Lugar da Assembleia da Repblica no
Sistema Poltico, Lisboa, Caminho, 1994.
- SAROTTE, Georges, O Materialismo Histrico no
Estudo do Direito, 2 ed., Lisboa, Estampa, 1975.
- SOUSA, Marcelo Rebelo de, e MATOS, Andr
Salgado de, Direito Administrativo Geral, Tomo I,
Introduo e princpios fundamentais, 2 ed., Lisboa,
Dom Quixote, 2006.
- TAIPAS, Jos Antonio Prez, Del Bienestar a la
Justiticia. Aportaciones para una Ciudadana
Intercultural, Madrid, Trotta, 2007.
- TORRES, Jos Veiga, Introduo Histria
Econmica e Social da Europa, reimpresso, Coimbra,
Almedina, 1995.
DIREITO DA INTERNET
Ano 1 N. 02 [pp. 169-182]
169
JOO ADEMAR
DE ANDRADE LIMA
JOAQUIM JOS
JACINTO ESCOLA
VERNICA ALMEIDA
DE OLIVEIRA LIMA
Professor, pesquisador e consultor
em Direito de Propriedade Intelectual.
Doutorado em Educao. Professor
UTAD e GFE-U-Porto.
Professora da Universidade
Estadual da Paraba, Brasil
SUMRIO:
A presente comunicao parte da perspectiva de aproximao das novas
aplicaes do direito de autor aos novos media, com suporte filosfico
fortemente embasado pelos chamados movimentos open, empregados em
prticas culturais de diversos agentes, com bastante difuso nas Amricas e na
Europa. Seu escopo , pois, a importncia de se lanar um novo olhar a uma
prtica empiricamente j observada em diversos processos de gerao da
informao, qual seja a de se revisitar os direitos de autor clssicos com as
modificaes advindas das novas Tecnologias da Informao e Comunicao,
teorizando os apontamentos s prprias regras de licenciamento flexvel de
direitos de autor a exemplo do Creative Commons , e visando gerao de
uma diferente propositura, cuja diretiva se coaduna flexibilidade de uso das
criaes autorais e todas as demais experincias oriundas da chamada
cibercultura. Sua base de referncia se norteia em obras na rea de Novas TICs,
Cultura do Remix, Open Science, Open Research, Open Inovation, Direito de
Autor e Novos Media, Creative Commons, Produo Colaborativa etc..
A AUTARQUIA COMO AUTORA POPULAR
OS NOVOS DIREITOS DE AUTOR
EM FACE DOS NOVOS MEDIA
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
170
OS NOVOS DIREITOS DE AUTOR
EM FACE DOS NOVOS MEDIA
JOO ADEMAR
DE ANDRADE
JOAQUIM JOS
JACINTO ESCOLA
VERNICA ALMEIDA
DE OLIVEIRA LIMA
Professor, pesquisador e consultor
em Direito de Propriedade Intelectual.
Doutorado em Educao. Professor
UTAD e GFE-U-Porto.
Professora da Universidade
Estadual da Paraba, Brasil
Palavras-chaves: Direitos de Autor; Cultura do Remix;
Cibercultura; Novos Media
1. Internet, Sociedade (Bit) da Informao/do
Conhecimento e Cibercultura
A histria da Internet remete, necessariamente,
relao homem versus mquina, sobretudo
relao homem versus computador, elemento
caracterizador da chamada Nova Era. Inseri-la no
contexto histrico, mais que contemporneo ,
fundamentalmente, enquadr-la no pice de todo
um recorte evolutivo, com progresso exponencial
virtualizada, na filosofia de Pierre Lvy (1996)
, marcada por uma sucesso de inovaes cujo
fim sequer se ousa imaginar, qui mensurar,
prever, cogitar.
O crescente ritmo de evoluo de tecnologias
em novos sistemas de comunicao uma das
marcas caractersticas de nossa poca. Enquanto
foram precisos trs sculos aps a inveno da
prensa para o jornal surgir como significativo meio
de comunicao, passaram-se somente trinta e trs
anos (de 1888 a 1921) entre a descoberta por
Hertz das ondas de rdio e o incio de transmisses
regulares de radiodifuso nos Estados Unidos.
Analogamente, embora o primeiro computador
eletrnico fosse construdo em 1946 (baseado na
tecnologia da vlvula eletrnica), o microchip, que
um componente indispensvel dos pequenos
porm possantes computadores de hoje, no se
achava disponvel antes de 1971 (quando foi
inventado por Marcian Hoff Jr.). Agora bem
conhecido, o desktop ou computador pessoal
pode ser um componente fundamental de pelo
menos alguns dos sistemas de comunicao do
futuro. O grau com que o ritmo de evoluo se
acelerou pode ser ainda mais ressaltado ao
notarmos que a comercializao em massa de
computadores pessoais no comeou antes de
1975! (Defleur & Ball-Rokeach, 1993:348).
Dessa forma, a sociedade, sobretudo no ltimo
quartel do sculo passado, foi marcada como a
Sociedade da Informao, situao baseada na
disseminao dos vrios veculos de comunicao e
informao surgidos.
O cerne da sociedade da informao liga-se s
questes que envolvem o acesso, armazenamento e
tratamento da informao. A evoluo tecnolgica,
particularmente centrada no progresso dos meios
informticos, trouxe possibilidades
verdadeiramente inimaginveis at h algumas
dcadas. De qualquer ponto do globo, com a world
wide web cruzamos o espao, traando novssimas
rotas, rasgando novos caminhos martimos em
busca deste novo e admirvel mundo (...). (Escola,
2005:343).
Os novos direitos de autor em face dos novos media
171
Rdio, televiso, satlites de comunicao,
fotocopiadoras, videocassetes, videodiscos e,
notadamente, o computador, causaram uma
verdadeira revoluo na comunicao mundial.
A Internet, sequncia direta daquele ltimo,
surgiu como resultado de uma fuso de estratgia
militar, grande cooperao cientfica, iniciativa
tecnolgica e inovao contracultural, na dcada de
1960. Na sua origem encontra-se a Agncia de
Projetos de Pesquisa Avanada (Advanced Research
Project Agency) ARPA do Departamento de
Defesa dos Estados Unidos da Amrica EUA ,
que atuou com um papel fundamental.
Como ensina Manuel Castells (2003), a ARPA
foi formada em 1958, e tinha a misso de
mobilizar recursos de pesquisa, principalmente de
instituies universitrias, com o objetivo de
alcanar um alto padro de tecnologia militar em
relao ento Unio das Repblicas Socialistas
Soviticas URSS.
Quando, em 4 de outubro de 1957, a URSS
lanou em rbita terrestre o primeiro satlite
artificial, chamado Sputnik concebido para
estudar as capacidades de lanamento de cargas
teis para o espao e para estudar os efeitos da
ausncia de peso e da radiao sobre os organismos
vivos , os EUA ensejaram a criao da ARPA,
com o intuito de estabelecer a liderana daquele
pas em cincia e tecnologia beligerantes.
Com tal alarme instituio militar norte-
americana de alta tecnologia, a ARPA assumiu
vrias iniciativas ousadas, algumas que chegaram a
resultar grandes mudanas tecnolgicas, refletindo
no estabelecimento de uma comunicao em rede
de grande escala.
Ainda segundo Castells, uma das estratgias
nasceu da preocupao da ARPA em manter a
viabilidade das telecomunicaes em caso de uma
guerra nuclear. O objetivo central era interligar
centros militares por meio de computadores, de tal
sorte que a destruio de um deles no impedisse
a sobrevivncia dos demais, bem como a de um
centro remoto que, por ventura, estivesse instalado
a bordo de uma aeronave em voo. A ideia partiu
de Paul Baran na Rand Corporation, entre 1960 e
1964 que, com base no conceito de tecnologia de
comutao por pacotes, tornou a rede
independente de centros de comandos e controle,
de modo que as unidades de mensagens
encontrariam suas rotas ao longo da rede, sendo
remontadas com sentido coerente, em qualquer
ponto dela.
Seguindo o caminho traado, surge, em 1969, a
primeira rede de computadores desse tipo,
batizada de ARPANET (Advanced Research
Projects Agency Network). Seu nome faz uma
homenagem a sua patrocinadora, a ARPA. A
ARPANET foi aberta inicialmente para os centros
de pesquisa, que cooperavam com o
Departamento de Defesa dos EUA, porm, os
cientistas comearam a utiliz-la para todos os
tipos de comunicaes. Seus primeiros ns ou
pontos estavam interligados entre University of
California, Stanford Research Institute e University
of Utah.
A ARPANET era, a princpio, um pequeno
programa que surgiu em um dos departamentos da
ARPA, o IPTO (Information Processing Techniques
Office), fundado em 1962. O objetivo desse
departamento era estimular a pesquisa em
computao interativa.
Para montar uma rede interativa de
computadores, o IPTO valeu-se de uma tecnologia
revolucionria de transmisso de telecomunicaes,
a comutao por pacote, desenvolvida
independentemente por Paul Baran na Rand
Corporation (um centro de pesquisa californiano
que frequentemente trabalhava para o Pentgono)
e por Donald Davis no British National Physical
Laboratory. O projeto de Baran de uma rede de
comunicao descentralizada, flexvel, foi uma
proposta que a Rand Corporation fez ao
Departamento de Defesa para a construo de um
sistema militar de comunicaes capaz de
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
172
sobreviver a um ataque nuclear, embora esse nunca
tenha sido o objetivo por trs do desenvolvimento
da ARPANET. (Castells, 2003:14).
Porm, com a dificuldade em distinguir
pesquisas voltadas para fins militares e outros
contedos, foi permitido o acesso rede de
cientistas de todas as disciplinas e, em 1983, houve
a diviso entre a ARPANET, dedicada a fins
cientficos, e a MILNET, orientada diretamente s
aplicaes militares. Outras redes foram formadas
nesse perodo, porm, todas elas usavam a
ARPANET como espinha dorsal do sistema de
comunicao, rebatizada, mais frente, de ARPA-
INTERNET, o que gerou a forma pela qual ela
conhecida hoje: Internet. Nesse perodo o sistema
ainda era sustentado pelo Departamento de Defesa
dos EUA e operado pela National Science
Foundation, que, na dcada de 1980, se envolveu
na criao de uma rede cientfica chamada CSNET
e uma outra rede para acadmicos no cientficos,
a BITNET, ambas ligadas a ARPANET.
Em 28 de fevereiro de 1990, aps mais de
vinte anos de servios, a ARPANET encerrou suas
atividades e a NSFNET (National Science
Foundation Network) assumiu o posto de espinha
dorsal da Internet. A NSFNET ficou no cargo at
1995 quando ficou prenunciada a privatizao
total da rede. Nesse perodo foram realizadas
inmeras ramificaes e, a partir de ento, no
existiam mais autoridades supervisoras.
Desde que a Internet se desvinculou do
ambiente militar, a tecnologia de redes de
computadores caiu no domnio pblico. Esse
ambiente, juntamente com as telecomunicaes
que se encontravam desreguladas, forou a
National Science Foundation a encaminhar a
Internet privatizao.
Urge pontuar que a privatizao total da
Internet no aconteceu de uma hora para outra.
Durante todo o seu desenvolvimento foram
criados diversas instituies e mecanismos que
assumiram algumas responsabilidades informais
pela coordenao das configuraes tcnicas e pelo
agenciamento de contratos de atribuio de
endereos na Internet.
Na sequncia, tem-se a criao, pelo ingls
Timothy John Berners-Lee, do WWW (World
Wide Web), aplicativo responsvel pela facilitao
do acesso rede, impulsionador fundamental para
a popularizao dos mecanismos da Internet, j
que, at a dcada de 1990, o usurio teria que
possuir conhecimento dos comandos em Unix,
num ambiente unicamente em forma de texto. A
capacidade de transmisso de grficos ainda era
bastante limitada e a localizao e recebimentos de
informaes tambm eram consideravelmente
difceis.
A WWW passou a organizar o teor dos stios
da Internet por informao e no por localizao,
como acontecia anteriormente.
Para os documentos na web foi criado um
formato em hipertexto ao qual deu-se o nome de
Linguagem de Marcao em Hipertexto HTML
(Hypertext Markup Language). Esse formato foi
criado para dar mais flexibilidade rede e para que
os computadores pudessem adaptar suas
linguagens especficas dentro desse formato
compartilhado. O hipertexto contribuiu com um
avano paralelo Internet, proporcionando uma
revoluo na escrita, criando uma nova maneira de
ler, escrever, organizar e divulgar uma informao.
Se tomarmos a palavra texto em seu sentido
mais amplo (que no exclui nem sons nem
imagens), os hiperdocumentos tambm podem ser
chamados de hipertextos. A abordagem mais
simples do hipertexto descrev-lo, em oposio a
um texto linear, como um texto estruturado em
rede. O hipertexto constitudo por ns (os
elementos de informao, pargrafos, pginas,
imagens, sequncias musicais etc.) e por links entre
esses ns, referncias, notas, ponteiros, botes
indicando a passagem de um n a outro. (Lvy,
1999:55).
Os novos direitos de autor em face dos novos media
173
Essa formatao foi acrescentada ao protocolo
de transmisso padro de comunicao entre
computadores TCP/IP. Esse protocolo foi
responsvel por fazer com que os computadores
ficassem capacitados para se comunicar com
outros. Sendo assim, a criao do TCP/IP fez com
que se tornasse vivel a comunicao de todos os
tipos de redes.
Outras contribuies tecnolgicas foram
proporcionadas para garantir o funcionamento da
WWW de maneira vivel. Essas inseres
facilitaram o acesso de pessoas que no tinham
conhecimento em comandos de programao.
Assim, refora Castells, tecnologias tais como o
TCP/IP, que garantiu a viabilidade da comunicao
de todas as redes, o HTML, que adaptou uma
linguagem especfica, podendo ser compartilhada, e
o HTTP (Hypertext Transfer Protocol), que garantiu
a transferncia orientada de hipertextos,
permitiram sobremaneira a viabilidade da Internet
como um importante instrumento de
comunicao miditica, o fio condutor dessa
comunicao que cruza oceanos, conectando
qualquer ser humano, ligado rede, a qualquer
ponto, em uma esfera geogrfica incrvel. essa
uma das caractersticas que confere Internet o
papel de grande colaboradora da revoluo que a
informao vive na atualidade.
Estamos, sem dvida, entrando numa revoluo
da informao e da comunicao sem precedentes
que vem sendo chamada de revoluo digital. O
aspecto mais espetacular da era digital est no
poder dos dgitos para tratar toda informao, som,
imagem, vdeo, texto, programas informticos, com
a mesma linguagem universal, uma espcie de
esperanto das mquinas. (Santaella, 2000:52).
Em Portugal, a Internet tem seu processo de
comercializao de ligaes iniciado em 1990, por
intermdio da PUUG (Portuguese Unix Users
Group). Em 1996, j existiam 10 entidades
licenciadas para prestao de Servios de
Telecomunicaes Complementares Fixos, entre
os quais se enquadra o acesso rede mundial de
computadores Telepac, Comnexo, SIBS, AT&T,
TSVA, France Telecom, Sprint Portugal,
Compensa, IP Global e TID.
A partir de ento, o crescimento da web local
e global saltou aos olhos e, com toda essa
(re)evoluo, os novos media e seus aparatos cada
vez mais sofisticados computadores portteis,
telemveis, tablets etc. , a reboque das inmeras
novas possibilidades de produo, difuso e
comercializao de contedo intelectual, uma
gama igualmente revolucionria de novos
questionamentos passam a ganhar corpo em
discusses sociolgicas, tecnolgicas e legais, vitais
assuno do bem estar scio-jurdico conclamado
por todos, afinal, como bem alude Reginaldo
Almeida (2004:173), em sua significativa digresso
sobre a Sociedade Bit, (...) se o homem cria, age e
desenvolve num meio altamente tecnolgico todo
o Direito que produz tem de acompanhar essa
cultura.
Das vrias novas narrativas, mormente sob o
vis filosfico, extrai-se os construtos conceituais
acerca do que nomeadamente se tem por
Sociedade da Informao, Sociedade Bit e
Sociedade do Conhecimento, cujas definies e
diferenas situam-se condio sine qua non
assuno do arcabouo terico que suporta esta
comunicao, porquanto se faz necessrio seus
esmiuamentos.
Nesse sentido, para Sociedade da Informao,
toma-se o conceito proposto no prprio Livro
Verde para a Sociedade da Informao em
Portugal, para o qual ela:
(...) refere-se a um modo de desenvolvimento
social e econmico em que a aquisio,
armazenamento, processamento, valorizao,
transmisso, distribuio e disseminao de
informao conducente criao de conhecimento
e satisfao das necessidades dos cidados e das
empresas, desempenham um papel central na
actividade econmica, na criao de riqueza, na
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
174
definio da qualidade de vida dos cidados e das
suas prticas culturais. A sociedade da informao
corresponde, por conseguinte, a uma sociedade
cujo funcionamento recorre crescentemente a
redes digitais de informao. Esta alterao do
domnio da actividade econmica e dos factores
determinantes do bem-estar social resultante do
desenvolvimento das novas tecnologias da
informao, do audiovisual e das comunicaes,
com as suas importantes ramificaes e impactos
no trabalho, na educao, na cincia, na sade, no
lazer, nos transportes e no ambiente, entre outras.
(Livro Verde, 1997:5).
Tal definio se encontra perfeitamente
coadunada aos objetivos bsicos que orientam a
prpria agenda Europeia, sintetizada por Polizelli
(2008), a saber:
1. Inserir na era digital e em linha (on
line) todos os cidados, todas as famlias,
todas as empresas e todos os rgos da
administrao pblica;
2. Criar uma Europa instruda
digitalmente, fulcrada numa cultura
empresarial pronta a financiar e
desenvolver novas ideias;
3. Assegurar que todo o processo seja
socialmente abrangente, com anuncia dos
consumidores e coeso social.
Ao termo Sociedade Bit dada a definio
cunhada pelo j citado Reginaldo Almeida (2004),
que a situa no entremeio da Sociedade da
Informao e da Sociedade do Conhecimento.
A Sociedade da Informao confere
conhecimento e a Sociedade do Conhecimento
confere competncias, promovendo a gesto dos
triviais recursos humanos, mas sim das pessoas
como um todo. Pelo meio est a Sociedade Bit,
qual pertencem todos os que, de uma forma ou de
outra, so envolvidos no mundo tecnolgico e tm
a sua existncia orientada por dgitos binrios, 0 e
1, sem o saberem disso ou disso terem conscincia
quando fazem os mais banais actos da vida social.
(Almeida, 2004:11).
Noutro diapaso, encontra-se a definio de
Sociedade do Conhecimento, originalmente
definida por Peter Drucker e Daniel Bell, na
dcada de 1970, com anloga correspondncia ao
que hodiernamente temos por Sociedade da
Informao, provavelmente pela similitude
relacionada prpria gnese temporal, qual seja, no
ps sociedade industrial moderna.
Todavia, sob uma atual base conceitual, h de se
apontar diferenas entre tais terminologias, qual
alhures citao, sendo, pois, a segunda uma
construo advinda da primeira, na qual o
conhecimento para alm do know-how figura-
se como o principal recurso para produo e
gerao de riqueza populao, da a importncia
do capital intangvel know-why, elemento chave
para a filosofia monopolista da Propriedade
Intelectual moderna em substituio fora de
trabalho em si, minimizada, ento, em face do
nvel cientfico e tecnolgico posto disposio.
Assim, Sociedade da Informao a matria-prima
para a construo da Sociedade do Conhecimento.
Outro conceito fundamental para se construir o
iderio aqui proposto o remetente ao termo
Cibercultura. Acerca dessa terminologia,
impossvel no se beber da fonte filosfica de
Pierre Lvy (Frana) e de Andr Lemos (Brasil).
Segundo Pierre Lvy (1999), a cibercultura
apresenta trs princpios fundamentais: a
interconexo; as comunidades virtuais; e a
inteligncia coletiva.
O primeiro princpio remete a cibercultura
conexo sempre prefervel em relao ao
isolamento, isto , para alm de uma fsica da
comunicao, a interconexo constitui a
ubiquidade, em um contnuo sem fronteiras. O
segundo princpio figura consequncia imediata do
primeiro, j que o desenvolvimento das chamadas
comunidades ou redes virtuais se fulcra
exatamente na interconexo, quer por afinidades
Os novos direitos de autor em face dos novos media
175
de interesses, de conhecimentos, ou por um
processo de cooperao ou de troca, revelia de
proximidades geogrficas. O terceiro princpio, em
remate, a sua finalidade ltima, um novo tipo
pensamento sustentado pelas prprias conexes
sociais, atravs das quais a chamada cooperao
intelectual, qual uma criao coletiva de ideias, se
faz e se sustenta pela Internet, mormente, pelo
ciberespao.
Deleuze & Guatarri (1995) usam a Metfora
do Rizoma, qual uma divagao filosfica,
materializada como uma estrutura que representa
o conhecimento. Para eles, segundo o princpio de
ruptura a-significante, acerca dos cortes
demasiado significantes que separam as estruturas,
ou que atravessam uma estrutura, um rizoma
pode romper-se, se quebrado em um lugar
qualquer, e, ainda assim, retoma segundo uma ou
outra de suas linhas e segundo outras linhas. E
assim tambm o conhecimento, ora fragmentrio,
ora abruptamente separado, mas invariavelmente
revivificado, permanentemente remixado,
colaborativamente relido.
Andr Lemos (2002) acresce aos princpios de
Lvy, a ideia de leis fundadoras da cibercultura,
tambm um trs unidades: a liberao do plo da
emisso, atravs da qual, na Internet, pode tudo e
tem de tudo; o princpio de conexo em rede, ou
seja, a rede est em todos os lugares qual o
conceito de ubiquidade onde o verdadeiro
computador ela mesma saindo o PC
(personal computer) e entrando o CC (community
computer); e, por fim, a reconfigurao de formatos
miditicos e das prticas sociais.
Ademais, cunha o prprio Lemos a
convergncia dos conceitos de Cibercultura e
Cultura do Remix. Para ele, o princpio que rege a
cibercultura a remixagem, ou seja, um conjunto
de prticas sociais e comunicacionais de
combinaes, colagens, cut-up de informao, todas
oriundas dos novos media.
Na cibercultura, novos critrios de criao,
criatividade e obra emergem consolidando, a partir
das ltimas dcadas do sculo XX, essa cultura
remix. Por remix compreendemos as possibilidades
de apropriao, desvios e criao livre (que
comeam com a msica, com os DJs no hip hop e
os Sound Systems) a partir de outros formatos,
modalidades ou tecnologias, potencializados pelas
caractersticas das ferramentas digitais e pela
dinmica da sociedade contempornea. Agora o
lema da cibercultura a informao quer ser
livre. E ela no pode ser considerada uma
commodite como laranjas ou bananas. Busca-se
assim, processos para criar e favorecer inteligncias
coletivas (Lvy) ou conectivas (Kerkhove). Essas
s so possveis, de agora em diante, por
recombinaes. (Lemos, 2005:2).
Seguramente, o principal pensador moderno a
lanar tais olhares sobre essa nova ordem cultural
dada pelos novos media o americano Lawrence
Lessig, sobretudo com as obras Free Culture: how
big media uses technology and the law to lock down
culture and control creativity (2004) e Remix:
making art and commerce thrive in the hybrid
economy (2008).
dele as bases para o chamado Manifesto
Remix, cujos postulados se baseiam em quatro
pilares:
1. A cultura sempre se constri baseada no
passado;
2. O passado sempre tenta controlar o
futuro;
3. O futuro est se tornando menos livre;
4. Para construir sociedades livres preciso
limitar o controle sobre o passado.
Interessante observar que, ainda que o conceito
de Cultura do Remix seja absolutamente recente,
tal prtica se mostra padro no prprio fazer
cultura. Nesse contexto, Newton Duarte
(2008:30) ensina que cada nova gerao tem que
se apropriar das objetivaes resultantes da
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
176
atividade das geraes passadas, lembrando ainda
que a apropriao da significao social de uma
objetivao, um processo de insero na
continuidade da histria das geraes, e cita Marx
e Engels, quando dizem que:
Em cada uma das fases da histria encontra-se
um resultado material, uma soma de formas de
produo, uma relao historicamente criada com
a natureza e entre os indivduos, que cada gerao
transmite gerao seguinte; uma massa de foras
produtivas, de capitais e de condies que, embora
sendo em parte modificadas pela nova gerao,
prescreve a esta suas prprias condies de vida e
lhe imprime um determinado desenvolvimento,
um carter especial. (Marx e Engels, 1979:56).
a Cultura do Remix o principal paradigma
para as mudanas conceituais no direito de autor
clssico, qual raiz antropofgica, to bem
manifestada por Oswald de Andrade, ainda em
1928: S me interessa o que no meu. Lei do
homem. Lei do antropfago.
2. Direito de Autor numa perspectiva clssica
e o Novel Direito de Autor
De uma maneira geral, classicamente, os autores
intelectuais apenas podiam se contentar com a
glria advinda de seu talento, que por sinal
nem sempre era reconhecida, sem a ocorrncia,
especfica, de qualquer meno ao que hoje se
entende por direito relativo autoria. Na Roma
antiga, o trabalho artstico era equivalente a
qualquer trabalho manual, ainda que tenha sido
justamente nesse Imprio que o direito de autor
ganha forma jurdica.
Na Grcia antiga, civilizao de alta produo
intelectual, o plgio era praticado e reconhecido,
mas a nica punio era a condenao da opinio
pblica, ou seja, uma sano de cunho meramente
moral.
De qualquer forma, ainda que parcamente, em
sua concepo subjetiva, o direito de autor sempre
existiu, diferentemente do seu reconhecimento
patrimonial de propriedade no sentido estrito
cujo incio de deu to s depois da criao da
imprensa e da gravura, no sculo XV, por
Gutenberg, a partir da qual as obras nos campos
das artes, literatura e cincias passaram a ser
exploradas comercial e industrialmente.
Com o invento de Gutenberg, em 1436, livros
passaram a ser reproduzidos em srie e a custos
mais baixos, perdendo importncia a figura do
copista, e, devido a maior difuso das obras,
promoviam-se no apenas as glrias e honras do
autor, mas, especialmente, sua reputao. Como
conseqncia, o nome dos autores e as temticas
passavam a agregar valor significativo s obras, ao
contrrio do trabalho dos que apenas as
reproduziam. (Barros, 2007:468).
Os primeiros direitos autorais objetivos
formalizaram-se com alguns privilgios, concedidos
geralmente por reis, atravs de requerimentos dos
autores, que juntavam ao pedido um exemplar da
obra que seria apreciada por conselheiros reais, que
a aprovariam ou no. Se ela fosse aprovada, era
fixado um preo para venda e dado ao autor um
direito de explorao comercial, por um prazo
determinado.
A primeira vez que se tem notcia da utilizao
do termo copyright data de 1701, na Stationers
Company da Inglaterra, pas que, mais tarde, em
1710, editou o reconhecido primeiro texto legal
sobre o assunto, chamado The Statute of Queen
Anne. Os primeiros autores a receberem os
referidos privilgios foram o escritor Reginald Wolf,
para o conjunto de sua obra, e o professor Jean
Palsgrave, por uma gramtica da lngua francesa.
Vale citar que este sistema de privilgios no
reconhecia direitos mas sim, e quando muito,
concedia licenas, abrangendo basicamente as obras
passveis de reproduo.
Com a Revoluo Francesa, em 1789, o autor
intelectual passa a ter o seu verdadeiro direito
autoral reconhecido e garantido. Assim, em 13 de
Os novos direitos de autor em face dos novos media
177
janeiro de 1791 foi criada a Carta dos Direitos de
Representao e em 18 de julho de 1793 a
regulamentao dos direitos de reproduo, cuja
epgrafe a definia como Loi relative aux droits de
propriete des auteurs d'crits ex tout genre,
compositeurs de musique, peintres et dessinateurs.
Com a Conveno de Berna, em 1886, ata
resultante de uma conferncia diplomtica sobre
direitos de autor, ainda em vigncia e com ltima
reviso datada de 1971, com ementas em 1979
Portugal tornou-se aderente apenas em 1978 , o
direito de autor adquire sua forma definida
sobretudo sua dicotomia entre e os chamados
direitos morais e direitos patrimoniais do autor,
corroborado por sua natureza jurdica hibrida, de
direito pessoal e real e inicia seu
desenvolvimento nas legislaes de vrios pases.
So direitos morais do autor (elemento pessoal
de sua natureza jurdica) os atributos inalienveis
relacionados paternidade deste em relao
sua obra; j os direitos patrimoniais (elemento real
de sua natureza jurdica) remetem apropriao,
em si, da obra, com a faculdade dada ao autor de
se valer dos chamados jus utendi, jus fruendi, jus
abutendi ou disponendi e rei vindicatio, presentes
universalmente no direito de propriedade como
um todo.
Em Portugal, o direito de autor, ainda que no
positivado, remonta a longnquos 510 anos,
quando, em 1502, outorgou-se privilgio de edio
a Valentim Fernandes, para a sua traduo de Livro
de Marco Polo. Mais tarde, em 1537, D. Joo III
concede, a ttulo de exceo, ao poeta Baltazar
Dias, privilgio para imprimir e vender as suas
prprias obras.
Dogmaticamente, as primeiras normas jurdicas
portuguesas relacionadas proteo autoral de
obras literrias e artsticas surgiram bastante depois
contudo em clara concomitncia s demais
naes do mundo civilizado ocidental , na
Constituio de 1838, com promulgao legal
ocorrida em 1851. Nela se consagrava o direito
propriedade intelectual, fulcrada numa raiz
notadamente liberal do conceito de direito
individual do autor por oposio ideia de
privilgio rgio ento atribudo aos editores, com
diferente percepo nitidamente herdada da
proposta anglossaxnica de copyright, segundo a
qual haveria um deslocamento da proteo da obra
para os volumes em que ela reproduzida do
autor ao editor.
Mais adiante na histria, promulgado, em
1927, o ento mais amplo cdigo sobre
propriedade literria, cientfica e artstica
portugus.
(Esse) Cdigo de 1927 viria a ser
profundamente alterado pelo de 1966, aprovado
devido necessidade de dar conta dos
desenvolvimentos tecnolgicos entretanto
ocorridos bem como a adeso de Portugal a
convenes internacionais. (Rosa, 2009:26)
Por fim, todo o arcabouo evolutivo da norma
autoral portuguesa desemboca com completude
sobre o assunto sete anos aps a sua adeso
Conveno de Berna, com a promulgao do
chamado Cdigo do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos, por meio do Decreto-Lei n.
63, de 14 de Maro de 1985.
Essa cronologia chega aos dias de hoje com
profundas releituras, sobretudo aps a Diretiva
2001/29 da Unio Europeia, cujo ttulo j consagra
o prprio termo Sociedade da Informao como
fenmeno base e norteador das mudanas
propostas, a saber: Directive 2001/29/EC of the
European Parliament and of the Council of 22 May
2001 on the harmonisation of certain aspects of
copyright and related rights in the information
society. (grifou-se).
A partir dela, mudanas substanciais ocorreram
nas legislaes de vrias naes europeias e
notadamente tambm em Portugal, com a Lei
50/2004, de 24 de Agosto, a primeira lei
portuguesa na Era Digital, quinta alterao ao
Cdigo do Direito de Autor e dos Direitos
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
178
Conexos e primeira alterao Lei n. 62/98, de 1
de Setembro.
Por outro lado, ainda que revisitado e
atualizado, s vrias normativas nacionais ainda
resta maior coadunao s prprias prticas sociais
advindas da Nova Era, claramente caracterizada
pela colaborao, pela liberdade, pela
desapropriao mais que desterritorializao e
pelo compartilhamento.
A cibercultura desenvolvida pela utilizao
mundial da Internet e das redes de dados on line
caracteriza-se em primeiro lugar, no seu modo de
funcionamento, pelo sistema de consulta
hipertextual dos dados informacionais. (...) O
hipertexto (termo inventado em 1965 pelo
documentarista-informtico americano Ted
Nelson, autor de um projecto muito ambicioso de
biblioteca informtica) designa precisamente esse
modo de consulta arborescente de informaes
disseminadas atravs do mundo no interior dos
bancos multimdia. (...) A cultura linear da
tradio livresca substituda maciamente por
uma cultura em rede, de malha densa e
omnidereccional, com uma infinidade de entradas,
que s ela capaz de abrir o intelecto ao mundo
da inter-relao disciplinar. (Chirollet, 2000:126-
127).
Assim, revelia das normas positivas postas
pelas vrias naes civilizadas, em oposio ao
direito de autor clssico, a Sociedade da
Informao traz consigo o chamado copyleft, uma
nova maneira de usar as leis autorais com o
objetivo de retirar barreiras utilizao, difuso e
modificao de uma obra intelectual protegida pela
norma tradicional. Como ensina Manuella Santos
(2009:138), um mecanismo jurdico que visa
garantir aos titulares de direito de propriedade
intelectual que possam licenciar o uso de suas
obras alm dos limites da lei, ainda que amparados
por ela.
Uma das caractersticas mais constantes da
ciberarte a participao nas obras daqueles que as
provam, interpretam, exploram ou lem. Nesse
caso, no se trata apenas de uma participao na
construo do sentido, mas sim uma co-produo
da obra, j que o espectador chamado a intervir
diretamente na atualizao (...) de uma seqncia
de signos ou de acontecimentos. (Lvy, 1999:135-
136).
Nessa perspectiva, surge o Creative Commons,
principal modalidade de licena alternativa ao
modelo padro do copyright, arrazoado alhures
promovido, em Portugal, pela Agncia para a
Sociedade do Conhecimento (UMIC), pela
Universidade Catlica Portuguesa (UCP) e pelo
Centro de Inovao INTELI.
Idealizada, em 2001, pelo americano Lawrence
Lessing, a Creative Commons Corporation uma
organizao sem fins lucrativos criada para o
desenvolvimento de mtodos e tecnologias que
facilitem o compartilhamento social de obras
intelectuais e cientficas. a base para a criao de
um sistema de licenciamento pblico a Creative
Commons Licence, representada pela sigla CC
que objetiva, numa viso macro-filosfica, criar
uma maior razoabilidade de uso dos direitos
autorais, em oposio aos extremos atualmente
existentes, quais sejam, numa ponta, o all rights
reserved todos os direitos reservados ,
monopolista por essncia, e noutra o public domain
domnio pblico.
Atravs desse princpio, d-se aos autores,
titulares morais e patrimoniais de suas obras, a
possibilidade de, publicamente, renunciarem a
certos direitos que lhe so concedidos
taxativamente por lei. A vantagem dessas licenas
est na criao de padres que permitem a fcil
identificao dos limites de uso concedidos pelo
autor. (Pinheiro, 2009:107).
A principal misso pragmtica do Projeto
Creative Commons oferecer um sistema de
licenciamento pblico, por meio do qual obras
protegidas por direito autoral possam ser
Os novos direitos de autor em face dos novos media
179
licenciadas diretamente pelos seus criadores
sociedade em geral. (Tridente, 2008:121).
Em outras palavras, o Creative Commons cria
instrumentos jurdicos para que um autor, um
criador ou uma entidade diga de modo claro e
preciso, para as pessoas em geral, que uma
determinada obra intelectual sua livre para
distribuio, cpia e utilizao. Essas licenas criam
uma alternativa ao direito da propriedade
intelectual tradicional, fundada de baixo para cima,
isto , em vez de criadas por lei, elas se
fundamentam no exerccio das prerrogativas que
cada indivduo tem, como autor, de permitir o
acesso s suas obras e a seus trabalhos, autorizando
que outros possam utiliz-los e criar sobre eles.
(Lemos, 2005:83).
Com o creative commons, novos e velhos
autores e demais partcipes das cincias e das artes
passaram a compartilhar e permutar suas obras,
ensejando a explosiva prtica da releitura,
reconfigurao, remixagem etc. de obras anteriores.
H quatros tipos bsicos de licenas creative
commons:
1. Attribution/Atribuio (BY): Os licenciados
tm o direito de copiar, distribuir, exibir e executar
a obra e fazer trabalhos derivados dela, desde que
dem crditos devidos ao autor ou licenciador da
maneira especificada por estes;
2. Non-commercial/Uso No comercial (NC):
Os licenciados podem copiar, distribuir, exibir e
executar a obra e fazer trabalhos derivados, desde
que sejam para fins no-comerciais;
3. Non-derivative/No a obras derivadas
(ND): Os licenciados podem copiar, distribuir,
exibir e executar apenas cpias exatas da obra, no
podendo criar derivaes da mesma;
4. Share-alike/Compartilhamento pela
mesma licena (SA): Os licenciados devem
distribuir obras derivadas somente sob uma licena
idntica que governa a obra original.
Desses quatro tipos bsicos, chega-se a seis
combinaes de licenas de uso regular:
1. Atribuio (BY);
2. Atribuio + Uso no comercial (BY-NC);
3. Atribuio + No a obras derivadas (BY-
ND);
4. Atribuio + Compartilhamento pela
mesma licena (BY-SA);
5. Atribuio + Uso no comercial + No a
obras derivadas (BY-NC-ND);
6. Atribuio + Uso no comercial +
Compartilhamento pela mesma licena (BY-NC-
SA).
Agregado ao creative commons, tem-se o science
commons, criado para a concepo de estratgias e
ferramentas para uma mais rpida e eficiente
pesquisa cientfica no ambiente web. Seus objetivos
so identificar as barreiras desnecessrias pesquisa
e promover orientaes de polticas e acordos
legais para reduzi-las, bem como desenvolver
tecnologia para tornar os dados de pesquisa e
materiais mais fceis de encontrar e usar. J
aderiram ao science commons: o Public Library of
Science + PLoS Blogs, o BioMed Central, o Hindawi
Publishing Corporation, o Nature Publishing Group,
o Massachusetts Institute of Technology Libraries, o
Science 3.0 e o Personal Genome Project.
Como se v nas extraes acima e se comprova
nas mais vanguardistas opinies acerca do que se
convencionou chamar de Novos Direitos de
Autor, na era do remix, do compartilhamento, do
fair use, vrias so as propostas de reforma dos
conceitos e das legislaes autorais e vrios so os
crticos estrutura monopolista que o sistema do
tradicional copyright advoga. Contudo, a despeito
de qualquer ao oficial, como norte do direito
moderno, enquanto fato social, a prpria sociedade
j fez valer seus anseios, seja atravs da ruptura dos
dogmas at ento intransponveis, seja com a
conscientizao coletiva da necessidade de adoo
de prticas sui generis porm lcitas de se usar
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
180
com maior liberdade um bem que para o homem
parte de sua raiz enquanto civilizao, ainda que
consubstanciada numa mera expresso.
Contudo, urge salientar que o mote filosfico
acerca do uso lcito de obras alheias sem
autorizao, mesmo no vinculadas s novas
prticas abarcadas pelos novos media, denota, h
tempos alhures, prtica cogente nas diversas
legislaes modernas, a exemplo da portuguesa,
para a qual so lcitas, sem consentimento do autor,
as seguintes utilizaes:
1. Reproduo pelos meios de comunicao
social, para fins de informao, de discursos,
alocues e conferncias pronunciadas em pblico,
desde que no entrem nas reservas legais, por
extrato ou em forma de resumo;
2. Seleo regular de artigos da imprensa
peridica, sob forma de revista de imprensa;
3. Fixao, reproduo e comunicao
pblica, por quaisquer meios, de curtos fragmentos
de obras literrias ou artsticas, quando a sua
incluso em relatos de acontecimentos de
atualidade for justificada pelo fim de informao
prosseguido;
4. Reproduo, no todo ou em parte, pela
fotografia ou processo anlogo, de uma obra que
tenha sido previamente tornada acessvel ao
pblico, desde que tal reproduo seja realizada
por uma biblioteca pblica, um centro de
documentao no comercial ou uma instituio
cientfica e que essa reproduo e o respectivo
nmero de exemplares se no destinem ao publico
e se limitem s necessidades das atividades
prprias dessas instituies;
5. Reproduo parcial, pelos processos
enumerados acima, nos estabelecimentos de
ensino, contando que essa reproduo e respectivo
nmero de exemplares se destinem
exclusivamente aos fins do ensino nesses mesmos
estabelecimentos;
6. Insero de citaes ou resumos de obras
alheias, quaisquer que sejam o seu gnero e
natureza, em apoio das prprias doutrinas ou com
fins de crtica, discusso ou ensino;
7. Incluso de peas curtas ou fragmentos de
obras alheias em obras prprias destinadas ao
ensino;
8. Execuo de hinos ou de cantos patriticos
oficialmente adaptados e de obras de carter
exclusivamente religioso durante os atos de culto
ou as prticas religiosas;
9. Reproduo de artigos de atualidade, de
discusso econmica, poltica ou religiosa, se no
tiver sido expressamente reservada.
Um bom exemplo desse fair use encontrado
na base filosfica da chamada Cincia Aberta,
definida por Gustavo Cardoso et. alii. (2012)
como um verdadeiro Movimento Social,
estruturado enquanto alternativa propriedade
intelectual da produo e distribuio de
informao, tradicionalmente privatizada. Na
gnese da dimenso constituinte da Cincia
Aberta nomeada Open Science esto o Open
Source, o Open Data e o Open Access, nesta ordem,
a seguir detalhadas.
Por fim, rematando e remetendo a uma velha-
moderna questo quais interpretaes s leis
autorais podem (devem) ser dadas, para adequ-las
s novas modalidades de criao, produo,
distribuio e consumo de obras intelectual, diante
dos novos media? urge comentar que, a despeito
das enormes mudanas, algumas das quais aqui
reportadas, o prprio corpo legislativo faculta
autonomia aos autores (titulares de direitos) de
agirem conforme seus desejos de maior proteo
all right reserved ou liberalismo total, consoante
as j difundidas licenas criativas.
a resposta social adequao das regras aos
novos contextos, prova inequvoca do dinamismo
da direito atual.
Os novos direitos de autor em face dos novos media
181
3. Para (no) Concluir
Refletir acerca dos novos direitos de autor em
face dos novos media, mormente na
contemporaneidade, no qual, diante das mudanas
comportamentais advindas das vrias prticas
sociais nascidas nesse contexto, consubstanciadas
por um cada vez mais mutante aparato
tecnolgico, base para as chamadas Novas
Tecnologias da Informao e Comunicao (ou
simplesmente Novas TICs), da qual a Internet
seu principal canal , tambm pensar como
outros fenmenos antropolgicos, sociolgicos,
polticos, jurdicos etc. embasaram qual um
sustentculo inquebrantvel toda uma lgica
representativa da construo de uma indita
ordem cultural, ora nomeada cibercultura, atravs
da qual elementos clssicos de proteo s criaes
humanas, urgiram converso a novas modalidades
de usufruto desses bens, convertidos ento em
universais, a partir de uma cada vez mais
coletivizao no s quanto ao plo receptor, mas
sobretudo e eis o veculo potencial da nova era
ao plo emissor. Agentes produtores e
consumidores de contedo prossumidores,
assim definidos, em 1980, no best-seller A
Terceira Onda, por Alvin Toffler
potencializadores de sua prpria audincia;
antropofgicos modernos, cujas divagaes,
digresses, teorias, corporificam-se e fragmentam-
se concomitantemente.
Neste elenco conceitual, encontra-se uma das
principais mudanas contemporneas na Cincia
Jurdica, qual seja, um novo construto terico-
interpretativo dos direitos de autor, notadamente
ressignificados com a abertura dada pela web ao
acesso de contedo e, consequentemente, o
incremento na possibilidade de criao, recriao e
publicizao de material prprio e de terceiros.
Outrora j explicitado por Joo Ademar Lima
(2011), os novos media trouxeram, a reboque das
inmeras novas possibilidades de produo, difuso
e comercializao de contedo intelectual, uma
gama igualmente revolucionria de questes novas
ainda que para hbitos antigos a serem
abarcadas, apreciadas e solucionadas pelo jus-
filsofos modernos, necessariamente intimando o
Direito evoluo, vital assuno do bem-estar
social conclamado por todos. a era do remix, do
compartilhamento, do fair use. poca em que o
direito de autor clssico se v encurralado,
colocado em xeque e, mais alm, condenado ao
desaparecimento.
4. Referncias Bibliogrficas
Almeida, Reginaldo (2004), Sociedade Bit: da
Sociedade da Informao Sociedade do
Conhecimento, Lisboa, Fomento.
Andrade, Oswald (1970), Obras Completas: do pau-
brasil antropofagia e s utopias, Rio de Janeiro,
Civilizao Brasileira (2 Edio).
Barros, Carla (2007), Manual de Direito da
Propriedade Intelectual, Aracaju, Evocati.
Cardoso, Gustavo, Jacobetty, Pedro, e Duarte,
Alexandra (2012), Para uma Cincia Aberta, Lisboa,
Mundos Sociais.
Castells, Manuel (2003), A Galxia da Internet:
reflexes sobre a internet, os negcios e a sociedade, Rio
de Janeiro, Jorge Zahar.
Chirollet, Jean-Claude (2000), Filosofia e Sociedade
da Informao: para uma filosofia fractalista, Lisboa,
Instituto Piaget.
Defleur, Melvin, e Ball-Rokeach, Sandra (1993),
Teorias da Comunicao de Massa, Rio de Janeiro, Jorge
Zahar (5 Edio).
Deleuze, Gilles, e Guattari, Flix (1995), Mil plats:
capitalismo e esquizofrenia, vol. 1, Rio de Janeiro,
Editora 34.
Escola, Joaquim Jos Jacinto (2005), Ensinar a
aprender na Sociedade do Conhecimento (Livro de Actas
do 4 Congresso da Associao Portuguesa de Cincias
da Comunicao), Aveiro, SOPCOM.
JOO ADEMAR LIMA, JOAQUIM ESCOLA E VERNICA LIMA Os novos direitos de autor em face dos novos media
182
Lemos, Andr (2005), Ciber-Cultura-Remix, So
Paulo, Ita Cultural.
Lemos, Ronaldo (2005), Direito, Tecnologia e
Cultura, Rio de Janeiro, FGV.
Lvy, Pierre (1996), O que o Virtual?, So Paulo,
Editora 34.
Lvy, Pierre (1999), Cibercultura, So Paulo, Editora
34.
Lima, Joo Ademar de Andrade (2011), Novos
olhares sobre o direito autoral na era da msica digital,
Porto Alegre, Simplssimo.
Livro Verde (1997), Livro Verde para a Sociedade da
Informao em Portugal: misso para a Sociedade da
Informao, Lisboa, Graforim.
Marx, Karl, e Engels, Friederich (1979), A ideologia
Alem, So Paulo, Cincias Humanas.
Polizelli, Demerval L., e Ozaki, Adalton M. (2008),
Sociedade da Informao: os desafios da era da
colaborao e da gesto do conhecimento, So Paulo,
Saraiva.
Rosa, Antnio (2009), Os Direitos de Autor e os
Novos Mdia, Coimbra, Angelus Novus.
Santaella, Lcia (2000), Cultura das Mdias, So
Paulo, Experimento.
Santos, Manuella (2008), Direitos Autorais na Era
Digital: impactos, controvrsias e possveis solues, So
Paulo, Saraiva.
Tridente, Alessandra (2008), Direito Autoral:
paradoxos e contribuies para reviso da tecnologia
jurdica no sculo XXI, Rio de Janeito, Elsevier.
Joo Ademar de Andrade Lima
joaoademar@yahoo.com.br
Professor na rea de Direito de Propriedade Intelectual
e Direito da Informtica na Faculdade de Cincias Sociais
Aplicadas do CESED, Brasil. Possui graduao em Direito
pela UEPB/Brasil (2000) e em Desenho Industrial pela
UFCG/Brasil (2002), com especializao (2003) e
mestrado (2005) em Engenharia de Produo pela
UFPB/Brasil e especializao em Direito da Tecnologia da
Informao pela UGF/Brasil (2010). Doutorando na
Universidade de Trs-os-Montes e Alto Douro, em
Cincias da Educao..
Joaquim Jos Jacinto Escola
jescola@utad.pt
Doutorado em Educao pela Universidade de Trs-os-
Montes e Alto Douro, onde Professor desde 1993.
Iniciou a sua carreira acadmica na Universidade dos
Aores. membro do Gabinete de Filosofia da Educao
do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto (Unidade de I&D). Desenvolve a
sua atividade de investigao em torno da Filosofia da
Educao, da tica, da Comunicao Educativa e da
Didtica em Filosofia. Professor convidado da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto no curso de Mestrado
em Ensino da Filosofia. Integra algumas sociedades
cientficas, com destaque para a Association Prsence de
Gabriel Marcel, Socit Francophone de Philosophie de
l'ducation e Sociedade de Filosofia da Educao de Lngua
Portuguesa.
Vernica Almeida de Oliveira Lima
veronicajornalista@yahoo.com.br
Possui graduao em Comunicao Social pela
Universidade Estadual da Paraba, Brasil (2003), onde
professora. Tem mestrado em Sociologia pela Universidade
Federal da Paraba, Brasil (2007). Desenvolve atividade de
investigao na rea de Comunicao, com nfase em
Rdio, Televiso e em Novas Tecnologias de Informao e
Comunicao, atuando principalmente nos temas
cibercultura, ciberespao e sociabilidade na internet.
Doutoranda na Universidade de Trs-os-Montes e Alto
Douro, em Cincias da Educao.
OS AUTORES
DIREITO FINANCEIRO
Ano 1 N. 02 [pp. 183-194]
183
RBEN DANIEL CARDOSO DE JESUS
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Mestrando em Direito dos Contratos e das Empresas na Escola de Direito da Universidade do Minho
RESUMO:
O contrato de locao financeira, devido s suas especificidades,
suscita algumas questes que, apesar de parecerem, primeira vista,
irrelevantes, apresentam grande importncia prtica e, por isso,
merecedoras de um tratamento autnomo.
Aps uma breve anlise, em jeito de enquadramento terico, da
essncia do contrato de locao financeira, propomo-nos a alcanar uma
resposta questo de saber sobre quem recai a obrigao de entrega da
coisa no mbito da figura contratual acima referida. Esta questo surge,
no s do facto do contrato de locao financeira conter, na maior parte
dos casos, uma figura tripartida, mas tambm da dificuldade que surge
em articular as relaes contratuais que se estabelecem entre os
intervenientes.
Uma eventual resposta a esta questo trar benefcios, do ponto de
vista jurdico, para efeitos de aferio de responsabilidade contratual,
sendo um passo no alcance da desejada segurana jurdica.
RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DA COISA
NOS CONTRATOS DE LOCAO FINANCEIRA
RBEN DE JESUS Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
184
RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DA COISA
NOS CONTRATOS DE LOCAO FINANCEIRA
RBEN DANIEL CARDOSO DE JESUS
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Mestrando em Direito dos Contratos e das Empresas na Escola de Direito da Universidade do Minho
Introduo
O presente trabalho, intitulado
Responsabilidade pela entrega da coisa nos
contratos de locao financeira tem como
objectivo principal, analisando o regime jurdico
aplicvel ao contrato de locao financeira,
nomeadamente o Decreto-Lei 149/95 de 24 de
Junho
1
, tentar alcanar uma concluso sobre quem
incide a responsabilidade de entrega do bem
objecto do contrato de locao financeira.
Depois de um breve enquadramento terico,
procuraremos analisar a posio da doutrina
nacional, de forma a tentar perceber qual a
natureza da discusso sobre o tema que nos
propomos a investigar. De seguida, iremos ter em
conta algumas posies doutrinais estrangeiras, que
sero utilizadas como termo de comparao com
as posies defendidas em territrio nacional. Em
terceiro lugar, procuraremos referir algumas
decises jurisprudncias que versem ou refiram a
matria sob anlise. No terminaremos a nossa
exposio sem uma reflexo crtica e uma tomada
de posio.
1
Tendo em conta, como no poderia deixar de ser, as respectivas
alteraes legislativas, sendo que a ltima respeita ao DL n.
30/2008, de 25/02.
Inevitavelmente, sero colocadas algumas
questes ao longo deste relatrio a que tentaremos
responder para um maior entendimento sobre este
assunto. Haver, igualmente, alguns
entrelaamentos com outras matrias que
oportunamente sero referidas, mas no sero
tratadas a fundo, uma vez que extravasa o mbito
da nossa investigao.
Locao financeira
O contrato de locao financeira regulado
pelo Decreto-lei 149/95 de 24 de Junho, segundo
o qual locao financeira o contrato pelo qual
uma das partes se obriga, mediante retribuio, a
ceder outra o gozo temporrio de uma coisa,
mvel ou imvel, adquirida ou construda por
indicao desta, e que o locatrio poder comprar,
decorrido o perodo acordado, por um preo nele
determinado ou determinvel mediante simples
aplicao dos critrios nele fixados
2
. Daqui se
verifica que este contrato tem como caractersticas
principais: existir uma cedncia de um sujeito a
outro do gozo de determinado bem; tal cedncia
ser temporria, mas finda a qual pode haver lugar a
2
Artigo 1 do DL 149/95 de 24 de Junho.
Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
185
aquisio do bem cedido; o bem em causa ser
adquirido propositadamente para ser locado; e, por
fim, a entidade locadora ser retribuda por ter feito
tal contrato.
Ao contrrio do contrato de locao, regulado
nos artigos 1022 e seguintes do Cdigo Civil, que
pressupe a existncia de dois sujeitos contratuais,
no contrato de locao financeira so trs sujeitos:
o locador, o locatrio e o fornecedor. Isto porque o
locador ir adquirir ao fornecedor determinado
bem que satisfaa as necessidades do locatrio,
havendo aqui dois contratos: o contrato de compra
e venda (ou empreitada) entre o locador e o
fornecedor e um contrato de locao celebrado
entre o locatrio e o locador.
Analisando os artigos 9 e 10 do DL 149/95
verificamos que existem algumas obrigaes que
consubstanciam as posies jurdicas quer do
locatrio, quer do locador. Trata-se de um elenco
exemplificativo, mas da sua leitura no possvel
alcanar uma resposta clara para a seguinte
pergunta: quem responsvel pela entrega do
bem?
Entrega da coisa locada: uma controvrsia
jurdica
Analisando o Decreto-Lei 149/95 de 24 de
Junho, nomeadamente o artigo 9, respeitante
posio jurdica do locador, verificamos que no h
uma previso expressa no que concerne
obrigao de entrega da coisa locada. Assim sendo,
preciso analisar a posio da doutrina e da
jurisprudncia face a esta omisso legislativa, na
esperana de alcanar um esclarecimento para as
seguintes questes: sobre quem incide a obrigao
de entrega da coisa objecto do contrato de locao
financeira? Ser funo da entidade locadora
enquanto parte instrumental do dever de conceder
o gozo da coisa? Ou ento ser que esta obrigao
extravasa o mbito de responsabilidades do
locador? E se assim , sobre quem incide a
obrigao de entrega?
Menezes Cordeiro pronuncia-se sobre este
assunto de forma breve e da opinio que o
locador deve assegurar a entrega da coisa
3
. O
autor refere um acrdo do Supremo Tribunal de
Justia (STJ), de acordo com o qual o locador,
para conceder ao locatrio o gozo da coisa, tem a
obrigao de lhe assegurar a entrega, cumprindo-
lhe fazer a prova deste facto
4
.
No mesmo sentido defende tambm Calvo da
Silva, que considera que incide sobre o locador a
obrigao de entregar a coisa ao locatrio, uma vez
que, de acordo com o autor, no se pode
conceder o gozo da coisa sem a entrega da mesma
ao locatrio
5
. H, aqui, uma instrumentalidade da
entrega da coisa face obrigao da concesso do
gozo, em que uma pressupe, obrigatoriamente, a
outra e, portanto, conclui o autor, o locador deve
entregar a coisa locada para conceder o gozo da
mesma ao locatrio pelo prazo do contrato
6
.
Quanto forma de executar esta obrigao,
Calvo da Silva encontra duas possibilidades:
cumprimento directo (isto , cumprimento pelo
locador) ou por meio do fornecedor
7
. O locador
cumprir de forma directa a obrigao de entrega
da coisa se esta estiver na sua disposio, por lhe
ter sido entregue pelo fornecedor, ou ento, por a
coisa locada lhe ter sido restituda em
3
Antnio Menezes CORDEIRO, Manual de Direito Bancrio, 4
edio, Coimbra, Almedina, 2010, p.680.
4
Acordo do STJ, de 22 de Novembro de 1994 (PAIS DE SOUSA),
disponvel em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3
d332d885534b1ff802568fc003aa202?OpenDocument.
5
Joo Calvo da SILVA, Locao financeira e garantia bancria
in Estudos de direito comercial Pareceres, Coimbra, Almedina, 1996,
p. 22. Cfr. tambm Joo Calvo da SILVA, Direito Bancrio, Coimbra,
Almedina, 2001, p.424.
6
Joo Calvo da SILVA, Locao financeira e garantia bancria
in Estudos de direito comercial Pareceres, Coimbra, Almedina, 1996,
p. 22
7
Ibidem.
RBEN DE JESUS Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
186
consequncia da cessao de locao financeira
anterior
8
. Por outro lado, possvel o
cumprimento da obrigao da entrega mediante
cooperao do fornecedor, ou seja, perfeitamente
concebvel que no contrato de compra e venda,
celebrado entre o fornecedor e o locador
financeiro, seja estipulado contratualmente que a
obrigao de entrega da coisa recaia sobre o
vendedor, indo o locatrio receber o bem
directamente das mos do fornecedor. Este
constituir, portanto, um auxiliar do locador no
cumprimento da obrigao de entrega
9
.
Tambm Raquel Tavares dos Reis partilha da
opinio acima enunciada, nomeadamente, que a
obrigao de entrega da coisa impende sobre o
locador, afirmando que No nos restam dvidas
que faz parte do contrato de locao financeira a
obrigao do locador financeiro de entrega da coisa
ao locatrio financeiro para que este a possa
gozar
10
.
8
Joo Calvo da SILVA, Locao financeira e garantia bancria
in Estudos de direito comercial Pareceres, Coimbra, Almedina, 1996,
p. 22. Est ltima considerao pode deixar algumas dvidas. O
contrato de locao financeira o contrato pelo qual uma
entidade o locador financeiro concede a outra o locatrio
financeiro o gozo temporrio de uma coisa corprea, adquirida,
para o efeito, pelo prprio locador, a um terceiro, por indicao do
locatrio (Antnio Menezes CORDEIRO, Manual de Direito
bancrio, cit. p.671). Verificamos que uma das caractersticas
essenciais e distintivas do contrato de locao financeira o facto
de o bem locado ser adquirido pelo locador, por indicao do
locatrio, a um terceiro. O locatrio exerce aqui uma funo
importante, porque ele sabe qual o objecto que pretende
(possivelmente at j contactou com o fornecedor), e esse objecto
ser adquirido propositadamente para realizao deste negcio.
Coloca-se a questo se, porventura, o bem locado for restitudo ao
locador, quer por incumprimento do contrato, quer por no ter
sido exercido por parte do locatrio a opo de compra, se este
objecto pode ser utilizado para nova locao financeira. Poder a
entidade locadora, posteriormente, utilizar o bem adquirido em
funo de um contrato anterior para realizar um novo contrato de
locao financeira? No ir tal considerao contra o ncleo que
caracteriza esta figura contratual? Possveis concluses podem ser
retiradas no s do artigo 7 do DL 149/95, mas tambm da anlise
do regime do sale and leaseback, enquanto modalidade de locao
financeira e que extravasa o mbito desta investigao.
9
Ibidem.
10
Raquel Tavares dos REIS, Contrato de locao financeira no
Direito Portugus: elementos essenciais in Gesto e Desenvolvimento
11, 2002, p. 141, disponvel em
http://www4.crb.ucp.pt/biblioteca/gestaodesenv/GD11/gestaodese
nvolvimento11_113.pdf.
Por fim, Rui Pinto Duarte reconhece a
existncia de uma relao entre o locatrio e o
fornecedor uma vez que, no o locador que vai
utilizar a coisa, que muitas das vezes no chegar
sequer a deter materialmente"
11
. Este mesmo autor
considera que o locatrio no representar
necessariamente o locador no contrato celebrado
com o fornecedor, mas no exclui a possibilidade
de estipulao contratual que confira ao locatrio
os poderes de representao do locador na
negociao ou at na concluso do contrato com o
fornecedor e sobretudo para a recepo da coisa
12
.
Ao longo da sua obra, Rui Duarte Pinto salienta
que a funo da locadora uma funo
eminentemente financiadora, o que ajuda a
justificar a sua posio acerca da obrigao de
entrega da coisa.
Outra opinio partilha Gravato Morais,
defensor da teoria de que o locador no
responsvel pela entrega do bem objecto do
contrato ao locatrio
13
. Este autor considera
decisivos os argumentos que se podem extrair dos
artigos 12 e 13 do DL 149/95. O primeiro dos
artigos referidos exonera o locador dos vcios do
bem locado e Gravato Morais invoca uma
concepo de cumprimento de contrato que
pressupe dois elementos: a entrega do bem e a
conformidade. S com esses dois requisitos
cumpridos que haver cumprimento por parte
do vendedor, logo ser este o responsvel pela
entrega do bem locado. J o artigo 13 diz respeito
s relaes entre o locatrio e o vendedor,
estipulando que o locatrio pode exercer contra o
vendedor ou o empreiteiro, quando disso seja caso,
todos os direitos relativos ao bem locado ou
resultantes do contrato de compra e venda ou de
11
Rui Pinto DUARTE, Escritos sobre leasing e factoring, 1 edio,
Cascais, Principia, 2001, p.53.
12
Idem, p.57.
13
Fernando Gravato MORAIS, Manual de Locao Financeira,
Coimbra, Almedina, 2006, p. 121.
Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
187
empreitada
14
. Daqui Gravato Morais conclui que
se estipula, implicitamente, certo, que o locador
no responde pela no entrega do bem, uma vez
que caso assim no fosse o locatrio no teria
necessidade de ter ao seu dispor a possibilidade de
se dirigir ao vendedor
15
.
Face ao argumento invocado por alguns autores
de que a entrega da coisa factor instrumental da
obrigao de concesso do gozo do bem locado
(este sim, expressamente previsto na alnea b) do
artigo 9, n.1 do DL 149/95), Gravato Morais
discorda, afirmando que o que se trata de
garantir o uso pacfico do bem para o fim
pactuado na vigncia do contrato, no pressuposto
de que foi j efectuada a sua entrega (pelo
fornecedor)
16
, devendo o locador agir de forma a
que o objecto em causa seja entregue
directamente ao locatrio pelo fornecedor
17
.
Tambm na doutrina estrangeira se verificam
opinies distintas sobre a quem incumbe a entrega
da coisa locada. Em Espanha, por exemplo, Jos
Maria de la Cuesta Rute defende que h uma
instrumentalidade da obrigao da entrega da coisa
face obrigao principal de conceder o gozo
daquela
18
. O autor comea por indicar que a
obrigao de entrega da coisa complementa a
obrigao que impende sobre a locadora de
concesso de gozo do bem, mas acrescenta que tal
obrigao da entrega deve ser includa no contrato
celebrado entre a entidade locadora e o
fornecedor
19
, consistindo numa forma de
cumprimento indirecto que foi acima abordada
14
Artigo 13 do Decreto-Lei 149/95 de 24 de Junho.
15
Fernando Gravato MORAIS, Manual de Locao Financeira,
Coimbra, Almedina, 2006, p. 121.
16
Idem, p.122.
17
Ibidem.
18
Jos Maria de la Cuesta RUTE, El contrato de leasing o
arrendamiento financiero: 40 aos despus, disponvel em
http://eprints.ucm.es/11691/1/Leasing-Versi%C3%B3n_E-print.pdf,
p.21.
19
Ibidem.
quando referimos a posio de Calvo da Silva.
Apesar de Jos Maria Rute considerar que a
obrigao de entrega se insere na obrigao geral de
concesso de gozo do bem, cumpre salientar, na
situao de falta de entrega do mesmo, que deve
ser o locatrio a exigir ao fornecedor a entrega do
mesmo, uma vez que se sub-roga na posio do
locador
20
.
Em sentido contrrio, Frederico Arnau Moya
partilha da opinio que a entrega do bem que ser
objecto do contrato de locao deve ser entregue
directamente pelo fornecedor, sem que a locadora
chegue a ter um contacto fsico com o objecto
21
,
acrescentando que existe a possibilidade de se
incluir no contrato de leasing uma clusula que
exonera o locador de responsabilidade resultante
do incumprimento do fornecedor, quer se trate de
no entrega do bem, quer este seja entregue com
defeitos
22
.
Garca Garnica tambm se pronuncia acerca
deste tema, referindo que perante a falta de uma
regulao legal, admitida a aposio de uma
clusula nas condies gerais do contrato de
locao que exonera o locador das
responsabilidades relativas ao incumprimento ou
atraso na entrega dos bens
23
. A autora salienta que
esta questo tem sido controvertida nos tribunais,
o que faz com que esta exonerao contratualizada
seja sujeita a alguns limites, entre eles, no ser
admissvel tal clusula se a entidade locadora agiu
com dolo ou culpa grave, como suceder nos casos
20
Jos Maria de la Cuesta RUTE, El contrato de leasing o
arrendamiento financiero: 40 aos despus, disponvel em
http://eprints.ucm.es/11691/1/Leasing-Versi%C3%B3n_E-print.pdf,
p. 23.
21
Frederico Arnau MOYA, El contrato de leasingen el derecho
Espaol in Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Catlica
Andrs Bello / Universidad Catlica Andrs Bello, Facultad de Derecho,
n.59, Caracas, disponvel em
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCAB/5
9/UCAB_2004_59_326-207.pdf, p.313.
22
Ibidem.
23
Mara del Carmen Garca GARNICA, El regmen jurdico del
leasing financiero in mobiliario en Espaa, Navarra, Arzandi, 2001, p.
194.
RBEN DE JESUS Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
188
em que os bens no so entregues ao locatrio pelo
facto de o locador ter incumprido na sua obrigao
de pagar o preo resultante da aquisio do bem
24
.
Ainda no que toca s clusulas contratuais,
Chuli Vicent e Beltrn Alandete consideram que
as obrigaes do locador se reduzem
consideravelmente devido s clusulas de
exonerao e sub-rogao que se incluem nos
contratos de Leasing
25
. Os mesmos autores
referem que tambm obrigao do locador
informar o fornecedor a respeito das obrigaes de
entrega, manuteno e assistncia
26
a prestar ao
locatrio.
Grcia Cruces tambm faz referncia a esta
clusula de exonerao e sub-rogao que confere
poderes de aco face ao fornecedor, o que,
segundo o autor, decorre necessariamente da
qualificao que dada ao contrato de Leasing,
uma vez que evidente que a entidade locadora
carece de interesse no negcio de compra e venda,
anterior ao contrato de locao. Como argumentos,
o autor salienta o facto de o locatrio ter uma
posio activa na escolha do bem que ser objecto
do contrato de locao, bem como se apresenta
mais vantajoso que haja uma relao directamente
estabelecida entre o locatrio e o fornecedor para
diminuir os custos econmicos e temporais de
possveis reclamaes
27
J em Itlia, parte da doutrina considera que a
nica funo da entidade locadora adquirir ou
mandar construir o bem e fazer com que o bem
que ser alvo de locao seja entregue
directamente pelo fornecedor ao locador
28
. Essa
24
Idem, p.195 e 196.
25
Eduardo Chuli VICENT; Teresa Beltrn ALANDETE, Aspectos
jurdicos de los contratos atpicos, vol III, 1998, J.M Bosch editor, p.39.
26
Ibidem.
27
Jos Antnio Grcia CRUCES; Mercedes Curto POLO, Los
contratos de leasing e factoring, in Derecho Bancrio y burstil, 2
edio, Madrid, Colex, 2012, p. 467 e 468.
28
Vincenzo BUONOCORE, La locazione finanziaria Trattato di
diritto civile e commerciale, Milo, Giuffr, 2008, p. 81.
entrega, bem como a atribuio ao locatrio de
legitimidade para agir directamente face ao
vendedor, deve ser estipulada expressamente por
clusula contratual
29
. Tambm Lucio Ghia refere a
existncia, na maior parte dos contratos de locao
financeira, de clusulas que exoneram os locador
da responsabilidade de entrega do bem,
salientando que releva a existncia de uma
coligao de contratos
30
.
Alessandro Munari refere a plena unanimidade
da doutrina e da jurisprudncia em aceitar a
clusula contratual que exonera o locador da falta
de entrega do bem, uma vez que, diz o autor, tal
exonerao se justifica pelo facto de o locatrio
estar em condies de tutelar o seu prprio
interesse face ao fornecedor
31
, enquanto que,
Giorgio de Nova considera que a entrega do bem
instrumental concesso do gozo, mas que essa
obrigao de entrega tem um contedo
particular
32
. A obrigao da entidade locadora,
alm de ter de celebrar o contrato com o
fornecedor, tem de acordar com o fornecedor que
o bem ser entregue directamente ao locatrio. ,
portanto, usual incluir clusulas no contrato que
exonerem o locador da responsabilidade pela no
entrega do bem, conferindo poderes ao locatrio
para agir directamente face ao fornecedor
33
.
Quanto jurisprudncia portuguesa, possvel
encontrar algumas decises que referem este dever
de entrega da coisa locada, partilhando algumas
posies doutrinais acima referidas. Desde logo, o
29
Idem, p.82.
30
Lucio GHIA, I c contratti di finanziamento dellimpresa Leasing e
factoring, Milo, Giuffr, 1997, p.27.
31
Alessandro MUNARI, Il leasing finanziario nella teoria dei crediti di
scopo, Milo, Giuffr, 1989, p. 294 e 295.
32
Giorgio de NOVA, Il contratto di leasing, 3 edio, Milo,
Ciuffr, 1994, p. 38
33
Idem,p. 38 e 39.Cfr. Giorgio de NOVA, Il contratto di leasing, 3
edio, Milo, Ciuffr, 1994, p.117 e ss; Mauro BUSSANI, Propriet-
garanzia e contratto,Trento, editora, 1992, p.125 e ss; Mauro
BUSSANI, Contratti moderni Factoring, Franchising, Leasing, Torino,
UTET ,2004, p.338 e ss, para esclarecimento sobre posies
jurisprudenciais.
Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
189
acrdo do Tribunal da Relao do Porto, de 20 de
Outubro de 2005, em que se considera que
concesso de gozo da coisa s concretizada pela
entrega do bem ao locatrio, quer esta seja feita
directamente ou atravs da cooperao do
fornecedor
34
, partilhando, assim, a posio de
Calvo da Silva. Tambm no acrdo do Tribunal
da Relao de Lisboa de 22 de Janeiro de 1998 se
refere que No tendo o fornecedor feito a entrega
do bem ao locatrio, o locador responsvel
perante aquele por fora do preceituado no n1 do
citado artigo 800, do que resulta incumprimento
da obrigao de entrega da coisa e de proporcionar
o gozo da coisa
35
.
Cumpre referir o caso especfico da locao de
bens sujeitos a registos (nomeadamente, veculos
automveis). Nestas situaes, h que no ignorar a
questo de saber sobre quem recai a obrigao de
entrega dos documentos do bem locado e os
tribunais tm-se pronunciado sobre tal tema.
Desde logo, no acrdo do Tribunal da Relao de
Lisboa, de 18 de Dezembro de 2012, referido
que no caso de locao financeira de bens sujeitos
a registo, mais concretamente, no caso de o bem
ser um veculo automvel, vem-se entendendo que
a locadora est obrigada a fornecer os documentos
exigveis para a circulao do veculo automvel,
ainda no mbito de dever de concesso de
gozo
36
e apesar do tribunal considerar que
admissvel a estipulao de clusulas contratuais
que prevejam a obrigao do locatrio em registar
34
Acordo do Tribunal da Relao do Porto, de 20 de Outubro de
2005 (Pinto de Almeida), consultado em 26 de Maio de 2013,
disponvel em
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5b
b/c27f118571b1bf60802570b5003db051?OpenDocument&Highlig
ht=0,Loca%C3%A7%C3%A3o,financeira,entrega.
35
Acordo do Tribunal da Relao do Porto, de 22 de Janeiro de
1998 (Pessoa dos Santos), consultado em 26 de Maio de 2013,
disponvel em
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec
/f8cc57c70e35e363802568b1004a66db?OpenDocument.
36
Acordo do Tribunal da Relao de Lisboa, de 18 de Dezembro
de 2012 (Cristina Coelho).
o bem, tal no desonera o locador da obrigao de
entregar os elementos necessrios para proceder a
tal registo, nomeadamente entregando-lhe os
documentos necessrios para tal devidamente
assinados
37
.
Reflexo crtica e tomada de posio
Em primeiro lugar, cumpre analisar o que est
disposto no regime relativo ao contrato de locao
financeira e, a partir da, formular uma opinio
consistente. No seu artigo 9, relativo posio
jurdica do locador, no h uma referncia expressa
quanto obrigao de entrega do bem objecto do
contrato de locao. Daqui no admissvel
excluir, ab initio, este dever do campo de
obrigaes que impendem sobre o locador, uma
vez que, atentando redaco dada ao artigo,
possvel verificar que o legislador utilizou a locuo
nomeadamente, o que permite concluir que
possvel incluir outras obrigaes para alm
daqueles que foram expressamente indicadas no
artigo 9 do DL 149/95.
No n.2 do artigo 9 h uma remisso para o
regime da locao, sendo aplicveis os direitos e
deveres gerais previstos no regime da locao que
no se mostrem incompatveis com o presente
diploma
38
, o que nos leva a analisar os artigos
1022 e seguintes do Cdigo Civil, em especial os
relativos s obrigaes do locador (artigos 1031 e
seguintes do mesmo cdigo). Da alnea a) do artigo
1031 do Cdigo Civil consta que obrigao do
locador entregar a coisa locada ao locatrio, o que
pode, primeira vista, constituir um argumento a
favor da teoria segundo a qual tambm na locao
financeira h uma obrigao do locador de entregar
o bem ao locatrio. Assim como Gravato Morais
37
Acordo do Tribunal da Relao de Lisboa, de 18 de Dezembro
de 2012 (Cristina Coelho).
38
Artigo 9, n.2 do Decreto-Lei 149/95 de 24 de Junho.
RBEN DE JESUS Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
190
considera que este argumento no procede pelo
facto de tendo sido to exaustivo quanto aos
direitos e aos deveres das partes, o legislador tenha
optado por no se pronunciar quanto ao
(relevante) problema da entrega da coisa, por
entender que o art. 1031, al. a) CC o resolvia
39
,
tambm a ns nos suscita algumas reservas a
utilizao deste argumento. Aplicar, sem mais, este
argumento seria esquecer a especificidade do
regime da locao financeira.
O contrato de locao, regulado no Cdigo
Civil, o contrato pelo qual uma das partes se
obriga a proporcionar outra o gozo temporrio de
uma coisa, mediante retribuio
40
. Trata-se,
portanto, de um contrato em que existem duas
partes, uma delas proprietria de determinado bem
que, mediante retribuio, ser cedida
contraparte. Desta forma, facilmente se
compreende a estipulao legal da obrigao do
locador em entregar o bem, sobre o qual tem
domnio material, pois de outra forma mais
ningum poderia ceder legitimamente, o bem
objecto do contrato. A entrega por parte do
locador , por razes bvias, parte importante do
contrato de locao.
Olhando, agora, para o contrato de locao
financeira, possvel verificar que existem trs
partes: o locador, o locatrio e o fornecedor. De
acordo com a prtica contratual, o locatrio que
se dirige ao fornecedor, escolhe a coisa que ser
dada em locao e s depois comunica entidade
locadora a sua inteno de celebrar um contrato de
locao financeira, indicando qual o bem que ser
objecto do contrato, bem como o fornecedor. O
locatrio , portanto, parte activa do processo, sabe
o que quer e sabe de onde quer obt-la. O locador,
aqui, ao contrrio do que acontece no contrato de
39
Fernando Gravato MORAIS, Manual de Locao Financeira, ob cit.
p.121.
40
Artigo 1022 do Cdigo Civil.
locao, no vai simplesmente ceder um bem seu,
mas antes vai adquirir um bem propositadamente
para satisfazer as necessidades de um terceiro - o
locatrio. A estreita relao entre o fornecedor e o
locador suficiente para verificar a inadequao da
aplicao do artigo 1031, al. a) do Cdigo Civil,
uma vez que esse artigo foi previsto para uma
realidade contratual que substancialmente
diferente daquele sobre a qual incide este trabalho.
O n2 do artigo 9 do DL 149/95 indica que se
aplica ao contrato de locao financeira os
preceitos relativos locao que no sejam
incompatveis com aquele contrato. Na nossa
opinio, h uma incompatibilidade resultante do
facto de estarmos perante dois contratos que,
apesar de partilharem razes comuns, so
suficientemente distintos para que sejam
inaplicveis algumas das normas resultantes do
Cdigo Civil.
Um segundo argumento que tem sido utilizado
a favor da teoria de que a obrigao de entrega do
bem incide sobre o locador o argumento de que
tal entrega instrumental da obrigao de
concesso do gozo do bem objecto do contrato
(esta sim, resulta expressamente da lei artigo 9.,
n.1 al. a) do DL 149/95). De facto, quando se
entrega algo a algum tem-se em vista conceder o
gozo desse algo. Mas partir do princpio que s se
concede o gozo de algo atravs da entrega revela-se
um raciocnio muito redutor. Gravato Morais
refere e bem, a nosso ver que no se pode
fazer decorrer da obrigao imposta ao locatrio de
conceder o gozo do bem um dever de entrega da
coisa
41
, pois o que se pretende garantir o uso
pacfico do bem para o fim pactuado na vigncia
do contrato
42
, o que nos faz lembrar a garantia
por evico cujo objectivo era garantir o gozo
pacfico da coisa objecto do contrato. O locador
41
Fernando Gravato MORAIS, Manual de Locao Financeira, ob cit.
p.122.
42
Ibidem.
Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
191
pode garantir ao gozo do bem se cumprir as suas
obrigaes principais: financiar o bem e pag-lo ao
fornecedor. Assim, o locador concede o gozo do
bem por via, no s da aquisio da coisa mas
garantindo ainda junto do fornecedor a entrega ao
locatrio
43
, embora tal no implica que ele esteja
obrigado a entregar o bem. Alm do mais,
possvel retirar da prpria lei que a concesso do
gozo de um bem e a entrega do mesmo no
constituem, necessariamente, partes no mesmo
fenmeno. Basta atentar ao artigo 1031 do
Cdigo Civil para verificar que nas suas alneas h
uma separao expressa entre entrega e concesso
do gozo.
Um outro argumento que suscitado na
discusso em torno deste tema a possvel
interpretao dada ao artigo 12 do DL 149/95
(em articulao com o artigo 13), segundo o qual
o locador est exonerado dos vcios do bem
locado. Alguns autores, como Gravato Morais,
consideram que o cumprimento pressupe um
duplo requisito, nomeadamente, a entrega e a
conformidade
44
. De facto, quando o vendedor
entrega o bem que foi adquirido para ser objecto
do contrato de locao financeira, deve faz-lo
livre de vcios, s assim ser um cumprimento
pleno. Visto que o locador, muitas das vezes, no
chegar a ter um domnio fsico sobre o bem antes
de ele chegar s mos do locatrio, no faz sentido
que se lhe atribua responsabilidades por um
defeito que no lhe pode ser imputvel. Assim,
podemos retirar duas concluses: primeiro, que o
vendedor encontra-se adstrito a cumprir
integralmente a sua funo (entrega em
conformidade) e, segundo, que caso haja vcios ser
o vendedor o responsvel por sanar os respectivos.
43
Fernando Gravato MORAIS, Manual de Locao Financeira, ob cit.
p.122.
44
Idem, p.121.
O disposto no artigo 13 do DL 149/95
complementa o argumento acima referido. Este
artigo confere ao locatrio os direitos relativos ao
bem objecto de locao financeira ou os direitos
que resultam do contrato de compra e venda. Para
alm de ser exigvel ao vendedor que cumpra a
obrigao de entrega em conformidade com o que
foi acordado contratualmente, o artigo 13 permite
que o locatrio actue directamente face ao
vendedor, exercendo os direitos resultantes quer
do contrato de locao, quer do contrato de
compra e venda.
Da articulao deste dois artigos resulta o
seguinte raciocnio: o vendedor tem uma obrigao
de entrega de um bem livre de vcios, uma vez que
o locador se encontra expressamente exonerado de
qualquer defeito do bem vendido. Caso tal no
ocorra, permitido ao locatrio agir directamente
sobre o fornecedor, podendo fazer valer, inclusive,
os direitos resultantes do contrato de compra e
venda (de que o locatrio no faz parte). H aqui
um constante salto por cima do locador, uma vez
que este nem responsvel pelos vcios, nem tem
a exclusividade de fazer valer os direitos de
compra e venda. O que se passa na realidade que
os principais efeitos se estabelecem entre o
locatrio e o fornecedor, cuja relao nasce atravs
de um terceiro que ir ser um meio para um fim.
A partir do momento que o locador cumpre a
obrigao de adquirir o bem, a lei confere ao
locatrio poderes suficientes para garantir a sua
posio face ao fornecedor. Assim, facilmente se
retira daqui a concluso que, se o fornecedor
obrigado a cumprir em conformidade e que so
conferidos ao locatrio poderes suficientes para
garantir tal cumprimento, ento o locatrio tem a
possibilidade de agir perante este no caso de
omisso de entrega do bem.
Tendo em conta que seria concebvel que os
efeitos da locao se aplicassem ao locador e ao
RBEN DE JESUS Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
192
locatrio e os efeitos da compra e venda se
aplicassem ao locador e ao fornecedor, o mais
correcto seria que face ao fornecedor s o locador
poderia invocar os direitos resultantes do contrato
e, portanto, o locador poderia exigir ao fornecedor
a entrega do bem enquanto, por sua vez, o
locatrio exigiria ao locador. Mas, uma vez que
conferida ao locatrio a possibilidade de fazer valer
face ao fornecedor os direitos decorrentes do
contrato de compra e venda, parece-nos haver
abertura legal suficiente para admitir que incide
sobre o fornecedor a obrigao de entregar a coisa,
sendo o responsvel em caso de omisso de
entrega.
Para alm disso, tal soluo a que mais
beneficia o locatrio, uma vez que permite evitar
atrasos na entrega do bem, atrasos inevitveis caso
se considerasse que o locatrio teria de agir perante
o locador, que por sua vez agiria perante o
fornecedor. Trata-se, portanto, de um processo que
se pretende clere e eficaz.
Consideraes finais:
Depois de analisado o regime aplicvel ao
contrato de locao financeira e de nos
questionarmos sobre quem recai a obrigao de
entrega da coisa locada, verificamos que existem na
doutrina posies divergentes sobre qual a soluo
a dar. Por um lado, temos os autores que
consideram que a obrigao de entrega incide
sobre o locador, por ser um elemento instrumental
da obrigao de conceder o gozo da coisa. Por
outro lado, existem os autores que partilham da
opinio que o fornecedor que responsvel pela
entrega da coisa e ser a ele que se deve exigir tal
obrigao.
Depois de analisados os argumentos
apresentados por ambas as partes, tomamos uma
posio de acordo com aquilo que achamos ser o
mais correcto do ponto de vista jurdico e do
ponto de vista da prtica negocial, factor que
tambm importante. Devido ao facto de a lei no
esclarecer expressamente qual a soluo a dar
nestes casos, a divergncia doutrinal ir continuar
sendo que, para evitar possveis problemas
resultantes da no entrega do bem, consideramos
ser importante a aposio nos contratos de compra
e venda do bem destinado locao de uma
clusula de onde conste a obrigao do fornecedor
de entregar o bem directamente ao locatrio. Caso
o fornecedor no cumpra esta obrigao, ento o
locatrio agir directamente face ao fornecedor,
fazendo valer os direitos decorrentes do contrato
de compra e venda, possibilidade expressamente
prevista pelo artigo 13 do DL 149/95.
Por fim, cumpre salientar que mediante a no
entrega da coisa ao locatrio, podem decorrer de
vrios cenrios, como a impossibilidade originria
da prestao ou a impossibilidade superveniente
(objectiva ou subjectiva) da prestao aos quais
sero aplicveis as disposies relativas ao
incumprimento, constantes do Cdigo Civil.
Propusemo-nos a responder a algumas questes
que se foram colocando ao longo do trabalho que
contriburam para um aprofundamento da matria
em causa, mas temos conscincia que muitas
outras se poderiam colocar. Mas para essas, seria
necessrio um tratamento autnomo que extravasa
o objectivo deste relatrio.
Referncias Bibliogrficas:
BUONOCORE, Vincenzo, La locazione
finanziaria Trattato di diritto civile, Milo, Giuffr,
2008, p. 81.
BUSSANI, Mauro, Propriet-garanzia e contratto,
Trento, Universit degli studi di Trento, 1992.
Contratti moderni. Factoring, franchising, leasing
in Trattato di Diritto Civile, Torino, UTET, 2004.
Responsabilidade pela entrega da coisa nos contratos de locao financeira
193
CORDEIRO, Antnio Menezes, Manual de
Direito Bancrio, 4 edio, Coimbra, Almedina, 2010.
CRUCES, Jos Antnio Grcia; POLO, Mercedes
Curto, Los contratos de leasing y factoring, in Derecho
bancrio y burstil, 2 edio, Madrid, Colex, 2012.
DUARTE, Rui Pinto, Escritos sobre leasing e
factoring, 1 edio, Cascais, Principia, 2001.
GARNICA, Mara del Carmen Garca, El regmen
jurdico del leasing financiero inmobiliario en Espaa,
Navarra, Arzandi, 2001.
GHIA, Lucio, I contratti di finanziamento
dellimpresa Leasing e factoring, Milo, Giuffr, 1997
MORAIS, Fernando Gravato, Manual de Locao
Financeira, Coimbra, Almedina, 2006.
MOYA, Frederico Arnau, El contrato de leasing
en el derechoEspaol [em linha], in Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Catlica Andrs
Bello / Universidad Catlica Andrs Bello, Facultad de
Derecho, n.59, Caracas, disponvel em
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RD
UCAB/59/UCAB_2004_59_326-207.pdf.
MUNARI, Alessandro, Il leasing finanziario nella
teoria dei crediti di scopo, Milo, Giuffr, 1989.
NOVA, Giorgio de, Il contratto di leasing, 3
edio, Milo, Giuffr, 1995.
REIS, Raquel Tavares dos, Contrato de locao
financeira no Direito Portugus: elementos essenciais
[em linha] in Gesto e Desenvolvimento 11, 2002,
disponvel em
http://www4.crb.ucp.pt/biblioteca/gestaodesenv/GD11/
gestaodesenvolvimento11_113.pdf.
RUTE, Jos Maria de la Cuesta, El contrato de
leasing o arrendamiento financiero: 40 aos despus, [em
linha], disponvel em
http://eprints.ucm.es/11691/1/Leasing-
Versi%C3%B3n_E-print.pdf.
SILVA, Joo Calvo da, Locao financeira e
garantia bancria in Estudos de direito comercial
Pareceres, Coimbra, Almedina, 1996.
Direito Bancrio, Coimbra, Almedina, 2001.
VICENT, Eduardo Chuli; ALANDETE, Teresa
Beltrn, Aspectos jurdicos de los contratos atpicos,
Barcelona, J.M. Bosch, 1998.
O AUTOR
O Autor Rben Daniel Cardoso de Jesus
licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade do Porto (2012).
Em 2013 frequentou o Curso de Ps-graduao
em Direito dos Contratos e das Empresas pela
Universidade do Minho.
Cursa desde 2012 o Mestrado em Direito dos
Contratos e das Empresas pela Universidade do
Minho.
DIREITO DO DESPORTO
Ano 1 N. 02 [pp. 195-210]
195
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA
Advogada
RESUMO:
Este trabalho tem por principal objectivo analisar os direitos de imagem
do desportista profissional.
Ao realiz-lo, uma das questes que se me depararam foi o facto de saber
se o direito imagem um direito fundamental, se um direito
patrimonial ou um direito mitigado? Mas a par desta multiplicam-se uma
srie de questes.
Ser que o Direito Imagem do desportista profissional uma
componente salarial, isto , ser que est inserida no contrato de trabalho?
Ser que o clube pode explorar a imagem do jogador?
Ser que em relao ao desportista profissional, quando este, sendo um
atleta bem sucessido financeiramente, mas comea a envelhecer, ser que
aqui no ser, o atleta a usar a marca para promover a sua imagem?
O DIREITO DE IMAGEM
DO DESPORTISTA PROFISSIONAL
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
196
O DIREITO DE IMAGEM
DO DESPORTISTA PROFISSIONAL
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA
Advogada
Introduo
Este trabalho tem por principal objectivo
analisar os direitos de imagem do desportista
profissional.
Ao realiz-lo, uma das questes que se me
depararam foi o facto de saber se o direito
imagem um direito fundamental, se um
direito patrimonial ou um direito mitigado? Mas a
par desta multiplicam-se uma srie de questes.
Entre elas destacam-se as seguintes:
Qual a sua gnese histrica e a sua
Natureza Jurdica?
Ser que o conceito do direito imagem tem
uma viso diferente nos Estados Unidos da
Amrica em relao Europa?
Ser que podemos falar de um Direito
Europeu para a explorao dos Direitos de
Imagem?
No poderemos dividir os Direitos Imagem
em duas componentes?
Ser que o Direito Imagem do desportista
profissional uma componente salarial, isto , ser
que est inserida no contrato de trabalho?
Ser que o clube pode explorar a imagem do
jogador?
Mas como sou polmica vou deixar uma
questo no ar! Ser que em relao ao desportista
profissional, quando este, sendo um atleta bem
sucessido financeiramente, mas comea a
envelhecer, ser que aqui no ser, o atleta a usar
a marca para promover a sua imagem?
I Gnese Histrica dos Direitos de
Personalidade
Antes de responder explicitamente s questes
referidas na introduo de referir que o Direito
Imagem um Direito Fundametal e especial de
Personalidade segundo o disposto no Art. 26
Constituio da Repblica Portuguesa e o Art. 79
n1 Cdigo Civil que ser analisado mais frente.
Logo, sendo um Direito Fundamental de
Personalidade necessrio fazer a sua abordagem
histrica.
Nos primrdios da nossa Histria o
reconhecimento do Homem como indivduo na
sociedade era circunstancial.
(1)
Por exemplo na
sociedade Grega e Romana s os cidados da
nobreza eram dotados de Personalidade.
(2)
Mas
com a Escola do Direito Natural ou Escola
Racionalista do Direito Natural que teve o seu
assento priveligiado na Holanda, Inglaterra e
Alemanha
(3)
, com o surgimento de filosofos e
pensadores do Iluminismo e com a ascenso da
doutrina Crist, fizeram com que surgisse a noo
de Direitos Naturais, inerente ao Homem
valorizando assim o indivduo.
(4)
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
197
Afirmamos assim que a passagem destes
pensamentos para o Direito foi lenta. Logo, os
Direitos Fundamentais triunfaram nos fins do sc.
XVII com as Revolues Liberais.
(5)
Surgiram
assim com a ideia de liberdade, da autonomia
privada dos indivduos, em contraposio com o
poder do Estado uma vez que a matriz do
Liberalismo era o indivduo enquanto tal.
(6)
Com
a democratizao indiscutvel que a matria dos
direitos fundamentais se desenvolveu no que diz
respeito s garantias de igualdade da relao
indivduo/Estado.
(7)
Consequentemente, nasceram alguns direitos da
participao poltica, por exemplo, o direito ao
voto, o direito de ser eleito, etc. Segundo
Carbonnier, o conceito de Direitos de
Personalidade de origem germnica e foi mais
tarde introduzida em Frana por vrios pensadores
(Rogun Boiste).
(8)
II Os Direitos de Personalidade em vrios
sistemas jurdicos.
Analisemos agora como que alguns
ordenamentos jurdicos trataram os Direitos de
Personalidade.
Analisemos agora como que alguns
ordenamentos jurdicos trataram os Direitos de
Personalidade.
Primeiramente, referimos o cdigo Josefino (na
Astria em 1786) que contemplou a abolio de
diferenas legais entre as pessoas, instaurou a
igualdade perante a lei.
(9)
Com a Declarao dos
Direitos do Homem e do Cidado de 1789
afirmou-se formal- mente a conservao dos
Direitos Naturais e imprescritveis do Homem.
(10)
J o Cdigo Civil Francs Napolenico de 1804
regrediu uma vez que se preocupa mais com a vida
patrimonial do que com a tutela dos Direitos
Pessoais.
(11)
Contrariamente ao Cdigo Civil Austraco
1891 que foi um pouco mais alm contemplando
no seu Art. n 16: Cada Homem tem direitos
inatos que se fundam na nica razo pela qual se
deve considerar como uma pessoa
(12)
influenciando mais tarde o Cdigo Civil Suio de
1907
(13)
que nos seus Arts. n 29 a 31 regulava o
direito ao Nome, ao comeo e fim da
personalidade, dispunha tambm uma disposio
que tutelava os Direitos de Personalidade que era
respectivamente o Art n 27.
Enquanto que o BGB, Cdigo Civil Alemo de
11.01.1900 no reconhecia a existncia de um
Direito Geral da Personalidade.
(14)
Existe apenas
um Direito de Personalidade Relativo no Nome.
Mas a Nova Constituio da Repblica Federal de
23.5.1949 veio contemplar a existncia de um
Direito Geral de Personalidade segundo o deposto
nos Art. 1 e Art. 2, n1.
(15)
Na Itlia o seu Cdigo de 1942 no reconhece
a tutela de um Direito Geral de Persona- lidade
mas reconhece o Direito Prpria Imagem
segundo o disposto do seu Art. 10.
(16)
Mas em
1947 a Constituio da Repblica Italiana de 27
de Dezembro veio reconhecer um conjunto de
direitos inviolveis do Homem como indivduo.
Perreau em 1909 em Frana na sua obra Les
Droits de la Personnalit afirmou o Direito
Primordial de Personalidade, o Direito
Individualidade, isto : o direito de exigir de
outrm o reconhecimento como individualidade
distinta de todas as outras individualidades.
(17)
III. Anlise Histrica do Direito Civil
Portugus no que diz respeito aos Direitos de
Personalidade e consequentemente o Direito
Imagem
Faremos agora uma pequena anlise histrica
ao Direito Civil Portugus no que diz respeito aos
direitos de Personalidade e consequentemente o
Direito Imagem.
Com o surgimento do Racionalismo e o
Iluminismo na poltica e sobretudo no
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
198
pensamento, e tambm com a expresso jurdica,
o Jusnaturalismo racionalista e o usus modernus
pandectorum tiveram a sua grande consagrao em
Portugal na Lei Pombalina de 18 de Agosto de
1769 conhecida como a Lei da Boa Razo, em
que esta Boa Razo consistiu nos primittivos
princpios, que contm verdades essencives,
intrinsecas e inalterveis, isto : recta ratio
Jusnaturalista.
(18)
Mas foi no reinado de D. Maria I com o
projecto de Reforma das Ordenaes Filipinas que
ficou conhecido por Novo Cdigo, que se
verificou uma alterao significativa das
mentalidades. Falando um pouco deste projecto,
em 31 de Maro de 1778 D. Maria I atravs de
um Decreto criou uma Junta de Ministros com
a finalidade de procederem reforma geral do
direito vigente.
(19)
Entretanto, Pascoal de Jos de Mello Freire dos
Reis foi nomeado membro dessa comisso e
responsvel pela elaborao do Livro II e em
seguida do Livro V relativos ao Direito Pblico
Privado-Administrativo e ao Direito Criminal.
(20)
A abordagem de Mello Freire destaca-se visto
que este anteps o estado das pessoas ou das
coisas afirmando a sua veia Jusnaturalista foi uma
inovao para poca mesmo que o projecto do
Novo Cdigo de Direito Pblico no tenha ido
para alm do projecto. Uma das razes para que
isto tenha acontecido foi a nomeao por Decreto
de 3 de Fevereiro de 1789
(21)
uma Junta de
Censura e Reviso, onde se integrava Antnio
Ribeiro dos Santos, que tinha opinies contrrias
s de Mello Freire, contestando assim o seu
Projecto de Cdigo do Direito Pblico.
(22)
Apesar destes factos, a sua obra Instituiciones
Juris Civilis foi adoptado como com compendio
nas lies de Direito Patrio por aviso Rgio de
7.5.1805, sendo assim este o Modelo da Cincia
Jurdica Portuguesa.
(23)
Com a elecuo das ideias do Liberalismo e do
Individualismo Crtico no incio do sc. XIX
surgiu o primeiro Sistema Liberal Portugus aps
a Revoluo de 24 de Agosto de 1820 com a
Constituio de 1822.
(24)
Mas logo a seguir
surgiu uma contra-revoluo em 1823 caindo-se
no Absolutismo aps Vila Francada D. Joo IV
em Decreto de 18 de Junho de 1823 afasta a
Constituio de 1822.
(25)
E em 1826, D. Pedro
outorga a Carta Constitucional.
Posteriormente com a Constituio de 1838
de 4 de Abril surgem contemplados os Direitos e
os Deveres individuais dos Portugueses no seu
ttulo I que nitidamente uma influncia da
Declarao dos Direitos do Homem e do cidado
nos seus Arts. 1 e 2: Os Homens nascem e so
livres e iguais em Direitos, a conservao dos
direitos naturais e imprescritveis do Homem.
(26)
Mas esta Constituio s vigorou at 10 de
Fevereiro de 1842, altura em que Costa Cabral
restaurou a Carta Constitucional de 1826.
(27)
O seu enunciado dos Direitos Fundamentais
o mais restrito de todas as Constituies Liberais
mas mesmo assim evolui em relao ao Sistema
Absolutista.
(28)
Verificamos assim que os novos princpios
Constitucionais Liberais tiveram insero bastante
lenta nas legislaes ordinrias.
(29)
Podemos
afirmar que com Coelho da Rocha (fez parte da
Comisso da Reviso Inicial do Projecto do
Cdigo Civil de Seabra) e a sua obra Instituies
de Direito Civil que influenciou os tribunais e o
ensino universitrio que se insere pela primeira
vez estes princpios liberais.
(30)
Ele afirma como
princpios, Direitos Naturais, o Direito
Liberdade Natural, do Direito de Defesa de Si
Mesmo, do Direito de Propriedade e o Direito
Igualdade e que existe a obrigao de indemnizar
o outro, pelo dano injusto que se lhe causou com
culpa. Insere a distino entre pessoas fsicas e
pessoas morais ou jurdicas.
(31)
Mas na segunda metade de Oitocentos que
surge em 1867 o primeiro Cdigo Civil
Portugus, mais conhecido por Cdigo de Seabra.
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
199
Falando agora um pouco mais sobre este
Cdigo, em 9 de Agosto de 1850 D. Maria II por
Decreto encarregou o Juz da Relao do Porto,
Antnio de Luiz de Seabra, a redigir o Projecto
do Cdigo Civil Portugus.
(32)
Tendo sido
promolgado por Carta de Lei de 1 de Julho de
1867, tendo o Cdigo entrando em vigor em 22
de Maro de 1868. Este Cdigo foi bastante
inovador uma vez que consagrou no Ttulo I do
Livro I Parte II dos Direitos Originais, que
derivavam da prpria natureza do Homem
incluindo o Direito de Existncia, o Direito ao
Bom Nome e repartiao do Direito Liberdade e
distingue os prejuzos que derivam da ofensa dos
Direitos Primitivos, aqueles que dizem respeito
personalidade fsica e os que eram referentes
personalidade moral.
(33)
Mais tarde com a queda da Monarquia em 5
de Outubro de 1910 e a consequente
intitucionalizao desta vitria do Partido
Republicano, pela Constituio de 21 de Agosto
de 1911, onde se consagra no Art. n 30 do
Ttulo II Dos Direitos e Garantias Individuais
garantindo aos Portugueses e estrangeiros
residentes no pas a indivi- dualidade dos Direitos
concorrentes liberdade e segurana e individual
e propriedade, de inspirao liberal. Prev
tambm o Direito Igualdade Legal, etc.
(34)
Depois com o 28 de Maio de 1926 surge a
Constituio de 11 de Abril de 1933 que tem um
carcter de compromisso dos Direitos e garantias
fundamentais liberais mas estes Direitos vo
desaparecendo medida que todos os partidos
polticos vo sendo banidos.
(35)
Mas se lermos com ateno o 2 do Art. n8
da Constituio de 1933, verificamos que as leis
que regulavam o exerccio da liberdade de
expresso do pensamento, do ensino, devendo
quanto liberdade de expresso impedir
preventivamente ou repressivamente. Logo, os
Direitos Originais ou Direitos de Personalidade
foram omitidos, no foram respeitados.
(36)
Com a publicao do Cdigo Civil de 1966,
rompeu-se como o pensamento Jusnaturalis- ta e
com as ideias liberais do Cdigo Seabra.(37)
Consagrando no seu Art. n 70 a tutela geral de
personalidade tendo o Direito Civil nos termos do
Art. n 483 Cdigo Civil como tambm pode-se
recorrer aos meios processuais previstos nos Art.
n 1474 e seguintes do Cdigo do Processo
Civil.(38) Afirmando tambm no n 1 do Art. n
71 os Direitos de Personalidade gozam
igualmente de proteco depois da morte do
respectivo titular.(39) Seguidamente regula
alguns direitos especiais de personalidade por
exemplo, o Direito ao Nome, Art. n 72, o Direito
Imagem que consta no Art. n 79. Podemos
afirmar que foi a primeira vez que se consagrou o
Direito Imagem no Ordenamento Jurdico
Portugus
.(40)
Segundo o autor Vaz Serra o Direito de exigir
de outrm o respeito da prpria personalidade, na
sua existncia e nas suas manifestaes. Este
direito refere-se inte- gridade corporal, sade,
liberdade ao nome, imagem, honra, vida
privada, nos limites da lei...
(41)
Logo, existe um Direito Geral de
Personalidade em que podemos destacar a
existncia de Direitos Especiais de Personalidade
com a sua autonomia e especificidade jurdica.
Que pressupe a personalidade fsica ou moral em
geral juridicamente tutelada. Logo, a sua
existncia pressupe a preponderao de um
Direito de Personalidade, no o esgotando.
Em consequncia do movimento militar que
originou o 25 de Abril de 1974, um periodo de
profundas modificaes e perturbaes socio-
poltico-econmicas surgiu a Constituio de
1976.
(42)
Que no que respeita aos Direitos de
Personalidade restaurou o ordenamento jurdico
no que toca ao desenvolvimento da pessoa
humana, alargou e constitucionalizou com uma
maior qualidade os Direitos de Personalidade e
refora a sua tutela jurdica
.(43)
Mas vai mais alm
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
200
no n1 do Art. n 16 e Art. n 17 que afirma que
tambm existem direitos em leis ordinrias ou em
normas internacionais e tambm podem existir
direitos previstos noutras partes da Constituio
que devem ser consideradas como
fundamentais.
(44)
Assim o Homem no considerado de forma
individualista mas contendo uma dimenso social
e colectivista abrangendo a sua natureza
evolucionista. Afirmamos assim que esta
Constituio no limita atravs das leis os Direitos
de Personalidade como fazia a Constituio de
1933 mas antes alarga-os, por exemplo: o Direito
Vida, o Direito Nova Constituio, Direito
Integridade, Direito ao Trabalho, Direito
liberdade de Reunio, como muitos outros.
(45)
Achamos pertinente referir que o Direito
Imagem no consta nesta Constituio de 1976
mas surgiu sim com a Reviso Constitucional de
1982 no seu Art. n 82.
(46)
Afirmamos assim que o Direito imagem
contou formalmente na Legislao Portuguesa
pela primeira vez com o Cdigo Civil de 1966 no
seu Art. n 79 e s com a Reviso Constitucional
de 1982 foi includo no Art. n 26 do
Constituio da Repblica Portuguesa.
IV. A Natureza Jurdica do Direito Imagem
No existe uma posio nica sobre esta
matria, variando a explicao da sua Nature- za
Jurdica conforme entendido o prprio Direito
Imagem. Sendo que a Doutrina Europeia entende
que o Direito Imagem um Direito
Fundamental de personalidade visto ser um
direito subjectivo, absoluto, geral,
extrapatrimonial, inato, perpectuo, intransmissvel,
relativamente indisponvel, obrigando a que todos
os sujeitos no prati- quem actos que ofendam ou
ameaem a personalidade alheia
.(47)
um Direito que se caracteriza pela sua
irrenunciabilidade, intransmissibilidade e
indisponibilidade. Ao definirem o Direito
Imagem como relativamente indisponvel e
intransmissvel querem com isto dizer que no se
pode confundir a faculdade de transmisso com a
a faculdade de disposio, visto a primeira ser
muito mais abrangente que a segunda, no assim
possvel a transferncia deste Direito para uma
terceira pessoa
.(48)
Repare-se que a violao acarretar uma
responsabilidade civil ou quem o violar fica sujeito
s providncias civis que tm como finalidade
evitar a ameaa ou que os efeitos da ofensa
cometida seja atenuada.
(49)
J para a Doutrina Americana o Direito
Imagem entendido como um Direito com
Natureza patrimonial. Isto , consideram que
um verdadeiro direito de propriedade.
(50)
Logo,
este protegido no seu interesse patrimonial que
deriva do Direito Prpria Imagem, o Direito de
Publicitar a Prpria Imagem, este pode ser
transmitido a um terceiro. Visto isto, a Imagem
entendida como um objecto imaterial em que se
retira o seu Direito de Propriedade sobre
mesma.
(51)
Podemos constatar que nos Estados Unidos da
Amrica a Natureza Jurdica do Direito Imagem
justificada como um Direito Patrimonial.
Enquanto que na Europa a sua Natureza Jurdica
advm de um Direito Fundamental de
Personalidade, alis como se verificou na anlise
feita anteriormente a alguns Cdigos Europeus.
(52)
V. A Distinta Concepo do Direito
Imagem, o seu Conceito e a sua Natureza
Jurdica nos Estados Unidos da Amrica e na
Europa.
Nos Estados Unidos da Amrica o Direito
Imagem entendido como o Direito Prpria
Imagem (Direito de se Publicitar) integra-se no
Direito Privacidade, este no reconhecido
constituicionalmente, contudo, a 4 Emenda
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
201
afirma o mesmo indirectamente ao referir que as
pessoas tm o direito sua segurana e que os
seus bens materiais no podem ser violados
devendo ser registados.
(53)
O autor americano Fue Prosser definiu quatro
tipos de ilcitos civis, instituindo assim uma nova
concepo do Direito Privacidade enquadrando-
o no quarto tipo de ilcito civil. que se refere aos
casos de apropriao relativos ao uso no
autorizado da imagem e do nome para fins
comerciais. Protege assim exclusivamente os
interesses patrimoniais que derivam do Direito
Prpria Imagem.
(54)
Logo, a sua Natureza Jurdica tem
caractersticas prprias de um Direito de
Propriedade apesar de incluir a proteco
conferida concorrncia desleal. A maioria da
Doutrina Americana entende que se trata de um
Direito de Propriedade que recai sobre um
objecto imaterial, dando o exemplo do que
acontece com os Direitos de Autor que esto em
constante conflito com o Direito Informao e
Liberdade de Expresso. Sendo uma figura que
no se enquadra com a proteco da esfera moral
mas sim com o Direito Privacidade
.(55)
No que respeita Europa, em contraposio
com os Estados Unidos da Amrica, o Direito
Imagem um Direito de Personalidade.
Pressupondo que a imagem de uma pessoa tem
que ser protegida como manifestao da sua
dignidade e deve ser respeitada e identificada por
todas as pessoas. um Direito Fundamental que
pertence a qualquer pessoa independentemente
da sua nacionalidade e da legislao do seu pas de
origem reconhecer o Direito Imagem.
(56)
Logo, entende-se que o interesse patrimonial e
comercial da imagem tem um valor secundrio.
Recentemente tem-se verificado uma mudana.
Os tribunais tm afirmado que o interesse
comercial da imagem legtimo e inteiramente
legal.
(57)
A principal razo para que isto acontea o
facto de terceiros utilizarem a imagem de uma
pessoa que lcito quando no ultrapassa a
fronteiro da intimidade e no causa prejuzo para
a sua reputao
.(58)
Com o crescimento das necessidades
mercantis tem-se verificado que a Doutrina e
Jurisprudncia Europeia tm-se vindo a
aproximar da posio jurdica dos Estados Unidos
da Amrica mesmo tendo em conta os opostos
dogmticos.
(59)
Uma vez que a Europa d
prevalncia concepo personalista do Direito
de Imagem, o interesse comercial no consegue
crescer dentro dos padres de Direito estando
apenas contidos no mbito de proteco: a voz, o
nome, a imagem e as caractersticas fsicas
reconhecveis da pessoa.
(60)
Contrariamente ao conceito do Direito
Publicidade afirmada nos Estados Unidos da
Amrica, em que o contedo da proteco
bastante abrangente, no consagrando os
elementos identificadores pessoais mas sim os
que tm valor patrimonial.
(61)
Para uma parte da Doutrina a Jurisprudncia,
apenas tm direito a proteco as pessoas que
tenham adquirido notoriedade na sociedade.
(62)
Em oposio a esta ideia surge a tendncia de
considerar que o acto de ser famoso no
definitivo para estar sujeito ao Direito
Publicidade, uma vez que se algum usar de modo
no comercial a imagem de outrem o direito de
valor comercial no aplicado.
(63)
a) Ser que existe um Direito unitrio sobre
esta matria?
Podemos afirmar que no Direito Europeu
relativamente ao Direito Imagem no existe
uma uniformizao. Nos vinte e cinco pases
pertencentes Unio Europeia cada um deles
tem a sua regulao interna, mostrando-se difcil
num tempo prximo uma aplicao unitria
sobre esta matria.
(64)
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
202
Sendo de que de notar que em alguns pases
se retira uma semelhana no que respeita
Natureza Jurdica do Direito Imagem como
vimos atrs em relao afirmao de que se
trata de um Direito Fundamental de
Personalidade intransmissvel.
VI. Anlise do Ordenamento Jurdico
Espanhol versus Ordenamento Jurdico
Portugus no que se refere ao Direito
Imagem.
a) Natureza Jurdica
Podemos afirmar que os Direitos Imagem
esto regulados na Constituio Espanhola de 27
de Dezembro de 1978 no disposto do Art. 18.1:
Es garantiza el Derecho al Honor, a la Intimidade
pessoal com familiar, com a la propria Imagem.
(65)
Considerando assim que o Direito Imagem
um Direito Fundamental que se define como um
direito subjectivo que garante aos indivduos um
estatuto jurdico de liberdade no seu mbito de
existncia.
(66)
caracterizado segundo o autor LaCruz
Berdejo como um Direito de Personalidade.
(67)
O Direito Imagem funciona como um limite
a outro Direito Fundamental previsto na
Costituio Espanhola, o Direito Liberdade de
Expresso consagrado no seu Art. n 20.
(68)
Apesar de a Lei Orgnica 1/1982 referir o
Direito Honra, Intimidade e Prpria Imagem
como um nico Direito, actualmente so
entendidos como trs Direitos distintos, tendo em
comum a finalidade de proteco de interesses
pessoais e privados do indivduo.
(69)
A referida Lei no define o conceito e o objecto
destes Direitos apenas os caracteriza dizendo que
so irrenunciveis e imprescritveis no seu Art. n 1
e que so delimitados pelas Leis, pelos usos sociais
e pelos prprios actos que cada pessoa reserva para
si mesma e sua familia.(70)
Uma vez que este trabalho visa analisar o
Direito Imagem podemos dizer que no
Ordenamento Espanhol s se consegue definir este
Direito atravs da Jurisprudncia.(71) Tomemos
como exemplo a deciso do Supremo Tribunal em
Sentena de 19 de Outubro de 1982 que define a
imagem como a figura representativa semelhana
ou aparncia de uma coisa tendo esta proteco
civil nos termos da Lei Orgnica de 5 de Maio de
1982, em sentido jurdico a faculdade do
interessado difundir ou publicar a sua prpria
imagem tendo o direito de evitar a sua
reproduo.
(72)
No Ordenamento Jurdico Portugus
indiscutvel que o Direito Imagem um Direito
Fundamental de Personalidade visto estar regulado
formalmente no n 1 do Art. n 26 do
Constituio da Repblica Portuguesa: A todos
so reconhecidos os Direitos Identidade pessoal,
ao desenvolvimento da personalidade, capacidade
civil, cidadania, ao bom nome e reputao,
imagem, palavra, reserva da intimidade da vida
privada e familiar e proteco legal contra
quaisquer formas de discriminao e no Art. n 79
do Cdigo Civil Como exemplo podemos referir o
Acrdo do Tribunal de vora de 24.02.05 que
afirmou que o Direito Imagem um Direito
Fundamental da Personalidade caracterizado pela
sua irrenunciabilidade, intransmissibilidade e
indisponibilidade
(73)
Logo, a Lei Portuguesa apenas admite o carcter
pessoal do Direito Imagem, isto , o seu titular
pode conservar a sua intimidade perante a
interposio de terceiros.
Voltando Doutrina e Jurisprudncia
Espanhola, esta considera que o Direito Ima-
gem tem duas componentes: uma positiva outra
negativa. Isto acontece porque o Direito Imagem
comeou a ser explorado comercialmente.
A corrente negativa diz respeito ao facto que
permite ao seu titular conservar a sua intimidade
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
203
perante a intromisso de terceiros inclundo o uso
da sua imagem associada a produtos ou servios.
Tendo, tambm, uma componente positiva que
compreende um carcter inteiramente patrimonial,
ou seja, permite a explorao econmica da
mesma.
(74)
Como exemplo, a sentena do Supremo
Tribunal Espanhol de 30 de Janeiro de 1998 em
que Xavier OCalaghan afirmou que o Direito
Prpria Imagem tem duas componen- tes, uma
pessoal e a outra patrimonial. O Tribunal
Constitucional Espanhol na sentena de 25 de
Abril de 1994 veio afirmar a componente
comercial do Direito Imagem.
(75)
Mas a Constituio Espanhola s protege de
forma expressa a esfera negativa dos Direitos
Imagem, pelo que o mbito positivo de explorao
econmica um Direito de segunda gerao
derivada da anterior.
(76)
Em Portugal, tendo como exemplo o Acrdo
do Tribunal da Relao de Coimbra de
21.05.2005, o titular do Direito Imagem no
pode ced-lo para a sua explorao visto ser um
Direito de Personalidade, no pode ser cedido,
alienado a favor de outrem. Sendo tambm de
referir, que o Supremo Tribunal Judicial, no
Acrdo 8.11.2001, decidiu que qualquer negcio
que tenha por objectivo a cedncia genrica por
algum, designadamente um jogador de futebol do
seu Direito Imagem, ilegal.
(77)
b) Consentimento para o uso do Direito
Imagem.
No que diz respeito natureza jurdica do
consentimento, este pode consistir numa
autorizao pontual, destinada ao uso dos Direitos
de Imagem quando se permite exclu- sivamente
um uso especfico desses mesmos direitos a
terceiros.
(78)
Pode tambm consistir numa cedncia dos
Direitos de Imagem em que se permite autorizar a
gesto bastante alargada destes Direitos.(79)
Na opinio do autor Jos Miguel Rodriguez
Tapia pode-se permitir intromisses pontuais na
esfera privada mas sem fins de explorao.
(80)
Em Espanha a Lei Orgnica 1/1982 no seu Art.
2.2 diz que o titular do Direito Prpria Imagem
na sua componente positiva, pode consistir na
utilizao da sua imagem, mas tem de ser de forma
expressa e susceptvel de renogao a qualquer
momento.
(81)
No Art. n 2.3 da mesma Lei toda a
pessoa fsica pode revogar o seu consentimento
para utilizao da sua imagem caso contrrio tem o
direito a ser indemnizado por danos e prejuzos.
(82)
Logo, esta revogao tem como razo de
existncia o facto do Direito Imagem ser um
Direito Fundamental de Personalidade.
Mas segundo o Art. n 8 da Lei referida existem
situaes em que no necessrio consentimento.
A regra o Art. n 2.2da Lei Orgnica 1/1982 mas
o Art. n 8 que tem que ser interpretado,
respectivamente da mesma Lei, refere algumas
excepes a esta regra.
(83)
Este artigo muito similar ao Art. n 79, n2 do
Cdigo Civil Portugus, que consagra: no
necessrio o consentimento da pessoa retratada
quando assim o justiquem a sua notoriedade, o
cargo que desempenha, a exigncia poltica ou de
justia, finalidades cientficas, didcticas ou
culturais, ou quando a reproduo da imagem vier
enquadrada na de lugares pblicos ou na de faxtos
de interesse pblico ou que hajam decorrido
publicamente. O n 1, primeira parte do mesmo
artigo afirma que o retrato de uma pessoa no
pode ser exposto, reproduzido ou lanado no
comrcio sem o consentimento dela, muito
similar ao Art. 2.2 da Lei Orgnica 1/1982.
c) Durao dos Direitos de Imagem.
No que se refere durao dos Direitos de
Imagem podemos afirmar que em Espanha a Lei
Orgnica 1/1982 no seu Art. 1.3 diz que o Direito
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
204
Imagem um Direito irrenuncivel, inaleanvel e
imprescritvel. Logo, parece dizer que a sua
durao ilimitada.
(84)
Mas de acordo com o Art.
n 10 da mesma Lei o Direito Imagem no
susceptvel de transmisso mortis causa. Isto , os
Direitos de Imagem extinguem-se com o faleci-
mento da pessoa fsica a quem pertence a
imagem.
(85)
Mas apesar disso sempre possvel a defesa do
Direito Honra e intimidade da pessoa falecida e
seus familiares.
(86)
J no que diz respeito componente
patrimonial segundo o Supremo Tribunal, os
efeitos dos actos patrimoniais pela pessoa no que
diz respeito sua imagem podem sobreviver ao
seu falecimento; logo, possvel realizar novos
actos patrimoniais sobre a imagem da pessoa j
falecida.
(87)
Em Portugal, segundo a parte final do n 1 do
Art. n 79 do Cdigo Civil depois da morte da
pessoa retratada a autorizao compete s pessoas
designadas no n 2 do Art. n 71 do Cdigo Civil e
segundo a ordem nele indicada. Logo, de acordo
com o Art. n 71, sendo o Direito Imagem um
Direito Personalidade, goza de proteco depois
da morte do respectivo titular.
d) Relao Contratual entre desportistas e as
entidades empregadoras. Direitos de Imagem
Colectivos versus Direitos de Imagem
Indivduais.
Para se efectuar um contrato desportivo com a
proteco jurdica, o desportista ter de ser
considerado profissional, pois no caso dos
desportistas amadores no se consagram pelos
mesmos padres porque a sua vida profissional no
depende exclusivamente da sua actuao/prestao
pblica.
(88)
Segundo o Real Decreto 1006/1985 Art. 1.2
so desportistas profissionais aqueles que em
virtude de uma relao establecida com carcter
regular se dediquem voluntaria- mente prtica do
Desporto por conta e dentro do mbito da
organizao e direco do clube ou entidade
desportiva em troca de uma retribuio.
(89)
Em Portugal, segundo o Decreto de Lei n 3
05/85 de 18 de Novembro, quem celebra um
contrato de trabalho desportivo um profissional,
prestando a sua actividade em contrapartida de
uma retribuio, quer essa profisso seja exercida a
ttulo exclusvo ou secundrio.
(90)
Em Espanha, o Tribunal Econmico-
Administrativo Central (TEAC) na resoluo de
15 de Dezembro de 1999, afirmou que a cedncia
de imagem a um clube resulta de um contrato de
trabalho como resulta tambm da natureza do
prprio trabalho (desporto e espectculo).
(91)
Logo, quando um jogador comea a jogar num
determinado clube, a este clube que pertence os
direitos de imagem do jogador mas apenas em
relao imagem colectiva desse desportista e no
individual como acontece em Portugal, Decreto
de Lei 305/95 de 18 de Novembro no Art. 10 n
2 em que afirma ressalvando o Direito ao uso de
Imagem do colectivo dos participantes por parte da
respectiva entidade empregadora.
(92)
Logo, o
contrato de trabalho desportivo vincula o atleta a
prestar uma actividade despor- tiva sob a
autoridade e direco da entidade empregadora
mas o direito utilizao comercial da sua imagem
pertence ao praticante uma vez que a lei faz uma
distino entre a imagem individual do atleta. Isto
, o Direito Imagem individual do atleta e a
imagem do atleta no colectivo e aqui a lei diz que
quem tem o direito ao uso da imagem do colectivo
a entidade empregadora.
(93)
Logo, podemos afirmar que o Direito Imagem
do desportista no uma componente salarial
uma troca da prtica da sua actividade desportiva,
mas aqui est em causa o Direito Imagem
individual uma vez que no que respeita ao Direito
Imagem colectiva,a entidade empregadora que
tem o direito ao uso da imagem do atleta no
colectivo.
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
205
Na minha opinio sendo que, o clube tem o
direito ao uso da imagem colectiva do atleta, logo
este tem que estar integrado no salrio visto que o
Direito de Imagem no poder ser transmitido a
terceiros. Podemos at dar um exemplo de grandes
jogadores de futebol em que at imagens dos
cromos com a camisola do clube so discutidas ao
milmetro.
e) As principais caractersticas dos contratos
sobre os Direitos de Imagem na Europa.
Actualmente possvel existir um contrato pelo
qual uma pessoa autoriza o uso da sua imagem
mas como um acto singular de autorizao,
relativamente amplo mas limitado quer no tempo
de durao, quer no seu objectivo. Tendo a
possibilidade de revogar a qualquer momento a sua
autorizao sem que o tenha de justificar
antecipadamente.
(94)
Assim a pessoa consegue controlar o modo
como a sua imagem usada e outros aspectos da
sua personalidade que so cedidos a terceiros e
tambm o modo da sua explorao. Na Europa
Continental esta figura existe mesmo que o
Direito Imagem seja definido como um Direito
Constitucional e personalssimo. Isto porque a
cedncia contratual no se refere ao direito em si,
irrenuncivel pessoal, o que se permite apenas
que o seu titular disponha de forma parcial desse
direito. Isto , apenas autoriza o uso da sua imagem
durante um tempo pr-determinado.
(95)
Mas a Doutrina Europeia entende que nestes
casos no se pode falar de um contrato de cedncia
do Direito Imagem mas trata-se antes de uma
mera autorizao. Logo, o consentimento funciona
como um Direito essencial para que o titular possa
limitar o uso sa sua imagem particular.
(96)
VII. O Direito Imagem no cenrio Jurdico
Brasileiro.
Depois da anlise das diferentes concepes
entre os Estados Unidos da Amrica e a Europa
sobre os Direitos de Imagem e o exemplo de
Ordenamento Jurdico Espanhol e Portugus
necessrio fazer uma pequena referncia ao regime
adoptado pelo Ordena- mento Jurdico Brasileiro.
O Direito Imagem est consagrado no Art. n
5, X da Constituio Federal Brasileira. definido
como um direito personalssimo, absoluto,
indisponvel, indissocivel e imprescritvel.
(97)
Apesar da Constituio definir o Direito
Imagem como um direito indisponvel, o direito ao
uso da imagem no o , este pode ser cedido
mediante um contrato de licena de uso da
imagem.
(98)
Esta expresso, contrato de licena de uso da
imagem a considerada a mais adequada uma vez
que no se trata de um contrato de cedncia de
imagem ou mesmo um contrato de imagem como
usado muitas vezes incorrectamente.
(99)
Visto que atravs deste contrato o que se
transmite simplesmente a licena para o
exerccio do Direito Explorao de Imagem, isto
, a possibilidade de poder usar a imagem mas no
o Direito Imagem em si, este
intransmissvel.
(100)
Muitas vezes verifica-se que o contrato de
licena de uso de imagem tem um valor bastante
elevado em relao ao salrio do atleta, aqui
podemos afirmar que muitas vezes usado para
pagar osalrio do jogador sem os respectivos
encargos trabalhistas.
(101)
Existe tambm no
Direito Brasileiro uma figura em contraposio
com o Direito Imagem que o chamado de
Direito de Arena, previsto no Art. 5, XXIII da
Constituio Federal Brasileira de 1988 e vem
regulado no Art. n 42 da Lei 9.615/98, conhecida
pela Lei Pel.
(102)
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
206
A Lei tendo em conta as particulariedades do
espectculo desportivo, afirma que o direito de
negociao, transmisso e retransmisso das
imagens do espectculo desportivo pertence
entidade a que o atleta est vinculado e prtica da
actividade desportiva
.(103)
Mas segundo o Art. n
42 da Lei 9.615/98 existe uma restrio em
relao explorao da imagem do atleta fora doos
campos de prtica desportiva que deve ser
regulado por um contrato de licena de uso de
imagem.
(104)
Podemos concluir que a Legislao Brasileira
sobre os Direitos de Imagem define- os como
Direitos Fundamentais de Personalidade em
concordncia com a Doutrina Europeia.
VIII. Reflexes Finais.
Depois de tudo o que li sobre esta matria sou
da opinio o Direito Imagem uma Direito
Fundamenta de Personalidade e que s devia ser
permitido o contrato de licena de uso da imagem.
Uma vez que o Direito Imagem um direito
personalssimo e intransmissvel, o seu titular
apenas pode atribuir uma licena para o uso da sua
imagem. Enquanto que quando se diz que uma
autorizao de uso do Direito Imagem muito
mais abrangente. Logo, no possvel.
Mas uma vez que o Direito tem que
acompanhar a realidade (a sua evoluo)
indiscutvel que o Direito Imagem tem na sua
origem um Direito Fundamental de Personalidade
mas no podemos negar que o Direito Imagem
sofreu uma mutao na sua natureza conceptual,
uma vez que tambm comeou a ter caractersticas
de um Direito Patrimonial, por exemplo, uma
pessoa pode registar a sua marca e tambm quando
uma empresa utiliza em exclusvo a imagem de
um determinado jogador para as suas campanhas
publicitrias, na minha opino opera-se a uma
verdadeira transmisso do Direito Imagem
individual do jogador. Afirmo assim que um
Direito Mitigado em que nasce como um Direito
Fundamental de Personalidade e que por causas
econmi- cas e outras comeou a tornar-se num
verdadeiro Direito Patrimonial. Logo, na Europa,
comea-se a ter esta perspectiva principalmente
por razes comercias. Logo, o Direito Europeu tem
que acompanhar a realidade.
Esta mutao deriva da multiplicidade de
personalidades famosas em que os media exploram
ao mximo a sua imagem e o Direito Imagem
comeou a ter um carcter comercial. Isto deveu-
se principalmete s aces das prprias pessoas que
no conseguiram distinguir o que era o seu Direito
Imagem e que ningum pode viol-lo sem a sua
autorizao, e comearam a explor-lo e de certa
forma a transmiti-lo.
Em relao ao facto de uma pessoa que no se
considera como famosa sou da opinio que tem o
direito a uma indemnizao maior quando o seu
Direito Imagme violado do que quando se trata
de uma pessoa famosa porque esta uma pessoa
pblica e est sujeita a esta exposio social.
No que diz respeito aos Direitos de Imagem
colectivos e os Direitos de Imagem individuais,
afirmo que o atleta principalmente tem que estar
protegido uma vez que ele a parte mais fraca,
logo os seus Direitos Individuais tem que ter uma
maior salvaguarda. Mas h situaes em que, por
exemplo, os jogadores externamente prtica
desportiva podem ter determinadas atitudes que
pe em causa a imagem do prprio clube e aqui
sou da opinio que o jogador em que ser
responsabilizado nestas situaes.
Mas deixo uma questo no ar. Ser que em
relao ao desportista profissional, quando este
sendo um atleta bem sucedido financeiramente mas
comea a envelhecer, ser que nesta situao, quem
usa a marca no ser o prprio atleta para promover
a sua imagem?
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
207
Afirmando-me como apreciadora do
espectculo desportivo, considero que o facto de os
media controlarem cada vez mais o desporto, tm
denegrido o desporto na sua essncia. Sendo que o
desporto um espectculo, est cada vez mais
controlado pelo poder econmico e que o prprio
Direito Imagem, teve aqui a sua preponderncia
no que respeita ao atleta profissional, quando este
comeou a ser usado comercialmente.
Bibliografia
_Mrio Jlio de Almeida Costa, Histria do
Direito Portugus, Almedina Editora, 1989.
_Jos Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos
Fundamentais na Constituio Portuguesa de
1976, Almedina, 1987.
_Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978
A Constituio e os Direitos de Personalidade
por Rabindranath Capelo de Sousa, Livraria
Pethony, Lisboa.
_Carolina Pina, Visin comparativa de la
proteccin de Los Derechos de Imagem en
Europa y en Estados Unidos ,Revista Jurdica de
deporte y Entretenimento Ano 2005 2
nmero 14.
_ Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y
Derechos Audiovisuales en le deporte
profissional, Revista Jurdica del Deporte
2004 2 nmero 12.
_Joo Leal Amado, Contrato de Trabalho
Desportivo Anotado, Decreto de Lei n
305/95, de 18 de Novembro, Coimbra Editora,
195.
_www.dgsi.pt
_http://www.padilla.adv.br/desportivo/personal
idade.htm
_______________
(1 e 2)
http://www.padilla.adv.br/desportivo/personalidade.htm
(pg.2).
(3) Mrio Jlio de Almeida Costa, Histria do Direito
Portugus, Almedina Editora, 1989, (pg. 345).
(4) http://www.padilla.adv.br/desportivo/personalidade.htm
(pg.2).
(5) Jos Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais
na Constituio Portuguesa de 1976, Almedina, 1987. (pg. 43)
(6 e 7) Jos Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos
Fundamentais na Constituio Portuguesa de 1976, Almedina,
1987. (pg. 47).
(8 e 9) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 101).
(10) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 102)
(11) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 102 e 103).
(12) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 104).
(13) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 104 e 105).
(14) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 105 e 106).
(15) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 106 e 107).
(16) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 108).
(17) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 109).
(18) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 119).
(19) Mrio Jlio de Almeida Costa, Histria do Direito
Portugus, Almedina Editora, 1989, (pg. 373).
(20 e 21) Mrio Jlio de Almeida Costa, Histria do Direito
Portugus, Almedina Editora, 1989, (pg. 374). (22) Estudos sobre
a Constituio Vol. II 1978 A Constituio e os Direitos de
Personalidade por Rabindranath Capelo de Sousa, Livraria
Pethony, Lisboa. (pg. 123).
(23) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 125 e 126).
(24) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 126 e 128).
(25) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 128).
(26) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 128 e 129).
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
208
(27) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 130).
(28) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 131 e 132).
(29) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 133).
(30) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 135 e 136).
(31) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 135 e 136).
(32) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 137).
(33) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 143 149).
(34) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 150 152).
(35) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 153 e 155).
(36) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 154).
(37) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 156).
(38 e 39) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 157).
(40) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 157 e 158).
(41) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 163).
(42) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 178 e 180).
(43) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 180 e 181).
(44) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 193).
(45) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 182 e 183).
(46) Jos Carlos Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais
na Constituio Portuguesa de 1976, Almedina, 1987. (pg. 88).
(47) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 94 e 99).
(48) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 97).
(49) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 99).
(50 e 51) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin
de Los Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos
Revista Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2
nmero 14. (pg 540).
(52 55) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin
de Los Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos
Revista Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2
nmero 14. (pg 540).
(56) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin de Los
Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos Revista
Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2 nmero 14.
(pg 540 e 541)
(57 e 58) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin
de Los Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos
Revista Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2
nmero 14. (pg 541)
(59 61) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin
de Los Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos
Revista Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2
nmero 14. (pg 541).
(62 e 63) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin
de Los Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos
Revista Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2
nmero 14. (pg 542).
(64 66) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 278).
(67) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 279).
(68 70) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 279).
(71) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 280).
(72)_www.dgsi.pt
(73) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 280).
(74) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 281).
(75) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 283).
(76)_ www.dgsi.pt
(77) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 282).
(78 81) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 283).
(82) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 286).
(83) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 283).
(84 85) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
O Direito de Imagem do Desportista Profissional
209
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 281).
(86) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 282).
(87 e 88) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 289).
(89) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 17).
(90) Nerea SanJuan, Derechos de Imagem y Derechos
Audiovisuales en le deporte profissional, Revista Jurdica del
Deporte 2004 2 nmero 12. (pg. 290).
(91) Joo Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo
Anotado, Decreto de Lei n 305/95, de 18 de Novembro, Coimbra
Editora, 195. (pg. 40).
(92) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 41).
(93) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin de Los
Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos Revista
Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2 nmero 14.
(pg 511).
(94) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin de Los
Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos Revista
Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2 nmero 14.
(pg 545).
(95) Carolina Pina, Visin comparativa de la proteccin de Los
Derechos de Imagem en Europa y en Estados Unidos Revista
Jurdica de deporte y Entretenimento Ano 2005 2 nmero 14.
(pg 546).
(96 100) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 6).
(101 e 102) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos de Personalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 7).
(103 e 104) Estudos sobre a Constituio Vol. II 1978 A
Constituio e os Direitos dePersonalidade por Rabindranath
Capelo de Sousa, Livraria Pethony, Lisboa. (pg. 7).
A AUTORA
A Autora Andrea Susana Linhas Lopes da Silva
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade Catlica Portuguesa - Porto. (Trmino
da Licenciatura: 13 de Julho 2006).
Frequentou a primeira parte do Mestrado em
Direito na mesma Universidade com a mdia de
14,2 valores(2008/2009)
Formao complementar: Curso Intensivo de
Alemo - EF (Munchen)
Inscrita na Ordem dos Advogados como Advogada
desde 19/02/2013.
Prestou servios do foro jurdico nos Servios
Municipalizados de gua e Saneamento da Maia,
desde 1 de Maro de 2008 at 25 de Maro de
2009, na funo de Jurista tendo efectuado vrios
pareceres interpretaes legais, principalmente na
rea de Direito Administrativo, Direito do Trabalho,
na Administrao Pblica e Legislao diversa da
Administrao Pblica.
Actividades extra-curriculares: Seminrio de
Direito de Processo Penal Temas da Reforma Penal,
Universidade Catlica Portuguesa, Escola de Direito
do Porto. (Fevereiro/Maro 2008), conferncias e
vrios Cursos organizados pela Ordem dos
Advogados e por outras instituies ligadas ao
Direito.
ANDREA SUSANA LINHAS LOPES DA SILVA O Direito de Imagem do Desportista Profissional
210
Data enia
Revista Jurdica Digital
ISSN 2182-6242 | Semestral | Gratuito
Ano 1 N. 02 Janeiro-Junho 2013
Potrebbero piacerti anche
- A. Das Utopias Às Heterotopias No Território EscolaDocumento11 pagineA. Das Utopias Às Heterotopias No Território EscolamallaguerraNessuna valutazione finora
- Entre Deleuze e CandombléDocumento21 pagineEntre Deleuze e CandombléJulia Guimarães BarbosaNessuna valutazione finora
- A Arte Nas Armadilhas Dos Direitos AutoraisDocumento322 pagineA Arte Nas Armadilhas Dos Direitos AutoraismallaguerraNessuna valutazione finora
- Desdobras DeleuzianasDocumento7 pagineDesdobras DeleuzianasmallaguerraNessuna valutazione finora
- BROCHURA PlanejamentoDocumento83 pagineBROCHURA PlanejamentomallaguerraNessuna valutazione finora
- A Cidade Como Civilização e Não Como UtopiaDocumento3 pagineA Cidade Como Civilização e Não Como UtopiamallaguerraNessuna valutazione finora
- A Problematica Da Investigação Do CibercrimeDocumento28 pagineA Problematica Da Investigação Do Cibercrimeamrco44Nessuna valutazione finora
- Co Corpo-Imagem Ao Corpo-DevirDocumento22 pagineCo Corpo-Imagem Ao Corpo-DevirmallaguerraNessuna valutazione finora
- 16.2. Ressignificacao Do Pensamento 21Documento15 pagine16.2. Ressignificacao Do Pensamento 21mallaguerraNessuna valutazione finora
- 10 A Estética Da PercepçãoDocumento11 pagine10 A Estética Da PercepçãomallaguerraNessuna valutazione finora
- AvatarDocumento8 pagineAvatarmallaguerraNessuna valutazione finora
- 5 TiagoSouzaMachadoCasadoDocumento12 pagine5 TiagoSouzaMachadoCasadoPaulo FernandesNessuna valutazione finora
- COSTA - Microterritorialidades Na Cidade - Homoerotismo e HomossexualidadeDocumento15 pagineCOSTA - Microterritorialidades Na Cidade - Homoerotismo e HomossexualidadeThiago OliveiraNessuna valutazione finora
- Charles Baudelaire - Contemporâneo Do Passado, Do Presente e Do Futuro - Eduardo AlmeidaDocumento12 pagineCharles Baudelaire - Contemporâneo Do Passado, Do Presente e Do Futuro - Eduardo AlmeidaEduardo A. A. AlmeidaNessuna valutazione finora
- Consideracoes Sobre A DefinicaoVII Da ParteI Da EticaDocumento22 pagineConsideracoes Sobre A DefinicaoVII Da ParteI Da EticamallaguerraNessuna valutazione finora
- Cartilha AcoresDocumento22 pagineCartilha AcoresmallaguerraNessuna valutazione finora
- 17.1. RANCIERE A Poesia e o Banal Nos Modos de FazerDocumento20 pagine17.1. RANCIERE A Poesia e o Banal Nos Modos de FazermallaguerraNessuna valutazione finora
- 31 - Deleuze ArteDocumento246 pagine31 - Deleuze ArtemallaguerraNessuna valutazione finora
- Consideracoes Sobre A DefinicaoVII Da ParteI Da EticaDocumento22 pagineConsideracoes Sobre A DefinicaoVII Da ParteI Da EticamallaguerraNessuna valutazione finora
- Peter Sloterdijk. A Novela Dos EspaçosDocumento21 paginePeter Sloterdijk. A Novela Dos EspaçosmallaguerraNessuna valutazione finora
- Contra o Teatro de TesesDocumento10 pagineContra o Teatro de TesesmallaguerraNessuna valutazione finora
- Aprendencias NomadesDocumento15 pagineAprendencias NomadesmallaguerraNessuna valutazione finora
- Arte e Filosofia Como Disciplinas Das MultiplicidadesDocumento4 pagineArte e Filosofia Como Disciplinas Das MultiplicidadesmallaguerraNessuna valutazione finora
- A Cincia e o EsquecimentoDocumento5 pagineA Cincia e o EsquecimentomallaguerraNessuna valutazione finora
- Doc16 Art5Documento26 pagineDoc16 Art5mallaguerraNessuna valutazione finora
- Jean-Luc Nancy & Jacques RancièreDocumento22 pagineJean-Luc Nancy & Jacques Rancièremallaguerra100% (1)
- +++desdobrando A Teoria Ator-Rede - Zuleika Köhler GonzalesDocumento16 pagine+++desdobrando A Teoria Ator-Rede - Zuleika Köhler GonzalesThomas SamohtNessuna valutazione finora
- Aprendencias NomadesDocumento15 pagineAprendencias NomadesmallaguerraNessuna valutazione finora
- Cadernos Espinosianos DeleuzeDocumento9 pagineCadernos Espinosianos DeleuzemallaguerraNessuna valutazione finora
- Virtudes CardeaisDocumento8 pagineVirtudes CardeaisEDSON RODRIGUESNessuna valutazione finora
- Justiça Nega Pedido de DóriaDocumento7 pagineJustiça Nega Pedido de DóriaMetropolesNessuna valutazione finora
- Reforma AdministrativaDocumento2 pagineReforma Administrativaarlindo.fra100% (1)
- Dir Obrigações - Pablo StolzeDocumento29 pagineDir Obrigações - Pablo StolzeYara FhyamaNessuna valutazione finora
- Acórdão - Re 580.252 PDFDocumento212 pagineAcórdão - Re 580.252 PDFVictor BuritiNessuna valutazione finora
- Questionário Completo Teoria Geral Das Obrigações para B-02Documento12 pagineQuestionário Completo Teoria Geral Das Obrigações para B-02Marcos SoaresNessuna valutazione finora
- Prerrogativas e Garantias Dos Defensores Públicos Relacionadas Com o Processo)Documento25 paginePrerrogativas e Garantias Dos Defensores Públicos Relacionadas Com o Processo)Vitor Bittencourt HeitnerNessuna valutazione finora
- Aulas TJMADocumento26 pagineAulas TJMAClóvisDiazJr.Nessuna valutazione finora
- Agravo em ExecuçãoDocumento5 pagineAgravo em ExecuçãoAndreia Vitorino Dias BrantNessuna valutazione finora
- Representação CriminalDocumento139 pagineRepresentação CriminalCésar Augusto Venâncio da Silva100% (1)
- Tese 12447 Marcelo RosadoDocumento383 pagineTese 12447 Marcelo RosadoclovisjrsNessuna valutazione finora
- Improbidade Administrativa - Resumo EsquematizadoDocumento14 pagineImprobidade Administrativa - Resumo EsquematizadoAlecsandro RamosNessuna valutazione finora
- Contrato de Prestacao de Servicos Profissionais - Responsavel Tecnico Pela Empresa - Crea 2019Documento2 pagineContrato de Prestacao de Servicos Profissionais - Responsavel Tecnico Pela Empresa - Crea 2019Giani Rotta TellesNessuna valutazione finora
- Questoes Homicidio DIREITO NET Com GabaritoDocumento10 pagineQuestoes Homicidio DIREITO NET Com GabaritoJoao AlvesNessuna valutazione finora
- Caso Bancoop Recreio X Oas 2019Documento6 pagineCaso Bancoop Recreio X Oas 2019Caso BancoopNessuna valutazione finora
- MS - Tributário - Darlan BarrosoDocumento8 pagineMS - Tributário - Darlan BarrosoLauro DiasNessuna valutazione finora
- Contrato de DoaçãoDocumento5 pagineContrato de DoaçãoRoberto DiasNessuna valutazione finora
- Sistemas HibridosDocumento8 pagineSistemas HibridosTMac Ps100% (2)
- Dto InternacionalDocumento11 pagineDto InternacionalJéssica RobertoNessuna valutazione finora
- Unip EadDocumento17 pagineUnip Eaddiegommachado20Nessuna valutazione finora
- Sistemas Processuais PenaisDocumento4 pagineSistemas Processuais PenaisRodrigo ZinkNessuna valutazione finora
- Pedido para Expedicao Da Carta de Arrematacao e Imissao Na PosseDocumento4 paginePedido para Expedicao Da Carta de Arrematacao e Imissao Na PosseFabio LavandosckiNessuna valutazione finora
- Questões de Provas - Direito Das Coisas - 1Documento6 pagineQuestões de Provas - Direito Das Coisas - 1Livio Sousa100% (1)
- Soft e Hard Law DipDocumento5 pagineSoft e Hard Law DipGiuliana Martins0% (1)
- Excecao de PreexecutividadeDocumento4.201 pagineExcecao de PreexecutividadeNelsonkratschNessuna valutazione finora
- Capítulo III - Da Periclitação Da Vida e Da SaúdeDocumento5 pagineCapítulo III - Da Periclitação Da Vida e Da SaúdeHellen Alves FerreiraNessuna valutazione finora
- 10.12 Contestação de Ação de Despejo Por Falta de PagamentoDocumento4 pagine10.12 Contestação de Ação de Despejo Por Falta de Pagamentoviviane.alvesNessuna valutazione finora
- Modelo - Embargos Infringentes Ou de NulidadeDocumento3 pagineModelo - Embargos Infringentes Ou de NulidadeRoniellyson AlvesNessuna valutazione finora
- Antonio Francisco de Andrade para Uso ProprioDocumento8 pagineAntonio Francisco de Andrade para Uso ProprioAnonymous T1R768f6aNessuna valutazione finora
- Código de Ética e Disciplina MilitarDocumento6 pagineCódigo de Ética e Disciplina MilitarrmmeirelesNessuna valutazione finora