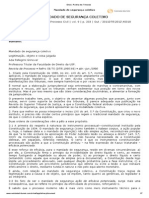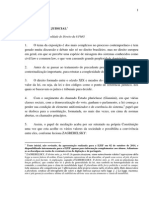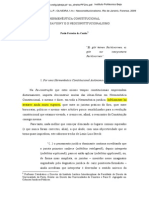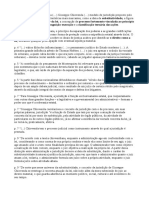Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
O Princípio Da Dimensão Coletiva Das Relações de Consumo
Caricato da
Denise Canova0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
81 visualizzazioni51 pagineEste documento discute a importância da interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à luz dos princípios que orientam o sistema. Aponta que o CDC contém normas abertas que dependem da subjetividade do juiz, mas que os princípios unificadores garantem uma aplicação razoavelmente uniforme da lei. Destaca especialmente o princípio da dimensão coletiva das relações de consumo e seus reflexos no processo do consumidor, especialmente no que se refere a danos morais e concilia
Descrizione originale:
Titolo originale
o Princípio Da Dimensão Coletiva Das Relações de Consumo
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoEste documento discute a importância da interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à luz dos princípios que orientam o sistema. Aponta que o CDC contém normas abertas que dependem da subjetividade do juiz, mas que os princípios unificadores garantem uma aplicação razoavelmente uniforme da lei. Destaca especialmente o princípio da dimensão coletiva das relações de consumo e seus reflexos no processo do consumidor, especialmente no que se refere a danos morais e concilia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
81 visualizzazioni51 pagineO Princípio Da Dimensão Coletiva Das Relações de Consumo
Caricato da
Denise CanovaEste documento discute a importância da interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à luz dos princípios que orientam o sistema. Aponta que o CDC contém normas abertas que dependem da subjetividade do juiz, mas que os princípios unificadores garantem uma aplicação razoavelmente uniforme da lei. Destaca especialmente o princípio da dimensão coletiva das relações de consumo e seus reflexos no processo do consumidor, especialmente no que se refere a danos morais e concilia
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 51
O PRINCPIO DA DIMENSO COLETIVA DAS RELAES DE
CONSUMO: REFLEXOS NO "PROCESSO DO CONSUMIDOR",
ESPECIALMENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS E S
CONCILIAES
Jos Augusto Garcia
Defensor Pblico no Estado do Rio de Janeiro
Professor de Direito do Consumidor da Pontifcia Universidade Catlica do Rio de
Janeiro (PUC/RJ)
1 - INTRODUO
"No se faz uma revoluo sem revoluo", j dizia, h dois sculos, um
especialista no assunto o francs Robespierre. No campo do Direito brasileiro,
tambm tivemos uma revoluo, que atendeu, e atende, pelo nome de Cdigo de
Defesa do Consumidor. Sem terror, ou cabeas rolando, produziu-se um diploma
extremamente avanado, que nos enche de orgulho perante a comunidade jurdica
internacional. Como toda revoluo, o Cdigo arrebata, transcende: no s as
relaes de consumo viram-se energicamente tocadas; em verdade, todo o nosso
ordenamento, em sua inteireza, restou transformado. No h, de fato, como resistir
fora transfiguradora do Cdigo, que perfilha, no seu iderio, aqueles anseios
maiores da vanguarda jurdica, seja no plano do direito material, seja no plano do
processo. Em especial, notabiliza-se o Cdigo do Consumidor por assumir
formidvel empresa: a busca da "ordem jurdica justa", na inspirada expresso de
Kazuo Watanabe(1).
Positivar a ordem jurdica justa, contudo, no se mostra tarefa tranqila, e muito
menos isenta de riscos. Deparamos a, seguramente, polmica das mais fascinantes
na jusfilosofia dos nossos tempos. Enfrent-la aqui acarretaria irreversvel desvio de
rota, com a abordagem obrigatria de assuntos de grande complexidade. Ordem
jurdica justa, deveras, implica falar em algo que, a grosso modo, se convencionou
chamar de Estado Social, e hoje atravessa quadra de furiosa contestao; implica
mexer, outrossim, no delicado tema do equilbrio dos Poderes estatais, que muitos
reputam ameaado pelo fortalecimento excessivo do Judicirio; implica envolver-
se, ainda, nos crescentes reclamos da democracia participativa. Bem se v que a
este trabalho seria impensvel aprofundar-se em to vasto leque de indagaes.
Mas o no-aprofundamento dos assuntos mencionados em nada prejudica o evolver
do nosso raciocnio, uma vez que no pode haver qualquer dvida acerca da
inquebrantvel aliana entre o Cdigo de Defesa do Consumidor e o objetivo da
realizao de uma ordem jurdica substancialmente justa. De forma correlata,
igualmente indiscutvel a tendncia de se deferir uma dose cada vez maior de
poderes ao magistrado. Essa tendncia, observada de maneira muito ntida no
ordenamento ptrio, acaba por gerar interessantssimo paradoxo: enquanto em
largos setores o Estado se retrai, definha, o Estado-Juiz est cada vez maior e mais
ativo, quase onipresente. Em outras palavras, a crise do alquebrado Estado do Bem-
Estar no cruzou os lindes do processo, muito pelo contrrio. Ponto para a
democracia participativa. Afinal, a funo estatal mais acessvel ao cidado, apesar
de tudo, mesmo a funo jurisdicional. Por mais singela que seja a demanda, ela
j ter o condo de levar o cidado presena do Estado-Juiz, rgo da soberania
nacional.
Ordem jurdica justa, Estado Social, poderes do magistrado, democracia
participativa. Aonde queremos chegar? Sem maiores rodeios, queremos chegar na
questo dos princpios, da sistemtica do Cdigo de Defesa do Consumidor
(doravante abreviado, em vrias passagens, para "CDC"). Em breve chegaremos l.
Tornando estrada, no fcil, como j dito, positivar a ordem jurdica justa,
emanao dos postulados do Estado Social. Para tanto, inevitvel a insero, nas
leis, de normas de contedo aberto, que demandam a expanso do subjetivismo do
julgador. No CDC, sintomaticamente, identificamos vrias e vrias dessas normas
abertas, portadoras de conceitos juridicamente indeterminados(2). Atente-se,
guisa de exemplificao, para o decisivo art. 51, IV (que sedia, na seara contratual,
a recepo legal do princpio da boa-f objetiva): so consideradas nulas de pleno
direito as clusulas contratuais que "estabeleam obrigaes consideradas inquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatveis com a boa-f ou a eqidade". Comentando o dispositivo (na melhor
obra j escrita at hoje, no Brasil, sobre os contratos de consumo), a Prof Cludia
Lima Marques salienta que "boa-f" e "eqidade", expresses utilizadas no texto
legal, "so amplas e subjetivas por natureza, deixando larga margem de ao ao
juiz; caber, portanto, ao Poder Judicirio brasileiro concretizar atravs desta
norma geral, escondida no inciso IV do art. 51, a almejada justia e eqidade
contratual"(3). Em idntico sentido, e atendo-se no s ao art. 51, IV, mas tambm
ao art. 51, XV que cobe as clusulas que "estejam em desacordo com o sistema
de proteo ao consumidor" encontramos as abalizadas lies do Prof. Nelson
Nery Junior, ressaltando "o poder (do magistrado) de fazer a integrao dos
conceitos jurdicos indeterminados existentes nessas duas normas do CDC"(4).
Em um sistema assim, sintonizado com a ordem jurdica justa mas, por isso
mesmo, dependente do subjetivismo do juiz, o que fazer para se garantir seja a lei
de proteo aplicada de maneira razoavelmente uniforme e segura? A, finalmente,
atingimos em cheio a importncia da interpretao lgico-sistemtica do CDC,
olhos postos nos princpios que se projetam do estatuto. Sem uma slida base
unificadora, consubstanciada pelos princpios do sistema, as normas abertas do
Cdigo traduziriam fora eminentemente centrfuga, gerando verdadeira babel
interpretativa. A indispensvel segurana normativa tambm se volatilizaria,
reduzindo ao mximo a prpria razo de ser do estatuto do consumidor, que se
tornaria refm do caso concreto, em total inverso de valores. Ordem jurdica justa,
nessa hiptese, s se Nosso Senhor Jesus Cristo descesse dos cus e viesse a ns,
pecadores, vestindo uma toga e empunhando um martelo...
Fica bem patenteada, portanto, a necessidade da exaltao dos princpios do sistema
enfocado, os quais devem guiar a interpretao de todo e qualquer instituto do
CDC. De fato, no se pode interpretar vrgula do Cdigo sem o aval do sistema (a
englobados, logicamente, no s os princpios unificadores, mas tambm os fins da
legislao). E repare-se que nem estamos nos aventurando na polmica sobre
constituir o CDC, ou no, um microssistema. Sendo ou no microssistema,
impossvel no atentar para os princpios que se irradiam do Cdigo.
Por sinal, no de hoje que se vem encarecendo o valor dos princpios, em relao
interpretao de qualquer sistema jurdico. Tanto assim que se repete exausto,
em doutrina e jurisprudncia, a clebre advertncia do Prof. Celso Antnio
Bandeira de Mello: "Violar um princpio muito mais grave que transgredir uma
norma. A desateno ao princpio implica ofensa no apenas a um especfico
mandamento obrigatrio, mas a todo o sistema de comandos. a mais grave forma
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalo do princpio atingido,
porque representa insurgncia contra todo o sistema, subverso de seus valores
fundamentais, contumlia irremissvel a seu arcabouo lgico e corroso de sua
estrutura mestra"(5). No mesmo sentido (mas com alguma divergncia
terminolgica), e preconizando a "jurisprudncia dos princpios", pe-se a doutrina
do Prof. Eros Roberto Grau: "O sistema jurdico uma ordem teleolgica de
princpios"(6). Vo ficando anacrnicas, assim, posies como a do ilustre jurista
Toshio Mukai, que, comentando o CDC, verbera o seu art. 4, tachando-o de
"norma programtica e sem nenhuma cogncia", acrescentando o comentador que
"no h que se perder tempo com essa disposio, posto que a norma no tem
eficcia e conseqncia prtica"( 7). Ora, no art. 4 que descobrimos o barro
seminal do sistema do Cdigo, de modo que no ser perdido(8 ), certamente, todo
o tempo utilizado na anlise do dispositivo; sua explorao percuciente, ao
contrrio, serve para iluminar os demais aposentos do estatuto de proteo,
facilitando sobremodo a tarefa do hermeneuta( 9).
Firmamos pois a premissa deste texto, qual seja, a transcendncia da interpretao
lgico-sistemtica nos domnios do CDC. Pensando bem, trata-se de premissa
bvia, palmar. Todavia, nunca demais encarec-la. A uma, porque a cultura
jurdica que nos envolve ainda se acha impregnada de um mtodo exegtico
excessivamente literal, dogmtico (na pior conotao que o termo pode comportar),
para no dizer estreito. A duas, porque o Direito do Consumidor, com todas as
peculiaridades apontadas, que est no cerne do nosso trabalho.
Bem assentada a pedra fundamental, cumpre precisar o objeto deste texto.
Conforme indicado anteriormente, a questo dos princpios do CDC prender a
nossa ateno. Este o propsito maior do artigo: falar sobre princpios. Mais
especificamente ainda: demonstrar a transcendncia dos princpios que defluem da
avanada sistemtica do Cdigo, dando-se especial ateno a um desses princpios
fundamentais (bem como a alguns efeitos concretos que dele se desprendem). Nessa
tarefa, no nos furtaremos a expender consideraes sobre todos os princpios que
reputamos capitais dentro do CDC. Afinal, o que mais desejamos prezar a viso
do sistema. S aps essa panormica geral que poderemos destacar, j
devidamente contextualizado, um dos princpios capitais: o princpio da dimenso
coletiva das relaes de consumo.
Por que o princpio da dimenso coletiva? Por duas razes bsicas. Em primeiro
lugar, por se tratar de um princpio pouco reconhecido, e menos ainda praticado. Na
verdade, sequer o status de princpio lhe deferido. No obstante, e a vem a
segunda razo, cuida-se de princpio absolutamente crucial dentro da sistemtica
estudada.
Fechando esta introduo, retome-se a mxima que abriu o texto: "no se faz
revoluo sem revoluo". O estatuto consumerista significou uma revoluo no
nosso Direito? Evidentemente que sim. Mas ela no ser genuna se igualmente
revolucionria no for a interpretao das normas positivadas pelo CDC. Ao
intrprete fiel, dessa forma, no se descortina opo outra seno infundir esprito
igualmente transformador aos institutos e normas do Cdigo, sob pena de desolador
retrocesso. Em outras palavras: ao intrprete fiel cumpre sugar, sofregamente, toda
a seiva dos princpios magnos do CDC, porque neles que se concentra a essncia
do sistema. O princpio objeto deste trabalho um dos que mais contribuem para
plasmar a alma renovadora do CDC. certo ento: sem que se consolidem, em
doutrina e jurisprudncia, os arrojados efeitos que derivam do princpio da
dimenso coletiva das relaes de consumo, revoluo, lamentavelmente, no
haver!( 10)
2 - OS PRINCPIOS CAPITAIS DO CDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Muito se falou, acima, sobre a importncia da interpretao sistemtica do CDC,
calcada nos princpios que se deduzem da lei. de toda convenincia, portanto, no
seguir caminho sem antes visitar, brevemente que seja, cada um dos princpios que
julgamos fundamentais no sistema da Lei 8.078/90. Ressalve-se que toda eleio de
princpios fundamentais h de se apoiar, obviamente, em critrios prprios de quem
se oferece a tal empreitada. De fato, no existe uma tabela de princpios, muito
menos so estes publicados em dirio oficial. Entrementes, no se costuma fugir
muito de um certo consenso, principalmente na abordagem do Cdigo do
Consumidor, que deixa ao intrprete mensagens bastante claras a respeito dos seus
valores maiores. Dessarte, os princpios que passaremos a declinar costumam ser
encarecidos pelos doutos (com algumas diferenas quanto terminologia utilizada).
O toque pessoal fica mais por conta da escolha propriamente dita dos princpios que
merecem a qualificao de "capitais", "fundamentais". Elegemos sete. A nosso ver,
so os princpios que concentram a essncia vital do estatuto consumerista. Outros
princpios relevantes certamente que h, mas sempre decorrendo dos princpios
magnos, razo pela qual podem ser melhor caracterizados como subprincpios. Este,
por sinal, o norte que parece inafastvel em uma enunciao de princpios: o
conjunto eleito dever, obrigatoriamente, preencher e justificar todas as frestas e
facetas do sistema, sem brechas, subordinando assim todo e qualquer dispositivo do
mesmo sistema.
2.1 - O princpio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo
Nas teorias que procuram explicar o nascimento do universo, grande destaque se d,
sabem at os leigos (como este autor), teoria do "big bang". Nosso universo teria
resultado de uma fantstica exploso, a partir de um ncleo de infinita energia, que
no mais conseguiu se conter. Pois bem, fosse o Cdigo do Consumidor o universo,
qual o seu princpio fundamental, dentro do paralelo csmico-jurdico formulado,
que melhor representaria aquele ncleo hiperenergtico do qual provavelmente
descendemos? A resposta est, com todas as letras, no primeiro inciso do art. 4 da
Lei 8.078/90, que cuida justamente dos princpios da "Poltica Nacional das
Relaes de Consumo": o princpio do reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo.
A est o princpio de tudo, a razo de ser do CDC. O Cdigo existe porque o
consumidor vulnervel, especialmente sob o aspecto tcnico (a vulnerabilidade
econmica geralmente acompanha a vulnerabilidade tcnica, mas no essencial).
Inexistisse essa premissa bsica e os detratores do Cdigo poderiam sustentar, com
menos temeridade, a ocorrncia de esbarres no muito gentis no princpio
constitucional da isonomia. Aqui, retorna-se temtica do Estado Social. A Lei
8.078/90 seria impensvel em tempos de Estado Liberal (neutro). Com efeito, no
convidem para a mesma mesa o CDC e a falaciosa concepo da neutralidade
estatal. Na condio de rebento do Estado Social, o Cdigo assume corajosamente a
defesa da parte mais fraca na relao de consumo. Como freqentemente se
despreza o bvio, cumpre apregoar sempre e sempre essa prodigiosa boa nova: em
obedincia Constituio da Repblica, o Cdigo de Defesa do Consumidor existe
para... defender o consumidor!
Evidentemente, no procede falar em maniquesmo ou paternalismo. O CDC no
maniquesta nem paternalista; o que existe uma realidade de poder a ser
combatida. Se no h qualquer dvida quanto disparidade substancial de foras
entre fornecedor e consumidor, nada mais isonmico do que oferecer ao ltimo
instrumentos que possam conter o poderio do primeiro. O Direito no existe, em
ltima anlise, para conter e controlar o poder do mais forte, possibilitando a vida
em sociedade?
Inmeras so as repercusses do princpio do reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo. Melhor dizendo: no h repercusso possvel,
no sistema, que no seja obrigada a bater continncia para esse princpio maior. A
prpria pertinncia de dada relao ao regime do CDC depende, em muitos casos,
da vulnerabilidade concreta da parte considerada consumidora perante o
correspondente fornecedor(11 ). Ou seja, o prprio campo de incidncia do Cdigo
determinado pela questo da vulnerabilidade(12 ). No bastasse, temos
dispositivos na Lei 8.078/90 que, ostensivamente, fazem questo de afirmar a sua
vassalagem ao princpio em foco. guisa de exemplo, tomem-se os arts. 6, VIII,
47 e 103, III, do CDC: a inverso do nus da prova, a interpretao dos contratos
em prol do consumidor( 13) e a coisa julgada secundum eventum litis traduzem
influncia direta do princpio em exame. No tocante, por sinal, inverso de nus
probatrio, muito importante no perder de vista que o princpio do reconhecimento
da vulnerabilidade do consumidor imps inverso de nus no s no seara
processual, mas tambm no campo material e neste de maneira bem mais vasta.
Direito processual parte, inverteram-se nus que secularmente eram suportados
pelos ombros cansados dos consumidores, como o caso, crucial, da informao.
Inverteram-se nus, inverteram-se riscos. A responsabilidade do fornecedor passou
a ser, majoritariamente, objetiva. Em poucas palavras: o princpio do
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo
propiciou inverses vrias, de nus e de riscos( 14). E mais, ainda por fora da
magnitude do princpio ora analisado: havendo quaisquer dvidas, elas devem
bem o sinaliza o art. 47 da Lei 8.078/90 na rea especfica dos contratos favorecer
o consumidor vulnervel. Usando imagem futebolstica: em caso de empate, quem
leva a taa o consumidor. Os direitos do consumidor, assim, ganharam o mesmo
status do jus libertatis do ru no processo penal. Tudo, repise-se, por obra e graa
do princpio do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo.
2.2 - O princpio da ordem pblica
Aparece o princpio da ordem pblica como consectrio inexorvel do primeiro
princpio analisado. Deveras, no basta reconhecer de uma forma diletante,
platnica, a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. No. Alm do
reconhecimento, preciso mais. Positivamente, de nada adiantaria um
formosssimo cdigo, enaltecendo ao mximo os direitos do consumidor, se no
fossem cogentes as suas normas. A burla seria diuturna, e o estatuto viraria pea
acadmica, quando no motivo de justificados gracejos. Da o relevo do princpio
da ordem pblica, to fulgurante no sistema que est aninhado logo no artigo
inaugural do CDC dado topogrfico de rica significao hermenutica , in
verbis: "O presente Cdigo estabelece normas de proteo e defesa do consumidor,
de ordem pblica e interesse social, nos termos dos arts. 5, incisos XXXII, 170,
inciso V, da Constituio Federal e art. 48 de suas Disposies Transitrias".
Por outro ngulo, ordem pblica evoca o tema do intervencionismo do Estado. A
mtica "mo invisvel" do mercado, hoje reexperimentando momentos de glria,
no costuma acariciar com maior ternura aqueles que so vulnerveis, muito pelo
contrrio. Caracterizando-se as relaes de consumo, exatamente, pela
vulnerabilidade de um dos seus protagonistas, resta claro, axiomtico, que o regime
consumerista no pode prescindir de uma boa e compensatria dose de interveno
estatal. Prevista entre os princpios da Poltica Nacional das Relaes de Consumo,
a "ao governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor" (art. 4,
II, da Lei 8.078/90) constitui, portanto, elemento capital do sistema, em prol do
equilbrio do mercado de consumo.
Especialmente no plano dos contratos de consumo, resplandece o princpio da
ordem pblica. Dificilmente existir, em nosso ordenamento, diploma legal to
timbrado pela idia do intervencionismo nos contratos como o Cdigo do
Consumidor. Os reflexos na seara contratual mostram-se verdadeiramente notveis.
A ordem pblica triunfa sobre o vetusto dogma do "pacta sunt servanda" de
maneira acachapante, marcando tambm a vitria da funo social do contrato. A
liberdade e a intangibilidade contratuais, valores bsicos do Estado Liberal, sofrem
uma srie ponderosa de restries no contexto do CDC, que vo desde a positivao
das teorias da impreviso e da onerosidade excessiva (art. 6, V) at a imposio de
ilimitada lista de clusulas reputadas "nulas de pleno direito" (art. 51), e no
simplesmente anulveis. Como se v, ou a lei que fustiga o "pacta sunt servanda",
atravs de regulamentao bastante rigorosa dos contratos de consumo, ou ento a
interveno estatal se materializa pelas mos do prprio Estado-Juiz, que ganhou
poderes expressos para modificar clusulas que estabeleam prestaes
desproporcionais e rever aquelas que, em razo de fatos supervenientes, provoquem
onerosidade excessiva ao consumidor.
Abra-se parntese para importante ressalva: a incidncia do princpio da ordem
pblica sobre os contratos de consumo no fica abalada pelas transformaes de
natureza poltico-econmica que os dias atuais testemunham. O Estado realmente
diminui, mas naquilo que diz respeito sua atuao direta no reino da economia.
No entanto, atividades nsitas ao modelo estatal conquistado pela humanidade neste
sculo, como a regulamentao e a fiscalizao, continuam inalienveis. Como bem
identifica a Prof Cludia Lima Marques, na citada obra sobre contratos de
consumo, uma das tendncias do Estado "ps-moderno" reside exatamente no
fomento da hiper-regulamentao, para combater os abusos e iniqidades gerados
pela vaga liberalista(15 ). O prprio presidente Fernando Henrique Cardoso
declarou recentemente( 16), com impecvel retrica: "No sou mesmo convertido a
essa viso do Estado que no regulamenta. O que estamos fazendo na prtica?
Criando agncias de regulamentao. Privatizando e criando agncias de
regulamentao. Criando um novo Estado." Ainda FHC, na mesma entrevista: "(...)
Por isso, aqui, vamos ter sempre uma ao do Estado. Se se deixar o mercado
solto, pobre pas! Penso, nesse assunto, o oposto do que dizem que penso. O que
penso que, se deixar o mercado solto, pobre pas. No que ele no v crescer,
mas crescer com excluso."
As repercusses do princpio da ordem pblica atingem ainda o tema do direito
intertemporal. Em que pesem respeitveis opinies divergentes, no h dvida de
que o Cdigo de Defesa do Consumidor, exatamente em virtude da ordem pblica
que reveste as suas normas, deve-se aplicar a todas as relaes de consumo
pendentes, mesmo aquelas fundadas em perodo anterior vigncia da lei
consumerista( 17). Afinal de contas, no podem coexistir, por absurdo, duas ordens
pblicas simultneas uma para quem assinou um contrato s 19:00 horas em
10.03.91 e outra para quem assinou o mesmo contrato 12 horas depois...
Por derradeiro, no que tange ao princpio da ordem pblica, insta assinalar que ele
no se circunscreve rea gravitacional dos contratos de consumo. Na seo
contratual, a visibilidade do princpio impressionante, mas isso no prejudica a
sua incidncia generalizada, deixando marcas em todas as regies do sistema. O
Prof. Nelson Nery Junior chega a sustentar mesmo que, sendo de ordem pblica e
interesse social as normas consumeristas, "toda a matria constante do CDC deve
ser examinada pelo juiz ex officio, independentemente de pedido da parte, valendo-
se frisar que sobre ela no ocorre a precluso, circunstncia que propicia seu
exame a qualquer tempo e grau de jurisdio, podendo o tribunal, inclusive,
decidir com reformatio in pejus permitida, j que se trata de questo de ordem
pblica", sendo ainda "obrigatria a participao do Ministrio Pblico nas aes
propostas com base no Cdigo"(18 ).
2.3 - O princpio da dimenso coletiva das relaes de consumo
Acabamos de ver que, consoante o magistrio do Prof. Nelson Nery Junior,
processualista de renome e grande autoridade em matria de Direito do
Consumidor, qualquer causa de consumo at causa relativa, v.g., a um prosaico
radinho de pilha seria bafejada pela subverso de tradicionalssimas regras
processuais. Temerria a tese do festejado processualista? No luz do princpio da
ordem pblica, que entretanto s se compe integralmente com os aportes do
princpio que merecer o foco mais intenso deste artigo: o princpio da dimenso
coletiva das relaes de consumo. Ainda no o momento, porm, de nele nos
determos. Sigamos com os demais princpios fundamentais.
2.4 - O princpio da boa-f objetiva
Traar a diferenciao entre a boa-f objetiva, perfilhada expressamente pelo CDC
(como demonstram os arts. 4, III, e 51, IV) e a boa-f subjetiva, mais vontade no
habitat do Cdigo Civil, serve bem visualizao do salto dado pelo nosso
ordenamento com a edio do estatuto consumerista: salto do individualismo puro e
extremado rumo a um regime aberto ao advento da coletivizao. De fato, a boa-f
subjetiva diz respeito ao indivduo, ao seu estado anmico em um dada situao
concreta. J a boa-f objetiva traduz uma regra de conduta, necessariamente geral, a
incidir sobre a coletividade. Da serem to ntimos o princpio da boa-f objetiva e o
princpio da dimenso coletiva das relaes de consumo (que consiste, lembre-se
mais uma vez, no objeto principal deste artigo, a ser desenvolvido mais frente).
Enorme a riqueza do princpio da boa-f objetiva. Em sua materializao mais
singela, ele obstrui a eficcia de todo e qualquer comportamento contrrio boa-f,
objetivamente considerada. Assim, resta proscrita a tradicional excludente do dolus
bonus(19 ), a toda evidncia antagnica com o princpio em tela. No h mais,
outrossim, que se falar em condutas desprovidas de boa-f mas supostamente
irretocveis sob o prisma da legalidade. No! A partir do Cdigo do Consumidor, o
que for contra a boa-f objetiva estar igualmente contra a lei, para desalento dos
sofismas de planto e malabarismos retricos de praxe. Enfim, est a boa-f, desde
a promulgao do CDC, plenamente positivada no ordenamento jurdico ptrio. E
mais: o art. 51, IV, j mencionado, responde pela clusula geral de boa-f dos
contratos de consumo. Por conseguinte, em todo e qualquer contrato de consumo,
h de se considerar escrita, implicitamente, uma clusula pela qual os contratantes
se comprometem a proceder com a mxima boa-f na relao contratual.
Extraordinria, realmente, a repercusso do princpio da boa-f objetiva no
territrio contratual. Ou melhor: no territrio contratual e, impe-se o adendo, nas
suas cercanias idem. Com efeito, no s o momento contratual propriamente dito
tocado pelo princpio da boa-f objetiva, mas tambm a fase pr-contratual, e at o
perodo ps-contratual(20). A fase pr-contratual, notadamente, recebeu influncias
as mais significativas: foi nesse solo frtil que germinou, por exemplo, a abrangente
noo de oferta trazida pelo Cdigo do Consumidor (art. 30).
atravs igualmente do vis do princpio da boa-f objetiva que se desenvolve uma
transformadora viso do contrato, pensado agora como fenmeno dinmico no
mais entidade esttica , a envolver, alm da obrigao principal tpica de cada
contratante, uma srie de "deveres anexos"( 21), que afirmam a vocao maior do
contrato dos nossos dias: um instrumento de cooperao entre os contratantes,
visando ao adimplemento comum, com a conseqente realizao dos interesses das
partes.
Acima de tudo, frise-se que o princpio da boa-f objetiva acompanha a objetivao
do prprio contrato, fenmeno do nosso sculo que destronou de vez a primazia do
voluntarismo. No epicentro do contrato, a sua funo social assumiu o posto do
elemento voluntarista, que se viu crescentemente acuado pelos avanos do
intervencionismo estatal, alargando-se cada vez mais o campo de gravidade da
ordem pblica. No Direito do Consumidor, repertrio de normas de ordem pblica,
o voluntarismo no poderia ter, mesmo, maior prestgio. At porque um dos plos
da relao de consumo est, quase sempre, ocupado por empresas, no seio das quais
as responsabilidades subjetivas facilmente se diluem ou so mascaradas, sobretudo
no caso das grandes corporaes. Dessa forma, a objetivao do contrato e da boa-
f atende a um imperativo de efetividade. Assim como ocorreu com a
responsabilidade objetiva do Estado, um ente que igualmente obscurece situao
subjetivas, a no-objetivao do contrato e a no-adoo do princpio da boa-f
objetiva significariam, na prtica, deixar ao relento a grande maioria das normas
cogentes de proteo ao consumidor.
Um efeito vai puxando o outro, perfazendo corrente das mais transformadoras. Com
a decadncia do voluntarismo e a conseqente objetivao do contrato e da boa-f,
chega-se a outro porto de grande luminosidade: passa o sistema a admitir controle
muito mais desembaraado do contedo e da justia dos pactos. Sim, a justia dos
contratos passa a ser controlada! Finda-se o tempo em que praticamente s se podia
investigar a adequao formal de uma avena. Tem-se a alentadora notcia. S
houvesse no Cdigo do Consumidor um solitrio artigo 51, inciso IV o
dispositivo que positiva o princpio da boa-f objetiva nos contratos de consumo,
propiciando generoso controle de contedo , e mesmo assim j contabilizaramos,
para o ordenamento ptrio, um admirvel avano.
2.5 - O princpio da transparncia mxima das relaes de consumo
Quais seriam os chamados "deveres anexos" (mencionados no tpico anterior), to
caros nova concepo do contrato? Um deles, talvez o principal, o dever de
informar(22 ). Mas no se pense que tal dever impressiona apenas na provncia
contratual. Em absoluto. A questo da informao tornou-se vital em qualquer
atividade humana, includas naturalmente as relaes de consumo, seja a matria
contratual ou no. Hoje, mais do que nunca, informao poder. Alis, est a,
exatamente, a confluncia primeira entre informao e Direito do Consumidor: a
vulnerabilidade do consumidor, no cansamos de repetir, eminentemente tcnico-
informativa. Ou seja, em essncia a superioridade material do fornecedor advm
no de um maior poderio econmico (embora tal fator esteja quase sempre
presente), mas sim de um domnio incomparavelmente mais lato e melhor das
informaes pertinentes relao de consumo travada.
Consumidor mal informado presa fcil dos abusos do mercado, sempre propenso a
sortidas leses. Da a clarssima preocupao do CDC com a informao do
consumidor, presente em todas as latitudes da lei, inclusive na esfera criminal. De
fato, tamanha a importncia que se d informao que at a tutela penal foi
convocada para defender to sagrado direito, valendo ressaltar que a grande maioria
dos tipos do Cdigo do Consumidor diz respeito, sintomaticamente, ao dever de
informar(23 ). Afora a parte criminal, inumerveis so os dispositivos do estatuto
consumerista que abordam a questo da informao. A ttulo de mera
exemplificao, podemos citar os arts. 4, IV (um dos princpios da Poltica
Nacional das Relaes de Consumo, considerados vetores de interpretao do
CDC), 6, III (direito bsico do consumidor), 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 30, 31, 33,
36/38 (coibio da publicidade enganosa), 39, 40, 46, 52, 54. Essa pletora de
normas, inclusive de natureza penal, revela algo muito transcendente, um
verdadeiro princpio: o princpio da transparncia mxima das relaes de consumo.
A partir da vigncia da Lei 8.078/90, portanto, tornou-se ilegal qualquer ato ou
procedimento que atente contra o direito informao do consumidor, valendo
assinalar que se trata de uma informao ampla, substancial, extensiva a todos os
aspectos da relao de consumo desenvolvida. Se o CDC reconhece expressamente
a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4, I) e se dispe,
finalisticamente, a combater tal vulnerabilidade, nada mais lgico que encarea, ao
mximo, o direito informao, ante a certeza de que a carncia desse bem
favorece toda espcie de leses no mercado de consumo.
Nesta resenha dos princpios maiores do Cdigo do Consumidor, muito j falamos
da rea contratual, e seria homenagear em excesso o bvio, mais uma vez, asseverar
que o princpio da transparncia mxima reflete-se agudamente nos contratos de
consumo. No se deixe de assinalar, todavia, que a conjuno dos princpios da
boa-f objetiva, visto anteriormente, e da transparncia mxima, ora focalizado,
propulsiona duplo controle dos contratos de consumo: os controles de forma e de
contedo. Funciona realmente como uma dupla barreira de proteo ( moda de
certos anncios de pasta de dente...).
O primeiro controle a ser exercitado o formal (arts. 46, 52, 54). Assim, no
vincula o consumidor qualquer clusula contratual que padea do grave vcio de
informao, mxime se se trata de pacto de adeso. Ao se lanar a uma relao de
consumo, o consumidor dever possuir conhecimento real, efetivo (no apenas
aparente) (24), sobre todo e qualquer aspecto da relao, sob pena de vcio de
informao. O CDC garante ao consumidor o direito ao cabal conhecimento da
realidade que envolve a relao contratual, a fim de que possa ele valorar livre e
conscientemente a convenincia da contratao. Em uma relao de consumo,
ento, o consumidor no pode se ver surpreendido em qualquer aspecto da relao.
Este o controle formal (por dizer respeito basicamente questo da informao,
que h de ser transmitida mediante uma determinada forma, prevista pelo Cdigo).
Mesmo vencido o controle formal, no resta assegurada a higidez das clusulas do
contrato de consumo, pois ainda faltar superar o controle de contedo (substncia),
segundo controle, no qual se verificar a justia da clusula e do contrato perante o
sistema. Exemplificando, a chamada "clusula-mandato" poder observar
rigorosamente o que prescreve o CDC acerca da forma das clusulas limitativas de
direito do consumidor poder vir com o maior destaque possvel, emoldurada em
luz non e trombeteada por fanfarras de msica... , mas mesmo assim ser nula de
pleno direito, em virtude do seu contedo imprprio (art. 52, VIII). Atua esse
segundo controle sob os auspcios do princpio da boa-f objetiva, posto em relevo
no tpico imediatamente anterior.
Resumindo: primeiramente, analisa-se a questo da forma do contrato; esta, embora
fundamental, no basta para garantir a validade dos dispositivos contratuais, eis que
tambm h de ser exercitado o controle de contedo, de substncia. Na mo
contrria, o mesmo ocorre: de nada adianta clusula boa unicamente sob o prisma
substancial; se no observar a forma exigida pelo Cdigo, ser igualmente nula de
pleno direito, em razo de estar em desacordo com o sistema de proteo ao
consumidor (art. 51, XV).
Saindo do campo contratual, no diminui nem um pouco o prestgio do princpio da
transparncia mxima. No plano especfico da responsabilidade civil, o princpio
circula com grande desenvoltura. A prpria classificao da periculosidade dos
produtos e servios depende da recorrente questo da informao. Deveras, a
periculosidade inerente ou latente (normal, tolerada) de um dado produto ou servio
pode tornar-se adquirida, e portanto relevante para fins de responsabilidade civil,
em funo de uma deficincia informativa(25). Segue os mesmos paradigmas o
debate sobre a responsabilidade dos fabricantes de cigarros, que vai ganhando
propores bastante encorpadas. Nos EUA, j foram realizados megaacordos,
extremamente polmicos, versando precipuamente sobre a informao do
consumidor de cigarros (com a imposio de restries cada vez mais severas, frise-
se, inebriante publicidade do fumo). Para os fabricantes, trata-se indiscutivelmente
de perder anis para salvar os dedos. Se melhorar a informao do consumidor a
respeito do fumo e seus malefcios, pensam os fabricantes que tero mais
argumentos para arrostar as aes indenizatrias propostas pelas incontveis vtimas
do cigarro: a periculosidade do produto passaria a ser tolerada, porque plenamente
conhecida, e o risco restaria consentido, de maneira vlida ( vista da
previsibilidade do dano e da suficincia das informaes relativas danosidade do
produto consumido).
Nem preciso acrescentar que o nus da informao cabe integralmente aos
fornecedores. Como j ressaltado, o CDC inverteu nus, primordialmente, no
campo material. Nesse sentido, a questo da informao (26) eloqente: se antes o
consumidor era quem tinha de correr atrs da informao, agora esta que se deve
oferecer ao consumidor, da forma mais abundante e lmpida possvel. Tanto
verdade que, conforme assinalado anteriormente, a tutela penal, destinada
proteo dos bens jurdicos mais preciosos da coletividade de consumidores, ocupa-
se maciamente da questo da informao, sancionando cada vez mais, nas palavras
abalizadas de Antnio Herman V. Benjamin, a simples absteno, "impondo ao
fornecedor um dever afirmativo de informar". Aprofundando o assunto, na mesma
fonte doutrinria: "A garantia de informao plena do consumidor tanto no seu
aspecto sanitrio quanto no econmico funciona em duas vias. Primeiro, o
direito do consumidor busca assegurar que certas informaes negativas (a m
informao, porque inexata digo algo que no , como na publicidade
enganosa) no sejam utilizadas. Em segundo lugar, procura garantir que certas
informaes positivas (deixo de dizer algo que , como, por exemplo, alertar sobre
riscos do produto ou servio) sejam efetivamente passadas ao consumidor."(27)
Enfim, na constelao de princpios do Cdigo de Defesa do Consumidor, o
princpio da transparncia mxima resplandece. Toda essa luz no pode ser
ignorada pelo intrprete sensvel. Em sintonia com a importncia do princpio,
solues novas e ousadas ho de prevalecer. A ttulo de exemplo, diga-se que todas
as clusulas que implicarem limitao de direito do consumidor devero integrar o
instrumento contratual e ser redigidas com destaque (arts. 46 e 54, 3 e 4, da Lei
8.078/90), mesmo aquelas que apenas reproduzam termos legais ou regulamentares.
Dessa forma, em um contrato envolvendo alienao fiduciria, por exemplo,
mostra-se imprescindvel a existncia de clusula, redigida com destaque, prevendo
a possibilidade de priso do consumidor em caso de inadimplemento, sob pena de
se tornar inaplicvel tal constrangimento (28). Perguntaro nesse ponto, talvez
perplexos, os menos afeitos fora dos grandes princpios: mas a lei no se
presume conhecida por todos? Sem dvida. Trata-se, mais propriamente, de um
fico devotada a permitir a vida em sociedade, sob o imprio da lei. Nem por isso,
contudo, o ordenamento no exige, quando em jogo bens jurdicos de alta
relevncia, seja o destinatrio da norma informado expressamente sobre
determinados efeitos legais; v.g., deve o citando ser alertado, obrigatoriamente, das
conseqncias da revelia (art. 285 do CPC). O mesmo acontece com qualquer
clusula ou condio que implique alguma limitao de direito do consumidor,
ainda que a limitao, seja ela qual for, esteja expressamente prevista em lei. Afinal,
o dever de informar do fornecedor no est sediado em simples regra legal. Muito
mais do que isso, pertence ao imprio de um princpio fundamental do Cdigo do
Consumidor. De mais a mais, os direitos do consumidor so irrenunciveis. Os do
fornecedor, no.
2.6 - O princpio da qualidade dos produtos e servios oferecidos no mercado
de consumo
No tpico logo acima encerrado, dizamos que a deficincia de informaes
adequadas pode fazer com que a periculosidade normal e tolerada de um produto ou
servio converta-se em periculosidade adquirida, ganhando relevncia para fins de
responsabilidade civil. Feramos portanto a questo da qualidade dos produtos e
servios oferecidos no mercado de consumo, questo esta que tambm mereceu
ateno extremada do Cdigo, a ponto de se poder falar, sem qualquer exagero, no
princpio da qualidade dos produtos e servios.
Tambm o princpio da qualidade interliga-se freqentemente com os demais
princpios do CDC, como por exemplo o princpio da ordem pblica (confiram-se a
esse respeito os arts. 24 e 25). Mas o seu par inseparvel mesmo o princpio da
transparncia mxima. No se pode falar em qualidade satisfatria, luz do Cdigo,
se o produto ou servio no estiver trajando aquele tecido bsico de informaes
que o sistema exige. Em outras palavras: no ser satisfatria a qualidade do
produto ou servio que no se exibir transparente aos olhos do consumidor. Dessa
forma, a transparncia passa a consistir em requisito fundamental da almejada
qualidade de produtos e servios. Tal aproximao, que jamais se vira em nosso
ordenamento, comprova de uma vez por todas a nfase posta pelo Cdigo em
referncia questo da qualidade no mercado de consumo.
Outro indicador seguro do tratamento privilegiado da questo da qualidade a
amplitude que a ela se deu. Qualidade, para o Cdigo, abarca tambm o aspecto da
quantidade (veja-se o que reza o art. 19). E est positivada de molde a proteger
tanto a incolumidade econmica do consumidor como a sua integridade fsico-
psquica. No dizer do grande Antnio Herman Vasconcellos e Benjamin, "a teoria
da qualidade tem um p na rbita da tutela da incolumidade fsico-psquica do
consumidor e outro na tutela de sua incolumidade econmica" (29). No bastasse,
tanto uma como a outra foram contempladas com indita largueza. Ficando nos
flagrantes rpidos, repare-se que a tutela da incolumidade fsico-psquica abraa at
aquela vtima do evento completamente alheia relao de consumo-base (o
chamado bystander); j no que concerne tutela da integridade econmica, note-se
que a garantia espraia-se inclusive para a durabilidade dos produtos e servios um
desempenho satisfatrio, simplesmente, no basta mais, se no acompanhado pela
durabilidade do bem de consumo (30).
Em conseqncia de todo esse desvelo, o Cdigo no cuida da qualidade apenas sob
a tica repressiva. Muito melhor do que isso, investe no mister preventivo, a ele
dedicando seo especfica "Da Proteo Sade e Segurana" (arts. 8 a 10).
Falhando a preveno, a sim, entra em ao a atividade repressiva, regulando o
Cdigo a "responsabilidade pelo fato do produto e do servio" (arts. 12 a 17) e a
"responsabilidade por vcio do produto e do servio" (arts. 18 a 25). To bem se
conduziu o Cdigo na rea repressiva (31) que ela assumiu igualmente tinturas
preventivas: o receio da punio, principalmente a pecuniria, serve para deixar os
fornecedores mais cuidadosos no tocante qualidade dos produtos e servios que
oferecem. Destaque-se, no mbito desse brao repressivo, a objetivao da
responsabilidade do fornecedor, dita com todas as letras na abordagem da
"responsabilidade pelo fato do produto e do servio" (arts. 12 e 14) (32). Tambm
aqui, o fenmeno da objetivao atende a um imperativo de efetividade. Como j
explicamos antes (quando falvamos do princpio da boa-f objetiva), um dos plos
da relao de consumo est, quase sempre, ocupado por empresas, no seio das quais
as responsabilidades subjetivas facilmente se escamoteiam, mormente no caso das
grandes corporaes. Consoante bem expressou a Promotora de Justia Ana Lcia
da Silva Cardoso Arrochela Lobo, em brilhante trabalho forense publicado na
Revista Direito do Consumidor 21, "(...) nos dias atuais, as relaes de consumo
tornaram-se de tal forma complexas, com inmeros intermedirios participando da
cadeia de produo e distribuio de bens e da prestao de servios, com
sistemas massificados de produo e consumo, que a atribuio da
responsabilidade por culpa tornou-se excessivamente onerosa para o prejudicado,
do qual era exigido esforo probatrio demasiado, sem falar nas situaes em que
o lao da culpabilidade era de tal forma tnue que escapava percepo em
condies de normalidade" (33).
Saliente-se ainda que o princpio da qualidade, independentemente de outros ttulos,
j ostenta no seu currculo um feito considervel: aposentou, ao menos nos lindes
do direito consumerista, a anacrnica formulao civilista dos vcios redibitrios,
que h muito se mostrava totalmente inepta para o batente dentro de uma sociedade
de massa. Tornando doutrina de Antnio Herman de Vasconcellos e Benjamin,
sintetize-se a evoluo: "Da insatisfao com a garantia contra os vcios
redibitrios surge a necessidade de reformulao do sistema vigente, projetando-se
um outro, mais moderno e em melhor sintonia com a sociedade de consumo, e que
se proponha a regrar a qualidade (e tambm a quantidade), como conceito amplo,
de produtos e servios. Por isso mesmo, na base deste novo sistema est aquilo que
denominamos teoria da qualidade, complementada por algo mais, que
chamaramos de teoria da quantidade" (34).
2.7 - O princpio da efetividade da tutela processual
Tratando do princpio da ordem pblica, e em vrias outras partes deste artigo,
encarecemos a questo da efetividade dos direitos. Ser efetivo. Eis o desafio maior
do Cdigo de Defesa do Consumidor, plantado em caprichosa roa, que j
condenou inanio muitas outras leis igualmente bem-intencionadas. No Brasil,
deveras, no que as boas leis no irrompam. Elas surgem, sim, mas uma grande
parte sabotada no momento mais crucial o momento da execuo, da eficcia
social, da efetividade. Versando com maestria o tema, dentro do Direito
Constitucional, sustenta o citado Luis Roberto Barroso: "(...) Por derradeiro,
cumpre apreciar o terceiro caso: aquele em que as disposies constitucionais
deixam de ser cumpridas por resistncia dos setores econmica e politicamente
influentes. Como j se disse, no contexto do Estado burgus a Constituio
sintetiza uma composio, sob a frmula de compromisso, entre as diversas foras
atuantes na sociedade, que, em ltima anlise, podem ser reduzidas s classes
dominante e dominada. Na formalizao desse pacto, costuma contemplar uma
ampla gama de diretivas de cunho social, desprovidas, no entanto, de garantias
efetivas para a sua concretizao. A Constituio transforma-se, assim, em um
mito, um mero instrumento de dominao ideolgica, repleta de promessas que
no sero honradas. No constitucionalismo moderno, este quadro se repete com
rotineira freqncia. Os agrupamentos conservadores sofrem aparente derrota
quando da elaborao legislativa, mas impedem, na prtica, no jogo poltico do
poder econmico e da influncia, a consecuo dos avanos sociais." (35)
Na epopia da efetividade nativa, a Constituio cumpriu o seu papel, ao menos sob
o ngulo jurdico-normativo (36). Vrios foram os instrumentos de efetividade que
ela incrustou no ordenamento nacional. J no seu prtico, logo aps contemplar, no
art. 5, fileira indita de direitos e garantias individuais e coletivos (basicamente os
denominados direitos humanos de primeira gerao), apressou-se em averbar a Lei
Maior: "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tm
aplicao imediata" (art. 5, 1). Com o mesmo esprito, podem ser mencionados,
exemplificativamente, vrios outros institutos e normas previstos pela nossa Carta
Magna: a criao dos remdios do mandado de injuno e da ao de
inconstitucionalidade por omisso; a previso dos Juizados Especiais; a
institucionalizao da Defensoria Pblica (37).
Positivamente, de nada adianta idealizar direitos se eles no podem cumprir
existncia efetiva, concreta. Nesse passo, imensa a importncia da ordem
processual. O processo constitui instrumento por excelncia de efetivao de
direitos e garantias. Sensvel a tal relao de instrumentalidade, esmerou-se o CDC
em traar esquemas processuais de grande valia para o tema da efetividade.
Trabalhou tanto nesse objetivo que o ltimo dos princpios extrados da sistemtica
do Cdigo no poderia ser outro que no o princpio da efetividade da tutela
processual. s raias da heresia chegaramos se no destacssemos um princpio,
dentro do Cdigo, dizendo respeito diretamente questo da efetividade.
Sem embargo, no se deixe de consignar que, bem antes da edio do Cdigo, antes
mesmo da Constituio de 1988, j se achava a ordem processual ptria preocupada
com os reclamos da efetividade. J no CPC de 73, soaram incipientes acordes dessa
nova balada, praticamente inaudveis ainda. A dcada de 80 engrossou o
movimento. Em 84, nasceram os Juizados de Pequenas Causas. Em 85, veio luz a
lei da ao civil pblica. Em 1990, enfim, foi editado o CDC, que subscreveu com
entusiasmo o iderio da efetividade da ordem processual, seja no campo da defesa
individual do consumidor, seja no terreno da defesa coletiva.
S o fortalecimento da defesa coletiva, aspecto a ser explorado com mais vagar
quando nos aprofundarmos no princpio da dimenso coletiva das relaes de
consumo, j marca a influncia decisiva do anseio da efetividade. Mas tambm as
normas processuais aplicveis defesa individual denotam a mesmssima
influncia. Vrios so os dispositivos que revelam o princpio da efetividade da
tutela processual. Em primeiro lugar, o art. 6, VIII, do CDC: direito bsico do
consumidor "a facilitao da defesa dos seus direitos, inclusive com a inverso do
nus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critrio do juiz, for
verossmil a alegao ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinrias de experincia". O dispositivo alberga a inverso do nus da prova, uma
das vedetes do CDC. Trata-se de inovao de grandiosa significao (38), que deixa
fora de qualquer dvida o apreo do Cdigo questo da efetividade. Mas tambm
o art. 83 expressa verdadeira profisso de f na efetividade do processo. Por seu
turno, o arrojado art. 84, cuidando nos seus incisos das obrigaes de fazer e no
fazer, acabou at reproduzido pela reforma do CPC (confira-se o art. 461, com
redao da Lei 8.952/94), igualmente comprometida com a cruzada da efetividade.
J o art. 88 vedou a denunciao da lide nas aes relativas responsabilidade pelo
fato do produto e do servio. E o art. 101, enfim, permitiu a propositura da ao de
responsabilidade civil do fornecedor no domiclio do autor, dispondo ainda sobre a
simplificao dos processos em que o ru tiver contratado seguro de
responsabilidade (vedada sempre a interveno do Instituto de Resseguros do
Brasil).
Com a enunciao do princpio da efetividade da tutela processual, encerramos o rol
daqueles princpios que reputamos os mais capitais dentro do sistema instaurado
pelo CDC. J estamos quase prontos, ento, para a abordagem do princpio eleito
para estrelar este artigo, o princpio da dimenso coletiva das relaes de consumo.
Antes dessa abordagem, porm, uma ltima estao, por sinal vizinha do princpio
da efetividade da tutela processual (to vizinha que muitas vezes se confundem as
duas). a estao da instrumentalidade do processo.
3 - INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO, ACESSO ORDEM
JURDICA JUSTA E MACROPROCESSO
A preocupao com a efetividade do processo de grande importncia, mas no
prescinde de orientao finalstica. De fato, processo efetivo para qu? A quem
serve a efetividade? Quais os seus efeitos? A simples meno necessidade de
efetivar direitos subjetivos no esgota, longe disso, os palpitantes questionamentos,
que se ligam de modo ntimo ao tema do acesso justia considerado pelo grande
Mauro Cappelletti, talvez o processualista maior dos nossos tempos, "o ponto
central da moderna processualstica", pressupondo o seu estudo "um alargamento
e aprofundamento dos objetivos e mtodos da moderna cincia jurdica" (39). Aqui
no Brasil, o tema do acesso, extremamente rico e multifacetado, ainda espera
melhor receptividade cientfica e tambm prtica, logicamente... Mas j se acha
bem desenvolvida a doutrina da instrumentalidade do processo (classificvel como
um importante subtema do amplssimo espectro de implicaes do acesso justia),
que se prope a adjetivar a meta da efetividade do processo, dando-lhe a
indispensvel inspirao teleolgica. Boa parte dos louros cabe ao Prof. Cndido
Rangel Dinamarco, autor de primorosa obra sobre o assunto, "A Instrumentalidade
do Processo" (So Paulo, Malheiros, 1. ed. em 1987).
Vale a pena pousarmos ligeiramente sobre a premiada obra do Prof. Dinamarco,
pois ela tem muito a oferecer ao desenvolvimento deste trabalho. Entre tantas outras
idias, valoriza o autor a viso externa e multidisciplinar do sistema processual, que
se abre a perspectivas antes sufocadas pelo tradicional mtodo introspectivo. O
processo, em termos mais populares, deixa de se importar unicamente com o
prprio umbigo e passa a questionar os seus resultados perante a sociedade. "
tempo", diz o Prof. Dinamarco, "de integrao da cincia processual no quadro
das instituies sociais, do poder e do Estado, com a preocupao de definir
funes e medir a operatividade do sistema em face da misso que lhe reservada.
J no basta aprimorar conceitos e burilar requintes de uma estrutura muito bem
engendrada, muito lgica e coerente em si mesma, mas insensvel realidade do
mundo em que deve estar inserida." (40) E mais, na mesma parte da obra (a parte
introdutria), mesma pgina: "A nova perspectiva aqui proposta constitui motivo
para a abertura do sistema processual aos influxos do pensamento publicista e
solidarista vindo da poltica e da sociologia do direito. Pelo fio da
instrumentalidade, o processo h de receber as lies que durante sculos negou-
se a ouvir e sentir as crticas que jamais soube racionalizar."
Fundamental, na doutrina do Prof. Dinamarco, a sublimao do raciocnio
teleolgico. E nem poderia ser diferente. Se o processo um instrumento, quais os
fins que a ele se ligam? Como diz o magistral doutrinador, " vaga e pouco
acrescenta ao conhecimento do processo a usual afirmao de que ele um
instrumento, enquanto no acompanhada da indicao dos objetivos a serem
alcanados mediante o seu emprego" (41). Os fins, os objetivos do sistema
empalmam assim o papel de grandes protagonistas. Passa a ser imprescindvel
perscrutar os escopos da jurisdio. Nesse ponto, aparece o outro trao fundamental
da obra: no considerado apenas o escopo jurdico da jurisdio (atuao da
vontade concreta do direito). Graas abertura do sistema a ngulos externos, a
jurisdio assume compromissos igualmente relevantes com escopos polticos (v.g.,
a afirmao da vontade do ordenamento estatal) e sociais (v.g., a pacificao com
justia).
Em suma, a viso instrumentalista eminentemente teleolgica e, outrossim,
contempla fins que transcendem o mundo jurdico. No prescinde, logicamente, da
efetividade da tutela processual, mas vai alm. Tornando o sistema processual
permevel "s presses axiolgicas exteriores" (42) e descortinando os escopos
extrajurdicos da jurisdio, o instrumentalismo acaba por favorecer o acesso a uma
ordem jurdica que se quer substancialmente justa, e no apenas legal. Exatamente
nesse ponto se cruzam os caminhos da instrumentalidade do processo e do Cdigo
de Defesa do Consumidor, estatuto que tambm se volta enfaticamente, como
vimos repisando desde a introduo deste texto, para o acesso ordem jurdica
justa.
esse riqussimo encontro CDC e instrumentalidade do processo que
pretendemos explorar aqui, dele extraindo concretas jazidas. Tambm deriva da
proposta instrumentalista a necessidade de um processo rente ao direito substancial
(sem prejuzo, evidentemente, da indiscutvel autonomia do direito processual). E o
processo do consumidor h de aderir ao potencial revolucionrio das normas
substanciais do CDC, a ponto mesmo de se permitir ser chamado de "processo do
consumidor" (43). Eis a, justamente, o desafio maior desse ousado "processo do
consumidor": no deixar, sob hiptese alguma, que no plano jurisdicional se
esvanea a ndole transformadora das normas consumeristas de direito material.
Esto postas na mesa, portanto, as influncias maiores sobre este ensaio. O apego
ao raciocnio teleolgico ficou patente na primeira parte do trabalho, que ora se
encerra, na qual se deu primazia interpretao lgico-sistemtica do CDC, calcada
nos princpios e fins do sistema. Na segunda parte, prestes a ser iniciada,
prestigiar-se-o os escopos extrajurdicos da jurisdio, testando-se ao longe as
esplndidas potencialidades do instrumentalismo.
Uma ltima observao deve ser feita. a observao de que, sintetizando a
invocao dos escopos extrajurdicos da jurisdio, recorreremos a uma expresso
que julgamos extremamente feliz: macroprocesso. Ela empregada por outro
processualista consagrado, Srgio Bermudes, que o faz nos seguintes termos: "O
processo, entretanto, se projeta muito alm do interesse das pessoas diretamente
envolvidas porque instrumento de pacificao social; porque devolve a paz ao
grupo, servindo tambm de mtodo pedaggico, pois atravs dele o Estado vai
ensinando os jurisdicionados a cumprir o direito. Contemplado do ngulo do
interesse social, o processo macroprocesso, pela abrangncia dos seus
resultados. Sem o perceberem, os litigantes, na luta por seus interesses, minsculos
se confrontados com superiores razes sociais, propiciam a realizao da paz e a
admirvel obra de criao do direito, que a deciso judicial realiza. Tenho j
comeado um ensaio com o ttulo O Caador de Esmeraldas e o Processo
Judicial, onde comparo a aventura das partes, no processo, de Ferno Dias
Paes Leme, cantada no majestoso poema de Olavo Bilac. E enquanto ias,
sonhando o teu sonho egosta,/Teu p, como o de um deus, fecundava o deserto.
Como na epopia do bandeirante, enquanto as partes contendem, na perseguio
de seus objetivos, o processo realiza o milagre da atuao do direito como sistema
de adaptao do homem no grupo, interpretando, aplicando e atualizando as
normas, em consonncia com as necessidades sociais." (44) Macroprocesso, assim,
significa um processo muito mais transcendente, plenamente imbudo das suas
relevantes implicaes sociais e polticas.
Fechando o captulo, no resistimos tentao de mais uma citao da obra do Prof.
Bermudes. A citao diz respeito narrativa de um fato real sem qualquer
conseqncia jurdica, mas que certamente tem muito a ver com a noo de
macroprocesso: "Victor Nunes Leal, um dos maiores juzes do Supremo Tribunal
Federal em qualquer tempo, costumava lembrar que, visitando Braslia, ainda em
construo, Juscelino Kubitschek indagava aos operrios o que estavam fazendo. A
resposta vinha especfica: assentando um tijolo, erguendo uma parede, fixando
uma viga. Um dia, o presidente perguntou a um candango que escavava fundo a
terra onde se fincariam os alicerces do mais belo monumento da nova cidade: E
voc, o que faz a embaixo?. A resposta comoveu de tal modo Juscelino, que ele
saltou no fosso para abraar o operrio: Presidente, eu estou construindo uma
catedral. Urge que cada sujeito do processo se compenetre da sua funo de
construtor de catedrais." (45)
4 - O PRINCPIO DA DIMENSO COLETIVA DAS RELAES DE
CONSUMO
No h lides verdadeiramente individuais no campo das relaes de consumo.
Mesmo aquelas aparentemente individuais acham-se recobertas pela inevitvel
sombra de uma problemtica muito mais ampla coletiva! Assim, se um simplrio
radinho de pilha de determinada marca apresentou algum vcio, provavelmente
muitos outros da mesma marca ostentaro idntica falha, prejudicando um nmero
indeterminado de consumidores. Impossvel e extremamente nocivo, portanto,
cuidar das lides de consumo como se fossem lides individuais, impermeveis
sombra coletiva de que falamos.
Nesse passo, descortinamos magnfica paisagem. Retraem-se, recolhem-se, os
exauridos Tcio, Mvio & Cia., intrpidos protagonistas de seculares pendengas.
Em seu lugar, avanam os filhos da sociedade de massa, no mais brilhando em
carreira solo, mas sim considerados na tessitura de grandes (e inevitveis, at
involuntrias) alianas, que encerram um nmero indeterminado de componentes.
No se trata, obviamente, de fenmeno privativo do Direito do Consumidor. H
quase 20 anos, o Prof. Barbosa Moreira j anunciava a emergncia da coletivizao
do Direito em geral: "Passageiros do mesmo barco, os habitantes deste irrequieto
planeta vo progressivamente tomando conscincia clara da alternativa essencial
com que se defrontam: salvar-se juntos ou juntos naufragar. A histria individual
ter sempre, naturalmente, o seu lugar nos registros csmicos; acima dela, porm,
e em grande parte a condicion-la, vai-se inscrevendo, em cores mais berrantes, a
histria coletiva. Os olhos da humanidade comeam a voltar-se antes para o que
diz respeito a todos, ou a muitos, do que para o que concerne a poucos, ou a um
s." (46) As pginas de Barbosa Moreira tornaram-se clssicas. E frutificaram. Hoje
em dia, j se concebe at a figura do dano moral coletivo, que consistiria, segundo
Carlos Alberto Bittar Filho autor de ensaio, j citado, sobre o vioso tema na
"injusta leso da esfera moral de uma dada comunidade" (47).
Sem prejuzo de se tratar de tendncia geral, no Direito do Consumidor a tica
coletiva impe-se de maneira ainda mais inelutvel. Afinal, o prprio consumo diz
respeito a uma funo de ndole coletiva, como leciona Thierry Bourgoignie, um
dos maiores especialistas europeus na matria: "O fenmeno do consumo alude
mais a uma funo do que a um simples ato tcnico; ele se reveste em
conseqncia de uma dimenso coletiva, ele constitudo de um conjunto de atos
individualmente praticados e repetidos por um nmero de indivduos. O
consumidor no pode em conseqncia ser considerado como parceiro de trocas
individualizadas; ele tambm o quarto plo do ciclo produo-distribuio-troca-
consumo e ele partilha, a este ttulo, os interesses coletivos, similares mas
dispersos dos indivduos que compem o grupo econmico consumidor." (48)
No estivssemos hoje em uma sociedade de massa, refratria a abordagens de
cunho individualista, e no teria maior sentido erigir um sistema especfico para a
tutela dos direitos dos consumidores. A propsito do tema, e depois de citar
Norberto Bobbio para quem "os direitos do homem, por mais fundamentais que
sejam, so direitos histricos (...)" , salienta o ilustre advogado maranhense Jos
Antnio Almeida que "O direito do consumidor, corolrio do reconhecimento da
necessidade de defesa do consumidor, nasce, portanto, dentro da perspectiva
histrica de que vivemos em uma sociedade de massa (...)" (49).
Portanto, a dimenso coletiva entranha-se na essncia de qualquer matria que
envolva os direitos do consumidor. Natural, assim, tenha se esmerado o CDC em
cevar institutos e temas profundamente relacionados ao fenmeno da coletivizao,
fato que j pode ser percebido na prpria demarcao da figura do consumidor. Diz
o art. 2, pargrafo nico, da Lei 8.078/90: "Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indeterminveis, que haja intervindo nas
relaes de consumo". Aos mais literais, careceria o dispositivo de um sentido
prtico mais palpvel. No entanto, precisamente a est a fora da norma. De uma
forma genrica, geral, e logo na sua fachada, o CDC j apregoa a relevncia do
fator coletivo. E nas outras equiparaes que faz, relativas figura do consumidor,
o Cdigo sublinha e engrossa esse trao fundamental. No campo da
responsabilidade pelo fato do produto e do servio, "equiparam-se aos
consumidores todas as vtimas do evento" (art. 17). No terreno das prticas
comerciais e da proteo contratual, com mais nfase ainda, "equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas, determinveis ou no, expostas s prticas nele
previstas" (art. 29).
Por falar em prticas comerciais e proteo contratual, eis um prato cheio para o
princpio da dimenso coletiva. Repare-se desde logo que as patologias
encontradias nesses recantos jamais atingiro somente um ou alguns
consumidores, mas sim um universo bastante amplo, muitas vezes difuso. Pensemos
primeiramente no exemplo mais bvio, a publicidade. Trata-se de fenmeno
eminentemente coletivo, com reflexos sociolgicos os mais agudos, que extrapolam
em muito o crculo jurdico. A civilizao atual seria completamente outra se
publicidade no houvesse. No houvesse?! Positivamente, no conseguimos hoje,
por maior que seja o esforo mental, cogitar de algum tipo de civilizao sem
publicidade...
Tambm inserta entre as prticas comerciais est a oferta stricto sensu (arts. 30 a
35), cujo tratamento pelo CDC encerra outro sincero tributo dimenso coletiva.
Tome-se em especial o art. 30: "Toda informao ou publicidade, suficientemente
precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicao com relao a
produtos e servios oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Esta a
nova medida da oferta no sistema ptrio, aperfeioando em muito a figura da
proposta assentada pelo Cdigo Civil (art. 1.080), de matiz nitidamente
individualista (como no poderia ser diferente). Sob a gide da formulao civilista
da proposta, frutificou o entendimento de que os fornecedores no se vinculavam
em razo das mensagens publicitrias por eles promovidas, j que tais mensagens
caracterizariam um mero convite para a oferta ("invitatio ad offerendum") (50),
tocando ao consumidor a iniciativa e os nus da proposta. Por que "mero
convite"? Simplesmente porque se tratava de uma oferta genrica, coletiva, que no
conteria aquela vontade especfica de contratar exigida pelo regime individualista
do Cdigo Civil. certo que nos ltimos tempos, mesmo antes da edio do CDC,
uma interpretao evolutiva do Cdigo Civil j se encarregaria de fulminar a tese
individualista e inqua da invitatio (51). De toda sorte, o CDC, pensando tambm
em outros efeitos, fez questo de no deixar dvida a respeito do poder de
vinculao atribudo, na sociedade de massa, s manifestaes negociais dos
fornecedores. Inverteram-se, dessa forma, os sinais da equao: se no sistema
(individualista) do Cdigo Civil, o consumidor que era "convidado" a ofertar,
agora (na sociedade de massa) "o fornecedor sempre o presumido ofertante, (e) o
consumidor aquele que aceita a oferta colocada no mercado" (52). Como se v,
forte a ascendncia do princpio da dimenso coletiva sobre a nova concepo de
oferta posta pelo CDC, a qual trouxe, ressalte-se, importantes conseqncias
prticas (53).
No fica atrs o captulo da proteo contratual, especialmente quando o assunto
contrato de adeso (modalidade de contratao que responde por mais de 99% dos
contratos entabulados nos tempos atuais, como informa Ana Emlia Oliveira de
Almeida Prado, em artigo publicado na Revista Direito do Consumidor 11 (54)). Os
contratos de adeso so produto direto da sociedade de massa. Entre as suas
caractersticas esto a generalidade, a uniformidade e a abstrao. To extensa a
rbita dos contratos de adeso que a proliferao desse instrumento, fenmeno do
sculo XX, gerou preocupante desvio: os empresrios, notadamente no que se refere
aos grandes grupos, passaram a ostentar a condio de virtuais legisladores!
Autorizados por algum tipo de outorga popular? Certamente que no... Nos
contratos de adeso que foi identificada a fonte desse esdrxulo poder normativo.
Como os abusos revelaram-se intolerveis, exatamente em virtude da vocao
coletiva desses contratos, sentiu-se a necessidade da reao do Estado, para
recuperar o domnio que, paulatina e sorrateiramente, lhe fora subtrado. No Brasil,
a reao tardou e s se fez presente com o CDC, primeiro diploma nacional a
abordar diretamente os contratos de adeso.
Ainda sobre a relao entre contratos de consumo e o princpio da dimenso
coletiva, vale destacar o regime das invalidades no CDC. Nele, impera a cominao
da nulidade de pleno direito (55), deixando praticamente sem oxignio a chance de
alguma anulabilidade. A preferncia pela nulidade (de pleno direito) reverencia
razes bvias. Enquanto as anulabilidades atendem basicamente a interesses de
carter privado e natureza individualista, o regime das nulidades vai afinar-se com
os imperativos da ordem pblica e do interesse coletivo (da se deduzindo as feies
tradicionais desse regime: possibilidade de conhecimento de ofcio, no-sujeio a
prazos decadenciais etc.) (56).
E a provncia da responsabilidade civil? A responsabilidade do fornecedor, na
sistemtica do CDC, tambm se acha vivamente marcada pelo fator coletivo. De
fato, o que no representa a teoria do risco profissional, adotada pelo Cdigo, seno
a socializao dos riscos do mercado de consumo (57)? O combate ao "obsoletismo
planejado" (58) testemunha igualmente a inexorabilidade da abordagem coletiva. E
mais solar ainda se descobre a influncia da coletivizao quando um outro lado da
questo da responsabilidade enfocado: no o lado represssivo, mas sim o flanco
preventivo. Nessa matria, impe o CDC aos fornecedores uma srie de cautelas e
providncias (arts. 8 ao 10), que tero obrigatoriamente alcance geral, coletivo,
prevendo-se inclusive a veiculao de anncios publicitrios, s expensas dos
fornecedores, para alerta dos consumidores acerca da periculosidade de um produto
ou servio descoberta aps a respectiva introduo no mercado (art. 10, 1 e 2).
At no plano penal, o coletivo no se faz de rogado. De acordo com Antnio
Herman de Vasconcellos e Benjamin, "os tipos penais do CDC no podem ser
lidos, estudados ou compreendidos sob a tica dos bens jurdicos tradicionais,
moldados para cuidar de relaes fragmentadas e individuais e no de relaes
globais e coletivas, caracterstica primeira da sociedade de consumo" (59). Da que
se trata de "crimes contra as relaes de consumo" (art. 61 do CDC), tendo por
sujeito passivo a coletividade de consumidores. Impensvel assim, mesmo sob os
holofotes da prestigiosa doutrina que preconiza um direito penal mnimo, a
descriminalizao das condutas tipificadas no Cdigo do Consumidor, uma vez que
o raio de lesividade dessas aes muito mais vasto (60).
Coroando a sistemtica coletivizante, temos a avanada disciplina das aes
coletivas, que contempla a defesa judicial no s dos direitos ou interesses difusos e
coletivos stricto sensu, mas tambm daqueles individuais homogneos, categoria
praticamente indita no ordenamento ptrio (61). Marcou-se assim mais um gol de
placa no campo da tutela coletiva dos direitos, elevando-se o Brasil a posio de
realce nesse campo (em que pese a recentidade do trato legislativo da matria). No
bastasse, trouxe o Cdigo a possibilidade de realizao de convenes coletivas de
consumo (art. 107), em outra iniciativa inovadora. Enfim, seja atravs da maior
abrangncia das aes coletivas (e at dispensa do requisito da pr-constituio das
associaes legitimadas art. 82, 1), seja
atravs da previso de convenes coletivas, buscou o Cdigo do Consumidor
fomentar o associativismo (confira-se o art. 4, II, b) (62), pela singela e
fundamental razo, exaustivamente encarecida aqui, de que os conflitos gerados por
uma sociedade de massa devem ser enfrentados de maneira congruente, ou seja:
coletivamente.
5 - O PRINCPIO DA DIMENSO COLETIVA DAS RELAES DE
CONSUMO E OS DANOS MORAIS A FUNO PREVENTIVO-
PEDAGGICA DAS INDENIZAES, ESPECIALMENTE QUANTO AOS
DANOS MORAIS DERIVADOS
Apesar da importncia do princpio da dimenso coletiva, muitas vezes, sobretudo
na prtica judiciria, ele se v solenemente ignorado, no se lhe concedendo
qualquer efeito mais srio. A reao no causa espanto maior, muito fundas que so
as razes individualistas do nosso Direito. Pouco a pouco, porm, a resistncia cede
e o individualismo perde terreno no mundo jurdico, no se afigurando temerrio
augurar consistncia cada vez maior, e mais decisiva, para o princpio que estamos
focalizando (63).
Dentro da tendncia apontada, muito interessante a conotao que se vem dando,
em doutrina e jurisprudncia, indenizao por danos morais. Antes de forma um
tanto receosa, e ultimamente de maneira bem mais resoluta, passou-se a admitir
uma funo punitiva (64) para as condenaes relativas a danos morais.
Genuinamente "punitiva"? No, talvez o termo no seja o mais exato. Na verdade,
poderamos falar, mais apropriadamente, em uma funo preventivo-pedaggica
para os danos morais, a qual se mostra intimamente conectada ao tema da
coletivizao jurdica. De fato, em conflitos meramente intersubjetivos, a aludida
funo preventivo-pedaggica pouco tem a brilhar, mormente porque se trata, em
regra, de lides eventuais, no habituais, no profissionais. Tudo muda de figura,
entretanto, quando estamos diante de conflitos carregados de dimenso coletiva (o
que abarca, logicamente, aquelas disputas que, apesar de aparentemente individuais,
so recobertas por uma infalvel sombra coletiva). E so exatamente essas as
pendncias, inerentes sociedade de massa, que povoam o reino das relaes de
consumo.
bvio, ento, que a funo preventivo-pedaggica das indenizaes por danos
morais revela-se extremamente cara ao Direito do Consumidor, onde os conflitos,
sob a tica do fornecedor, no so eventuais, mas sim habituais, profissionais (o que
por sinal agrava a vulnerabilidade do consumidor no campo judicirio). Por sinal, a
distino entre os litigantes "eventuais" e os litigantes "habituais", por reproduzir no
processo a desigualdade existente no campo material, revela-se de grande
importncia para o encadeamento deste artigo. Quem se debrua sobre a questo o
grande Mauro Cappelletti, na sua citada obra sobre acesso justia, in verbis: "O
professor Galanter desenvolveu uma distino entre o que ele chama de litigantes
eventuais e habituais, baseado na freqncia de encontros com o sistema
judicial. Ele sugeriu que esta distino corresponde, em larga escala, que se
verifica entre indivduos que costumam ter contatos isolados e pouco freqentes
com o sistema judicial e entidades desenvolvidas, com experincia judicial mais
extensa. As vantagens dos habituais, de acordo com Galanter, so numerosas
(...)" (65).
As "numerosas" vantagens dos litigantes habituais reiteradamente acicatam, entre
ns, prticas empresariais sumamente desleais e nocivas ao consumidor. Claro!
Sabem perfeitamente os fornecedores menos atentos aos ditames do princpio da
boa-f que a grande maioria dos consumidores lesados por determinada prtica
abusiva ou se conformar com a leso, por uma srie de motivos v.g., pode ser
medo de represlias (66), pode ser a problemtica do acesso justia deficiente,
drama universal , ou mesmo sequer se aperceber dela. Quanto aos inconformados
conscientes, tambm no infundem maior temor, pois igualmente do
conhecimento do fornecedor pouco catlico que essa minoria ter de se ver com os
percalos referentes ao sistema judicial, includas a no s as dificuldades quanto
prova dos fatos alegados, mas tambm as inevitveis crises nervosas que sero
ofertadas ao patriota litigante (eventual) pelo nosso calamitoso processo de
execuo (67) (68). Dessa forma, muitas vezes o crime compensar, e muito!
Ho de se considerar, outrossim, aquelas leses, ocorrentes no mercado de
consumo, que so imensurveis ou insignificantes individualmente mas geram um
fabuloso enriquecimento ilcito para o fornecedor. Recentemente, por exemplo,
noticiou-se que havia bancos movimentando indevidamente o dinheiro dos seus
clientes, sem o conhecimento destes. Os danos individuais certamente tero sido
diminutos, no compensando a propositura de uma ao judicial (mesmo em um
Juizado Especial), at porque o assunto envolve complexidade tcnica. O lucro
gerado aos bancos, ao contrrio, pode ter sido assaz confortante, ainda que
descoberto o abuso (sendo lcito supor, alis, que muitas peraltices do gnero sequer
cheguem a ser desvendadas). Mais uma vez, o crime revela-se altamente
compensador...
Cite-se mais um exemplo concreto, que est na Revista Direito do Consumidor 21
(69). O caso foi de propaganda enganosa: "Induzimento do consumidor, atravs de
embalagem visvel, aquisio de produto, o que daria direito participao em
sorteio de prmios, quela altura, segundo o regulamento oculto no interior da
embalagem, j realizado". Apesar de a conduta do fornecedor denotar deslealdade,
perfdia, pouco tem o consumidor a reclamar se adotada a mentalidade tradicional,
que exige prova exaustiva para todos os prejuzos sofridos. Vejam-se ento os
malabarismos aritmticos a que foi levado o autor no seu pedido (ao final
vitorioso): "Postula por indenizao que deve ser calculada tomando-se por base o
resultado do clculo de probabilidade de ser contemplado com qualquer das
premiaes elencadas no regulamento do concurso, levando-se em conta a
representatividade monetria atualizada de cada prmio, considerando-se o
nmero de embalagens enviadas patrocinadora do sorteio. Aps este clculo,
considere-se a mdia ponderada dos valores dos bens oferecidos em sorteio, j que
o primeiro deles o mais expressivo e em muito se distancia dos demais, alm de
ser o nico destacado na frente da embalagem." Ufa! Em que pese a criatividade do
pedido, no parece a ao capaz de desestimular, de maneira eficaz, o procedimento
abusivo do fornecedor, que certamente lesou um nmero expressivo de
consumidores.
Como combater tantas iniqidades, em to larga escala? As aes coletivas, por
mais evoludo que seja o sistema, no podem e nunca podero preencher o
imenso permetro de contenciosidade que cerca as relaes de consumo. Por
conseguinte, imperioso que tambm no mbito da tutela nominalmente individual
se d efetividade plena ao princpio da dimenso coletiva, a ele se atribuindo efeitos
concretos, palpveis. Ativando-se a funo preventivo-pedaggica dos provimentos
judiciais, alcana-se um desses efeitos concretos. Como a reparao dos danos
morais, ao contrrio do ressarcimento por prejuzos materiais, no tem balizas fixas,
presta-se sobremodo a essa transcendncia maior reclamada para o "processo do
consumidor". Se no tivessem sido objeto de veto presidencial os dispositivos do
CDC que previam a multa civil (arts. 16, 45 e 52, 3), no se exigiria tanto da
indenizao por danos morais. Sem a multa civil, porm, o j comentado
macroprocesso, para a concretizao dos seus amplos escopos, muito vai depender
da concepo que triunfar, no foro, a respeito do peso da indenizao por danos
morais.
claro que ausncia de balizas fixas, como foi mencionado acima, no quer dizer
ausncia de quaisquer paradigmas. No. Paradigmas que guardem flexibilidade
(afinal, em matria de danos morais, desculpem o bvio ululante, cada caso um
caso...) mostram-se bem-vindos, para propiciar maior segurana aos
jurisdicionados. Mas fundamental que tais paradigmas, a serem burilados pelos
tribunais, observem a dimenso coletiva das relaes de consumo. Nesse labor, a
anlise da conduta do ru ter importncia crucial, mais at do que a prpria
repercusso da ofensa na esfera subjetiva do consumidor. preciso ento
proclamar, com todas as letras: ao apreciar pedido de indenizao por danos morais,
no territrio das relaes de consumo, o magistrado deve pensar no s no caso
concreto, mas tambm nos efeitos que a deciso produzir em um raio muito maior!
a materializao, repita-se, do chamado macroprocesso. Pedindo mil vnias,
sintetize-se a tese esposada com a pardia de um dito popular machista e
retrgrado: o juiz pode at no saber por que est batendo, mas o fornecedor sabe
por que est apanhando... Em outras palavras, menos deselegantes: mesmo que o
dano moral propriamente dito no tenha sido to saliente sob o aspecto subjetivo, o
fornecedor muitas vezes merecer indenizao rigorosa, para que restem
desestimuladas leses idnticas contra um nmero indeterminado de vtimas.
No devem as palavras mais bombsticas do texto deixar a impresso de que
estejamos descobrindo a plvora. Muito pelo contrrio. A funo preventiva da
indenizao por danos morais e a nfase na conduta do ofensor, para efeitos de
quantificao da indenizao, h anos e anos no traduzem mais novidade alguma
no meio jurdico. Mas ainda falta assentar, solidamente, a necessidade de aplicar
tais diretivas s relaes de consumo com a maior contundncia possvel. Ora, dada
a dimenso coletiva desse tipo de relao, no h territrio mais propcio
afirmao da transcendncia social da indenizao por danos morais. Essa
transcendncia, alis, prevista implicitamente pelo CDC, quando trata das aes
coletivas. Com efeito, ao prever a condenao genrica nas aes para a defesa de
direitos e interesses individuais homogneos, no art. 95, e ainda a reparao fluida
(fluid recovery), no art. 100, operou o CDC mais um prodgio, assim comentado
pela emrita Prof Ada Pellegrini Grinover: "Nos termos do art. 95, porm, a
condenao ser genrica: isso porque, declarada a responsabilidade civil do ru,
em face dos danos apurados por amostragem e percia, e o dever de indenizar, sua
condenao versar sobre o ressarcimento dos danos causados e no dos prejuzos
sofridos. Trata-se de um novo enfoque da responsabilidade civil, que foi apontado
como revolucionrio e que pode levar a uma considervel ampliao dos poderes
do juiz, no mais limitado reparao do dano sofrido pelo autor, mas investido
de poderes para perquirir do prejuzo provocado." (70)
As lies acima consolidam de uma vez por todas a certeza de que, nas lides de
consumo, as atenes devem recair sobre a conduta do ofensor e os danos por ele
causados, ou ameaados (o aspecto preventivo do Direito do Consumidor no pode
ser minimizado em nenhum momento). Dessa forma, refora-se sobremaneira a
funo preventivo-pedaggica das indenizaes por danos morais. Mesmo que o
conflito de consumo se apresente nominalmente individual, a mesma ratio essendi
das aes coletivas deve prevalecer, eis que pertencer o conflito, sempre, a uma
dimenso coletiva, como j repetido exausto.
Entremostra-se nessa passada, quando falamos sobre a funo preventivo-
pedaggica dos comandos judiciais nos pleitos consumeristas, um escopo
verdadeiramente poltico da jurisdio. Com efeito, a manifestao pretoriana h de
demonstrar cabalmente a reprovao estatal em relao a comportamentos que
infrinjam a ordem pblica do consumidor, desestimulando o infrator da maneira a
mais persuasiva possvel. No possvel que a deciso judicial, mesmo condenando
o fornecedor, estimule ainda mais o proceder ilcito. Imagine-se por exemplo uma
empresa que recebe o preo do consumidor (no mnimo pago um sinal) e no
entrega o produto alienado, valendo-se de variada sorte de artifcios
procrastinatrios. Em um caso assim, a condenao simples (o desfazimento do
contrato e a devoluo do que foi pago pelo consumidor), sem danos morais,
representar maravilhoso prmio para o mau fornecedor, que embolsou o dinheiro
do consumidor, belo capital de giro, e s ser realmente obrigado a devolv-lo, em
hiptese otimista, muito tempo depois, quando o exausto e desiludido consumidor
conseguir enfim superar os terrveis obstculos do processo de execuo. Moral da
nossa histria (infelizmente no ficcional, muito pelo contrrio): o sinal verde sorriu
para novas estripulias do fornecedor, e quem ficou realmente desestimulado foi o
consumidor, que pensar 37 vezes antes de reclamar novamente os seus direitos.
Melancolicamente, ter sido confirmada a maldio da expresso (quase um
xingamento) "vai procurar seus direitos" (71).
Exatamente para evitar que "vai procurar seus direitos" continue entre ns na forma
de antema, prprio de bocas sujas, mostra-se absolutamente essencial efetivar aqui
as generosas idias que inspiram o instrumentalismo, o macroprocesso. O processo,
insista-se, no mais visto como mero instrumento tcnico de resoluo de
conflitos individuais. Quer-se mais do processo, uma funo muito mais
transcendente. Quer-se que ele atue positivamente na busca da elevao dos padres
ticos de uma sociedade. A deciso judicial assume, com o macroprocesso, um
peso muito maior, servindo no s para resolver com justia o caso concreto, mas
tambm para prevenir semelhantes leses. dessa funo preventivo-pedaggica
dos provimentos judiciais que o Direito do Consumidor, em especial, no pode
prescindir, tendo-se em vista a sua dimenso eminentemente coletiva.
Mas no concedamos exclusividade ao princpio da dimenso coletiva. Afora ele,
outros princpios bsicos do CDC tambm servem para clarear a discusso,
indissolvel que (como j vimos farta) o concerto dos grandes princpios do
Cdigo. No exemplo dado um pouco acima a condenao que premia o mau
fornecedor , o consumidor ter pago, antecipadamente, o preo do produto (ou
parte do preo). Trata-se de situao corriqueira nas relao de consumo, algo que
j confere, de cara, uma grande vantagem, inclusive psicolgica, ao fornecedor.
Este, alm disso, encarna a figura do litigante habitual, ao passo que o consumidor
assume as vestes do litigante eventual, outro fator que traz enorme vantagem ao
primeiro. Vale frisar novamente o lado psicolgico: enquanto um processo no
costuma trazer qualquer abalo normalidade das atividades do fornecedor, para o
consumidor a empreitada judicial pode redundar em transtornos srios, no sendo
incomuns os relatos de quebra da harmonia domstica e at perda do emprego,
decorrente das faltas ligadas ao acompanhamento do processo (72). Tudo isso
evoca, ogicamente, o princpio do reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo (73), j focalizado. Portanto, tambm deve ser
irrestrita a aplicao, aos casos de danos morais nas relaes de consumo, dos
corolrios do princpio do reconhecimento da vulnerabilidade. dizer: os riscos do
negcio de consumo, deixando de recair sobre os ombros do consumidor, passam a
onerar o fornecedor, o que inclui, evidentemente, o risco de indenizaes mais
substanciais. Alm disso, quaisquer dvidas, inclusive quanto ao valor da
indenizao, devem favorecer o consumidor. A parte mais fraca, a vtima, no pode
ser duplamente prejudicada. O prprio Cdigo Civil, a propsito, j dispe no seu
art. 948 (infelizmente no muito explorado): "Nas indenizaes por ato ilcito
prevalecer o valor mais favorvel ao lesado".
Outro princpio bsico que comparece com entusiasmo ao debate o princpio da
boa-f objetiva, tambm j abordado. Cuida-se de mais uma fonte de inspirao
essencial para a funo preventivo-pedaggica das indenizaes por danos morais.
Essencial e decisiva, principalmente no que toca queles danos morais que
denominaramos "derivados". Que danos so esses? Passemos a lhes dedicar
ateno: danos morais "derivados", segundo nossa concepo, so aqueles danos
que acompanham, escoltam, uma leso primria conexa de contedo patrimonial (e
geralmente com origem em contrato). No se confundem com os chamados danos
morais "reflexos". Enquanto estes tomam a forma de um dano extrapatrimonial que
depois se converte em patrimonial no exemplo clssico de Carlos Alberto Bittar,
o atentado imagem que acarreta a perda da clientela , os danos morais
"derivados" ostentam estrutura rigorosamente inversa: uma leso inicialmente
patrimonial que tem o condo de arrastar, provocar, danos de natureza
extrapatrimonial. Consubstanciam-se tais danos morais "derivados", por exemplo,
na frustrao, no desgaste, na exasperao, na revolta de um consumidor que pagou
e no recebeu o produto contratado.
At hoje, pouca ou nenhuma ateno foi dada pela doutrina aos danos "derivados",
cujos contornos conceituais, dessa forma, so largamente desconhecidos. Mas eles
existem, mesmo sem portar documento de identidade, e os tribunais tm discutido
sobre a sua ressarcibilidade. Com os subsdios do princpio da boa-f objetiva,
tambm ns discutiremos a ressarcibilidade, ou no, dos danos morais "derivados".
Frise-se em primeiro lugar esse ponto: que os danos morais "derivados" existem,
no pode haver dvida nenhuma. Todos somos consumidores e sabemos quo
torturante, do ponto de vista emocional, pode ser o comportamento de um
fornecedor impontual e pouco cioso de suas responsabilidades. Ademais, leses
aparentemente pequenas podem provocar verdadeiras tempestades no lar do
consumidor. No bastasse, qualquer questo judicial, como j frisado logo acima
(quando falvamos sobre a posio desfavorvel do consumidor, litigante eventual,
sob o ngulo psicolgico), acende a perspectiva de aborrecimentos e percalos
bastante penosos para quem teve seu direito lesado, com direito a filas nos rgos
de defesa do consumidor e perda de dias de trabalho. Tudo isso, indiscutivelmente,
dano moral. claro que esses danos morais "derivados" no se ombreiam, por
exemplo, dor provocada pela morte de um ente querido. Mas so, igualmente,
danos morais. Pode mudar o grau, ou a espcie, mas a essncia a mesma!
Passando agora ao cerne da discusso sobre a ressarcibilidade ou no desses danos
morais "derivados" que inegavelmente existem, no se questione mais tal
premissa , cumpre lanar na arena de debates o princpio da boa-f objetiva,
cabendo a ele, como se ver, a tarefa de ordenar e decidir a polmica. Pois bem, em
qualquer setor da vida social, no se pode (e nem seria conveniente) juricizar todo
padecimento de ordem moral. O Direito do Consumidor no exceo. Nem toda
vicissitude experimentada pelo consumidor desafiar uma correspondente
indenizao por danos morais. Portanto, na seara dos danos morais "derivados", h
aqueles que justificam indenizao e h tambm outros que no induzem a mesma
conseqncia. Como diferenci-los? exatamente a que aparece, providencial, o
princpio da boa-f objetiva.
O princpio da boa-f objetiva deve consistir na bssola precpua da ressarcibilidade
dos danos morais "derivados". De fato, caso o comportamento do fornecedor revele
ofensa ao princpio da boa-f objetiva que expressa verdadeira regra de conduta,
como j examinado neste artigo , a indenizao se far oportuna. Ao contrrio, se
inexistente a ofensa, faltar a indispensvel relevncia jurdica, descabendo, em
regra, a indenizao. A necessidade de proteger o fundamental princpio da boa-f
objetiva surge assim como critrio desempatador, comprovando de maneira
categrica a tese de que a conduta do fornecedor elemento essencial na equao
da ressarcibilidade dos danos morais sofridos pelo consumidor.
Um exemplo prtico se faz bem-vindo, para perfeito esclarecimento sobre a
influncia do princpio da boa-f objetiva. exemplo prtico e trivial, dizendo
respeito a um dos raros terrenos em que a Lei 8.078/90 no protegeu
suficientemente o consumidor: o terreno da responsabilidade pelos vcios dos
produtos e servios (arts. 18 e seguintes). Como notrio, no bastassem as
limitaes que o 1 do art. 18 do Cdigo inflige aos consumidores, grandes lojas,
ainda por cima, resistem sobremodo troca de produtos viciados (ou devoluo do
preo), mesmo naquelas situaes em que no subsiste dvida, ftica ou jurdica,
quanto obrigatoriedade da troca. Por sinal, outro exemplo prtico que logo vem
mente diz respeito a certos planos de sade, que adotam comportamento
semelhante: criam enormes dificuldades para a obteno de coberturas claramente
devidas (mxime em casos de exames e intervenes), na esperana de que o
consumidor, atarantado pelo problema de sade, acabe pagando por aquilo que o
plano deveria assegurar. Tem-se, nos exemplos dados, ofensa manifesta ao
princpio da boa-f objetiva. O fornecedor, visando obteno de lucros, aposta na
falta de reao do consumidor vulnervel e, ainda mais grave, investe na revogao
virtual de dispositivos de ordem pblica. Inevitveis danos que ocorram nesse
contexto de reiterada inobservncia da lei (74) devem ser ressarcidos com
severidade, at mesmo na hiptese (no muito provvel) de comprovar o fornecedor
a inocorrncia de qualquer inteno dolosa ou culposa. O princpio da boa-f
objetiva nas relaes de consumo, afinal, estabelece um padro objetivo de conduta.
Em outros termos: exige-se respeito objetivo ordem pblica de proteo ao
consumidor, o que dispensa qualquer cogitao acerca de culpa ou m-f subjetiva.
De todo modo, podendo ser identificada m-f subjetiva, o agravo ao princpio da
boa-f objetiva se potencializa, e a indenizao dever ser ainda mais rigorosa,
evidentemente (75).
Antes de seguir caminho, que fique muito claro: contrariedade ao princpio da boa-
f objetiva no se confunde com ocorrncia de culpa! A boa-f objetiva, conforme
j salientado, prescinde por completo da cogitao de culpa (como ocorre na
responsabilidade civil objetiva). No Direito do Consumidor, repise-se, a
entronizao da boa-f objetiva corresponde a um imperativo de efetividade, vez
que um dos plos da relao de consumo est, quase sempre, habitado por
empresas, no seio das quais as responsabilidades subjetivas facilmente se esfarelam,
principalmente no caso das grandes corporaes.
Por tudo que j foi expendido, nem preciso dizer que adotamos um conceito
bastante generoso de dano moral. Na verdade, trata-se de uma tendncia, que tem
rumo certo: a aceitao da ressarcibilidade daqueles danos morais que chamamos de
"derivados". Depois da superao da polmica sobre a ressarcibilidade em tese do
dano moral, seguiu-se a discusso sobre a sua conceituao, a sua delimitao. E os
tribunais, pouco a pouco, vm assimilando aquela abrangncia maior propugnada.
Para que o dano moral seja reconhecido, e ressarcido, no mais se faz mister que a
vtima perca os sete filhos esquartejados ou tenha os dois olhos furados... Assim,
deve ser indenizado qualquer dano extrapatrimonial que possua um mnimo de
relevncia jurdica ou seja, que tenha sido provocado por conduta contrria ao
princpio da boa-f objetiva , at mesmo danos prprios do cotidiano, sem maior
apelo dramtico. Nada mais justo. Qualquer tipo de dano rompe o equilbrio visado
pelo Direito para as relaes sociais. A negao desse axioma significa liberar uma
perigosa zona franca do dano, onde todos os pecados sero absolvidos quando o
prejuzo no for grave. A aludida zona franca no s abala, reitere-se, o
indispensvel equilbrio das relaes sociais, como tambm incentiva
comportamentos nocivos, enfraquecendo a tutela da incolumidade geral (76).
Recompor o equilbrio perdido, por conseguinte, afigura-se vital. Sempre. Para
tanto, seja o dano material ou moral, patrimonial ou extrapatrimonial, grave ou nem
tanto, imperiosa se torna alguma forma de compensao, que pode ser pecuniria ou
no.
Ao ensejo, sustente-se que ho de ser incentivadas as indenizaes altrusticas,
reconhecendo-se a presena, em tese, de todas as condies da ao no pleito em
que a vtima de dano moral pede seja a reparao respectiva destinada a uma
entidade filantrpica. Versasse o pleito sobre danos materiais, haveria realmente
srias suspeitas de carncia de ao. Mas se se trata de reparao de danos morais, a
pretenso reparatria ganha flexibilidade muito maior. Poder referir-se a dinheiro,
a um pedido de desculpas, prestao de um servio comunidade ou a qualquer
outra obrigao idnea compensao da dor moral. Esta, ao contrrio do dano
material, no pode ser vinculada a qualquer valor monetrio. No se atribui ao
lesado, por isso, rgido e milimtrico pretium doloris, mas sim uma compensao,
uma satisfao. Apresentando-se o pedido altrustico inteiramente adequado
compensao do dano moral, no pode ser impedido por duvidosas tecnicalidades.
Vale observar ainda que, dentro da amplido do dano moral aqui defendida,
prestigiam-se valores at ento indevidamente desprezados. Tome-se por exemplo o
lazer. Cuida-se de direito social, expressamente previsto na Constituio (art. 6,
caput). No entanto, luz de uma viso mais acanhada, a perda do lazer no seria
considerada dano moral. Como tambm no poderia, evidncia, ser enquadrada
como dano material, ficaria absolutamente impune a leso de direito e
desrespeitada a prpria Constituio, que no foi feita para acomodar termos
diletantes e palavras incuas. Exemplo prtico: o consumidor contrata os servios
de uma empresa que lhe proporcionar navegao na Internet; contudo, a empresa
contratada mostra-se incrivelmente inidnea e atrasa bastante a conexo do
consumidor Internet, cumprindo assinalar que a navegao almejada serviria to-
somente ao lazer do consumidor, sem qualquer repercusso patrimonial. Somente
com a compreenso mais generosa do dano moral, pois, que se poder estabelecer
uma indenizao autnoma para o agravo ao lazer do consumidor. Dessa forma,
ativar-se- a to louvada funo preventivo-pedaggica das indenizaes por danos
morais, especialmente relevante para aqueles danos que denominamos de
"derivados". exatamente o caso do consumidor que se quer conectar Internet: a
leso primria de contedo patrimonial consiste no descumprimento do contrato e
ter sancionamento prprio (extravel do regime contratual); j a frustrao do lazer
constitui dano moral "derivado" e tambm merecer, segundo sustentamos,
reprimenda especfica (de natureza extracontratual).
Enfim, ocorrendo dano, h de se indagar: dano material? Se no for material, no
restar escapatria: por excluso, s poder ser dano moral. Ressarcvel?
Naturalmente (desde, ressalve-se, que contenha um mnimo de relevncia jurdica),
sob pena de se deixar impune a prtica antijurdica.
Quanto questo da prova dos danos morais, em especial dos danos "derivados",
insta tecer breves comentrios, eis que a matria se presta a retumbantes equvocos.
O dano moral, a rigor, no se prova. Ou melhor: impossvel provar, de maneira
direta, um dano moral. Afinal de contas, desculpem mais uma vez o bvio, o dano
... moral! Sendo moral, diz respeito a um fato ntimo da pessoa humana, que s
pode ser sentido pela prpria pessoa lesada, mais ningum (no mximo poderamos
ter testemunhas indiretas). o triste quem sente a tristeza, assim como o
humilhado quem conhece a humilhao. Portanto, a nica prova cabvel a prova
indiciria, a ser apreciada em sintonia com as regras de experincia comum
(extremamente enaltecidas pela sistemtica dos Juizados Especiais Cveis, como
revela o importante art. 6 da Lei 9.099/95). O que se h de comprovar, ento, a
existncia de um contexto ftico presumivelmente propcio, segundo um critrio de
razoabilidade, gerao de danos morais. Assim, se a me perde o filho, presume-
se de forma quase absoluta a sua dor, dispensvel por completo a prova
testemunhal. A parte adversa, sim, que fica com o nus de demonstrar, tambm
atravs de indcios, que a morte do filho me no trouxe dor. (77)
A concluso do pargrafo anterior serve tambm censura de outro equvoco muito
comum, qual seja, o vezo de levar a deciso sobre o quantum da reparao para a
fase de liquidao da sentena. Ora, no havendo como provar de maneira direta o
dano moral, tambm no se v qualquer sentido em transferir a deciso relativa ao
quantum indenizatrio para a liquidao da sentena. O arbitramento do quantum ,
sem dvida, puramente judicial, prescindindo por completo dos subsdios de
qualquer perito (a no ser, lgico, o perito jurdico o juiz).
Uma ressalva final deve ser feita neste captulo. a de que no se est aqui a
aplaudir ou incentivar a denominada "indstria do dano moral", que responde pelo
subproduto patolgico do fortalecimento (salutarssimo) da figura dos danos
morais. Fenmeno talvez inevitvel em culturas no afeitas a padres ticos mais
rgidos, cresceu nestas plagas, incontestavelmente, o nmero de litigantes
temerrios, movidos por reprovvel esprito de aproveitamento (v.g., pessoas que
torcem com fervor, e at colaboram, para a ocorrncia de uma incluso indevida do
nome em cadastros negativos de dados, confiantes em que um golpe de sorte lhes
abrir enfim as portas da fortuna...). Mas se trata da exceo, da patologia, no
sendo justificvel brecar avanos e conquistas s porque passveis de efeitos
colaterais indesejados. Alis, fosse a covardia a marca do homem na Histria,
sequer com a roda contaramos hoje, e at mesmo os brilhantes escritos que
costumam produzir doutrinadores do porte de Barbosa Moreira, Dinamarco,
Calmon de Passos para ficar exclusivamente na rea jurdica , s teriam a chance
de se materializar, no melhor estilo rupestre, nas paredes de uma caverna...
Demais, saliente-se que a prpria ordem jurdica apresenta mecanismos de
conteno. O j destacado princpio da boa-f objetiva no tem mo nica, e se
irradia, sem sombra de dvida, para o campo processual (78). Dessa forma, luz do
princpio da boa-f objetiva, eventuais manifestaes de m-f processual podem e
devem ser punidas com rigor mais intenso. At mesmo pelo caminho da analogia
podem ser esconjuradas pretenses indenizatrias manifestamente maliciosas: se na
rea criminal repudiado o chamado "flagrante provocado", tambm na seara do
consumidor no se pode tolerar o analgico "dano moral provocado". Fica pois a
ressalva de que conferir funo preventivo-pedaggica s indenizaes por danos
morais ocorridos no plano das relaes de consumo no significa, obviamente, dar
salvo-conduto a procedimentos maliciosos (79). O prprio ordenamento jurdico
tem o antdoto certo para eventuais desvios.
Em verdade, o espectro da "indstria do dano moral", bem sopesados os
argumentos, serve muito mais confirmao de tudo quanto se escreveu. Sem
dvida. O que se afigura mais nefasto: o enriquecimento sem causa de maus
fornecedores ou de alguns litigantes temerrios, capites da referida "indstria"?
Certamente o locupletamento sem causa dos primeiros muito mais danoso. E
nesse ponto novamente ganha enorme relevo o princpio da dimenso coletiva das
relaes de consumo, que ressurge para a aplicao do argumento de misericrdia.
Com efeito, quem faz a diferena, mais uma vez, o princpio da dimenso
coletiva. As atitudes antijurdicas do mau fornecedor lesam, cotidianamente, um
nmero indeterminado de pessoas e so auto-aplicveis. J eventuais golpes
processuais de consumidores mal-intencionados verificam-se somente de forma
individualizada, espordica. Alm disso, no so auto-aplicveis. Muito ao
contrrio, s tero xito se lograrem iludir o nosso sistema judicial, a considerada a
opulenta gama de recursos que o processo civil ptrio oferece. Em conseqncia,
no se pode, a pretexto de coibir a "indstria do dano moral", facilitar o
enriquecimento ilcito de maus fornecedores, incomparavelmente mais deletrio e
gravoso sociedade.
6 - O PRINCPIO DA DIMENSO COLETIVA DAS RELAES DE
CONSUMO E AS CONCILIAES
Perigosa unanimidade (80), ou quase isto, se estabeleceu entre ns no que concerne
s maravilhas da conciliao. Enfrentar com sucesso mars to compactas esporte
ao alcance de uns poucos privilegiados, entre os quais decerto no nos inclumos.
Todavia, no custa tentar revolver, ligeiramente que seja, esse verdadeiro mar de
loas, quando menos para no desolar em excesso a boa e velha dialtica jurdica.
As ponderaes que se fazem oportunas, no tema da conciliao, so praticamente
as mesmas do captulo sobre danos morais, todas elas ditadas pelos eflvios do
princpio da dimenso coletiva. Que fique muito lmpido o nosso pensamento: em
lides autenticamente individuais, a conciliao consiste, sem dvida, em um santo
remdio, mormente nas lides envolvendo integrantes de uma mesma comunidade
(vizinhos, condminos etc.) gente que continuar convivendo e se esbarrando,
com ou sem processo. No entanto, em conflitos tocados pela dimenso coletiva,
preciso ter redobrada cautela, para no transformar as conciliaes em meio de
locupletamento do fornecedor inidneo. No que se queira converter o "processo do
consumidor" em um Oriente Mdio judicirio, tomado por dios irredutveis e
beligerncias flor da pele. A conciliao constitui, fora de qualquer dvida, um
instrumento excelente para a resoluo de boa parte das pendncias surgidas no
mercado de consumo. No se pode, entretanto, aceitar a ditadura da conciliao, a
conciliao a qualquer preo, como se no houvesse outra forma possvel de
composio da lide. At porque conciliao imposta, no espontnea, pode ser tudo,
menos conciliao genuna. Conciliao forada no passa de contradio em
termos. Se a soluo imposta, mais autntico que venha em forma de sentena.
Infelizmente, contudo, vivenciamos agora o apogeu desse conciliacionismo
compulsivo, obsessivo. Negar-se a parte conciliao, mesmo que por motivos os
mais defensveis, pode representar a sua desgraa no processo, pois nela se
pespegar o estigma de intransigente, desdouro que muitas vezes falar mais alto do
que o prprio direito material em disputa. contra esses excessos que nos
insurgimos. Devagar com o andor que o santo de barro... O acordo ser realmente
bem-vindo em muitos casos, mas alguns magistrados, possivelmente influenciados
pela irresistvel vaga do conciliacionismo, acabam exagerando: para eles, a
inexistncia de conciliao significa o fracasso da atividade jurisdicional (81). No
bem assim.
Sem nem tocar, ainda, na questo da dimenso coletiva das relaes de consumo, h
de se reconhecer que a parte, como j sugerido acima, pode ter razes as mais
legtimas para no aceitar um acordo. Deveras, podemos estar diante de uma leso
cuja gravidade no d margem a qualquer transigncia. Usando propositalmente um
exemplo extremo, para fins de argumentao, de se indagar: se um meliante se
apossa da nossa carteira, possvel acordo em tal hiptese? possvel ficar
barganhando com o punguista o valor da devoluo? Evidentemente que no. Se o
punguista levou 100, no me contentarei com menos do que 100, afigurando-se
completamente invivel qualquer outra soluo que no a submisso total do ru ao
meu pleito. A desconsiderao dessa realidade traduz rendio a um perigoso
utilitarismo, que oculta e menospreza a face necessariamente tica do fenmeno
jurdico.
No mbito das relaes de consumo, o conciliacionismo obsessivo alcana
repercusses ainda mais nocivas, graas ao princpio da dimenso coletiva. Nesse
passo, reitere-se, cabem aqui todos os argumentos j lanados quando falvamos de
danos morais. A conciliao pode servir como meio de locupletamento de
fornecedores inidneos, amortecendo ponderavelmente a fora das reaes dos
consumidores lesados. o que j ressaltamos saciedade. Um abuso no mercado de
consumo atinge muita gente. Dos atingidos, muitos nem se daro conta do abuso;
outros tantos se conformaro. Fica restando uma pequena minoria, a que acredita na
Justia e invoca a prestao jurisdicional. Se tambm essa pequena minoria for
contida pelo fornecedor que praticou o abuso, teremos enfim o crime perfeito
altamente lucrativo! E como se faz com habilidade a conteno, a acomodao?
Faz-se sobretudo atravs de acordos, alguns at razoveis para o caso concreto.
Perdem os fornecedores contumazes alguns poucos anis, mas em compensao
ficam livres, leves e soltos para novas travessuras os dedos, as mos, os braos...
Em sntese: o acordo, no caso concreto, pode at ser razovel; considerado o
contexto coletivo, porm, seu papel muitas vezes lastimvel, pois estimula a
reiterao de prticas contrrias ordem pblica do consumidor. Tem-se a mais
uma situao explicada diretamente pelo princpio da dimenso coletiva das
relaes de consumo. No "processo do consumidor", como j dito e redito, a
pretenso deduzida pelo autor individual no deixa de portar, tambm, uma carga
considervel de interesses transindividuais.
Vale aduzir que o conciliacionismo reedita amide, no mbito judicial, os mesmos
efeitos (ou melhor, as mesmas mazelas) de uma figura tpica de direito material, o
contrato de adeso. O paralelo bastante til para que se possam perceber os
malefcios da busca da conciliao a qualquer preo, na marra que seja. O CDC
esmerou-se no captulo da proteo contratual, visando precipuamente defender os
consumidores das iniqidades dos contratos de adeso. No tem nenhum sentido,
portanto, reproduzir no campo processual o mesmo esquema de desequilbrio dos
contratos de adeso. Ainda mais, repise-se esse dado fundamental, por estarmos
falando de processo travado entre um litigante habitual e um litigante eventual,
circunstncia que transfere para a esfera judicial a desigualdade existente no mundo
real. Nessas condies, o acordismo desenfreado tende a favorecer amplamente o
litigante habitual, que ostenta um poder de barganha muito superior. Alis, na
prtica forense, seja no campo do consumidor, seja em outros departamentos (v.g., a
rea trabalhista), copiosos so os exemplos de litigantes eventuais que, em virtude
da sua situao de inferioridade (82), submetem-se a acordos francamente
desfavorveis. Todo cuidado, ento, pouco. No se pode permitir, de modo algum,
que os acordos judiciais tomem a forma de inquas conciliaes de adeso,
marcadas pelos mesmos vcios do seu ssia contratual.
"Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda". No territrio do Direito do
Consumidor, a mxima ganha sabores de suprema desfaatez, cooptada que pelos
detratores da lei de ordem pblica. Em prol da ordem pblica ameaada, novamente
se do as mos os princpios da dimenso coletiva e da boa-f objetiva. Atravs
deste ltimo, chegamos diretamente questo tica, moral. A conciliao, no plano
espiritual, tem um sentido bastante elevado. Usada no "processo do consumidor"
com finalidades menos nobres, ou na forma de uma daninha contrafao, deve ser
repudiada. Pertinente a propsito, para fechar o captulo, o brado do mestre italiano
Pietro Perlingieri: " necessrio que, com fora, a questo moral, entendida como
efetivo respeito dignidade da vida de cada homem e, portanto, como
superioridade deste valor em relao a qualquer razo poltica da organizao da
vida em comum, seja reposta ao centro do debate na doutrina e no Foro, como
nica indicao idnea a impedir a vitria de um direito sem justia." (83)
7 - CONCLUSES
Enumerar as concluses de um trabalho doutrinrio no providncia isenta de
efeitos colaterais adversos. Se, por um lado, presta-se bem fixao e melhor
compreenso das propostas do texto, por outro, oferece ao leitor a no desprezvel
tentao, sobretudo quanto o texto no prima pela conciso, de suprimir o
enfrentamento de algumas partes do arrazoado ou mesmo todas , saltando-se
espetacularmente para a seo das concluses... Seja como for, a vo as
proposies mais relevantes do artigo:
a) Notabiliza-se o CDC pela busca da "ordem jurdica justa". Para tanto, vem-se
no Cdigo vrias e vrias normas abertas, portadoras de conceitos juridicamente
indeterminados, que demandam a expanso do subjetivismo do julgador. Da ser to
fundamental a interpretao lgico-sistemtica do CDC, olhos postos nos princpios
que se projetam do estatuto. Sem uma slida base unificadora, consubstanciada
pelos princpios do sistema, as normas abertas do Cdigo traduziriam fora
eminentemente centrfuga, gerando verdadeira babel interpretativa.
b) Se o CDC trouxe autntica revoluo ao ordenamento ptrio, no se descortina
opo outra, ao intrprete fiel, seno infundir esprito igualmente transformador aos
institutos e normas do Cdigo, sob pena de desolador retrocesso. Em outras
palavras: ao intrprete fiel cumpre sugar, sofregamente, toda a seiva dos princpios
magnos do CDC, porque neles que se concentra a essncia do sistema.
c) So os seguintes os sete princpios que elegemos como capitais dentro da
sistemtica do CDC: princpio da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo, princpio da ordem pblica, princpio da dimenso coletiva das relaes
de consumo, princpio da boa-f objetiva, princpio da transparncia mxima das
relaes de consumo, princpio da qualidade dos produtos e servios oferecidos no
mercado de consumo e princpio da efetividade da tutela processual.
d) O CDC existe porque o consumidor vulnervel, especialmente sob o aspecto
tcnico. Na condio de rebento do Estado Social, o Cdigo assume a defesa da
parte mais fraca na relao de consumo. Evidentemente, no procede falar em
maniquesmo ou paternalismo. em prol da verdadeira igualdade que o CDC
oferece instrumentos para a parte mais fraca conter e controlar o poderio da mais
forte. Caracterizando-se as relaes de consumo, exatamente, pela vulnerabilidade
de um dos seus protagonistas, indiscutvel que o regime consumerista no pode
prescindir da interveno estatal, valendo advertir que a incidncia do princpio da
ordem pblica no fica abalada pelas transformaes de ordem poltico-econmica
que os dias atuais testemunham.
e) Todas as clusulas que implicarem limitao de direito do consumidor devero
integrar o instrumento contratual e ser redigidas com destaque (arts. 46 e 54, 3 e
4, da Lei 8.078/90), mesmo aquelas que apenas reproduzam termos legais ou
regulamentares. Assim, um contrato relativo a alienao fiduciria, v.g., dever
obrigatoriamente prever a possibilidade de priso do consumidor em caso de
inadimplemento, sob pena de restar vedado, de forma absoluta, tal constrangimento
(sem que haja sequer a necessidade de suscitar a inconstitucionalidade da medida
constritiva, matria bastante controvertida).
f) o riqussimo encontro entre o CDC e a doutrina da instrumentalidade do
processo que deve ser intensamente explorado. O processo do consumidor h de
aderir ao potencial revolucionrio das normas substanciais do CDC, a ponto mesmo
de se permitir ser chamado de "processo do consumidor". Alm disso, h de ser um
processo muito mais transcendente, imbudo das suas graves implicaes sociais e
polticas (macroprocesso).
g) No h lides verdadeiramente individuais no campo das relaes de consumo.
Mesmo aquelas aparentemente individuais acham-se recobertas pela inevitvel
sombra de uma problemtica muito mais ampla coletiva. Impossvel e
extremamente nocivo, portanto, cuidar das lides de consumo como se fossem lides
individuais, impermeveis sombra coletiva de que falamos.
h) A dimenso coletiva entranha-se na essncia de qualquer matria que envolva os
direitos do consumidor. Natural, assim, tenha se esmerado o CDC em cevar
institutos e temas profundamente relacionados ao fenmeno da coletivizao, fato
que j pode ser percebido na prpria demarcao do mbito de incidncia do
Cdigo.
i) Muito interessante a conotao que se vem dando, em doutrina e jurisprudncia,
indenizao por danos morais. Passou-se a admitir uma funo preventivo-
pedaggica para os danos morais, a qual se mostra intimamente conectada ao tema
da coletivizao jurdica. A funo preventivo-pedaggica das indenizaes por
danos morais revela-se extremamente cara ao Direito do Consumidor, onde os
conflitos estabelecem-se entre um litigante habitual (o fornecedor) e um litigante
eventual (o consumidor), conspirando contra este grandes desvantagens, no campo
judicirio e at sob o aspecto psicolgico. Tal desigualdade estimula a prtica de
comportamentos altamente nocivos aos consumidores.
j) As aes coletivas, por mais evoludo que seja o sistema, no podem e nunca
podero preencher o imenso permetro de contenciosidade que cerca as relaes
de consumo. Por conseguinte, imperioso que tambm no mbito da tutela
nominalmente individual se d efetividade plena ao princpio da dimenso coletiva,
a ele se atribuindo efeitos concretos, palpveis. Esta uma idia fundamental do
presente ensaio.
k) Nas lides de consumo, as atenes devem recair sobre a conduta do ofensor e os
danos por ele causados, ou ameaados, mais at do que a prpria repercusso da
ofensa na esfera subjetiva do consumidor. preciso proclamar, com todas as letras:
ao apreciar pedido de indenizao por danos morais, no territrio das relaes de
consumo, o magistrado deve pensar no s no caso concreto, mas tambm nos
efeitos que a deciso produzir em um raio muito mais abrangente. Mostra-se
fundamental desestimular, da maneira mais persuasiva possvel, os atentados
ordem pblica de proteo ao consumidor. a materializao do chamado
macroprocesso, comprometendo a jurisdio com a tarefa de se elevarem os
padres ticos da sociedade.
l) Danos morais "derivados", segundo nossa concepo, so aqueles danos que
acompanham uma leso primria conexa de contedo patrimonial. No se
confundem com os chamados danos morais "reflexos". Enquanto estes tomam a
forma de um dano extrapatrimonial que depois se converte em patrimonial (v.g., o
atentado imagem que acarreta a perda da clientela), os danos morais "derivados"
ostentam estrutura rigorosamente inversa: uma leso inicialmente patrimonial que
tem o condo de provocar danos de natureza extrapatrimonial. Consubstanciam-se
tais danos morais "derivados", por exemplo, na frustrao, no desgaste, na
exasperao, na revolta de um consumidor que pagou e no recebeu o produto
contratado.
m) O princpio da boa-f objetiva deve consistir na bssola precpua da
ressarcibilidade dos danos morais "derivados". De fato, caso o comportamento do
fornecedor revele ofensa ao princpio da boa-f objetiva (o que no se confunde de
modo algum com a ocorrncia de culpa), a indenizao se far oportuna. Na
hiptese contrria, se inexistente a ofensa, faltar a indispensvel relevncia
jurdica, descabendo em regra a indenizao. A necessidade de proteger o
fundamental princpio da boa-f objetiva surge assim como critrio desempatador,
comprovando de maneira categrica a tese de que a conduta do fornecedor
elemento essencial na equao da ressarcibilidade dos danos morais sofridos pelo
consumidor.
n) A maior extenso do conceito de dano moral refora a tutela da incolumidade
geral. Ao mesmo tempo, prestigiam-se valores at ento indevidamente
desprezados, como o caso do direito ao lazer, assegurado constitucionalmente.
o) Ho de ser incentivadas as indenizaes altrusticas, reconhecendo-se, em pleitos
do gnero, estarem presentes, em tese, as condies da ao.
p) impossvel provar de maneira direta o dano moral. A prova sempre indiciria.
Outrossim, o arbitramento da indenizao correspondente puramente judicial, no
tendo cabimento levar a questo para a fase de liquidao de sentena.
q) Ressalve-se que no estamos a aplaudir a chamada "indstria do dano moral".
Sem embargo, diga-se, em relao a ela, que a ordem jurdica apresenta vrios
mecanismos de conteno, a comear pelo prprio princpio da boa-f objetiva, que
no tem mo nica. Em verdade, bem sopesados prs e contras, o espectro da
"indstria" serve muito mais confirmao de tudo quanto se escreveu neste
artigo. De fato, incomparavelmente mais nocivo o locupletamento dos maus
fornecedores. Enquanto as atitudes antijurdicas destes atingem cotidianamente um
nmero indeterminado de pessoas e so auto-aplicveis, eventuais golpes de
consumidores mal-intencionados verificam-se de forma individualizada, espordica,
e s tero xito se lograrem iludir o sistema judicial. Em conseqncia, no se pode,
a pretexto de coibir a "indstria do dano moral", facilitar o enriquecimento ilcito de
maus fornecedores, incomparavelmente mais deletrio e gravoso sociedade.
r) Perigosa unanimidade, ou quase isto, se estabeleceu entre ns no que concerne s
maravilhas da conciliao. Vivemos o apogeu do conciliacionismo compulsivo,
obsessivo. Em lides autenticamente individuais, a conciliao consiste, de fato, em
um salutar remdio, mormente nas lides envolvendo integrantes de uma mesma
comunidade. No entanto, em conflitos tocados pela dimenso coletiva preciso ter
redobrada cautela, para no transformar as conciliaes em meio de locupletamento
do fornecedor inidneo, amortecendo consideravelmente a fora das reaes dos
consumidores lesados. Alm disso, a ditadura da conciliao traduz rendio a um
perigoso utilitarismo, que oculta e menospreza a face necessariamente tica do
fenmeno jurdico.
s) Vale aduzir que o conciliacionismo reproduz amide, no plano judicial, os
mesmos efeitos (ou melhor, as mesmas mazelas) de uma figura tpica de direito
material, o contrato de adeso. O acordismo desenfreado tende a favorecer
amplamente o litigante habitual, que ostenta um poder de barganha muito superior.
Alis, na prtica forense, seja no campo do consumidor, seja em outros
departamentos (v.g., a rea trabalhista), copiosos so os exemplos de litigantes
eventuais que, em virtude da sua situao de inferioridade, submetem-se a acordos
francamente desfavorveis.
t) "Mais vale um mau acordo do que uma boa demanda". Na seara do Direito do
Consumidor, a mxima ganha sabores de suprema desfaatez, cooptada que pelos
detratores da lei de ordem pblica. A conciliao, no plano espiritual, tem um
sentido bastante elevado. Usada no "processo do consumidor" com finalidades
menos nobres, ou na forma de uma daninha contrafao, deve ser repudiada.
Rio de Janeiro, maro de 1998.
NOTAS:
1"O direito de acesso Justia , fundamentalmente, direito de acesso ordem
jurdica justa", acentua o mesmo jurista, aduzindo em outra passagem que, "para a
aplicao de um direito substancial discriminatrio e injusto, melhor seria
dificultar o acesso Justia, pois assim se evitaria o cometimento de dupla
injustia" (Acesso Justia e Sociedade Moderna, in Participao e Processo,
coordenao de Ada Pellegrini Grinover, Cndido Rangel Dinamarco e Kazuo
Watanabe, So Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, pp. 128-129 e 135).
2 "No se deve, todavia, confundir esse fenmeno com o da discricionariedade. s
vezes a lei atribui a quem tenha de aplic-la o poder de, em face de determinada
situao, atuar ou abster-se, ou ainda, no primeiro caso, o poder de escolher,
dentro de certos limites, a providncia que adotar, tudo mediante a considerao
da oportunidade e da convenincia. o que se denomina poder discricionrio.
Costuma-se apontar a atividade administrativa como o campo de eleio de tal
poder; mas a verdade que tambm o juiz no raro se v autorizado pelo
ordenamento a opes discricionrias (...)" (v.g., nos casos dos arts. 394, 403,
pargrafo nico, e 559, fine, do Cdigo Civil) Jos Carlos Barbosa Moreira,
Temas de Direito Processual: segunda srie, So Paulo, Saraiva, 1980, pp. 66-67.
3 MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor: o
novo regime das relaes contratuais. 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1995,
p. 306.
4 NERY JUNIOR, Nelson. Os Princpios Gerais do Cdigo Brasileiro de Defesa do
Consumidor. Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n. 3, p. 64, set./dez. 1992.
5 MELLO, Celso Antnio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2. ed.
So Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 300.
6 GRAU, Eros Roberto. Interpretando o Cdigo de Defesa do Consumidor: algumas
notas. Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n. 5, pp. 183-189, jan./mar. 1993.
De acordo com o ilustre doutrinador, e a est a divergncia terminolgica
mencionada, princpio e norma no so entidades autnomas. Para ele, a norma
seria gnero, compreendendo duas espcies: as regras e os princpios.
7 Comentrios ao Cdigo de Proteo ao Consumidor, coordenador Juarez de
Oliveira, So Paulo, Saraiva, 1991, p. 12.
8 Para o Prof. Eros Roberto Grau (art. cit.), o art. 4 representa relevantssima
norma-objetivo, "porque define os fins da poltica nacional das relaes de
consumo, quer dizer, ela define resultados a serem alcanados".
9 Frisando o valor das normas programticas, no plano constitucional, consulte-se
Luis Roberto Barroso, na excepcional obra O Direito Constitucional e a
Efetividade das suas Normas: limites e possibilidades da Constituio brasileira,
Rio de Janeiro, Renovar, 1990, p. 108: "A viso crtica que muitos autores mantm
em relao s normas programticas , por certo, influenciada pelo que elas
representavam antes da ruptura com a doutrina clssica, em que figuravam como
enunciados polticos, meras exortaes morais, destitudas de eficcia jurdica.
Modernamente, a elas reconhecido um valor jurdico idntico ao dos restantes
preceitos da Constituio, como clusulas vinculativas, contribuindo para o
sistema atravs dos princpios, dos fins e dos valores que incorporam. Sua
dimenso prospectiva, ressalta Jorge Miranda, tambm uma dimenso de
ordenamento jurdico, pelo menos no Estado social."
10 Sobre o mesmo tema, consulte-se o artigo "As novas necessidades do Processo
Civil e os poderes do Juiz", de Adroaldo Furtado Fabrcio (publicado na Revista
Direito do Consumidor 7, So Paulo, pp. 30-36, jul./set. 1993), que se inicia com a
seguinte assertiva: "Os mais importantes e desafiadores problemas que se propem
ao jurista de nossos dias decorrem da massificao". Consulte-se ainda o ensaio
"Do dano moral coletivo no atual contexto jurdico brasileiro", de Carlos Alberto
Bittar Filho (publicado na Revista Direito do Consumidor 12, So Paulo, pp. 44-62,
out./dez. 1994), tambm se ocupando bastante do assunto da coletivizao, in
verbis: "Malgrado toda a oposio que tem encontrado, o movimento renovador,
com a fora da gua que rompe o dique, segue o seu curso e deve mesmo segui-lo
, sempre guiado pelo coletivo. Trata-se da coletivizao ou socializao do
Direito, movimento que, caracterstico dos novos tempos, se coloca em posio
diametralmente oposta dos pandectistas do sculo passado (...)".
11 O assunto rende tratados. Como se sabe, o tema da fixao do exato campo de
incidncia do CDC propicia vigorosa polmica (que por sinal extremamente cara
abordagem sistemtico-teleolgica da Lei): de um lado, a corrente objetiva,
apegada ao teor do art. 2, caput, do Cdigo; de outro, os subjetivistas, sustentando
que a relao de consumo deve, conceitualmente, contrapor um profissional a um
no-profissional. Todos com belssimos argumentos. No entanto, cuida-se de
polmica fadada imortalidade. Alis, quem bem soube registrar a perplexidade
dos juristas em relao a essa tormentosa questo foi Fbio Ulhoa Coelho, em
instigante artigo "A compra e venda, os empresrios e o Cdigo do Consumidor"
publicado na Revista Direito do Consumidor 3, So Paulo, pp. 36-43, set./dez.
1992). Por mais que se tente chegar a uma regra geral e abstrata sobre o campo de
incidncia do estatuto consumerista, acabamos todos, inclusive os partidrios da
corrente objetiva, topando com a questo da vulnerabilidade concreta do suposto
consumidor (repise-se: vulnerabilidade no apenas como premissa abstrata de
aplicabilidade das normas consumeristas, mas sim considerada concretamente). Isso
acontece sobretudo quando a qualidade de consumidor atribuda pelo CDC
indiretamente, atravs de equiparao. Confira-se o art. 29 (que encerra no poucas
complexidades, ainda inclumes ao assdio da maior parte da doutrina): as pessoas
expostas a prticas comerciais e contratuais tornam-se consumidoras pela via da
equiparao, mesmo que no o sejam do ponto de vista conceitual. Portanto, ainda
no h e dificilmente haver um dia consenso quanto delimitao do campo de
incidncia da Lei 8.078/90. O resultado de todas essas perplexidades irredutveis
que o exame da vulnerabilidade concreta acaba se tornando inevitvel, para fins de
verificao do mbito de atuao do CDC. Chega-se enfim a uma regra geral, mas
um tanto desfigurada, eis que s empiricamente, caso a caso, que se desvenda a
vulnerabilidade, concreta, do suposto consumidor.
12 Com afinidade ao tema, insira-se aqui controvrsia recente: vista da Lei
9.307/96, ainda vigora a regra do art. 51, V, do CDC, que considera nula a chamada
"clusula compromissria"? Temos para ns que sim, mas apenas parcialmente.
Quer-nos parecer que a melhor forma de conciliar dispositivos aparentemente
contraditrios do CDC e da posterior Lei da Arbitragem deixar o art. 51, V, do
Cdigo para as relaes em que estejam presentes o fornecedor e um consumidor
genuno, no equiparado. Quanto aos consumidores equiparados (art. 29 do CDC),
estariam realmente sujeitos ao disposto no art. 4 da Lei 9.307/96. Entendemos que
assim se salva satisfatoriamente a pele do art. 51, V, do CDC sem se ferir regra
bsica de hermenutica, concedendo-se alguma eficcia ao art. 4, 2, da Lei
9.307/96.
13 Confira-se, sobre a norma, a lcida posio do Prof. Nelson Nery Junior, in
Cdigo Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto, 2. ed., Rio de Janeiro, Forense Universitria, 1992, p. 40: "Como
medida de notvel avano, a norma determina que a interpretao do contrato
como um todo se faa de modo mais favorvel ao consumidor. No apenas das
clusulas obscuras ou ambguas (...)".
14 preciso frisar que a inverso de riscos atinge tambm, naturalmente, a rea
contratual. Dessa forma, ser indiscutivelmente abusiva, v.g., clusula contratual
que permita a uma escola qualquer extinguir determinado curso, j iniciado, caso o
nmero de alunos se reduza at certo patamar. Ou seja, a inverso de riscos presta-
se tambm a informar o que abusivo na seara contratual, at porque se consideram
nulas de pleno direito (abusivas) as clusulas que "estejam em desacordo com o
sistema de proteo ao consumidor" (art. 51, XV, do CDC).
15 "A fase ps-moderna ou a ps-modernidade apregoa de um lado o esgotamento,
os estertores do Estado Social (Welfare State), reeditando ora a insegurana legal,
como alis j se observa na Argentina que, ainda terceiro-mundista, caminha para
a desregulamentao, desindustrializao e a privatizao total, ora em sentido
inverso, fomentando a hiper-regulamentao, face natural reao do Estado
frente ao vazio legislativo e ao abuso das liberdades econmicas. O Estado "ps
moderno" passa ento a impor um forte (radical) controle no mercado, quanto
execuo dos contratos socialmente importantes, cujo contedo passa ele,
totalmente, a ditar, como se observa na Europa." (ob. cit., p. 59).
16 Entrevista concedida Revista Veja, edio de 10.09.97.
17 A propsito, consulte-se Luiz Bayeux Filho, autor do excelente artigo "O Cdigo
de Defesa da Consumidor e o Direito Intertemporal", publicado na Revista Direito
do Consumidor, So Paulo, n. 5, pp. 54-73, jan./mar. 1993.
18 NERY JUNIOR, Nelson. Aspectos do Processo Civil no Cdigo de Defesa do
Consumidor. Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n. 1, p. 201.
19 A respeito do assunto, vale conferir a bela sentena transcrita na Revista Direito
do Consumidor 10, So Paulo, pp. 277-280, abr./jun. 1994. O caso versava sobre
publicidade enganosa de condicionador de ar, que se dizia "totalmente silencioso"
("Consul air Master. O Condicionador de Ar que rompeu a barreira do som.
Totalmente silencioso."). O pleito reparatrio (destinando-se a indenizao ao fundo
de defesa dos bens lesados) foi julgado inteiramente procedente, repelindo o
julgador os argumentos da defesa no sentido de que haveria, na publicidade,
simples "dolus bonus", ou mero "artifcio criativo em nada prejudicial aos
interesses da sociedade".
20 Atente-se, a propsito, para o teor do art. 32 do CDC e seu pargrafo nico:
"Art. 32. Os fabricantes e importadores devero assegurar a oferta de
componentes e peas de reposio enquanto no cessar a fabricao ou
importao do produto. Pargrafo nico. Cessadas a produo ou importao, a
oferta dever ser mantida por tempo razovel de tempo, na forma da lei."
21 Sobre a importncia do princpio da boa-f objetiva na seara contratual, atente-se
para as palavras da Prof Cludia Lima Marques, na citada obra "Contratos no
Cdigo de Defesa do Consumidor", pp. 79 e seguintes: "Efetivamente, o Princpio
da Boa-F Objetiva na formao e na execuo das obrigaes possui uma dupla
funo na nova teoria contratual: 1) como fonte de novos deveres especiais de
conduta durante o vnculo contratual, os chamados deveres anexos, e 2) como
causa limitadora do exerccio, antes lcito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos.(...)
Esta viso dinmica e realista do contrato uma resposta crise da teoria das
fontes dos direitos e obrigaes, pois permite observar que as relaes contratuais
durante toda a sua existncia (fase de execuo), mais ainda, no seu momento de
elaborao (de tratativas) e no seu momento posterior (de ps-eficcia), fazem
nascer direitos e deveres outros que os resultantes da obrigao principal. Em
outras palavras o contrato no envolve s a obrigao de prestar, mas envolve
tambm uma obrigao de conduta!(...) O Cdigo de Defesa do Consumidor, Lei
8.078/90, trouxe como grande contribuio exegese das relaes contratuais no
Brasil a positivao do princpio da boa-f objetiva, como linha teleolgica de
interpretao, em seu art. 4, III e como clusula geral, em seu art. 51, IV,
positivando em todo o seu corpo de normas a existncia de uma srie de deveres
anexos s relaes contratuais."
22 Mais uma vez recorramos s lies da Prof Cludia Lima Marques, na j
consagrada obra "Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor", pp. 83 e
seguintes: "O primeiro e mais conhecido dos deveres anexos (ou das obrigaes
contratuais acessrias) o dever de informar (Informationspflicht) (veja arts.
30, 31 do CDC).(...) Este dever j visualizado na fase pr-contratual, fase de
tratativas entre o consumidor e o fornecedor(...) Aqui as informaes so
fundamentais para a deciso do consumidor(...) e no deve haver induo ao erro,
qualquer dolo ou falha na informao por parte do fornecedor ou promessas
vazias, uma vez que as informaes prestadas passam a ser juridicamente
relevantes, integram a relao contratual futura e, portanto, devero ser
cumpridas na fase de execuo do contrato, positivando a antiga noo da
proibio do venire contra factum proprium.(...) a nova transparncia
obrigatria nas relaes de consumo, em que vige um novo dever de informar,
imputado ao fornecedor de servios e produtos, e uma nova relevncia jurdica da
publicidade, instituda pelo CDC como forma de proteger a confiana despertada
por este mtodo de marketing nos consumidores brasileiros."
23 "Em verdade, uma anlise atenta revela que, sem exagero, quase todos os tipos
penais do CDC esto relacionados, sob os mais variados ngulos, com o tema da
informao do consumidor." (Antnio Herman V. Benjamin, Crimes de Consumo
no Cdigo de Defesa do Consumidor, Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n.
3, p. 89, set./dez. 1992).
24 Fato curioso ocorreu logo aps entrar em vigor a Lei 8.078/90. Determinado
plano de sade, conhecido pelos seus contratos de adeso leoninos e obscuros,
decidiu adequar-se nova legislao. O que fez ento? Tratou de mergulhar seu
instrumento contratual nas normas do Cdigo relativas proteo contratual do
consumidor? Nada disso. Simplemente, providenciou um corpulento carimbo com
os seguintes dizeres: "CONTRATO REDIGIDO DE ACORDO COM O CDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR". Ou seja, permaneceram as abusividades fartas
e as letrinhas midas, mas o carimbao, energicamente utilizado, conferiu uma nova
dignidade ao contrato-padro... por essas e outras que insistimos sempre: o CDC,
nascido em pas que ainda venera autenticaes e reconhecimentos de firma, tem
compromisso solene com o que efetivo, real, substancial. Evidentemente, tal
compromisso no pode ser esquecido no que tange ao aspecto da informao do
consumidor.
25 "Ao direito do consumidor importa, fundamentalmente, a periculosidade
adquirida. Excepcionalmente, como veremos, a periculosidade latente, por se
transformar em periculosidade adquirida em virtude de carncia informativa,
ganha relevncia jurdica" (Antnio Herman de Vasconcellos e Benjamin, in
Comentrios ao Cdigo de Proteo do Consumidor, ob. cit., p. 48).
26 "Esta inverso de papis, isto , a imposio pelo CDC ao fornecedor do dever
de informar sobre o produto ou servio que oferece (suas caractersticas, seus
riscos, sua qualidade) e sobre o contrato que vincular o consumidor, inverteu a
regra do caveat emptor (que ordenava ao consumidor uma atitude ativa: se quer
saber detalhes sobre o plano de sade, informe-se, descubra o contrato registrado
em cartrio no Rio de Janeiro ou So Paulo... atue ou nada poder alegar) para a
regra do caveat vendictor (que ordena ao vendedor ou corretor de planos de
sade que informe sobre o contedo desse, riscos, excluses, limitaes etc).
Estabeleceu-se, assim, um novo patamar de conduta, de respeito no mercado, que
no admite mais sequer o dolus bonus do vendedor, do atendente, do representante
autnomo dos fornecedores, face ao dever legal." (Cludia Lima Marques, ob. cit.,
p. 84).
27 Art. cit., p. 90.
28 Evidentemente, no se quer tocar aqui na discusso sobre a revogao ou no de
dispositivos do Decreto-Lei 911/69 pela Constituio de 1988, mas apenas reforar
a pujana do princpio da transparncia mxima.
29 Comentrios ao Cdigo de Proteo do Consumidor, ob. cit., p. 41. Na mesma
obra, mesma pgina, afirma o jurista: "em matria de qualidade, observe-se que a
proteo da sade do consumidor (normas de preveno e normas de
responsabilidade pelo fato do produto e do servio) e a proteo do patrimnio
do consumidor (responsabilidade por vcio do produto e do servio) esto
perfeitamente separadas, aquela nos arts. 8 a 17 e esta nos arts. 18 a 25". Nesse
ponto, com enorme audcia, discordamos daquele que , certamente, a maior
autoridade no Brasil em Direito do Consumidor. Com efeito, quer-nos parecer que a
proteo ao patrimnio do consumidor tambm pode ser efetivada com fulcro nas
normas reguladoras da "responsabilidade pelo fato do produto e do servio", no se
nos afigurando to infalvel assim a linha divisria traada por Benjamin. Tome-se
como exemplo um servio de lavanderia. Imaginemos, primeiramente, que a roupa
levada pelo consumidor lavanderia volte com as mesmas sujeiras de antes: o caso,
sem dvida alguma, de vcio do servio (arts. 18 a 25), afetando o lado econmico
do consumidor. Imagine-se agora que a mesma roupa v lavanderia e volte
rasgada, acarretando para o consumidor um prejuzo extrnseco ao servio (no
to-somente a utilidade intrnseca do servio que fica prejudicada). Pois bem, no
segundo caso haver fato do servio (arts. 12 a 17), dizendo respeito proteo... ao
patrimnio do consumidor! Ou seja, a proteo patrimonial no atrai
exclusivamente o regramento da "responsabilidade por vcio", mas tambm o da
"responsabilidade pelo fato". Tudo depender de ser o dano extrnseco (fato) ou se
tratar de imperfeio que prejudique apenas a utilidade intrnseca do
produto/servio (vcio).
30 Em relao garantia da durabilidade, consultem-se os arts. 4, II, d, e 26, 3,
do CDC.
31 No obstante, a redao do art. 18, 1, do CDC passvel de crticas duras, vez
que o prazo de 30 dias, l estipulado, muitas vezes revela-se inquo para o
consumidor, favorecendo prticas desleais dos fornecedores.
32 Somente a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais se apura mediante
a verificao de culpa, nos termos do art. 14, 4, da Lei 8.078/90.
33 Revista Direito do Consumidor 21, So Paulo, p. 209, jan./mar. 1997.
34 Comentrios ao Cdigo de Proteo do Consumidor, ob. cit., p. 38.
35 Ob. cit., pp. 56/57.
36 Qual o papel exato cumprido pela Constituio de 1988? Cresceu a eficcia
social das normas definidoras de direitos? de se ver que, para os adeptos do
sociologismo jurdico, fundado por Ferdinand Lassalle, as constituies escritas
valem o mesmo que uma "folha de papel". Real e efetiva seria a constituio
expressa pelos fatores reais de poder: "Tenho demonstrado a relao que guardam
entre si as duas constituies de um pas: essa constituio real e efetiva,
integralizada pelos fatores reais de poder que regem a sociedade, essa outra
constituio escrita, qual, para distingui-la da primeira, vamos denominar de
folha de papel." Sendo assim, "a verdadeira Constituio de um pas somente tem
por base os fatores reais e efetivos de poder que naquele pas vigem e as
constituies escritas no tm valor nem so durveis a no ser que exprimam
fielmente os fatores do poder que imperam na realidade social". As citaes acima
so da clebre obra de Lassalle, "A Essncia da Constituio", prefcio de Aurlio
Wander Bastos, 2. ed., Rio de Janeiro, Liber Juris, 1988, pp. 25 e 49.
37 No se podem negar mritos doutrina de Ferdinand Lassalle, expoente do
sociologismo jurdico. Tome-se o exemplo prtico da Defensoria Pblica, que a
Constituio exalta como "instituio essencial funo jurisdicional do Estado".
Pois bem, o descalabro da efetividade, no Brasil, pode ser medido pelo drama que
experimenta a Defensoria Pblica, ou melhor, que experimentam os rfos da
Defensoria Pblica (se que pode haver "rfos" de um ente que nem chegou a se
materializar plenamente), a saber, milhes de brasileiros carentes de assistncia
jurdica, impossibilitados assim de efetivar os mais bsicos direitos. A Defensoria
Pblica, apesar de determinada imperativamente pelo art. 134 da Constituio, s
est seriamente organizada em alguns poucos Estados da Federao, entre os quais
no se inclui o Estado de So Paulo. Maior ainda o desprestgio da Defensoria
Pblica da Unio, que no recebe qualquer apoio do atual governo federal para
comear a funcionar. Enquanto isso, os direitos dos pobres fenecem aos borbotes,
diuturnamente, em todo o territrio nacional, por falta de adequada assistncia
jurdica. A Constituio, nesse contexto de iniqidades, traveste-se em falcia cruel.
As maiores vtimas so exatamente os mais necessitados, cujos direitos se vem
esbulhados da primeira cantoria do galo ao ltimo arfar do dia. O que, em ltima
anlise, fornece uma boa pista para a crnica, e criminosa, falta de efetividade da
Defensoria Pblica... Alis, poupe-se ao menos a coerncia desse estado de coisas
deplorvel: o pas que no se cansa de ignorar e maltratar a Defensoria Pblica o
mesmo que ostenta uma das piores distribuies de renda de todo o globo terrestre.
38 A transcendncia da inovao no pode se ver sensivelmente prejudicada, data
maxima venia, pelo entendimento de que o juiz estaria obrigado a alertar o ru sobre
a inverso, nos casos em que ela fosse cabvel. Em que pesem entendimentos
contrrios, da lavra de renomados juristas, a inverso mesmo regra de julgamento,
afigurando-se sem qualquer procedncia a cogitao de alguma ameaa ao princpio
da ampla defesa. Insista-se nesse ponto, extremamente caro efetividade do CDC.
Obrigar o aviso camarada do juiz ao ru, sobre a inverso, contrariaria a sistemtica
do estatuto, tumultuaria o processo (criando mais uma deciso interlocutria) e
emascularia por completo a inverso probatria. Mais do que isso: alcanaria o
prodgio de, em muitos casos, comparativamente ao regime processual anterior,
piorar a situao do consumidor!
39 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso Justia. Colaborao de Bryant Garth.
Traduo de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antnio Fabris, 1988, p.
13.
40 Ob. cit., 4. ed., 1994, p. 11.
41 Ob. cit., 4 ed., p. 149.
42 Ob. cit., 4 ed., p. 24.
43 Acabamos de pisar em solo minado. O prprio Dinamarco no cansa de
deblaterar contra o chamado "processo civil do autor", que guardaria indisfarvel
rano civilista. Por outro lado, todavia, a instrumentalidade do processo reclama
uma adeso bem mais veemente ao direito material em jogo, no sentido de que o
instrumento no pode sobrepor-se aos fins que lhe so respectivos. Como ficamos?
Sem renegar, um instante sequer, a autonomia do direito processual, mas a bem
mesmo dos postulados mais graves do instrumentalismo, pensamos que no pode o
"processo do consumidor" deixar de se influenciar pelo esprito protetivo das regras
materiais do estatuto consumerista. Alis, a expresso "processo do consumidor",
que reconhecemos ser de tcnica discutvel, serve exatamente para realar a
imperiosidade dessa sintonia entre o processo e o direito material do consumidor.
Para que no haja dvidas sobre a nossa posio, saliente-se que ela vai
perfeitamente ao encontro de uma das concluses da obra citada do Prof.
Dinamarco, a saber (p. 317): "Direito e processo constituem dois planos
verdadeiramente distintivos do ordenamento jurdico, mas esto interligados pela
unidade dos escopos sociais e polticos, o que conduz relativizao desse binmio
direito-processo (substance-procedure). Essa uma colocao acentuadamente
instrumentalista, porque postula a viso do processo, interpretao de suas normas
e soluo emprica dos seus problemas, luz do direito material e dos valores que
lhe esto base (...)".
44 BERMUDES, Srgio. Introduo ao Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1996, p. 72.
45 Ob. cit., p. 80.
46 MOREIRA, Jos Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: terceira srie.
So Paulo: Saraiva, 1984, p. 173.
47 Art. cit., p. 55. Os episdios bastante recentes de uma letra racista do artista
Tiririca e da suposta incitao ao uso de drogas pelo conjunto musical Planet Hemp
suscitam a questo do dano moral coletivo. Em ambos os casos mencionados,
movimentou-se a persecuo criminal contra os autores dos atos potencialmente
lesivos. Talvez no seja a melhor soluo. Os processos geralmente do em nada,
ou melhor, s servem para nutrir a popularidade e engordar os lucros dos artistas,
que acabam ficando na posio de vtimas. Muito mais conveniente parece ser, em
situaes tais, a propositura, mais discreta, de ao coletiva visando indenizao
por danos morais coletivos, que ainda tem o mrito de levar ao Judicirio a
discusso sobre assuntos altamente srios e polmicos da nossa sociedade, como o
caso do racismo e do uso de drogas. Registre-se, a propsito, que noticiou o jornal
O Globo, de 19.09.97, a existncia de uma ao civil pblica em face da
Confederao Brasileira de Futebol (CBF) por conta da virada de mesa pela qual
Fluminense e Bragantino puderam permanecer, em 1997, na Primeira Diviso do
Campeonato Brasileiro, virada de mesa esta que representaria leso ao patrimnio
cultural brasileiro. A notcia um pouco truncada e no deixa claro o autor da ao
civil pblica. De toda sorte, trata-se a nosso ver de iniciativa bastante salutar, que
tambm evoca o tema dos danos morais coletivos.
48 BOURGOIGNIE, Thierry. O conceito de abusividade em relao aos
consumidores e a necessidade de seu controle atravs de uma clusula geral.
Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n. 6, p. 13, abr./jun. 1993.
49 ALMEIDA, Jos Antnio. Publicidade e Defesa do Consumidor. Revista Direito
do Consumidor, So Paulo, n. 21, p. 106, jan./mar. 1997.
50 Confira-se a citada obra da Prof Cludia Lima Marques, pp. 210/211: "Note-se
que nos contratos de massa, a oferta no dirigida a pessoas determinadas, mas a
todos os indivduos, enquanto integrantes da coletividade. Esta oferta genrica,
mas, principalmente, a publicidade e outras informaes prestadas no vinculavam
a empresa, sendo consideradas apenas uma invitatio ou um convite para a oferta
por parte do consumidor (invitatio ad offerendum)."
51 Com a sabedoria que lhe peculiar, sintetiza Jos Carlos Barbosa Moreira a
necessidade da interpretao evolutiva das leis: preciso "extrair da antiga
partitura sonoridades modernas" (Temas de Direito Processual Civil: terceira
srie, ob. cit., p. 32). (No caso, tratava Barbosa Moreira da melhor interpretao,
nos dias de hoje, para o art. 75 do Cdigo Civil, dele retirando o mofo do
imanentismo.)
52 MARQUES, Cludia Lima. Ob. cit., p. 212.
53 Clebre foi o caso da Mesbla de Goinia, que, alegando erro, no cumpriu os
termos de publicidade veiculada em jornal que circulou no dia 23.08.91, frustrando
assim verdadeira multido de consumidores que acorreu loja da empresa atrs do
produto anunciado. Sobre o episdio e seu correto enquadramento jurdico luz do
CDC, confiram-se os excelentes trabalhos de Judith Martins-Costa e Alcides
Tomasetti Jr., na Revista Direito do Consumidor 4, So Paulo, 1992.
54 PRADO, Ana Emlia Oliveira de Almeida. Disposies gerais contratuais no
CDC. Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n. 11, p. 27, jul./set. 1994.
55 Critica-se, no CDC, a falta de distino entre nulidade de pleno direito e
nulidade absoluta, figuras que, conceitualmente, se mostram inconfundveis. Parece
certo, entretanto, que, ao prever unicamente a nulidade de pleno direito, pretendeu o
legislador conferir rigor ainda maior sistemtica das invalidades no plano das
relaes de consumo. A propsito do assunto, consulte-se o artigo de Anelise
Becker "A natureza jurdica da invalidade cominada s clusulas abusivas pelo
Cdigo de Defesa do Consumidor" publicado na Revista Direito do Consumidor,
So Paulo, n. 21, p. 117-131, jan./mar. 1997.
56 "O direito cominou-lhe o grau mais elevado de invalidade, porque a tutela legal
do consumidor opera apesar dele. O interesse lesado no pertence individualmente
ao consumidor contratante, mas a toda comunidade potencialmente prejudicada.
Da a nulidade pode ser suscitada judicialmente no s pelo consumidor (ao
individual) mas pelo Ministrio Pblico, por associaes civis ou pela autoridade
pblica (ao civil pblica)." (Paulo Luiz Neto Lbo, Contratos no Cdigo do
Consumidor: pressupostos gerais, Revista Direito do Consumidor, So Paulo, n. 6,
p. 138, abr./jun. 1993).
57 "Evitando assim despejar esses enormes riscos nos ombros do consumidor
individual" (Srgio Cavalieri Filho, A Responsabilidade no Transporte Terrestre de
Passageiro Luz do Cdigo do Consumidor, Revista Ensaios Jurdicos, Rio de
Janeiro, vol 1, p. 204, 1996).
58 Comentando o art. 26 do CDC, afirma Zelmo Denari: "O obsoletismo planejado
um dos males mais insidiosos do capitalismo no estgio atual das nossas relaes
de consumo. Para auferir maiores rendimentos e utilizar seus lucros, os
empresrios lanam mo de tecnicismo perverso para reduzir o tempo de vida til
dos produtos e, por via de conseqncia, aumentar a demanda" (Cdigo Brasileiro
de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, ob. cit., p. 121).
59 Art. cit., p. 122.
60 Em recente curso promovido pelo BRASILCON (seo Rio de Janeiro), em
outubro/97, sustentou o brilhante penalista Juarez Tavares a descriminalizao total
das condutas tipificadas no Cdigo do Consumidor, substituindo-se a seo penal
do Cdigo por uma parte sancionatria administrativa mais rigorosa. A tese,
contudo, ficou vencida na plenria final do evento, prevalecendo o entendimento
(defendido de forma vigorosa pelo Desemb. Eladio Lecey) de que o Cdigo no
pode prescindir do ttulo referente s infraes penais.
61 Antes do CDC, apenas a Lei 7.913/89 (dispondo sobre a proteo de investidores
no mercado de valores mobilirios) previu, no explicitamente, a tutela coletiva de
direitos individuais homogneos. Da se afirmar que o CDC criou a primeira class
action brasileira.
62 Infelizmente, a trilha do associativismo ainda se mostra pouco explorada entre
ns, o que compreensvel em um pas com escassa tradio no terreno do
solidarismo; no obstante, o incentivo do CDC ao associativismo serve para dar
ainda mais expresso ao princpio da dimenso coletiva.
63 E a onipotente globalizao, nesse processo: qual ser o seu papel? Favorecer o
pensamento coletivizante ou, ao contrrio, teremos com a globalizao, e os seus
candentes apelos em prol de uma competio selvagem visando ao deus-lucro, um
afrodisaco poderoso para as concepes individualistas de mundo?...
64 Assim Carlos Alberto Bittar Filho, tratando dos danos morais coletivos (art. cit.,
p. 59): "(...) em outras palavras, o montante da indenizao deve ter dupla funo:
compensatria para a coletividade e punitiva para o ofensor".
65 Ob. cit., p. 25.
66 H relaes de consumo especialmente propensas a represlias inominveis,
como o exemplo do ensino particular; as maiores vtimas so crianas de tenra
idade que nada tm a ver com o conflito instaurado (entre os pais e a escola).
67 No processo de execuo aqui praticado, como notrio, o exeqente amide
transformado no mais vil dos delinqentes, o que violenta barbaramente o anseio de
efetividade do processo, anseio este, entretanto, que s parece valer para o processo
de conhecimento. Quanto Lei 8.009/90, que inaugurou entre ns um sistema de
virtual irresponsabilidade civil, melhor nem comentar...
68 As adversidades de um processo pouco instrumental geram resultados bastante
deprimentes. Na minha experincia profissional, como Defensor Pblico, j ouvi
vrias e vrias vezes, de autores arrependidos, o mesmo desabafo: se soubessem o
que realmente lhes esperava, teriam preferido mil vezes suportar o prejuzo do que
invocar a tutela jurisdicional...
69 Revista Direito do Consumidor 21, So Paulo, pp. 154-157, jan./mar. 1997.
70 Cdigo Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto, ob. cit., p. 549.
71 Sobre a expresso, vale transcrever passagem do timo Roteiro dos Juizados
Especiais Cveis, do magistrado fluminense Luis Felipe Salomo (Rio de Janeiro,
Destaque, 1997, p. 25): "Na feliz imagem do desembargador de So Paulo, KAZUO
WATANABE, nos pases de primeiro mundo a expresso eu te processo assusta o
causador do dano, que logo se preocupa em compor com o lesado. Ao inverso, nos
pases que maltratam o direito do cidado, a expresso vai procurar seus direitos
que assusta, j que o lesado sabe que ter que percorrer longo e demorado
calvrio, alm de dispendioso, para ver restabelecido seu direito."
72 Novamente deparamos com a problemtica do acesso justia deficiente. As
mazelas extraprocessuais do processo, por assim dizer, sacrificam especialmente as
pessoas mais pobres, sem condies de pagar advogado particular. E as perspectivas
no so boas. A obsesso do "Estado mnimo" pode tornar cada vez mais precrio o
atendimento, nos rgos pblicos, daqueles que necessitam de assistncia jurdica.
73 Ao ensejo, repita-se de maneira quase literal importantssima ressalva ligada
ratio do Cdigo do Consumidor (e, por extenso, deste artigo). O Cdigo no
maniquesta, mas existe uma realidade de poder a ser combatida. Se no h
qualquer dvida quanto disparidade substancial de foras entre fornecedor e
consumidor, nada mais isonmico do que oferecer ao ltimo instrumentos que
possam conter o poderio do primeiro. O Direito existe para conter e controlar o
poder do mais forte, possibilitando a vida em sociedade.
74 A Revista Direito do Consumidor 21 (jan./mar. 1997), pp. 160-166, publica
acrdo excepcional da 6 Cm. Civ. do TJRS, relator o Des. Cacildo de Andrade
Xavier, j. 06.06.1995, v.u., versando sobre operaes bancrias, matria que at
hoje resiste ao enquadramento do CDC. No parecer da Dra. Sara Schutz de
Vasconcellos, Procuradora de Justia, mencionado no acrdo, usa-se expresso
bastante venturosa para definir o procedimento das instituies financeiras:
"filosofia financeira leonina". Nada melhor para expressar a afronta ao princpio da
boa-f objetiva. Muitos fornecedores adotam, realmente, filosofias empresariais
nocivas, que atingem no um ou dois consumidores, bvio, mas sim uma
coletividade deles.
75 Em obra de grande brilho (A responsabilidade civil objetiva no direito
brasileiro, Rio de Janeiro, Forense, 1997), demonstra o Prof. Guilherme Couto de
Castro, juiz federal, que a aferio da culpa, longe de experimentar seu outono,
continua tendo grande relevncia sob vrios aspectos, notadamente no que toca ao
balizamento do dever de ressarcir, convivendo sem problemas com a
responsabilizao objetiva.
76 Registre-se, sem entrar no mrito, que, nos EUA, vem-se dando enorme
destaque poltica de "tolerncia zero" do prefeito de Nova York, Rudolph
Giuliani, que defende a punio de qualquer infrao penal, exatamente para
desestimular as infraes mais graves. Do ponto de vista do direito repressivo, a
poltica levanta dvidas e controvrsias. No plano cvel, entretanto, idias tais
podem e devem ser utilizadas no trato de conflitos portadores de dimenso coletiva.
77 Confirmando as assertivas do texto, confira-se o julgado citado por Adauto
Suannes em artigo publicado nas Selees Jurdicas ADV/COAD 12/97, p. 6: "O
dano simplesmente moral, sem repercusso no patrimnio, no h como ser
provado. Ele existe to-somente pela ofensa, e dela presumido, sendo bastante
para justificar a indenizao" (RT 681/163). Por seu turno, o j citado Carlos
Alberto Bittar Filho, esposando o mesmo entendimento, aduz, com perspiccia, que
"O esquema de causao do dano moral pode ser equiparado ao dos crimes
formais, ou de mera conduta" (ob. cit., p. 55).
78 Tal irradiao, em que pese confirmada pelo prprio legislador (uma das
hipteses de deferimento de tutela antecipada fixa-se exatamente na caracterizao
de "abuso de direito de defesa" ou "manifesto propsito protelatrio do ru" art.
273, II, do CPC), ainda no foi, pelo menos at agora, assimilada pela
jurisprudncia, que continua tmida na represso da m-f processual,
principalmente no campo da execuo.
79 Tambm no possvel usar, na fixao da indenizao, critrios censitrios ou
que favoream determinada classe, a ttulo de se protegerem com maior vigor
indivduos supostamente mais suscetveis dor moral, em virtude da posio que
ocupam na sociedade. Tais critrios apriorsticos ferem flagrantemente o princpio
da isonomia e punem as pessoas humildes. Estas, alis, acabam duplamente
punidas. Alm de pobres, ainda so discriminadas no momento da indenizao. Ou
seja, a condio social humilde teria o nefasto poder de se pendurar em todos os
atos e momentos da existncia da pessoa, a ponto de aviltar at mesmo o
reconhecimento da sua dor, o valor da sua honra!
80 Se unanimidade, j perigosa. Como dizia Nelson Rodrigues, em um dos seus
ditos clebres, quem pensa com a unanimidade no precisa pensar.
81 Outros fatores contribuem para o que chamamos de conciliacionismo
compulsivo. Um deles a conhecida sobrecarga dos operadores jurdicos e, em
especial, das pautas de audincias, notadamente em Juizados Especiais.
Naturalmente, compor a lide atravs de um acordo costuma ser mais rpido e
prtico do que atravs de uma sentena, obrigatoriamente fundamentada (art. 93,
IX, da Constituio). Assim, de forma at inconsciente, juzes abarrotados de
servio e acumulaes passam a pr na conciliao uma nfase desmesurada.
82 Os fatores de inferioridade dos litigantes eventuais, j vimos, so vrios. Para
ficarmos em apenas dois, veja-se que o acordo desfavorvel freqentemente
consentido porque o litigante eventual teme a capacidade e a influncia da equipe
jurdica do litigante habitual, ou porque o primeiro no tem mais condies
psicolgicas ou financeiras de aguardar o final do processo.
83 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Traduo de Maria Cristina De
Cicco. 3. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 23.
originalmente publicado na revista Quaestio Iuris
Potrebbero piacerti anche
- Prova de Legislação Penal EspecialDocumento5 pagineProva de Legislação Penal EspecialAna Claudia Muller0% (1)
- Atividade de Prática Civil II - Embargos de Declaração - Nathália Matos LimaDocumento2 pagineAtividade de Prática Civil II - Embargos de Declaração - Nathália Matos LimaNathalia Lima100% (1)
- STJ Revista Eletronica 2016 - 241 - Capdoutrina PDFDocumento240 pagineSTJ Revista Eletronica 2016 - 241 - Capdoutrina PDFAngelo PauloNessuna valutazione finora
- Legalidade e Segurança Jurídica - Almiro Do CoutoDocumento20 pagineLegalidade e Segurança Jurídica - Almiro Do CoutoBruno IankowskiNessuna valutazione finora
- Boa Fé Objetiva Nos ContratosDocumento12 pagineBoa Fé Objetiva Nos ContratosneokalangoNessuna valutazione finora
- Petição Inicial Trab.1Documento6 paginePetição Inicial Trab.1lafrancoNessuna valutazione finora
- Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de TrânsitoDocumento17 pagineAção de Indenização Por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de TrânsitoCristian Garcia MarquesanNessuna valutazione finora
- PEREIRA, Ana L P - Jurisdição Const - Na Const 88Documento33 paginePEREIRA, Ana L P - Jurisdição Const - Na Const 88Flavia BrazzaleNessuna valutazione finora
- Artigo - Precedentes No Direito BrasileiroDocumento15 pagineArtigo - Precedentes No Direito BrasileiroFernando MeloNessuna valutazione finora
- A Estranha Coexistência Entre Protagonismo Judicial E Integridade E Coerência Do Direito No Código de Processo Civil BrasileiroDocumento18 pagineA Estranha Coexistência Entre Protagonismo Judicial E Integridade E Coerência Do Direito No Código de Processo Civil BrasileiroThiago Del VechioNessuna valutazione finora
- 20 ANOS DA CONSTITUICAO o Desafio Da AssDocumento15 pagine20 ANOS DA CONSTITUICAO o Desafio Da AssGabriel BragaNessuna valutazione finora
- 1Documento9 pagine1emaantunesfbNessuna valutazione finora
- 04 - Capitulo 3 Luciano Feldens - Direito Penal e Direitos FundamentaisDocumento16 pagine04 - Capitulo 3 Luciano Feldens - Direito Penal e Direitos FundamentaisGuilherme FreitasNessuna valutazione finora
- Caderno de Hermenêutica Constitucional FINALDocumento17 pagineCaderno de Hermenêutica Constitucional FINALVictor MedeirosNessuna valutazione finora
- Garantismo Penal Integral (E Não o Garantismo Hiperbólico Monocular) e o Princípio Da Proporcionalidade - Breves Anotações de Compreensão e Aproximação Dos Seus IdeaisDocumento5 pagineGarantismo Penal Integral (E Não o Garantismo Hiperbólico Monocular) e o Princípio Da Proporcionalidade - Breves Anotações de Compreensão e Aproximação Dos Seus IdeaisCamilaNessuna valutazione finora
- As Lacunas Constitucionais e Sua Integração (2013)Documento30 pagineAs Lacunas Constitucionais e Sua Integração (2013)Rodolfo LopesNessuna valutazione finora
- E Book Tema 01Documento12 pagineE Book Tema 01Vitor PereiraNessuna valutazione finora
- O Fahrenheit Sumular Do BrasilDocumento18 pagineO Fahrenheit Sumular Do BrasilbgxavierNessuna valutazione finora
- Artigo Juridico A Constitucionalização Do Processo Civil Lauber ViniciusDocumento3 pagineArtigo Juridico A Constitucionalização Do Processo Civil Lauber ViniciusLauber Vinícius Antonio Ferreira SantosNessuna valutazione finora
- Leis Bem Feitas e Leis Boas (Hespanha)Documento24 pagineLeis Bem Feitas e Leis Boas (Hespanha)Ricardo Sontag100% (1)
- Cláusulas Gerais Processuais - Fredie DidierDocumento11 pagineCláusulas Gerais Processuais - Fredie DidierLeonardo PetroniNessuna valutazione finora
- Caderno de Hermenêutica ConstitucionalDocumento11 pagineCaderno de Hermenêutica ConstitucionalVictor MedeirosNessuna valutazione finora
- Artigo José Wellington - RePro - v.41, n.258, Ago.2016Documento25 pagineArtigo José Wellington - RePro - v.41, n.258, Ago.2016juuliacampassiNessuna valutazione finora
- O Direito Privado Como Um Sistema em Construção - Judith Martins-Costa PDFDocumento18 pagineO Direito Privado Como Um Sistema em Construção - Judith Martins-Costa PDFJarbas SouzaNessuna valutazione finora
- Mandado de Segurança Coletivo - 1990Documento7 pagineMandado de Segurança Coletivo - 1990Rafael SouzaNessuna valutazione finora
- Revisado Caderno de Questoes Objetivas Concurciclos MPDocumento31 pagineRevisado Caderno de Questoes Objetivas Concurciclos MPTom SamNessuna valutazione finora
- Por Que o Poder Judiciário Não Legisla No Modelo de Precedentes Do Código de Processo Civil de 2015 (REPRO)Documento13 paginePor Que o Poder Judiciário Não Legisla No Modelo de Precedentes Do Código de Processo Civil de 2015 (REPRO)Carlos Frederico Bastos PereiraNessuna valutazione finora
- 89-Texto Do Artigo-165-1-10-20210614Documento11 pagine89-Texto Do Artigo-165-1-10-20210614JosephLimaNessuna valutazione finora
- Common Law X Civil Law - Prof. RafaelDocumento8 pagineCommon Law X Civil Law - Prof. RafaelFirma 3 OfícioNessuna valutazione finora
- Pe JuDocumento31 paginePe JuXNessuna valutazione finora
- Constituição e Processo CÁSSIO SCARPINELLA BUENODocumento14 pagineConstituição e Processo CÁSSIO SCARPINELLA BUENOEmmanuel CastroNessuna valutazione finora
- Direito Alternativo - Brasil - Jose de Oliveira AscensaoDocumento9 pagineDireito Alternativo - Brasil - Jose de Oliveira AscensaoRRGNessuna valutazione finora
- Paulo Ferreira Da Cunha - Hermenêutica Constitucional - Entre Savigny e o Neoconstitucionalismo PDFDocumento20 paginePaulo Ferreira Da Cunha - Hermenêutica Constitucional - Entre Savigny e o Neoconstitucionalismo PDFjair_ufrnNessuna valutazione finora
- 2 Principios Do Processo Do Trabalho 22Documento22 pagine2 Principios Do Processo Do Trabalho 22wantuir Aroldo Mendes juniorNessuna valutazione finora
- 1 PBDocumento21 pagine1 PBGiovanna OliveiraNessuna valutazione finora
- Caso de AnáliseDocumento14 pagineCaso de AnáliseelxcostaNessuna valutazione finora
- Gilmar Ferreira Mendes - A Doutrina Constitucional e o Controle de Constitucionalidade Como Garantia Da CidadaniaDocumento27 pagineGilmar Ferreira Mendes - A Doutrina Constitucional e o Controle de Constitucionalidade Como Garantia Da CidadaniaThomas V. YamamotoNessuna valutazione finora
- O Principio Da Seguranca Juridica No Dir PDFDocumento32 pagineO Principio Da Seguranca Juridica No Dir PDFTiago MeloNessuna valutazione finora
- ARTIGODocumento11 pagineARTIGOhendavi99Nessuna valutazione finora
- Da Função À EstruturaDocumento10 pagineDa Função À EstruturaJoão Pedro MelloNessuna valutazione finora
- Robert AlexyDocumento19 pagineRobert AlexyIgor MarquesNessuna valutazione finora
- Novas Observações Sistêmicas Sobre A Teoria Constitucional: Jessica Giaretta (1) Orientador Fernando TonetDocumento11 pagineNovas Observações Sistêmicas Sobre A Teoria Constitucional: Jessica Giaretta (1) Orientador Fernando TonetJoãoVitorAlvesNessuna valutazione finora
- Eduardo Cambi - PRECEDENTES VINCULANTESDocumento25 pagineEduardo Cambi - PRECEDENTES VINCULANTESAchillesNessuna valutazione finora
- Ética e Direito. Celso R. BastosDocumento6 pagineÉtica e Direito. Celso R. BastosMarcelo Gollo RibeiroNessuna valutazione finora
- CAMBI, Neoconstitucionalismo e NeoprocessualismoDocumento44 pagineCAMBI, Neoconstitucionalismo e NeoprocessualismoFilipe AlcântaraNessuna valutazione finora
- As Normas Constitucionais de Tutela Das Pessoas Portadoras de DeficiênciaDocumento34 pagineAs Normas Constitucionais de Tutela Das Pessoas Portadoras de DeficiênciaIgor CaldeiraNessuna valutazione finora
- Da Analogia No Direito Previdenciario-AldizioDocumento15 pagineDa Analogia No Direito Previdenciario-Aldiziofranjinha5Nessuna valutazione finora
- Processo Civil IV - Keila BarbosaDocumento23 pagineProcesso Civil IV - Keila Barbosakeiladrt.ferreiraNessuna valutazione finora
- Excelente Artigo Da Prof. Maria Celina Bodin de MoraesDocumento26 pagineExcelente Artigo Da Prof. Maria Celina Bodin de MoraesBarbaracgcNessuna valutazione finora
- Resenha Crítica Fundamentos Do Direito ProcessualDocumento7 pagineResenha Crítica Fundamentos Do Direito ProcessualFernandaNessuna valutazione finora
- LOBATO, Valter de Souza MARINHO NETO, José Antonino. Alteração Jurisprudencial, PrecedentalismoDocumento21 pagineLOBATO, Valter de Souza MARINHO NETO, José Antonino. Alteração Jurisprudencial, PrecedentalismoVitoria ResendeNessuna valutazione finora
- Lenio Streck - CPC Terá Mecanismos para Combater Decisionismos e ArbitrariedadesDocumento9 pagineLenio Streck - CPC Terá Mecanismos para Combater Decisionismos e ArbitrariedadesThiagoNessuna valutazione finora
- Teste de Metodologia Do Direito - Miguel Lopes - A80548Documento4 pagineTeste de Metodologia Do Direito - Miguel Lopes - A80548catarinaserra.22Nessuna valutazione finora
- Princípios e Regras Prof Virgilio AfonsoDocumento12 paginePrincípios e Regras Prof Virgilio Afonsomarcelo barrosNessuna valutazione finora
- A Dupla Face Do Princípio Da Proporcionalidade e o Cabimento de Mandado de Segurança em Matéria (Criminal: Superando o Ideário Liberal-Individualista ClássicoDocumento25 pagineA Dupla Face Do Princípio Da Proporcionalidade e o Cabimento de Mandado de Segurança em Matéria (Criminal: Superando o Ideário Liberal-Individualista ClássicoCarina ClausNessuna valutazione finora
- Aula 03 PDFDocumento18 pagineAula 03 PDFmlNessuna valutazione finora
- Universidade de Ribeirão Preto: Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento15 pagineUniversidade de Ribeirão Preto: Introdução Ao Estudo Do DireitoCarlos Gustavo Monteiro CherriNessuna valutazione finora
- Sebenta de Apontamentos - Justica Constitucional - 2022Documento86 pagineSebenta de Apontamentos - Justica Constitucional - 2022Dalton MatimbeNessuna valutazione finora
- Projeção da Autonomia Privada no Direito Processual Civil e sua contribuição para a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva: autonomia privada e processo civilDa EverandProjeção da Autonomia Privada no Direito Processual Civil e sua contribuição para a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva: autonomia privada e processo civilNessuna valutazione finora
- Aula 1 Direito Constitucional 2023Documento18 pagineAula 1 Direito Constitucional 2023l_ribeiro_cruzNessuna valutazione finora
- REGRAS E PRINCÍPIOS - POR UMA DISTINÇÃO NORMOTEORÉTICA - Álvaro Ricardo de Souza Cruz PDFDocumento38 pagineREGRAS E PRINCÍPIOS - POR UMA DISTINÇÃO NORMOTEORÉTICA - Álvaro Ricardo de Souza Cruz PDFAnderson Pressendo MendesNessuna valutazione finora
- A Segurança Jurídica desafiada pela atuação dos Órgãos do Sistema de Controle: uma análise a partir da formação do Tema de Repercussão Geral n⁰ 0484 do STFDa EverandA Segurança Jurídica desafiada pela atuação dos Órgãos do Sistema de Controle: uma análise a partir da formação do Tema de Repercussão Geral n⁰ 0484 do STFNessuna valutazione finora
- Direito Constitucional: panoramas plurais: - Volume 3Da EverandDireito Constitucional: panoramas plurais: - Volume 3Nessuna valutazione finora
- Revisão Juros Cartão de CréditoDocumento21 pagineRevisão Juros Cartão de Créditoleandrocunha21100% (1)
- TJRO - Gabarito - DiscursivaDocumento3 pagineTJRO - Gabarito - DiscursivaCabralianBrazilNessuna valutazione finora
- Justa Causa Por Envio de Pornografia Com Email Corporativo em Expediente de TrabalhoDocumento3 pagineJusta Causa Por Envio de Pornografia Com Email Corporativo em Expediente de TrabalhoRodinei CarboneraNessuna valutazione finora
- Info 732 STJ PDFDocumento42 pagineInfo 732 STJ PDFMarcus Vinnicius Xavier PinheiroNessuna valutazione finora
- Análise Crítica Do Discurso Jurídico - Os Modos de Operação Da Ideologia PDFDocumento20 pagineAnálise Crítica Do Discurso Jurídico - Os Modos de Operação Da Ideologia PDFisamarartNessuna valutazione finora
- ChiovendaDocumento2 pagineChiovendaRafael PauloNessuna valutazione finora
- Conceito de Princípios ConstitucionaisDocumento215 pagineConceito de Princípios ConstitucionaisFrancisco AraújoNessuna valutazione finora
- DL N.º 49 - 2014, de 27 de MarçoDocumento66 pagineDL N.º 49 - 2014, de 27 de MarçoAnna RibeiroNessuna valutazione finora
- Modelo de Rese-Interposição e Razões SarahDocumento5 pagineModelo de Rese-Interposição e Razões Sarahedmar-bnbNessuna valutazione finora
- Caderno1 AdministrativoDocumento28 pagineCaderno1 Administrativojose linsNessuna valutazione finora
- Lei 001-14 - 06 - 2013 Cria o FAMMDocumento2 pagineLei 001-14 - 06 - 2013 Cria o FAMMmgabettosilvaNessuna valutazione finora
- Caderno de Provas Advogado PDFDocumento12 pagineCaderno de Provas Advogado PDFRoqnrollNessuna valutazione finora
- Alegaçoes FinaisDocumento2 pagineAlegaçoes FinaisLylyandrea Krystyna0% (2)
- Casos Praticos - Direito Constitucional 1ºanoDocumento11 pagineCasos Praticos - Direito Constitucional 1ºanoInês RodriguesNessuna valutazione finora
- Prova PericialDocumento6 pagineProva Pericialbruno100% (1)
- Ação Cautelar de Arresto Com Pedido de LiminarDocumento5 pagineAção Cautelar de Arresto Com Pedido de LiminarFabio CarvalhoNessuna valutazione finora
- Resp 1266666 SP 1327140335460Documento20 pagineResp 1266666 SP 1327140335460Marina Gondin RamosNessuna valutazione finora
- Casos ConcretosDocumento8 pagineCasos ConcretosElianeSaBarros100% (1)
- Minist Rio P Blico Da Uni O11Documento136 pagineMinist Rio P Blico Da Uni O11Aline MendoncinhaNessuna valutazione finora
- Edital Verticalizado SEAD GODocumento6 pagineEdital Verticalizado SEAD GOBruno NogueiraNessuna valutazione finora
- Testes AdvogadoDocumento166 pagineTestes AdvogadoAlda KoglinNessuna valutazione finora
- REspe RCAND 0600940-76.2018 Odival José de AndradeDocumento40 pagineREspe RCAND 0600940-76.2018 Odival José de AndradePATRICIO NOE DA FONSECANessuna valutazione finora
- Mandado de Segurança InternaçãoDocumento8 pagineMandado de Segurança InternaçãoWillianNessuna valutazione finora
- Diario 2589 25 10 2018Documento5.477 pagineDiario 2589 25 10 2018IsaierNessuna valutazione finora
- Introdução A Prisões, Imunidades PrisionaisDocumento9 pagineIntrodução A Prisões, Imunidades Prisionaisedson5lopes_1Nessuna valutazione finora