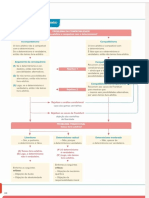Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Santos Ana Leonor para Uma Etica Do Como Se
Caricato da
Filipe José Portal MorinsTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Santos Ana Leonor para Uma Etica Do Como Se
Caricato da
Filipe José Portal MorinsCopyright:
Formati disponibili
i i
i i
PARA UMA TICA DO COMO SE. CONTINGNCIA E LIBERDADE EM ARISTTELES E KANT
Ana Leonor Santos
2006
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
i i i
i i
i i
Covilh, 2008
F ICHA T CNICA Ttulo: Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade em Aristteles e Kant Autor: Ana Leonor Santos Coleco: Teses L USO S OFIA : P RESS Direco: Jos Rosa & Artur Moro Design da Capa: Antnio Rodrigues Tom Composio & Paginao: Jos Rosa Universidade da Beira Interior Covilh, 2008
i i i
i i
i i
i i i
i i
i i
Universidade da Beira Interior
Faculdade de Artes e Letras DCA Dissertao de Mestrado
Ana Leonor Santos
PARA UMA TICA DO COMO SE. CONTINGNCIA E LIBERDADE EM ARISTTELES E KANT
Covilh, 2006
i i i
i i
i i
i i i
i i
i i
ndice
1 I NTRODUO 2 P RIMEIRA PARTE : O QUE PODERIA SER P ELA CONTINGNCIA ARISTOLLICA 2.1 Captulo I: A Causa das Coisas . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 1. Necessidade e Contingncia . . . . . . . . 2.1.2 2. As quatro causas (e mais uma) . . . . . . 2.1.3 Eplogo I: A Tragdia . . . . . . . . . . . . . 2.2 Captulo II: O Princpio da tica . . . . . . . . . . . . 2.2.1 3. Do (thos) animal ao humano . . . . . . . 2.2.2 4. Deliberao e Escolha . . . . . . . . . . . 2.2.3 5. A diculdade de ser phronimos . . . . . . 2.2.4 6. Actos Voluntrios e Involuntrios . . . . . 2.3 Captulo III: O Colapso da Ontologia da Contingncia . 2.3.1 7. Caracteres e virtudes... . . . . . . . . . . . 2.3.2 8. Por que no h lugar para o que poderia ser 3 S EGUNDA PARTE : O QUE PODERIA SER P ELA LIBERDADE KANTIANA 3.1 Captulo I: Prolegmenos tica de Kant . . . . . . . 3.1.1 9. A tica na arquitectnica . . . . . . . . . 3.1.2 10. O lugar do sentimento ou imperativos e liberdade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Captulo II: (No) Conhecer e Pensar a Liberdade . . . 3.2.1 11. Da espontaneidade autonomia... . . . . 3.2.2 12. A terceira antinomia . . . . . . . . . . . 3.2.3 13. O Tempo da Resoluo . . . . . . . . . . 3.2.4 14. A pessoa, um ser hbrido . . . . . . . . .
12 19 20 20 29 36 38 39 43 48 52 57 58 70 82 83 83 90 105 106 109 112 116
i i i
i i
i i
Ana Leonor Santos
Eplogo II: A Necessidade da Crtica da Faculdade do Juzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Captulo III: Aporias ou o Recurso F . . . . . . . . 3.3.1 15. A (falsa) soluo dos postulados . . . . . 3.3.2 16. Dos interesses na teoria e na prtica . . . 3.3.3 17. Consses kantianas . . . . . . . . . . . 4 R EFLEXO F INAL 5 B IBLIOGRAFIA 5.1 I. Fontes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 II. Bibliograa secundria . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 III. Lxicos e Enciclopdias . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
122 126 126 133 135 140 146 146 151 153
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
Agradecimentos
Agradeo ao Professor Doutor Jos Manuel Santos as sugestes, as crticas e as correces, que permitiram o aperfeioamento do trabalho desenvolvido, bem como a preciosa ajuda na confrontao de algumas tradues com os textos originais. Dirijo um agradecimento especial ao Professor Doutor Jos Rosa e ao Professor Doutor Andr Barata pela disponibilidade manifestada por ambos na leitura atenta do texto e pelas crticas e sugestes que se revelaram fundamentais nas diferentes fases de reapreciao do mesmo, quer para o seu enriquecimento quer para a tentativa de fundamentar melhor posies que, com alguma teimosia losca, insisti em manter. Agradeo tambm ao Doutor Antnio Amaral a generosidade com que cedeu a traduo portuguesa da tica a Eudemo. Maria agradeo a partilha das angstias colaterais.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Ana Leonor Santos
Advertncias Metodolgicas
Embora tenhamos seguido as regras de exposio commumente utilizadas, h algumas opes metodolgicas para as quais consideramos importante chamar a ateno. Assim, as citaes so feitas em portugus, apresentando-se o original ou a traduo utilizada em nota de rodap sempre que a traduo (portuguesa) da nossa responsabilidade, o que se verica no caso de obras que no se encontram traduzidas na lngua portuguesa e em algumas passagens de textos que, embora traduzidos para portugus, suscitaram dvidas que exigiram o recurso ao texto original e donde resultaram alteraes s tradues existentes. No caso das obras traduzidas para portugus, para alm de remetermos as citaes para o original, apresentamos entre parntesis a(s) pgina(s) referente(s) traduo utilizada. Nas notas de rodap, recorremos a abreviaturas, seguidamente apresentadas, respeitantes aos ttulos dos livros ou dos ensaios que so referidos no corpo do texto.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
Abreviaturas
1. Obras de Aristteles De an. De anima (Da alma) EE Etica Eudemia (tica a Eudemo) EN Etica Nicomachea (tica Nicomaqueia) Phys. Physica (Fsica) GA De generatione animalium (Da gerao dos animais) HA Historia animalium (Histria dos animais) IA De incessu animalium (Da investigao sobre os animais) Metaph. Metaphysica (Metafsica) MA De motu animalium (Do movimento dos animais) PA De partibus animalium (Das partes dos animais) De in. De Interpretatione (Da Interpretao) Poet. Poetica (Potica) Pol. Politica (Poltica) Rhet. Rhetorica (Retrica) 1. Obras de Kant AP Antropologie in pragmatischer Hinsicht (Antropologia do Ponto de Vista Pragmtico) EF Zum Ewigen Frieden, ein Philosophischer Entururf
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
10
Ana Leonor Santos
(A Paz Perptua. Um projecto losco) GMS Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Fundamentao da Metafsica dos Costumes) IAG Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbrgerlicher Absicht (Ideia de uma Histria universal com um propsito cosmopolita) KPV Kritik der praktischen Vernunft (Crtica da Razo Prtica) KRV Kritik der reiner Vernunft (Crtica da Razo Pura) KU Kritik der Urteilskraft (Crtica da Faculdade do Juzo) MS Die Metaphysik der Sitten (Metafsica dos Costumes) PM Prolegomena zu einer jeden knftigen Metaphysik (Prolegmenos a toda a Metafsica Futura) PPM Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio (Nova explicao dos primeiros princpios do conhecimento metafsico) UG ber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fr die Praxis (Sobre a expresso corrente: isto pode ser correcto na teoria, mas nada vale na prtica) UP ber Pdagogik (Sobre Pedagogia) UTM Untersuchung ber die Deutlichkeit der Grundstze der natrlichen Theologie und der Moral (Investigao sobre a evidncia dos princpios da teologia natural e da moral) UTP ber den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie (Sobre o uso de princpios teleolgicos na losoa)
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
11
Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi. (O que me mostras no o creio e -me detestvel.)
Horcio
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
12
Ana Leonor Santos
INTRODUO
INTRODUO
A denio de homem como animal racional derivada de uma formulao aristotlica, ainda que desvirtuada por relao original foi aquela que mais vingou, talvez porque reveladora de um constructo criado imagem e semelhana dos desejos do prprio homem. O agrado com que a veiculamos e a ateno prestada ao que nela quer ser revelador da nossa diferena especca funcionam como mote disseminador da armao do logos, cuja associao mais imediata razo, aniquiladora da polissemia do conceito, permite encarar com naturalidade o esquecimento, e at o constrangimento, de outros elementos constituintes da vida humana. Assim, e com a mesma naturalidade com que, no seio da losoa, se rejeita a concepo comtiana dos trs estdios mtico ou teolgico, losco e cientco , promove-se a viso salvca da losoa, qual deveramos o abandono das histrias mticas e, com ele, o enobrecimento do discurso e do prprio homem. Rejeitamos, pois, com naturalidade, o terceiro estdio, mantendo com interesse o movimento evolutivo que nos levou do mito losoa. Para l da viso simplista e redutora que tal posicionamento acarreta, considerao cujos pressupostos no cabe explicar aqui, importa referir a existncia de um denominador comum, elemento congregador do mito e da losoa assim como da cincia num nico conjunto: a procura do princpio e da causa das coisas. esta procura que leva o ser humano a criar derivaes em torno de um tema comum, e cujo conjunto constitui aquilo que Cassirer designou por crculo da
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
13
humanidade. Atravs do mito, da religio, da losoa ou da cincia, procuramos conhecer aquilo que nos rodeia e reconhecemos que esse conhecimento passa, impreterivelmente, pelo conhecimento das causas. Que tudo quanto acontece no mundo tenha uma causa constitui um pressuposto ttico gnoseologicamente necessrio. As guras do milagre e do acaso, ao invs de excepcionais, colocam a manifesto a incompreenso humana do contrrio, ainda que em circunstncias de causalidade incognoscvel. Que o ser do homem ocupa uma posio de privilgio no mundo uma concepo antropolgica e antropocentricamente assumida que exige a assuno de uma diferena entre aquilo que sucede sob a gura de acontecimentos causados uns pelos outros e aquilo que acontece como acto, causado por um sujeito que agente. Um acto , portanto, distinto de um acontecimento na medida em que encontramos na sua origem um eu que tambm a sua causa.1 A tica e a moral, mas tambm o direito e todos os mecanismos sociais de interaco, mais ou menos institucionalizados ou mesmo isentos de institucionalizao (incluindo, dessa forma, as relaes de cariz meramente afectivo), repousam sobre a referida distino, garante de responsabilidade e de imputabilidade. Estas, por sua vez, constituem simplesmente a crosta do globo social por relao nuclear liberdade. Basta pensarmos que um determinado acto foi causado por uma srie de acontecimentos anteriores dissociveis da vontade de uma qualquer pessoa para que o mesmo deixe de ser percebido como acto, imputvel, susceptvel de elogio ou de censura. Basta pensarmos a impossibilidade de que um acto tenha uma outra causa que no uma cadeia de acontecimentos que o antecede para que a tica e a moral, e tambm o direito e todos os mecanismos e as formas de interaco
Cf. WOLFF, Francis, Je et lthique in WOLFF, Francis (textes runis par), Philosophes en libert. Positions & arguments I, Paris, Ellipses ditions, 2001, p. 98.
1
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
14
Ana Leonor Santos
a que acima nos referamos, se vejam destitudos de sentido. Donde a premncia de armar a existncia de uma causa que no s concomitante s ditas cadeias de acontecimentos que se sucedem no tempo como capaz de a elas se sobrepor. Foi este o dilema que Kant observou na terceira antinomia, contrapondo a uma tese que promove a causalidade pela liberdade uma anttese que arma a restrio da causalidade s leis da natureza e que pressupe o determinismo, segundo o modelo da fsica newtoniana. Resolver tal conito atormentador da razo parecia ser imprescindvel para a sustentabilidade da tica. Para l da soluo avanada por Kant, cuja legitimidade ser adiante objecto de reexo, o surgimento da mecnica quntica e a imposio do conceito de probabilidade pareciam destituir de sentido o problema em questo, impossibilitando denitivamente a ameaa do determinismo, cujo carcter obsoleto h muito e por muitos defendido. Erradicada que se cria a viso da natureza como um sistema de causas e efeitos que no deixa lugar para a contingncia, julgou-se garantida aquela que consensualmente posta como condio da aco, esquecendo que determinismo no um termo unvoco, pese embora a transversalidade da possibilidade de realizar pr-gnoses e ps-gnoses, ou seja, predizer o futuro a partir do passado e reconstruir o passado a partir do presente.2 Suspendamos o juzo acerca dos determinismos lgico e teolgico, bem como acerca das solues e respostas que foram sendo apresentadas para que o futuro no esteja comprometido logicamente e a omniscincia de Deus no constitua a negao da liberdade humana. Detenhamo-nos no determinismo causal e na respectiva concepo de que num dado sistema S, as mesmas condies iniciais resultam inevitvel e univocamente na mesma evoluo do sistema. Atentando a esta formulao, encontramos no determinismo causal a implicao de trs condies: (i) que a ocorrncia em S dos factores causais de X garanta
Cf. AMSTERDAMSKI, Stefan, Determinado/Indeterminado in GIL, Fernando (coord. ed. port.), Enciclopdia Einaudi, Lisboa, IN-CM, 1996, vol. 33: Explicao, p. 34.
2
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
15
a ocorrncia de X; (ii) que os processos e interaces decorrentes em S no instante tn determinem um nico estado possvel de S em tn+1; (iii) que a ocorrncia em S de X seja uma consequncia inevitvel das causas que antecederam X. Posto deste modo, o determinismo designa a ausncia objectiva do acaso e da contingncia e a correlativa excluso dos possveis.3 Ainda segundo esta perspectiva, os princpios do determinismo e da causalidade confundem-se num s, na medida em que a possibilidade de realizar previses, prognsticas ou ps-gnsticas, decorre da relao determinstica entre causas e efeitos. Porm, causalidade no signica determinismo. E sob este pressuposto que surge um dos problemas clssicos do livre arbtrio, a saber: o facto de uma aco ser causada implica que no livre? Da liberdade dissemos atrs ser nuclear; porque central para a tica justicamos agora , mas tambm porque obscura e, porventura, de acesso difcil. Mais do que o seu carcter negativo ou maioritariamente poltico, a liberdade como autonomia ou capacidade de autodeterminao que se torna problemtica na sua essncia. Para alm da complexidade das variveis envolvidas na dita autodeterminao, a considerao da existncia de um ncleo de interioridade irredutvel, a partir do qual emanam decises e actos , ainda, fornecer uma explicao das aces; simplesmente, como esta, por sua vez, no pode ser esclarecida, tambm garantir que os actos continuam a ser alvo de admirao, merecedores de louvor e de censura. De contrrio, a concepo das aces humanas como integrantes de uma srie de acontecimentos, causalmente determinada ou no, conduz ao sentimento de que no somos agentes na verdadeira acepo do termo e assim sendo no podemos ser responsabilizados por aquilo que fazemos, no desdobramento do que nos deparamos com os sentimentos de impotncia e futilidade face ao que simplesmente acontece. Os outros, como ns, deixam de ser legitimamente objecto de elogio e condenao, gratido e ressentimento. Ora, foi precisamente a mesma construo conguradora da
3
Cf. LAUPIES, Frdric, La Libert, Paris, PUF, 2004, p. 65.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
16
Ana Leonor Santos
realidade que pretendeu ter erradicado a ameaa do determinismo, a recoloc-lo nas ltimas dcadas no centro do debate tico, com um vigor talvez de insuspeitas seguramente de indesejveis consequncias. Da cincia chegou-nos a negao do determinismo e da cincia chegou-nos a sua armao: ao mesmo tempo que a mecnica quntica revelava ultrapassados os pressupostos da fsica newtoniana, a biologia dava importantes passos em direco ao m do vitalismo. Desde a sntese da ureia, no incio do sculo XX, at revoluo biolgica ocorrida nos anos 60, graas descoberta do substrato molecular dos genes (ADN) e dos mecanismos pelos quais os mesmos orientam a sntese das protenas, o hiato entre o mundo fsico e o mundo vivo foi sendo progressivamente esbatido, at dar lugar continuidade.4 Comportamentos considerados prprios dos seres vivos passaram a ser explicados a partir de propriedades fsicas e qumicas passveis de reconstituio laboratorial; atitudes tidas como especcas do ser humano e resultantes de uma instncia volitiva e racional passaram a ser explicadas a partir de fenmenos biolgicos dos mais variados tipos. A par das revelaes biolgicas e neurosiolgicas, h um reconhecimento cada vez mais sustentado da relevncia de factores sociais na formao da personalidade. A (re)conhecida frmula da pessoa como resultado da interaco entre hereditariedade e meio, pese embora o seu possvel carcter redutor, inerente simplicao de todas as frmulas, encerra em si uma das formulaes sob as quais se apresenta a inquietao que esteve na origem da presente investigao: quando pensamos que uma deciso tomada em funo das crenas, dos desejos e dos valores do agente, variveis que constituem a sua personalidade, fruto por sua vez de disposies genticas e inuncias sociais, ser possvel continuar a acreditar no livre arbtrio? Ou, dito de outro modo: mantendo as causas idnticas, o comportamento do agente poderia ser diferente daquilo que foi? Eis-nos de volta ao
Cf. ATLAN, Henri, La science est-elle inhumaine? Essai sur la libre ncessit, Paris, Bayard, 2002, pp. 14-17.
4
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
17
problema da verdade do determinismo, desta feita para saber se a descrio completa do estado do agente A no momento tn conduzir a uma nica deciso possvel e, portanto, a um nico estado possvel de A no momento tn+1.5 A resposta questo tanto mais urgente quanto a tica pressupe no apenas a comparao do que com o que deve ser, mas, mais decisivamente, a comparao do que com o que poderia ser. Qualquer juzo proferido retrospectivamente face aos actos de outrem considera que os mesmos poderiam no ter sido realizados: porque poderamos no ter praticado o bem que tal prtica digna de elogio, da mesmo forma que na medida em que poderamos no ter agido mal que tal aco alvo de censura. Assim sendo, o problema que se impe, previamente a todo o imperativo moral ou a qualquer teoria das virtudes, saber o que depende de cada um de ns e o que de cada qual no depende. Sem uma investigao descomprometida acerca desta questo, estamos condenados a edicar ticas fantasiosas que apontam para idealizaes e que a ningum servem. Na busca de respostas, debruar-nos-emos sobre as propostas de dois lsofos que se nos impem segundo uma dupla ordem de razes. Os lsofos so Aristteles e Kant; as razes desdobram-se do seguinte modo: (i) a relevncia que as losoas aristotlica e kantiana assumem na abordagem da problemtica em questo, no primeiro caso pela circunscrio sistematizada do domnio da praxis relativamente theoria e a assuno do primeiro como mundo da contingncia, a qual, sendo ontologicamente inferior, constitui a condio de possibilidade da aco; no segundo caso, pelo tratamento votado questo subjacente ao que hoje conhecido por compatibilismo, cujos defensores revelam, a despeito da inadequao das categorias kantianas forjadas
5 Estamos, uma vez mais, a perguntar pela existncia de uma relao de implicao entre causalidade e determinismo e pela possibilidade de pensar a causao num mundo probabilstico, no qual a existncia de causas de uma aco, ainda que parcialmente fora do controlo do agente, resulta num conjunto de escolhas possveis mais ou menos provveis, ao invs de conduzir a uma nica possvel deciso.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
18
Ana Leonor Santos
sob inuncia de uma fsica ultrapassada, que o problema visto por Kant permanece actual no seio da losoa e que o sistema que foi criado para lhe dar resposta ser sempre merecedor de ateno pela grandiosidade do esforo nele envolvido; (ii) a considerao de que a abordagem da questo no poderia esquivar-se ao confronto da dupla perspectiva que integra a clssica tipologia tica e da qual as losoas dos autores citados constituem paradigmas ainda transpostos para a tica contempornea por alguns pensadores da actualidade. Nos antpodas de uma tipologia que apresenta a tica aristotlica e a moral kantiana como exemplos de ticas com pressupostos e intuitos diversos, segundo a classicao da primeira como teleolgica e da segunda como deontolgica, encontramos, contudo, um recurso anlogo quando se trata de dar conta da existncia da tica: assim como o Estagirita apresenta a contingncia como condio de possibilidade da aco, o lsofo alemo coloca na liberdade a razo de ser da lei moral. Ambos pressupem, desta forma, a distino antes referida entre o que e o que deve ser, e, consequentemente, a existncia de algumas coisas que so e que deveriam ser diferentes daquilo que so, bem como a possibilidade de que tais coisas sejam de facto e por obra de um agente diferentes daquilo que so. Ora, aquilo que no est dado de forma alguma a evidncia de tal possibilidade, cujo postulado nos propomos analisar na sua legitimidade, no seio das losoas em que o mesmo surge e seguindo os pressupostos dos prprios autores. Permaneceremos, portanto, no registo da losoa; sem recurso cincia, as concluses a que chegarmos estaro pelo menos a salvo do preconceito que ronda todos os ismos e de forma particular o dito cientismo. Ficaremos apenas a braos com as crenas ontolgicas.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
19
I PARTE
I PARTE
O QUE PODERIA SER PELA CONTINGNCIA ARISTOTLICA
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
20
Ana Leonor Santos
2.1
PRIMEIRA PARTE
Captulo I A Causa das Coisas
[... ] quando pensamos compreender a sua causa primeira que dizemos conhecer cada coisa particular.6
2.1.1
Necessidade e Contingncia
1. Necessidade e Contingncia
Devemos a Aristteles a potica considerao de que o incio da losoa o espanto. O momento segundo, podemos diz-lo, constitui-se na tentativa de conhecer e compreender aquilo que no momento inicial origina o espanto. Assim, o propsito primeiro de toda a losoa
Metaph., A, 3, 938 a 25: [...] it is when we think that we understand its primary cause that we claim to know each particular thing. Trans. Hugh Tredennick, Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge/London, 1933, 1996, vol. XVII, p. 17.
6
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
21
conhecer, constituindo a mesma uma resposta elaborada quilo que apresentado pelo Estagirita como um desejo natural ao homem.7 Porm, na medida em que aquilo que h para conhecer comporta o mutvel e o permanente, corpos sujeitos gerao e corrupo e entes sempre idnticos a si mesmos, necessrio distinguir no seio da prpria losoa, uma dupla vertente, respeitante aos domnios teortico e prtico: os entes sempre idnticos a si mesmos so eternos e incorruptveis, e constituem o objecto da losoa teortica, saber estvel, necessrio e dedutivo. Pelo contrrio, o saber prtico, dado que versa sobre as coisas que, embora aconteam a maior parte das vezes da mesma maneira, podem acontecer de forma diferente, um saber do contingente e ele prprio contingente. Tal diviso sustenta, pois, a diferena entre os saberes que visam o conhecimento por si mesmo e aqueles cujo m ltimo a conduta correcta, sendo o conhecimento apenas um guia na prossecuo do dito objectivo.8 Neste ltimo caso, a experincia torna-se fundamental, na medida em que permite captar regularidades e, a partir delas, operar por induo. Na verdade, os assuntos humanos objecto da losoa prtica , sendo instveis e incertos, no so completamente aleatrios, comportando, ao invs, uma certa regularidade, no que se aproximam das coisas da natureza, as quais, por outro lado, no sendo incorruptveis nem eternas, possuem uma estabilidade da forma que lhes permite integrar o estudo da losoa teortica, designadamente, da losoa segunda ou fsica. Contudo, estes dois mundos permanecem diferenciados, porque as entidades com uma existncia substancial separada, mas sujeitas mudana objectos da fsica , compartilham
Cf. ibid., 1, 980 a 22. Aristteles apresenta ainda um terceiro tipo de saber, relativo poiesis, no qual o conhecimento colocado ao servio de coisas belas e teis. Por sair fora do mbito do nosso trabalho, ignoraremos voluntariamente as distines estabelecidas entre poiesis, praxis e theoria, e prosseguiremos fazendo referncia apenas dicotomia entre os dois ltimos saberes. Para uma anlise das caractersticas da poiesis veja-se EN, VI, 2, 1139 b 1-5; 4; 6, 1140 b 35.
8 7
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
22
Ana Leonor Santos
com as entidades que esto livres de mudana, mas no possuem uma existncia separada os objectos da matemtica uma certa similitude ao nvel da necessidade9 , praticamente ausente do mundo da praxis. Ser a distino estabelecida entre vrios tipos de necessidade que permitir a Aristteles utilizar o conceito no domnio da natureza, associando-o matria e ao movimento, e fazendo-o derivar do carcter teleolgico da mesma natureza. Uma vez que no pode haver cincia
Cf. Phys., II, 9, 200 a 15-30. A similitude registada mais no do que um paralelismo invertido, explicitado mais adiante, entre as necessidades vigentes na matemtica e na natureza (v. pp. 29-34). Esta similitude invertida, juntamente com as diferenas apontadas entre as entidades abarcveis pela vertente teortica da losoa, conduz distino, no seu seio, entre losoa primeira ou teologia (ou, ainda, metafsica, como mais tarde se veio a designar), losoa segunda ou fsica e matemtica, sendo que as duas ltimas tratam dos objectos acima referidos e a primeira trata dos seres simultaneamente imutveis e com existncia separada. No entraremos aqui na questo sobre a possvel diculdade de conciliar diferentes acepes do termo losoa primeira; o sentido ontolgico ou um sentido estritamente teolgico a atribuir expresso foram alvo de reexo e de fundamentao por comentadores como Werner Jaeger e Pierre Aubenque (veja-se Aristotles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung e Le problme de ltre chez Aristote, respectivamente). Quer numa quer noutra interpretao, possvel colocar em sinergia a metafsica e a fsica; por exemplo, as observaes constantes no livro [F020?]da Metaph. levaram Sir David Ross a armar que a Phys. constitui uma espcie de metafsica, uma metafsica da natureza. (Cf. ROSS, David, Aristotle. Aristteles, trad. Lus Teixeira, Lisboa, D. Quixote, 1923, 1987, p. 164.) Mas, ao mesmo tempo, podemos sustentar a relao inversa e fazer da teologia aristotlica uma fsica, porquanto aquela , para Aristteles, uma exigncia interna da fsica. Assim sendo, a distino entre a fsica e a metafsica , porventura, passvel de ser esbatida, o que constitui um prenncio favorvel para o nosso intuito de anular a fronteira entre a losoa teortica e a losoa prtica, pelo menos na forma como ela mais fortemente e frequentemente apresentada. Cremos tambm que as interpretaes que colocam a metafsica e a fsica numa relao de interpenetrao so sustentveis pela hierarquia que Aristteles encontra no mundo, argumento que nos servir, mais adiante, para fundamentar a atrs referida inteno subjacente a esta primeira parte do nosso trabalho. Nem por isso deixamos de ter presente que a quantidade gera qualidade, isto , a quantidade de matria constituinte de um ente faz com que a sua natureza seja diferente, pelo que a citada hierarquia no poder ser absolutamente anulvel, a favor de uma igualizao.
9
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
23
do acidental, o axioma de que a natureza no faz nada em vo, apresentando estruturas em ordem a um determinado telos10 , que permite a constituio de uma cincia da natureza em geral e de uma cincia biolgica em particular, integrante de algumas observaes com bastante interesse para o domnio da tica.11 Dito isto, torna-se imperioso investigar de que modo a necessidade est presente na natureza, se de modo hipottico ou condicional, ou se em sentido absoluto, bem como o que entende Aristteles por cada um destes tipos de necessidade.
Cf. Pol., I, 2, 1253 a 9; 8, 1256 b 21. O carcter teleolgico com que Aristteles dota a natureza no permaneceu para os seus comentadores isento de problematicidade: tratando-se de uma teleologia inconsciente, na medida em que a natureza no pode ser tida como agente com conscincia, Ross v nela uma incongruncia, porquanto pressupe um propsito que no sendo nem da natureza, pelo motivo referido, nem do primeiro motor, que permanece absorvido na contemplao de Si no pode s-lo. Talvez fosse esta diculdade a estar na origem da interpretao da teleologia aristotlica als ob, como se, proposta por Wieland, para quem o conceito de telos deve ser entendido na condio de conceito de reexo, sem correspondncia real. Parece-nos, contudo, por demais evidente no ser esta a concepo de Aristteles, pois, como teremos oportunidade de vericar, so vastas as referncias teleologia cujo sentido se perderia caso estivssemos na presena de um conceito sem extenso (v. pp. 32, 39). Por sua vez, julgamos ser possvel ultrapassar a diculdade identicada por Ross se aceitarmos que a conscincia no necessria para a observncia da teleologia, cuja imanncia dispensa, por sua vez, a remisso (impossvel no sistema aristotlico) para Thos. 11 Ao vocbulo fsica, em Aristteles, est associado um conjunto variado de disciplinas: para alm da biologia, a cosmologia, a metereologia, a mineralogia, a botnica, a zoologia, a psicologia e a prpria antropologia so estudos abarcveis pela fsica na medida em que neles se remete necessariamente para a physis dos objectos em causa. Estamos, assim, perante uma espcie de metafsica ou ontologia do sensvel (como lhe chama Giovanni Reale em Introduzione a Aristotele. Introduo a Aristteles, 10a ed., trad. Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1974, 1997, p. 60) que se distancia sobremaneira da fsica moderna. Nesta, muitos dos conceitos aristotlicos mantiveram-se, mas adquiriram signicados bastante diversos; a perspectiva sobre a sicalidade dos corpos alterou-se radicalmente e as referidas disciplinas abarcadas pela fsica do Estagirita seguiram percursos diferentes. O nico factor que permitia ento congregar no mesmo conjunto fsico plantas, animais, homens e at objectos inanimados, eram as leis da fsica, face s quais todos os corpos so igualveis.
10
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
24
Ana Leonor Santos
A necessidade hipottica ou condicional apresentada como aquela que, do ponto de vista do m, condio necessria para a realizao do mesmo este o modo como a necessidade est presente na natureza, tal como admitido no livro II da Fsica, bem como no livro I de Partes dos Animais, onde, embora encontremos a acepo de que muitas coisas acontecem por simples necessidade, podemos igualmente conrmar que a necessidade simpliciter ou absoluta s pode ser atribuda aos seres eternos e s verdades matemticas, ao contrrio da necessidade condicional, respeitante quer s coisas naturais sujeitas ao devir, quer aos artefactos.12 Os exemplos avanados pelo prprio Aristteles parecem-nos mais elucidativos do que a simples enunciao terica da diferena em causa: uma qualquer parede ou casa no podem dispensar os materiais de que so feitas, mas no por sua causa (a no ser como matria) que so construdas, e sim para proteger e preservar determinadas coisas; a viso comum, dos muitos que acreditam que na natureza os acontecimentos se do por simples necessidade, considera que as formas da parede e da casa se devem aos materiais que as compem, sem referncia ao m para o qual so construdas. O mesmo com uma serra: tendo uma determinada funo, para que esta seja cumprida necessrio que a serra seja feita de um certo material inclusivamente, para ser dita serra e no outra coisa qualquer , mas a sua feitura no se justica com referncia matria e sim ao m.13 A alimentao um terceiro exemplo de necessidade condicional: sem ela a existncia no possvel; embora no constitua um m em si mesma, condio necessria para que o nosso corpo e cada um dos nossos rgos cumpram a sua nalidade (enquanto instrumentos da alma, ou seja, da vida).14 E assim com todas as coisas que tm um m, cuja relao com a necessidade pode ser formalmente expressa atravs
12 13 14
Cf. PA., I, 1, 639 b 20-30. Cf. Phys., II, 9, 200 a 1-14; PA, I, 1, 639 b 25-30. Cf. PA, I, 1, 642 a 5-10.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
25
da relao de implicao: p q (p q) 15
Ao contrrio, na matemtica, por exemplo, a denio de uma recta implica que a soma dos ngulos (internos) de um tringulo seja igual a dois ngulos rectos, mas desta propriedade dos tringulos no podemos derivar aquilo que uma recta .16 O tipo de necessidade que est aqui em causa no tem qualquer referncia a ns; , portanto, incondicional aquela necessidade prpria do que no pode ser de outra maneira.17 Formalmente, pode ser expressa da seguinte forma: [(A B) A] B18 Na natureza, o necessrio aplica-se quilo que constitui uma espcie de causa coadjuvante, sem o que o m no alcanvel, mas que no causa em sentido prprio. Daqui o contraste entre a fsica e as cincias teorticas referido em Partes dos Animais19 : a classicao
A frmula deve ler-se se p ento q, equivalente impossibilidade de p e q; o que nos diz a necessidade condicional que, estando dado um m p, q condio necessria para a realizao do m. 16 Euclides havia demonstrado as propriedades do tringulo partindo, entre outras premissas, da denio de linha recta. Contudo, o raciocnio que conduz das premissas concluso no reversvel, na medida em que os princpios primeiros so indemonstrveis. A necessidade aqui subjacente advm, precisamente, das proposies de onde procede o silogismo, que no podem ser diferentes daquilo que so. Cf. Metaph., , 5, 1015 b 6-9. 17 Cf. ibid., 1015 a 34. 18 Admitindo A armamos B: admitindo a denio de recta armamos a referida propriedade do tringulo. Estamos, no caso, na presena de um raciocnio anapodtico. 19 I, 1, 640 a 1; cf. Phys., II, 9, 200 a 15-30.
15
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
26
Ana Leonor Santos
clssica dos saberes em teorticos, prticos e poiticos mantm-se inaltervel, com a fsica a integrar o primeiro conjunto; porm, se o estudo da natureza um saber teortico, a prpria natureza , em si mesma, produtiva donde o paralelismo visvel nos exemplos relativos necessidade condicional, que ora recaem sobre a natureza, ora sobre os artefactos. A regularidade dos processos naturais permite a Aristteles sublinhar a teleologia inerente natureza, a qual, por sua vez, justica a remisso para uma necessidade de tipo condicional (isto , associada aos ns). A observncia de tais regularidades deve-se quilo que a natureza , entendida como forma.20 Na Fsica a polissemia de physis circunscrita a uma dupla signicao: a primeira, a j referida forma; a segunda, a matria.21 Enquanto matria primeira, a natureza o que est subjacente a tudo quanto possui em si o princpio de movimento e de mudana, o qual intrnseco e, portanto, est presente essencialmente e no por acidente.22 Embora a matria e a forma sejam separveis apenas conceptualmente, tal distino serve a Aristteles para admitir um tipo de necessidade na natureza, j no associado a esta como forma situao na qual os processos naturais esto orientados para um m , mas sim como matria: a necessidade absoluta ou simpliciter. Quer na Fsica, quer em Partes dos Animais, a assuno de que a necessidade condicional corresponde ao modo como a necessidade est presente na natureza inequvoca, embora tambm nessas mesmas obras encon20 A crena na regularidade com que os processos ocorrem na natureza leva Aristteles a atribuir as possveis excepes a uma interferncia acidental; por outro lado, a mesma regularidade abre espao para a explicao do monstruoso, na medida em que este, enquanto erro daquilo que para um m, dito contrrio natureza (par phsin), e aquilo que contrrio natureza s pode suceder no mbito do que acontece geralmente e no no que acontece sempre e por necessidade. Cf. GA, IV, 4, 769 b 31-770 b 24. 21 Cf. II, 1, 193 a 25-30; 2, 194 a 12. 22 Cf. Metaph., , 4, 1015 a 12, onde se reconhece que, no seu sentido primitivo e fundamental, a natureza a essncia dos entes que tm em si mesmos o princpio de movimento.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
27
tremos a concesso de que alguns fenmenos naturais acontecem por simples necessidade23 , e por isso que o fsico deve conhecer os dois tipos de necessidade, sem que, contudo, deva atribuir necessidade absoluta maior extenso do que aquela que lhe devida: nas coisas naturais, o (absolutamente) necessrio simplesmente a matria24 , no como condio sine qua non para a realizao da forma, mas a matria sem referncia a ns. Esta concepo , contudo, minimizada se comparada com a relevncia que a necessidade condicional assume no contexto em causa. Em suma, se h uma necessidade absoluta, prpria das coisas eternas, entes e verdades matemticas, h tambm uma necessidade respeitante a tudo o que criado ou pela Natureza ou pela tcnica, uma necessidade condicional, qual, no caso da Natureza, se pode juntar a necessidade que deriva da simples natureza da matria. H, ainda, um terceiro tipo de necessidade, particularmente importante no domnio da praxis: o constrangimento. Apresentado como o contrrio do movimento resultante da escolha, como aquilo que impede a escolha deliberada25 , o constrangimento, sendo um certo tipo de necessidade, s pode ter lugar onde a mesma no se exera de forma absoluta, onde uma certa indeterminao permita que aquilo que no o seja necessariamente, o mesmo dizer: o constrangimento implica contingncia. Designando aquilo que pode ser ou no ser, ou seja, que pode ser diferente do que , a contingncia permite-nos chegar ao mundo humano, ainda que aparentemente Aristteles admita a sua existncia fora da aco humana, como teremos oportunidade de explanar aquando da anlise do acaso. Mas, para j, importa regressar ao mundo humano para referir os trs atributos essenciais que o caracterizam e que esto relacionados com a contingncia: a mutabilidade, a indeterminao e a particularidade. graas a estes atributos que se impe um saber espe23 24 25
Cf. PA, I, 1, 642 a 31-b2; III, 2, 663 b 13 e ss. Cf. Phys., II, 9, 200 a 31. Cf. Metaph., , 5, 1015 a 26-30.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
28
Ana Leonor Santos
cco para o domnio privilegiado da contingncia, pois a sophia, saber do imutvel, no tem utilidade num mundo que comporta alguma indeterminao e um certo inacabamento.26 Desta forma, a phronesis, enquanto virtude da praxis, no se coaduna com regras universais, pelo que o phronimos faz uso de uma exibilidade ajustada aos elementos particulares27 , os quais concorrem para a indeterminao dos assuntos prticos, bem como para a sua mutabilidade. Na verdade, agir (tal como produzir28 ) supor a indeterminao e o inacabamento de um
A discusso acerca da superioridade da sophia face phronesis complexa. Por tudo quanto foi indicado at aqui, a relao entre uma e outra parece evidente, e armada inequivocamente no livro X da EN, onde a vida contemplativa apresentada como a melhor de todas. No entanto, no livro VI da mesma obra, os exemplos de Anaxgoras e Tales servem a Aristteles para armar que a posse da sabedoria no tem utilidade quando se trata das coisas humanas, as quais exigem, sim, prudncia. Por sua vez, na Pol. parece estar dada a complementaridade entre a vida contemplativa e a vida prtica, particularmente visvel na seguinte passagem: To pouco est de acordo com a verdade que se tenha de louvar mais a inactividade do que a actividade, porque a felicidade implica aco, e no agir justo e prudente que se consuma o m de muitos actos nobres. VII, 3, 1325 a 30-34 (ed. bilingue, trad. Antnio Amaral e Carlos Gomes, Lisboa, Vega, 1998, p. 491). Porm, no parece ser esta a posio ltima de Aristteles, patente na teoria dos gneros de vida, a qual, uma vez mais, apresenta a vida contemplativa como o melhor dos gneros. Permanece, por isso, a pergunta: qual a virtude superior, a sophia ou a phronesis? A resposta poder parecer bvia: a sophia detm uma superioridade que escapa phronesis; contudo, superioridade no signica utilidade estas propriedades podem, at, variar em razo inversa e a virtude mais til no mundo humano , de facto, a phronesis. Logo, de novo se impe a pergunta, desta feita reformulada: qual a virtude cuja posse prefervel, a sophia ou a phronesis? Colocada desta forma, a questo no encontra uma resposta evidente. 27 J Tirsias, o sbio grego interveniente na Antgona, de Sfocles, havia reconhecido que a prudncia e a boa deliberao esto relacionadas com a exibilidade, a que acrescenta o abandono da obstinao e a concesso (1027-1029). Aristteles evidenciar a importncia da exibilidade atravs de uma sugestiva metfora: aquele que pretende decidir fazendo uso de um princpio geral xo como o arquitecto que tenta utilizar uma rgua rgida para medir as curvas de uma coluna. Cf. EN, V, 15, 1137 b 30-32. 28 De entre as coisas abarcadas pela contingncia, Aristteles distingue aquelas cujo princpio reside no produtor os artefactos daquelas em que o princpio reside
26
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
29
mundo que o homem chamado a modicar. Se no mundo das coisas humanas estivesse estabelecido que nada pode ser diferente daquilo que , no haveria lugar para a praxis. Donde podermos dizer com Pierre Aubenque que a teoria da prudncia , pois, solidria de uma cosmologia e, mais profundamente, de uma ontologia da contingncia [...].29 Do exposto resulta a diferena fundamental entre a losoa terica e a losoa prtica, bem como o fundamento da duplicidade de critrios que as distingue: uma diferena ontolgica que tem como correlato uma distino epistemolgica entre theoria e praxis e os respectivos saberes, episteme e phronesis. Nem a prudncia episteme, pelo que no possui o estatuto epistemolgico da sophia, nem os objectos da praxis comungam da superioridade ontolgica da theoria, num contexto em que a perfeio sinnimo de necessidade e a contingncia apangio dos entes privados de perfeio.
2.1.2
2. As quatro causas (e mais uma)
2. As quatro causas (e mais uma)
Se conhecer , primariamente, conhecer as causas, impe-se saber quais e quantas so as causas das coisas, nomeadamente, aquelas que operam na natureza. Que o seu nmero no pode ser innito mostra-o a anlise que Aristteles desenvolve das losoas dos seus predecessores, cujo vislumbre de diferentes causas desembocou na sistematizao aristotlica que apresenta quatro espcies de causas: material, formal, eciente
nelas mesmas os seres naturais. O caso da aco particular, uma vez que o agente tem em si mesmo o seu prprio princpio, mas a sua aco implica a introduo de uma certa articialidade no mundo. Cf. AUBENQUE, Pierre, La prudence chez Aristote, 3a edio, Paris, P.U.F., 1963, 2002, p. 67. 29 La thorie de la prudence est donc solidaire dune cosmologie et, plus profondment, dune ontologie de la contingence [...]. AUBENQUE, op. cit., p. 65.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
30
Ana Leonor Santos
ou motriz e nal.30 Aristteles chega a esta formulao porque h quatro sentidos do termo aitia: num primeiro sentido, o termo refere-se ao constituinte interno de que a coisa feita a sua matria ou substracto; num outro sentido, diz-se da forma ou paradigma, isto , da quididade (e dos seus gneros); mas aplica-se tambm ao princpio do movimento e do repouso, quilo de onde provm a transformao; por m, causa aquilo para o qual ou com vista ao qual alguma coisa , o seu m.31 Do exposto, vericamos que Aristteles utiliza o termo aitia quer no sentido de razo, quer no sentido de causa, abarcados ambos pela qudrupla modalidade, e tambm por este facto que devemos observar que: a) uma mesma coisa tem vrias causas, do conjunto das espcies identicadas; b) h causas que o so reciprocamente, ainda que em sentidos diferentes; c) uma coisa pode ser causa de contrrios. Acresce a estas consideraes que nenhuma das causas por si s suciente, sendo todas necessrias existncia de algo. Contudo, e da mesma forma que h uma losoa primeira e uma losoa segunda, Aristteles interroga-se acerca da causa primeira e da causa segunda, estando em questo, respectivamente, o para qu e o a partir de qu. Ora, ainda que a causa eciente seja o elemento desencadeador do movimento e da mudana, e, portanto, uma causa fundamental, o processo desencadeia-se sempre em funo do m, donde a apresentao da causa nal como causa primeira. Mas sobre a causa eciente que nos devemos deter se quisermos abordar um modo de causalidade cuja existncia ser particularmente profcua no mundo da praxis, modo esse designado por Aristteles de symbebekos, causa acidental. As causas acidentais integram-se na causa eciente e comportam
No incio do livro II da Phys., a natureza apresentada como causa, sendo armado que algumas coisas so por natureza, outras por outras causas. Se confrontarmos com Metaph., , 1070 a 5-7, camos a saber que as outras causas so a arte (techn), o acaso (automaton) e a fortuna (tych). 31 Cf. Phys., II, 3, 194 b 16-195 a 3; Metaph., A,[F020?]3, 983 a 26-983 b 1 e[F020?], 2, 1013 a 24-b 35.
30
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
31
uma diviso entre aquelas em que no h deliberao automaton e aquelas em que h um certo grau de escolha tych.32 Automaton e tych so apresentados por Aristteles como estando na origem das coisas, juntamente com a techn e a physis, embora sejam privaes destas ltimas: a fortuna privao da techn e o acaso constitui privao da physis. Nesta, como vimos no 1, os fenmenos so regulares, regularidade que, enquanto tal, admite excepes, simultaneamente surgidas per accidens e em si mesmas acidentes, entendidos como aquilo que no acontece nem sempre nem a maioria das vezes.33 Ainda assim, apesar de excepcionais, tais acontecimentos podem integrar a teleologia proposta por Aristteles, acontecem para algo, tendem para um m, e por isso que nem todos os acontecimentos excepcionais so devidos ao acaso.34 A diferena entre acaso e fortuna sendo ambos causas acidentais, logo, indeterminadas reside no facto de o primeiro ser um conceito mais amplo35 ; pode aplicar-se a animais e at a coisas inanimadas. Pelo contrrio, a fortuna restrita vida humana e um sinal desta restrio encontra-o Aristteles na crena de que a felicidade ou vida boa o mesmo que boa sorte ou boa fortuna.36 A identicao de eudaimonia com eupraxia e eutychia correspondia a uma crena popular, sustentada na etimologia de eu-daimonia, ter um bom daimon e
Optmos por traduzir automaton por acaso e tych por fortuna, ainda que tenhamos conscincia da limitao das tradues, que no do conta de todas as matizes de ambos os conceitos. Seguimos, contudo, a opo apresentada na traduo portuguesa da obra Greek Philosophical Terms, de F. E. Peters (Termos Filoscos gregos. Um lxico histrico, trad. Beatriz Barbosa, Lisboa, FCG, s. d., pp. 234-235). 33 Cf. Metaph., E , 2, 1026 b 28-32; Rhet., I, 10, 1369 a 32-b 5. 34 Cf. Phys., II, 6, 197 a 27. Por outro lado, h os monstros, que so erros nas coisas que tm um m (cf. ibid., 8, 199 b 4). Para a teoria dos monstros v. RA, IV, 3-4. 35 Cf. Phys., II, 6. 36 Apesar desta distino, desenvolvida em Phys., II, 6, Aristteles nem sempre lhe permanece el , utilizando, por vezes, tych no sentido geral e automaton no sentido de espcie, o que leva alguns comentadores a desvalorizar a diferenciao em causa (cf. ROSS, op. cit., pp. 84-85 e AUBENQUE, op. cit., p. 76).
32
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
32
Ana Leonor Santos
de eu-tychia, ser bem afortunado.37 A mesma associao permite uma referncia tych como algo inescrutvel para o homem: que as causas do que acontece tivessem um fundamento divino permitiria justicar a possvel incompreenso humana de determinados acontecimentos. Por sua vez, se nos ativermos interpretao atomista, a tych, permanecendo, embora, como algo obscuro, que escapa compreenso humana, corresponde a um encadeamento de causas necessrias inumerveis, nisto residindo o motivo pelo qual a sua determinao est fora do alcance humano. Em ltima instncia, esta concepo equivale posio de que a fortuna no constitui causa de coisa alguma, apenas uma desculpa que o homem encontrou para a sua prpria irreexo. Nem a ltima tese nem a precedente so absolutamente alheias ao pensamento aristotlico, ainda que tambm no lhe possam ser associadas sem algumas reservas. Quando Aristteles escreve a fortuna tambm causa daqueles bens que no tm explicao lgica38 , ou a fortuna a causa das coisas contrrias razo39 , remete para um posicionamento passvel de uma dupla interpretao: uma delas, podemos consider-la mstica; outra nega a existncia da fortuna (e mesmo do
Cf. EE, I, 1, 1214 a 24. Aristteles nega tal correspondncia, considerando que, se a eudaimonia dependesse da fortuna ou da natureza, caria para l da esperana legtima de muitos homens, uma vez que no estaria na sua dependncia (cf. ibid., 3, 1215 a 12); vai, ainda, acrescentar, em Pol., VII, 1, 1323 b 25, que devemos distinguir a fortuna da felicidade: da primeira, dependem os bens exteriores alma; mas ningum justo ou prudente devido fortuna. 38 Cf. Rhet., I, 5, 1362 a 1-10 (trad. Abel Pena, Manuel Jnior e Paulo Alberto, Lisboa, IN-CM, 1998, p. 64). 39 EE, VIII, 2, 1248 a 9: [...] fortune is the cause of things contrary to reason [...]. Trans. H Rackham, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge/London, 1935, 1996, p. 465. A traduo francesa de Vianney Dcarie, Paris, Vrin, 1997, diz: [...] la chance est cause de ce qui tombe en dehors de la raison [...] (p. 214). A traduo portuguesa, por sua vez, apresenta a seguinte verso: [...] o acaso a causa dos acontecimentos margem da razo [...] (trad. Antnio Amaral e Artur Moro em colaborao com o GEPOLIS-UCP, Lisboa, Tribuna da Histria, 2005, p. 112).
37
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
33
acaso, de uma forma geral, se mantivermos a distino), em nome de um determinismo em regncia na vida humana e na natureza. Encontramos na Fsica uma referncia divindade Tych40 , sem que o autor se comprometa com a interpretao ento em causa. No entanto, quando na tica a Eudemo estuda a eutychia e se interroga acerca dos homens afortunados cuja situao, segundo dito, no se deve nem ao seu intelecto nem sua capacidade de deliberar, mas to s a uma ddiva divina Aristteles sugere que fortuna o nome por ns atribudo a deus, ao primeiro motor, Causa das causas41 , o que leva Aubenque sugestiva considerao de que deus o Acaso fundamental no qual a nossa existncia est suspensa.42 Na referncia hiptese de o acaso e a fortuna serem apresentados como causa nas circunstncias em que h uma causa verdadeiramente operativa, cuja apreenso permanece para ns vedada, encontramos a possvel negao do acaso. Que nada acontece por acaso um adgio popular que, no sentido desta segunda leitura, perfeitamente adequado realidade, na medida em que aquele no constitui uma verdadeira causa operativa e sim um nome decorrente da nossa ignorncia. A concluso no de Aristteles, pois o Estagirita recusa pronunciar-se sobre a hiptese em questo, quando a mesma colocada.43 Contudo, se recuperarmos da Fsica o exemplo do credor e do devedor, que se encontram num local, encontro esse que permite ao primeiro recuperar o seu dinheiro, sem que l se tenha dirigido com esse intuito, podemos legitimamente acompanhar a leitura de Ross: um e outro dos intervenientes encontraram-se naquele local por razes sucientes; aquilo
II, 4, 196 b 6. Cf. EE, VIII, 2, 1248 a 5-30. 42 Dieu est le Premier Moteur de notre me comme de lunivers; en ce sens, il est le Hasard fondamental auquel notre existence est suspendue. AUBENQUE, op. cit., pp. 72-73. 43 Se h que eliminar totalmente a fortuna e armar que nada ocorre graas fortuna, mas, havendo uma causa diversa, dizemos, por no a vislumbramos, que a causa a fortuna (...), tal seria um problema diferente. EE, VIII, 2, 1247 b 4-9 (trad. cit., p. 110; substitumos sorte por fortuna na traduo de tych. V. n. 26, p. 39).
41 40
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
34
Ana Leonor Santos
que leva cada um deles a considerar que encontrou o outro por acaso o desconhecimento das referidas razes; desta forma, acaso no mais do que o nome dado ao encontro imprevisto de dois encadeamentos de causas44 , no sendo, portanto, em sentido estrito causa de nada. E esta a situao com que nos deparamos: entre um acaso que causa de tudo, enquanto nome atribudo Causa das causas, Thos, e um acaso que no causa de nada, enquanto nome eufemstico da ignorncia humana. A regra do quadrado lgico relativa s contrrias no se aplica neste caso: pensa-se que a fortuna algo indeterminvel e inescrutvel para o homem, mas tambm se pode pensar que nada sucede devido fortuna e ambas as opinies so justicadas por alguns factos.45 Esta excepo regra lgica deixa de o ser se atendermos a que, neste caso, as contrrias so equivalentes, pelo que, nesse sentido, indiferente se dizemos que tudo se deve ao acaso ou que nada acontece por acaso ambas as armaes so verdadeiras. Para mais, as duas posies esto intrinsecamente ligadas armao do necessitarismo, suportada ainda por uma terceira concepo da tych como o que simplesmente acontece, constituindo a mesma, nesta acepo, o domnio da existncia humana no controlvel.46 Seja qual for a interpretao que se d ao acaso e fortuna, devemos concluir que nem aquele nem esta implicam contingncia: num primeiro momento, no que respeita ao acaso, diz-se que remete para o que no acontece sempre ou na maioria das vezes, mas tal no implica que tambm a no estejam dadas determinadas regras que escapam nossa capacidade de conhecer; a fortuna, por maioria de razo, afastase do indeterminismo que pode querer espreitar se traduzirmos tych por sorte e atribuirmos a essa traduo um signicado mais prximo
Cf. ROSS, op. cit., p. 85. Cf. Phys., II, 5, 197 a 8-12. 46 Cf. NUSSBAUM, Martha, The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 1996 pp. 3-4 e 89.
45 44
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
35
do actual e afastado do sentido que o contexto da poca lhe confere. Podemos dizer que somos a causa das nossas aces e que elas so determinadas por ns veremos no prximo captulo a solidez desta concepo e as consequncias a extrair dela e da sua oposta. Admitindo, para j, a verdade daquela assero simplesmente por ser a posio mais comum, embora a atribuio do valor de verdade contrrio em nada inusse o que queremos dizer a seguir no quilo que simplesmente nos acontece que, com legitimidade, podemos associar alguma espcie de indeterminismo, pois nada parece estar mais longe do nosso poder de determinao. A necessidade volta, portanto, a impor-se quando abordamos as causas do que acontece, quer no mundo da physis, quer no mundo da praxis, como explanaremos em seguida. Pela sua relevncia num e noutro domnios, e por no se reduzir adequadamente a nenhuma das restantes causas, a necessidade deveria ter sido apontada como uma quinta causa. Porm, tal signicaria admitir um mecanicismo e um necessitarismo que Aristteles, apesar de tudo, se esforou por afastar.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
36
Ana Leonor Santos
2.1.3
(Eplogo I: A Tragdia)
Eplogo I
A Tragdia
As bestas no so dotadas de liberdade, mas os deuses tambm no. Contudo, com muita diculdade que o homem abdica daquilo que acredita ser uma condio privilegiada e que lhe permite ser a causa num sentido mais nobre do que o meramente mecnico das suas aces. A dicotomia entre aquilo que o agente faz e aquilo que lhe acontece permite antever em que circunstncias a vida considerada verdadeiramente humana, e constitui o tema das tragdias gregas, onde vemos personagens com um bom thos sofrerem vrios golpes de infortnio, evidenciando-se a diferena entre a observncia de virtudes e o desenrolar de uma vida virtuosa. Desta forma, a relevncia da tych na vida humana posta a manifesto, assim como a complexidade de certos dilemas ticos, cujo desenlace resulta muitas vezes de algum tipo de constrangimento a que a personagem se v sujeita, envolta num ambiente de uma certa fatalidade e de contingncia em simultneo. Condio de possibilidade da aco e da produo, a contingncia tambm causadora da fragilidade e da vulnerabilidade do bem humano.47 Aristteles recupera esta percepo da tragdia grega,
Esta situao pode levar tentativa de controlar aquilo que est fora do domnio humano, nomeadamente atravs da techn, vista como a possibilidade de restringir a contingncia, tornando a vida do homem mais segura. a Prometeu que devemos
47
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
37
interrogando-se acerca da inuncia da tych na eudaimonia. Teremos oportunidade de aprofundar tal relao mais adiante, para cuja compreenso se torna necessria a explanao de outras problemticas, nomeadamente, relativas deliberao, escolha e prudncia. De momento, importa notar a ulterior ineccia da deliberao, desvelada pela tragdia e reconhecida por Aristteles quando arma que deus, quer directamente quer de forma mediada, tudo move. Ora, como observa Aubenque, tal concepo parece implicar a ineccia da deliberao, bem como elemento fundamental no contexto da nossa tese a iluso do sentimento de liberdade que acompanha o processo em causa48 , o qual no caracterstico de todos os homens: h aqueles que deliberam e h outros que no seguem a razo, mas esto na posse de um princpio superior, uma espcie de inspirao divina49 so os afortunados. As tragdias mostram-nos que os primeiros, quando no esto sujeitos a alguma espcie de constrangimento e, por isso, podem fazer uso da sua capacidade deliberativa, fazem-no sempre de forma inecaz, como se estivessem condenados partida ou, pelo menos, como se tudo obedecesse a um encadeamento de acontecimentos, necessrio e exterior ao homem, para o qual, paradoxal e tragicamente, a sua aco concorre; os segundos so guiados ao longo de toda a sua vida como se houvesse os escolhidos e os que o no so. Aqueles esto sob a proteco de Deus, os outros precisam das virtudes. A eutychia prpria dos primeiros, a tica serve aos segundos.
a ddiva das tchnai, e neste contexto que surge a oposio entre tych e techn, aorada por Homero e totalmente estabelecida na poca de Tucdides e da redaco do tratado hipocrtico Peri Technes. Tentando libertar-se da dependncia da fortuna, o homem depositou (e continua a depositar) todas as esperanas na techn, atitude reectida no Protgoras, de Plato, lsofo para o qual uma das tarefas fundamentais da losoa consiste na eliminao da tych. A concepo da losoa como uma tecnh mediante a qual seria possvel dominar a tych, designadamente atravs de uma techn orientadora da praxis, posteriormente criticada por Aristteles, cujo reconhecimento da complexidade da realidade o impede de sobrevalorizar o valor da primeira na sua relao com a segunda. 48 Cf. AUBENQUE, op. cit., p. 75. 49 Cf. EE, VIII, 2, 1248 a 25-40.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
38
Ana Leonor Santos
2.2
Captulo II: O Princpio da tica
Captulo II O Princpio da tica
[...] quando se fala de coisas simplesmente constantes e se parte de princpios igualmente constantes, s podemos chegar a concluses do mesmo carcter.50
EN , I, 1, 1094 b 21-23: [...] quand on parle de choses simplement constantes et quon part de principes galement constantes, on ne peut aboutir qu des conclusions de mme caractre. Trad. Jules Tricot, Paris, Vrin, 1990, 1997, p. 38. [...] when our subjects and our premises are merely generalities, it is enough if we arrive at generally conclusions. Trans. H. Rackham, Loeb Classical Library, Cambridge/London, 1926, 1999, vol. XIX, p. 9.
50
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
39
2.2.1
3. Do (thos) animal ao humano
3. Do (thos) animal ao humano
A tica deve importar particularmente a alguns seres humanos aqueles que no esto sob proteco imediata dos deuses. Mas este conjunto de seres a que a tica diz respeito intersectado por um outro, respeitante aos animais, aos quais Aristteles aplica o termo thos.51 A continuidade encontrada na natureza juntamente com a semelhana entre os homens e os animais sustentam a juno de uns e outros na extenso do referido conceito, e explicam a sua utilizao nas obras de biologia, de pedagogia, de retrica e de tica. Denotam, tambm, que a dimenso moral do carcter est fundada sobre uma dimenso psicolgica, passvel de ser analisada nos animais e sistematizada nos homens, nomeadamente, neste ltimo caso, atravs de uma tipologia caracterolgica. Relativamente aos animais, cada espcie possui um determinado thos, cuja constituio ultrapassa o mbito do instinto, ainda que se trate de um carcter natural. Assim, e por natureza, h animais irascveis, obstinados e estpidos, como o javali; outros prudentes e tmidos, como a lebre; outros vis e prdos, como a serpente; e outros ainda dceis e atreitos aliao, como o golnho52 ; e poderamos seguir com a lista apresentada por Aristteles para mostrar as particularidades de carcter de cada espcie animal, exploradas ao longo da obra Investigao sobre os Animais, particularmente nos livros VIII e X, e em algumas passagens de Partes dos Animais.53 Tais particularidades
Este termo tem uma raiz aristocrtica, que Aristteles recupera em parte: a excelncia aristocrtica, em germe no gnos, precisa da paideia para se manifestar; ser esta importncia da formao para a virtude a ser subsumida na tica aristotlica. 52 Cf. IA, I, 1, 488 b 12-28. 53 P. ex.: III, 4, 667 a 11-25; IV, 11, 692 a 20-25.
51
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
40
Ana Leonor Santos
vem-se inuenciadas por aspectos geogrcos e siolgicos: regies montanhosas e escarpadas ou planas e suaves exigem diferentes comportamentos dos animais que nelas habitam54 . Esta inuncia ser extrapolada para o caso dos homens, designadamente do thos colectivo, cuja caracterizao resulta, em parte, da situao geogrca dos povos: Os povos situados nas regies frias, particularmente os europeus, so cheios de brio, mas carecem de inteligncia e de habilidade tcnica; por isso vivem em liberdade, mas desprovidos de organizao poltica e sem capacidade para governar. Os povos da sia so dotados de inteligncia e esprito tcnico, mas sem nenhum brio, sendo essa a razo pela qual vivem num estado de sujeio e servido. Como a raa helnica ocupa geogracamente uma situao intermdia participa das qualidades de ambos os povos: no s briosa e inteligente, mas, usufruindo de uma existncia livre, a raa que melhor se governa e, no caso de atingir a unidade poltica, a mais apta para governar todos os povos. 55 ; ao mesmo tempo, parece existir uma relao entre a morfologia do corao e o carcter dos animais56 , da mesma forma que o sangue apresentado como causa de diferenas no thos e na percepo sensvel.57 Esta anlise, que poderia ser dita naturalista, no se restringe a uma abordagem siolgica; enquanto qualidade da alma, a vertente psicolgica no pode ser erradicada deste contexto. O exemplo do camaleo elucidativo: o medo caracterstico deste animal, que o leva a adquirir cores distintas, apresentado como um esfriamento devido escassez de sangue58 , sendo esta causada pelo thos da alma, donde se conclui que, em certas circunstncias, o temperamento psicolgico exige algumas condies siolgicas. Neste caso em particular, no a natureza sangunea que explica o thos do animal, sendo a proposio inversa verdadeira o que afasta Aristteles de uma concepo de
54 55
IA, VIII, 29, 607 a 9 e ss Pol., VII, 7, 1327 b 23-34 (trad. cit., p. 505). 56 Cf. PA, III, 4, 667 a 11-30. 57 Ibid., 651 a 12-16. 58 IV, 11, 692 a 20-25.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
41
thos puramente materialista, como a de Hipcrates, por exemplo, rejeitada logo no incio de Partes dos Animais, aquando da considerao de que a concepo naturalista deve integrar quer aspectos siolgicos quer psicolgicos.59 referindo-se ao thos animal e ao princpio de continuidade na escala dos seres que Aristteles se permite considerar que os animais, analogamente aos seres humanos, no agem apenas como se fossem inteligentes: eles so-no, ainda que de uma forma especca, por no haver, no seu caso, associao com a capacidade deliberativa, esta sim, segundo o mesmo, prpria da espcie humana.60 Do conjunto dos animais a que Aristteles se refere como possuindo qualidades intelectuais, alguns h a que o lsofo atribui aquela que o prprio apresenta como a virtude intelectual central para a tica: referimo-nos phronesis. Tal atribuio encontra-se nos escritos sobre os animais, mas tambm nos tratados de tica, por exemplo, na tica Nicomaqueia diz-se que alguns animais so prudentes, designadamente aqueles que, no que diz respeito sua vida, manifestam capacidade de prever.61 Desta considerao decorrem simultaneamente a importncia da prudncia e a impossibilidade de que corresponda ao saber mais excelente. Para alm da prudncia, h outras qualidades com signicao moral para o homem que so atribudas aos animais, algumas das quais foram acima referidas: coragem, cobardia, ferocidade ou docilidade so exemplos de qualidades consideradas fundamentais na caracterizao do thos animal. No deixa, contudo, de causar alguma estranheza e um certo embarao que as ditas qualidades morais, no seguimento daquela continuidade que dissemos existir na natureza, sirvam para quaI, 1, 641 a 6 e ss. Apesar de a referida capacidade ser especca do ser humano, no necessria a todos os membros da espcie. Vimos no Eplogo I que a intuio, de carcter divino, dispensa a capacidade deliberativa; veremos mais adiante que tambm as mulheres e as crianas mantm uma relao particular com a referida capacidade. V. p. 96. 61 Cf. VI, 7, 1141 a 25-27; Metaph., A, 1, 980 b 22-25.
60 59
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
42
Ana Leonor Santos
licar o comportamento e o temperamento animais e humanos, num quadro cuja viso mais simplista e descontextualizada nos leva a concluir de imediato uma de duas coisas: ou passamos a condenar e a graticar os animais pelas caractersticas e pelos comportamentos que consideramos merecedores de censura e de elogio quando vericados no mundo humano o que parece totalmente absurdo; ou os juzos morais deixam de ter fundamento e as condenaes jurdicas tornam-se injustas, porquanto repousam sobre a gura da culpa o que parece assaz problemtico para a forma como as sociedades esto organizadas e, talvez mais dramtico ainda, para o modelo de inconsciente e de conscincia colectivos rmemente implementados. Naturalmente que Aristteles no poderia viabilizar nenhuma destas alternativas e o n grdio da situao , para j, facilmente desenlaado quando se passa do estudo do thos animal para o thos do homem: diferentemente do que acontece com os animais, no h um thos da espcie humana; no nosso caso, a singularidade manifestase tambm nas diferenas individuais de carcter justicadas pela ausncia de regulao natural da faculdade desiderativa (regulao vigente no mundo animal) , para cuja formao conuem os hbitos adquiridos atravs da educao.62 Assim sendo, e apesar de algumas diferenas individuais devidas natureza j que nem todos so igualmente receptivos educao , existe uma dimenso de indeterminao que vai adquirindo forma graas educao e que , porventura, responsvel pela formao do thos numa dimenso que no estritamente psicolgica, ao mesmo tempo, e pelo mesmo motivo, responsAristteles, ao apresentar o thos animal como um carcter natural, recusa que o mesmo seja produto do hbito ainda que reconhea que alguns animais so tenuamente guiados pelo hbito (cf. Pol., VII, 13, 1332 b 1-3). H, no entanto, um contra-exemplo para a tese do thos como carcter natural e mesmo para o papel que nele o hbito possa desempenhar, ao mesmo tempo que mostra como nos animais os actos podem modicar o carcter: as galinhas, quando conseguem vencer os galos, manifestam comportamentos prprios dos machos, da mesma forma que h casos em que os galos assumem por completo o comportamento das fmeas. Cf. IA, IX, 49, 631 b 5-19.
62
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
43
vel pela imputabilidade das noes de bem e de mal ao ser humano, juntamente com a posse da razo e a ausncia de auto-sucincia. Pela posse da razo percebe-se que o homem no um simples animal; pela ausncia de auto- -sucincia ele afasta-se dos deuses. A sua situao intermdia: entre um e outros encontra-se o nico ser vivo que percebe o bem e o mal, o justo e o injusto63 , distines cujo conhecimento lhe indispensvel na medida em que nem o seu carcter est determinado pela natureza nem o seu comportamento padronizado. Deve, pois, escolher o comportamento a adoptar, aps um perodo de deliberao, durante o qual se supe que a percepo tica acima referida exera inuncia, caso tenha sido correctamente adquirida, formando um carcter temperado.
2.2.2
4. Deliberao e Escolha
4. Deliberao e Escolha
Estabelecida que cou a distino entre necessidade e contingncia, e tendo em ateno as referncias ao acaso, facilmente se compreende que a contingncia seja condio requerida para a deliberao (bouleusis), na medida em que apenas deliberamos sobre aquilo que depende de ns e que podemos realizar, o que exclui imediatamente as coisas imutveis e eternas, bem como o seu oposto, isto , os acontecimentos sujeitos a um acaso fundamental. Entre a necessidade e o acaso, a regularidade constitui o mbito da deliberao, a qual acontece relativamente s coisas que permanecem incertas no seu resultado e indeterminadas no seu comeo64 , ainda que apresentem uma certa frequncia, caracterstica da contingncia dos assuntos humanos. Em conjunto com a contingncia, a deliberao versa tambm sobre o futuro, o que implica que o homem pode ter face ao mesmo uma
63 64
Cf. Pol., I, 2, 1253 a 10-15. Cf. EN, III, 3, 1112 b 9-11.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
44
Ana Leonor Santos
atitude no meramente terica, mas sim decisria. Donde se segue que a deliberao no apenas uma forma de opinio, embora tambm no seja conhecimento cientco, cujos mtodos seriam inadequados para a matria em causa. A distino entre a teoria e a deliberao encontra correlato ao nvel da alma. Aristteles divide a alma em duas partes: racional (to logon) e irracional (to alogon); esta ltima, por sua vez, integra uma parte vegetativa e uma parte desejante. O elemento racional assume igualmente uma diviso, desta feita entre uma parte cientca e uma outra deliberativa ou calculadora. Ora, enquanto a parte cientca se aplica aos elementos cujos princpios so invariveis, a parte deliberativa opera sobre o contingente e, portanto, sobre as actividades da praxis e da poiesis. Por sua vez, no processo de deliberao no intervm apenas a parte deliberativa da alma, na medida em que aquilo que desencadeia tal processo o desejo, conceito que demove o esquematismo da diviso da alma acima referida. Na verdade, em Da Alma, III, 9, Aristteles, a propsito da problemtica das partes da alma, critica o simplismo da diviso racional/irracional e mesmo da tese tripartida (partes racional, impulsiva e apetitiva), na medida em que nem uma nem outra do contra da transversalidade da orexis. tambm no conceito de orexis que repousa, uma vez mais, a proximidade entre animais humanos e no humanos: elemento desencadeador da deliberao e, portanto, da aco, o desejo intervm em todos os movimentos65 , e nessa medida que Aristteles arma serem a boulesis, o thmos e a epithymia formas de orexis66 ; o elemento
Esta atribuio generalizada da orexis ao movimento no est isenta de diculdades, como assinala Martha Nussbaum, entre as quais destacaramos a ausncia de explicaes relativas interseco entre o desejo e a razo, assim como a articulao desta abordagem com as explicaes siolgicas sobejamente desenvolvidas nos escritos sobre os animais. (Cf. NUSSBAUM, op. cit., pp. 486-487, n. 35.) 66 Cf. De an., II, 3, 414 b 2. Tal abordagem revela-se original no contexto da poca, pois ainda que os autores dos sculos V e IV a. C. recorressem com frequncia aos termos epithymia e boulesthai, a remisso estrita do primeiro aos apetites corporais, logo, ao prazer, e do segundo aos juzos sobre o bem, logo, ao raciocnio, impediam
65
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
45
de interseco a intencionalidade, o direccionamento face a um objecto67 , uma inclinao interior que implica esforo e actividade. Desta forma, o desejo no est ausente do tipo de actividade desenvolvida a partir da parte racional da alma, designadamente, da deliberao, cuja funo prtica fundamental. O seu objecto no o m este constitui o objecto do desejo , mas sim os meios para alcanar o m desejado. E na pluralidade de meios possveis para realizar um mesmo m que a deliberao encontra a sua razo de ser. Estando dado um m, uma de duas situaes pode vericar-se: ou h apenas um meio para o alcanar, ou h vrios meios para a sua realizao. No primeiro caso, h uma relao de necessidade entre m e meio e situamo-nos, segundo Aristteles, no domnio da cincia. Nesta circunstncia, a deliberao que possa preceder a deciso mais no do que um correlato da nossa ignorncia ou, como denota Aubenque, da diculdade em actualizarmos o nosso saber.68 Nos assuntos humanos, reino da contingncia, a deliberao revela-se absolutamente necessria, enquanto tentativa de prever qual de entre a totalidade dos meios passveis de nos conduzirem ao m visado ser o mais indicado e ecaz. O indeterminismo e a incerteza em relao ao futuro justicam, pois, a deliberao. No entanto, e principalmente se recordarmos como os eleitos ou afortunados dispensam esta prtica em nome de uma faculdade superior, podemos prolongar o raciocnio aristotlico relativo cincia e extrapolar para os assuntos humanos a proporcionalidade directa entre a ignorncia e a deliberao: tambm neles deliberamos na justa medida da nossa ignorncia, pois, havendo uma pluralidade de meios que podem ser postos ao servio da consecuo do m, um deles ser necessariamente mais adequado,
o encontro de uma qualquer relao entre ambos. 67 Aquilo que, muitos sculos depois, a fenomenologia vai imputar conscincia. 68 Cf. AUBENQUE, op. cit., p. 110. Dentro do domnio das cincias o grau admissvel ou necessrio de deliberao varia segundo o nvel de conhecimento e de aprofundamento da cincia em causa, o que leva, por exemplo, a que a navegao ou a medicina requeiram um processo deliberativo, desnecessrio e intil no mbito da gramtica. Cf. EN, III, 3, 1112 b 1-9.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
46
Ana Leonor Santos
mais fcil e melhor69 , assim como menos propenso a consequncias adjacentes indesejveis. Haver, nessa medida, um vnculo de necessidade entre o m desejado e o meio escolhido. Num certo sentido, poderamos escolher outro meio, mas noutro sentido a nossa escolha na qual desemboca o processo de deliberao no poderia ser outra, sob pena de termos de reconhecer fazer o pior quando vimos o melhor, encontrado atravs de um mtodo semelhante anlise matemtica: chegamos ao meio de forma regressiva, a partir do m. Sendo este objecto de desejo, mais uma vez se h-de reconhecer a relao entre as dimenses desiderativa e racional do ser humano e o carcter determinante da primeira. Aristteles reconhece-o, refere-se ao processo regressivo envolvido na escolha, admite a existncia do meio mais adequado realizao do m visado, mas recusa dotar tal processo de um carcter necessrio, em nome de uma contingncia que garante a utilidade da aco, bem como do discurso deliberativo, j que se o futuro estivesse determinado, uma e outro dissolver-se-iam no seio dos decretos divinos. Sendo um dos trs gneros de discurso estabelecidos por Aristteles (tantos quantas as classes de ouvintes70 ), o discurso deliberativo diz respeito a um m especco, o conveniente e o prejudicial, e tem um campo de aplicao restrito: Sobre tudo o que necessariamente existe ou existir, ou sobre tudo o que impossvel que exista ou venha a existir, sobre isso no h deliberao. Nem mesmo h deliberao sobre tudo o que possvel; pois, de entre os bens que podem acontecer ou no, uns h por natureza e outros por acaso em que a deliberao de nada aproveitaria. Mas os assuntos passveis de deliberao so claros; so os que naturalmente
Como reconhece o prprio Aristteles em EN, III, 3, 1112 b 12-20. Cf. Rhet., I, 3. A existncia de diferentes auditrios constitui a causa da diviso do discurso em diferentes gneros deliberativo, como foi referido, judicial e epidctico na medida em que o m ltimo dos discursos , precisamente, o auditrio, mais precisamente a sua persuaso, e, tal como armado em EN, III, 7, 1115 b 20, tudo se dene pelo seu m.
70 69
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
47
se relacionam connosco e cuja produo est em nossas mos.71 No seguimento desta reexo que nos recorda o carcter extrapolatrio de algumas das nossas consideraes anteriores e nos previne para as diculdades que podero decorrer das futuras dissonncias relativamente ao que para a deliberao est h muito estabelecido Aristteles apresenta a felicidade como sendo o m da deliberao. O que est ento em causa o propsito geral (skopos), porquanto o objectivo imediato da deliberao o bom e o conveniente, e o seu objecto so os meios e no os ns. Numa palavra, a deliberao visa encontrar os meios ecazes para alcanar ns realizveis. esta perspectiva realstica que nos permite passar para o elemento seguinte, que precede a aco a proairesis, denida como desejo deliberativo das coisas que dependem de ns.72 Nesta denio encontra-se pressuposta a impossibilidade de identicao entre o desejo e a escolha, numa clara manifestao de que nem a relao entre as faculdades em causa se reduz a uma mera justaposio nem a escolha pode ser considerada uma espcie de desejo, como poderia ser erradamente induzido a partir da expresso desejo deliberativo. verdade que, semelhana da deliberao, aquela perpassada pelo desejo, podendo mesmo ser tida como o momento de deciso que sucede deliberao, integrante da inteligncia deliberativa e da vontade desejante, ou seja, da razo e do desejo, mas este no poderia ocupar toda a compreenso da escolha, pois muitas coisas h que podemos desejar, sem que as possamos escolher. Podemos desejar o impossvel, mas no podemos escolh-lo; podemos desejar aquilo que no depende da nossa aco, mas no podemos escolh-lo. A escolha, tal como a deliberao, visa os meios e no os ns, e tambm neste aspecto se diferencia do desejo: desejamos ter sade e escolhemos os meios para t-la; desejamos ser felizes mas,
Rhet., I, 4, 1359 a 30-b 1 (trad. cit., p. 58). EN , III, 5, 1113 a 11: [...] deliberate desire of things in our power [...] (trad. cit., p. 141); [...] un dsir dlibratif des choses qui dpend de nous [...] (trad. cit., p. 137). Cf. EE, II, 10, 1226 b 17. O termo proairesis normalmente traduzido por escolha deliberada ou escolha preferencial; por uma questo de economia, referir-nos-emos a este termo, de ora em diante, apenas como escolha.
72 71
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
48
Ana Leonor Santos
rigorosamente, no podemos dizer que o escolhemos, porque a escolha reporta-se quilo que est em nosso poder e, nessa medida, aproximase da noo de voluntrio.73 Tendo em ateno que a proairesis no algo de instantneo ou imediato, como indica o prprio nome74 , a escolha impossvel sem deliberao prvia. Ora, a capacidade de deliberar, mais concretamente, de bem deliberar, o que caracteriza o phronimos. Tal especicao no de menor importncia, porquanto o conceito de bouleusis no estritamente tico, podendo ser utilizado quer em termos polticos quer no domnio da tcnica. Uma vez que diz respeito aos meios e no aos ns, a deliberao pode ser posta ao servio de qualquer outra coisa que no o bem.75 Neste sentido, a relao estabelecida simplesmente com a eccia dos meios e o esquecimento votado inteno deslocam a escolha do domnio da tica para o mbito da pragmtica. Donde a importncia de atender plurivocidade do conceito, o qual admite um segundo sentido, relativo escolha intencional, numa remisso em simultneo para o m visado e para a disposio interior que direcciona para esse mesmo m, estabelecendose desta forma uma rede de relaes entre os conceitos de deliberao, escolha, virtude e regra correcta (orthos logos), cujas malhas se tecem e fortalecem, ao arrepio das consideraes aristotlicas, com as linhas da necessidade.
2.2.3
73
5. A diculdade de ser phronimos
Apesar de prximos, os conceitos de escolha e de voluntrio no so equivalentes; o ltimo detm uma maior extenso, se observarmos que se aplica aos animais e s crianas, dos quais no se pode dizer que passam pelo processo de escolha deliberada. Esta diferenciao tambm vericvel no facto de os legisladores distinguirem entre involuntrio, voluntrio e premeditado (Cf. EE, II, 10, 1226 b 35). 74 Hairesis signica escolha e pro de preferncia a, no lugar de. 75 Como comprova a situao do intemperado. V. pp. 82-86.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
49
5. A diculdade de ser phronimos
Os fenmenos da alma so de trs tipos: estados afectivos, faculdades e disposies. As virtudes so disposies porque so uma espcie de escolha deliberada, ou pelo menos fazem-se acompanhar de uma escolha reectida76 ao contrrio dos estados afectivos e tambm porque no esto em ns pela nossa natureza, como acontece com as faculdades. No nascemos, portanto, naturalmente bons ou maus.77 Armar que as virtudes so disposies signica, pois, que no se nasce com elas; temos de adquiri-las por aprendizagem ou por hbito, facto que ter implicaes pedaggicas, polticas e ticas, como veremos mais adiante, e que nos diferencia dos animais, como vimos anteriormente. As virtudes podem ser de dois tipos: morais e intelectuais (ou ticas e dianoticas). As ltimas dependem em larga medida do ensinamento recebido, quer para o seu aparecimento, quer para o consecutivo desenvolvimento. As virtudes morais, por sua vez, so produzidas pelo hbito78 , pelo que nenhuma virtude engendrada naturalmente. Argumentando que nada do que existe por natureza pode ser modicado pelo hbito (por exemplo, a pedra cai naturalmente e no pode ser habituada a dirigir-se em sentido contrrio79 ), Aristteles defende que as virtudes no so inatas nem tm o carcter de necessidade que reconhecemos s leis da fsica, pelo que no por natureza nem contrariamente a ela que as mesmas nascem em ns. A natureza deu-nos, sim, a capacidade de receber virtudes, capacidade essa que tem de ser amadurecida pelo hbito. Como em todas as coisas que so aprendidas, pela prtica de aces justas, moderadas e corajosas que nos tornamos justos, moderados e corajosos. Por isso, os hbitos no devem ser negligenciados desde a mais tenra infncia, sendo a ateno prestada aos mesmos de
76 77 78 79
Cf. EN , II, 4, 1106 a 2. Cf. EN , II, 4, 1106 a 9. Donde o jogo de palavras entre thos (carcter) e thos (hbito). Cf. EN , II, 1, 1103 a 20.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
50
Ana Leonor Santos
uma importncia total80 , porquanto nas coisas que nos so dadas por natureza (como o caso dos sentidos), a potncia precede o acto; mas nas coisas que provm do hbito, o acto tem primazia sobre a potncia, pelo que graas repetio de actos justos e moderados que nasce a virtude. Estando dado que todas as virtudes so adquiridas e que na virtude tica o hbito fundamental, a denio completa desta ltima integra a referncia a uma virtude dianotica imprescindvel para a praxis a phronesis. No contexto do estudo acerca da virtude propriamente prtica, separada que cou das virtudes da techn, Aristteles dene virtude como uma disposio para agir de forma deliberada, consistindo numa mediania relativa a ns, a qual racionalmente determinada como a determinaria o homem prudente.81 Nesta denio encontramos dois aspectos merecedores de particular ateno. Primeiramente, a diferenciao entre a mdia aritmtica, objectiva e igual para todos os homens, e a mdia relativamente a ns revela-se fundamental para a percepo de que a virtude no idntica em todos, pelo que no so os mesmos os estados de excesso e de defeito nos diferentes homens. Deste modo, o comportamento humano est livre do determinismo igualitrio vigente noutros contextos, constituindo o resultado nal do processo de deliberao e escolha, o que nos conduz segunda observao. Considera Aristteles que agir de forma deliberada fazer uso da prudncia.82 Esta virtude intelectual, revelando-se absolutamente
Cf. EN , II, 1, 1103 b 23-25. EN , II, 6, 1106 b 36-1107 a 2: [...] une disposition agir dune faon dlibre, consistant en une mdit relative nous, laquelle est rationellement dtermine et comme la dterminerait lhomme prudent. (trad. cit., p. 106) ; Virtue then is a settled disposition of the mind determining essentially in the observance of the mean relative to us, this being determined by principle, that is, as the prudent man would determine it. (trad. cit., p. 95). Cf. EE, II, 10, 1227 b 5-10, onde a denio de virtude tica faz referncia ao carcter. 82 Sabemos que a traduo de phronesis por prudncia no absolutamente indicada, na medida em que para Aristteles os termos no so equivalentes (na Metaph., por exemplo, a phronesis surge como sinnimo de sophia ou episteme, designando,
81 80
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
51
preponderante no domnio da praxis, no deixa de ser problemtica na respectiva delimitao. A primeira diculdade surge quando Aristteles nos informa que o modo de apreender a natureza da prudncia investigar quais so os homens prudentes, o que parece contraditar a ateno particularidade antes referida. Concedamos, porm, que investigando quais so os homens prudentes que estaremos munidos de modelos de prudncia adequados particularidade de cada circunstncia, concesso que talvez encontre fundamento no facto de a prudncia ser uma virtude dianotica, com o que Aristteles quer signicar ser mais respeitante ao pensamento do que ao carcter, e, nessa medida, diz respeito no escolha como o caso das virtudes ticas , que sempre realizada na concreo, mas regra de escolha, que pode ser generalizada. E por isso que da prudncia se diz ser uma disposio acompanhada da regra verdadeira, aplicvel esfera do bom e do mau para o ser humano.83 Estando contornada a primeira diculdade, sigamos Aristteles no seu propsito de investigar quais so os homens prudentes, para logo nos depararmos com um novo percalo, desta feita sem que parea possvel encontrar uma soluo no seio do discurso aristotlico, envolvido que se encontra no seguinte raciocnio circular: phronimos aquele que capaz de deliberao; bem deliberar seguir a regra correcta; a regra correcta aquela que aplicaria o homem prudente84 o crculo fecha-se e no possvel adiantar muito mais, situao que tanto mais problemtica quanto a prudncia a virtude que tem como funo guiar o homem no mundo da contingncia. E ainda que se trate de uma virtude imperfeita (quando comparada com a sophia) e no possa penetrar por completo no seu objecto, preportanto, o conhecimento por excelncia). Porm, nos tratados de tica o signicado em causa aproxima-se bastante da referida traduo, o que justica que tenha sido adoptada. Para uma claricao desta problemtica, veja-se AUBENQUE, op. cit., pp. 7-30. 83 Cf. EN, VI, 5, 1140 b 4. 84 O exemplo de phronimos apresentado Pricles (cf. EN, VI, 5, 1140 b 7), por contraposio a Anaxgoras e Tales, possuidores de um saber admirvel, difcil e divino mas sem utilidade. EN, VI, 7, 1141 b 3-8.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
52
Ana Leonor Santos
cisamente porque se trata da contingncia, um auxiliar indispensvel para a aco correcta, na tentativa de agir e padecer no momento oportuno, nas circunstncias e relativamente s pessoas que o justiquem, da forma e pelos motivos adequados.85 Ora, a sintonia da aco com o tempo oportuno (kairs) difcil para aqueles que no so guiados pela inspirao divina. Dependentes da prudncia para orientar as suas escolhas, resta-lhes esperar que os hbitos fomentados e os ensinamentos recebidos tenham concorrido para a aquisio de uma disposio permanente para o bem, e que a conduo inicial e decisiva, pela mo dos seus semelhantes, possa ser um verdadeiro reexo da inspirao divina.
2.2.4
6. Actos Voluntrios e Involuntrios
6. Actos Voluntrios e Involuntrios
A virtude, ou disposio permanente para o bem, est relacionada com as afeces e com as aces, estados que podem ser quer voluntrios, quer involuntrios. No primeiro caso, o indivduo alvo de elogio ou de crtica; no segundo, provoca indulgncia ou piedade. , por isso, indispensvel para o exame da virtude distinguir entre voluntrio e involuntrio. Para procedermos classicao de um acto como voluntrio ou involuntrio, devemos atender ao momento em que ele executado, altura em que podemos encontrar trs situaes diferentes: um acto feito ou sob constrangimento ou por ignorncia ou com conhecimento das circunstncias particulares que envolvem a aco, tendo origem no agente. feito por constrangimento tudo o que tem o seu princpio fora do agente, pelo que vulgarmente se admite que tais aces so involuntrias. Contudo, h aces em que o indivduo se v constrangido pelo
85
Cf. EN, II, 5, 1104 b 24-26.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
53
receio de males maiores. Nestas circunstncias, Aristteles classica as aces como mistas, considerando, contudo, que, se quisermos manter a dicotomia voluntrio/involuntrio, esto mais prximas daquilo que so as aces voluntrias, na medida em que o princpio subjacente a tais aces est no homem, caso em que depende dele agir ou no agir. Por outro lado, preciso ter em considerao que ningum escolheria as aces em causa por si mesmas (em circunstncias normais), e por isso podero ser consideradas involuntrias. H situaes, por exemplo, nas quais o carcter colide com a conservao da prpria vida ou da vida de terceiros, sendo, portanto, contrariamente ao carcter que a aco praticada. Mas, inclusivamente em tais circunstncias, h uma deliberao que assumida e que pode s-lo em concordncia com o carcter ou contrariamente ao mesmo. No primeiro caso, deparamo-nos com a particularidade de anular a possibilidade de qualquer aco virtuosa posterior, quando a alternativa era a prtica de uma aco condenvel. Por sua vez, a classicao dos actos praticados por ignorncia igualmente complexa: Aristteles distingue-os em duas espcies se o agente se arrepende, podemos considerar que agiu involuntariamente; se no se arrepende, podemos armar que agiu no voluntariamente. Por outras palavras, os actos resultantes da ignorncia so sempre no voluntrios, mas s so involuntrios se aquele que os praticou experimentar uma sensao de arrependimento.86 Na verdade, esta distino entre involuntrio e no voluntrio no realmente satisfatria, porquanto no h uma verdadeira diferena de sentido entre os dois termos; e ainda que, como sugere Ross, possamos considerar que Aristteles quis distinguir involuntrio de contra-vontade, tal diferenciao no pode ser apenas avaliada com base no estado subsequente de arrependimento ou no do agente no obstante tal estado poder explicitar se a aco foi ou no praticada em conformidade com o carcter.87
86 87
Cf. EN, III, 1, 1110 b 18-24. Cf. ROSS, op. cit., p. 204.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
54
Ana Leonor Santos
Quanto ao acto voluntrio, parece ser aquele cujo princpio reside no agente que conhece as circunstncias particulares no seio das quais a sua aco se realiza. Estas circunstncias so, para alm do prprio agente, o acto, o indivduo ou a coisa objecto da aco, (por vezes) o instrumento, o resultado esperado e a maneira como o mesmo alcanado.88 a ausncia de conhecimento destas particularidades que faz com que um acto seja involuntrio, e no o desconhecimento das regras gerais de conduta ou a ignorncia na escolha deliberada. Embora relacionado com a escolha, o conceito de acto voluntrio no equivalente ao de escolha, porquanto esta sempre voluntria, mas o inverso no verdadeiro. Vimos acima que a escolha exige uma deliberao prvia, pelo que Aristteles regista que nem as crianas nem os animais escolhem, embora manifestem aces voluntrias, na medida em que os actos feitos espontaneamente podem ser chamados voluntrios, mas no podem ser ditos feitos por escolha. Assim sendo, acto voluntrio um conceito com maior extenso do que escolha.89 Se recordarmos a dupla condio aristotlica para que um acto seja dito voluntrio, a saber, o princpio deve residir no agente, o qual deve, ainda, conhecer as particularidades respeitantes aco, pode parecer-nos absurda a atribuio de actos voluntrios s crianas e, especialmente, aos animais. Contudo, Aristteles alarga o conceito em causa aos actos feitos por impulsividade, espontaneamente e por concupiscncia. Desta forma, as aces voluntrias no so apenas aquelas que procedem da parte racional da alma: quer estas quer as aces que procedem da impulsividade e da concupiscncia so aces do homem, pertencem a quem as pratica. So, portanto, voluntrias. Com este raciocnio, se, por um lado, ca justicada a aplicao do conceito de acto voluntrio s crianas e aos animais (os quais agem sob a inuncia do apetite irracional), abrangidos que cam os actos espontneos, por outro lado, surge uma diculdade: perante to
88 89
Cf. EN , III, 1, 1111 a 2-6. Cf. EN , III, 2, 1111 b 6-10; EE, II, 10, 1226 b 34.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
55
larga abrangncia do conceito de acto voluntrio, o que sobra para poder ser considerado involuntrio? Visto que as aces praticadas por constrangimento so aces mistas, mais prximas, contudo, das voluntrias, e as aces feitas por impulsividade ou por concupiscncia so voluntrias porque tm o seu princpio no agente, parecem restar apenas as aces feitas por ignorncia e sem arrependimento subsequente (na medida em que o arrependimento do acto praticado leva Aristteles classicao de no voluntrio). Mas mesmo estas pertencem a quem as pratica. Por outro lado, mantendo a distino entre actos voluntrios e involuntrios, teramos tendncia para remeter o arrependimento para os primeiros, pela implicao neles contida da possibilidade de ter agido de forma diferente. H, porm, que atender compreenso aristotlica dos actos involuntrios e sublinhar que a ignorncia que os caracteriza verdadeiramente compatvel com o desejo retrospectivamente sentido de ter agido de forma diferente, pela possibilidade de que tal tivesse ocorrido se o estado de ignorncia no se tivesse vericado. Ao invs, nos actos voluntrios, tendo origem no agente e havendo conhecimento das circunstncias particulares, no h lugar para o arrependimento. Perante a complexidade da questo, parece-nos ser imperioso proceder a uma distino no seio do prprio conceito de acto voluntrio, o qual pode ser compreendido atendendo ao primeiro critrio exposto, caso em que estariam abrangidas as aces humanas que procedem de ambas as partes da alma, racional e irracional, e, por consequncia, os actos (espontneos) das crianas e dos animais. Na verdade, podemos dizer que para Aristteles toda a natureza est dotada de um carcter voluntrio, na medida em que ela princpio interno de movimento e todos os seres naturais tm uma tendncia espontnea para um m. Contudo, para um conceito de acto voluntrio mais especco e restrito, devemos atender ao segundo critrio: conhecer as circunstncias particulares subjacentes ao acto em questo. Neste caso, acto
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
56
Ana Leonor Santos
voluntrio apenas se aplica ao homem, o nico capaz do conhecimento requerido. Por consequncia, o acto moral tambm est restringido ao homem, j que implica uma reexo acerca das referidas particularidades. Neste contexto, acto voluntrio quase se confunde com escolha preferencial: o acto moral um acto no apenas voluntrio no primeiro sentido, mas fruto de escolha e deliberao prvia, o mesmo dizer, voluntrio no segundo sentido, pois implica o conhecimento do acto, do objecto da aco, do instrumento, do resultado esperado e da forma como deve ser alcanado. Aquele que ignorar qualquer um destes factores, age involuntariamente. Do exposto, inevitvel retirarmos a seguinte concluso: no primeiro caso, no h aces involuntrias; no segundo, no h aces voluntrias. Se um acto voluntrio quando o princpio est no agente, todos os actos so voluntrios (e, em toda a praxis, o princpio est no agente90 ); se um acto voluntrio quando o princpio est no agente e este conhece (todas) as circunstncias particulares envolvidas, nenhum acto voluntrio. O primeiro conceito demasiado geral e facilmente se reconhece que no esse o sentido de aco voluntria em causa na tica, mas sim o segundo. S que o segundo sentido conduz-nos concluso de que no h aces voluntrias e se no h aces voluntrias, no h aces imputveis. Logo, sem aces voluntrias, esvazia-se o mbito da tica.
Cf. Metaph., E , 1, 1025 b 23-25. O homem o nico dos viventes a ser princpio de algumas aces no podemos dizer de mais nenhum vivente que age. Cf. EE, II, 6, 1222 b 19.
90
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
57
2.3
Captulo III: O Colapso da Ontologia da Contingncia
Captulo III O Colapso da Ontologia da Contingncia
[...] embora possamos falar de certos assuntos como nos apraz, o certo que o que acontece depende da fortuna.91
Pol., VII, 12, 1331 b 21-22 (trad. cit., p. 529; substitumos o termo sorte por fortuna na traduo de tych. V. n. 26, p. 39).
91
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
58
Ana Leonor Santos
2.3.1
7. Caracteres e virtudes...
7. Caracteres e virtudes a escolha (im)possvel
A imputabilidade nascida da contingncia parece ser o ncleo da tica. Ao armar que o homem princpio dos seus actos, como dos seus lhos92 caso em que as aces so ditas voluntrias , nada de especicamente humano parece estar a ser registado, na medida em que os actos voluntrios so denidos como aqueles em que o princpio interno ao indivduo e os movimentos voluntrios dos animais remetemnos igualmente para um princpio interno de movimento. A diculdade desta indiferenciao comea a desvelar-se quando Aristteles dene o princpio interno dos actos como a possibilidade de realiz-los ou no93 , possibilidade que no extensvel aos animais, os quais no podem resistir aos impulsos. No seguimento da mesma problemtica, Aristteles remete-nos para a noo de responsabilidade, essa sim, propriamente humana e perceptvel atravs da existncia de um sistema judicial que, ao sancionar, como que instaura a responsabilidade, em cuja extenso no cabem os actos praticados nem pelas crianas nem pelos animais (nem, ainda, pelos loucos), e que, nessa medida, apenas impropriamente so chamados actos. Importa saber, ento, que condies devem estar reunidas para que a responsabilidade possa ser aduzida bem como em que medida a mesma pode recair sobre o carcter. A resposta ao primeiro problema est parcialmente encontrada: a contingncia juntamente com
92 93
Cf. EN, III, 5, 1113 b 17-19. EN, III, 1, 1110 a 16.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
59
as aces voluntrias constituem a condio de possibilidade da responsabilidade; permanecem, porm, as diculdades respeitantes circunscrio do conceito de aces voluntrias, diculdade que no de somenos importncia porquanto parecem ser as referidas aces que, em conjunto com a contingncia, permitem atribuir ao homem uma condio diferente da condio dos animais e das crianas (e do caso excepcional dos loucos), na medida em que aqueles e estas agiriam por impulso, sendo-lhes impossvel no fazer aquilo que fazem, a no ser por constrangimento exterior, caso em que, sab-mo-lo j, os actos no so ditos voluntrios. esta mesma especicao do princpio interno dos actos, bem como as consequncias a extrair no que respeita s crianas e aos animais, que nos conduzem segunda problemtica acima referida o alargamento da responsabilidade ao carcter do indivduo, relativamente ao qual duas questes se nos colocam, a saber: possvel ao homem praticar ou no uma determinada aco, ou o carcter leva-o necessariamente a fazer ou no fazer alguma coisa? o homem responsvel pelo seu carcter? Em busca das respostas somos conduzidos ao estudo caracterolgico desenvolvido por Aristteles, nomeadamente nas ticas e na Retrica, estudo esse cuja existncia inegvel, ainda que a possvel subsequente identicao da tica a uma cincia do carcter seja discutvel. Na Retrica a abordagem do problema permite uma associao aos estudos acerca do thos animal. Enquanto arte da persuaso, a retrica exige conhecimento do discurso, mas tambm da tipologia dos caracteres, o que leva considerao de que a mesma deve examinar os caracteres, as virtudes e as paixes. Estas ltimas so uma das variveis em correlao com o carcter, a que se juntam os hbitos (isto , as disposies virtuosas ou viciosas), a idade e a fortuna.94 Do con94 Cf. Rhet., II, 12, 1388 b 31. A relao do carcter com as paixes e com os hbitos v-la-emos aquando da explicitao dos conceitos de intemperana, incontinncia, continncia e temperana; relativamente fortuna, as consideraes desenvolvidas na Rhet. apenas nos interessam na medida em que evidenciam a inuncia de circunstncias que escapam ao domnio humano ou que, pelo menos, dele no de-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
60
Ana Leonor Santos
junto destas variveis, a idade e o tratamento que lhe votado na sua relao com o carcter aproximam a abordagem desta questo ao estudo sobre o carcter animal: o temperamento quente do jovem, frio do idoso e temperado do adulto fazem parte de um quadro caracterolgico que parece seguir um percurso natural ao longo da vida do indivduo, percurso esse que explicvel em termos siolgicos. Os jovens so propensos s paixes e, por isso, impulsivos e facilmente sujeitos ira; apesar disso, Aristteles considera que tm bom carcter, porque ainda no viram muitas maldades. So conantes, porque ainda no foram muitas vezes enganados. Tambm so optimistas (...) porque ainda no sofreram muitas decepes.95 Devemos acrescentar a estas caractersticas a esperana, prpria dos jovens, na medida em que diz respeito ao futuro e na juventude o futuro agura-se longo, enquanto o passado curto. Os idosos, por sua vez, tm caracteres opostos aos dos jovens, porque a sua condio tambm contrria: tendo um futuro curto e um passado longo, tiveram oportunidade para serem enganados e para errarem; so desconados, egostas, impdicos, cobardes e mesquinhos. Esta ltima caracterstica justica-se, de certa forma, porque, para alm de terem sido maltratados pela vida, sabem por experincia o quanto difcil alcanar os bens necessrios mesma e o quanto fcil perd-los. Por tudo isto, os idosos tm mau carcter, o que neste contexto signica supor sempre o pior em tudo.96 Aristteles acrescenta, ainda, que aqueles que chegam velhice perdem as
pendem na sobreveniente constituio do carcter. A nobreza, a riqueza, o poder e a boa sorte so as dimenses da fortuna colocadas em relao com o carcter. Sucintamente, a ambio advm da nobreza (cuja falibilidade notada por Aristteles ao considerar que as estirpes muitas vezes degeneram. Cf. Rhet., II, 15, 1390 b 23); a soberba, o orgulho, a volpia e a petulncia so inerentes riqueza; com o poder relacionam-se a ambio, a virilidade e a actividade; por m, a boa sorte, para alm de proporcionar caracteres correspondentes aos relacionados com o poder e a riqueza, predispe, por um lado, para o orgulho e a irreexo, mas, por outro, para o religioso, por causa dos bens devidos fortuna. 95 Rhet., II, 12, 1389 a (trad. cit., p. 137). 96 Rhet., II, 13, 1389 b (trad. cit., p. 138).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
61
certezas, tendo apenas opinies, ao mesmo tempo que parecem moderados porque os seus desejos afrouxaram , mas no o so. A moderao caracterstica da idade adulta, poca em que o carcter intermdio entre os caracteres dos jovens e dos idosos: nem demasiado medrosos nem demasiado temerosos; nem totalmente conantes nem sempre desconados; a temperana acompanha a coragem, e o interesse combina o belo e o til a poca da virtude, do justo meio. Desta anlise aristotlica releva, como bem denota Solange Vergnires97 , uma passagem subreptcia do temperamento siolgico ao temperamento psicolgico da temperatura do sangue ao bom ou mau carcter98 e, por sua vez, deste virtude e ao vcio. Esta ltima passagem encontramo-la desenvolvida nas ticas, onde Aristteles, partindo de uma anlise das possveis relaes a manter com os prazeres do tacto, estabelece quatro modos de nos comportarmos face aos mesmos, conducentes a e resultantes de quatro disposies de carcter: intemperana (acolasia), incontinncia (acrasia), continncia (egcrateia) e temperana (sophrosyne). A derivao destas disposies de carcter da relao mantida com os prazeres do tacto encontra a sua justicao no facto de estes dizerem respeito a todos os homens, na medida em que so necessrios99 , e constiturem a causa principal do
Cf. VERGNIRES, Solange, thique et politique chez Aristote. Physis, thos, Nomos, Paris, PUF, 1995, p. 89. 98 Em HA Aristteles associa tambm a sionomia com determinadas caractersticas de carcter (cf. I, 8, 491 b 10-10, 492 a 10). Por sua vez, os traos psicolgicos associados idade (bem como fortuna) devem ser considerados mais como circunstncias propcias ao desenvolvimento de certas virtudes ticas do que como suas causas. 99 O tacto considerado por Aristteles o principal dos sentidos e aquele que absolutamente necessrio aos animais: o sentido do tacto necessariamente aquele cuja privao implica a morte dos animais. Com efeito, no possvel que um ser possua este sentido e no possa ser um animal, nem to pouco ser necessrio possuir os outros sentidos, para alm deste, para se ser animal. De an., III, 13, 435 b 3-4 (trad. Carlos Gomes, Lisboa, Edies 70, 2001, p. 120). Desta forma, a intemperana, que leva a colocar os prazeres do tacto acima de tudo, aproxima-nos de um
97
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
62
Ana Leonor Santos
vcio, pois facilmente desembocam em excessos. precisamente na relao desmedida com os prazeres necessrios vida que encontramos aquilo que dene o intemperado: a procura de prazeres excessivos ou a procura excessiva dos prazeres necessrios, por eles mesmos e de maneira intencional. Esta intencionalidade caminha a par da ausncia de arrependimento, pois o diferenciador fundamental entre o intemperado e o incontinente consiste no facto de o primeiro no distinguir o bem do mal agir e, nessa medida, considera que deve perseguir sempre o prazer momentneo, enquanto o segundo, conhecendo a referida distino, no consegue seguir a regra correcta e deixar de perseguir o prazer. A ignorncia do intemperado, ao mesmo tempo que o impossibilita de sentir arrependimento, agrava o juzo que dele podemos fazer, porquanto a responsabilidade da situao do prprio.100 Nesta avaliao, h que remeter para a relao entre as faculdades de conhecer e de desejar: normalmente, o homem deseja aquilo que a sua faculdade de conhecer lhe apresenta como bom; contudo, casos h em que alguns homens escolhem sistematicamente no o conveniente e desejvel, mas sim os prazeres; ora, em tais circunstncias, a perverso da vontade e da deliberao origina um obscurecimento da faculdade de conhecer, que se v ultrapassada por desejos comandados pelos maus hbitos. A responsabilidade recai, ento, sobre o agente, o qual, no incio do processo, detm o poder de escolha relativamente ao vcio e virtude. E a mesma responsabilidade permanece inclume face irreversibilidade de todo este processo segunda caracterstica diferenciadora da intemperana por relao incontinncia , concepo comprometida por uma certa problematicidade, cuja essncia mais no do que o ncleo a partir do qual irradia a fora motriz desta primeira parte do nosso estudo: quando atribui ao vcio
estado de animalidade inaceitvel. 100 No esqueamos que Aristteles classica os actos praticados por ignorncia como sendo no voluntrios no caso de no serem seguidos de arrependimento, distinguindo-os dos actos involuntrios, nos quais se verica um arrependimento subsequente. V. pp. 70-71.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
63
o estatuto igual ao de uma doena como a hidropisia101 , Aristteles parece coloc-lo sob a gide da patologia, cuja imputao moral no de todo evidente. Diga-se que o contexto em que tal comparao apresentada pretende sublinhar o carcter contnuo e incurvel da intemperana por comparao incontinncia, cuja comparao com a epilepsia parece querer indicar que aquela uma espcie de crise que pode ser ultrapassada, na medida em que o indivduo tem conscincia da sua situao. Ora, o problema que se nos coloca parece-nos bvio: at que ponto o homem intemperado causa dos seus actos? No ser antes uma vtima do seu carcter?102 verdade que esta disposio de carcter, como as restantes, enquanto disposio no existe por natureza e fortalece-se pelos hbitos e nessa medida, o homem intemperado tem um papel no meramente receptor. Porm, os hbitos adquirem-se desde a mais tenra infncia, quando somos mais receptores do que decisores, e um homem injusto no pode deixar de o ser. Para explicar esta irreversibilidade, Aristteles recorre, uma vez mais, comparao com a sade: o simples desejo de recuperar a sade no basta para ser bem sucedido, mesmo que tal estado resulte da escolha voluntria de desobedecer aos mdicos e levar uma vida desregrada; no incio possvel evitar a doena, mas uma vez envolvidos num contexto propcio ao desenvolvimento da mesma, no mais possvel evitar o seu aparecimento, da mesma forma que depois de lanar uma pedra no conseguimos det-la no seu percurso, ainda que tenha dependido de ns o seu lanamento. esta a situao do homem injusto ou intemperado: ao princpio era-lhe possvel no se tornar tal, mas quando se tornou injusto ou intemperado, no mais pode deixar de o ser.103 Este raciocnio compreensvel, embora acarrete uma condenao moral, uma espcie de pena perptua, que no deixa de ser constrangedora no seio da tica aristotlica, tanto mais que existem doenas venreas, que
Cf. EN, VII, 8, 1150 b 34-35. Solange Vergnires faz a distino entre un homme vicieux, que seria autor dos seus actos, e un homme vici, prisioneiro do carcter. Cf. op. cit., p. 111. 103 Cf. EN, III, 5, 1114 a 12-21.
102 101
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
64
Ana Leonor Santos
no resultam de escolhas voluntrias contrrias aos procedimentos saudveis, e que os motivos subjacentes ao lanamento da pedra que no conseguimos deter no seu percurso podem ser exteriores ao agente ou, sendo internos, no estar sob o seu domnio. Talvez por isso ou apesar disso Aristteles insista tanto no carcter voluntrio do vcio e da virtude, bem como das disposies, ainda que reconhea que estas no podem ser ditas voluntrias do mesmo modo que as aces: as aces so-no absolutamente104 ; as disposies dependem de ns apenas no incio, podendo ser consideradas voluntrias na medida em que o uso que inicialmente delas fazemos, e que as refora, depende de ns105 e na justa medida em que nos abstivermos de considerar o papel que a educao desempenha no contexto em causa. Para l do constrangimento referente tragicidade contida na situao daquele que se torna intemperado, surge-nos um outro problema decorrente da comparao entre as situaes do homem intemperado e do homem incontinente: atormentado por uma conscincia infeliz, que percebe estar a agir mal, mas no consegue evit-lo, o incontinente no vive na irreversibilidade do intemperado, mas este, por sua vez, vive na crena de ser feliz como se a dita conscincia infeliz tivesse desaparecido aquando da passagem da incontinncia para a intemperana. Aquilo que parece ser uma vantagem no poderia ser armada como tal; por isso, Aristteles considera que as aces particulares do intemperado so voluntrias106 , praticadas em consonncia com a vontade e o desejo do seu autor, mas o seu carcter, no geral, -o menos, porquanto ningum deseja ser intemperado.107 A ambiguidade respeitante intemperana v-se, de certa forma, desvalorizada pelo facto de o nmero dos que se vem por ela afectados ser considerado reduzido. Na verdade, os extremos das disposies so dotados de uma permanncia que atinge muito poucos; a
Segundo as condies vistas no 6. Cf. EN, III, 5, 1114 b 30-1115 a 3. 106 No sentido mais abrangente do termo, isto , sendo o princpio da aco interno ao agente. 107 Cf. EN, III, 12, 1119 a 33.
105 104
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
65
maioria dos homens oscila entre a incontinncia e a continncia, ambas lugar de uma espcie de combate moral, perdido num caso e ganho no outro. O incontinente age em conformidade com o seu apetite, mas contrariamente quilo que a razo lhe dita; face regra correcta pode pura e simplesmente esquec-la ou fraquejar. Assim, genericamente, podemos armar que aquilo que caracteriza a incontinncia um conhecimento terico da regra cuja aplicao prtica no chega a suceder.108 O motivo do incumprimento da regra pode ser duplo, e por isso que podemos distinguir a incontinncia por impetuosidade ou impulsividade da incontinncia por fraqueza: no primeiro caso, h uma carncia de deliberao, uma falta de discernimento na forma de aplicar a regra correcta, a qual, no devemos esquecer, no desconhecida do incontinente; no segundo caso, apesar de haver deliberao, o momento de deciso subsequente no segue o que havia sido deliberado, por fraqueza ou por cobia.109 Segundo Aristteles, a incontinncia por impulsividade menos condenvel do que a incontinncia por fraqueza, mas tanto num caso como no outro no estamos perante um vcio, na medida em que a incontinncia diz-se de uma aco contrariamente escolha, enquanto o vcio segue a escolha donde a concordncia do intemperado consigo mesmo e a conscincia infeliz do
Aristteles d conta de uma sugestiva analogia entre o incontinente e a cidade que possui leis sbias e prescreve os decretos necessrios, sem que jamais chegue a fazer uso deles. Cf. EN, VII, 11, 1152 a 20. 109 Segundo a leitura de Solange Vergnires, que ns compartilhamos, a inteligncia prtica no est arredada de nenhuma das espcies de incontinncia; o problema est na escolha errada que feita relativamente premissa maior do silogismo prtico. O exemplo avanado elucidativo: quer os homens incontinentes quer os continentes so confrontados com dois tipos de regras uma enunciada pela dianoia, a outra pela sensao. O acar agradvel, diz-nos a sensao; o acar prejudicial, alerta a razo. O incontinente consegue desenvolver um raciocnio partindo da premissa correcta, retroprojectando-o no passado e projectando-o no futuro; mas, no momento da aco, no tempo presente, revela-se incapaz de actualizar o raciocnio. Sabe que o acar prejudicial, mas no se abstm de ingeri-lo. Cf. VERGNIRES, op. cit., p. 119.
108
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
66
Ana Leonor Santos
incontinente. Caso o incontinente aprenda a controlar os seus apetites e a agir de acordo com a razo, adquire a virtude da continncia persevera na concluso prtica do silogismo e faz o correcto, o desejvel, embora no aquilo que deseja. E desta diferena que devemos concluir que a continncia ainda no pode ser considerada moral no sentido mais nobre do termo, pois exige um esforo na realizao do correcto e no constrangimento do desejo110 , esforo esse que deve ser sempre renovado a cada nova deciso e a cada nova aco.111 Apenas no caso da temperana a faculdade desiderativa est em consonncia com a razo d-se a concordncia entre o que a regra arma e o que o desejo persegue, acontece a harmonia entre as diferentes faculdades, pois o homem temperado no s segue a regra correcta como o faz sem constrangimento e at com prazer.112 Assim, chegaEmbora Aristteles comece por considerar a continncia como uma espcie de constrangimento, nomeadamente dos apetites (cf. EE, II, 8, 1224 a 34), no seguimento dessa mesma passagem restringe a aplicao do conceito aco de um agente exterior contrria ao impulso interno. Ora, no caso da incontinncia, como no da continncia, o princpio desencadeador da aco interno por isso se diz que ela voluntria e por isso a se situa o reduto da responsabilidade. Desta forma, o constrangimento e a necessidade opem-se ao voluntrio e persuaso (que aqui entendida como uma forma de constrangimento) e o seu mbito de aplicao corresponde, essencialmente, aos seres inanimados, s plantas, aos animais e tambm s crianas, em relao s quais no se pode falar de aco em sentido prprio (Cf. ibid., 1224 a 13-30). Ainda assim, Aristteles retoma o exemplo das situaes em que a razo e o desejo no esto em desacordo, embora saibamos estar a agir incorrectamente, por forma a evitar, por exemplo, a morte nestas circunstncias dizemos que a aco aconteceu por constrangimento ou necessidade, ainda que nos pudssemos interrogar se no seria o caso de devermos considerar tais aces voluntrias, porquanto seria possvel no agir de forma incorrecta e sofrer as consequncias da no-aco (ibid., 1225 a 2-8). V. p. 70. 111 Talvez por isso, em EE, II, 11, 1227 b 17, Aristteles distinga a virtude da continncia. 112 A faculdade apetitiva tem lugar na vida humana: se a sophrosyne implica moderao e decidir correctamente sobre os prazeres do tacto, no menos verdade que a prudncia incompatvel com a subjugao ou com a ignorncia dos apetites, porque tal insensibilidade no humana. (...) e se existisse um ser para quem no houvesse
110
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
67
mos excelncia no mbito da tica, a qual est ao alcance de poucos; assim, chegamos prudncia, que une a moral e o dianotico. Como chegamos a ser prudentes? e como nos tornamos temperantes? eis as perguntas que agora se impem. A proximidade entre a prudncia e a temperana resulta do facto de a primeira nos dizer o que devemos fazer, sendo pela segunda que o conseguimos. A circularidade observada aquando da denio de prudncia na sua relao com a regra correcta estende-se desta feita relao entre a prudncia e a temperana: se esta nos permite realizar aquilo que a prudncia nos diz devermos fazer, necessrio, primeiro, estar na posse da prudncia; mas esta, por sua vez, depende da formao de um carcter temperado para se poder manifestar. Na anlise desta relao talvez devamos atentar s consideraes aristotlicas relativas imitao, cujo papel relevante na vida do ser humano reconhecido pelo Estagirita, particularmente no que diz respeito formao do carcter. Sendo uma caracterstica da natureza humana113 , deve ser aproveitada pelos educadores no intuito de fomentarem a formao de caracteres de acordo com as virtudes. Nesta tarefa, o jogo e a msica desempenham um papel importante: pelo primeiro, as crianas devem realizar uma imitao daquilo que na idade adulta sero actividades srias.114 Embora constitua um mtodo e no uma nalidade da educao, j que esta comporta uma dimenso de dor ausente do carcter ldico do jogo, este permite a aquisio e o fortalecimento de bons hbitos. A msica, por sua vez, tem um papel mais directo na educao dos prazeres, estando habilitada para conferir determinados atributos ao carcter; fazendo uso de diferentes ritmos e
nada de prazenteiro ou fosse o mesmo uma coisa ou outra, estaria muito longe da natureza humana. EN , III, 11, 1119 a 6-10: [...] such insensibility is not human. (...) and if there be a creature that nds nothing pleasant, and sees no difference between one thing and another, it must be very far removed from humanity. (trad. cit., pp. 181, 183); [...] une pareille insensibilit na rien dhumain. (...) et sil existe un tre ne trouver rien dagrable et ntablir aucune diffrence entre une chose et une autre, cet tre-l sera trs loin de lhumaine nature (trad. cit., pp. 165-166). 113 Cf. Poet., IV, 13, 1448 b 5. 114 Cf. Pol., VII, 17, 1336 a 33-34.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
68
Ana Leonor Santos
harmonias, a msica imita como nenhuma outra arte as vrias disposies morais, como a clera e a mansido ou a coragem e a temperana a prtica prova-o bem, visto que o nosso estado de esprito se altera consoante a msica que escutamos.115 Recuperando uma classicao pitagrica116 , Aristteles apresenta trs gneros de melodia, com harmonias prprias, a saber, melodias ticas, prticas e entusisticas.117 Para a educao, as melodias ticas (classicao que Aristteles atribui s harmonias dricas) so as mais adequadas; atravs delas fomentam-se disposies calmas e temperadas, em consonncia com a melodia escutada, e, dessa forma, modelam-se caracteres temperantes e adquirem-se hbitos necessrios para a prtica das virtudes. Donde a armao, pouco explcita se descontextualizada, de que a educao se deve basear mais no hbito do que na inteligncia.118 Anteriormente, Aristteles j havia explicado que o cuidado do corpo e dos desejos deve preceder o cuidado da alma, na medida em que a parte irracional da alma temporalmente anterior parte racional: prova dessa antecedncia o facto de recm-nascidos e crianas manifestarem nimo, vontade e apetite, ao passo que a razo e a inteligncia apenas se manifestam com o avanar da idade.119 Assim se compreende o recurso imitao no desenvolvimento de hbitos ajustados face aos desejos, sendo esta a forma primeira de cuidar da razo, como se depreende, alis, da explanao dos diferentes caracteres. Estamos, pois, em condies de concluir de que forma conseguimos ser prudentes e adquirir uma disposio para a temperana: so a educao e os hbitos que tornam um homem virtuoso. Desta situao decorre a importncia da comunidade social e poltica, a qual,
Ibid., VIII, 5, 1340 a 21-23 (trad. cit., p. 579). Segundo Solange Vergnires (que remete para um artigo de G. Romeyer Dherbey, La noble nature de la musique in Philosophie et ducation, Paris, PUF, 1993), o pitagrico Damon ter sido o primeiro a estabelecer uma correspondncia sistemtica entre os estados de alma e os tipos de msica. Cf. op. cit., p. 80. 117 Cf. Pol., VIII, 7, 1341 b 34. 118 Cf. Pol., VIII, 3, 1338 b 2-4. 119 Ibid., VII, 15, 1334 b 23-25 (trad. cit., p. 545).
116 115
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
69
enquanto provedora do processo educativo, deve assentar no discernimento do bem e do mal. Sem um processo de educao adequado, os princpios que regem as aces correctas no sero conhecidos e a faculdade desiderativa no ser habituada a permanecer em sinergia com a razo.120 A inuncia da comunidade na tica encontra-se estabelecida, alis, na prpria etimologia da palavra, que comporta uma dupla raiz: numa vertente individual, thos signica carcter; numa outra vertente, que poderamos designar sociolgica, thos remete para os hbitos e costumes prprios de uma comunidade. Neste mesmo sentido, vimos anteriormente que as virtudes morais so produzidas pelo hbito e as virtudes intelectuais dependem do ensinamento. Cabe, portanto, ao legislador considerar de que modo uma cidade e um povo participaro na vida boa, sendo igualmente fundamental uma autoridade capaz de discernir aquilo que conveniente e justo para os cidados, bem como de programar uma educao prociente no sentido de formar homens dotados de virtudes intelectuais e morais. Formada a princpio para preservar a vida, a cidade subsiste para assegurar a vida boa.121
Tendo em ateno a absoluta relevncia da educao, somos levados a acreditar que aqueles que no viram as suas faculdades correctamente ordenadas desde cedo estaro para sempre condenados a alcanar, no mximo, um carcter continente. Donde a armao de que no de pouca importncia ter sido educado neste ou naquele hbito desde a infncia, mas sim de grande, ou mesmo absoluta, importncia. Cf. EN, II, 1, 1103 b 23-25. 121 Pol., I, 2, 1252 b 29 (trad. cit., p. 53).
120
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
70
Ana Leonor Santos
2.3.2
8. Por que no h lugar para o que poderia ser
8. Por que no h lugar para o que poderia ser
A tica do domnio do contingente nesta proposio que, segundo Aristteles, repousam todas as caractersticas que a diferenciam da cincia. Porque nela no h nada que no possa ser diferente daquilo que , est no poder do homem ser intrinsecamente virtuoso, praticando aces virtuosas, ou vicioso, pela prtica de aces viciosas. O m da tica e das aces virtuosas, como da poltica, a eudaimonia, que alguns identicam com a fortuna favorvel e outros com a virtude. Esta divergncia de posies cedeu lugar diculdade de saber se a felicidade algo que se adquire pelo hbito ou qualquer outro exerccio, num processo de aprendizagem, ou se devida a um favor divino ou, ainda, ao acaso. A resposta aristotlica, j o vimos, vai no sentido da primeira opo, porquanto a causa verdadeiramente determinante da felicidade reside na actividade conforme virtude.122 Uma vez que est em nosso poder sermos intrinsecamente virtuosos ou viciosos, a felicidade acessvel a todos ou, pelo menos, a todos os que no so anormalmente inaptos para a virtude.123 Quais as implicaes envolvidas nesta armao e que consequncias devemos dela extrair o que importa averiguar de momento. Antes de mais nada, a premissa de que parte a armao implica considerar a virtude e o vcio como voluntrios. , alis, nesta concepo que repousam o elogio da primeira e a condenao do segundo. As aces involuntrias, se ms, no so condenveis, se boas, no so louvveis, ou seja, aquilo que ns avaliamos verdadeiramente
122 123
Cf. EN, I, 10, 1100 b 8-10. Cf. ibid., 7, 1099 b 18-20.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
71
no so tanto as aces quanto as escolhas realizadas.124 apenas porque no fcil avaliar a qualidade das escolhas que nos vemos forados a julgar a qualidade dos actos125 , o que no impede a reiterao de que a proairesis permite, melhor do que os actos, ajuizar acerca do carcter de um indivduo. Mas, para l desta anotao, devemos reter que a excelncia dos actos, como das escolhas, resulta da conuncia de trs factores, a saber, natureza, hbito e razo. Em primeiro lugar, preciso nascer como ser humano e no como qualquer outro animal; e, alm disso, com uma certa qualidade de corpo e alma. H qualidades que de nada servem nascena porque os hbitos modicam-nas: a natureza f-las capazes de serem modicadas, pela fora do hbito, para melhor ou para pior. (...) Mas o homem, para alm da natureza e do hbito, tambm guiado pela razo, que s ele possui; por isso estes trs factores devem estar sintonizados.126 Comecemos pela anlise do primeiro factor. Que seja necessrio ter uma natureza humana para a realizao de aces virtuosas parece ser uma evidncia que no abarca a segunda referncia ao mesmo factor: ter uma certa qualidade de corpo e alma. Na verdade, nem todos so receptivos da mesma forma educao, o que indica que h diferenas individuais devidas natureza127 e conducentes ao estabelecimento de uma escala hierrCf. EE, II, 11, 1228 a 1-5; EN, II, 3, 1105 a 26-35. Cf. ibid., 1228 a 15-20. 126 Pol., VII, 13, 1332 a 40-b 5 (trad. cit., p. 533). 127 Tais diferenas podem ser de trs ordens: a primeira remete-nos para a resistncia da matria no processo de reproduo, o que pode dicultar a implementao da forma humana e resultar numa decincia fsica ou tica. Neste ltimo caso, o homem pode experimentar desejos que no so prprios da sua espcie e ser cativo de uma incontinncia animalesca ou mrbida. Cf. EN, VII, 6, 1149 a 15-20. A segunda diferena diz respeito aos possveis erros de transmisso da forma, que do origem a seres humanos do sexo feminino, cujo carcter signicativamente diferente do thos masculino. Ainda associado com este segundo aspecto est a dissemelhana dos lhos por relao aos pais, que Aristteles entende como uma defeituosidade da natureza que pode ser propcia ao desenvolvimento de outros defeitos de certa forma imunes educao. Por m, h diferenas respeitantes forma individual associada a uma determinada linhagem (genos), relativamente qual a posio de Aristteles comporta alguma ambiguidade; apesar disso, e de acordo com o Estagirita, podemos
125 124
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
72
Ana Leonor Santos
quica cujo grau inferior corresponde ao escravo por natureza (doulos) e o grau mximo ao indivduo responsvel (spoudaios). por natureza que h homens livres e escravos128 , da mesma forma que desde o nascimento que uns esto destinados a mandar aqueles que podem utilizar o intelecto para prever e outros a obedecer aqueles que tm fora para trabalhar.129 Os primeiros restringem-se a um pequeno nmero de indivduos e so os nicos a conseguirem atingir uma estatura moral perfeita. Todos os outros excluindo o grupo daqueles que nem chegam a alcanar o estatuto de cidados podem ser bons cidados sem que sejam necessariamente (moralmente) virtuosos.130 Aristteles arma, inclusivamente, que a virtude do cidado no pode ser idntica do homem bom131 , designao que serve para o governante responsvel, cuja virtudepeculiar a prudncia.132 Esta classicao, embora seja bastante complexa porquanto envolve factores como a idade, o sexo, a actividade exercida, a posio econmica e social, encontra na faculdade deliberativa e de deciso o critrio fundamental: a ttulo de exemplo, os escravos no tm faculdade deliberativa; s mulheres, possuindo aquela, falta-lhes capacidade de deciso; as crianas (do sexo masculino, subentende-se) tm capacidade de deciso, mas ainda no desenvolvida.133 Do exposto devemos concluir que, por natureza, nem todos tm igual acesso virtude, apesar do que cada um participa da felicidade na mesma medida em que participa da virtude e do discernimento,
armar que a transmisso hereditria est de acordo com a ordem da natureza, mesmo que no se realize sempre. Cf. VERGNIRES, op. cit., p. 72. 128 Embora haja escravos que no o so por natureza, mas sim pela lei. 129 Cf. Pol., I, 2, 1252 a 30-34; 4, 1254 a 13-17; 5, 11254 a 21-24; 1254 b 16-19; 1255 a 1. No esqueamos que a capacidade de previso uma das caractersticas do phronimos. 130 Cf. Pol., III, 4, 1276 b 34; I, 13, 1260 a 14-20. 131 Ibid., 1276 b 40-41. 132 1277 b 23. O texto continua com a armao de que a virtude peculiar aos governados no pode ser a prudncia, mas sim a opinio verdadeira. 1277 b 26 (trad. cit., p. 201). 133 I, 13, 1260 a 12-13.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
73
agindo em conformidade com ambos.134 Portanto, por natureza, nem todos tm igual acesso felicidade. Quanto ao factor hbito, conjuga-se com a natureza por forma a modicar algumas das qualidades devidas quela; apesar disso, quer a sua aquisio quer a sua perda no devem ser entendidas como alteraes, embora Aristteles admita a possibilidade de existir na base da virtude e do vcio um conjunto de alteraes siolgicas. Nessa medida, no sendo alteraes, os hbitos pressupem uma alterao da parte sensitiva da alma135 , e tambm por isso que constituem objecto da educao, a qual no deve ser descurada desde a mais tenra idade, porquanto preferimos sempre aquilo com que contactmos primeiramente.136 Desta forma, se a educao no for correctamente providenciada e porque o homem nasceu com armas que devem servir a sabedoria prtica e a virtude, mas que tambm podem ser usadas para ns absolutamente opostos137 , o indivduo no adquirir bons hbitos, os quais so apresentados como causa das virtudes morais. Ora, tendo em conta que as crianas vivem sob o imprio da concupiscncia e a tendncia do carcter para a cristalizao, medida que o indivduo vai crescendo, tornar-se- cada vez mais difcil alterar os hbitos adquiridos. Diramos que tal diculdade s no ganha o estatuto de impossibilidade porque estamos no domnio da contingncia. Aristteles reconhece, contudo, que embora mudemos de hbitos mais facilmente do que de natureza, mesmo aqueles so difceis de mudar.138 A razo o terceiro factor que, juntamente com a natureza e o hbito, possibilita que os homens se tornem bons e ntegros. Os trs factores devem estar sintonizados, ainda que muitas vezes a razo leve a no seguir o hbito e a natureza. Contudo, no o indivduo que escolhe ser ou no regido pela razo. Essa ordenao correcta da relao entre as faculdades racional
134 135 136 137 138
VII, 1, 1323 b 21-23. Cf. Phys., VII, 3, 246 a 10-15 e 247 a 7. Cf. Pol., VII, 17, 1336 b 32. Ibid., I, 2, 1253 a 34. Cf. EN , VII, 10, 1152 a 26.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
74
Ana Leonor Santos
e irracional da alma dada pela natureza e, de forma talvez mais preponderante ( excepo das circunstncias extremas), pelo hbito; no resultado, portanto, de um processo individual voluntrio. Ningum escolhe deliberadamente fazer mal a si mesmo nem mostrar-se injusto consigo mesmo139 , donde a j referida armao de que, no homem intemperado, as aces particulares so voluntrias, mas o seu carcter -o menos. Esta armao, se, por um lado, vem reforar o que at aqui foi exposto (no que diz respeito ao carcter), por outro, ter um signicado cuja apreenso difcil, na medida em que, na maioria das vezes, as aces so uma extenso do carcter.140 Que do involuntrio possa advir algum tipo de voluntariedade o que ca por demonstrar. Acresce aos referidos factores determinantes da virtude e da
EN , V, 10, 1134 b 12. Solange Vergnires no faz esta leitura e apresenta a distncia entre a disposio tica e a aco como uma das quatro condies que possibilitam a modicao do carcter: a primeira o reinado da contingncia no mundo humano; a segunda ope-se primeira, porquanto da ordem da necessidade, mais propriamente, da maturao natural do temperamento. Segundo a intrprete, a evoluo psicolgica natural permite que alguns defeitos sejam corrigidos com a idade e que algumas qualidades surjam com a experincia. A terceira condio diz respeito persuaso e possibilidade que o ser humano tem, pelo facto de ser dotado de um logos, de agir contrariamente sua natureza ou aos seus hbitos, caso esteja persuadido de ser essa a melhor escolha. Por m, aquela que apresentada como a hipottica condio mais importante, e para ns a mais discutvel, , ento, respeitante diferenciao entre disposio tica e aco. O raciocnio desenvolvido no sentido de mostrar que no podemos deduzir a aco do carcter, argumentando que o vcio no causa da aco, mas sim da inteno que lhe subjacente, pelo que os hbitos seriam causa, no das aces, mas sim da sua qualidade. Apesar de recorrer a uma passagem da Poet. (onde dito que o poeta no faz agir as suas personagens para revelar um carcter, dando-lhe, antes, um carcter para tornar inteligvel as suas decises, no seguimento da associao das qualidades de um homem ao seu carcter e da bem-aventurana ou do seu contrrio s aces praticadas 6, 1450 a 16-23) para fundamentar o seu raciocnio, no cremos que a separao entre carcter e aco seja nem evidente nem coerente com o pensamento tico aristotlico de fundo, no qual a harmonia das diferentes faculdades do homem, correlativa dos caracteres temperados, imprescindvel para a excelncia das aces. Sabemos que no constitui sua condio suciente, pelo que no podem ser ditos equivalentes, mas condio necessria.
140 139
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
75
vida boa um outro elemento apresentado na primeira parte do nosso texto a fortuna. Segundo Aristteles, a vida feliz pode ser entendida como uma virtude ou como uma bno ou ainda como ambas. Em qualquer dos casos, apangio dos homens que se destacam pelo carcter e pela inteligncia141 , cujo desenvolvimento deve ser providenciado pelo governador. , precisamente, ao escrever sobre as condies implicadas na prtica da governao que Aristteles se refere explicitamente ao factor agora em causa: o legislador deve dispor de certos elementos e procurar outros, que dependem da fortuna, a que reconhecemos preponderncia (e admitimos que a fortuna soberana).142 No entanto, o lsofo recua nesta posio ao continuar o raciocnio dizendo que a cidade equilibrada no obra do acaso, mas do conhecimento e da vontade. Uma cidade equilibrada quando os cidados que participam no seu governo tambm so equilibrados.143 Podemos conceder que os elementos dependentes da sorte sejam apenas os bens exteriores e que, para alm deles, caberia aos governantes saber de que modo a cidade pode tornar-se virtuosa e feliz e escolher os meios adequados para atingir esse m. Mas, para que o saber e a escolha sejam concordantes com o desejvel, necessrio que o indivduo se tenha tornado equilibrado, o que acontece graas natureza, que ele no escolhe, aos hbitos, que adquire atravs dos responsveis pela sua educao, e razo, que no obra sua. Ou seja, o carcter, causa concomitante de todas as aces, resulta de variveis que esto para l da esfera de escolha do indivduo, e no carcter que assenta a escolha, cuja anlise, por sua vez, nos reenvia para o carcter por forma a podermos ajuizar acerca dele. Para tentar libertar a felicidade do jugo da fortuna, Aristteles distingue os dois domnios reforando o fosso entre a posse de bens exteriores e a felicidade: os primeiros dependem do acaso e da forPol., VII, 1, 1323 b 1-3 (trad. cit., p. 481). Ibid., 13, 1332 a 29-31 (trad. cit., p. 531; substitumos sorte por fortuna na traduo de tych; v. n. 26, p. 39). 143 Pol., VII, 13, 1332 a 31-32 (trad. cit., p. 531).
142 141
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
76
Ana Leonor Santos
tuna; ningum, pelo contrrio, justo ou prudente por fortuna ou por causa da fortuna.144 um facto que o realismo do Estagirita o leva a contemplar os bens externos como elementos importantes para a vida boa, para alm dos bens do corpo: a nobreza, os amigos, o dinheiro e a honra, a que se juntam a sade, a beleza, a fora e o porte, constituem parte importante da felicidade; porm, no so considerados indispensveis145 ; o elemento fundamental a virtude e esta no se adquire nem conserva atravs dos bens exteriores, sendo a inversa verdadeira. Desta forma pensa Aristteles salvaguardar a dignidade da vida boa dignidade que no poderia deixar de estar associada ao esforo e ao merecimento j que os bens exteriores podem depender do acaso e da sorte, mas a prudncia e a justia considera Aristteles que no podem ser causadas por qualquer uma das referidas causas acidentais. E uma vez que o bom carcter se caracteriza por no estar sujeito a variaes, manifesta-se igualmente nos momentos de infortnio, embora o grau de intensidade dos acontecimentos no seja indiferente nestas circunstncias: se estiverem em causa contrariedades mnimas, a sua interferncia no ser relevante; mas, caso os acontecimentos sejam signicativos, podem corromper a felicidade.146 No seio das grandes contrariedades, a nobreza e a grandeza da alma permanecem, mas a esta constatao acrescentado, numa aparente contradio com a referida possibilidade de dissoluo da felicidade face a grandes infortnios, que os homens felizes jamais podem tornar-se miserveis, porque no praticam aces odiosas e vis, e a aces constituem o factor determinante da nossa vida.147 Se esta considerao correspondesse realidade, seria verdadeiro que os homens felizes (leia-se virtuosos), no podem tornar-se miserveis; o facto de a experincia evidenciar uma realidade diferente indica a existncia de outros factores determinantes da nossa vida que
Ibid., 1, 1323 b 27-8 (trad. cit., p. 483; substitumos sorte por fortuna na traduo de tych; v. n. 26, p. 39). Cf. EN , VII, 14, 1153 b 21-5. 145 Cf. Pol., VII, 1, 1323 b 1-4; EE, I, 2, 1214 b 11-24; EN , I, 8, 1098 b 12 e ss.; Rhet., I, 5, 1360 b 19 e ss. 146 Cf. EN , I, 11, 1100 b 22-29. 147 Cf. ibid., 1100 b 33-35.
144
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
77
no as aces. A felicidade est ao alcance de todos segundo o estabelecido natica Nicomaqueia. No entanto, a anlise particular a cada um dos elementos que concorrem para a alcanar no nos permite extrair tal concluso; ao contrrio, leva-nos evidncia dos constrangimentos determinantes da vida humana, o primeiro dos quais releva imediatamente de uma anlise mais atenta aos diferentes escritos sobre tica e contamina, desde logo, todo o projecto que lhes subjaz, cujo objectivo no da ordem do terico, mas sim da pura praxis tornarmo-nos seres humanos de bem.148 Simplesmente, os discursos ticos no so ecazes seno nas almas bem nascidas, permeveis virtude. Os outros, que constituem, alis, a grande maioria, aqueles que vivem sob o imprio das paixes, como podero ser sensveis aos discursos que procuram corrigi-los? eis uma interrogao do prprio Aristteles, que logo conclui: preciso que o carcter tenha j uma certa disposio apropriada virtude, gostando daquilo que nobre e no suportando aquilo que vergonhoso.149 Assim sendo, na base da tica existe um ncleo irredutvel de boa fortuna. A sua aplicao v-se remetida ao conjunto daqueles que partiram de um ponto adequado e desde cedo enveredaram pelo caminho correcto: os bem nascidos e os bem educados. E se julgvamos ao incio que a tica importa a todos os que no esto protegidos pelos deuses, somos agora obrigados a reconhecer que inclusivamente os desprotegidos precisam do auxlio da fortuna para poderem ser virtuosos. Naturalmente, o discurso de Aristteles no poderia armar explicitamente tal concepo. A reiterao de que o thos resulta das nossas aces parece querer indicar que o mesmo no deve ser visto como receptculo de determinaes da natureza ou da educao, mas
EN , 2, 1103 b 27-29. Ibid., X, 9, 1179 b 30: Il faut donc que le caractre ait dj une certaine disposition propre la vertu, chrrissant ce qui est noble et ne supportant pas ce qui est honteux. (trad. cit., p. 524); We must therefore by some means secure that the character shall have at the outset a natural afnity for virtue, loving what is noble and hating what is base. (trad. cit., p. 631).
149 148
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
78
Ana Leonor Santos
sim como resultado dos actos cujo princpio est em ns. Na verdade, apesar de valorizar o necessrio, de acordo com o contexto terico da poca, Aristteles recusa a sua remisso para o domnio da aco, o qual responsvel por uma excepo no que diz respeito ao princpio da no-contradio, tal como explicado em Da Interpretao: de duas proposies singulares contraditrias relativas ao futuro no podemos armar ser uma verdadeira e a outra falsa, ou seramos levados a concluses absurdas e a consequncias impossveis.150 A impossibilidade de estender o princpio da no-contradio nestas circunstncias resulta de uma incompatibilidade do mesmo com a experincia, que nos mostra a existncia de um princpio dos futuros que reside na deliberao e na aco.151 no seguimento da anlise desta passagem que Aubenque conclui que a tese necessitarista conduz, mais do que a uma impossibilidade fsica, a uma absurdidade moral.152 Martha Nussbaum segue o mesmo raciocnio, ao considerar que a nossa experincia relativa escolha impossibilita a concepo de que a mesma no existe ou de pouca importncia na nossa vida, na medida em que h opinies de tal forma interiorizadas que o seu questionamento e uma consequente reprovao deixar-nos-iam sem solo que nos sustentasse.153 Cremos que a autora foca aqui o problema verdadeiramente fundamental, ao qual Aristteles, alis, no permanece alheio. Aquando da investigao acerca do modo como podemos alcanar a eudaimonia, o Estagirita menciona, como comemos por referir, a diculdade de saber se a mesma se atinge graas ao hbito ou a algum tipo de esforo, ou se ser devida fortuna, acabando por privilegiar a primeira forma de aquisio da vida boa, na medida em que esta deve ser acessvel a todos, ao que Aristteles acrescenta: se melhor ser feliz graas ao seu prprio esforo do que por ddiva da fortuna, razovel supor que assim que a felicidade alcanada
Cf. IX, 18 b 26-19 a 7. De in., IX, 19 a 8 e ss. 152 AUBENQUE, op. cit., p. 92. 153 Certain things are so deep that either to question or to defend them requires us to suspend too much, leaves us no place to stand. op. cit., p. 321.
151 150
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
79
[...] ao passo que, deixar ao jugo da fortuna o melhor e o mais nobre seria demasiado contrrio convenincia das coisas.154 Facto to espantoso quanto teoricamente problemtico e, no nosso entender, realisticamente verdadeiro, a recusa da preeminncia da fortuna e do acaso no decorre de uma investigao neutra nem a concluso de premissas sujeitas a avaliao independente; resulta, sim, de uma deliberao cujo interesse est colocado por inteiro na concluso a que se pretende chegar. A existncia de aces voluntrias decorrentes de um processo de escolha deliberada parece ser consensualmente considerada como o fundamento da dignidade humana, e a expresso do raciocnio que nos leva da singularidade de cada ser humano crena na imprevisibilidade das suas aces. Deixar a eudaimonia ao jugo da fortuna ou de qualquer outra causa que no a actividade humana parece atentar contra aquilo que comummente considerado uma vida que vale a pena ser vivida. Ora, ainda que concedssemos que a eudaimonia no depende da fortuna mas sim da virtude, e que, embora no se confundindo com o cultivo desta ltima, encontra no seu exerccio um elemento indispensvel para a concreo de uma vida perfeita, a verdade que a virtude continuaria a depender do mundo, no que concerne s condies do seu desenvolvimento, e o mundo continuaria a no depender de ns. Se retomarmos a distino aristotlica entre dois tipos de impossvel, acreditamos poder nalmente concluir a inerncia do determinismo ao mundo humano. Segundo Aristteles, o termo impossvel pode aplicar-se em dois sentidos diferentes: h coisas necessariamente impossveis e outras coisas que, no sendo impossveis por
EN , I, 9, 1099 b 20-25: Again, if it is better to be happy as a result of ones own exertions than by the gift of fortune, it is reasonable to suppose that this is how happiness is won [...]. Whereas that the greatest and noblest of all things should be left to fortune woulb be too contrary to the tness of things. (trad. cit., p. 45); Et sil est meilleur dtre heurex de cette faon-l que par leffet dune chance immrite, on peut raisonnablement penser que cest bien ainsi que les choses se passent en ralit [...]. Au contraire, abandonner au jeu du hasard ce quil y a de plus grand et de plus noble serait une solution trop discordante. (trad. cit., p. 69).
154
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
80
Ana Leonor Santos
natureza, no se vericam.155 desta forma que podemos dizer ser impossvel falar de contingncia no mundo da praxis. No que seja necessariamente impossvel que as aces de cada homem fossem diferentes daquilo que so; mas, para l dessa necessria impossibilidade, h uma necessidade condicional subjacente a toda e qualquer aco e que implica que a sua direco, podendo ter sido outra, no pudesse realmente s-lo (pela nossa natureza, pelos jogos praticados na infncia, pela msica escutada, pelo saber e pela virtude ou pela sua ausncia daqueles que nos governam, e por todos os elementos que compem os ensinamentos recebidos e os hbitos fomentados). Determinado, sendo um conceito equvoco, implica de forma transversal a diferentes signicaes a impossibilidade de admisso do contrrio no momento dado. Ora, a omniscincia das diferentes variveis em causa na prossecuo da vida e das aces conduzir-nos-ia percepo da impossibilidade (no necessria) da ocorrncia de aces divergentes das realizadas, porque a vida humana o resultado de uma equao que pe em relao todos os constrangimentos que permanecem para ns invisveis. Como explicitmos anteriormente, o constrangimento uma espcie de necessidade (que Aristteles situa, contudo, no mbito da contingncia)156 , pelo que parecemos voltar posio dos atomistas. Se esta estiver correcta e o acaso for o nome dado ignorncia de causas que necessariamente conduzem a um acontecimento, a uma escolha e a uma aco, a contingncia no real, a losoa prtica e os seus objectos aproximam-se da losoa terica e do seu estatuto, sob o preo, no do seu desaparecimento, mas de uma exigida e signicativa transformao. A premncia de tal exigncia torna-se tanto maior quanto a referida ignorncia das causas no pode ser entendida apenas como um problema epistemolgico; trata-se, mais fundamentalmente, de uma situao com implicaes ontolgicas, que se vem anuladas pela inver155 156
Cf. MA, IV, 699 b 17-20. V. p. 34.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
81
so do princpio aristotlico de que a razo se sobrepe (ainda que, idealmente, numa relao de sinergia) ao desejo. Desejamos a contingncia; a razo faz acompanhar o conhecimento do desvelamento de determinismos. A realidade no se compadece com o desejado, ainda que, paradoxalmente, esteja nele estruturada na sua totalidade.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
82
Ana Leonor Santos
II PARTE
II PARTE
O QUE PODERIA SER PELA LIBERDADE KANTIANA
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
83
3.1
Prolegmenos tica de Kant
Captulo I Prolegmenos tica de Kant
O conceito de liberdade (...) constitui a pedra angular de todo o edifcio de um sistema da razo pura, mesmo da razo especulativa (...); esta ideia revela-se mediante a lei moral.157
3.1.1
9. A tica na arquitectnica
9. A tica na arquitectnica
A sistematizao a que Immanuel Kant votou o seu pensamento espelhase na clssica diviso dual da respectiva obra, diviso que tende a esquecer o anncio logo nos textos pr-crticos de algumas das concepes loscas kantianas mais importantes, bem como a menosprezar
157
KPV, A 4, 5 (trad. Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1997, p. 12).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
84
Ana Leonor Santos
o papel da tica no conjunto da sua actividade losca, subvertendo, dessa forma, a estrutura da mesma sistematizao. Se atentarmos ao conjunto da trs Crticas e integralidade que o caracteriza, h que situar o ponto de fuga do mesmo na existncia de um abismo entre o mundo da Natureza e a esfera da Liberdade, problemtica que a Crtica da Razo Pura anuncia e tenta resolver, que a Crtica da Razo Prtica (precedida da Fundamentao da Metafsica dos Costumes) prolonga e, na nossa perspectiva agudiza, e que na Crtica da Faculdade do Juzo se julga solucionada. Ora, tal problemtica, repousando, embora, no domnio da teoria do conhecimento, porquanto implica um exame daquilo que a razo pode com legitimidade pretender conhecer, importa de forma absolutamente decisiva losoa prtica, pois nela se joga a realidade ou irrealidade da liberdade, ou seja, a fundao do edifcio moral. O primeiro texto publicado no qual Kant se prope expressamente reectir sobre questes morais data de 1762, tendo sido publicado dois anos mais tarde. Trata-se de um ensaio intitulado Investigao sobre a evidncia dos princpios da Teologia Natural e da Moral, escrito no mbito de um concurso da responsabilidade da Real Academia das Cincias de Berlim, no qual era proposto como tema saber se estaria ao alcance da metafsica, particularmente da teologia natural e da moral, atingir o mesmo grau de evidncia das verdades matemticas. Apesar do tema e do ttulo do ensaio, apenas as ltimas pginas abordam directamente a problemtica moral; contudo, encontramos nesse reduzido nmero de pginas o germe da concepo moral kantiana mais tardia e a associao da resoluo de problemas epistemolgicos a questes morais, associao que havia de permanecer. A noo de obrigao, que d incio, no texto em causa, s consideraes acerca dos primeiros princpios da moral conceito, alis, determinante no conjunto da moral kantiana apresentada como elemento fundador dos primeiros princpios: [...] quero mostrar apenas a que ponto o prprio conceito primitivo de obrigao ainda pouco conhecido e como por isso estamos ainda longe de estabelecer, na -
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
85
losoa prtica, a distino e a segurana necessrias evidncia dos conceitos fundamentais e dos princpios.158 A apresentao subsequente do conceito de dever, surgida na frmula da qual se diz expressar toda a obrigao, conduz passagem porventura mais profcua de todo o ensaio, no que moral diz respeito, na medida em que (i) apresenta em simultneo o dever como uma necessidade de aco e a distino, ainda que sem essa designao, entre imperativos hipotticos e categricos; (ii) retira a felicidade do ncleo da moral (tal como est posta nas ticas teleolgicas); (iii) e conclui a indemonstrabilidade da regra suprema da obrigao: Todo o dever enuncia uma necessidade de aco e susceptvel de uma dupla signicao. Ou devo fazer qualquer coisa (como um meio) se quero outra coisa (como um m), ou devo fazer imediatamente outra coisa (como m) e realiz-la. Poderemos chamar necessidade dos meios primeira necessidade e necessidade dos ns segunda. A primeira espcie de necessidade no designa qualquer obrigao, mas apenas a regra para a soluo de um problema, ou seja, os meios que devo utilizar para atingir um certo m. Aquele que prescreve a outro as aces que ele deve realizar ou de que se deve abster se quer favorecer a sua felicidade, poderia apelar a todas as lies de moral, mas no se trataria j de obrigaes [...]. Por outras palavras, poderamos dizer que no se trata de modo nenhum de obrigaes, mas apenas de orientaes para um procedimento correcto quando pretendo atingir um m. Ora, como a utilizao dos meios s implica a necessidade que diz respeito ao m, todas as aces prescritas pela moral, sob a condio de certos ns, so contingentes e no podem ser chamadas obrigaes, tal como no podem ser subordinadas a um m necessrio em si. Eu devo, por exemplo, contribuir para a maior perfeio na sua totalidade ou devo agir de acordo com a vontade de Deus. Qualquer uma destas proposies, qual estaria subordinada toda a losoa prtica, para ser a regra e o fundamento de uma obrigao, deveria ordenar a aco como imediatamente necessria e no sob a condio de um certo
158
UTM, trad. Alberto Reis in Textos Pr-crticos, Porto, Rs, 1983, p. 154.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
86
Ana Leonor Santos
m. Descobrimos aqui que uma tal regra imediata e suprema de toda a obrigao deveria ser absolutamente indemonstrvel, na medida em que no possvel conhecer e concluir o que devemos fazer a partir do exame de qualquer coisa ou conceito, a menos que se trate de um m em si mesmo e a aco no seja um meio. E de facto deve s-lo, pois de outro modo no teramos uma frmula da obrigao, mas da habilidade problemtica.159 A concluso de Kant surge no seguimento da concepo epistemolgica que perpassa todo o ensaio, segundo a qual os principais conceitos dos diferentes saberes no so passveis de demonstrao, e desemboca na dvida acerca dos papis desempenhados pela faculdade de conhecer e pelo sentimento no domnio da moral. Sabemos que o poder que o Iluminismo atribuiu razo encontrou um contraponto na segunda metade do sculo XVIII em duas grandes tendncias ticas valorizadoras do sentimento moral a par de um sentido moral, e do estado de natureza do homem, o qual alberga muito mais do que a razo a saber, a losoa dos moralistas ingleses e o pensamento rousseauniano, respectivamente. O to frequentemente criticado formalismo kantiano poder de certa forma ser entendido no quadro iluminista como uma resposta a ambas as tendncias, embora seja de sublinhar a necessidade de notar algumas reservas na absolutizao do dito formalismo, tarefa que desenvolveremos mais adiante.160 De momento, importa recordar que a dvida quanto ao lugar do conhecimento e do sentimento a encerrar o primeiro ensaio kantiano sobre moral, dvida que se manter sob a forma da difcil relao entre princpios formais e a materialidade das aces. Saber aquilo que a razo pode conhecer independentemente da experincia , pois, absolutamente essencial no domnio moral como poderiam a necessidade do dever e a universalidade da lei moral resultar da materialidade das mximas? Desta forma, o projecto da Crtica da Razo Pura, ao querer determinar a extenso possvel do conhecimento puro, a priori, apresenta-se com uma utilidade negativa, a de nunca nos atrevermos a
159 160
UTM, trad. cit., pp. 154-155. V. pp. 119, 125-126, 133, 136, 164.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
87
ultrapassar com a razo especulativa os limites da experincia161 , que, apesar de primeira, constitui, segundo o prprio autor, motivo de incompreenso da obra se assumida isoladamente, porquanto representa a condio de possibilidade de uma utilidade positiva do texto, na medida em que anula um obstculo que restringe ou mesmo ameaa aniquilar o uso prtico da razo [...].162 Para que exista um domnio prtico no qual a razo pura tambm tenha aplicao necessrio salvaguardar a pressuposio da liberdade, o que acontece somente porque a Crtica estabelece a diferena entre as coisas como objecto da experincia, os fenmenos, e as mesmas coisas como coisas em si, distino que remete para outras duas noes essenciais no corpo do texto: o espao e o tempo, como formas da intuio sensvel, a ltima das quais se revelar decisiva na tentativa de resoluo da terceira antinomia, aquela que coloca em confronto a causalidade segundo as leis da natureza e a causalidade pela liberdade. A explicao relativamente extensa concedida relevncia da Crtica da Razo Pura no que ao domnio da losoa prtica diz respeito, constante do Prefcio da Segunda Edio, juntamente com aquela que consideramos dever ser a viso holstica da obra kantiana, fazem-nos acompanhar a considerao de Paul Arthur Schilpp de que uma compreenso mais adequada da primeira Crtica depende da sua realizao a partir da segunda, a qual, por sua vez, deve ser analisada tendo a mesma relao por referncia.163 As trs conhecidas interrogaes apresentadas por Kant na parte nal da Crtica da Razo Pura que posso saber?; que devo fazer?; que me permitido esperar? no so enunciadas aleatoriamente, mas tambm no espelham uma relevncia decrescente, nem to pouco uma investigao linear. Embora Kant a considere que a primeira questo simplesmente especulativa e a segunda simplesmente prtica, se161 KRV, B XXIV (trad. Manuela Santos e Alexandre Morujo, Lisboa, FCG, 19943 , p. 24). 162 KRV, B XXIV (trad. cit., p. 24). 163 Cf. SCHILPP, Paul Arthur, Kants Pre-Critical Ethics, second edition, Evanston, Northwestern University Press, 1938, 1960, pp. 120-121.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
88
Ana Leonor Santos
parando desta forma os dois domnios de investigao e reservando a sua interseco apenas para a terceira questo, conhecemos j o papel absolutamente determinante da resposta encontrada para a primeira interrogao no estudo desenvolvido em torno da segunda, pelo que uma vez mais se rearma a necessidade da interpenetrao analtica no estudo das duas primeiras Crticas, bem como o paralelismo acima referido entre questes epistemolgicas e morais. Simultaneamente, a losoa moral ganha um lugar na arquitectnica da razo, e um lugar de privilgio. Estando dado que a razo humana considera todos os conhecimentos como integrantes de um sistema possvel o mesmo dizer, admitindo a natureza arquitectnica da nossa razo , prev-se a existncia de um edifcio de conhecimentos completo, fechado, cuja construo s possvel graas ao domnio pragmtico, garante da liberdade, fundamento necessrio solidez da construo e ao acabamento da mesma. , portanto, a losoa moral que sustenta a arquitectnica da razo. moral est associada uma outra disciplina, que se prope responder a uma quarta e ltima questo, englobante das trs primeiras: que o Homem? No se sobrepondo em absoluto moral, a antropologia, enquanto cincia da regra de conduta efectiva dos homens, necessria primeira, no no seu formalismo, mas para a sua aplicao.164 Por outro lado, no Prefcio da Fundamentao da Metafsica dos Costumes a antropologia apresentada como parte integrante da tica, juntamente com a moral, correspondendo a primeira dimenso emprica da tica e a segunda sua parte racional. Tal diviso permitenos compreender a inteno de estabelecer uma Filosoa Moral pura, depurada, portanto, de tudo quanto seja emprico e pertena, nessa medida, antropologia, e, com isso, a imposio primeira de uma Metafsica dos Costumes, cujo objecto reside na ideia e nos princpios de uma possvel vontade pura, e que integra, por sua vez, quer os princpios metafsicos da doutrina do direito, quer os princpios metafsicos da doutrina da virtude, cujos respectivos deveres se diferenciam pela
164
Cf. GMS, BA 35.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
89
exterioridade da coero que os mesmos constituem no primeiro caso e pela coero pelo prprio agente no segundo, donde resulta que o homem possa ser dito livre, no apesar do constrangimento representado pelo dever tico, mas precisamente na medida em que a determinao interna da vontade o dito dever, que o homem institui e ao qual adere, ultrapassando a sua dimenso natural. assim que o conhecimento sistemtico do homem pode abordar uma perspectiva meramente siolgica, explorando aquilo que a natureza faz do homem, ou um ponto de vista pragmtico, investigando aquilo que o homem enquanto ser livre faz ou pode e deve fazer de si mesmo.165 Paralelamente, a pedagogia ou teoria da educao pode ser quer fsica, e esta partilhada com os animais na medida em que diz respeito ao corpo, quer prtica, ou seja, respeitante liberdade e personalidade.166 A teoria da educao prtica revela ainda uma relao de reciprocidade com a esttica, relao que em parte colmata o formalismo moral, porquanto, se o gosto ideal comporta uma tendncia para a promoo exterior da moralidade167 , por sua vez o desenvolvimento de ideias morais e a cultura do sentimento moral so a verdadeira propedutica para a fundao do gosto.168 Donde que o belo possa ser apresentado como smbolo do moralmente bom e o sublime remeta para aquilo que no homem no se limita natureza, pois uma das suas denies possveis diz-nos que sublime o que somente pelo facto de poder tambm pens-lo prova uma faculdade de nimo que ultrapassa todo o padro de medida dos sentidos.169 no mesmo contexto que o gosto por Kant associado a uma faculdade de juzo que, embora sensvel, se aplica a escolher no apenas subjecCf. AP, BA, 4. Cf. UP, A, 35. 167 Also hat der ideale Geschmack eine Tendenz zur u eren Befrderung der Moralitt. AP, 66, BA, 191 in Werke, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1798/1800, 1983, vol. VI, p. 570. 168 KU, 60, 264 (trad. Antnio Marques e Valrio Rohden, Lisboa, IN-CM, 1992, p. 266). 169 Ibid., 25, 85 (trad. cit., p. 145).
166 165
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
90
Ana Leonor Santos
tivamente, segundo a impresso dos sentidos, mas tendo tambm em ateno uma certa regra que se quer universal. Pelo exposto, cremo-nos autorizados a armar que a esttica, a pedagogia, a antropologia, a metafsica e at a epistemologia encontram na tica um pilar central, elemento unicador da viso holstica que acima propnhamos, onde a excepo tem o nome de religio. verdade que a existncia de Deus ser apresentada como um postulado da razo pura prtica; deixaremos a explanao dos pressupostos e das implicaes envolvidos neste postulado para mais adiante.170 Contudo, a moral, enquanto losoa prtica pura da legislao interior, abarca apenas as relaes interpessoais; a possvel relao homem Deus ultrapassa por completo o mbito daquela como da tica, que estabelece os deveres do homem para consigo mesmo e para com os outros. Tratase, porventura, de mais uma forma de garantir o cumprimento do dever tico, o mesmo dizer, assegurar que o respeito pela lei moral o nico mbil envolvido na aco (e no uma qualquer forma de expectativa de recompensa divina e receio de punio pela mesma instncia). Deste modo, Kant julga salvaguardar a liberdade e com ela a tica. Salvaguardando ambas, toda a arquitectnica da razo pura permanecer inclume.
3.1.2
10. O lugar do sentimento ou imperativos e liberdade
10. O lugar do sentimento ou imperativos e liberdade
Se a losoa prtica deve ser entendida como pilar sustentador da arquitectnica da razo, como julgamos ter cado estabelecido, o conceito de liberdade armado explicitamente como pedra angular de todo o edifcio de um sistema da razo pura.171 Aproximamo-nos
170 171
V. p. 177. KPV, A 4 (trad. cit., p. 12).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
91
dele atravs da lei moral, ratio cognoscendi da liberdade, o que signica que aquela a condio pela qual nos tornamos conscientes da liberdade; esta, por sua vez, condio da prpria lei moral, a sua razo de ser e a razo da sua inteligibilidade, na medida em que o conhecimento de algo depende da sua razo de ser. A liberdade , pois, a ratio essendi da lei moral. A lei moral, como todas as leis, possui a universalidade como rasgo caracterstico. Est em estreita relao com a vontade, porquanto aquilo que determina a moralidade de uma aco concerne o princpio do querer subjacente mesma aco. E tal princpio do querer no pode ser outro seno a prpria lei e o respeito que lhe devido. Donde a denio de dever como necessidade de uma aco por respeito lei.172 A lei o princpio objectivo da vontade, enquanto a mxima que ordena obedincia lei representando, portanto, o respeito pela mesma o princpio subjectivo, dimenso cuja relevncia se torna particularmente perceptvel se atentarmos existncia de deveres no especicamente morais, abarcados sob a concepo genrica de dever como a aco a que algum est obrigado.173 Ora, a obrigao em causa pode provir de uma legislao exterior, caso em que no estamos perante deveres de virtude, mas sim jurdicos, distino que sustenta a diferenciao entre moralidade e legalidade ou aces por dever (aus Picht) e em conformidade com o dever (pichtmssig). No h, contudo, uma correspondncia directa e absoluta entre o direito e a legalidade, por um lado, e a tica e as aces por dever, por outro, j que em qualquer domnio as aces podem ser praticadas por dever e em conformidade com ele ou em conformidade com o dever, mas no por ele.174 O exemplo kantiano do merceeiro cujos clientes
GMS, BA 14 (trad. Paulo Quintela, Lisboa, Edies 70, 1995, p. 31). Ao falar de respeito, Kant refere-se determinao imediata da vontade pela lei e conscincia da mesma, no se confundindo nem com o medo, nem com a inclinao sensvel. 173 MS-I, trad. Artur Moro, Lisboa, Ed. 70, 2004, p. 27. 174 Uma das diferenas fundamentais entre os deveres ticos e os deveres jurdicos situa-se ao nvel da latitude deixada execuo das aces, sendo que os primeiros so de obrigao larga e os segundos de obrigao estrita, ou seja, no primeiro
172
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
92
Ana Leonor Santos
so atendidos honradamente, no por dever e princpios de honradez, mas somente com inteno egosta175 , elucidativo da possvel no coincidncia da prtica de uma aco de acordo com a lei e o respeito pela mesma. Por isso, em sentido prprio uma aco s moral se realizada por dever, o que implica que o seu nico mbil ou motivo seja a prpria lei. tambm o dever que, sendo um princpio determinante da razo, funda a espontaneidade num ser que cria para as suas aces uma ordem prpria, independente da ordem natural, tornando-se causa das mesmas.176 Enquanto produto da razo, a lei moral, gura da regra prtica, seria sempre observada por um ser cujo princpio determinante do querer fosse apenas a prpria razo. No o caso do homem. Sujeito a inclinaes, tendncias e disposies naturais, a regra prtica para ele um imperativo, ou seja, uma regra que designada por um dever (Sollen), que exprime uma obrigao (Ntigung) objectiva da aco, e signica que, se a razo determinasse inteiramente a vontade, a aco dar-se-ia inevitavelmente segundo esta regra.177 A vontade humana, diferentemente da vontade divina, v-se coagida pelo interesse, o qual, simultaneamente, nos diferencia dos seres irracionais: na vontade dicaso a lei no indica com preciso nem o que deve ser realizado como m nem como o m, que simultaneamente um dever, deve ser realizado; no ordena aces, mas mximas regentes das mesmas, particularidade que assumir a designao de formalismo. Por outro lado, o dever de virtude recai sobre a matria das mximas, isto , sobre um m que ao mesmo tempo dever, caracterstica a que acresce que tal dever representa uma coero resultante de uma legislao interna, ao passo que os deveres jurdicos envolvem uma legislao externa. Situa-se neste aspecto a diferena que permitir a armao da sinonmia entre dever e autonomia. Menos importante, embora igualmente digno de nota, o facto de o princpio supremo do direito ser apresentado como proposio analtica, enquanto o princpio da doutrina da virtude considerado sinttico, precisamente porque neste caso o conceito de liberdade externa, o nico necessrio para a doutrina do direito, ultrapassado, em direco ao conceito de m simultaneamente entendido como dever. Cf. MS-II, VII-XI (trad. Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 2004, pp. 25-33). 175 GMS, BA 9 (trad. cit., p. 27). 176 Cf. KRV, B 576, A 548. 177 KPV, A 36 (trad. cit., p. 30).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
93
vina, bem como em qualquer vontade santa, h uma coincidncia entre o querer e a lei, regida pela gide da necessidade; a vontade humana, ao contrrio, contingentemente determinvel e o interesse o nome dado dependncia de uma tal vontade face aos princpios da razo; no caso do homem, a necessidade experimentada a outro nvel na dependncia da faculdade de desejar face s sensaes, a que Kant d o nome de inclinao, parente prximo dos impulsos sensveis prprios das criaturas irracionais, nas quais o interesse jamais tem lugar, tendo em conta que este tambm aquilo por que a razo se torna prtica, isto , se torna causa determinante da vontade.178 Esta dupla dimenso do interesse, que ao mesmo tempo que nos afasta do divino nos aproxima da santidade, por permitir a coincidncia entre o querer e a lei, obriga a uma distino entre agir por interesse e tomar interesse por alguma coisa: o primeiro um interesse no objecto da aco, adjectivado por Kant de patolgico179 ; no segundo caso, o interesse recai sobre a aco, o que est de acordo com o estabelecido para que a mesma possa ser dita moral. Desta forma, quando Kant arma que a lei moral em ns (...) exige de ns um respeito desinteressado180 , o desinteresse que est em causa remete necessariamente para uma inclinao no-sensvel (propensio intellectualis)181 , pois uma lei moral fundada nos prazeres prticos subjectivos uma ideia contraditria, porquanto a ateno aos ltimos impossibilita a universalidade constitutiva da primeira. Contudo, e ao mesmo tempo que se arma o carcter imprescindvel do desinteresse na formao e no respeito pela lei moral, expe-se um profundo e inexplicvel interesse na prpria lei, na universalidade da mxima que possibilita a lei e, portanto, na moralidade. E ainda que desse interesse se diga ser puro, v-se nele imiscudo um sentimento
GMS, BA 122 (n. trad. cit., p. 112). Ibid., BA 39 (n. trad. cit., p 49). 180 KPV, A 266 (trad. cit., p. 167). 181 Nela pode estar envolvido um prazer contemplativo, cujo respectivo sentimento tem o nome de gosto, o que nos remete para a relao anteriormente estabelecida entre a moral e o gosto.
179 178
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
94
Ana Leonor Santos
que d pelo nome de sentimento moral, que envolve prazer e que encontra nesse prazer ou satisfao no cumprimento do dever uma condio necessria para que a vontade queira a lei moral. Condio necessria, porm no causa do cumprimento do dever, caso em que a aco se veria destituda de moralidade.182 Da que permanea impossvel explicar o interesse na moralidade, o que equivaleria a dar conta da forma como a razo pode determinar a sensibilidade ou como simples ideias podem ser causa de efeitos na ordem da experincia ou, ainda, como uma razo pura possa ser prtica tarefa fora do alcance das capacidades humanas e, por isso, condenada inutilidade.183 Encontramo-nos no cerne da questo maior da moral kantiana, que parece permanecer sem resposta. Ainda assim, a concesso aqui assumida acerca da inalienabilidade do sentimento na vida moral deveria por si s bastar para a reviso de certas interpretaes do formalismo kantiano, acusadoras de falta de ateno realidade humana e que se vem, pois, desautorizadas.184 De que forma devemos, ento, entender o formalismo que, de facto, caracteriza a losoa moral kantiana v-lo-emos mais adiante.185 De momento, e para que a supracitada referncia ao sentimento moral no parea um momento isolado no conjunto dos textos que abordam a temtica em causa, entendemos necessrio determo-nos em algumas das mais importantes consideraes que o lsofo tece a este respeito. Logo no Prefcio da Fundamentao da Metafsica dos Costumes, e seguindo a distino j por ns evidenciada entre aces conformes ao dever e aces por dever, Kant remete para o respeito pela
182 Cabe, embora, ao dever cultivar o sentimento moral, relativamente ao qual no podemos dizer que haja seres humanos absolutamente desprovidos, pois algum sem receptividade ao prazer e dor subsequentes conscincia do acordo ou do conito entre a aco praticada e a lei moral estaria moralmente morto. 183 Cf. GMS, A 124-125. 184 Esta mesma reviso da clssica interpretao do formalismo kantiano leva Paul Arthur Schilpp a considerar que Kant segue os seus tutores ingleses e franceses no reconhecimento da importncia do sentimento na vida moral. Cf. SCHILPP, op. cit., pp. 60-61. 185 V pp. 133, 136, 164.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
95
lei moral como garante da moralidade. Enquanto sentimento moral, o respeito tem a particularidade de ser produzido apenas pela razo, nisso se distinguindo dos ditos sentimentos patolgicos186 ; mas, no obstante a sua origem, h nele uma certa prevalncia face aos juzos morais (produto igualmente da razo), cujo surgimento no ser humano mais tardio. Ainda na fase pr-crtica, por entre algumas notas dos escritos de 1764-1765, encontramos uma passagem que aproxima Kant de Aristteles: O ser humano simples tem desde muito cedo um sentimento sobre o que correcto, mas adquire um conceito deste s muito mais tarde ou nem sequer chega a adquiri-lo. Este sentimento deve desenvolver-se muito mais cedo do que o conceito. Se ensinamos primeiro o conceito, segundo regras, nunca ter o sentimento. Depois de as inclinaes se terem desenvolvido [numa certa direco], difcil conceber o bem ou o mal de outras formas.187 Na Poltica Aristteles atribura precedncia educao do corpo relativamente mente, no seguimento do que a educao deveria ter por base mais o hbito do que a inteligncia, sob o pressuposto de que as crianas so dotadas de nimo, apetite e vontade, ao passo que a razo e a inteligncia s se manifestam mais tardiamente. Dessa forma, em vista da alma deve cuidar-se do corpo, como em vista da razo se deve cuidar do desejo, especialmente porque preferimos sempre aquilo com que contactmos em primeiro lugar.188 Um outro ponto de convergncia com a tica aristotlica situase na considerao de factores como o sexo, a idade, a educao, o
Cf. KPV, A 135. HARTENSTEIN (ed.), Kants Smmtliche Werke, vol. VIII, p. 616, cit. in SCHILPP, op. cit., p. 65: The simple human being very early has a feeling for what is right, but gets a concept of it only very late or not at all. That feeling must be developed much earlier than the concept. If you teach the concept earlier according to rules, he will never have a feeling for it. After the inclinations have developed [in a certain direction] it is difcult to conceive of good or evil in other ways. 188 V. pp. 91, 97.
187 186
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
96
Ana Leonor Santos
governo, as raas e o clima, naquilo que Kant chama os diversos sentimentos de moralidade, prprios dos homens e aplicveis aos princpios da metafsica moral. Do conjunto dos factores referidos, a educao assume particular relevncia, num paralelismo perfeito com a forma como Aristteles considera que feita a aquisio das virtudes. Na concepo de que o homem a nica criatura que deve ser educada e que se torna aquilo que deve ser apenas pela educao, evidencia-se o poder determinante de um elemento que encontra na disciplina instncia negativa da educao, porquanto retira o homem do estdio de animalidade, submetendo-o s leis da humanidade e na instruo instncia positiva da educao, responsvel pelo alcance da humanidade em cada homem a possibilidade de transformar um ser amoral, nem bom nem mau por natureza, embora possua uma inclinao para os vcios, num ser moralmente bom, pela prtica da virtude, que deve ser aqui entendida como constrangimento que o homem exerce sobre si mesmo, oriundo de uma razo regida pelo dever e pela lei.189 Para que o intento em questo seja realizado com sucesso, Kant prope uma educao desenrolada em quatro momentos a que correspondem quatro nalidades: disciplinar, com o intuito j referido de abafar a natureza selvagem do homem; cultivar, pela regra e pelo exemplo, por forma a desenvolver a habilidade, capacidade necessria na prossecuo dos ns; tornar o homem civilizado, atravs do ensinamento de uma forma particular de cultura na qual a prudncia ocupa um lugar nuclear; por m, o momento e a nalidade considerados mais importantes, a moralizao, necessria como garantia da escolha de ns adequados. O segundo e o ltimo momentos encontram-se em estreita ligao, mormente no se dever estimular a habilidade para todos
Cf. UP, A 1-9; 128. A concepo antropolgica revelada nos escritos sobre pedagogia bastante mais optimista do que a viso do homem como sendo feito de um lenho to retorcido [que dele] nada de inteiramente direito se pode fazer (IAG, A 397, in A Paz Perptua e outros opsculos, trad. Artur Moro, Lisboa, Ed. 70, 1995, p. 29) e at contraditria com a concepo de uma natureza humana malca presente em EF.
189
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
97
os tipos de m, mas somente para os bons ns. Por isso, cultivar implica permitir um certo recurso reexo e liberdade, e j no apenas uma obedincia passiva, caracterstica da disciplina, onde o constrangimento meramente mecnico, por oposio ao constrangimento moral utilizado no segundo perodo pedaggico.190 Com isto, surge formulado em termos pedaggicos o problema da relao entre obrigao e liberdade: como aliar a submisso ao constrangimento da regra com a liberdade? Porque a nalidade geral da educao, no o esqueamos, a formao de homens livres, o mesmo dizer, morais, pelo que a educao fsica mais no do que uma propedutica para a educao prtica. Formar um bom carcter eis a tarefa da moralidade, o que, uma vez mais nos remete para a primeira parte do nosso trabalho. E, tal como em Aristteles, a classicao do carcter est dependente da relao mantida com os prazeres dos sentidos ou, em linguagem kantiana, com as inclinaes sensveis e a sua transformao ou no em paixes, dado que as qualidades do temperamento, enquanto dons naturais, podem ser desejveis ou prejudiciais, devendo, por isso, submeter-se vontade boa. Por referncia ao temperamento e vontade boa, Kant diferencia o carcter fsico do carcter moral, considerando o valor do carcter moralmente mais elevado quando o bem feito, no por inclinao ou predisposio natural, mas sim por dever. Embora responsveis pelo afastamento da conduta moral, as paixes so aquilo a que Aristteles chamaria um prprio da espcie humana, na medida em que as mesmas se denem por relao razo, da qual as restantes espcies animais esto destitudas. Ao suporem uma mxima que ordena a aco segundo um m prescrito pelas inclinaes, as paixes entram em coliso com a razo e o princpio da liberdade. A diferena fundamental entre aquelas e as aces praticadas por dever situa-se ao nvel do m pressuposto na mxima da aco, que dado pela inclinao no primeiro caso e objecto de reexo, no
190
Cf. UP, A 22-23.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
98
Ana Leonor Santos
sentido de saber que m deve ser assumido, no segundo.191 A luta da razo contra as paixes dirige-se quelas que resultam da inclinao natural ou inata do homem, bem como s que so produto de inclinaes nascidas da cultura, sendo, nessa medida, inclinaes adquiridas. Curioso que Kant identique uma inclinao para a liberdade que, juntamente com a inclinao sexual, constitui o conjunto das paixes derivadas das inclinaes inatas. A par delas, as observaes anotadas sobre a paixo pela honra, pelo domnio e pela posse conduzem-nos directamente ao imperativo categrico e reenviam-nos para as noes de respeito e sentimento moral. A premissa do raciocnio em causa o facto de apenas determinados objectos satisfazerem as nossas inclinaes, objectos cujo alcance s possvel no contexto das sociedades, palco de confronto entre inclinaes e regras para a satisfao das mesmas. Donde o interesse no domnio dos outros, entendido como o meio mais ecaz de assegurar o alcance dos objectos correspondentes s inclinaes e, principalmente, de evitar a subjugao em relao a outrem. A mxima : dominar antes de ser dominado.192 Ora, como observa Kant, este comportamento mais no revela do que um uso dos outros como meio em prol de intenes pessoais, que o contrrio daquilo a que obriga o imperativo e inclusivamente impossibilitador do mesmo por inviabilizar a universalidade da mxima subjacente. Para mais, sendo o imperativo denido como a regra que me diz que aco, de entre as possveis, seria boa193 , tal mxima no poderia ascender a lei, o que ainda reforado se tivermos em ateno que o praticamente bom exclui a subjectividade como elemento determinante da vontade para dar lugar a representaes da razo, objectivas porque vlidas para todo
Cf. AP, 77-79, B 226-232, A 227-233. Esta espcie de disfuno social pode, em parte, ser explicada por uma certa disposio da natureza humana para o que Kant chama sociabilidade insocivel e que dene como a tendncia dos homens para entrarem em sociedade, unida a uma resistncia universal que ameaa constantemente a dissoluo da mesma. Cf. IAG, A 392. 193 Cf. GMS, BA 40.
192 191
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
99
o ser racional. A esta observao devemos apenas acrescentar o carcter obrigante para a vontade (que no santa) da representao dos princpios objectivos para denirmos o conceito de mandamento, cuja frmula tem, ento, o nome de imperativo. Como se depreende da designao escolhida, os imperativos ordenam, e atravs dessa obrigatoriedade instituda encerram uma necessidade que se expressa pelo verbo dever. Consoante a necessidade seja respeitante a uma aco possvel como meio de alcanar uma outra coisa ou seja objectivamente necessria por si mesma, sem relao com outra nalidade, assim estamos na presena de imperativos hipotticos ou do imperativo categrico. Os primeiros condicionam a aco a uma inteno ou possvel caso em que o princpio problemtico ou real situao em que o princpio dito assertrico-prtico. O imperativo categrico um princpio apodctico (prtico), porquanto a aco por ele implicada independente de qualquer inteno, sendo, portanto, objectivamente necessria. esta a condio imperiosa para que a universalidade requerida pelo imperativo da moralidade seja observada e se possa falar de uma lei prtica, a qual ordena simplesmente: Age apenas segundo uma mxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.194 imediatamente perceptvel que esta lei fundamental da moralidade uma lei formal, mas a discrepncia no que respeita ao signicado a atribuir a esta evidncia est na origem de diferentes interpretaes do mal compreendido formalismo kantiano.
GMS, BA 52 (trad. cit., p. 59). As diferentes formulaes que o imperativo categrico assume ao longo do texto acentuam sistematicamente a componente da universalidade: Age como se a mxima da tua aco se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza (id.); Age sempre segundo aquela mxima cuja universalidade como lei possas querer ao mesmo tempo (BA 81, trad. cit., p. 80); Age segundo mximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por objecto como leis universais da natureza. Ibid., trad. cit., p. 81. Na KPV a formulao bastante semelhante: Age de tal modo que a mxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princpio de uma legislao universal. A 54, trad. cit., p. 42. E na MS-I mantm-se a centralidade do aspecto universal: age segundo uma mxima que possa valer ao mesmo tempo como lei universal. IV, trad. cit., p. 31.
194
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
100
Ana Leonor Santos
Segundo a nossa perspectiva, e neste aspecto seguimos a interpretao heideggeriana, a oposio formal/material no deve ser entendida com base no sentido vulgar dos termos, caso em que teramos de conceder que o formal implica ausncia de matria e, dessa forma, o vazio. No imperativo moral, certo, no encontramos valores que constituam uma possvel materialidade tica; contudo, nem por isso pode ser adjectivado de vazio. Se atentarmos ao signicado original de forma (eidos) tona-se claro que o formal da lei no o vazio indeterminado, mas sim o que nela constitui o elemento decisivo, a determinao.195 Ao fazer da simples forma da lei a condio suprema de todas as mximas, Kant apresenta a mesma lei como princpio determinante da vontade. Por outro lado, h um aspecto problemtico na interpretao do imperativo categrico relacionado com o querer que nele est pressuposto, o qual ainda, e necessariamente, pr-moral, na medida em que a determinao pelo imperativo categrico que faz do querer um querer moral.196 Logo, a mxima que se pensa a si mesma antes de poder ser erigida como lei leva para o seio do imperativo categrico uma dimenso emprica que pode fazer perigar a fundamentao a priori desejada por Kant, apelidada de fundamentao ctcia por Tugendhat, para quem a verdadeira base do imperativo categrico pode ser compreendida numa aproximao ao contratualismo.197 De uma forma simplicada, mas suciente para a compreenso do paralelismo apresentado, podemos dizer que o contratualismo consiste em aceitar e manter determinadas regras que desejamos ver respeitadas pelos outros e com a nalidade de que por eles sejam mantidas. Dito isto, Tugendhat aproxima a moral kantiana das regras contratualistas em termos de contedo, reconhecendo, embora, a divergncia
Cf. HEIDEGGER, Martin, Vom Wesen der Menschlichen; Einleitung in die Philosophie. De lessence de la libert humaine. Introduction la philosophie, trad. Emmanuel Martineau, Paris, ditions Gallimard, 1930, 1987, p. 259. 196 Cf. TUGENDHAT, Ernst, Vorlesungen ber Ethik. Lecciones de tica, trad. Luis Rabanaque, Barcelona, Editorial Gedisa, 1993, 2001, p. 131 197 Ibid., p. 132.
195
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
101
quanto ao princpio subjacente a cada uma das teorias, meramente instrumental no ltimo caso, puro e observante da simples bondade, no primeiro. No entanto, a verdade que a primeira formulao do imperativo categrico, tomada por si s, no invalida a considerao de uma concepo instrumental como seu fundamento198 , e talvez por esse facto surja uma segunda formulao, essa sim, imediatamente diferenciadora dos pressupostos contratualistas: Age de tal maneira a que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como m e nunca simplesmente como meio.199 Permanece para ns, contudo, incompreensvel a utilizao da expresso sempre e simultaneamente como m e nunca simplesmente como meio, j que parece autorizar uma viso instrumentalista do outro, ainda que no estritamente. certo que tal impresso se desvanece na especicao dos termos do imperativo prtico, mas no desaparece a estranheza pela forma escolhida por Kant para apresentar a dignidade da pessoa e o respeito que lhe devido. O fundamento do imperativo prtico reside na proposio: a natureza racional existe como m em si200 , o que no pode deixar de causar algum embarao considerao de que o valor moral de uma aco no pode ser avaliado por relao ao m que com ela se pretenda alcanar, residindo, antes, no princpio formal que lhe subjacente. Kant assegura-se de que ambas as armaes no se incompatibilizam apelando a um m que, sendo dado apenas pela razo, garante o formalismo do imperativo prtico, na justa medida em que neste se vem abstrados todos os ns subjectivos (cuja observncia faria da lei moE na nossa acepo este problema no se v dissolvido se considerarmos, como devemos faz-lo, que o sujeito em causa na formulao do imperativo categrico no o eu particular e sim um eu que remete para qualquer pessoa, como observa Tugendhat (cf. op. cit., p. 80). Alis, o terceiro princpio prtico da vontade disso esclarecedor ao apresentar a ideia da vontade de todo o ser racional concebida como vontade legisladora universal. GMS, BA 70, trad. cit., p. 72. 199 GMS, BA 66-67 (trad. cit., p. 69). 200 Id.
198
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
102
Ana Leonor Santos
ral um imperativo material), os quais assentam no mbil (Triebfeder) da aco, noo que Kant diferencia do motivo (Bewegungsgrund), enquanto princpio objectivo do querer201 , ao passo que o primeiro constitui o princpio subjectivo do desejar. O referido m que dado s pela razo, e por isso objectivo e vlido para todos os seres racionais, aquilo cuja existncia em si mesma um m, no podendo, por isso, ser utilizado como simples meio, e isso corresponde natureza racional de uma forma geral e ao homem em particular. a partir daqui que surge a popular distino entre coisas e pessoas, as primeiras possuidoras de um valor relativo como meios e as segundas detentoras de um valor absoluto202 , com uma dignidade que surge a par da liberdade que lhe caracterstica. Por isso, so seres de imputabilidade, ao contrrio das coisas, que no so susceptveis de imputao, sendo a carncia de liberdade que est na origem da sua condio de coisas e da ausncia da dignidade reconhecida pessoa, bem como do respeito que s a esta devido.203 A dignidade indica o estatuto particular da pessoa, enquanto ser racional e autnomo, capaz de pensar o dever. Mas no deve ser entendida segundo a estaticidade de um estatuto adquirido e sim como
GMS, BA 63. Sendo especicamente humanos, os motivos so, contudo, muitas vezes ultrapassados pelas inclinaes quando se trata do mbil de uma aco. 202 Considerao que alguns intrpretes fazem derivar de Rousseau, enquanto outros atribuem educao pietista de Kant. Cf. SCHILPP, op. cit., p. 49. 203 A distino em causa nem sempre permanece estanque, como, alis, seria de prever pela j por ns notada formulao do imperativo prtico que ordena a no utilizao das pessoas como simples meios. O conceito de direito pessoal de carcter real, apresentado nos Princpios Metafsicos da Doutrina do Direito, que integram a primeira parte da MS, abre espao para uma relao de posse com a pessoa, que est, neste caso, simultaneamente na condio de coisa. Denido como o direito do homem de ter uma pessoa exterior a si como o seu (Apndice, 2, trad. cit., p. 175), o direito pessoal de carcter real aplica-se, por exemplo, relao jurdica entre os cnjuges, bem como relao parental, e embora no institua a possibilidade de possuir a pessoa de outrem o que seria de todo impossvel , mas sim o usufruto da mesma, no deixa de implicar o uso da pessoa como um meio para um determinado m, como se de uma coisa se tratasse.
201
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
103
uma condio que se deseja estvel, aqui intervindo uma vez mais o sentimento moral, que pode ser entendido, neste contexto, como o sentimento da prpria dignidade, cuja perpetuao representa o interesse puro que Kant admite no seio da moralidade. Esse interesse, como bem observa Jos Luis Villacaas, no apenas uma ideia, mas tambm um sentimento, conjugao que permite liberdade produzir efeitos sobre a nossa sensibilidade.204 A dignidade repousa, ainda, na situao de um ser que s obedece lei que ele mesmo se d, donde a sua condio de sujeito da lei moral, que sendo santa (inviolvel) em si, transforma a humanidade em algo que deve ser para ns sagrado, na pessoa de qualquer um205 ; a autonomia [propriedade da vontade graas qual ela d a si mesma a sua lei] pois o fundamento da dignidade humana e de toda a natureza racional.206 Aqui est a origem do problema: enquanto homem phaenomenon o ser humano no pertence a uma espcie com mais valor do que qualquer outra, sendo apenas como sujeito de uma razo prtica, moral, que ele se constitui enquanto pessoa, o mesmo dizer, um ser merecedor de respeito207 ; como se a determinao da vontade pelos objectos, ou mesmo a simples inuncia destes sobre a primeira, a que
VILLACAAS, Jos, Kant in CAMPS, Victoria (ed.), Historia de la tica, Barcelona, Crtica, 1999, vol. 2: La tica moderna, p. 347. 205 Cf. KPV, A 155-6 e 237. 206 GMS, BA 79 (trad. cit., p. 79). 207 Kant armar a existncia de uma teleologia na Natureza, no que ao ser humano diz respeito, que visa conduzir a nossa espcie at ao nvel mximo de moralidade, partindo da nossa condio inferior de animalidade (cf. IAG, trad. cit., p. 31), percurso apoiado na razo, que nos diferencia das restantes espcies animais, cuja existncia est reduzida a um valor de meio. Cf. UTP in Oeuvres Philosophiques II, trad. Luc Ferry, Paris, Gallimard, 1985, p. 572. Esta concepo hoje, para muitos, inaceitvel, designadamente no que tica do ambiente diz respeito, ainda que apenas nas chamadas tendncias ecolgicas profundas, reconhecedoras do valor intrnseco da natureza e defensoras do igualitarismo biocntrico, em tudo diferente do valor instrumental da natureza maioritariamente veiculado e patente, por exemplo, no artigo 66o da Constituio da Repblica Portuguesa, referente ao ambiente e sua relao com a qualidade de vida.
204
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
104
Ana Leonor Santos
Kant chama heteronomia, destitusse a pessoa de toda a dignidade que, de contrrio, lhe atribuda. O raciocnio kantiano que se um objecto de desejo, o mesmo dizer a matria do querer, se imiscui na lei prtica como sua condio de possibilidade, o homem v-se dependente da lei natural e com isso levado a seguir o impulso ou inclinao.208 A independncia do homem quanto lei natural apresentada como liberdade em sentido negativo, e a legislao prpria da razo pura prtica como liberdade em sentido positivo. Ambos os sentidos implicam a concepo de uma causalidade pela liberdade que no pode deixar de ser pensada, no s como possvel, mas como necessria num ser racional. Simplesmente, o valor de verdade desta proposio no auferido por nenhum raciocnio e sim apresentado numa sucesso de momentos tticos que tentam iludir as questes mal resolvidas herdadas da Crtica da Razo Pura.
208
Cf. GMS, A 58-59.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
105
3.2
(No) Conhecer e Pensar a Liberdade
Captulo II (No) Conhecer e Pensar a Liberdade
Se os fenmenos so coisas em si, no possvel salvar a liberdade.209
209
KRV, B 564, A 536 (trad. cit., p. 465).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
106
Ana Leonor Santos
3.2.1
11. Da espontaneidade autonomia ou o fundamento transcendental da liberdade prtica
11. Da espontaneidade autonomia ou o fundamento transcendental da liberdade prtica
A efectividade da liberdade est demonstrada, segundo cr Kant, na anlise da teia conceptual levada a cabo no domnio prtico da razo, contexto no qual o conhecimento da lei moral nos conduz armao da realidade objectiva de um conceito at ento tomado apenas como no impensvel. Simplesmente, a realidade que ento se considera estar conferida liberdade, est-o na sua dimenso prtica e para um uso prtico, ao passo que o problema deixado pela Crtica da Razo Pura, situado no mbito de uma razo especulativa, concernia liberdade transcendental, ideia cosmolgica da absoluta espontaneidade. Por outro lado, quer no sentido prtico, quer no sentido transcendental, a liberdade remete sempre para a questo da causalidade, seja na sua elevao ao incondicionado, seja na assuno do sujeito moral enquanto causa das respectivas aces morais210 , segundo uma autonomia que imputada vontade aquando da sua determinao pela
Quando Kant se refere liberdade prtica remete especicamente para as aces morais, cuja determinao, respeitante ao domnio da praxis, no coincide em absoluto com o termo aco entendido no sentido mais geral. A aproximao kantiana entre handeln (agir no sentido mais geral) e wirken (agir no sentido fsico) implica que todo o fazer (produzir, agir cujo efeito uma obra) seja um agir, embora o inverso no seja verdadeiro, e que, por isso, tenhamos de distinguir fazer/agir de aco tica (diferenciao j encontrada em Aristteles, embora para o Estagirita nunca haja coincidncia entre fazer e agir). J na KU os princpios prticos de um ponto de vista moral sero diferenciados dos princpios prticos de um ponto de vista tcnico, possibilitando, dessa forma, a dissociao entre prtica e liberdade. Cf. KU, XIII.
210
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
107
razo. Mas as diferenciaes elaboradas em torno das duas acepes de liberdade acrescidas nem sempre bem demarcada distino entre os sentidos positivo e negativo da liberdade so bastante complexas e requerem um atento exerccio comparativo das duas primeiras Crticas. A primeira referncia deve ir para as denies constantes da Crtica da Razo Pura relativas liberdade transcendental e liberdade prtica: [...] entendo por liberdade, em sentido cosmolgico, a faculdade de iniciar por si um estado, cuja causalidade no esteja, por sua vez, subordinada, segundo a lei natural, a outra causa que a determine quanto ao tempo;211 [...] a liberdade no sentido prtico a independncia do arbtrio frente coaco dos impulsos da sensibilidade.212
Apresentados desta forma, os sentidos em causa parecem corresponder de forma perfeita liberdade positiva e liberdade negativa, respectivamente, na medida em que a primeira consiste em ser livre para, o que implica a possibilidade de determinar a partir de si a sua prpria aco, e a segunda em ser livre de (constrangimentos). Contudo, esta correspondncia no correcta, porquanto o sentido positivo da liberdade reservado por Kant para a dimenso prtica da razo213 , no contexto da qual se fala de autodeterminao e de autonomia: que outra coisa pode ser, pois, a liberdade da vontade seno autonomia, isto , a propriedade da vontade de ser lei para si mesma?214 Uma vontade livre , ento, sinnimo de autonomia, o que implica, por sua vez, independncia por relao sensibilidade. Portanto, e revelia do que armado explicitamente por Kant, h indiscutivelmente na liberdade
211 212 213 214
KRV, B 561, A 533 (trad. cit., p. 463). KRV, B 562, A 534 (trad. cit., p. 463). Cf. KPV, A 53 e 58-59. GMS, BA 98, (trad. cit., p. 94).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
108
Ana Leonor Santos
prtica uma co-presena dos sentidos positivo e negativo da liberdade, ambos dirigidos vontade. vontade que tambm ns temos de nos dirigir se pretendermos pensar a distino kantiana entre a liberdade prtica e a liberdade no sentido cosmolgico, uma vez que foi demonstrada a inadequao dos conceitos positivo e negativo da liberdade para tal efeito. A faculdade de dar incio por si mesmo a um estado, que dene a liberdade transcendental, diz-se tambm espontaneidade absoluta. Nela, do que se trata no da vontade nem to pouco do princpio que a determina, mas do simples comear por si um estado, numa espcie de causalidade incausada, enquanto na liberdade prtica tudo se joga em torno de uma vontade que se quer determinada pela razo. O contraste situa-se, ento, ao nvel do estado iniciado pela espontaneidade absoluta por relao a um ente determinado pela lei que a razo dita.215 E, apesar de tudo, sua sponte e autos[F020?]esto inelutavelmente ligados, pois determinar-se a si mesmo a agir, no sentido da autolegislao, comear por si mesmo um estado no mbito da aco humana216 , pelo que a autonomia pode ser entendida como um modo de espontaneidade absoluta, o que, se por um lado permite admitir que a independncia da vontade face lei da causalidade seja chamada liberdade no sentido transcendental217 , por outro lado est desde logo autorizado por Kant quando escreve: sobretudo notvel que sobre esta ideia transcendental da liberdade se fundamente o conceito prtico da mesma [...].218 Concluso: a autonomia, na sua possibilidade, est fundada na espontaneidade absoluta, tal como a liberdade prtica o est na liberdade transcendental. O que ainda est por demonstrar a possibilidade do que est posto como fundamento daquilo cuja realidade objectiva j est assumida.
Cf. HEIDEGGER, op. cit., p. 34. Aubenque, interpretando Aristteles, desenvolve a mesma ideia na considerao de que a contingncia tem como correlato um certo inacabamento do mundo que o homem chamado a preencher, atravs da sua aco. 217 Cf. KPV, A 51-2. 218 KRV, B, 561, A 533 (trad. cit., p. 463).
216 215
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
109
3.2.2
12. A terceira antinomia
12. A terceira antinomia
A ideia transcendental de liberdade est na origem de um conito da razo pura, exposto como terceira antinomia de um conjunto de quatro. As antinomias surgem como conitos da razo consigo mesma, produzidos pelas ideias cosmolgicas e resultantes de duas proposies contraditrias uma tese e respectiva anttese , cada uma das quais se apresenta como necessria, demonstrada com base na refutao da outra, e detentora de uma aparncia dogmtica que periga desembocar no cepticismo. precisamente o conito de conhecimentos dogmticos em aparncia que d nome seco da Crtica da Razo Pura na qual so estudados as causas e o resultado das antinomias, intitulada Antittica da razo pura por contraste com o termo ttica aplicado ao conjunto das doutrinas dogmticas. As causas podem resumir-se natureza da prpria razo; o resultado so sosmas inevitveis, mas no insolveis. A exposio da terceira antinomia mostra-nos uma tese que arma a necessidade de uma causalidade pela liberdade e uma anttese que arma a restrio da causalidade s leis da natureza: 1. A causalidade segundo as leis da natureza no a nica de onde podem ser derivados os fenmenos do mundo no seu conjunto. H ainda uma causalidade pela liberdade que necessrio admitir para os explicar.219 2. No h liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza.220
219 220
KRV, B 472, A 444 (trad. cit., p. 406). Ibid., B 473, A 445 (trad. cit., p. 407).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
110
Ana Leonor Santos
A cada uma destas proposies segue-se a respectiva prova, a qual, como foi referido, procede pela refutao da tese contrria. A primeira delas leva-nos a conceder que, ao supormos a no existncia de outra causalidade alm da derivada das leis da natureza, devemos atender ao que nestas est pressuposto, a saber, que nada acontece sem uma causa suciente determinada a priori; contudo, se tudo acontecesse apenas pelas leis da natureza, seramos levados a regredir sucessivamente na procura do estado anterior ao qual ter sucedido aquilo que aconteceu, sem nunca chegarmos a um primeiro comeo. Portanto, a proposio contrria quela que a tese apresenta contradiz-se a si mesma na sua universalidade ilimitada e no pode, pois, considerar-se que esta causalidade [segundo as leis da natureza] seja a nica.221 prova da tese, Kant faz seguir algumas observaes complementares sobre a mesma e elucidativas quanto concepo de liberdade dela decorrente. Comea por diferenciar a ideia transcendental da liberdade do contedo do conceito psicolgico da mesma liberdade, o qual, embora no seja explicitado, pode ser entendido como estando relacionado com as experincias que cada pessoa pode ter em relao quilo que chamaria um acto livre222 ; est, portanto, relacionado com uma vontade que se pensa livre. A primeira, verdadeira pedra de escndalo para a losoa, constitui o fundamento da imputabilidade de uma aco, na justa medida em que corresponde ao conceito de absoB 474, A 446 (trad. cit., p. 406). Schopenhauer e, mais recentemente, Kemp Smith sublinharam uma falha interna na argumentao que suporta a tese e que consiste na equivalncia erroneamente pressuposta por Kant entre armar que A sucientemente causado e que a existncia de A sucientemente explicada por uma srie causal completa. Tal equivalncia implicaria a rejeio do acaso, por exemplo, de que A resultasse sucientemente da interseco de duas ou mais cadeias causais, sem que houvesse uma cadeia completa. O acaso , pois, um exemplo suciente de que a demonstrao kantiana da tese no demonstra realmente ser necessria uma outra causalidade que no a natural. Contudo, na medida em que Kant desenvolve todo o raciocnio referente antinomia em questo pressupondo que as sries causais tm de ser completas, analisaremos o mesmo raciocnio e as suas consequncias fazendo uma epoch sobre tal decincia argumentativa. 222 Cf. VILLACAAS, op. cit., p. 317.
221
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
111
luta espontaneidade. O escndalo decorre da diculdade em admitir, no seio da razo especulativa, uma faculdade que por si mesma d incio a uma srie de coisas ou estados sucessivos, porquanto tal possibilidade permanece incompreensvel. Kant contorna o problema, assumindo a mesma diculdade no que causalidade natural diz respeito, a propsito da qual [...] tambm somos obrigados a reconhecer a priori que uma causalidade desse gnero tem que ser pressuposta, embora no possamos de modo algum conceber como seja possvel que, mediante determinada existncia, se ponha a existncia doutra coisa, pelo que temos de ater-nos simplesmente experincia.223 Est dada a necessidade de admitir os dois tipos de causalidade, cuja compatibilidade tem, pois, de ser garantida, o que Kant consegue distinguindo suceder a e derivar de: o comeo que deixado liberdade no absolutamente primeiro quanto ao tempo o que signica que no exclui que alguma coisa outra seja precedente no tempo , mas sim quanto causalidade; por exemplo, se agora me levantar da cadeira, considera Kant que o fao sem inuncia determinante de causas naturais e sim pela liberdade, dando incio a uma srie de fenmenos resultantes desse acto, embora temporalmente aquilo que se verica seja apenas a continuao de uma srie precedente.224 O lsofo termina estas observaes recorrendo aos pensadores da Antiguidade e necessidade por eles sentida (com excepo dos epicuristas) de juntarem s causas naturais uma causa primeira, iniciadora da srie de estados vericados no mundo o primeiro motor. A tese , ento, considerada provada, necessariamente verdadeira, o que se vericar igualmente com a anttese, cuja prova vai demonstrar, por sua vez, a verdade do contrrio da tese. Supondo que h uma faculdade capaz de iniciar absolutamente um estado e a srie de estados dele decorrente, supondo, portanto, que h uma causalidade pela liberdade, entendida no sentido transcendental, que contrria lei da causalidade, perde-se a possibilidade da
223 224
KRV, B 476, A 448 (trad. cit., p. 410). Cf. KRV, B, 478, A 450.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
112
Ana Leonor Santos
prpria natureza, na medida em que as suas leis seriam constantemente alteradas pela interveno da liberdade, causalidade cega no que diz respeito ao curso regular e uniforme dos fenmenos. Deste modo, a admisso de uma causalidade pela liberdade a par da causalidade natural no signicaria a introduo de uma outra forma de legalidade no decurso dos acontecimentos e sim a ausncia de leis reguladoras dos mesmos. A razo encontra-se, pois, num impasse que, se de momento parece insolvel, mais tarde ser apontado como falso e comparado a dar golpes no ar ou bater-se contra a prpria sombra.225
3.2.3
13. O Tempo da Resoluo
13. O Tempo da Resoluo
A inevitabilidade dos conitos da razo consigo mesma no deve constituir impedimento para procurar ao menos um apaziguamento dos mesmos, o que no caso da terceira antinomia signica poder pensar a possibilidade da coexistncia de ambas as causalidades nela visadas. Recordemos que a tese armava a liberdade enquanto causa incondicionada, pressupondo, nessa medida, um comeo originrio e, com isso, uma srie nita na sua totalidade de causas subordinadas entre si. A anttese, por oposio, armava a innitude da srie regressiva de estados. A oposio em causa, sob a gura de uma contradio simples, to a gosto da razo comum, provm da aplicao da ideia de totalidade absoluta, que julgamos ser-nos dada, aos fenmenos, quando na
Cf. KRV, B 784, A 756. Por isso, Kant j armara, anteriormente, que no h propriamente nenhuma antittica da razo pura. Porque o nico lugar de luta para ela dever-se-ia procurar no campo da teologia e da psicologia puras; mas neste terreno no h nenhum campeo bem couraado e com armas que seriam de temer. B 771, A 743 (trad. cit., p. 599). O conito , portanto, apenas uma certa antinomia. Cf. B 772, A 744.
225
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
113
verdade s pode ser remetida para a coisa em si, o que signica que no pode ser conhecida. Reconhecido este erro, a contradio originadora do conito da razo transforma-se em oposio dialctica, ao mesmo tempo que se compreende que a possibilidade de conciliar a causalidade da natureza e a causalidade pela liberdade s viabilizada recorrendo distino que constitui o fundamento do criticismo e que envolve a problemtica dos limites do conhecimento.226 Na medida em que, com a revoluo copernicana levada a efeito por Kant e que faz depender o conhecimento, no dos objectos em si, mas da nossa faculdade de conhecer227 se torna necessrio distinguir as coisas tal como so em si mesmas das coisas tal como nos
226 Este recurso s vlido para as duas ltimas antinomias, as antinomias dinmicas, situadas no heterogneo; nelas as duas proposies so consideradas verdadeiras, ao contrrio das proposies implicadas nas duas primeiras antinomias ditas matemticas, porque situadas no homogneo , ambas falsas. A chamada de ateno para a importncia da distino entre fenmeno e coisa em si na questo das antinomias de certa forma j estava presente embrionariamente na dissertao de 1770 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et princpiis. Acerca da forma e dos princpios do mundo sensvel e do mundo inteligvel. Embora ainda no contexto de uma concepo psicolgica, as antinomias surgem nesse escrito do erro metafsico de no respeitar os limites do conhecimento sensitivo face s noes intelectuais, erro a que Kant d o nome de vcio de sub-repo (24, trad. Jos Andrade, in Textos Pr-Crticos, Porto, Rs, 1983, pp. 219-220). J no criticismo, as antinomias so assumidas como um resultado inevitvel do modo de funcionamento da razo, mas o problema de fundo continua a ser o dos limites do conhecimento, e a confuso entre aquilo que agora chamado fenmeno e o objecto puro do entendimento ganha o nome de anbolia transcendental. Cf. KRV, B 326, A 270. 227 Diz Kant: Se a intuio tivesse de se guiar pela natureza dos objectos, no vejo como deles se poderia conhecer algo a priori; se, pelo contrrio, o objecto (enquanto objecto dos sentidos) se guiar pela natureza da nossa faculdade de intuio, posso perfeitamente representar essa possibilidade. KRV, B XVII (trad. cit., p. 20) Recordamos que a intuio para Kant o modo como o conhecimento se refere a objectos, sendo aquela dada pela sensibilidade. Para l disso, e como observa Bertrand Russell, uma vez que Kant voltou a colocar o homem no centro, donde Coprnico o havia retirado, seria mais ajustada a designao de contra-revoluo ptolomaica para a tarefa a que Kant se props. Cf. Human Knowlwdge. Its Scope and Limits, London, 1966, p. 9 (cf. KU, trad. cit., p. 36).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
114
Ana Leonor Santos
aparecem, torna-se igualmente inevitvel o traado de um limite cognoscitivo; as coisas, tal como nos aparecem, so dadas pelas formas da sensibilidade o espao e o tempo; em si mesmas, na sua realidade, permanecem para ns incognoscveis: saber como so as coisas em si mesmas (sem considerarmos as representaes pelas quais nos afectam), est completamente fora da nossa esfera de conhecimento228 , portanto, estamos limitados ao conhecimento de uma coisa tal como se apresenta no fenmeno, ou seja, a uma representao ordenada a priori segundo o espao e o tempo (formas puras da intuio sensvel), representao que constitui a matria da sntese a priori do entendimento, graas qual possvel uma unicao de representaes sob a forma de objecto.229 Estando estabelecida a distino entre fenmeno e coisa em si, devemos admitir que a causalidade que se aplica a um no pode ser a mesma que se aplica outra. Na verdade, se uma coisa s nos acessvel como fenmeno, portanto, mediante a experincia, est necessariamente sujeita causalidade natural; por sua vez, a coisa em si, na medida em que ultrapassa os limites da experincia possvel, no pode estar sujeita a uma causalidade cuja operatividade est quela circunscrita; assim sendo, a mesma coisa que, enquanto fenmeno, est sujeita causalidade natural, enquanto nmeno est subordinada a uma causalidade inteligvel, isto , liberdade. Mas ser a ideia de liberdade possvel? Se atendermos a que Kant entende por possvel, do ponto de vista terico, o que concorda com as condies formais de uma exKRV B 235, A 190 (trad. cit., p. 219). A par dos conceitos de fenmeno e coisa em si, Kant apresenta ainda um terceiro termo, respeitante quilo que, a partir do entendimento, pode ser pensado o nmeno. Este pode ser entendido em sentido positivo, se interpretado como objecto de uma intuio no-sensvel, ou em sentido negativo, se visto como uma coisa na medida em que no objecto da nossa intuio sensvel. O nmeno , ento, o conceito referente ao que ns conheceramos se tivssemos uma intuio intelectual. Como este modo particular de intuio no pertence realidade humana, o nmeno dever ser entendido apenas no sentido negativo. Cf. KRV, B 307-309. As distines aqui expostas constituem o fundamento do idealismo transcendental, que refuta simultaneamente o empirismo e o idealismo.
229 228
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
115
perincia possvel, e segundo o que acabou de ser exposto, a ideia de liberdade no possvel.230 Importa realar, contudo, que aquilo que est em causa no tratamento votado terceira antinomia no nem a possibilidade nem a efectividade da liberdade, mas a simples possibilidade da coexistncia da natureza e da liberdade.231 no tempo que Kant encontra a possibilidade da possibilidade da coexistncia de ambas as causalidades. Entendido como condio subjectiva indispensvel de todas as intuies, do tempo no dito existir em si, fora do sujeito, pelo que no pode ser percebido por si, da mesma forma que todas as coisas enquanto objecto da intuio sensvel no podem ser percebidas fora do tempo, pois todos os fenmenos so no tempo.232 E porque a armao do diverso dos fenmenos sempre sucessiva, em relao ao tempo que podemos determinar (empiricamente) o princpio da ligao entre causa e efeito: a apreenso de um acontecimento que ocorre num dado momento d-se segundo uma sucesso de percepes indicadora de que o acontecimento apreendido no momento t necessrio sob a condio da percepo no momento precedente233 ; o mesmo com as aces que, ocorrendo num dado momento, seriam necessrias em virtude de sucederem a um momento passado, gura de causas determinantes que no esto mais em nosso poder.234 Seriam caso as aces no se reportassem a um ser que, para l de uma existncia determinada no tempo, se considera a si mesmo e sua existncia fora das condies temporais e determinveis apenas segundo as leis que ele a si mesmo se d.
230 Cf. MS-I, IV. Tambm por isso o conceito de liberdade no um princpio constitutivo da razo especulativa, mas sim meramente regulativo. 231 Na ltima das Crticas, Kant rearmar esta posio: Na resoluo de uma antinomia trata-se somente da possibilidade de que duas proposies, aparentemente contraditrias entre si, de facto no se contradigam, mas possam coexistir ao lado uma da outra, mesmo que a explicao da possibilidade do seu conceito ultrapasse a nossa faculdade de conhecimento. KU, 57, 237 (trad. cit., pp. 247-248). 232 KRV, B 224, A 182 (trad. cit., p. 212). 233 A sntese subjectiva da apreenso transformada em objectiva, dando origem lei da causalidade, condio de possibilidade da experincia dos acontecimentos. 234 Cf. KPV, A 169.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
116
Ana Leonor Santos
3.2.4
14. A pessoa, um ser hbrido
14. A pessoa, um ser hbrido
A questo da coexistncia entre os domnios da natureza e da liberdade encerra em si um problema nico o da causalidade. Se na natureza impera a lei da causalidade, a experincia que dela pode ser feita resulta do princpio enunciado no ttulo da segunda analogia Princpio da sucesso no tempo segundo a lei da causalidade.235 Dado que a apreenso do diverso dos fenmenos sempre sucessiva, est imediatamente pressuposta uma sucesso determinada, segundo a qual aquilo que est dado pressupe no tempo um outro fenmeno a que se seguiu, necessariamente ou segundo uma regra.236 Necessariamente, na medida em que, se um fenmeno chega existncia aps um tempo em que no existia, temos de admitir um fenmeno precedente ao qual sucede sempre, numa espcie de correlato. Segundo uma regra, porquanto no podemos inverter a srie e antepor um fenmeno quele a que sucede. O princpio da relao causal na sucesso dos fenmenos,
As analogias so regras que precedem toda a experincia, constituindo condio de possibilidade da mesma. Segundo tais princpios, cujo valor simplesmente regulativo, a unidade da experincia dever resultar das percepes, sendo que a sua nalidade garantir as condies de unidade do conhecimento emprico na sntese dos fenmenos. As trs analogias so pensadas por relao aos trs modos de tempo anotados por Kant permanncia, sucesso e simultaneidade e porque o tempo uma forma do sentido interno, a qual no se apresenta sob nenhuma gura, que procuramos suprir essa falta por analogias, resultantes da representao da sequncia do tempo por uma linha recta. A primeira analogia o Princpio da permanncia da substncia; a terceira, o Princpio da simultaneidade segundo a lei da aco recproca ou da comunidade. 236 KRV, B 246, A 201 (trad. cit., p. 226).
235
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
117
relao essa determinada no tempo, constitui desta forma fundamento da possibilidade da experincia.237 A questo j posta na terceira antinomia deve agora ser formulada nos seguintes termos: haver algum modo de causalidade que seja extratemporal e, nessa medida, se situe para l do encadeamento causal de que temos experincia? A esse poder de ser causa absolutamente, ao comear por si uma srie de acontecimentos, Kant chama espontaneidade absoluta, liberdade transcendental, aco originria, impossvel na srie de causas naturais que se desenrola numa sucesso temporal. sobre ela, como j tivemos oportunidade de referir, que se fundamenta a liberdade prtica. Deste modo, embora a liberdade, enquanto causa, no possa ser dada no espao e no tempo, como um fenmeno mais, integrante do mundo sensvel e, portanto, no seja possvel teoricamente , ela surge na dimenso prtica, adscrita a um ente que, ao mesmo tempo que est sujeito ao encadeamento natural e temporal dos fenmenos, tem o poder de iniciar por si mesmo um novo estado, ultrapassando a subordinao s condies da sensibilidade. Esta situao s possvel porque ao sujeito agente, para alm do carcter emprico, mediante o qual os seus actos, enquanto fenmenos, estariam absolutamente encadeados com outros fenmenos e segundo as leis constantes da natureza238 , tambm atribudo um carcter inteligvel, pelo qual, embora seja a causa dos seus actos, como fenmenos, ele prprio no se encontra subordinado a quaisquer condies da sensibilidade e no , mesmo, fenmeno.239
237 Independentemente de, na maioria das causas ecientes a operar na natureza, o efeito e a causa serem simultneos, pois a relao de causa-efeito sempre determinvel quanto ao tempo. Por exemplo: Se considerar causa uma esfera pousada numa almofada fofa, onde deixa uma pequena concavidade, a causa simultnea com o efeito. Contudo, distingo-os um do outro pela relao de tempo que h na relao dinmica de ambos. Pois, quando poiso a esfera na almofada, produz-se a concavidade na superfcie anteriormente lisa; se, porm, a almofada tiver j uma concavidade (proveniente no se sabe de qu) no se segue que seja devida a uma bola de chumbo. KRV, B 248-249, A 203 (trad. cit., p. 227). 238 KRV, B 567, A 539 (trad. cit., p. 466). 239 Id. (trad. cit., p. 467).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
118
Ana Leonor Santos
Desta forma, natureza e liberdade vem-se conciliadas, sob a dupla referncia de uma causa sensvel actuante no mundo dos fenmenos e uma causa inteligvel que, enquanto nmeno, inicia espontaneamente uma srie de efeitos no mundo dos sentidos. E com este considerando, Kant d um passo assaz importante em direco armao da realidade da liberdade. Fazendo seguir explanao terica a aplicao prtica que, j o dissemos citando o prprio autor, esclarecer a possibilidade de conciliar dois modos de causalidade, Kant refere-se pela primeira vez de forma explcita ao homem nos seguintes termos: Por um lado, ele mesmo , sem dvida, fenmeno, mas, por outro, do ponto de vista de certas faculdades, tambm objecto meramente inteligvel, porque a sua aco no pode de maneira nenhuma atribuir-se receptividade da sensibilidade.240 De que maneira um ente possa ser simultaneamente fenmeno e objecto meramente inteligvel permanece para ns uma incgnita, nomeadamente porque as faculdades a que Kant se refere o entendimento e a razo no podem ignorar a sensibilidade. Pela primeira pensamos os objectos que so dados pela sensibilidade e criamos conceitos cuja inexistncia seria causa de cegueira das intuies, produto da sensibilidade241 ; a razo, por sua vez, embora deva sobreporse s inclinaes sensveis, enquanto condio das aces voluntrias, tem interesse em ser uma causa dos fenmenos.242 Este ltimo problema no passou despercebido a Kant, que tentou responder-lhe com a tese obscura de uma razo representante daquilo que no homem h de inteligvel detentora de um carcter emprico. Este determinado pelo carcter inteligvel, embora no tenhamos acesso ao vnculo que une o carcter numnico ao carcter fenomnico243 ; nem sequer
KRV, B 574-575, A 546-547 (trad. cit., p. 471), sublinhado nosso. Pensamentos sem contedo so vazios; intuies sem conceitos so cegas. Ibid., B 75, A 51 (trad. cit., p. 89). 242 B 585, A 557. 243 Numa diculdade em tudo semelhante ao problema cartesiano da relao entre res cogitans e res extensa. Desta feita, no se deitar mo de nenhuma gura como a glndula pineal, mas tambm no veremos resolvido um problema que no de
241 240
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
119
podemos conhecer o primeiro, que s designado atravs dos fenmenos, os quais, naturalmente, apenas nos do o carcter emprico o que acaba por desembocar numa consso bizarra, timidamente exposta sob a gura de nota, e que apresentamos de seguida, embora reservemos a avaliao das suas consequncias para o terceiro captulo desta segunda parte do nosso texto: A moralidade prpria das aces (o mrito e a culpa), mesmo a da nossa prpria conduta, ca-nos pois completamente oculta. As nossas imputaes podem apenas reportar-se ao carcter emprico. Mas em que medida o efeito puro se deve atribuir liberdade, em que medida simples natureza e ao vcio involuntrio do temperamento ou sua feliz disposio (merito fortunae) o que ningum pode aprofundar, nem portanto julgar com inteira justia.244 Para l desta diculdade, e ainda que Kant no pretendesse na Crtica da Razo Pura provar nem a realidade nem a possibilidade da liberdade, mas simplesmente a iluso de pensar a causalidade natural e a causalidade transcendental segundo uma relao disjuntiva, foi-lhe possvel chegar realidade da liberdade apresentando a diferena, a que todos imediatamente aderimos, entre o que e o que deva ser. Esta diferena s aplicvel ao homem, pois, como bvio, no tem sentido indagar que leis deveriam reger a natureza, ou quais deveriam ser as propriedades de uma qualquer gura geomtrica. Num e noutro caso a necessidade torna descabida e intil a comparao entre o que e o que deveria ser. No homem, e porque estamos perante um ente com a particularidade de reunir em si os mundos fenomnico e inteligvel, o dever e a liberdade que decorrem da razo impem uma ordem prpria, que se deseja paralela com a ordem da sensibilidade, na medida em que no deve admitir a sua imiscuidade, mas que em algum momento tem de ser secante, sob pena de no se realizar. igualmente no homem que, graas ao criticismo, a oposio necessrio/contingente ganha contornos particulares: a sua dimensomenos importncia. O mesmo problema anotado em PM, A 153-154 . 244 KRV, B 579, A 551 (trad. cit., p. 474).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
120
Ana Leonor Santos
so natural, na medida em que tem de poder submeter-se ao dever, do qual diverge redundantemente por natureza, contingente, o que est de acordo com a denio exposta na Crtica da Razo Pura, e que nos apresenta o contingente como aquilo cujo oposto contraditrio possvel245 ; o dever, expresso sob a forma de lei moral, por ns representada, , ao contrrio, detentor da necessidade caracterstica das leis, embora no consiga evitar a situao contingencial de ser ou no ser cumprido, pois no caso de um ser em que a vontade no em si totalmente conforme razo, as aces objectivamente necessrias so subjectivamente contingentes; alm do mais, a aco moralmente necessria , do ponto de vista fsico, meramente contingente, ou seja, aquilo que deveria necessariamente acontecer, no acontece frequentemente. Estas diculdades levam Kant a reconhecer que as aces morais, no estando submetidas a um encadeamento de razes, suscitam dvidas quanto sua existncia futura, uma vez que o homem tem o poder de agir num ou noutro sentido. No entanto, acrescenta o lsofo que h uma certeza ligada s aces humanas quando a vontade se deixa determinar pela lei moral.246 Em suma, no homem natureza e liberdade renem-se, sendo ambas espao de necessidade e contingncia em simultneo: a necessidade natural afecta-o enquanto fenmeno, e apenas nessa medida os princpios determinantes da sua aco residem naquilo que pertence ao passado e no mais est em seu poder247 ; porm, como coisa em si, o homem no est sob condies temporais e nada precede a determinao da sua vontade, por meio da qual a sua existncia se desenrola numa contnua manifestao de espontaneidade, determinvel apenas pelas leis (morais) que ele a si mesmo se d, atravs da razo, e que tm o poder de se sobrepor necessidade natural, instaurando um outro modo de necessidade. Portanto, em relao mesma aco, adequado
245 246
KRV, B 487, A 459 (trad. cit., p. 416). Cf. PPM in Textos Pr-Crticos, trad. Jos Andrade, Porto, Rs, 1755, 1983, p. KPV, A 174 (trad. cit., p. 113).
55.
247
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
121
dizer que poderia ter sido omitida, caso se revele contra a lei, embora estivesse determinada no passado e fosse, por isso, inevitavelmente necessria.248 A liberdade e a natureza, estando presentes no mesmo ente e nos acontecimentos por ele originados, permanecem, contudo, absolutamente opostas, porquanto a primeira pressupe uma determinao independente dos impulsos sensveis, ou seja, o livre arbtrio. Aquilo que com este se relaciona chama-se prtico e a independncia face aos impulsos sensveis mostra a realidade da liberdade na sua dimenso prtica, na medida em que possumos o poder de ultrapassar as determinaes provenientes dos estmulos sensveis: A liberdade prtica pode ser demonstrada por experincia249 ca estabelecida a realidade da liberdade, segundo a qual a razo responsvel por leis objectivas da liberdade, isto , imperativos, que se sobrepem s inclinaes na determinao da nossa vontade. Simplesmente, esses mesmos imperativos exprimem o que deve acontecer, ainda que nunca acontea250 (tambm nisso se distinguindo, alis, das leis naturais, que tratam do que acontece). Como se demonstra por experincia algo que pode nunca acontecer eis o que ca por esclarecer.251 E a armao citada tanto mais grave quanto admite a inoperacionalidade da razo, da lei moral, da vontade pura, e, mesmo revelia do lsofo, apresenta um homem condenado ao sonho visionrio de uma liberdade, necessria e inevitavelmente vergada natureza.
Cf. Id. Talvez seja esta inevitvel necessidade com a qual o dever tem de entrar em relao que leva Kant a armar que a ordem originada pela razo considera necessrias aces que ainda no aconteceram e talvez no venham a acontecer. KRV, B 576, A 548 (trad. cit., p. 472). 249 KRV, B 830, A 802 (trad. cit., p. 637). 250 Id.: Diese gibt daher auch Gesetze, Welche Imperativen, d. i. objektive Gesetze der Freiheit sind, und welche sagen, was geschehen soll, ob es gleich vielleicht nie geschieht. 251 Na GMS Kant reconhece a impossibilidade de tal empresa, referindo-se demonstrao a priori da liberdade da vontade como a nica possvel. Cf. BA 99-100.
248
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
122
Ana Leonor Santos
3.2.5
Eplogo II: A Necessidade da Crtica da Faculdade do Juzo
Eplogo II
A Necessidade da Crtica da Faculdade do Juzo
O problema da mediao entre a natureza e a liberdade permaneceu em aberto at Crtica da Faculdade do Juzo. Do universo natural, regido pela lei da causalidade, diz-se diferir absolutamente em relao ao universo moral, domnio da liberdade desprovido de inuncias sensveis, o que justica a diviso da losoa em duas partes, uma terica e outra prtica. E, contudo, no mundo da natureza que a moralidade deve manifestar os seus efeitos. A incompreenso do modo segundo o qual acontece a operacionalidade da moral na natureza, expressa nas duas primeiras Crticas, e na medida em que contrria ao interesse da prpria razo, v-se esclarecida atravs da apresentao de uma nova faculdade do juzo, mediadora da faculdade de conhecimento, estudada na Crtica da Razo Pura sob a legislao do entendimento, e da faculdade de apetio, objecto de estudo da Crtica da Razo Prtica, onde a legislao dada pela razo ainda que o seu papel no se reduza ao de mero elemento mediador e a realizao da moralidade no seja colocada sob a dependncia da arte, domnio de aplicao da faculdade do juzo. Tal faculdade corresponde ao sentimento de prazer e desprazer (Gefuehl der Lust und Unlust) e graas a ela o designado formalismo kantiano como que preenchido por componentes afectivos.252 Fica, deste modo, completo o quadro de faculdades da alma ou capacidades: faculdade de conhecimento, sentimento de prazer e desprazer, faculdade de apetio. A segunda est encarregue de camuar o
252
Como notado no Prefcio da traduo portuguesa da KU, p. 11.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
123
abismo que separa os dois domnios dos quais se disse manterem uma relao de oposio dialctica, sem que, contudo, seja possvel construir uma ponte comunicante entre ambos. Ao mesmo tempo, armada a passagem de um domnio a outro, armao que surge como uma espcie de coero: Ainda que na verdade subsista um abismo intransponvel entre o domnio do conceito de natureza, enquanto sensvel, e o do conceito de liberdade, como supra-sensvel, de tal modo que nenhuma passagem possvel do primeiro para o segundo (...) como se se tratassem de outros tantos mundos diferentes, em que o primeiro no pode ter qualquer inuncia no segundo, contudo este ltimo deve ter uma inuncia sobre aquele [...].253 O dever que expresso nesta passagem mais no do que o estabelecimento da problemtica relao entre os dois mundos e implica o conceito de conformidade a ns (Zweckmessigkeit), na medida em que exigida uma efectividade no mundo dos sentidos do m posto pelas leis da liberdade. Fim o nome dado ao conceito de um objecto, na medida em que ele ao mesmo tempo contm o fundamento da efectividade deste objecto254 e conformidade a ns a designao para o acordo de uma coisa com aquela constituio das coisas, que somente possvel segundo ns.255 Tal acordo simultaneamente contingente e imprescindvel, na medida em que possibilita a to desejada passagem da razo pura terica para a razo pura prtica, pois constitui um indicador de uma natureza que parece ajustar-se aos princpios reguladores da razo, num processo teleolgico que no anula a aco das leis mecnicas. E isto porque a palavra causa aplicada ao supra-sensvel, isto , liberdade, signica o fundamento para determinar em concordncia a causalidade das coisas da natureza simultaneamente segundo as leis da mesma natureza e de acordo com o princpio formal das leis da razo. semelhana da terceira antinomia da Crtica da Razo Pura,
253 254 255
KU, XIX (trad. cit., p. 57). KU, XXVIII (trad. cit., p. 63). Id.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
124
Ana Leonor Santos
o conito entre a explicao mecnica e a explicao teleolgica , segundo Kant, apenas aparente, pelo que a nica questo que permanece a de saber em que medida a conformidade a ns da natureza somente um princpio subjectivamente vlido ou, pelo contrrio, um princpio objectivo da natureza; por outras palavras, resta saber se a conformidade a ns uma mxima da faculdade do juzo ou implica realmente a existncia na natureza de causas nais a par do mecanicismo. Kant optar pela primeira hiptese, transformando a conformidade a ns da natureza num princpio subjectivo, regulativo, cuja necessidade respeitante faculdade de juzo humana lhe confere validade como se de um princpio objectivo se tratasse.256 No seguimento da revoluo copernicana (ou da contrarevoluo ptolomaica), a armao da teleologia baseia-se na constituio do entendimento humano, o qual incapaz de aceitar o mecanicismo como nica explicao dos seres organizados da natureza. E porque assim , no est em causa a possibilidade da prpria teleologia. Apesar disso, e mais uma vez, a conciliao de princpios divergentes e a realidade daquilo cuja possibilidade no vericvel acontece no homem, nica espcie de ser no mundo cuja causalidade dirigida teleologicamente para ns [...]; o nico ser da natureza, no qual podemos reconhecer, a partir da sua prpria constituio, uma faculdade suprasensvel (a liberdade).257 Esta faculdade, que faz do ser humano um ser moral e, nessa medida, o m terminal da criao, cria as condies para considerar o mundo como um todo organizado segundo ns. Depois de tudo, no cremos que Kant tenha resolvido todos os problemas que caram em suspenso nas duas primeiras Crticas: o conceito de m terminal que est indissoluvelmente conectado com o de conformidade a ns o qual, no esqueamos, constitui a mediao procurada entre a natureza e a liberdade um conceito da razo prtica, no passvel de ser armado pela experincia do julgamento terico da natureza, no passvel, portanto, de conhecimento. apenas
256 257
KU, 76, 344 (trad. cit., p. 328). Ibid., 84, 398 (trad. cit., p. 365).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
125
a lei moral que d o fundamento para admitir a possibilidade e a realizao do mesmo. Mas a lei moral encontra na liberdade a sua ratio essendi e, ainda que a realidade objectiva do conceito de liberdade esteja dada como demonstrada, foi igualmente armado que esse mesmo conceito tem na espontaneidade absoluta o seu fundamento. Ora, a espontaneidade absoluta no objecto de conhecimento, pois pertence ao mundo supra-sensvel; nesta perspectiva, fecha-se o ciclo das Crticas naquilo que ao saber e f diz respeito, e opo kantiana de substituir o primeiro pela segunda, numa tentativa de salvaguardar a esperana de ampliar os limites da razo a que a sua aplicao terica a deixa votada.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
126
Ana Leonor Santos
3.3
Aporias ou o Recurso F
Captulo III Aporias ou o Recurso F
Todo o interesse pressupe necessidade ou a produz; e enquanto fundamento determinante da aprovao, ele j no deixa o juzo sobre o objecto ser livre.258
3.3.1
15. A (falsa) soluo dos postulados
15. A (falsa) soluo dos postulados
Partindo de um conjunto de pressupostos quase inquestionveis e, ou porque, assumidos com agrado a saber, o ser humano detentor de uma dignidade que escapa aos seres no racionais; a dignidade humana releva da sua dimenso moral e racional; s h lei moral na medida em que h liberdade; o desaparecimento da liberdade acarreta o esvaziamento da imputabilidade , somos levados armao da necessidade da liberdade que, enquanto ideia sem intuio correspondente, tem de
258
KU, 5, 16 (trad. cit., p. 98)
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
127
ser entendida como uma necessidade da razo pura prtica. Isto signica que somos conduzidos a postulados.259 , ou seja, possibilidade de um objecto segundo leis prticas apodcticas, sem que a possibilidade contenha uma necessidade relativamente ao objecto, tratando-se, pois, de uma necessidade racional subjectiva. A liberdade , portanto, isto: um postulado da razo pura prtica, um pressuposto cuja realidade objectiva que no foi, porque no o podia ser, conferida pela razo pura especulativa importa assegurar, sob pena de todo o edifcio da razo pura estar alicerado numa ideia que apenas um pensamento. Os postulados da razo pura prtica, resultantes da tentativa de responder questo que me permitido esperar?, tm como funo, precisamente, conferir realidade s ideias da razo, e, embora constituam uma necessidade subjectiva, derivam de uma lei, a lei moral, que Kant arma ser apodicticamente certa e independente dos pressupostos a que d origem imortalidade da alma, liberdade, existncia de Deus260 e cuja realidade considera mostrada na Fundamentao da Metafsica dos Costumes. O problema da referida independncia surge, segundo cremos, como uma verso do problema da felicidade261 no seio da moral kantiana: ao mesmo tempo que se arma a independncia da lei moral face aos postulados, sendo o homem tambm um ser sensvel, torna-se nePostulados que Kant arma diferirem de simples hipteses, a que leva a necessidade da razo pura terica, embora na justicao da escolha do termo se rera aos primeiros como uma simples hiptese necessria. KPV, n: A 23 e A 255-256 (trad. cit., n: p. 20 e p. 161). 260 Cf. KPV, A 257. Este considerando, no que diz respeito independncia da lei moral face ao postulado da liberdade, no pode deixar de surpreender, depois de a liberdade ser considerada a ratio essendi daquela, estranheza reforada pelo facto de Kant fazer questo de especicar que a liberdade considerada positivamente no postulado, sentido privilegiado no domnio da prtica. 261 Entendida como a conscincia que um ser racional tem do agrado da vida, [agrado] que acompanha ininterruptamente toda a sua existncia [KPV, A 40 (trad. cit., p. 32)], ou como a globalidade de todos os ns possveis do homem mediante a natureza [KU, 83, 391 (trad. cit., p. 360)], ou ainda como a satisfao de todas as nossas inclinaes [KRV, B 834, A 806 (trad. cit., p. 640)].
259
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
128
Ana Leonor Santos
cessrio reconhecer qualquer coisa como uma disposio (Gesinnung) adequada ao cumprimento da lei enquanto elemento fomentador do soberano bem, cujas condies de possibilidade assentam nos postulados, no que necessidade subjectiva diz respeito. Por soberano bem entende Kant a reunio da virtude e da felicidade, conexo que d origem antinomia da razo prtica, apresentada na Dialctica da Razo Pura Prtica. At ento o discurso kantiano havia sublinhado essencialmente a diferena entre a doutrina da moralidade e a doutrina da felicidade, embora j na Analtica da Crtica da Razo Prtica o lsofo tivesse tido a preocupao de salvaguardar uma possvel relao entre ambas: Esta distino, porm, do princpio da felicidade relativamente ao princpio da moralidade nem por isso uma oposio entre ambos, e a razo pura prtica no quer que se renuncie forosamente pretenso felicidade, mas apenas que no se tome em considerao, quando se fala de dever. Sob certos aspectos, pode ser mesmo um dever preocupar-se com a sua felicidade; em parte, porque ela (...) contm meios para o cumprimento do dever, e em parte, porque a carncia da felicidade (...) encerra a tentao de violar o dever. S que o fomento da prpria felicidade nunca pode constituir imediatamente um dever, e menos ainda o princpio de todo o dever.262 O que se exige para a moralidade de uma aco pois que a felicidade no constitua o seu mbil, inclusivamente porque a ela est associado o sentimento particular de prazer e desprazer, que jamais poderia fundar uma lei.263
KPV, A 166-167 (trad. cit. pp. 108-109). Ainda que propusssemos a felicidade universal como fundamento de mximas, ao invs da felicidade prpria, tais mximas continuariam impossibilitadas de servirem de leis da vontade, porquanto raramente est em nosso poder satisfazer o preceito empiricamente condicionado da felicidade, ao contrrio do que acontece com o imperativo categrico, cuja observncia, na concepo kantiana, s depende de ns. Cf. KPV, A 63-65. Na GMS a felicidade fora apresentada como um dom da fortuna (cf. BA 1-2), remetendo assim para a problemtica grega abordada na primeira parte do nosso trabalho (havendo tambm uma aproximao no que indenio da felicidade diz respeito. Cf. ibid. A 46). Por isso, Kant diz-nos que a moral no a doutrina sobre como nos tornamos felizes, mas sobre como devemos tornar-nos
263 262
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
129
Que as respectivas mximas no se contradizem, apesar de heterogneas, j est admitido; resta agora saber como praticamente possvel o soberano bem, questo cuja resposta revela, como dizamos anteriormente, uma certa ambiguidade respeitante ao lugar a ceder felicidade nos assuntos de moral. No soberano bem, para ns prtico, isto , a realizar mediante a nossa vontade, a virtude e a felicidade so pensadas como necessariamente unidas de tal modo que uma no pode ser admitida pela razo pura prtica sem que tambm a outra a ele esteja inerente.264 Assim comea a exposio da antinomia da razo pura prtica, a qual parte de uma premissa que constitui simultaneamente a concluso da anlise e do subsequente afastamento do estoicismo e do epicurismo no que ao conceito de soberano bem diz respeito, na medida em que o estico reduzia o soberano bem virtude, e o epicurista felicidade. Ambos, contudo, integravam nele o elemento que falta, no primeiro caso fazendo a felicidade coincidir com a conscincia da posse da virtude, no segundo fazendo da virtude a forma mais adequada de alcanar a felicidade. esta espcie de indiferenciao entre virtude e felicidade que Kant recusa, porquanto entende que o vnculo em causa no pode ser analtico, dada a absoluta diferena dos elementos em causa, correlato da dupla dimenso, numnica e fenomnica, do ser humano enquanto o dever se dirige razo, a felicidade d resposta nossa natureza sensvel, e se fosse ela a verdadeira nalidade do homem, o instinto ser-lhe-ia suciente na busca da mesma. Por outro lado, a coincidncia das doutrinas da moralidade e da felicidade tornaria intil a procura de princpios a priori. A relevncia do dever e da razo permanece, portanto, mesmo
dignos de felicidade; por isso tambm a felicidade promovida pelo dever distingue-se da felicidade enquanto inclinao no facto de apenas o comportamento manifestado de acordo com a primeira ter valor moral. Cf. GMS, BA 12. Por outro lado, o prazer associado felicidade pressupe a distino entre prazer patolgico e prazer moral: o primeiro precede a observncia da lei e est na origem da mesma; o segundo releva da ordem moral, na medida em que por ela precedido. 264 KPV, A 204 (trad. cit., p. 132).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
130
Ana Leonor Santos
no seio do soberano bem, no qual a virtude e a felicidade no so detentoras de igual estatuto, o que permite, alis, a no contradio entre o conceito de soberano bem e a impossibilidade de que a felicidade constitua motivo para a prtica de aces morais, pois, em primeiro lugar, devo estar certo de que no ajo contra o meu dever, s em seguida me permitido olhar volta em busca da felicidade, contanto que eu possa conciliar com o meu estado moralmente (e no sicamente) bom.265 O princpio determinante da vontade continua, portanto, a ser a lei moral, a qual no promete felicidade alguma266 ; fazer desta o princpio determinante reger-se pelo amor de si. No sendo analtica, a conexo entre virtude e felicidade s pode ser sinttica, o que, por nos situarmos na dimenso prtica, implica uma relao de causa/efeito. Portanto, ou o desejo de felicidade causa motriz para as mximas da virtude, ou a mxima da virtude causa eciente da felicidade. Sendo ambas as hipteses dadas como falsas, em coerncia com o exposto at ento, o soberano bem tem de ser declarado praticamente impossvel, e com isso a lei moral, sua promotora, torna-se fantstica, votada a ns imaginrios, falsa.267 Se a resoluo da antinomia entre a natureza e a liberdade j nos parecia problemtica na medida em que exige o acatamento da distino entre fenmeno e nmeno e, simultaneamente, a unio incompreensvel de ambos num ente cindido , agora, a soluo encontrada para a antinomia da razo pura prtica sofre de uma fragilidade ainda maior, pois, alm de pressupor a referida distino, conclui pela no impossibilidade prtica do bem supremo268 , quando
UG, A 217-219 in A Paz Perptua e outros opsculos, trad. Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1995, p. 67. 266 A lei moral expressa-se por meio do imperativo categrico, enquanto o imperativo respeitante necessidade prtica de uma aco como meio de fomentar a felicidade assertrico. Esta diferenciao j est patente na KRV, onde Kant distingue a lei pragmtica aquela lei prtica que tem por motivo a felicidade da lei moral aquela que no tem outro mbil que no a indicao de como podemos tornar-nos dignos de felicidade. Cf. B 834, A 806. 267 KPV, A 205 (trad. cit., p. 133). 268 [...] no impossvel que a moralidade da disposio (Gesinnung) tenha com
265
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
131
a questo para a qual se procurava uma resposta era a da sua possibilidade. Ora, apesar de logicamente o no-impossvel ser equivalente ao possvel, intuitivamente no lhes conferimos o mesmo valor: pensese no exemplo em causa e na esperana que depositaramos na unio da virtude e da felicidade se da mesma nos fosse dito ser possvel ou no impossvel, e compreender-se- a desigualdade que pretendemos armar. Para alm do mais, da conexo necessria entre a virtude e a felicidade, segundo uma relao de causa-efeito, dito (i) ser possvel apenas por intermdio de um autor inteligvel da natureza e, por isso, no estar na dependncia do homem; (ii) ser encontrada na lonjura do mundo inteligvel logo, dicilmente alcanada numa justa proporo nesta vida269 ; (iii) implicar uma fruio patente no conceito de felicidade, que no se coaduna com o respeito pela lei moral pelo que a inicialmente apresentada conexo necessria entre virtude e felicidade substituda pela unio necessria da conscincia da virtude com um anlogo da felicidade, o auto-contentamento (Selbstzufriedenheit), isto , uma satisfao negativa na sua existncia, na qual se est consciente de nada precisar.270 As duas primeiras observaes reconduzem-nos aos postulados ou, pelo menos, assim o pretende Kant. Fazendo derivar a imortalidade da alma da problemtica do soberano bem, abre-se um hiato na argumentao, que se desenrola totalmente em torno do ideal de santidade, e d-se um salto para a concluso. Diz o lsofo que a imortalidade da
a felicidade, enquanto efeito no mundo sensvel, uma conexo necessria, a ttulo de causa, se no imediata, apesar de tudo mediata [...]. KPV, A 207 (trad. cit., p. 134). Deste modo, a hiptese de que a disposio virtuosa produza felicidade no absolutamente falsa, ao contrrio do que est exposto na antinomia. 269 Cf. KPV, A 207-208 e KRV, B 837-838, A 809-810. 270 KPV, A 212 (trad. cit., p. 136). Esta noo de auto-contentamento aproxima-se da concepo estica; tambm em Kant ela uma forma de auto-sucincia, conseguida na medida em que, ao superar as inclinaes sensveis, o homem se liberta da dependncia do mundo e adquire a conscincia de no precisar de mais nada a no ser da virtude. Por sua vez, j est presente em Aristteles a ideia de que uma das caractersticas da eudaimonia a ausncia de dependncia ou necessidades.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
132
Ana Leonor Santos
alma necessria enquanto possibilidade de um progresso innito ao encontro da plena conformidade da vontade, que no pura, com a lei moral. Portanto, o soberano bem, praticamente, s possvel sob o pressuposto da imortalidade da alma.271 Ora, o soberano bem a reunio da virtude e da felicidade, e se a vontade boa constitui condio necessria para sermos dignos de felicidade, a vontade santa representa a plena conformidade lei moral, o que no implica de forma alguma a felicidade. Para mais, no podemos esquecer que a felicidade foi associada por Kant dimenso sensvel do homem, pelo que seguir o ideal de santidade e viabilizar o soberano bem nos parecem caminhos que, em ltima instncia, podem at ser opostos. E esta observao mantm-se quer a imortalidade aqui tratada seja relativa pessoa, quer imortalidade da espcie humana o que, alis, Kant no esclarece.272 Porventura consciente das decincias argumentativas do primeiro postulado, no que felicidade diz respeito, Kant desenvolve a anlise dessa mesma problemtica num segundo postulado, o da existncia de Deus, o qual surge, precisamente, da necessidade de admitir a existncia de uma causa da natureza que contenha o princpio da conexo necessria e da concordncia exacta entre a felicidade e a moralidade. Tal necessidade subjectiva, o que signica que constitui um requisito, neste caso, para a possibilidade do soberano bem, que tem de ser reconhecido como crena (ainda que racional).273 E desta forma, a esperana no soberano bem ca remetida para a religio, pois s quando a religio se acrescenta que tambm surge a esperana de um dia participarmos na felicidade na medida em que tivemos o cuidado
Ibid., A 220 (trad. cit., p. 141). O vnculo entre a virtude e a felicidade, o mesmo dizer, entre a razo e a sensibilidade, permaneceu por esclarecer inteiramente na KPV. Na MS Kant voltou a abordar a mesma problemtica, mas segundo um cnone diferente, preocupandose com a relao entre a lei moral e a antropologia moral e abandonando o registo teolgico. 273 Cf. KPV, A 226.
272 271
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade... de dela no sermos indignos.274
133
3.3.2
16. Dos interesses na teoria e na prtica
16. Dos interesses na teoria e na prtica
Nem a moral nem a crena em Deus repousam sobre pressupostos desinteressados. A ltima o garante de uma causa da natureza, situada fora dela e da importante esperana na unio da virtude com a felicidade. A moral, por sua vez, possvel apenas pela armao da realidade da liberdade e confere pessoa humana uma dignidade que escapa aos restantes seres (no racionais), ao mesmo tempo que constitui um dos pilares das relaes sociais. Desta forma, perante a antinomia que coloca em conito uma tese que arma a liberdade e uma outra que a nega, e antes de apresentar a resoluo desta como das restantes antinomias, Kant interroga-se acerca da nossa postura face a cada uma das proposies em causa para concluir que no somos espectadores indiferentes diante dos conitos da razo: se o dogmatismo das teses nos conduz concepo de que (i) o mundo tem um comeo, (ii) o eu pensante de natureza simples e incorruptvel, (iii) as aces voluntrias tm a liberdade por causalidade e (iv) a ordem das coisas do mundo devida a um ser originrio e necessrio; e se o empirismo das antteses nos indica que (i) o mundo no tem nem comeo nem autor, (ii) a nossa vontade no livre e (iii) a nossa alma to divisvel e corruptvel como a matria, ento, a falta de imparcialidade a que Kant chama interesse est, no juzo do mesmo, perfeitamente justicada porquanto reveladora de sensatez, a sensatez de aderir quilo que garante a permanncia das pedras angulares da moral e da religio e de recusar aquilo que [nos] rouba todos estes apoios, fazendo soobrar
274
Ibid., A 234 (trad. cit., p. 149).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
134
Ana Leonor Santos
as ideias morais e os seus princpios e retirando-lhes o seu valor a sensatez, portanto, de aderir s teses e recusar as antteses.275 Ora, ainda que devamos sublinhar que o interesse no se confunde em Kant com concesses egostas e possamos, por isso, admitir ser moralmente mais aceitvel, continuamos a falar de interesse na origem da posio adoptada o que, do ponto de vista especulativo, poderia resvalar para uma certa falta de honestidade intelectual, no fora a admisso do prprio Kant sobre o carcter decisivo do interesse, no apenas nos juzos do senso comum, mas tambm nas posies sustentadas no decorrer de uma investigao. Ao estender o interesse prtico pela tese ao interesse especulativo, na medida em que a anttese no nos d qualquer base sobre a qual possa ser erigido o edifcio do conhecimento, Kant aproxima a atitude do senso comum, junto do qual a tese detm uma popularidade que a anttese jamais poder alcanar, da atitude dos tericos que, ao reconhecerem a natureza arquitectnica da razo, encontram igualmente uma recomendao a favor das armaes da tese. Assim sendo, a soluo encontrada no resulta de uma escolha livre e desinteressada, mas da necessidade de manter a liberdade, ao mesmo tempo que produz a necessidade de crer em Deus. Se quando se trata de agir, os princpios so escolhidos de acordo com o interesse prtico, no conseguimos discernir se o interesse concorda com a realidade ou se se impe a ela na armao da tese e no recusar da anttese.
275
Cf. KRV, B 494-497, A 466-469.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
135
3.3.3
17. Consses kantianas
17. Consses kantianas
A conciliao da liberdade com a natureza um problema especulativo de interesse prtico de uma ordem diferente da do problema acerca da realidade da liberdade. Concedamos que a causalidade pela natureza e a causalidade pela liberdade podem coexistir. O que nos diz esta assero sobre a realidade da liberdade? Nada. E enquanto a natureza demonstra a sua realidade atravs da experincia, a realidade objectiva da liberdade duvidosa.276 O enunciado da questo acerca da possibilidade da coexistncia da causalidade da natureza e da liberdade apesar das leis naturais, a liberdade possvel?277 revelador da discrepncia de estatuto quanto realidade dos elementos em causa. Donde a necessidade de mostrar que em algum ente a liberdade se une natureza, produzindo efeitos sobre ela. Neste sentido, a liberdade humana, mais do que uma propriedade do homem, apresenta o homem como condio de possibilidade da liberdade.278 Sem um ente simultaneamente situado na ordem dos fenmenos e pertencente ao mundo inteligvel, no haveria mediao possvel entre as leis da natureza e a liberdade da vontade. Como se d a referida mediao algo que ca por esclarecer, segundo Kant, porque ultrapassa as faculdades da nossa razo. Tal incapacidade tem a consequncia surpreendente de impossibilitar a predio da conduta humana, porquanto no podemos conhecer o modo como a liberdade actuar na dimenso emprica. Exactamente pelo mesmo motivo, a moralidade das aces (ou seja, a pureza da inteno subjacente), inclusivamente das nossas prprias aces, permanece-nos oculta, pois em que medida um efeito tem
276 277 278
Cf. GMS, BA 114, 121. KRV, B 564, A 536 (trad. cit., p. 465). Cf. HEIDEGGER, op. cit., p. 134.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
136
Ana Leonor Santos
por causa a liberdade ou a natureza feliz ou infeliz do temperamento, algo a que ningum pode verdadeiramente aceder, pelo que se impe repensar a gura da imputabilidade, que s pode repousar sobre a dimenso emprica das aces. Ora, sabendo que na moral kantiana o que est em causa no a aco e sim a inteno, vislumbra-se um interessante hiato entre os pares liberdademoralidade e imputabilidaderesponsabilidade, revelia da considerao kantiana de que o grau de responsabilidade directamente proporcional ao grau de liberdade.279 Por sua vez, a prpria relao entre liberdade e moralidade periga segundo uma determinada leitura dos pressupostos kantianos, indicadores de que onde impera a lei moral no h escolha (em relao ao que deve ser feito) e de que a libertao da vontade face ao despotismo dos desejos nos conduz por um caminho nico e necessrio. Seremos, portanto, livres de escolher seguir ou no a lei moral embora s o sejamos verdadeiramente se no nos sujeitarmos aos impulsos sensveis e aderirmos lei; seguindo a razo, a nossa vontade querer necessariamente aquilo que deve querer, no sob a gura exclusiva da submisso, mas tambm como legisladora ela mesma. Ou seja, se no seguirmos a razo, somos escravos dos desejos; seguindo-a, no temos escolha (embora Kant considere que somos livres, segundo um conceito de liberdade muito pouco usual). Importa-nos agora regressar j sobejamente referida distino que constitui a condio de possibilidade da liberdade, para registar as palavras do prprio Kant: se os fenmenos so coisas em si, no possvel salvar a liberdade.280 Ou seja, sem a distino entre fenmeno e coisa em si, sem a concepo de tempo como simples modo de representao sensvel em nada relacionado com as coisas em si mesmas, o homem no passa de uma marioneta ou de um autmato de
Kant admite, contudo, que mesmo aqueles que revelam nas suas aces uma maldade precoce e incorrigvel pela educao, fazendo adivinhar uma espcie de constituio natural sem esperana, estando privados, portanto, de liberdade, continuam a ser justamente responsabilizados e censurados, desfazendo, dessa forma, o n que vulgarmente une a liberdade responsabilidade. Cf. KPV, A 178-179. 280 KRV, B, 564, A 536 (trad. cit., p. 465).
279
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
137
Vaucanson.281 Resta, ento, admitir que a liberdade uma ideia da razo da qual sabemos a possibilidade a priori, porque ela condio da lei moral, sem que a discernamos, dada a sua total ininteligibilidade. A liberdade transcendental tem, pois, de ser dita totalmente indiferente no que ao prtico diz respeito282 , sob pena de a sua condio de ideia perigar a realidade da liberdade. De que modo essa indiferena se compatibiliza com a concepo de uma liberdade prtica fundada na liberdade transcendental algo que escapa nossa compreenso e cuja justicao s conseguimos vislumbrar na tentativa de salvar a todo o custo o que se apresenta como a pedra angular da moral, apesar da ou decorrente da intuio da impossibilidade da liberdade. Ao armar se toda a causalidade no mundo dos sentidos fosse simplesmente natureza (...) a supresso da liberdade transcendental anularia simultaneamente toda a liberdade prtica283 , Kant no evita a diculdade da referida compatibilidade; certo que pretende demonstrar, precisamente, a manifestao (que surge sob a forma de uma imposio da razo) de um outro tipo de causalidade que no a natural, mas a resposta sua pretenso situ-la- na espontaneidade absoluta, o mesmo dizer, na liberdade transcendental. Assim sendo, suprimindo esta, manter-se-ia a liberdade prtica? Faamos uma epoch sobre esta diculdade para darmos conta de uma outra: para alm de uma ideia da liberdade que se apresenta como a priori, a moralidade est fundada numa proposio prtica sinttica a priori, a qual indica que uma vontade absolutamente boa aquela cuja mxima se pode transformar em lei universal, sendo que tal propriedade da mxima no pode ser derivada da anlise do conceito de vontade absolutamente boa; a universalidade da mxima s pode darse quando a vontade determinada pela razo afastada das inclinaes sensveis. Por isso, o enunciado V(r) V(x): se a vontade for apenas
281 282 283
Cf. KPV, A 181. Cf. KRV, B 831-832, A 803-804. Ibid., B 562, A 534 (trad. cit., pp. 463-464); sublinhado nosso.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
138
Ana Leonor Santos
determinada pela razo, quer necessariamente x, um enunciado analtico, cuja verdade lgica no impede a problematicidade antropolgica. A necessidade de recorrer a uma proposio prtica sinttica a priori talvez advenha do facto de ser antropologicamente inaudito colocar a moralidade de uma aco sob a gide da determinao exclusiva pela razo. Alis, o reconhecimento kantiano de que ao homem s dado agir apelando para a sensibilidade est patente na armao da necessidade de que a razo inspire um sentimento de prazer no cumprimento do dever para que o homem queira aquilo que s a razo lhe prescreve como dever.284 Por isso, a palavra nal ou o desejo nal que remete para a independncia da lei moral, portanto, da pessoa, em relao animalidade, s pode ser dita projectando a existncia humana para l desta vida285 , j que nesta o curso regular da histria humana no seu conjunto faz adivinhar a integrao numa teleologia oculta, que levou Kant a escrever, em 1784: Seja qual for o conceito que, tambm com um desgnio metafsico, se possa ter da liberdade da vontade, as suas manifestaes, as aces humanas, so determinadas, bem como todos os outros eventos naturais, segundo as leis gerais da natureza.286 Do ponto de vista tico, a questo que urge pensar no tanto a da compatibilidade do determinismo e da liberdade quanto a da realidade da liberdade, embora estejamos crentes de que a impossibilidade de chegar a bom termo na realizao de tal empresa no alteraria sobremaneira o mundo da praxis, sustentado que seria pelo como se, sob resguardo do qual Kant procurou garantir a validade da sua proposta moral: dada a impossibilidade de demonstrar a liberdade no sentido terico, e a indeciso antes referida a que a razo se veria votada caso estivesse em seu poder analisar as proposies em conito na antinomia independentemente do interesse prtico, Kant conclui que as mesmas leis que obrigariam um ser que fosse verdadeiramente livre continua284 285 286
Cf. GMS, BA 122. Cf. KPV, A 289. IAG, A 385 (trad. cit., p. 21).
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
139
riam a ser vlidas para um ser que no possa agir de outro modo seno sob a ideia da sua prpria liberdade.287 Portanto, ainda que se d a inobservncia das duas condies postas por Kant para que a vontade humana possa pensar-se livre, a saber, a distino nuclear do criticismo entre fenmeno e coisa em si, e a aplicao do princpio da causalidade apenas ao primeiro e da vontade coisa em si, de certa forma a realidade da liberdade encontra-se salvaguardada na assuno da mesma em todas as aces de cariz moral. Que a incognoscibilidade no signica irrealidade estava j estabelecido nas diatribes em torno das aporias eleticas do movimento. Todavia, o raciocnio kantiano conduz-nos da possibilidade lgica da liberdade, isto , da sua pensabilidade, garantida pela armao dos limites gnoseolgicos da razo e da correlativa distino entre fenmeno e coisa em si, possibilidade real da mesma liberdade, ou seja, sua validade objectiva, retirada j no de fontes tericas, mas sim de fontes prticas. Destas extramos o ensinamento de que a liberdade um pressuposto absolutamente necessrio moral, o qual, no podendo ser conhecido, tem de ser dito a priori. Ou seja, perante a impensvel possibilidade de esvaziar a extenso prtica da razo pura, Kant suprime o saber em benefcio da crena, num testemunho articiosa e complexamente elaborado da condenao humana crena na liberdade. Tal condenao, porm, no universal: h aqueles que no tm f, recusando atribuir validade [objectiva] s ideias da razo, desprovidas de fundamentao terica.288 Sendo a f a adeso ao que permanece inacessvel ao conhecimento terico, a admisso como verdadeiro do que entendido como condio de possibilidade da moral, aqueles que no tm f esto sujeitos a uma outra condenao que no a da crena na liberdade: vem-se remetidos ao dogmatismo e submetidos a interaces regidas pela gide do como se.
287 288
GMS, n: BA 101 (trad. cit., p. 96). Cf. KRV, B 713, A 685. Cf. KU, 91, A 462-464.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
140
Ana Leonor Santos
REFLEXO FINAL
REFLEXO FINAL
A liberdade a ratio essendi da lei moral: est contida neste considerando kantiano cujo ltimo termo admite vrias substituies sem que, com isso, as proposies subsequentes vejam alterado o suposto valor de verdade da proposio inicial a valorizao de um conceito sobre o qual, no seguimento de uma certa tradio humanista, h muito repousa a ideia da dignidade humana. Se a mesma liberdade que fundamenta a dignidade instaura a gura da responsabilidade, o questionamento da primeira implica admitir a reformulao de todos os pressupostos que subjazem s relaes humanas. Acresce a tais consideraes o facto de qualquer indcio de que as aces tm por causa factores ou exteriores ao agente ou, ainda que internos, por ele no controlveis parecer ameaar o valor absoluto da pessoa humana, concepo que encontra correlato mesmo num contexto como o da Grcia Antiga em que a contingncia prpria dos assuntos humanos sinnimo de imperfeio e inferioridade ontolgica, pois inclusivamente nesse universo apenas somos dignos de elogio (e, pela mesma ordem de ideias, alvo de reprovao) no mbito dos actos voluntrios. As aces praticadas involuntariamente sero passveis de indulgncia, qui de piedade, mas jamais motivo de admirao.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
141
Daqui decorre que o caminho trilhado pela cincia ao longo do sculo XX, particularmente nas reas da biologia e das neurocincias caminho esse que apontou para a ocupao pelo determinismo do espao at ento reservado ao exerccio do livre arbtrio seja amide e por diferentes quadrantes acusado de inumano. Com este veredicto, pretende-se sublinhar o perigo que a cincia representa para a humanidade, na dupla signicao do conceito: enquanto membros da espcie humana, devemos temer a ameaa que aquela constitui para a sobrevivncia e a genuinidade da mesma; (mais profundamente) enquanto membros de um reino dos ns, cujo estatuto nos outorgado graas nossa situao de seres autnomos, devemos insurgir-nos contra aquilo que retira pessoa a sua condio de possibilidade, inviabilizando a libertao dos grilhes da natureza. A cincia , ento, dita inumana porque destitui o ser humano da sua condio de superioridade, encontrada na possibilidade de ascender a pessoa. Nessa medida, evidenciar a incapacidade cientca para dar conta daquilo que a pessoa transforma-se num imperativo moral. Sendo apenas um modo de dar resposta ao desejo humano de conhecer, a cincia no esgota, naturalmente, os vrios ngulos de abordagem de uma qualquer problemtica. A natureza especializada do saber que ela , natureza que constitui igualmente a sua mais valia em termos de possibilidade de progresso, implica o tratamento parcial do objecto em estudo e uma investigao necessariamente contida dentro dos limites do cienticamente testvel. Porm, quando a losoa ignora os dados que a cincia vai acrescentando ao conhecimento do ser humano, legitima o preconceito cientco que lhe com frequncia dirigido. E tal ignorncia tanto mais incompreensvel quanto os problemas so comuns e tm, inequivocamente, uma origem losca. Em instante algum confrontmos as teses dos autores em anlise com a viso de um mundo (ainda) parcialmente explicvel atravs de impulsos neurolgicos e reaces qumicas. Desde o incio indicmos no ser esse o nosso objectivo. Porm, chegou o momento de reconhecer que algumas das concluses a que a cincia actualmente foi condu-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
142
Ana Leonor Santos
zida, relativas temtica que aqui nos propusemos tratar, encontramolas pressupostas, quer na teleologia aristotlica, quer no deontologismo kantiano. Nessa medida, foi utilizando determinadas teses do pensamento do prprio Aristteles que chegmos equivalncia dos supostos mundos do necessrio e do contingente, tal como foi evidenciando certas consses do prprio Kant que conclumos a ininteligibilidade da liberdade e a impossibilidade de armar a realidade objectiva da mesma, sem concesses instncia da f. E, pese embora as considerveis divergncias entre as ticas dos dois lsofos, uma investigao mais atenta sobre a globalidade das respectivas consideraes leva-nos ao encontro de pontos de convergncia em muito do que ao essencial diz respeito. A primeira coincidncia digna de registo situa-se na relevncia extrema atribuda educao. Tanto em Aristteles como em Kant, os hbitos fomentados e os ensinamentos proporcionados desde a infncia so considerados decisivos no correcto desenvolvimento da eticidade. A absolutizao de tal factor, a que se juntam outros tantos elementos internos e externos, v-se impedida pela necessidade de garantir que a gura da responsabilidade no se desvanea por entre mecanismos mais ou menos deterministas. Desta forma, mantm-se inclume o lugar do esforo individual, embora merea apreciaes diferentes por parte de Aristteles e de Kant: este avalia-o como mais moral do que a simples disposio para o bem e o correcto, avaliao que resulta na consequncia estranha de ser considerada mais moral a pessoa cuja disposio contrria moralidade, caso a sua vontade se deixe conduzir pela razo, do que aquela cuja disposio est em consonncia com os ditames da razo; j Aristteles situa a verdadeira moralidade na gura da temperana, por ser a nica disposio do carcter que est para l da exigncia de um constante esforo para realizar o correcto. Na verdade, tanto uma posio como a outra suscitam algumas questes. No primeiro caso, referida estranheza pela concluso de que os menos propensos moralidade tm de ser ditos os mais morais, junta-se a constatao de que o louvor reconhecido , na maioria das
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
143
vezes, directamente proporcional ao esforo que se julga envolvido. E para o vericarmos, basta considerar casos que nos sejam intuitivos: por exemplo, na realizao da mesma tarefa, julgamos mais digno de louvor aquele que precisou de se esforar mais do que aquele que a executou to bem quanto o primeiro, mas sem investir muito esforo; da mesma forma que admiramos mais quem construiu um qualquer imprio do que quem se limitou a herd-lo e a geri-lo ou quem sendo oriundo de meios propcios prtica do crime se torna uma pessoa de bem. E tudo isto parece justicado pelo facto de valorizarmos o que no est determinado e resulta simplesmente do empenho individual, mesmo se a determinao for consentnea com o justo e o conveniente. O que no est de todo demonstrado a adequao de tais julgamentos, pois em que medida uma natureza e uma educao favorveis moralidade diminuem o mrito dessa mesma moralidade algo cuja determinao nos parece problemtica e cuja assuno se nos revela assaz injusta. Por sua vez, na tica aristotlica, a considerao de que a moralidade das aces, no sentido mais nobre da palavra, deve ser remetida para a temperana, para alm de destituir do mrito que lhe devido o esforo da continncia, reduz a moralidade ao grupo dos diminutos bem-aventurados para cujo carcter temperado concorreram os diversos factores envolvidos na sua origem. Para l desta divergncia, Aristteles e Kant concordam no facto de a verdadeira avaliao tico-moral recair sobre as escolhas e no sobre os actos. Simplesmente, como no fcil avaliar a qualidade das escolhas, em linguagem aristotlica, ou a inteno, em termos kantianos, somos forados num caso a avaliar a qualidade dos actos e noutro a admitir a adequao das intenes subjacentes s aces correctas. O que nem um nem outro chegam a admitir que as ditas escolhas e as intenes resultam de variveis pelas quais o agente no responsvel, da mesma forma que no voluntria a felicidade de que o mesmo possa usufruir, no que ambos j concedem. Ora, como tivemos oportunidade de notar, na teleologia aristotlica a recusa da premncia da fortuna e do acaso no desinteressada,
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
144
Ana Leonor Santos
tal como no deontologismo kantiano no desinteressada a opo pela armao da liberdade como causa, a par da causalidade pela natureza. As duas posies resultam de uma deliberao consciente em prol da concluso considerada prefervel, ao arrepio do que uma investigao neutra pudesse mostrar e mesmo ignorando aquilo que o cotejo com tal investigao, pontualmente levada a cabo por ambos, indicia. Assim sendo, no nos parece que tenhamos professado alguma espcie de heresia face a qualquer das losoas em causa; limitmo-nos a libertar dos parnteses as evidncias a que (prudentemente) os autores, nas respectivas obras, no quiseram atribuir demasiado relevo, sem que, no entanto, pudessem ignor-las. De qualquer forma, em nenhum dos casos o resultado das teses que fomos desbravando sinnimo de esvaziamento da responsabilidade na sua extenso. Na medida em que a prudncia e o bom senso que ditam a crena na liberdade resultam em grande parte da considerao da mesma como condio sine qua non da responsabilidade, dissolver essa mesma imbricao constitui um argumento signicativo a dirigir aos que receiam e repudiam as concepes deterministas. Tal empresa pode ser conseguida recorrendo ao estatuto que o eu detm enquanto autor de uma aco, da qual pode ser causa ou no. Porque o poder de transformar acontecimentos em aces se revela de forma privilegiada na proposio eu ajo, cuja formulao no facilita a diferenciao entre causa e efeito, embora arme de forma inequvoca a autoria da aco, depositamos naquele pronome pessoal a garantia de que a imputabilidade se mantm revelia do destino da liberdade. As causas implicadas numa aco, sejam deterministas ou no, manifestam-se atravs do eu, que as assume como constitutivas de si mesmo ao considerar-se autor das suas aces. Patrimnio gentico, processos siolgicos e aprendizagens culturais sero, pois, o ltimo reduto causal dos actos por ns praticados, sem que sejamos causa de nenhuma das causas citadas e sem que por isso permaneamos excludos da condio de autores. As referidas causas constituem, na nossa perspectiva, elementos determinantes da aco, o que signica
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
145
que a resposta questo inicialmente colocada acerca da possibilidade de existirem comportamentos diferentes mantendo idntica a natureza das causas , para ns, negativa. Conhecendo integralmente as variveis que, a cada instante, se conjugam no processo de deliberao, o seu desfecho seria seguramente previsvel. Esta omniscincia que projectada em Deus e que tantos dilemas provoca na sua compatibilizao com o livre arbtrio revela-se escala humana na determinao com que uma aco pode ser praticada, determinao vulgarmente louvvel sem que se atente ao seu signicado: o conhecimento do agente em relao quilo que quer inversamente proporcional ao espectro das possibilidades, relao que culmina na passagem, operada pela deciso, da admitida contingncia necessidade; a vontade que decide renuncia ao mesmo tempo e pela mesma razo aos possveis que foram excludos na e pela deciso, abolindo a coexistncia dos contrrios; a pessoa que age de modo determinado instaura uma necessidade que, afora o invlucro prtico que a constrange, Aristteles e Kant, anal, poderiam preconizar para a tica. Trata-se do mesmo invlucro que garante a perpetuao da responsabilidade, pois construdo por convices metafsicas e antropolgicas que invadem o quotidiano de todos, revelia das concluses a que possamos ser conduzidos no decorrer de exerccios especulativos. No podemos deixar de nos sentir responsveis e de responsabilizar os outros pelas decises tomadas e pelas aces praticadas, da mesma forma que no podemos deixar de nos sentir justos merecedores de elogio e de censura pelos feitos realizados. Nessa medida, a tica no serve apenas a um ser que viva na contingncia e que seja dotado de liberdade; igualmente til no seu papel regulador a um ser que no pode agir seno sob a ideia da sua prpria liberdade, porque v no determinismo uma absurdidade moral, que na verdade mais no signica do que o fora de tom que o mesmo parece representar. A tica permanecer, portanto, necessria enquanto nos mantivermos incapazes de viver na dissonncia.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
146
Ana Leonor Santos
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA
5.1
I. Fontes
a) Aristteles
De Anima. On the soul, translation by W. S. Hett, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1936, 1995, vol. VIII, pp. 8-203. Da alma, introduo, traduo e notas por Carlos Gomes, Lisboa, Edies 70, 2001. De generatione animalium. Generation of animals, translation by A. L. Peck, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1942, 1990, vol. XIII. De incessu animalium. Investigacin sobre los animales, introduccin de Carlos Gual, traduccin y notas de Julio Bonet, Madrid, Gredos, 1992.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
147
De Interpretatione. On Interpretation, edited and translated by Harold Coock, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1938, 1996, vol. I, pp. 112-179. De motu animalium. Movement of animals, translation by E. S. Forster, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1937, 1998, vol. XII, pp. 440-479. De partibus animalium. Parts of animals, translation by A. L. Peck, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1937, 1998, vol. XII, pp. 52-431. Partes de los animales, introducciones, traducciones y notas de Elvira SnchezEscariche y Almudena Miguel, Madrid, Gredos, 2000. Ethica Eudemia. Eudemia ethics, translation by H. Rackham, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge / London, 1935, 1996, vol. XX, pp. 234-477. thique Eudme, introduction, traduction, notes et indices par Vianney Dcarie, Paris, Vrin, 1997. tica a Eudemo, traduo de Antnio Amaral e Artur Moro em colaborao com o GEPOLIS-UCP, Lisboa, Tribuna da Histria, 2005. Ethica Nicomachea. Nicomachean ethics, translation by H. Rackham, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge / London, 1926, 1999, vol. XIX. thique Nicomaque, introduction, traduction, notes et index par Jules Tricot, Paris, Vrin, 1972, 1997. Historia Animalium. History of Animals, translation by A. L. Peck, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/ London, 1965, 1993, vol. IX, boocks I-III. Investigacin sobre los animales, introduccin de Carlos Gaul, traduccin y notas de Julio Bonet, Madrid, Editorial Gredos, 1992, livros I, VII e IX.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
148
Ana Leonor Santos
Metaphysica. Metaphysics, translation by Hugh Tredennick, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1936, 1996, vol. XVII, books I-IX. Mtaphysique, traduction et notes par Jules Tricot, Paris, Vrin, 1933, 1991, 2 tomes. Physica. Physics, translation by Philip Wicksteed and Francis Cornford, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1929, 1996, vol. IV, books I-IV. Fsica, introduccin, traduccin y notas de Guillermo Echanda, Madrid, Gredos, 1995, 1998. Poetica. Potica, 6a ed., traduo, prefcio, introduo, comentrio e apndices de Eudoro de Sousa, Lisboa, IN-CM, 2000. Politica. Poltica, edio bilingue, traduo e notas de Antnio Amaral e Carlos Gomes, Lisboa, Vega, 1998. Rhetorica. Rethoric, translation by John Freese, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1926, 1994, vol. XXII. Retrica, traduo de Abel Pena, Manuel Jnior e Paulo Alberto, Lisboa, IN-CM, 1998.
b) Kant
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht in Werke, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1798/1800, 1983, vol. VI, pp. 399-690. Anthropologie du point de vue pragmatique, texte traduit et annot par Pierre Jalabert in ALQUI, Ferdinand (dir.), Oeuvres Philosophiques, Paris, Gallimard, 1986, vol. III, pp. 937-1144.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
149
De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et princpiis. Acerca da forma e dos princpios do mundo sensvel e do mundo inteligvel, traduo de Jos Andrade, in Textos Pr-Crticos, seleco e introduo de Rui Magalhes, traduo de Alberto Reis e Jos Andrade, Porto, Rs, 1700, 1983, pp. 185-229. Die Metaphysik der Sitten. Erster Theil: Metaphysische Anfansgrnde der Rechtslehre. Metafsica dos Costumes. Parte I: Princpios Metafsicos da Doutrina do Direito, traduo de Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1797-1798, 2004. Die Metaphysik der Sitten. Zweiter Theil: Metaphysische Anfangsgrnde der Tugendlehre. Metafsica dos Costumes. Parte II: Princpios Metafsicos da Doutrina da Virtude, traduo de Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1797-1798, 2004. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Fundamentao da Metafsica dos Costumes, traduo de Paulo Quintela, Lisboa, Edies 70, 1785, 1997. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbrgerlicher Absicht. Ideia de uma histria universal com um propsito cosmopolita in A Paz Perptua e outros opsculos, traduo de Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1784, 1995. Kritik der praktischen Vernunft. Crtica da Razo Prtica, traduo de Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1788, 1997. Kritik der reinen Vernunft in Werke, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1781, 1983, vol. II, Crtica da Razo Pura, 3a ed., introduo e notas de Alexandre Morujo, traduo de Alexandre Morujo e Manuela Santos, Lisboa, FCG, 1994. Kritik der Urteilskraft. Crtica da Faculdade do Juzo, introduo de Antnio Marques, traduo e notas de Antnio Marques e Valrio Rohden, Lisboa, IN-CM, 1992.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
150
Ana Leonor Santos
Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. Nova explicao dos primeiros princpios do conhecimento metafsico, traduo de Jos Andrade in Textos Pr-Crticos, seleco e introduo de Rui Magalhes, traduo de Alberto Reis e Jos Andrade, Porto, Rs, 1755, 1983, pp. 33-78. Prolegomena zu einer jeden knftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten knnen. Prolegmenos a toda a Metafsica Futura, que queira apresentar-se como cincia, traduo de Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1783, 1988. ber den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. Sur lusage des principes tlologiques en philosophie, traduction de Luc Ferry in ALQUI, Ferdinand (dir.), Oeuvres Philosophiques, Paris, Gallimard, 1985, vol. II, pp. 553-593. ber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fr die Praxis. Sobre a expresso corrente: Isto pode ser correcto na teoria, mas nada vale na prtica, traduo de Artur Moro in A Paz Perptua e outros opsculos, Lisboa, Edies 70, 1995, pp. 57-102. ber Pdagogik in Werke, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1803, 1983, vol. VI, pp. 691-761. Propos de pdagogie, texte traduit et annot par Pierre Jalabert in ALQUI, Ferdinand (dir.), Oeuvres Philosophiques, Paris, Gallimard, 1986, vol. III, pp. 1145-1203. Untersuchung ber die Deutlichkeit der Grundstze der natrlichen Theologie und der Moral. Investigao sobre a evidncia dos princpios da teologia natural e da moral, traduo de Alberto Reis, in Textos Pr-Crticos, seleco e introduo de Rui Magalhes, traduo de Alberto Reis e Jos Andrade, Porto, Rs, 1763, 1983, pp. 127-157. Recherche sur lvidence des principes de la thologie naturelle et de la morale, texte prsent, traduit
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
151
et annot par Jean Ferrari in ALQUIE, Ferdinand (dir.), Oeuvres Philosophiques, Paris, Gallimard, 1980, vol. I, pp. 205-249. Versuch, den Begriff der negativen Gr en in die Weltweisheit einzufhren. Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeurs ngatives, texte prsent, traduit et annot par Jean Ferrari in ALQUI, Ferdinand (dir.), Oeuvres Philosophiques, Paris, Gallimard, 1763, 1980, vol. I, pp. 250-302.
5.2
II. Bibliograa secundria
ATLAN, Henri, La science est-elle inhumaine? Essai sur la libre ncessit, Paris, Bayard, 2002. AUBENQUE, Pierre, La prudence chez Aristote, 3a ed., Paris, PUF, 1963, 2002. HEIDEGGER, Martin, Vom Wesen der Menschlichen Freiheit; Einleitung in die Philosophie. De lEssence de la Libert Humaine; Introduction la Philosophie, traduction de Emmanuel Martineau, Paris, Editions Gallimard, 1930, 1987. LAUPIES, Frdric, La Libert, Paris, PUF, 2004. MONOD, Jacques, Le Hasard et la Ncessit. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Editions du Seuil, 1970. NUSSBAUM, Martha, The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, New York, Cambridge University Press, 1986, 1996.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
152
Ana Leonor Santos
PLATO, Protagoras, english translation by W. R. Lamb, Loeb Classical Library, Harvad University Press, Cambridge/London, 1924, 1999, vol. II, pp. 85-257. REALE, Giovanni, Introduzione a Aristotele. Introduo a Aristteles, 10a ed., traduo de Artur Moro, Lisboa, Edies 70, 1974, 1997. ROSS, David, Aristotle. Aristteles, traduo de Lus Teixeira, Lisboa, D. Quixote, 1923, 1987. SCHILPP, Paul Arthur, Kants Pre-Critical Ethics, second edition, Evanston, Northwestern University Press, 1938, 1960. SFOCLES, Antgona, introduo, verso do grego e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa, FGC/FCT, s.d. TUGENDHAT, Ernst, Vorlesungen ber Ethik. Lecciones de tica, traduccin de Luis Rabanaque, Barcelona, Gedisa, 1993, 2001 (1a ed. 1997). VERGNIRES, Solange, thique et politique chez Aristote. Physis, thos, Nomos, Paris, PUF, 1995. VILLACAAS, Jos Luis, Kant in CAMPS, Victoria (ed.), Historia de la tica; la tica moderna, Barcelona, Crtica, 1999, vol. 2, pp. 315-404. WOLFF, Francis, Je et lthique in Francis Wolff (textes runis par), Philosophes en libert. Positions & arguments I, Paris, Ellipses Editions, 2001.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Para uma tica do como se. Contingncia e Liberdade...
153
5.3
III. Lxicos e Enciclopdias
EISLER, Rudolf, Kant-Lexikon, dition tablie et augmente par Anne-Dominique Balms et Pierre Osmo, Paris, Gallimard, 1930 (publicao pstuma), 1994. PETERS, F. E., Greek Philosophical Terms. Termos loscos gregos. Um lxico histrico, prefcio de Miguel Baptista Pereira e traduo de Beatriz Barbosa, Lisboa, FCG, s.d. AMSTERDAMSKI, Stefan, Liberdade/Necessidade e Determinado/Indeterminado in GIL, Fernando (coord.-responsvel ed. port.) in Enclicopdia Einaudi, vol. 33 Explicao, Lisboa, INCM, 1996, pp. 11-63.
www.lusosoa.net
i i i
Potrebbero piacerti anche
- A Porta Estreita.06 12 2011Documento8 pagineA Porta Estreita.06 12 2011Fernandes MartinhoNessuna valutazione finora
- ExamesDocumento26 pagineExamesCarolina RodriguesNessuna valutazione finora
- Reconcilia-Te Com Teu Adversario (Psicografia Joao Candido - Espirito Irma Tereza)Documento94 pagineReconcilia-Te Com Teu Adversario (Psicografia Joao Candido - Espirito Irma Tereza)Antonia Mara NevesNessuna valutazione finora
- Manual Da ManifestaçãoDocumento23 pagineManual Da ManifestaçãoAdriana Souza86% (21)
- Universo em Desencanto 7º Volume Da ObraDocumento303 pagineUniverso em Desencanto 7º Volume Da ObraAntonio Pereira Grassi100% (4)
- Guerra Espiritual Na Mente 2Documento4 pagineGuerra Espiritual Na Mente 2antoniorenad100% (2)
- II.1.2. Teorias Sobre Livre - ArbítrioDocumento37 pagineII.1.2. Teorias Sobre Livre - ArbítrioAnonymous 7ZCJXTDNessuna valutazione finora
- Didatico Livro Arte de Pensar 11ano Caderno EstudanteDocumento56 pagineDidatico Livro Arte de Pensar 11ano Caderno EstudanteAlberto CuambeNessuna valutazione finora
- 3.10 - Lei de LiberdadeDocumento74 pagine3.10 - Lei de LiberdadeMarthamefiNessuna valutazione finora
- Livre-Arbitrio em Santo AgostinhoDocumento5 pagineLivre-Arbitrio em Santo Agostinhoanderson oliveiraNessuna valutazione finora
- Tese Universitária Sobre o Livre-ArbítrioDocumento113 pagineTese Universitária Sobre o Livre-Arbítrioal29491Nessuna valutazione finora
- Dez Erros Filosoficos - Mortimer J. AdlerDocumento192 pagineDez Erros Filosoficos - Mortimer J. AdlerBem ViadaoNessuna valutazione finora
- Macho NASCE Macho Fêmea NASCE FêmeaDocumento143 pagineMacho NASCE Macho Fêmea NASCE FêmeaLuiz Carlos100% (1)
- Determinismo RígidoDocumento3 pagineDeterminismo RígidoRoberto De Andrade CaetanoNessuna valutazione finora
- Elementais - Tópicos Básicos: - Intenções para Com ElesDocumento38 pagineElementais - Tópicos Básicos: - Intenções para Com ElesAndresa Alves SantosNessuna valutazione finora
- Filosofia - APOSTILA.3ºANO PDFDocumento25 pagineFilosofia - APOSTILA.3ºANO PDFRodrigo Vivi Germano100% (1)
- Gabarito Policia Civil PR 2020-BDocumento14 pagineGabarito Policia Civil PR 2020-BRichard Felipe SalgadoNessuna valutazione finora
- Behaviorismo Definição e História - RESUMÃODocumento11 pagineBehaviorismo Definição e História - RESUMÃOMarcos F. Maia100% (2)
- O Uso Da Apometria Como Heuristica para o Estudo Do Suicidio e Da EutanasiaDocumento11 pagineO Uso Da Apometria Como Heuristica para o Estudo Do Suicidio e Da EutanasiaJosé AntonioNessuna valutazione finora
- Determinismo e LiberdadeDocumento9 pagineDeterminismo e LiberdadeCarla AbreuNessuna valutazione finora
- TD Filosofia AldenirDocumento21 pagineTD Filosofia AldenirAlexan BlueBlackNessuna valutazione finora
- Feios, Sujos e Malvados Sob Medida Do Crime Ao Trabalho, A Utopia Médica Do Biodeterminismo em São Paulo (1920-1945)Documento379 pagineFeios, Sujos e Malvados Sob Medida Do Crime Ao Trabalho, A Utopia Médica Do Biodeterminismo em São Paulo (1920-1945)defensormalditoNessuna valutazione finora
- O Problema Do Mal em Santo AgostinhoDocumento8 pagineO Problema Do Mal em Santo AgostinhoananiasrenatoNessuna valutazione finora
- Huberto Rohden - Cosmoterapia PDFDocumento105 pagineHuberto Rohden - Cosmoterapia PDFtatigfbpa100% (7)
- Determinismo 10ºDocumento7 pagineDeterminismo 10ºTeresa-Academia BucelasNessuna valutazione finora
- 382 - PLANTÃO DE RESPOSTAS PINGA FOGO II - (Chico Xavier - Emmanuel)Documento65 pagine382 - PLANTÃO DE RESPOSTAS PINGA FOGO II - (Chico Xavier - Emmanuel)Gianete RochaNessuna valutazione finora
- Exercicios PleiadianosDocumento21 pagineExercicios Pleiadianosclarindo_gouveia100% (6)
- Diálogos Com Hidden HandDocumento54 pagineDiálogos Com Hidden Handmsorbilli100% (4)
- Arquivo Yoruba Pisci.Documento42 pagineArquivo Yoruba Pisci.willian_daniel_13Nessuna valutazione finora
- AS 7 PERGUNTAS FREQUENTEMENTE FEITAS - Kryon Através de Lee Carroll PDFDocumento7 pagineAS 7 PERGUNTAS FREQUENTEMENTE FEITAS - Kryon Através de Lee Carroll PDFjosé_alencar_57Nessuna valutazione finora