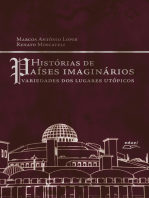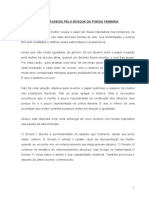Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
A Personagem de Romance Candido, Antonio
Caricato da
Gabriela Silva0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
123 visualizzazioni9 pagineO documento discute a personagem no romance. Apresenta que enredo e personagem estão intimamente ligados e expressam a visão de mundo e valores do romance. Explica que as personagens literárias são seres fictícios que precisam parecer verdadeiros para o leitor, apesar de não existirem na realidade. Também destaca que os autores modernos passaram a retratar a complexidade psicológica humana e o mistério dos seres por meio das personagens.
Descrizione originale:
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoO documento discute a personagem no romance. Apresenta que enredo e personagem estão intimamente ligados e expressam a visão de mundo e valores do romance. Explica que as personagens literárias são seres fictícios que precisam parecer verdadeiros para o leitor, apesar de não existirem na realidade. Também destaca que os autores modernos passaram a retratar a complexidade psicológica humana e o mistério dos seres por meio das personagens.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
123 visualizzazioni9 pagineA Personagem de Romance Candido, Antonio
Caricato da
Gabriela SilvaO documento discute a personagem no romance. Apresenta que enredo e personagem estão intimamente ligados e expressam a visão de mundo e valores do romance. Explica que as personagens literárias são seres fictícios que precisam parecer verdadeiros para o leitor, apesar de não existirem na realidade. Também destaca que os autores modernos passaram a retratar a complexidade psicológica humana e o mistério dos seres por meio das personagens.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
1
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAO EQUIPE CURSO DE LETRAS
DISCIPLINA: Conceitos Fundamentais de Literatura Profa. Dra. Henriete Karam
FONTE: CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In: CNDIDO, A. et al. A personagem de
fico. So Paulo: Perspectiva, 1970. p. 53-80.
A PERSONAGEM DO ROMANCE
[53] Geralmente, da leitura de um romance fica a
impresso duma srie de fatos, organizados em
enrdo, e de personagens que vivem stes fatos.
uma impresso prticamente indissolvel: quando
pensamos no enrdo, pensamos simultneamente
nas personagens; quando pensamos nestas, pensa-
mos simultneamente na vida que vivem, nos pro-
blemas em que se enredam, na linha do seu destino
traada conforme uma certa durao temporal,
referida a determinadas condies de ambiente. O
enrdo existe atravs das personagens; as persona-
gens vivem no enrdo. Enrdo e personagem ex-
primem, ligados, os intuitos do romance, a viso da
[54] vida que decorre dle, os significados e valores
que o animam. Nunca expor idias a no ser em
funo dos temperamentos e dos caracteres
1
. To-
me-se a palavra idia como sinnimo dos men-
cionados valores e significados, e ter-se- uma ex-
presso sinttica do que foi dito. Portanto, os trs
elementos centrais dum desenvolvimento novelsti-
co (o enrdo e a personagem, que representam a sua
matria; as idias, que representam o seu signifi-
cado, e que so no conjunto elaborados pela tc-
nica), stes trs elementos s existem intimamente
ligados, inseparveis, nos romances bens realizados.
No meio dles, avulta a personagem, que representa
a possibilidade de adeso afetiva e intelectual do
leitor, pelos mecanismos de identificaes, projeo,
transferncia etc. A personagem vive o enrdo e as
idias, e os torna vivos. Eis uma imagem feliz de
Gide: Tento enrolar os fios variados do enrdo e a
complexidade dos meus pensamentos em tmo
destas pequenas bobinas vivas que so cada uma
das minhas personagens (ob. cit., p. 26).
No espanta, portanto, que a personagem parea
o que h de mais vivo no romance; e que a leitura
dste dependa bsicamente da aceitao da verdade
da personagem por parte do leitor. Tanto assim, que
ns perdoamos os mais graves defeitos de enrdo e
de idia aos grandes criadores de personagens. Isto
nos leva ao rro, freqentemente repetido em crti-
ca, de pensar que o essencial do romance a perso-
nagem, como se esta pudesse existir separada das
outras ralidades que encarna, que ela vive, que lhe
do vida. Feita esta ressalva, todavia, pode-se dizer
1
Gide, Journal des Faux-Monnayeurs, 6.me dition,
Gallmard, Pule 1927, p. 12.
que o elemento mais atuante, mais comunicativo
da arte novelstica moderna, como se configurou
nos sculos XVIII, XIX e como do XX; mas que s
adquire pleno significado [55] no contexto, e que,
portanto, no fim de contas a construo estrutural
o maior responsvel pela fra e eficcia de um
romance.
A personagem um ser fictcio, expresso que
soa como paradoxo. De fato, como pode uma fico
ser? Como pode existir o que no existe? No
entanto, a criao literria repousa sbre ste
paradoxo, e o problema da verossimilhana no
romance depende desta possibilidade de um ser
fictcio, isto , algo que, sendo uma criao da
fantasia, comunica a impresso da mais ldima
verdade existencial. Podemos dizer, portanto, que o
romance se baseia, antes de mais nada, num certo
tipo de relao entre o ser vivo e o ser fictcio,
manifestada atravs da personagem, que a
concretizao dste.
Verifiquemos, inicialmente, que h afinidades e
diferenas essenciais entre o ser vivo e os entes de
fico, e que as diferenas so to importantes
quanto as afinidades para criar o sentimento de
verdade, que a verossimilhana. Tentemos uma
investigao sumria sbre as condies de
existncia essencial da personagem, como um tipo
de ser, mesmo fictcio, comeando por descrever do
modo mais emprico possvel a nossa percepo do
semelhante.
Quando abordamos o conhecimento direto das
pessoas, um dos dados fundamentais do problema
o contraste entre a continuidade relativa da
percepo fsica (em que fundamos o nosso
conhecimento) e a descontinuidade da percepo,
digamos, espiritual, que parece freqentemente
romper a unidade antes apreendida. No ser uno que
a vista ou o contato nos apresenta, a convivncia
espiritual mostra uma variedade de modos-de-ser,
de qualidades por vzes contraditrias.
A primeira idia que nos vem, quando refletimos
sbre isso, a de que tal fato ocorre porque no
somos [56] capazes de abranger a personalidade do
outro com a mesma unidade com que somos capa-
zes de abranger a sua configurao externa. E conclu-
mos, talvez, que esta diferena devida a uma dife-
rena de natureza dos prprios objetos da nossa
percepo. De fato, pensamos o primeiro tipo
de conhecimento se dirige a um domnio finito, que
2
coincide com a superfcie do corpo; enquanto o se-
gundo tipo se dirige a um domnio infinito, pois a
sua natureza oculta explorao de qualquer sen-
tido e no pode, em conseqncia, ser aprendida
numa integridade que essencialmente no possui.
Da concluirmos que a noo a respeito de um ser,
elaborada por outro ser, sempre incompleta, em
relao percepo fsica inicial. E que o conheci-
mento dos sres fragmentrio.
Esta impresso se acentua quando investigamos
os, por assim dizer, fragmentos de ser, que nos so
dados por uma conversa, um ato, uma seqncia de
atos, uma afirmao, uma informao. Cada um
dsses fragmentos, mesmo considerado um todo,
uma unidade total, no uno, nem contnuo. le
permite um conhecimento mais ou menos adequado
ao estabelecimento da nossa conduta, com base num
juzo sbre o outro ser; permite, mesmo, uma noo
conjunta e coerente dste ser; mas essa noo osci-
lante, aproximativa, descontnua. Os sres so, por
sua natureza, misteriosos, inesperados. Da a psico-
logia moderna ter ampliado e investigado sistemti-
camente as noes de subconsciente e inconsciente,
que explicariam o que h de inslito nas pessoas
que reputamos conhecer, e no entanto nos surpre-
endem, como se uma outra pessoa entrasse nelas,
invadindo inesperadamente a sua rea de essncia e
de existncia.
Esta constatao, mesmo feita de maneira no-
sistemtica, fundamental em tda a literatura mo-
derna, [57] onde se desenvolveu antes das investi-
gaes tcnicas dos psiclogos, e depois se benefi-
ciou dos resultados destas. claro que a noo do
mistrio dos sres, produzindo as condutas inespe-
radas, sempre estve presente na criao de forma
mais ou menos consciente, bastando lembrar o
mundo das personagens de Shakespeare. Mas s foi
conscientemente desenvolvida por certos escritores
do sculo XIX, como tentativa de sugerir e desven-
dar, seja o mistrio psicolgico dos sres, seja o mis-
trio metafsico da prpria existncia. A partir de
investigaes metdicas em psicologia, como, por
exemplo, as da psicanlise, essa investigao ga-
nhou um aspecto mais sistemtico e voluntrio, sem
com isso ultrapassar necessriamente as grandes
intuies dos escritores que iniciaram e desenvolve-
ram essa viso na literatura. Escritores como Baude-
laire, Nerval, Dostoievski, Emily Bronte (aos quais
se liga por alguns aspectos, isolado na segregao
do seu meio cultural acanhado, o nosso Machado de
Assis), que preparam o caminho para escritores
como Proust, Joyce, Kafka, Pirandello, Gide. Nas
obras de uns e outros, a dificuldade em descobrir a
coerncia e a unidade dos sres vem refletida, de
maneira por vzes trgica, sob a forma de incomu-
nicabilidade nas relaes. ste talvez o nascedou-
ro, em literatura, das noes de verdade plural (Pi-
randello), de absurdo (Kafka), de ato gratuito (Gi-
de), de sucesso de modos de ser no tempo (Proust),
de infinitude do mundo interior (Joyce). Concorrem
para isso, de modo direto ou indireto, certas con-
cepes filosficas e psicolgicas voltadas para o
desvendamento das aparncias no homem e na
sociedade, revolucionando o conceito de personali-
dade, tomada em si e com relao ao seu meio. o
caso, entre outros, do marxismo e da psicanlise,
que, em seguida obra dos escritores mencionados,
atuam na concepo de homem, e portanto de per-
sonagem, influindo na pr[58]pria atividade criado-
ra do romance, da poesia, do teatro.
Essas consideraes visam a mostrar que o ro-
mance, ao abordar as personagens de modo frag-
mentrio, nada mais faz do que retomar, no plano
da tcnica de caracterizao, a maneira fragment-
ria, insatisfatria, incompleta, com que elaboramos
o conhecimento dos nossos semelhantes. Todavia,
h uma diferena bsica entre uma posio e outra:
na vida, a viso fragmentria imanente nossa
prpria experincia; uma condio que no estabe-
lecemos, mas a que nos submetemos. No romance,
ela criada, estabelecida e racionalmente dirigida
pelo escritor, que delimita e encerra, numa estrutura
elaborada, a aventura sem fim que , na vida, o co-
nhecimento do outro. Da a necessria simplificao,
que pode consistir numa escolha de gestos, de fra-
ses, de objetos significativos, marcando a persona-
gem para a identificao do leitor, sem com isso
diminuir a impresso de complexidade e riqueza.
Assim, em Fogo Morto, Jos Lins do Rgo nos mos-
trar o admirvel Mestre Jos Amaro por meio da
cr amarela da pele, do olhar raivoso, da brutalida-
de impaciente, do martelo e da faca de trabalho, do
remoer incessante do sentimento de inferioridade.
No temos mais que sses elementos essenciais. No
entanto, a sua combinao, a sua repetio, a sua
evocao nos mais variados contextos nos permite
formar uma idia completa, suficiente e convincente
daquela forte criao fictcia.
Na vida, estabelecemos uma interpretao de
cada pessoa, a fim de podermos conferir certa uni-
dade sua diversificao essencial, sucesso dos
seus modos-de- -ser. No romance, o escritor estabe-
lece algo mais coeso, menos varivel, que a lgica
da personagem. A nossa interpretao dos sres
vivos mais fluida, variando de acrdo com o tem-
po ou as condies da conduta. No [59] romance,
podemos variar relativamente a nossa interpretao
da personagem; mas o escritor lhe deu, desde logo,
uma linha de coerncia fixada para sempre, delimi-
tando a curva da sua existncia e a natureza do seu
modo-de-ser. Da ser ela relativamente mais lgica,
mais fixa do que ns. E isto no quer dizer que seja
menos profunda; mas que a sua profundidade um
universo cujos dados esto todos mostra, foram
3
pr-estabelecidos pelo seu criador, que os selecio-
nou e limitou em busca de lgica. A fra das gran-
des personagens vem do fato de que o sentimento
que temos da sua complexidade mximo; mas
isso, devido unidade, simplificao estrutural
que o romancista lhe deu. Graas aos recursos de
caracterizao (isto , os elementos que o romancista
utiliza para descrever e definir a personagem, de
maneira a que ela possa dar a impresso de vida,
configurando-se ante o leitor), graas a tais recursos,
o romancista capaz de dar a impresso de um ser
ilimitado, contraditrio, infinito na sua riqueza; mas
ns apreendemos, sobrevoamos essa riqueza, temos
a personagem como um todo coeso ante a nossa
imaginao. Portanto, a compreenso que nos vem
do romance, sendo estabelecida de uma vez por
tdas, muito mais precisa do que a que nos vem
da existncia. Da podermos dizer que a persona-
gem mais lgica, embora no mais simples, do que
o ser vivo.
O romance moderno procurou, justamente, au-
mentar cada vez mais sse sentimento de dificuldade
do ser fictcio, diminuir a idia de esquema fixo, de
ente delimitado, que decorre do trabalho de seleo
do romancista. Isto possvel justamente porque o
trabalho de seleo e posterior combinao permite
uma decisiva margem de experincia, de maneira a
criar o mximo de complexidade, de variedade, com
um mnimo de traos psquicos, de atos e de idias.
A personagem complexa e mltipla porque o ro-
mancista pode combinar [60] com percia os elemen-
tos de caracterizao, cujo nmero sempre limita-
do se os compararmos com o mximo de traos
humanos que pululam, a cada instante, no modo-
de-ser das pessoas.
Quando se teve noo mais clara do mistrio dos
sres, acima referido, renunciou-se ao mesmo tem-
po, em psicologia literria, a uma geografia precisa
dos caracteres; e vrios escritores tentaram, justa-
mente, conferir s suas personagens uma natureza
aberta, sem limites. Mas volta sempre o conceito
enunciado h pouco: essa natureza uma estrutura
limitada, obtida no pela admisso catica dum
sem-nmero de elementos, mas pela escolha de
alguns elementos, organizados segundo uma certa
lgica de composio, que cria a iluso do ilimitado.
Assim, numa pequena tela, o pintor pode comunicar
o sentimento dum espao sem barreiras.
Isso psto, podemos ir frente e verificar que a
marcha do romance moderno (do sculo XVIII ao
como do sculo XX) foi no rumo de uma compli-
cao crescente da psicologia das personagens, den-
tro da inevitvel simplificao tcnica imposta pela
necessidade de caracterizao. Ao fazer isto, nada
mais fz do que desenvolver e explorar uma ten-
dncia constante do romance de todos os tempos,
acentuada no perodo mencionado, isto , tratar as
personagens de dois modos principais: 1) como
sres ntegros e fcilmente delimitveis, marcados
duma vez por tdas com certos traos que os carac-
terizam; 2) como sres complicados, que no se es-
gotam nos traos caractersticos, mas tm certos
poos profundos, de onde pode jorrar a cada instan-
te o desconhecido e o mistrio. Dste ponto de vista,
poderamos dizer que a revoluo sofrida pelo ro-
mance no sculo XVIII consistiu numa passagem do
enrdo complicado com personagem simples, para
o enrdo simples (coerente, uno) com personagem
com[61]plicada. O senso da complexidade da per-
sonagem, ligado ao da simplificao dos incidentes
da narrativa e unidade relativa de ao, marca o
romance moderno, cujo pice, a ste respeito, foi o
Ulysses, de James Joyce, ao mesmo tempo sinal
duma subverso do gnero.
Assim, pois, temos que houve na evoluo tcni-
ca do romance um esfro para compor sres nte-
gros e coerentes, por meio de fragmentos de percep-
o e de conhecimento que servem de base nossa
interpretao das pessoas. Por isso, na tcnica de
caracterizao definiram-se, desde logo, duas fam-
lias de personagens, que j no sculo XVIII Johnson
chamava personagens de costumes e persona-
gens de natureza, definindo com a primeira ex-
presso os de Fielding, com a segunda os de Ri-
chardson: H uma diferena completa entre perso-
nagens de natureza e personagens de costumes, e
nisto reside a diferena entre as de Fielding e as de
Richardson. As personagens de costumes so muito
divertidas; mas podem ser mais bem compreendi-
das por um observador superficial do que as de
natureza, nas quais preciso ser capaz de mergu-
lhar nos recessos do corao humano.. (...) A dife-
rena entre les (Richardson e Fielding) to grande
quanto a que h entre um homem que sabe como
feito um relgio e um outro que sabe dizer as horas
olhando para o mostrador
2
As personagens de costumes so, portanto, a-
presentadas por meio de traos distintivos, forte-
mente escolhidos e marcados; por meio, em suma,
de tudo aquilo que os distingue vistos de fora. stes
traos so fixados de uma vez para sempre, e cada
vez que a personagem surge na ao, basta invocar
um dles. Como se v, o processo fundamental da
caricatura, e de fato ele teve [62] o seu apogeu, e tem
ainda a sua eficcia mxima, na caracterizao de
personagens cmicos, pitorescos, invarivelmente
sentimentais ou acentuadamente trgicos. Persona-
gens, em suma, dominados com exclusividade por
uma caracterstica invarivel e desde logo revelada.
As personagens de natureza so apresentadas,
alm dos traos superficiais, pelo seu modo ntimo
2
Cit. por Walter Scott, ap. Minam AIlott, Novelists on the
Novel, Routledge and Kegan Paul, London, 1960, p. 276.
4
de ser, e isto impede que tenham a regularidade dos
outros. No so imediatamente identificveis, e o
autor precisa, a cada mudana do seu modo de ser,
lanar mo de uma caracterizao diferente, geral-
mente analtica, no pitoresca. Traduzindo em lin-
gugem atual a terminologia setecentista de John-
son, pode-se dizer que o romancista de costumes
v o homem pelo seu comportamento em sociedade,
pelo tecido das suas relaes e pela viso normal
que temos do prximo. J o romancista de nature-
za o v luz da sua existncia profunda, que no
se patenteia observao corrente, nem se explica
pelo mecanismo das relaes.
Em nossos dias, Forster retomou a distino de
modo sugestivo e mais amplo, falando pitoresca-
mente em personagens planas (flat characters) e
personagens esfricas (round characters).
As personagens planas eram chamadas tempe-
ramentos (humours) no sculo XVII, e so por vzes
chamadas tipos, por vzes caricaturas. Na sua forma
mais pura, so construdas em trno de uma nica
idia ou qualidade; quando h mais de um fator
nles, temos o como de uma curva em direo
esfera. A personagem realmente plana pode ser
expressa numa frase, como: Nunca hei de deixar
Mr. Micawber. A est Mrs. Micawber. Ela diz que
no deixar Mr. Micawber; de fato no deixa, nisso
est ela. Tais personagens so fcilmente reconhe-
cveis sempre que surgem; so, em seguida, f-
dilmente lembradas pelo leitor. Per[63]manecem
inalteradas no esprito porque no mudam com as
circunstncias
3
.
As personagens esfricas no so claramente
definidas por Forster, mas conclumos que as suas
caractersticas se reduzem essencialmente ao fato de
terem trs, e no duas dimenses; de serem, portan-
to, organizadas com maior complexidade e, em con-
seqncia, capazes de nos surpreender. A prova de
uma personagem esfrica a sua capacidade de nos
surpreender de maneira convincente. Se nunca sur-
preende, plana. Se no convence, plana com
pretenso a esfrica. Ela traz em si a imprevisibili-
dade da vida, traz a vida dentro das pginas de
um livro (Ob. cit., p. 75). Decorre que as persona-
gens planas no constituem, em si, realizaes to
altas quanto as esfricas, e que rendem mais quando
cmicas. Uma personagem plana sria ou trgica
arrisca tornar-se aborrecida (Ob. cit., p. 70).
O mesmo Forster, no seu livrinho despretensioso
e agudo, estabelece uma distino pitoresca entre a
personagem de fico e a pessoa viva, de um modo
expressivo e fcil, que traduz rpidamente a discus-
3
E. M. Forster, Aspects of the Novel, Edward Arnold,
London, 1949, pp. 66-67.
so inicial dste estudo. a comparao entre o
Homo fictus e o Homo sapiens.
O Homo fictus e no equivalente ao Homo sapi-
ens, pois vive segundo as mesmas linhas de ao e
sensibilidade, mas numa proporo diferente e con-
forme avaliao tambm diferente. Come e dorme
pouco, por exemplo; mas vive muito mais intensa-
mente certas relaes humanas, sobretudo as amo-
rosas. Do ponto de vista do leitor, a importncia est
na possibilidade de ser ele conhecido muito mais
cabalmente, pois enquanto s conhecemos o nosso
prximo do exterior, o romancista nos leva para
dentro da personagem, porque o [64] seu criador e
narrador so a mesma pessoa (Ob. cit., p. 55).
Neste ponto tocamos numa das funes capitais
da fico, que a de nos dar um conhecimento mais
completo, mais coerente do que o conhecimento
decepcionante e fragmentrio que temos dos sres.
Mais ainda: de poder comunicar-nos ste conheci-
mento. De fato, dada a circunstncia de ser o criador
da realidade que apresenta, o romancista, como o
artista em geral, domina-a, delimita-a, mostra-a de
modo coerente, e nos comunica esta realidade como
um tipo de conhecimento que, em conseqncia,
muito mais coeso e completo (portanto mais satisfa-
trio) do que o conhecimento fragmentrio ou a
falta de conhecimento real que nos atormenta nas
relaes com as pessoas. Poderamos dizer que um
homem s nos conhecido quando morre. A morte
um limite definitivo dos seus atos e pensamentos,
e depois dela possvel elaborar uma interpretao
completa, provida de mais lgica, mediante a qual a
pessoa nos aparece numa unidade satisfatria, em-
bora as mais das vzes arbitrria. como se chegs-
semos ao fim de um livro e apreendssemos, no
conjunto, todos os elementos que integram um ser.
Por isso, em certos casos extremos, os artistas atri-
buem apenas arte a possibilidade de certeza,
certeza interior, bem entendido. notadamente o
ponto de vista de Proust, para quem as relaes
humanas, os mais ntimos contatos de ser, nada
mostram do semelhante, enquanto a arte nos faz
entrar num domnio de conhecimentos absolutos.
Estabelecidas as caractersticas da personagem
fictcia, surge um problema que Forster reconhece e
aborda de maneira difusa, sem formulao clara, e
o seguinte: a personagem deve dar a impresso de
que vive, de que como um ser vivo. Para tanto,
deve [65] lembrar um ser vivo, isto , manter certas
relaes com a realidade do mundo, participando
de um universo dc ao e de sensibilidade que se
possa equiparar ao que conhecemos na vida. Pode-
ria ento a personagem ser transplantada da reali-
dade, para que o autor atingisse ste alvo? Por ou-
tras palavras, pode-se copiar no romance um ser
vivo e, assim, aproveitar integralmente a sua realida-
de? No, em sentido absoluto. Primeiro, porque
5
impossvel, como vimos, captar a totalidade do mo-
do de ser duma pessoa, ou sequer conhec-la; se-
gundo, porque neste caso se dispensaria a criao
artstica; terceiro, porque, mesmo se fsse possvel,
uma cpia dessas no permitiria aqule conheci-
mento especfico, diferente e mais completo, que a
razo de ser, a justificativa e o encanto da fico.
Por isso, quando toma um modlo na realidade,
o autor sempre acrescenta a le, no plano psicolgi-
co, a sua incgnita pessoal, graas qual procura
revelar a incgnita da pessoa copiada. Noutras pa-
lavras, o autor obrigado a construir uma explica-
o que no corresponde ao mistrio da pessoa viva,
mas que uma interpretao dste mistrio; inter-
pretao que elabora com a sua capacidade de clari-
vidncia e com a oniscincia do criador, soberana-
mente exercida. Voltando a Forster, registremos
uma observao justa: Se a personagem de um
romance , exatamente, como a rainha Vitria, (no
parecida, mas exatamente igual), ento ela real-
mente a rainha Vitria, e o romance, ou tdas as
suas partes que se referem a esta personagem, se
torna uma monografia. Ora, uma monografia his-
tri, baseada em provas. Um romance baseado
em provas, mais ou menos x; a quantidade desco-
nhecida o temperamento do romancista, e ela mo-
difica o efeito das provas, transformando-o, por
vzes, inteiramente (Ob. cit., p. 44).
[66] Em conseqncia, no romance o sentimento
da realidade devido a fatres diferentes da mera
adeso ao real, embora ste possa ser, e efetivamen-
te , um dos seus elementos. Para fazer um ltimo
aplo a Forster, digamos que uma personagem nos
parece real quando o romancista sabe tudo a seu
respeito, ou d esta impresso, mesmo que no o
diga. como se a personagem fsse inteiramente
explicvel; e isto lhe d uma originalidade maior
que a da vida, onde todo conhecimento do outro ,
como vimos, fragmentrio e relativo. Da o confrto,
a sensao de poder que nos d o romance, propor-
cionando a experincia de uma raa humana mais
manejvel, e a iluso de perspiccia e poder (Ob.
cit., p. 62). Na verdade, enquanto na existncia quo-
tidiana ns quase nunca sabemos as causas, os mo-
tivos profundos da ao, dos sres, no romance
stes nos so desvendados pelo romancista, cuja
funo bsica , justamente, estabelecer e ilustrar o
jgo das causas, descendo a profundidades revela-
doras do esprito.
Estas consideraes (baseadas em Forster, ou d-
le prprio) nos levam a retomar o problema de mo-
do mais preciso, indagando: No processo de inven-
tar a personagem, de que maneira, o autor manipula
a realidade para construir a fico? A resposta daria
uma idia da medida em que a personagem um
ente reproduzido ou um ente inventado. Os casos va-
riam muito, e as duas alternativas nunca existem em
estado de pureza. Talvez conviesse principiar pelo
depoimento de um romancista de tcnica tradicio-
nal, que v o problema de maneira mais ou menos
simples, e mesmo esquemtica. E o caso de Franois
Mauriac, cuja obra sbre ste problema passo agora
a expor em resumo
4
.
Para le, o grande arsenal do romancista a
me[67]mria, de onde extrai os elementos da inven-
o, e isto confere acentuada ambigidade s perso-
nagens, pois elas no correspondem a pessoas vivas,
mas nascem delas. Cada escritor possui suas fixa-
es da memria que preponderam nos elementos
transpostos da vida. Diz Mauriac que, nle, avulta a
fixao do espao; as casas dos seus livros so prti-
camente copiadas das que lhe so familiares. No
que toca s personagens, todavia, reproduz apenas
os elementos circunstanciais (maneira, profisso
etc.); o essencial sempre inventado.
Mas justamente a que surge o problema: de
onde parte a inveno? Qual a substncia de que so
feitas as personagens? Seriam, por exemplo, proje-
o das limitaes, aspiraes, frustraes do ro-
mancista? No, porque o princpio que rege o apro-
veitamento do real o da modificao, seja por acrs-
cimo, seja por deformao de pequenas sementes
sugestivas. O romancista incapaz de reproduzir a
vida, seja na singularidade dos indivduos, seja na
coletividade dos grupos. Ele comea por isolar o
indivduo no grupo e, depois, a paixo no indiv-
duo. Na medida em que quiser ser igual realidade,
o romance ser um fracasso; a necessidade de sele-
cionar afasta dela e leva o romancista a criar um
mundo prprio, acima e alm da iluso de fidelida-
de.
Neste mundo fictcio, diferente, as personagens
obedecem a uma lei prpria. So mais ntidas, mais
conscientes, tm contrno definido, ao contrrio
do caos da vida pois h nelas uma lgica pr-
estabelecida pelo autor, que as torna paradigmas e
eficazes. Todavia, segundo Mauriac, h uma relao
estreita entre a personagem e o autor. Este a tira de
si (seja da sua zona m, da sua zona boa) como rea-
lizao de virtualidades, que no so projeo de
traos, mas sempre modificao, pois o romance
transfigura a vida.
[68] O vnculo entre o autor e a sua personagem
estabelece um limite possibilidade de criar, ima-
ginao de cada romancista, que no absoluta,
nem absolutamente livre, mas depende dos limites
do criador. A partir de tais idias de Mauriac, po-
der-se-ia falar numa lei de constncia na criao
novelstica, pois as personagens saem necessria-
mente de um universo inicial (as possibilidades do
4
Franois Mauriac, La Romancier et ses Personnages,
ditions Corra, Paris, 1952.
6
romancista, a sua natureza humana e artstica), que
no apenas as limita, mas d certas caractersticas
comuns a tdas elas. O romancista (diz Mauriac)
deve conhecer os seus limites e criar dentro dles; e
isso uma condio de angstia, impedindo certos
vos sonhados da imaginao, que nunca livre
como se supe, como ele prprio supe. Talvez cada
escritor procure, atravs das suas diversas obras,
criar um tipo ideal, de que apenas se aproxima e de
que as suas personagens no passam de esboos.
Baseado nestas consideraes, Mauriac prope
urna classificao de personagens, levando em con-
ta o grau de afastamento em relao ao ponto de
partida na realidade:
1. Disfarce leve do romancista, como ocorre ao
adolescente que quer exprimir-se. S quando
comeamos a nos desprender (enquanto escrito-
res) da nossa prpria alma, que tambm o ro-
mancista se configurar em ns (Ob. cit., p. 97).
Tais personagens ocorrem nos romancistas me-
morialistas.
2. Cpia fiel de pessoas reais, que no constituem
prpriamente criaes, mas reprodues. Ocor-
rem estas nos romancistas retratistas.
3. Inventadas, a partir de um trabalho de tipo espe-
cial sbre a realidade. o caso dle, Mauriac,
segundo declara, pois nle a realidade apenas
um dado inicial, servindo para concretizar vir-
tualidades imaginadas. Na sua obra (diz le) h
uma relao inversamente proporconal entre a
fidelidade ao real e o grau [69] de elaborao.
As personagens secundrias, estas so, na sua
obra, copiadas de sres existentes.
curioso observar que Mauriac admite a exis-
tncia de personagens reproduzidas fielmente da
realidade, seja mediante projeo do mundo ntimo
do escritor, seja por transposio de modelos exter-
nos. No entanto, declara que a sua maneira outra,
baseada na inveno. Ora, no se estaria ele iludin-
do, ao admitir nos outros o que no reconhece na
sua obra? E no seria a terceira a nica verdadeira
modalidade de criar personagens vlidas? Neste
caso, deveramos reconhecer que, de maneira geral,
s h um tipo eficaz de personagem, a inventada;
mas que esta inveno mantm vnculos necessrios
com uma realidade matriz, seja a realidade indivi-
dual do romancista, seja a do mundo que o cerca; e
que a realidade bsica pode aparecer mais ou menos
elaborada, transformada, modificada, segundo a
concepo do escritor, a sua tendncia esttica, as
suas possibilidades criadoras. Alm disso, convm
notar que por vzes ilusria a declarao de um
criador a respeito da sua prpria criao. le pode
pensar que copiou quando inventou; que exprimiu a
si mesmo, quando se deformou; ou que se defor-
mou, quando se confessou. Uma das grandes fontes
para o estudo da gnese das personagens so as
declaraes do romancista; no entanto, preciso
consider-las com precaues devidas a essas cir-
cunstncias.
O nosso ponto de partida foi o conceito de que a
personagem um ser fictcio; logo, quando se fala
em cpia do real, no se deve ter em mente uma
personagem que fsse igual a um ser vivo, o que
seria a negao do romance. Daqui a pouco, vere-
mos como se resolve o problema aparentemente
paradoxal da personagem-ser-fictcio, mesmo
quando copiada do real. No momento, assinalemos
que, tomando o desejo de ser fiel ao real como um
dos elementos bsicos [70] na criao da persona-
gem, podemos admitir que esta oscila entre dois
plos ideais: ou uma transposio fiel de modelos,
ou uma inveno totalmente imaginria. So stes
os dois limites da criao novelstica, e a sua combi-
nao varivel que define cada romancista, assim
como, na obra de cada romancista, cada uma das
personagens. H personagens que exprimem modos
de ser, e mesmo a aparncia fsica de uma pessoa
existente (o romancista ou qualquer outra, dada
pela observao, a memria). S poderemos decidir
a respeito quando houver indicao fora do prprio
romance, seja por informao do autor, seja por
evidncia documentria. Quando elas no existem,
o problema se torna de soluo difcil, e o mximo a
que podemos aspirar o estudo da tendncia geral
do escritor a ste respeito. Assim, diremos que a
obra de mile Zola, por exemplo, parece baseada
em observaes da vida real, mesmo porque isto
preconizado pela esttica naturalista que ele adota-
va; ou que os romances indianistas de Jos de Alen-
car parecem baseados no trabalho livre da fantasia,
a partir de dados genricos, o que se coaduna com a
sua orientao romntica. Alm da, pouco avana-
remos sem o material informativo mencionado aci-
ma. E justamente esta circunstncia que nos leva a
constatar que o problema (que estamos debatendo)
da origem das personagens interessante para o
estudo da tcnica de caracterizao, e para o estudo
da relao entre criao e realidade, isto , para a
prpria natureza da fico; mas secundrio para a
soluo do problema fundamental da crtica, ou
seja, a interpretao e a anlise valorativa de cada
romance concreto.
Feitas essas ressalvas, tomemos alguns casos de
romancistas que deixaram elementos para se avaliar
o mecanismo de criao de personagens, pois a par-
tir dles podemos supor como se d o fenmeno em
geral.
[71] Veremos uma gama bastante extensa de in-
veno, sempre balizada pelos dois tipos polares
acima referidos, que podemos esquematizar, entre
outros, do seguinte modo:
7
1. Personagens transpostas com relativa fldeli-
dade de modelos dados ao romancista por experi-
ncia direta, seja interior, seja exterior. O caso da
experincia interior o da personagem projetada, em
que o escritor incorpora a sua vivncia, os seus sen-
timentos, como ocorre no Adolfo, de Benjamin Cons-
tant, ou do Menino de Engenho, de Jos Lins do Rgo,
para citar dois exemplos de natureza to diversa
quanto possvel. O caso da experincia exterior o
da transposio de pessoas com as quais o roman-
cista teve contato direto, como Tolstoi, em Guerra e
Paz, retratando seu pai e sua me, quando moos,
respectivamente em Nicolau Rostof e Maria Bol-
konski.
2. Personagens transpostas de modelos anterio-
res, que o escritor reconstitui indiretamente, por
documentao ou testemunho, sbre os quais a i-
maginao trabalha. Para ficar no romance citado de
Tolstoi, o caso de Napoleo I, que estudou nos
livros de histria; ou de seus avs, que reconstruiu a
partir da tradio familiar, e so no livro o velho
Conde Rostof e o velho Prncipe Bolkonski. A coisa
pode ir muito longe, como se v na extensa gama da
fico histrica, na qual Walter Scott pde, por e-
xemplo, levantar uma viso arbitrria e expressiva
de Ricardo Corao de Leo.
3. Personagens construdas a partir de um mod-
lo real, conhecido pelo escritor, que serve de eixo,
ou ponto de partida. O trabalho criador desfigura o
modlo, que todavia se pode identificar, como o
caso de Toms de Alencar nOs Maias, de Ea de
Queirs, baseado no poeta Bulho Pato, bem distan-
te dle [72] como complexo de personalidade, mas
reconhecvel ao ponto de ter dado lugar a uma vio-
lenta polmica entre o modlo, ofendido pela carica-
tura, e o romancista, negando tticamente qualquer
ligao entre ambos.
4. Personagens construdas em trno de um mo-
dlo, direta ou indiretamente conhecido, mas que
apenas um pretexto bsico, um estimulante para o
trabalho de caracterizao, que explora ao mximo
as suas virtualidades por meio da fantasia, quando
no as inventa de maneira que os traos da perso-
nagem resultante no poderiam, lgicamente, con-
vir ao modelo. No caso da explorao imaginria de
virtualidades, teramos o clebre Mr. Micawber, do
David Copperfield, de Dickens, relacionado ao pai do
romancista, como ste prprio declarou, mas afas-
tado dle a ponto de serem inassimilveis um ao
outro. No entanto, sabemos que o velho Dickens,
pomposo, verboso, prdigo, estico nas suas desdi-
tas de inepto, bem poderia ter vivido as vicissitudes
da personagem, com a qual partilha, inclusive, o
fato humilhante da priso por dvidas, que marcou
para todo sempre a sensibilidade do romancista.
Mas noutros casos, o ponto de partida realmente
apenas estmulo inicial, e a personagem que decorre
nada tem a ver lgicamente com le. o que ocorre
com o que h do seminarista Berthet no Julien Sorel,
de Stendhal, em O Vermelho e o Negro; ou, na Cartuxa
de Parma, do mesmo escritor, com as sementes de
Alexandre Farnsio que, extradas de crnicas do
sculo XVI, compem o temperamento de Fabrizio
del Dongo.
5. Personagens construdas em trno de um mo-
dlo real dominante, que serve de eixo, ao qual vm
juntar-se outros modelos secundrios, tudo refeito e
construdo pela imaginao. um dos processos
normais de Proust, como se verifica no Baro de
Charlus, [73] inspirado sobretudo em Robert de
Montesquiou, mas tcebendo elementos de um tal
Baro Doazan, de Oscar Wilde, do Conde Aimery
de La Rochefoucauld, do prprio romancista.
6. Personagens elaboradas com fragmentos de
vrios modelos vivos, sem predominncia sensvel
de uns sbre outros, resultando uma personalidade
nova, como ocorre tambm em Proust. o caso
de Robert de Saint-Loup, inspirado num grupo de
amigos seus, mas diferente de cada um, embora a
maioria de seus traos e gestos possam ser referidos
a um dles e a combinao resulte original (modelos
identificados: Gaston de Caillavet, Bertrand de F-
nelon, Marqus de Albufera, Georges de Lauris,
Manuel Bibesco e outros).
7. Ao lado de tais tipos de personagens, cuja ori-
gem pode ser traada mais ou menos na realidade,
preciso assinalar aquelas cujas razes desaparecem
de tal modo na personalidade fictcia resultante,
que, ou no tm qualquer modlo consciente, ou os
elementos eventualmente tomados realidade no
podem ser traados pelo prprio autor. Em tais ca-
sos, as personagens obedecem a uma certa concep-
o de homem, a um intuito simblico, a um impul-
so indefinvel, ou quaisquer outros estmulos de
base, que o autor corporifica, de maneira a supor-
mos uma espcie de arqutipo que, embora nutrido
da experincia de vida e da observao, mais inte-
rior do que exterior. Seria o caso das personagens de
Machado de Assis (salvo, talvez as dO Memorial de
Aires), em geral homens feridos pela realidade e
encarando-a com desencanto. o caso de certas
personagem de Dostoievski, encarnando um ideal
de homem puro, refratrio ao mal, ideal que re-
monta a uma certa viso de Cristo e que o obcecou a
vida tda. Neste grupo estariam, talvez, j o Dev-
chkin, de Pobres Diabos; certamente Aleixo Ka-
ra[74]mzov e, sobretudo, o Prncipe Muichkin,
alm de tantos humilhados e ofendidos, que pare-
cem resgatar o mundo pela sua condio, e que tm,
no campo femnino, a Sfia Marmeldova, de Crime e
Castigo.
Em todos sses casos, simplificados para esclare-
cer, o que se d um trabalho criador, em que a
8
memria, a observao e a imaginao se combinam
em graus variveis, sob a gide das concepes inte-
lectuais e morais. O prprio autor seria incapaz de
determinar a proporo exata de cada elemento,
pois sse trabalho se passa em boa parte nas esferas
do inconsciente e aflora conscincia sob formas
que podem iludir.
O que possvel dizer, para finalizar, que a na-
tureza da personagem depende em parte da con-
cepo que preside o romance e das intenes do
romancista. Quando, por exemplo, ste est interes-
sado em traar um panorama de costumes, a perso-
nagem depender provvelmente mais da sua viso
dos meios que conhece, e da observao de pessoas
cujo comportamento lhe parece significativo. Ser,
em conseqncia, menos aprofundado
psicolgicarnente, menos imaginado nas camadas
subjacentes do esprito embora o autor pretenda
o contrrio. Inversamente, se est interessado menos
no panorama social do que nos problemas huma-
nos, como so vividos pelas pessoas, a personagem
tender a avultar, complicar-se, destacando-se com
a sua singularidade sbre o pano de fundo social.
Esta observao nos faz passar ao aspecto por-
ventura decisivo do problema: o da coerncia inter-
na. De fato, afirmar que a natureza da personagem
depende da concepo e das intenes do autor,
sugerir que a observao da realidade s comunica
o sentimento da verdade, no romance, quando to-
dos os elementos dste esto ajustados entre si de
maneira adequada.[75]
Poderamos, ento, dizer que a verdade da per-
sonagem no depende apenas, nem sobretudo, da
relao de origem com a vida, com modelos propos-
tos pela observao, interior ou exterior, direta ou
indireta, presente ou passada. Depende, antes do
mais, da funo que exerce na estrutura do roman-
ce, de modo a concluirmos que mais um problema
de organizao interna que de equivalncia reali-
dade exterior.
Assim, a verossimilhana prpriamente dita,
que depende em princpio da possibilidade de com-
parar o mundo do romance com o mundo real (fic-
o igual a vida), acaba dependendo da organiza-
o esttica do material, que apenas graas a ela se
torna plenamente verossmil. Conclui-se, no plano
crtico, que o aspecto mais importante para o estudo
do romance o que resulta da anlise da sua com-
posio, no da sua comparao com o mundo.
Mesmo que a matria narrada seja cpia fiel da rea-
lidade, ela s parecer tal na medida em que fr
organizada numa estrutura coerente.
Portanto, originada ou no da observao, base-
ada mais ou menos na realidade, a vida da persona-
gem depende da economia do livro, da sua situao
em face dos demais elementos que o constituem:
outras personagens, ambiente, durao temporal,
idias. Da a caracterizao depender de uma esco-
lha e distribuio conveniente de traos limitados e
expressivos, que se entrosem na composio geral e
sugiram a totalidade dum modo-de-ser, duma exis-
tncia. Uma personagem deve ser convencionali-
zada. Deve, de algum modo, fazer parte do molde,
constituir o lineamento do livro
5
. A convencionaliza-
o , bsicamente, o trabalho de selecionar os tra-
os, dada a impossibilidade de descrever a totalida-
de duma existncia. o desejo. de s expor o que
Machado de Assis denomina, no Brs Cubas, a
substncia da vida, saltando sbre os [76] acess-
rios; e cada autor, diz Bennett, possui os seus pa-
dres de convencionalizao, repetidos por alguns
em tdas as personagens que criam (o limite, as-
sinalado por Mauriac). Jos Lins do Rgo, em Fogo
Morto, descreve obsessivamente trs famlias, consti-
tudas cada uma de trs membros, com trs pais
inadequados, trs mes sofredoras, tudo em trs
nveis de frustrao e fracasso; e cada famlia mar-
cada, sempre que surgem os seus membros, pelos
mesmos cacoetes, palavras anlogas, pelos mesmos
traos psicolgicos, pelos mesmos elementos mate-
riais, pelas mesmas invectivas contra o mundo. Tra-
ta-se de uma convencionalizao muito marcada, que
atua porque regida pela necessidade de adequar
as personagens concepo da obra e s situaes
que constituem a sua trama. Fogo Morto dominado
pelo tema geral da frustrao, da decadncia de um
mundo homogneo e fechado, localizado num espa-
o fsico e social restrito, com pontos fixos de refe-
rncia. A concentrao, limitao e obsesso dos
traos que caracterizam as personagens se ordenam
convenientemente nesse universo, e so aceitos pelo
leitor por corresponderem a uma atmosfera mais
ampla, que o envolve desde o incio do livro.
Quando, lendo um romance, dizemos que um fa-
to, um ato, um pensamento so inverossmeis, em
geral queremos dizer que na vida seria impossvel
ocorrer coisa semelhante. Entretanto, na vida tudo
prticamente possvel; no romance que a lgica da
estrutura impe limites mais apertados, resultando,
paradoxalmente, que as personagens so menos
livres, e que a narrativa obrigada a ser mais coe-
rente do que a vida. Por isso, traduzida criticamente
e posta nos devidos trmos, aquela afirmativa quer
dizer que, em face das condies estabelecidas pelo
escritor, e que regem cada obra, o trao em questo
nos parece inaceitvel. O que julgamos inverossmil,
segundo padres da vida corrente, [77] , na verda-
de, incoerente, em face da estrutura do livro. Se nos
capacitarmos disto graas anlise literria
veremos que, embora o vnculo com a vida, o desejo
de representar o real, seja a chave mestra da eficcia
dum romance, a condio do seu pleno funciona-
5
Arnold Bennett, Journal, ap. Minam Allott, ob. cit., p. 290.
9
mento, e portanto do funcionamento das persona-
gens, depende dum critrio esttico de organizao
interna. Se esta funciona, aceitaremos inclusive o que
inverossmil em face das concepes correntes.
Seja o caso (invivel diante delas) do jaguno Ri-
obaldo, de Guimares Rosa. O leitor aceita normal-
mente o seu pacto com o diabo, porque Grande Ser-
to: Veredas um livro de realismo mgico, lanando
antenas para um supermundo metafsico, de manei-
ra a tornar possvel o pacto, e verossmil a conduta
do protagonista. Sobretudo graas tcnica do au-
tor, que trabalha todo o enrdo no sentido duma
invaso iminente do inslito, lentamente prepa-
rada, sugerida por aluses a princpio vagas, sem
conexo direta com o fato, cuja prescincia vai satu-
rando a narrativa, at eclodir como requisito de
veracidade. A isto se junta a escolha do foco narrati-
vo, o monlogo dum homem rstico, cuja consci-
ncia serve de palco para os fatos que relata, e que
os tinge com a sua prpria viso, sem afinal ter cer-
teza se o pacto ocorreu ou no. Mas o importante
que, mesmo que no tenha ocorrido, o material vai
sendo organizado de modo ominoso, que torna
naturais as coisas espantosas.
Assim, pois, um trao irreal pode tornar-se veros-
smil, conforme a ordenao da matria e os valores
que a norteiam, sobretudo o sistema de convenes
adotado pelo escritor; inversamente, os dados mais
autnticos podem parecer irreais e mesmo imposs-
veis, se a organizao no os justificar. O leitor co-
mum tem freqentemente a iluso (partilhada por
muitos crticos) de que, num romance, a autentici-
dade externa do rela[78]to, a existncia de modelos
comprovveis ou de fatos transpostos, garante o
sentimento de realidade. Tem a iluso de que a ver-
dade da fico assegurada, de modo absoluto, pela
verdade da existncia, quando, segundo vimos,
nada impede que se d exatamente o contrrio.
Se as coisas impossveis podem ter mais efeito de
veracidade que o material bruto da observao ou
do testemunho, porque a personagem , bsica-
mente, uma composio verbal, uma sntese de pa-
lavras, sugerindo certo tipo de realidade. Portanto,
est sujeita, antes de mais nada, s leis de composi-
o das palavras, sua expanso em imagens, sua
articulao em sistemas expressivos coerentes, que
permitem estabelecer uma estrutura novelstica. O
entrosamento nesta condio fundamental na con-
figurao da personagem, porque a verdade da sua
fisionomia e do seu modo-de-ser fruto, menos da
descrio, e mesmo da anlise do seu ser isolado,
que da concatenao da sua existncia no contexto.
Em Fogo Morto, por exemplo, a sola, a faca, o marte-
lo de Mestre Jos ganham sentido, referidos no
apenas ao seu temperamento agressivo, mas ao
cavalo magro, ao punhal, ao chicote do Capito
Vitorino; ao cabriol, gravata, ao piano do Coronel
Lula, os quais, por sua vez, valem como smbolos
das respectivas personalidades. E as trs persona-
gens existem com vigor, no s porque se exteriori-
zam em traos materiais to bem combinados, mas
porque ecoam umas s outras, articulando-se num
nexo expressivo.
Os elementos que um romancista escolhe para
apresentar a personagem, fsica e espiritualmente,
so por fra indicativos. Que coisa sabemos de
Capitu, alm dos olhos de ressaca, dos cabelos, de
certo ar de cigana, oblqua e dissimulada? O resto
decorre da sua insero nas diversas partes de Dom
Casmurro; [79] e embora no possamos ter a imagem
ntida da sua fisionomia, temos uma intuio pro-
funda do seu modo- de-ser, pois o autor conven-
cionalizou bem os elementos, organizando-os de
maneira adequada. Por isso, a despeito do carter
fragmentrio dos traos constitutivos, ela existe, com
maior integridade e nitidez do que um ser vivo. A
composio estabelecida atua como uma espcie de
destino, que determina e sobrevoa, na sua totalida-
de, a vida de um ser; os contextos adequados asse-
guram o traado convincente da personagem, en-
quanto os nexos frouxos a comprometem, reduzin-
do-a inexpressividade dos fragmentos.
Os romancistas do sculo XVIII aprenderam que
a noo de realidade se refora pela descrio de
pormenores, e ns sabemos que, de fato, o detalhe
sensvel um elemento poderoso de convico. A
evocao de uma mancha no palet, ou de uma
verruga no queixo, to importante, neste sentido,
quanto a discriminao dos mveis num aposento,
uma vassoura esquecida ou o ranger de um degrau.
Os realistas do sculo XIX (tanto romnticos quanto
naturalistas) levaram ao mximo sse povoamento
do espao literrio pelo pormenor, isto , uma
tcnica de convencer pelo exterior, pela aproxima-
o com o aspecto da realidade observada. A seguir
fz-se o mesmo em relao psicologia, sobretudo
pelo advento e generalizao do monlogo interior,
que sugere o fluxo inesgotvel da conscincia. Em
ambos os casos, temos sempre referncia, estabeleci-
mento de relao entre um trao e outro trao, para
que o todo se configure, ganhe significado e poder
de convico. De certo modo, parecido o trabalho
de compor a estrutura do romance, situando ade-
quadamente cada trao que, mal combinado, pouco
ou nada sugere; e que, devidamente convencionaliza-
do, ganha todo o seu poder sugestivo. Cada trao
adquire sentido em funo de outro, de tal modo
que [80] a verossimilhana, o sentimento da reali-
dade, depende, sob ste aspecto, da unificao do
fragmentrio pela organizao do contexto. Esta
organizao o elemento decisivo da verdade dos
sres fictcios, o princpio que lhes infunde vida,
calor e os faz parecer mais coesos, mais apreensveis
e atuantes do que os prprios sres vivos.
Potrebbero piacerti anche
- Minha Vida Daria Um RomanceDocumento16 pagineMinha Vida Daria Um RomanceMoiiicaNessuna valutazione finora
- Iluminismo e ProgressoDocumento9 pagineIluminismo e ProgressoVivianne ResendeNessuna valutazione finora
- A arte contemporânea e seu caráter complexoDocumento36 pagineA arte contemporânea e seu caráter complexoMixCores ArtesanatosNessuna valutazione finora
- Cap. 13 - A Busca Da Verdade - SlidesDocumento32 pagineCap. 13 - A Busca Da Verdade - SlidesFranceildo Benigno Silva100% (1)
- Delimitações, Inversões, Deslocamentos em Torno Do Anexo 3Documento13 pagineDelimitações, Inversões, Deslocamentos em Torno Do Anexo 3lucas0% (1)
- A Sociologia de Pierre Bourdieu (Afrà Nio Catani)Documento19 pagineA Sociologia de Pierre Bourdieu (Afrà Nio Catani)api-19848450Nessuna valutazione finora
- Bourdieu Passeron Teoria Sistema EnsinoDocumento3 pagineBourdieu Passeron Teoria Sistema EnsinoLiliane RosaNessuna valutazione finora
- Os filósofos pré-socráticos e o conceito de physisDocumento5 pagineOs filósofos pré-socráticos e o conceito de physisRenildo Belarmino SilvaNessuna valutazione finora
- O Processo Do FilosofarDocumento5 pagineO Processo Do FilosofarFábio Will50% (2)
- MÓDULO 07 - TEXTO 2 - MATURANA, Humberto (1988) Emoções e Linguagem Na Educação e Na Política (Excertos)Documento55 pagineMÓDULO 07 - TEXTO 2 - MATURANA, Humberto (1988) Emoções e Linguagem Na Educação e Na Política (Excertos)Pedrosacrj100% (1)
- A Experiencia FilosoficaDocumento40 pagineA Experiencia Filosoficaotanerdias7641723100% (2)
- Educação Estética em Walter Benjamin: Corpo, Experiência e MemóriaDocumento125 pagineEducação Estética em Walter Benjamin: Corpo, Experiência e MemóriaBOUGLEUX BOMJARDIM DA SILVA CARMONessuna valutazione finora
- Russel - Da DenotaçãoDocumento4 pagineRussel - Da DenotaçãoCaius Brandão100% (1)
- Introdução à Fenomenologia e ExistencialismoDocumento5 pagineIntrodução à Fenomenologia e ExistencialismoPâmela GuedesNessuna valutazione finora
- Discurso Aos Estudantes Sobre Pesquisa em Filosofia - Oswaldo Porchat PereiraDocumento16 pagineDiscurso Aos Estudantes Sobre Pesquisa em Filosofia - Oswaldo Porchat PereiraManoela Paiva MenezesNessuna valutazione finora
- Cultura jurídica e práticas policiais inquisitoriaisDocumento21 pagineCultura jurídica e práticas policiais inquisitoriaisItalo Rabelo0% (1)
- Primitivismo e ciência do homem no século XVIIIDocumento22 paginePrimitivismo e ciência do homem no século XVIIIAna AffonsoNessuna valutazione finora
- Uma Ecologia Da Mente Nora Bateson PDFDocumento19 pagineUma Ecologia Da Mente Nora Bateson PDFJaina NahemaNessuna valutazione finora
- Raízes da desigualdade social na cultura política brasileiraDocumento17 pagineRaízes da desigualdade social na cultura política brasileiraCarolina BarmellNessuna valutazione finora
- Dilaze Mirela - Exercício de Metodologia em Teoria PolíticaDocumento10 pagineDilaze Mirela - Exercício de Metodologia em Teoria PolíticaMirelaFonsecaNessuna valutazione finora
- O Conflito Ético-Político em Paul RicoeurDocumento122 pagineO Conflito Ético-Político em Paul RicoeurJosé Mavambo Lando ChimpanzoNessuna valutazione finora
- 4.2. DABDAB TRABULSI, José Antonio. Capítulo I e Capítulo II Ensaio Sobre A Mobilização Politica Na Grecia Antiga PDFDocumento72 pagine4.2. DABDAB TRABULSI, José Antonio. Capítulo I e Capítulo II Ensaio Sobre A Mobilização Politica Na Grecia Antiga PDFGesner L C Brito FNessuna valutazione finora
- Filosofia 1 Mito e RazãoDocumento11 pagineFilosofia 1 Mito e RazãosuamagiaNessuna valutazione finora
- A construção do eu na modernidadeDocumento6 pagineA construção do eu na modernidadeLuiz Manoel MartinsNessuna valutazione finora
- Preconceito e racismo na sociedade brasileiraDocumento8 paginePreconceito e racismo na sociedade brasileiraAfroditeNessuna valutazione finora
- Olhares FeministasDocumento483 pagineOlhares Feministaspatisilmara100% (1)
- Avaliação I - IndividualDocumento5 pagineAvaliação I - IndividualMilene MendesNessuna valutazione finora
- Cap 2 O CONHECIMENTO E A REFLEXÃO LÓGICADocumento4 pagineCap 2 O CONHECIMENTO E A REFLEXÃO LÓGICAJosé ManuelNessuna valutazione finora
- Estudos Sobre A Ética de AristótelesDocumento85 pagineEstudos Sobre A Ética de AristótelesDiego TalesNessuna valutazione finora
- A Literatura Infantil e a construção da infânciaDocumento55 pagineA Literatura Infantil e a construção da infânciaWesley Penteado100% (1)
- Nasce a literatura gay no BrasilDocumento9 pagineNasce a literatura gay no BrasilIago MouraNessuna valutazione finora
- Os Graus Da Dúvida em DescartesDocumento31 pagineOs Graus Da Dúvida em DescartesLuciane Silva Marques100% (4)
- Fichamento de Sofista - de - Platao PDFDocumento7 pagineFichamento de Sofista - de - Platao PDFSilvestre Savino Jr.Nessuna valutazione finora
- Alberto Magno fundador da distinção Fé-RazãoDocumento13 pagineAlberto Magno fundador da distinção Fé-RazãootavioufmsNessuna valutazione finora
- O Paradigma NewtonianoDocumento5 pagineO Paradigma NewtonianoGabriel DiasNessuna valutazione finora
- Determinação crítica dos fatos particularesDocumento45 pagineDeterminação crítica dos fatos particularesFrancine RaimundiniNessuna valutazione finora
- O que é o IluminismoDocumento9 pagineO que é o Iluminismoosvaldo.rjrNessuna valutazione finora
- BALMES (JAIME) 2 Filosofía FundamentalDocumento242 pagineBALMES (JAIME) 2 Filosofía FundamentalGian Mario BoffiNessuna valutazione finora
- Freud x JungDocumento11 pagineFreud x JungPatricia CaetanoNessuna valutazione finora
- História da Filosofia dos Pré-Socráticos a Karl MarxDocumento24 pagineHistória da Filosofia dos Pré-Socráticos a Karl MarxBárbara Eliza Braga Nobre bebnNessuna valutazione finora
- O Ato de FilosofarDocumento4 pagineO Ato de FilosofarJosé ManuelNessuna valutazione finora
- O Que É CulturaDocumento8 pagineO Que É CulturaMarcos JúniorNessuna valutazione finora
- Leopoldo, F. Mundo VazioDocumento8 pagineLeopoldo, F. Mundo VazioRyan ScottNessuna valutazione finora
- A Liberdade e a Responsabilidade do HomemDocumento6 pagineA Liberdade e a Responsabilidade do HomemDiego Leiras100% (1)
- Introdução À Filosofia Da MitologiaDocumento11 pagineIntrodução À Filosofia Da MitologiaThiago Ponce de MoraesNessuna valutazione finora
- A Poesia Na Filosofia Heideggeriana - Uma Breve Investigação Rumo À Crítica PDFDocumento15 pagineA Poesia Na Filosofia Heideggeriana - Uma Breve Investigação Rumo À Crítica PDFGabriela FehrNessuna valutazione finora
- ÉticaDocumento2 pagineÉticaPaulo Andrade II100% (1)
- SCHULER, Donaldo Discurso HeraclitoDocumento16 pagineSCHULER, Donaldo Discurso HeraclitoGeraldo Barbosa NetoNessuna valutazione finora
- Origem da ciência jônica e atomismo de DemócritoDocumento2 pagineOrigem da ciência jônica e atomismo de DemócritoAnonymous vquwkXYFCNessuna valutazione finora
- A CONVERSÃO DE CLÓVIS AO CRISTIANISMODocumento20 pagineA CONVERSÃO DE CLÓVIS AO CRISTIANISMOBrunoNessuna valutazione finora
- Fabiano de Lemos Britto - Nietzsche Ensaio de Uma Pedagogia Messiânica (Tese)Documento361 pagineFabiano de Lemos Britto - Nietzsche Ensaio de Uma Pedagogia Messiânica (Tese)FilosofemaNessuna valutazione finora
- A Filosofia Na Idade Trágica Dos Gregos - Friedrich NietzscheDocumento31 pagineA Filosofia Na Idade Trágica Dos Gregos - Friedrich NietzscheJosivanLopesNessuna valutazione finora
- Questões de Ética e FilosofiaDocumento3 pagineQuestões de Ética e FilosofiaAnthonio SSNessuna valutazione finora
- Autonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisDa EverandAutonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisNessuna valutazione finora
- Espaço e Tempo na Educação Integral em Campinas: Narrativas da Emefei Padre Francisco SilvaDa EverandEspaço e Tempo na Educação Integral em Campinas: Narrativas da Emefei Padre Francisco SilvaNessuna valutazione finora
- História de países imaginários: variedades dos lugares utópicosDa EverandHistória de países imaginários: variedades dos lugares utópicosNessuna valutazione finora
- per030015_1960_00294Documento34 pagineper030015_1960_00294Gabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Homologacao Pos GraduacaoDocumento1 paginaHomologacao Pos GraduacaoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Gmail - Contrato Estágio - DisponívelDocumento1 paginaGmail - Contrato Estágio - DisponívelGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- _Conto de GratidãoDocumento7 pagine_Conto de GratidãoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Análise da interação entre Ariano Suassuna e Jô SoaresDocumento5 pagineAnálise da interação entre Ariano Suassuna e Jô SoaresGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Gabriela Souza - Avaliação 1 - CorrigidoDocumento2 pagineGabriela Souza - Avaliação 1 - CorrigidoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Crônica - Versão 1Documento2 pagineCrônica - Versão 1Gabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Edital Promisaes 2024 0Documento8 pagineEdital Promisaes 2024 0Gabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Resultado Final 2Documento42 pagineResultado Final 2Gabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Bolsas Permanecer 2022 UFBADocumento19 pagineBolsas Permanecer 2022 UFBAGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Análise sociolingüística de vídeos sobre MSTDocumento9 pagineAnálise sociolingüística de vídeos sobre MSTGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Sexto Empírico e a suspensão do juízoDocumento7 pagineSexto Empírico e a suspensão do juízoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Atividade Avaliativa 1 - Sobre o FilmeDocumento4 pagineAtividade Avaliativa 1 - Sobre o FilmeGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Estratificação social do /r/ em lojas e fala no Brasil e EUADocumento3 pagineEstratificação social do /r/ em lojas e fala no Brasil e EUAGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Relato Pessoal Leta 9Documento1 paginaRelato Pessoal Leta 9Gabriela SilvaNessuna valutazione finora
- A Antropologia Urbana e Os Desafios Da MetrópoleDocumento15 pagineA Antropologia Urbana e Os Desafios Da MetrópoleCarolina Favarelli SimioniNessuna valutazione finora
- Beatles, beatniks e a contraculturaDocumento4 pagineBeatles, beatniks e a contraculturaGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Os Modos Gerais Da Suspensão Do JuízoDocumento21 pagineOs Modos Gerais Da Suspensão Do JuízoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Teoria Racial Crítica e Letramento Racial CríticoDocumento30 pagineTeoria Racial Crítica e Letramento Racial CríticoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Lista de Exercicios n01Documento5 pagineLista de Exercicios n01Thayanne Araújo SilvaNessuna valutazione finora
- Origem da VidaDocumento11 pagineOrigem da VidaGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- CenografiaDocumento6 pagineCenografiaGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- 1318250039766Documento13 pagine1318250039766simoneNessuna valutazione finora
- Inversão da olhadela: mudança de perspectivaDocumento19 pagineInversão da olhadela: mudança de perspectivaGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- A metapoesia de Florbela Espanca e Cecília MeirelesDocumento133 pagineA metapoesia de Florbela Espanca e Cecília MeirelesEliana Kefalás Oliveira LicaNessuna valutazione finora
- B. BraittDocumento2 pagineB. BraittGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- SonetosDocumento4 pagineSonetosGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Matriz de referência para redação traz detalhes sobre competênciasDocumento6 pagineMatriz de referência para redação traz detalhes sobre competênciasBeatriz BarbosaNessuna valutazione finora
- A arte da agudezaDocumento25 pagineA arte da agudezaGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- JOUVE, Vincent. Ensinar Literatura e ConclusãoDocumento19 pagineJOUVE, Vincent. Ensinar Literatura e ConclusãoGabriela SilvaNessuna valutazione finora
- Educação Básica, Empregabilidade e CompetênciaDocumento17 pagineEducação Básica, Empregabilidade e CompetênciaAparecida LimaNessuna valutazione finora
- Temas Atuais em TeologiaDocumento101 pagineTemas Atuais em Teologiacesaraugusto2022100% (1)
- Coisa. Sentido JurídicoDocumento8 pagineCoisa. Sentido JurídicoNeves Moxi100% (2)
- Stanley Keleman criador da Psicologia FormativaDocumento2 pagineStanley Keleman criador da Psicologia FormativarobertofigueiraNessuna valutazione finora
- Consciência e Biodanza, Epistemologia e Vivência para o Ser Universal - Filipe FreitasDocumento177 pagineConsciência e Biodanza, Epistemologia e Vivência para o Ser Universal - Filipe FreitasFilipe Freitas100% (1)
- Modulo Psicologia Geral PDFDocumento68 pagineModulo Psicologia Geral PDFValther Maguni100% (26)
- A medida da justiça: igualdade e equidadeDocumento22 pagineA medida da justiça: igualdade e equidadegabrielNessuna valutazione finora
- O papel da língua segundo SaussureDocumento10 pagineO papel da língua segundo SaussureCleide Rodrigues RodriguesNessuna valutazione finora
- Lingüística: História Concisa DaDocumento55 pagineLingüística: História Concisa DaCláudiaNessuna valutazione finora
- Cadernos ArrabalDocumento51 pagineCadernos ArrabalericapedroNessuna valutazione finora
- Resenha de livro sobre racionalidade ambiental e desenvolvimento sustentávelDocumento5 pagineResenha de livro sobre racionalidade ambiental e desenvolvimento sustentávelMario Francisco Castro RenteriaNessuna valutazione finora
- Tese Rondinelli PDFDocumento270 pagineTese Rondinelli PDFCanuto JúniorNessuna valutazione finora
- Nelson Moraes - Perdão - O Caminho Da Felicidade (Espírito Aulus)Documento38 pagineNelson Moraes - Perdão - O Caminho Da Felicidade (Espírito Aulus)Talita MoreiraNessuna valutazione finora
- Matrizes - Exercícios 5Documento14 pagineMatrizes - Exercícios 5ufrgs.2021Nessuna valutazione finora
- Trabalho de Grupo - RawlsDocumento4 pagineTrabalho de Grupo - RawlsMara CostaNessuna valutazione finora
- Questionário de Teologia Sistemática IDocumento3 pagineQuestionário de Teologia Sistemática IHollyverLima100% (1)
- Arquitetura política e alternativas urbanasDocumento3 pagineArquitetura política e alternativas urbanasfrank_barroso0% (3)
- Direito e capitalismo segundo MarxDocumento12 pagineDireito e capitalismo segundo MarxCláudio RennóNessuna valutazione finora
- Código de Ética IndígenaDocumento2 pagineCódigo de Ética IndígenaCarlos VenturiNessuna valutazione finora
- Análise da interlíngua em marcadores discursivosDocumento242 pagineAnálise da interlíngua em marcadores discursivosRAFAELNessuna valutazione finora
- O Estoicismo - George StockDocumento116 pagineO Estoicismo - George StockSh SzandorNessuna valutazione finora
- O PENSAMENTO SISTÊMICO EM PSICOLOGIA Por Abilio MachadoDocumento4 pagineO PENSAMENTO SISTÊMICO EM PSICOLOGIA Por Abilio MachadoAbilio MachadoNessuna valutazione finora
- ARTIGO RessignificandoMaternidade PDFDocumento15 pagineARTIGO RessignificandoMaternidade PDFAlice GarciaNessuna valutazione finora
- Arte e Catarse para Vygotsky (Salvo Automaticamente)Documento29 pagineArte e Catarse para Vygotsky (Salvo Automaticamente)Luciana MarollaNessuna valutazione finora
- A experiência do pensar filosóficoDocumento23 pagineA experiência do pensar filosóficoluiz antonioNessuna valutazione finora
- Defesa PedagogiaDocumento3 pagineDefesa PedagogiaKarina DelatorreNessuna valutazione finora
- A Influência Dos Árabes e Do Islamismo Na Civilização Ocidental - Prof. Ricardo Román BlancoDocumento6 pagineA Influência Dos Árabes e Do Islamismo Na Civilização Ocidental - Prof. Ricardo Román Blancommouallem2100% (2)
- Tipos de NarradorDocumento1 paginaTipos de NarradorYamile SantanaNessuna valutazione finora
- Aspectos da fenomenologiaDocumento15 pagineAspectos da fenomenologiaMariana FernandesNessuna valutazione finora
- CADERNO 3 Português para o INSS TOP 10 Assuntos para Gabaritar A ProvaDocumento140 pagineCADERNO 3 Português para o INSS TOP 10 Assuntos para Gabaritar A ProvaNanda BorgesNessuna valutazione finora