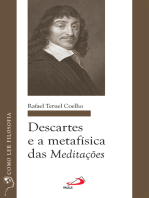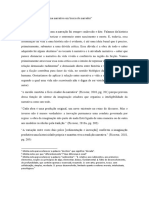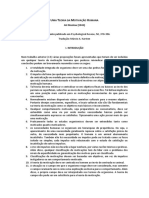Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Tbi JHKK
Caricato da
markcmcTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Tbi JHKK
Caricato da
markcmcCopyright:
Formati disponibili
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 3
AIRES ALMEIDA CLIA TEIXEIRA DESIDRIO MURCHO PAULA MATEUS PEDRO GALVO
A Arte de Pensar
Filosofia 10. ano
Volume
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 2
TTULO _____
A ARTE DE PENSAR FILOSOFIA 10. Ano Volume 2
AUTORES _____
AIRES ALMEIDA CLIA TEIXEIRA DESIDRIO MURCHO PAULA MATEUS PEDRO GALVO
REVISO CIENTFICA _____
SOFIA MIGUENS
ILUSTRAO _____
PLTANO EDITORA
CAPA E ARRANJO _____ GRFICO
BACKSTAGE Imagem da capa: ADRIANO ALMEIDA
PR-IMPRESSO _____
PLTANO EDITORA
IMPRESSO _____
PERES, S.A. Dep. Legal n.
DIREITOS_____ RESERVADOS
Av. de Berna, 31, 2. Esq. 1069-054 LISBOA Telef.: 217 979 278 Telefax: 217 954 019 www.didacticaeditora.pt
DISTRIBUIO _____
Rua Manuel Ferreira, n. 1, A-B-C Quinta das Lagoas Santa Marta de Corroios 2855-597 Corroios Telef.: 212 537 258 Fax: 212 537 257 E-mail: encomendasonline@platanoeditora.pt R. Guerra Junqueiro, 452 4150-387 Porto Telef.: 226 099 979 Fax: 226 095 379
CENTROS DE APOIO A DOCENTES _____
LISBOA Av. de Berna, 31 - 2. Esq. 1069-054 Lisboa Telef.: 217 965 107 NORTE R. Guerra Junqueiro, 452 4150-387 Porto Telef.: 226 099 979 SUL Rua Manuel Ferreira, n. 1, A-B-C Quinta das Lagoas Santa Marta de Corroios 2855-597 Corroios Telef.: 212 559 970
_____________________________________________________________________________________________________
1. Edio DE-0000-07 Abril 2007 ISBN 000-000-000-0
ESTE LIVRO UM AMIGO DO AMBIENTE E FOI IMPRESSO EM PAPEL ISENTO DE CLORO (TCF), 100% RECICLVEL E COM TINTAS ISENTAS DE ELEMENTOS PESADOS SOLVEIS CONTAMINANTES (CHUMBO, ANTIMNIO, ARSNIO, CDMIO, CRMIO, MERCRIO E SELNIO), DE ACORDO COM A DIRECTIVA EUROPEIA 88/378/EU.
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 4
ndice
A DIMENSO ESTTICA Anlise e compreenso da experincia esttica
Captulo 12 A experincia e o juzo estticos
............... 9 9 11 23 39 39 40 46 53 60 1. Esttica e filosofia da arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A experincia esttica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. A justificao do juzo esttico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Arte de Pensar
Vol. 2
Captulo 13 A criao artstica e a obra de arte
2. Arte e imitao
.............
1. O problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 3. Arte e expresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Arte e forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. A arte pode ser definida? .............................
Captulo 14 A arte: produo e consumo, comunicao e conhecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. O problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. O valor intrnseco da arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. O valor instrumental da arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 67 68 71
A DIMENSO RELIGIOSA Anlise e compreenso da experincia religiosa
Captulo 15 A religio e o sentido da existncia
1. O problema do sentido da vida 3. Crticas resposta religiosa ........... 85 85 88 92 101 101 102 108 ........................
2. Uma resposta religiosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... ...
Captulo 16 As dimenses pessoal e social das religies
1. O problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A tica da crena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. O caso especial da crena religiosa .....................
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 5
ndice
Captulo 17 Religio, razo e f
.......................... 113 113 124 132 135 142 147 126 1. A relao entre razo e f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Argumentos testas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. O argumento ontolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. O argumento cosmolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. O argumento do desgnio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. O argumento moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. O problema do mal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Captulo 18 O estatuto moral dos animais no humanos
1. A perspectiva tradicional ... 155 155 157 162 169 169 176 177 182 ............................. ......................... ............
2. Especismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Perspectivas contemporneas
Captulo 19 A pobreza e a obrigao de ajudar
1. O argumento a favor da obrigao de ajudar . . . . . . . . . . . . . . 2. Objeces factuais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Objeces morais ................................... ........
Avaliao Como se escreve um ensaio de filosofia?
Glossrio
...............................................
190
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
A Arte de Pensar
Vol. 2
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 6
Textos
A DIMENSO ESTTICA Anlise e compreenso da experincia esttica
Texto 26 Texto 27 Texto 28 Texto 29 Texto 30 Texto 31 Texto 32 Texto 33 Texto 34 Texto 35 Texto 36 Texto 37 Texto 38 O Desinteresse
Immanuel Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerome Stolnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Dickie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Hume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe Beardsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo Tolstoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clive Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris Weitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscar Wilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeremy Bentham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo Tolstoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nelson Goodman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 22 33 34 45 51 58 63 70 78 80 81
A Arte de Pensar
Vol. 2
A Atitude Esttica
Mito da Atitude Esttica O Padro do Gosto Razes Objectivas A Arte Imitao
A Arte Comunicao de Sentimentos A Arte Forma Significante
A Arte No Pode Ser Definida Forma e Beleza Arte e Prazer
Arte e Progresso Moral
O Valor Cognitivo da Arte
6
6
A DIMENSO RELIGIOSA Anlise e compreenso da experincia religiosa
Texto 39 Texto 40 Confisso
Leo Tolstoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Nagel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 96
O Absurdo
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 7
Textos
Texto 41 Texto 42 Texto 43 Texto 44 Texto 45 Texto 46 Texto 47 Texto 48 Texto 49 Deveres para com a Humanidade A Vontade de Acreditar Sem Risco No h F
W. K. Clifford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sren Kierkegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Toms de Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santo Anselmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaunilo de Marmoutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Paley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immanuel Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. W. Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 110 120 122 129 131 140 145 150
A Razo No Contrria F Proslogion
Em Defesa do Insensato Desgnio Divino
Deus como Postulado da Razo Teodiceia
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Texto 48 Texto 49 Texto 50 Texto 51 tica e Espcie
James Rachels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tom Regan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Singer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colin McGinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 164 174 179
A Perspectiva dos Direitos Direitos de Propriedade
No Somos Meios para os Fins dos Outros
A Arte de Pensar
Vol. 2
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 8
Optar pela Parte 5 (Esttica) ou pela Parte 6 (Religio)
A DIMENSO ESTTICA
Anlise e compreenso da experincia esttica
Captulo 12. A experincia e o juzo estticos, 9 Captulo 13. A criao artstica e a obra de arte, 39 Captulo 14. A arte: produo e consumo, comunicao e conhecimento, 67
Carpe Diem
(1992), de Baltazar Torres (n.1961). Ser que ao olharmos para este quadro temos uma experincia esttica? E o que distingue essa experincia de outro tipo de experincias? Ser que a minha avaliao desta pintura subjectiva? E como se avalia uma obra de arte? E o que justifica o valor da arte? O que faz deste quadro uma obra de arte? Estes so alguns dos enigmas da esttica e da filosofia da arte.
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 9
Captulo 12
A experincia e o juzo estticos
1. Esttica e filosofia da arte
Num certo sentido, todos sabemos o que a arte, pois conhecemos vrias formas de arte, como a msica ou a pintura. Se bem que algumas obras de arte no sejam belas, a beleza um aspecto importante da arte. Por sua vez, a beleza est relacionada com a esttica. muito comum ver o termo esttica em expresses e frases como as seguintes:
Seces 1. Esttica e filosofia da arte, 9 2. A experincia esttica, 11 3. A justificao do juzo esttico, 23 Textos 26. O Desinteresse, 19 Immanuel Kant 27. A Atitude Esttica, 20 Jerome Stolnitz 28. O Mito da Atitude Esttica, 22 George Dickie 29. O Padro do Gosto, 33 David Hume 30. Razes Objectivas, 34 Monroe Beardsley Objectivos
Instituto de esttica. Cirurgia esttica. Escolhi este telemvel em vez do outro por razes estticas.
Em qualquer destes casos estamos a pensar simplesmente na beleza fsica a aparncia das pessoas e os cuidados a ter com isso, bem como o aspecto visual das coisas. Trata-se de algo estritamente relacionado com o que agradvel vista. Em filosofia, o termo tem um significado diferente, tratando-se da disciplina que estuda os problemas relativos prpria natureza da beleza seja qual for o tipo de beleza e das artes. Trata-se de tentar responder a perguntas como o que a beleza? e como sabemos que algo belo?, ou como o que arte? e o que faz a arte ter valor?. Em sentido filosfico, o adjectivo esttico tambm usado para qualificar certo tipo de experincias, de objectos, de propriedades, de juzos, de prazeres, de valores e de atitudes.
Compreender o significado filosfico do termo esttica. Caracterizar e discutir a noo de experincia esttica. Compreender o problema da justificao do juzo esttico. Tomar posio sobre as respostas subjectivista e objectivista ao problema da justificao do juzo esttico. Conceitos Esttica, experincia esttica, atitude esttica, juzo esttico, desinteresse. Contemplao, juzo de gosto, juzo cognitivo, subjectivismo esttico. Padro de gosto, objectivismo esttico, propriedade esttica.
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 10
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Eis alguns exemplos:
Estticos Objectos Propriedades Experincias Juzos Prazeres A escultura O Beijo, de Rodin. A elegncia. Ouvir msica. O Porto bonito. A sensao agradvel de contemplar o mar durante a tempestade. O valor do quadro Natureza Morta com Mas, de Czanne. Olhar para um retrato do sc. XVIII para apreciar a sua beleza. No estticos Os meus chinelos de quarto. A brancura. Estudar. O Porto hmido. A sensao agradvel de cumprir uma promessa. As mas que serviram de modelo a Czanne no quadro Natureza Morta com Mas. Olhar para um retrato do sc. XVIII para ver como as pessoas se vestiam nessa poca.
Valores
Atitudes
O termo esttica foi pela primeira vez usado em sentido filosfico pelo alemo Alexander Baumgarten (1714-1762) para designar a disciplina que estuda o conhecimento sensorial (conhecimento obtido pelos sentidos). Baumgarten considerava que o conhecimento sensorial era autnomo e diferente do conhecimento racional. Segundo Baumgarten, os mais perfeitos exemplos de conhecimento facultado pelos sentidos so as belezas que podemos observar directamente na natureza, na arte e em outros artefactos (objectos concebidos ou criados por seres humanos). Esta ideia acabou por ser adoptada e desenvolvida pela generalidade dos filsofos do sc. XVIII. Estes filsofos falavam mesmo de uma faculdade sensvel especial, responsvel pela apreenso da beleza e do sublime, a que chamavam faculdade do gosto. A esttica tornou-se, assim, a disciplina filosfica que estuda a beleza e o sublime, onde quer que se encontrem, sendo a beleza artstica e a natural as mais importantes. As questes relativas arte eram encaradas, por alguns destes filsofos, como questes especializadas da esttica, pois considerava-se ento que todos os objectos de arte eram belos. Todavia, o desenvolvimento artstico posterior acabou por tornar inadequada, aos olhos de muitos filsofos, a Filosofia Esttica ideia de que toda a arte bela, levando muitos a conceda Arte ber a esttica e a filosofia da arte como disciplinas distintas, embora com alguns aspectos em comum. A maior parte dos filsofos contemporneos reconhece que apesar de algumas obras de arte serem belas, uma boa parte delas no o so, seja qual for o sentido de beleza que Alguns filsofos defendem que a esttica e se tenha em mente. Dado que a esttica se ocupa da bea filosofia da arte so disciplinas diferentes, leza, isto quer dizer que a filosofia da arte ultrapassa o embora com aspectos em comum. domnio da esttica. 10
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 11
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Alguns filsofos continuam, contudo, a ver a filosofia da arte como um domnio especializado da esttica. Esses filsofos reconhecem que nem toda a arte bela, mas defendem que as coisas belas e as obras de arte continuam a ter em comum um aspecto essencial: proporcionam um tipo especial de experincia, a experincia esttica. Assim, os quadros de Picasso, a msica dos U2, o pr-do-sol no Alentejo, os cavalos selvagens a correr no Gers e a Soraia Chaves ou o Brad Pitt a passarem nossa frente tm em comum o facto de geralmente provocarem em ns experincias estticas. Neste sentido, a esttica e a filosofia da arte no so disciplinas substancialmente diferentes, pois em ambos os casos se trata agora do estudo da noo fundamental de experincia esttica. Mas o que uma experincia esttica e o que a distingue de uma experincia no esttica? Haver realmente experincias estticas ou isso apenas um modo de falar? As respostas a estas perguntas sero discutidas j a seguir.
Esttica Filosofia da Arte
Outros filsofos encaram a filosofia da arte como uma sub-disciplina da esttica.
2. A experincia esttica
O que queremos dizer quando qualificamos uma experincia como esttica? Como se distingue algo que esttico, seja uma experincia ou outra coisa qualquer, de algo que no esttico?
Kant e o desinteresse
Uma das primeiras e mais importantes tentativas para distinguir o que do que no esttico foi levada a cabo pelo filsofo Immanuel Kant (1724-1804) Este filsofo comea por referir a experincia esttica para caracterizar o juzo esttico, sendo impossvel desligar uma noo da outra. Kant defende que um juzo s esttico se for determinado por um prazer desinteressado. Quando fala de prazer, Kant est a referir um determinado sentimento de que temos experincia. E quando caracteriza essa experincia como desinteressada, est a diferenci-la de outros tipos de experincia. O facto de o juzo esttico se referir a um sentimento e no a um objecto indica-nos que se trata de um juzo subjectivo. Assim, Kant pensa que o juzo esttico assenta num determinado tipo de experincia, que ele identifica como um sentimento de prazer desinteressado. Mas o que exactamente um prazer desinteressado? Ser um prazer a que no damos importncia ou a que no prestamos muita ateno? Para esclarecer melhor a noo de desinteresse, Kant confronta os juzos estticos com os juzos cognitivos (ou juzos de conhecimento). Kant defende que os juzos cognitivos, como os expressos pelas frases A relva verde ou Os metais dilatam quando so aquecidos, resultam da colaborao entre a sensi-
11
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 12
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
bilidade e o entendimento com vista ao conhecimento objectivo. A sensibilidade e o entendimento so as nossas duas principais faculdades cognitivas. Kant defende que, isoladamente, nenhuma dessas faculdades permite chegar ao conhecimento dos objectos. A sensibilidade a faculdade que os nossos sentidos tm de receber impresses dos objectos que nos rodeiam; as impresses recolhidas so as sensaes de cor, brilho, textura, etc. Por outras palavras, a faculdade da sensibilidade aquilo a que hoje chamamos de percepo. O entendimento a faculdade racional que organiza essas impresses, dando-lhes forma atravs da aplicao de conceitos. Kant defende que os dados dos sentidos fornecidos pela sensibilidade so a matria-prima do conhecimento; os conceitos que o entendimento aplica a essa matria so a forma do conhecimento. Assim, o contedo da nossa experincia s pode referir-se aos objectos por meio de conceitos. S h conhecimento quando a sensibilidade fornece os seus dados com o propsito de lhes ser aplicado um conceito, e quando um conceito lhes efectivamente aplicado. Por exemplo, o juzo expresso pela frase Os metais dilatam ao ser aquecidos depende dos dados que os nossos sentidos obtm do exterior quando tocamos o metal e o sentimos quente, e quando olhamos para ele e vemos que dilatou. Mas depende tambm de algo que est fora do alcance dos nossos sentidos: a aplicao do conceito de causalidade para relacionar as sensaes de calor com a de dilatao dos metais. Kant defende que os juzos de gosto, como o expresso pela frase O pr-do-sol Natureza Morta com Mas, (1890), de Paul Czanne belo, que so um dos tipos de juzos est(1839-1906). Alguns filsofos defendem que, ao contemplar esta pintura, temos experincias estticas, o que talvez no acontecesse ticos, no se referem existncia dos objecse observssemos directamente as mas de que o pintor se sertos. Referem-se sim ao nosso prprio estaviu como modelo. do subjectivo de prazer ou desprazer acerca do contedo da experincia. Kant pensa que o belo no um objecto, pelo que no pode ser referido atravs de conceitos. Porm, pensa que as nossas faculdades cognitivas intervm na mesma nos juzos estticos. A diferena que essas faculdades esto agora livres de qualquer finalidade cognitiva, dado que no o conhecimento de objectos que est em causa. Referindo-se apenas ao nosso sentimento de prazer, as faculdades entram numa espcie de jogo completamente livre, sem qualquer propsito ulterior. Por isso, o entendimento nunca chega a aplicar qualquer conceito, devolvendo a matria recebida imaginao uma faculdade intermdia entre a sensibilidade e o entendimento num processo que se repete continuamente. Kant pensa que este livre jogo das faculdades, decorrente da ausncia de qualquer finalidade cognitiva ou outra, que nos coloca perante a simples representao 12
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 13
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
dos objectos, provocando em ns um sentimento de prazer contemplativo. Este prazer desinteressado precisamente porque meramente contemplativo. Isto significa que:
No visa satisfazer qualquer interesse prtico ou propsito ulterior. No se funda em conceitos. No depende sequer da existncia real do objecto representado.
Tudo o que conta a simples contemplao da representao em si e o livre sentimento de prazer que a acompanha. Assim, dizer que algo belo dar voz a um determinado tipo de experincia ou sentimento de prazer. Ou seja, dizer que algo belo s dar voz a uma certa experincia e nada mais. Essa experincia no se pode descrever, ao contrrio da experincia de ver um copo, que podemos descrever atravs do juzo expresso pela frase Est um copo minha frente. No podemos descrever a experincia esttica dizendo Est uma beleza minha frente porque o que est minha frente o objecto que provoca em mim a experincia esttica, e no a experincia esttica. Ao contrrio do prazer do belo, Kant defende que os outros dois tipos de prazeres que refere o prazer do bom e o prazer do agradvel no so independentes de qualquer interesse.
O prazer do bom o prazer que se obtm da satisfao de uma necessidade prtica, como o prazer que se tem ao resolver um problema domstico. O prazer do agradvel o que se obtm da satisfao de algum desejo pessoal ou inclinao natural dos nosos sentidos, como o prazer que temos ao comer doces.
Portanto, ambos so determinados por algum tipo de interesse Kant pensa que a stisfao de desejos a satisfao de um interesse pessoal. Em suma, Kant pensa que a experincia esttica desinteressada, mas no por no ser importante ou valiosa; desinteressada porque completamente livre e independente dos nossos desejos, necessidades ou conhecimentos. Tudo o que conta para a experincia esttica a prpria experincia.
Reviso
1. Como distingue Kant um juzo esttico de um juzo cognitivo? 2. Qual , segundo Kant, o papel do entendimento no juzo cognitivo? 3. Por que razo pensa Kant que o juzo esttico subjectivo? 4. Kant defende que no juzo esttico h um livre jogo das faculdades cognitivas. O que significa isso? 5. Como caracteriza Kant um prazer desinteressado? 6. Que outros tipos de prazer esttico h, segundo Kant, alm do prazer do belo?
13
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 14
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Discusso
7. Kant defende que quando temos uma experincia esttica nem sequer procuramos satisfazer qualquer desejo pessoal. O que nos leva, ento, a percorrer centenas de quilmetros para assitir a um concerto do nosso msico preferido? Justifique.
Atitude esttica e desinteresse
A noo kantiana de desinteresse serve para caracterizar a experincia e o juzo estticos, mas nada diz sobre a origem ou causa dessas experincias. Por exemplo, perante David, a famosa escultura de Miguel ngelo, tanto podemos dizer que bonita como dizer que de mrmore o nosso juzo tanto pode ser esttico como cognitivo. O que nos leva a produzir, acerca desse objecto, um juzo esttico em vez de um juzo cognitivo? O filsofo contemporneo, Jerome Stolnitz (n. 1925), procura esclarecer esse aspecto defendendo que ter uma experincia esttica e proferir juzos estticos uma questo de adoptar uma determinada atitude em relao a algo. S quando se tem uma atitude esttica que se pode apreciar esteticamente algo e ter uma experincia esttica. Neste caso, o desinteresse a caracterstica definidora da atitude esttica. Mas o que ter uma atitude, simplesmente? Eis o que responde Stolnitz:
David,
de Miguel ngelo (1475-1564). Esta esttua bela e de mrmore. O que nos leva a dar ateno beleza, mas no ao mrmore?
Uma atitude uma maneira de dirigir e controlar a nossa percepo. Nunca vemos nem ouvimos, indiscriminadamente, tudo aquilo que constitui o nosso ambiente. Pelo contrrio, prestamos ateno a algumas coisas, ao passo que apreendemos outras apenas de maneira vaga ou quase nula. Portanto, a ateno selectiva concentra-se em alguns aspectos do que nos rodeia e ignora outros. [...] Alm disso, aquilo a que prestamos ateno ditado pelas finalidades que temos em cada momento. [...] Obviamente, quando os indivduos tm fins diferentes, percepcionam o mundo de maneira diferente: uma pessoa dar nfase a determinadas coisas que outra ignorar. O batedor ndio presta uma ateno cuidadosa a marcas e pistas que a pessoa que est simplesmente a passear pelo bosque negligencia.
Jerome Stolnitz, Esttica e Filosofia da Crtica de Arte, 1960, trad. de Vtor Silva, p. 45
14
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 15
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Assim, se as pessoas adoptarem a mesma atitude, encarando as coisas da mesma maneira, certamente tero o mesmo tipo de experincia. Dado que a atitude que adoptamos determina a forma como percepcionamos o mundo, ter uma atitude esttica perante algo uma condio necessria para ter experincias estticas. Se diferentes pessoas tiverem a mesma atitude nomeadamente, uma atitude esttica em relao a um dado objecto, tero tambm o mesmo tipo de sentimento. Stolnitz defende, por isso, que a noo fundamental a de atitude esttica, mais do que a de experincia esttica. Porm, Stolnitz defende que a atitude que tomamos habitualmente no a esttica mas a atitude de percepo prtica, que ele caracteriza do seguinte modo:
Habitualmente, vemos as coisas do nosso mundo em termos da sua utilidade para a promoo ou prejuzo dos nossos fins. Se alguma vez damos expresso verbal nossa atitude vulgar para com um objecto, ela toma a forma da questo O que posso fazer com ele e o que pode ele fazer-me?. Vejo uma caneta como algo com que posso escrever, vejo um automvel que se aproxima como algo a evitar. No concentro a minha ateno no objecto propriamente dito. Pelo contrrio, o objecto s me interessa na medida em que pode ajudar-me a atingir um objectivo futuro. [...] Assim, quando a nossa atitude prtica, percepcionamos as coisas apenas como meios para um fim que est para l da experincia de as percepcionarmos.
Jerome Stolnitz, Esttica e Filosofia da Crtica de Arte, 1960, trad. de Vtor Silva, p. 46
Assim, Stolnitz pensa que a atitude prtica uma forma de dirigir a nossa ateno para os objectos em funo de certos fins, pensando sempre na sua utilidade, ou seja, encarando os objectos como meios. Stolnitz pensa que a atitude esttica, por sua vez, exclui qualquer tipo de interesse, levando-nos a concentrar a ateno exclusivamente no objecto: nas formas, linhas e cores de um quadro, na forma como os sons esto organizados numa pea musical, na estrutura de um romance, etc. Stolnitz pensa que so estes aspectos do prprio objecto que, quando temos uma atitude esttica, nos absorvem completamente, originando em ns um estado de pura contemplao activa. A contemplao activa (e no passiva) porque exige uma ateno perspicaz, capaz de dar conta dos mais pequenos pormenores no objecto. Este o significado do desinteresse que Stolnitz pensa que caracteriza a atitude esttica. A noo de atitude esttica permite explicar de um modo mais simples do que Kant por que razo algumas pessoas tm experincias estticas acerca de certos objectos e outras no. Nos exemplos seguintes torna-se claro por que razo nenhuma das pessoas em causa tem experincias estticas e por que razo os seus juzos no so estticos:
15
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 16
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
O Joo ficou entusiasmado com o quadro Carpe Diem, de Baltazar Torres, pois pareceu-lhe um excelente investimento. A Rita gosta muito da msica da Enya porque tem um efeito relaxante. A Ana acha mau o romance Lolita, de Vladimir Nabokov, porque desafia a moral e os bons costumes. O Lus diz que o filme O Tigre e o Drago, de Ang Lee, no bom porque nada se aprende com ele.
O Tigre e o Drago (2000),
Em todos estes casos, a atitude adoptada prtica e interessada: interesses econmicos, psicolgicos, morais e cognitivos, respectivamente. E nunca os objectos so encarados esteticamente, isto , em funo de si prprios. Outra das vantagens da noo de atitude esttica, relativamente teoria de Kant, explicar por que razo podemos ter experincias estticas acerca de praticamente qualquer objecto, independentemente de ser arte ou no e at de ser belo ou no. A experincia esttica deixa de estar associada beleza, tornando possvel descrever como estticas certas experincias acerca de coisas que, em condies normais, no so dignas de ateno e que at consideramos feias. Neste sentido, qualquer coisa pode ser um objecto esttico e proporcionar experincias estticas, desde que tenhamos uma atitude esttica em relao a ela.
de Ang Lee. Apesar de ter sido um sucesso, h quem considere que no passa de um exerccio de estilo sem grande contedo. Ser que esta opinio poderia ser partilhada pelo defensor da teoria da atitude esttica?
Reviso
1. Como caracteriza Stolnitz a noo de atitude? 2. Como caracteriza Stolnitz a atitude prtica? 3. Como caracteriza Stolnitz a atitude esttica? 4. D um exemplo do que Stolnitz considera uma atitude prtica relativamente a objectos de arte. 5. Stolnitz pensa que podemos ter experincias estticas acerca de qualquer objecto. Porqu?
Discusso
6. Ser que tudo pode ser encarado esteticamente? Justifique e d exemplos. 7. Quando encaramos algo esteticamente no podemos encarar a mesma coisa sem ser esteticamente? Porqu? D exemplos.
16
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 17
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Crtica da noo de experincia esttica
Ser que existe realmente uma forma de ateno desinteressada? Se no for possvel distinguir a ateno desinteressada da interessada, ento tambm no faz sentido falar de experincias estticas. Alguns filsofos contemporneos, entre os quais se destaca George Dickie (n. 1926), defendem que no faz qualquer sentido falar de experincias estticas, pelo que a chamada atitude esttica no passa de um mito. Para defender esta ideia, Dickie apresenta exemplos de apreciao de obras de arte em que o interesse ou desinteresse em nada alteram o tipo de ateno que lhes dispensamos. Vejamos dois desses exemplos, ligeiramente adaptados. Suponha-se que a Joana estudante de msica no conservatrio e que est a ouvir um trecho musical com o propsito de o analisar e descrever correctamente no exame que vai ter George Dickie (n. 1926) um influente filsofo da arte no dia seguinte. O seu amigo Lus ouve o mesmo trecho, mas americano. sem qualquer propsito ulterior. Dir-se-ia que a atitude da Joana interessada e a do Lus desinteressada. Mas Dickie argumenta que, apesar de os motivos, intenes ou razes para ouvir esse trecho musical poderem ser diferentes, isso em nada altera o tipo de ateno quando o ouvem: ambos podem perfeitamente gostar do que ouvem e ambos podem aborrecer-se. Claro que um deles pode estar mais atento ou distrado. Uma coisa so os motivos para ouvir msica e as maneiras como o ouvinte pode ser distrado e outra coisa diferente o tipo de ateno. Estar mais ou menos atento no o mesmo que ter um tipo diferente de ateno, do mesmo modo que ter mais ou menos febre no o mesmo que ter um tipo diferente de febre. H apenas uma maneira de ouvir msica. Sendo assim, impossvel distinguir uma audio desinteressada de outra interessada, pelo que a distino artificial. O segundo exemplo de Dickie refere-se pintura, procurando confrontar o que seria olhar para uma pintura interessada e desinteressadamente. Imagine-se que a Carla olha para uma pintura porque lhe faz lembrar o seu av e lhe recorda os momentos agradveis que passou com ele. Esta , supostamente, uma observao interessada, pois a Carla est a usar a pintura para relembrar momentos da sua vida. Mas, nesse preciso momento, e apesar de estar frente da pintura e de olhos abertos, a Carla j nem sequer est a olhar para a pintura, argumenta Dickie; est antes concentrada na recordao que a pintura comeou por despertar. Assim, a Carla no est a observar a pintura interessadamente, pois nem sequer est a observ-la. Os pensamentos e imagens que passam pela mente da Carla no fazem parte da pintura e nesses pensamentos e imagens que ela est concentrada. Portanto, no podemos dizer que esses pensamentos e imagens constituem uma observao interessada da pintura. certo que a Carla faz associaes irrelevantes, que a distraem da pintura. Mas a distrao no uma forma especial de ateno; uma forma de desateno, conclui Dickie. Estes casos parecem mostrar que a noo de ateno desinteressada , na prtica, ininteligvel. Nesse caso, tambm ininteligvel a ideia de que h experincias estticas. E esta precisamente a concluso de Dickie.
17
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 18
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
O que a experincia esttica?
um sentimento de prazer desinteressado. (Kant)
o resultado da adopo da atitude esttica. (Stolnitz)
A pergunta no correcta porque no h experincias estticas. (Dickie)
Um prazer desinteressado se no fundado em conceitos e se independente da existncia real dos objectos.
Uma atitude esttica quando observamos os objectos com uma ateno desinteressada (sem um propsito ulterior e em funo de si mesmos)
A noo de desinteresse no funciona na prtica; no permite fazer qualquer distino entre o que esttico e o que no .
Reviso
1. De que maneira procura Dickie mostrar que no h atitude nem experincia estticas? 2. Por que razo pensa Dickie que um erro afirmar que a Joana tem uma atitude diferente do Lus quando esto a ouvir msica? 3. Por que razo pensa Dickie que a Carla no observa de modo interessado a pintura do seu av?
Discusso
4. Ser que no h realmente experincias estticas? Justifique e d exemplos.
18
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 19
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Texto 26
O Desinteresse
Immanuel Kant
Chama-se interesse ao prazer que ligamos representao da existncia de um objecto. Por isso, um tal interesse envolve sempre ao mesmo tempo referncia faculdade de desejar, quer como seu fundamento, quer como necessariamente vinculado ao seu fundamento de determinao. Ora, se a questo saber se algo belo, ento no se quer saber se a ns ou a qualquer outra pessoa importa, ou possa importar, algo da existncia da coisa, mas antes como ajuizamos essa coisa na mera contemplao (intuio ou reflexo). [...] O que se quer saber somente se a mera representao do objecto em mim acompanhada de prazer, por indiferente que eu possa ser em relao existncia do objecto desta representao. claro que se trata do que fao dessa representao em mim mesmo, e no daquilo em que dependo da existncia do objecto, para dizer que ele belo e para provar que tenho gosto. Todos temos de reconhecer que o juzo sobre a beleza ao qual se mistura o mnimo interesse muito faccioso e no um juzo de gosto puro. No se tem de simpatizar minimamente com a existncia da coisa, mas, pelo contrrio, tem de se ser completamente indiferente a esse respeito para, em matria de gosto, desempenhar o papel de juiz. Esta proposio, que de importncia primordial, no pode ser cabalmente explicada a no ser contrapondo ao puro prazer desinteressado do juzo de gosto aquele juzo que est aliado a algum interesse.
Immanuel Kant, Crtica da Faculdade do Juzo, 1790, trad. adaptada de Antnio Marques et al., 2
Interpretao
1. O que o interesse e o que ele envolve, segundo Kant? 2. O que preciso, segundo Kant, para dizer que algo belo e provar que se tem gosto? 3. Por que razo pensa Kant que o juzo sobre a beleza ao qual se mistura o mnimo interesse muito faccioso e no um juzo de gosto puro?
Discusso
4. Ser que h juzos de gosto puros? Justifique e d exemplos. 5. Kant defende que tudo o que interessa para julgar algo belo a mera representao e no a existncia real dos objectos. Concorda? Porqu?
19
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 20
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Texto 27
A Atitude Esttica
Jerome Stolnitz
[] Em parte alguma a percepo exclusivamente prtica. Por vezes, prestamos ateno a uma coisa simplesmente para desfrutar do seu aspecto visual, ou da forma como nos soa, ou como se sente ao tacto. Esta a atitude esttica da percepo. Encontra-se onde quer que as pessoas se interessem por uma pea de teatro, por um romance, ou ouam atentamente uma obra musical. [...] Definirei a atitude esttica como a ateno e contemplao desinteressadas e complacentes de qualquer objecto da conscincia apenas em funo de si mesmo. [...] So muitos os tipos de interesse que so excludos do esttico. Um deles o interesse em possuir uma obra de arte por orgulho ou prestgio. frequente um coleccionador de livros interessar-se exclusivamente pela raridade e valor comercial de um manuscrito antigo, ignorando o seu valor como obra literria. (H coleccionadores de livros que nunca leram os livros que tm!) Outro interesse no esttico o interesse cognitivo, isto , o interesse em obter conhecimento acerca de um objecto. A um meteorologista no interessa a aparncia visual de uma impressionante formao nebulosa, mas as causas que a geraram. Analogamente, o interesse que o socilogo ou o historiador tm por uma obra de arte [...] cognitivo. [...] A atitude esttica isola o objecto e concentra-se nele: a aparncia das rochas, o som do mar, as cores da pintura. Por isso, o objecto no visto de maneira fragmentria, ou de passagem, como acontece na percepo prtica, ao usarmos uma caneta para escrever, por exemplo. Toda a sua natureza e carcter so considerados demoradamente. Quem compra um quadro apenas para cobrir uma mancha no papel de parede no v a pintura como um padro aprazvel de cores e formas. [...] A palavra complacentes, que ocorre na definio de atitude esttica, refere-se ao modo como nos preparamos para reagir ao objecto. [...] Qualquer um pode rejeitar um romance, por lhe parecer que entra em conflito com as suas crenas morais ou a sua maneira de pensar. [...] No lemos o livro esteticamente, porque interpusemos entre ele e ns reaces morais, ou outras, que nos so prprias e lhe so estranhas. Isto perturba a atitude esttica. Nesse caso, no podemos dizer que o romance esteticamente mau, porque no nos permitimos consider-lo esteticamente. [...] A ateno esttica no significa apenas concentrar-se no objecto e agir em relao a ele. Para apreciarmos completamente o valor especfico do objecto, temos de prestar ateno aos seus pormenores, frequentemente complexos e subtis. A ateno perspicaz a estes pormenores a discriminao. [...] Assim, e depois de termos compreendido que a ateno esttica vigilante e vigorosa, poderemos usar com confiana uma palavra que tem sido aplicada com frequncia experincia esttica: contemplao. De outro modo, haveria o perigo de esta palavra sugerir
20
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 21
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
um olhar impvido e distante que, como vimos, no consentneo com os factos da experincia esttica. Na realidade, a contemplao nada acrescenta de novo nossa definio, limitando-se a resumir ideias que j discutimos. Significa que a percepo dirigida ao objecto em funo de si mesmo, e que o espectador no est preocupado em analis-lo ou em fazer perguntas acerca dele. Alm disso, a palavra conota uma absoro e interesse totais, como quando falamos de uma pessoa perdida em contemplao. [...] A atitude esttica pode ser adoptada relativamente a qualquer objecto da conscincia. [...] [A] coisa mais feia da natureza em que consigo pensar neste momento uma certa rua de casas miserveis, onde se realiza um mercado ao ar livre. Se a percorrermos ao princpio de uma manh de Domingo, como fao s vezes, encontramo-la conspurcada de palha, papis sujos e outros detritos tpicos de um mercado. A minha atitude normal de averso. Quero afastar-me dali [...]. Mas, por vezes, verifico que [...] o cenrio se distancia abruptamente de mim e se eleva ao plano esttico, pelo que posso examin-lo de maneira muito impessoal. Quando isso acontece, parece-me que aquilo que estou a apreender tem uma aparncia diferente: tem uma forma e uma coerncia que anteriormente lhe faltavam e os pormenores tornam-se mais claros. Mas [...] no me parece que tenha deixado de ser feio e se tenha tornado belo. Posso ver o feio esteticamente, mas no posso v-lo como belo.
Jerome Stolnitz, Esttica e Filosofia da Crtica de Arte, 1960, trad. Vtor Silva, pp. 46-59
Interpretao
1. Que exemplos d o autor para mostrar que a percepo no exclusivamente prtica? 2. Por que razo pensa Stolnitz que os interesses cognitivos esto excludos do esttico? 3. Stolnitz pensa que no temos uma atitude esttica quando rejeitamos um romance por entrar em conflito com a nossa maneira de pensar. Porqu? 4. Como caracteriza Stolnitz a ateno desinteressada? 5. Como caracteriza Stolnitz a contemplao esttica? 6. Stolnitz defende que podemos ter experincias estticas acerca de qualquer objecto. Como isso possvel?
Discusso
7. Posso ver o feio esteticamente, mas no posso v-lo como belo. Concorda? Porqu? 8. Ser que quando apreciamos um objecto de arte nada mais conta a no ser o que est diante de ns para ser contemplado? Justifique.
21
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 22
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Texto 28
O Mito da Atitude Esttica
George Dickie
Um dramaturgo a assistir a um ensaio ou a uma actuao fora da cidade com o intuito de reescrever o guio tem-me sido sugerido como um exemplo em que o espectador est a assistir pea [...], mas a assistir de uma maneira interessada. [...] O nosso dramaturgo [...] tem motivos ulteriores. Alm disso, o dramaturgo, diferentemente de um espectador vulgar, pode alterar o guio depois da actuao ou durante o ensaio. Mas de que maneira difere a ateno (enquanto algo distinto dos seus motivos e intenes) do nosso dramaturgo da ateno de um vulgar espectador? O dramaturgo pode gostar ou aborrecer-se com a actuao, como qualquer espectador. A ateno do dramaturgo pode at variar. Em resumo, os tipos de coisas que podem acontecer com a ateno do dramaturgo no so diferentes das que podem acontecer com a do espectador vulgar, embora as duas tenham motivos e intenes bem diferentes. [...] Sem dvida que Stolnitz tem historicamente razo quando diz que a noo de atitude esttica desempenhou um papel importante na libertao da teoria esttica de uma excessiva preocupao com o belo. fcil ver como a palavra de ordem Tudo pode tornar-se num objecto da atitude esttica, viria a contribuir para levar a cabo esta libertao. Vale a pena notar, contudo, que o mesmo objectivo poderia ter sido levado a cabo (e at certo ponto talvez tenha sido) sublinhando simplesmente que as obras de arte so frequentemente feias ou contm fealdade, ou tm caractersticas que dificilmente se incluem na beleza. certo que em tempos mais recentes as pessoas tm sido encorajadas a assumir uma atitude esttica em relao pintura como forma de atenuar os seus preconceitos, por assim dizer, contra a arte abstracta e a arte no realista. Assim, ainda que a noo de atitude esttica tenha acabado por no ter qualquer valor terico para a esttica, teve valor prtico para a apreciao da arte [...].
George Dickie, O Mito da Atitude Esttica, 1964, trad. Aires Almeida, pp. 31-44
Interpretao
1. Por que razo pensa Dickie que a ateno do dramaturgo no diferente da ateno de outro espectador qualquer? 2. Dickie pensa que a noo de atitude esttica desempenhou um papel importante. Qual? 3. Por que razo pensa Dickie que a atitude esttica no tem qualquer valor terico?
Discusso
4. Ser que a atitude do dramaturgo mesmo igual de qualquer espectador? Porqu? 5. Se no h atitude esttica, no h experincia esttica. E se no h experincia esttica, tambm no h juzo esttico. Logo, no faz sentido distinguir entre juzos estticos e juzos no estticos. Concorda? Porqu?
22
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 23
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
3. A justificao do juzo esttico
Eis alguns exemplos de frases que aparentemente exprimem juzos estticos:
O quadro P97, de Rui Algarvio, belo. O vale do Douro monumental. Titanic, de James Cameron, um filme emocionante. O romance Os Maias, de Ea de Queirs, uma obra-prima. Liverpool uma cidade feia.
O principal problema que os filsofos costumam discutir acerca deste tipo de juzos a sua justificao. Quando uma pessoa afirma que algo belo, que tipo de razes apresenta para justificar o que afirma? O que nos faz dizer que algo belo? Na verdade, este no um proP97 (2006), de Rui Algarvio (n.1973). Que tipo de justificao blema que ocupe apenas os filsofos. Ouvimos damos para juzos como Este quadro belo? muitas vezes uma pessoa dizer que algo belo (ou feio) e, surpreendidos, queremos saber porqu. Por que razo algumas pessoas acham bonitas as canes do Tony Carreira e outras no? Ser que as pessoas esto todas a falar da mesma coisa quando usam a palavra belo? Ser que todas as opinies acerca do que ou no belo so correctas? Ser que quando afirmamos que uma pintura bela estamos a referir algo que est realmente na pintura, ou apenas uma maneira de manifestar os nossos sentimentos ao ver a pintura? Entre os filsofos, este conhecido como o problema da justificao do juzo esttico. Em termos mais populares costuma-se formular atravs da seguinte pergunta: A beleza est nas coisas ou nos olhos de quem a v? H duas teorias rivais que procuram responder a esse problema: o subjectivismo esttico e o objectivismo esttico.
Subjectivismo esttico
Para simplificar, pensemos apenas no caso particular do chamado juzo do belo um dos vrios juzos estticos. O subjectivismo esttico a perspectiva acerca da justificao do juzo esttico que defende basicamente que a beleza resulta do que sentimos quando observamos as coisas; ou seja, a beleza est nos olhos de quem a v.
23
1-38
2007.04.01
17:26
Pgina 24
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
O subjectivismo esttico defende que os objectos so belos em virtude do que sentimos quando os percepcionamos. Percepcionar um objecto obter informao dele atravs dos sentidos. Achar algo bonito ou feio , segundo esta teoria, uma questo de gostos ou preferncias pessoais. Um dos heternimos de Fernando Pessoa resume bem esta perspectiva nos seguintes versos:
A beleza o nome de qualquer coisa que no existe, Que eu dou s coisas em troca do agrado que elas me do.
Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, XXVI, 1912
Assim, os objectos so belos ou feios de acordo com os sentimentos de prazer ou desprazer que fazem surgir em ns. Os juzos estticos no so, neste caso, objectivos. Ou seja, o que est em causa no so as propriedades dos objectos, mas antes os sentimentos que tais objectos despertam em ns. Por isso se diz que so juzos de gosto. Dizer O Guardador de Rebanhos belo , para o subjectivista, o mesmo que dizer Gosto dO Guardador de Rebanhos. De maneira que se algum perguntar a um subjectivista que razes tem para dizer que O Guardador de Rebanhos belo, ele dir que sente prazer ao l-lo. Ou, mais simplesmente, que gosta desse poema.
Subjectivismo radical
Uma forma extrema de subjectivismo defende que, na medida em que traduzem aquilo que cada um sente, os gostos no se discutem. Mas esta forma de subjectivismo levanta quatro problemas bvios. Vejamos quais. 1. Contraria o modo como falamos. De acordo com o subjectivismo radical, as frases X belo e X no belo s seriam a negao uma da outra se fossem proferidas pela mesma pessoa. Proferidas por pessoas diferentes digamos, pela Rita e pelo Carlos, respectivamente apenas querem dizer A Rita gosta de X e O Carlos no gosta de X; assim, ambas podem ser verdadeiras, no havendo qualquer contradio. Ora, isto no est de acordo com o modo como falamos. 2. Torna impossvel a comunicao. Se belo for simplesmente aquilo que cada um acha, ento quando utilizamos a palavra belo numa conversa no chegamos verdadeiramente a comunicar: a palavra tem um significado diferente para cada pessoa, o que torna impossvel a comunicao. 3.Torna os juzos estticos autobiogrficos. No seguimento da objeco anterior, se o subjectivista radical tiver razo, os juzos estticos so autobiogrficos: quando uma pessoa diz X belo no est, em rigor, a falar de X, mas de si prpria e das suas preferncias. Porm, no assim que as coisas so geralmente entendidas.
24
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 25
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
4. Torna irracional a discusso esttica. Esta forma de subjectivismo parece esvaziar grande parte das discusses estticas, admitindo implicitamente que qualquer debate sobre o valor esttico das obras de arte irracional. Mas tanto as conversas mais banais como a autoridade que reconhecemos aos crticos de arte e especialistas parecem contradizer tal coisa. Contudo, h filsofos subjectivistas que no defendem esta forma radical de subjectivismo. o caso de Hume e Kant. Estes filsofos procuram evitar as objeces anteriores e resolver o chamado problema do gosto. O problema do gosto a questo de saber como conciliar o subjectivismo com a existncia de critrios comuns de avaliao. A resposta de Kant que os juzos de gosto, apesar de subjectivos, so universais algo que no fcil de compreender. Vejamos antes a resposta de outro dos grandes defensores do subjectivismo: David Hume (1711-1776).
Hume e o padro do gosto
Como empirista adepto do senso comum, Hume limitou-se a observar o que se passava realmente com as pessoas em matria de gostos. Ora, aquilo que podemos observar , alega Hume, a enorme diversidade e desacordo entre pessoas e culturas. Mesmo quando parecem concordar em aspectos gerais, acabam por discordar nos casos particulares, contrariamente ao que se passa nas questes da cincia. Este facto s pode ser adequadamente explicado se reconhecermos que o sentimento a base do juzo esttico. E isso mesmo que as pessoas invocam ao apreciar uma paisagem, um livro ou uma pintura. Todavia, isso compatvel com a existncia de princpios gerais do gosto, pois Hume pensa que h um padro do gosto, ao qual as pessoas aderem. Ao defender a existncia do padro do gosto, Hume oferece um critrio geral de justificao dos juzos estticos, impedindo assim o subjectivismo radical. Mas o que o padro do gosto? O padro do gosto conjunto de princpios e observaes gerais acerca do que tem sido universalmente aceite como agradvel em todos os pases e pocas. Os princpios a que Hume se refere no so uma espcie de regras a priori do pensamento. Hume defende que os princpios que se descobrem ao observar os gostos das pessoas ao longo dos tempos e em diferentes lugares que determinam o que ou no agradvel. So tais princpios que nos permitem considerar disO Beijo,
(2000), de Auguste Rodin (1840-1917). Esta escultura considerada uma grande obra de arte pelas pessoas de bom gosto. Mas ser que podemos discordar, argumentando que os gostos valem todos o mesmo?
25
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 26
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
paratada a opinio das pessoas que acham os romances de Rita Ferro melhores que os de Ea de Queirs, as canes do Tony Carreira mais belas que as dos Beatles ou as esculturas de Joo Cutileiro mais interessantes que as de Auguste Rodin. tambm por isso que Hume pensa que h acordo generalizado entre as pessoas de bom gosto: nenhuma pessoa de bom gosto tem dvidas que Cames melhor poeta que Antnio Aleixo, Ridley Scott melhor realizador que Joaquim Leito e Veneza mais bonita que Aveiro. Isto mostra que, ao contrrio do que defende o subjectivismo radical, nem todos os gostos se equivalem e que os gostos no so indiscutveis. Hume pensa que uma frase como Gosto de X dever ser correctamente entendida no simplesmente como X belo mas como X belo, de acordo com o padro do gosto. Hume defende que o padro de gosto tem dois aspectos fundamentais: 1. Desenvolve-se de forma semelhante ao longo do tempo. Hume defende que o padro de gosto se vai formando ao longo dos tempos, acabando os sentidos e a mente das diferentes pessoas por revelar um funcionamento semelhante no modo como reagem a certas propriedades dos objectos. Por exemplo, se produzirmos um som muito agudo com uma dada frequncia e um dado comprimento de onda (a frico do giz no quadro), natural que provoque na mente da maior parte das pessoas uma sensao desagradvel. Hume argumenta que as nossas mentes e os nossos sentidos funcionam de maneira idntica tal como o nosso sistema circulatrio ou o nosso aparelho respiratrio. 2. A nossa constituio psicolgica favorece certos objectos e no outros. Hume pensa que h uma relao entre certas caractersticas da natureza e a nossa constituio psicolgica: certos objectos esto concebidos para agradar e outros para desagradar, mesmo quando se trata de objectos naturais. O que fcil de verificar, por exemplo, em relao aos odores provocados por certos objectos. Assim, Hume defende que as nossas caractersticas psicolgicas se harmonizam naturalmente com uns objectos, provocando em ns prazer, e no se harmonizam com outros, gerando desprazer. Os artistas tentam criar expressamente objectos que gerem prazer em ns quando os observamos; uns so mais bem-sucedidos do que outros. Contudo, isto no explica tudo, pois Hume no pretende afirmar que toda a gente gosta das mesmas coisas. O facto de haver um padro de gosto no significa que todas as pessoas gostem das mesmas coisas. Como explica Hume a divergncia de gostos, apesar da existncia do padro do gosto? Hume pensa que h duas razes principais: 1. Refinamentos do gosto diferentes. Hume pensa que a sensibilidade dos indivduos, embora funcionando de modo idntico, varia em qualidade ou refinamento. O refinamento do gosto predispe as pessoas para encarar de forma mais cuidada certos objectos. Por isso se diz, com razo, que h pessoas mais sensveis e com o gosto mais cultivado do que outras. Por exemplo, os crticos de arte tm, em princpio, o gosto mais exercitado, pois tiveram oportunidade de conhecer e comparar muitas obras de arte, o que lhes permitiu desenvolver a sensibilidade e atingir um grau de refinamento do gosto superior ao de muitas outras pessoas.
26
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 27
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
2. Hbitos diferentes. Hume pensa que h opinies e hbitos caractersticos de certas idades e de certos pases que geram tambm alguma diversidade no gosto, o que nos impede de julgar os objectos em condies ideais. Ou seja, os preconceitos e modas de determinadas idades e de certos pases influenciam o gosto. Isso explica o sucesso relativo de algumas obras. Sucesso que frequentemente passageiro ou demasiado localizado. Da que o padro de gosto nunca deva ser identificado com o gosto da maioria das pessoas num determinado momento. No com sondagens de opinio que se determina o padro do gosto. O que conta o que as pessoas costumam gostar em diferentes pocas e lugares, permanecendo como fonte de prazer.
Reviso
1. Em que consiste o problema da justificao do juzo esttico? 2. Qual a tese central do subjectivismo esttico? 3. Por que razo se diz que os juzos estticos so, para os subjectivistas, juzos de gosto? 4. Qual a tese que define a posio dos subjectivistas radicais? 5. Explique a objeco ao subjectivismo radical segundo a qual este no tem em conta a forma como realmente falamos quando usamos a expresso X belo. 6. Explique a objeco ao subjectivismo radical segundo a qual esta teoria implica que os juzos estticos so autobiogrficos. 7. Explique a objeco ao subjectivismo radical segundo a qual esta teoria torna impossvel a comunicao. 8. Explique a objeco ao subjectivismo radical segundo a qual esta teoria torna qualquer discusso esttica racionalmente vazia. 9. Em que consiste o chamado problema do gosto? 10. Em que se baseia Hume para defender o subjectivismo esttico? 11. Em que consiste o padro de gosto? 12. Como usa Hume a noo de padro do gosto para responder ao problema do gosto? 13. Como justifica Hume a existncia do padro do gosto? 14. Nem todas as pessoas gostam das mesmas coisas, apesar do padro do gosto. Como explica Hume este facto? 15. O que o refinamento do gosto? 16. Por que razo pensa Hume que nem todos os gostos valem o mesmo?
27
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 28
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Discusso
17. Ser que a beleza apenas uma questo de gosto? Justifique. 16. Discuta a seguinte afirmao: Gostos no se discutem. 19. Ser que a existncia do padro do gosto nos obriga a ser conservadores e conformistas? Justifique. 20. O seguinte caso real comeou a ser noticiado no Vero de 2001: Na cidade de Viana do Castelo h um edifcio de habitao junto ao rio Lima que se destaca do resto do casario pela sua altura. O edifcio, conhecido como Edifcio Coutinho, relativamente novo e habitado por cerca de trezentas pessoas. Trata-se de um edifcio referido por muitas pessoas como uma aberrao esttica. Elas consideram que o edifcio no se harmoniza com o resto do casario. Mas h quem pense que no; que o edifcio, embora seja mais alto do que os outros, at nem feio e fica ali muito bem. Acrescentam que casos assim h-os em muitas cidades sem que algum se incomode. Entre os que assim pensam esto, naturalmente, os prprios moradores. Entretanto, a polmica agudizou-se quando o Presidente da Cmara declarou que o edifcio iria ser demolido, estando previstos cerca de vinte e cinco milhes de euros para compensar adequadamente os actuais moradores. Os moradores no aceitam e tm-se manifestado firmemente contra aquilo que consideram um atentado ao direito de propriedade. Um dos moradores argumentou perante as cmaras de televiso: O que aqui est em causa um conflito entre duas coisas: os direitos dos proprietrios e o valor esttico do edifcio. Ora, os direitos de propriedade so algo de objectivo e que at protegido por lei, ao passo que o valor esttico do edifcio algo de subjectivo. Afinal o que subjectivo, nas decises de quem manda nesta cidade, prevalece sobre o que objectivo? 1) Concorda com o argumento deste morador? Porqu? 2) Entretanto, o Presidente da Cmara props a realizao de um referendo populao, coisa que os moradores rejeitam. Caso o referendo fosse realizado (o que no ir acontecer, pois o tribunal deu razo aos moradores) e a maioria das pessoas achassem o edifcio digno de ser demolido, considera que os moradores ficariam sem argumentos? Porqu?
Objectivismo esttico
A teoria oposta ao subjectivismo esttico o objectivismo. Chama-se por vezes realismo esttico a esta teoria, mas esta designao enganadora. O objectivismo esttico defende que os objectos so belos em virtude das suas propriedades intrnsecas e independentemente do que sentimos quando os observamos. As propriedades intrnsecas dos objectos so independentes dos sentimentos ou das reaces de quem os observa.
28
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 29
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Por exemplo, o tamanho uma propriedade intrnseca de um morango: o tamanho do morango independente do modo como o vemos ou saboreamos. Mas o sabor dos morangos no depende apenas dos morangos: depende tambm de quem os come. Pessoas com palatos diferentes podem ter diferentes reaces aos morangos, e h at pessoas que so alrgicas aos morangos. Os objectivistas no negam que temos certos sentimentos estticos perante a arte; nem afirmam que tais sentimentos esto nas prprias obras de arte, o que seria absurdo. Mas defendem que os nossos sentimentos estticos so causados por certas caractersticas intrnsecas dos objectos. Assim, o objectivista defende que quando dizemos que um objecto belo, o que sentimos no determinante. Quer o objecto nos agrade quer no, as propriedades que esto na base da beleza existem mesmo nele; ns que podemos ou no ser sensveis a tais propriedades. A beleza no depende, portanto, dos gostos pessoais: um objecto no bonito ou feio consoante nos agrada ou no. Ainda que as coisas belas nos agradem, no por isso que so belas. Acontece apenas que h certas caractersticas intrnsecas a esses objectos que provocam em ns uma sensao agradvel. Em termos populares, isto equivale a dizer que a beleza est nas coisas e no nos olhos de quem as v. O objectivista argumenta que se a beleza (e a fealdade) dependesse apenas dos nossos gostos pessoais e no das caractersticas dos objectos, seria muito estranho e inexplicvel haver objectos que quase todas as pessoas acham bonitos (ou feios). Haver algum que ponha em causa a beleza do Ave Maria, de Schubert? O objectivista admite que ajuizar um objecto como belo no implica que o objecto seja considerado belo por todas as pessoas que o avaliem esteticamente; pode haver quem no o considere belo. Mas isso, pensa o objectivista, apenas significa que essas pessoas fazem juzos errados porque partem de uma deficiente percepo do objecto. Tambm um daltnico faz juzos errados se disser que azul aquilo que as outras pessoas dizem ser verde; o problema est apenas nele e no nos outros, pois algo se passa que o impede de percepcionar correctamente as cores. Alm disso, o objectivista argumenta que falacioso concluir que as coisas no so em si belas s porque no h acordo entre as pessoas que as observam. como dizer que no tempo de Galileu o movimento da Terra era subjectivo s porque as pessoas discordavam acerca disso. Tem, pois, de haver critrios objectivos que permitam justificar a verdade dos juzos estticos. Afinal de contas, at mesmo entre os cientistas h desacordo. E no por isso que deixa de haver critrios objectivos na cincia.
A influncia do objectivismo esttico
O facto de o objectivismo defender a existncia de critrios objectivos acerca dos juzos estticos torna-o atraente, pois permite resolver muitas das discusses aparentemente insolveis sobre a arte e a beleza. Pelo menos, permite colocar em termos mais racionais algumas dessas discusses. Sem critrios objectivos tudo poderia ser afirmado e, nesse caso, no valeria a pena perder tempo com discusses. So Jernimo de Caravaggio (1571-1610). Esta pintura segue os cnones artsticos em vigor na poca em que foi criada: tanto na distribuio das formas, como no contraste entre claro e escuro, nas cores usadas e no tema tratado.
29
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 30
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
At ao sc. XVIII a maior parte dos filsofos identificavam-se naturalmente com o objectivismo esttico. Acreditavam que havia critrios ou regras gerais acerca das caractersticas que os objectos tinham de possuir para terem valor esttico. E at os artistas tinham em considerao essas regras a que se dava o nome de cnones quando criavam as suas obras. Assim, era a prpria arte a conformar-se aos princpios do objectivismo esttico. No admira, pois, que o desacordo entre os crticos de arte da altura fosse bastante reduzido. O objectivismo parecia ser um ponto de vista perfeitamente natural e bastante razovel para a poca. Contudo, a arte contempornea muito diferente da arte dos sculos anteriores. Mesmo assim, o objectivismo esttico no uma doutrina historicamente ultrapassada. Continua ainda a ser defendido por filsofos contemporneos, como Monroe Beardsley (1915-1985).
Beardsley e as propriedades estticas
Beardsley diz-nos exactamente quais so os critrios objectivos para ajuizar a beleza ou seja, quais so as caractersticas dos objectos, em virtude das quais dizemos que so belos. Essas caractersticas so as chamadas propriedades estticas dos objectos, as quais existem em maior ou menor grau nas coisas. Assim, as coisas podem ter diferentes graus de beleza e, portanto, diferente valor esttico. At ao sc. XVIII, as principais propriedades estticas estavam devidamente identificadas:
Unidade Harmonia
Equilbrio Diversidade
Perfeio
Segundo Beardsley, h um conjunto de caractersticas capazes de nos proporcionar experincias estticas que costumam funcionar em conjunto e em diferentes combinaes. Combinaes que resultam bem em certos casos e mal noutros. As caractersticas estticas podem ser de dois tipos: especficas e gerais, sendo que h trs caractersticas gerais. As especficas diferem de arte para arte: na pintura, por exemplo, h um certo tipo de caractersticas especficas, na msica h outras e, na literatura, outras.
Caractersticas estticas
Especficas Relativas s diferentes formas de arte ou a certo tipo de objectos.
Gerais Encontram-se em qualquer tipo de objectos.
Variam consoante os casos.
1. Unidade 2. Complexidade 3. Intensidade
30
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 31
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Elogiar um filme porque no tem momentos mortos ou cenas despropositadas, elogi-lo pela sua unidade. Elogiar uma pea musical porque utiliza vrios ritmos, instrumentos e tonalidades elogiar a sua complexidade. Censurar uma pintura pela falta de contraste, censur-la por falta de intensidade. Uma obra de arte pode exibir um conjunto de caractersticas especficas e gerais que mais nenhuma exibe. As combinaes de caractersticas especficas e gerais so tantas e em graus to diferentes que a diversidade grande e quase inevitvel. por isso que os juzos dos crticos de arte no se limitam a declarar simplesmente que um objecto belo (ou no belo), mas a explicar por que razo esses objectos so belos (ou no). A teoria objectivista de Beardsley tem o mrito de procurar uma justificao racional para os juzos estticos. Mas no elimina desacordos: continua a haver pessoas a ver unidade onde outros notam a sua falta ou que vem intensidade onde outros vem apenas um enorme vazio. A resposta de Beardsley para isso que no basta apreciar as coisas de qualquer maneira. Nem todos os pontos de vista so iguais. Uma obra de arte, por exemplo, pode ter muitas outras propriedades alm das estticas. Mas para formarmos um juzo esttico sobre a obra h que olhar para ela sob certas condies; as obras de arte devem ser observadas em condies ideais. O que quer isso dizer? Quer dizer que Beardsley defende que a obra de arte deve ser avaliada do ponto de vista correcto: o ponto de vista esttico uma noo semelhante de atitude esttica. Uma mesma obra pode ser apreciada do ponto de vista poltico, histrico, moral, etc. As opinies divergem porque as obras nem sempre so avaliadas do mesmo ponto de vista. H quem as avalie do ponto de vista moral, por exemplo. Mas as propriedades morais que eventualmente uma obra tenha so irrelevantes para avaliar esteticamente essa obra. , pois, possvel avaliar esteticamente uma obra em termos objectivos, mas preciso contar com as dificuldades decorrentes do facto de muitas pessoas assumirem pontos de vista errados ou de serem insensveis beleza.
Que tipo de justificao tm os juzos estticos?
SUBJECTIVISMO A beleza depende do que sentimos quando observamos os objectos: a beleza uma questo de gosto.
OBJECTIVISMO A beleza resulta de certas propriedades dos objectos: h critrios de beleza objectivos. (BEARDSLEY)
SUBJECTIVISMO RADICAL Os gostos valem todos o mesmo: gostos no se discutem.
SUBJECTIVISMO MODERADO A beleza uma questo de gosto, mas nem todos os gostos valem o mesmo, pois existe o padro do gosto, que inclui princpois gerais de justificao. (HUME)
31
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 32
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Reviso
1. Qual a tese central do objectivismo esttico? 2. Que papel pensam os objectivistas que os gostos pessoais desempenham na formao dos juzos estticos? 3. Exponha o argumento central dos objectivistas a favor da sua posio. 4. Que vantagens se podem encontrar na existncia de critrios objectivos de beleza? 5. Como explicam os objectivistas a existncia de desacordos entre as pessoas acerca da beleza ou fealdade? 6. Por que razo o objectivismo parecia um ponto de vista natural para os filsofos at ao sc. XVIII? 7. Quais so, segundo Beardsley, as propriedades estticas gerais? 8. Beardsley pensa que, para formar um juzo esttico de uma determinada obra, preciso observ-la do ponto de vista correcto. O que significa isso? 9. Como explica Beardsley o facto de os juzos sobre a mesma obra serem frequentemente divergentes? 10. Beardsley conta o seguinte caso: quando o presidente de uma conhecida editora israelita recusou publicar em Israel o romance Exodus, do escritor Leon Uris, disse: Se para ser lido como histria, grosseiro. Se para ser lido como romance, banal. O que se pode concluir daqui, na perspectiva de Beardsley?
Discusso
11. Ser que a beleza est mesmo nos objectos? Justifique. 12. Um objecto pode ser bom do ponto de vista esttico e mau do ponto de vista moral, sugere Beardsley. Concorda? Porqu? 13. Um objecto pode ser bom do ponto de vista esttico e mau do ponto de vista cognitivo, sugere Beardsley. Concorda? Porqu? 14. Concorda que h pessoas que so sensveis beleza e outras no, como os objectivistas defendem? Porqu?
32
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 33
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Texto 29
O Padro do Gosto
David Hume
[...] Mas na verdade a dificuldade de encontrar o padro do gosto mesmo em casos particulares no to grande como se pensa. Embora especulativamente possamos admitir um certo critrio na cincia e neg-lo no sentimento, na prtica muito mais difcil avaliar a questo no primeiro caso do que no segundo. As teorias da abstracta filosofia e os sistemas da profunda teologia dominam uma poca, mas no perodo seguinte so totalmente desacreditados o seu absurdo foi detectado. Outras teorias e sistemas ocupam o seu lugar, que uma vez mais do lugar aos seus sucessores. E nada se conhece que esteja mais sujeito s revolues do acaso e da moda do que essas pretensas decises da cincia. No se passa o mesmo com as belezas da eloquncia e da poesia. H a certeza de que, aps algum tempo, as justas expresses da paixo e da natureza conquistam o aplauso pblico, mantendo-o para sempre. [] Embora as pessoas com gosto refinado sejam raras, facilmente as distinguimos em sociedade pela solidez do seu entendimento e pela superioridade das suas faculdades relativamente ao resto da humanidade. O ascendente que adquirem faz prevalecer a viva aprovao com que acolhem quaisquer obras de gnio e torna-a geralmente predominante. Entregues a si prprios, muitos homens tm apenas uma vaga e duvidosa percepo da beleza, mas ainda assim so capazes de se deleitar com qualquer obra de qualidade que se lhes aponte. Todo aquele que se converte admirao do verdadeiro poeta ou orador a causa de uma nova converso. E embora os preconceitos possam prevalecer durante algum tempo, nunca se unem para rivalizar com o verdadeiro gnio acabam por ceder perante a fora da natureza e o justo sentimento. Assim, embora uma nao civilizada possa enganar-se facilmente ao escolher o seu filsofo de eleio, nunca erra prolongadamente na sua afeio por um autor pico ou trgico favorito. Mas apesar dos nossos esforos em fixar um padro do gosto e em reconciliar as discordantes impresses das pessoas, David Hume Tower, em Salisbury restam ainda duas fontes de diversidade, as quais no so sufiCrags (Esccia). Alguns crticos deste concientes para eliminar todas as fronteiras entre beleza e deformitestado edifcio disseram que o filsofo escocs se revirou na sepultura ao saber que dedade, embora sirvam frequentemente para produzir diferenas ram o seu nome a uma torre que ofende o no grau de aprovao ou censura. Uma reside nas diferenas de bom gosto. Como sabemos se tm razo? humor de cada pessoa; a outra nos costumes e opinies prprios da nossa poca e do nosso pas. Os princpios gerais do gosto so uniformes na na-
33
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 34
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
tureza humana: sempre que as pessoas divergem nos seus gostos, pode-se geralmente apontar algum defeito ou perverso nas suas faculdades, que tem origem ou no preconceito, ou na falta de prtica, ou na falta de sensibilidade. E h assim boas razes para aprovar uns gostos e condenar outros. Mas onde quer que haja tal diversidade, a qual se mostre completamente irrepreensvel, tanto na estrutura interna como na situao externa, deixa tambm de haver lugar para dar preferncia a um gosto em detrimento do outro; nesse caso, uma certa diversidade no juzo inevitvel, e em vo que procuramos um padro que permita reconciliar os sentimentos contrrios.
David Hume, Do Padro do Gosto, 1757, trad. adaptada de Joo Paulo Monteiro et al. 26-28
Interpretao
1. A dificuldade de encontrar o padro do gosto mesmo em casos particulares no to grande como se pensa, afirma Hume. Porqu? 2. Quais so, segundo Hume, as duas fontes de diversidade de opinies? 3. Em que casos a diversidade no juzo , segundo Hume, inevitvel?
Discusso
4. Embora as pessoas com gosto delicado sejam raras, facilmente as distinguimos em sociedade pela solidez do seu entendimento e pela superioridade das suas faculdades sobre o resto da humanidade. Concorda? Porqu? 5. H pessoas que tm bom gosto e outras que tm mau gosto. Concorda? Porqu?
Texto 30
Razes Objectivas
Monroe Beardsley
O mtodo afectivo de avaliao crtica consiste em ajuizar a obra pelos seus efeitos psicolgicos, ou pelos efeitos psicolgicos provveis, sobre o prprio crtico ou outros. Como mais adiante se tornar patente, no considero irrelevantes as razes afectivas para a avaliao dos objectos estticos [...] Neste momento, apenas defenderei que as razes afectivas, s por si, so inadequadas, porque no so informativas em dois aspectos importantes.
34
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 35
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
Primeiro, se algum afirma que ouviu o andamento lento do Quarteto de Cordas em Mi Bemol Maior (Op. 127), de Beethoven, e que lhe deu prazer, ou nos adverte que nos daria prazer, penso que deveramos considerar esta advertncia uma resposta fraca a esta grande msica. E, contudo, num sentido muito amplo e vago verdade que nos d prazer, tal como os amendoins salgados ou um mergulho em gua fresca do prazer. Somos, assim, levados a perguntar que tipo de prazer nos d e como difere esse prazer de outros, se que assim pode ser chamado, e como obtm a sua qualidade nica precisamente a partir dessas diferenas. E esta linha de investigao levar-nos-ia ao segundo aspecto. Pois uma afirmao afectiva informa-nos do efeito da obra, mas no identifica as caractersticas da obra que causam esse efeito. Poderamos ainda perguntar, por outras palavras, o que h de prazenteiro nesta msica que est ausente noutra msica. Esta linha de investigao seria paralela primeira, uma vez que nos conduziria a discriminar este tipo de prazer de outros que tm diferentes causas e objectos. As mesmas duas questes poderiam ser levantadas acerca da noo geral que parece estar implcita nas outras razes afectivas: a obra boa se conduz a uma forte reaco emocional de um certo tipo. Mas de que modo difere a reaco emocional das fortes reaces emocionais geradas por telegramas anunciando mortes, por sustos de morte em carros descontrolados, pela doena grave de um filho, ou por um pedido de casamento? H certamente uma diferena importante que a explicao da reaco emocional tem de ter em conta para ser completa. O que h no objecto esttico que causa a reaco emocional? Talvez seja alguma qualidade especfica intensa, na qual a nossa ateno est centrada quando estamos perante a obra. De facto, alguns dos termos afectivos so [...] muitas vezes engaSem ttulo (2006), de Carlos Pinheiro (n. 1981). Esta pintunadores, pois so realmente sinnimos de termos ra est bem organizada e tem um estilo internamente coerente, pelo que tem unidade; subtil e imaginativa, pelo que descritivos: querem dizer que o objecto tem certem complexidade; irnica e misteriosa, pelo que tem intentas qualidades especficas num grau de intensisidade. Logo, de acordo com Berdsley, tem objectivamente dade aprecivel. E nesse caso, claro que a razo valor esttico. j no afectiva, mas objectiva. [...] Chamo objectiva a uma razo se refere alguma caracterstica isto , alguma qualidade ou relao interna, ou conjunto de qualidades e relaes que faz parte da prpria obra, ou a alguma relao de significado entre a obra e o mundo. Em sntese, sempre que os juzos crticos apresentam como razes afirmaes descritivas ou interpretativas, essas razes devem ser consideradas objectivas. [...]
35
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 36
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Mesmo que agora nos confinemos s razes objectivas, continuamos a dispor de uma ampla diversidade, pelo que natural perguntar se podero fazer-se mais subdivises. Penso que se inspeccionarmos bem as razes presentes nos juzos crticos, podemos inseri-las, sem grande dificuldade, em trs grupos principais. Em primeiro lugar, h razes que parecem ser suportadas pelo grau de unidade ou falta de unidade da obra:
... bem organizada (ou desorganizada). ... formalmente perfeita (ou imperfeita). ... tem uma estrutura e um estilo internamente coerentes (ou incoerentes).
Em segundo lugar, h as razes que parecem apoiar-se no grau de complexidade ou simplicidade da obra:
... desenvolvida em larga escala. ... rica em contrastes (ou falta-lhe diversidade e repetitiva). ... subtil e imaginativa (ou grosseira).
Em terceiro lugar, h razes que parecem apoiar-se na intensidade ou falta de intensidade das qualidades humanas especficas presentes na obra:
... cheia de vitalidade (ou apagada). ... poderosa e vvida (ou fraca e deslavada). ... bela (ou feia). ... terna, irnica, trgica, graciosa, delicada, profundamente cmica.
Monroe Beardsley, Esttica, 1958, trad. de Aires Almeida, pp. 457-466
Interpretao
1. Em que consiste, segundo Beardsley, o chamado mtodo afectivo de avaliao crtica? 2. Beardsley pensa que as razes afectivas so, s por si, inadequadas. Porqu? 3. Por que razo pensa Beardsley que no adianta muito dizer que o referido Quarteto de Cordas, de Beethoven, nos d prazer? 4. Por que razo pensa Beardsley que dizer que uma obra boa porque conduz a uma forte reaco emocional , s por si, pouco importante? 5. Como caracteriza Beardsley uma razo objectiva? 6. D um exemplo de um juzo crtico que, segundo Beardsley, refira a unidade de uma obra.
36
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 37
A experincia e o juzo estticos
Captulo 12
7. D um exemplo de um juzo crtico que, segundo Beardsley, refira a complexidade de uma obra. 8. D um exemplo de um juzo crtico que, segundo Beardsley, refira a intensidade de uma obra.
Discusso
9. Ser realmente possvel saber se uma obra tem unidade ou complexidade ou intensidade? Porqu?
Estudo complementar
Almeida, Aires e Murcho, Desidrio (2006) Esttica in Textos e Problemas de Filosofia. Lisboa: Pltano, Cap. 5. DOrey, Carmo (1999) A Lgica da Avaliao Crtica in A Exemplificao na Arte. Lisboa: Gulbenkian, Cap. XI. Goodman, Nelson (1968) A Arte e a Compreenso in Linguagens da Arte. Trad. de Desidrio Murcho e Vtor Moura. Lisboa: Gradiva, 2006, Cap. VI. Graham, Gordon (1997), Hume e o Padro do Gosto e Kant e o Belo in Filosofia das Artes: Introduo Esttica. Trad. de Carlos Leone. Lisboa: Edies 70, 2001, Cap. I.
Almeida, Aires (2005) Esttica in Crtica, http://www.criticanarede.com/html/ est_ estetica.html. Goodman, Nelson (1968) A Funo do Sentimento, trad. de Desidrio Murcho in A Arte de Pensar, http://www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar/leit_funcsenti.html. Hospers, John (s.d.) A Atitude Esttica, trad. de Pedro Galvo in A Arte de Pensar, http://www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar/leit_expestetica.html.
37
1-38
2007.04.01
17:27
Pgina 38
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 39
Captulo 13
A criao artstica e a obra de arte
1. O problema
Neste captulo vamos estudar a filosofia da arte. Um dos problemas mais discutidos nesta disciplina o de saber o que arte. Este um problema que naturalmente nos colocamos quando nos deparamos com certas pinturas, esculturas, poemas ou peas musicais. Ao longo dos tempos, vrios filsofos tm procurado responder a esse problema, propondo diferentes definies de arte. Definir explicitamente a arte implica identificar as caractersticas comuns a todos os objectos de arte: as condies necessrias para algo ser arte; e as caractersticas que s esses objectos tm: as condies suficientes para algo ser arte. Ao propor uma definio explcita de arte, muitos filsofos procuram saber qual a sua essncia; procuram as caractersticas intrnsecas que determinados objectos possuem e os fazem ser arte, permitindo-nos distinguir o que arte do que no . Neste captulo vamos discutir as seguintes respostas questo de saber o que a arte:
Seces 1. O problema, 39 2. Arte e imitao, 40 3. Arte e expresso, 46 4. Arte e forma, 53 5. A arte pode ser definida? 60 Textos 31. A Arte Imitao, 45 Plato 32. A Arte Comunicao de Sentimentos, 51 Leo Tolstoi 33. A Arte Forma Significante, 58 Clive Bell 34. A Arte No Pode Ser Definida, 63 Morris Weitz Objectivos Compreender o problema da definio de arte. Compreender e avaliar a teoria da arte como imitao. Compreender e avaliar a teoria da arte como expresso. Compreender e avaliar a teoria formalista da arte. Compreender e discutir a teoria de que a arte no pode ser definida Conceitos Imitao, representao, expresso, forma significante, caracterstica individuadora. Essncia, conceito aberto / conceito fechado, parecena familiar.
A arte imitao. A arte expresso. A arte forma.
Terminaremos com a questo de saber se a arte pode ser definida.
39
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 40
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
2. Arte e imitao
Uma das mais antigas teorias da arte foi defendida pelos filsofos gregos Plato (c. 427-347 a. C.) e Aristteles (384-322 a. C.). Ambos defendiam que a arte imitao. Chama-se teoria da arte como imitao ou mimese a esta teoria. A palavra portuguesa mimese tem origem na palavra grega mimesis, que significa imitao. Porque pensava que a arte era imitao, Plato encarava a arte de forma negativa, ao contrrio de Aristteles. Plato achava que qualquer imitao era digna de censura, porque no nos mostrava a verdade: substituir o modelo original pela sua cpia o mesmo que fechar os olhos verdade. Ainda por cima, pensava que a realidade que os artistas imitavam era por sua vez uma plida imitao da realidade suprema, que s existia para l do mundo dos sentidos. Aristteles, contudo, pensava que as pessoas podiam aprender com as imitaes. Este filsofo classificou e caracterizou os diferentes tipos de imitao, consoante os meios utilizados para imitar, as coisas imitadas e os modos de imitao:
Meios de imitao: linguagem, gesto ou som. Coisas imitadas: objectos, pessoas ou acontecimentos. Modos de imitao: directa ou descrio narrativa.
Os artistas aceitaram durante sculos a ideia de que toda a arte imitao. Por isso, procuravam sempre imitar algo quando criavam as suas obras. A arte era encarada como um espelho que os artistas colocavam diante das coisas e no qual a natureza se reflectia. Quanto mais perfeita fosse a imitao, mais valor artstico teria. Zeuxis (464-398 a. C.), um pintor grego antigo, tornou-se famoso pela perfeio das suas imitaes, nomeadamente ao pintar uvas com um tal realismo que at os pssaros tentavam com-las. Esta teoria, apesar de muito antiga, continua a ser muito popular. Ouvimos frequentemente opinies como as seguintes:
Mas isto arte? No vejo nada neste quadro a no ser riscos e manchas de tinta. O livro que acabei de ler no um romance nem nada, no tem a ver com coisa alguma. Se isto uma escultura, uma escultura do qu? O filme que acabei de ver uma grande obra, pois mostra bem a futilidade da sociedade dos anos 80.
A qualquer destas opinies est subjacente a ideia de que a arte imitao. As trs primeiras sugerem, directa ou indirectamente, que o quadro, o romance e a escultura no merecem ser chamados arte por no se perceber o que imitam. A ltima opinio atribui valor artstico ao filme por apresentar uma imitao fiel de algo, mais precisamente da sociedade dos anos 80.
40
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 41
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
A tese central dos defensores da teoria da arte como imitao a seguinte:
Se X arte, ento imita algo.
Em bom rigor, esta no uma verdadeira definio, pois apenas se apresenta a condio necessria para X ser arte. Uma definio explcita tem tambm de apresentar a condio suficiente (ou condies suficientes). A expresso se, ento indica que o que vem depois do ento uma condio necessria. Se fosse condio necessria e suficiente, tera de se utilizar a expresso se, e s se ou uma expresso anloga. Assim, a definio afirma que toda a arte imita (que a imitao condio necessria para que algo seja arte), mas no afirma que toda a imitao arte (que a imitao condio suficiente para que algo seja arte). Aristteles sabia que nem toda a imitao arte. Por exemplo, no estamos perante uma obra de arte quando vemos os jovens a imitar os mais velhos. Isto significa que a imitao no uma condio suficiente da arte. Apesar de reconhecerem que h imitaes que no so arte, os defensores da teoria da imitao pensavam que todas as obras de arte tinham de imitar algo. Ou seja, defendiam que a imitao era uma condio necessria para que algo fosse arte. Esta teoria parece ter a seu favor dois aspectos:
1. Adequa-se ao facto incontestvel de muitas pinturas, esculturas e outras obras de arte, como peas de teatro e filmes imitarem algo: paisagens, pessoas, objectos ou acontecimentos. 2. Oferece um critrio rigoroso de avaliao, permitindo-nos distinguir facilmente as boas das ms obras de arte. Neste sentido, uma obra de arte seria to boa quanto mais fiel fosse a imitao.
Mas ser que a imitao mesmo uma condio necessria da arte?
Sem Ttulo (2006), leo sobre tela de Antnio Castell (n. 1972). De acordo com a teoria da imitao, a arte como um espelho que se coloca diante das coisas.
41
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 42
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Objeces teoria da imitao
No preciso grande reflexo para perceber que, alm de no ser suficiente, a imitao tambm no condio necessria para algo ser arte. Basta ir a um museu de arte moderna para encontrar muitos contra-exemplos teoria de que a arte imitao. A no ser que recusemos o estatuto de arte a muitos quadros e esculturas que so geralmente classificadas como tal, dificilmente poderemos concordar que a imitao necessria arte. Milhares de obras de arte abstracta e de peas de msica instrumental, as quais no imitam seja o que for, refutam a tese de que toda a arte imita algo. Por isso, a imitao no uma condio necessria para algo ser arte. Alm disso, as duas vantagens indicadas a favor da teoria da imitao s aparentemente o so. Em primeiro lugar, porque do facto de muitas obras de arte imitarem, no se segue que toda a arte imite. Em segundo lugar, porque se o critrio para avaliar as obras de arte fosse a fidelidade da imitao, ento teramos de concluir que as obras de arte mais valiosas seriam as fotografias e que qualquer desenho tecnicamente apurado teria mais valor do que a maior parte das toscas pinturas de Van Gogh. Mas isso algo que ningum est disposto a aceitar. Logo, a arte no imitao.
Imitao e representao
Podemos ficar surpreendidos ao descobrir que inteligncias to penetrantes como as de Plato e Aristteles se tenham enganado desta maneira e seja, afinal, to fcil refut-los. Mas a verdade que a arte do seu tempo no era como a arte dos nossos dias. A teoria da imitao era plausvel naquela poca e aplicava-se a praticamente tudo o que os artistas criavam. Por isso, o que durante muito tempo as pessoas procuravam na arte era sobretudo a verosimilhana (a semelhana com o que se passa na realidade). E era isso que acabavam por encontrar, uma vez que os contra-exemplos bvios s mais tarde surgiram. Ainda assim, houve quem no abandonasse completamente a teoria, procurando melhor-la, de modo a resistir a contra-exemplos como os anteriores. Nesse sentido, alguns filsofos argumentaram que o conceito de imitao tinha de ser substitudo pelo conceito mais abrangente de representao. A imitao apenas um caso entre outros de representao: toda a imitao representao, mas h representaes que no so imitaes. Exemplos de representaes que no so imitaes so as cinco quinas e o emblema do Benfica. O primeiro representa Portugal e o segundo o Benfica. Mas nenhum deles imita seja o que for. Dizer que uma coisa A representa uma coisa B significa simplesmente que A est em vez de B. Assim j se torna possvel classificar como arte coisas que a teoria da imitao exclua. O conceito de representao mais abran-
YKB 2 (1961), de Yves Klein (1928-
-62). O ttulo deste quadro monocromtico (de uma s cor) a referncia da cor do catlogo do prprio artista. Significa Yves Klein Blue n. 2. Este quadro representa algo?
42
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 43
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
gente do que o de imitao. Pode at incluir obras de arte abstracta, que reconhecidamente no imitam seja o que for. Mesmo que as cores, linhas e manchas das pinturas abstractas de Kandinsky (ver p. 54) no possam imitar a morte, a vida, a dor ou a alegria, podem contudo represent-las. Foi isso que o prprio artista afirmou. A tese passa, ento, a ser:
Se X arte, ento representa algo.
Ainda assim, esta nova verso da teoria no parece imune a contra-exemplos, pois continua a haver pinturas abstractas que dificilmente se consegue mostrar que representam algo. O que representam, por exemplo, as pinturas monocromticas de Yves Klein? E obras de arquitectura, como a casa da cascata de Frank Lloyd Wright? O mesmo se pode dizer da msica, pelo menos da maior parte da msica instrumental. Parece, pois, que a teoria da representao tambm acaba por no incluir tudo o que desejaramos que inclusse para se tornar aceitvel. Mas o defensor da arte como representao pode ainda melhorar a sua teoria. Pode alargar o alcance do conceito de representao e dizer que entende por representao algo ainda menos preciso. Pode dizer que uma obra representa desde que tenha um assunto qualquer: se uma obra tem um assunto, ento representa algo. O facto de qualquer obra de arte poder ser interpretada mostra precisamente que todas as obras de arte tm um assunto e que, portanto, referem algo. Mesmo que o assunto seja a prpria obra ou a arte em geral. Teramos ento a seguinte verso:
Se X arte, ento pode ser interpretada.
A expresso pode ser interpretada tem aqui o mesmo significado que acerca de algo. primeira vista, todas as obras de arte se destinam a ser interpretadas. As pinturas monocromticas de Yves Klein podem ser interpretadas como uma crtica prpria arte. Podemos dizer que se trata de uma crtica complexidade da arte e uma defesa da simplicidade criativa. A teoria da representao parece, pois, suficientemente abrangente para incluir as obras de arte moderna. At objectos como os ready-made do artista francs Marcel Duchamp podem ser classificados como arte. Uma obra como Fonte, de Duchamp, que afinal um simples urinol, tem um assunto. O assunto a prpria noo de arte, que o autor pretende pr em causa. J os outros urinis exactamente iguais ao de Duchamp no so arte porque no so acerca de algo, nada havendo para interpretar.
Fonte (1917), de Marcel Duchamp (1887-1968). Este ready-made uma das mais famosas e provocatrias obras de arte do sc. XX. Ready-made foi o nome dado a objectos vulgares de produo industrial que o artista utilizava, limitando-se a pegar neles e a exibi-los em galerias e museus.
43
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 44
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Objeces teoria da representao
Tomemos de novo o exemplo da msica. Peas musicais puramente instrumentais como as Suites Para Violoncelo Solo, de J. S. Bach, no tm aparentemente qualquer assunto. Tambm nada parece haver para interpretar em alguma da chamada msica repetitiva, assumidamente destinada a testar e alargar a capacidade de discriminao auditiva do ouvinte. O mesmo se passa com algumas pinturas abstractas, concebidas apenas para provocar em ns um certo tipo de experincias visuais. Os jogos de cores e formas da op art (arte ptica) procuram simplesmente estimular a nossa percepo visual. No requerem qualquer interpretao. O mesmo se pode dizer dos arabescos que encontramos em certas obras de arte decorativa. Assim, a teoria da representao tambm no suficientemente abrangente, pois h contra-exemplos importantes que no podem deixar de ser levados em conta. Porm, continua a ser verdade que muita arte imita ou representa algo.
Reviso
1. O que defendem os partidrios da teoria da imitao? 2. Por que razo a teoria da imitao no apresenta uma verdadeira definio explcita de arte? 3. D um exemplo de uma imitao que no seja arte. 4. Apresente um contra-exemplo ideia de que a imitao uma condio necessria para que algo seja arte. 5. Por que razo a teoria da arte como imitao foi aceite como verdadeira sem discusso durante muito tempo? 6. Qual a diferena entre imitao e representao? 7. D um exemplo de uma coisa que represente mas no imite algo. 8. O que ganha o defensor desta teoria ao substituir o conceito de imitao pelo de representao? 9. Apresente um contra-exemplo teoria da arte como representao. 10. O partidrio da teoria da arte como representao reconhece que o urinol de Duchamp arte, mas os urinis das casas de banho pblicas no. Porqu? 11. O que pode constituir um contra-exemplo teoria segundo a qual todas as obras de arte so passveis de interpretao?
44
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 45
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
Discusso
12. Que vaidade a da pintura, que atrai a admirao pela semelhana com coisas que no despertam por si admirao!, exclama o filsofo francs Blaise Pascal. Concorda? Porqu? 13. Ser que a obra O Nascimento de Vnus, de Botticelli (ver p. 77), imita ou representa mesmo o nascimento de Vnus? Justifique. 14. H quem defenda que se a arte tivesse de imitar ou representar sempre algo, o artista teria j deixado de ser criativo. Concorda? Porqu?
Texto 31
A Arte Imitao
Plato
Mas v l agora que nome vais dar ao seguinte artfice. A qual? Ao que executa tudo o que cada um dos artfices sabe por si executar. habilidoso e espantoso o homem a que te referes! Ainda cedo para o afirmares [...]. Efectivamente, esse artfice no s capaz de executar todos os objectos, como tambm modela todas as plantas e fabrica todos os seres animados, incluindo a si mesmo, e ainda faz a terra, o cu, os deuses e tudo quanto existe no cu e [...] debaixo da terra. um sbio de espantar, esse a que te referes. Duvidas? Ora diz-me l: parece-te que no pode existir, de modo algum, um artfice desses, ou que, de certo modo, pode existir o autor disso tudo, mas de outro modo no pode? Ou no te apercebes de que, de certa maneira, tu serias capaz de executar tudo isso? E que maneira essa? No difcil [...] e rpida de executar, muito rpida mesmo, se quiseres pegar num espelho e andar com ele por todo o lado. Rapidamente criars o Sol e os astros no cu, em breve criars a terra, a ti mesmo e os demais seres animados, os utenslios, as plantas e tudo quanto h pouco foi referido. Sim, mas so objectos aparentes, sem existncia real. Atingiste precisamente o ponto que eu precisava para o meu argumento. Com efeito, entre esses artfices tambm conta, julgo eu, o pintor. No assim? Pois. Mas certamente vais dizer-me que o que ele faz no verdadeiro. Contudo, de certo modo, o pintor tambm faz uma cama. Ou no? Faz, mas que tambm aparente.
45
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 46
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
[...] [...] Portanto, a arte de pintar est bem longe da verdade. E se, ao que parece, executa tudo, pelo facto de atingir apenas uma pequena poro de cada coisa, que no passa de uma aparncia. Por exemplo, dizemos que o pintor nos pintar um sapateiro, um carpinteiro e os demais artfices, sem nada conhecer dos respectivos ofcios. Mas nem por isso deixar de ludibriar as crianas e os homens ignorantes, se for bom pintor, desenhando um carpinteiro e mostrando-o de longe com a semelhana que lhe imprimiu de um autntico carpinteiro. Sem dvida.
Plato, Repblica, trad. adaptada de Maria Helena da Rocha Pereira, Livro X, 596c-598c
Interpretao
1. Explique como possvel a qualquer pessoa executar todos os objectos que existem no cu e na terra, de acordo com Plato. 2. Por que razo pensa Plato que a arte de pintar est bem longe da verdade?
Discusso
4. Se for bom, o pintor conseguir ludibriar as crianas e os homens ignorantes. Isto mostra, segundo Plato, que a arte no tem valor. Concorda com Plato? Porqu?
3. Arte e expresso
Vimos que a teoria da arte como imitao encarava a arte como um espelho que se coloca diante da natureza. A arte estava centrada nos objectos e devia captar correctamente as suas caractersticas. Esta forma de ver as coisas comeou a ser posta em causa no final do sc. XVIII e tornou-se mesmo inaceitvel para uma grande parte dos artistas do sc. XIX. Uma autntica revoluo estava em curso. Era a revoluo romntica. Poetas, pintores, romancistas e msicos comearam a utilizar a arte como forma de expresso das suas experincias individuais. Em vez de mostrarem a natureza, procuravam atravs das suas obras exprimir os seus sentimentos e o seu universo interior. A arte tornou-se um veculo para exprimir emoes. Deixou de ser um espelho da natureza para se tornar um espelho das experincias interiores do artista. Os romnticos defendiam que a tentativa de descrever objectivamente a natureza tarefa da cincia. O interesse da arte
46
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 47
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
reside no interior e no no exterior do sujeito. Segundo os romnticos, esta caracterstica confere mais valor arte porque consegue mostrar uma realidade que escapa cincia: a emoo. Assim, a ideia de que a arte era imitao deixou de se ajustar ao que muitos artistas faziam. Em contrapartida, a noo romntica de arte como expresso de sentimentos tornou-se amplamente aceite, sendo partilhada por muitas pessoas. Comentrios como os seguintes pressupem uma concepo expressivista da natureza da arte:
Esta cano mexe muito comigo; isto sim, msica. Esta pea no arte porque no consegue emocionar ningum. Essa pintura no tem qualquer valor artstico, pois no transmite nada. Este um poema sem chama, sem qualquer interesse artstico.
H diferentes verses da teoria da arte como expresso. Uma das mais discutidas a do romancista russo Leo Tolstoi (1828-1910). tambm essa que iremos discutir aqui. Num famoso ensaio intitulado O Que a Arte? Tolstoi escreve que a arte comea quando algum, com o intuito de se unir a outro ou a outros num mesmo sentimento, expressa esse sentimento atravs de certas indicaes externas. Tolstoi defende que no h arte se no houver expresso de sentimentos ou se esse sentimento no contagiar pessoa alguma. Assim, Tolstoi defende que a arte uma forma de comunicao. Claro que h formas de comunicao que no so arte como, por exemplo, uma notcia de jornal. A diferena que na arte se expressam sentimentos e no outra coisa qualquer. A arte um meio de unir as pessoas atravs desses sentimentos. Eis, pois, a definio de arte proposta por Tolstoi: X arte se, e s se, expresso de sentimentos. Esta a tese central da teoria expressivista da arte, a que tambm se chama teoria da arte como expresso. O que se entende exactamente por expresso? Tolstoi defende que a expresso envolve sete aspectos: 1. O artista tem de sentir emoo. No pode haver expresso de sentimentos se o artista no sentir qualquer emoo. 2. O pblico tem de sentir emoo. A emoo sentida pelo artista no chega efectivamente a ser expressa se o pblico no sentir qualquer emoo. Cemitrio do Mosteiro na Neve
(18171819), de Caspar David Friedrich (17741840). Mesmo quando pinta paisagens, o artista romntico serve-se delas para exprimir sentimentos e revelar o seu mundo interior.
47
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 48
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
3. As emoes do pblico e do artista tm de ser as mesmas. Dado que a expresso transmisso de sentimentos, as emoes sentidas pelo artista e pelo pblico tm de ser as mesmas. 4. Tem de haver autenticidade da parte do artista. No h verdadeira expresso se os sentimentos (ou emoes) do artista no forem verdadeiros (ou autnticos). Se o artista procurar transmitir emoes que no teve, ento o pblico e o artista no partilham efectivamente as mesmas emoes. No existe, nesse caso, qualquer unio entre o artista e o pblico, pelo que tambm no h arte. 5. O artista tem de ter a inteno de provocar emoes. Imagine-se que, por uma razo qualquer, a Sandra est triste. Chega a casa e a me, vendo que est triste e a chorar, pergunta-lhe o que se passa. A Sandra conta-lhe o que se passa e a me fica tambm triste. Neste caso, a Sandra sentiu uma emoo, expressou-a atravs do choro, levando a sua me a sentir o mesmo. Ningum diria que isto arte. Para ser arte, pensa Tolstoi, o artista tem de provocar nos outros os mesmos sentimentos que teve, mas de forma intencional. a inteno expressiva que distingue a arte do que se passou com a Sandra. A Sandra no contou o que se tinha passado me para que esta ficasse triste, apesar de ela ter ficado triste. 6. Os sentimentos expressos tm de ser individualizados. Se, por exemplo, o Tiago escrever um artigo para um jornal a exprimir a sua revolta em relao ao tratamento dado a muitos imigrantes em Portugal, pode estar a faz-lo com a inteno de provocar nos leitores o mesmo sentimento de revolta. Tambm no diramos que isso arte. Tolstoi diria que no arte porque o Tiago no est a exprimir sentimentos individuais: limitou-se a fazer eco do sentimento geral de revolta que muitas pessoas tinham relativamente ao tratamento dado aos imigrantes. Mas o artista no exprime sentimentos gerais exprime os seus prprios sentimentos, resultantes das suas experincias individuais. 7. A expresso consiste em clarificar sentimentos. No basta transmitir intencionalmente sentimentos individualizados. Afinal, a Sandra podia ter contado o que se passou me prevendo que ela ia sentir o mesmo. E podia perfeitamente t-lo feito de forma intencional. Mesmo assim no seria arte. O artista, defende Tolstoi, trabalha os sentimentos, examina-os e explora-os de maneira a encontrar a forma adequada de os transmitir. No se trata de os apresentar tal qual surgem. O que o artista faz clarificar sentimentos; a criao artstica um processo de clarificao de sentimentos.
A teoria da arte como expresso tem trs vantagens: 1. Explica o contedo cognitivo da arte. A noo de clarificao permite explicar por que razo se diz que a arte nos ensina algo, ou seja, por que razo tem contedo cognitivo. A teoria expressivista permite compreender por que razo a arte importante para as pessoas: enquanto a cincia explora o mundo fsico e objectivo, o papel da arte explorar o mundo subjectivo da emoo. Alegadamente, ambos fazem novas descobertas: o cientista descobre e explica factos acerca do mundo exterior, ao passo que a arte descobre novas variaes emocionais e os seus efeitos.
48
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 49
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
2. Explica a ligao emocional que temos com a arte. Dado que a arte exprime emoes e sentimentos que so para ns importantes, isso explica a nossa profunda ligao emocional arte. A teoria expressivista est tambm em harmonia com a ideia generalizada de que para compreender a arte tem de se ser uma pessoa sensvel. 3. muito abrangente. A quantidade de coisas que podem ser abrangidas pela definio proposta pelos expressivistas enorme. Qualquer obra, represente ou no algo, pode sempre exprimir emoes.
Objeces teoria da expresso
Como vimos, Tolstoi defende que a expresso implica a autenticidade dos sentimentos do artista. Mas como podemos saber o que o artista realmente sentiu? possvel dizer se uma dada pintura ou uma dada pea musical so arte ou no independentemente de sabermos o que os seus autores sentiram. H obras de arte importantes cujos autores se desconhecem. Alm disso, simplesmente falso que os actores sintam necessariamente as emoes que procuram transmitir ao pblico que os v representar: um actor de uma boa pea de teatro ou filme pode perfeitamente exprimir angstia e medo sem se sentir angustiado nem com medo. Shakespeare, por exemplo, escreveu peas povoadas de personagens que exprimem sentimentos opostos. Ser que Shakespeare teve todos esses sentimentos ao escrever as suas peas? pouco provvel. Na primeira quadra do seu poema Autopsicografia (1930), Fernando Pessoa responde de modo eloquente a estas perguntas, defendendo que o artista no sente realmente o que quer transmitir aos outros:
O poeta um fingidor. Finge to completamente Que chega a fingir que dor A dor que deveras sente.
Na segunda quadra do mesmo poema, Fernando Pessoa pe tambm em causa a ideia de que o artista e o pblico partilham os mesmos sentimentos:
E os que lem o que escreve, Na dor lida sentem bem, No as duas que ele teve, Mas s a que ele no tem.
Ana Karenina um dos mais importantes romances do prprio Tolstoi, considerado por muitos uma obra-prima da literatura. A somos confrontados com a angstia e o desespero de Ana que, depois de abandonar o seu dedicado marido para fugir com Vronski, o amante, deixando para trs os seus filhos, acaba por se atirar para a linha de comboio, morrendo corroda pelo sentimento de culpa. Ainda que o prprio Tolstoi tenha tido os mesmos sen-
49
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 50
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
timentos, o que bastante improvvel, falso que os leitores se sintam tambm culpados e deseperados como Ana. A sentir alguma coisa, mais provvel que os leitores sintam pena ou compaixo. De acordo com a teoria expressivista, a expresso tambm envolve necessariamente a intencionalidade: o artista transmite intencionalmente sentimentos. Mas h obras de arte que no se destinavam sequer a ser publicadas, quanto mais a transmitir intencionalmente sentimentos. As clebres Cartas Portuguesas que a freira Mariana Alcoforado escreveu para o seu amante francs no se destinavam a ser publicadas; mas so largamente apreciadas pelo seu valor literrio. certo que foram intencionalmente escritas para serem lidas pelo seu amante. Pretendiam transmitir sentimentos a pelo menos uma pessoa. Mas podemos perfeitamente imaginar que a freira s pretendia dar asas sua imaginao e que esse amante nem sequer existia, guardando para si, no maior dos segredos, o resultado dos seus devaneios amorosos. Se isso tivesse acontecido e o acaso nos fizesse descobrir as cartas, elas deixariam de ter interesse literrio? No se v razo para lhes recusar o estatuto de obra literria. A intencionalidade na transmisso de sentimentos no , pois, uma condio necessria da arte. perfeitamente possvel haver artistas cujas obras so criadas sem ter em mente qualquer pblico. Vimos tambm que Tolstoi pensa que o artista clarifica emoes, sendo essa outra das condies necessrias da arte. Mas basta pensar em muita da msica actual para vermos que isso no verdade. No acontece com a msica punk, que consiste numa libertao de energia em estado bruto. E o mesmo se pode dizer de muita arte do sc. XX, que tenta provocar de forma crua e brutal alguns dos sentimentos mais bsicos, como a repulsa, a fria ou a clera, chocando propositadamente as pessoas. Portanto, tambm no verdade que a clarificao de emoes uma condio necessria da arte. Ser que, ao menos, toda a arte exprime sentimentos? Mas nem isso podemos afirmar. Dificilmente poderemos dizer que sentimentos exprime a chamada msica aleatria do compositor americano John Cage. Na msica aleatria, nem o compositor nem os executantes tm qualquer domnio sobre os sons produzidos, sendo estes fruto do acaso. E tambm no se pode dizer que sentimentos exprime muita da arte abstracta como, por exemplo, a arte minimalista. Alm disso, a maior parte das obras de arte conceptual procura assumidamente transmitir ideias, e no sentimentos. A teoria da arte como expresso, apesar de mais abrangente do que a teoria da imitao, no suficienJohn Cage (1912-1992) foi temente abrangente para incluir muitas das obras que um dos compositores mais so consideradas arte. Porm, muitas obras de arte so desconcertantes do sc. XX. expressivas.
50
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 51
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
Reviso
1. O que defendem os partidrios da teoria da arte como expresso? 2. Para Tolstoi a arte uma forma de comunicao. Porqu? 3. O que distingue a comunicao artstica de outras formas de comunicao? 4. Uma obra pode, de acordo com Tolstoi, ser arte se o seu autor no for sincero nos sentimentos que exprime? Porqu? 5. Os artistas provocam de forma intencional nos outros sentimentos que tm, pensa Tolstoi. Porqu? 6. Os sentimentos do artista tm de ser individualizados. O que significa isto? 7. O artista clarifica as suas prprias emoes. O que significa isto? 8. Apresente um aspecto a favor da teoria da arte como expresso. 9. Apresente um contra-exemplo teoria da arte como expresso.
Discusso
10. H obras de arte colectivas (no cinema so quase todas colectivas) e h artistas que produziram as suas obras sob o efeito de drogas e substncias alucinogneas. Para os defensores da arte como expresso, os sentimentos que os artistas transmitem tm de ser individualizados e intencionalmente transmitidos. Poder isso acontecer nestes casos? Porqu? 11. H quem defenda que se a arte fosse apenas transmisso de emoes, a criatividade do artista ficaria seriamente diminuda. Concorda? 12. Ser a arte uma forma de comunicao de sentimentos? Porqu?
Texto 32
A Arte Comunicao de Sentimentos
Leo Tolstoi
A actividade artstica baseada no facto de uma pessoa, ao receber atravs da sua audio ou viso a expresso do sentimento de outra pessoa, ser capaz de ter a experincia emocional que motivou aquele que a exprime. [...] nesta capacidade de as pessoas receberem a expresso do sentimento de outras pessoas, e de terem elas prprias esses sentimentos, que a actividade artstica se baseia.
51
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 52
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
[...] A arte comea quando algum com o intuito de unir a si outro ou outros num mesmo sentimento exprime tal sentimento atravs de certas indicaes externas. [...] Desde que os espectadores ou ouvintes sejam contagiados pelos mesmos sentimentos que o autor sentiu, h arte. [...] O grau de contgio da arte depende de trs condies: 1. Da maior ou menor individualidade do sentimento transmitido; 2. Da maior ou menor clareza com que o sentimento transmitido; 3. Da sinceridade do artista, isto , da maior ou menor fora com que o prprio artista sente o que transmitido. Quanto mais individualizado o sentimento transmitido, tanto mais fortemente actua sobre o receptor; quanto mais individualizado o estado de alma para o qual ele transferido, maior prazer obtm o receptor e, consequentemente, com mais prontido e fora adere a ele. A clareza da expresso ajuda o contgio porque o receptor, que se mistura na sua conscincia com o autor, ficar tanto mais satisfeito quanto maior for a clareza com que o sentimento transmitido, o qual ele julga h muito conhecer e sentir, mas para o qual s agora encontra expresso. Mas o grau de contgio aumenta, acima de tudo, com o grau de sinceridade do artista. Logo que o espectador, ouvinte ou o leitor sente que o artista est contagiado pela sua prpria produo e escreve, canta ou representa para ele prprio, e no apenas para impressionar os outros, o receptor tambm contagiado por esse estado mental; e inversamente, assim que o espectador, leitor ou ouvinte sente que o autor no est a escrever, cantar ou representar para sua prpria satisfao no sente ele prprio o que deseja exprimir mas est a fazer isso para o receptor, a resistncia surge imediatamente, e nem os mais individuais e presentes sentimentos, assim como as tcnicas mais ousadas, conseguem produzir qualquer contgio, provocando realmente rejeio. [...] A ausncia de qualquer uma destas condies exclui uma obra da categoria de arte, relegando-a para a categoria da falsa arte. Se a obra no transmite a singularidade do sentimento do artista e no , portanto, individual; se no expressa de maneira inteligvel, ou se no teve origem na necessidade interior de expresso do autor, no obra de arte. Se todas estas condies estiverem presentes, mesmo num pequeno grau, ento a obra, mesmo sendo fraca, ser ainda uma obra de arte.
Leo Tolstoi, O Que a Arte? 1898, trad. de Aires Almeida, Caps. 5 e 15
52
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 53
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
Interpretao
1. Em que se baseia, segundo Tolstoi, a actividade artstica? 2. Por que razo o grau de contgio da arte depende da maior ou menor individualidade do sentimento transmitido? 3. Por que razo o grau de contgio da arte depende da maior ou menor sinceridade do sentimento transmitido? 4. Por que razo o grau de contgio da arte depende da clareza do sentimento transmitido? 5. Como distingue Tolstoi a verdadeira da falsa arte?
Discusso
6. Acha que existe verdadeira arte e falsa arte? Justifique e d exemplos. 7. Ser que podemos sentir o que os artistas sentem quando criam as suas obras? Justifique. 8. Haver alguma razo para nos interessarmos pelos sentimentos individuais dos artistas? Justifique.
4. Arte e forma
No princpio do sc. XX assistiu-se a uma grande revoluo na arte, principalmente na pintura. Foi a altura em que surgiu a chamada arte moderna. A pintura moderna chega a opor-se radicalmente ideia de representao. Representar o mundo exterior era uma coisa que a fotografia fazia perfeitamente, pelo que alguns pintores acharam que deviam procurar novos caminhos, que no o da representao. Um dos caminhos foi explorar as possibilidades de composio, atravs da organizao puramente visual de cores, linhas e formas. A pintura abstracta comeou a impor-se e com ela tambm a ideia da pintura pela pintura, da resultando um conjunto de obras completamente diferentes do que era habitual. A exploso da arte moderna veio, assim, mostrar que a diversidade de obras de arte bem maior do que as teorias da imitao e da expresso supunham. Foi neste contexto que um conhecido crtico e filsofo da arte ingls, Clive Bell (1881-1964), apresentou um livro intitulado simplesmente Arte, publicado em 1914. Neste livro, Bell defende a chamada teoria formalista da arte, a que por vezes tambm se chama teoria de Bell-Fry, uma vez que, alm de Bell, o seu amigo, pintor e crtico de arte Roger Fry (1866-1934), foi outro dos seus principais defensores. A teoria formalista da arte alcanou grande sucesso e veio
53
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 54
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
a ser defendida por outros filsofos, assim como por imensos crticos de arte. Exemplos de comentrios que manifestam preocupaes de carter formalista em relao arte so os seguintes:
Este quadro revela uma grande unidade e sentido de equilbrio. um romance bem estruturado, com um fio condutor onde se encaixam perfeitamente as personagens. uma dana com grande dinamismo e complexidade. Esta uma cano com uma melodia simples, sbria e elegante.
Quadro com Arco Preto
(1912), de Vassily Kandinsky (1866-1944). Esta uma das primeiras pinturas abstractas.
Mas o que defende Bell com a sua teoria da arte? Bell escreve que o ponto de partida de qualquer sistema esttico tem de ser a experincia pessoal de uma emoo peculiar. Para que esta afirmao no seja mal interpretada, h que sublinhar trs aspectos:
1. Aos objectos que provocam tal emoo chamamos obras de arte. 2. Diferentes obras de arte podem produzir diferentes emoes, mas tais emoes tm de ser do mesmo tipo. 3. Essa emoo apenas o ponto de partida para compreender a arte. primeira vista parece que Bell est prximo da ideia de arte como expresso, pois diz que tudo comea com uma experincia pessoal, a que chama emoo esttica. S que no haveria qualquer emoo esttica se no houvesse na prpria obra de arte alguma caracterstica responsvel por tal emoo. Trata-se de uma emoo que no temos a no ser quando estamos perante obras de arte. Sempre que temos uma emoo esttica estamos perante uma obra de arte. As obras de arte provocam em ns emoes estticas porque tm uma caracterstica capaz de provocar tais emoes. A questo est, pois, em saber que caracterstica essa. Para o saber temos de ir alm da emoo. preciso, diz Bell, inteligncia. No h compreenso esttica se no houver sensibilidade, mas tambm no h compreenso esttica se s houver sensibilidade. Infelizmente, considera Bell, nem sempre a sensibilidade e a inteligncia andam juntas. E o que deve a inteligncia, despertada pela emoo esttica, procurar nas obras de arte? Deve procurar aquela caracterstica comum a todas as obras de arte e que s nelas existe. Ou seja, trata-se de uma caracterstica individuadora, pois permite distinguir as
54
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 55
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
obras de arte das que o no so. Bell diz que identificar essa caracterstica o mesmo que identificar a essncia das obras de arte; uma caracterstica que todas tm e que no poderiam deixar de ter sem deixarem de ser arte. Essa caracterstica ter de ser simultaneamente condio necessria e suficiente da arte. Como vimos, essa caracterstica no pode ser a representao nem a expresso, pois nenhuma delas comum a todas as obras de arte. Que caracterstica essa, ento? Numa palavra, a forma. Quando fala da forma, Bell inclui no apenas linhas, mas tambm cores. No h cores sem forma nem linhas sem cor (o preto e o branco tambm so cores). Se pensarmos na pintura os exemplos de Bell so quase sempre da pintura a forma entendida como combinao de linhas e cores. Mas tambm se pode dizer que a msica, por exemplo, tem forma, na medida em que os sons esto temporalmente organizados de uma determinada maneira. S que, poder-se-ia objectar, muitssimas coisas que no so arte tm forma tambm. Contudo, Bell no se refere a uma forma qualquer. Bell pensa que um objecto s arte se tiver forma significante. A arte, de acordo com a teoria formalista de Bell, pode definir-se assim:
X arte se, e s se, tem forma significante.
Bell fala de forma significante e no simplesmente de forma. Isto porque praticamente todas as coisas que vemos, como as pedras, as nvens, as cadeiras ou os livros tm forma. No caso da pintura, por exemplo, a forma no uma qualquer combinao de linhas e cores, mas uma certa combinao de linhas e cores. Assim, se um objecto tem ou no forma significante, uma questo de ver se o objecto se destaca pela sua forma e se precisamente a forma que nos chama a ateno para o objecto. A forma significante , pois, aquilo que, num objecto, no pode ser alterado, simplificado ou adaptado sem perder o seu interesse e o seu significado. Mesmo assim, podemos pensar em coisas que tm forma significante mas que no so arte. H placas de sinalizao de trnsito cuja forma significante, pois o seu significado depende exclusivamente da sua forma: o seu significado depende de serem triangulares, redondas ou quadradas; se so azuis, vermelhos, etc. Todavia, no so arte. Mas o formalista alega que h uma diferena importante entre os objectos de arte e as placas de trnsito: estas tm como principal objectivo informar-nos de algo e no exibir a sua forma, ao passo que exibir a sua forma o objectivo primordial dos objectos de arte. principalmente com essa finalidade que as obras de arte so concebidas: para exibir a sua forma. O formalista pensa que a pintura pode at representar as coisas exteriores, mas defende que no por isso que arte. Analisar esteticamente um quadro , pensam os formalistas, realar a disposio das formas na tela, bem como a relao entre as linhas e a utilizao das cores, de modo a verificar se tudo isso se combina de forma significante. Mesmo que o quadro represente algo, o que representa esteticamente irrelevante. Quaisquer outras finalidades, alm da simples exibio da sua forma so, alis, irrelevantes. por isso que mesmo aqueles que no so religiosos esto em condies de apreciar esteticamente a msica religiosa de Bach. Que uma obra tenha fins religiosos, morais, polticos ou outros irrelevante, pensa o formalista.
55
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 56
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Esta teoria parece ter uma enorme vantagem em relao s anteriores: pode incluir todo o tipo de obras de arte, inclusivamente obras que exemplifiquem formas de arte ainda por inventar. Desde que provoque emoes estticas, qualquer objecto arte, ficando assim ultrapassado o carcter restritivo das teorias anteriores.
Objeces teoria formalista
A teoria formalista enfrenta, todavia, srios problemas. O primeiro que h objectos de arte que no se distinguem visualmente de outros que no so arte. Por exemplo, no vemos qualquer diferena entre a forma da clebre Caixa de Brillo, de Andy Warhol, e as outras caixas utilizadas pelo fabricante de detergentes Brillo. Se o que faz um objecto ser arte a sua forma, ento todas estas caixas deveriam ser tambm objectos de arte. Mas no so. Outra dificuldade consiste em explicar exactamente em que consiste a forma significante. Como sabemos que um objecto tem forma significante ou no? O formalista diz que sabemos isso porque temos emoes quando o observamos. Mas se lhe perguntarmos o que uma emoo esttica, ele responde que o tipo de emoo provocado pela forma significante. Assim, o que se est a dizer que tem forma significante porque temos emoes estticas e temos emoes estticas porque tem forma Caixa de Brillo (1964), de Andy Warhol (1928significante. Ora, esta resposta circular, pelo -1987). Esta clebre obra de arte uma rplica em que nada adianta. contraplacado das caixas em papelo de detergente Brillo para a loia. Tentando evitar a circularidade anterior, Bell diz que identificar a forma significante uma questo de sensibilidade. Qualquer pessoa sensvel percebe quando um objecto tem forma significante. Uma pessoa sensvel sabe-o porque sente emoo esttica perante tais objectos e as pessoas que no reconhecem a forma significante so insensveis, sugere Bell. Mas esta resposta tambm no esclarecedora, pois mais uma fuga s dificuldades do que um argumento. Esta resposta encara a forma significante (e a emoo esttica a que d origem) como algo misterioso a que poucos tm acesso. Assim, a noo de forma significante parece to imprecisa que no se imagina o que poderia servir de contra-exemplo. Mas no admitir a possibilidade de contra-exemplos caracterstico das ms teorias. Porm, inegvel que a forma um aspecto importante de muitas obras de arte, principalmente de arte moderna.
56
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 57
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
Reviso
1. O que leva Bell a atribuir grande importncia emoo esttica? 2. Bell pensa que no basta haver emoo esttica para se compreender esteticamente uma obra de arte. Porqu? 3. O que , segundo Bell, a forma significante? 4. Por que razo a representao , segundo Bell, esteticamente irrelevante? 5. Apresente uma vantagem da teoria formalista de Bell. 6. Apresente um contra-exemplo teoria da arte como forma. 7. Explique a acusao de circularidade feita a Bell a propsito da anlise da noo de forma significante. 8. Explique a crtica de que a noo de forma significante demasiado imprecisa.
Discusso
9. Ser que o contedo de um romance irrelevante para o seu valor esttico? Porqu? 10. As caixas de detergentes Brillo no so contra-exemplos teoria de Bell. Afinal, quando a caixa de Brillo exposta numa galeria de arte tem a funo de exibir a sua forma, tornando-se deste modo uma obra de arte. Ao passo que quando exposta nas prateleiras de um supermercado tem a funo de exibir o detergente, no se tratando assim de uma obra de arte. Concorda? Porqu? 11. Concorda com a teoria de Bell? Porqu?
57
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 58
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Texto 33
A Arte Forma Significante
Clive Bell
O ponto de partida para todos os sistemas da esttica tem de ser a experincia pessoal de uma emoo peculiar. Aos objectos que provocam tal emoo chamamos obras de arte. Qualquer pessoa sensvel concorda que h uma emoo peculiar provocada pelas obras de arte. Naturalmente, no quero com isto dizer que todas as obras de arte provocam a mesma emoo. Pelo contrrio, cada obra de arte produz uma emoo diferente. Mas todas essas emoes podem ser identificadas como emoes do mesmo tipo. Seja como for, esta , at agora, a melhor opinio. Que existe um tipo particular de emoo provocado por obras de arte visual e que essa emoo provocada por todos os tipos de arte visual, por pinturas, esculturas, edifcios, peas de cermica, gravuras, txteis, etc., etc., no disputado, penso eu, por ningum capaz de a sentir. Esta emoo chamada emoo esttica, e se pudermos descobrir alguma qualidade comum e peculiar a todos os objectos que a provocam, teremos resolvido o que considero ser o problema central da esttica. Teremos descoberto a qualidade essencial da obra de arte, a qualidade que distingue as obras de arte de outras classes de objectos. Com efeito, ou todas as obras de arte visual tm alguma qualidade comum, ou quando falamos de obras de arte estamos a desconversar. Cada pessoa fala de arte, fazendo uma classificao mental pela qual distingue a classe das obras de arte de todas as outras classes. Qual a justificao para essa classificao? Qual a qualidade comum e peculiar a todos os membros dessa classe? Seja ela qual for, no h dvida que se encontra muitas vezes acompanhada por outras qualidades; mas estas so fortuitas aquela essencial. Tem de haver uma qualquer qualidade sem a qual uma obra de arte no existe; na posse da qual nenhuma obra , no mnimo, destituda de valor. Que qualidade essa? Que qualidade partilhada por todos os objectos que provocam as nossas emoes estticas? Que qualidade comum [igreja de] Santa Sofia e aos vitrais [da catedral] de Chartres, escultura mexicana, a Clive Bell, de Roger uma taa persa, aos tapetes chineses, aos frescos de Giotto, em Pdua, e s Fry (1866-1934). Bell foi obras-primas de Poussin, Piero della Francesca e Czanne? S uma resposta um influente ensasta e crtico de arte ingls. parece possvel a forma significante. Em cada uma destas coisas, linhas e cores combinadas de uma maneira particular, certas formas e relaes de formas, estimulam as nossas emoes estticas. A estas relaes e combinaes de linhas e cores, a estas formas esteticamente tocantes, chamo Forma Significante; e a Forma Significante a tal qualidade comum a todas as obras de arte visual. A hiptese de que a forma significante a qualidade essencial de uma obra de arte tem ao menos o mrito negado a muitas outras mais famosas e impressionantes ajuda a explicar as coisas. Todos conhecemos quadros que nos interessam e despertam a nossa
58
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 59
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
admirao, mas no nos emocionam como obras de arte. A esta classe pertence aquilo a que chamo Pintura Descritiva isto , pintura em que as formas no so usadas como objectos de emoo, mas como meios de sugerir emoo ou veicular informao. Retratos de valor psicolgico ou histrico, obras topogrficas, quadros que contam histrias e sugerem situaes, ilustraes de todos os tipos, pertencem a esta classe. Que todos reconhecemos a distino evidente, pois quem no disse j que tal e tal desenho era excelente como ilustrao, mas sem valor como obra de arte? Claro que muitos quadros descritivos tm, entre outras qualidades, significado formal, sendo, por isso, obras de arte; mas muitos outros no. Eles interessam-nos; podem emocionar-nos tambm de uma centena de maneiras diferentes, mas no nos emocionam esteticamente. De acordo com a minha hiptese, no so obras de arte. No afectam as nossas emoes estticas porque no so as suas formas, mas as ideias ou informao sugeridas ou veiculadas pelas suas formas, que nos afectam. [...] Que ningum pense que a representao m em si; uma forma realista pode ser to significante, enquanto parte do desenho, como uma forma abstracta. Mas se uma forma figurativa tem valor, como forma, e no como representao. O elemento figurativo numa obra de arte pode ou no ser prejudicial; sempre irrelevante. Pois para apreciar uma obra de arte no precisamos de nos fazer acompanhar de nada da nossa vida, nem de nenhum conhecimento das suas ideias e ocupaes, nem de qualquer familiaridade com as suas emoes. A arte transporta-nos do mundo da actividade humana para o mundo da exaltao esttica. Por um momento, somos afastados dos interesses humanos; as nossas previses e recordaes so aprisionadas; somos elevados acima do fluxo da vida.
Clive Bell, A Hiptese Esttica, 1914, trad. adaptada de Vtor Silva, pp. 28-41
Interpretao
1. Que importncia tem, segundo Bell, a descoberta da qualidade comum e peculiar a todos os objectos que provocam emoes estticas? 2. Como descreve Bell a forma significante na pintura? 3. Por que razo pensa Bell que a chamada pintura descritiva no necessariamente arte? 4. Bell afirma que para apreciar uma obra de arte no precisamos de nos fazer acompanhar de nada da nossa vida. Porqu?
59
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 60
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Discusso
5. Para apreciar uma obra de arte no precisamos de nos fazer acompanhar de nada da nossa vida. Concorda? Porqu? 6. O elemento figurativo numa obra de arte sempre irrelevante. Concorda. Porqu? 7. Como sabemos se um objecto tem forma significante? Justifique. 8. Qualquer pessoa concorda que h uma emoo peculiar provocada pelas obras de arte, diz Bell. Concorda? Porqu?
5. A arte pode ser definida?
Na seco anterior utilizmos o exemplo da Caixa de Brillo, de Andy Warhol, para levantar dificuldades teoria formalista de Bell. Mas Bell dificilmente estaria espera de uma dificuldade dessas, posto que Caixa de Brillo era uma obra impensvel quando Bell publicou o seu livro Arte, em 1914. Caixa de Brillo uma obra de 1964. Os artistas tm concebido obras cada vez mais afastadas de tudo o que at ento se tem feito. Muita gente associa a criatividade da arte a um processo de constante inovao e, por vezes, de corte com o passado. Os objectos que podem ser classificados como arte so de tal maneira diferentes entre si que parece impossvel apresentar caractersticas comuns a todas as obras de arte. Tendo isso em conta, alguns filsofos da arte, como o americano Morris Weitz (1916-81), concluram que a arte indefinvel. Na opinio de Weitz as teorias anteriores falharam ao tentar definir a arte precisamente porque a arte no pode ser definida. Qualquer tentativa de definir arte est, portanto, condenada ao fracasso. As tentativas de definio de arte procuraram estabelecer as condies necessrias e suficientes da arte. Fazer isso o mesmo que determinar a caracterstica ou conjunto de caractersticas comuns a todas as obras de arte, assim como a caracterstica ou conjunto de caractersticas que s as obras de arte partilham. A tese de Weitz que no h uma caracterstica ou conjunto de caractersticas que todas as obras de arte tenham em comum. Isto , no h caractersticas necessrias e suficientes da arte. Em vez de tentarmos definir arte, o melhor tentar perceber em que circunstncias classificamos algo como arte. Que uso fazemos do conceito de arte? Aplicamos o conceito de arte de maneira a incluir coisas completamente novas e inesperadas, as quais se propem, inclusivamente, romper com o que parecia estar estabelecido. Em sntese, o conceito de arte , defende Weitz, um conceito aberto. Um conceito aberto se as suas condies de aplicao so reajustveis e corrigveis.
60
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 61
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
Isto significa que pode surgir um novo caso, ainda que apenas imaginado, que exija da nossa parte uma deciso de alargar o uso do conceito. Por exemplo, antes do artista francs Marcel Duchamp, o conceito de arte no se aplicava a objectos que no fossem produzidos pelo prprio artista. Os clebres ready-made de Duchamp obrigaram a alargar o conceito de arte, cuja extenso passou a incluir objectos que antes no inclua. Claro que nem todos os conceitos so abertos; h conceitos fechados. Uma vez que a arte inovadora e criativa, tem de admitir novos casos; por isso, o conceito de arte no pode ser fechado. Apesar de no haver caractersticas comuns a todos os objectos de arte e de este ser um conceito aberto, no deixamos de saber aplicar o conceito de arte. Weitz defende que acontece com os objectos de arte o mesmo que entre pessoas da mesma famlia. Numa famlia, o filho pode ter os olhos parecidos com os do pai, o pai ter o nariz parecido com o da irm e a irm ter a boca parecida com a do av sem, no entanto, haver qualquer parecena entre o filho e a av. Mesmo no havendo qualquer caracterstica comum a todos os membros da famlia, somos capazes de ver que pertencem mesma famlia. A esta rede de parecenas chamava o filsofo austraco Wittgenstein (1889-1951) parecenas familiares, noo que Weitz tambm adoptou. Com a arte passa-se exactamente a mesma coisa, defende Weitz. Comea-se com uma obra que todos aceitam como arte, depois surge uma nova candidata a obra de arte que tem algumas parecenas com a anterior e, por isso, tambm classificada como arte. Seguidamente aparece mais outra candidata que tem certas parecenas com a ltima; tambm ela passa a ser arte. No final temos uma teia de parecenas familiares, mas nenhum conjunto fixo de caractersticas comuns a todas. Eis a razo por que sabemos identificar obras de arte, mesmo sem haver condies necessrias para algo ser arte e, portanto, sem dispormos de qualquer definio de arte.
Objeces teoria da indefinibilidade da arte
H trs objeces centrais aos argumentos de Weitz. 1. O facto de no ser possvel observar uma propriedade ou conjunto fixo de propriedades partilhadas por todas as obras de arte no mostra que no h condies necessrias para uma coisa ser arte. Em vez de um conjunto fixo de condies necessrias, pode haver mais do que uma maneira de um objecto se tornar arte. Assim, mesmo que no seja possvel encontrar uma condio necessria ou um conjunto formado por X, Y e Z de condies necessrias, estas podem ainda ser expressas atravs da disjuno X ou Y ou Z. Por exemplo no necessrio ser pai e tio e irmo e filho e primo, etc. de algum para ser seu parente. Mas necessrio ser pai ou tio ou irmo ou filho ou primo ou etc. 2. Ao dizer que a arte no pode ser definida por ser um conceito aberto, Weitz baseia-se na constatao de que a arte criativa, inovadora e subversiva. Mas isso o mesmo que descrever a natureza da arte e, portanto, admitir que afinal h certas condies necessrias. Nesse caso, ser o resultado da criatividade humana em funo de um propsito esttico constituiria uma condio necessria da arte.
61
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 62
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
3. O filsofo George Dickie defende que a noo de parecena familiar s por si no permite usar competentemente o conceito de arte. Por um lado, argumenta Dickie, as simples parecenas no chegam para incluir objectos diferentes na mesma famlia, pois tudo acaba por se parecer com tudo em algum aspecto. Por exemplo, algumas pessoas, apesar de serem muito parecidas, no pertencem mesma famlia, como sucede entre as vulgares caixas de Brillo e a obra de Warhol atrs referida. Portanto, preciso algo mais do que simples parecenas. Assim, a noo de parecena familiar parece no ter grande utilidade quando se trata de classificar (ou no calssificar) algo como arte. Afinal, em que nos baseamos para dizer que algo arte?
Reviso
1. Por que razo pensa Weitz que as teorias anteriores falharam em definir arte? 2. O que pensa Weitz que devemos fazer em vez de tentar definir a arte? 3. O que um conceito aberto? 4. Por que razo o conceito de arte aberto? 5. Segundo Weitz, ainda que no se possa definir o conceito de arte, possvel aplic-lo correctamente. Como? 6. Alguns crticos de Weitz alegam que o facto de no encontrarmos propriedades comuns a todos os objectos de arte no mostra que no haja condies necessrias para um objecto ser arte. Porqu? 7. Exponha a crtica de Dickie ideia de que aplicamos correctamente o conceito de arte detectando parecenas familiares.
Discusso
8. Ser que, de acordo com a teoria da parecena familiar, uma reproduo fotogrfica em tamanho real de uma pintura famosa uma obra de arte? Porqu? 9. Betsy, uma chimpanz do Jardim Zoolgico de Baltimore, nos Estados Unidos, conseguiu, com algumas tintas e papel que colocaram sua disposio, fazer vrios produtos a que poderamos chamar pinturas. Algumas das suas pinturas foram expostas no Field Museum of Natural History, um museu de histria natural de Chicago. Ser que as pinturas de Betsy so arte? Porqu? 10. A arte pode ser definida? Porqu?
62
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 63
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
Texto 34
A Arte no Pode ser Definida
Morris Weitz
Os jogos de cartas so como os jogos de tabuleiro em alguns aspectos mas no noutros. Nem todos os jogos so divertidos, e nem sempre h ganhar e perder, ou competio entre os jogadores. Alguns jogos assemelham-se a outros em alguns aspectos isto tudo. O que encontramos no so propriedades necessrias e suficientes, mas apenas uma rede complicada de parecenas que se cruzam e sobrepem entre si, de tal modo que podemos dizer que os jogos formam uma famlia com parecenas de famlia e sem qualquer trao comum. Se perguntarmos o que um jogo, para responder vamos buscar exemplos de jogos, descrevemo-los, e acrescentamos o seguinte: a isto e a coisas parecidas chama-se um jogo. Isto tudo o que precisamos de dizer e de facto tudo o que sabemos acerca de jogos. Saber o que um jogo no saber uma definio real ou uma teoria, mas ser capaz de reconhecer e explicar os jogos e ser capaz de decidir de entre exemplos novos e imaginrios a quais chamaramos jogos. O problema da natureza da arte como o da natureza dos jogos, pelo menos neste aspecto: se olharmos realmente para aquilo a que chamamos arte, tambm no iremos encontrar qualquer propriedade comum apenas cadeias de similaridades. Saber o que a arte no apreender uma essncia manifesta ou latente mas ser capaz de reconhecer, descrever e explicar aquelas coisas a que chamamos arte em virtude de certas similaridades. A semelhana bsica entre estes conceitos a sua estrutura aberta. Ao elucid-los, pode-se apresentar alguns casos (paradigmticos), acerca dos quais no pode existir a mnima dvida ao serem descritos como arte ou jogo, mas no possvel fornecer um conjunto exaustivo de exemplos. Posso fazer uma lista de alguns casos e algumas condies sob as quais aplico correctamente o conceito de arte, mas no posso fazer uma lista de todos esses casos e condies pela simples razo que esto sempre a surgir ou a antever-se condies novas ou imprevisveis. Um conceito aberto se as suas condies de aplicao so reajustveis e corrigveis; isto , se se pode imaginar ou acontecer uma situao ou um caso que requeresse algum tipo de deciso da nossa parte de modo ou a alargar o uso do conceito para abranger o novo caso ou a fechar o conceito inventando um novo para abranger o novo caso e a sua nova propriedade. Se podemos estabelecer condies necessrias e suficientes para a aplicao de um conceito, o conceito fechado. Mas isto algo que apenas pode acontecer na lgica e na matemtica onde os conceitos so construdos e completamente definidos. Isto no pode acontecer com conceitos empiricamente descritivos e normativos, a no ser que os fechemos arbitrariamente estipulando o alcance dos seus usos. [...]
63
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 64
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
O prprio conceito de arte um conceito aberto. Novas condies (novos casos) surgiram e continuaro certamente a surgir; aparecero novas formas de arte, novos movimentos, que iro exigir uma deciso por parte dos interessados, normalmente crticos de arte profissionais, sobre se o conceito deve ou no ser alargado. Os estetas podem estabelecer condies de similaridade, mas nunca condies necessrias e suficientes para a correcta aplicao do conceito. Com o conceito arte, as suas condies de aplicao nunca podem ser exaustivamente enumeradas, uma vez que novos casos podem sempre ser considerados ou criados pelos artistas, ou mesmo pela natureza, o que exigir uma deciso por parte de algum em alargar ou fechar o velho conceito ou em inventar um novo (por exemplo, Isto no uma escultura, um mobile.) Assim, aquilo que estou a defender que o prprio carcter expansivo e empreendedor da arte, as suas sempre presentes mudanas e novas criaes, torna logicamente impossvel garantir um qualquer conjunto de propriedades definidoras. claro que podemos escolher fechar o conceito. Mas fazer isso com arte ou tragdia ou retrato, etc., ridculo, uma vez que exclui as prprias condies de criatividade na arte.
Morris Weitz, O Papel da Teoria na Esttica, 1956, trad. de Clia Teixeira, pp. 3-5
Interpretao
1. Explique em que sentido o conceito de jogo comparvel ao conceito de arte, segundo Weitz. 2. Como sabemos, segundo Weitz, que um dado objecto faz parte da extenso do conceito de arte? 3. O que um conceito fechado? 4. Por que razo pensa Weitz que no faz sentido fechar o conceito de arte?
Discusso
5. Ser que, de acordo com Weitz, tudo pode ser arte? Porqu? 6. Ser que pelo facto de um conceito ser aberto, no pode ser definido? Justifique. 7. Ser que no precisamos mesmo de definir arte? Justifique.
64
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 65
A criao artstica e a obra de arte
Captulo 13
A arte pode ser definida?
Sim possvel dizer quais as condies necessrias e suficientes da arte.
No No h condies necessrias nem suficientes da arte. Arte um conceito aberto. (Morris Weitz)
Teoria da imitao A imitao apenas condio necessria da arte. (Plato e Aristteles)
Teoria da expresso A arte transmisso de sentimentos. (Tolstoi)
Teoria formalista A arte forma significante. (Clive Bell)
Estudo complementar
Almeida, Aires e Murcho, Desidrio (2006) Esttica in Textos e Problemas de Filosofia. Lisboa: Pltano, Cap. 5. DOrey, Carmo (1999) Teorias Essencialistas in A Exemplificao na Arte. Lisboa: Gulbenkian, Cap. III. Graham, Gordon (1997), Definir a Arte, in Filosofia das Artes: Introduo Esttica. Trad. de Carlos Leone. Lisboa: Edies 70, 2001, Cap. 8. Hanslick, Eduard (1854) Do Belo Musical. Trad. de Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 1994. Warburton, Nigel (1995) Pode a Arte ser Definida?, in Elementos Bsicos de Filosofia. Trad. de Desidrio Murcho. Lisboa: Gradiva, 1998, Cap. 7 .
Almeida, Aires (2000) O Que Arte? in Crtica, http://www.criticanarede.com/fil_ tresteoriasdaarte.html. Battin, Margaret (1989) O Que a Arte?, in Crtica, http://www.criticanarede.com/ html/fil_oqueeaarte.html. Costa, Cludio (2005) Teorias da Arte, in Crtica, http://www.criticanarede.com/ html/est_tarte.html.
65
39-66
2007.04.01
17:29
Pgina 66
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 67
Captulo 14
A arte: produo e consumo, comunicao e conhecimento
1. O problema
Seces
A arte ocupa um lugar importante em quase todos os povos e pocas. Mas o que leva as pessoas de diferentes povos e pocas a produzir e a consumir arte? Como se explica que tantos artistas dediquem vidas inteiras a produzir objectos de arte e que um nmero ainda maior de pessoas estejam dispostas a pagar bem para poder usufruir deles? Por que razo a arte assim to importante? Da resposta a estas perguntas depende em parte a soluo para um dos principais problemas de filosofia da arte: o problema do valor da arte. Trata-se de saber o que torna a arte to valiosa, a ponto de lhe dedicarmos uma parte substancial dos nossos recursos e energias. Os filsofos divergem acerca do tipo de valor que os objectos de arte tm. Alguns defendem que o valor da arte intrnseco, ao passo que outros defendem, pelo contrrio, que instrumental. Uma coisa tem valor intrnseco se valiosa por si. Uma coisa tem valor instrumental se um meio para um fim independente, o qual se considera valioso. No primeiro caso, defende-se que o valor de um objecto de arte reside exclusivamente em si, independentemente de quaisquer aspectos externos ou efeitos que possa produzir. Por isso, s teorias do valor intrnseco da arte chama-se teorias autonomistas: o valor da arte autnomo. Ao dizer que os objectos de arte tm valor em si,
1. O problema, 67 2. O valor intrnseco da arte, 68 3. O valor instrumental da arte, 71 Textos 35. Forma e Beleza, 70 Oscar Wilde 36. Arte e Prazer, 78 Jeremy Bentham 37. Arte e Progresso Moral, 80 Leo Tolstoi 38. O Valor Cognitivo da Arte, 81 Nelson Goodman Objectivos Compreender o problema do valor da arte. Compreender e avaliar as teorias do valor instrnseco da arte. Compreender e avaliar as teorias instrumentalistas da arte. Conceitos Valor intrnseco / valor instrumental, autonomismo, instrumentalismo, esteticismo. Hedonismo, moralismo, cognitivismo.
67
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 68
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
o autonomista s pode estar a referir-se s propriedades formais e estruturais desses objectos, s quais se d o nome de propriedades estticas. Trata-se de propriedades como a beleza, a harmonia das formas e a unidade estrutural, entre outras. Aspectos como o contedo ou a mensagem que o artista eventualmente procure transmitir no fazem parte das propriedades estticas. Assim, em princpio, estas tambm no fazem parte do seu valor intrnseco. No segundo caso, defende-se que a arte tem valor porque atravs dela se podem alcanar certos fins considerados importantes: comunicar ideias, adquirir conhecimento, obter prazer, educar a sensibilidade, etc. Se assim for, a arte tem valor porque cumpre uma funo e um instrumento ao servio de algo valioso. O seu contedo ou a mensagem que as pessoas possam encontrar nos objectos de arte que os torna artisticamente valiosos. Por retirarmos algum benefcio ao apreciar objectos de arte que eles se tornam importantes para ns. O valor da arte depende, por assim dizer, daquilo que ela faz por ns. Estas so as chamadas teorias instrumentalistas da arte.
2. O valor intrnseco da arte
A ideia de que o valor da arte intrnseco relativamente recente. Inspirada no romantismo, comeou por ser defendida na primeira metade do sc. XIX, em Frana, por figuras como o poeta Charles Baudelaire (1821-1867). Era ento conhecida como a teoria da arte pela arte. Os defensores da arte pela arte consideravam que o valor de uma obra de arte no precisava de justificao: a sua beleza falava por si e nada mais contava.
Esteticismo
Na segunda metade do sc. XIX a ideia da arte pela arte acabou por ganhar adeptos tambm nas Ilhas Britnicas, o mais destacado dos quais foi o escritor Oscar Wilde (1854-1900). Esta posio passou ento a ser conhecida como esteticismo, pois os seus partidrios enfatizavam a ideia de que o valor das obras de arte dependia exclusivamente das suas caractersticas estticas internas: a beleza das suas formas. Os esteticistas, em geral, argumentam da seguinte maneira a favor do valor intrnseco da arte. Por um lado, se o valor de uma obra de arte dependesse do seu contedo ou da mensagem a transmitir, estaramos a valorizar no a prpria obra mas a mensagem. Mas, nesse caso, deixaramos de ter razes para nos interessarmos pela obra, uma vez compreendida a mensagem transmitida. No , to-
Nabuco (1842), cena da pera de Giuseppe Verdi
(1813-1901), atravs da qual o compositor manifestou as suas fortes aspiraes polticas nacionalistas. Para o esteticista, a mensagem poltica que uma obra de arte eventualmente possa conter irrelevante para o seu valor artstico.
68
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 69
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
davia, isso que acontece, at porque o nosso apego s obras de arte leva-nos a encar-las como nicas e indispensveis. Por outro lado, se a finalidade de uma dada obra de arte puder ser alcanada por outros meios, ento a obra deixa de ser insubstituvel. Mas as pessoas em geral consideram insubstituveis as obras de arte. Nada pode substituir a leitura de Os Maias, mesmo que nos expliquem o que Ea de Queirs quis mostrar ao escrever esse romance. Portanto, Os Maias tem valor intrnseco e s isso permite explicar o seu valor artstico. Do mesmo modo, alega o esteticista, o facto de diferentes obras de arte terem um contedo idntico ou de transmitirem a mesma mensagem, no implica que tenham o mesmo valor artstico. Logo, o seu valor artstico depende das suas caractersticas internas e no de qualquer propsito exterior que possam servir. Alm disso, ter valor histrico, moral, poltico ou comercial muito diferente de ter valor artstico, que o que importa explicar.
Objeces ao esteticismo
Uma das crticas frequentes ao esteticismo que se tudo o que conta para o valor artstico de uma obra so as suas propriedades formais ou a sua estrutura interna, como alega o esteticista, ento uma obra pode ser profundamente imoral sem perder, por isso, qualquer valor. Oscar Wilde chegou mesmo a afirmar que toda a arte imoral tese conhecida como decadentismo. Mas isso parece inaceitvel, pois as pessoas em geral no atribuem o mesmo valor a obras dessas, que so frequentemente repudiadas. Outra crtica suscitada pelos termos que muitos crticos de arte utilizam para avaliar obras de arte. Algumas obras so especialmente valorizadas pela sua profundidade ou por serem iluminantes. Outras so desvalorizadas por serem superficiais, ingnuas ou sentimentais. Ora, estes termos referem-se ao contedo veiculado por Oscar Wilde essas obras e no s suas caractersticas formais ou estruturais. (1854-1900). Mas se excluirmos estes termos da crtica de arte, ficamos sem saEsteta, ensasta ber como explicar de forma convincente por que razo certas obras e romancista irlands. tm mais valor do que outras. A chamada arte conceptual tambm levanta problemas ao esteticismo, pois muitas vezes nestas obras os aspectos formais so manifesta e assumidamente secundrios. Fonte, de Duchamp, uma das mais clebres obras de arte do sc. XX (ver imagem, pg. 43). Contudo, as suas caractersticas formais so exactamente iguais s de muitos outros objectos que no tm qualquer valor artstico. Se o esteticista tivesse razo, todos os urinis com as mesmas propriedades intrnsecas da Fonte deviam ter valor artstico. Mas ningum acha que tm. Logo, o esteticista no tem razo.
69
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 70
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Reviso
1. Formule o problema do valor da arte. 2. Distinga valor intrnseco de valor instrumental e d um exemplo de cada. 3. Qual a tese central das teorias autonomistas da arte? 4. Qual a tese central das teorias instrumentalistas da arte? 5. O que o esteticismo? 6. Reconstitua o argumento esteticista da indispensabilidade da arte. 7. Reconstitua o argumento esteticista da insubstituibilidade da arte. 8. Reconstitua o argumento esteticista sobre a diferena de valor artstico de obras com contedo idntico. 9. Explique a crtica ao esteticismo baseada nos termos que os crticos de arte usam para avaliar obras de arte. 10. Apresente um contra-exemplo ao esteticismo.
Discusso
11. Acha que se o contedo de uma obra de arte for imoral, isso lhe retira valor artstico? Porqu? 12. Concorda com o esteticista? Porqu?
Texto 35
Forma e Beleza
Oscar Wilde
[...] O verdadeiro artista aquele que passa no do sentimento forma, mas da forma ao pensamento e paixo. No concebe primeiro uma ideia, dizendo depois para si mesmo Vou pr esta ideia num complexo esquema mtrico de catorze versos, mas, conhecendo a beleza formal do soneto, concebe certos modos musicais e esquemas rimticos, e a forma em si que sugere o que dever preench-la e tornar intelectual e emocionalmente
70
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 71
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
completa. De vez em quando o mundo clama contra algum maravilhoso artista potico porque, para usar uma frase tola e batida, ele no tem nada a dizer. Mas se tivesse alguma coisa a dizer provavelmente a diria, e o resultado seria aborrecido. apenas porque no tem qualquer mensagem nova que ele capaz de produzir uma obra bela. Como qualquer outro artista, adquire inspirao da forma, e unicamente da forma. Uma paixo verdadeira lev-lo-ia runa. O que acontece na realidade estraga-se para a arte. Toda a m poesia deriva de um sentimento genuno.
Oscar Wilde, Intenes, 1891, trad. de Antnio Feij, p. 169
Interpretao
1. Explique o significado da seguinte afirmao: O verdadeiro artista aquele que passa no do sentimento forma, mas da forma ao pensamento e paixo. 2. Por que pensa Oscar Wilde que incorrecto acusar um artista por no ter nada a dizer?
Discusso
3. Concorda que a frase no tem nada a dizer acerca do artista tola? Porqu? 4. Toda a m poesia deriva de um sentimento genuno. Concorda? Porqu?
3. O valor instrumental da arte
H filsofos que pensam que a arte um meio para obter prazer, outros pensam que uma forma de comunicao, outros dizem ser um meio de unir as pessoas em torno de certos valores, outros consideram a arte uma forma de alargar o nosso conhecimento do mundo. O que tm estes filsofos em comum? A resposta que todos defendem o carcter instrumental da arte: que o valor da arte reside nos efeitos que produz. Vamos estudar trs das mais importantes teorias instrumentalistas: 1. Hedonismo 2. Moralismo 3. Cognitivismo
71
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 72
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Arte e prazer: hedonismo
Pensar que o valor da arte reside no prazer que nos proporciona , talvez, uma das ideias mais comuns. O raciocnio subjacente o seguinte: Se uma coisa proporciona prazer, tem valor. A arte proporciona prazer. Logo, a arte tem valor. Assim, a justificao para o valor da arte encontra-se no prazer que d. Esta teoria chamada hedonismo, pois os hedonistas defendem que a felicidade consiste apenas na obteno de prazer. O raciocnio anterior vlido, mas sero as suas premissas verdadeiras? Comecemos pela segunda premissa: A arte proporciona prazer. Para sabermos se verdadeira precisamos de esclarecer antes o que se entende exactamente por prazer. Podemos dizer que o prazer aqui tomado no sentido de divertimento. Nesse caso, a premissa simplesmente falsa, pois h muita arte que no diverte, exigindo at esforo e persistncia da nossa parte. Por exemplo, ningum diria que Empire, um filme de oito horas sem som, de Andy Warhol, diverte. Nem diramos que o Requiem, de Mozart, divertido. E o mesmo se passa com muitas pinturas, romances, peas de teatro e filmes que provocam em ns emoes negativas, como a tristeza, a angstia e o medo. A primeira premissa tambm levanta problemas, pois h muitas Fotograma do filme Empire (1964), coisas que divertem, como jogar s cartas ou pregar partidas aos de Andy Warhol (1928-87). O filme no tem som, dura oito horas e a amigos, mas que no tm um valor equiparvel ao da arte. H at forcmara est sempre parada a filmas de divertimento s quais em geral nem sequer se reconhece vamar o edifcio Empire State Buildlor. No deve, pois, ser esse o significado de prazer. ing de Nova Iorque. Ser que este filme importante porque proporComo vimos no Captulo 9, um hedonista como John Stuart Mill ciona prazer a quem o v? oferece uma perspectiva mais plausvel e sofisticada do prazer. Segundo ele, h dois tipos de prazeres: inferiores e superiores. Assim, o prazer proporcionado pela arte seria um prazer superior. Neste caso, razovel dizer que temos prazer ao ouvir o Requiem, ainda que isso no nos divirta. Do mesmo modo, o prazer de ler um romance triste e pessimista um prazer intelectual e no sensorial. Uma vantagem bvia da teoria hedonista explicar por que razo as pessoas associam arte a prazer, procurando mostrar que essa associao algo mais do que acidental.
Objeces ao hedonismo
O hedonista alega que as pessoas procuram muitas vezes a arte para obter prazer e que a arte que proporciona mais prazer geralmente mais valorizada. Mas, mesmo que seja verdade, isso no mostra que o valor da arte dependa do prazer que d. Tirar boas notas nos testes tambm algo que geralmente d prazer, mas no por dar prazer que
72
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 73
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
isso importante. O prazer pode contribuir para a importncia de tirar boas notas, mas seria na mesma importante tirar boas notas, mesmo que no desse prazer. O prazer no , pois, suficiente, para o valor de tirar boas notas. Analogamente, o prazer tambm no uma condio suficiente para o valor da arte. Outra dificuldade do hedonismo o facto de haver prazeres superiores, como o prazer de jogar xadrez ou o prazer de descobrir a soluo de um quebra-cabeas, sem que atribuamos a essas actividades um valor comparvel ao da arte. Por isso, o prazer no uma condio suficiente do valor da arte, mesmo quando falamos de prazeres superiores. O prazer tambm no uma condio necessria da arte. H obras de arte que dificilmente proporcionam qualquer tipo de prazer, sendo expressamente concebidas com o Vega-Gyongiy 2 (1971) de Victor Vasarely intuito de apenas despertar em ns certo tipo (1906-1997). Um exemplo da chamada Op Art de reaces emocionais. o caso de alguma (Arte ptica), na qual os efeitos pticos gerados arte de denncia social ou com preocupaes pelas formas e cores se limitam a estimular a nossa capacidade de percepo visual. ecolgicas. Tudo o que se pretende fazer as pessoas pensar em algo que consideramos importante. Finalmente, h obras de arte que apelam apenas s nossas faculdades sensveis, como o caso das pinturas da Op Art e de quase todas as artes decorativas. No seria justificado afirmar que o prazer proporcionado por estas obras de tipo superior. Assim, o hedonista falha na justificao do valor da arte.
Reviso
1. Apresente a tese central do hedonismo. 2. Apresente um contra-exemplo tese de que o valor da arte depende do divertimento proporcionado. 3. Apresente uma vantagem da teoria hedonista. 4. Reconstitua o argumento segundo o qual o prazer no uma condio suficiente do valor da arte. 5. Reconstitua o argumento segundo o qual o prazer no uma condio necessria do valor da arte.
73
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 74
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Discusso
6. Uma obra de arte d-me prazer, logo boa. Concorda? Justifique e d exemplos. 7. Ser que podemos ter prazer com obras de arte que nos provocam tristeza ou medo? Justifique e d exemplos.
Arte e comunicao
A ideia de que a arte uma forma de comunicao muito comum. Muitas pessoas referem-se msica, por exemplo, como uma espcie de linguagem universal que todos podem compreender. Contudo, ser uma forma de comunicao no , por si, uma boa justificao do valor da arte. H formas de comunicao s quais no se atribui um valor to elevado como o que geralmente se atribui arte. As cartas e as mensagens de correio electrnico so formas de comunicao, mas no por isso que merecem ser preservadas e expostas em galerias e museus. O que importa aquilo que comunicado. Assim, tambm no conseguimos justificar o valor da arte dizendo apenas que uma forma de comunicao. Precisamos de mostrar que aquilo que a arte comunica algo realmente importante e valioso, merecedor de ser apreciado e preservado. Nesse sentido, alguns filsofos alegam que a arte uma maneira de comunicar emoes. Mas, mesmo neste caso, ainda preciso mostrar por que razo comunicar emoes assim to valioso. Afinal, tambm podemos comunicar emoes atravs de mensagens de correio electrnico. Portanto, dizer que atravs da arte se comunicam emoes ainda insuficiente para justificar o seu valor.
Arte e moral: moralismo
Uma maneira de justificar o valor da arte, mantendo a ideia de que a arte uma forma de comunicao de emoes, consiste em mostrar que a comunicao de emoes desempenha uma importante funo moral. isso que Tolstoi tenta fazer, defendendo uma posio acerca do valor da arte que costuma ser designada por moralismo. Tolstoi comea por rejeitar a ideia de que o valor da arte consiste no prazer que proporciona. E rejeita tambm a ideia de que a arte tem valor em si. O artista, pensa Tolstoi, exprime determinado tipo de sentimentos que contagiam
Enterro Pobre
(1929), de Dominguez Alvarez (19061942). Para o moralista, a arte tem valor porque une as pessoas atravs dos mesmos sentimentos.
74
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 75
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
as pessoas e as impele a agir de acordo com eles. O que confere valor arte o tipo de sentimentos que o artista exprime, os quais devem contribuir para o progresso e bemestar da humanidade. A arte serve, portanto, como elo de ligao e de unio entre as pessoas. Sem arte, o mundo seria moralmente mais pobre, pois as pessoas estariam mais entregues a si mesmas, sem o sentimento de comunidade necessrio ao progresso moral da sociedade. Assim, a arte cumpre uma das funes mais nobres e elevadas que pode haver. Da o seu enorme valor. claro que Tolstoi sabia que havia romances e quadros onde no havia qualquer inteno de transmitir emoes positivas e que no contribuam para o progresso moral da humanidade. Mas achava que essas obras no eram arte. Defendia, portanto, que no havia boa e m arte: toda a arte boa. Os maus romances e os maus quadros nem sequer so arte.
Objeces ao moralismo
O moralismo conduz em geral ao seguinte dilema: ou a maior parte das obras de arte m, ou a maior parte das obras geralmente classificadas como arte nem sequer realmente arte. Plato defendia a primeira alternativa do dilema: defendia que a maior parte das obras de arte m porque, ao imitar as coisas e apelar s emoes, nos afasta da verdade e da razo, podendo mesmo ser perigosa. Tolstoi defendia a segunda alternativa do dilema. Mas se, por um lado, a maior parte das obras de arte m, no se percebe por que razo a arte em geral tem valor. E se, por outro lado, a maior parte das obras nem sequer arte, ento deixamos de explicar o que queramos explicar o valor daquilo que geralmente classificado como arte. Em qualquer dos casos as consequncias so inaceitveis. Confrontado com o facto de haver romances, pinturas e peas musicais sem qualquer contedo moral ou emocional, Tolstoi declara que se trata de falsas obras de arte, ou de obras de arte falhadas. Mas isso leva-o a incluir entre elas muitas obras consideradas obras-primas, nomeadamente algumas peas de Shakespeare, pinturas de Miguel ngelo, peras de Wagner e at os seus prprios romances O Nascimento de Vnus (1843), de Sandro Botticelli (1445-1510). Ser que esta obra-prima da pintura Guerra e Paz e Ana Karenina. Ora parece inaceitvel ocidental valiosa porque tem uma funo moral? no reconhecer qualquer valor a obras de arte que so geralmente consideradas obras-primas. Se nos recusarmos a excluir da arte todas aquelas obras que so geralmente reconhecidas como tal, ento facilmente verificamos que h obras de arte cujo contedo , inclusivamente, imoral, mas s quais reconhecemos um grande valor artstico. Um bom exemplo disso o romance Lolita, de Vladimir Nabokov, o qual descreve o universo de uma personagem moralmente pouco recomendvel que os leitores so magistralmente levados a tolerar.
75
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 76
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Reviso
1. Por que razo dizer que a arte uma forma de comunicao no suficiente para justificar o seu valor? 2. O que o moralismo? 3. Por que razo os romances imorais, de acordo com Tolstoi, no so arte? 4. Explique a crtica ao moralismo segundo a qual este nos coloca perante um dilema. 5. Explique a crtica segundo a qual o moralismo de Tolstoi tem consequncias inaceitveis. 6. Apresente um contra-exemplo ao moralismo.
Discusso
7. Se um romance contiver ideias imorais, no tem qualquer valor artstico. Concorda? Porqu?
Arte e conhecimento: cognitivismo
Apesar de ser verdade que h obras de arte que proporcionam prazer e que servem para unir as pessoas num mesmo sentimento, isso no explica totalmente por que razo a arte em geral valiosa. Ser que a arte uma coisa valiosa porque alarga o conhecimento? H quem defenda que precisamente o facto de alargar o conhecimento que torna a arte valiosa. Chama-se cognitivismo teoria que defende esta posio. Cognitivismo deriva da palavra latina cognitione, que significa conhecimento. O cognitivismo apresenta uma grande vantagem em relao s teorias anteriores. Essa vantagem consiste no facto de o conhecimento ser muitssimo valorizado em geral. O elevado estatuto de que goza a cincia decorre exactamente disso, segundo esta teoria. A cincia produz conhecimento, por isso tem um grande valor, justificando os esforos e investimentos que se fazem para o seu desenvolvimento. O prazer nem sempre assim valorizado, havendo mesmo certos prazeres cujo valor posto em causa por muitas pessoas. E os eventuais valores morais que uma obra possa transmitir nem sempre so partilhados por todos. Por isso, o cognitivismo esttico pode ser uma boa teoria se conseguir explicar de que maneira a arte aumenta o conhecimento. Um dos mais destacados defensores do cognitivismo, o filsofo americano Nelson Goodman (1906-1998), escreve no livro Modos de Fazer Mundos que as artes no devem ser levadas menos a srio do que as cincias como modos de descoberta, criao e alargamento do conhecimento no sentido amplo do avano da compreenso. Se assim for, o valor da arte nunca menor do que o das prprias cincias.
76
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 77
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
Mas como conseguem um quadro, uma msica ou um poema alargar o conhecimento? Mesmo que seja verdade que algumas obras de arte, como pinturas e romances, contenham informao importante, da no se segue que as pessoas consigam aprender algo com todas as obras de arte. simplesmente errado afirmar que o contedo de muitos poemas e peas musicais pode ser verdadeiro ou falso, como sucede com o contedo das teorias cientficas. Contudo, como Goodman sublinha, isso s assim se encararmos o contedo das obras de arte em sentido literal. S que a arte no funciona desse modo. A arte funciona de modo simblico, metafrico e no literal. Alm disso, o conhecimento nem sempre uma questo de ter crenas verdadeiras. A deteco, recoGala 1 (2005), acrlico sobre tela de Sofia Leito (n. nhecimento e classificao de padres tambm so 1977). Para o cognitivista, a arte influencia o modo actividades cognitivas e afectam, inclusivamente, as como percepcionamos o mundo, levando-nos a descobrir novas maneiras de classificar, imaginar e pennossas crenas. Muitas das sensaes visuais, auditisar as coisas. vas, tcteis, que a arte provoca e que fazem parte da nossa actividade mental, acabam por reorientar o olhar, a audio, o tacto, levando-nos a novas maneiras de ver, ouvir, sentir, imaginar e pensar. Assim, a arte influencia a forma como vemos, sentimos e pensamos as coisas. Peas musicais aparentemente destitudas de significado, como as repeties quase hipnticas da msica minimalista, podem ter valor cognitivo, na medida em que so um estmulo nossa percepo, fazendo-nos perceber aquilo que de outra maneira passaria despercebido. A arte pode assim contribuir para alargar o nosso entendimento, pois explora e enriquece muitos aspectos da experincia humana.
Objeces ao cognitivismo
A mais importante objeco ao cognitivismo baseia-se no que j foi referido a favor do esteticismo: se os cognitivistas tivessem razo, as obras de arte no seriam indispensveis e insubstituveis. Por um lado, uma vez visto e aprendido o que tm para nos mostrar e ensinar, as obras de arte tornar-se-iam dispensveis. Por outro lado, h com certeza muitas outras coisas com as quais podemos treinar e desenvolver as nossas capacidades de percepo, levando-nos a novas formas de ver, ouvir e pensar. o que acontece quando, por exemplo, observamos com todo o interesse certos aspectos da natureza, como as subtis cambiantes de cores das flores na primavera, os tons outonais das folhas e o contraste de luz e sombra de um bosque, ou a gama de sons produzidos pelos pssaros numa floresta. Estas experincias seriam, assim, substitutos adequados de muitas obras de arte. Outra objeco que muitas obras de arte so concebidas sem ter em vista qualquer efeito cognitivo e sem pretender desenvolver as nossas capacidades de percepo. Por exemplo, uma simples e delicada pea de cermica pode ser um belo objecto de arte, sem ter nada realmente importante para nos ensinar.
77
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 78
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Reviso
1. O que o cognitivismo? 2. Indique uma das principais vantagens do cognitivismo. 3. De acordo com Goodman, em que sentido a arte pode fazer alargar o conhecimento? 4. Apresente a crtica da dispensabilidade e substituibilidade das obras de arte apontada ao cognitivismo. 5. Apresente um possvel contra-exemplo ao cognitivismo.
Discusso
6. Podemos aprender com a arte mesmo sem saber o que aprendemos. Concorda? Justifique. 7. Dado que h arte, como a msica instrumental, que no representa algo, nada podemos aprender com ela. Concorda? Justifique.
Texto 36
Arte e Prazer
Jeremy Bentham
Tomadas em conjunto, e consideradas na sua conexo com a felicidade da sociedade, as artes e cincias podem ser arrumadas em duas divises: 1) As do divertimento e curiosidade; 2) As da utilidade, imediata ou remota. [...] Por artes e cincias do divertimento entendo as que so vulgarmente chamadas belas artes, como a msica, poesia, pintura, escultura, arquitectura, jardinagem ornamental, etc. [...] O hbito fora-nos, de certa maneira, a fazer a distino entre as artes e cincias do divertimento e as da curiosidade. No , contudo, adequado olhar para as primeiras como destitudas de utilidade; pelo contrrio, nada h cuja utilidade seja mais incontestada. Ao que h-de atribuir-se o carcter de utilidade, seno ao que fonte de prazer? Tudo o que se pode alegar para diminuir a sua utilidade que se limitam excitao do prazer: no dispersam as nvens da tristeza e do infortnio. So inteis para aqueles que no esto satisfeitos com elas; so teis apenas para aqueles que retiram prazer delas, e s na medida da satisfao que retiram.
78
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 79
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
Por artes e cincias da curiosidade entendo as que na verdade so aprazveis, mas no no mesmo grau que as belas artes, e s quais poderamos primeira vista ser tentados a negar essa qualidade. No que estas artes e cincias da curiosidade no proporcionem tanto prazer aos que as cultivam como as belas artes; mas o nmero daqueles que as estudam mais limitado. Desta natureza so as cincias da herldica, das medalhas, da pura cronologia, o conhecimento das lnguas antigas e brbaras, as quais apenas apresentam coleces de palavras estranhas, e o estudo de antiguidades, j que no fornecem qualquer ensinamento aplicvel moralidade. [...] A utilidade de todas estas artes e cincias falo tanto das do divertimento como das da curiosidade , o valor que tm, exactamente proporcional ao prazer que oferecem. Qualquer outra espcie de superioridade que se possa tentar estabelecer entre elas completamente fantasiosa. Preconceitos parte, o jogo das pacincias tem igual valor ao das artes e cincias da msica e poesia. Se o jogo das pacincias proporciona mais prazer, mais valioso do Jeremy Bentham que qualquer das duas. [...] Se a poesia e a msica merecem ser preferidas ao (1748-1832). Filsofo e jurista ingls, fundador jogo das pacincias, tem de ser porque esto concebidas de modo a agradar do utilitarismo. aos indivduos a quem mais difcil agradar. [...] Assim a espcie de utilidade que se encontra indiscriminadamente em todas as artes e cincias. Fosse esta a nica razo, seria razo suficiente para desejar v-las florescer e receber a mais ampla difuso.
Jeremy Bentham, A Recompensa Aplicada Arte e Cincia, 1825, trad. de Aires Almeida, pp. 149-151
Interpretao
1. Em que consiste, segundo Bentham, a utilidade das artes e cincias do divertimento? 2. Por que diz Bentham que as artes e cincias da curiosidade no so aprazveis no mesmo grau que as belas artes? 3. Que justificao pode haver, segundo Bentham, para preferir a msica e a poesia ao jogo das pacincias?
Discusso
4. O jogo das pacincias tem igual valor ao das artes e cincias da msica e poesia. Concorda? Justifique. 5. Se a arte d prazer, ento til. Se til, ento tem valor. A arte d prazer. Logo, a arte tem valor. Acha este argumento bom? Porqu?
79
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 80
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Texto 37
Arte e Progresso Moral
Leo Tolstoi
[...] , antes de mais, necessrio deixar de considerar [a arte] um meio para o prazer e consider-la uma das condies da vida humana. Vista deste modo, impossvel deixar de reparar que a arte um dos meios de as pessoas se relacionarem. Toda a arte faz aquele que a aprecia entrar num certo tipo de relao, quer com aquele que a produziu ou est produzindo, quer com todos aqueles que simultnea, prvia ou posteriormente recebem a mesma impresso artstica. Tal como as palavras, que ao transmitir pensamentos e experincias das pessoas, servem como um meio de unio entre elas, tambm a arte actua de forma semelhante. A particularidade desta ltima forma de relacionamento, e que a distingue do tipo de relacionamento por meio de palavras, consiste nisto: enquanto por meio de palavras uma pessoa transmite a outra os seus pensamentos, pela arte transmite as suas emoes. [...] A arte uma actividade humana que consiste nisto: em uma pessoa conscientemente, por intermdio de certos sinais externos, levar a outras pessoas sentimentos de que teve experincia e que estas sejam contagiadas por tais sentimentos e deles tenham tambm experincia. A arte no , como os metafsicos dizem, a manifestao de alguma misteriosa ideia de belo ou de Deus; no , como os psiclogos estticos dizem, um jogo que serve para se descarregar o excesso de energia acumulada; no apenas a expresso das emoes de uma pessoa atravs de sinais externos; no a produo de objectos que agradem; e, acima de tudo, no prazer; mas um meio de unio entre pessoas, unindo-as nos mesmos sentimentos, e indispensvel vida e ao progresso em direco ao bem-estar dos indivduos e da humanidade.
Leo Tolstoi, O Que a Arte?, 1898, trad. de Aires Almeida, Cap. 5
Interpretao
1. Tolstoi diz que a arte um dos meios de as pessoas se relacionarem. Que tipo de relao essa e qual a sua funo? 2. Por que pensa Tolstoi que a arte indispensvel vida e ao progresso em direco ao bem-estar dos indivduos e da humanidade? 3. No ltimo pargrafo Tolstoi indica vrias coisas que a arte no . Quais so as teorias do valor da arte estudadas a que Tolstoi se refere?
80
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 81
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
Discusso
4. A arte um meio de unio entre as pessoas. Concorda? Porqu?
Texto 38
O Valor Cognitivo da Arte
Nelson Goodman
O uso de smbolos para alm da necessidade imediata faz-se em nome da compreenso e no da prtica; o que compele a nsia de conhecer, o que delicia a descoberta e a comunicao secundria relativamente apreenso e formulao do que se comunica. O objectivo principal a cognio em si e para si; o carcter prtico, o prazer, a compulso e a utilidade comunicativa dependem todas deste objectivo. A simbolizao , pois, avaliada fundamentalmente em funo de como serve o propsito cognitivo: pela subtileza das suas distines e pela justeza das suas aluses; pelo modo como apreende, explora e d forma ao mundo; pelo modo como analisa, categoriza, ordena e organiza; pelo modo como participa na produo, manipulao, reteno e transformao do conhecimento. Consideraes de simplicidade e subtileza, poder e preciso, mbito e selectividade, familiaridade e inovao so igualmente relevantes, rivalizando frequentemente entre si; o seu peso relativo aos nossos interesses, informao e investigao. Isto tudo o que h a dizer sobre a eficcia cognitiva da simbolizao em geral, mas que dizer da excelncia esttica em particular? [...] A subsuno do esttico sob a excelncia cognitiva exige que mais uma vez se recorde que o cognitivo, apesar de contrastar tanto com o prtico como o passivo, no exclui o sensorial ou o emotivo, que o que conhecemos atravs da arte tanto se sente nos ossos, nervos e msculos como apreendido pela mente, que toda a sensibilidade e resposta do organismo participa na inveno e interpretao de smbolos.
Nelson Goodman, Linguagens da Arte, 1968, trad. de Vtor Moura et al., pp. 271-272
Contextualizao
Goodman defende que a arte uma das formas de simbolizao, pelo que toda
a arte simbolizao.
Interpretao
1. Qual , segundo Goodman, o objectivo principal da simbolizao? 2. Em que consiste na prtica a funo cognitiva da simbolizao?
81
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 82
PARTE 5
A DIMENSO ESTTICA
Discusso
3. O que conhecemos atravs da arte sente-se nos ossos, nervos e msculos, diz Goodman. Acha que podemos chamar conhecimento a isso? Porqu? 4. A comunicao secundria na simbolizao da arte. Concorda? Porqu?
Estudo complementar
Goodman, Nelson (1968) A Arte e a Compreenso in Linguagens da Arte: Uma Abordagem a Uma Teoria dos Smbolos. Trad. de Vitor Moura et al. Lisboa: Gradiva, 2006, Cap. III. Graham, Gordon (1997) Filosofia das Artes: Introduo Esttica. Trad. de Carlos Leone. Lisboa: Edies 70, 2001, Caps. 1-3. Wilde, Oscar (1891) Intenes: Quatro Ensaios Sobre Esttica. Trad. de Antnio Feij. Lisboa: Cotovia, 1992.
Taylor, Paul (1998) Arte e Verdade. Trad. de Paulo Sousa. Crtica, 2004, http://www.criticanarede.com/html/arteeverdade.html.
82
67-83
2007.04.01
17:31
Pgina 83
A arte: produo, consumo, comunicao e conhecimento
Captulo 14
Em que consiste o valor da arte?
A arte tem valor intrnseco. TEORIAS AUTONOMISTAS
A arte tem valor em virtude dos efeitos valiosos que produz. TEORIAS INSTRUMENTALISTAS
ESTETICISMO O valor da arte reside nas suas propriedades formais (beleza).
HEDONISMO A arte tem valor porque proporciona prazer.
MORALISMO A arte tem valor porque tem uma funo moral.
COGNITIVISMO A arte tem valor porque alarga o conhecimento.
83
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 84
Optar pela Parte 5 (Esttica) ou pela Parte 6 (Religio)
A DIMENSO RELIGIOSA
Anlise e compreenso da experincia religiosa
Captulo 15. A religio e o sentido da existncia, 85 Captulo 16. As dimenses pessoal e social das religies, 101 Captulo 17. Religio, razo, f, 113
Dia de Deus, de Paul Gauguin (1848-1903). Muitas disciplinas cientficas, como a histria, a sociologia ou a psicologia, contribuem para compreender a religio. A filosofia ocupa-se da religio de uma perspectiva diferente. No se pergunta, por exemplo, como evoluiu a ideia de Deus. Pergunta-se antes se temos boas razes para acreditar em Deus ou se far sentido avaliar racionalmente a f em Deus. A filosofia da religio no diz respeito a questes factuais, mas sobretudo a questes de justificao.
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 85
Captulo 15
A religio e o sentido da existncia
1. O problema do sentido da vida
Ao longo da histria da humanidade, surgiram e desapareceram imuitssimas religies. Hoje em dia, de acordo com estatsticas de 2005, o cristianismo, o islamismo, o hindusmo e o budismo so as religies predominantes. Cerca de 33% da populao mundial crist, 21% islmica, 14% hindu e 6% budista. Cerca de 16% da populao mundial no tem religio. O restante 10% pertence a outras religies com cerca de Seces 0,22% de crentes judaicos.
1. O problema do sentido da vida, 85 2. Uma resposta religiosa, 88 3. Crticas resposta religiosa, 92
Textos
PRINCIPAIS GRUPOS RELIGIOSOS (percentagem da populao mundial)
39. Confisso, 90 Leo Tolstoi 40. O Absurdo, 96 Thomas Nagel Objectivos Compreender o problema do sentido da vida. Compreender a resposta testa ao sentido da vida. Compreender as crticas resposta testa. Assumir uma posio filosfica sobre a resposta testa. Conceitos Sentido da vida, finalidade, finitude. Transcendncia, imanncia. Finalidade instrumental, finalidade ltima.
Cristianismo 33%
Islamismo 21% Hindusmo 14%
Outras 10%
Sem religio 16% Budismo 6%
Dados de 2005 recolhidos por adherents.com
85
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 86
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Muitas pessoas consideram que as suas crenas religiosas so independentes do sentido que do vida tal como uma aco ou no moralmente correcta independentemente da existncia de um deus. Contudo, outras pessoas consideram que a religio responde significativamente ao problema do sentido da vida. As respostas religiosas ao problema do sentido da vida diferem de religio para religio. Por exemplo, a religio budista defende que a finalidade da vida a libertao do ciclo de reencarnaes, atingindo assim o nada, que a verdadeira realidade tudo o resto iluso. Neste captulo vamos estudar uma influente resposta crist ao problema do sentido da vida, defendida por Leo Tolstoi (1828-1910), e as respectivas crticas. Antes, porm, vamos esclarecer o prprio problema do sentido da vida.
Condies para o sentido
O que se entende exactamente por sentido da vida ou sentido da existncia? O que significa dizer que a vida humana tem sentido, ou que no tem sentido? Antes de tentar saber se a existncia de um deus necessria ou suficiente para que a vida tenha sentido, temos de compreender estas questes. Para isso, vamos recorrer a uma histria antiga. a histria de Ssifo. Esta histria faz parte da mitologia grega. Ssifo era um rei da Corntia que, por ter trado os segredos dos deuses, foi condenado a uma pena estranha. Depois de morrer, foi condenado a passar a eternidade no mundo dos mortos, a que os gregos chamavam Hades, a cumprir uma desagradvel tarefa: empurrar uma pedra enorme at ao cimo de uma montanha. Mas quando estava quase a chegar ao seu destino, a pedra caa pela montanha abaixo. E Ssifo tinha de voltar a tentar uma e outra vez, para sempre. A existncia de Ssifo parece terrivelmente absurda ou sem sentido. Mas porqu? Uma das razes que a sua vida um esforo inglrio: Ssifo nunca consegue alcanar a sua finalidade. Mas ser que se Ssifo alcanasse a sua finalidade, a sua vida teria sentido? Aparentemente, no pois carregar pedras para o cimo de uma montanha no tem qualquer valor. Para que essa actividade desse sentido vida de Ssifo, a prpria actividade teria de ter valor. A anlise do mito de Ssifo permite-nos concluir que h trs condies necessrias para que uma actividade tenha sentido: 1. A actividade tem de ter uma finalidade (a que tambm se chama propsito ou objectivo). 2. Essa finalidade tem de ser alcanvel. 3. Essa finalidade tem de ter valor. Apesar de a vida de Ssifo ter uma finalidade, no tem sentido por dois motivos: porque nunca a consegue alcanar (nunca consegue chegar ao cimo do monte com a pedra); e porque, mesmo que conseguisse, isso no teria valor algum.
86
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 87
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
A finalidade de algo a razo pela qual essa coisa foi feita. Raramente ou nunca nos entregamos a actividades sem que tenhamos uma finalidade em mente. A Ana pode passar horas a saltar corda e isso pode parecer absurdo ao Mrio. Mas ela salta corda porque isso lhe d prazer; no salta corda sem qualquer finalidade. Acontece apenas que a sua finalidade unicamente o prazer de saltar corda. Claro que o Mrio pode pensar que saltar corda no tem qualquer valor, por mais prazer que d Ana. Nesse caso, o Mrio vai pensar que saltar corda no tem sentido. O problema do sentido da vida anlogo ao problema do sentido de cada actividade em particular. S que agora no se trata de saber se uma determinada actividade tem sentido. Trata-se de saber se a nossa vida, no seu todo, tem alguma finalidade, ou mais de uma; se tal finalidade alcanvel; e se tem valor.
Reviso
1. Formule o problema do sentido da vida. 2. Explique o significado do mito de Ssifo. 3. Indique o valor de verdade de cada uma das seguintes afirmaes e justifique a sua resposta: 1) Para uma vida ter sentido no basta ter uma finalidade. 2) Para uma vida ter sentido basta ter uma finalidade que possa ser atingida. 3) Uma vida com sentido pode ter vrias finalidades.
Discusso
4. Imagine-se algum que desempenha uma importante tarefa de coordenao numa operao de ajuda internacional, que est a salvar a vida de centenas de pessoas por dia. Mas imagine-se igualmente que essa pessoa desempenha a sua tarefa sem qualquer entrega pessoal, sem qualquer interesse, de forma mecnica e aborrecida. A actividade dessa pessoa tem uma finalidade (ajudar a salvar vidas humanas); essa finalidade alcanvel; e tem evidentemente valor. Contudo, pode-se defender que a sua actividade no tem sentido, precisamente porque ela no se entrega activamente s suas funes. Concorda? Porqu? 5. A vida faz sentido desde que as nossas finalidades sejam importantes para ns prprios. Concorda? Porqu? 6. Imagine-se que a finalidade principal da vida de uma pessoa acabar com a fome no mundo, mas que no a conseguiu atingir, apesar de ter conseguido salvar muitas pessoas de morrer fome. Ser que a sua vida no teve sentido? Porqu?
87
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 88
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
2. Uma resposta religiosa
A resposta de Tolstoi ao problema do sentido da vida tem duas componentes principais: uma negativa e outra positiva. A componente negativa procura estabelecer a seguinte proposio:
Se Deus no existe, a vida no faz sentido.
A componente positiva procura estabelecer a seguinte proposio:
Se Deus existe, a vida faz sentido.
Juntando as duas proposies, obtemos a seguinte proposio:
A vida faz sentido se, e s se, Deus existe. Ou seja, Tolstoi defende que a existncia de Deus uma condio necessria e suficiente para que a vida tenha sentido. O que est em causa no argumentar a favor da existncia de Deus com base no sentido da vida, mas antes argumentar a favor de uma conexo entre a existncia de Deus e o sentido da vida. a defesa desta conexo, e respectivas crticas, que iremos agora estudar. Os argumentos tradicionais a favor da existncia de Deus sero estudados no Captulo 17.
Morte e impermanncia
Comecemos pela componente negativa da resposta de Tolstoi. Todos estaremos mortos daqui a apenas cem anos. E mesmo os grandes artistas, filsofos ou cientistas que sero recordados daqui a cem anos sero esquecidos daqui a um milho de anos. A Terra e o prprio sistema solar acabaro por desaparecer e nada permanecer da humanidade. Tolstoi defende que a mortalidade e impermanncia humanas anulam o sentido da nossa vida. A mortalidade anula o sentido porque todos estaremos mortos daqui a algum tempo. A impermanncia anula tudo o que fazemos porque tudo acabar por desaparecer. Mesmo que ajudemos os outros, que criemos um mundo melhor, mais belo e mais justo, mesmo que sejamos imensamente felizes, nada disso
Sombra da Morte, de William Holman Hunt (1827-1910). Ser a morte incompatvel com o sentido da vida? Tolstoi responde afirmativamente a esta pergunta. Mas os crticos argumentam contra esta posio.
88
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 89
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
restar daqui a um milho de anos. E Tolstoi defende que, por causa disso, a vida mortal no tem sentido, faamos ns o que fizermos. Tolstoi no defende que no podemos ser pessoas felizes e realizadas. claro que algumas pessoas vivem muito angustiadas e infelizes, e nessas situaes questionam o sentido da sua vida. Mas Tolstoi defende que mesmo uma vida mortal completamente feliz, realizada, produtiva e estimulante desprovida de sentido porque a pessoa acabar por morrer e todas as suas obras acabaro tambm por desaparecer. Assim, Tolstoi defende as seguintes proposies: T1. Se formos mortais, a vida no tem sentido. T2. Se nada do que fazemos permanente, nada do que fazemos tem sentido. O que est em causa argumentar que sem um deus que garanta a imortalidade da nossa alma e a permanncia do que fazemos, a vida no faz sentido.
Imortalidade e finalidade
A componente positiva da resposta de Tolstoi ao problema do sentido da vida tem dois elementos. Por um lado, afirma que Deus nos criou com uma alma imortal; por outro, que ir recompensar-nos ou castigar-nos, em funo do modo como vivermos a vida. Porque temos uma alma imortal, no seremos reduzidos a nada. E porque seremos recompensados, vivendo em eterna felicidade ou em eterno tormento, o que agora fazemos ganha permanncia, marcando para sempre a nossa existncia aps a morte. Os seres humanos tm assim uma finalidade: cumprir a lei de Deus. Assim, Tolstoi defende a seguinte proposio: T3. Se temos uma alma imortal e se Deus nos criou com uma finalidade, a vida humana tem sentido. Deste ponto de vista, a prpria experincia humana da finitude provoca uma abertura transcendncia. A ideia que ao descobrir que somos mortais e que tudo o que fizermos acabar por desaparecer, somos levados a pensar que o sentido da nossa vida no pode ser imanente, ou seja, inerente prpria vida terrena e mortal. Por outras palavras, o sentido da vida no pode estar na prpria vida, mas apenas para l dela. A resposta de Tolstoi objectivista. No se trata de defender que Deus, a imortalidade e o paraso so meras iluses emocionalmente reconfortantes, independentemente de serem verdadeiras ou falsas. Tolstoi defende que estes so aspectos reais das coisas. Se a sua resposta fosse subjectivista, seria como defender que o sentido da vida apenas viver uma vida de ilusria esperana ou mentira. Nesse caso, a resposta de Tolstoi no seria diferente de defender que o sentido da vida viver permanentemente drogado, por exemplo, ou ligado a uma mquina de prazer. O que est em causa para Tolstoi argumentar que a existncia de Deus d sentido vida porque nesse caso temos almas imortais e uma finalidade.
89
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 90
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Reviso
1. Explique os problemas da mortalidade e da impermanncia. 2. Explique quais so os dois elementos positivos da resposta de Tolstoi ao problema do sentido da vida. 3. Que proposies defende Tolstoi, no que respeita ao sentido da vida? 4. Quais so as negaes das proposies T1, T2 e T3?
Texto 39
Confisso
Leo Tolstoi
Muito bem, sers mais famoso do que Gogol, Pushkin, Shakespeare, Molire, mais famoso do que todos os escritores do mundo e depois? E eu no encontrava resposta absolutamente nenhuma. [] E isto estava a acontecer-me quando tudo indicava que se devia considerar que eu era um homem completamente feliz; isto aconteceume quando no tinha ainda cinquenta anos. Tinha uma mulher bondosa e dedicada que eu amava, bons filhos e bens que cresciam sem qualquer esforo da minha parte. Era mais do que nunca respeitado por amigos e conhecidos, elogiado por estranhos, e podia dizer sem qualquer iluso que gozava de uma certa celebridade. Alm disso, no estava sem sade fsica nem mental; pelo contrrio, gozava de um vigor fsico e mental que raramente encontrava em pessoas da minha idade. Fisicamente, podia acompanhar os camponeses no trabalho de campo; mentalmente, podia trabalhar entre oito a dez horas de seguida sem sofrer quaisquer efeitos do esforo. E nesta situao cheguei a um ponto em que no podia viver; e apesar de temer a morte tinha de usar ardis contra mim mesmo para no me suicidar. Leo Tolstoi, de Ilya [] Efimovich Repin (1844Eu no conseguia atribuir qualquer sentido racional a um nico acto -1930). Escritor russo, em toda a minha vida. O que me surpreendia era no ter compreendido Tolstoi foi tambm um pensador e um moralista; isso desde sempre. Toda a gente soubera sempre disso. A doena e a a sua Confisso (1882) foi morte, mais cedo ou mais tarde, acabariam por vir (na verdade, extremamente influente. aproximavam-se j), afectando toda a gente e eu prprio, e nada restaria excepto podrido e vermes. Os meus feitos, sejam eles quais forem, sero esquecidos mais cedo ou mais tarde, e eu prprio no existirei mais. Porqu, ento, fazer seja o que for?
90
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 91
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
Como pode algum no ver isto e viver? isso que espantoso! S possvel viver enquanto a vida nos intoxica; quando ficamos sbrios no podemos deixar de ver que tudo isto uma iluso, uma estpida iluso! E isto no divertido nem espirituoso; apenas cruel e estpido. [] A minha questo, a questo que me tinha conduzido beira do suicdio quando eu tinha cinquenta anos, era a questo mais simples que existe na alma de todos os seres humanos, da criana simplria ao mais sbio dos ancios, a questo sem a qual a vida impossvel; pois era o que eu sentia com respeito a isso. A questo esta: O que ser do que fao hoje e amanh? O que ser da minha vida inteira? Expresso de forma diferente, a questo pode ser: Por que hei-de viver? Por que hei-de desejar ou fazer seja o que for? Ou, de outra forma ainda: H algum sentido na minha vida que no seja destrudo pela minha morte, que se aproxima inevitavelmente? [] A resposta dada pelo conhecimento racional apenas uma indicao de que s se pode obter uma resposta formulando a questo de maneira diferente, isto , s quando a relao entre o finito e o infinito for introduzida na questo. Tomei tambm conscincia de que por mais irracionais ou pouco atraentes que fossem as respostas dadas pela f, tm a vantagem de introduzir em todas as respostas uma relao entre o finito e o infinito, sem a qual no pode haver resposta. Ponha eu como puser a questo de saber como viver, a resposta : de acordo com a lei de Deus. Haver algo de real que resulte da minha vida? Tormento eterno ou felicidade eterna. Que sentido h que no seja destrudo pela morte? A unio com o Deus infinito, o paraso.
Leo Tolstoi, Confisso, 1882, trad. de Desidrio Murcho, pp. 27, 29-30, 34-35, 60
Contextualizao
Consulte uma enciclopdia para saber quem foram Gogol, Pushkin, Shakespeare e Molire.
Interpretao
1. O que quer o autor dizer com a pergunta E depois? quando considera a possibilidade de ser muito famoso e bem sucedido? 2. Tolstoi era feliz quando colocou o problema do sentido da vida? Porqu? 3. Por que razo pensa Tolstoi que, de um ponto de vista mais alargado, a sua felicidade e sucesso no tm qualquer valor? 4. A que se refere Tolstoi quando fala da relao entre o finito e o infinito? 5. Qual o sentido da vida, segundo Tolstoi?
91
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 92
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Discusso
6. Ser importante saber que Tolstoi era feliz quando se viu perante o problema do sentido da vida? Porqu? 7. Se Tolstoi era feliz, totalmente irrelevante saber se, de um ponto de vista mais alargado, a sua vida tem ou no valor. O que conta que a vida de Tolstoi tem valor para Tolstoi. Concorda? Porqu? 8. Para responder ao problema do sentido da vida necessrio introduzir o tema da relao entre o finito e o infinito, defende Tolstoi. Concorda? Porqu? 9. O sentido da vida a unio com Deus, defende Tolstoi. Concorda? Porqu?
3. Crticas resposta religiosa
O futuro distante
Tolstoi defende que o facto de tudo o que fazemos ser impermanente impede a nossa vida de ter sentido. Como vimos, Tolstoi exprime esta ideia afirmando que os seus feitos sero esquecidos mais cedo ou mais tarde. Assim, Tolstoi defende que a nossa vida no tem sentido se num futuro muito distante nada restar de todos os nossos esforos, actividades e obras. Se tudo ser destrudo, defende Tolstoi, nada do que hoje fazemos ter qualquer importncia. A crtica a esta posio a seguinte: admitamos que porque tudo ser destrudo e esquecido no futuro distante, nada do que hoje fazemos ter importncia no futuro distante. Mesmo que isto seja verdade, por que razo o facto de nada ter importncia daqui a um milho de anos tem importncia para ns, agora? Se nada do que fazemos tem importncia daqui a um milho de anos, ento o que tem ou no importncia daqui a um milho de anos tambm no tem importncia para ns. Ou seja, o sentido da nossa vida no pode ser afectado pela importncia que algum, daqui a um milho de anos, atribui ou no nossa vida. Se a nossa vida tem sentido, no o perde s porque daqui a um milho de anos ningum d importncia nossa vida; e se a nossa vida no tem sentido, no o ganha s porque algum daqui a um milho de anos lhe d importncia.
A morte
Tolstoi poderia responder que o problema no realmente o facto de daqui a um milho de anos outros seres no valorizarem as nossas vidas; o problema o prprio facto de ns desaparecermos inevitavelmente se formos mortais. Falar do que acontecer daqui a um milho de anos s uma forma de dramatizar a nossa mortalidade. O impor-
92
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 93
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
tante que, mesmo daqui a cem anos, todos estaremos mortos. E esse facto que anula qualquer sentido que a nossa vida possa ter. Se no tivermos uma alma imortal, defende Tolstoi, a nossa vida no ter sentido. Contudo, os crticos respondem que se a nossa vida no tem sentido, no o ganha se a prolongarmos para sempre. E se tem sentido, no h qualquer razo para pensar que o perde s porque somos mortais. Afinal, se dar cabeadas na parede no tem sentido, no ganha sentido se o fizermos eternamente. E se o prazer de beber ch tem sentido, no o perde s porque no podemos beber ch eternamente.
Reviso
1. Exprima numa proposio condicional a posio de Tolstoi relativa relao entre o futuro distante e o sentido da vida. 2. Formule a crtica posio de Tolstoi relativa ao futuro distante. 3. Formule a crtica posio de Tolstoi relativa mortalidade.
Discusso
4. Se a nossa vida tem sentido, no o perde s porque daqui a um milho de anos ningum d importncia nossa vida. Concorda? Porqu? 5. Se a nossa vida no tem sentido, no o ganha s porque algum daqui a um milho de anos lhe d importncia. Concorda? Porqu? 6. Se a nossa vida no tem sentido, no o ganha se a prolongarmos para sempre. Concorda? Porqu? 7. Se a nossa vida tem sentido, no o perde s porque somos mortais. Concorda? Porqu? 8. Se formos mortais, a vida no faz sentido. Concorda? Porqu? 9. A vida tem sentido porque temos uma alma imortal. Concorda? Porqu?
A finalidade ltima
Nas nossas vidas h vrias cadeias de justificao interligadas: samos de casa para ir ao supermercado, vamos ao supermercado para comprar comida e comemos para viver. Chama-se finalidade instrumental ao que fazemos em funo de outra coisa. Chama-se finalidade ltima ao que fazemos em funo de si mesmo.
93
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 94
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Tolstoi defende que, porque somos mortais, todas as nossas cadeias de justificao ou finalidades acabam no nada. Samos de casa para ir ao supermercado, vamos ao supermercado para comprar comida, comemos para viver mas vivemos para qu? Tolstoi defende que se acabarmos todos por morrer, a vida no tem sentido porque nesse caso a vida no tem qualquer justificao ou finalidade ltima. A resposta ao sentido da vida, defende Tolstoi, no pode estar na prpria vida, mas sim para l dela. Os crticos, contudo, argumentam que esta posio insustentvel. H duas possibilidades apenas: ou a vida em si uma finalidade ltima, ou h algo de transcendente que a sua finalidade. No primeiro caso, o facto de sermos mortais irrelevante: a finalidade da nossa vida a prpria vida, a satisfao, realizao e estmulo que Praia das Mas, de Jos Malhoa (1855-1933). Tolstoi defende obtemos ao viver. que tudo vale nada se a vida no tiver uma finalidade que a transNo segundo caso, a finalidade da vida cenda. Mas os crticos defendem que uma tarde feliz no precisa de uma finalidade alm de si mesma para ter sentido. Afinal, a ideia outra coisa alm dela. Tolstoi sugere que a religiosa que no paraso teremos muitas tardes felizes. finalidade da vida viver no paraso. Mas qual a finalidade de viver no paraso? Se Tolstoi afirmar que h outra coisa que a finalidade de viver no paraso, comea uma regresso infinita pois podemos agora perguntar qual a finalidade dessa outra coisa. Entra-se numa regresso infinita quando se justifica A em termos de B, B em termos de C, C em termos de D, etc., sem que essa cadeia de justificaes seja esclarecedora. Tolstoi pode tentar escapar regresso infinita afirmando que viver no paraso uma finalidade ltima que no precisa de ter outra coisa como finalidade. Mas esta posio circular, pois Tolstoi comeou por afirmar que a vida no podia ser a sua prpria finalidade. Se a vida no pode ser a sua prpria finalidade, por que razo a vida no paraso pode ser a sua prpria finalidade? Tolstoi no pode argumentar que a vida no paraso um fim em si por ser imortal. No pode argumentar deste modo porque isso circular: pressupe o que est em discusso. O que est em discusso precisamente a questo de saber se s uma vida imortal pode ter sentido ou seja, se s uma vida imortal pode ser uma finalidade ltima. Um argumento circular quando pressupe o que devia demonstrar. Chama-se petio de princpio ou petitio principii aos argumentos circulares.
94
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 95
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
Tolstoi tambm no pode responder que a vida no paraso apenas a continuao de uma vida que j tinha sentido antes. Porque se a vida j tinha sentido antes do paraso, no h qualquer razo para pensar que o perde se formos mortais. Assim, a crtica resposta de Tolstoi a seguinte: Premissa 1: Ou a vida a sua prpria finalidade ou h outra coisa que a finalidade da vida. Premissa 2: Se a vida a sua prpria finalidade, a vida tem sentido apesar de ser mortal. Premissa 3: Nenhuma outra coisa pode ser a finalidade da vida, sob pena de regresso infinita ou circularidade. Concluso: Logo, a vida tem sentido, apesar de ser mortal. Este argumento dedutivo vlido.
Reviso
1. O que uma finalidade instrumental? Explique e d exemplos. 2. O que uma finalidade ltima? Explique e d exemplos. 3. Explique qual a posio de Tolstoi relativamente finalidade ltima da vida. 4. O que uma regresso infinita da justificao? D exemplos. 5. Explique a objeco da regresso infinita que o crtico apresenta a Tolstoi. 6. Explique a objeco da circularidade que o crtico apresenta a Tolstoi. 7. Dado que a crtica a Tolstoi um argumento dedutivamente vlido, poder a sua concluso ser falsa? Porqu?
Discusso
8. Se a vida a sua prpria finalidade, a vida tem sentido apesar de ser mortal. Concorda? Porqu? 9. Concorda com todas as premissas da crtica a Tolstoi? Porqu? 10. Se tudo acaba em nada, a nossa vida no tem sentido. Concorda? Porqu? 11. O argumento que resume a crtica posio de Tolstoi vlido. Mas ser um argumento cogente? Justifique.
95
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 96
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Texto 40
O Absurdo
Thomas Nagel
Diz-se por vezes que nada do que fazemos agora ter importncia daqui a um milho de anos. Mas se isso for verdade, ento nada do que acontecer daqui a um milho de anos ter igualmente importncia agora. Em particular, no importa agora que dentro de um milho de anos nada do que fazemos agora ter importncia. Alm disso, mesmo que o que agora fazemos tivesse importncia daqui a um milho de anos, como poderia isso impedir que as nossas preocupaes actuais fossem absurdas? Se o facto de serem importantes agora no suficiente para conseguir isso, como poderia o facto de serem importantes daqui a um milho de anos fazer alguma diferena? A questo de saber se o que agora fazemos ter importncia daqui a um milho de anos s poder fazer toda a diferena se o facto de ter importncia daqui a um milho de anos depender de ter importncia, sem mais. Mas, ento, negar que seja o que for que acontea agora ter importncia daqui a um milho de anos uma petio de princpio com respeito sua importncia, sem mais; pois nesse sentido no podemos saber que no ter importncia daqui a um milho de anos se (por exemplo) algum agora feliz ou miservel sem saber que no tem importncia, sem mais. O que dizemos para exprimir o absurdo das nossas vidas tem muitas vezes a ver com o espao e o tempo: somos minsculas partculas na vastido infinita do universo; as nossas vidas so meros instantes at numa escala geolgica, quanto mais numa escala csmica; estaremos todos mortos em breve. Mas claro que no pode ser qualquer destes factos evidentes que faz a vida ser absurda, se for absurda. Pois suponha-se que vivamos para sempre; no ser uma vida que absurda se durar setenta anos infinitamente absurda se durasse toda a eternidade? E se as nossas vidas so absurdas dado o nosso tamanho actual, por que razo seriam menos absurdas se abrangssemos todo o universo (seja por sermos maiores seja Thomas Nagel (n. por o universo ser mais pequeno)? A reflexo sobre a nossa pequenez e 1937). Americano de origem Jugoslava, Nagel brevidade parece estar intimamente ligada com a sensao de que a nossa um dos mais importantes vida no tem sentido; mas no claro qual a ligao. filsofos contemporneos, nas reas da tica e da Outro argumento inadequado o seguinte: porque vamos morrer, filosofia da mente. todas as cadeias de justificao tm de ser interrompidas no vazio: estudamos e trabalhamos para ganhar dinheiro para pagar vesturio, casa, diverso, comida e para nos sustentarmos ano aps ano, talvez para sustentar uma famlia e ter uma carreira mas com que fim ltimo? Tudo isto uma viagem elaborada que no conduz a lado algum. (Teremos tambm algum efeito sobre as vidas das outras pessoas, mas isso limita-se a reproduzir o problema, pois tambm elas iro morrer.)
96
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 97
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
H vrias respostas a este argumento. Em primeiro lugar, a vida no uma srie de sequncias de actividades em que cada uma delas tem como propsito outro membro qualquer da sequncia. As cadeias de justificao chegam repetidamente ao fim no seio da vida, e a questo de saber se o processo como um todo pode ter justificao no tem qualquer influncia na finalidade destas pontas finais. No preciso qualquer justificao complementar para que seja razovel tomar uma aspirina contra a dor de cabea, visitar uma exposio de um pintor que admiramos ou impedir uma criana de colocar a sua mo num fogo quente. No precisamos de um contexto mais vasto nem de um propsito complementar para impedir que estes actos no tenham objectivo. Mesmo que algum desejasse fornecer uma justificao complementar para fazer todas as coisas na vida que habitualmente encaramos como coisas que se justificam a si mesmas, tambm essa justificao complementar teria de parar algures. Se nada pode justificar a no ser que tenha justificao em termos de algo fora de si, que tambm tenha justificao, temos como resultado uma regresso infinita e nenhuma cadeia de justificao pode ser completa. Alm disso, se uma cadeia finita de razes no pode justificar coisa alguma, o que ganharamos com uma cadeia infinita, em que cada elo tem de ter justificao em algo exterior a si mesmo? Dado que as justificaes tm de chegar ao fim algures, nada ganhamos em negar que acabam onde parecem acabar, no seio da vida nem ganhamos seja o que for ao tentar subsumir as mltiplas e muitas vezes triviais justificaes comuns da aco sob um esquema de vida nico e controlador. Podemos satisfazer-nos com menos do que isso. De facto, por representar erradamente o processo de justificao, o argumento faz uma exigncia vcua. Insiste que as razes disponveis no seio da vida so incompletas, mas sugere desse modo que todas as razes que chegam ao fim so incompletas. Isto torna impossvel fornecer quaisquer razes.
Thomas Nagel, O Absurdo, 1971, trad. de Desidrio Murcho, pp. 11-13
Interpretao
1. O que defende o autor quanto relao entre o absurdo e a importncia do que fazemos daqui a um milho de anos? 2. Negar que seja o que for que acontea agora ter importncia daqui a um milho de anos uma petio de princpio com respeito sua importncia, afirma o autor. Porqu? 3. Formule os argumentos apresentados pelo autor a favor do absurdo baseados no espao e no tempo. 4. O autor defende que nem o facto de sermos minsculos escala csmica nem o facto de sermos mortais faz a vida ser absurda. Porqu?
97
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 98
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
5. Formule o argumento a favor do absurdo baseado nas cadeias de justificao. 6. Explique a primeira objeco do autor ao argumento baseado nas cadeias de justificao. 7. Explique a objeco da regresso infinita apresentada pelo autor. 8. O autor sugere que se todas as justificaes que chegam ao fim fossem incompletas, isso tornaria impossvel fornecer quaisquer razes. Porqu?
Discusso
9. Daqui a um milho de anos, nada do que agora fizermos ter qualquer importncia. Logo, a vida absurda. Concorda? Porqu? 10. Do ponto de vista csmico, somos totalmente irrelevantes. Ocupamos um canto obscuro de uma galxia entre bilies de galxias. Vivemos um curto espao de tempo, sem qualquer importncia csmica. Por isso, a nossa vida destituda de sentido. Concorda? Porqu? 11. Trabalhamos para ter dinheiro, queremos dinheiro para ter uma casa e um carro, queremos isso para ter conforto e queremos conforto para ter uma vida boa mas qual o sentido de ter uma vida boa? Se s nos espera o tmulo, to absurdo ter uma vida boa como ter uma vida m. Concorda? Porqu?
A religio d sentido vida?
SIM Perspectiva religiosa NO Crticas perspectiva religiosa
Nem a morte nem a impermanncia tiram sentido vida. Se a vida no tem sentido quando somos mortais, no ter sentido se formos imortais. Nenhuma finalidade exterior vida pode dar sentido vida.
A morte e a impermanncia tiram sentido vida. Deus d sentido vida porque oferece a imortalidade e uma finalidade.
98
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 99
A religio e o sentido da existncia
Captulo 15
Estudo complementar
Baier, Kurt (1957) O Sentido da Vida, in Textos e Problemas de Filosofia, org. de Aires Almeida e Desidrio Murcho. Lisboa: Pltano, 2006, Cap. 6. Kolak, Daniel e Martin, Raymond (2002) Sentido in Sabedoria sem Respostas. Trad. de Clia Teixeira. Lisboa: Temas e Debates, 2004, Cap. 12. Murcho, Desidrio (2006) Ssifo e o Sentido da Vida, in Pensar Outra Vez. Vila Nova de Famalico: Edies Quasi, Cap. 2. Nagel, Tomas (1987) O Sentido da Vida, in Que Quer Dizer Tudo Isto? Trad. de Teresa Marques. Lisboa: Gradiva, 1995, Cap. 10. Swinburne, Richard (1996) Mal Natural, in Ser Que Deus Existe? Trad. de Desidrio Murcho. Lisboa: Gradiva, 1998, Cap. 6.
@
Blackburn, Simon (2002) Desejo e Sentido da Vida, in Crtica, 2005, http://www. criticanarede.com/html/eti_desejosentido.html. Wolf, Susan (1998) O Sentido da Vida, in Crtica, 2004, http://www.criticanarede. com/html/met_sentidodavida.html.
99
84-100
2007.04.01
17:33
Pgina 100
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 101
Captulo 16
As dimenses pessoal e social das religies
1. O problema
Seces
A religio no um fenmeno meramente pessoal e privado. Aderir a uma religio significa adoptar comportamentos, prticas rituais e formas de culto, dogmas e crenas sobre aspectos importantes da realidade. Por isso, as religies influenciam profundamente a sociedade em que vivemos. Consequentemente, levanta-se a questo de saber se legtimo aceitar uma determinada crena religiosa em vez de outra qualquer ou nenhuma. Se a religio fosse um fenmeno meramente pessoal, esta questo no se levantaria. Por exemplo, preferir camisolas verdes em vez de azuis uma questo meramente privada. Apesar de influenciar a vida econmica, dado que faremos um certo tipo de escolhas ao comprar roupa, no tem qualquer influncia profunda na sociedade; nem envolve a aceitao de quaisquer crenas sobre aspectos importantes da realidade. Por isso, no faz sentido perguntar a algum que legitimidade tem para preferir camisolas verdes em vez de azuis; a sua preferncia meramente pessoal. Dado que as crenas religiosas no so meramente pessoais, em que condies eticamente permissvel aceit-las? Ser permissvel limitarmo-nos a aceitar as crenas religiosas da sociedade em que vivemos, ou da nossa famlia? Ou h uma tica da crena e temos o dever de avaliar criticamente as crenas religiosas que nos so transmitidas? Estas so as questes que iremos discutir neste captulo.
1. O problema, 101 2. A tica da crena, 102 3. O caso especial da crena religiosa, 108
Textos 41. Deveres para com a Humanidade, 106 W. K. Clifford 42. A Vontade de Acreditar, 110 William James
Objectivos Compreender a dimenso pessoal e social da crena religiosa. Compreender o debate sobre a legitimidade da crena religiosa. Assumir uma posio filosfica sobre o debate.
Conceitos Crente, agnstico, ateu.
101
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 102
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
2. A tica da crena
O filsofo e matemtico ingls William K. Clifford (1845-1879) defende que imoral acreditar naquilo para o qual no temos provas ou argumentos. imoral porque irracional. Por exemplo, se uma pessoa acreditar que h extraterrestres sem quaisquer provas, estar a cometer dois erros: em primeiro lugar, est a ser irracional porque acredita em algo sem provas; mas, alm disso, est tambm a ser imoral. Est a ser imoral por dois motivos. Primeiro, porque a sua atitude acabar por dar maus resultados. Mais cedo ou mais tarde, a sua falta de sentido crtico ir provocar catstrofes e sofrimento. Segundo, porque a sua atitude acabar por se transmitir a pouco e pouco restante sociedade, conduzindo-a barbrie. Para ilustrar a ideia de que imoral acreditar naquilo para o qual no temos provas ou argumentos Clifford usa o seguinte exemplo:
Um armador estava prestes a enviar para o mar o seu navio com emigrantes. Ele sabia que o navio era velho e que no tinha uma boa construo; que j tinha visto muitos mares e climas, e que precisava de reparaes constantes. Foi-lhe sugerido que o navio no tinha condies de navegabilidade. Estas dvidas assombravam-lhe o esprito e faziam-no infeliz; pensava que talvez devesse mandar inspeccionar e reparar o navio, apesar de isto lhe sair muito caro. Antes de o navio zarpar, todavia, conseguiu ultrapassar estas reflexes melanclicas. Disse de si para si que o navio tinha feito j tantas viagens em segurana e tinha aguentado tantas tempestades que era uma perda de tempo supor que no regressaria em segurana de mais esta viagem. Confiaria na Providncia, que dificilmente deixaria de proteger todas aquelas infelizes famlias que abandonavam a sua terra natal para procurar um futuro melhor noutro lado. Afastaria do seu esprito todas as suspeitas mesquinhas sobre a honestidade dos estaleiros. E deste modo adquiriu uma convico sincera e confortvel de que o seu navio era inteiramente seguro e tinha condies de navegabilidade; assistiu sua partida de corao ligeiro e com votos benevolentes pelo sucesso dos exilados no que seria o seu novo lar; e recebeu o dinheiro do seguro quando o navio se afundou no meio do oceano sem deixar sobreviventes.
W. K. Clifford, A tica da Crena, 1879, trad. de Desidrio Murcho, p. 70
Clifford defende que o armador culpado pela morte de todos os passageiros do navio. O facto de o armador acreditar sinceramente na solidez do navio irrelevante. O armador sabia que o navio estava velho e que precisava de constantes reparaes, e tinha sido alertado para o facto de precisar de manuteno. Afastar os indcios de que o navio precisava de manuteno e passar a acreditar genuinamente na solidez do navio no o torna menos culpado. O armador no tinha o direito de acreditar na solidez do navio, dada a informao de que dispunha. Agora imaginemos que afinal o navio tinha feito a viagem sem problemas. Ser que isto isenta o armador de qualquer responsabilidade ao acreditar na solidez do navio? Clifford
102
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 103
As dimenses pessoal e social das religies
Captulo 16
argumenta que no. irrelevante se o navio por acaso resistiu a mais uma viagem. O que importa a forma como o armador chegou sua crena de que o navio iria resistir a mais uma viagem. Dado que o armador sabia que o navio estava velho e dado que tinha sido alertado para o facto de precisar de manuteno, tinha o dever de investigar esses factos antes de acreditar no que quer que fosse. O facto de o navio ter resistido, por acaso, a mais uma viagem no torna o armador menos responsvel pelo modo irracional como adquiriu a sua crena na solidez do navio. Apenas teve sorte de o navio no se ter afundado. Assim, mesmo que o navio no tivesse naufragado, o armador seria eticamente culpado por ter uma crena sem fundamentos. Claro que neste caso no seria culpado pela morte dos passageiros do navio, uma vez que o navio no naufragou e ningum morreu. Mas seria culpado por colocar a vida dessas pessoas em risco ao acreditar na solidez do navio sem provas suficientes. Acreditar por sorte em algo verdadeiro, sem provas, to eticamente errado como acreditar em algo falso sem provas. O que est errado acreditar em algo sem provas, quer se acerte por acaso na verdade quer no. Dado que agimos em funo daquilo em que acreditamos, quando as nossas aces podem preMensagem do Mar, de John Everett Millais judicar algum temos o dever de avaliar cuidadosa(1829-1896). Ao acreditar sem provas suficientes na solidez do navio, o armador seria culpado pela mente a informao de que dispomos antes de morte de todos os passageiros e pelo sofrimento acreditarmos no que quer que seja. Mas e se as dos seus familiares. nossas aces no prejudicarem ningum? Ser que neste caso eticamente legtimo acreditar naquilo que mais nos convm? Imagine-se que o Joo acredita, sem qualquer prova que apoie a sua crena, que o estudante mais popular da escola. Ao acreditar nisto, o Joo tem uma vida mais feliz e no prejudica seja quem for. Ser que mesmo assim o Joo culpado por acreditar em tal coisa sem provas suficientes que apoiem a sua crena? Clifford defende que sim. Clifford pensa que todas as nossas crenas tm uma dimenso social; no h crenas que apenas digam respeito a quem as tem.
[...] Se me permitir acreditar em algo sem razes suficientes, pode ser que nada de grave advenha dessa crena; esta at pode revelar-se verdadeira, ou posso nunca ter a oportunidade de agir publicamente com base nela. Mas no posso evitar fazer um grande mal para com o Homem, ao tornar-me crdulo. O perigo para a sociedade no apenas o
103
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 104
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
de que se passe a acreditar em coisas erradas, apesar de isso ser em si bastante grave; o perigo que a sociedade se torne crdula, e que perca o hbito de testar as coisas e de inquirir a seu respeito; caso em que se afundar mais uma vez na selvajaria. [...] Em suma: sempre incorrecto, em qualquer parte e para qualquer pessoa, acreditar seja no que for sem provas suficientes.
W. K. Clifford, A tica da Crena, 1879, trad. de Clia Teixeira, pp. 76-77
Clifford pensa que, ao acreditar em algo sem provas suficientes, estamos a cometer uma falta para com a sociedade. Ao acreditar em algo sem provas corremos o risco de criar maus hbitos mentais que podero afectar a sociedade no seu todo. E se toda a gente se comportar dessa forma, perderemos a sociedade em que vivemos e regressaremos selvajaria. De modo que, de acordo com a tica da crena de Clifford:
S eticamente legtimo acreditar em algo se tivermos provas suficientes a seu favor.
No h frmulas para saber se as provas de que dispomos a favor de algo so ou no suficientes. Aquilo que Clifford defende que antes de acreditar em algo devemos investigar cuidadosamente se isso verdade, avaliando a informao relevante que encontrarmos. Assim, Clifford defende que a tica da crena obedece aos seguintes princpios: 1. Se temos provas suficientes a favor de algo, ento devemos acreditar que verdade. 2. Se temos provas suficientes contra algo, ento devemos acreditar que falso. 3. Se no temos provas suficientes nem a favor nem contra algo, ento devemos suspender a crena em relao a isso isto , no devemos acreditar que verdadeiro nem que falso. As crenas religiosas so como qualquer outro tipo de crena, e como tal, argumenta Clifford, devem respeitar estes princpios. Dado que no temos provas suficientes a favor da existncia de Deus, nem provas suficientes contra a sua existncia, devemos suspender a crena, isto , devemos ser agnsticos no devemos acreditar que Deus existe, nem que no existe. (No Captulo 17 iremos estudar alguns argumentos a favor e contra a existncia de Deus.) Um crente uma pessoa que acredita que Deus existe. Um agnstico uma pessoa que suspende a crena na existncia de Deus: nem acredita que Deus existe nem que no existe. Um ateu uma pessoa que acredita que Deus no existe.
104
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 105
As dimenses pessoal e social das religies
Captulo 16
Reviso
1. O que pretende Clifford ilustrar com o exemplo do armador no caso em que o navio naufraga? 2. Por que razo defende Clifford que o facto de o armador acreditar sinceramente na solidez do navio irrelevante? 3. Segundo Clifford, o armador seria culpado mesmo que o navio no tivesse naufragado? Porqu? 4. Por que acha Clifford que todas as crenas, mesmo as que tm boas consequncias, devem ser apoiadas por provas suficientes? 5. Por que razo defende Clifford que se acreditarmos em algo sem provas suficientes estamos a cometer um pecado perante a sociedade? 6. Por que razo defende Clifford que temos o dever de ser agnsticos em relao existncia de Deus? 7. Explique os trs princpios da tica da crena de Clifford, recorrendo a exemplos. 8. Determine o valor de verdade das seguintes afirmaes: 1) Um agnstico algum que no sabe que Deus existe. 2) Um ateu algum que sabe que Deus no existe. 3) O agnstico no acredita que Deus existe. 4) O ateu no acredita que Deus existe. 5) O agnstico acredita que Deus no existe. 6) O ateu acredita que Deus no existe. 7) O crente algum que sabe que Deus existe.
Discusso
9. Concorda que o armador tinha o dever de investigar se o navio estava ou no em boas condies? Porqu? 10. Concorda que mesmo que o navio no naufragasse o armador tinha o dever de no acreditar nisso? Porqu? 11. Imagine que o armador tinha mandado inspeccionar e reparar o navio, e que mesmo assim este tinha naufragado. Nesse caso, seria legtimo que o armador acreditasse que o navio no iria naufragar? Porqu? 12. sempre incorrecto, em qualquer parte e para qualquer pessoa, acreditar seja no que for sem provas suficientes. Concorda? Porqu?
105
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 106
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
13. Ser que ter um bom argumento a favor da existncia de Deus constitui prova suficiente para acreditar na existncia de Deus? Porqu? 14. Devemos ser agnsticos relativamente existncia de Deus? Porqu? 15. Imagine que se perdeu numa montanha coberta de neve e que a nica possibilidade de sobreviver conseguir saltar um enorme precipcio. Olhando para a distncia, impossvel dizer se o salto ser bem sucedido ou no. Mas se tentar convencer-se de que ser bem sucedido, talvez consiga reunir as foras necessrias para ser bem sucedido. Ser que neste caso incorrecto tentar convencer-se de que o salto ser bem sucedido? Justifique.
Texto 41
Deveres para com a Humanidade
W. K. Clifford
Nenhuma crena humana , em qualquer dos casos, uma questo pessoal que apenas a uma pessoa diz respeito. As nossas vidas so orientadas por aquela concepo geral do curso das coisas que foi criada pela sociedade para fins sociais. As nossas palavras, as nossas expresses, as nossas formas, processos e modos de pensar, so propriedade comum, trabalhadas e aperfeioadas ao longo dos sculos; um bem que cada gerao subsequente herda como um repositrio precioso e uma responsabilidade sagrada a ser entregue prxima gerao, no inalterada mas sim alargada e purificada, com algumas marcas claras do seu prprio ofcio. Nesta, para o bem ou para o mal, se tece cada crena de cada homem que partilha o discurso com os outros. O nosso dever de ajudar a criar um mundo no qual a prosperidade ir viver um tremendo privilgio e uma tremenda responsabilidade. Nos dois casos em apreo [sendo um deles o caso do armador], considerou-se errado acreditar em algo sem provas suficientes, assim como alimentar uma crena atravs do afastamento de dvidas e da evaso investigao. A razo para este juzo no difcil de ver: que em ambos os casos a crena que um homem tinha era de grande importncia para outros. Contudo, uma vez que nenhuma das crenas de um homem de facto insignificante ou sem efeitos para a humanidade, por mais trivial e por mais obscuro que o crente parea, no temos outra escolha seno alargar o nosso juzo a todo e qualquer tipo de crena. A crena, aquela faculdade sagrada que impele as decises da nossa vontade, e que une num trabalho harmonioso todas as foras compactadas do nosso ser, nossa no para ns, mas para a humanidade. [...] Esta sensao de poder o mais elevado e o melhor dos prazeres quando a crena na qual se encontra fundada uma crena verdadeira, e que foi honestamente adquirida pela investigao. Pois assim podemos sentir com justia que se trata de propriedade comum, e
106
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 107
As dimenses pessoal e social das religies
Captulo 16
mantm-se firme para os outros assim como para ns prprios. Depois podemos ficar satisfeitos, no porque eu descobri segredos que me fazem sentir mais seguro e forte, mas porque ns, homens, compreendemos mais uma parte do mundo; e ficaremos mais fortes, no para ns, mas em nome do Homem e da sua fora. Mas se a crena foi aceite com provas insuficientes, um prazer roubado. No s nos ilude a ns mesmos ao dar-nos uma sensao de poder que de facto no temos, mas um pecado, porque roubado violando o nosso dever para com a humanidade. Esse dever consiste em nos protegermos de tais crenas como se de uma epidemia se tratasse, a qual que pode rapidamente tomar conta do nosso prprio corpo, alastrando-se de seguida ao resto da cidade.
W. K. Clifford, A tica da Crena, 1879, trad. de Clia Teixeira, pp. 73-76
Interpretao
1. Que quer dizer Clifford com a seguinte afirmao: nenhuma crena humana , em qualquer dos casos, uma questo pessoal que apenas a uma pessoa diz respeito? 2. Como justifica Clifford a afirmao de que nenhuma crena humana , em qualquer dos casos, uma questo pessoal que apenas a uma pessoa diz respeito? 3. Por que acha o autor que uma crena verdadeira e honestamente adquirida pela investigao propriedade comum? 4. Por que acha o autor que nos devemos proteger de crenas adquiridas sem provas suficientes como se de uma epidemia se tratasse?
Discusso
5. Nenhuma das crenas de um homem de facto insignificante ou sem efeitos para a humanidade. Concorda? Porqu? 6. Concorda que uma crena verdadeira e honestamente adquirida pela investigao propriedade comum? Porqu? 7. Concorda que acreditar em algo sem provas suficientes um mal? Porqu? 8. Concorda que nos devemos proteger de crenas adquiridas sem provas suficientes como se de uma epidemia se tratasse? Porqu?
107
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 108
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
3. O caso especial da crena religiosa
Muitos crentes estaro dispostos a aceitar as ideias de Clifford no que respeita tica de crena, mas no em todos os domnios. Nos domnios da cincia e da vida prtica, diro que Clifford tem razo; mas no nos domnios da religiosidade. A resposta clssica defesa do agnosticismo de Clifford da autoria de William James (1842-1910). Este filsofo concorda que no temos o direito de acreditar em algo s porque isso nos d jeito, e que por vezes de facto um mal acreditar em algo sem provas suficientes. Contudo, defende que a suspenso da crena nem sempre a opo mais correcta quando no temos provas nem a favor nem contra a verdade de uma certa proposio. As crenas religiosas, como a crena em Deus, um desses casos. James defende que eticamente legtimo acreditar que Deus existe mesmo sem provas suficientes. Mas o que faz da crena em Deus um caso especial? William James defende que h trs aspectos que fazem da crena em Deus um caso especial: 1. Para muitas pessoas, acreditar que Deus existe no como acreditar que o Sol basicamente feito de hidrognio. A crena na existncia de Deus exerce uma atraco especial. James diz que a crena na existncia de Deus , neste sentido, uma opo viva algo que pode mudar o modo como vivemos. 2. Se acreditarmos na existncia de Deus e isso for verdade, ganharemos um bem vital, como a bno divina e a possibilidade de uma vida eterna. Alm do mais, s temos uma oportunidade ou acreditamos na existncia de Deus ou no. E se no acreditarmos, e Deus existir, perderemos esse bem vital para sempre. James diz que, neste sentido, a crena em Deus uma opo momentosa (de enorme importncia). 3. James defende que impossvel no ter uma posio relativamente existncia de Deus: a crena em Deus uma opo forosa, dado que, quer acreditemos quer no, no podemos escapar s consequncias de tal deciso. Ou acreditamos que Deus existe ou que no existe. Decidir suspender a crena em Deus ter as mesmas consequncias que acreditar que no existe em ambos os casos, perderemos o bem vital que obteremos caso Deus exista. James defende que estes trs aspectos fazem a crena religiosa ser especial. E defende que, quando uma crena apresenta estas caractersticas, uma opo genuna. Como vimos, Clifford defende que temos o dever de permanecer agnsticos porque no temos provas suficientes nem a favor nem contra a existncia de Deus. James argumenta que tal deciso igualmente passional, uma deciso que tem por base os nossos sentimentos e inclinaes naturais e no a razo; a deciso consiste em evitar acreditar numa falsidade a todo o custo:
108
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 109
As dimenses pessoal e social das religies
Captulo 16
A tese que defendo exprime-se brevemente deste modo: A nossa natureza passional no s pode como deve legitimamente optar entre vrias proposies sempre que se trate de uma opo genuna acerca da qual no podemos, dada a sua prpria natureza, decidir por meios intelectuais; pois dizer, nessas circunstncias, No decidas, mas deixa a questo em aberto, em si uma deciso passional tal como decidir sim ou no e tem o mesmo risco de perder a verdade []
William James, A Vontade de Acreditar, 1897, trad. de Clia Teixeira, p. 371
No caso da crena em Deus, no se trata apenas de ganhar uma verdade ou evitar acreditar numa falsidade. As consequncias de no acreditar em Deus, se Deus existir, so momentosas. verdade que o agnstico, ao suspender a crena em Deus, no corre o risco de acreditar numa falsidade. Mas ao faz-lo arrisca-se a no acreditar numa verdade e a perder um bem vital.
Agnstico Possveis perdas Possveis ganhos Acreditar numa verdade; bem vital. No acreditar numa falsidade.
Crente Acreditar numa falsidade. Acreditar numa verdade; bem vital.
Supondo que a questo da existncia de Deus no pode ser decidida racionalmente, James defende que eticamente legtimo acreditar na sua existncia, evitando assim a perda de um bem vital. Mas do facto de ser eticamente legtimo acreditar em Deus no se segue que tenhamos de o fazer. James defende que nestes casos se trata de uma questo de tolerncia.
Ningum deve passar vetos aos outros, nem trocar palavras caluniosas. Devemos, pelo contrrio, delicada e profundamente respeitar a liberdade mental de cada um: s ento iremos erigir a repblica intelectual; s ento teremos o esprito de tolerncia interna sem o qual toda a nossa tolerncia externa no passa de um mito []; s ento iremos viver e deixar viver, tanto em questes especulativas como prticas.
William James, A Vontade de Acreditar, 1897, trad. de Clia Teixeira, p. 376
Segundo James, eticamente legtimo que Clifford seja agnstico; mas tambm legtimo no concordar com a tica de Clifford. O que no legtimo Clifford impor a sua tica da crena aos outros. De acordo com James, todos tm a legitimidade tica de acreditar naquilo que a razo no consegue decidir, desde que se trate de uma opo genuna, como o caso da crena em Deus.
109
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 110
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Reviso
1. O que faz da crena em Deus uma opo genuna, segundo James? 2. Por que acha James que o agnosticismo de Clifford tambm uma deciso passional? 3. Por que razo legtimo, segundo James, acreditar na existncia de Deus na ausncia de provas suficientes a seu favor?
Discusso
4. O agnosticismo, ao contrrio do que James diz, no uma deciso passional, pois Clifford deu amplas razes a seu favor. Concorda? Porqu? 5. A defesa da crena religiosa de James no passional. Afinal, James argumenta que melhor acreditar na existncia de Deus do que no acreditar, pois podemos assim ganhar um bem vital algo que parece bem calculado e muito pouco passional. Concorda? Porqu? 6. Clifford argumenta que no devemos acreditar em algo sem provas suficientes pois isso refreia em ns o hbito de testar e pr prova as nossas crenas. Mas James nem mostra que acreditar em Deus sem provas suficientes no enfraquece esse hbito, nem que o bem vital que podemos ganhar ao acreditar na existncia de Deus supera o mal que possamos causar s nossas prticas intelectuais e humanidade no seu todo. E sem isso fica por mostrar que Clifford est enganado. Logo, devemos ser agnsticos. Concorda? Porqu?
Texto 42
A Vontade de Acreditar
William James
[...] A religio surge como uma opo momentosa. Supostamente ganhamos, mesmo agora, pela nossa crena, e perdemos pela nossa no-crena, um certo bem vital. Em segundo lugar, a religio uma opo forosa, medida desse bem. No podemos escapar a isto ao permanecermos cpticos esperando por mais dados, porque, sendo certo que desse modo evitamos o erro se a religio no for verdadeira, perdemos o bem, se for verdadeira, com a mesma certeza que perderamos se escolhssemos positivamente no acreditar. como se um homem hesitasse indefinidamente pedir uma mulher em casamento porque no estava completamente seguro de ela se vir a revelar um anjo depois de a levar para casa. No estaria ele deste modo a privar-se da possibilidade de ter um anjo de modo to definitivo como se casasse com outra pessoa? O cepticismo, deste modo, no uma forma de
110
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 111
As dimenses pessoal e social das religies
Captulo 16
no optar; optar por um certo tipo de risco. melhor arriscar perder a verdade do que cair no erro esta exactamente a posio daquele que veta a f. Ele est activamente a arriscar do mesmo modo que o crente; est a apoiar a posio contrria hiptese religiosa, tal como o crente apoia a hiptese religiosa contra essa posio. Apregoar o cepticismo a todos ns como um dever at termos provas suficientes a favor da religio , deste modo, equivalente a dizer, quando em presena da hiptese religiosa, que ceder ao medo de esta ser errada mais prudente e melhor do que ceder nossa esperana de que seja verdadeira. Logo, no o intelecto contra as nossas paixes; apenas o intelecto com uma paixo a ditar a sua lei. [...] Deste modo, eu, pelo menos, no consigo aceitar as regras do agnstico para a procura da verdade, nem concordar de boa vontade em deixar de lado a minha natureza volitiva. No o posso fazer por esta simples razo: uma regra do pensamento que me iria impedir em absoluto de reconhecer certo tipo de verdades se tais tipos de verdades existissem realmente, seria uma regra irracional. [...] Se tivssemos um intelecto infalvel com as suas certezas objectivas, poderamos sentir-nos desleais para com to perfeito rgo ou conhecimento ao no confiarmos exclusivamente nele, por no esperarmos pela sua professa palavra. Mas [] se acreditamos que nenhuma campainha soa em ns de modo a ficarmos a saber com toda a certeza quando a verdade est ao nosso alcance, ento parece uma inutilidade fantasiosa apregoar to solenemente o nosso dever de esperar pelo toque da campainha.
William James, A Vontade de Acreditar, 1897, trad. de Clia Teixeira, pp. 374-376
Interpretao
1. O que significa dizer que a religio uma opo momentosa? 2. O que significa dizer que a religio uma opo forosa? 3. Por que acha James que o cepticismo no uma forma de no optar? 4. No o intelecto contra as nossas paixes; apenas o intelecto com uma paixo a ditar a sua lei. O que quer o autor dizer? 5. Se acreditamos que nenhuma campainha soa em ns de modo a ficarmos a saber com toda a certeza quando a verdade est ao nosso alcance, ento parece uma inutilidade fantasiosa apregoar to solenemente o nosso dever de esperar pelo toque da campainha. O que quer o autor dizer?
111
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 112
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Discusso
6. melhor arriscar perder a verdade do que cair no erro. Concorda? Porqu? 7. Uma regra do pensamento que me iria impedir em absoluto de reconhecer certo tipo de verdades se tais tipos de verdades existissem realmente, seria uma regra irracional. Concorda? Porqu? 8. Se a nossa razo fosse infalvel, devamos segui-la sempre, mas como no , ento no temos o dever de a seguir sempre. Concorda? Porqu? 9. Precisamente porque a nossa razo falvel, temos de analisar cuidadosamente os dados de que dispomos antes de acreditar em algo. S se fosse infalvel que tais cautelas seriam desnecessrias. Concorda? Porqu?
Ser eticamente legtimo acreditar que Deus existe?
NO William Clifford
S eticamente legtimo acreditar naquilo para o qual temos provas suficientes. No temos provas suficientes a favor da existncia de Deus. Logo, no eticamente legtimo acreditar que Deus existe.
SIM William James
Podemos seguir as nossas paixes e acreditar que Deus existe, dado que a razo no pode decidir tal coisa. eticamente legtimo acreditar na existncia de Deus, evitando assim a perda de uma possvel verdade e de um bem vital.
Estudo complementar
Clifford, William (1878) A tica da Crena, in Textos e Problemas de Filosofia, org. de Aires Almeida e Desidrio Murcho. Lisboa: Pltano, 2006, Cap. 6. Kolak, Daniel e Martin, Raymond (2002) Deus in Sabedoria sem Respostas, trad. de Clia Teixeira. Lisboa: Temas e Debates, 2004, Cap. 6.
@
Murcho, Desidrio (2005) Verdade, in Crtica, 2005, http://www.criticanarede.com/html/ed103.html.
112
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 113
Captulo 17
Religio, razo e f
1. A relao entre razo e f
Como vimos no captulo anterior, William James defende que legtimo acreditar que Deus existe mesmo que no tenhamos razes a seu favor. De facto, muitas pessoas pensam que as razes a favor da existncia de Deus so irrelevantes. Isto porque consideram que a existncia de Deus uma questo de f e no de razes. Mas o que a f e que relao tem com a razo? Neste captulo vamos estudar mais de perto a relao entre a razo e a f. Comeamos por esclarecer o conceito de f, discutindo logo de seguida o problema de saber se a f e a razo esto em conflito ou harmonia. Nas seces seguintes iremos estudar as razes a favor e contra a existncia de Deus.
Seces 1. A relao entre razo e f, 113 2. Argumentos testas, 124 3. O argumento ontolgico, 126 4. O argumento cosmolgico, 132 5. O argumento do desgnio, 135 6. O argumento moral, 142 7. O problema do mal, 147 Textos 43. Sem Risco No H F, 120 Sren Kierkegaard 44. A Razo No Contrria F, 122 S. Toms de Aquino 45. Proslogion, 129 Santo Anselmo 46. Em Defesa do Insensato, 131 Gaunilo de Marmoutier 47. Desgnio Divino, 140 William Paley 48. Deus como Postulado da Razo, 145 Immanuel Kant 49. Teodiceia, 150 G. W. Leibniz Objectivos Avaliar o debate sobre a relao entre a razo e a f. Avaliar os argumentos a favor da existncia de Deus. Avaliar o problema do mal. Conceitos Fidesmo, f, teologia natural, Deus testa, tesmo. Cadeia causal, reduo ao absurdo. Mal moral, mal natural, teodiceia.
Conhecimento e f
Acreditar em algo com base na f acreditar em algo sem ter razes que estabeleam a sua verdade. Ao caracterizar a f, S. Toms de Aquino (1225-1274) contrastou-a com a mera crena sem conhecimento, por um lado, e com o conhecimento, por outro. A f semelhante mera crena sem conhecimento porque em ambos os casos no h razes que estabeleam a verdade daquilo que acreditamos. Mas a f tambm semelhante ao conhecimento porque envolve uma convico muito forte da nossa parte.
113
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 114
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Por exemplo, s podemos acreditar que o Futebol Clube do Porto ganhou o jogo com base na f se no soubermos que isso aconteceu. Se soubermos que ganhou porque temos provas disso e, portanto, no podemos ter f. Mas acreditar em algo com base na f no apenas acreditar em algo sem razes. Ter f em algo implica tambm um elevado grau de convico. Por exemplo, acreditar que Deus existe com base na f ter uma convico praticamente inabalvel na sua existncia. Nesse aspecto, ter f em algo envolve uma forte convico, semelhante convico que sentimos quando sabemos que, por exemplo, o Porto uma cidade portuguesa. A f uma crena com elevado grau de convico na verdade de uma afirmao, sem razes que estabeleam a sua verdade. Segundo a caracterizao clssica de conhecimento (que iremos estudar no 11. ano), o conhecimento um tipo de crena. Assim, tanto a f como o conhecimento so tipos diferentes de crena. Mas, como vimos, a f exclui o conhecimento, no sentido em que no possvel ter f naquilo que conhecemos. Assim, as seguintes proposies esclarecem o conceito de f, relacionando-a com a crena e com o conhecimento:
Se algum sabe algo, essa pessoa acredita nisso. Mas pode-se acreditar em algo que no se sabe. Se algum tem f em algo, essa pessoa acredita nisso. Mas pode-se acreditar em algo sem ter f. Se algum tem f em algo, essa pessoa no sabe isso. Logo, se algum sabe algo, no pode ter f nisso.
Crena
Conhecimento
A f entendida por filsofos crentes, como S. Toms, como uma fonte de verdade, a par da razo. A razo produz um conhecimento da verdade, recorrendo a provas e argumentos; a f produz uma forte convico na verdade, mas sem conhecimento. Diz-se por vezes que a f e a razo so duas fontes diferentes de conhecimento, mas o que se quer dizer que a f e a razo so dois modos diferentes de chegar verdade.
114
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 115
Religio, razo e f
Captulo 17
S. Toms defendia que tinha estabelecido por via racional a existncia de Deus, nomeadamente atravs do seu argumento cosmolgico (estudado na Seco 4). Por isso, defendia que sabia que Deus existia. Logo, tinha de aceitar que no tinha nem podia ter f na existncia de Deus. Contudo, a f continua a ser importante, segundo S. Toms, por duas razes. Por um lado, muitos crentes no conhecem nem compreendem os argumentos a favor da existncia de Deus que S. Toms conhece; tm de aceitar que Deus existe pela f na prpria Igreja. Por outro lado, a razo no permite saber toda a verdade sobre Deus. Por exemplo, podemos saber que Deus existe, mas no que trino (que Pai, Filho e Esprito Santo). A fonte destas verdades no a razo mas sim a f.
Fidesmo e teologia natural
Alguns filsofos argumentam que os mtodos de justificao racional, atravs de argumentos ou provas, so inadequados ou at indesejveis para justificar a crena na existncia de Deus; contudo, defendem que legtimo e digno de louvor ter f na existncia de Deus. A este tipo de posio chama-se fidesmo. O fidesmo a teoria segundo a qual as crenas religiosas se baseiam unicamente na f e no na razo. O fidesmo ope-se teologia natural defendida por filsofos como S. Toms, Leibniz, S. Anselmo, Descartes, Swinburne e muitos outros. A teologia natural a tentativa de justificar a crena na existncia de Deus recorrendo razo. A teologia natural defendida por muitas igrejas crists, incluindo a catlica. Os telogos naturais acreditam que possvel estabelecer pela razo pelo menos algumas verdades sobre Deus. Em contraste, o fidesmo considera que nenhuma verdade sobre Deus pode ser estabelecida pela razo: as verdades sobre Deus no podem ser conhecidas, s podem ser objecto de f.
Reviso
1. Esclarea em que sentido a f se aproxima e se diferencia da mera crena e do conhecimento. 2. Explique o que a f, recorrendo a exemplos.
115
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 116
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
3. Determine o valor de verdade das seguintes afirmaes, e justifique a sua resposta: 1) A f implica o conhecimento. 2) A f implica a crena. 3) A f implica uma forte convico. 4) Quem sabe que Deus existe, no tem f na sua existncia. 5) Quem tem f na existncia de Deus, no sabe que Deus existe. 4. O que a teologia natural? 5. O que o fidesmo? 6. Qual a diferena entre a teologia natural e o fidesmo? 7. Poder a f ser fonte de conhecimento? Porqu? 8. Pode a f na existncia de Deus ser justificada com base em provas ou argumentos? Porqu?
A f contra a razo
O fidesta radical defende a existncia de um conflito entre a f e a razo. Entre estes dois domnios no h complementaridade nem harmonia; h apenas conflito. As verdades da f podem ser negadas pela razo e o que sabemos pela razo pode ser negado pela f. O filsofo dinamarqus Sren Kierkegaard (1813-1855) foi um dos mais importantes defensores do fidesmo. Kierkegaard pensava que justificar a nossa crena na existncia de Deus uma m ideia porque, ao faz-lo, estamos a retirar o que h de essencial prpria religio. A prpria natureza da religio requer que as nossas crenas estejam fundadas na f, e no na razo. Como vimos, no possvel ter f que Deus existe se soubermos que existe, ou se tivermos razes que estabeleam a sua existncia. Por exemplo, quando estivermos na presena de Deus, na vida alm da morte, no poderemos ter f em Deus: nessa circunstncia, sabemos por contacto directo que Deus existe. Ora, Kierkegaard considera que a f a maior virtude que um ser humano pode alcanar. Consequentemente, rejeita quaisquer processos racionais que procurem estabelecer a existncia de Deus. Kierkegaard defende que a f em Deus tem tanto mais valor quanto mais seguramente a razo nos disser que Deus no existe. A f vista por Kierkegaard como uma aposta pessoal, contra todas as evidncias. Imagine-se que se descobria que todos os dados histricos que se pensa que sustentam uma dada religio, como a crist, por exemplo, eram falsos; descobria-se que afinal Jesus Cristo no tinha ressuscitado nem era divino, e que a Bblia afinal no tinha sido escrita por inspirao divina. O fidesta radical defende que nessa circunstncia a f na existncia de Deus tem ainda mais valor. Esta posio radical de tal modo implausvel que o prprio Kierkegaard parece no a assumir claramente. Afinal, se houvesse provas conclusivas de que tudo o que a Bblia diz falso, dificilmente as pessoas continuariam a ter f no Deus bblico. Por alguma razo hoje em dia as pessoas no tm f nos deuses gregos ou egpcios, por exemplo.
116
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 117
Religio, razo e f
Captulo 17
Alm disso, o fidesmo radical incoerente porque nem sequer pode ser defendido com razes. Os fidestas argumentam que a razo foi corrompida pelo pecado, e que por isso devemos seguir as nossas paixes e acreditar com base na f. Contudo, ao faz-lo esto a mostrar que afinal h razes para ser fidesta, o que contraria a prpria ideia fidesta de que o que tem realmente valor aceitar por pura f as verdades da religio. Para ser inteiramente coerente, o fidesta no poderia apresentar quaisquer razes para ser fidesta, nem para no ser. Mas nesse caso o fidesmo tornar-se-ia uma posio arbitrria, que nada tem a dizer a quem no for j fidesta. O fidesta radical nem pode sequer coerentemente afirmar que ter f uma virtude, pois isso significaria que teramos uma razo para ter f. Compreensivelmente, nem todos os fidestas so to radicais como Kierkegaard. O matemtico, fsico e filsofo francs Blaise Pascal (1623-1662) defendia que a f s podia estabelecer a verdade do que no se pode saber. Pascal pensava que no se podia estabelecer racionalmente a existncia de Deus; mas tambm no se podia estabelecer a sua inexistncia. Perante o silncio da razo, Pascal defendia que seria a f a conduzir-nos verdade. Esta posio semelhante de William James, que estudmos no captulo anterior. O fidesmo de Pascal bastante mais moderado do que o de Kierkegaard, e no coloca a f em conflito com a razo. No se trata de defender que a f na existncia de Deus tem tanto mais valor quantas mais razes tivermos para pensar que Deus no existe. Trata-se apenas de dizer que a f uma via de acesso verdade nos casos em que a razo incapaz de o fazer. O fidesmo moderado defende que legtimo acreditar que Deus existe, apesar de no haver razes conclusivas a seu favor desde que no haja tambm razes conclusivas contra a existncia de Deus.
Vnus e Marte, de Sandro Botticelli (1445-1510). Diferentes religies tm diferentes divindades. Ser a f em Vnus suficiente para justificar a crena na sua existncia?
117
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 118
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Reviso
1. Qual a essncia da religio, segundo Kierkegaard? 2. Por que razo pensa Kierkegaard que uma m ideia tentar justificar a nossa crena na existncia de Deus? 3. Por que razo rejeita Kierkegaard os processos racionais que procuram estabelecer a existncia de Deus? 4. O que significa dizer que a f uma aposta pessoal? 5. Como teria de reagir um fidesta radical caso se provasse para l de qualquer dvida que a sua religio era falsa? Porqu? 6. Por que razo se defende que o fidesmo radical incoerente? 7. Em que aspecto central diferem as teorias de Pascal e de Kierkegaard?
Discusso
8. Ser melhor saber que Deus existe ou ter f na sua existncia? Porqu? 9. O fidesmo radical incoerente. Concorda? Porqu? 10. Kierkegaard confunde simples complementaridade entre a razo e a f com conflito total. Claro que uma religio no seria uma religio se pudssemos estabelecer racionalmente todas as verdades que so objecto da sua f. Nesse caso, nem seria possvel ter f. Mas daqui no se segue que por definio nenhuma verdade da religio pode ser estabelecida por via racional. Concorda? Porqu? 11. Que tipo de fidesmo considera mais plausvel? Porqu? 12. O fidesmo de Pascal insustentvel porque se baseia no falso pressuposto que no possvel provar racionalmente que Deus existe nem que no existe. Mas como conseguir Pascal provar que no se pode provar nenhuma dessas coisas? O simples facto de at hoje no existir qualquer prova consensual no quer dizer coisa alguma. Concorda? Porqu? 13. Se a f fosse suficiente para justificar as verdades religiosas, ento todas as religies estariam igualmente justificadas a acreditar na existncia das suas divindades e na verdade dos seus dogmas. Mas diferentes religies tm diferentes divindades e dogmas, que muitas vezes so incompatveis entre si. Assim, nem todas as religies podem estar correctas. Logo, a f uma forma inadequada de acesso verdade. Concorda? Porqu?
118
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 119
Religio, razo e f
Captulo 17
F e razo em harmonia
O fidesmo ope-se teologia natural porque no aceita que a f e a razo estejam em harmonia. Um dos mais importantes defensores da tese da harmonia entre a razo e a f foi S. Toms de Aquino. Esta a posio mais comum entre os filsofos da religio. tambm a posio oficial da Igreja Catlica e de outras igrejas crists. S. Toms defende que a f e a razo esto em harmonia, um pouco como a viso e o tacto. As nossas sensaes visuais poderiam estar sempre em conflito com as nossas impresses tcteis. Nesse caso, quando nos parecesse que um objecto estava muito longe, poderia estar muitssimo perto; e vice-versa. Mas s um Deus malvolo poderia ter-nos criado desse modo. Na realidade, h uma harmonia entre as nossas impresses tcteis e visuais. Analogamente, S. Toms defende que h uma harmonia entre a f e a razo. A razo pode estabelecer certas verdades religiosas, ajudando a f. E a f estabelece outras verdades, ajudando a razo. Um pouco como a viso e o tacto. Pela viso apenas no podemos saber se um objecto que parece leve realmente leve; pelo tacto apenas no podemos saber que cor tem um objecto. O argumento principal a favor da harmonia entre a razo e a f baseia-se na benevolncia e sabedoria de Deus. Afinal, se existe um deus benevolente e sbio, criador de tudo, incluindo ns mesmos, tambm a razo humana foi criada por Deus. Mas se a razo humana foi criada por Deus, improvvel que seja to imperfeita que no possa estabelecer pelo menos algumas verdades fundamentais sobre Deus. Mais estranho ainda seria que fosse possvel estabelecer pela razo que Deus no existe, contrariando assim a f de que Deus existe. Se as faculdades humanas da razo e da f fossem constitudas deste modo, Deus no seria benevolente. Dado que tanto a razo como a f tm origem em Deus, improvvel que estejam em conflito. Acresce que sem a ajuda da razo dificilmente poderemos decidir entre vrias religies. Porqu ter f no deus cristo, em vez de ter f nos antigos deuses gregos ou egpcios? No podemos defender que ter f em si to importante que irrelevante ter f num ou noutro deus. Pode at ser um pecado mais grave ter f num falso deus do que no ter f em deus algum. Um fidesta como S.Toms de Aquino (1225-274). Um dos mais importantes telogos catlicos. Kierkegaard teria muita dificuldade em explicar por que razo a f num determinado deus virtuosa, ao passo que a f noutro deus no o . Sem o auxlio da razo, a f cega. Os fidestas moderados aceitam que a f complementa a razo. Mas pensam que a razo nada pode estabelecer relativamente a Deus nem a sua simples existncia, nem os aspectos mais importantes da sua natureza. Os telogos naturais defendem que podemos determinar pela razo algumas verdades importantes sobre Deus nomeadamente, que existe. Como fazem eles isso o que vamos estudar nas seces seguintes.
119
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 120
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Reviso
1. O que significa dizer que a razo e a f esto em harmonia? 2. Explique a analogia com o tacto e a viso. 3. Explique o argumento da benevolncia a favor da tese da harmonia. 4. Sem o auxlio da razo, a f cega. Porqu? 5. O que distingue os fidestas moderados dos defensores da teologia natural?
Discusso
6. A f e a razo esto em harmonia. Concorda? Porqu? 7. Sem o auxlio da razo, a f cega. Concorda? Porqu? 8. a f uma forma adequada de chegar a algumas verdades? Porqu? 9. S possvel defender que a f um modo adequado de acesso verdade se primeiro tivermos boas razes para pensar que Deus existe. Logo, qualquer crente tem de recusar o fidesmo e aceitar a teologia natural. Concorda? Porqu?
Texto 43
Sem Risco No H F
Sren Kierkegaard
[Imagine-se que] se estabeleceu firmemente tudo o que desejvamos com respeito s escrituras. Que se segue disto? Ser que algum que no tivesse previamente f se aproximou um s passo da f? Claro que no, nem um s passo. Pois a f no se produz atravs de investigaes acadmicas. No vem directamente; pelo contrrio, precisamente na anlise objectiva que perdemos o infinito cuidado apaixonado e pessoal que a condio requerida para a f, o seu ingrediente ubquo, no qual a f vem existncia. Ser que quem tem f ganhou alguma coisa [com o que se estabeleceu] em termos da fora e poder da f? No, nem um pouco. Ao invs, a sua prodigiosa erudio, deitada como um drago porta da f, ameaando devor-la, torna-se uma desvantagem, forando-o a fazer um esforo prodigioso ainda maior em temor e tremor de modo a no cair em tentao, confundindo conhecimento com f. Ao passo que a f tinha a incerteza como um til professor, descobre agora que a certeza o seu mais perigoso inimigo. Retire-se a paixo e a f desaparece, pois
120
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 121
Religio, razo e f
Captulo 17
a certeza e a paixo so incompatveis. A seguinte analogia ilumina este aspecto: para quem acredita que Deus existe e governa providencialmente o mundo mais fcil preservar a sua f (e no uma fantasia) num mundo imperfeito no qual a paixo se mantenha acesa, do que num mundo absolutamente perfeito; pois em tal mundo ideal a f impensvel. Esta a razo pela qual nos ensinado que na eternidade a f ser anulada. [] Admitamos agora o oposto, que os oponentes conseguiram provar o que queriam estabelecer com respeito Bblia, e que o fizeram com uma certeza que transcende as suas esperanas mais loucas. E depois? Ter o inimigo abolido o cristianismo? Nem um pouco. Injuriou o crente? De modo nenhum. Ganhou o direito de se livrar da responsabilidade de se tornar um crente? Nem pensar. S porque tais livros no foram escritos por aqueles autores, s porque no so autnticos, no tm integridade, no parecem inspirados (se bem que isto nunca se poder demonstrar porque uma questo de f), de modo algum se segue que aqueles autores no existiram, e sobretudo no se segue que Cristo nunca existiu. Na medida em que a f perdurar, o crente tem a liberdade de a assumir, a mesma liberdade que tinha antes (note-se bem!); pois se ele aceitasse o contedo da f na base das provas, estaria agora prestes a abandonar a f. Se as coisas chegarem to longe, a culpa de algum modo do crente, pois ps as coisas em marcha e ps-se nas mos da descrena ao tentar provar o contedo da f. Aqui est o corao da questo, e eu regresso teologia erudita. Em nome de quem se procura a prova? A f no precisa dela. Sim, tem de encar-la como uma inimiga. Mas quando a f comea a ter vergonha, como uma rapariga para quem o amor deixa de ser suficiente, que secretamente tem vergonha do seu namorado e tem por isso de confirmar junto de outros que ele realmente notvel, quando a f vacila e comea a perder a sua paixo, ento a prova torna-se necessria para parecer respeitvel da perspectiva do descrente. [] Sem risco no h f. A f precisamente a contradio entre a paixo infinita da interioridade e a incerteza objectiva. Se eu posso compreender Deus objectivamente, no acredito; mas porque no posso conhecer Deus objectivamente, tenho de ter f; e se for firme na f, tenho de estar constantemente determinado a agarrar-me incerteza objectiva, para permanecer sobre as profundezas do oceano, sobre setenta mil braas de gua, e continuar a acreditar.
Sren Kierkegaard, Ps-Escrito Anti-Cientfico Final, 1846, trad. Desidrio Murcho, pp. 30-31, 33, 117, 182
Interpretao
1. Por que razo defende Kierkegaard que as provas a favor das doutrinas religiosas no aproximariam da f quem no a tem? 2. Por que razo defende Kierkegaard que as provas a favor das doutrinas religiosas em nada beneficiariam os crentes?
121
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 122
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
3. Por que razo afirma Kierkegaard que mais fcil preservar a sua f (e no uma fantasia) num mundo imperfeito do que num mundo ideal? 4. Por que razo pensa Kierkegaard que provar que os livros sagrados no so autnticos no afecta os crentes nem justifica os descrentes? 5. Por que razo defende Kierkegaard que a prova inimiga da f? 6. Que quer Kierkegaard dizer com a afirmao sem risco no h f? 7. Ambrose Bierce define a f do seguinte modo, no seu Dicionrio do Diabo: Crena sem provas no que dito por quem fala sem conhecimento de coisas improvveis. Estar Kierkegaard comprometido com esta noo de f? Justifique.
Discusso
8. Considere a seguinte afirmao de Kierkegaard: O cristianismo esprito, o esprito interioridade, a interioridade subjectividade, a subjectividade essencialmente paixo e no seu grau mximo um infinito cuidado apaixonado e pessoal pela nossa felicidade eterna. Ser a f caracterizada por Kierkegaard uma expresso de egocentrismo? Justifique. 9. A prova inimiga da f. Concorda? Porqu? 10. Mesmo que se prove a inexistncia de Deus, os ateus esto em pecado e devem procurar a f. Concorda? Porqu? 11. Se louvvel ter f na existncia de Deus perante o risco e a incerteza, tambm louvvel ter f na inexistncia de Deus perante o risco e a incerteza. Concorda? Porqu?
Texto 44
A Razo No Contrria F
S. Toms de Aquino
Apesar de a verdade da f crist [] ultrapassar a capacidade da razo, a verdade que a razo humana tem naturalmente aptido para conhecer no pode ser oposta verdade da f crist. Pois o que resulta da aptido natural da razo humana claramente muitssimo verdadeiro; tanto que nos impossvel pensar que tais verdades so falsas. Nem permissvel pensar que falso o que aceitamos por f, dado que isto est confirmado de um modo claramente divino. Logo, dado que s o falso se ope ao verdadeiro, como claramente evidente das suas definies, impossvel que a verdade da f se oponha aos princpios que a razo humana conhece naturalmente.
122
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 123
Religio, razo e f
Captulo 17
Alm disso, o que introduzido pelo professor na alma do estudante est contido no conhecimento do professor a no ser que os seus ensinamentos sejam fictcios, o que no se pode dizer de Deus. Ora, o conhecimento dos princpios que conhecemos naturalmente foi implantado em ns por Deus; pois Deus o Autor da nossa natureza. Logo, estes princpios esto tambm contidos na Sabedoria divina. Assim, o que se ope a estes princpios ope-se Sabedoria divina e, portanto, no pode vir de Deus. O que aceitamos por f que foi revelao divina no pode, portanto, ser contrrio ao nosso conhecimento natural. Acresce que na presena de argumentos opostos o nosso intelecto fica acorrentado, no podendo prosseguir em direco ao conhecimento da verdade. Logo, se Deus tivesse implantado em ns conhecimentos opostos, o nosso intelecto ficaria impedido de conhecer a verdade. Ora, tal efeito no pode vir de Deus. Alm disso, o que natural no pode mudar desde que a natureza no mude. Ora, impossvel que existam opinies opostas no mesmo agente de conhecimento ao mesmo tempo. Logo, nenhuma opinio ou crena foi implantada por Deus no homem que seja oposta ao conhecimento natural do homem. [] Daqui obtemos evidentemente a seguinte concluso: sejam quais forem os argumentos avanados contra as doutrinas da f, as suas concluses sero incorrectamente derivadas dos primeiros princpios auto-evidentes implantados na natureza. Tais concluses no tm a fora da demonstrao; ou so argumentos provveis ou so sofsticos. E, portanto, possvel dar-lhes resposta.
S. Toms de Aquino, Suma Contra os Gentios, 1259-1264, trad. de Desidrio Murcho, I-7
Interpretao
1. Considere a seguinte afirmao de S. Toms de Aquino: impossvel que a verdade da f se oponha aos princpios que a razo humana conhece naturalmente. Que argumento apresenta S. Toms de Aquino a favor desta afirmao? 2. Por analogia, quem o estudante e quem o professor a que S. Toms de Aquino se refere no segundo pargrafo? 3. Exponha cuidadosamente o argumento por analogia apresentado por S. Toms de Aquino no segundo pargrafo, tendo o cuidado de distinguir claramente as premissas da concluso. 4. Por que razo defende S. Toms de Aquino que no pode haver argumentos opostos? 5. Por que razo defende S. Toms de Aquino que no pode haver conhecimentos opostos? 6. Por que razo defende S. Toms de Aquino que possvel dar resposta aos argumentos avanados contra as doutrinas da f?
123
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 124
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Discusso
7. A razo e a f so dois domnios separados; o que verdade pela f pode ser falso pela razo. Concorda? Porqu? 8. Concorda com o argumento por analogia apresentado pelo autor? Porqu? 8. Quem defende o conflito entre a f e a razo tem de explicar por que razo Deus criou ou permite tal conflito. Concorda? Porqu? 10. S.Toms de Aquino argumenta a favor da harmonia entre a f e a razo, pressupondo a veracidade da f. Mas quem no aceita a veracidade da f no tem qualquer razo para aceitar os seus argumentos. Concorda? Porqu?
2. Argumentos testas
Nas seces seguintes iremos estudar alguns dos argumentos tradicionais a favor da existncia de Deus. Os argumentos mais importantes so os seguintes: o argumento ontolgico, o argumento cosmolgico e o argumento do desgnio. O argumento mais importante contra a existncia de Deus baseia-se no problema do mal. O nico argumento a priori o ontolgico. Todos os outros, incluindo o argumento baseado na existncia do mal, so a posteriori. Um argumento a priori quando recorre exclusivamente a premissas a priori, no se apoiando em qualquer informao emprica. Um argumento a posteriori se pelo menos uma das suas premissas a posteriori, apoiando-se por isso em alguma informao emprica. Um argumento a priori quando todas as suas premissas so a priori. Um argumento a posteriori quando pelo menos uma das suas premissas a posteriori. Uma premissa a priori quando justificada sem recorrer experincia, ou seja, quando justificada recorrendo apenas ao pensamento. Uma premissa a posteriori quando justificada atravs da experincia. Por exemplo, no podemos saber a priori quantas luas tem Jpiter, dado que temos de recorrer experincia para o saber. Mas podemos saber a priori que nenhuma pessoa casada solteira, dado que para o saber basta recorrer ao pensamento.
124
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 125
Religio, razo e f
Captulo 17
Tesmo
O termo Deus pode ter significados diferentes, dependendo da religio em causa. Quando os filsofos discutem a existncia de Deus, esto apenas a falar do Deus omnipotente (que pode fazer tudo: todo-poderoso), omnisciente (que sabe tudo), sumamente bom (moralmente perfeito), criador e que uma pessoa (e no uma fora da natureza). Este o Deus testa, e s dele que falaremos a partir de agora. O Deus testa omnipotente, omnisciente, sumamente bom, criador e uma pessoa. Chama-se tesmo doutrina que defende a existncia deste deus. As trs grandes religies monotestas contemporneas (o cristianismo, o judasmo e o islamismo) defendem a existncia do Deus testa. Noutro sentido da palavra tesmo, esta significa apenas religio e no especificamente a crena na existncia de uma divindade com as caractersticas apontadas. Nesse sentido da palavra, se uma pessoa no testa, no acredita em divindade alguma; falar de um deus no testa seria contraditrio. No neste sentido que se usa a palavra em filosofia da religio. No sentido em que iremos usar a palavra, no ser testa significa apenas que no se acredita no Deus testa mas pode-se acreditar noutras divindades, noutros deuses no testas. O deus desta, por exemplo, no uma pessoa, nem omnisciente, apesar de ser criador.
Reviso
1. Determine o valor de verdade das seguintes proposies: 1) Para um argumento ser a priori basta ter uma premissa a priori. 2) Para um argumento ser a posteriori basta ter uma premissa a posteriori. 3) Para um argumento ser a priori todas as suas premissas tm de ser a priori. 4) Para um argumento ser a posteriori todas as suas premissas tm de ser a posteriori. 2. O que significa dizer que Deus uma pessoa? 3. O que significa dizer que Deus criador? 4. O que o tesmo?
125
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 126
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
3. O argumento ontolgico
Um dos argumentos clssicos a favor da existncia de Deus o ontolgico. H vrias verses do argumento medievais, modernas e contemporneas. Algumas das verses contemporneas so desenvolvimentos extremamente sofisticados e tcnicos de verses mais antigas. O argumento ontolgico parte do conceito de Deus com o objectivo de estabelecer, recorrendo exclusivamente a premissas a priori, a sua existncia. Trata-se portanto de um argumento a priori, no se apoiando em qualquer informao emprica. A primeira verso influente do argumento ontolgico, e uma das mais importantes, foi proposta pelo filsofo e telogo medieval Santo Anselmo (1033-1109). Esta a verso que iremos estudar.
O argumento de Santo Anselmo
Ao reflectir sobre o conceito de Deus, Santo Anselmo define-o como aquele ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Daqui, Santo Anselmo conclui que Deus existe, uma vez que se no existisse, no seria aquele ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Este um argumento por reduo ao absurdo. Vejamos em mais pormenor como funciona. A primeira distino importante a ter em conta para compreender o argumento a diferena entre existir no pensamento e existir na realidade. Exactamente o que significa dizer que algo existe no pensamento? Todas aquelas coisas que podem ser por ns pensadas existem, num certo sentido, no pensamento: existem enquanto objectos do pensamento. Por exemplo, quando pensamos no Pai Natal, ele o objecto do nosso pensamento e, nesse sentido, o Pai Natal existe, mesmo que no exista na realidade. Deste modo, h coisas que existem apenas no pensamento, pois so objecto do nosso pensamento, sem existirem de facto.
Uma coisa existe no pensamento quando pensamos nela.
Uma coisa existe unicamente no pensamento
quando pensamos nela e no existe na realidade. Deus Pai, de Andrea del Castagno (1423-1457). Ser H coisas que, alm de existirem no pensamento, existem tambm na realidade. Por exemplo, o escritor portugus Jos Saramago tanto existe no pensamento como na realidade.
que podemos provar a existncia de Deus atravs da definio de Deus?
126
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 127
Religio, razo e f
Captulo 17
Vejamos agora o segundo aspecto importante do argumento ontolgico. Santo Anselmo define Deus como o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Mas em que sentido um ser ou um objecto maior do que outro? O que conta aqui no a grandeza fsica, mas se um ser tem ou no mais qualidades do que outro. Por exemplo, o edifcio Amoreiras fisicamente maior do que a Torre de Belm, mas da no se segue que este seja maior, no sentido de ter mais qualidades, do que a Torre de Belm. Qualidades que conferem grandeza a algo so coisas como a antiguidade, o valor histrico, a beleza, etc. No caso de pessoas, as qualidades que conferem grandeza so, segundo Santo Anselmo, coisas como a bondade e a sabedoria. Uma pessoa mais bondosa e sbia do que outra , neste sentido, maior ou superior outra.
Um ser maior do que outro se tem mais qualidades.
Dizer que Deus o ser maior do que o qual nada pode ser pensado dizer que Deus supremamente perfeito, ou seja, tem todas as qualidades. Vejamos agora como funciona o argumento ontolgico. O argumento tem a seguinte estrutura: Premissa 1: Deus o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Premissa 2: Deus existe apenas no pensamento. Premissa 3: Se Deus existe apenas no pensamento, ento podemos conceber outro ser maior do que o qual nada pode ser pensado, nomeadamente, um ser que exista tambm na realidade. Concluso: Logo, falso que Deus exista apenas no pensamento. Isto , Deus existe tambm na realidade. Ou seja, Deus existe. A premissa 1 d-nos a definio de Deus. A premissa 2 a hiptese a ser refutada. Se fosse verdade que Deus existisse apenas no pensamento, como nos diz a premissa 2, ento haveria algo maior que Deus, o que contraria a premissa 1. A ideia que a existncia uma perfeio. Ou seja, um ser que existe na realidade mais perfeito ou maior do que um ser que no existe na realidade. Por exemplo, imagine-se duas casas igualmente perfeitas. Imagine-se que uma existe apenas no pensamento do arquitecto e que a outra existe tambm na realidade. A que existe na realidade por isso melhor do que a que existe apenas no pensamento do arquitecto. Assim, dado que Deus supremamente perfeito, tem igualmente de existir na realidade. Logo, Deus existe. Ser que este argumento estabelece a existncia de Deus?
Objeces
A primeira pessoa a reagir ao argumento de Santo Anselmo foi o seu contemporneo, o monge Gaunilo de Marmoutier (sc. XI). Gaunilo defendeu que o argumento no slido uma vez que podamos usar o mesmo tipo de argumento para estabelecer a existncia de uma srie de coisas que no existem na realidade.
127
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 128
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Como vimos, o argumento de Santo Anselmo baseia-se na ideia de que a existncia uma perfeio. Ou seja, um ser que existe mais perfeito ou maior do que um que no existe. Logo, um ser que seja supremamente perfeito tem de existir, caso contrrio no seria supremamente perfeito. Segundo Gaunilo, atravs deste tipo de argumento podemos estabelecer a existncia de uma ilha perfeita, ou de um bolo perfeito, ou do que quisermos. Por exemplo, se definirmos a ilha perfeita como aquela ilha maior do que a qual nenhuma outra pode ser pensada, ento, tambm essa ilha tem de existir na realidade, caso contrrio no seria absolutamente perfeita. Mas isto um resultado inaceitvel. Logo, o argumento ontolgico no funciona: no serve para estabelecer a existncia de Deus. A objeco de Gaunilo apenas procura mostrar que o argumento no slido mas no mostra onde est o erro. Fizeram-se vrias propostas para identificar exactamente o que torna o argumento mau, umas mais prometedoras do que outras. Mas a ideia bsica que no se pode concluir que Deus existe pelo facto de satisfazer a descrio aquele ser maior do que o qual nada pode ser pensado. A nica coisa que podemos concluir que, se Deus existe, satisfaz essa descrio.
Ilha de Espargos, de William Holman Hunt (1827-1910). Gaunilo foi um monge beneditino do
convento de Marmoutier. Segundo a sua objeco, poderamos usar o argumento de Santo Anselmo para provar a existncia de uma ilha perfeita.
128
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 129
Religio, razo e f
Captulo 17
Podemos construir as descries que quisermos. Podemos at colocar nas nossas descries a condio de que uma certa coisa tem de existir, mas da no se segue que haja no mundo algo que satisfaa a descrio. Por exemplo, podemos definir o amigo perfeito deste modo: Aquele amigo que est sempre disponvel a ajudar-nos, que est sempre bem disposto, que nunca se aborrece com nada nem ningum, que tem sempre algo de positivo para nos dizer, que amigo de toda a gente, que gosta das mesmas coisas que ns e que nos leva a lanchar e ao cinema. No pelo facto de termos definido o amigo perfeito deste modo que ele passa a existir. E mesmo que acrescentemos nossa definio que ele existe, ele no passa a existir por isso.
Reviso
1. Por que razo o argumento ontolgico a priori? 2. Por que razo Deus definido como o ser maior do que o qual nada pode ser pensado? 3. Que tipo de argumento o argumento de Gaunilo? Justifique. 4. Explique a objeco de Gaunilo ao argumento ontolgico.
Discusso
5. Concorda que um ser que existe na realidade mais perfeito que um ser que exista apenas no pensamento? Porqu? 6. Deus deve ser definido como um ser que existe e supremamente perfeito. Uma vez que no pode ser verdade que um ser que exista e seja supremamente perfeito no exista, no pode ser verdade que Deus, tal como definido, no exista. Logo, Deus existe. este um bom argumento a favor da existncia de Deus? Justifique.
Texto 45
Proslogion
Santo Anselmo
Pois bem, Senhor, tu que ds compreenso f, concede-me que eu possa compreender, na medida em que julgares adequado, que existes tal como creio que existes, e que s o que creio que s. Ora, creio que s algo maior do que o qual nada pode ser pensado. Ou poder ser que uma coisa dessa natureza no existe, dado que O insensato diz em seu corao: No h Deus! [Salmos 14, 1]. Mas certamente que, quando este insensato ouve do que estou a falar, nomeadamente, algo maior do que o qual nada pode ser pensado, com-
129
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 130
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
preende o que ouve, e o que ele compreende est no seu esprito, ainda que no compreenda que isso existe realmente. Pois uma coisa um objecto existir no esprito, e outra coisa compreender que um objecto realmente existe. Assim, quando um pintor planeia com antecedncia o que vai executar, ele tem-no no seu esprito, mas ainda no pensa que isso existe realmente pois ainda no o executou. Contudo, depois de t-lo efectivamente pintado, tem-no simultaneamente no seu esprito e compreende que existe porque o fez. Mesmo o insensato, pois, forado a concordar que algo maior do que o qual nada pode ser pensado existe no esprito, dado que o compreende quando o ouve, e o que compreendido est no esprito. E com certeza que aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado no pode existir apenas no esprito. Pois se existisse apenas no esprito, poderia pensar-se que existia tambm na realidade, o que seria maior. Assim, se aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado existisse apenas no esprito, este mesmo maior do que o qual nada pode ser pensado seria algo maior do que o qual algo pode ser pensado. Mas isto obviamente impossvel. Logo, no h qualquer dvida de que aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado existe tanto no esprito como na realidade. [] E tu, Senhor nosso Deus, s esse ser. Existes to verdadeiramente, Senhor meu Deus, que nem podes sequer ser pensado como se no existisses. E isto apropriado, pois se alguma inteligncia pudesse pensar em algo melhor do que tu, a criatura estaria acima do Criador e estaria a ajuizar o seu Criador e isso completamente absurdo. Na verdade, tudo o mais que existe, excepto tu, pode ser pensado como no existindo. S tu, pois, de todas as coisas, existes mais verdadeiramente e portanto, de todas as coisas, tens existncia no seu mais alto grau; pois nada mais existe to verdadeiramente, tudo o resto tendo por isso existncia num grau inferior.
Santo Anselmo, Proslogion, 1077-78, trad. de Desidrio Murcho, Caps. II-III
Interpretao
1. Explique o que pretende ilustrar o exemplo do pintor. 2. Formule o argumento de Anselmo a favor da existncia de Deus, distinguindo cuidadosamente as premissas da concluso. 3. Que significa dizer que Deus tem existncia no seu mais alto grau?
Discusso
4. Poder existir algo cuja inexistncia seja contraditrio supor? Porqu?
130
101-131
2007.04.01
17:35
Pgina 131
Religio, razo e f
Captulo 17
Texto 46
Em Defesa do Insensato
Gaunilo de Marmoutiers
Por exemplo: diz-se que algures no oceano h uma ilha a que, por causa da dificuldade (ou antes, da impossibilidade) de encontrar o que no existe, foi dado o nome Perdida. E segundo reza a histria esta ilha abenoada com todo o gnero de riquezas e deleites sem preo e em abundncia, muito mais do que as Ilhas Felizes e, no tendo dono nem habitantes, em tudo superior, na abundncia de riquezas, a todas aquelas terras que os homens habitam. Ora, se algum me disser que assim, facilmente compreendo o que se diz, dado que no h qualquer dificuldade nisto. Mas se depois me disserem, como se fosse uma consequncia lgica disto: No podes duvidar que esta ilha, que mais excelente do que todas as outras terras, verdadeiramente existe algures na realidade, tal como no podes duvidar que existe no teu esprito; e dado que maior a excelncia de existir no apenas no esprito mas tambm na realidade, tem necessariamente de existir. Pois se no existisse, qualquer outra terra existente na realidade seria mais excelente do que ela, e assim esta ilha, que j concebes como mais excelente do que as outras, no seria a mais excelente. Se algum quiser persuadir-me de que esta ilha existe realmente para l de qualquer dvida, irei pensar que est a brincar ou terei dificuldade em decidir qual de ns mais insensato eu, se concordasse com ele, ou ele, se pensar que demonstrou a existncia desta ilha com alguma certeza, a no ser que me tivesse convencido primeiro de que a sua prpria excelncia existe no meu esprito precisamente como uma coisa que existe verdadeiramente e indubitavelmente e no apenas como uma coisa irreal ou duvidosamente real.
Gaunilo de Marmoutiers, Em Defesa do Insensato, 1077, trad. de Desidrio Murcho, Sec. 6
Interpretao
1. Formule a objeco de Gaunilo ao argumento de Santo Anselmo, distinguindo cuidadosamente as premissas da concluso.
Discusso
2. Concorda com a objeco de Gaunilo ao argumento ontolgico? Porqu? 3. A objeco de Gaunilo est errada porque no existe o conceito de uma ilha perfeita podemos sempre imaginar uma ilha maior ou mais frtil. Mas existe o conceito de algo maior do que o qual nada pode ser pensado. Concorda? Porqu?
131
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 132
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
4. O argumento cosmolgico
O argumento cosmolgico, ao contrrio do ontolgico, baseia-se em alguma informao acerca do modo como o mundo . Ou seja, trata-se de um argumento a posteriori. H vrias verses do argumento cosmolgico. Todas partem de uma caracterstica particular do mundo para concluir que Deus existe pois s a existncia de Deus poder explicar essa caracterstica do mundo. Nesta seco, iremos estudar a verso clssica de S. Toms de Aquino.
O argumento de S. Toms
O argumento cosmolgico de S. Toms parte da premissa a posteriori de que no mundo tudo tem uma causa. Se olharmos nossa volta, constatamos que todas as coisas dependem de outras para existirem. Ns existimos porque os nossos pais existem, e foram eles que num certo sentido causaram a nossa existncia. Os nossos pais, por sua vez, existem porque os pais deles os causaram e assim sucessivamente. Este tipo de relao causal algo que parece verificar-se em todas as coisas e acontecimentos. Ou seja, tudo tem uma causa. Chama-se cadeias causais s sequncias de causas e efeitos. A ideia que as cadeias causais no podem regredir infinitamente; logo, h uma causa primeira que a causa de tudo o resto. A concluso final a de que essa causa Deus logo, Deus existe. Por razes bvias, este argumento tambm conhecido por argumento da causa primeira e por argumento causal. Vejamos como S. Toms de Aquino formula o argumento:
No mundo das coisas sensveis constatamos que existe uma ordem de causas eficientes. No h qualquer caso conhecido (nem , de facto, possvel) no qual uma coisa seja a causa eficiente de si mesma; pois se assim fosse, seria anterior a si prpria, o que impossvel. Ora, relativamente s causas eficientes no possvel regredir at ao infinito, porque todas as causas eficientes seguem uma certa ordem; a primeira a causa da causa intermdia, e a causa intermdia a causa da causa ltima, quer a causa intermdia seja vrias ou apenas uma. Ora, retirar a causa retirar o efeito. Logo, se no houver uma causa primeira entre as causas eficientes, no existir uma causa ltima, nem uma causa intermdia. [] Isto obviamente falso. Logo, necessrio pressupor uma causa eficiente primeira, a quem todos damos o nome de Deus.
S. Toms de Aquino, Suma Teolgica, 1267-73, trad. de Clia Teixeira, I, q. 2, r 2
O termo causa eficiente, usado por S. Toms, tem origem em Aristteles, que distinguiu quatro tipos de causas. Por causa eficiente entende-se o mesmo que habitualmente designado por causa: aquilo que produz um efeito. 132
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 133
Religio, razo e f
Captulo 17
O argumento cosmolgico tem, portanto, a seguinte estrutura: Premissa 1: No mundo, todas as coisas tm uma causa. Premissa 2: Nada pode ser a causa de si prprio. Premissa 3: As cadeias causais no podem regredir infinitamente. Concluso: Logo, existe uma causa primeira que Deus.
Objeces
As duas primeiras premissas parecem bastante plausveis. J a terceira premissa no assim to clara. Por que razo as cadeias causais no podem regredir infinitamente? Na passagem citada, S. Toms oferece um argumento adicional a favor da ideia de que as cadeias causais no podem regredir infinitamente. O argumento consiste numa reduo ao absurdo. Primeiro, comeamos por supor como hiptese absurda (a hiptese a rejeitar) que existem cadeias causais que regridem infinitamente. Depois mostramos as consequncias desta hiptese e conclumos que so absurdas, o que nos permite rejeitar a hiptese inicial. S. Toms argumenta que se as cadeias causais regredissem infinitamente, ento nada existiria no incio da cadeia que originasse a cadeia causal. Veja-se o esquema seguinte: A B C D ...
As setas representam os elos das cadeias causais. A B, significa que A causou B, ou que B o efeito de A. Se a cadeia fosse infinita, nada existiria no seu incio que desse origem aos efeitos precedentes. Por exemplo, Cristiano Ronaldo existe porque os pais dele existem, e os pais deles existem porque os avs dele existem, e assim por diante. Se no existisse um primeiro casal nos antepassados de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no existiria. Isto , sem uma primeira causa, no h quaisquer efeitos. Do mesmo modo, dizer que as cadeias causais regridem infinitamente retirar a primeira causa de tudo. E sem uma primeira causa,
Rapaz com Camisola s Riscas, de Amedeo Modigliani (1884-1920). O rapaz aqui representado no existiria se os seus pais no o tivessem, num certo sentido, causado.
133
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 134
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
nada pode existir. Mas isto obviamente falso, pois existem imensas coisas. Logo, as cadeias causais no podem regredir infinitamente. Sucintamente, o argumento a favor da ideia de que as cadeias causais no podem regredir infinitamente (a terceira premissa do argumento cosmolgico) o seguinte: Premissa 1: Se as cadeias causais regridem infinitamente, no existe uma primeira causa. Premissa 2: Mas se no existe uma primeira causa, tambm no existe qualquer dos seus efeitos. Premissa 3: Se no existem efeitos, porque nada existe. Premissa 4: bvio que existem coisas. Concluso: Logo, as cadeias causais no podem regredir infinitamente. O problema deste argumento que a premissa 2 falsa. Uma cadeia causal finita com uma causa primeira tem o seguinte aspecto: A B C D Z
Se retirarmos A, os seus efeitos (B, C, D e Z ) deixam de existir. Mas uma cadeia causal infinita sem causa primeira diferente desta. Uma cadeia causal infinita tem o seguinte aspecto: ... A B C D ...
Neste caso, A no a causa primeira porque no h causa primeira. Por outras palavras, uma cadeia causal que regride infinitamente no tem, por definio, uma causa primeira. De modo que falso que se retirarmos a causa primeira (ou seja, se esta no existir), os seus efeitos deixam de existir. E isto falso pela simples razo de que no h qualquer causa primeira que possa deixar de existir. Outro problema que o argumento cosmolgico enfrenta o seguinte: aceitemos que todas as cadeias causais que observamos no mundo tm de ter um incio; mesmo assim, isso no mostra que todas essas cadeias causais tm o mesmo incio como causa. falacioso inferir de tudo tem uma causa que h uma causa nica para tudo. Inferir tal coisa como inferir de todas as pessoas tm uma cabea que h uma cabea nica para toda a gente o que claramente absurdo. Finalmente, esta verso do argumento cosmolgico no estabelece a existncia do Deus testa, mesmo que seja bem sucedido. Para isso seria necessrio fornecer um argumento complementar para mostrar que a causa primeira Deus; ou seja, um ser pessoal, omnisciente e sumamente bom. Tal como apresentado, o argumento apenas poderia estabelecer que uma certa fora, que poderia at ser o Big Bang, a origem ltima do universo.
134
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 135
Religio, razo e f
Captulo 17
Reviso
1. O argumento cosmolgico a priori ou a posteriori? Justifique. 2. O que uma cadeia causal? Ilustre a resposta com exemplos. 3. O que significa dizer que nada pode ser causa de si prprio? 4. Por que razo precisa S. Toms de um argumento a favor da ideia de que as cadeias causais no podem regredir infinitamente? 5. Por que razo o argumento de S. Toms a favor da ideia de que as cadeias causais no podem regredir infinitamente um argumento por reduo ao absurdo? 6. Podem as cadeias causais regredir infinitamente? Justifique. 7. Explique as objeces que o argumento cosmolgico enfrenta.
Discusso
8. S. Toms comea por defender que impossvel que algo seja causa de si prprio para concluir que h algo que se causa a si prprio: a causa primeira. Logo, o argumento auto-contraditrio. Concorda? Porqu? 9. Mesmo que aceitemos que o argumento mostra que existe uma causa primeira, no temos qualquer razo para a identificar com Deus. Por que razo paramos em Deus e no no Big Bang? Ou por que razo no regredimos um pouco mais e identificamos o criador de Deus? Nada no argumento justifica que Deus tenha de ser a causa primeira. Concorda? Porqu? 10. o argumento cosmolgico um bom argumento a favor da existncia de Deus? Porqu?
5. O argumento do desgnio
Tal como o argumento cosmolgico, tambm o argumento do desgnio se baseia em informao emprica para estabelecer a existncia de Deus. , portanto, um argumento a posteriori. Juntamente com o argumento ontolgico e o argumento cosmolgico, o argumento do desgnio um dos argumentos clssicos a favor da existncia de Deus. E tal como acontece com esses argumentos, tambm este tem sido amplamente discutido e sofrido vrios refinamentos ao longo da histria da filosofia. Nesta seco iremos estudar a verso clssica do argumento do desgnio. O argumento clssico do desgnio baseia-se numa analogia entre artefactos (objectos criados pelos seres humanos) e a natureza. Mas como funciona um argumento por analogia?
135
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 136
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Argumentos por analogia
Um argumento por analogia consiste em comparar duas coisas distintas; constatamos que so semelhantes em vrios aspectos e conclumos que tambm so semelhantes em relao a outro aspecto. Eis um exemplo de um argumento por analogia: Os seres humanos sentem dor quando so agredidos. Os ces so como os seres humanos. Logo, os ces tambm sentem dor quando so agredidos. Na primeira premissa atribumos uma propriedade conhecida ao objecto usado para fazer a analogia. A premissa da analogia a segunda. Nessa premissa afirmamos que esse objecto semelhante a outro. Finalmente, conclumos que o segundo objecto tem a propriedade mencionada na primeira premissa. Ser este argumento bom? A primeira coisa a fazer verificar se as premissas so verdadeiras. A primeira premissa, em geral, no levanta dificuldades. O problema saber se a relao de semelhana afirmada na segunda premissa ou no relevante para o que se pretende concluir. No exemplo dado, o que se pretende concluir que os ces sentem dor quando so agredidos. Os seres humanos so usados apenas para fins da analogia. A parte difcil saber se os ces so ou no parecidos com os seres humanos nos aspectos relevantes. Dizer que ambos comem, ou que andam, parece irrelevante para a concluso. Mas dizer que ambos tm um sistema nervoso central j parece bastante relevante. Isto porque o sistema nervoso central responsvel pelas nossas sensaes. Assim, a questo saber se o sistema nervoso central dos ces suficientemente parecido com o dos seres humanos para podermos concluir que tambm eles sentem dor. O que isto significa que a solidez de um argumento por analogia depende da relevncia da semelhana dos objectos comparados relativamente quilo que se pretende concluir. Sucintamente, os argumentos por analogia tm a seguinte forma: Premissa do exemplo: O objecto x tem a propriedade F. Premissa da analogia: O objecto y como o objecto x. Concluso: Logo, o objecto y tambm tem a propriedade F. As premissas dos argumentos por analogia so muitas vezes a posteriori. Para que um argumento por analogia seja slido tem de respeitar as seguintes regras gerais: 1) O objecto x tem de ter F; 2) A semelhana entre y e x tem de tornar provvel que y tenha F. Saber se num argumento por analogia os objectos comparados so ou no semelhantes nos aspectos relevantes , por vezes, extremamente difcil de determinar. Mas se soubermos apresentar boas razes a favor ou contra a analogia porque j estamos a avaliar a solidez do argumento.
136
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 137
Religio, razo e f
Captulo 17
O argumento clssico
Apesar de David Hume (1711-1776) ser um dos maiores crticos do argumento do desgnio, a ele se deve tambm a sua formulao clssica, a qual se encontra sucintamente exposta na seguinte passagem:
Olhai o mundo em redor. Contemplai-o no todo e em cada uma das suas partes. Verificareis que apenas uma grande mquina, subdividida num nmero infinito de mquinas menores, que admitem novas subdivises num grau que ultrapassa o que os sentidos e as faculdades humanas podem investigar e explicar. Todas estas diversas mquinas, e mesmo as suas partes mais pequenas, esto ajustadas umas s outras com uma preciso que fascina todos aqueles que j a contemplaram. Por toda a natureza, a extraordinria adaptao dos meios aos fins assemelha-se exactamente, embora as exceda e muito, s produes da inveno, desgnio, pensamento, sabedoria e inteligncia humanas. Por consequncia, uma vez que os efeitos so semelhantes, somos levados a inferir, por todas as regras da analogia, que as suas causas tambm so semelhantes e que o Autor da natureza um pouco similar mente humana, embora dotado de faculdades muito mais vastas, proporcionais grandeza da obra que executou. Por este argumento a posteriori e apenas por este argumento, provamos ao mesmo tempo a existncia de uma Deidade e a sua semelhana com uma mente e uma inteligncia humanas.
David Hume, Dilogos Sobre a Religio Natural, 1779, trad. de lvaro Nunes, pp. 28-29
A Catedral de Chartres,
Se olharmos com ateno para o mundo, vemos que este exibe uma extrema complexidade e organizao das suas partes. Por exemplo, o Sol permite a existncia de vida na Terra. As plantas permitem a existncia de animais herbvoros. Os herbvoros permitem a existncia dos predadores e assim por diante. E mesmo quando observamos as partes que constituem um certo animal, podemos ver que esto organizadas de forma a possibilitar uma determinada funo. Por exemplo, cada uma das partes que constituem os nossos olhos est organizada de forma a permitir a viso. O que isto significa que o mundo se assemelha a um artefacto: ambos so constitudos por partes que se ajustam perfeitamente para permitir um certo propsito.
de Chaim Soutine (1893-1943). Segundo o argumento do desgnio, tal como tem de existir um arquitecto responsvel pela criao de uma catedral, tambm tem de existir um arquitecto responsvel pela criao do mundo. Deus o arquitecto do mundo.
137
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 138
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Sabemos que as diversas partes dos artefactos se ajustam entre si porque foram criados por seres inteligentes, que os criaram com um dado fim em vista. Logo, o mundo tambm foi criado por um ser inteligente, que responsvel pela organizao das suas diferentes partes. E uma vez que o mundo no seu todo infinitamente mais complexo e sofisticado do que os artefactos, quem o criou tem de ter uma inteligncia infinita. Ora, tal ser s pode ser Deus. Logo, Deus existe. Sucintamente, o argumento do desgnio tem a seguinte estrutura: Premissa do exemplo: Os artefactos so criados por seres inteligentes. Premissa da analogia: O mundo como um artefacto. Concluso: Logo, o mundo foi criado por um ser inteligente. E esse ser s pode ser Deus. Esta a verso clssica do argumento do desgnio. A questo agora a de saber se o argumento bom.
Objeces
Como dissemos, um dos grandes crticos deste argumento David Hume. A maioria das suas objeces encontra-se na obra Dilogos Sobre a Religio Natural, publicada em 1776. A primeira objeco que a analogia entre artefactos e o mundo ou os objectos naturais muito fraca. Ou seja, os artefactos no so suficientemente parecidos com os objectos naturais, ou com o mundo no seu todo, nos aspectos relevantes. Por exemplo, poderamos usar um argumento semelhante para concluir que, tal como os carros, tambm as motas tiveram de ser construdas, pois muito fcil estabelecer semelhanas entre carros e motas. Mas a semelhana entre um carro e um organismo vivo parece muito menos evidente. E para que um argumento por analogia seja forte, as semelhanas no podem ser vagas e difceis de estabelecer. Mas isto o que acontece com o argumento do desgnio. O que levanta muitas reservas quanto sua concluso. Contudo, mesmo que fosse legtimo concluir que o mundo ou os objectos naturais tm um criador, a nica coisa que poderamos inferir acerca desse criador seria que engenhoso e talvez todo-poderoso. Mas nada no argumento mostra que esse criador tem de ser Deus. Ou seja, nada no argumento mostra que esse criador omnisciente, sumamente bom e pessoal. Inferir da existncia de um criador a existncia de Deus um passo invlido. Ora, se olharmos atentamente nossa volta, vemos que o mundo est longe de ser perfeito: h seres vivos deformados e mal adaptados ao meio ambiente, h doenas, cheias, catstrofes, etc. Se o criador do mundo fosse supremamente perfeito, isto , se fosse Deus, a sua criao teria de ser igualmente perfeita. Contudo, o mundo est longe de ser perfeito. Logo, mesmo que o argumento estabelecesse a existncia de um criador, no poderamos inferir da que esse criador Deus.
138
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 139
Religio, razo e f
Captulo 17
O argumento do desgnio foi muito popular no sc. XVIII, mas perdeu muita da sua fora quando surgiu a teoria da evoluo pela seleco natural de Charles Darwin (1809-1882). Esta teoria fornece uma explicao bastante completa e amplamente aceite da complexidade e aparente ajuste que os seres vivos exibem. Alm disso, a teoria da evoluo dispe de uma explicao para as imperfeies dos seres vivos, coisa que o argumento do desgnio no consegue explicar. E f-lo de modo mais abrangente. Esta teoria tambm fornece uma explicao do processo de evoluo que o argumento do desgnio aparentemente ignora. Sabemos que as espcies no so estveis e imutveis; medida que o tempo passa, vo-se transformando e adaptando s novas circunstncias e as que no conseguem adaptar-se acabam por se extinguir. A moderna teoria da evoluo, baseada na teoria original de Darwin, explica cabalmente este processo. Mas a ideia de uma criao divina parece no explicar este processo de evoluo das espcies. Se Deus criou os seres vivos, por que motivo precisaram eles de evoluir de modo a sobreviver? Se fossem criaes divinas, j deveRelgio (pormenor), de Gerald Murphy (1888-1964). Darwin mosriam estar suficientemente adaptadas ao meio ambiente. trou que as leis da natureza perEm resumo, a teoria da seleco natural tem uma maior camitem explicar o aparente desgnio pacidade explicativa do que a hiptese de um desgnio divino. da natureza. Ao contrrio dos relOutra objeco que mesmo que a analogia entre artegios, os seres vivos evoluram pela seleco natural. factos e o mundo fosse boa no poderamos concluir daqui que Deus o criador do mundo. Se levssemos a analogia a bom termo, devamos concluir que o criador do mundo, tal como os criadores de relgios, tm nariz, olhos, boca, orelhas, etc. Ou seramos levados a concluir que existe mais do que um criador semelhana do que acontece com os artefactos. Afinal, os criadores humanos trabalham normalmente em equipa. E quanto mais complexo for o objecto construdo, mais pessoas so necessrias para a sua construo. De modo que, se o mundo foi criado, foi criado por um grupo de divindades e no por uma s. Se o argumento se baseia na experincia, ento essa deveria ser a concluso apropriada.
Reviso
1. Por que razo o argumento do desgnio a posteriori? 2. O que um argumento por analogia? Ilustre a resposta com exemplos. 3. Quando um argumento por analogia bom? Justifique. 4. Por que razo num argumento por analogia os objectos comparados tm de ser semelhantes nos aspectos relevantes? Justifique. 5. Em que sentido o mundo se assemelha a um artefacto?
139
132-153
2007.04.01
17:37
Pgina 140
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
6. Em que medida que o facto de haver imperfeies e mal no mundo poder constituir um problema para o argumento do desgnio? 7. Por que razo constitui a teoria da evoluo pela seleco natural de Darwin uma objeco ao argumento do desgnio? 8. Supondo que o mundo foi criado, ser que podemos concluir que o criador foi Deus? Porqu?
Discusso
9. a analogia entre objectos naturais e artefactos boa? Justifique. 10. o argumento do desgnio um bom argumento a favor da existncia de Deus? Justifique. 11. No penso que a teoria da seleco natural cause um grande embarao ao argumento do desgnio. Afinal, podemos dizer que, apesar de Deus no ter criado directamente os seres vivos, criou as leis da evoluo pela seleco natural que permitem a existncia de seres vivos. Concorda? Porqu?
Texto 47
Desgnio Divino
William Paley
Ao atravessar um campo, suponhamos que tropeo numa pedra e me perguntam como foi ela ali parar. Poderia talvez responder que, tanto quanto me dado saber, a pedra sempre esteve naquele local. No seria muito fcil, talvez, mostrar o absurdo desta resposta. Mas suponha-se que eu tinha encontrado um relgio no cho e que me instavam a responder questo de saber como apareceu o relgio naquele lugar. Neste caso, dificilmente consideraria a hiptese de dar a resposta anterior que, tanto quanto me era dado a saber, o relgio sempre ali estivera. No entanto, por que no pode esta resposta ser apropriada ao relgio, tal como o no caso da pedra? Por que no esta resposta to admissvel no segundo caso como no primeiro? Por esta e s esta razo: quando inspeccionamos o relgio, vemos que as suas diversas partes esto organizadas e associadas com um propsito (o que no poderia acontecer no caso da pedra); por exemplo, vemos que as suas diversas partes esto configuradas e ajustadas de modo a produzir movimento e que esse movi-
140
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 141
Religio, razo e f
Captulo 17
mento est de tal forma regulado que assinala as horas do dia; e vemos que se as suas diversas partes estivessem configuradas de forma diferente, tivessem outro tamanho ou estivessem colocadas de forma diferente ou segundo outra ordem qualquer, ento a mquina no originaria qualquer movimento pelo menos, no organizaria qualquer movimento que pudesse servir ao uso que dele agora se faz. [] Ao observar este mecanismo ( efectivamente necessrio um exame do instrumento, e talvez algum conhecimento prvio do assunto, para o reconhecer e compreender; mas, tendo sido observado e compreendido), pensamos que a inferncia inevitvel: o relgio teve de ter um criador; teve de existir, num ou noutro momento, e num ou noutro lugar, um ou mais artfices que o construram com o propsito que vemos que lhe apropriado; artfices esses que compreenderam a sua construo e conceberam o seu uso. [] Todos os indcios de inveno, toda a manifestao de desgnio, que existiam no relgio existem nas obras da natureza com a diferena de, no caso da natureza, serem mais e maiores, num grau que ultrapassa todo o clculo. Quero eu dizer que o engenho da natureza ultrapassa o engenho da arte em complexidade, subtileza e estranheza do mecanismo; e ultrapassa-o ainda mais, se isso possvel, em termos de nmero e diversidade; contudo, em muitssimos casos, no menos evidentemente mecnico, menos engenhoso, menos apropriado ao seu fim ou apropriado sua tarefa, do que as mais perfeitas produes do engenho humano.
William Paley, Teologia Natural, 1809, trad. de Desidrio Murcho, pp. 1-3, 17-18
Interpretao
1. Por que razo defende Paley que a resposta sobre a origem do relgio no pode ser igual resposta sobre a origem da pedra? 2. O relgio uma analogia com o qu? 3. Formule e complete o argumento de Paley a favor da existncia de Deus, distinguindo cuidadosamente as premissas da concluso.
Discusso
4. Explique em que condies seria possvel dar uma resposta sobre a origem do relgio que no envolvesse qualquer criador inteligente.
141
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 142
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
6. O argumento moral
O argumento moral a favor da existncia de Deus foi bastante popular no sc. XIX, em parte por se pensar que os argumentos tradicionais se tinham tornado implausveis por causa dos avanos da cincia. Contudo, a sua influncia na histria da filosofia diminuta, pois qualquer das verses do argumento moral mais fraca do que os argumentos tradicionais.
A verso popular
O argumento moral comea por declarar que nada h no mundo natural que nos diga se uma certa aco moralmente aceitvel ou no. Por exemplo, sabemos que a neve branca porque vemos que branca. Mas por que razo errado matar crianas inocentes por prazer? Ou por que razo temos o dever de cumprir as nossas promessas? Sem um ser divino que legisle sobre os nossos deveres morais, no poderia haver regras morais objectivas. Se errado matar crianas inocentes por prazer porque Deus legislou que assim fosse. Deste modo, o que errado ou correcto depende de Deus. Deus a fonte da lei moral. Mas Deus no tem apenas o papel de legislador, tem tambm o papel de motivador. Como vimos no Captulo 8, agir moralmente implica, por vezes, agir contra os nossos interesses e desejos mundanos. Sem um ser que puna ou premeie as nossas aces perderamos a motivao para agir moralmente. O argumento moral popular parte da ideia de que Deus necessrio para estabelecer e motivar a moralidade.
A objeco de kant
A verso popular do argumento moral enfrenta vrias objeces. Uma das mais bvias que parece falso que seja errado matar crianas inocentes por prazer s porque Deus assim o legislou. Se Deus no o tivesse legislado passaria tal aco a ser correcta? Isso parece inaceitvel. Mas se Deus legislou tal coisa por ser moralmente errada, ento no precisamos de Deus para legislar sobre o que ou no moralmente correcto. Immanuel Kant rejeita a verso popular do argumento moral, defendendo que Deus no necessrio para legislar as nossas obrigaes morais. Kant defende que uma aco eticamente errada ou correcta em si, e pode ser vista como tal por qualquer ser racional. Neste sentido, a moral est fundada na razo e no vontade de Deus. Por isso, matar inocentes algo que errado em si, e no porque Deus legislou que assim fosse. E isso algo que qualquer ser racional tem a capacidade de ver por si.
142
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 143
Religio, razo e f
Captulo 17
Kant tambm rejeita que Deus seja necessrio como motivador da aco moral. A nica coisa que nos deve motivar a agir moralmente, defende Kant, o respeito pela lei moral, como vimos no Captulo 9. Kant defende que se as nossas aces morais fossem motivadas pelo medo da punio divina ou pelo desejo da recompensa divina, estaramos a corromper a moral, pois estaramos a agir de modo interesseiro.
O argumento de Kant
Kant rejeita a verso popular do argumento moral, mas defende um argumento semelhante. Kant considera que temos o dever de promover o bem supremo porque somos seres morais. Bem supremo o nome dado por Kant perfeio moral do universo: um universo no qual exista uma conexo entre a aco virtuosa e a felicidade. Kant pensa que a vida moral pressupe esta conexo entre a virtude e a felicidade. Por exemplo, os seres humanos procuram, na medida do possvel, recompensar os actos virtuosos e a bondade, e castigar o crime e a maldade. Contudo, nada h no mundo natural que garanta essa conexo entre a virtude e a felicidade. Como sabemos, uma pessoa virtuosa pode sofrer muitas injustias; e uma pessoa m pode ter muita sorte. Isto levanta um problema, dado que temos o dever de promover o bem supremo. Ora, uma ideia consensual em tica que no temos o dever de fazer o impossvel. Dado que temos o dever de promover o bem supremo, este tem de ser possvel. Uma vez que o mundo natural no garante o bem supremo, um ser sobrenatural que controla o mundo a partir de fora tem de garantir o bem supremo Deus. Logo, Deus existe. O argumento moral de Kant a favor da existncia de Deus tem a seguinte estrutura dedutivamente vlida: O Bom Samaritano, de Cornelis Premissa 1: Temos o dever moral de promover o bem supremo.
Van Haarlem (1562-1683). Ser que a virtude pressupe a existncia de Deus?
Premissa 2: Se temos o dever moral de promover o bem supremo, este tem de ser possvel. Premissa 3: Se Deus no existisse, o bem supremo no era possvel. Concluso: Logo, Deus existe.
143
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 144
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Objeces
Os crticos do argumento moral de Kant admitem que o facto de termos o dever de fazer algo implica que seja possvel faz-lo; mas argumentam que isso no significa que o facto de termos o dever de promover o bem supremo implica que seja possvel alcan-lo. Por exemplo, pode-se dizer que temos o dever de procurar realizar os nossos sonhos; e isso implica que possvel tentar realiz-los; mas no implica que os nossos sonhos possam ser realizados. Do facto de podermos tentar realizar os nossos sonhos no se segue que estes sejam realizveis. Se esta objeco estiver correcta, a premissa 2 do argumento moral de Kant falsa. Uma segunda objeco pe em causa que tenhamos o dever de promover o bem supremo. O bem supremo, recorde-se, a conexo entre a virtude e a felicidade. Ora, podemos aceitar que temos o dever de ser virtuosos, mas rejeitar que tenhamos o dever de promover a conexo entre a virtude e a felicidade. claro que fazemos leis que recompensam as pessoas virtuosas e castigam as pessoas ms. Mas no temos qualquer dever de promover a conexo entre a virtude e a felicidade. Temos apenas o dever de promover a virtude, e um meio de o fazer recompensar a virtude e castigar a maldade. Um argumento diferente seria dizer que Deus tem de existir porque s isso poderia garantir a felicidade em resultado da nossa virtude. Ou seja, sem Deus, as pessoas virtuosas no seriam adequadamente recompensadas e as pessoas ms no seriam adequadamente castigadas. Mas este argumento no aceitvel para o prprio Kant. Este filsofo defende que devemos fazer o nosso dever porque esse o nosso dever, e nada mais. Segundo o prprio Kant, o bem deve ser praticado pelo bem apenas, e no por outra razo qualquer.
Reviso
1. Formule a verso popular do argumento moral, distinguindo cuidadosamente as premissas da concluso. 2. Que objeces enfrenta a verso popular do argumento moral? 3. Como concebe Kant o bem supremo? 4. Por que razo o mundo natural no garante a possibilidade do bem supremo? 5. Em que difere a verso popular do argumento moral do argumento de Kant? 6. Que objeces enfrenta o argumento moral de Kant?
Discusso
7. Sem um ser que puna ou premeie as nossas aces, perderamos a motivao para agir moralmente. Concorda? Porqu? 8. Concorda com as objeces ao argumento moral de Kant? Porqu? 9. Precisamos de Deus para justificar a moral? Porqu?
144
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 145
Religio, razo e f
Captulo 17
Texto 48
Deus como Postulado da Razo
Immanuel Kant
A felicidade o estado de um ser racional no mundo no qual em toda a sua existncia tudo est de acordo com o seu desejo e vontade, e depende, portanto, da harmonia da natureza com todo o seu fim, tal como com o princpio determinante essencial da sua vontade. Ora, a lei moral, enquanto lei da liberdade, tem autoridade atravs da determinao de princpios que so totalmente independentes da natureza e da sua harmonia com a nossa faculdade do desejo (enquanto incentivos); o ser racional actuante no mundo no tambm, contudo, a causa do mundo e da natureza em si. Consequentemente, no h qualquer fundamento, na lei moral, para a existncia de uma conexo necessria entre a moralidade e felicidade proporcional de um ser que pertence ao mundo como sua parte e portanto dele dependente, e que por essa razo no pode, pela sua vontade, ser uma causa desta natureza e, no que respeita sua felicidade, no pode pelos seus prprios poderes faz-lo harmonizar-se completamente com os seus princpios prticos. Contudo, na tarefa prtica da razo pura, isto , na procura necessria do bem supremo, tal conexo postulada como necessria: temos o dever de tentar promover o bem supremo (que tem portanto de ser possvel). Assim, a existncia de uma causa de toda a natureza, distinta da natureza, que contenha o fundamento desta conexo, a saber, a correspondncia exacta da felicidade com a moralidade, tambm postulada. Contudo, esta causa suprema h-de conter o fundamento da correspondncia da natureza no apenas com uma lei da vontade de seres racionais, mas tambm com a representao desta lei, na medida em que fizerem dela o fundamento supremo e determinante da vontade, e consequentemente no apenas com a forma da sua moral mas tambm com a sua moralidade enquanto seu fundamento determinante, isto , com a sua disposio moral. Logo, o bem supremo do mundo s possvel na medida em que se pressuponha uma causa suprema da natureza que tenha uma causalidade em harmonia com a disposio moral. Ora, um ser capaz de aces de acordo com a repreA Expulso do Paraso, de Charles sentao de leis uma inteligncia (um ser racional), e a causaliJoseph Natoire (1700-1777) Ser a possidade de tal ser de acordo com esta representao de leis a sua bilidade do paraso uma exigncia da vida moral? vontade. Logo, a causa suprema da natureza, na medida em que tem de ser pressuposta para o bem supremo, um ser que a causa da natureza pelo entendimento e vontade (logo, o seu autor), isto , Deus. Consequentemente, o postulado da possibilidade do bem supremo derivado (o melhor mundo)
145
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 146
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
igualmente o postulado da realidade de um bem supremo original, nomeadamente da existncia de Deus. Ora, era para ns um dever promover o bem supremo; logo, h em ns no apenas a justificao mas tambm a necessidade, como uma carncia conectada ao dever, de pressupor a possibilidade deste bem supremo que, dado que s possvel sob a condio de existir Deus, conecta o pressuposto da existncia de Deus inseparavelmente com o dever; isto , moralmente necessrio pressupor a existncia de Deus. Deve-se ter em ateno que esta necessidade moral subjectiva, isto , uma carncia, e no objectiva, isto , em si um dever; pois no pode haver o dever de pressupor a existncia de seja o que for (dado que isto apenas diz respeito ao uso terico da razo). Acresce que no se deve pensar que necessrio pressupor a existncia de Deus como um fundamento de toda a obrigao em geral (pois, como foi suficientemente mostrado, esta repousa unicamente na autonomia da prpria razo). O que pertence ao dever aqui apenas o empenho em produzir e promover o bem supremo no mundo, cuja possibilidade pode portanto ser postulada, dado que para a nossa razo isto s pensvel sob o pressuposto de uma inteligncia suprema; pressupor a existncia desta inteligncia suprema est assim conectado com a conscincia do nosso dever, apesar de este pressuposto pertencer razo terica; com respeito apenas razo terica, enquanto um fundamento da explicao, pode-se chamar hiptese; mas em relao inteligibilidade de um objecto que nos dado pela lei moral (o bem supremo), e consequentemente de uma carncia para propsitos prticos, pode-se chamar f e, efectivamente, uma f racional pura dado que a razo pura s por si (tanto no seu uso terico como prtico) a fonte na qual tem origem.
Immanuel Kant, Crtica da Razo Prtica, 1788, trad. de Desidrio Murcho, pp. 5: 125-126
Interpretao
1. Por que razo defende Kant que a lei moral no garante uma conexo entre a felicidade e a moralidade? 2. Por que razo defende Kant que o bem supremo s possvel se Deus existir? 3. Que significa dizer que o postulado da existncia de Deus uma necessidade subjectiva? 4. Por que razo defende Kant que a existncia de Deus no um fundamento da obrigao moral? 5. Como caracteriza Kant a f?
Discusso
6. Concorda que necessria uma conexo necessria entre a moralidade e a felicidade para que a moralidade possa existir? 7. O argumento central de Kant falacioso porque consiste em defender que, como seria bom que Deus existisse para recompensar a aco correcta com a felicidade, ento Deus tem mesmo de existir. Concorda? Porqu?
146
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 147
Religio, razo e f
Captulo 17
7. O problema do mal
Nas seces anteriores estudmos algumas das tentativas mais importantes para justificar por meio da razo a existncia de Deus. Nesta seco iremos estudar o mais importante problema que a justificao racional da existncia de Deus enfrenta: o problema do mal. O problema do mal tem sido amplamente discutido ao longo da histria da filosofia. Este problema tem sido usado como argumento a favor do atesmo. O argumento baseia-se na ideia de que a existncia do mal incompatvel com a existncia de Deus. O filsofo cristo Lactncio (c. 250-325) atribui a Epicuro (341-270 a. C.) a primeira formulao do argumento, conhecida por paradoxo de Epicuro:
Ou Deus quer impedir o mal e no pode, ou pode mas no quer. Se quer mas no pode, impotente. Se pode, mas no quer, malvolo. Mas se Deus quer e pode, de onde vem ento o mal?
Epicuro, ap. Lactncio, Da Fria de Deus, trad. de Clia Teixeira, p. 13.20-21
A questo que Epicuro levanta a de saber como podemos compatibilizar a existncia do mal com a existncia de Deus. Se Deus omnisciente, sabe que o mal existe. Se sumamente bom, quer impedi-lo. Se omnipotente, pode impedi-lo. Logo, se Deus existisse, no haveria mal. Mas h mal. Logo, Deus no existe. Eis o argumento na sua forma mais simples: Primeira premissa: Se Deus existe, no pode existir mal no mundo. Segunda premissa: Mas existe mal no mundo. Concluso: Logo, Deus no existe. O argumento vlido. Mas ser que as premissas so todas verdadeiras? implausvel negar que existe mal no mundo. Infelizmente, basta olhar nossa volta para ver imenso sofrimento. Todos os dias morrem pessoas assassinadas, de doenas, de fome, etc. E isto tem sido assim ao longo da histria da humanidade. S nos campos de concentrao nazis, durante a segunda guerra mundial, foram mortos, da pior maneira possvel, seis milhes de judeus. importante distinguir o tipo de mal que ocorreu na segunda guerra mundial do tipo de mal que ocorre quando algum vtima de uma doena ou de um desastre natural. Ao tipo de mal que tem origem nas aces dos seres humanos chama-se mal moral. Ao tipo de mal que no tem origem nas aces dos seres humanos, chama-se mal natural. Exemplos de males naturais so os que advm de desastres naturais, como terramotos, furaces, cheias, doenas, etc. Exemplos de males morais so coisas como assassinatos, torturas, roubos, etc.
147
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 148
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
O mal moral o sofrimento causado pelos seres humanos, deliberadamente ou por negligncia. O mal natural o sofrimento que resulta de fenmenos naturais. A dificuldade est em compreender como pode Deus permitir a existncia do mal, quer moral quer natural. Uma maneira de responder ao problema do mal construir uma teodiceia. Uma teodiceia uma explicao da razo pela qual Deus permite a existncia de mal no mundo.
Uma resposta ao problema do mal
Dado que muito implausvel negar a existncia de mal no mundo, a maioria dos filsofos tem atacado a premissa de que se Deus existe, no pode existir mal no mundo. Negar esta premissa afirmar que Deus existe, mas pode existir mal no mundo. Ou seja, trata-se de defender que a existncia de Deus compatvel com a existncia do mal. A ideia que Deus permite o mal para possibilitar um bem maior: a existncia de livre-arbtrio. Um mundo sem mal mas sem livre-arbtrio seria pior do que o mundo que temos, no qual h mal mas h tambm livre-arbtrio. Esta a chamada defesa do livre-arbtrio. Sucintamente, esta defesa tem por base o seguinte argumento:
Dor, de Carlos Schwabe (1866-1926). A dor e o sofrimento so os maiores obstculos justificao racional da existncia de Deus.
Primeira premissa: A existncia do mal necessria para a existncia de livre-arbtrio. Segunda premissa: Um mundo com livre-arbtrio melhor do que um mundo sem livre-arbtrio. Terceira premissa: Deus quer o melhor. Concluso: Logo, Deus permite a existncia do mal. A primeira premissa do argumento uma das mais discutidas. Afinal, ser que no poderamos ter livre-arbtrio e escolher sempre fazer o bem? O filsofo Richard Swinburne (n. 1934) argumenta que contraditrio supor que possa existir livre-arbtrio sem mal:
148
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 149
Religio, razo e f
Captulo 17
A escolha livre e responsvel no apenas o livre-arbtrio no sentido restrito de poder escolher entre aces alternativas, sem que a nossa escolha tenha sido causalmente determinada por uma qualquer causa anterior. [...] Mas os seres humanos poderiam ter este tipo de livre-arbtrio unicamente em virtude de serem capazes de escolher livremente entre duas alternativas igualmente boas e sem importncia. Ter a possibilidade da escolha livre e responsvel antes ter livre-arbtrio (do tipo discutido) para fazer escolhas entre o bem e o mal que sejam significativas, profundamente importantes para o agente, para os outros e para o mundo.
Richard Swinburne, Ser que Deus Existe?, 1991, trad. de Desidrio Murcho et al., pp. 112-113
Swinburne defende que o tipo de livre-arbtrio relevante o que envolve escolhas livres e responsveis. No basta ter livre-arbtrio para escolher entre aces sem importncia. O tipo de livre-arbtrio que conta tem de envolver escolhas importantes entre o bem e o mal. Afinal, se s pudssemos escolher o bem, nada estaramos a fazer de extraordinrio ao agir correctamente. porque podemos escolher entre o bem e o mal que somos genuinamente livres e responsveis. Assim, a existncia do mal uma condio necessria para a existncia de um bem maior: a responsabilidade moral que advm de sermos genuinamente livres. por existir mal que podemos resistir-lhe, superando-nos a ns prprios. Por exemplo, se no tivssemos a liberdade para mentir, no seria realmente virtuoso da nossa parte no mentir quando uma mentira nos poderia facilitar a vida. E se no tivssemos a liberdade para roubar, no seria realmente virtuoso resistir tentao de roubar os bens alheios quando temos oportunidade para o fazer sem sermos apanhados. A defesa do livre-arbtrio no se aplica apenas ao mal moral. Swinburne defende que o mal natural tambm necessrio para nos aperfeioarmos moralmente. Por exemplo, se no houvesse doenas e cheias, no teramos oportunidade para sermos hericos, ajudando os nossos semelhantes. Em concluso, segundo a defesa do livre-arbtrio, sem males no mundo no poderamos ser virtuosos, no poderamos resistir ao mal nem poderamos ser hericos. So estas qualidades que resultam de sermos verdadeiramente livres que justificam a existncia do mal.
Reviso
1. O que o problema do mal? 2. Por que razo constitui o problema do mal uma objeco existncia de Deus? 3. o argumento que resulta do problema do mal um argumento a priori ou a posteriori? Justifique. 4. Quem quiser objectar ao argumento contra a existncia de Deus baseado no problema do mal tem duas alternativas. Quais? 5. Explique como responde o defensor da resposta do livre-arbtrio ao problema do mal. 6. Por que razo no pode haver livre-arbtrio sem mal, segundo Swinburne?
149
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 150
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Discusso
7. Um mundo com livre-arbtrio melhor do que um mundo sem mal e sem livre-arbtrio. Concorda? Porqu? 8. Ser que um bem maior pode justificar o mal? Porqu? 9. Podemos responder ao problema do mal negando uma das propriedades que normalmente atribumos a Deus. Por exemplo, defendendo que Deus no omnipotente. Concorda? Porqu? 10. Ser contraditrio supor que possa existir livre-arbtrio sem mal? Porqu? 11. O que faz a crena na existncia de Deus ser irracional no a existncia de mal em si, mas a existncia de mal em excesso. Concorda? Porqu?
Texto 49
Teodiceia
G. W. Leibniz
Objeco. Quem quer que seja que no escolha o melhor ou porque no tem o poder suficiente, ou o conhecimento suficiente, ou a bondade suficiente. Deus no escolheu o melhor ao criar este mundo. Logo, no tem o poder suficiente, ou o conhecimento suficiente, ou a bondade suficiente. Resposta. Nego a premissa menor, isto , a segunda premissa, deste silogismo; e o nosso oponente prova-a deste modo. Prossilogismo. Quem quer que seja que faa coisas que contenham mal, as quais poderiam ter sido feitas sem conterem mal, ou cuja sua criao poderia ter sido omitida, no escolhe o melhor. Deus criou um mundo que contm mal; um mundo que, julgo eu, poderia ter sido criado sem conter mal, ou cuja criao poderia ter sido omitida. Logo, Deus no escolheu o melhor. Resposta. Concedo a premissa menor deste prossilogismo; pois temos de admitir que existe mal neste mundo que Deus fez, e que seria possvel fazer um mundo sem mal, ou mesmo no ter criado mundo algum, pois a sua criao depende do livre-arbtrio de Deus. Mas nego a premissa maior, isto , a primeira das duas premissas do prossilogismo, e posso contentar-me exigindo simplesmente a sua demonstrao. Mas de modo a tornar a coisa mais clara, pretendi justificar essa negao mostrando que a melhor opo nem sempre aquela que procura evitar o mal, uma vez que o mal pode ser acompanhado por um bem
150
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 151
Religio, razo e f
Captulo 17
maior. Por exemplo, um general de um exrcito ir preferir uma grande vitria com ligeiros ferimentos a uma condio em que no haja ferimentos nem vitria. [] Uma imperfeio nas partes pode ser necessria para uma maior perfeio do todo. Nisto segui a opinio de S. Agostinho, que afirmou centenas de vezes que Deus permitiu o mal de modo a produzir o bem, isto , um bem maior, e a opinio de Toms de Aquino (em Libr II. sent. dist. 32, qu.I, art. 1), de que a permisso do mal tende para o bem do universo. Mostrei que os antigos chamaram queda de Ado felix culpa, um pecado feliz, porque ele tem sido recuperado com imensa vantagem pela encarnao do Filho de Deus, o qual deu ao universo algo de uma nobreza tal que de outro modo no poderia ter existido entre as criaturas. Para possibilitar uma total compreenso, acrescentei, seguindo muitos bons autores, que foi de acordo com a ordem e o bem geral que Deus permitiu a certas criaturas a oportunidade de exercerem a sua liberdade mesmo quando anteviu que elas iriam virar-se para o mal, mas que ele poderia perfeitamente rectificar; porque no apropriado que, de modo a impedir o pecado, Deus esteja sempre agir de modo extraordinrio. Para derrubar esta objeco, portanto, suficiente mostrar que um mundo com mal pode ser melhor que um mundo sem mal; mas fui mais longe neste trabalho, e cheguei mesmo a provar que este universo tem de ser, na realidade, melhor do que qualquer outro universo possvel.
G. W. Leibniz, A Teodiceia, 1710, trad. de Clia Teixeira, pp. 146-147
Contextualizao
Quando temos silogismos em cadeia, chama-se prossilogismo ao silogismo
cuja concluso usada como premissa do silogismo seguinte.
Leibniz chama silogismo a um argumento com duas premissas e uma concluso.
Interpretao
1. Como caracteriza Leibniz o problema do mal? 2. O exemplo do general serve para ilustrar o qu? 3. O exemplo da queda de Ado serve para ilustrar o qu? 4. Como responde Leibniz ao problema do mal?
Discusso
5. A melhor opo nem sempre aquela que procura evitar o mal, uma vez que o mal pode ser acompanhado por um bem maior. Concorda? Porqu? 6. No apropriado que, de modo a impedir o pecado, Deus esteja sempre agir de modo extraordinrio. Concorda? Porqu?
151
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 152
PARTE 6
A DIMENSO RELIGIOSA
Estudo complementar
Almeida, Aires e Murcho, Desidrio, orgs. (2006) Textos e Problemas de Filosofia. Lisboa: Pltano Editora, Problemas 12, 13 e 14. Blackburn, Simon (1999) Deus in Pense: Uma Introduo Filosofia. Trad. de Antnio Infante et al. Lisboa: Gradiva, 2001, Cap. 5. Hume, David (1779) Dilogos sobre a Religio Natural. Trad. de lvaro Nunes. Lisboa: Edies 70, 2005. Kant, Immanuel (1788) A Existncia de Deus como um Postulado da Razo Pura Prtica, in Crtica da Razo Prtica. Trad. de Artur Moro. Lisboa: Edies 70, 1997 . Kolak, Daniel e Martin, Raymond (2002) Deus in Sabedoria sem Respostas. Trad. de Clia Teixeira. Lisboa: Temas e Debates, 2004, Cap. 6. Santo Anselmo (1077-78) Proslogion. Trad. de Costa Macedo. Porto: Porto Editora, 1996. Swinburne, Richard (1996) Porque Razo Deus Permite o Mal, in Ser Que Deus Existe? Trad. de Desidrio Murcho et. al. Lisboa: Gradiva, 1998, Cap. 6. Warburton, Nigel (1992) Deus in Elementos Bsicos de Filosofia. Trad. de Desidrio Murcho. Lisboa: Gradiva, 1998, Cap. 1.
Kahane, Howard (1983) H Boas Razes para Acreditar que Deus Existe?, in Filosofia e Educao, http://www.filedu.com/hkahanehaboasrazoesparaacreditar quedeusexiste.html. Trad. de Jlio Sameiro. Moutinho, Miguel (s/d) O Argumento do Desgnio, in Crtica. http://www.criticana rede.com/fil_designio.html. Moutinho, Miguel (s/d) Duas Perspectivas sobre o Problema do Mal, in Crtica. http://www.criticanarede.com/html/fil_2sobremal.html. Swinburne, Richard (2002) Argumentos do Desgnio, in Filosofia e Educao, http://www.filedu.com/rswinburneargumentosdodesignio.html. Trad. de lvaro Nunes.
152
132-153
2007.04.01
17:38
Pgina 153
Religio, razo e f
Captulo 17
H harmonia entre a f e a razo?
NO
SIM
Fidesmo
Teologia natural
Deus existe e no preciso provas.
Deus existe e h provas.
153
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 154
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Captulo 18. O estatuto moral dos animais no humanos, 155 Captulo 19. A pobreza e a obrigao de ajudar, 169
Depsito de Cadveres, de Max Beckmann (1884-1950). Os filsofos tm reflectido sobre os principais problemas ticos que afectam o mundo contemporneo. O sofrimento humano (e tambm o sofrimento infligido aos animais no humanos) tem motivado vrios debates filosficos com a maior relevncia prtica. Nestes captulos finais, propomos uma introduo a dois desses debates.
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 155
Optar pelo Captulo 18 ou pelo Captulo 19
Captulo 18
O estatuto moral dos animais no humanos
1. A perspectiva tradicional
Todos os anos usamos milhes de animais no humanos na nossa alimentao e vesturio, na realizao de experincias cientficas e para muitos outros fins, como o simples entretenimento. O modo como os usamos envolve frequentemente no s a sua morte, mas tambm um sofrimento prolongado e intenso. A explorao de animais no humanos para nosso benefcio parece to velha como a prpria humanidade, mas, no ltimo sculo, atingiu nveis nunca antes vistos. Recentemente, os filsofos comearam a dar mais ateno ao problema de saber como devemos tratar os animais no humanos. Alguns apresentaram argumentos poderosos contra a perspectiva de que os animais no humanos no tm qualquer importncia ou estatuto moral. Hoje, os problemas sobre as nossas obrigaes para com os animais no humanos ocupam um lugar central na tica aplicada. De acordo com a perspectiva tradicional, defendida por filsofos como Aristteles (384-322 a. C.), S. Toms de Aquino (1225-1276) e Immanuel Kant (1724-1804), os animais no humanos no tm estatuto moral, esto fora do domnio da tica esta diz respeito apenas s relaes entre os seres humanos. Por vezes, esta perspectiva baseia-se numa viso teleolgica do mundo segundo a qual os animais no humanos existem ou foram criados para nosso benefcio. Como esto neste mundo para nos servir, parece bvio que nada h de errado em us-los para nosso benefcio. Kant exprimiu esta ideia com toda a clareza:
Seces 1. A perspectiva tradicional, 155 2. Especismo, 157 3. Perspectivas contemporneas, 162 Textos 50. tica e Espcie, 160 James Rachels 51. A Perspectiva dos Direitos, 164 Tom Regan Objectivos Avaliar a perspectiva de que os animais no humanos no tm estatuto moral. Avaliar as crticas ao especismo. Distinguir duas perspectivas favorveis ao estatuto moral dos animais no humanos: a utilitarista e a deontolgica. Avaliar essas duas perspectivas e confrontar as suas implicaes prticas. Conceitos Estatuto moral, deveres indirectos. Especismo, sencincia, sujeito de uma vida.
155
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 156
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Os animais no tm conscincia de si e existem apenas como meio para um fim. Esse fim o homem. Podemos perguntar Por que razo existem os animais?. Mas perguntar Por que razo existe o homem? fazer uma pergunta sem sentido. Os nossos deveres em relao aos animais so apenas deveres indirectos em relao humanidade.
Immanuel Kant, Lies de tica, 1775-1780, trad. de Pedro Galvo, p. 239
A ltima afirmao significa que, embora no tenhamos propriamente deveres em relao aos animais no humanos, ainda assim errado trat-los de certas maneiras. Kant afirma que, se um co serviu fielmente o seu dono durante muito tempo, o seu servio merece ser recompensado. Quando o co fica demasiado velho, o seu dono deve mant-lo at ele morrer. Este seu dever, no entanto, apenas um dever indirecto. O que quer isto dizer?
Se um homem abater o seu co por este j no ser capaz de o servir, no infringe o seu dever em relao ao co, pois o co no pode julgar, mas o seu acto desumano e fere em si essa humanidade que ele deve ter em relao aos seres humanos. Para no asfixiar os seus sentimentos humanos, tem de praticar a generosidade para com os animais, pois aquele que cruel para os animais depressa se torna duro tambm na maneira como lida com os homens.
Immanuel Kant, Lies de tica, 1775-1780, trad. de Pedro Galvo, p. 240
Kant reconhece que os animais no humanos se assemelham a ns em aspectos importantes. E acrescenta que, devido a tais semelhanas, quem os trata com crueldade cria uma disposio para tambm ser cruel com os seres humanos. Por que razo devemos, ento, no ser cruis com os animais no humanos? Porque errado faz-los sofrer? No, pensa Kant, pois no temos quaisquer deveres directos em relao aos animais, como o dever de no infligir sofrimento. A nica razo pela qual no devemos tratar cruelmente os animais que isso levar-nos-ia, com toda a probabilidade, a tratar mal os seres humanos. isto que significa dizer que os nossos deveres em relao aos animais no humanos so apenas deveres indirectos em relao humanidade. Assim, segundo esta perspectiva, justifica-se tratar cruelmente os animais quando isso nos pode trazer benefcios. Kant defende que o seu uso na cincia, por muito sofrimento que envolva, nada tem de errado porque serve um objectivo louvvel: a aquisio de conhecimento. Mas condena a crueldade quando esta exercida por diverso. Hoje muito difcil aceitar esta perspectiva. A viso teleolgica do mundo em que se costumava basear foi severamente abalada por Charles Darwin (1809-1882), que desenvolveu a teoria da evoluo das espcies por seleco natural. luz desta teoria cientfica, simplesmente falso que os animais no humanos existam ou tenham sido criados para nosso benefcio: ns descendemos de outros animais e, tal como eles, somos um resultado da seleco natural, que um mecanismo que produz a evoluo das espcies sem ter em vista qualquer propsito ou finalidade. Alm disso, do facto de um ser ter sido criado especificamente com um determinado fim em vista no se segue que us-lo para esse fim seja correcto. Afinal, um casal pode criar um filho especificamente para o escravizar, mas da no se segue que seja correcto escraviz-lo.
156
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 157
O estatuto moral dos animais no humanos
Captulo 18
Reviso
1. Segundo Kant, todos os nossos deveres em relao aos animais so apenas deveres indirectos em relao humanidade. O que quer isto dizer?
Discusso
2. Os animais no tm importncia moral porque, contrariamente aos seres humanos, no tm uma alma imortal. Concorda? Justifique a sua resposta.
2. Especismo
Mesmo que no se acredite que os animais foram criados para nosso benefcio, pode-se continuar a aceitar que s ns, seres humanos, temos realmente estatuto ou importncia moral. Mas por que razo haveremos de excluir os animais no humanos da esfera da tica? Para essa excluso no ser arbitrria, tem de se basear num critrio aceitvel. A resposta tradicional que os animais no humanos no tm importncia moral porque, contrariamente aos seres humanos, no so racionais, nem tm a capacidade de usar uma linguagem. J no sculo XIX, no entanto, Jeremy Bentham (1748-1832) defendeu que esta resposta insatisfatria.
Talvez chegue o dia em que a restante criao animal venha a adquirir os direitos que nunca lhe poderiam ter sido retirados seno pela mo da tirania. Os franceses j descobriram que o negro da pele no razo para um ser humano ser abandonado sem remdio aos caprichos de um torcionrio. possvel que um dia se reconhea que o nmero de pernas, a vilosidade da pele ou a terminao do os sacrum so razes igualmente insuficientes para abandonar um ser sensvel ao mesmo destino. Que outra coisa poderia traar uma linha insupervel? Ser a faculdade da razo ou, talvez, a faculdade do discurso? Mas um cavalo adulto , para l de toda a comparao, um animal mais racional, assim como mais socivel, que um recm-nascido de um dia, de uma semana ou mesmo de um ms. Mas suponhamos que no era assim; de que serviria? A questo no est em saber se eles podem falar ou pensar, mas sim se podem sofrer.
Jeremy Bentham, Introduo aos Princpios da Moral e da Legislao, 1789, Cap. XVII, Sec. 1
O argumento de Bentham simples, mas revolucionrio. Ao determinar que seres esto abrangidos pela tica, tentador usar um critrio como a capacidade de pensar ou de usar uma linguagem. Mas se o fizermos, teremos de excluir da tica no s os animais, mas tambm alguns seres humanos, como crianas recm-nascidas ou deficientes men-
157
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 158
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
O Galo, de Marc Chagall (1887-1985) Nas pinturas
de Chagall, a relao que os animais no humanos mantm com os seres humanos semelhante que os seres humanos mantm entre si.
tais profundos. Ora, isso inadmissvel. Portanto, temos de encontrar outro critrio. E o nico critrio plausvel, sugere Bentham, a sencincia. Um ser senciente tem a capacidade de sofrer e, de uma perspectiva moral, o seu sofrimento no pode ser ignorado. Peter Singer (n. 1946) desenvolveu a ideia de Bentham e explorou as suas consequncias prticas. Singer pensa que no h qualquer critrio aceitvel que permita fazer coincidir a fronteira da moral com a fronteira entre os seres humanos e todos os restantes animais. Por isso, quem insiste que s os seres humanos tm importncia moral incorre no especismo. O especista pensa que o simples facto de pertencermos a uma certa espcie biolgica a espcie Homo sapiens nos d um estatuto moral superior. Mas pensar isto, sugere Singer, cometer o tipo de erro subjacente ao racismo. Afinal, o racista pensa que o simples facto de um ser humano ser de uma certa raa lhe d um estatuto moral superior. No entanto, isto falso. Todos reconhecemos que discriminar algum por causa da sua raa um erro moral grave. Mas, para sermos coerentes, temos tambm de reconhecer que discriminar um ser por causa da sua espcie um erro moral grave. Temos, enfim, de deixar de ser especistas. No livro Libertao Animal (1975), que teve e continua a ter uma grande influncia no movimento de defesa dos animais, Singer procura mostrar o que preciso fazer para acabar com o especismo na prtica.
A perspectiva de Singer controversa, sem dvida, mas no tem certas consequncias que muitos considerariam manifestamente absurdas, como a de que matar um rato to grave como matar um ser humano. Singer salienta que, na avaliao das consequncias do especismo, preciso distinguir o mal de fazer sofrer do mal de matar.
A dor e o sofrimento so maus e devem ser evitados ou minimizados, independentemente da raa, sexo ou espcie do ser que sofre. O maior ou menor sofrimento provocado por uma dor depende de quo intensa ela e de quanto tempo dura, mas as dores da mesma intensidade e durao so igualmente ms, quer sejam sentidas por seres humanos, quer o sejam por animais. Quando consideramos o valor da vida, j no podemos dizer com tanta confiana que uma vida uma vida e que igualmente valiosa quer se trate de uma vida humana quer se trate de uma vida de outro animal. No seria especismo defender que a vida de um ser autoconsciente, capaz de pensamento abstracto ou de planear o futuro, de actos de comunicao complexos, etc., mais valiosa que a vida de um ser sem essas capacidades.
Peter Singer, tica Prtica, 1993, trad. lvaro Fernandes, pp. 81-82
158
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 159
O estatuto moral dos animais no humanos
Captulo 18
Assim, no que diz respeito inflico de sofrimento, a rejeio do especismo leva-nos a concluir que to mau fazer sofrer um ser humano como infligir o mesmo sofrimento a qualquer outro animal. No entanto, podemos sustentar coerentemente que muito mais grave matar um ser humano do que matar, por exemplo, um rato ou um co. Em defesa desta perspectiva, podemos alegar que a vida dos seres humanos tem geralmente mais valor do que a vida dos ratos ou dos ces por causa das nossas capacidades mentais superiores ou do nosso nvel de conscincia mais elevado. Contrariamente ao que pode parecer, esta afirmao no especista, pois no exprime a ideia de que a nossa vida tem mais valor porque pertencemos espcie Homo sapiens.
Reviso
1. A questo no est em saber se eles [os animais] podem falar ou pensar, mas sim se podem sofrer. Que perspectiva defende Bentham com esta afirmao? 2. O que o especismo? 3. O especismo implica que a nossa vida tem o mesmo valor que a vida de qualquer outro animal. Esta afirmao verdadeira? Porqu?
Discusso
4. Se fosse errado usar animais para benefcio dos seres humanos, tambm seria errado usar as plantas. Afinal, estar a discrimin-las por serem plantas no uma forma de especismo? Mas no errado usar as plantas para nosso benefcio. Logo, tambm no errado usar os animais. Concorda com este argumento? Porqu? 5. Agredir um ser humano, deixando-o paralisado, muito mais grave do que fazer o mesmo a um co. Por isso, no verdade que seja to mau infligir sofrimento a um ser humano como infligir o mesmo sofrimento a um animal. Concorda com este argumento? Porqu? 6. Como sabemos que (ou se) os animais sofrem, tm conscincia de si ou pensam? 7. Tm todos os animais no humanos o mesmo estatuto moral? Um chimpanz ou um golfinho, por exemplo, tm a mesma importncia que um rato ou uma mosca? Porqu?
159
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 160
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Texto 50
tica e Espcie
James Rachels
O facto de um indivduo ser humano ser uma razo para o tratar com maior considerao do que aquela que dada aos membros das outras espcies? Existem (pelo menos) trs respostas possveis: 1. Especismo absoluto. Em primeiro lugar, pode-se sustentar que a espcie em si moralmente importante. Segundo esta perspectiva, o simples facto de um indivduo pertencer a uma certa espcie suficiente, mesmo na ausncia de quaisquer outras consideraes, para influenciar o modo como ele deve ser tratado. Esta no uma forma muito plausvel de entender a relao entre espcie e moralidade, e geralmente nem aceite por aqueles que simpatizam com aquilo que designo por moralidade tradicional. [] 2. Especismo qualificado. [] Esta a perspectiva que os defensores da moralidade tradicional costumam adoptar. De acordo com ela, a espcie em si no moralmente importante. No entanto, a pertena a uma espcie est correlacionada com outras diferenas que so importantes. Os seres humanos, poder-se- dizer, esto numa categoria moral especial porque so agentes racionais e autnomos. este facto, e no o mero facto de serem humanos, que os qualifica para uma considerao especial. [] O especismo qualificado afirma que os interesses dos seres humanos contam mais porque eles so agentes racionais. Mas alguns seres humanos, talvez por terem sofrido danos cerebrais, no so agentes racionais. Desta forma, a concluso natural seria a de que eles tm o estatuto de meros animais e que podem ser usados como os animais no-humanos (talvez como cobaias ou na nossa alimentao?). Obviamente, os moralistas tradicionais no aceitam esta concluso. Os interesses dos seres humanos so considerados mais importantes, sejam quais forem as suas deficincias. Aparentemente, a perspectiva tradicional diz-nos que o estatuto moral determinado por aquilo que normal para a espcie. Logo, como a racionalidade a norma, mesmo os seres humanos no-racionais devem ser tratados com o respeito devido aos membros de uma espcie racional. [] Mas esta ideia no resiste a um exame atento. Imagine-se (o que provavelmente impossvel) que um chimpanz aprendia a ler e a falar portugus. E suponha-se que ele acabava por ser capaz de discutir cincia, literatura e tica, acabando por querer frequentar a universidade. [] Suponha-se que algum argumentava assim: S os seres humanos devem poder frequentar estas aulas. Os seres humanos conseguem ler, falar e compreender a cincia. Os chimpanzs no. Mas este chimpanz pode fazer essas coisas. Sim, mas um chimpanz normal no pode e isso que importa. [] Este argumento fraco. Supe que
160
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 161
O estatuto moral dos animais no humanos
Captulo 18
devemos determinar como tratar um indivduo, no a partir das suas caractersticas, mas a partir das caractersticas individuais dos outros. [] Alm de injusto, parece irracional. 3. Individualismo moral. Tudo isto apoia uma abordagem muito diferente, que implica abandonar todo o projecto de tentar encontrar uma categoria moral distinta para os seres humanos. Segundo esta abordagem, o modo como um indivduo pode ser tratado depende, no da sua pertena a certos grupos, mas das suas caractersticas individuais. Se A deve ser tratado de forma diferente de B, a justificao tem de se basear nas caractersticas individuais de A e nas caractersticas individuais de B. No se pode justificar trat-los de forma diferente dizendo que um deles, mas no o outro, pertence a um certo grupo privilegiado. Como podemos entender agora a relao entre espcie e moralidade? O que dizer das diferenas importantes entre os seres humanos e os outros animais? Sero agora consideradas irrelevantes? A imagem que emerge mais complexa, mas tambm faz mais justia aos factos, do que a moralidade tradicional. A verdade que os seres humanos no so simplesmente diferentes dos outros animais. Na realidade, existe um padro complexo de semelhanas e de diferenas. A ideia moral correspondente a de que um ser humano e um membro de outra espcie devem ser tratados da mesma forma na medida em que forem semelhantes, mas tratados de forma diversa na medida em que forem diferentes. Isto permitir que um ser humano afirme o seu direito a um tratamento melhor sempre que exista uma diferena entre ele e outros animais (ou seres humanos!) que justifique trat-lo melhor. Mas no lhe permitir reclamar maiores direitos simplesmente por ser humano, simplesmente porque os seres humanos em geral tm uma caracterstica que ele no tem ou simplesmente porque ele tem uma caracterstica que irrelevante para o tipo de tratamento em questo.
James Rachels, Darwin, Espcie e Moralidade, 1987, trad. de Pedro Galvo, pp. 95-101
Interpretao
1. O que distingue o especismo absoluto do especismo qualificado? 3. O que pensa o defensor do especismo qualificado acerca do estatuto moral dos seres humanos que no so racionais? 3. De acordo com o defensor do individualismo moral, como devemos conceber a relao entre espcie e moralidade?
161
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 162
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Discusso
4. O argumento de Rachels contra o especismo qualificado plausvel? Justifique a sua resposta. 5. Um animal que pertence a uma espcie em vias de extino deve ser tratado com muito mais respeito do que um animal que pertena a uma espcie que no est ameaada. Por isso, o individualismo moral falso, j que o modo como um indivduo deve ser tratado depende, pelo menos em parte, da espcie a que ele pertence. Concorda com este argumento? Justifique a sua resposta.
3. Perspectivas contemporneas
Se concordarmos que o especismo, semelhana do racismo ou do sexismo, um preconceito moral indefensvel, o que devemos pensar sobre prticas como o uso de animais no humanos na alimentao ou na investigao cientfica? A resposta a esta pergunta depende em parte da teoria moral que aceitamos. E, como seria de esperar, os filsofos que se opem ao especismo no aceitam todos a mesma teoria moral. No prprio movimento de defesa dos animais, coexistem duas perspectivas ticas muito diferentes. Uma delas, a utilitarista, tem Peter Singer como principal representante; a outra, a perspectiva dos direitos, baseia-se numa viso deontolgica da tica. Tom Regan (n. 1938) hoje o seu defensor mais influente. Para um utilitarista, rejeitar o especismo equivale a levar em conta os interesses dos animais da mesma maneira que os interesses dos seres humanos. Ao avaliar as consequncias das nossas aces, temos de pensar imparcialmente no bem-estar de todos os seres sencientes, seja qual for a sua espcie. Ora, estamos muito longe de tal imparcialidade, pois, para melhorarmos um pouco o nosso bem-estar, fazemos sofrer intensamente os animais no humanos. Para produzir ou testar bens perfeitamente dispensveis, como carne ou novas marcas de cosmticos, fazemos milhares de milhes de animais viver (e morrer) em grande sofrimento. Assim, conclui o utilitarista, temos de acabar com todo o tipo de uso dos animais no humanos que, de uma perspectiva imparcial, no produza benefcios suficientemente significativos. O defensor da perspectiva dos direitos vai mais longe. Dado que parte de uma viso deontolgica da tica, pensa que h coisas que no se podem fazer aos seres humanos mesmo que faz-las maximize o bem-estar. Ele pensa, mais precisamente, que os seres humanos tm direitos que no podem ser violados em nome da felicidade geral. E, como rejeita o especismo, acrescenta que muitos animais no humanos tambm tm direitos. Por isso, h coisas que no podemos fazer a muitos animais no humanos, como mat-los, sejam quais forem os benefcios em vista.
162
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 163
O estatuto moral dos animais no humanos
Captulo 18
Cavalos Azuis, de Franz Marc (1880-1916). Marc iniciou a sua carreira como estudante de Filosofia, tendo ficado clebre pelas suas pinturas de animais.
Para quem adopta esta perspectiva, como Regan, s a abolio do uso de animais na investigao cientfica aceitvel. J o utilitarista pode admitir que, em certas circunstncias, o uso de animais na cincia justificvel. bvio que nunca aprovar a realizao de testes dolorosos para um novo bton, mas pode aprovar, quando no existem mtodos alternativos viveis, o uso de animais na investigao mdica destinada a tratar ou a curar doenas graves. Os defensores da perspectiva dos direitos tambm so mais radicais quanto ao uso dos animais na alimentao, pois geralmente sustentam que errado mat-los para os comermos, mesmo que tenham sido criados em condies propcias ao seu bemestar. Muitas vezes condenam tambm o consumo de qualquer produto de origem animal, como leite, ovos ou at mel, pois vem no consumo desses produtos uma violao dos direitos dos animais. Os utilitaristas no costumam ir to longe. Muitos, como Singer, so vegetarianos, mas outros defendem apenas uma dieta semi-vegetariana, que exclui apenas o consumo de carne e de outros produtos de animais criados em condies miserveis. Continuam a existir filsofos que aceitam a viso tradicional que confere aos seres humanos um estatuto moral radicalmente privilegiado. H quem pense que os direitos so fundamentais na tica, mas que s os seres humanos os tm e que todos os seres humanos os tm. No entanto, no fcil defender satisfatoriamente esta perspectiva. Mas mesmo os filsofos mais conservadores tendem a afirmar que, embora os animais no tenham direitos, ainda assim temos obrigaes para com eles, como a de no lhes infligir sofrimento desnecessariamente. E acrescentam que, no mundo actual, h muita coisa errada, que tem de ser mudada urgentemente, no modo como lidamos com os animais no humanos. Uma prtica como a tourada, na qual os touros e os cavalos so maltratados para divertir o pblico, colhe a reprovao at dos filsofos mais tradicionalistas.
163
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 164
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Reviso
1. Depois de rejeitar o especismo, o que pensa o utilitarista sobre o modo como devemos tratar os animais? 2. Depois de rejeitar o especismo, o que pensa o defensor da perspectiva dos direitos sobre o modo como devemos tratar os animais?
Discusso
3. Ser errado matar animais mesmo quando mat-los no implica faz-los sofrer? Porqu? 4. A extino de uma espcie um mal? Porqu? 5. H razes ticas para acabar com as touradas? Porqu? 6. Ser eticamente aceitvel a utilizao de animais em circos e jardins zoolgicos? Porqu?
Texto 51
A Perspectiva dos Direitos
Tom Regan
Julgo que, racionalmente, a perspectiva dos direitos a teoria moral mais satisfatria. Ultrapassa todas as outras teorias no grau com que esclarece e explica o fundamento dos deveres que existem entre ns o domnio da moral humana. Tem assim as melhores razes e os melhores argumentos do seu lado. Obviamente, se fosse possvel mostrar que s os seres humanos esto includos no seu mbito, ento uma pessoa como eu, que acredita nos direitos dos animais, seria obrigada a virar-se para outro lado. Mas as tentativas de limitar o seu mbito aos seres humanos no podem seno revelar-se racionalmente insatisfatrias. verdade que os animais no tm muitas das capacidades que os seres humanos tm. No sabem ler, fazer matemtica avanada, construir uma estante ou preparar baba ghanoush. Mas muitos seres humanos tambm no, e ainda assim no dizemos (nem devemos dizer) que eles (esses humanos) tm, por isso, menos valor intrnseco, menos direito a ser tratados com respeito do que os outros. So as semelhanas entre os seres humanos (entre as pessoas que esto a ler isto, por exemplo), e no as nossas diferenas, que tm esse valor mais clara e incontroversamente, que interessam mais. E a
164
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 165
O estatuto moral dos animais no humanos
Captulo 18
semelhana bsica verdadeiramente crucial apenas esta: cada um de ns um sujeito de uma vida com experincias, uma criatura consciente com um bem-estar individual que tem importncia para si mesmo, seja qual for a sua utilidade para os outros. Queremos e preferimos coisas, sentimos e acreditamos em coisas, recordamos e esperamos coisas. E todas estas dimenses da nossa vida incluindo o nosso prazer e dor, o nosso deleite e sofrimento, a nossa satisfao e frustrao, a nossa existncia prolongada ou morte precoce afectam a qualidade da nossa vida tal como a vivemos e dela temos experincia como indivduos. E o mesmo se pode dizer daqueles animais que nos interessam (aqueles que so comidos e caem em armadilhas, por exemplo) tambm eles tm de ser vistos como sujeitos de uma vida com experincias, como sujeitos com valor intrnseco. H quem resista ideia de que os animais tm valor intrnseco. S os seres humanos tm esse tipo de valor, professam. Como se poder defender esta perspectiva restritiva? Poderemos dizer que s os seres humanos tm a razo, a inteligncia ou a autonomia necessrias? Mas h muitos, muitos seres humanos que no satisfazem estes padres, e ainda assim entende-se, com razo, que eles tm valor independentemente da sua utilidade para os outros. Poderemos defender que s os seres humanos pertencem espcie apropriada, espcie Homo sapiens? Isso especismo crasso. [] Bem, talvez algum diga que os animais tm algum valor intrnseco, s que menos do que ns. Uma vez mais, no entanto, pode-se mostrar que as tentativas de defender esta perspectiva carecem de justificao racional. Qual poder ser o fundamento de termos mais valor intrnseco do que os animais? A sua falta de razo, autonomia ou inteligncia? S se estivermos dispostos a fazer o mesmo juzo sobre os seres humanos que so similarmente deficientes. Mas no verdade que tais seres humanos as crianas com atrasos, por exemplo, ou os doentes mentais tenham menos valor intrnseco que tu ou eu. Assim, tambm no podemos defender racionalmente a perspectiva de que os animais, que tal como eles so sujeitos de uma vida com experincias, tm menos valor intrnseco. Todos os que tm valor intrnseco tm-no de igual forma, independentemente de serem ou no animais humanos. [] Tendo j apresentado a perspectiva dos direitos em traos largos, posso agora dizer por que razo as suas implicaes para a pecuria e a cincia, entre outros campos, so claras e intransigentes. No caso do uso de animais na cincia, a perspectiva dos direitos categoricamente abolicionista. Os animais de laboratrio no so os nossos provadores, ns no somos os seus reis. Como os animais so tratados rotineira e sistematicamente como se o seu valor pudesse ser reduzido sua utilidade para os outros, so tratados rotineira e sistematicamente com falta de respeito, e assim os seus direitos so rotineira e sistematicamente violados. Isto sucede tanto quando so usados em investigaes triviais, repetitivas, desnecessrias ou insensatas como em estudos que prometem realmente trazer benefcios para os seres humanos. [] Quanto pecuria, a perspectiva dos direitos adopta uma posio abolicionista semelhante. Aqui o mal fundamental no os animais estarem isolados ou presos em condies angustiantes, nem o facto de a sua dor e sofrimento, as suas necessidades e pre-
165
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 166
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
ferncias, serem ignorados ou menosprezados. Todas estas coisas so ms, obviamente, mas no so o mal fundamental. So sintomas e efeitos de um mal mais profundo e sistemtico que permite que esses animais sejam vistos e tratados como se no tivessem valor independente, como se fossem um dos nossos recursos na verdade, um recurso renovvel. Dar a estes animais mais espao, ambientes mais naturais ou mais companheiros no corrige o mal fundamental tal como dar aos animais de laboratrio mais anestesias ou jaulas maiores e mais limpas no corrigiria o mal fundamental no seu caso. S a dissoluo total da pecuria industrial acabar com esse mal. E, por razes semelhantes que no vou desenvolver aqui, a tica exige nada menos do que a eliminao total da caa para fins comerciais e desportivos. Assim, como afirmei, as implicaes da perspectiva dos direitos so claras e intransigentes.
Tom Regan, O Argumento a Favor dos Direitos dos Animais, 1984, trad. de Pedro Galvo, pp. 111-114
Interpretao
1. Segundo Regan, qual a caracterstica em virtude da qual um indivduo, humano ou de outra espcie, tem direitos morais? 2. Para o autor, quais so as implicaes claras e intransigentes da perspectiva dos direitos no que respeita ao uso de animais na alimentao e na cincia?
Discusso
3. Todos os que tm valor intrnseco tm-no de igual maneira, independentemente de serem ou no animais humanos. Concorda? Porqu? 4. Segundo Regan, mesmo as experincias com animais que prometem trazer grandes benefcios para os seres humanos devem acabar. Concorda? Porqu? 5. Segundo Regan, as ms condies em que vive a grande maioria dos animais criados para alimentao no so o mal fundamental. Concorda? Porqu?
166
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 167
O estatuto moral dos animais no humanos
Captulo 18
Os animais no humanos tm estatuto moral?
NO O especismo um erro.
SIM
Perspectiva tradicional
Perspectiva utilitarista
Perspectiva dos direitos
S os seres humanos tm direitos morais. Temos apenas obrigaes indirectas para com os animais.
A obrigao tica fundamental promover o bem-estar. O bem-estar dos animais to importante como o bem-estar dos seres humanos.
Todos os sujeitos de uma vida, animais ou humanos, tm direitos morais absolutos. Mais do que promover o bem-estar, importa respeitar esses direitos.
Estudo complementar
Beckert, Cristina (2004) Interesses e Direitos: Duas Perspectivas sobre tica Animal, in Cristina Beckert e Maria Jos Varandas (orgs.), ticas e Polticas Ambientais. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Murcho, Desidrio (2006) Vegetarianismo tico Minimalista e A Proteco dos Animais No Humanos, in Pensar Outra Vez. Vila Nova de Famalico: Quasi. Regan, Tom (2002) Gaiolas Vazias: Os Direitos dos Animais e a Vivisseco, in Cristina Beckert e Maria Jos Varandas (orgs.), ticas e Polticas Ambientais. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2004. Singer, Peter (1993) Igualdade para os Animais? e Tirar a Vida: Os Animais in tica Prtica. Trad. de lvaro Augusto Fernandes. Lisboa: Gradiva, 2000. Singer, Peter (1975, 1990) Libertao Animal. Trad. de Maria de Ftima St. Aubyn. Porto: Via Optima, 2000.
@
Galvo, Pedro (2002) As Fronteiras da tica: O Debate Cohen/Regan sobre o Estatuto Moral dos Animais, http://galvao.no.sapo.pt/As_Fronteiras_da_Etica.pdf. LaFollette, Hugh (s.d.) Direitos dos Animais e Erros dos Humanos. Trad. de Miguel Moutinho, in Filosofia e Educao, www.filedu.com/hlafollettedireitosdosanimaiseerrosdoshumanos.html. Tooley, Michael (s.d.) Os Direitos dos Animais. Trad. de Pedro Galvo, in Crtica, www.criticanarede.com/tooley_lesson19.html.
167
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 168
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 169
Optar pelo Captulo 18 ou pelo Captulo 19
Captulo 19
A pobreza e a obrigao de ajudar
1. O argumento a favor da obrigao de ajudar
Dos mais de seis mil milhes de seres humanos que hoje habitam o mundo, muitos milhes vivem na maior pobreza, travando uma difcil luta diria para garantir a simples sobrevivncia. Vivem na pobreza absoluta, ou seja, so pobres seja qual for a perspectiva de comparao adoptada. Cerca de metade da populao mundial permanece num estado de pobreza absoluta. A pobreza absoluta define-se como a ausncia de rendimento suficiente em dinheiro ou em espcie para satisfazer as necessidades biolgicas mais bsicas de alimentao, vesturio e habitao (Instituto Worldwatch). A pobreza absoluta, alm de ser a principal causa de sofrimento humano, est na origem de muitas mortes prematuras facilmente evitveis. Ser que cada um de ns tem uma obrigao tica de ajudar quem vive na pobreza absoluta? Esta a questo central do presente captulo. A pobreza absoluta est distribuda geograficamente de uma forma muito desigual. Nos pases desenvolvidos quase no existe. Nestes pases muitas pessoas tm rendimentos que lhes permitem no s satisfazer as suas necessidades bsicas, mas tambm desfrutar dos mais diversos luxos. Mesmo aqueles que fazem parte da classe mdia so extraordinariamente ricos quando comparados com os que vivem na pobreza absoluta. At em Portugal, que apenas um pas moderadamente rico, so muitos os que tm um nvel de bem-estar que permite fazer coisas como comprar um segundo carro, passar fSeces 1. O argumento a favor da obrigao de ajudar, 169 2. Objeces factuais, 176 3. Objeces morais, 177 Textos 52. Direitos de Propriedade, 174 Peter Singer 53. No Somos Meios para os Fins dos Outros, 179 Colin McGinn Objectivos Compreender e avaliar o argumento de Singer a favor da obrigao de ajudar. Analisar o problema da obrigao de ajudar luz das teorias ticas estudadas. Conceitos Actos/omisses. Responsabilidade negativa, supererrogao.
169
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 170
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
rias no estrangeiro ou usar roupas de marca. Robert McNamara, quando era presidente do Banco Mundial, deixou isto bem claro:
O cidado mdio de um pas desenvolvido goza de uma riqueza superior aos sonhos mais loucos de 1000 milhes de pessoas que vivem em pases com um rendimento per capita inferior a 200 dlares. So estes, portanto, os pases e os indivduos que tm uma riqueza tal que podiam, sem ameaar o seu prprio bem-estar bsico, transferir uma parte para os pobres absolutos.
Robert McNamara, Relatrio do Desenvolvimento Mundial, 1978, p. III
Esta ltima afirmao sugere que a pobreza absoluta nada tem de inevitvel. Aparentemente, a transferncia de riqueza dos pases desenvolvidos para os pases pobres, mesmo que em alguns casos no fosse suficiente para acabar com a pobreza absoluta, contribuiria muito para reduzi-la. No entanto, os pases desenvolvidos transferem muito pouca riqueza. A grande maioria, na qual se inclui os Estados Unidos, nem sequer atinge a meta modesta estabelecida pela ONU, que prev a transferncia de 0,7% do produto nacional bruto. difcil ficarmos muito surpreendidos com estes factos. Outro facto, tambm pouco surpreendente, o de que so muito poucos os cidados dos pases ricos que contribuem significativamente com algum do seu tempo ou da sua riqueza pessoal para acabar com a pobreza absoluta. Qualquer pessoa que viva razoavelmente bem pode colaborar com organizaes eficientes de combate pobreza, como a Oxfam ou a UNICEF . Ao no colaborarem, os habitantes dos pases ricos permitem a morte e o sofrimento dos habitantes dos pases pobres. Haver algo de moralmente errado nesta situao? Ser que os habitantes dos pases ricos tm a obrigao de ajudar quem vive na pobreza absoluta? H cerca de trinta anos, o filsofo utilitarista Peter Singer (n. 1946) comeou a investigar estes problemas, e sugeriu que os habitantes dos pases ricos (ou moderadamente ricos) tm descurado seriamente o seu dever moral de auxiliar quem sofre com a pobreza absoluta. Imaginemos que o Joo, alm trabalhar gratuitamente muitas horas para a UNICEF , doa sempre pelo menos 20% do seu rendimento a organizaes eficientes de combate pobreza. E imaginemos que o Pedro, embora seja uma pessoa simptica e prestvel, dedica a maior parte do seu tempo livre realizao de desportos nuticos, gastando cerca de 20% do que ganha nessa actividade. Como avaliaramos a conduta destas duas pessoas de uma perspectiva tica? Diramos que o Joo extremamente generoso e altrusta, pois faz coisas pelos outros que, em rigor, no tinha qualquer obrigao de fazer. E diramos que o Pedro, embora no revele uma preocupao to grande pelas pessoas que vivem na misria em pases distantes, nada faz de errado ao dedicar-se tanto aos desportos nuticos. Pode no contribuir para aliviar o sofrimento alheio, mas isso no torna o seu estilo de vida reprovvel. Estes juzos reflectem o cdigo moral prevalecente. Traduzem a ideia de que ajudar os que vivem longe em grande misria louvvel, mas que nada fazer para ajudar algo que no merece censura. Se uma pessoa doar 200 euros UNICEF , salvando assim a vida de uma ou vrias crianas, estar a realizar um acto supererrogatrio, ou seja, estar a fazer algo de bom mas que ultrapassa o seu dever. Se ela gastar antes os 200 euros em roupas de marca de que no necessita, por exemplo, no estar a fazer mal algum. Na verdade,
170
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 171
A pobreza e a obrigao de ajudar
Captulo 19
se usar todo o seu rendimento para melhorar o seu bem-estar e o bem-estar da sua famlia, no h qualquer razo para se considerar que est a proceder de forma imoral. A sua opo moralmente neutra. assim que avaliamos a conduta das pessoas. Pensamos que ajudar quem vive na pobreza absoluta bom, mas que nada fazer para ajudar, permitindo que as pessoas morram ou sofram intensamente, no errado. Nesta avaliao, parecemos pressupor que a diferena entre actos e omisses moralmente relevante. Embora consideremos errado matar algum, admitimos que em certas circunstncias permissvel deixar morrer seres humanos inocentes. Condenaramos quem enviasse comida envenenada a pessoas com grandes carncias alimentares, mas no condenamos quem nada faz para impedir que os outros morram fome. Singer rejeita esta maneira de avaliar a nossa conduta. Pensa que, ao no fazermos nada ou quase nada para mitigar a pobreza absoluta, incorremos numa grave falha moral, pois temos a obrigao de nos sacrificar para melhorar a vida dos mais necessitados. Por ser utilitarista, defende que a diferena entre actos e omisses no moralmente relevante e que, sendo assim, ao permitirmos que pessoas inocentes morram devido pobreza, tornamo-nos de certa maneira homicidas. Singer tem um argumento importante a favor da obrigao de ajudar quem vive na pobreza absoluta. Para compreender o seu argumento, comecemos por considerar a seguinte situao hipottica:
Caridade, de Jacques Blanchard (1600-1638). Costumamos supor que o auxlio aos mais desfavorecidos, ainda que seja louvvel, ultrapassa as nossas obrigaes morais.
Na minha universidade, o percurso que vai da biblioteca ao anfiteatro das Humanidades passa por um lago ornamental pouco profundo. Suponhamos que, ao ir dar uma aula, me apercebo de que uma criana caiu e est em risco de se afogar. Algum duvida que eu devia tirar de l a criana? Isso implicaria ficar com a roupa cheia de lama e cancelar a aula ou atras-la at encontrar um meio de mudar de roupa; no entanto, em comparao com a morte evitvel da criana, isso insignificante.
Peter Singer, tica Prtica, 1993, trad. de lvaro Fernandes p. 250
Suponhamos que, numa situao como esta, algum optava por no salvar a criana, pois no queria ficar com a roupa estragada. Limitava-se a deixar a criana morrer afogada e seguia o seu caminho. No hesitamos em considerar profundamente errada uma tal omisso. Poderamos considerar aceitvel que uma pessoa se recusasse a arriscar a vida
171
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 172
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
para salvar uma criana, mas no aceitamos que algum deixe uma criana morrer afogada porque no quer sujar a roupa ou chegar atrasado aula. Porqu? Um bom princpio para sustentar esta avaliao o seguinte: quando podemos evitar um grande mal, sem com isso sacrificarmos nada de importncia moral comparvel, devemos faz-lo. Este princpio, no entanto, implica no s que deveramos tirar a criana do lago, mas tambm que devemos contribuir substancialmente para reduzir a pobreza absoluta. Afinal, a pobreza absoluta sem dvida um grande mal. E podemos contribuir para acabar com ela sem sacrificar nada de importncia moral comparvel. Podemos, por exemplo, prescindir de umas frias no estrangeiro ou de uma nova televiso para pr no quarto, e dar antes esse dinheiro UNICEF . Assim, estaremos a salvar vidas sem sacrificar nada que seja realmente importante para ns. Se Singer tem razo, quem vive bem e nada faz para ajudar os mais desfavorecidos, gastando uma boa parte do seu dinheiro em luxos, est ao nvel de quem se recusasse a impedir a criana de morrer no lago para no sujar a roupa. Assim, o argumento de Singer a favor da obrigao de ajudar o seguinte: Primeira premissa: Se pudermos impedir que um mal acontea sem sacrificarmos nada de importncia moral comparvel, devemos faz-lo. Segunda premissa: A pobreza absoluta um mal. Terceira premissa: H alguma pobreza absoluta que podemos impedir sem sacrificar nada de importncia moral comparvel. Concluso: Temos o dever de impedir alguma pobreza absoluta. A primeira premissa deste argumento a nica com contedo normativo. Vimos que o exemplo da criana no lago a apoia significativamente. Vale a pena acrescentar que no preciso ser utilitarista para aceit-la, pois esta premissa no pressupe qualquer teoria tica especfica. claro que um deontologista e um utilitarista podem divergir na maneira como interpretam a expresso importncia moral comparvel; mas qualquer pessoa sensata reconhecer que, de um ponto vista moral, muito mais importante salvar uma criana do que comprar um objecto de luxo. Por isso, as divergncias de interpretao no podem afectar decisivamente a concluso geral de Singer. A segunda premissa incontroversa. J a terceira premissa levanta algumas dificuldades, mas razovel presumir que muitos de ns, sem sacrificar nada de importante para o nosso bem-estar, podemos contribuir para impedir alguma pobreza absoluta. Uma maneira simples e directa de fazer isso doar algum dinheiro a organizaes de combate pobreza com eficincia comprovada. Se aceitarmos as trs premissas do argumento de Singer, temos de concluir que ajudar quem vive na pobreza absoluta no algo que ultrapasse os nossos deveres morais. Mas at que ponto devemos sacrificar o nosso bem-estar para ajudar os outros? Como podemos cumprir o dever de ajudar? A resposta para estas perguntas depende em parte da teoria moral que consideramos correcta. Singer sugere que a maior parte dos habitantes dos pases ricos devia contribuir com pelo menos 10% do seu rendimento (ele prprio contribui com 20% do que ganha). No entanto, Singer acrescenta que, avaliando a questo de acordo com o utilitarismo, a nossa verdadeira obrigao ajudar at aquele ponto em que, vistas as coisas numa perspectiva completamente imparcial, ao sacrificarmo-nos
172
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 173
A pobreza e a obrigao de ajudar
Captulo 19
ainda mais estaramos a prejudicar-nos mais a ns prprios que a beneficiar os outros. Assim, se entendermos que o nosso dever bsico maximizar imparcialmente o bem-estar, teremos de fazer sacrifcios pessoais muito considerveis.
Reviso
1. O que a pobreza absoluta? 2. O que um acto supererrogatrio? 3. O que caracteriza a perspectiva moral comum sobre a ajuda a quem vive na pobreza absoluta? 4. O que nos diz o argumento de Singer a favor da obrigao de ajudar? 5. Para um utilitarista, como Singer, como devemos entender a concluso do argumento a favor da obrigao de ajudar?
Discusso
6. Antes de nos preocuparmos com os pobres de outros pases, temos de cuidar das nossas famlias e dos pobres do nosso pas. injusto promover a ajuda internacional quando no nosso pas ainda h pessoas a viver em grande pobreza. Concorda? Porqu? 7. Existem diferenas eticamente importantes entre, por um lado, gastar dinheiro em luxos em vez de o usar para salvar vidas e, por outro lado, matar deliberadamente pessoas. Concorda? Porqu? 8. Eu contribuo com uma quantia modesta para combater a pobreza. Se todos os que tm o mesmo nvel de vida que eu contribussem com tanto como eu, isso seria suficiente para acabar com a pobreza absoluta. Por isso, acho que no tenho a obrigao de contribuir ainda mais. Aceita esta justificao? Porqu? 9. Singer calcula que uma famlia tpica dos Estados Unidos s precisa de 30 000 dlares por ano para ter um nvel de vida aceitvel. Por isso, conclui, uma famlia tpica que tenha um rendimento de 100.000 dlares por ano deve contribuir com 70 000 dlares para o combate pobreza. Como professor universitrio Singer ganha quase 100 000 dlares por ano e possui outras fontes de rendimento. Deste modo, embora d 20% do seu rendimento a organizaes de solidariedade, fica ainda com muito mais de 30.000 dlares por ano. Confrontado com estes factos, Singer admitiu que no vive de acordo com os padres ticos que ele prprio considera correctos. E justificou-se acrescentando que a sua ajuda muito mais significativa do que a da maior parte das pessoas, e que, quando os outros comearem a contribuir mais, tambm ele aumentar o valor da sua ajuda. O que pensa desta justificao?
173
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 174
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
Texto 52
Direitos de Propriedade
Peter Singer
Tero as pessoas direito propriedade privada, um direito que contradiz a perspectiva segundo a qual tm a obrigao de dar alguma da sua riqueza aos que vivem em pobreza absoluta? De acordo com algumas teorias dos direitos (como a de Robert Nozick), desde que algum tenha adquirido a propriedade sem o uso de meios injustos, como a fora ou a fraude, tem direito a uma riqueza enorme, enquanto outros morrem mngua. Esta concepo individualista de direitos contrariada por outras perspectivas, como as primeiras doutrinas crists, que se podem encontrar nas obras de Toms de Aquino, defendendo que, como a propriedade existe para a satisfao de necessidades humanas, tudo o que o homem possa ter em superabundncia devido, por direito natural, ao pobre para seu sustento. Um socialista tambm achar por certo que a riqueza pertence comunidade, e no ao indivduo, enquanto os utilitaristas, quer sejam socialistas, quer no, estariam dispostos a suprimir os direitos de propriedade para evitar maiores males. Ser que o argumento a favor da obrigao de ajudar os outros pressupe ento uma destas teorias dos direitos de propriedade, e no uma teoria individualista como a de Nozick? No necessariamente. Uma teoria dos direitos de propriedade pode insistir no nosso Operrios a Caminho de sua Casa, de Edvard Munch (1863-1944). H direito de conservar a riqueza quem pense que, por maiores que sejam as desigualdades na distribuio da riquesem se pronunciar sobre se os za, os meios coercivos de redistribuio so sempre injustos. ricos devem dar aos pobres. Nozick, por exemplo, rejeita o uso de meios coercivos, como os impostos, para redistribuir o rendimento, mas sugere que podemos atingir os fins que julgamos moralmente desejveis por meios voluntrios. Logo, Nozick rejeitaria a afirmao de que os ricos tm a obrigao de dar aos pobres na medida em que isso implicasse que os pobres tm o direito
174
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 175
A pobreza e a obrigao de ajudar
Captulo 19
ajuda dos ricos; mas poderia aceitar que dar algo que se deve fazer e que no dar, embora seja um direito, um mal porque uma vida tica vai para alm do respeito pelos direitos dos outros. O argumento a favor da obrigao de ajudar pode subsistir, com pequenas modificaes, mesmo que aceitemos uma teoria individualista dos direitos de propriedade. Em todo o caso, porm, penso que no devemos aceitar uma tal teoria. Deixa demasiado ao acaso para poder ser uma perspectiva tica aceitvel. Por exemplo, aqueles cujos antepassados por acaso habitavam alguns ermos arenosos em volta do golfo Prsico so hoje fabulosamente ricos, porque h petrleo no subsolo dessas areias, enquanto aqueles cujos avs se estabeleceram em terras melhores a sul do Sara vivem na pobreza absoluta, devido seca e a ms colheitas. Pode esta distribuio ser aceitvel de um ponto de vista imparcial? Se nos imaginarmos em vias de iniciar a vida como cidados do Bahrein ou do Chade, sem sabermos qual, aceitaramos o princpio segundo o qual os cidados do Bahrein no tm qualquer obrigao de ajudar quem vive no Chade?
Peter Singer, tica Prtica, 1993, trad. de lvaro Fernandes, pp. 255-256
Interpretao
1. O que afirma a teoria individualista dos direitos de propriedade? 2. Segundo Singer, esta teoria incompatvel com o argumento a favor da obrigao de ajudar? Porqu? 3. Por que razo Singer no aceita a teoria indicada?
Discusso
4. Concorda com a teoria individualista dos direitos de propriedade? Justifique. 5. Se esta teoria individualista dos direitos de propriedade for verdadeira, teremos alguma obrigao de combater a pobreza absoluta? Justifique.
175
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 176
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
2. Objeces factuais
A perspectiva de Singer enfrenta algumas objeces que no questionam a primeira premissa do seu argumento, nem sequer a viso utilitarista ou consequencialista da tica. Na verdade, quem apresenta essas objeces pretende mostrar que a ajuda aos que vivem na pobreza absoluta acabar, muito provavelmente, por ter consequncias globalmente ms. Podemos alegar, por exemplo, que, se os habitantes dos pases ricos contriburem individualmente para organizaes de solidariedade, levaro os governos dos seus pases a contribuir menos. A ideia que os governos comearo a pressupor que a ajuda internacional da exclusiva competncia das organizaes de solidariedade. Mas ser verdade que a ajuda prestada pelos indivduos desencoraja a ajuda governamental? Singer responde a esta pergunta:
A perspectiva oposta a de que, se ningum contribuir voluntariamente, o governo partir do princpio de que os seus cidados no aprovam a ajuda internacional e reduzir, em consequncia, o seu programa mais razovel. Em todo o caso, a no ser que haja uma probabilidade concreta de que, pela recusa de dar, estaremos a contribuir para um aumento da ajuda governamental, recusar dar a ttulo pessoal um mal []. Isto no significa que a contribuio individual seja suficiente. No tenho dvidas de que devamos fazer uma campanha a favor de padres inteiramente novos tanto para a ajuda internacional pblica como para a privada. Devamos tambm fazer presso no sentido de acordos comerciais mais justos entre pases ricos e pobres e de um menor domnio das economias dos pases pobres por parte das empresas multinacionais mais interessadas em obter lucros para os seus accionistas nos pases de origem do que em proporcionar alimentos aos pobres locais. Talvez seja mais importante ser politicamente activo no interesse dos pobres que contribuir para eles directamente mas por que no fazer as duas coisas?
Peter Singer, tica Prtica, 1993, trad. de lvaro Fernandes, pp. 263-264
H quem pense que a ajuda internacional, seja prestada por indivduos ou pelos governos dos pases ricos, acabar, a longo prazo, por se revelar muito prejudicial. O bilogo Garrett Hardin (1915-2003) defende esta ideia propondo aquilo a que chama tica do bote salva-vidas. Hardin diz-nos que devemos ver os pases ricos como botes salva-vidas. Os seus ocupantes vagueiam num mar repleto de gente prestes a afogar-se, que so os habitantes dos pases pobres. O que devero fazer os privilegiados ocupantes dos botes? Devero seguir os seus impulsos humanitrios e tentar salvar o maior nmero possvel de nufragos? No, porque se o fizerem o bote ficar superlotado e acabaro por morrer todos afogados. Do mesmo modo, pensa Hardin, se os habitantes dos pases ricos seguirem os seus impulsos humanitrios e tentarem ajudar o maior nmero possvel de pobres, acabaro por produzir uma catstrofe econmica e ecolgica global. Por isso, melhor no ajudar.
176
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 177
A pobreza e a obrigao de ajudar
Captulo 19
Uma das razes que leva Hardin a fazer uma previso catastrfica a de que o auxlio aos pases pobres tornar os seus governantes cada vez mais irresponsveis. Se estes souberem que, em caso de necessidade, podero contar com a ajuda dos pases ricos, tendero a no tomar medidas que conduzam ao desenvolvimento do seu pas e o preparem para enfrentar situaes difceis. Hardin tambm julga que a ajuda internacional dar origem a um crescimento populacional desenfreado nos pases pobres. A curto prazo, tal ajuda pode remediar alguns problemas, mas originar cada vez mais pobreza. O Naufrgio, de Joseph Turner (1775-1851). A tica do bote salva-vidas Ter Hardin razo? As suas objeccompara os habitantes dos pases ricos aos ocupantes dos botes, que vaes so factuais e s apurando os gueiam num mar repleto de nufragos. factos econmicos relevantes poderemos avali-las correctamente. Mas, apesar das incertezas que persistem, os dados disponveis contrariam fortemente o pessimismo extremo de Hardin quanto ajuda internacional. Sabe-se, por exemplo, que reduzir a mortalidade infantil e investir na educao das mulheres faz estabilizar a populao.
3. Objeces morais
Outras objeces perspectiva de Singer sobre a obrigao de ajudar resultam da rejeio do consequencialismo. Os deontologistas admitem que temos o dever de ajudar os outros; podem mesmo conceder que estamos a descurar as nossas obrigaes em relao aos pobres que vivem em pases distantes; mas no pensam que as nossas obrigaes sejam to fortes como Singer presume. Como vimos, a aceitao de uma verso do utilitarismo que nos obriga a maximizar imparcialmente o bem-estar leva Singer a concluir que devemos sacrificar o nosso bem-estar at ficarmos quase numa situao de pobreza absoluta. Ora, como vimos, este resultado ameaa a nossa integridade, pois implica que devemos abdicar de grande parte dos projectos e compromissos que fazem a vida ter valor para ns prprios. Alguns deontologistas tambm criticam Singer por ele ignorar o papel dos direitos, mais precisamente dos direitos de propriedade. Declaram que cada um tem direito a usufruir de tudo aquilo que adquiriu de uma forma justa, e que portanto nada nos obriga a abdicar dos nossos bens. As pessoas que vivem na pobreza absoluta no tm o direito de
177
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 178
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
ser beneficiadas com a nossa riqueza. H, alis, uma diferena muito importante entre no as ajudar, permitindo a sua morte, e enviar-lhes comida envenenada, provocando a sua morte: que no primeiro caso no estamos a violar qualquer direito que elas tenham, mas no segundo caso estamos a violar o seu direito vida. (No texto 52, Singer responde a este gnero de objeco.) Os deontologistas tendem a rejeitar ainda a doutrina da responsabilidade negativa, que os utilitaristas parecem pressupor quando examinam o problema da obrigao de ajudar os pobres. Segundo esta doutrina, somos moralmente responsveis por todos os males que poderamos ter evitado, mas que no evitmos. Assim, se est ao nosso alcance evitar alguma pobreza absoluta e no o fazemos, tornamo-nos responsveis pelo sofrimento e pela morte de outras pessoas. O deontologista sustenta que isto no verdade, j que, se no somos ns que provocamos a pobreza absoluta, no somos responsveis pelos males que dela advm. No fcil avaliar estas objeces, mas o exemplo da criana no lago coloca um desafio importante a qualquer deontologista. Se consideramos profundamente errada a omisso de no salvar a criana para no sujar a roupa, por que no havemos tambm de considerar profundamente errada a omisso de no ajudar os mais desfavorecidos para comprar bens suprfluos?
Reviso
1. Que objeces factuais enfrenta a perspectiva de Singer? 2. Que objeces morais enfrenta a perspectiva de Singer?
Discusso
3. A pobreza que existe no mundo tanta que, mesmo que eu desse tudo o que tenho, a minha ajuda no seria mais do que uma gota insignificante no oceano. Por isso, no adianta eu tentar ajudar. Concorda com esta justificao para no ajudar? Porqu? 4. Se todos os habitantes dos pases ricos que tm bastante mais do que precisam contribussem com 10% do seu rendimento para acabar com a pobreza absoluta, isso daria origem a uma grande crise econmica, pois as pessoas que trabalham na produo de bens no essenciais ficariam desempregadas. E assim a pobreza aumentaria. Por isso, insensato deixar de comprar bens no essenciais para ajudar os mais pobres. Concorda? Porqu?
178
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 179
A pobreza e a obrigao de ajudar
Captulo 19
Texto 53
No Somos Meios para os Fins dos Outros
Colin McGinn
No devemos usar os outros como simples meios para os nossos fins: esta uma boa mxima moral. Mas tambm no devemos usar-nos a ns prprios como meios para os fins dos outros. Era isto que queria dizer quando falei de nos tornarmos um instrumento para a satisfao dos outros. No devo ver a minha vida apenas como um meio para as outras pessoas aumentarem o seu bem-estar. Esta concepo esconde-se por detrs do princpio que Singer defende: a ideia de que o meu dever viver de forma a reduzir o sofrimento dos outros aumentando o meu sofrimento ou reduzindo o meu nvel de bem-estar. Esta afigura-se-me uma viso deprimente e deslocada da vida humana. Ela implica ver-me como um meio para os fins dos outros, e isto no mais aceitvel do que usar os outros como meios para os meus fins. Na verdade, ambas as ideias so erradas exactamente pela mesma razo. Constituem uma renncia autonomia pessoal, ao direito de viver a nossa vida como nossa, desenvolvendo os nossos talentos e potencialidades. bvio que no devemos prejudicar positivamente os outros seres humanos ou animais enquanto vivemos a nossa vida, mas no temos qualquer obrigao de nos dedicarmos a reduzir sofrimento que no contribumos para produzir. A situao no realmente diferente daquela em que se encontra a pessoa saudvel cujos rgos poderiam salvar ou prolongar a vida de vrios indivduos com rgos doentes. Confrontado com seis pessoas que poderiam usar os meus rgos se eu prescindisse deles e me despedisse desta vida, deveria do-los? Decididamente no, respondo, mesmo que, pensando em termos de importncia moral comparvel, seis vidas valham mais do que uma. E isto sucede porque eu no devo ver-me como um meio para os seus fins; os outros no podem requisitar e controlar a minha vida, e ainda menos tirar-ma. Eu tambm podia escolher deixar-me morrer fome para impedir que outras pessoas em lugares distantes tivessem o mesmo destino, e assim podia muito bem salvar mais vidas do que de qualquer outra maneira. Mas absurdo pensar que tenho agora o dever de me deixar morrer fome enviando todo o meu dinheiro Oxfam, incluindo aquele que poderia obter vendendo a comida que as organizaes de beneficncia me tivessem dado isto mesmo que, atravs da minha morte, pudesse salvar dez vidas com tal herosmo. A regra de igualizar o bem-estar simplesmente uma monstruosidade se for interpretada desta maneira. Mas nada vejo na discusso de Singer que bloqueie este tipo de consequncias. Aquilo que subjaz sua posio precisamente o tipo de utilitarismo para o qual estes casos so contra-exemplos. Alm disso, no possvel tentar enfraquecer e qualificar o princpio para excluir estes casos, pois isso priv-lo-ia da sua justificao filosfica. Precisamos de ver as coisas de outra maneira: as nossas atitudes em relao beneficncia no se devem basear em qualquer princpio utilitarista que compare o nosso bem-estar com o dos beneficirios potenciais e calcule os nossos deveres atravs da disparidade entre ambos. Qualquer defesa da benefi-
179
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 180
PARTE 7
TEMAS/PROBLEMAS DO MUNDO CONTEMPORNEO
cncia que se baseie nesses princpios apresentar a ajuda, por muito pequena que seja, como o primeiro passo num declive escorregadio que leva a nveis absurdos de sacrifcio pessoal, e assim dissuadir as pessoas de prestar qualquer ajuda. [] Deste modo, o tipo de defesa da beneficncia que Singer advoga tende a revelar-se contraproducente.
Colin McGinn, Os Nossos Deveres Relativamente aos Animais e aos Pobres, 1999, trad. de Pedro Galvo, pp. 157-158
Interpretao
1. Por que razo pensa o autor que a perspectiva de Singer sobre a obrigao de ajudar leva renncia da autonomia pessoal? 2. Por que razo pensa o autor que a perspectiva de Singer se pode revelar contraproducente?
Discusso
3. Os contra-exemplos apresentados pelo autor refutam a perspectiva de Singer? Porqu?
180
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 181
A pobreza e a obrigao de ajudar
Captulo 19
Temos a obrigao moral de ajudar quem vive na pobreza absoluta?
NO A ajuda supererrogatria
SIM
Se podemos evitar um mal sem sacrificar nada de importncia moral comparvel, devemos faz-lo. Objeces factuais Objeces morais
A ajuda desincentiva o apoio governamental. A ajuda tem ms consequncias a longo prazo.
A integridade e os direitos do agente no devem ser ignorados. A doutrina da responsabilidade negativa falsa.
Estudo complementar
Nagel, Thomas (1987) Justia in Que Quer Dizer Tudo Isto? Trad. de Teresa Marques. Lisboa: Gradiva, 1995. Sen, Amartya (1981) Pobreza e Fomes: Um Ensaio Sobre Direitos e Privaes. Lisboa: Terramar, 1999. Singer, Peter (1993) Ricos e Pobres in tica Prtica. Trad. de lvaro Augusto Fernandes. Lisboa: Gradiva, 2000.
@
Almeida, Ricardo (2006) Teremos Mais Deveres para com os Nossos?, in Crtica, http://criticanarede.com/html/eti_nacional.html. Dower, Nigel (1991) La Pobreza en el Mundo, in www.educa.rcanaria.es/usr/ ibjoa/et/sing23.htm.
181
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 182
PARTE 7 E N S A I O
Avaliao
Como se escreve um ensaio de Filosofia?
H muitas maneiras de abordar um problema, teoria ou argumento da filosofia: podemos faz-lo de um ponto de vista histrico, comparativo, psicolgico ou esttico. Mas podemos tambm faz-lo de um ponto de vista filosfico e, neste caso, trata-se de discutir ideias sobre esse problema, teoria ou argumento. Fazer um trabalho de filosofia no apenas uma questo de expor a informao que recolhemos dos livros. No basta mostrar que compreendemos a informao recolhida e que sabemos articul-la e explic-la adequadamente. Temos de fazer algo mais: preciso discutir ideias e tomar uma posio. O que isto significa torna-se mais claro com um exemplo. Imagine-se que vamos fazer um trabalho sobre a pobreza e a obrigao tica de ajudar. Filsofos diferentes tm teorias diferentes sobre este problema. Se nos limitarmos a fazer um relatrio das teorias desses filsofos, explicando-as muito bem, no estaremos ainda a fazer um bom trabalho de filosofia; estaremos apenas a fazer uma boa exposio dessas teorias. Para que um trabalho de filosofia seja bom, temos de tomar posio temos de participar na discusso e defender ns prprios a teoria que nos parece mais plausvel. Por isso, no basta mostrar que compreendemos bem o problema e as diferentes teorias estudadas; temos tambm de saber tomar posio. Isto no significa que tenhamos de propor uma nova teoria; significa apenas que temos de tomar posio sobre as teorias estudadas. Em filosofia, os trabalhos no so avaliados em funo da resposta dada ao problema tratado. Por exemplo, tanto podemos defender que temos o dever de ajudar os pobres, como podemos defender o contrrio. O que faz um trabalho ter uma classificao boa ou m no o que se defende, mas sim a maneira como se defende. As indicaes seguintes esclarecem a maneira como devemos fazer os nossos trabalhos de modo a que possamos ter uma boa classificao.
1. O problema
O ponto de partida de qualquer ensaio de filosofia (o que vulgarmente se chama trabalho) a delimitao muito precisa do problema que vamos abordar. Delimitar quer dizer fixar os limites. Como no podemos tratar de tudo ao mesmo tempo, temos de saber com muita exactido que problema especfico vamos tratar. O ttulo que escolhemos deve exprimir com muita preciso o problema de que vamos tratar no ensaio.
Maus ttulos
Eis alguns maus ttulos de ensaios de filosofia:
182
A questo da pobreza. O problema dos animais. O problema da tica hoje. A ecologia como tica.
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 183
Avaliao
Estes ttulos so maus porque no delimitam claramente o problema a abordar no trabalho, e nem sequer so evidentemente filosficos. A questo da pobreza, por exemplo, envolve muitos problemas diferentes e o ttulo no explicita que problema ser tratado. Alm disso, alguns dos problemas envolvidos na questo da pobreza nem sequer so filosficos: so econmicos, histricos, sociais, etc.
PARTE 7 E N S A I O
Bons ttulos
Uma boa maneira de mostrar que sabemos delimitar o problema que vamos abordar escolher um ttulo adequado. Eis alguns bons ttulos de ensaios de filosofia:
Teremos a obrigao moral de ajudar os povos mais pobres? Os animais no humanos so dignos de considerao moral? O aborto moralmente permissvel? Preservar a natureza uma obrigao moral?
Os bons ttulos de trabalhos de filosofia so em geral perguntas a que possvel responder sim ou no. O trabalho consiste, precisamente, em defender uma dessas respostas ou em defender que nenhuma dessas respostas satisfatria e que estamos num impasse.
O que est em causa?
No basta ter um bom ttulo. preciso mostrar que compreendemos correctamente os aspectos relevantes do problema em causa. Por isso, temos de dedicar algum espao no trabalho para explicar cuidadosamente o problema e as suas articulaes. O que est em causa, exactamente? Ser necessrio esclarecer alguns conceitos ou noes fundamentais?
Leituras
No podemos fazer um trabalho de filosofia sem fontes bibliogrficas ou seja, livros, captulos de livros ou artigos. Por isso, temos de garantir que h fontes bibliogrficas que abordam o problema que escolhemos. Geralmente, escolhemos um problema abordado neste manual (nomeadamente, nos Captulos 18 ou 19), pelo que a questo da bibliografia est resolvida: alm de podermos usar o captulo em causa como fonte, cada captulo apresenta uma lista de leituras complementares.
O Rato de Biblioteca,
de Carl Spitzweg (1808-1885). No temos de ser ratos de biblioteca, mas sem leituras fundamentais o nosso trabalho ser ingnuo e no poder ser bom.
183
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 184
PARTE 7 E N S A I O
Avaliao
No necessrio estudar todas as leituras complementares; geralmente, basta estudar uma ou duas. O importante que no podemos estudar apenas o que est de acordo com a nossa perspectiva. Por exemplo, se fizermos um trabalho sobre a obrigao moral de ajudar os pobres, temos de estudar pelo menos dois textos: um que defenda a obrigao moral de ajudar os pobres, e outro que defenda a posio contrria. A excepo a esta regra acontece apenas se estudarmos um texto que apresenta de forma imparcial as duas posies em confronto e os respectivos argumentos.
Conceitos
Como qualquer outra rea de estudo, a filosofia usa certos termos com um sentido diferente do habitual. Para discutir correctamente certos assuntos por vezes necessrio fazer algumas distines conceptuais e esclarecer cuidadosamente alguns conceitos centrais. Por exemplo, para discutir o problema do mal, em filosofia da religio, necessrio distinguir o mal natural do mal moral, e esclarecer cada um destes conceitos. Sempre que fazemos distines ou esclarecimentos deste gnero, devemos dar exemplos iluminantes.
2. As teorias
A delimitao cuidadosa do problema que vamos discutir e a pesquisa bibliogrfica que fizemos facilita o segundo aspecto fundamental do nosso trabalho: a delimitao das teorias ou posies que sero discutidas. Porque escolhemos problemas que se expressam atravs de perguntas que exigem respostas de sim ou no, bvio que h duas teorias que nos importam, e que correspondem a cada uma dessas respostas. Claro que nem sempre as coisas so assim to simples. Por vezes, h mais de uma teoria que responde sim a uma determinada pergunta filosfica, elaborando a sua resposta de modos muito diferentes. Se isso acontecer, o nosso trabalho fica mais difcil, porque teremos de abordar mais de duas teorias.
Argumentao
O objectivo do ensaio filosfico responder sim ou no pergunta do ttulo. Ou seja: o objectivo apresentar a teoria que nos parece melhor, e defend-la com argumentos. a isso que se chama tomar posio. Mas no basta apresentar correctamente a teoria que nos parece melhor, e defend-la com bons argumentos; preciso tambm mostrar que compreendemos correctamente a teoria contrria e que temos bons argumentos contra ela. Por isso, temos de dedicar algum espao apresentao dos aspectos fundamentais da teoria a que nos opomos, e respectivos argumentos. E depois temos de mostrar por que razo pensamos que essa teoria e respectivos argumentos no so aceitveis.
184
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 185
Avaliao
Dedicamos mais espao no nosso trabalho apresentao da nossa teoria e dos argumentos que a sustentam. Mas temos de dedicar algum espao teoria a que nos opomos e respectivos argumentos. No o fazer, ou faz-lo demasiado apressadamente, um erro muito grave num trabalho e chama-se supresso de provas; o equivalente da mentira. No podemos fingir que a teoria que defendemos a nica, nem que a nica teoria a favor da qual h argumentos srios.
PARTE 7 E N S A I O
3. Os argumentos
Um ensaio de filosofia um argumento grande, constitudo por vrios argumentos parcelares mais pequenos. A concluso geral do ensaio a resposta pergunta do ttulo, por exemplo: Os animais no humanos no so dignos de considerao moral. O argumento geral que sustenta esta concluso constitudo por vrios argumentos parcelares que defendem cuidadosamente vrias partes da nossa teoria. Isto significa que temos de argumentar cuidadosamente. Nas afirmaes que fazemos ao longo do trabalho temos de ter o seguinte cuidado: quem nega a nossa teoria, aceita pacificamente esta afirmao? Caso a resposta seja negativa, temos de apresentar um argumento a favor dessa afirmao. E esse argumento tem de usar premissas que o nosso opositor aceite, alm de ser vlido. Alm disso, temos de ter em conta os argumentos que estudmos na bibliografia; isto inclui os argumentos contra a teoria que defendemos e a favor da teoria a que nos opomos.
Estrutura do ensaio
Um bom ensaio de filosofia tem, geralmente, a seguinte estrutura geral: Primeira parte: introduo 1. Breve apresentao do problema que ser tratado no ensaio. Geralmente, apenas duas ou trs linhas. Por exemplo, Neste ensaio discute-se o problema de saber se as pessoas mais ricas, que vivem nos pases mais ricos, tm a obrigao de ajudar as pessoas que vivem na pobreza absoluta, independentemente do pas em que se encontrem. 2. Explicitao da teoria defendida. Geralmente, apenas uma linha. Por exemplo, A posio defendida neste ensaio que ajudar as pessoas que vivem na pobreza absoluta no uma obrigao moral, ainda que seja meritrio. Segunda parte: desenvolvimento 3. Apresentao mais desenvolvida e articulada dos aspectos fundamentais do problema que ser tratado no ensaio. nesta parte que se fazem distines conceptuais e se esclarecem alguns conceitos centrais importantes, se houver necessidade disso.
185
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 186
PARTE 7 E N S A I O
Avaliao
4. Apresentao das posies em confronto. 5. Apresentao pormenorizada da posio que se defende e dos argumentos a seu favor. Resposta s objeces mais provveis aos argumentos apresentados. 6. Apresentao dos argumentos mais importantes a favor da posio contrria e respectiva refutao. Resposta a algumas das objeces mais provveis s refutaes apresentadas. Terceira parte: concluso 7. Concluso: breve recapitulao do problema tratado e da posio defendida.
4. Estilo
Claro, directo e simples
Um bom ensaio de filosofia usa uma linguagem clara, simples e directa. A sofisticao deve resultar exclusivamente das ideias. As frases devem ser directas e cuidadosamente encadeadas, seguindo o fluxo natural das ideias e argumentos. Cada pargrafo deve tratar de uma ideia apenas e ter uma certa unidade. Para garantir um estilo directo e simples, devemos tentar apagar palavras nas frases que acabmos de escrever. Sempre que, numa determinada frase, for possvel apagar palavras mantendo o significado fundamental que queremos transmitir, devemos apag-las. Devemos fazer o mesmo com as frases sempre que for possvel apag-las mantendo o significado fundamental do pargrafo, devemos apag-las.
Objectivo, imparcial e sbrio
Um ensaio filosfico um ensaio argumentativo; mas um ensaio argumentativo no um ensaio exortativo ou retrico. Num ensaio exortativo ou retrico usa-se um estilo empolgado e muito emocional, que imprprio num ensaio argumentativo. Um bom ensaio argumentativo tem um estilo objectivo, imparcial e sbrio. Pode-se usar a primeira pessoa do singular (Neste trabalho, defendo que), mas no se deve repetir vezes sem conta expresses como penso que, do meu ponto de vista e afins pois bvio que o que se afirma no trabalho o que o seu autor pensa. Em alternativa, pode-se usar a primeira pessoa do plural (Neste trabalho, defendemos que), mas preciso tambm no repetir desnecessariamente expresses como pensamos que, etc. Outra possibilidade usar o modo impessoal (Neste trabalho, defende-se que).
186
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 187
Avaliao
Despretensioso
Um bom ensaio de filosofia no comea com generalidades vcuas, do gnero Desde sempre a humanidade procurou resolver o problema da existncia de Deus. As generalidades deste tipo no tm qualquer interesse e s surgem em ensaios pretensiosos mas vcuos.
PARTE 7 E N S A I O
5. Apresentao
Um ensaio filosfico um trabalho acadmico ou escolar. Estes trabalhos no so apenas sbrios no seu estilo de redaco; so tambm sbrios na sua apresentao fsica. Eis algumas sugestes para que o trabalho tenha uma boa apresentao: 1. Usar folhas brancas de formato A4, agrafadas e sem qualquer ilustrao desnecessria. Evidentemente, se for necessrio, podemos usar reprodues de arte (num trabalho sobre esttica, por exemplo) ou um grfico com dados empricos (num trabalho sobre a pobreza, por exemplo). 2. Apresentar o trabalho sem capa. O trabalho deve comear na primeira folha, onde consta o ttulo, nome do autor, escola e turma a que pertence (ver ilustrao). 3. Definir as pginas com margens largas (3 cm geralmente adequado). 4. Usar 1,5 linha de espaamento. 5. Usar um tipo de letra sbrio, como o Times New Roman ou equivalente. 6. Usar uma letra com uma dimenso sbria, nem demasiado grande nem demasiado pequena. 12 pontos geralmente adequado. 7. Numerar todas as pginas. 8. No assinar o trabalho mo. O nome do autor pode reaparecer na ltima pgina, mas impresso. 9. Se necessrio, usar notas de p de pgina para esclarecer algum aspecto que no convm esclarecer no corpo do texto, ou para fazer uma indicao bibliogrfica. 10. Identificar correctamente todas as citaes e referncias bibliogrficas. 11. Identificar correctamente a bibliografia consultada.
SER O LIVRE-ARBTRIO COMPATVEL COM O DETERMINISMO DA NATUREZA? Mrio Antunes Silva Escola Secundria de Braga 10. ano de Filosofia Turma F
Este trabalho discute o problema de saber se o livre-arbtrio compatvel com o determinismo da natureza. A posio defendida que no compatvel. O problema do livre-arbtrio o seguinte: admitindo que todos os acontecimentos do universo so inteiramente determinados por causas anteriores, a capacidade humana para agir livremente parece ficar colocada em causa. Pois nesse caso qualquer aco que algum faa estava determinada a acontecer muito antes de essa pessoa ter nascido. Neste contexto, entende-se por livre-arbtrio a capacidade para escolher agir de uma maneira ou de outra, consoante queremos. Dizer que a natureza determinada, por outro lado, dizer o 1
187
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 188
PARTE 7 E N S A I O
Avaliao
Bibliografia
H vrios mtodos estabelecidos de referncia bibliogrfica. Podemos usar qualquer um deles, mas s podemos usar um dos mtodos ao longo do trabalho. Os ttulos dos livros e das revistas ou outras publicaes so citados em itlico; os ttulos dos artigos e captulos de livros so citados em redondo (ou seja, sem ser em itlico e sem ser em negro). A lista completa dos livros e artigos consultados deve ser apresentada no final do trabalho, com o ttulo Bibliografia Consultada, usando um dos mtodos estabelecidos de referncia bibliogrfica. Um desses mtodos usa as seguintes convenes:
Branquinho, Joo (1993) Lgica, Racionalidade e Atitudes. Crtica,10, pp. 39-58. Madeira, Pedro (2004) Razo Instrumental e Razes para Agir. Trlei, 4, http://www.spfil.pt/trolei/tr04_madeira1.htm. Nagel, Thomas (1987) O Sentido da Vida, in Que Quer Dizer Tudo Isto? Trad. de Teresa Marques. Lisboa: Gradiva, 1995. Weston, Anthony (1992) A Arte de Argumentar. Trad. de Desidrio Murcho. Lisboa: Gradiva, 1996.
A primeira referncia um artigo numa revista. O ttulo do artigo est em redondo, entre aspas; o nome da revista est em itlico, seguido do respectivo nmero. A segunda referncia um artigo de uma revista disponvel na Internet. Indica-se o endereo completo do artigo. A terceira referncia um captulo num livro; o ttulo do captulo est em redondo, entre aspas, seguido do ttulo do livro itlico. Entre parntesis est a data da publicao original; no fim, est a data da edio portuguesa. A quarta referncia a um livro.
Citaes
Ao longo do trabalho, podemos usar as palavras de um certo autor; chama-se a isso fazer uma citao. As citaes tm de vir entre aspas, ou ento separadas do corpo do texto, em letra mais pequena e com margens menores. Por exemplo, Nelson Goodman afirmou que Pensar que a cincia em ltima anlise motivada por fins prticos, avaliada e justificada por pontes, bombas e o controlo da natureza, confundir cincia com tecnologia. Ao colocar as palavras deste filsofo entre aspas, mostra-se que as palavras no so nossas. Mas alm de as colocarmos entre aspas, temos de identificar correctamente a sua fonte. Isso poderia ser feito com uma nota de p de pgina, onde se escreveria o seguinte:
Goodman, Nelson (1968) Linguagens da Arte: Uma Abordagem a Uma Teoria dos Smbolos. Trad. de Vtor Moura et al., Lisboa: Gradiva, 2006, p. 256.
188
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 189
Avaliao
necessrio indicar a pgina onde se encontra o texto citado. Quando a citao mais longa, destacamo-la do corpo do texto, do seguinte modo:
Pensar que a cincia em ltima anlise motivada por fins prticos, avaliada e justificada por pontes, bombas e o controlo da natureza, confundir cincia com tecnologia. A cincia procura o conhecimento sem atender a consequncias prticas, ocupando-se da previso enquanto teste da verdade e no enquanto guia do comportamento. A investigao desinteressada compreende simultaneamente a experincia cientfica e a esttica. (Goodman, 1968, p. 256-257 .)
PARTE 7 E N S A I O
No fim da citao, a indicao bibliogrfica abreviada, entre parntesis, evita a necessidade de uma nota com a referncia bibliogrfica. Essa indicao remete para a lista de leituras colocada no final do trabalho. Chama-se a isto o sistema autor-data.
Leitura complementar
Weston, Anthony (1992) A Arte de Argumentar. Trad. de Desidrio Murcho. Lisboa: Gradiva, 1996.
Hepburn, R. W. (2005) Bons e Maus Ensaios Filosficos. Trad. de lvaro Nunes, in Crtica, http://criticanarede.com/html/fil_bomemau.html. Martinich, A. P . (1998) A Estrutura de um Ensaio Filosfico. Trad. de Vtor Oliveira, in Crtica, http://criticanarede.com/html/filos_ensaiofilosofico.html. Polnio, Artur (2005) Como Escrever um Ensaio Filosfico, in CEF-SPF , http://www.cef-spf.org/docs/ensaio.pdf. Pryor, James (s.d.) Como se Escreve um Ensaio de Filosofia. Trad. de Eliana Curado, in Crtica, http://criticanarede.com/html/fil_escreverumensaio.html.
189
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 190
Glossrio
a priori/a posteriori Conhecemos algo a priori quando o conhecemos sem recorrer experincia. Por exemplo, para saber que a adio de 502 com 12 d 514 no precisamos de recorrer experincia. Mas para saber que a neve branca temos de recorrer experincia. Conhecemos algo a posteriori quando o conhecemos recorrendo experincia. abstracto Uma entidade sem localizao espcio-temporal. Abstracto no quer dizer vago e difcil de compreender. absurdo 1. Uma frase declarativa sem valor de verdade (sem sentido). 2. Uma falsidade bvia. actos/omisses Distino controversa que corresponde aproximadamente diferena entre fazer algo e permitir que algo acontea por exemplo, entre matar e deixar morrer. Muitos deontologistas consideram esta distino moralmente relevante e pensam, por exemplo, que em geral mais grave matar do que deixar morrer. Os utilitaristas dos actos defendem que a distino no tem uma importncia moral fundamental. Pensam que, se as consequncias de matar forem as mesmas do que as de deixar morrer, matar no pior (nem melhor) que deixar morrer. agnstico Aquele que suspende a crena em relao existncia de Deus: nem acredita que Deus existe nem que Deus no existe. argumento a posteriori Um argumento em que pelo menos uma das suas premissas a posteriori. argumento a priori Um argumento em que todas as suas premissas so a priori. argumento circular Argumento que pressupe o que pretende demonstrar. argumento cogente (ou bom) Um argumento slido com premissas mais plausveis do que a concluso. argumento Conjunto de proposies em que se pretende justificar ou defender uma delas, a concluso, com base na outra ou nas outras, a que se chamam premissas. Por exemplo: o aborto no permissvel (concluso) porque a vida sagrada (premissa). argumento cosmolgico Argumento que parte de uma caracterstica particular do mundo para concluir que Deus existe pois s a existncia de Deus poder explicar essa caracterstica do mundo. O argumento estudado de S. Toms de Aquino parte da premissa a posteriori de que tudo tem uma causa, para concluir que existe um ser (Deus) que a causa de tudo. argumento do desgnio H dois tipos de argumentos do desgnio: 1) Baseados na ordem do mundo (nomolgicos) e baseados na adequao das coisas a fins (teleolgicos). O argumento estudado um argumento teleolgico, que se baseia numa analogia entre artefactos e o mundo para concluir que, tal como os artefactos tm um criador, tambm o mundo tem um criador: Deus. argumento moral Na discusso sobre a existncia de Deus, argumento que tem por base a ideia de que sem Deus a moral no possvel. argumento ontolgico Argumento a priori que parte da definio de Deus com o objectivo de estabelecer que Deus existe. O argumento estudado de S. Anselmo parte da definio de Deus como aquele ser maior do que o qual nada pode ser pensado para concluir que Deus existe. argumento por analogia Um argumento por analogia parte da comparao de duas coisas distintas; constatamos que so semelhantes em vrios aspectos e conclumos que tambm so semelhantes em relao a outro aspecto. Por exemplo: Os seres humanos sentem dor quando so agredidos; os ces so como os seres humanos; logo, os ces tambm sentem dor quando so agredidos. argumento slido Um argumento vlido com premissas verdadeiras. ateu Aquele que acredita que Deus no existe.
190
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 191
Glossrio
atitude esttica Disposio para dirigir a nossa ateno para os objectos de forma desinteressada, concentrando a nossa ateno exclusivamente nos prprios objectos. A atitude esttica ope-se atitude no esttica, que uma atitude prtica. Alguns filsofos no aceitam ideia de que h atitude esttica. autonomismo Em filosofia da arte o nome dado perspectiva segundo a qual o valor da arte autnomo. De acordo com o autonomismo, a arte tem valor intrnseco. bem-estar O bem-estar de um indivduo consiste naqueles aspectos da sua vida que a tornam boa para si. bicondicional Uma proposio da forma P se, e s se, Q. cadeia causal Sequncia encadeada de causas e efeitos. caracterizao A apresentao de informaes importantes sobre a natureza de algo. Caracterizar a filosofia, por exemplo, apresentar algumas das caractersticas importantes da filosofia. cogncia Um argumento cogente (ou bom) quando slido e tem premissas mais plausveis do que a concluso. cognitivismo esttico Perspectiva filosfica acerca do valor da arte segundo a qual esta valiosa porque proporciona conhecimento. compatvel/incompatvel Um conjunto de estados de coisas compatvel quando todos os estados de coisas do conjunto podem ocorrer simultaneamente. E incompatvel quando no podem ocorrer simultaneamente. A compatibilidade/incompatibilidade a contraparte metafsica das noes lingusticas de consistncia/inconsistncia. conceito A noo filosfica de conceito complexa, correspondendo aproximadamente aos contedos que constituem um pensamento. O pensamento de que Aristteles mortal, por exemplo, inclui os conceitos de Aristteles e de mortalidade. Neste sentido do termo, praticamente qualquer palavra que faa parte de uma frase com sentido exprime um conceito. Gramaticalmente, contudo, e em termos mais tradicionais, um conceito uma noo ou ideia geral. Neste caso, retomando o exemplo anterior, no se pode falar do conceito de Aristteles, mas apenas do conceito de mortalidade. Neste sentido, s termos gerais, como justia, vermelho e pas exprimem conceitos; termos como Aristteles, Portugal ou Segunda Guerra Mundial no exprimem conceitos. conceito aberto Conceito cujas condies de aplicao esto constantemente sujeitas a correco, de modo a alargar o seu uso a novos casos. Alguns filsofos pensam que o conceito de arte aberto. Ope-se a conceito fechado. concluso A proposio que se pretende provar, num argumento. concreto Uma entidade com localizao espcio-temporal. Concreto no quer dizer com exactido e fcil de compreender. condio necessria G uma condio necessria de F quando todos os F so G. Por exemplo, estar em Portugal uma condio necessria para estar em Braga porque todas as pessoas que esto em Braga esto em Portugal. Q uma condio necessria de P quando a condicional Se P , ento Q verdadeira. condio suficiente F uma condio suficiente de G quando todos os F so G. Por exemplo, estar em Braga uma condio suficiente para estar em Portugal porque todas as pessoas que esto em Braga esto em Portugal. P uma condio suficiente de Q quando a condicional Se P , ento Q verdadeira. condicional Qualquer proposio da forma Se P , ento Q, ou formas anlogas. Por exemplo, Se Scrates era ateniense, era grego. consequncia O mesmo que concluso. consequencialismo Perspectiva que, na sua verso mais comum, nos diz que aquilo que
191
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 192
Glossrio
devemos fazer determinado unicamente pelo valor das consequncias dos actos. Agir bem assim fazer aquilo que tem melhores consequncias. consistncia/inconsistncia Um conjunto de proposies consistente quando as proposies podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo ainda que na realidade sejam todas falsas. Um conjunto de proposies inconsistente quando as proposies no podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo. A consistncia/inconsistncia a contraparte lingustica das noes metafsicas de compatibilidade/incompatibilidade. contemplao Um modo desinteressado de percepo que dirigido aos objectos apenas em funo de si mesmos. Alguns filsofos pensam que apreciar um objecto de arte contemplar esse objecto e no analis-lo ou observ-lo. contra-argumento Um argumento que pretende refutar outro argumento. contradio performativa Quando se afirma algo que negado pelo acto de afirmar. Por exemplo, algum que diga No estou a falar. contradio Qualquer proposio da forma P e no P, como Scrates era grego e no era grego. contra-exemplo Um exemplo que refuta uma proposio universal. Por exemplo, a existncia de um lisboeta infeliz refuta a proposio expressa pela frase Todos os lisboetas so felizes. crente Aquele que acredita que Deus existe. crtica A avaliao cuidadosa da verdade de uma afirmao. Este sentido do termo no deve confundir-se com o sentido popular, em que criticar significa dizer mal de algo ou algum. decadentismo Doutrina esttica segundo a qual a arte est acima da moral, podendo mesmo ser imoral. defesa do livre-arbtrio Resposta clssica ao problema do mal, segundo a qual Deus permite o mal para possibilitar um bem maior: a existncia de livre-arbtrio. definio A especificao da natureza de algo. Especificar a natureza de algo dizer o que esse algo. Por exemplo, podemos definir a gua dizendo que H2O. Mas nem todas as definies so explcitas, como neste exemplo. As definies podem tambm ser implcitas. definio explcita Tipo de definio em que se recorre a condies necessrias e suficientes. Por exemplo, quando se define a gua como H2O o que se quer realmente dizer que ser H2O uma condio necessria e suficiente para que algo seja gua. definio implcita Tipo de definio em que se recorre a exemplos ou ao uso. Por exemplo, podemos definir a gua mostrando vrios exemplos de pores de gua dos rios, das garrafas, da chuva, etc. Ou podemos definir a noo de solteiro atravs do uso que fazemos da palavra solteiro. deontologia Quem defende uma tica deontolgica acredita em restries que nos probem de fazer certas coisas, como mentir ou matar, mesmo quando faz-las teria melhores consequncias. desinteresse Para alguns filsofos a caracterstica que distingue a experincia e a atitude estticas da experincia e atitude no estticas. Em termos gerais considera-se que uma experincia desinteressada quando independente de qualquer finalidade, no tendo, pois, em vista a satisfao de quaisquer desejos ou necessidades, nem a obteno de conhecimento. Assim, tudo o que conta numa experincia desinteressada a prpria experincia em si. Na mesma linha, diz-se que uma atitude desinteressada se nos leva a concentrar a nossa ateno exclusivamente nas coisas que temos diante de ns. A ideia de que h experincias e atitudes desinteressadas, assim como a prpria caracterizao da noo de desinteresse esto longe de ser consensuais. deus testa O ser omnipotente (que pode fazer tudo: todo-poderoso), omnisciente (que
192
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 193
Glossrio
sabe tudo), sumamente bom (moralmente perfeito), criador e que uma pessoa ( um agente e no uma fora da natureza). deveres indirectos Dizer que os nossos deveres morais para com os animais ou o ambiente so apenas indirectos afirmar que os animais ou o ambiente no so em si moralmente importantes. errado fazer certas coisas aos animais ou ao ambiente, mas apenas porque faz-las levar-nos-ia a prejudicar aqueles que tm realmente importncia moral em si os seres humanos. dogma Uma afirmao cuja verdade se deseja que seja aceite sem qualquer avaliao cuidadosa quanto sua verdade. entimema Argumento em que uma ou mais premissas no foram explicitamente apresentadas. epistemologia Disciplina central da filosofia que estuda os problemas mais gerais do conhecimento, incluindo a sua natureza, limites e fontes. Por exemplo, o que realmente o conhecimento? Ser que sabemos realmente algo, ou tudo uma iluso? especismo Discriminao baseada na espcie. estatuto moral Um indivduo ou uma entidade tem estatuto moral se moralmente importante em si. quase consensual que as pessoas tm estatuto moral, mas discute-se se os animais no humanos, os embries humanos ou o ambiente o tm. Na tica kantiana, afirma-se que s as pessoas, concebidas como agentes racionais e autnomos, tm estatuto moral. Os utilitaristas pensam que todos os seres sencientes, e no apenas as pessoas, tm estatuto moral. esttica Disciplina filosfica tradicional que trata das questes acerca da beleza e da arte. esteticismo Perspectiva filosfica sobre a arte segundo a qual esta tem valor em si e no um meio para fim algum. tambm conhecida como teoria da arte pela arte. tica Disciplina central da filosofia que estuda a natureza do pensamento tico (metatica), os fundamentos gerais (tica normativa) e os problemas concretos da vida tica (tica aplicada). Por exemplo, em metatica estuda-se o problema de saber se os juzos ticos so relativos cultura em que vivemos; em tica normativa estuda-se o problema de saber o que o bem ltimo; e em tica aplicada estuda-se a questo de saber se os animais no humanos tm importncia moral. experincia esttica Um tipo especfico de experincia que alegadamente s as coisas belas e as obras de arte so capazes de provocar em quem as aprecia. Nem todos os filsofos concordam com a ideia de que h experincias especificamente estticas. expresso Em filosofia da arte, a transmisso ou comunicao de sentimentos ou emoes. extenso/intenso A extenso de um conceito ou propriedade as coisas a que um conceito ou propriedade se aplica. Por exemplo, a extenso de vermelho so todos os objectos vermelhos. A intenso de um conceito a propriedade que determina a extenso do conceito. Assim, a intenso do conceito de vermelho a propriedade da vermelhido. falcia Um argumento que parece cogente mas no . Um argumento pode parecer cogente por parecer slido sem o ser, ou por parecer vlido sem o ser, ou por parecer que tem premissas mais plausveis do que a concluso quando no as tem. f Crena com elevado grau de convico na verdade de uma afirmao, sem razes que estabeleam a sua verdade. fidesmo Teoria segundo a qual as crenas religiosas se baseiam unicamente na f e no na razo. filosofia da arte Disciplina filosfica que trata dos problemas da natureza, valor e interpretao da arte. filosofia da religio Disciplina filosfica que estuda os problemas metafsicos, epistemolgicos e lgicos levantados pela religio. Por exemplo, ser que Deus existe? Ser le-
193
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 194
Glossrio
gtimo acreditar que Deus existe sem ter provas? Ser a existncia de Deus compatvel com a existncia do mal? finalidade (de uma aco) A razo pela qual se faz algo. finalidade instrumental (de uma aco) Algo que fazemos para obter outra coisa. finalidade ltima (de uma aco) Algo que fazemos em funo de si mesmo. forma significante Segundo alguns filsofos aquilo que existe nas obras de arte, e apenas nelas, que no pode ser alterado, simplificado ou adaptado sem perder o seu interesse e o seu significado. a forma significante que, alegadamente, provoca em ns emoes estticas. frase Sequncia de palavras que podemos usar para fazer uma assero ou uma pergunta, fazer uma ameaa, dar uma ordem, exprimir um desejo, etc. hedonismo Perspectiva segundo a qual s o prazer intrinsecamente bom e s a dor intrinsecamente m. Tudo o que resto tem valor apenas na medida em que contribui para aumentar o prazer ou para reduzir a dor. imitao Uma forma particular de representao. A imitao pode ser uma pintura figurativa, um gesto ou um conjunto de sons semelhantes ao que est a ser imitado. implicao Uma proposio implica outra quando impossvel a primeira ser verdadeira e a segunda falsa. incompatibilismo No debate sobre o livre-arbtrio, as teorias que defendem que o determinismo e o livre-arbtrio no podem coexistir. O libertismo e o determinismo radical so duas dessas teorias. incompatvel/compatvel Um conjunto de estados de coisas compatvel quando todos os estados de coisas do conjunto podem ocorrer simultaneamente. E incompatvel quando no podem ocorrer simultaneamente. A compatibilidade/incompatibilidade a contraparte metafsica das noes lingusticas de consistncia/inconsistncia. inconsistncia/consistncia Um conjunto de proposies consistente quando as proposies podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo ainda que na realidade sejam todas falsas. Um conjunto de proposies inconsistente quando as proposies no podem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo. A consistncia/inconsistncia a contraparte lingustica das noes metafsicas de compatibilidade/incompatibilidade. intenso/extenso A extenso de um conceito ou propriedade as coisas a que um conceito ou propriedade se aplica. Por exemplo, a extenso de vermelho so todos os objectos vermelhos. A intenso de um conceito a propriedade que determina a extenso do conceito. Assim, a intenso do conceito de vermelho a propriedade da vermelhido. interpretao Interpretar um texto (ou uma obra de arte, ou um olhar) compreender o seu significado e a articulao entre os seus diferentes aspectos. juzo cognitivo Um juzo de conhecimento como A Terra gira em torno do Sol. juzo de gosto Alguns filsofos defendem que juzos estticos do tipo X belo so subjectivos, pois limitam-se a exprimir os gostos de quem os profere. Assim, para os subjectivistas, os juzos estticos so juzos de gosto. juzo esttico Diz-se que os juzos acerca da arte e da beleza so estticos. lgica O estudo da validade e cogncia da argumentao. mal moral O mal causado pelos seres humanos, deliberadamente ou por negligncia; por exemplo, homicdios e guerras. mal natural O mal resulta de fenmenos naturais; por exemplo, cheias e furaces. metafsica Disciplina central da filosofia que estuda a natureza ltima dos aspectos mais gerais da realidade. Por exemplo, ser que temos livre-arbtrio? O que o tempo? O que h de comum a todos os objectos azuis?
194
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 195
Glossrio
moralismo Em filosofia da arte o nome dado perspectiva segundo a qual a arte tem uma funo moral. negao Operador de formao de frases que inverte o valor de verdade das proposies, exprimindo-se geralmente em portugus com a palavra no, entre outras. objectivismo esttico Perspectiva esttica que defende a existncia de propriedades estticas nos prprios objectos, as quais em nada dependem dos sentimentos das pessoas que os apreciam. De acordo com o objectivismo a beleza est nas prprias coisas, pelo que no depende das opinies de cada um. Ope-se ao subjectivismo esttico. ontologia Disciplina da metafsica que estuda o problema de saber que tipos mais gerais de coisas h. Por exemplo, ser que h realmente proposies? Ou sero apenas entidades mentais ou lingusticas? Haver universais, ou apenas h particulares? nus da prova Se razovel presumir que uma certa afirmao verdadeira, o nus da prova cabe a quem pensa que falsa. Dado que razovel presumir que o Pai Natal no existe, a pessoa que pensa que existe que tem de provar que tem razo e que ns estamos enganados. padro do gosto Critrio geral que permite distinguir o bom do mau gosto e que se forma a partir da observao daquilo que ao longo dos tempos costuma agradar s pessoas de diferentes lugares. Noo introduzida por David Hume. paradoxo de Epicuro Formulao clssica do problema do mal atribuda ao filsofo Epicuro: Ou Deus quer impedir o mal e no pode, ou pode mas no quer. Se quer mas no pode, impotente. Se pode, mas no quer, malvolo. Mas se quer e pode, de onde vem ento o mal?. parecena familiar Semelhana entre certas coisas que nos permite estabelecer uma relao de familiaridade entre si. Alguns filsofos pensam que h conceitos, como os de jogo e de arte, que no podem ser definidos explicitamente, mas que podem ser correctamente aplicados graas noo de parecenas familiares. petio de princpio (petitio principii) Argumento que pressupe o que pretende demonstrar. preconceito Uma opinio ou crena a favor da qual no temos qualquer bom argumento e sobre a qual nunca pensmos seriamente. premissa A proposio (ou proposies) que se usa num argumento para provar uma dada concluso. problema do mal Problema de conciliar a existncia do Deus testa com o mal existente no mundo. proposio particular Qualquer proposio que comece com o termo Algum ou anlogo. Por exemplo, Alguns lisboetas so felizes. proposio Pensamento que uma frase declarativa exprime literalmente. proposio universal Qualquer proposio que comece com o termo Todo, Nenhum ou anlogo. Por exemplo, Todos os lisboetas so portugueses. propriedade esttica A elegncia, a beleza, a harmonia, a perfeio, a unidade e a graciosidade, entre outras qualidades que podemos encontrar nos objectos, so geralmente designadas como propriedades estticas. As propriedades estticas distinguem-se das no estticas, como a brancura, a triangularidade, a solidez e a textura. A ideia de que h propriedades estticas no consensual, assim como no h consenso entre os filsofos sobre que tipo de propriedades so essas. prossilogismo Quando temos silogismos em cadeia, o silogismo cuja concluso usada como premissa do silogismo seguinte. provabilismo Teoria segundo a qual s legtimo acreditar naquilo a favor do qual temos provas suficientes. A defesa clssica desta teoria da autoria de William K. Clifford.
195
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 196
Glossrio
raciocnio Conjunto de proposies em que se pretende justificar ou defender uma delas, a concluso, com base na outra ou nas outras, a que se chamam as premissas. Por exemplo: o aborto no permissvel (concluso) porque a vida sagrada (premissa). reduo ao absurdo (reductio ad absurdum) Forma de argumentao na qual se parte da negao do que se quer provar. Mostrando que desse pressuposto se segue uma falsidade bvia (um absurdo), ou uma inconsistncia, conclui-se negando o ponto de partida. refutao Refutar uma ideia mostrar que essa ideia falsa. Refuta-se um argumento mostrando que a concluso falsa, que as premissas so falsas ou que o argumento invlido. regresso infinita Quando se justifica A em termos de B, B em termos de C, C em termos de D, etc., sem que essa cadeia de justificaes seja esclarecedora, estamos perante uma regresso infinita. representao Uma coisa representa outra se est em vez dela. A representao tanto pode ser verbal (as palavras) como figurativa (uma pintura ou uma dana). responsabilidade negativa Quem acredita na responsabilidade negativa pensa que somos responsveis no s pelos acontecimentos que provocmos, mas tambm pelos acontecimentos cuja ocorrncia no evitmos, quando o poderamos ter feito. Se uma pessoa morrer quando poderamos ter feito algo para evitar que ela morresse, ao nada fazermos para evitar tal coisa tornmo-nos responsveis pela sua morte. Esta ideia costuma ser atribuda ao utilitarista dos actos, que afirma a irrelevncia da distino entre actos e omisses. restries deontolgicas Proibies morais de realizar certos tipos de actos, como matar, torturar, roubar ou mentir. Quem acredita em restries pensa que, pelo menos como regra geral, actos como esses no podem ser realizados nem para benefcio do agente, nem para maximizar imparcialmente o bem. O defensor de restries deontolgicas acredita, por exemplo, que seria errado matar intencionalmente uma pessoa inocente de modo a salvar duas pessoas inocentes, ainda que esse resultado pudesse ser o melhor. rudo Todos os aspectos que no tm relevncia argumentativa num texto argumentativo (ou elocuo oral). sencincia Um ser senciente aquele que tem a capacidade de sentir dor ou prazer. solidez Um argumento slido quando tem premissas verdadeiras e vlido. subjectivismo esttico Perspectiva segundo a qual os juzos estticos apenas descrevem sentimentos pessoais. De acordo com o subjectivismo esttico a beleza no est nas coisas, mas nos sujeitos que as apreciam. Ope-se ao objectivismo esttico. sujeito de uma vida Segundo Tom Regan, todos os sujeitos de uma vida tm direitos morais inviolveis. Os sujeitos de uma vida tm uma vida mental rica e complexa, com memrias, desejos e laos afectivos, mas precisam de ser agentes racionais e autnomos. Assim, muitos animais no humanos, e tambm os seres humanos mentalmente deficientes, imaturos ou debilitados, so sujeitos de uma vida. supererrogao Quando realiza um acto supererrogatrio, o agente sacrifica o seu bem-estar de modo a beneficiar os outros, sem que tivesse a obrigao de o fazer. Assim, ao agir de forma supererrogatria, o agente vai alm do seu dever moral, o que especialmente louvvel. Por exemplo, arriscar a vida para salvar estranhos pode ser considerado um acto supererrogatrio. tesmo A doutrina que defende a existncia do Deus testa. testa O defensor do tesmo. teodiceia Explicao da razo pela qual Deus permite a existncia de mal no mundo.
196
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 197
Glossrio
teologia natural Tentativa de justificar a crena na existncia de Deus atravs de provas ou argumentos. teoria Um conjunto articulado de proposies que pretende explicar um dado fenmeno ou estabelecer um dado resultado. utilitarismo das regras Para quem defende esta teoria, um acto permissvel aquele que est de acordo com as regras morais ideais. Essas regras so aquelas que, se fossem aceites pela grande maioria dos membros da sociedade, maximizariam o bem-estar. Assim, o utilitarista das regras avalia os actos particulares em termos da promoo do bem-estar, mas de forma indirecta. utilitarismo dos actos A forma mais comum de utilitarismo, que avalia os actos particulares directamente em termos da promoo do bem-estar. Segundo o utilitarista dos actos, um acto permissvel aquele que maximiza imparcialmente o bem-estar. validade Propriedade que os argumentos tm quando impossvel, ou muitssimo improvvel, que as suas premissas sejam verdadeiras e a sua concluso falsa. As proposies no podem ser vlidas nem invlidas, s os argumentos podem s-lo. As proposies so verdadeiras ou falsas. valor de verdade A verdade ou falsidade de uma proposio. valor instrumental Uma coisa tem valor instrumental quando um meio para um fim que se considera valioso. Ope-se a valor intrnseco. valor intrnseco Uma coisa tem valor intrnseco quando tem valor por si, independentemente dos benefcios que dela possamos obter. Ope-se a valor instrumental.
197
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 198
Bibliografia
Parte 5: A dimenso esttica
Almeida, Aires e Murcho, Desidrio (2006) Textos e Problemas de Filosofia. Lisboa: Pltano. Beardsley, Monroe (1958) Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. Indianapolis, IN: Hackett, 1981, 2. ed. Bell, Clive (1914) Art. Londres: Chatto & Windus Ltd. Bentham, Jeremy (1825) Reward Applied to Art and Science, in Art in Theory: 1815-1900, org. por C. Harrison, P . Wood, e J. Gaiger. Oxford: Blackwell, 2001. Danto, Arthur (1964) The Artistic Engranchisement of Real Objects: The Artworld, in Contextualizing Aesthetics, From Plato to Lyotard, org. por Gene Blocker e Jeniffer Jeffers. Belmont: Wadsworth, 1998. Dickie, George (1964) The Myth of the Aesthetic Attitude, in Introductory Readings in Aesthetics, org. John Hospers. Nova Iorque: The Free Press, 1969. Goodman, Nelson (1968) Linguagens da Arte: Uma Abordagem a Uma Teoria dos Smbolos. Trad. de Vtor Moura et al. Lisboa: Gradiva, 2006. Hume, David (1757) Do Padro do Gosto, in Ensaios Morais, Polticos e Literrios. Trad. de J. P . Monteiro et al. Lisboa: INCM, 2002. Kant, Immanuel (1790) Crtica da Faculdade do Juzo. Trad. de Antnio Marques et al. Lisboa: INCM, 1998. Plato, Repblica. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Gulbenkian, 1980. Stolnitz, Jerome (1960) A Atitude Esttica, trad. de Vtor Silva. In O Que a Arte?, org. por Maria do Carmo dOrey. Lisboa: Dinalivro, 2007 . Tolstoy, Leo (1898) What is Art? Nova Iorque: MacMillan, 1960. Weitz, Morris (1956) O Papel da Teoria na Esttica, trad. de Clia Teixeira. In Crtica, 2004, http://criticanarede.com/html/fil_teoriaestetica.html. Wilde, Oscar, (1891) Intenes. Trad. de Antnio Feij. Lisboa: Cotovia, 1992.
198
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 199
Bibliografia
Parte 6: A dimenso religiosa
Almeida, Aires e Murcho, Desidrio (2006) Textos e Problemas de Filosofia. Lisboa: Pltano. Anselm of Canterbury (1077-78) The Major Works. Trad. de Brian Davies et al. Oxford: Oxford University Press, 1998. Aquinas, Thomas (1259-64) Summa Contra Gentiles, Book One: God. Trad. de Anton C. Pegis. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1975. Clifford, W. K. (1879) The Ethics of Belief and Other Essays, org. por Timothy J. Madigan. Amherst, NY: Prometheus Books, 1999. Edwards, Paul (1959) A Critique of the Cosmological Argument, in Pojman (2003), pp. 7-8. Epicurus, The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia. Trad. de Brad. Inwood e L. P . Gerson. Indianapolis, IN: Hackett, 1994. Hume, David (1779) Dilogos sobre a Religio Natural. Trad. de lvaro Nunes. Lisboa: Edies 70, 2005. James, William (1897) The Will to Believe, in Pojman (2003), pp. 368-376. Kant, Immanuel (1788) Critique of Practical Reason. Trad. de Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1997 . Kierkegaard, Sren (1846) Concluding Unscientific Postscript. Trad. de Howard V. Hong et. al. Princeton: Princeton University Press, 1974. Klemke, E. D. (org.) (2000) The Meaning of Life. Oxford: Oxford University Press, 2. ed. Leibniz, G. W. (1710) Theodicy: A Defense of Theism, in Pojman (2003), pp. 146-151. Mackie, J. L. (1955) God and Omnipotence, Mind, Vol. 64, n. 254. Mackie, J. L. (1982) The Miracle of Theism. Oxford: Oxford University Press. Nagel, Thomas (1971) The Absurd, in Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press, 1979, Cap. 2. Paley, William (1809) Natural Theology. Londres: J. Faulder. Pojman, Louis P ., (2003) Philosophy of Religion: An Anthology, Belmont, CA: Wadsworth. Rowe, William L. (2001) Philosophy of Religion. Belmont, CA: Wadsworth, 3. ed. Swinburne, Richard (1991) The Existence of God. Oxford: Oxford University Press. Swinburne, Richard (1996) Ser Que Deus Existe? Lisboa: Gradiva, 1998. Tolstoy, Leo (1882) Confession. Trad. de David Patterson. Nova Iorque: W. W. Norton, 1996. Wainwright, William J. (1999) Philosophy of Religion. Belmont, CA: Wadsworth Belmont, CA: Wadsworth, 2. ed. Wolf, Susan (1997) Happiness and Meaning: Two Aspects of the Good Life, in Social Philosophy & Policy, 14.
199
154-200
2007.04.01
17:40
Pgina 200
Bibliografia
Parte 7: Temas/problemas do mundo contemporneo
Arthur, John (1981) World Hunger and Moral Obligation: The Case Against Singer, in Sommers e Sommers (2003). Bentham, Jeremy (1789) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Kitchener: Batoche Books, 2000. Hardin, Garrett (1974) Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor, in Sommers e Sommers (1993). Kant, Immanuel (17751780) Duties in Regard to Animals. Trad. de Louis Infield, in Regan e Singer (1989). McGinn, Colin (1999) Our Duties to Animals and the Poor, in Dale Jamieson, Singer and His Critics. Londres: Blackwell. Rachels, James (1987) Darwin, Species, and Morality, in Regan e Singer (1989). Regan, Tom (1985) The Case for Animal Rights, in Regan e Singer (1989). Regan, Tom e Singer, Peter (orgs.) (1989), Animal Rights and Human Obligations. Nova Jrsia: Prentice Hall. Singer, Peter (1972) Famine, Affluence and Morality, in Philosophy and Public Affairs, 1. Singer, Peter (1990) Libertao Animal. Trad. de M. F . St. Aubyn. Porto: Via ptima, 2000, 2. ed. Singer, Peter (1993) tica Prtica. Trad. de A. Fernandes. Lisboa, Gradiva, 2000. Sommers, Christina e Sommers, Fred (orgs.) (1993) Vice and Virtue in Eeveryday Life. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich.
200
Potrebbero piacerti anche
- PDF - Curso de Cutelaria 2 - AtualizadoDocumento70 paginePDF - Curso de Cutelaria 2 - Atualizadomarcioflores73% (11)
- A Ciência Da Beleza EgípciaDocumento139 pagineA Ciência Da Beleza EgípciaSuellen100% (2)
- Compostasp ManualDocumento13 pagineCompostasp ManualWalas SilvaNessuna valutazione finora
- (2020) O Que Nos Faz Pensar - N. 47 - Colapso Climático e A Destruição Do FuturoDocumento312 pagine(2020) O Que Nos Faz Pensar - N. 47 - Colapso Climático e A Destruição Do FuturoRafael SaldanhaNessuna valutazione finora
- Sistema Agroflorestal em AndaresDocumento11 pagineSistema Agroflorestal em AndaresPepi Cavalcanti100% (1)
- Cálculo & Jogo: metáforas para a linguagem na filosofia de Ludwig WittgensteinDa EverandCálculo & Jogo: metáforas para a linguagem na filosofia de Ludwig WittgensteinNessuna valutazione finora
- COntratualistasDocumento33 pagineCOntratualistasIsadora Biella Moreira Martins D SouzaNessuna valutazione finora
- GuiaSamambaiasUatumaFINAL PDFDocumento320 pagineGuiaSamambaiasUatumaFINAL PDFCarlos Eduardo Belote100% (1)
- Farmacia EsteticaDocumento59 pagineFarmacia EsteticaArlete Susana SimõesNessuna valutazione finora
- 9 Ano LacunaDocumento4 pagine9 Ano LacunaAlanaNessuna valutazione finora
- Heidegger PDFDocumento278 pagineHeidegger PDFsousawfabioNessuna valutazione finora
- Caminhar Como Modo de Vida - Carolina FonsecaDocumento136 pagineCaminhar Como Modo de Vida - Carolina FonsecaDiana González Terán100% (3)
- Legal Design e Visual LawDocumento21 pagineLegal Design e Visual LawRonaldo TenórioNessuna valutazione finora
- Vivendo A ArteDocumento64 pagineVivendo A ArteLuciana Xavier0% (1)
- Carmo D'oreyDocumento5 pagineCarmo D'oreySara VieiraNessuna valutazione finora
- Dialética Hoje Filosofia Sistemática PDFDocumento204 pagineDialética Hoje Filosofia Sistemática PDFMarcos Villela Pereira100% (3)
- Arte 10 ADocumento235 pagineArte 10 ATina SilvaNessuna valutazione finora
- Arte 10 ADocumento235 pagineArte 10 ATina SilvaNessuna valutazione finora
- Lógica Capítulo 1 - Desiderio MurchoDocumento33 pagineLógica Capítulo 1 - Desiderio Murchosemluz100% (1)
- Introdução Lógica DesidérioDocumento29 pagineIntrodução Lógica DesidérioMiguel CardosoNessuna valutazione finora
- Introdução Lógica DesidérioDocumento29 pagineIntrodução Lógica DesidérioMiguel CardosoNessuna valutazione finora
- KANTPOSTERIDADEEACTUALIDADEDocumento812 pagineKANTPOSTERIDADEEACTUALIDADEemankcinNessuna valutazione finora
- Curso de Filosofia TemáticaDocumento309 pagineCurso de Filosofia Temáticaantonio100% (10)
- A utilidade vital da Filosofia aos maiores problemas da existênciaDa EverandA utilidade vital da Filosofia aos maiores problemas da existênciaNessuna valutazione finora
- James Rachels Cap 13Documento14 pagineJames Rachels Cap 13Thiago SoaresNessuna valutazione finora
- Jesse Prinz A Construcão Emocional Da Moral 2022Documento520 pagineJesse Prinz A Construcão Emocional Da Moral 2022Luis Dias AlmeidaNessuna valutazione finora
- A Inclusão Do Aluno Surdo Da Educação Infantil No Ensino RegularDocumento38 pagineA Inclusão Do Aluno Surdo Da Educação Infantil No Ensino RegularVanesa SilvaNessuna valutazione finora
- Platão. Mênon. Trad. M. Iglésias. Loyola (2001)Documento58 paginePlatão. Mênon. Trad. M. Iglésias. Loyola (2001)Matheus CarvalhoNessuna valutazione finora
- Hempel, A Análise Lógica Da PsicologiaDocumento5 pagineHempel, A Análise Lógica Da PsicologiaKariane MarquesNessuna valutazione finora
- O Sentido Da Vida - Desidério MurchoDocumento24 pagineO Sentido Da Vida - Desidério MurchoYuri Romanelli Santos100% (1)
- A Arte de Pensar 10 Ano Volume 2 PDFDocumento199 pagineA Arte de Pensar 10 Ano Volume 2 PDFCarlos Eduardo Belote100% (1)
- Frege (1892, 2011) - Sentido e ReferênciaDocumento26 pagineFrege (1892, 2011) - Sentido e ReferênciagustavobertolinoNessuna valutazione finora
- CHAUÍ. Notas Sobre UtopiaDocumento6 pagineCHAUÍ. Notas Sobre UtopiaDiego MauroNessuna valutazione finora
- Conceito e Evolução Histórica Da HermêneuticaDocumento31 pagineConceito e Evolução Histórica Da HermêneuticacarlaNessuna valutazione finora
- Jorge Do Ó - Escritas InventivasDocumento5 pagineJorge Do Ó - Escritas InventivasRaphael Guazzelli ValerioNessuna valutazione finora
- DIDI-HUBERMAN - DIANTE DO TEMPO História Da Arte e Anacronismo Das Imagens - Georges Didi-HubermanDocumento12 pagineDIDI-HUBERMAN - DIANTE DO TEMPO História Da Arte e Anacronismo Das Imagens - Georges Didi-HubermanValdir Olivo JúniorNessuna valutazione finora
- Priest - Logica Uma Brevissima IntroduçãoDocumento145 paginePriest - Logica Uma Brevissima IntroduçãoAlanMirandaNessuna valutazione finora
- Stephen Mumford O Metodo Mumford de EscrDocumento3 pagineStephen Mumford O Metodo Mumford de EscrChristine WhiteNessuna valutazione finora
- ALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesDocumento137 pagineALQUIE Ferdinand A Filosofia de DescartesNathalia LuchesiNessuna valutazione finora
- Dona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraDa EverandDona Benta: Uma Mediadora no Mundo da LeituraNessuna valutazione finora
- Como Fazer Um Comentário de Texto em Filosofia PDFDocumento2 pagineComo Fazer Um Comentário de Texto em Filosofia PDFAndré Zanolla100% (3)
- Quine Filosofia Analitica Lógica NaturalismoDocumento18 pagineQuine Filosofia Analitica Lógica NaturalismoOtonNessuna valutazione finora
- Metafísica Da Modalidade - Michael J. LouxDocumento7 pagineMetafísica Da Modalidade - Michael J. LouxSamuel_CSNessuna valutazione finora
- A Noção de Ser No MundoDocumento12 pagineA Noção de Ser No MundoDenis de FreitasNessuna valutazione finora
- A Noção de Ser No MundoDocumento12 pagineA Noção de Ser No MundoDenis de FreitasNessuna valutazione finora
- Ceticismo Moral em HumeDocumento12 pagineCeticismo Moral em HumeWendel de HolandaNessuna valutazione finora
- Direitos e Deveres Do Paciente TerminalDocumento5 pagineDireitos e Deveres Do Paciente TerminalCarina FranciscoNessuna valutazione finora
- Discurso Aos Estudantes Sobre Pesquisa em Filosofia - Oswaldo Porchat PereiraDocumento16 pagineDiscurso Aos Estudantes Sobre Pesquisa em Filosofia - Oswaldo Porchat PereiraManoela Paiva MenezesNessuna valutazione finora
- Carta Descartes - Mersenne PDFDocumento6 pagineCarta Descartes - Mersenne PDFneirsouzaNessuna valutazione finora
- Lógica - Desidério Murcho e Júlio SameiroDocumento25 pagineLógica - Desidério Murcho e Júlio SameiroDaniel Logan100% (1)
- Livro Sonho Mais Ou Menos GrandeDocumento165 pagineLivro Sonho Mais Ou Menos GrandeEdson Henrique Gabriel NascimentoNessuna valutazione finora
- A Ética AristotélicaDocumento28 pagineA Ética Aristotélicaglautonvarela6090Nessuna valutazione finora
- LEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãoDocumento49 pagineLEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãopoeticacontemporaneaNessuna valutazione finora
- Chuang Tzu e o Sonho Da Borboleta - Musica Raul SeixasDocumento19 pagineChuang Tzu e o Sonho Da Borboleta - Musica Raul SeixasTarcísioTasNessuna valutazione finora
- Paviani, Jayme - O Filósofo Como Homem Divino em PlatãoDocumento12 paginePaviani, Jayme - O Filósofo Como Homem Divino em PlatãoOnorato FagherazziNessuna valutazione finora
- Resumo FregeDocumento10 pagineResumo FregeangelafossNessuna valutazione finora
- Problemas Filosóficos - O Problema de GettierDocumento3 pagineProblemas Filosóficos - O Problema de GettierMarcus TorresNessuna valutazione finora
- A Multiplicidade Do Ser e As Categorias em AristótelesDocumento4 pagineA Multiplicidade Do Ser e As Categorias em AristóteleslbeliniNessuna valutazione finora
- Projeto LavelleDocumento15 pagineProjeto LavelleDaniel CarlosNessuna valutazione finora
- LAKATOS-1978 - Hist - Ciência - Reconstruções Racionais - Ciência e PseudociênciaDocumento8 pagineLAKATOS-1978 - Hist - Ciência - Reconstruções Racionais - Ciência e PseudociênciaGuilhermePastlNessuna valutazione finora
- Comentário Aos Segundos AnalíticosDocumento20 pagineComentário Aos Segundos Analíticoselsribeiro100% (1)
- BALMES (JAIME) 2 Filosofía FundamentalDocumento242 pagineBALMES (JAIME) 2 Filosofía FundamentalGian Mario BoffiNessuna valutazione finora
- Delimitando o Conceito de Stress - Edson Alves de OliveiraDocumento8 pagineDelimitando o Conceito de Stress - Edson Alves de OliveiraRobsonNessuna valutazione finora
- Descartes e o Nascimento Da Filosofia Moderna PDFDocumento178 pagineDescartes e o Nascimento Da Filosofia Moderna PDFAle PANessuna valutazione finora
- Fichamento A Vida Uma Narrativa em Busca de NarradorDocumento5 pagineFichamento A Vida Uma Narrativa em Busca de NarradorBianca SilvaNessuna valutazione finora
- A Origem Do DogmatismoDocumento23 pagineA Origem Do DogmatismofborinNessuna valutazione finora
- Apologia, Êutifron, CrítonDocumento82 pagineApologia, Êutifron, CrítonOctavio FranciscaNessuna valutazione finora
- PB Estoicismo e EpicurismoDocumento6 paginePB Estoicismo e EpicurismoPaulo P. BatistaNessuna valutazione finora
- Planos de Aula FilosofiaDocumento24 paginePlanos de Aula FilosofiaKarla Sousa100% (1)
- Filosofia ApresentaçãoDocumento65 pagineFilosofia ApresentaçãoMachado AdaoNessuna valutazione finora
- Análise histórica de livros de matemática: Notas de aulaDa EverandAnálise histórica de livros de matemática: Notas de aulaNessuna valutazione finora
- Como Eram As Relações Sexuais Entre Humanos Modernos e Neandertais - BBC News BrasilDocumento18 pagineComo Eram As Relações Sexuais Entre Humanos Modernos e Neandertais - BBC News BrasilCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Como As Emoções Influenciam Nossa VidaDocumento8 pagineComo As Emoções Influenciam Nossa VidaMarcos Aurélio CorsiniNessuna valutazione finora
- Coletiva Carreira 13 11 2019 v2Documento24 pagineColetiva Carreira 13 11 2019 v2Alisson PessoaNessuna valutazione finora
- Como Eram As Relações Sexuais Entre Humanos Modernos e Neandertais - BBC News BrasilDocumento18 pagineComo Eram As Relações Sexuais Entre Humanos Modernos e Neandertais - BBC News BrasilCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Uma Teoria Da Motivação Humana PDFDocumento18 pagineUma Teoria Da Motivação Humana PDFJuarez Antonio De Souza JuniorNessuna valutazione finora
- Roteirodeestudo 1aserieem Cienciashumanas Semana6Documento24 pagineRoteirodeestudo 1aserieem Cienciashumanas Semana6Carlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Como Eram As Relações Sexuais Entre Humanos Modernos e Neandertais - BBC News BrasilDocumento18 pagineComo Eram As Relações Sexuais Entre Humanos Modernos e Neandertais - BBC News BrasilCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento430 pagineFilosofiaCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- A Prática Da Pesquisa No Ensino de Filosofia - SeverinoDocumento2 pagineA Prática Da Pesquisa No Ensino de Filosofia - SeverinoCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- 2 - Eder SoaresDocumento16 pagine2 - Eder SoaresCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Ser No Mundo HeideggerDocumento1 paginaSer No Mundo HeideggerCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- A Prática Da Pesquisa No Ensino de Filosofia - SeverinoDocumento20 pagineA Prática Da Pesquisa No Ensino de Filosofia - SeverinoCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- A Prática Da Pesquisa No Ensino de Filosofia - SeverinoDocumento20 pagineA Prática Da Pesquisa No Ensino de Filosofia - SeverinoCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Amado Cervo Política Exterior e Relações Do Brasil PDFDocumento21 pagineAmado Cervo Política Exterior e Relações Do Brasil PDFEliane Ribeiro SantosNessuna valutazione finora
- Eder Winnicott e HeideggerDocumento22 pagineEder Winnicott e HeideggerCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- (Artigo) LOPARIC, Z - Origem em Heidegger e WinnicottDocumento17 pagine(Artigo) LOPARIC, Z - Origem em Heidegger e WinnicottRodrigo AraujoNessuna valutazione finora
- Heidegger WinicotDocumento34 pagineHeidegger WinicotAngela DeanNessuna valutazione finora
- Ensino de Etica e Filosofia Politica Etapa 1Documento2 pagineEnsino de Etica e Filosofia Politica Etapa 1Carlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Apostila Intuitiva Arte Da Terra PDFDocumento12 pagineApostila Intuitiva Arte Da Terra PDFCarlos Eduardo BeloteNessuna valutazione finora
- Exemplo02 - Plano de Aula de Artes Do 6º Ao 9º AnoDocumento9 pagineExemplo02 - Plano de Aula de Artes Do 6º Ao 9º AnoHera BrigagaoNessuna valutazione finora
- Apostila 4 Parte 1Documento22 pagineApostila 4 Parte 1ErickNessuna valutazione finora
- Uma Percepção Estética Do Meio Ambiente A Partir Da Arte Digital Interativa1Documento14 pagineUma Percepção Estética Do Meio Ambiente A Partir Da Arte Digital Interativa1Fernando KrumNessuna valutazione finora
- Bhakti RasaDocumento35 pagineBhakti RasaLucio ValeraNessuna valutazione finora
- Athos Bulcão - PesquisaDocumento4 pagineAthos Bulcão - PesquisaGeisiane AmorimNessuna valutazione finora
- 03 - Marcel Duchamp Fala Sobre Os ReadyDocumento7 pagine03 - Marcel Duchamp Fala Sobre Os ReadyMirela Gomes SilvaNessuna valutazione finora
- Discurso e Produção de Subjetividade em Michel FoucaultDocumento19 pagineDiscurso e Produção de Subjetividade em Michel FoucaultLEDIF - Laboratório de Estudos Discursivos Foucaultianos100% (1)
- 20149114516217ementas e Bibliografias Modelagem Do VestuarioDocumento7 pagine20149114516217ementas e Bibliografias Modelagem Do VestuarioMirian Ellen de FreitasNessuna valutazione finora
- EDUCAÇÃO PELA ARTE de HERBERT READ - No Contexto de Portugal Por Levi Leonido F SilvaDocumento12 pagineEDUCAÇÃO PELA ARTE de HERBERT READ - No Contexto de Portugal Por Levi Leonido F SilvaRaisa LadyRedNessuna valutazione finora
- História Do Design A2Documento7 pagineHistória Do Design A2Igor FonsecaNessuna valutazione finora
- Desartificação Da Arte - Rodrigo Duarte e Adorno - Aparece o Conceito de Mundo AdministradoDocumento10 pagineDesartificação Da Arte - Rodrigo Duarte e Adorno - Aparece o Conceito de Mundo AdministradolucianobuxaNessuna valutazione finora
- Resistir Às Sereias - Revista CultDocumento5 pagineResistir Às Sereias - Revista CultRosi GiordanoNessuna valutazione finora
- Osho VegetarianoDocumento44 pagineOsho VegetarianoRaphael Augusto OliveiraNessuna valutazione finora
- Arte NaifDocumento8 pagineArte NaifFERNANDA COLLINessuna valutazione finora
- Movimentos Do SécDocumento65 pagineMovimentos Do SécYasmim MachadoNessuna valutazione finora
- PDF 20230513 121335 0000Documento9 paginePDF 20230513 121335 0000EDER CARDOSONessuna valutazione finora
- Pós - ImpressionismoDocumento22 paginePós - ImpressionismoValleryNessuna valutazione finora
- Fichamento 4Documento4 pagineFichamento 4Nerize Portela100% (1)
- Resolucao Comentada Cfo 2013Documento32 pagineResolucao Comentada Cfo 2013Pedro CostaNessuna valutazione finora
- Capítulo 8 - Topofilia e Meio Ambiente - TuanDocumento30 pagineCapítulo 8 - Topofilia e Meio Ambiente - TuanJÉSSICA RODRIGUES MENESESNessuna valutazione finora
- Constantin BrancusiDocumento12 pagineConstantin BrancusiPollyFernandesNessuna valutazione finora
- LDocumento2 pagineLRubem SantanaNessuna valutazione finora
- Definição de Arte - Areal - PPDocumento13 pagineDefinição de Arte - Areal - PPProf. José Carlos Almeida (410)Nessuna valutazione finora