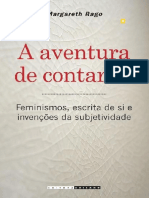Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
PaternalismoxAutonomia SegreeCohen
Caricato da
Thaís BritoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
PaternalismoxAutonomia SegreeCohen
Caricato da
Thaís BritoCopyright:
Formati disponibili
5.
RELAO MDICO-PACIENTE
A) AUTONOMIA & PATERNALISMO
Claudio Cohen Jos lvaro Marques Marcolino
INTRODUO O ser humano , ao mesmo tempo, um ser biolgico, produto da natureza, e um ser social, produto da cultura, e exatamente na tentativa de resolver esse conflito que o ser humano vai desenvolvendo seu sentido tico. Entendemos por sentido tico no apenas o alcance de um objetivo, mas, tambm, a experincia prtica da vida. Para um indivduo, o desenvolvimento de uma atitude tica passa pela percepo dos inmeros conflitos, propostos, de um lado pelo que "diz o corao", e de outro, pelo que a "cabea pensa"; em outros termos, ser tico poder percorrer o caminho entre a emoo e a razo, posicionando-se, de modo autnomo, na parte deste percurso que se considerar mais adequada, na busca de uma posio integrada, compatvel com a prtica da vida. Nessas condies, de desenvolvimento integrado da personalidade, o indivduo poder ser responsvel e responsabilizado pelos seus atos. Sendo a Biotica uma disciplina que procura integrar a cultura tcnicocientfica das cincias naturais com a cultura humanstica, ela apresenta um enfoque no s normativo, como o caso dos cdigos de moral, mas tambm uma viso de pesquisa, a fim de que os aspectos normativos da moral padronizada possam ser reavaliados atravs de estudos muItidisciplinares. A Biotica fundamenta-se em trs princpios: I. o princpio da autonomia; 2. o princpio da beneficncia e 3. o princpio da justia, procurando desenvolver e compreender estes princpios que norteiam sua forma de aplicao e, atravs deles, questionar as relaes da conduta humana na rea das cincias naturais. A Biotica utiliza um discurso pluralista, onde devero estar presentes todos esses elos da corrente do pensamento humano: a Filosofia, o Direito, a Sociologia, a Psicologia e a Biologia. Realizaremos, neste captulo, a discusso das circunstncias que envolvem as proposies advindas da autonomia e as vicissitudes que se relacionam com a sua contrapartida, ou seja, a adoo de uma atitude paternalista. Para lidarmos com estes dois conceitos, partiremos da criao de um modelo dinmico, onde o binmio "autonomia e paternalismo" seria explicitado na trajetria descrita pelo movimento de um pndulo, a oscilar entre dois plos extremos. Numa extremidade, estruturar-se-iam as bases de uma relao radicalmente autonmica, na qual cada sujeito ideal estaria em posio completamente simtrica com relao ao outro, estabelecida pela condio de um ideal de igualdade e de liberdade. No outro extremo, encontraramos o plo paternalista, que evidenciaria uma completa assimetria de relao, a tal ponto de idealizarmos um relacionamento sujeito-coisa, sustentados pela noo de uma absoluta desigualdade e de uma total submisso. Neste oscilar de pndulo, vemos que, quanto maior a simetria de relao, mais presente estar a autonomia de seus integrantes e, quanto maior a assimetria, mais forte a evidncia do paternalismo. O movimento pendular, ento, mostra-nos as nuanas do aparecimento dessas duas atitudes, graduando a cada ponto da trajetria a intensidade com que cada uma dessas duas posies se faz mais ou menos presente. Dito de outra forma, na relao mdico-paciente, a autonomia e o paternalismo so complementares, por esse motivo no pode existir uma autonomia total nem um paternalismo absoluto, funcionando eles de maneira inversamente proporcional. Assim, para uma grande autonomia, teremos um leve paternalismo ou, para um forte paternalismo, teremos uma autonomia restrita. Pela impossibilidade de verbalizarmos melhor esse simbolismo do movimento pendular, que sempre dinmico, mostrando as infinitas possibilidades do relacionamento entre a posio autonmica e
a atitude paternalista, faremos um recorte didtico, que dar uma compreenso esttica desse processo dinmico, caracterizando o que autonomia e o que paternalismo. A autonomia deve ser entendida tanto como um princpio filosfico quanto uma ao humana. Num primeiro momento falaremos a respeito do princpio da autonomia, para em seguida nos determos na anlise da ao autonmica. Num sentido mais amplo, autonomia tem sido usada para referir diversas noes, incluindo autogoverno, liberdade de direitos, escolha individual, agir segundo a prpria pessoa. Autonomia um termo derivado do grego autos (prprio, eu) e nomos (regra, domnio, governo, lei). Em filosofia, autonomia um termo introduzido por Kant para designar a independncia da vontade de todo desejo, ou propsito de desejo, e a sua capacidade de determinar-se conforme uma lei prpria, que o imperativo categrico da razo. Kant ope a autonomia heteronomia. Na heteronomia, a vontade est determinada pelos propsitos da faculdade de desejar. Portanto, para Kant, a vontade de um indivduo autnoma quando for regulada pela razo. heternoma quando estiver sob o domnio da disposio de desejar; ou, ento dos ideais morais da felicidade ou da perfeio que supem a heteronomia da vontade, j que esta est determinada pelo desejo de a1canlos e no por uma lei prpria. A liberdade virtual do indivduo apareceria na medida em que a vontade se iria tornando independente da influncia do desejo. "A lei moral no expressa mais do que a autonomia da razo prtica, ou seja, a liberdade." Em virtude de tal autonomia, "todo ser racional deve considerar-se como fundador de uma legislao universal". Esta noo acabou sendo o conceito clssico da autonomia. A nossa compreenso do princpio da autonomia diferencia-se da posio kantiana, observando-se que este princpio, nas relaes humanas, serapenas realizvel quando existirem elementos emocionais e racionais de opo, ou seja, se houver liberdade face a este conflito (entre emoo e razo). Neste sentido, a liberdade pressupe uma opo, o que altera o enfoque kantiano (to somente racional) e abre a possibilidade de se poder pensar levando-se em conta essas opes, que por sua vez necessitam de liberdade para se realizarem. A ausncia da liberdade ou da possibilidade de escolha no permite a existncia de um pensamento, permitindo unicamente uma ao sem pensamento. Portanto, a liberdade e a opo para uma determinada finalidade estruturam um campo de relao que o alicerce da autonomia. Entendemos que a liberdade abrange a limitao da possibilidade de optar e, portanto, a eleio limitada pela motivao ou condio. Nesse sentido, a liberdade no autodeterminao absoluta e no , portanto, um tudo ou nada, e sim, mais claramente, um problema sempre aberto: o problema de determinar a medida, a condio ou a modalidade da eleio que pode garanti-Ia. Neste sentido, livre no o que causa nica ou o que se identifica com uma totalidade que causa nica, seno o que tem, em certo grau ou medida, possibilidades finitas. Estamos de acordo com o que diz Plato, que a liberdade consiste em uma "justa medida", dentro de uma eleio entre possibilidades determinadas e condicionantes. Ajusta medida nos transmite a idia de que vivemos dentro de uma liberdade finita, ou seja, uma forma de determinismo. Esse determinismo caracteriza-se, no como uma imposio, uma necessidade ou algo absoluto, mas sim, que admite a limitao do homem por parte das condies que a realidade impe, sem ser infalivelmente previsvel. Neste sentido, o exerccio da autonomia mostra-se, dentro de uma certa medida, condicionado, em primeiro lugar pelo reconhecimento da sua existncia eem segundo pela necessidade de uma capacidade para exerc-Ia; e finalmente, pela possibilidade de existirem elementos para permitir uma opo. Nesta mesma linha de argumentao, encontramos em Thomas Hobbes, nos princpios da Idade Moderna, a retomada da discusso do conceito de liberdade, em polmica com a noo de livre arbtrio, como forma de negao da "liberdade de querer" e a afirmao da "liberdade de fazer". Hobbes identifica a vontade com o apetite, afirmando que no se pode deixar de querer o que se quer (no se pode deixar de ter fome quando se tem fome), porm se pode fazer ou no fazer o que se quer (comer ou no comer quando se tem fome), existindo, portanto, uma liberdade de fazer, no uma liberdade de querer. Em Freud, encontramos que o desejo um dos plos do conflito defensivo. O desejo inconsciente e tende a realizar-se restabelecendo, pelas leis do processo primrio (princpio do prazer), os signos ligados s primeiras experincias de satisfao (marca mnmica). Freud no identifica a necessidade com o desejo. A necessidade, nascida de um estado de tenso interna, encontra sua satisfao pela ao especfica que procura o objeto adequado, por exemplo um tipo de alimento. O desejo est ligado de forma indissolvel s marcas mnmicas e tenta encontrar sua realizao na reproduo alucinatria das percepes que se convertem em signos desta satisfao. A procura de um objeto, na realidade, acha-se totalmente orientada por esta relao com os signos, e a disposio destes signos constitui a fantasia
(encenao imaginria), correlata do desejo. Dito de outra maneira, a concepo freudiana afirma a impossibilidade da ao e da satisfao na realidade, em separado do contexto dado pelo desejo, pressupondo estas aes do sujeito no autnomas em relao dinmica do desejo. Historicamente tem-se definido a idia de que uma pessoa possui um valor que independe de circunstncias particulares. Dois filsofos mostraram o moderno entendimento do valor da autonomia: Kant, um deontologista, e Stuart Mill, um utilitarista. Para Kant, o respeito pela autonomia segue at o reconhecimento de que todas as pessoas tm um incondicional valor, cada qual tendo a capacidade para determinar seu prprio destino traado pela razo. Violar a autonomia tratar as pessoas como meios e no como um fim. Esse desrespeito consistiria em trat-Ias de acordo com os valores prprios, sem resguardar os objetivos daquelas pessoas. Rejeitar os objetivos e julgamentos pessoais ou restringir a liberdade de agir de acordo com os prprios objetivos e julgamentos falhar no respeito autonomia. Stuart Mill est tambm preocupado com relao autonomia, ou, como ele prefere dizer, individualidade - de ao e pensamento. Ele argumentou que o controle social sobre as aes individuais legitimado somente se for necessrio prevenir dano para outros indivduos, sendo que as pessoas deveriam ter permisso para desenvolver suas potencialidades de acordo com suas prprias convices. Ele acredita que uma pessoa com um verdadeiro carter genuinamente individual, enquanto que uma pessoa "sem carter" est sob um controle de influncias da Igreja, do Estado, do Pas ou da famlia (que so paternalistas) . O ponto de vista de Stuart Mill obviamente requer uma no influncia na expresso da autonomia do indivduo, e o de Kant estabelece uma moral imperativa para moldar certas atitudes de respeito ao indivduo; mas, ao final, estas duas diferentes filosofias, so, uma e outra, invocadas em um suporte que chamaremos de princpio de respeito pela autonomia. Ser autnomo e escolher autonomamente no so a mesma coisa que o respeito a um sujeito autnomo. O respeito a um agente autnomo reconhecer que existem capacidades e perspectivas pessoais, incluindo o direito dele examinar e fazer escolhas, para tomar atitudes baseadas em valores e crenas pessoais. Esse respeito autonomia envolve considerar o agente e capacit-lo a agir autonomamente. o verdadeiro respeito, incluindo a ao de respeitar, no mera adoo de um certo princpio. Voltamos nosso foco para a questo do exerccio da autonomia ligado possibilidade de se poder optar, e no como uma abstrao conceitual, como um princpio em si, direcionando nosso interesse para as aes adotadas por uma pessoa, como as condutas de consentimento ou recusa em relao a um procedimento mdico, e, movendo o vrtice desta questo para a escolha autnoma, levantaremos o aspecto mutvel do exerccio da autonomia. Neste sentido, o exerccio da autonomia mostra-se dentro de uma "justa medida", condicionada, primeiro, pela necessidade de competncia para exerc-Ia, segundo, pelo reconhecimento da sua existncia pelo outro, e, terceiro, ela possibilidade da existncia de elementos de opo. Concebemos, ento, a autonomia no como um bem incondicional em si, nem tampouco como uma forma de proteo moralista contra influncias. Pensamos que na relao mdico-aciente podem surgir duas possibilidades: numa, o mdico ignora a possibilidade do exerccio da autonomia de um paciente, e na outra ele passa a consider-Ia. Na primeira, tolhe a liberdade do paciente, no lhe permitindo optar, e, na segunda, no leva em considerao a necessria competncia para o exerccio da autonomia, desconsiderando a possibilidade do paciente no ser competente. Estas atitudes, que parecem diferentes, eticamente, na realidade so semelhantes, pois partem de um mesmo princpio, isto , de que o mdico no consegue ser autnomo, mostrando-se incapaz de lidar com esse tipo de conflito, qual seja, o dos limites impostos autonomia. Nesse sentido, podemos dizer que o mdico, quando no for autnomo, recorre a justificativas moralistas. A nossa compreenso de autonomia na relao mdico-paciente, entende que ambos devem ser competentes e portanto livres para poderem avaliar as opes possveis, o que permite uma escolha consciente e conseqente. Em decorrncia do exposto, analisaremos escolhas autnomas, em termos de pessoas comuns que agem: 1. intencionalmente; 2. com entendimento; e 3.sem controle que influencie a determinao da ao. A primeira condio por parte do agente matria de organizao e no matria de gradao: aes podem ser intencionais (e portanto, potencialmente autnomas) ou no-intencionais (e, portanto,
no-autnomas). Em contraste, a condio de entendimento e de ausncia de controle de influncias poder tanto ser preenchida em extenso maior ou menor. Aes podem ser autnomas gradualmente, isto , satisfazendo estas duas condies em diferentes graus. Ento, as condies de entendimento e do no-controle so analisadas em termos de um amplo espectro que vai da total presena at a sua completa ausncia. Para que uma ao possa considerar-se autnoma, poderamos exigir uma substancial satisfao dessas condies, um completo ou quase completo entendimento da situao e/ou uma completa ausncia de influncia. Levando estas questes a um ltimo grau, e colocando-as num mundo prtico, observaremos o quo raras sero as aes pessoais autnomas, at mesmo nunca o sendo. O objetivo realista , apenas, que uma deciso conseqente seja substancialmente autnoma. Autonomia ento um conceito que est propriamente ligado escolha reflexiva individual, no devendo porm ser pensado como requerendo uma rejeio da autoridade, tradio ou moral social, que pode, nesses casos, ser "autonomamente" aceita. Retomando ao princpio do respeito autonomia, este pode ser estabelecido de uma forma negativa como a seguinte: aes autnomas excluem o controle constrangido de outrem. Este princpio providencia uma base justificativa para o direito de se tomarem decises autnomas, constituindo direitos especficos autnomos, como a liberdade e a privacidade. Este princpio deve ser tratado como um princpio abstrato e independente de restries ou clusulas de exceo como "ns devemos respeitar os direitos individuais sempre que seus pensamentos e aes no faam srios danos s pessoas". Como todo princpio moral, este princpio tem apenas uma prima fade. Acerta um direito de no-interferncia e correlativamente uma obrigao de no constranger aes autnomas. sempre uma questo aberta quais restries podem ser legalmente oferecidas escolha de pacientes ou sujeitos, quando essas escolhas conflitam com outros valores. Se escolhas pem em perigo a sade pblica (pacientes com AIOS) ou produzem danos potenciais a fetos, pode ser justificvel restringir-se o exerccio da autonomia, talvez mesmo com a interveno do Estado. Se a restrio justificada, a justificativa deve estar apoiada em algum competente princpio moral como a beneficncia ou a justia. O princpio da autonomia no d uma liberdade absoluta, ele determina o quanto uma pessoa pode estar livre. Este princpio est ligado s condies impostas pelos outros dois princpios da Biotica. O princpio da autonomia tem uma clara e positiva implicao quando aplicado em certas relaes. Por exemplo: em pesquisa, o mdico tem a obrigao de discutir os procedimentos com seus pacientes. Os mdicos e os profissionais de sade no tm o direito de intervir sobre os seus pacientes sem seu consentimento, e o direito de consentir ou recusar est baseado no princpio do respeito autonomia. Para o consentimento ser uma autorizao vlida, ele deve ser baseado na compreenso e ser voluntrio. Alm disso, os profissionais de sade estabelecem uma especial relao de confiana (fiduciria fidcia: confiana, atrevimento, segurana e ousadia) com seus pacientes, tendo, conseqentemente, absoluta obrigao de pas sar-Ihes as informaes. Qualquer pessoa, diante de um mdico, advogado, padre, e que entra em relao de verdade e confidncia com outra, tem obrigao efetiva de expor todos os fatos relevantes. O princpio de respeito pela autonomia pode ser interpretado dentro de uma larga extenso. No pode ser completamente aplicado a pessoas que no estejam em condio de agir de maneira suficientemente autnoma - talvez por serem imaturos, incapacitados, ignorantes, coagidos, ou numa posio na qual podem ser explorados por outros. Crianas, suicidas irracionais, dependentes de drogas so exemplos. O comportamento de pessoas no-autnomas pode ser incontestavelmente controlado na base da beneficncia, no sentido de proteg-Ias de perigos que podem resultar de seu comportamento. Aqueles que defendem os direitos da autonomia em Biotica mdica no negam que algumas formas de interveno sejam justificadas se as pessoas forem inteiramente ou substancialmente no-autnomas, no podendo tambm conferir autonomia para decises especficas.
PATERNALISMO A justificativa de uma conduta patemalista sempre se fundamenta nos princpios da beneficncia e da no-maleficncia. No sentido mais geral, um princpio de beneficncia ou de no-maleficncia requer que se favorea a execuo, por outras pessoas, dos seus interesses importantes e legtimos, e que no causem dano ao outro.
A questo atual delimitar o que venha a ser beneficncia e para quem se est sendo beneficente. Este tipo de questionamento pode ser observado frente aos problemas referentes ao aborto, eutansia, aos transplantes de rgos, experimentao in anima nobile, aceitao ou recusa ao tratamento e discusso do que venha a ser "qualidade de vida". Aqui, discutiremos apenas a ao patemalista, atendo-nos aos princpios que a fundamentam, a beneficncia e a no-maleficncia. Paternalismo um comportamento impositivo da prtica mdica. O comportamento paternalista um problema de difcil avaliao, de quando e quanto ele se justifica, sendo o cerne de muitos problemas ticos. Consideremos os seguintes comportamentos:
- tratar um paciente sem o seu consentimento;
- dar um placebo; - sonegar uma informao sobre o prognstico de uma determinada
doena; - realizar um procedimento cirrgico sem dizer ao paciente que outros mdicos usariam um mtodo alternativo. Esses comportamentos so, em sua totalidade, descritos como paternalistas. necessrio, ento, discutir quando um comportamento paternalista justificvel e quando no o . Dworkin (1971) define patemalismo como sendo a indelicada interferncia na liberdade pessoal de agir, justificada por razes apoiadas exc1usivamente em bem-estar, bondade, felicidade, necessidades, interesses ou valores da pessoa a ser coagida. Culver & Gert (1982) apresentam a seguinte definio de comportamento paternalista: um indivduo age paternalisticamente em relao a um sujeito somente se acredita que: 1. sua ao beneficia esse sujeito; 2. sua ao envolve a violao de uma regra moral do sujeito; 3. sua ao no tem o consentimento desse sujeito, nem no passado, nem no presente, nem aparecer imediatamente; 4. o sujeito em questo competente para dar o consentimento. A seguir, vamos aprofundar a discusso sobre estas premissas propostas por Culver. Se um indivduo est agindo paternalisticamente em relao a um sujeito qualquer, sua inteno deve ser a de tentar benefici-I o e no a si mesmo ou a terceiros. No negado que certas aes possam ser parcialmente paternalistas; elas podem pretender o benefcio de um sujeito, de outros, ou mesmo at incluindo o prprio agente da ao. No entanto, o que faz a ao de algum ser paternalista no pretender beneficiar a nenhum outro que no seja o sujeito a quem se dirige a ao. H duas maneiras pelas quais uma pessoa pode agir para beneficiar uma outra pessoa. A primeira procurar algum bem para a outra pessoa, como, por exemplo, produzir um prazer, liberdade ou oportunidade. A segunda pode ser buscar prevenir ou minorar um mal que a segunda pessoa pode sofrer, como uma dor ou uma incapacidade. A segunda proposio envolve uma expanso daquilo que algumas vezes dito sobre o paternalismo, particularmente que o comportamento paternalista envolve a privao da liberdade das pessoas. As violaes morais mais comuns parecem ser a privao da liberdade, o faltar com a palavra e a promoo de dor ou sofrimento. Temos que ver que o paternalismo no necessita sempre envolver a violao de regras morais, impedindo a privao da liberdade ou oportunidade, mas que pode tambm envolver a preveno da violao destas regras morais, diante de assassinatos (matanas), dor, incapacidade, privao do prazer, decepo ou quebra de compromisso. Como exemplo, o prprio Plato advogava uma ao paternalista em benefcio da sociedade ao no se entregar uma arma a algum tido como louco, mesmo que ele prometa nada fazer. Violar uma regra moral envolve fazer algo que poderia ser moralmente errado; ou seja, imoral. Ento, matar, promover dor (fsica ou psquica), incapacitar e privar de liberdade, oportunidade ou prazer so violaes de regras morais. O mesmo verdade em relao prtica da mentira, da irrespon sabilidade ou da fraude. Todas essas aes so moralmente proibidas a menos que uma adequada razo moral seja invocada. Pode haver discordncia do que seja uma razo adequada, mas no h discordncias quanto a serem imorais essas aes, a menos que haja uma razo que as justifique. Devemos distinguir entre violar uma regra moral e falhar em seguir um ideal moral. Seguir um ideal moral socorrer algum em necessidade, por exemplo, prevenindo ou aliviando a dor. Falhamos em seguir um ideal moral quando h uma ocasio para segui-I o e no a aproveitamos, como, por exemplo,
quando nos recusamos a dar dinheiro a um mendigo. Ns distinguimos violao de regra moral e de falha em seguir um ideal moral porque ns julgamos que a primeira sempre requer uma justificativa e a segunda no. Desde que aceitamos que um comportamento paternalista sempre requer justificativa, ento, ns consideramos como comportamento paternalista o de se recusar a doao de dinheiro a um mendigo, alegando que ele ir somente comprar bebida com o dinheiro e que isso ser ruim para ele. Aqui surge uma questo: para ele, quem? uma justificativa moral, ou melhor, algo que se justifique no benefcio do sujeito. Quem pode garantir que um ato supostamente beneficie o sujeito, se no chegou sequer a ser considerado? Quem garante que o no dar dinheiro a um mendigo vise a que ele no beba e sim apenas poupana do prprio dinheiro? Neste momento, a ao deixa de ser paternalista, pois pode no beneficiar ou mesmo no levar em conta o benefcio do sujeito. Outro exemplo: quantas cirurgias cesarianas so realizadas, para a comodidade do cirurgio - ento, este comportamento no pode ser chamado de paternalista, e sim de falha em seguir um ideal moral. O terceiro ponto toma claro que o indivduo acredita que para a violao de uma regra moral em benefcio de um sujeito no tenha havido, no passado nem no presente, o consentimento desse sujeito. Se o indivduo tem o consentimento do sujeito, ou se espera o aparecimento do consentimento para sua ao, ento uma ao que poderia ser paternalista passar a no o ser. Por exemplo, suponhamos que eu puxe algum do caminho da rota de um automvel, que acredito que ele no tenha visto, e que eu tenha agido por ter pensado que ele aprovaria minha ao imediatamente; ou, ento, que eu tenha pensado que ele est tentando cometer um suicdio em funo, por exemplo, de uma depresso temporria, e que ir agradecer-me mais tarde, quando se recuperar: nestes casos minha ao paternalista. Tendo havido consentimento do indivduo, fornecido no passado ou no presente, passa a no haver paternalismo. Por exemplo, suponhamos que um paciente muito perturbado v ao psiquiatra e diga que sabe que est mal, que necessita de tratamento, solicitando aconselhamento do psiquiatra quanto a ser hospitalizado. O psiquiatra no est agindo paternalisticamente se estimu lar o paciente a se internar no hospital. Mas, suponhamos que, mais tarde, o paciente queira ter alta do hospital, e o psiquiatra recuse a permisso, entendendo que o paciente possa produzir srios danos se realmente sair; a recusa do psiquiatra ser agora paternalista. O quarto aspecto pressuposto em muitas situaes paternalistas, mas raramente mencionado explicitamente. Ns podemos ser paternalistas somente com relao s pessoas que ns consideramos competentes para dar o consentimento. Nessa linha de raciocnio, ns no estaremos agindo paternalisticamente com crianas e pacientes comatosos, por no serem competentes para dar um simples consentimento. Afirmamos que todo ato paternalista requer uma justificativa porque ele basicamente envolve a violao de regra moral, qual seja, a interveno sobre uma pessoa sem o seu consentimento. Existem trs posies a serem referidas, com respeito justificativa do comportamento paternalista: sempre justificado, nunca justificado, ou justificado algumas vezes. - Sempre justificado: provavelmente verdadeiro que aproximadamente todas as pessoas que agem paternalisticamente acreditam ter justificativa para isso. Da Teoria tica Utilitarista parece depreender-se que todos os atos paternalistas baseados em crenas efetivamente verdadeiras so justificados. So baseados na crena de que a ao cause mais bem e/ou previna mais mal. - Nunca justificado: Beauchamp & Childress (1989) colocam que um ato paternalista nunca justificado. Consideram que o problema central de justificar uma interveno em benefcio do paciente sem considerar seu consentimento a determinao do grau de voluntariedade do comportamento da pessoa (no existindo voluntariedade, o comportamento deixa de ser paternalista). No entendimento de Culver, ainda que o comportamento do paciente no seja voluntrio, mesmo assim pode no ser justificvel intervir, uma vez que o dano que prevenimos pode no ser grande bastante para justificar a violao da regra moral. Para Beauchamp, no caso de pacientes cujas aes so voluntrias, ns nunca podemos interferir para seu prprio benefcio sem o seu consentimento, no importando quanto mal prevenido e quo pequena a violao da regra moral. Nos casos em que o comportamento no voluntrio, justificamos nossa interferncia pela determinao de estarmos prevenindo um dano. Pensamos que o problema definir a linha que separa um ato voluntrio de um ato no voluntrio, portanto a questo como podemos delimitar o que competncia. - Justificado algumas vezes: a) necessrio, no suficiente, que o mal prevenido pela violao da regra moral seja muito maior do que o mal cometido pela violao, a ponto de ser irracional, para o sujeito, escolher ter a regra violada com respeito a ele mesmo - o tratamento ou o procedimento adotado para um paciente dever evitar ou
minorar algo que valorizado como um prejuzo muito grande, como, por exemplo, a morte ou uma deficincia fsica; b) os prejuzos impostos pelo tratamento, em comparao com a sua no realizao, podem ser considerados como menores; c) o desejo do paciente em no se tratar ser considerado como irracional; d) os trs critrios acima no so por si mesmos suficientes, devendo haver outros colegas que diante desta situao adotariam a mesma conduta tica. Concluindo, da nossa compreenso de autonomia e de paternalismo emerge que, na prtica, eles no se sustentam de forma independente, ou seja, eles sempre esto interagindo entre si. A autonomia e o paternalismo puro so posies utpicas. A autonomia pode ser questionada quanto sua prpria existncia enquanto possibilidade em si, na medida em que, curiosamente, poderamos perguntar por que ser que todos os cdigos, desde os relativos aos das diversas categorias profissionais, at a prpria Constituio Federal, preocupam-se tanto em salvaguardar os direitos individuais, se no pela prpria impossibilidade deles serem sustentados? Est, do outro lado, o paternalismo, a convidar-nos a discutir todo um campo de normatizaes, exigindo uma distino das noes de bem e de mal, terminando por desenvolver uma noo de padro moral. Quando nos interrogamos sobre uma das justificativas de um ato paternalista, e nos deparamos com a noo de prticas mdicas que, para serem exercidas, requer-se delas que sejam reconhecidas, ou seja, que elas sejam avalizadas por uma comunidade cientfica, podemos, por um lado, tranqilizar-nos quanto proteo que isto nos oferece, mas ao mesmo tempo, submete-nos ao poder que determinadas comunidades podem exercer sobre os mdicos. Isto posto, aflora toda uma discusso a respeito de o que e quem decide e com quais critrios so estabelecidas as atitudes de uma pessoa para com a outra e, aqui em nosso caso, do mdico para com o paciente e deste com relao ao mdico. Est provavelmente em funo dessa peculiaridade de relao a razo de cairmos muitas vezes no campo do julgamento moral, dos valores morais, onde seremos mais uma vez obrigados a interrogar-nos a respeito de nossos prprios valores.
Potrebbero piacerti anche
- A Confiança No Progresso Científico No Século XIXDocumento3 pagineA Confiança No Progresso Científico No Século XIXLeonel GomesNessuna valutazione finora
- 1o Simpósio Paranaense de Design SustentávelDocumento108 pagine1o Simpósio Paranaense de Design SustentávelAnderson Alves de SouzaNessuna valutazione finora
- A Aventura de Contar-Se by Luzia Margareth RagoDocumento252 pagineA Aventura de Contar-Se by Luzia Margareth Ragostephaniamendesdemar100% (4)
- Dir. Administrativo (JFPE-2015) - Ivson C. AraujoDocumento30 pagineDir. Administrativo (JFPE-2015) - Ivson C. AraujoThaís BritoNessuna valutazione finora
- Manual FUNAG PDFDocumento224 pagineManual FUNAG PDFalexandresdcNessuna valutazione finora
- 7101-Texto Do Artigo-12153-2-10-20180323Documento8 pagine7101-Texto Do Artigo-12153-2-10-20180323Thaís BritoNessuna valutazione finora
- Tabela de HonoráriosDocumento6 pagineTabela de HonoráriosThaís BritoNessuna valutazione finora
- 2 - ATOS PROCESSUAIS - Resumo Ovídio - Incompleto - para A ProvaDocumento8 pagine2 - ATOS PROCESSUAIS - Resumo Ovídio - Incompleto - para A ProvaThaís BritoNessuna valutazione finora
- Tabela de HonoráriosDocumento6 pagineTabela de HonoráriosThaís BritoNessuna valutazione finora
- Resenha Vilas VolantesDocumento5 pagineResenha Vilas VolantesThaís BritoNessuna valutazione finora
- AF Jornal FC 28x38,5cmDocumento8 pagineAF Jornal FC 28x38,5cmThaís BritoNessuna valutazione finora
- 2o ExercÃ-cio. 2014.2Documento4 pagine2o ExercÃ-cio. 2014.2Thaís BritoNessuna valutazione finora
- Conclusão Fich Tge IiDocumento2 pagineConclusão Fich Tge IiThaís BritoNessuna valutazione finora
- Matricula Como FazerDocumento10 pagineMatricula Como FazerThaís BritoNessuna valutazione finora
- Relações Entre A Idéia de Separação Dos Poderes...Documento18 pagineRelações Entre A Idéia de Separação Dos Poderes...Thaís BritoNessuna valutazione finora
- Aula TGP - AçãoDocumento4 pagineAula TGP - AçãoThaís BritoNessuna valutazione finora
- Ied Ix Último Fichamento AmémDocumento12 pagineIed Ix Último Fichamento AmémThaís BritoNessuna valutazione finora
- Fichamento ExemploDocumento73 pagineFichamento ExemploThaís BritoNessuna valutazione finora
- Mito e RealidadeDocumento2 pagineMito e RealidadeThaís BritoNessuna valutazione finora
- Tge SeminarioDocumento3 pagineTge SeminarioThaís BritoNessuna valutazione finora
- CP - Tge - Elementos Constitutivos Do Estado - RoteiroDocumento5 pagineCP - Tge - Elementos Constitutivos Do Estado - RoteiroThaís BritoNessuna valutazione finora
- Resumo Geral IED1-1Documento39 pagineResumo Geral IED1-1Thaís BritoNessuna valutazione finora
- Resumo Geral IED1-1Documento39 pagineResumo Geral IED1-1Thaís BritoNessuna valutazione finora
- 8.religião e Sentido de VidaDocumento6 pagine8.religião e Sentido de VidaThaís BritoNessuna valutazione finora
- Ied IiiDocumento3 pagineIed IiiThaís BritoNessuna valutazione finora
- CULT Especial, N. 3. Os Clássicos Do Pensamento SocialDocumento52 pagineCULT Especial, N. 3. Os Clássicos Do Pensamento Socialdanillo.alarcon100% (2)
- Referencias Padrão ABNTDocumento10 pagineReferencias Padrão ABNTJairzinho TeixeiraNessuna valutazione finora
- NiesztcheDocumento1 paginaNiesztcheThaís BritoNessuna valutazione finora
- A Diferença Entre Regras e PrincípiosDocumento3 pagineA Diferença Entre Regras e PrincípiosThaís BritoNessuna valutazione finora
- IED IV (Salvo Automaticamente)Documento15 pagineIED IV (Salvo Automaticamente)Thaís BritoNessuna valutazione finora
- Retórica AntigaDocumento3 pagineRetórica AntigaThaís BritoNessuna valutazione finora
- Ied IvDocumento3 pagineIed IvThaís BritoNessuna valutazione finora
- Música Na 3a Idade - Estudos BrasileirosDocumento16 pagineMúsica Na 3a Idade - Estudos BrasileirosMarivone SantanaNessuna valutazione finora
- A História Da Desigualdade No BrasilDocumento29 pagineA História Da Desigualdade No BrasilMatheus SilvaNessuna valutazione finora
- Janelas Quebradas - Uma Teoria Do Crime Que Merece ReflexãoDocumento9 pagineJanelas Quebradas - Uma Teoria Do Crime Que Merece ReflexãoAndreia Susi LeardiniNessuna valutazione finora
- O Dilema Do MazomboDocumento23 pagineO Dilema Do MazomboMichelle AlvarengaNessuna valutazione finora
- Michel Foucault Sem Espelhos - Um Pensador Proto Pos-ModernoDocumento237 pagineMichel Foucault Sem Espelhos - Um Pensador Proto Pos-ModernomodololeNessuna valutazione finora
- A. H. MaslowDocumento12 pagineA. H. MaslowLúcio AndradeNessuna valutazione finora
- O Proceso Civilizador, Norbert EliasDocumento16 pagineO Proceso Civilizador, Norbert EliasCristhian JiménezNessuna valutazione finora
- Hargreaves, Andy. o Ensino Na Sociedade Do ConhecimentoDocumento4 pagineHargreaves, Andy. o Ensino Na Sociedade Do ConhecimentoLuis BragadoNessuna valutazione finora
- Instituto Superior de Educação de Cajazeiras-Isec Centro de Ensino Superior São Fransisco-Cesf Curso de Licenciatura Plena em PedagogiaDocumento9 pagineInstituto Superior de Educação de Cajazeiras-Isec Centro de Ensino Superior São Fransisco-Cesf Curso de Licenciatura Plena em PedagogiaMARIA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADENessuna valutazione finora
- CARNEIRO, M. J. O Rural Como Categoria de Pensamento. FICHAMENTO.Documento8 pagineCARNEIRO, M. J. O Rural Como Categoria de Pensamento. FICHAMENTO.cadumachadoNessuna valutazione finora
- GARON, D. Classificação e Análise de Materiais Lúdicos - O Sistema ESARDocumento21 pagineGARON, D. Classificação e Análise de Materiais Lúdicos - O Sistema ESARRaphael AguiarNessuna valutazione finora
- Capítulo1 Introdução2017083117104845506Documento20 pagineCapítulo1 Introdução2017083117104845506Tiago Ferreira100% (1)
- I. Fil. IstmDocumento8 pagineI. Fil. IstmBaptista Ray BNessuna valutazione finora
- 05-Museus-Colecoes e Patrimonios-Narrativas Polifonicas PDFDocumento392 pagine05-Museus-Colecoes e Patrimonios-Narrativas Polifonicas PDFPaola Ferraro AlvesNessuna valutazione finora
- Conflitos Religiosos MendesDocumento241 pagineConflitos Religiosos Mendescoletivo ppgedNessuna valutazione finora
- TEXTO 08-Relações Sociais e Risco de Mortalidade Uma Revisão Meta-AnalíticaDocumento20 pagineTEXTO 08-Relações Sociais e Risco de Mortalidade Uma Revisão Meta-AnalíticaGeisa Gomes da SilvaNessuna valutazione finora
- Antropologia e Sociologia Do DireitoDocumento4 pagineAntropologia e Sociologia Do DireitokatiaNessuna valutazione finora
- Educação e Desenvolvimento - A Sociologia de Marialice Mencarini ForacchiDocumento16 pagineEducação e Desenvolvimento - A Sociologia de Marialice Mencarini ForacchiFabio MontesNessuna valutazione finora
- História Da Educação Física (Feito)Documento4 pagineHistória Da Educação Física (Feito)bbaumann992Nessuna valutazione finora
- Ciro Cardoso - Marx e Engels: História e Economia PolíticaDocumento21 pagineCiro Cardoso - Marx e Engels: História e Economia PolíticaNiep-PréKNessuna valutazione finora
- Charadeau - Uma Análise Semiolingüística Do Texto e Do DiscursoDocumento11 pagineCharadeau - Uma Análise Semiolingüística Do Texto e Do DiscursotrimegNessuna valutazione finora
- CINTRA - para Entender As Linguagens DocumentáriasDocumento42 pagineCINTRA - para Entender As Linguagens DocumentáriasFelipe RenanNessuna valutazione finora
- Marx para Criancas - Eh Possivel? PDFDocumento22 pagineMarx para Criancas - Eh Possivel? PDFAnonymous 3rN7slJcJNessuna valutazione finora
- Betti, 1995 - ESPORTE NA ESCOLA MAS É SÓ ISSO, PROFESSORDocumento7 pagineBetti, 1995 - ESPORTE NA ESCOLA MAS É SÓ ISSO, PROFESSORRoges GhidiniNessuna valutazione finora
- OBS20 - BOOK - 04-REV - COMPRESSED Atual PDFDocumento136 pagineOBS20 - BOOK - 04-REV - COMPRESSED Atual PDFBrunacamargos07Nessuna valutazione finora
- EISENSTADT, S.N, Modernidades MúltiplasDocumento26 pagineEISENSTADT, S.N, Modernidades MúltiplasRachel OliveiraNessuna valutazione finora
- Material Da Aula 3 - Repertórios Coringa Que Servem Pra Qualquer TemaDocumento2 pagineMaterial Da Aula 3 - Repertórios Coringa Que Servem Pra Qualquer TemaMIGUEL VIANA DA SILVANessuna valutazione finora