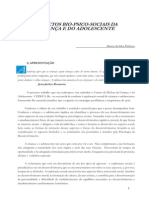Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Disserta O.liliane Camargos
Caricato da
Kylmer SebastianTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Disserta O.liliane Camargos
Caricato da
Kylmer SebastianCopyright:
Formati disponibili
Liliane Camargos
A PSICANLISE DO OLHAR:
do ver ao perder de vista nos sonhos, na pulso escpica e na tcnica psicanaltica
Dissertao apresentada ao Programa de PsGraduao do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em Psicologia. rea de concentrao: Estudos Psicanalticos Linha de pesquisa: Conceitos Fundamentais em Psicanlise Orientadora: Profa. Dra. Cassandra Pereira Frana
Belo Horizonte - MG 2008
Universidade Federal de Minas Gerais
Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas Programa de Ps-Graduao do Departamento de Psicologia
Dissertao intitulada A psicanlise do olhar: do ver ao perder de vista nos sonhos, na pulso escpica e na tcnica psicanaltica, de autoria da mestranda Liliane Camargos, _________________com a nota _______ pela banca examinadora constituda pelos seguintes professores:
Profa. Dra. Cassandra Pereira Frana Orientadora
Profa. Dra. Ana Ceclia de Carvalho UFMG
Profa. Dra. Maria Izabel Tafuri UNB
Belo Horizonte, __ de maio de 2008.
Para minha me, Rosa Helena de Camargos.
AGRADECIMENTOS
A meu pai, Leonardo e Daniel, pelo cuidado. Aos amigos pelo apoio e pelos momentos de descontrao. professora Cassandra, pela amizade e pela orientao acolhedora e precisa, por sempre me fazer ir alm. professora Ana Ceclia, pelo carinho e seus ricos ensinamentos. Ao professor Fbio Belo, pela amizade, saber e por nossos frutferos projetos. Aos professores Maria Tereza, Paulo Csar e Jferson, pelo carinho e precioso incentivo. Ao CADV, Anlia, Joo, Vilma, Alessandro e Bete, pelo amparo e pela ajuda constantes. A Christiane e demais voluntrios, que me ajudaram com seus ricos sonhos. Ao professor Pedro Amrico, pela confiana. Dra. Fernanda Porto pelas conversas, pela crena neste trabalho e por cuidar dos meus olhos. UFMG e ao Departamento de Psicologia, por mais esta oportunidade de crescimento. Agradeo especialmente ao Fbio, meu escolhido, meu esposo, por seu amor, sua pacincia e sua fora cotidiana e incansvel.
RESUMO
impressionante a universalidade de temas e discusses que a Psicanlise do olhar capaz de suscitar. Nesta pesquisa, essa amplitude precisou ser restringida a alguns parmetros que pudessem responder s trs principais questes que formam seu eixo argumentativo: Como sonham os cegos? Uma pessoa cega possui pulso escpica? Qual a funo do div para a tcnica analtica quando ou o analista ou o analisando so cegos? Para respond-las, foram levantadas hipteses que justificam a presena marcante do olhar em todos esses aspectos e foram criadas propostas de aplicabilidade dos conceitos tericos e da prtica ao caso das pessoas para as quais a viso e a memria perceptiva visual esto ausentes . Assim, o olhar enfocado como percepo, ferramenta, algo constitutivo do psiquismo ou ainda como metfora, ser analisado na teoria dos sonhos e em sua interpretao, na teoria da pulso escpica e na tcnica psicanaltica.
Palavras-chave: Psicanlise do olhar. Pulso escpica. Interpretao dos sonhos. Tcnica psicanaltica. O ver e a cegueira.
ABSTRACT The universality of themes and discussions is impressive, that Psychoanalysis of Sight is capable of provoke. In this study, this amplitude needed to be restricted to some parameters that could answer to the three main questions that form its argumentative axle: How do blind people dream? Does a blind person have a scopic drive? What is the function of the couch for the analytical technique when the analyst or the patient is blind? To answer them, hypotheses have been raised that justify the marked presence of sight in all of these aspects, and proposals of applicability have been created of the theoretical concepts and in practice, such as in cases of people for whom vision and the visual perceptive memory are absent. Thus, focused sight as perception, tool, something constituent of the psyche or even as metaphor, will be analyzed in the theory of dreams and its interpretation, the theory of scopic drive and the psychoanalytic technique.
Keywords: Psychoanalysis of Sight. Scopic drive. Dream interpretation. Seeing and blindness.
SUMRIO
Introduo.......................................................................................................... 1 As implicaes do olhar na metapsicologia dos sonhos.................................. 1.1 Sonhando no escuro.................................................................................. 1.2 Imagens visuais: o tecido dos sonhos?...................................................... 1.3 Os caminhos de ziguezague entre as lentes do aparelho psquico............. 1.4 Fabricando sonhos com e sem as imagens visuais.................................... 1.5 Ver e no ver nos sonhos........................................................................... 1.6 Sonhos tpicos, nem to tpicos assim....................................................... 1.7 Ver para crer.............................................................................................. 2 As implicaes do olhar na metapsicologia da pulso escpica........................ 2.1 Do olho ao desejo no olhar........................................................................ 2.2 A seduo a ver: imerso no mundo escpico........................................... 2.3 O desejo cega e faz ver: no ver para ser visto.......................................... 3 Algumas consideraes sobre a Psicanlise do olhar....................................... 3.1 A cegueira provocada pelo div................................................................. 3.2 Vendo vozes: figuras na anlise................................................................ 3.3 dipo e o Homem da Areia: cegueira, castrao e recalque...................... 3.4 A cegueira branca, a censura e os sonhos de angstia............................... Concluso: o olhar da Psicanlise...................................................................... Referncias......................................................................................................... 8 17 17 22 28 35 53 58 64 71 71 97 106 115 115 117 121 131 134 148
INTRODUO
Como o universo visual me tocou e me seduz at hoje? E como tive a idia de investig-lo dentro da Psicanlise? Neste momento introdutrio pretendo contar um pouco a trajetria do raciocnio que venho desenvolvendo no decorrer dos anos e que essa histria sirva de convite para que caminhemos juntos, lado a lado, durante essa jornada que, a partir de agora, pertence tambm a quem a l. Bem, em meus incipientes estudos de Psicanlise nos perodos iniciais do curso de Psicologia, durante uma discusso sobre a teoria freudiana dos sonhos, um questionamento insurgiu em minha mente e por l permaneceu: o que ocorre com os sonhos das pessoas cegas? Como elas sonham? Mesmo no podendo ver, na vida de viglia, seria possvel que elas realizassem o desejo de enxergar, sonhando? Deveria haver alguma diferena na teoria freudiana se aplicada a essas pessoas? Naquele momento, minhas indagaes eram relativas teoria onrica mesma e s possveis modificaes e lacunas que restariam, caso simplesmente exclussemos o sentido visual. Comecei, ento, ainda na graduao, a explorar minhas questes sobre a teoria psicanaltica dos sonhos. Desenvolvi projetos de pesquisa e fui amadurecendo minhas elaboraes enquanto trilhava meu caminho pela Psicanlise. Passei a desconfiar que, na teoria psicanaltica freudiana, os aspectos relativos viso, em inmeras descries dos processos psquicos, ocupavam um lugar de destaque. Antes de prosseguir, devo abrir uns parnteses, talvez o leitor se questione por que motivo fui conduzida a tal raciocnio to precocemente. Pois bem, considero importante mencionar que possuo um problema visual, uma degenerao progressiva na retina, parte do olho responsvel por converter estmulos luminosos em impulsos eltricos neuronais que seguiro rumo ao crebro, deficincia que compromete minha acuidade e parte de meu campo visual. Tal caracterstica me faz participar concreta e simultaneamente de dois mundos: aquele em que a viso, com seus encantos, prevalece e dita as regras, e o outro, explorado normalmente com menor intensidade, no qual apresento total dependncia dos demais sentidos. Devo fazer ainda outras ressalvas. Paralelamente a esse percurso terico e acadmico, fui requisitada a ter uma atuao poltica e educativa concernente aos temas ligados deficincia, em especial visual. Assumi a presidncia de uma ONG que visa a dar apoio e informao aos afetados por doenas degenerativas da retina, fui nomeada representante discente da Comisso Permanente de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais da UFMG e, ao longo
desses anos, venho proferindo palestras a professores, mdicos e profissionais em geral, com o intuito de difundir idias sobre aspectos subjetivos e prticos relativos deficincia visual. Mas, por que menciono tudo isso? Gostaria de sublinhar como, alm da minha prpria vivncia, foi por meio dessa trajetria que passei a ter acesso, cada vez mais, a situaes que instigam e provocam reflexes sobre o universo visual, e permitem uma anlise desse assunto sob diversos pontos de vista. Imagino que esses esclarecimentos sirvam de auxlio para que minha argumentao, ao longo de todo o trabalho, seja mais bem compreendida. Feita essa ressalva, continuemos a descrio do meu percurso, que entrelaado ao desenvolvimento das idias que culminaram no projeto desta pesquisa. Com o tempo, ainda na graduao, as coisas se tornaram ainda mais interessantes, quando passei a exercer a clnica psicanaltica e comecei a transitar pela tcnica na qual o div tem uma posio de destaque. Fui invadida por dvidas: como tal instrumento serviria para mim, qual a sua utilidade j que, sem muito esforo, no tenho acesso fisionomia das pessoas e a detalhes de sua postura, uma vez que alteraes tnues na iluminao do ambiente ou pequenos aumentos na distncia so suficientes para me privar das imagens das coisas? Ora, uma concluso apressada do leitor poderia ser de que, para mim, o div no teria muita serventia. Mas no se adiante. Ele, percebo, marca sua relevncia ao me trazer, por exemplo, uma sensao de alvio quando algum paciente no mais tem acesso visual s minhas reaes. Assim ficamos empatados. Ou melhor, sejamos justos agora, embora tal paciente pudesse no saber de seu anterior favorecimento visual, eu estaria finalmente numa posio de vantagem proporcionada por nossa equiparao visual contraposta ateno de minha escuta. Outra situao bastante instigadora foi o atendimento a pacientes cegos. Chegara o momento de verificar se o div faria diferena ou no para um paciente, que no veria seu analista desde o princpio. Se o leitor utilizou o raciocnio que expus, deduziu que, em vez de uma constatao precipitada de inutilidade, h sim um lugar de importncia marcado pelo div: o lugar em que o analista no ser visto. Parecia-me, ento, cada vez mais evidente, que o olhar e a viso, mesmo no citados explicitamente, perpassavam o emprego e a elaborao da tcnica analtica. Continuei com meus estudos, iniciei a clnica e fui, cada vez mais, me defrontando com questes e peculiaridades tcnicas que me impulsionaram a dar prosseguimento a meus estudos e a levar, de forma mais madura, a inteno de desenvolv-las at o mestrado.
10
No incio dessa nova fase, dediquei-me mais profundamente ao estudo da pulso escpica. Outro vasto campo se desvelou a minha frente trazendo uma questo fundamental: uma pessoa cega inata possui pulso escpica? At que ponto essa modalidade pulsional est vinculada ao olho? Assim, a presente pesquisa iniciou-se guiada por algumas indagaes: o que ocorre com os processos psquicos fundantes do eu se retiramos a viso? Se algo se altera, o que exatamente? Por que h essa posio de relevncia da viso na formao dos sonhos e qual a implicao da ausncia desse sentido? Como entender o papel desempenhado pelo olhar no desenrolar da Psicanlise? Qual a importncia do olhar na anlise de uma pessoa cega? O que se d caso seja o analista cego? O que deve ser adaptado? Como relacionar as pulses e o olhar? Por que o par exibicionismo/escopofilia um modelo? Podemos diferenciar olhar de viso? Como definir cada um desses termos? Outras indagaes tambm no se calam, por isso devem ser citadas: como relacionar a viso com a linguagem do sentido e a interpretao, sem perder de vista que o aparelho psquico, esquematizado por Freud, no exclui o corpo e a neurologia, o olho e a percepo visual, por exemplo? Como localizar a viso na dinmica do funcionamento do aparelho psquico, levando em considerao variaes em suas descries ao longo da obra freudiana? Em suma, por que a prevalncia e o privilgio dados viso? Embora sejam questes aparentemente isoladas, apostamos que podem contribuir para que seja possvel estabelecer reflexes mais amplas sobre o estatuto metapsicolgico da viso. Ao longo deste trabalho, provvel que surja uma aparncia de peculiaridade e privilgio dados viso ou, em outras partes, da falta desses. No entanto, preciso que fique claro que no reivindico com a presente pesquisa um status de exceo para algum que tenha alguma deficincia que lhe comprometa, em qualquer nvel, o campo e acuidade visual. Apenas julgo necessrio pensar sobre o motivo de uma nfase flagrante em elementos visuais, que perpassa construes tericas psicanalticas bsicas e, caso no seja questionada, pode comprometer a teoria como um todo, alm de permitir que a Psicanlise seja classificada de forma injusta como excludente. Repetidas vezes a situao da cegueira ser utilizada e funcionar como estratgia metodolgica, iluminando minha argumentao de que, se, por um lado, temos construes tericas bem-estruturadas, que partiram da lgica de sujeitos
11
videntes, o que fazer se, por outro lado, pensarmos em situaes que se encontram em oposio a essas, ou seja, na lgica dos sujeitos privados da viso? O que sucederia com o construto terico? No se deve achar que seja necessria a existncia de uma Psicanlise para cegos, surdos, etc. Acredito que as contingncias provocadas por qualquer deficincia coloquem em evidncia tanto os aspectos da teoria quanto os conflitos humanos, tornando-os mais visveis. Conquanto existam tantos questionamentos que nos inquietam, sero focalizados nesta dissertao dois grandes eixos que sero distribudos no interior de cada captulo: a tcnica analtica e a metapsicologia do olhar. Continuemos, portanto, discutindo, em primeiro lugar, a questo do olhar na tcnica da Psicanlise. Como podemos dizer que o olhar usado? Onde ele est situado? Pensemos um pouco sobre a histria do olhar na Psicanlise, colocando em evidncia o div e falando sobre a situao analtica de quando o analista e ou o analisando so cegos ou deficientes visuais graves.1 O div se trata de um instrumento clssico, aproxima-se de uma figura estereotipada da situao analtica e recebe uma nfase flagrante quando se fala sobre a tcnica. Para alm de uma importncia prtica que visa ao conforto do analista, que sentido teria? Pode-se sublinhar que esse instrumento salientado por Freud em seu texto Sobre o incio do tratamento (1913), como uma recomendao para a conduo de uma anlise. Freud situa o div como um remanescente do tratamento hipntico, que apresenta diversas razes para ser utilizado. Assim, a disposio que exclui o olhar tem uma funo tcnica precisa de criar condies para que se instale a situao analtica. Mas por qu? Que olhar esse? A justificativa mais imediata referia-se ao incmodo do prprio Freud em ser observado por seus pacientes, ao longo de vrias horas por dia, enquanto se entregava corrente de seus pensamentos inconscientes, ficando, ento, por meio do div, livre para ter suas expresses faciais. A fisionomia do analista poderia servir de material para interpretaes desnecessrias. Alm disso, com o div Freud buscava isolar a transferncia para que ela aparecesse nitidamente como resistncia. Mas ser que o div, por sua vez, exclui o olhar da situao analtica? Certamente no, o prprio Freud faz a ressalva de como esse instrumento pode ser marcante e fornecer informaes essenciais,
Este assunto ser tratado parcialmente agora e complementado no captulo que encerra esta dissertao.
12
por exemplo, no caso em que a pulso visual desempenha um papel importante para determinado paciente. Renato Mezan (1989) afirma, em seu artigo A Medusa e o telescpio ou Vergasse, que, para Freud, esse posicionamento constitui uma condio, ou seja, mais do que uma mera recomendao, j que ele o vincula associao livre, interpretao, aos pensamentos inconscientes do analista, resistncia e transferncia. Mezan afirma ainda que, para que a Psicanlise se constitusse como tal, a festa ocular de Charcot teve de ser abandonada, e o pblico, dispensado. Em seguida, a terapia catrtica de Breuer foi alterada com a excluso da hipnose, que tinha o objetivo de descobrir as cenas traumticas provocadoras dos sintomas. A exigncia do dizer assume o lugar da exigncia do mostrar abrindo espao para a escuta e a interpretao. Ter realmente havido no desenvolvimento da Psicanlise uma excluso progressiva do olhar? Pensamos ter havido no uma excluso, mas a criao de uma nova categoria de olhar, o olhar inconsciente. Nesse sentido, nossa opinio se aproxima da opinio de Eliana Borges Leite (2001), que nos fala nos termos de uma interiorizao do olhar, e no de sua excluso, como uma das condies necessrias para o surgimento da Psicanlise. De acordo com ela, essa interiorizao do olhar resultaria na visualidade que est presente na prtica e na teoria psicanaltica dos sonhos, como sua principal representante ao lado do modelo de aparelho psquico. Essa interiorizao seria um processo pelo qual
...as imagens visuais transpem os limites do espao do visvel a que pertencem inicialmente e tornam-se elementos de um espao psquico. No pensamento de Freud as imagens visuais percorrem um caminho que se inicia em seus tempos de laboratrio, passando pelas lembranas de experincias traumticas e a seguir pelas fantasias de suas pacientes histricas, e at chegaram a constituir-se como elementos da fragilidade na formao dos sonhos.1
Ora, em relao pergunta sobre as variaes do tratamento com uma pessoa cega, remetendo-nos ainda ao div, a constatao imediata que a princpio o div, figura to estigmatizada pela Psicanlise, no teria muita serventia. Mas ser que o paciente, pelo fato de estar privado, a priori, de estmulos visuais, j estaria l deitado? Se, para respaldar essa discusso, analisarmos o texto Recomendaes aos mdicos que exercem a Psicanlise (1912), veremos que Freud traz uma srie de recomendaes sobre seu mtodo que, segundo ele, foi desenvolvido ao longo dos anos,
1
LEITE, 2001, p. 70-71.
13
em face de fracassos e de sua individualidade. Fala sobre as desnecessrias anotaes que os analistas ficam tentados a fazer, sobre a fundamental escuta que procura dar o mesmo valor a tudo que dito. Faz ressalvas quanto a limites educacionais, ao estmulo sublimao, ateno ao debate intelectual que contribui fuga da associao livre. Devemos considerar que todas essas observaes, alm da ateno a aspectos como o tempo e as entrevistas preliminares, devem ser mantidas no tratamento de qualquer pessoa, inclusive das que no enxergam bem. Ser que algo, entre esses aspectos, deveria sofrer alguma modificao nesses casos? O que justificaria o fato de um cego, durante uma sesso, desviar sua cabea para outra direo que no a de onde se encontra o analista? Seria, justamente, o fato de saber que est sendo olhado. Essa atitude, assim como outras que se relacionam ao fato de estar sendo visto e de no ver seu interlocutor, pode fornecer ao analista informaes valiosas sobre as configuraes da pulso escpica no funcionamento psquico de seu paciente. E o que pensar sobre essas questes pelo prisma do analista, ou seja, porque tem um analisando cego, estaria desde o incio isento do desconforto de ser observado por seu paciente e poderia ficar livre para expressar suas fisionomias e gestos, sejam eles quais forem? Nesse caso, porm, por outros meios, suas reaes podem ser facilmente percebidas, por exemplo, pela entonao de sua voz. Nesse aspecto, no estaria ele ainda mais exposto do que diante de qualquer outro paciente deitado em seu div, uma vez que o aprimoramento de outros sentidos, especialmente o auditivo, inerente condio de cegueira ou deficincia visual grave? Tudo indica que sim. Para acrescentar um elemento nossa discusso, reflitamos, agora, sobre a situao em que somente o analista (ou ele e seu paciente) cego ou deficiente visual. Quais as implicaes prticas dessa configurao de fatores relacionadas ao uso do div? Quando apenas o analista cego ou deficiente visual, o uso do div pode representar um alvio ainda maior do que para um analista vidente, uma vez que, devido sua condio, ele ser observado pelo olhar atento de seu paciente no incio do tratamento, sem ter como avaliar as reaes deste por meio de um feedback visual. Com o div, nenhum dos dois ser mais visto, e a equiparao visual ser contraposta a uma dessimetria instalada, ento, a favor do analista com sua escuta privilegiada. Quando temos a situao em que os dois so cegos, encontramos um momento em que o div perde suas funes de privar o analista do desconforto de estar sendo observado e de servir como uma forma de restringir o campo visual do analisante.
14
Ento, sua utilidade se aproxima da de um mobilirio qualquer, no qual o analisando pode se deitar. Qual olhar o div pretende restringir, ento? Como localizar a visualidade na tcnica analtica? Interrompamos agora esta discusso, que ser retomada no ltimo captulo deste trabalho e falemos, agora, um pouco mais sobre a disposio dos temas abordados nesta dissertao. Comeamos o captulo 1 As implicaes do olhar na metapsicologia dos sonhos identificando o objetivo principal de Freud, que baseado na defesa do sonho como estrutura psquica de sentido e passvel de ser interpretado. Ao mesmo tempo tentamos demonstrar como sua tese foi construda com base em descries de estmulos visuais e em fenmenos visuais, como so quase todos os fenmenos da formao dos sonhos. Localizamos onde h meno dos sonhos como visuais e visualmente descritos e, considerando que deva haver um motivo para tal predominncia, levantamos hipteses de por que importante que o sonho seja constitudo de imagens visuais para as pessoas videntes. Fizemos essa busca ao longo do captulo e um apanhado geral do que foi encontrado. Descrevemos os aspectos gerais dos sonhos dos cegos e falamos sobre a fonte dos sonhos pensando no uso desse termo e nas possibilidades de sua aplicao para esse tipo de sonho. Em seguida, consideramos as transformaes sensoriais que se configuram nos sonhos para introduzir a questo do movimento regressivo caracterstico dos sonhos e apresentar o modelo de aparelho psquico desenhado por Freud em seu captulo VII A psicologia dos processos onricos , modelo que tem instrumentos pticos como metfora. Retomamos a questo da oscilao que Freud demonstra ao teorizar sobre o aparelho psquico e definimos quando Freud mais se afasta de sua descrio concreta e visual dos sonhos e quando se aproxima dela. Procuramos analisar o trabalho do sonho exposto por Freud e aplicar sua teorizao aos sonhos dos cegos. Em seguida trouxemos as consideraes sobre a representabilidade em geral feitas por Freud. Encontramos nessa parte a justificativa mais consistente de Freud para o uso das imagens visuais concretas pelo trabalho dos sonhos. Discutimos a possibilidade de criao de um sentido perceptivo pelos sonhos, analisamos as chances de um cego enxergar enquanto sonha e acabamos desembocando na teoria da realizao de desejos. Contemplamos, por fim, outro aspecto da teoria freudiana os sonhos tpicos e, nesse ponto, perdemos o olho sensorial de vista, justamente por termos tido a opo de ver atravs dele.
15
No captulo 2 As implicaes do olhar na metapsicologia da pulso escpica analisamos o papel do olhar e da viso na teoria psicanaltica das pulses a fim de situar como a pulso escpica foi descrita por Freud: onde podemos localizar o olho e a viso. Foi discutida esta questo: preciso um olho vidente para que haja pulso escpica? Qual o rgo fonte dessa pulso? Reavaliamos, conseqentemente, com a ajuda da teoria laplancheana os conceitos de auto-erotismo, atividade inicial da pulso, em sua vertente escpica, que inclusive d nome a essa pulso. Foi necessrio, por exemplo, diferenciar olhar e viso: o olhar do inconsciente e a viso do corpo. Mostramos como o ver aprendido e como a posio do beb, num momento originrio dessa aprendizagem, passiva. Analisamos o caso paradigmtico de uma pessoa que enxergava quando pequena, ficou cega por mais de quarenta e cinco anos, voltou a enxergar, mas no se adaptou viso. Para estabelecer a diferena entre olhar, ver e o olhar do inconsciente, pensamos sobre o sintoma da cegueira histrica e percebemos que essas distines esto presentes no prprio texto de Freud. O captulo 3 Algumas consideraes sobre a Psicanlise do olhar foi o espao em que apontamos sadas para algumas questes levantadas ao longo do trabalho. Abordamos o conceito de figura na anlise, a relao entre castrao e cegueira, a correspondncia entre o fechar de olhos e o recalque e retomamos a discusso sobre o olhar na tcnica analtica. Foi necessrio ousar, mas cabe ao leitor analisar e avaliar nossas asseres, levando em conta que o objetivo geral deste trabalho estabelecer o estatuto metapsicolgico da viso-olhar e entender sua funo na constituio do aparelho psquico e no desenvolvimento da tcnica psicanaltica. Para tanto, tentamos localizar, por exemplo, a viso na dinmica do funcionamento do aparelho psquico, considerando as variaes em suas descries ao longo da obra freudiana. Na concluso O olhar da Psicanlise sintetizamos o nosso percurso, apontando as principais concluses conquistadas, as dificuldades que enfrentamos, trazendo ainda algumas consideraes finais. Sugerimos ao leitor que acompanhe este roteiro e retorne a ele sempre que necessrio para que possa entender nosso percurso, para facilitar a compreenso deste trabalho, pois se trata de um texto longo cheio de informaes que extrapolam, inclusive, os textos psicanalticos. Procuramos fazer um retorno sobre Freud assim como ele mesmo fez com relao a sua prpria obra. Em outras palavras, investigamos seus textos que se
16
relacionam com o nosso tema, utilizando os ensinamentos dele prprio para que pudssemos ter uma leitura psicanaltica e, ao mesmo tempo, crtica. Fizemos isso tambm com os demais textos, inclusive os no-psicanalticos e com os dados que analisamos. Essa metodologia uma proposta de Laplanche, que sugere o retorno a Freud e ao movimento psicanaltico1.
Laplanche descreve essa metodologia de trabalho na aula introdutria de sua Problemtica I sobre a angstia.
17
1 AS IMPLICAES DO OLHAR NA METAPSICOLOGIA DOS SONHOS 1.1 Sonhando no escuro
Dirigindo nosso olhar para a investigao da metapsicologia profunda da estruturao do psiquismo, o que observamos nos sonhos que seja relacionado ao universo visual? A interpretao dos sonhos (1900) certamente um dos livros mais importantes da obra de Freud e fundamental para o desenvolvimento da teoria psicanaltica, o que justifica aqui o destaque que ser dado. Nessa obra, Freud trata de temas como o aparelho psquico, o esquecimento dos sonhos, o inconsciente e a conscincia, a realizao de desejos, trabalhando esses pontos fundamentais de sua teoria com exemplos da percepo visual. A percepo, em Freud, um aspecto que tangencia sua teoria do aparelho psquico de um modo peculiar. Fica claro que essa, por sua vez, tem como um de seus fundamentos os dados relativos percepo visual. Mas como podemos delinear a participao dessa categoria perceptiva nas representaes? Seria fundamental? Como se dariam, por exemplo, as construes onricas em pessoas privadas desse tipo de estimulao? Freud fala sobre isso? Como justificar a aparente prevalncia e o privilgio dados viso? Os sonhos, Freud enfatiza ao longo de toda obra, so vivncias, atos psquicos de grande significao e podem ser inseridos na cadeia de experincias psquicas daquele que sonhou. Sua fora motivadora sempre um desejo que busca ser realizado. A censura psquica, no processo de formao do sonho, faz com que os desejos no sejam reconhecidos como tais, gerando as peculiaridades e os absurdos dos sonhos. Alguns fatores que contribuem para o formato que um sonho assume, resultantes das exigncias feitas pela censura, so o deslocamento e a condensao de seu material psquico, a considerao sua representabilidade em imagens sensoriais, alm da elaborao secundria que faz com que, com um arranjo final, a estrutura do sonho possua uma fachada racional e inteligvel. Outro aspecto que devemos contemplar, ao tratar do universo visual correlacionado aos sonhos, a caracterstica regressiva deles. Freud define a regresso como o efeito da resistncia que se ope ao avano de um pensamento e de uma atrao
18
sobre ele de lembranas de grande fora sensorial. Mas por que essa fora sensorial muitas vezes condensa-se em aspectos da viso como cor e nitidez? Devemos destacar tambm que essa discusso no pode deixar de considerar que, ao longo de sua obra, Freud implementa descries sobre o aparelho psquico que oscilam entre uma esquematizao real, que busca uma correspondncia exata com a Biologia, e outra analgica, que reconhece esse referencial neurolgico, mas no se prope a ser fiel a ele. Em A interpretao dos sonhos Freud diz pretender permanecer no campo psicolgico e representar o aparelho psquico de modo semelhante a um microscpico composto, a um aparelho fotogrfico ou a algo desse tipo.1 Quais as conseqncias dessa escolha? Sobre ela Pontalis (1991) estabelece um paralelo que deve ser citado aqui. Ao passo que outros autores evocam pintores para estudar o visual e a percepo em vez de buscar a cincia da ptica, Freud, no que concerne ao ver, na teoria, o modelo tico que foi inicialmente solicitado: foram esquemas e grficos sem profundidade, sem espessura, que ele visualizou na superfcie plana da pgina; e na prtica, o sonho que foi o interlocutor privilegiado. Quais as conseqncias dessa escolha? De acordo com Monzani (1989), podemos perceber um discurso misto que permeia toda a obra, mostrando que a linguagem fsica da tpica e a linguagem oriunda do sentido ainda no se coordenaram bem. Mesmo no captulo VII, haveria uma mesclagem na forma de tratamento. A linguagem fsica por vezes dominaria e seria a explicao daquilo que foi elaborado nos captulos anteriores. Ela apareceria tambm como algo imposto que coordena mal os materiais de que pretende dar conta.2 Demonstraremos essa falta de coordenao ao longo deste captulo. Ao analisar o esquema psicolgico de Freud, percebemos que a anatomia e o corpo realmente esto sendo considerados. Monzani sublinha que basta notarmos a extremidade perceptiva e a motora da representao e que estes, o corpo e a anatomia, intervm no nvel do interior do sistema ao serem tidos analogicamente como lentes. Trata-se de um carter ambguo dessa montagem de Freud.3 Pois bem, como relacionar a viso com a linguagem do sentido e a interpretao sem perder de vista que o aparelho psquico esquematizado por Freud no exclui o corpo e a neurologia nem olho e a percepo visual? Como localizar a viso na
1 2
FREUD, 1900, p. 537. MONZANI, 1989, p. 87-88. 3 MONZANI, 1989, p. 126.
19
dinmica do funcionamento do aparelho psquico? Tudo isso nos estimula a localizar a importncia da viso e a analis-la do ponto de vista perceptivo, relacionando-a ao metapsicolgico. justamente esta a proposta que temos para o presente captulo, que se encontra povoado de questes organizadas em grupos cujas respostas iremos galgando passo a passo. No pretendemos fazer um resumo do que foi tratado por Freud em seu livro. Em A interpretao dos sonhos faremos recortes pontuais que sero teis para que seja possvel analisar tais questes. Ocasionalmente buscaremos auxlio em outros autores, mas manteremos a obra de Freud sob nosso foco. Devemos sublinhar que Freud ainda no contempla o fato de poder haver em sua teoria peculiaridades relacionadas a um sonho de uma pessoa cega em nenhuma seo ou parte de seu livro, nem menciona essa possibilidade. Procuraremos, ento, neste captulo, descrever vrios fatores fundamentais de A interpretao dos sonhos e demonstraremos que o desenvolvimento das formulaes tericas de Freud est intimamente vinculado a uma lgica visual de raciocnio mas que, nem por isso, essas formulaes devem ser invalidadas. Com os elementos fornecidos pelo prprio Freud, tentaremos responder, ento, como os mecanismos de formao dos sonhos atuariam sem o auxlio das imagens visuais, situao que se aplica aos sonhos de uma pessoa cega total inata,1 e encontrar o motivo que justifica a preferncia por essa categoria de imagem, que o que se d nos sonhos de uma pessoa vidente. Buscando em Freud, para citar como exemplo um motivo para que os sonhos sejam visuais, encontramos no captulo VII A psicologia dos processos onricos de A interpretao dos sonhos a concluso a que Freud chega de que uma possvel causa para a transformao de pensamentos em imagens visuais seria a atrao entre pensamentos inconscientes que querem ser conscientes e lembranas expressas sob forma visual vidas de uma revivescncia. Pode-se perguntar o que seria determinante para essa atrao. Supomos, e tentaremos demonstrar no presente captulo, que isso no ocorre somente com lembranas visuais, necessariamente, e que outros tipos de impresses sensoriais, como audio, tato, poderiam tambm ser capazes de atrair pensamentos inconscientes e gerar sonhos. Essa uma de nossas hipteses para os sonhos dos cegos.
Para exemplificar nossas constataes sobre como se dariam tais mecanismos, utilizaremos sonhos de pessoas cegas com as quais conversamos e gentilmente autorizaram nossas citaes. Devemos sublinhar ainda que, como nenhuma delas se encontra em processo analtico, no faremos interpretaes mais profundas sobre o contedo de seus sonhos.
20
Como mencionamos logo acima, algumas vezes os sonhos dos cegos e continuaremos nos referindo a esse tipo de sonho ao longo de todo o captulo pensamos ser este o momento de descrev-los com o intuito de facilitar a compreenso ao leitor.1 Uma pessoa vidente muitas vezes possui dificuldades em imaginar como um sonho de um cego e pode at mesmo se questionar se ele sonha. Tal dvida corrente dos videntes sobre como o sonho de um cego evidencia uma das idias que queremos demonstrar aqui. Os sonhos so, na maioria dos casos, quase completamente descritos apenas com os traos visuais que os constituem. Por outro lado, a viso realmente predominante nos sonhos de uma pessoa vidente e em sua narrao, fazendo com que os elementos visuais se confundam com o prprio sonho. Uma pessoa cega viver as situaes trazidas por seus sonhos assim como vive e percebe seu mundo no estado de viglia. Por isso, antes de descrever seus sonhos, devemos descrever como se d sua orientao acordada. Sua percepo do mundo, nesse estado, se d por meio de sua audio, seu tato, seu olfato e seu paladar. Como o sentido da viso aquele que fornece o maior nmero de informaes instantnea e simultaneamente ao indivduo vidente, e os cegos no o possuem, a apreenso dos dados do ambiente por um cego ser feita de forma fragmentada. Portanto, para que tenha a noo de um todo, dever juntar o mosaico do que recebe por meio de seus sentidos. Construir a significao de um objeto ao toc-lo, cheir-lo, ao ouvir seu rudo ou sua descrio feita por alguma pessoa e ao experiment-lo, se possvel. Quanto maior o tamanho e a distncia das coisas, mais difcil a compreenso de como elas so. Assim, um cego poder saber como um objeto grande se puder apalplo completamente e poder reconhec-lo depois de haver criado essa representao, ao ter contato com uma parte menor caracterstica dele. Por exemplo, poder tocar uma porta e, por seu formato peculiar, descobrir que est diante de um automvel. Um cego nos contou como teve a oportunidade, dada por um policial, de apalpar um cavalo e hoje, pode encostar-se crina de um e identific-lo. Essa mesma pessoa nos conta, por outro lado, como sabe que a Lua um satlite natural que gira ao redor da terra, que ela reflete a luz do Sol e que a luz o oposto da escurido. Porm, no consegue dizer nada alm disso e conclui no ter nenhuma imagem sensorial de nenhum tipo sobre ela.
Caso o leitor seja cego, j estar bem familiarizado com o que ser dito nessa pequena introduo, e pedimos que no se incomode com nossa descrio que poder lhe parecer um tanto quanto bvia.
21
A dimenso externa de um edifcio poder ser formulada se essa pessoa cega puder tocar uma maquete dessa construo, por exemplo. Caso contrrio, ter conhecimento dele pelo conjunto das descries feitas por outras pessoas e pela soma de informaes que recolher ao se deslocar internamente nele. Um estudante cego, por exemplo, imaginava que o prdio onde estudava havia anos fosse um grande caixote reto, at o dia em que teve a oportunidade de apalpar sua pequena rplica e descobriu que se tratava de uma construo moderna cheia de curvas. O tamanho de uma cachoeira ser definido pela intensidade do barulho de suas guas caindo. Uma esquina poder ser percebida pelo vento que circula agitado nela e que sentido ao se aproximar, ou pelo barulho dos carros avanando a sua frente. Uma outra pessoa poder ser reconhecida por um cego, por exemplo, pelo barulho de seus passos, por seu perfume, pelo tom de sua voz e pelo toque de sua mo ou de uma roupa caracterstica. Caso essa pessoa seja um cego inato, a noo que tiver sobre as cores ser resultante das descries que ela ouvir e ser algo meramente conceitual. No poder construir o registro mnmico dessa percepo sem a ter experimentado alguma vez. Em seus sonhos os cegos tero esses mesmos tipos de vivncia. Ocorre neles a presena de material rotineiro, recente e irrelevante assim como com os sonhos descritos por Freud. So materiais recentes da vspera que acionam seus sonhos da mesma maneira como ocorreria com qualquer pessoa. E no haveria motivos para que isso fosse diferente. Esse material faz parte do que chamaremos logo adiante de fontes psquicas do sonho. Em A interpretao dos sonhos, no captulo V, seo (A) Material recente e irrelevante nos sonhos, Freud afirma que h uma regularidade da ligao do sonho com fatos do dia anterior. Esses acontecimentos so de qual natureza? Uma conversa, uma viso de algum, um encontro, um filme, uma msica, um pensamento, uma preocupao, a leitura de um livro, o sabor de uma comida, enfim, qualquer coisa. Para um cego total inato a nica diferena que podemos delimitar que o registro desses fatos no ser visual. Os sonhos das pessoas cegas sero, assim, a vivncia de situaes diversas percebidas do mesmo modo como ela percebe as coisas acordada. Para situar nossos objetivos em meio ao emaranhado que, sem perceber, Freud teceu, impe-se mencionar uma questo que perpassou nosso trabalho e incita nossas preocupaes: ao analisar aspectos como a percepo visual e a relao do corpo com o aparelho psquico, at que ponto estaramos enfatizando algo que Freud lutou para
22
desconstruir? Diramos, ento, que, apesar de correr esse risco, iremos nos focar na viso em seus diversos sentidos e mapear seu aparecimento nessa obra.
1.2 Imagens visuais: o tecido dos sonhos?
Freud (1900) comea seu livro analisando a literatura cientfica que aborda o problema dos sonhos, e logo no captulo inicial anuncia seu grande objetivo, que ser retomado inmeras vezes at o final de sua obra. Com suas primeiras palavras, podemos vislumbrar onde est localizada sua preocupao. Para Freud no h instigadores onricos irrelevantes nem sonhos inocentes.
Nas pginas que seguem, apresentarei provas de que existe uma tcnica psicolgica que torna possvel interpretar os sonhos, e que, quando esse procedimento empregado, todo sonho se revela como uma estrutura psquica que tem um sentido e pode ser inserida num ponto designvel nas atividades mentais da vida de viglia. Esforar-me-ei ainda por elucidar os processos a que se devem a estranheza e a obscuridade dos sonhos e por deduzir desses processos a natureza das foras psquicas por cuja ao concomitante ou mutuamente oposta os sonhos so gerados.1
Apesar de demonstrar tendncia em pensar o sonho com base em seu sentido, no captulo II O mtodo de interpretao dos sonhos: anlise de um sonho modelo Freud traz como modelo de seu mtodo interpretativo o sonho da injeo de Irma, que basicamente visual. Essa escolha denuncia o rumo que Freud dar em praticamente todas suas descries futuras. Vemos como o trabalho de interpretao est desde o incio sendo tangenciado por essa categoria de elementos perceptivos e comeamos a notar a oscilao de Freud em analisar aspectos objetivos dos sonhos em contrapartida aos relacionados aos sentidos, linguagem, e essa, alis, a nfase pretendida e declarada por Freud. Em outras palavras, ele elege como objetivo principal mostrar que os sonhos so interpretveis. Mas esse objetivo fica mesclado com sua matria-prima, que so os pensamentos e as imagens visuais utilizadas para expressar tais pensamentos. A idia predominante contra a qual Freud se opunha era a de que o sonho seria um processo somtico que marcaria sua ocorrncia por indicaes registradas no aparelho mental, e no um ato mental. Por outro lado, no desconsidera analisar esses processos somticos ao referir-se percepo, mas acaba se confundindo nessa anlise. Por exemplo, a
1
FREUD, 1900, p. 39.
23
existncia macia de estmulos visuais no analisada por ele; tratada como algo natural em sua trajetria. O tecido formado pelas imagens visuais se confunde com o tecido do prprio sonho. Como apontamos o objetivo principal traado por Freud e afirmamos que sua tese de que os sonhos possuem sentido foi sendo construda em cima de exemplos de sonhos visuais, sentimo-nos na obrigao de comear a expor, a partir de agora, por meio de alguns exemplos, na obra de Freud, onde temos tais relatos de que os sonhos so visuais. Como o leitor perceber, essa situao muito mais recorrente do que podamos esperar e traremos ainda mais exemplos desse tipo. No captulo I, seo (C) Os estmulos e as fontes dos sonhos, encontramos alguns desses elementos. Por exemplo, quando fala sobre os estmulos sensoriais externos, Freud descreve nosso comportamento de tentar eliminar os canais de estimulao sensorial buscando o adormecimento. Nessa exposio ele classifica os olhos como os nossos canais sensoriais mais importantes, com a ressalva de que a viso externa, por um lado, pode agir como um agente perturbador e, por outro, pode funcionar como fonte para os sonhos.
Fechamos nossos canais sensoriais mais importantes, os olhos, e tentamos proteger os outros sentidos de todos os estmulos ou de qualquer modificao dos estmulos que atuam sobre eles. Ento adormecemos, muito embora nosso plano jamais se concretize inteiramente.1
Freud apresenta, ainda no captulo primeiro, uma srie de citaes de vrios autores, filsofos e mdicos, que falam sobre as caractersticas dos sonhos. Vemos como esses autores tratam os sonhos como formaes visuais assim como Freud. Nesse momento, Freud defende ferrenhamente seu muito criticado contemporneo Scherner, que criara um raciocnio de simbolizao visual. Ele fala sobre a imaginao onrica como se tivesse poderes produtivos e reprodutivos, como se fosse destituda do poder da linguagem conceitual e tivesse que retratar as coisas de forma pictrica, por vezes, confusa. Scherner compara o sonho a esboos de pinturas2 assim como Freud o faz, mais adiante, quando teoriza sobre o modo de representao das relaes lgicas nos sonhos. Nesse momento, Freud tenta enumerar os meios que o trabalho do sonho possui para indicar nos pensamentos onricos essas relaes que, segundo ele, so to difceis de representar. Em seu primeiro meio, temos, no pela nica vez, a comparao dos
1 2
FREUD, 1900, p. 60. Cf. FREUD, 1900, p. 119-120
24
sonhos com uma pintura. O sonho considera todas as ligaes que existem entre os pensamentos dos sonhos e combinam todo o material em uma nica situao.
Eles reproduzem a ligao lgica pela simultaneidade no tempo. Nesse aspecto, agem como o pintor que, num quadro da Escola de Atenas ou do Parnaso, representa num nico grupo todos os filsofos ou todos os poetas. verdade que, de fato, eles nunca se reuniram num nico salo ou num nico cume de montanha, mas certamente formam um grupo no sentido conceitual.1
Passemos adiante e analisemos alguns aspectos tratados por Freud sobre os sonhos, que nos fazem tomar os sonhos quase que exclusivamente visuais, e raciocinemos tambm como esses aspectos se aplicam aos sonhos dos cegos. Inauguremos, ento, agora a discusso sobre a fonte do material presente nos sonhos. Seriam as imagens visuais o tecido dos sonhos? Freud analisa, desde o primeiro captulo de A interpretao dos sonhos, as possveis fontes dos sonhos. Podemos constatar que, ao longo da obra, esse termo usado em duas acepes distintas. Num momento a fonte aquilo que fornece os materiais para os elementos que compem os sonhos; noutro ela usada como sinnimo do fator provocador do sonho como um todo. Para Freud, distino que vai ficando clara ao longo de sua exposio terica, as fontes dos elementos dos sonhos no coincidem com a fonte provocadora do sonho em si, que seria um fator anterior e se trata de uma motivao psquica, um desejo buscando realizao. Assim, diramos que as fontes externas so os estmulos percebidos pelo organismo enquanto dorme, por meio dos rgos do sentido. Mesmo presentes no ambiente, elas nem sempre so representadas nos sonhos e, quando isso acontece, no h uma homogeneidade para essa representao. Em outras palavras, para um sonhador, o mesmo estmulo ter diversas representaes onricas e, normalmente, de acordo com os exemplos fornecidos por Freud, elas esto associadas a uma representao de forma visual, mesmo que o estmulo externo originrio seja de outra natureza sensorial.2 As fontes internas de estimulao so provenientes do prprio organismo, por isso so chamadas de somticas. So sensaes de dor, de desconforto ou as sensaes provocadas pelos rgos em seu funcionamento normal. Trata-se de fontes que
FREUD, 1900, p. 340. A estimulao dos olhos encontra um lugar especial tambm nessa discusso. Freud cita uma srie de exemplos de vrios estudiosos pesquisadores, que falam da estimulao retiniana, dando-lhe um destaque. So feitos experimentos em que estmulos luminosos so jogados sobre os olhos de um sonhador para se ver o que acontece, por exemplo.
2
25
produzem incessantemente estmulos, mas a representao dessas fontes tambm no uma constante. Assim como as externas, elas possuem uma variabilidade infinita de representaes nos sonhos e aparecem tambm associadas a formas visuais, ou so inteiramente representadas desse modo. As fontes psquicas dos sonhos so os pensamentos que fazem parte dos sonhos. Seriam as idias, as lembranas (visuais) e as experincias recentes, do dia anterior, por exemplo. No so os pensamentos latentes, mas aqueles que os compem e fazem parte da formao dos sonhos. Para os autores trazidos por Freud, so essas a fonte motivadora dos sonhos e, se considerarmos rapidamente apenas elas, conclui-se que as imagens visuais seriam o tecido dos sonhos. Para Freud, essas trs categorias de fontes so responsveis por elementos onricos isolados. Se apenas uma dessas trs fontes for suficientemente forte para exigir representao, ela poder provocar um sonho, mas desde que encontre apoio em um desejo inconsciente. A fonte dos sonhos, a motivao dos sonhos, o verdadeiro instigador dos sonhos, , segundo Freud, um desejo que busca se realizar. Nesse sentido, falamos de uma fonte psquica instigadora dos sonhos. Freud introduz a dimenso do sentido aos sonhos, porm no nega a importncia da estimulao somtica, por isso a classifica como fonte dos sonhos. Ele prope, ento, um novo tipo de anlise dos sonhos no mais uma classificao, mas uma organizao pelo significado dos seus estmulos, sejam internos, externos ou orgnicos, sejam estimulaes nervosas. Logo, o que h de essencial nos sonhos, assim como ele mesmo indica, a motivao psquica, que independe das fontes somticas ou psquicas: a natureza essencial do sonho no alterada pelo fato de se acrescentar material somtico a suas fontes psquicas1, o sonho continua a ser a realizao de um desejo, no importa de que maneira a expresso dessa realizao de desejo seja determinada pelo material correntemente ativo.2 Apesar disso, notamos que o corpo sensorial est presente e representado na teoria dos sonhos de Freud como o fornecedor dos elementos que sero utilizados de acordo com uma fonte motivadora psquica. Nesse sentido, o principal rgo sensorial fornecedor de imagens onricas e responsvel por esse tipo de fonte dos sonhos so os olhos, por isso o tecido onrico poderia ser considerado visual. Mas a
1
Cabe ressaltar que, a partir deste trecho, Freud introduz o termo fonte psquica que, ao lado das fontes orgnicas, externas e internas, so diferentes da motivao psquica. 2 FREUD, 1900, p. 257.
26
fonte dos sonhos no seria fundamentalmente somtica. Os pesquisadores anteriores a Freud aproximam o sonho de um fenmeno apenas somtico e visual. Voltemos s nossas tentativas de aplicar essa teorizao aos sonhos dos cegos. Teramos de fazer alguma adaptao ou ressalva se refletirmos que, quando Freud trata a fonte como a provocadora de imagens onricas, ele considera que a maioria de tais imagens onricas visual e, ainda, se concluirmos que essas fontes, na maior parte dos exemplos trazidos, estimulam os olhos e as recordaes visuais de alguma forma? Quanto s fontes psquicas, que aqui sintetizamos como pensamentos, idias, experincias e lembranas (exceto as visuais), elas exercem o mesmo papel descrito por Freud. Da mesma forma, a motivao psquica para os sonhos, qual seja, a realizao de um desejo, tambm seria a mesma que Freud descreveu em sua teoria, portanto no h razo para qualquer adaptao ao caso de um cego. No entanto, as demais fontes dos elementos onricos, para uma pessoa cega, sejam internas, sejam externas, seriam constitudas de toda a diversidade possvel de elementos sensoriais que pudessem ser capturados por seu corpo, diversidade que excluiria as impresses retinianas visuais. Uma pessoa cega, que jamais tenha enxergado, nunca sonhar visualmente. A luz que incide sobre ela durante seu sono no far nenhuma diferena em seu estado, a no ser que esse estmulo luminoso seja acompanhado de ondas de calor.1 Ainda pensando no formato como os sentidos sensoriais so instigados e aparecem como imagens onricas, consideremos a possibilidade de haver uma transformao sensorial no processo de passagem de uma fonte onrica para uma imagem onrica e analisemos como os sentidos sensoriais so representados nos sonhos. Um sentido pode representar outro nos sonhos? Buscando essa resposta, encontramos em Freud exemplos dessa transformao em vrios momentos, como no captulo I, em que fala da relao dos estmulos externos com os sonhos. Ele cita uma srie de sonhos em que houve correspondncia significativa entre um estmulo constatado ao despertar e uma parte do contedo do sonho, sendo possvel identificar o estmulo representado no sonho. So descritas situaes em que estmulos sonoros se tornam imagens visuais emissoras de sons. Temos trovoadas que viram uma batalha, entre outros exemplos.
justamente por isso que o ciclo de sono-viglia de uma criana cega costuma ser alterado, e no raro que ela troque o dia pela noite. Essa criana no associar a claridade ao dia nem a escurido noite.
27
De alguma forma as sensaes sensoriais so mantidas nos sonhos e incrementadas pela cena. Sensaes de tato, como o aquecimento de parte do corpo, se transformam em imagens onricas visuais que preservam a impresso inicial do tato. Freud descreve vrias situaes. Em um caso, a percepo de calor dos ps sobre uma bolsa de gua quente se transformou num sonho em que o sonhador subiu at o cume do Monte Etna, onde o cho estava insuportavelmente quente. Freud ressalta como certa semelhana mantida entre o estmulo e o contedo do sonho, e isso comprovado quando se transmite deliberadamente um estmulo sensorial pessoa adormecida e nela se produz um sonho correspondente quele estmulo. Freud traz, ento, exemplos dessas experincias. Um cientista deixara o joelho descoberto e sonhou que estava viajando de noite numa diligncia sentindo seus joelhos frios. E assim se sucedem experimentos com estmulos tteis. Alm desses, h sonhos em que o um estmulo aplicado ao mesmo sonhador, gerara sonhos completamente diferentes. So trs exemplos de sonhos em que o estmulo externo havia sido um despertador e provocara sonhos ricos em estmulos visuais formados por seqncias de imagens na maioria descritas visualmente e concludos com sons: um sino soando na igreja, o rudo dos guizos de um tren e o barulho de uma pilha de loua caindo no cho e quebrando. Nesses exemplos, h estmulos sensoriais externos de determinada natureza que so representados de outra forma. O trabalho do sonho, assim como faz uso dos registros mnmicos disponveis, utiliza esses estmulos e os transforma parcialmente. Freud ressalta que mantida uma semelhana entre o estmulo externo e o elemento correspondente a ele no sonho. Diramos, porm, que h o acrscimo de uma cena visual em todos os exemplos citados. Estmulos auditivos, tteis e olfativos do origem a cenas visuais nos sonhos. Podemos concluir, portanto, que uma fonte onrica sensorial externa ou interna no precisa necessariamente de receber uma imagem onrica correspondente a sua natureza sensorial. Poder, portanto, haver modificao dessa natureza feita pelo trabalho dos sonhos e aqui, mais uma vez, temos preferncia pelas representaes visuais. Como essa transformao ocorreria no sonho de um cego? Poderamos dizer que um estmulo visual se transforma em outro? E o contrrio ocorreria? Um cego receber um estmulo visual, mas no o perceber e poder apenas reconhec-lo, caso venha acompanhado de calor, por exemplo. Como o cego no tem um rgo sensorial receptador, esse estmulo lhe ser indiferente. O contrrio tambm no possvel, ou
28
seja, no sonho de um cego no surge um estmulo visual provocado por algum outro estmulo sensorial, pois ele no tem esse registro mnmico. E por que haveria essa transformao? Responderamos a essa questo dizendo que a passagem de um estmulo para uma representao onrica no direta. Antes de ser representado num sonho, um estmulo sensorial submetido ao trabalho dos sonhos. Anteriores s representaes sensoriais, so os pensamentos latentes e a motivao psquica dos sonhos. Ento, podemos dizer que um sentido vira outro no sonho, mas de maneira indireta, ou seja, ele ser representado. Um estmulo qualquer, externo ou interno, recebido, traduzido em pensamentos, ou toca cadeias de pensamentos, e somente depois vira outro sentido sensorial no formato de uma representao. Uma pessoa cega receber todas as percepes possveis. Em seguida, traduzir os estmulos que ativaram as cadeias de pensamentos associadas a eles. Somente depois, esse estmulo ser indiretamente representado nos sonhos por meio do arcabouo de representaes que essa pessoa possuir. Um estmulo visual chegar at ela por meio de outras vias que no a viso desse estmulo. Falamos aqui de uma descrio feita por algum, do calor recebido, do tato, ou seja, dos significados que esse estmulo visual assumir para ela. Freud inaugura a discusso sobre a mistura que a mente faz da natureza dos estmulos como sendo uma confuso feita por ela e esclarece suas divagaes quando teoriza sobre o aparelho psquico. Assim tambm faremos agora, quando falaremos sobre o processo regressivo dos sonhos. Poderemos, ento, explicar a existncia dos sonhos, tanto os alucinatrios visuais e os no-visuais dos cegos, quanto os da ordem das idias, dentro do modelo de aparelho psquico.
1.3 Os caminhos de ziguezague entre as lentes do aparelho psquico
Trouxemos os seguintes elementos at agora: o desejo a fora propulsora dos sonhos, sua fonte mais essencial, que transforma os pensamentos em sonhos. Em contrapartida, temos as fontes das imagens onricas que so provenientes de diversos lugares, estmulos nervosos externos, somticos internos. Tambm constatamos como no h uma correspondncia exata entre o formato sensorial dessas fontes e suas imagens. Em meio a tudo isso, definimos quais dessas constataes se aplicam aos sonhos dos cegos e quais ressalvas deveriam ser feitas para tanto. Agora devemos localizar esses processos, assim como Freud fez em seu modelo de funcionamento do
29
aparelho psquico. Poderemos entender o mecanismo que faz com que os sonhos sejam alucinatrios, ricos em elementos sensoriais e, mais uma vez, aplicar nosso raciocnio aos sonhos dos cegos. Poderemos compreender por que Freud trata o sonho como uma formao psquica visual e localizar, dentro de seu modelo de funcionamento mental, quando os traos mnmicos visuais so solicitados e usados pelos sonhos. Veremos tambm como os modelos de comparao escolhidos por Freud para representar o aparelho psquico so aparelhos pticos. Alm disso, demonstraremos com detalhes sua oscilao em situar o aparelho psquico na concretude de um corpo e em descrev-lo como um aparelho de sentido. Freud diz, logo no incio de suas elaboraes sobre o assunto, que o aparelho psquico deve ser construdo como um aparelho reflexo, modelo de todas as funes psquicas. A direo da atividade psquica, no aparelho psquico, normalmente vai desde os estmulos externos e internos at as inervaes. Freud lhe d, dessa forma, uma extremidade sensorial, onde est o sistema que recebe as percepes, e uma extremidade motora, onde fica o sistema que abre as comportas da atividade motora. Essas consideraes iniciais mostram como Freud descreve um aparelho psquico considerando a realidade de um corpo que o aloja e como, ao fazer isso, ele no coordena bem o modo como descreve esse aparelho. Freud liga os traos psquicos aos sistemas. Os traos mnmicos so modificaes permanentes dos elementos dos sistemas. Na parte do aparelho que recebe os estmulos perceptivos, haveria um sistema o sistema Pcpt. e logo depois um segundo sistema que possui memria e transforma as excitaes momentneas em traos permanentes o sistema Mnem. O sistema Pcpt. o responsvel por suprir a conscincia de toda diversidade das qualidades sensoriais. Por outro lado, nossas lembranas sem excetuar as que esto mais profundamente gravadas em nossa psique so inconscientes em si mesmas. Podem tornar-se conscientes, mas no h dvida de que produzem todos os seus efeitos quando em estado inconsciente.1 Os traos mnmicos so os traos perceptivos que incidem, num primeiro momento, na extremidade sensorial e permanecem. A memria a funo que se relaciona com esses traos mnmicos. Os sistemas mnmicos so responsveis por registrar e manter as associaes, pois as percepes esto mutuamente ligadas na memria, em primeiro lugar, pela simultaneidade em que ocorreram. A associao
FREUD, 1900, p. 570.
30
consistiria, assim, no fato de que, em decorrncia de uma diminuio das resistncias e do estabelecimento de vias de facilitao, a excitao mais prontamente transmitida de um primeiro elemento Mnem. para um segundo do que para um terceiro.1 Uma nica excitao transmitida pelo sistema Pcpt. deixa uma srie de registros nos vrios elementos Mnem. Relacionando o aparelho psquico com a formao dos sonhos, Freud fala sobre duas instncias psquicas que influenciam esse processo: uma critica a atividade da outra, excluindo-a da conscincia quando necessrio. A instncia crtica, conclumos, tem uma relao mais estreita com a conscincia do que a instncia criticada, situandose como uma tela entre esta ltima e a conscincia.2 Essa instncia crtica determina as aes voluntrias e conscientes, alm de dirigir a vida de viglia. Freud localiza, ento, essa instncia/sistema crtico na extremidade motora do aparelho, o sistema Prconsciente. Os processos excitatrios nele ocorridos somente penetram na conscincia quando atingem, por exemplo, certo grau de intensidade. Ele detm a chave do movimento voluntrio. Com essa observao, vemos como Freud mistura uma noo abstrata que corresponde s instncias ou sistemas psquicos e uma abordagem concreta que diz respeito s extremidades motoras e perceptivas desse aparelho. Continuando sua exposio, Freud diz que o sistema Inconsciente somente tem acesso conscincia por meio do pr-consciente que, localizado sua frente, promove modificaes em seu contedo. O impulso para a formao dos sonhos est no sistema Ics.. Mas o processo de formao dos sonhos precisa ligar-se a pensamentos onricos do sistema Pr-consciente. Em outras palavras, o sistema Ics. o ponto de partida para a formao dos sonhos. Como todas as outras estruturas de pensamento, esse instigador do sonho se esforar por avanar para o Pcs. e, a partir da, ganhar acesso conscincia.3 A censura imposta pela resistncia barra os pensamentos onricos pela via do Pcs at a conscincia, durante o dia. Para justificar a presena dos sonhos ricos em elementos sensoriais, os sonhos alucinatrios, Freud apresenta o movimento regressivo.
A nica maneira pela qual podemos descrever o que acontece nos sonhos alucinatrios dizendo que a excitao se move em direo retrocedente. Em vez de se propagar para a extremidade motora do aparelho, ela se movimenta no sentido da extremidade sensorial e, por fim, atinge o sistema perceptivo.
1 2
FREUD, 1900, p. 569. FREUD, 1900, p. 571. 3 FREUD, 1900, p. 572.
31
Se descrevermos como progressiva a direo tomada pelos processos psquicos que brotam do inconsciente durante a vida de viglia, poderemos dizer que os sonhos tm um carter regressivo.1
Freud compara esse percurso ao ziguezague: Completou agora a segunda parte de sua trajetria em ziguezague. A primeira parte foi progressiva, indo das cenas ou fantasias inconscientes para o pr-consciente; a segunda retrocedeu da fronteira da censura at as percepes.2 Ao se tornar perceptivo, Freud afirma, o contedo onrico encontra um modo de escapar do obstculo criado pela censura e pelo estado de sono do Pcs. Dessa forma, ele consegue chamar a ateno para si e ser notado pela conscincia. Eis uma razo, sublinhamos, que faz com que os sonhos sejam alucinatrios e, no caso, visuais. A regresso uma das caractersticas psicolgicas do processo onrico, assim como ocorre com a rememorao deliberada. Porm, no estado de viglia, segundo Freud, o movimento regressivo nunca vai alm das imagens mnmicas, por isso no consegue reproduzir uma revivescncia alucinatria das imagens perceptivas. Notamos como ele fala de uma caracterstica psquica que desemboca em um corpo perceptivo, mesclando assim, mais uma vez, a linguagem metafrica e a concreta anatmica. No caso dos sonhos, com o trabalho de condensao, as intensidades ligadas s representaes podem ser transferidas inteiramente de uma representao para outra. Provavelmente, essa alterao do processo psquico normal que torna possvel a catexia do sistema Pcpt. na direo inversa, partindo dos pensamentos, at se atingir o nvel de completa vividez sensorial.3 A regresso explica o desaparecimento total ou parcial das relaes lgicas dos pensamentos onricos durante os sonhos. Em resumo, a regresso ocorre quando, num sonho, uma representao retransformada na imagem sensorial de que originalmente derivou.4 Assim, Freud justifica a necessidade do uso de imagens perceptivas pelo trabalho dos sonhos para que essas relaes lgicas perdidas encontrem um meio de ser representadas. H nessa parte a demonstrao de que Freud, apesar de mencionar outros sentidos perceptivos, trata o sonho como uma formao psquica visual. Por um lado, Freud afirma que mesmo nas pessoas cuja memria no normalmente do tipo visual,
1 2
FREUD, 1900, p. 572. FREUD, 1900, p. 602-603. 3 FREUD, 1900, p. 573. 4 FREUD, 1900, p. 573.
32
as recordaes mais primitivas da infncia conservam at idade avanada o carter de vividez sensorial.1 Por outro lado, ele diz como a cena infantil retorna em imagens visuais nos sonhos:
Se agora tivermos presente o enorme papel desempenhado nos pensamentos onricos pelas experincias infantis ou pelas fantasias nelas baseadas, a freqncia com que os fragmentos delas ressurgem no contedo do sonho, e quo amide os prprios desejos onricos derivam delas, no poderemos descartar a probabilidade de que, tambm nos sonhos, a transformao dos pensamentos em imagens visuais seja, em parte, resultante da atrao que as lembranas expressas sob forma visual e vidas de uma revivescncia exercem sobre os pensamentos desligados da conscincia e que lutam por encontrar expresso. Desse ponto de vista, o sonho poderia ser descrito como substituto de uma cena infantil, modificada por transferir-se para uma experincia recente. A cena infantil incapaz de promover sua prpria revivescncia e tem de se contentar em retornar como sonho.2, 3
Com essa explicao Freud atribui a fora das lembranas infantis tambm ao carter sensorial visual delas.4 Resumindo, podemos dizer que o sonho uma estrutura psquica resultante de foras provenientes do Ics., que seguem em direo conscincia e extremidade motora do aparelho psquico. Encontrando uma barreira em sua apresentao, barreira
FREUD, 1900, p. 576. FREUD, 1900, p. 576. 3 Nesse trecho Freud conta como no costuma ter sonhos alucinatrios, o que nos faz pensar que costuma ter sonhos com idias e pensamentos puros, mas descreve um sonho e sua riqueza sensorial, visualmente: Meus sonhos, em geral, so menos ricos de elementos sensoriais do que sou levado a supor que ocorra com outras pessoas. Todavia, no caso do mais vvido e belo sonho que tive nos ltimos anos, pude facilmente rastrear a clareza alucinatria do contedo do sonho at as qualidades sensoriais de impresses recentes ou bastante recentes. Em [1], registrei um sonho em que o azul escuro da gua, o castanho da fumaa que saa das chamins do navio e o marrom e vermelho escuros dos prdios deixaram em mim profunda impresso. Esse sonho, pelo menos, deveria ter sua origem atribuda a algum estmulo visual. O que teria levado meu rgo visual a esse estado de estimulao? Uma impresso recente, que estava ligada a diversas outras mais antigas. As cores que vi eram, em primeiro lugar, as de um jogo de tijolos de armar com que, no dia anterior ao sonho, meus filhos haviam erguido um lindo prdio e o tinham exibido para minha admirao. Os tijolos grandes eram do mesmo vermelho escuro e os pequenos, dos mesmos tons azul e castanho. Isso estava associado com impresses cromticas de minhas ltimas viagens pela Itlia: o belo azul do Isonzo e das lagoas e o castanho do Carso. A beleza das cores do sonho era apenas uma repetio de algo visto em minha lembrana. 4 Nesse momento, Freud dispensa a explicao de um dos autores por ele analisado que supe que, quando os sonhos exibem elementos visuais particularmente vvidos ou particularmente abundantes, acha-se presente um estado de estmulo visual, isto , de excitao interna do rgo da viso4 Diramos que a explicao que Freud deu acima sobre a atrao exercida pelas imagens visuais que compem a cena infantil realmente torna desnecessria essa suposio de que o olho tenha que ser estimulado durante o sono para que surjam imagens visuais nos sonhos. Freud localiza essa excitao visual no momento em que a situao infantil foi vivida, no momento em que a lembrana ocorreu e no no momento do sonho, afirmando o seguinte: ...podemos contentar-nos em presumir que esse estado de excitao se aplique simplesmente ao sistema perceptivo psquico do rgo visual: entretanto, podemos ainda assinalar que o estado de excitao visual que foi criado por uma lembrana, que ele uma revivescncia de uma excitao visual que foi originalmente imediata.
2 1
33
erguida pela censura no pr-consciente, essa excitao obrigada a regredir para a outra extremidade do aparelho psquico, que se trata de uma extremidade sensorial. Ao se tornarem perceptivos os pensamentos onricos encontram um jeito de burlar essa barreira. Somada a esse desvio necessrio, a extremidade sensorial tambm exerce sobre esses pensamentos uma fora, que consiste na atrao promovida por lembranas infantis visuais que querem reviver. A observao que faramos aqui que lembranas infantis so consideradas fortes tambm porque so visuais. Se mantivssemos essa idia, os sonhos dos cegos deveriam ser desprovidos desse movimento regressivo. Mas observamos que no isso que ocorre. Assim sendo, as lembranas infantis devem ser detentoras dessa fora atrativa, principalmente por seu sentido, e no por seu carter sensorial. Caso Freud no tivesse considerado o aparelho psquico e os sonhos visualmente, no precisaramos tecer tantas elaboraes. Parece-nos que essa considerao dos sonhos apenas visualmente um reflexo da falta de coordenao que vimos mencionando desde o incio deste tpico. Ao relacionar o aparelho psquico com um corpo anatmico e ao vincular os sonhos com suas caractersticas perceptivas, ele acabar fazendo suas descries com base em um corpo visual. A prpria descrio do aparelho psquico como um sistema ptico denuncia isso que acabamos de dizer. Na seo (B) Regresso do captulo VII, Freud tenta, por um lado, fugir da tentao de buscar uma localizao anatmica para o psiquismo, mas, por outro, se apia em uma metfora concreta, convidando o leitor a visualizar seu modelo:
...evitarei cuidadosamente a tentao de determinar essa localizao psquica como se fosse anatmica. Permanecerei no campo psicolgico, e proponho simplesmente seguir a sugesto de visualizarmos o instrumento que executa nossas funes anmicas como semelhante a um microscpio composto, um aparelho fotogrfico ou algo desse tipo. Com base nisso, a localizao psquica corresponder a um ponto no interior do aparelho em que se produz um dos estgios preliminares da imagem. No microscpio e no telescpio, como sabemos, estes ocorrem, em parte, em pontos ideais, em regies em que no se situa nenhum componente tangvel do aparelho.1
E, ao falar sobre as instncias ou sistemas psquicos, ele demonstra novamente a concretude de sua metfora afirmando que eles talvez mantenham entre si uma relao espacial constante, do mesmo modo que os vrios sistemas de lentes de um telescpio
FREUD, 1900, p. 566-567.
34
se dispem uns atrs dos outros.1 Temos aparelhos pticos que fornecem imagens do psquico aos olhos do investigador. Na seo (F) O inconsciente e a conscincia - realidade do captulo VII, encontramos o seguinte trecho:
...os pensamentos e as estruturas psquicas em geral nunca devem ser encarados como localizados em elementos orgnicos do sistema nervoso, mas antes, por assim dizer, entre eles, onde as resistncias e facilitaes [Bahnungen] fornecem os correlatos correspondentes. Tudo o que pode ser objeto de nossa percepo interna virtual, tal como a imagem produzida num telescpio pela passagem dos raios luminosos. Mas temos justificativas para presumir a existncia dos sistemas (que de modo algum so entidades psquicas e nunca podem ser acessveis a nossa percepo psquica), semelhante das lentes do telescpio, que projetam a imagem. E, a continuarmos com esta analogia, podemos comparar a censura entre dois sistemas com a refrao que ocorre quando o raio de luz passa para um novo meio.2
Embora no veja necessidade de ter que se desculpar pela escolha de seu modelo para representar o aparelho psquico e esclarecer que sua analogia tem a inteno de auxiliar no entendimento da complexidade do funcionamento mental, Freud escolhe metforas baseadas em instrumentos pticos. Ele fala de aparelhos que captam raios luminosos e os modificam em seu interior, projetando as imagens visuais resultantes em algum lugar que ficaria entre suas lentes. Em outras palavras, fala de imagens visuais como o resultado da produo desse aparelho, passveis de ser vistas por ele e como se fossem os maiores representantes da extremidade perceptiva. No estaria Freud, dessa forma, considerando o corpo e sua anatomia em suas descries psquicas? At que ponto as analogias denunciam esse modo de raciocnio? Diramos que elas se encaixam perfeitamente em A interpretao dos sonhos, se pensarmos nos sonhos visuais e no excesso de imagens projetadas que se do a ver do incio ao fim do livro. Encontramos uma explicao dessas constataes trazida por Eliana Borges Leite (2001), que nos diz, com a ajuda de Conrad Stein, que a confeco desse aparelho psquico teria como matria-prima a prpria visualidade de Freud e seu prazer em ver:
A realidade psquica produzida no interior do aparelho que o nico instrumento potente para sua investigao. No lugar de um jogo de reflexos entre espelhos que produz do lado de dentro a imagem do que est do lado de fora, como qualquer instrumento ptico, o aparelho imaginado por Freud produz figuraes e se constitui tambm como produto de sua prpria
1 2
FREUD, 1900, p. 567. FREUD, 1900, p. 636.
35
visualidade, surpreendendo seu inventor com vises de sonho e deslocando-o afinal de sua fascinao de ver.1
Diante disso, como explicar e localizar a formao dos sonhos dos cegos nesse contexto do aparelho psquico? Buscando essa resposta em Freud, encontramos o seguinte: se o que permite o acesso dos pensamentos onricos conscincia fosse uma diminuio da resistncia que guarda a fronteira entre o inconsciente e o pr-consciente, teramos sonhos que seriam da ordem das idias e no possuiriam o carter alucinatrio em que ora estamos interessados.2 Freud afirma ainda que a diminuio da censura entre os sistemas Ics. e Pcs. s pode explicar sonhos formados como o do Autodidasker, e no sonhos como o do menino que estava queimando, que tomamos como ponto de partida de nossas investigaes.3 Considerando essas afirmaes, nos questionamos, a princpio, se seria esse o tipo de sonho de uma pessoa cega, ou seja, um sonho feito de idias, sem ser alucinado por meio de imagens visuais. Levantamos essa hiptese, aqui, porque alguns poucos relatos de sonhos da ordem das idias so os nicos exemplos de sonhos sem imagens visuais que encontramos ao longo de toda a sua obra de 1900. Os sonhos dos cegos realmente pareceriam se aproximar mais dos sonhos formados por idias, por pensamentos puros. No entanto, um sonho formado por pensamentos no seria, em si mesmo, a descrio que procuramos. Para que continue sendo um sonho do modo como Freud teoriza, o sonho sem elementos visuais, decorrente do processo regressivo, tambm deve ser alucinatrio4. O que fazer, ento, para descrever a formao dos sonhos dos cegos?
1.4 Fabricando sonhos com e sem as imagens visuais
Para responder questo que acabamos de formular e descrever a relao do olhar com a formao dos sonhos, fizemos uma anlise de cada aspecto do trabalho dos sonhos, buscando o paralelo no-visual para eles. Freud mostra que h uma diferena entre o contedo que motiva os sonhos e o material que encontra manifestao na
1 2
LEITE, 2001, p. 172. FREUD, 1900, p. 572. 3 FREUD, 1900, p. 572. 4 No estamos, com isso, empreendendo um juzo de valor com relao ao modelo trazido por Freud, considerando-o inadequado, nem temos a inteno de elaborar um outro modelo, apenas estamos ressaltando que esse modelo tem seu entendimento comprometido se pensarmos na estruturao do psiquismo de uma pessoa cega.
36
conscincia. Chega a hora de definirmos, ento, como se d essa passagem nos sonhos de A interpretao dos sonhos em contraposio com os sonhos dos cegos. Questionaremos se, com relao s caractersticas do contedo latente e do manifesto, haveria uma natureza perceptiva prpria a cada um deles. Pensamos sobre o trabalho dos sonhos e nos perguntamos como ele deve se dar para fabricar um sonho de um cego. Como ocorrem o deslocamento e a condensao nesse tipo de sonho? Tentamos estabelecer alguma relao entre a censura e a visualidade dos sonhos. Qual a funo da censura? E mais: o que dizer sobre a representabilidade? Freud destaca como a escrita de um sonho ocuparia um espao bem inferior em relao escrita da anlise dos pensamentos onricos subjacentes, que seria seis, oito ou doze vezes maior. Com esse descompasso entre o contedo dos sonhos e seus pensamentos latentes, fica claro que o material psquico passou por um processo de condensao decorrente do trabalho dos sonhos. Assim, acrescentamos que a vivncia do sonho ocupa ainda menos tempo se comparada com o tempo de sua descrio ou de sua anlise. Os sonhos so curtos, insuficientes e lacnicos em comparao com a gama e riqueza dos pensamentos onricos.1 O que determina a apresentao do contedo latente em manifesto? Freud sublinha como cada elemento individual do contedo de um sonho gera inmeras associaes. Apesar de algumas cadeias de idias surgirem pela primeira vez durante a anlise, essas novas ligaes s se estabelecem entre idias que j estavam ligadas de alguma forma nos pensamentos do sonho, sem que essas associaes fizessem parte de tais pensamentos.2 Quais as condies que determinam a seleo dos elementos do pensamento dos sonhos para que eles se tornem contedo manifesto? Como eles so representados? Freud responde a essas perguntas mostrando como essa relao pode ser vista:
No s os elementos de um sonho so repetidamente determinados pelos pensamentos do sonho como tambm cada pensamento do sonho representado neste ltimo por vrios elementos. As vias associativas levam de um elemento do sonho para vrios pensamentos do sonho e de um pensamento do sonho para vrios elementos do sonho. Assim, o sonho no estruturado por cada pensamento ou grupo de pensamentos do sonho isoladamente, encontrando (de forma abreviada) representao separada no contedo do sonho do modo como um eleitorado escolhe seus representantes parlamentares; o sonho , antes, construdo por toda a massa
1 2
FREUD, 1900, p. 305. Cf. FREUD, 1900, p. 306-307.
37
de pensamentos do sonho, submetida a uma espcie de processo manipulativo em que os elementos que tm suportes mais numerosos e mais fortes adquirem o direito de acesso ao contedo do sonho.1
Em todos os sonhos que submeteu a uma anlise dessa natureza, Freud encontrou invariavelmente confirmados o que ele chama de princpios fundamentais: os elementos do sonho so construdos a partir de toda a massa de pensamentos do sonho e cada um desses elementos mostra ter sido multiplamente determinado em relao aos pensamentos do sonho.2 Nos sonhos visuais temos a exemplificao da condensao da seguinte forma: uma pessoa, por seu significado, pode representar vrias pessoas, ou seja, a imagem de uma pessoa, tem a postura de outra, a aparncia fsica de uma terceira (barba, por exemplo) e estar vestida com a roupa de uma quarta, ou seja, pode representar vrias pessoas alm de si mesma.3 Para mostrar a sobredeterminao do contedo dos sonhos e os diversos mtodos usados pelo trabalho de condensao, Freud toma o sonho da injeo de Irma, e citaremos agora alguns exemplos dessas condensaes presentes nesse sonho porque se trata de um sonho paradigmtico. A principal figura do contedo do sonho era a paciente Irma. Possuir as feies da vida real fazia com que ela, sua imagem, representasse ela mesma. A viso da posio em que Freud a examinou junto janela derivava da dama que Freud desejava que ocupasse seu lugar de paciente. A aparncia de uma membrana diftrica em Irma remetia recordao da angstia com relao sua filha mais velha. Ela representava essa criana e, como sua filha tinha o mesmo nome de outra paciente, ela a representava tambm. A figura visual de Irma e seus sentidos se associavam, ainda, a outros significados que possuam, ou no, representaes visuais.4 Freud introduz, ento, o que ele chama de imagem coletiva, um efeito da condensao. Em todos os seus exemplos essas so imagens onricas visuais. No caso, a figura onrica visual de Irma ocultava as demais figuras que no precisaram aparecer diretamente em sua forma corporal. A figura de Irma transformou-se numa imagem coletiva dotada de diversas caractersticas contraditrias. Irma tornou-se a representante de todas essas outras figuras que tinham sido sacrificadas ao trabalho de
1 2
FREUD, 1900, p. 310. FREUD, 1900, p. 310. 3 Em um sonho mencionado por Freud, uma situao vista remete a uma srie de outras ocorridas desde a mais tenra infncia do sonhador. Noutro, uma viso de uma ao remete a trechos literrios lidos ou ouvidos. A presena de besouros remete a lembranas com insetos e a desejos de uma ereo. Aes vistas remetem a temas de discusses recorrentes e a sintomas manifestados. 4 Cf. FREUD, 1900, p. 318.
38
condensao, j que transferi para ela, ponto por ponto, tudo o que me fazia lembrar-me delas.1 Freud continua descrevendo essa imagem coletiva de forma praticamente visual em outros sonhos.
Existe outro meio pelo qual se pode produzir uma figura coletiva para fins de condensao onrica, ou seja, reunindo-se as feies reais de duas ou mais pessoas numa nica imagem onrica. Foi assim que se construiu o Dr. M. de meu sonho. Ele trazia o nome do Dr. M., falava e agia como ele; mas suas caractersticas fsicas e suas doenas pertenciam a outra pessoa, ou melhor, a meu irmo mais velho. Uma caracterstica nica, seu aspecto plido, fora duplamente determinada, uma vez que era comum a ambos na vida real.2
E continua com mais exemplos, agora aproximando o processo de condensao a uma tcnica de produo de fotografias:
O Dr. R. de meu sonho com meu tio de barba amarela era uma figura composta semelhante. Em seu caso, porm, a imagem onrica fora ainda construda de outra forma. No combinei as feies de uma pessoa com as de outra, omitindo da imagem mnmica, nesse processo, certos traos de cada uma delas. O que fiz foi adotar o procedimento por que Galton produzia retratos de famlia: a saber, projetando duas imagens sobre uma chapa nica, de modo que certas feies comuns a ambas eram realadas, enquanto as que no se ajustavam uma outra se anulavam mutuamente e ficavam indistintas na fotografia. No sonho com meu tio, a barba loura emergia de forma proeminente de um rosto que pertencia a duas pessoas e que estava conseqentemente indistinto; alis, a barba envolvia ainda uma aluso a meu pai e a mim mesmo por meio da idia intermediria de ficar grisalho.3
Freud afirma que a construo de figuras coletivas e compostas um dos principais mtodos por que a condensao atua nos sonhos. Em outras palavras, os elementos do contedo dos sonhos estabelecem mltiplas ligaes com diversos pensamentos dos sonhos, ou o trabalho do sonho seleciona elementos que possibilitam associaes com diversos pensamentos, simultaneamente. Na maioria dos casos citados por Freud os elementos so visuais, so figuras coletivas e elementos compostos, como fisionomias, nomes escritos, objetos, situaes vistas; porm, os pensamentos latentes so de diversos tipos: idias, sentimentos, lembranas visuais, desejos e fantasias. Freud no formaliza o fato de que mais fcil estabelecer a condensao tendo como base uma figura visual, obviamente considerando seu sentido, apesar de citar, quase em sua totalidade, exemplos desse tipo. Ser que a condensao ocorreria sem estmulos visuais? O que seria correspondente no caso dos cegos? Freud nos ajuda a
1 2
FREUD, 1900, p. 318-319. FREUD, 1900, p. 319. 3 FREUD, 1900, p. 319.
39
entender essa diferena, apenas indiretamente, ao falar sobre processos de condensao verbal.
O trabalho de condensao nos sonhos visto com mxima clareza ao lidar com palavras e nomes. verdade, em geral, que as palavras so freqentemente tratadas, nos sonhos, como se fossem coisas, e por essa razo tendem a se combinar exatamente do mesmo modo que as representaes de coisas. Os sonhos desse tipo oferecem os mais divertidos e curiosos neologismos.1
Perguntamo-nos, ento, se a condensao verbal, no que diz respeito ao sentido das palavras, no seria sempre precedente visual. Ou seja, antes de se escolher uma imagem para representar uma idia, no seria escolhido o sentido dessa imagem? O sonho no seria tratado como um texto? Isso s no ocorreria quando o sentido escolhido fosse relacionado imagem visual da palavra ou de uma coisa? Freud apresenta neologismos que classifica como condensaes verbais. uma srie de exemplos bem-entendidos pelos falantes da lngua alem, mas perfeitamente cabveis em outras lnguas.2 E acrescenta que a anlise das formas verbais absurdas presentes nos sonhos ajuda exibir as realizaes do trabalho do sonho em termos de condensao.3, 4 Segundo Freud, as palavras pronunciadas, e no apenas pensadas nos sonhos, derivam de palavras faladas lembradas no material onrico, que podem sofrer alguma alterao.5 Diramos que a condensao verbal ocorre sem maiores problemas num sonho de um cego, a no ser quando envolve a palavra em sua vertente visual, ou seja, quando ela deva ser vista no sonho e sua imagem faa parte desse processo de condensao. Por que, afinal, as imagens visuais so to utilizadas pelo trabalho dos sonhos, por meio do mecanismo da condensao? As imagens visuais, em si mesmas, possuem uma propriedade condensante. No por acaso que, para uma pessoa vidente, trata-se do sentido que fornece cerca de oitenta por cento das informaes sensoriais captadas por ela, e isso ainda de forma instantnea. Como a condensao constitui uma das caractersticas essenciais que marcam a formao dos sonhos, natural que ela faa uso de representaes sensoriais tipicamente condensantes.
1 2
FREUD, 1900, p. 321. Cf. FREUD, 1900, p. 328-329. 3 FREUD, 1900, p. 329. 4 Freud traz tambm os casos em que aparece num sonho uma palavra que no , em si mesma, sem sentido, mas que perdeu seu significado prprio e combina diversos outros significados com os quais est relacionada da mesmssima forma que estaria uma palavra sem sentido. 5 Cf. FREUD, 1900, p. 330.
40
Criamos, mais uma vez, o mesmo n que devemos desfazer. Nos sonhos dos cegos, vemos em funcionamento os mesmos princpios associativos. A condensao verbal ocorrer, com a peculiaridade de no envolver a imagem visual das palavras, e a condensao, em suas demais formas, utilizar os recursos perceptivos que possuir. Ressaltamos, porm, que h um processo associativo que precede a condensao e baseado no significado que qualquer percepo venha a possuir, sentido que anterior a ela e recobrir sua sensorialidade. Citaremos, agora, alguns exemplos de condensao em sonhos dos cegos. Em vrios relatos tivemos a descrio de situaes semelhantes que poderamos aproximar com o que Freud chamou da formao de figuras compostas. Destacamos, assim, alguns modos como em um sonho uma nica pessoa pode representar vrias. So sonhos que comeam com o sonhador estar conversando com algum que, num momento seguinte, representar outras pessoas. De acordo com nossos exemplos, percebemos que podem ocorrer cinco situaes: (a) o interlocutor muda de voz, repentina ou lentamente, assume a voz de outra pessoa e passa a ser essa outra pessoa, podendo, inclusive, voltar a ser o interlocutor originrio; (b) o interlocutor diz alguma frase que foi proferida ou caracterstica da fala de outra; (c) o sonhador percebe que o interlocutor possui o nome, est usando o perfume ou as roupas de outra; (d) o interlocutor simplesmente passa a ser outra pessoa; (e) de repente, chega um terceiro na conversa e chama esse interlocutor pelo nome de uma quarta pessoa. Ento, esse interlocutor passa a ser essa quarta pessoa. Encontramos exemplos de condensao tambm na representao de localidades. Para um sonhador, lugares diversos se misturam com a casa de sua famlia. Ele sonhou, certa vez, por exemplo, com sua antiga escola que possua um murinho onde os alunos se sentavam e que se tratava de um murinho presente originariamente na varanda da casa dos pais desse sonhador. Ele sabe disso porque reconhecia o murinho por sua altura, sentava-se nele, tocava-o, percebia sua textura e a distncia que seus ps ficavam do cho, que era irregular e feito de terra batida assim como na casa de seus pais. Outro sonhador costuma reconhecer bem os lugares que freqenta, inclusive a disposio dos mveis. Ento, j sonhou com um lugar em que faltava uma cadeira que, na vida de viglia, ficava posicionada sempre do mesmo jeito. Percebe ainda que os lugares se misturam quando, em alguns sonhos de angstia, precisa fugir de uma
41
localidade e no sabe para onde ir porque h cmodos e mveis de vrios lugares distintos e desconhecidos. A ttulo de ilustrao, buscando em Freud algum exemplo para a condensao desse tipo nos sonhos, percebemos que, ao falar sobre processos de identificao e composio, ele demonstra considerar outras formas de representao nos sonhos, alm das visuais. Encontramos o que se segue:
O processo efetivo de composio pode ser realizado de vrias maneiras. Por um lado, a figura onrica pode ter o nome de uma das pessoas que com ela se relacionam em cujo caso simplesmente sabemos diretamente, de maneira anloga a nosso conhecimento de viglia, que esta ou aquela pessoa visada , enquanto seus traos visuais podem pertencer outra pessoa. Ou, por outro lado, a prpria imagem onrica pode ser composta de traos visuais pertencentes, na realidade, em parte a uma pessoa e em parte outra. Ou, ainda, a participao da segunda pessoa na imagem onrica pode estar no em seus traos visuais, mas nos gestos que atribumos a ela, nas palavras que a fazemos pronunciar, ou na situao em que a colocamos.1
*** J falamos como a representao em imagens visuais colabora para a condensao. E o deslocamento, haveria alguma relao dele com as imagens visuais? O deslocamento outro fator de extrema importncia na formao dos sonhos. Freud afirma que o que h de essencial no sonho, seus pensamentos onricos latentes, no precisa ser diretamente representado. Esse o resultado do processo de deslocamento. O sonho tem, por assim dizer, uma centrao diferente dos pensamentos onricos seu contedo tem elementos diferentes como ponto central.2 Em resumo, Freud define o deslocamento como um fator essencial do trabalho dos sonhos:
...no trabalho do sonho, est em ao uma fora psquica que, por um lado, despoja os elementos com alto valor psquico de sua intensidade, e, por outro, por meio da sobredeterminao, cria, a partir de elementos de baixo valor psquico, novos valores, que depois penetram no contedo do sonho. Assim sendo, ocorrem uma transferncia e deslocamento de intensidade psquicas no processo de formao do sonho, e como resultado destes que se verifica a diferena entre o texto do contedo do sono e o dos pensamentos do sonho. O processo que estamos aqui presumindo nada menos do que a parcela essencial do trabalho do sonho, merecendo ser descrito como o deslocamento do sonho. O deslocamento do sonho e a condensao do sonho so os dois fatores dominantes a cuja atividade podemos, em essncia, atribuir a forma assumida pelos sonhos.3
1 2
FREUD, 1900, p. 246. FREUD, 1900, p. 331. 3 FREUD, 1900, p. 333.
42
Nesse aspecto Freud traz exemplos tambm visuais, que no so predominantes, no entanto. Por exemplo, no sonho da monografia de botnica, Freud demonstra como o ponto central do contedo do sonho era, evidentemente, o elemento botnica, que inclua a viso de uma monografia, mas todos os sentidos a ela agregados, que remetiam a vrios pensamentos do sonho, concerniam s complicaes e aos conflitos que surgem entre colegas por suas obrigaes profissionais, alm da acusao a Freud de que ele tinha o hbito de fazer sacrifcios demais em prol de seus passatempos. O elemento botnica, como afirma Freud, no ocupava absolutamente nenhum lugar nesse ncleo dos pensamentos do sonho, a menos que a eles se ligasse vagamente por uma anttese pelo fato de que a botnica nunca figurara entre seus estudos favoritos. Mas o deslocamento poderia ocorrer de uma idia, pensamento para uma imagem visual? Deduzimos que sim. E Freud nos fornece um exemplo que demonstra como desejos ambiciosos se transformaram, pelo processo de deslocamento, numa imagem de seu tio com uma barba loura. Em meu sonho sobre meu tio a barba loura que formava seu ponto central no parece ter tido qualquer ligao em seu significado com meus desejos ambiciosos, que, como vimos, constituram o ncleo dos pensamentos do sonho.1 Freud demonstra como a relao entre os pensamentos do sonho e o contedo do sonho, inteiramente varivel em seu sentido ou direo e os dois fatores da determinao mltipla e do valor psquico intrnseco devem necessariamente atuar no mesmo sentido. Ele afirma que o sonho pode rejeitar os elementos assim altamente enfatizados em si prprios e reforados a partir de muitas direes, e selecionar para seu contedo outros elementos que possuam apenas o segundo desses atributos.2 Mas qual seria, ento, a relao do deslocamento com as imagens visuais? Qual o uso que poderia ser feito dessa categoria de imagens? Ora, o uso de imagens visuais permite que um dos elementos que compem o sonho seja desconsiderado em prol da ateno dispensada a outro por algum destaque visual dado a ele. Um elemento visual pode favorecer a censura, a condensao ou o deslocamento ao ser enfatizado com sua cor, nitidez, tamanho, etc. A formao dos sonhos em imagens visuais facilita tanto a condensao quanto o deslocamento feito pelo trabalho dos sonhos. A diferena que o deslocamento, pelo que constatamos mediante a anlise dos sonhos trazidos por Freud, utiliza mais outros recursos que no as imagens visuais, por se tratar de um
1 2
FREUD, 1900, p. 331. FREUD, 1900, p. 332.
43
deslocamento de energias psquicas que investem determinados pensamentos. Ao tentar subsidiar essa hiptese que acabamos de citar, para nossa surpresa, vimos que Freud fala sobre como a nitidez pode servir exatamente dessa forma que deduzimos, ou seja, ser o indcio de um deslocamento psquico:
As mais destacadas dentre essas caractersticas formais, que no podem deixar de nos impressionar nos sonhos, so as diferenas de intensidade sensorial entre imagens onricas especficas e as diferenas na nitidez de certas partes dos sonhos ou de sonhos inteiros quando comparados entre si. As diferenas de intensidade entre imagens onricas especficas abrangem toda a gama que se estende desde uma nitidez de definio visual que nos sentimos inclinados, sem dvida injustificadamente, a considerar como maior do que a da realidade, e um irritante carter vago que declaramos ser caracterstico dos sonhos, porque no inteiramente comparvel a nenhum grau de indistino que jamais percebemos nos objetos reais. Alm disso, em geral descrevemos uma impresso que tenhamos de um objeto indistinto num sonho como fugaz, enquanto sentimos que as imagens onricas que so mais ntidas foram percebidas por uma extenso considervel de tempo.1
Freud fala tambm nessa parte como os elementos dos sonhos que so derivados de elementos percebidos da realidade, e no provenientes de lembranas no possuem mais nitidez. O fator da realidade no tem importncia alguma na determinao da intensidade das imagens onricas.2 Por outro lado, no h nenhuma relao entre a intensidade sensorial (nitidez) das imagens onricas com a intensidade psquica dos elementos dos pensamentos onricos. Muitas vezes, um derivado direto daquilo que ocupa uma posio dominante nos pensamentos do sonho s pode ser descoberto, precisamente, em algum elemento transitrio do sonho, que muito ofuscado por imagens mais poderosas.3 Freud estabelece ainda uma relao entre a nitidez visual de uma imagem onrica e o volume de condensao que esta imagem denuncia.
A intensidade dos elementos de um sonho mostra ter uma outra determinao e por dois fatores independentes. Em primeiro lugar, fcil ver que os elementos pelos quais a realizao de desejo se expressa so representados com especial intensidade. E, em segundo, a anlise mostra que os elementos mais ntidos de um sonho constituem o ponto de partida das mais numerosas cadeias de idias que os elementos mais ntidos so tambm aqueles que possuem o maior nmero de determinantes. No estaremos alterando o sentido dessa assero de base emprica se a enunciarmos nestes termos: a intensidade mxima exibida pelos elementos de um sonho em cuja formao se despendeu o maior volume de condensao.4
1 2
FREUD, 1900, p. 354. FREUD, 1900, p. 354-355. 3 FREUD, 1900, p. 355. 4 FREUD, 1900, p. 355.
44
O deslocamento um dos principais fatores (mtodos) responsveis pela distoro nos sonhos; , de fato, um deslocamento de intensidades psquicas, que ocorre entre os elementos do sonho e se manifesta em intensidades sensoriais, por exemplo. O deslocamento faz com que o contedo do sonho se distancie do ncleo dos pensamentos do sonho; assim, apresenta uma distoro do desejo inconsciente, uma de suas manifestaes, e a principal trazida por Freud a percepo da diferena na nitidez sensorial visual das imagens onricas. E nessa constatao est mais uma das justificativas para que os sonhos de pessoas videntes sejam realmente visuais. O trabalho dos sonhos faz uso das representaes visuais tambm para executar seu deslocamento. E, como esperado pelo leitor, nos questionamos sobre quais seriam os efeitos desse deslocamento, ou seja, os passveis de ser fabricados e percebidos em um sonho de um cego. Os efeitos do deslocamento, da circulao das intensidades psquicas so encontrados nos sonhos dos cegos tambm em oscilaes nas intensidades sensoriais das representaes onricas, com exceo de todos os efeitos visuais. Assim, h sons de diversos tipos com diferenas de limpidez, volumes excessivamente altos ou inaudveis, cheiros fortes ou ausentes, lugares exageradamente frios ou quentes, grandes ou pequenos. Por outro lado, a banalizao ou a preocupao injustificada com determinada situao ou pensamento, que tambm so exemplos de deslocamentos trazidos por Freud, ocorrem normalmente; porm, no cabe aqui nenhum destaque nem ressalva com relao a esse tipo de manifestao. Devemos apenas destacar as diferenas vinculadas s representaes em imagens sensoriais. *** A origem do deslocamento est na censura exercida na mente por uma instncia psquica sobre outra. Localizamos essa censura na passagem dos pensamentos onricos do Ics. em direo ao Pcs. Chega, ento, o momento de analisarmos sob nosso ponto de vista qual o papel da censura, tentando estabelecer sua relao com os sonhos visuais. Freud anuncia sua importncia como uma das condies a que so submetidos os pensamentos latentes para penetrar no sonho: eles tm que escapar da censura imposta pela resistncia.1
FREUD, 1900, p. 335.
45
Qual a relao da censura com as imagens visuais? Talvez tenhamos a principal funo das imagens visuais para o trabalho dos sonhos: fazer com que os pensamentos do sonho possam aparecer numa dosagem suportvel. Podemos ver um desejo expresso pelo sonho, mas um desejo distorcido, e a formao dos sonhos em imagens visuais facilita essa distoro. A seduo da imagem pode fazer com que a ateno do sonhador seja facilmente dispersa para qualquer elemento de menor importncia e, ao mesmo tempo, pode denunciar a falta de importncia dada a outro de importncia maior. A caracterstica condensante das imagens visuais permite que muitos fatores sejam expostos e sobrepostos simultnea e rapidamente, o que impede que o sonhador os perceba. Por sua nitidez ressaltada, com o deslocamento, a menos que os analise minimamente, o sonhador ter sua ateno direcionada para elementos distorcidos. Trata-se de uma soluo de compromisso: os pensamentos so representados em imagens visuais modificadas que permitem, por sua vez, que um desejo seja simultaneamente visto e no visto. A imagem visual , a um s tempo, uma grande aliada da censura e uma forma de se escapar dela. *** Assim como havamos mencionado no incio deste captulo, devemos analisar mais um conceito vinculado formao dos sonhos. No final da seo (G) Sonhos absurdos - atividade intelectual nos sonhos do captulo VI, Freud (1900) define o que chama de elaborao secundria como o processo que faz surgir os pensamentos agregadores provenientes dos pensamentos latentes que conquistaram espao no contedo manifesto por ajudar a unir elementos dspares num todo que faa sentido, sem contradies.1 Ela colabora para que o sonho se aproxime de uma experincia coerente e no-absurda. Com ela, o sentido do sonho se afasta de sua verdadeira significao e, quanto mais lgico e coerente o sonho for, mais ela ter atuado. Por outro lado, pode haver sonhos em que a elaborao secundria aja parcialmente ou esteja completamente ausente. Esses so os sonhos em que a elaborao falha por completo; vemo-nos desamparados frente a um amontoado de material fragmentrio e sem nenhum sentido.2
1 2
Cf. FREUD, 1900, p. 492. FREUD, 1900, p. 523.
46
Tendo em vista as definies trazidas por Freud, pensamos inicialmente que essa seria a parte do trabalho dos sonhos mais completamente independente dos estmulos visuais. No teramos, portanto, muito trabalho na anlise desse tpico nem precisaramos de delongas. Por isso, pensamos que no haveria nenhuma correlao feita por Freud entre a elaborao secundria e o fato de os sonhos trazidos por ele serem visuais. Estvamos enganados. Apesar da nfase de Freud nos pensamentos agregadores como sinal de que a elaborao secundria atuou, encontramos uma meno sua que relaciona a vividez das imagens apresentadas nos sonhos com essa funo psquica:
As partes do sonho em que a elaborao secundria conseguiu surtir algum efeito so claras, ao passo que as outras em que seus esforos falharam so confusas. Visto que as partes confusas do sonho, ao mesmo tempo, so freqentemente menos vvidas, podemos concluir que o trabalho secundrio do sonho tambm deve ser responsabilizado por uma contribuio intensidade plstica dos diferentes elementos do sonho.1
Freud compara tambm o resultado final do trabalho dos sonhos com uma brincadeira de linguagem, que, embora inclua a viso das palavras, no se trata apenas de uma formao pictogrfica. O efeito da elaborao secundria faria com que imagens visuais fossem organizadas de modo coerente.2 Se fssemos estabelecer a relao existente entre a elaborao secundria e as imagens visuais, diramos que ela age em prol da censura e da resistncia, permitindo que algo seja visto, seja pensado pelo sonhador. A elaborao secundria faz uso da percepo visual para encadear imagens numa seqncia que faa sentido. A elaborao secundria colabora para que mantenhamos nossos olhos fechados. Nesse sentido, metaforicamente, ela est relacionada de forma intrnseca ao sentido, ao prazer de ver uma cena onrica e um desejo realizado. Falaremos mais sobre isso logo adiante. Devemos apenas sublinhar que, no caso dos sonhos dos cegos, no a viso de cenas em uma seqncia lgica que traz um sentido organizador ao sonho, mas a vivncia dessas cenas do modo como ele pode capt-las e a percepo de determinados pensamentos os responsveis por esse arranjo final promovido pela elaborao secundria. ***
1 2
FREUD, 1900, p. 532. Cf. FREUD, 1900, p. 532-533.
47
Depois de demonstrar, de diversos modos e passagens, na obra de Freud, as inmeras citaes dos sonhos com imagens visuais concretas, procuramos uma justificativa de Freud para a presena dessas imagens, alm das explicaes j dadas pelo movimento regressivo. Logo aps falar sobre os meios pelos quais os sonhos representam as relaes entre os pensamentos onricos, Freud comea a tratar especificamente da natureza geral das modificaes por que passa o material dos pensamentos do sonho para fins de formao de um sonho, fazendo suas consideraes sobre a representabilidade, na seo (D) Considerao representabilidade do captulo VI. Nesse momento encontramos essa justificativa que buscvamos. Para chegar representabilidade, devemos fornecer ainda alguns elementos trazidos por Freud sobre o deslocamento, a fim de acompanhar seu raciocnio. Em resumo, diramos, com a ajuda de Freud, que o primeiro tipo de deslocamento aquele de intensidade entre seus elementos. Esse promove necessariamente uma transposio psquica dos valores do material e consiste na substituio de alguma representao particular por outra estreitamente associada a ela em algum aspecto. Alm disso, facilita a condensao, na medida em que, por meio dele, em vez de dois elementos, um nico elemento intermedirio comum a ambos penetra no sonho. Freud fala tambm de outra espcie de deslocamento que se revela numa mudana da expresso verbal dos pensamentos em causa.1 Em ambos os casos h um deslocamento ao longo de uma cadeia de associaes; mas um processo de tal natureza pode ocorrer em vrias esferas psquicas, e o resultado do deslocamento pode ser, num caso, a substituio de um elemento por outro, enquanto o resultado em outro caso pode ser o de um elemento isolado ter sua forma verbal substituda por outra.2 Ao explicar essa nova forma de deslocamento, Freud traz o elemento pictrico como o utilizado pelo trabalho dos sonhos. Os exemplos desta parte so tipicamente visuais, assim como no restante do livro. Esse novo tipo de deslocamento adequado para explicar o aparecimento do fantstico absurdo em que os sonhos se disfaram. A direo tomada pelo deslocamento geralmente resulta no fato de uma expresso inspida e abstrata do pensamento onrico ser trocada por uma expresso pictrica e concreta.3 E como Freud descreve a importncia desse uso pictrico?
1 2
FREUD, 1900, p. 371. FREUD, 1900, p. 371. 3 FREUD, 1900, p. 371.
48
A vantagem e, conseqentemente, o objetivo dessa troca saltam aos olhos. Uma coisa pictrica , do ponto de vista do sonho, uma coisa passvel de ser representada: pode ser introduzida numa situao em que as expresses abstratas oferecem representao nos sonhos o mesmo tipo de dificuldades que um editorial poltico num jornal ofereceria a um ilustrador. Mas no somente a representabilidade, como tambm os interesses da condensao e da censura podem beneficiar-se dessa troca. Um pensamento onrico no utilizvel enquanto expresso em forma abstrata, mas, uma vez que tenha sido transformado em linguagem pictrica, os contrastes e identificaes do tipo que o trabalho do sonho requer, e que ele cria quando j no esto presentes, podem ser estabelecidos com mais facilidade do que antes entre a nova forma de expresso e o restante do material subjacente ao sonho.1
Vemos como Freud corrobora nossa assero anterior sobre a importncia do uso de imagens visuais a servio da condensao, do deslocamento e, conseqentemente, da censura. Mas por que motivo o uso de termos concretos se reflete nesse tipo de imagem e propicia essas vantagens? Freud responde tambm a essa pergunta e justifica nossa assero sobre o valor das figuras visuais concretas para a condensao. Ele diz que Isso se d porque, em todas as lnguas, os termos concretos, em decorrncia da histria de seu desenvolvimento, so mais ricos em associaes do que os conceituais.2 E qual a sada para essa caracterstica concreta das representaes sem a concretude visual? Devemos considerar o que antecede a essa concretude, aquilo que se aplica a qualquer aparelho psquico antes de responder a essa indagao. Assim que vimos essa anlise da transformao em imagens visuais e concretas, encontramos um trecho que aproxima o trabalho dos sonhos de um trabalho textual da linguagem. Por que um poema3 utilizado para a explicao dos sonhos e no mais a pintura de um quadro? Para responder a essa questo, e separar essas duas formas de descrio do trabalho dos sonhos, diramos que o sentido das palavras precede as imagens, sejam elas quais forem. Como trabalhamos anteriormente, em primeiro lugar h pensamentos, os pensamentos onricos latentes, o trabalho textual feito sobre eles, e, somente depois, ou simultaneamente, com o processo regressivo, escolhem-se as representaes perceptivas mais adequadas, que daro origem ao contedo manifesto e ao relato desse. Haver,
FREUD, 1900, p. 371-372. FREUD, 1900, p. 372. 3 Quando um poema tem de ser escrito em rimas, o segundo verso de um dstico limitado por duas condies: precisa expressar um significado apropriado, e a expresso desse significado deve rimar com o primeiro verso. Sem dvida, o melhor poema ser aquele em que deixarmos de notar a inteno de encontrar uma rima, em que os dois pensamentos, por influncia mtua, tiverem escolhido desde o incio uma expresso verbal que permita surgir uma rima com apenas um ligeiro ajustamento subseqente. (FREUD, 1900, p. 372).
2 1
49
ento, imagens com um aspecto plstico visual proveniente de um arcabouo mnmico, que tero sua forma narrativa ao ser relatadas. Podemos perceber isso quando Freud fala sobre a escolha de palavras com sentido ambguo pelo trabalho dos sonhos. Segundo ele, a mudana de expresso que considera as palavras ambguas ajuda a condensao onrica. Com ela, uma mesma palavra pode dar expresso a mais de um dos pensamentos do sonho. No h por que nos surpreendermos com o papel desempenhado pelas palavras na formao dos sonhos. As palavras, por serem o ponto nodal de numerosas representaes, podem ser consideradas como predestinadas ambigidade.1 As palavras so predestinadas ambigidade, e os sonhos se aproveitam disso para a condensao e para o disfarce. Porm, como as figuras fazem isso, tendo em vista seu carter concreto? Aqui temos que considerar que as palavras so escolhidas justamente pelas figuras concretas que se associam a elas e por seus sentidos figurados ou literais. Dessa forma, um pensamento onrico representado de modo distorcido.
fcil demonstrar que tambm a distoro do sonho se beneficia do deslocamento de expresso. Quando uma palavra ambgua empregada em lugar de duas inequvocas, o resultado desnorteador; e quando nosso sbrio mtodo cotidiano de expresso substitudo por um mtodo pictrico, nossa compreenso fica paralisada, particularmente visto que um sonho nunca nos diz se seus elementos devem ser interpretados literalmente ou num sentido figurado, ou se devem ser ligados ao material dos pensamentos onricos diretamente ou por intermdio de alguma locuo intercalada.2
Freud apresenta as dificuldades de interpretar os elementos onricos e as compara, no pela primeira vez, com as enfrentadas pelos leitores dos hierglifos. Percebemos como Freud incessantemente aproxima os sonhos de alguma representao visual, e o movimento da interpretao inclui uma leitura visual dos acontecimentos e imagens em geral. ... lcito dizer que as produes do trabalho do sonho, que, convm lembrar, no so feitas com a inteno de serem entendidas, no apresentam a seus tradutores maior dificuldade do que as antigas inscries hieroglficas queles que procuram l-las.3, 4
FREUD, 1900, p. 372. FREUD, 1900, p. 373. 3 FREUD, 1900, p. 373. 4 Quando Freud faz uma interpretao que se aproxima de uma leitura visual, como a leitura de hierglifos, deveramos concluir que seria impossvel uma pessoa cega ser capaz de analisar um sonho de uma vidente. Como ela entenderia os smbolos culturais trazidos?
2
50
Devemos mencionar que, ao falar sobre representabilidade, Freud traz um autor que demonstra concordncia com o que ele exps, fazendo citaes apenas de exemplos visuais.1 Alm disso, faz uma srie de observaes sobre smbolos sexuais j constitudos culturalmente e, por isso mesmo, comuns a muitas pessoas e utilizados pelos sonhos. Podemos listar, a ttulo de ilustrao, a repugnncia da criana diante da viso de sangue e carne crua e o natural horror humano s cobras.2 Ao tratar sobre as representaes, Freud faz uma distino entre a grafia de uma palavra e seu som. Temos, pela nica vez, um lugar em que o som colocado numa posio de maior importncia com relao a outros fatores: No ficaremos surpresos em constatar que, para fins de representao nos sonhos, a grafia das palavras muito menos importante do que seu som, especialmente, se tivermos em mente que a mesma regra vlida ao se rimarem versos.3 Com essa afirmao de Freud, devemos sublinhar novamente como determinadas construes psquicas no conseguem ficar isentas de sua anlise sensorial. Trata-se do nico momento em que percebemos essa oscilao pendendo para o sentido da audio. Percebemos a integrao de sua oscilao quando ele fala, em primeiro lugar da anlise dos pensamentos onricos como um texto, para depois tratar de sua representao. Freud estabelece a relao entre a linguagem e as representaes todo o tempo. Demonstra como a linguagem pode ajudar na transformao de pensamentos em imagens pictricas, quando determinadas palavras j tiveram sentidos concretos e pictricos e, com o passar do tempo, adquiriram conotao abstrata.
Por outro lado, em outros casos, o curso da evoluo lingstica facilitou muito as coisas para os sonhos, pois a linguagem tem sob seu comando toda uma gama de palavras que originalmente possuam um significado pictrico e concreto, mas so hoje empregadas num sentido descolorido e abstrato. Tudo o que o sonho precisa fazer imprimir a essas palavras seu significado Herbert Silberer 1909 [1] apontou uma boa maneira de observar diretamente a transformao de pensamentos em imagens no processo de formao dos sonhos e, assim, estudar isoladamente esse fator do trabalho do sonho. Quando em estado de fadiga e sonolncia, ele se impunha alguma tarefa intelectual, verificava que, muitas vezes, um pensamento lhe escapava e em seu lugar surgia uma imagem, que ele ento podia reconhecer como um substituto do pensamento. Silberer descreve esses substitutos com o termo no muito apropriado de auto-simblicos. Citaremos aqui alguns exemplos do artigo de Silberer ... Exemplo 1. Pensei em ter de revisar um trecho irregular num ensaio. Smbolo. Vi-me aplainando um pedao de madeira. 2 Ser que esses mesmos smbolos so os que aparecem para uma pessoa cega? Se entrssemos mais profundamente nessa questo, estaramos abrindo uma nova frente de estudos que analisariam quais so os sentidos dados a determinados smbolos que teriam outros significados, caso no fossem vistos. A questo aqui seria determinar quais simbolizaes poderiam ser consideradas tpicas ou at peculiares de uma pessoa cega. 3 FREUD, 1900, p. 439.
1
51
anterior e pleno, ou recuar um pouco at uma fase anterior de seu desenvolvimento.1
Freud mostra como os sonhos envolvem trocadilhos e jogos de linguagem, e algumas dessas representaes poderiam ser classificadas como chistes. Porm, nessa parte, Freud traz uma concluso que reafirma sua descrio visual dos sonhos, ao dizer que o trabalho dos sonhos tem como objetivo transformar pensamentos em imagens visuais. Essa transformao pode fazer com que o trabalho dos sonhos seja considerado ridculo e que quem desconhece a teoria freudiana levante dvidas sobre ele. Podemos chegar a afirmar que o trabalho do sonho se serve, com o propsito de dar uma representao visual dos pensamentos onricos, de quaisquer mtodos a seu alcance, quer a crtica de viglia os considere legtimos ou ilegtimos.2 Para falar um pouco sobre o elemento do absurdo, diramos que ele est presente nos sonhos de pessoas cegas, do mesmo modo como discorre Freud na seo (G) do captulo VI. Ele diz que, no caso dos sonhos absurdos, que se do como resultado da censura, pode ser que uma figura de retrica tenha sua representao literal, figuras que, em si mesmas, so desprovidas de qualquer absurdo. Os pensamentos onricos nunca so absurdos e o trabalho do sonho produz sonhos absurdos e sonhos que contm elementos absurdos isolados quando se depara com a necessidade de representar alguma crtica, ridicularizao ou escrnio que possa estar presente nos pensamentos onricos.3 Freud conclui sua explicao sobre os sonhos absurdos, dizendo:
Tudo o que aparece nos sonhos como atividade aparente da funo de julgamento deve ser encarado, no como uma realizao intelectual do trabalho do sonho, mas como pertencente ao material dos pensamentos onricos e deles tendo sido retirada para o contedo manifesto do sonho como uma estrutura acabada. Posso at levar mais longe esta assero. Mesmo os juzos formulados depois de acordar sobre um sonho que foi lembrado e os sentimentos em ns despertados pela reproduo de tal sonho fazem parte, em grande medida, do contedo latente do sonho e devem ser includos em sua interpretao.4
Pensando sobre o conceito de imagem na obra e, para encerrar essa discusso sobre a representabilidade e seus diversos aspectos, destacamos o que se segue. Quando Freud fala, por exemplo: registrarei agora um sonho em que um papel considervel foi
1 2
FREUD, 1900, p. 440. FREUD, 1900, p. 444. 3 FREUD, 1900, p. 477. 4 FREUD, 1900, p. 478.
52
desempenhado pela transformao de pensamentos abstratos em imagens1 e temos a anlise apenas das imagens visuais presentes nesse sonho, constatamos como Freud associa o conceito de imagem ao de imagem visual, sendo que um termo serve praticamente como sinnimo do outro. A nfase nessa parte de seu livro to flagrante e explcita com relao importncia e utilidade dadas s imagens visuais que nos perguntamos se seu ttulo no poderia ser considerao representabilidade visual. Ao iniciar essa parte, ele anuncia o que acabamos de dizer:
A discusso precedente levou-nos enfim descoberta de um terceiro fator cuja participao na transformao dos pensamentos do sonho em contedo onrico no deve ser subestimada: a saber, a considerao representabilidade no material psquico peculiar que os sonhos utilizam ou seja, na sua maior parte, a representabilidade em imagens visuais. Dentre os vrios pensamentos acessrios ligados aos pensamentos onricos essenciais, d-se preferncia queles que admitem representao visual; e o trabalho do sonho no se furta ao esforo de remodelar pensamentos inadaptveis numa nova forma verbal mesmo numa que seja menos usual , contanto que esse processo facilite a representao e, desse modo, alivie a presso psicolgica causada pela constrio da ao de pensar.2
Essa constatao de Freud no pode ser vista com um carter preconceituoso ou ingnuo. Pensamos que apenas denuncia algo que exige interpretao. Que caractersticas dessas imagens se ajustam tanto ao trabalho dos sonhos? Perceber tais caractersticas nos faz entender melhor todo o funcionamento do psiquismo e exatamente isso o que vimos tentando fazer com este trabalho. Acabamos de falar sobre a representabilidade nos sonhos, buscando as explicaes dadas pelo prprio Freud para a descrio de uma representabilidade visual. Ento, tratamos sobre o deslocamento, desenvolvendo nosso raciocnio na trilha de Freud. No primeiro tipo de deslocamento, temos a substituio de uma representao por outra devido ao deslocamento de intensidades. No segundo h um deslocamento, uma mudana da expresso verbal em imagens visuais. A vantagem dessa mudana que uma coisa pictrica passvel de ser representada, uso que feito tambm pela condensao e pela censura. Para justificar esse uso, Freud afirma que os termos concretos, diferentemente dos abstratos, so mais ricos em associaes. Vimos que Freud utiliza a aproximao dos sonhos a figuras de linguagem e supomos que, teoricamente, na formao dos sonhos, a ordem seguida seria esta: primeiro h os pensamentos puros; em seguida eles seriam tratados textualmente; a se buscariam as
1 2
FREUD, 1900, p. 373. FREUD, 1900, p. 375-376.
53
devidas representaes para um texto j trabalhado. Os sonhos aproveitam a ambigidade das palavras a favor da condensao e do disfarce. Freud demonstra como o uso de imagens pictricas pode ser desnorteador e prejudicar o entendimento do sonho. A imagem, ao lado da condensao e do deslocamento de expresso, como deduzimos anteriormente, presta servios distoro e censura, colaborando para a sensao de absurdo dos sonhos. Comeamos a ver concretizada nossa hiptese, com a ajuda do prprio Freud, que demonstra, em especial nessa parte em que fala da representabilidade, a importncia do uso das imagens visuais pelos sonhos.
1.5 Ver e no ver nos sonhos
Trabalhamos anteriormente a questo das fontes dos sonhos. Identificamos onde o trabalho dos sonhos busca seu material representativo que estaria, resumidamente, em elementos sensoriais vivenciados externa ou internamente durante o sono, em lembranas que podem datar de qualquer poca. No abordamos detalhadamente se o sonho, caso seja um desejo do sonhador, pode criar uma percepo nova, inexistente no arquivo mnmico de uma pessoa. Vimos como quem enxerga pode ter sonhos feitos apenas de pensamentos. Mas o contrrio possvel, ou seja, quem nunca enxergou pode ver nos sonhos? Reafirmaremos que no, e o prprio Freud nos d subsdios para dizermos isso. Chega, portanto, o momento de analisarmos com mais profundidade a teoria da realizao de desejos pelos sonhos. Freud apresenta uma opinio sobre o material experenciado nos sonhos, que deve ser mencionada pela pertinncia com essas questes e que aparece em seu captulo I, no final da seo (A) A relao dos sonhos com a vida de viglia. Ele menciona um autor que diz que o material dos sonhos sempre retirado da realidade e da vida intelectual referente a essa realidade. Assim, tanto as estruturas mais sublimes quanto as mais ridculas do sonho so provenientes do que se experimenta externa ou internamente, em suas palavras, resultam do que ocorreu perante os olhos no mundo dos sentidos, ou do que j teve lugar no curso dos pensamentos.1 Desconsiderando as discusses tanto sobre o que chamado aqui de realidade e real quanto sobre o que pode ser um pensamento consciente ou recalcado, esse autor traz uma idia da concordncia de Freud que evidenciada no incio da parte seguinte B
1
Cf. FREUD, p. 48.
54
de seu livro: Todo o material que compe o contedo de um sonho derivado, de algum modo, da experincia, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho ao menos isso podemos considerar como fato indiscutvel.1 Apesar de ser possvel surgir em um sonho algum material tido inicialmente como desconhecido ou no vivenciado na vida de viglia, Freud nos mostra como tal sensao se trata de um engano. Ele nos conta como nessa situao
...ficamos assim em dvida quanto fonte a que recorreu o sonho e sentimonos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produo independente. Ento, finalmente, muitas vezes aps um longo intervalo, alguma nova experincia relembra a recordao perdida do outro acontecimento e, ao mesmo tempo, revela a fonte de sonho. Somos assim levados a admitir que, no sonho, sabamos e nos recordvamos de algo que estava alm do alcance de nossa memria de viglia.2
Nesse contexto, a experimentao de determinado sentido necessria para que ele possa aparecer com suas configuraes especficas no sonho. Essa afirmao deve ser considerada no sentido de que o sonho no pode criar o registro de percepes novividas. Em outras palavras, quem nunca ouviu, jamais poderia escutar algum som, quem nunca enxergou, jamais poderia ver literalmente em seus sonhos, mesmo que fosse seu maior desejo consciente ou inconsciente. Se uma pessoa cega enxergou em alguma poca de sua vida, ela poder ter as reminiscncias e sonhar com alguma lembrana visual; caso contrrio, tal lembrana jamais ser criada. Bem, agora temos uma de nossas questes resolvidas. Porm, a soluo dela cria um outro problema no qual no havamos tocado at o momento. Como podemos manter a teoria de Freud de que os sonhos so realizaes de desejos levando em considerao nossa concluso? Sua teoria no contemplaria a realizao do desejo de enxergar de uma pessoa cega inata, sendo esse um desejo inconsciente ou no? Nossa questo basicamente direcionada a esse tema a seguinte: O que limita essa realizao, se que ela limitada? Em primeiro lugar, falemos um pouco sobre a teoria da realizao de desejos nos sonhos. Em seu captulo II O mtodo de interpretao dos sonhos: anlise de um sonho modelo Freud (1995) comea a trabalhar a origem da notvel e enigmtica forma como se expressa a realizao de um desejo no sonho. Freud nos informa que a relao entre o contedo de um sonho e a realidade no direta e no se explicita pela
1 2
FREUD, 1900, p. 49. FREUD, 1900, p. 49.
55
mera comparao. Essa ligao exige investigao e pode permanecer oculta por muito tempo. Isso se deve a peculiaridades da faculdade da memria nos sonhos. Freud enumera uma srie de exemplos em que demonstra sua teoria de que sonhos so realizaes de desejos. Ele traz exemplos cujas realizaes so explcitas, como o caso de grande parte dos sonhos infantis, e os de realizaes disfaradas, prevalentes para os adultos. O fato de que alguns sonhos so realizaes de desejos bem conhecido; porm, trata-se de algo que gera muitas indagaes. Freud se dedica a demonstrar que, mesmo os sonhos com os mais penosos temas e aparentemente sem nenhuma realizao de desejo, possuem essa motivao. H uma insistncia de que a dor e o desprazer sejam mais comuns nos sonhos do que o prazer. Ele demonstra como apenas aparentemente os sonhos de angstia fazem com que parea um absurdo sua proposio de que os sonhos so realizaes de desejo. Para isso, Freud diz que seria necessrio observarmos que, quando afirma isso, ele se refere aos pensamentos que o trabalho de interpretao mostra estarem por trs dos sonhos, e no em seu contedo manifesto. Em outras palavras, apesar de haver sonhos cujo contedo manifesto seja de natureza aflitiva, preciso que seja enfocado o contedo latente. Ele conta exemplos de estmulos internos orgnicos que provocam sonhos dessa natureza. Conta sonhos que ele costuma ter quando est com sede, por exemplo. Freud continua e completa suas idias sobre a realizao de desejo nos sonhos na seo (C) Realizao de desejos do captulo VII. Nesse momento, Freud discute sobre as possveis origens dos desejos que so realizados nos sonhos.
Posso distinguir trs origens possveis para tal desejo: (1) possvel que ele tenha sido despertado durante o dia e, por motivos externos, no tenha sido satisfeito; nesse caso, um desejo reconhecido do qual o sujeito no se ocupou fica pendente para a noite. (2) possvel que tenha surgido durante o dia, mas tenha sido repudiado; nesse caso, o que fica pendente um desejo de que a pessoa no se ocupou, mas que foi suprimido. (3) Ele pode no ter nenhuma ligao com a vida diurna e ser um daqueles desejos que s noite emergem da parte suprimida da psique e se tornam ativos em ns.1
Freud localiza esses trs tipos de desejo em seu esquema do aparelho psquico. Os do primeiro tipo estariam no sistema Pcs.; o do segundo tipo teriam sido forados a recuar do Pcs para o Ics.; e as do terceiro tipo seriam incapazes de transpor o sistema
FREUD, 1900, p. 581.
56
Ics..1 E acrescenta uma quarta fonte dos desejos onricos, que so as moes de desejo atuais que surgem durante a noite (por exemplo, as estimuladas pela sede ou pelas necessidades sexuais).2 Freud se pergunta se os desejos oriundos dessas diferentes fontes so de igual importncia para os sonhos e se possuem igual poder para instig-los3 e conclui que no. Para ele, as moes de desejo provenientes da vida de viglia possuem uma posio secundria na formao dos sonhos, ou seja, o mesmo papel desempenhado pelo material das sensaes atuais que se tornam ativas durante o sono.4 Dessa forma, um desejo no-realizado e pendente do dia anterior no suficiente para gerar um sonho em um adulto, a menos que encontre no inconsciente um reforo que lhe d a fora necessria. Uma representao inconsciente no capaz de penetrar na conscincia; ela precisa de uma representao pr-consciente, de preferncia indiferente e que tenha recebido pouca ateno, para a qual transferir sua intensidade, encobrindo-se nela. So escolhidos elementos recentes e banais, os que menos temem a censura imposta pela resistncia. No caso dos sonhos de punio, o desejo formador do sonho um desejo punitivo pr-consciente, do ego, em reao a um desejo inconsciente.5 H tambm sonhos desprazerosos, que so realizaes de um desejo inconsciente, cuja realizao aflitiva ao ego. Esse desejo aproveita a catexia persistente dos restos diurnos penosos para aparecer. Um desejo inconsciente pode ser estimulado pela atividade diurna e formar um sonho. Os restos diurnos podem ter a idia, a iniciativa de um sonho, porm, precisam da fora psquica de um desejo inconsciente. Os restos diurnos podem fornecer elementos para diversos desejos ou um desejo inconsciente pode utilizar diversos elementos dos restos diurnos. Por outro lado, um mesmo sonho pode ser sustentado por diversos desejos. Os desejos que brotam do inconsciente sempre sofrem distoro e so desejos no-percebidos durante o dia. Como podemos resolver, ento, o impasse que criamos ao perguntar sobre a realizao do desejo de um cego de ver em seus sonhos. A realizao de desejo sempre
1 2
Cf. FREUD, 1900, p. 581. FREUD, 1900, p. 581. 3 FREUD, 1900, p. 581. 4 FREUD, 1900, p. 583. 5 Cf. FREUD, 1900, p. 587.
57
ocorrer, e podemos manter esse pilar da interpretao dos sonhos, desde que consideremos alguns pontos. Em primeiro lugar, devemos sublinhar que a realizao de desejo por algum que gostaria de enxergar dever ocorrer, mas sem o estmulo visual como representao. Como isso possvel? Bem, essa pessoa passar a fazer uso dos demais elementos que possui, e seu aparelho psquico encontrar uma sada, uma vez que o que antecede o sentido sensorial da viso o significado atribudo e correlacionado ao ver para esse sonhador. Ela enxergar, mas a seu modo. Ser representado enxergar a partir do seu aparato simblico. Nesse sentido, um pensamento sobre o ver encontrar outros sentidos para represent-lo. Por exemplo, a pessoa cega poder saber em seus sonhos de coisas que as outras no sabem e enxergar dessa forma. Poder ter uma intuio aguada e fazer coisas que jamais faria na vida de viglia pela limitao proporcionada pela cegueira. Em resumo, ela agir e ter acesso a informaes que na vida de viglia seriam impossveis de ter por causa de sua falta de viso.1 No sugerimos a criao de uma chave interpretativa nem de um livro dos sonhos, ou seja, cada pessoa enxergar a seu modo, vendo e no vendo ao mesmo tempo. Uma pessoa cega nos relatou que algumas vezes sonhara que estava dirigindo um caminho ou algum outro veculo, ao impossvel de ocorrer na vida de viglia. Nesse caso, cabe ressaltar, sua maior queixa relacionada cegueira diz respeito ao fato de no poder dirigir, seu maior sonho. Em outras palavras, quando dirige em seus sonhos, ela est tambm enxergando em seus sonhos e realizando esse desejo. Semelhante a esse ltimo caso, temos o exemplo de outro cego que nos conta como habitualmente sonha que est se deslocando de um lugar para outro, numa espcie de nave, de veculo, em meio a outras pessoas, mas, para seu espanto e regozijo, ele quem pilota vrias vezes esse veculo e no faz idia de como isso seja possvel. Um outro sonhador que adora futebol relata que costuma dormir ouvindo partidas de seus times favoritos pelo rdio. Ento, sonha que est em campo, porm, num campo sem as adaptaes que permitem que um cego jogue futebol,2 e corre sempre em direo bola, algo impossvel para ele fazer na vida acordado. Temos, ainda, uma outra pessoa que tem o hbito de sonhar que est andando pelas ruas, sem sua bengala e sem dificuldade. Na vida de viglia no consegue fazer isso. No estaria
1
Com essa concluso aproximamos o prazer de ver do prazer de saber. Como poderamos relacionar a pulso escpica com a epistemoflica? 2 Para que um cego jogue bola so necessrias algumas adaptaes como a presena de um chocalho na bola ou uma sacola plstica a seu redor para que ela faa barulho, laterais do campo protegidas.
58
tendo um comportamento vidente ao poder se locomover como um? Logo, no estaria enxergando e realizando esse desejo a seu modo, vendo sem ver?
1.6 Sonhos tpicos, nem to tpicos assim
Freud apresenta os sonhos tpicos como os que quase todo mundo teria da mesma forma, com o mesmo sentido. Ser que a falta de viso dos indivduos cegos implica sonhos tpicos diferentes dos trazidos por Freud? Certamente e demonstraremos por que motivo dizemos isso. Apesar do consenso de que cada um tem liberdade para construir seu mundo onrico, ininteligvel para outras pessoas, h certos sonhos que todo mundo tem do mesmo modo e que possuem o mesmo sentido, afirma Freud. Alm disso, h um interesse especial ligado a esses sonhos tpicos porque, presumivelmente, eles decorrem das mesmas fontes em todos os casos e, assim, parecem particularmente aptos a esclarecer as fontes dos sonhos.1 Falando sobre os sonhos tpicos, Freud ressalta a importncia deles para a teoria dos sonhos em geral, porque oferecem as condies que propiciam um momento de lucidez. Nesses sonhos, encontramos realizada a situao extremamente incomum de um pensamento onrico formado por um desejo recalcado que foge inteiramente censura e passa para o sonho sem modificao.2 O primeiro dos sonhos descritos por Freud inclui uma cena tipicamente visual: os sonhos embaraosos de estar nu ou insuficientemente vestido. Freud traz algumas caractersticas desse sonho. Ele analisa os sonhos que envolvem embarao e vergonha, em que so inteis as tentativas de fugir dessa situao pela locomoo. Normalmente a natureza do desalinho indefinida. O sonhador pode dizer eu estava de camisola, mas essa raramente uma imagem ntida. O tipo de desalinho costuma ser to vago que a descrio se expressa como uma alternativa: Eu estava de camisola ou de angua. Em geral, a falha na toalete do sonhador no to grave que parea justificar a vergonha a que d origem.3
As pessoas em cuja presena o sonhador sente vergonha so quase sempre estranhos, com traos indeterminados. No sonho tpico, nunca se d o caso de a roupa que causa tanto embarao suscitar objees ou sequer ser percebida
1 2
FREUD, 1900, p. 269. FREUD, 1900, p. 293. 3 FREUD, 1900, p. 270.
59
pelos espectadores. Ao contrrio, elas adotam expresses faciais indiferentes ou (como observei num sonho particularmente claro) solenes e tensas.1
Esse um sonho marcado por uma contradio que diz respeito ao embarao do sonhador em contrapartida indiferena dos expectadores.2 Freud traz sua explicao para esses sonhos. Segundo ele, o propsito moralizador do sonho revela um conhecimento obscuro do fato de que o contedo onrico latente diz respeito a desejos proibidos que foram vtimas do recalcamento.3 Eles se baseiam em lembranas da mais tenra infncia, momento em que se visto nu e no se sente vergonha. Alm disso, para explicar essa categoria de sonhos, Freud diz que se pode
...observar como o despir-se tem um efeito quase excitante em muitas crianas, mesmo em seus anos posteriores, em vez de faz-las sentir-se envergonhadas. Elas riem, pulam e se do palmadas, enquanto a me ou quem quer que esteja presente as reprova e diz: Uh, que escndalo! Vocs nunca devem fazer isso! As crianas freqentemente manifestam um desejo de se exibirem. difcil passarmos por um vilarejo do interior em nossa parte do mundo sem encontrarmos uma criana de dois ou trs anos levantando a camisinha diante de ns em nossa homenagem, talvez. 4, 5
Para delinearmos a visualidade presente nesse tipo de sonho, devemos trazer nossas observaes e outras caractersticas exploradas por Freud, anlise que nos ser de grande valia. Direcionemos nossa ateno para o fato de que as pessoas no vem que o sonhador no se encontra adequadamente vestido; logo, deduzimos, quem no v em primeiro lugar o prprio sonhador, ou melhor, ele v e no v ao mesmo tempo. O sonho uma cena criada e feita para ser vista apenas pelo sonhador. Tudo que visto e sabido no sonho feito para que ele veja. Seriam tais sonhos tambm tpicos para uma pessoa cega? De acordo com nossa amostra, no; esse tipo de sonhos simplesmente no aparece. E por que supomos que isso acontea? Como est presente o olhar nesse tipo de sonho? Perceberemos que o olhar estar presente em suas vertentes exibicionista e voyerista, ou seja, pulsional. Freud relaciona esse sonho com o exibicionismo e fornece suas origens:
Na histria da mais tenra infncia dos neurticos, um importante papel desempenhado pela exposio a crianas do sexo oposto; na parania, os
1 2
FREUD, 1900, p. 270-271. Cf. FREUD, 1900, p. 271. 3 FREUD, 1900, p. 272. 4 FREUD, 1900, p. 272. 5 Entender como se d o desenvolvimento do exibicionismo em crianas cegas e se elas apresentam esse tipo de atitude mencionada por Freud so questes para estudos futuros.
60
delrios de estar sendo observado ao vestir-se e despir-se encontram sua origem nesse tipo de experincias, ao passo que, entre as pessoas que permanecerem no estgio da perverso, h uma categoria na qual esse impulso infantil alcana o nvel de um sintoma a categoria dos exibicionistas.1, 2
Em um outro momento, Freud classifica alguns sonhos como de exibio e diz as caractersticas desses sonhos, o que ele chama de marcas essenciais. Uma delas que ele tenha sua origem em experincias ocorridas durante a infncia. A repetio de impresses vividas na primeira infncia constitui a realizao de um desejo. Segundo ele, os sonhos de estar despido so sonhos de exibio. E Freud define um sonho de exibio:
O ncleo de um sonho de exibio situa-se na figura do prprio sonhador (no como era em criana, mas tal como aparece no presente) e em seu traje inadequado (que emerge indistintamente, seja em virtude de camadas superpostas de inmeras lembranas posteriores de estar desalinhado, seja como decorrncia da censura).3
Mas, nos perguntamos, o sonhador no seria o ncleo de qualquer sonho, e no somente os de exibio? Ou melhor, no seriam todos os sonhos, seguindo esse raciocnio, para cegos e videntes, sonhos de exibio? Se pensarmos que as situaes vistas, vividas, so criaes do aparelho psquico do prprio sonhador e que o sonho uma forma de exposio do sonhador para si mesmo, um ponto de vista de si sobre si mesmo, percebemos que os sonhos, na verdade, so sonhos de exibio. Aqui temos mais uma hiptese que justifica a predominncia dos sonhos visuais. Por outro lado, se pensarmos assim, teremos que concluir que, tambm para uma pessoa cega, os sonhos seriam sonhos de exibio e, dessa forma, poderiam ser considerados tpicos. Perseguindo essa trilha, nos questionamos, ento, os sonhos no seriam a maior produo da pulso escpica?4 Algo que se d a ver, mesmo para um cego, algo que se mostra e, pela realizao de desejos, gera um prazer em se ver um desejo realizado? As pessoas, mesmo sem determinada satisfao presente na vida de viglia, a vem
FREUD, 1900, p. 272. Mas, no caso das pessoas cegas como definir a importncia desse tipo de experincia? Como surgiria essa situao e ficar pelado teria qual sentido? Como se daria a percepo da castrao e da diferena dos sexos que no pela viso dos rgos sexuais? E a vergonha? No responderemos a nenhuma dessas questes agora, pois estas sero objetos de estudos futuros, apenas gostaramos de mostrar como desenvolvemos nosso raciocnio. 3 FREUD, 1900, p. 273. 4 A pulso escpica , tambm, a pulso que busca a realidade, vendo-a, e, por isso, a pulso que tem ntima relao com a epistemoflica. Confira o captulo II.
2
61
encenadas em seu sonho. Para si, de si para si, como nico criador e expectador dessa cena. Indo mais alm, diramos que essa situao o prottipo do que ocorre na vida de viglia, uma vez que, como diria Pontalis (1995), somente acreditamos no que vemos, pois vemos o que acreditamos.1 No sonho no temos os dados da realidade para nos colocar prova. Estamos isolados do restante do mundo externo, e acordados no estaramos tambm relativamente isolados?2 Todas as figuras que aparecem nos sonhos, mesmo os estranhos, so o resultado da criao do prprio observador. Se forem estranhos, so estranhos criados pelo sonhador, deixando, assim, de ser estranhos. Mesmo que seja uma pessoa conhecida do sonhador, ser a imagem que ele tem dessa pessoa, e no a pessoa em si mesma. So figuras que fazem parte de seu arcabouo de recordaes, e no necessariamente pessoas existentes. Isso at porque as pessoas existentes sero representadas a partir das imagens que se tm delas. Quem seriam esses observadores que no o prprio sonhador? Vejamos o que Freud diz sobre a presena dos estranhos nos sonhos.
Acrescentaram-se a isso as figuras das pessoas em cuja presena o sonhador se sente envergonhado. No sei de nenhum caso em que os espectadores reais da cena infantil de exibio tenham aparecido no sonho; o sonho raramente uma lembrana simples. Curiosamente, as pessoas a quem era dirigido nosso interesse sexual na infncia so omitidas de todas as reprodues que ocorrem nos sonhos, na histeria e na neurose obsessiva. s na parania que esses espectadores reaparecem e, embora permaneam invisveis, sua presena inferida com uma convico fantica. O que toma o lugar deles nos sonhos uma poro de estranhos que no prestam a menor ateno ao espetculo oferecido no nada mais, nada menos, do que o contrrio imaginrio do nico indivduo conhecido diante de quem o sonhador se expunha. Alis, uma poro de estranhos aparece com freqncia nos sonhos em muitos outros contextos, representando sempre o oposto imaginrio do sigilo. de se observar que, at na parania, quando se restaura o estado de coisas original, essa inverso no oposto observada. O sujeito sente que j no est sozinho, no tem nenhuma dvida de estar sendo observado, mas os observadores so uma poro de estranhos cuja identidade permanece curiosamente vaga.3
Cf. PONTALIS, 1900, p. 207. Os dados da realidade nunca so objetivos. No inconsciente misturam-se o passado, o presente e o futuro, e cada um cria seu romance familiar e refaz sua realidade traduzindo, a todo o momento, as coisas, que, em si, jamais estaro isentas do crivo de um aparelho psquico receptor. Esbarramos, aqui, com a questo do que real. A realidade vista por ns como realidade por meio de nosso aparelho psquico que, antes de tudo, um aparelho de sentido. Assim como as chaves de interpretao dos livros dos sonhos no so aplicveis e passveis de generalizao, os fatos para cada pessoa no podem ser considerados com o mesmo sentido. 3 FREUD, 1900, p. 273.
2
62
Ento, Freud no estaria dizendo que todos os sonhos so focados no indivduo e representam ele mesmo? O indivduo exibe-se para si mesmo, v e visto e todos os sonhos so sonhos de exibio e uma manifestao da pulso escpica. Ao falar que todos os sonhos so essencialmente egostas, Freud nos d subsdios para sustentar essa hiptese.
Todos eles so inteiramente egostas: o ego amado aparece em todos eles, muito embora possa estar disfarado. Os desejos que neles se realizam so invariavelmente desejos do ego, e, quando um sonho parece ter sido provocado por um interesse altrusta, estamos apenas sendo enganados pelas aparncias.1
E, mais adiante, quando fala sobre os meios de representao nos sonhos, no captulo VI O trabalho do sonho , Freud corrobora nossa hiptese:
minha experincia, e uma experincia para a qual no encontrei nenhuma exceo, que todo sonho versa sobre o prprio sonhador. Os sonhos so inteiramente egostas. Sempre que meu prprio ego no aparece no contedo do sonho, mas somente alguma pessoa estranha, posso presumir com segurana que meu prprio ego est oculto, por identificao, por trs dessa outra pessoa; posso inserir meu ego no contexto. Em outras ocasies, quando meu prprio ego de fato aparece no sonho, a situao em que isso ocorre pode ensinar-me que alguma outra pessoa jaz oculta, por identificao, por trs de meu ego. Nesse caso, o sonho me alertaria a transferir para mim mesmo, ao interpret-lo, o elemento comum oculto ligado a essa outra pessoa. H tambm sonhos em que meu ego aparece juntamente com outras pessoas que, uma vez desfeita a identificao, revelam-se mais uma vez como meu ego. Essas identificaes ento me possibilitariam pr em contato com meu ego certas representaes cuja aceitao fora proibida pela censura. Assim, meu ego pode ser representado num sonho vrias vezes, ora diretamente, ora por meio da identificao com pessoas estranhas. Por meio de vrias dessas identificaes torna-se possvel condensar um volume extraordinrio de material do pensamento. O fato de o ego do prprio sonhador aparecer num sonho vrias vezes, ou de vrias formas, no , no fundo, mais marcante do que o fato de o ego estar contido num pensamento consciente vrias vezes ou em diferentes lugares ou contextos por exemplo, na frase quando eu penso em como eu fui uma criana sadia.2
Retornando aos sonhos tpicos de estar nu ou mal vestido, Freud mostra como o recalcamento desempenha um papel nos sonhos de exibio, pois a aflio experimentada nesses sonhos uma reao, por parte do sistema da censura, ao fato de o contedo da cena de exibio ter encontrado expresso a despeito da proibio
1 2
FREUD, 1900, p. 294. FREUD, 1900, p. 348-349.
63
imposta a ele. Para que se evitasse a aflio, a cena nunca deveria ser revivida.1 A sensao de estar inibido, segundo Freud, serve admiravelmente, nos sonhos, para representar um conflito da vontade ou uma negativa. O objetivo inconsciente requer que a exibio continue; a censura exige que ela cesse.2 Nessa parte, Freud, traz exemplos de sonhos basicamente visuais. Como dissemos, no encontramos exemplos de nenhuma pessoa cega que tivesse esse tipo de sonho tpico. Ser que poderamos encontrar outros tipos de sonhos tpicos especficos de quem no enxerga? Para responder a essa pergunta teramos que fazer uma anlise bem mais ampla, que destoaria muito do nosso objetivo neste momento. Analisaremos, ento, apenas os sonhos trazidos por Freud. Com Freud, temos tambm a descrio de outros sonhos tpicos, em que o sonhador se descobre voando com sensaes agradveis ou se v caindo com sensaes de angstia. Freud conclui que tambm esses sonhos reproduzem impresses da infncia, que eles se relacionam com jogos que envolvem movimento, que so extraordinariamente atraentes para as crianas.3 Como as peculiaridades da viso apareceriam nesse sonho? Bem, encontramos raros exemplos de uma pessoa cega que tivesse sonhos de que estava voando. Uma das hipteses que levantamos para explicar isso que voar possui como atrativo o registro mnmico de ver as coisas sendo sobrevoadas e talvez desperte o interesse maior de quem quer ver as coisas de cima. Conversamos com pessoas cegas que, pelo contrrio, tm pavor de voar. Por outro lado, o sonho de estar caindo, como sonho que gera muita angstia, bastante comum, e o consideraramos tpico para um cego, pois todos os sonhadores com quem conversamos que nos relataram esse tipo de sonho classificaram-no como pesadelo. Para uma das pessoas cegas que colaboraram nesta pesquisa, constitui seu pesadelo mais recorrente. Outro grupo de sonhos qualificados de tpicos por Freud so os que encerram a morte de um parente amado, por exemplo, um dos pais, um irmo ou irm, ou um filho, e o sonhador fica extremamente abalado com essa morte. Os que no envolvem esse sofrimento destinam-se a ocultar outro desejo ao demonstrar um sentido diverso e no
1
Entender como se daria essa cena de exibio para uma pessoa cega envolve uma outra discusso que no contemplaremos aqui. 2 FREUD, 1900, p. 274. 3 Por outro lado, Freud rejeita a teoria de que o que provoca os sonhos de voar e cair seja o estado de nossas sensaes tteis durante o sono e as sensaes de movimento dos pulmes, etc. Tais sensaes seriam, ento, parte do contedo do sonho, e no sua fonte.
64
so analisados por Freud nesse livro. No caso desse sonho, convm notar que o afeto vivenciado nele pertence a seu contedo latente, e no ao contedo manifesto, e que o contedo afetivo do sonho permaneceu intocado pela distoro que se apoderou de seu contedo de representaes.1 Cabe ressaltar ainda uma vez que Freud traz nessa parte sonhos visuais, mas a maioria sem muitos detalhes visuais. Apenas relatada a situao de algum que sonhou que outra pessoa morrera. Bem, esse tipo de sonho foi abundantemente descrito pelas pessoas cegas com as quais conversamos, por isso pode ser considerado tpico sem qualquer justificativa especial. Falamos mais sobre esses sonhos tpicos no captulo III Algumas consideraes sobre a Psicanlise do olhar quando abordamos a questo do fechar de olhos e do recalque. Os ltimos sonhos tpicos trazidos por Freud so os sonhos com provas e exames. Sonhos de fracassos em avaliaes que, na vida de viglia, culminaram em sucesso. Eles ocorrem na vspera de alguma outra provao qual o sonhador seria submetido. Freud os interpreta como um consolo, pois o sonho diz que os medos do sonhador so injustificados assim como os medos que precederam o outro exame representado no sonho. Essa categoria de sonho tpico tambm no foi mencionada por nenhuma pessoa cega; porm, no vemos impedimento algum em ele ocorrer, porque parece ser uma questo contingencial.
1.7 Ver para crer
Entre o globo terrestre e o globo ocular existe uma afinidade que no se prende apenas a sua forma, e que leva a crer que 2 nossa retina o espelho do mundo.
Ao longo do percurso trilhado neste captulo, levantamos uma srie de hipteses que justificariam a escolha do sentido visual pelo trabalho dos sonhos. Enumeremos nossas hipteses para podermos acrescentar alguns elementos nossa discusso. Em primeiro lugar, diramos que o sonho deve ser uma cena vivida que se aproxima tanto da realidade que somente adquire seu carter de sonho quando o
1 2
FREUD, 1900, p. 276. Pontalis, 1991, p. 206.
65
sonhador acorda e percebe, a posteriori, que o que viveu se tratava de um sonho. Portanto, no sabemos distinguir realidade de sonho. Temos essa certeza apenas quando acordamos e percebemos que estvamos sonhando, fato que se d com qualquer pessoa, cega ou no, e no h motivos para ressalva nesse sentido. Freud demonstra como o sonho se constitui de uma cena vivida durante o sono e no pensada. Alm de transformar representaes em alucinaes, os sonhos constroem uma situao a partir dessas imagens. Eles representam um fato que est realmente acontecendo e fazem com que o confundamos com a realidade. Freud diz que nos sonhos:
...parecemos no pensar, mas ter uma experincia: em outras palavras, atribumos completa crena s alucinaes. Somente ao despertarmos que surge o comentrio crtico de que no tivemos nenhuma experincia, mas estivemos apenas pensando de uma forma peculiar, ou, dito de outra maneira, sonhando. essa caracterstica que distingue os verdadeiros sonhos do devaneio, que nunca se confunde com a realidade.1
Mais do que uma caracterstica, uma exigncia que os sonhos sejam reconhecidos como uma experincia perceptiva como qualquer outra, segundo Freud. Vejamos como seu exemplo de comparao para perceber o sonho novamente visual.2
Em minha opinio, at a exigncia de que o sonho se torne inteligvel como evento perceptivo pode efetivar-se antes que o sonho atraia para si a conscincia. Da por diante, contudo, o ritmo acelerado, pois nesse ponto o sonho tratado da mesma maneira que qualquer outra coisa percebida. como um fogo de artifcio, que leva horas para ser preparado, mas se consome num momento.3
Consideremos ainda que Freud diz que a caracterstica psicolgica mais geral e mais notvel do processo de sonhar um pensamento, geralmente um pensamento sobre algo desejado, que objetiva-se no sonho, ser representado como uma cena, ou, segundo nos parece, ser vivenciado.4 Juntando essas duas observaes, podemos afirmar que, com as imagens visuais, a situao onrica se torna ilusoriamente visual e adquire o estatuto de realidade. Mas no se trata de uma realidade qualquer; temos uma realidade moldada pela realizao de um desejo. Em outras palavras, a expresso em imagens visuais faz com que os sonhos sejam vividos, sejam considerados uma experincia de viglia, algo to verdadeiro que
1 2
FREUD, 1900, p. 86. Cf. FREUD, 1900, p. 603-604. 3 FREUD, 1900, p. 604-605. 4 FREUD, 1900, p. 564-565.
66
visualizado. Seguindo o raciocnio do dito s acredito vendo, isto que o sonho faz: faz o sujeito acreditar em algo, vendo seu desejo realizado. Ele se v, ento, diante da exigncia de elaborar as conseqncias do que viu, do que reconheceu como si mesmo, como seu desejo. Conclumos que, com as imagens visuais, a condensao tem um material de fcil manipulao que possui uma caracterstica condensante. O deslocamento, por sua vez, possui riqueza de detalhes visuais, tais como cor, forma e dimenses, e pode manipul-los a favor das intensidades psquicas que deseja ressaltar ou deixar despercebidas. A censura efetivada ao forar o caminho regressivo dos pensamentos onricos latentes at a percepo. Com as imagens visuais, esses pensamentos adquirem um grau de distoro que faz com que o desejo inconsciente motivador dos sonhos no seja percebido sem uma anlise sobre o sonho. No caso da elaborao secundria, quanto mais clara for a cena onrica, maior o sinal de sua atuao. Como ela serve para dar um envoltrio agregador das idias, o uso de imagens visuais bem definidas e ntidas, numa seqncia que faa sentido, tambm serve sua funo. Assim as imagens visuais possuem um grande poder de encarnao1 das representaes. Para algum que enxerga, o sonho um espao que propicia a oportunidade de viver uma experincia consistente e normal: vivencia-se uma cena a ponto de notar que estava sonhando apenas aps acordar, j que com imagens visuais a situao onrica se torna alucinatoriamente visual. Dessa forma, o sonhador perceber o sonho assim como suas demais experincias sensoriais, com a peculiaridade de se tratar de uma cena de realizao de desejo. Um desejo verdadeiramente realizado e ser visto realizado. O que real aproximado do que pode ser visto. Como diria Pontalis em seu livro Perder de vista, em nossa sociedade o campo sempre crescente do visvel acaba por ser identificado com o conhecido e at com o existente.2 Ao evocar os sonhos em seus escritos cientficos, Pontalis destaca uma ambigidade no que se relaciona ao estatuto do visual. Isso se d, justamente, pelo que sublinhamos ao longo deste captulo, ou seja, o sonho, embora comporte ocasionalmente outros ingredientes, essencialmente composto de imagens visuais.3
1 2
PONTALIS, 1991, p. 215. PONTALIS, 1991, p. 207. 3 PONTALIS, 1991, p. 208.
67
Pontalis levanta duas hipteses, segundo ele de igual valor, para interpretar essa constatao. A primeira diz que o sonho, ao se apresentar como visual, obedece condio de figurabilidade, no tendo a seu dispor nem a linguagem articulada nem a motricidade, s restam quele que dorme, para falar e para se mover, as imagens.1 Dessa forma, o sonho faz da necessidade, uma virtude, pois o cerceamento a que ele fica submetido favorece a condensao e o deslocamento. Pontalis lembra-nos, ainda, da afirmao que Freud faz de que o desejo sexual encontra sua expresso exata no contedo visual do sonho e conclui que, apesar desse desejo exprimir-se de outra maneira nas demais manifestaes do inconsciente, seramos irresistivelmente, [...] mais atrados pela imagem visual do que pelo relato, e mais pela forma do relato do que por sua trajetria e seus componentes.2 Seguindo esse raciocnio, a figurabilidade no prejulga que o visual tenha um vnculo eletivo, ou pelo menos consubstancial, com o sistema inconsciente.3 J de acordo com sua segunda hiptese, a relao entre o visual e o inconsciente essencial, e no contingente. A via regressiva tomada pelo sonho , conjuntamente, regresso para a imagem visual,4 portanto a atrao exercida pelo recalcado estaria ligada atrao pelo visual, deduz Pontalis. Cita um autor que fundamenta a constatao da prevalncia das imagens visuais em nossas representaes, e diz que, como so a realizao de um desejo, elas reproduzem um instante eternizado, sem comeo nem fim, e somente a representao visual capaz de fazer isso realizando o desejo atemporalmente. Com relao a essas duas hipteses que constri com base em A interpretao dos sonhos uma que diz que a representabilidade uma condio secundria e especfica de um aparelho que sonha durante o sono, e a outra, que a relao entre o visual e o inconsciente essencial , Pontalis decide no escolher e prefere mant-las em tenso. Como, ento, podemos insistir nos sonhos visuais e ao mesmo tempo procurar nessa visualidade persistente filtrar seu cerne, aquilo que denuncia o que de essencial eles venham a possuir, que no seja mais visual, e que se aplique a qualquer pessoa? Para responder a essa indagao, devemos buscar reconhecer no sonho um espao privilegiado para a elaborao psquica. Para tanto, levando em considerao os
1 2
PONTALIS, 1991, p. 208. PONTALIS, 1991, p. 209. 3 PONTALIS, 1991, p. 209. 4 PONTALIS, 1991, p. 209.
68
processos responsveis pela formao dos sonhos, em especial seu movimento regressivo, traremos mais um raciocnio: O que imaginamos ocorrer com um cego que, enxergou no passado e por algum motivo foi privado da viso? Ele sonhar como no v hoje? Ou sonhar como via outrora? Depois que perde a viso, ainda por algum tempo, um cego sonha com suas antigas imagens visuais. Porm, essas memrias vo sumindo de seus sonhos e desaparecem completamente. Poderamos, com esse dado, cair na tentao de considerar que tal efeito se trata de uma questo meramente cognitiva, de memrias que no podem mais ser reinvestidas e vo perdendo sua fora com o tempo. Porm, se levarmos em considerao ainda um outro caso um pouco mais complexo, teremos outra possibilidade de resposta. Trata-se de uma pessoa que via normalmente, mas perdeu grande parte de sua viso e hoje enxerga as coisas com falhas em seu campo visual, devido a ilhas de degenerao em sua retina. No entanto, ao se recordar dessas coisas, ao pensar nelas em qualquer situao, consegue ter uma imagem completa delas. Como ela sonharia? Com as imagens fragmentadas com que enxerga acordada ou com imagens completas, que possui em sua memria e que podem ser constantemente reinvestidas?1 Ora, essa pessoa sonha exclusivamente do modo como v acordada. Vive as situaes em seus sonhos como se estivesse em estado de viglia. Em outras palavras, todas as imagens visuais que enxerga nos sonhos, mesmo as provenientes de sua infncia, poca em que via perfeitamente, so percebidas do modo como v hoje. Por que isso ocorre? Pensamos que responder a essa indagao , na verdade, procurar entender por que sonhamos. Sonhar um espao privilegiado para a elaborao psquica. Para Pontalis, sonhar pode ser uma forma de acalmar a angstia provocada pela ausncia do objeto amado e garantir que ele esteja inteiramente ao alcance de nosso olhar e que nos reflita em nossa identidade.2 Seria uma forma de fazer o desaparecido confirmar sua permanncia e tentar unir o efmero ao eterno.3
Pedimos licena ao leitor para responder a essa questo tomando como exemplo o nosso prprio caso, pois assim podemos fornecer uma resposta embasada em todas as nossas experincias atuais de sonhar. Tais experincias so semelhantes aos relatos de outras pessoas que passaram pela mesma situao. A indagao que apresentamos nessa parte, na verdade, foi o ponto de partida de muitos dos questionamentos que fomos construindo ao longo deste captulo. 2 PONTALIS, 1991, p. 205. 3 PONTALIS, 1991, p. 205.
69
Por um lado, o uso de imagens visuais pelo sonho providencial. Como diria, citando mais uma vez, Pontalis, o sonho no revela o que est sendo visto.1 O sonho revela o que no est ali, o invisvel do que est representado por imagens visuais. A ateno, a observao crtica, atrada pelas imagens, diramos, o modo mais eficaz de no pensar na verdadeira motivao dos sonhos, ou seja, de trazer um tom de realidade pela viso de cenas e no pensar sobre o que se quer esconder. Ele um ponto de vista sobre os pensamentos latentes, um jeito de ver as coisas sem v-las. A soluo perfeita para dosar a abertura dos olhos, ou seja, ver e no ver ao mesmo tempo. Para que possamos ver nos sonhos, ter acesso direto s nossas representaes, preciso deixar de ver com os olhos, preciso dormir, fech-los e perd-los de vista. Por outro lado, o que sucede com tudo isso para uma pessoa cega? Tambm j respondemos a essa questo ao longo de todo este captulo. Um aparelho psquico que possua material visual seguir o caminho regressivo rumo s lembranas infantis visuais, e essa ser a matria-prima para o trabalho do sonho ao buscar a figurabilidade, ao promover a condensao, o deslocamento e a elaborao secundria. Um aparelho psquico que no as possua, alucinar e seguir o mesmo caminho regressivo, mas em direo a lembranas de outra natureza sensria, tudo isso sob o ponto de vista elaborativo e atual do sonhador. E, assim, o sonho continuar sendo um ponto de vista sobre o material latente, mesmo para um cego inato, considerando que seu aparelho tenha sido estruturado com base em uma lgica visual, num mundo de videntes.2 Em suma, o que ocorre quando sonhamos que representamos, e no mais vemos, e um cego tambm representar quando deixar de ver, ou seja, quando adormecer.
...do infantil restam traos e no imagens nem lembranas, e esses traos so secundariamente representados sob forma plstica e visual. A considerao representabilidade s funciona no sonho. Os traos se inscrevem, a lembrana d forma. Ela representa numa seqncia ordenada de imagens traos pontuais que podem no ter em si nenhum contedo representativo e que, tendo sido gravados em circunstncias e pocas muito diferentes, so passveis de se combinar entre si por condensao e deslocamento, segundo leis e segundo uma lgica desdenhosas do tempo, da verossimilhana e da vivncia.3
Ento, um cego somente poderia sonhar sem as imagens visuais, num formato condizente com seu cotidiano, que toque sua realidade que pede elaborao. Os sonhos
1
PONTALIS, 1991, p. 220. Para perceber isso, basta observarmos como uma pessoa cega utiliza todas as metforas visuais que um vidente costuma usar. Esclarecemos essas idias sobre a pulso escpica no captulo 2 desta dissertao. 3 FREUD, 1900, p. 217.
2
70
falaro na linguagem que o aparelho psquico do sonhador for capaz de compreender e mostraro na dose certa o desejo inconsciente que exige realizao. Desconsiderando a impossibilidade de ocorrer o que supomos em nossa prxima indagao, nos perguntamos: Para um cego inato qual seria o valor de um sonho visual? E para um vidente, qual o alcance de um sonho sem imagens visuais? Nenhum desses dois tipos de sonhos faria muito sentido para quem os sonhasse, e perderiam seu valor elaborativo, porque os sonhos falariam em linguagens incompreensveis para esses sonhadores. Por um lado, para encerrar este captulo, gostaramos de ressaltar que a viso e o desenvolvimento desse sentido so algo constitutivo e determinante na formao do sujeito. Nada mais natural do que ser esse o prottipo de reaes do psiquismo humano. Veremos como isso se d mesmo para uma pessoa cega que, antes de tudo, tambm est imerso nessa realidade.1 Por outro lado, gostaramos tambm de sublinhar como a anlise de A interpretao dos sonhos nos permite tanto manter esse lugar influente da visualidade na constituio de um aparelho psquico quanto destitu-lo de sua importncia. Tal ambigidade ser mais evidenciada no restante deste trabalho.
Abordaremos exatamente essa questo no captulo 2.
71
2 AS IMPLICAES DO OLHAR NA METAPSICOLOGIA DA PULSO ESCPICA 2.1 Do olho ao desejo no olhar
O problema no pois a relao alma-corpo, mas a articulao de um funcionamento sexual e de um funcionamento autoconservador, um e outro indissoluvelmente 1 psquico e somtico.
O que Freud conseguiu ver? Freud sempre foi muito curioso. Soube muito do mundo e revelou o desconhecido do homem. No que o desconhecido no existisse antes, mas jamais havia sido tocado de maneira to veemente. Ele investigou e teve a ousadia de escrever sobre coisas veladas em seu tempo. Falou sobre o sentido dos sintomas e soube coloc-los na conversa com as histricas. Inventou o conceito de pulso e destruiu tabus ao mostrar que a infncia povoada de sexualidade e que esse perodo determinante por toda a vida do indivduo. Destronou o ser humano do controle de sua casa e mostrou que esta pode ser comandada por processos inconscientes que podem, inclusive, influenciar o corpo. Como investigador da alma, ele se interessou por escritores como Dostoievski, interpretou obras de artistas como Leonardo da Vinci, embrenhou-se pela loucura de Schreber e se inspirou nos delrios de Gradiva. Virou um cientista maluco ao diluir as fronteiras do tempo e tornar relativos o passado, o presente e o futuro cronolgicos. Assumiu o lugar de um xam ao interpretar sonhos e desvendar desejos. Como se no bastasse, atreveu-se a dotar de significao atos aparentemente sem maior importncia como morder a lngua, tropear e cair ou ainda perder ou achar dinheiro. realmente fcil entender o dito popular de que Freud explica. Ao analisar a viso, Freud mostrou como ela est impregnada de desejo e localizou a pulso escpica como um modelo no desenvolvimento das pulses. Eis o enfoque deste captulo, que se ancorar no artigo A pulso e seus destinos (1915) e na relao das asseres feitas por ele, vinculando-as ao caso peculiar de pessoas sem viso.
1 LAPLANCHE, 1997, p. 15.
72
Em busca dos rumos da pulso escpica, partiremos da seguinte questo: a pulso de ver e ser visto existe at em quem no possui alguns dos rgos da viso em funcionamento? Pensamos que sim. O que levaria, por exemplo, uma pessoa cega a se preocupar com sua aparncia, com a combinao das cores da roupa que usa, mesmo sem nunca haver visto qualquer cor? H cegos que no suportam ficar sem culos escuros por saberem que seus olhos esto sendo observados. O fato de terem a informao de que seu olho est deformado e difere da anatomia normal, sendo branco, por exemplo, gera incmodo. Em outros casos, apenas o estado inerme e imvel do olho passivo em relao aos estmulos externos lhes desagradvel. H casos, tambm, de pessoas que simplesmente gostam de se sentir com os culos escuros: acho chique. E os que querem ver tudo a seu redor, tocando, cheirando, sendo curiosos. E o que dizer de um fotgrafo cego1 que sente enorme prazer ao poder fazer imagens, embora no as veja? E como associar tudo isso com o fato de que todo nenm nasce sem enxergar? Paremos um instante: ento pode ser o olho, juntamente com o aparelho visual, o responsvel pela pulso escpica? Parece-nos ser necessrio definir a pulso nesse momento, por mais que seja algo bem conhecido por todos e, em seguida, aplicar a essa definio um dos raciocnios que adotamos, que consiste em excluir a possibilidade do enxergar organicamente. Em seus escritos, Freud no possui um uso padronizado do termo pulso, apresentando uma definio mais sistematizada em seu texto A pulso e seus destinos. Em outros momentos, encontramos meno e pequenos comentrios, embora esse termo seja recorrente e bastante utilizado. Julgamos necessrio analisar o termo pulso na obra freudiana como um todo, para entender o uso que Freud faz no texto aqui em foco e para, finalmente, nos aproximarmos mais das peculiaridades da pulso escpica. Segundo Laplanche e Pontalis, podemos definir pulso como:
Processo dinmico que consiste numa presso ou fora (carga energtica, fator de motricidade) que faz o organismo tender para um objetivo. Segundo Freud, uma pulso tem a sua fonte numa excitao corporal (estado de tenso); o seu objetivo ou meta suprimir o estado de tenso que reina na fonte pulsional; no objetivo ou graas a ele que a pulso pode atingir a sua meta.2
1 2
Estamos nos referindo a Evgen Bauchar. LAPLANCHE, 2000, p. 394.
73
A pulso escpica seria uma das categorias da pulso. Em seu verbete sobre a pulso, Luiz Alberto Hanns (1996) traz inmeras significaes para o termo Trieb e seus sinnimos em alemo, seus sentidos conotativos, denotativos e psicanalticos, expe a riqueza semntica desse termo que no encontra paralelo em lngua portuguesa e que nos ser til para que possamos entender melhor os destinos da pulso escpica. Comecemos por generalidades da pulso. Segundo Hanns, o percurso do Trieb na teoria psicanaltica passa por nveis complexos. Tal percurso abrange a totalidade de um corpo integrado, inclui a sntese de pulses parciais, bem como um amalgamento de pulses contraditrias entre si e implica uma circulao simbolizada. Ressalta que, ao falar de pulso, Freud
...considera aspectos econmicos dinmicos e tpicos em conexo com especificidades da histria individual do paciente, bem como se liga a questes amplas da cultura. Envolve conceitos como a representao (Vorstellung), o desejo (Wunsch), a sublimao e muitos outros termos fundamentais, que no se reduzem ao nvel biolgico. Tambm a ligao quantitativa e predominantemente fisiolgica de Trieb, Reiz (estmulo) e Lust (prazer) relativizada e se torna complexa ao longo da obra freudiana [...].1
O uso do termo por Freud, mesmo em acepes mais elaboradas que abrangem o conjunto das questes mencionadas acima, como afirma Hanns, sempre se mantm prximo dos aspectos biolgicos, fisiolgicos, energticos e lingsticos.2 Percebemos que exatamente isso que ocorre no texto de 1915. Hanns esclarece que Freud, apesar de reformular inmeras vezes sua teoria pulsional e movimentar-se ao longo de todo o arco de possibilidades lingsticas enumeradas nesse verbete que o termo alemo permite abarcar, mantm-se, ao longo de toda a obra, prximo dos mencionados aspectos denotativos e conotativos de Trieb, algo indeterminado, poderoso, algo que vem de alhures (impessoal, atemporal) e que coloca o indivduo em movimento. Talvez, possamos localizar nessa constatao de Hanns um dos fatores que dificultam o entendimento desse conceito. Esse autor faz tambm uma diviso esquemtica para tentar explicar ao leitor no-alemo os vrios sentidos do termo Trieb. No uso pela Psicanlise, ele afirma que nem sempre tais dimenses podem ser mantidas em separado, pois se entrelaam e se manifestam de diversas formas. exatamente essa falta de delineamento que ficar claro quando falarmos da pulso escpica. Citaremos essa classificao a seguir.
1 2
HANS, 1996, p. 354. HANS, 1996, p. 354.
74
Em alemo, podem-se designar com a palavra Trieb diferentes dimenses, formas pelas quais as foras impelentes da Natureza podem se manifestar. Hanns1 classifica essas foras em quatro nveis de manifestao, e cada nvel tambm reproduz, em si, uma escala que conduz do mais geral ao mais especfico: Natureza em geral: s grandes foras impulsionadoras, algo semelhante a princpios universais que regem todo vivente. Visam a autopreservao, a reproduo etc. Biolgico nas espcies: a manifestao biolgica dessas foras universais nas Espcies: as poderosas foras biolgicas bsicas (o instinto de mamar, o gregarismo) Ainda dentro da esfera biolgica, o termo serve para designar pulses biolgicas especficas (uma verdadeira mirade instintos do cotidiano, a tendncia de tocar, chupar, morder etc.). No indivduo alude manifestao da Natureza no Indivduo como fenmeno fisiolgico e somtico (os estmulos, os reflexos, a energia circulante etc.). Para o indivduo nomeia a representao desse conjunto articulado, quando sentido ao nvel ntimo e singular pelo sujeito como nsia, impulso e vontade. Com relao ao texto A pulso e seus destinos, notamos que os quatro nveis discriminados esto em voga e, mais especificamente, ao falar sobre a pulso escpica, Freud fala da pulso no indivduo e para o indivduo. O uso do termo pulso, feito por Freud, no uniforme; porm, percebemos que esse conceito sempre possui uma vinculao com aspectos biolgicos do indivduo, utilizando-os como apoio. Pretendemos clarear essa relao no caso da pulso escpica. Para tanto, trabalharemos com cada uma das partes desse conceito trazido por Freud em 1915. Em 1915 Freud define a pulso como um conceito que deve ser abordado de diferentes ngulos. Aludindo Fisiologia, nos diz que se trata de um estmulo de impacto constante que possui origem interna, logo, no possvel fugir dele assim como podemos fazer com os estmulos externos. Para se eliminar uma pulso, necessrio que ela seja satisfeita, do mesmo modo como se faz com uma necessidade. possvel
1
HANS, 1996, p. 350.
75
definir a pulso como um conceito situado na fronteira do mental e do somtico; ela a representante psquica dos estmulos que se originam internamente. uma conseqncia da ligao da mente com o corpo. Discutiremos esse aspecto um pouco adiante. A pulso, segundo Freud, pode passar pelas seguintes vicissitudes: (a) reverso a seu oposto; (b) retorno em direo ao prprio eu do indivduo; (c) recalque; e (d) sublimao. Nesse texto, Freud trata o par escopofilia-exibicionismo como um modelo para o processo de reverso ao oposto de uma pulso, mais especificamente na passagem da atividade para a passividade. A finalidade ativa de olhar transformada na passiva de ser olhado. Com esse par, ocorre tambm o retorno em direo ao prprio eu, na medida em que o exibicionismo inclui o olhar para o prprio corpo, e o indivduo participa da fruio de sua viso. Com isso, percebe-se uma mudana do objeto, e no da finalidade. H uma reverso ao prprio corpo, que coincide com a mudana de atividade em passividade. Freud descreve as fases desse par de pulses como:
(a) O olhar como uma atividade dirigida para um objeto estranho. (b) O desistir do objeto e dirigir o instinto escopoflico para uma parte do prprio corpo do sujeito, com isso, transformao no sentido de passividade e o estabelecimento de uma nova finalidade a de ser olhado. (c) Introduo de um novo sujeito diante do qual a pessoa se exibe a fim de ser olhada por ele.1
Bem, apesar de sabermos de todas as relativizaes possveis, essa descrio apropriada para um ser humano vidente. Se considerarmos aqui a falta fsica da capacidade de ver, devemos ampliar a discusso e seremos obrigados a redefinir algumas questes como o auto-erotismo, a atividade primria e o rgo-fonte olho, por exemplo. Freud aproxima as etapas do par escopofilia-exibicionismo com as fases do par sadismo-masoquismo. Em ambos a finalidade ativa precede a passiva. H, porm, a diferena de que a pulso escopoflica auto-ertica no incio de sua atividade. O seu primeiro objeto parte do corpo do sujeito. Posteriormente, por comparao, o objeto trocado por uma parte semelhante de um outro corpo. Mais adiante, ele ressalta que, diferentemente do que ocorre com outras pulses, o objeto do instinto escopoflico, contudo, embora tambm a princpio seja parte do
FREUD, 1900, p. 134-135.
76
prprio corpo do sujeito, no o olho em si.1 Freud afirma que, na atividade autoertica, o objeto insignificante em comparao com o rgo que lhe serve de fonte e que normalmente esses dois, rgo e objeto, coincidem.
Em geral, podemos assegurar, em relao a eles [outros componentes da funo sexual], que suas atividades so auto-erticas; isto , seu objeto insignificante em comparao com o rgo que lhes serve de fonte, via de regra coincidindo com esse rgo.2
Ele afirma tambm que o objeto da pulso escpica, por outro lado, no corresponde ao olho, rgo-fonte nessa fase primordial. Deduzimos, ento, que, no caso da pulso escopoflica, provavelmente, ou o objeto tem uma importncia maior que o rgo de sua fonte, ao contrrio do que ocorre com outros componentes da funo sexual, ou teremos que redefinir o conceito de fonte: seria ela o olho? Bem, perguntamos ainda se seria possvel inferir tambm que numa pessoa cega a pulso escopoflica se desenvolva, desde o incio, com a peculiaridade de ter como rgo-fonte o olho do outro e como primeiro objeto o seu prprio rgo olho? Na verdade, estamos aqui comeando a relativizar o conceito de rgo-fonte. Freud afirma que nos instintos auto-erticos, o papel desempenhado pela fonte orgnica to decisivo que [...] a forma e a funo do rgo determinam a atividade ou a passividade da finalidade instintual.3 Conquanto possamos ressaltar, objetivamente falando, que um olho cego em um beb no lhe possa causar nenhuma estimulao interna, ele estar presente em seu corpo. As peculiaridades desse rgo levariam a uma finalidade passiva ou ativa da pulso escpica? Ou ainda devemos considerar outro rgo como fonte dessa pulso? E se no for um rgo? E se pensarmos que toda criana nasce sem saber ver e seu olho apenas adquire a funo de olhar caso seja estimulado? Quando o olho passaria a ser reconhecido pelo sujeito? Freud alerta que no devemos confundir as antteses ativo-passivo com a anttese sujeito do ego-objeto do mundo externo. A relao do ego com o mundo externo passiva na medida em que o primeiro recebe estmulos do segundo, e ativa quando reage a eles.4 O sujeito do ego seria, portanto, passivo com relao aos estmulos externos e ativo por meio de suas pulses. Logo, somente podemos supor que, no caso
1 2
FREUD, 1900, p.137. FREUD, 1900, p. 137. 3 FREUD, 1900, p.138. 4 FREUD, 1900, p.139.
77
da viso, o sujeito no comeo sempre passivo. Para que um olho passe a funcionar, preciso que ele seja estimulado. Por outro lado, a pulso pode ser tambm caracterizada em seus quatro aspectos: presso, finalidade, objeto e fonte. Enfatizaremos, apesar de sabermos que essa anlise influenciar as demais definies, um pouco mais o conceito de fonte por ser a parte do conceito de pulso que mais a aproxima de seu aspecto somtico.
Por fonte de um instinto entendemos o processo somtico que ocorre num rgo ou parte do corpo, e cujo estmulo representado na vida mental por um instinto. No sabemos se esse processo invariavelmente de natureza qumica ou se pode tambm corresponder liberao de outras foras, por exemplo, foras mecnicas.1
Sobre as fases da pulso escopoflica Freud nos diz que
...todas as fases de seu desenvolvimento, tanto sua fase preliminar autoertica quanto sua forma ativa ou passiva final, coexistem lado a lado; e a verdade disso se tornar evidente se basearmos nossa opinio, no nas aes s quais o instinto conduz, mas no mecanismo de sua satisfao.2
Como os componentes desses pares caminham juntos, Freud ressalta que o exibicionista participa da viso de seu prprio corpo ao se exibir. A transformao da passividade em atividade e o retorno em direo ao eu no ocorrem com toda a pulso. A direo ativa persiste ao lado da passiva. H uma identificao do exibicionista com o voyeur e vice-versa. exatamente a isso que atribumos a dificuldade em ser definida a ordem de surgimento desses pares de pulses: quem veio primeiro poderia ser um ou o outro, ou ambos. Notamos que, apesar de dizer que no interessa Psicologia o estudo da fonte, termo utilizado na definio de uma pulso, como atesta o trecho a seguir, ao explicar a origem e o desenvolvimento da pulso escpica, Freud se ampara no olhar, e no olhar ativo originrio, o que pressupe a existncia de um olho vidente. O caso de pessoas cegas inatas mostra que no pode ser regra geral afirmar que o primeiro momento da pulso escpica seria ativa: olhar um objeto estranho ou uma parte do prprio corpo. Talvez valesse pena repensarmos essa relao do corpo como um lugar sede de pulses e provocadores delas. De onde elas seriam provenientes? No seria de uma posio passiva de ser olhado? Falamos, ento, sobre um movimento passivo e
1 2
FREUD, 1900, p. 128-129. FREUD, 1900, p. 135-136.
78
pensamos que este antecederia at mesmo a vertente exibicionista da pulso, pois consideramos que no temos um sujeito constitudo nesse momento, portanto no poderamos falar nem de exibicionismo, nem de escopofilia. Podemos apenas ressaltar a posio passiva inicial, que seria o prottipo da posio exibicionista. O exibicionismo pressupe uma atividade que s pode ser secundria; a pulso originariamente passiva; o auto-erotismo, apesar de ser auto, no caso da pulso escpica no pode pressupor uma auto-suficincia ativa, por isso deveria ser pensado em termos de uma passividade.
O estudo das fontes dos instintos est fora do mbito da psicologia. Embora os instintos sejam inteiramente determinados por sua origem numa fonte somtica, na vida mental ns os conhecemos apenas por suas finalidades. O conhecimento exato das fontes de um instinto no invariavelmente necessrio para fins de investigao psicolgica; por vezes sua fonte pode ser inferida de sua finalidade.1
Cabe pedir ao leitor que tenha pacincia, uma vez que estamos neste momento procurando raciocinar utilizando os elementos trazidos por Freud, concentrando nossa ateno pontualmente no texto de 1915. Mais adiante procuraremos expandir nossa anlise com o intuito de completar o raciocnio proposto e buscar respostas para as questes que vm sendo levantadas. Portanto, falemos um pouco mais sobre essa questo da passividade originria. Onde Freud situa o surgimento da pulso? Ainda em 1915, Freud defende a tese de que a condio narcsica aquela em que no comeo da vida mental as pulses catexizam o ego, momento em que h uma forma auto-ertica de obter satisfao, ou seja, o ego , at certo ponto, capaz de satisfazer s exigncias pulsionais. Nessa ocasio, o mundo externo no catexizado com interesse (num sentido geral), sendo indiferente aos propsitos de satisfao,2 isto , o mundo externo seria insignificante ou at mesmo desagradvel como fonte de estimulao. Com essa concepo de um ego ativo e auto-ertico satisfatrio em si mesmo, percebemos que, na criana cega, fica excluda a possibilidade de uma pulso escpica que, no entanto, atuaria apenas num segundo momento da busca pelo mundo externo. Um corpo sem viso no pode conhecer o desejo de ver e o prazer de ser visto at que o mundo externo entre no jogo pulsional como fonte de prazer e satisfao para suas
1 2
FREUD, 1900, p.129. FREUD, 1900, p.139-140.
79
necessidades. Isso ocorreria, ento, somente quando chegasse a vez do narcisismo primrio, fase em que o objeto faz a sua apario?1 Como solucionar esse impasse? Haveria, nessa nova fase do narcisismo, uma introjeo do objeto olho no ego-cego de tal sorte que fosse possvel transform-lo numa fonte pulsional? Mas como ocorreria o surgimento dessa pulso? Pensamos inicialmente em duas solues, tendo como base os elementos dados por Freud nesse texto: (a) ou tal irrupo estaria num momento, descrito por Freud, intermedirio, imediatamente posterior ao auto-erotismo propriamente dito e anterior ao narcisismo primrio; (b) ou seremos aqui obrigados a reavaliar, como mencionado acima, no que diz respeito pulso escpica, essa concepo de fonte, de auto-erotismo e narcisismo primrio. Vamos nos embrenhar na primeira tentativa: criar uma fase intermediria entre o auto-erotismo e o narcisismo primrio. De acordo com os esclarecimentos dados por Freud, parece-nos que nessa fase intermediria2 a incorporao de parte do mundo, por meio do mecanismo de introjeo levaria ao surgimento do rgo-olho-fonte da pulso escpica.
Na medida que o ego auto-ertico, no necessita do mundo externo, mas, em conseqncia das experincias sofridas pelos instintos de autopreservao, ele adquire objetos daquele mundo, e, apesar de tudo, no pode evitar sentir como desagradveis, por algum tempo, estmulos instintuais internos. Sob o domnio do princpio de prazer ocorre agora um desenvolvimento ulterior no ego. Na medida que os objetos que lhe so apresentados constituem fontes de prazer, ele os toma para si prprio, os introjeta.3
Dessa forma, o ego da realidade d lugar ao ego do prazer purificado. Quando a fase puramente narcisista cede lugar fase objetal, o prazer e o desprazer significam relaes entre o ego e o objeto. Se o objeto se torna uma fonte de sensaes agradveis, estabelece-se uma nsia motora que procura trazer o objeto para mais perto do ego e incorpor-lo ao ego.4 Particularmente no gostamos dessa soluo, que mais se aproxima de um remendo. Em vez de costurar retalhos, trabalho que exigiria um grande desvio de nossa linha exploratria, talvez fosse melhor introduzir outra concepo de fonte, deslocando1 2
FREUD, 1900, p.141. Esta diviso fase intermediria foi denominada por ns, e no por Freud. 3 FREUD, 1900, p.140. 4 FREUD, 1900, p.141.
80
a do olho. Sugerimos um outro caminho, esclarecendo sobre o momento de constituio do eu e do surgimento da pulso escpica e desmanchando a idia de um sujeito escpico j constitudo. Retomando o fato de que a pulso surgiria na fronteira entre o somtico e o psquico, como podemos entend-la de acordo com Hanns? Bem, ele afirma que a pulso surge como fenmeno fsico orgnico e atinge a mente como fenmeno psquico. Em outras palavras, a pulso surge
...no indivduo como fenmeno somtico-energtico, sendo descrito por Freud como processo fisiolgico (envolvendo termos como neurnios, nervos, fontes pulsionais situadas em glndulas, etc.) e como processo energtico-econmico (acmulo de energia, descarga, etc.).1
E, por outro lado, a pulso s pode ser percebida pelo psiquismo: o Trieb aparecer para o indivduo, isto , ser percebido como fenmeno psquico (idia, vontade, dor, medo, sensaes) e ir impeli-lo a praticar certas aes.2 Hanns prope um esquema simplificado para descrever o caminho da pulso na esfera individual:
...como um circuito de circulao pulsional que brota no somtico como energia-estmulo nervoso e atinge o sistema nervoso central na forma de sensao e imagem (idias): Fonte pulsional (Triebquelle) Estmulo (Reiz) Estase/Acmulo (Staung) Presso (Drang) Descarga (Abfuhr) Satisfao (Befriedigung).3
Hanns destaca ainda que a palavra Trieb empregada por Freud tanto para designar todo o circuito descrito acima, como para nomear elos isolados desse circuito, por exemplo fonte pulsional, estmulo ou presso.4 Com referncia ao texto A pulso e seus destinos, que retomamos agora, Hanns sublinha que Freud define a pulso como um tipo de estmulo (Reiz), que se diferencia quanto origem e finalidade. Hanns afirma que:
Enquanto os estmulos no-pulsionais so externos e ocasionais (luz, frio, etc.) os estmulos pulsionais provm de fonte orgnica interna, so gerados incessantemente e tm finalidade. A onda de estmulos pulsionais chega ininterruptamente psique e, aps atingir certa massa crtica, ento percebido sob a forma de imagens (representaes) carregadas de qualidades
1 2
HANS, 1996, p. 351. HANS, 1996, p. 351. 3 HANS, 1996, p. 351-352. 4 HANS, 1996, p. 352.
81
afetivas. Pode ocorrer ento um acmulo (Staung) de estmulo (energia) que se torna incmodo.1
E nos d um exemplo de como isso funciona: os estmulos gerados pela pulso de alimentao sero percebidos como fome. Seu acmulo provoca no sujeito uma presso (Drang), isto , uma necessidade, uma urgncia de livrar-se da presso procurando a descarga (Abfuhr) e a conseqente satisfao (Befriedigung). Como entendemos a passagem do somtico para o psquico no caso da pulso escpica? Qual o seu caminho? Retomando nossa idia sobre o desenvolvimento da pulso escpica, agora com as contribuies de Hanns, diramos que, semelhana das demais pulses, ela surge como fenmeno fsico orgnico, mas num momento em que ainda no pode ser chamada de pulso, por no ser algo sexual. A encontramos os prottipos da fonte pulsional, com a peculiaridade de que imaginamos que esse fenmeno fsico, para a pulso escpica, seriam as alteraes provocadas pelos estmulos provenientes dos diversos rgos do corpo que constituem o olhar, inclusive o olho. Essa definio de olhar qual fazemos aluso ser desenvolvida nas partes subseqentes. Tais estmulos, num primeiro momento, partiriam do corpo do outro, que ativamente daria um sentido originrio a eles. Em outras palavras, teramos a atuao desse outro que cuidaria do sujeito e o faria entender que est sendo percebido, amparado, contido, amado, visto o que faria com que esses estmulos, por seu acmulo energtico e carga afetiva, atingissem a mente do sujeito, transformando a pulso num fenmeno sexual psquico. Posteriormente, a estimulao, de certa forma j implantada e interpretada, poderia brotar do corpo do prprio sujeito, de qualquer rgo que lhe faa ter como objetivo mostrar-se e perceber esse outro. Supomos que esteja a a chave do funcionamento da pulso escpica, fundamentalmente no mostrar-se e ser percebido como objeto de interesse, sexual, de amor, e no mais apenas no ver e ser visto com base no sentido visual fisiolgico. Hanns nos diz que em sua manifestao no indivduo, a pulso se faz sentir na passagem do limiar entre o somtico e o psquico [...] como um estmulo (Reiz) que atinge o nvel da conscincia.2 Deduzimos que essa passagem seria feita pelo outro, que ativamente dar significado ao ver, ao perceber o sujeito como objeto de seu
1 2
HANS, 1996, p. 352. HANS, 1996, p. 352.
82
investimento afetivo. Ver o objeto de amor passa a significar o fim do desamparo; ser visto adquire a conotao de ser cuidado, ser admirado, ser amado. Portanto, a posio passiva da criana que recebe essas mensagens se transforma em ativa, quando ela passa a traduzi-las e a incorpor-las em seu repertrio psquico. Temos com Freud uma demonstrao desse conforto representado pela viso do objeto amado, do desamparo provocado por sua ausncia e da posio ativa e prazerosa que a criana adquire ao passar a simbolizar essa situao e a represent-la em suas aes, no famoso jogo do carretel, descrito em seu livro Alm do princpio do prazer (1920). Freud traz o exemplo do que ele chama de modo de funcionamento do aparelho mental em uma de suas primeiras atividades normais, a brincadeira das crianas. No caso, so brincadeiras em que ela controla as idas e vindas do objeto de seu investimento afetivo, demonstrando enorme prazer ao fazer isso. Ele relata alguns comportamentos e a primeira brincadeira inventada por um menininho de um ano e meio, que pde observar por um longo tempo porque moraram na mesma casa. Esse menininho apresentava um desenvolvimento intelectual normal, era considerado um bom menino, no incomodava os pais noite, era obediente e, embora fosse apegado me, nunca chorava quando ela o deixava sozinho algumas horas. Freud descreve uma atividade que o menino repetia constantemente. Ele tinha o hbito de pegar objetos e seus brinquedos e jog-los para longe, de modo que era difcil encontr-los. Enquanto fazia isso, demonstrava satisfao e emitia um som que foi interpretado por seus familiares e por Freud como a palavra alem fort, como se os mandasse ir embora. Freud deduz que essa atividade se tratava de um jogo e que o nico uso que o menino fazia dos seus brinquedos era brincar desse ir embora. Ento, observa o menino brincando com um carretel de madeira que possua um cordo preso a ele. O garoto segurava o carretel pelo cordo e com agilidade arremessava-o
...por sobre a borda de sua caminha encortinada, de maneira que aquele desaparecia por entre as cortinas, ao mesmo tempo em que o menino proferia seu expressivo o-o- (fort). Puxava ento o carretel para fora da cama novamente, por meio do cordo, e saudava o seu reaparecimento com um alegre da (ali).1
FREUD, 1920, p. 26.
83
A brincadeira consistia em fazer o carretel desaparecer e retornar. E, apesar de interromper muitas vezes a brincadeira na primeira parte, o menino sentia mais prazer com a segunda. Freud diz o seguinte:
A interpretao do jogo tornou-se ento bvia. Ele se relacionava grande realizao cultural da criana, a renncia instintual (isto , a renncia satisfao instintual) que efetuara ao deixar a me ir embora sem protestar. Compensava-se por isso, por assim dizer, encenando ele prprio o desaparecimento e a volta dos objetos que se encontravam a seu alcance.1
Outra possibilidade de interpretao trazida por Freud que, ao arremessar o objeto, o menino se vingava de sua me por deix-lo s, como se dissesse que no precisava dela. Considerando qualquer uma dessas interpretaes, diramos que, com a brincadeira, o menino passava de uma posio passiva da experincia para uma postura ativa, quando repetia uma situao em que tinha o controle do objeto de seu investimento afetivo por meio da viso e da perda de vista, do desaparecimento dele. Freud relata ainda uma outra atividade em que o menino provocava seu prprio desaparecimento com a viso de seu reflexo num espelho. Certa vez, quando sua me ficara muitas horas fora, ele a recebera com um beb o-o-!. Durante sua ausncia ele ficara diante de um espelho brincando de agachar e levantar, fazendo sua imagem sumir e aparecer. Fica claro, portanto, como a viso do objeto de amor adquire a significao de sua presena, seu cuidado afetivo. A ausncia e o desaparecimento desse objeto podem provocar angstia e desamparo, mas at que haja a aquisio da noo de que esse objeto persiste, mesmo sem ser visto, e adquire uma representao psquica juntamente com a crena em sua volta, o que assume a conotao de amparo, de conforto. Depois dessas consideraes sobre o jogo do carretel e voltando nossa descrio do momento em que a pulso surgiria, devemos ressaltar que essa primeira situao descrita aqui como um instante originrio e hipottico. A pulso seria disparada por esse outro, mas, logo em seguida, ou de imediato, seria recebida e traduzida pelo sujeito que tambm a incitaria. Assim como em outros aspectos, necessrio estabelecer um modelo simplificado de funcionamento do psiquismo para que possamos compreender sua articulao complexa.
FREUD, 1920, p. 26.
84
Pretendemos agora trazer mais alguns dados para continuarmos com a discusso sobre quais seriam os elementos da pulso escpica. O leitor provavelmente j percebeu aonde pretendemos chegar, e certamente repetiremos algumas de nossas idias, mas precisamos ainda fazer um pequeno desvio e considerar as idias de Huot,1 um dos poucos autores que tratam do assunto. Suas idias tambm nos sero teis em outros momentos de nosso trabalho. Huot, em seu livro Do sujeito imagem: uma histria do olho em Freud, questiona se o olho a fonte da pulso escpica, pois, segundo ele, Freud afirma que seu objeto no esse rgo.2 No incio deste captulo, indagamos qual seria a fonte da pulso escpica. O prprio Freud afirma que no seria o olho em si, em Huot encontramos uma sugesto de qual poderia ser essa fonte. Como a fonte pulsional encontra-se na excitao sexual de um rgo, e esse rgo se torna uma zona ergena, Huot afirma que justamente nessa anatomia sexual que o olho vai encontrar o seu lugar como fonte pulsional3 e cita Freud: nos casos de voyerismo, o rgo visual que desempenha o papel de zona ergena. Mais adiante ele esclarece sua idia e diz:
enquanto lugar da formao da imagem, enquanto aparelho tico, visual, que uma punio incide sobre o olho devido sua atividade sexual. No o olho como globo ou como mucosa que visado, mesmo se a que s vezes atingido no ponto mais cruel da carne: o olho na sua relao com as imagens, o olho como aparelho visual [...]. A fonte da pulso , portanto, a imagem, a formao da imagem que ocorre no aparelho visual do qual o olho apenas a parte visvel ou, muitas vezes, o representante. O olho s fica perturbado em relao a uma certa percepo, cujas caractersticas Freud no define nesse artigo. As linhas segundo as quais se estrutura o desejo na viso permanecem misteriosas para Freud, assim como para o seu leitor.4
Concordamos em parte com esse autor. Devemos lembrar que a definio de fonte feita por Freud clara e demonstra que necessrio um apoio somtico para a pulso. Huot afasta-se um pouco disso ao enfatizar o resultado dos processos fisiolgicos do aparelho visual, a imagem abstrata, e no os processos em si mesmos. A imagem se a tomarmos de uma maneira ampliada corresponderia, de acordo com nosso raciocnio, a uma outra parte do conceito pulsional. Talvez a fonte seja a principal
1 2
HUOT, 1991. No entanto, diramos que Freud, pelo contrrio, ressalta que o objeto dessa pulso pode ser sim esse rgo, mas no julgamos ser este o momento apropriado para discutir essa afirmao sobre o objeto. 3 HUOT, 1991, p. 178. 4 HUOT, 1991, p. 180.
85
parte desse conceito em que percebemos nitidamente sua ligao com certos aspectos biolgicos da pulso e sua dependncia corporal. E no podemos abrir mo disso. Consideramos, por outro lado, que a fonte da pulso deve ser algo que inclua e ao mesmo tempo extrapole o olho e o aparelho visual em sua totalidade, e que devemos contemplar outros rgos alm dos olhos e no s os do sujeito. Apenas a formao da imagem no se constitui como fonte de nada. E que imagem essa? Essa imagem deve ser interpretada, significada. Ao adotarmos o conceito de olhar como algo mais abrangente, que engloba os outros sentidos, devemos tambm ampliar o alcance da pulso escpica. Mas qual sada, ento? Bem, retomando nossa idia mencionada h pouco, o desenvolvimento da pulso escpica deve ter sua origem no outro que olha, que percebe a existncia de um sujeito que se mostra. Num primeiro momento ele se mostra sem o saber, pois so os outros que o percebem. Quando for introduzido nesse circuito afetivo, ele passar a querer ser percebido, notado e reconhecido como objeto de amor, podendo se exibir. A, sim, entender a funo de seus olhos, funcionem eles ou no. Tudo isso no ocorre pela via unicamente visual. Alis, inicialmente o desenvolvimento da pulso escpica, supomos, no se d exclusivamente pelo olho, muito menos pela viso. At que tenha aprendido a ver, uma criana no capaz de enxergar e entender o que um seio, o que um rosto, o que um rgo seu ou de seus pais, assim como o adulto vidente o faz. Quando esclarece sobre o desenvolvimento da pulso escpica, Freud adota a percepo no apenas de um sujeito vidente, com olhos perfeitos, mas tambm de um sujeito que prontamente sabe interpretar as informaes dos raios luminosos que lhe chegam retina, o que est a seu redor. Por essa razo, imaginamos que ele tenha descrito a pulso escpica com os desvios que vimos sublinhando. Certamente o olhar visual assumir na trama pulsional, um lugar de destaque, podendo at se tornar a principal via do desejo. Porm, no podemos tomar isso como algo originrio nem restrito ao olho. O olhar visual, ao contrrio do que afirma Huot,1 no condio para o desejo; pode ser uma das condies, pode at ser a predominante, mas no podemos afirmar que seja a condio.
Se prosseguirmos, com a tese que expusemos previamente, devemos partir deste ponto: que pelo olho que existem os objetos sexuais: seios, rgos
1
HUOT, 1991.
86
genitais, fetiches etc. A linha de corte, a parte visvel e o invisvel do objeto s pode existir no e pelo campo visual.1
Com essa afirmao ele est excluindo todos os privados de um campo visual. Talvez seu engano primrio seja vincular o ver e a pulso escpica apenas ao olho, ao sentido visual. Pelo modo como os seres humanos desenvolvem a viso, talvez a percepo de um rgo no ocorra primeiro pelo olho, e sim pelo tato.
O olho tampouco est do mesmo lado da pulso sexual que o falo: ele no objeto sexual, mas rgo por meio do qual os objetos sexuais e o desejo ganham existncia; ele no a fonte do desejo (como o objeto sexual), no seu instrumento ou seu representante (como o falo): ele a condio do desejo.2
Huot torna relativa em parte sua posio ao final desse tpico, ao dizer que, se algum perde a viso, continuar a desejar. Porm, continua vinculando o desejo viso um dia existente: O sujeito desejante, dipo ou Antgona, pode sem dvida ser excludo da cidade; mas o sujeito, se um dia ele viu, no pode mais se excluir do desejo.3 Ento, empregando nosso raciocnio, diramos que o sujeito, se um dia foi percebido, foi visto e no ele, em suas origens, ativamente viu, como objeto de amor, foi desejado por um outro, ele no poder mais escapar do desejo. Retomando o caminho que trilhamos at aqui, partimos da idia de que a pulso escpica, assim como outras modalidades pulsionais, deve estar presente em todo e qualquer ser humano, independentemente de limitaes fsicas e sensoriais. Definimos pulso e demonstramos como a pulso escpica deve fazer parte do psiquismo de um cego inato, por exemplo. Mas ainda precisamos demonstrar como isso ocorre. Percebemos, ento, que algumas colocaes tericas sobre o assunto devem ser aprimoradas. Qual a relao da pulso escpica com o olho? Inicialmente constatamos que no poderemos, pura e simplesmente, conceber o olho como o rgo-fonte dessa pulso. Qual seria esse rgo, ento? Ser que a fonte realmente seria proveniente de um rgo? Outra inferncia que fizemos que, com a pulso escpica, seu objeto teria uma importncia maior do que a fonte. Levantamos tambm a hiptese de que o olho do outro poderia ser o rgo-fonte disparador da
1 2
HUOT, 1991, p. 182. HUOT, 1991, p. 184. 3 HUOT, 1991, p. 184.
87
pulso e comeamos a estabelecer quando e como esse rgo seria introjetado, assim como a prpria pulso escpica. Por outro lado, deduzimos que em seu desenvolvimento a pulso escpica no poderia ser ativa a priori. Por que chegamos a essa concluso? Levantamos dois argumentos: (a) o enxergar para qualquer pessoa algo que se aprende; (b) para que uma pessoa sem olho funcional tenha pulso escpica, inicialmente ela precisa ser olhada para buscar e saber da existncia de um olhar. Desdobrando, ento, essa questo, nos indagamos: Como falar sobre a existncia de um beb escpico auto-ertico? Elegemos explorar a seguinte sada para esse impasse: (a) essa pulso no pode ser ativa e auto-ertica no incio de seu desenvolvimento. Seguindo essa sada, deduzimos que o surgimento dessa pulso marcado por uma passividade, que seria anterior vertente passiva da pulso escpica o exibicionismo. E, ao contrrio do que diz Freud, talvez a vertente exibicionista seja anterior voyerista. Daremos, neste momento, prosseguimento a nossos escritos nos apoiando em Laplanche. Reconhecemos em sua teorizao o suporte necessrio para completarmos o raciocnio que vimos desenvolvendo at aqui. Recuperaremos com ele a teoria do apoio e parte da teoria da seduo, e recorreremos a ele para nos ajudar a desenvolver tambm uma nova proposta para os caminhos da pulso escpica. Para tanto, utilizaremos mescladamente trs de suas obras: Freud e a Psicanlise: o desvio biologizante (1997), Novos fundamentos em Psicanlise (1992) e Vida e morte em Psicanlise (1985). Falaremos resumidamente sobre a situao originria do ser humano marcada por prematuraes e pelo desamparo inerentes a esse momento, sobre a anttese atividade/passividade, sobre as mensagens enigmticas e os objetos-fontes das pulses, sobre a teoria do apoio e, finalmente, sobre o destino da pulso escpica. Para comear a tratar desses aspectos, devemos nos lembrar de que estamos contemplando um ser humano em seus primeiros momentos de vida. Essa poca ser designada por Laplanche como a situao originria, da qual a criana e o adulto so os protagonistas. Do ponto de vista da criana, devemos tom-la como o confronto do recm-nascido, da criana no sentido etimolgico do termo, aquele que ainda no fala, com o mundo adulto.1 J na perspectiva do adulto, devemos considerar os efeitos da entrada da criana em seu mundo.
1
LAPLANCHE, 1992, p. 96.
88
Laplanche fala sobre um indivduo biopsquico, um beb que e deve ser contemplado pela observao. O beb trazido por Laplanche uma homeostase onde se pode distinguir dois nveis: um nvel mais diretamente fisiolgico e o nvel psicofisiolgico ou instintivo.1 Trata-se de um beb desadaptado, prematuro, que confrontado com tarefas de nvel demasiado alto relativamente ao grau de maturao psicofisiolgica.2 Portanto, segundo Laplanche, haveria para o ser humano dois tipos de prematurao que marcam a diferena entre o plano da autoconservao e o sexual. A prematurao no domnio adaptativo est ligada ao problema da sobrevivncia; a prematurao no domnio do sexual o confronto com a sexualidade para a qual [...] a criana no tem a reao adequada. o que Freud chama de estado pr-sexual.3 Essas prematuraes explicam a necessidade que o ser humano tem da ajuda do adulto para subsistir. A falta dessa ajuda, segundo Laplanche, o que Freud chama de Hilflosigkeit, termo normalmente traduzido como desamparo, abandono e pnico. Devemos sublinhar que em Freud o significado
...dessa palavra bem menos afetivo do que o na lngua alem em geral; conota um estado objetivo [...]: estado sem ajuda, estado de desajuda, insocorro? Em suma, o estado de um ser que, se entregue a si mesmo, incapaz de ajudar-se por conta prpria: precisa, portanto, de ajuda externa.4
Nesse momento, h uma ausncia no beb da intuio perceptiva dos perigos. A incapacidade de se ajudar atuaria tanto na procura de valores positivos para a subsistncia quanto para evitar perigos nas reaes de medo. Laplanche destaca como Freud notou isso e traz um exemplo de experincias, exemplo que ser citado por ns por curiosamente se assemelhar ao que traremos ao falar de como o ver aprendido. Com esse exemplo Laplanche demonstra claramente como o ser humano est desamparado, vive num estado de desajuda, inclusive com relao sua prpria viso. Ele precisa aprender a ver e nem sabe disso.
Olhem uma criana, [...] ela corre numa mureta na borda de um precipcio, brinca com facas, aproxima-se do fogo, no tem nenhuma noo de perigo, nenhuma montagem de reao. Nenhum medo; a criana no tem medo porque no tem montagem adaptativa, embora, tambm aqui, seja de certa forma Hilflos, e isto, poderamos dizer, feliz da vida; simplesmente precisa
1 2
LAPLANCHE, 1992, p. 102. LAPLANCHE, 1992, p. 103. 3 LAPLANCHE, 1992, p. 103. 4 LAPLANCHE, 1992, p. 104.
89
de ajuda externa e nem mesmo se d conta disto. Ora, o que uma constatao cotidiana pode ser cientificamente confirmada por experincias sobre reao ao perigo. Podem-se, assim, comparar os comportamentos face ao vazio da criana pequena e de determinado passarinho, de uma espcie que geralmente constri seus ninhos nos buracos das falsias. Basta colocar um vidro perfeitamente transparente sobre o buraco e nele pr o sujeito: o beb avana como se no houvesse problema algum, enquanto o pssaro se recusa a andar inclinado sobre o abismo. Fcil experincia de observao e que demonstra num ponto preciso essa incapacidade do pequeno ser humano de se ajudar diante do perigo ou, at mesmo, de perceb-lo.1
Em suma, apesar de possuir algumas montagens e aptides adaptativas, a criana continua fundamentalmente destinada Hilflosigkeit. Ela precisa, sem o saber, da ajuda de algum para a satisfao de suas necessidades, para a preveno dos perigos e at para a aprendizagem do medo, que nela deficitrio. O medo se aprende, e no essencialmente pela experincia; ele ensinado: no tocando o fogo que nos afastamos dele, mas sim porque nos disseram antes para no tocar nele.2 Segundo Laplanche, o primeiro aparelho psquico como uma pequena mquina humana que chama ajuda de um estranho, unicamente porque a excitao que vem de dentro transborda. Por si mesmo, ele incapaz de ativar os mecanismos que convergem para o restabelecimento dos equilbrios.3 Temos o seguinte exemplo de Laplanche, que demonstra como uma ao do nenm ser significada pelo adulto.
Se h falta de glicose no sangue, o nico remdio ir buscar um pedao de po, mas o bebezinho no pode ir buscar leite; e a nica maneira com que pede ajuda, justamente no um pedido, uma mensagem, mas um simples ndice objetivo: o transbordamento da chaleira. So gritos, movimentos, uma agitao desordenada que rapidamente a me aprende a reconhecer como pedido de ajuda.4
Temos, ento, uma via de mo dupla, que desigual nos dois sentidos. Com relao autoconservao ou adaptao,
...a comunicao se d no sentido criana-pais; enquanto no domnio sexual se d no sentido inverso, de forma que a criana evolui da adaptao para a sexualidade. [...] H um verdadeiro desencontro entre a via que percorre a criana e a que percorre a me.5
1 2
LAPLANCHE, 1992, p. 105. LAPLANCHE, 1992, p. 108. 3 LAPLANCHE, 1992, p. 104. 4 LAPLANCHE, 1992, p. 104. 5 LAPLANCHE, 1992, p. 104-105.
90
De um lado est a criana com seu despreparo; do outro, o adulto com seu inconsciente e seus desejos. O adulto dotado de um inconsciente, que produz operaes falhas, lapsos de linguagem, equvocos na fala e na escrita. Dessa forma, na comunicao do adulto para com a criana, existe uma operao que quer transmitir algo, mas falha. E essa falha tambm tem um sentido e veicula algo do recalcado do prprio adulto. Assim, nessa falha so transmitidas mensagens que o sujeito recusa ou no reconhece como tais, um sentido que no estava presente para aquele que o comunica, no momento em que o comunica. , portanto, como um ser capaz de lapsos e de operaes falhas que apresentado o ser humano.1 Ento, Laplanche relaciona essa situao originria com a teoria da seduo. A clivagem do adulto e as mensagens enigmticas seriam sedutoras justamente por seu carter desviante:
O originrio , portanto, uma criana, cujos comportamentos adaptativos, existentes mas imperfeitos, dbeis, esto prestes a se deixarem desviar, e um adulto desviante, desviante em relao a qualquer norma concernente sexualidade [...] desviante em relao a si mesmo, na sua prpria clivagem.2
Laplanche acrescenta um comentrio que traduz o sentimento conflitivo que a criana pode despertar no adulto, justamente porque ele foi uma criana um dia. Ele diz que, quando a criana continua presente no adulto, esse adulto diante da criana ser particularmente desviante, levado operao falha, at o sintoma, nessa relao com esse outro ele mesmo, esse outro que ele mesmo foi. A criana diante dele faz apelo ao infantil nele.3 Em resumo, temos a situao originria marcada por um duplo registro. Por um lado, temos interao e troca, por outro, no.
A relao originria se estabelece, devido a isto, num duplo registro: uma relao vital, aberta, recproca, que podemos perfeitamente dizer interativa; e uma relao onde est implicado o sexual, onde a interao no ocorre mais, pois a balana desigual. No ser humano, nem sempre h ao e reao iguais entre si, como quer a fsica. Nele, h um sedutor e um seduzido, um desviador e um desviado, conduzindo para longe das vias naturais.4
Ento, em decorrncia desse descompasso, temos efeitos na criana. Um deles que a linguagem do adulto pode assumir um carter traumatizante quando consideramos que ela veicula um sentido dele mesmo ignorado, manifestando a
1 2
LAPLANCHE, 1992, p. 110. LAPLANCHE, 1992, p. 110. 3 LAPLANCHE, 1992, p. 110. 4 LAPLANCHE, 1992, p. 110-111.
91
presena do inconsciente desse adulto. Temos mensagens que interrogam a criana antes mesmo que ela as compreenda e s quais ela deve dar sentido e resposta, o que uma s e mesma coisa.1 A partir dessa idia de descompasso, podemos tambm introduzir a noo de atividade e de passividade uma vez que, no confronto adulto/criana, o psiquismo dos pais mais rico que o da criana. Mas esta riqueza do adulto tambm sua enfermidade, sua clivagem em relao a seu inconsciente.2 De acordo com Laplanche, a seduo originria quem introduz a dessimetria atividade-passividade. Os cuidados maternos ou o ataque paterno s so sedutores porque no so transparentes, opacos, veiculando o enigmtico.3 Chegamos teoria da seduo. A seduo apresenta-se, assim, como um principal fator gerador em Psicanlise. Nos novos fundamentos formulados por Laplanche, ele analisa o lugar da seduo ao longo de toda a teoria freudiana (teoria da seduo restrita, seduo precoce e seduo originria) e constri a teoria da seduo generalizada. No caso que vimos discutindo, estamos apresentando a seduo originria pela qual ele qualifica a situao fundamental em que o adulto prope criana significantes no-verbais, assim como verbais, inclusive comportamentais, impregnados de significaes sexuais inconscientes.4 Esse so os significantes enigmticos. Laplanche inclui na seduo originria situaes, comunicaes, que em nada dependem do ataque sexual. O enigma, aquele cujo mvel inconsciente, seduo por si mesmo.
5
Encontramos agora os objetos-fontes da pulso e a fonte da pulso propriamente dita. Laplanche define os objetos-fontes da pulso como os restos inconscientes resultantes de um difcil trabalho de domnio e de simbolizao, para no dizer impossvel, suscitados por essas mensagens enigmticas. Laplanche fala sobre uma inadequao de lnguas, inadequao da criana ao adulto, mas tambm e primordialmente, inadequao do adulto ao objeto fonte que age nele mesmo.6 Ento, retornamos questo da fonte da pulso. Seguindo seu raciocnio, Laplanche define esse termo como:
1 2
LAPLANCHE, 1992, p. 133. LAPLANCHE, 1992, p. 134. 3 LAPLANCHE, 1992, p. 137. 4 LAPLANCHE, 1992, p. 134. 5 LAPLANCHE, 1992, p. 136. 6 LAPLANCHE, 1992, p. 138-139.
92
A fonte, na anlise que fizemos dela, nada mais pode ser do que o resqucio inconsciente do recalcamento originrio. Em outras palavras o que chamamos de objeto-fonte (o que Freud j aprendera de certa forma como representao-coisa). [...] mas tambm preciso sublinhar [...] que a fonte no puramente representativa e que ela est ancorada no somtico das zonas ergenas, precisamente em conseqncia do fenmeno de seduo.1
Para pensar o processo sexual em uma zona ergena no-genital, Laplanche define as zonas ergenas: elas seriam lugares de trnsito e de troca; seriam antes de qualquer coisa e primordialmente, os pontos de focalizao dos cuidados maternos. Cuidados higinicos motivados conscientemente pela solicitude, mas onde as fantasias de anseio inconsciente funcionam a todo vapor.2 J Freud define o impulso da pulso em termos fisicalistas que no devem ser necessariamente renegados como exigncia de trabalho; Laplanche, diferentemente de Freud, diz que essa exigncia de trabalho no exercida diretamente pelas fontes somticas, e sim por prottipos inconscientes ou; sendo mais exato, pela diferena entre o que simbolizvel e o que no o nas mensagens enigmticas originrias.3 Laplanche tenta trazer a noo de pulso e seus elementos, utilizando a concepo de apoio. no mais apenas a fonte da necessidade alimentar que provoca ocasionalmente o despertar da fonte sexual. a funo alimentar ou excretria no seu conjunto, ao mesmo tempo fonte e alvo e objeto, o conjunto da atividade que serve para a conservao da vida, que serve de fonte abalando uma fonte mais ou menos predestinada a tornar-se sexual.4 Como acabamos de mencionar a teoria do apoio, neste momento vamos falar um pouco sobre ela para; em seguida, relacionar essa noo do apoio com a noo de fonte da pulso escpica. O que a teoria do apoio? Laplanche recupera e complementa a teoria freudiana do apoio, demonstra suas aparies ao longo da obra de Freud e resgata sua importncia, assim como faz com a teoria da seduo, parte da qual acabamos de vislumbrar. Segundo essa teoria, o corpo e suas sensaes so o apoio, a base que d origem pulso, sem se tratar dela; em outras palavras, toda modificao do
1 2
LAPLANCHE, 1992, p. 151. LAPLANCHE, 1992, p. 137. 3 LAPLANCHE, 1992, p. 152. 4 LAPLANCHE, 1997, p. 46.
93
organismo, toda perturbao suscetvel de ser a fonte de um efeito marginal que precisamente a excitao sexual no ponto em que se produz essa perturbao.1 Assim, no incio, a satisfao da zona ergena estaria sem dvida associada satisfao da necessidade [...]. A satisfao sexual se apia primeiramente sobre uma das funes que servem conservao da vida, s liberando-se dela mais tarde.2 Por outro lado, no haveria nenhuma relao de derivao direta entre a ao consumatria (o alvo) da necessidade e a ao consumatria (o alvo) sexual.3 No primeiro momento, notamos como a necessidade e a sexualidade encontram sua satisfao ao mesmo tempo. Depois, elas se separam. Em Freud, o apoio
...refere-se ao fato do funcionamento sexual apoiar-se no funcionamento autoconservativo, ambos podendo ser chamados tanto de psquicos quanto de somticos: o sexual no mais psquico e a autoconservao mais somtica; ambos so aspectos globais de um funcionamento que tem um sentido.4
Segundo Laplanche, a imagem mais simples para representar o apoio um diedro, isto , a interseo de dois planos, o da autoconservao e o da sexualidade; o apoio se produz na linha de interseo.5 Com o autor percebemos como a fonte da pulso perde seu carter meramente corporal biolgico. Ao falar sobre pulso, estamos falando sobre sexualidade. Ao falar sobre sexualidade, estamos falando do sentido trazido por um outro, sentido que se apia em sensaes fisiolgicas, mas apenas se apia e no tais sensaes em si mesmas. O sexual emerge da autoconservao e, posteriormente, de qualquer abalo do organismo que faa surgir a excitao sexual. O apoio no pode possuir um sentido restrito de um funcionamento em paralelo sempre vindo do ego. A sexualidade no prioritariamente endgena, nem encontra seu ponto de partida no ego. A fonte se torna abalo exgeno, implantao de um corpo estranho.6 Porm, Laplanche nos alerta que a fonte designada s vezes por uma funo autoconservadora precisa, apesar de no se tratar restritamente delas. exatamente isso que notamos ocorrer com a pulso escpica. Normalmente, essa funo se localiza em lugares de passagens como as mucosas, que so lugares de troca com o exterior
1 2
LAPLANCHE, 1885, p. 92. LAPLANCHE, 1997, p. 42. 3 LAPLANCHE, 1997, p. 43. 4 LAPLANCHE, 1992, p. 153. 5 LAPLANCHE, 1997, p. 41. 6 LAPLANCHE, 1997, p. 48.
94
(principalmente no sentido autoconservador do organismo), lugares de cuidados, enfim [...] so lugares de polarizao de algo externo, que vem enxertar-se, atravs desses cuidados, no funcionamento endgeno.1 No havendo endgeno, surge o exgeno implantado.
A fonte no mais um lugar do corpo de onde jorrariam, em vizinhana, dois processos, dos quais um seria autoconservador e o outro sexual. A prpria palavra fonte no mais vlida se for entendida como aquilo do qual escoa naturalmente alguma coisa: a sexualidade no corre da fonte, como a gua.2
Ao desenvolver uma concepo que visa salvar o apoio, Laplanche modifica, como vimos mostrando, a noo de fonte, de alvo e a relao entre ambos. Suas consideraes corroboram o que intumos no que diz respeito pulso escpica. O alvo pode, por exemplo, em vez de ser secretado pela fonte, passar a ser a prpria fonte.3 Retomando nosso foco e seguindo o raciocnio de Laplanche, nos perguntamos: qual seria a fonte para a pulso escpica? Como reescrever o destino dessa pulso aproveitando suas contribuies que introduzimos? Procuraremos tambm descrever a situao originria e buscar os fundamentos dessa pulso. Se considerarmos a teoria freudiana do apoio assim como fez Laplanche, por exemplo, para analisar os caminhos da pulso sadomasoquista em seu livro Vida e morte em Psicanlise, devemos lembrar que a pulso sexual surgir a partir de atividades no-sexuais marginalmente se apoiando em funes que servem conservao, ou seja, surgir o prazer do rgo a partir do prazer de funo.4 Desenvolveremos agora com a pulso escpica o mesmo raciocnio que Laplanche traou com relao pulso sadomasoquista. Freud traz o seguinte esquema sobre o processo da pulso sadomasoquista:
(a) O sadismo consiste no exerccio de violncia ou poder sobre uma outra pessoa como objeto. (b) Esse objeto abandonado e substitudo pelo eu do indivduo. Com o retorno em direo ao eu, efetua-se tambm a mudana de uma finalidade instintual ativa para uma passiva.
1 2
LAPLANCHE, 1997, p. 48. LAPLANCHE, 1997, p. 48-49. 3 Cf. LAPLANCHE, 1997, p. 50. 4 LAPLANCHE, 1885, p. 92.
95
(c) Uma pessoa estranha mais uma vez procurada como objeto; essa pessoa, em conseqncia da alterao que ocorreu na finalidade instintual, tem de assumir o papel do sujeito. O caso (c) o que comumente se denomina de masoquismo.1
Retomando o que dissemos acima, a sexualidade propriamente dita somente aparece como pulso isolvel e observvel, no momento em que a atividade no sexual, a funo vital, destaca-se de seu objeto natural ou o perde. Para a sexualidade, de acordo com a interpretao de Laplanche sobre o esquema freudiano, somente o momento reflexivo, (selbst ou auto) que constitutivo, momento do retorno sobre si mesmo, auto-erotismo, quando o objeto foi substitudo por uma fantasia, por um objeto refletido no sujeito.2 Laplanche descreve o desenvolvimento da pulso sadomasoquista e introduz noes novas. Segundo ele, o primeiro momento da pulso sadomasoquista descrito por Freud em A pulso e seus destinos no pode ser chamado de sdico propriamente dito, pois essa agressividade uma atividade no-sexual, que servir de apoio para a pulso. Assim, somente depois, no momento do retorno sobre si, pela interveno de um outro, ela adquire esse significado sexual.
Assim, de uma atividade no sexual voltada para um objeto vital, destaca-se por um movimento de retorno, a atividade sexual. Se pretendemos, pois, mostrar que a teoria freudiana do sadomasoquismo concorda com esse esquema do apoio (etayage), devemos faz-lo ressaltando que: 1 o primeiro tempo ativo, dirigido para o objeto exterior, s designado por Freud de maneira imprpria ou por extenso, pois que se trata de um tempo no sexual, portanto propriamente dito agressivo, destruidor; 2 a sexualidade s aparece com o retorno sobre si, logo, com o masoquismo, de modo que, no campo da sexualidade, o masoquismo j considerado como primrio.3
Com relao pulso escpica, Freud inicia seu desenvolvimento no instante de retorno ao sublinhar que ele comea numa etapa auto-ertica. Nesse caso, devemos tambm localizar, no primeiro tempo formulado por Freud assim como fez Laplanche, a atividade no-sexual voltada para um objeto vital, o apoio da qual a atividade sexual ser posteriormente destacada por um movimento de retorno. Essa atividade vital seria o enxergar. A criana, nos primrdios de sua vida, ver a si mesma e as coisas a seu redor sem entendimento algum do que est vendo. Teramos um olhar desordenado, desprovido de qualquer significao sexual e apenas
1 2
FREUD, 1900, p. 133. LAPLANCHE, 1885, p. 92. 3 LAPLANCHE, 1885, p. 93.
96
uma atividade situada no campo da necessidade. Essa significao ser dada ativamente pelo outro na etapa seguinte da pulso escpica, no momento reflexivo. O ver aprendido, e devemos lembrar que ele deve ser tambm ensinado, ou seja, preciso um outro que transmita suas mensagens, que consideramos aqui como o adulto que cuida dessa criana. Pensando, assim, na teoria do apoio, poderamos at perceber certa atividade inicial do olho no desenvolvimento da pulso escpica. Porm, essa atividade no poderia ser chamada de sexual e no seria ainda a pulso escpica propriamente dita. Portanto, esse momento estaria situado no plano autoconservativo do sujeito, e no no plano da sexualidade. Localizamos a o despreparo da criana, que abrange um despreparo tanto biolgico, de um olho que no sabe enxergar, quanto psquico, de sentidos vinculados ao ato de ver, que sero recebidos passivamente. Apenas quando nessa atividade vital encontrar-se um outro que ensine essa criana a ver, um outro que transmita seus significados, inclusive os inconscientes, de ver e ser visto, que d nome aos objetos e s pessoas, que implante a sexualidade por meio de mensagens enigmticas e sedutoras, a sim poderemos falar em pulso escpica. nesse retorno inaugurado por esse outro que encontramos o primeiro momento da pulso escpica, o sentido do ser visto em sua vertente exibicionista. Encontraremos tambm nesse momento, a formao do objeto-fonte" da pulso escpica como resultante da operao simblica feita por um aparelho psquico prematuro, fonte que corresponde a restos no-simbolizveis das mensagens enigmticas originrias", a prottipos inconscientes, que passaram a fazer uma exigncia constante de trabalho. Assim, temos a mencionada passagem do somtico para o psquico. Passaremos agora a analisar a informao de que todos, na verdade, aprendemos a ver. Perceberemos que o modo como vemos limitado pelo aparato biolgico que possumos e que, a partir desse raciocnio, o olhar vai se tornando cada vez mais distante do ver biolgico dos olhos, sendo ampliado. Por outro lado, ficar cada vez mais claro como fazemos com que quem no enxerga faa parte do mundo escpico.
97
2.2 A seduo a ver: imerso no mundo escpico
Cada vez irei vendo menos, mesmo que no perca a vista, tornar-me-ei mais e mais cega cada dia porque no terei quem me veja. 1
Enfocaremos agora casos de pessoas que ficam sem viso por um tempo e voltam a ver depois, de outras que adquirem a viso em idade avanada e finalmente perceberemos como estamos nos referindo ao caso de todo ser humano que, ao contrrio do normalmente pensado, aprende a interpretar o que lhe chega aos olhos para poder ver. Assim, ficar exemplificado o modo como uma pessoa cega participa do mundo escpico. O ver, assim como o ser cego, pode ser primordialmente pulsional. Na verdade, tudo o que vimos tratando faz parte da mesma discusso. So elementos complementares, que vez por outra se sobrepem. Pedimos a ateno do leitor para que acompanhe nosso raciocnio at o momento em que poderemos integrar todas essas discusses. Privilegiaremos o artigo Ver e no ver por termos nele um caso paradigmtico contemporneo do neurologista Oliver Sacks, mdico reconhecido pela comunidade cientfica e literria. Nesse artigo, Sacks faz meno a uma vasta reviso da literatura, fornecendo um panorama sobre a histria de pacientes que recuperam a viso aps um perodo de cegueira. Com suas elaboraes, Oliver Sacks destaca diversos aspectos do conjunto de fatores que compem o enxergar. As informaes que paulatinamente transmitiremos nesta seo, a comear pelas analisadas por Sacks, sero valiosas ao longo do restante de nossa exposio. A descrio do caso de Sacks encontra-se a seguir. No seu trabalho Ver e no ver, Oliver Sacks conta a histria de um homem que se tornou cego em tenra idade e, mais de 45 anos depois, foi submetido a uma cirurgia e voltou a enxergar, apesar de, sem uma explicao exata, voltar a perder a viso, ou melhor, a ver e a no ver. Com essa histria e com referncia a diversas outras, ele questiona o significado do olhar e do ver, a relao do enxergar e da experincia, ou seja, se questiona se no necessria a experincia para ver.2
1 2
SARAMAGO, p. 301. SACKS, 1900, p. 124.
98
No caso desse paciente, chamado de Virgil, assim como no de outros que foram cegos desde pequenos e tiveram seu aparelho visual parcialmente restabelecido, o senso comum imagina que, para enxergar, bastaria apenas que eles abrissem os olhos. Porm, isso no se d dessa forma. Virgil, logo depois de sua cirurgia, no conseguia entender o que estava a seu redor. Os rostos, por exemplo, eram uma mistura confusa de formas, luzes, sombras e cores. Nesse primeiro momento ele no fazia menor idia do que estava vendo. Havia luz, movimento e cor, tudo misturado, sem sentido, um borro. E ento, do meio da ndoa veio uma voz que dizia: Ento?. Foi nesse instante, e somente nesse instante, ele disse, que finalmente se deu conta de que aquele caos de luz e sombra era um rosto e, na realidade, o rosto de seu cirurgio.1 O enxergar composto por vrios fatores. Um deles so as memrias visuais, que se acumulam ao longo da vida. No havia para Virgil memrias visuais em que pudesse apoiar sua nova percepo; no havia nenhuma experincia nem sentido esperando por ele. O mundo no nos dado: construmos nosso mundo por meio de experincia, classificao, memria e reconhecimento incessantes.2 Para distinguir uma esfera de um cubo, tinha que fechar os olhos e toc-los. Chegou a ficar amedrontado quando, poucos dias depois de sua cirurgia, entrou em um supermercado e foi submetido viso de prateleiras, enlatados, pessoas, corredores, frutas, carrinhos. Ele foi jogado num mundo visvel. O comportamento de Virgil no era nem de um homem de viso, nem de um cego. Era antes o comportamento de algum mentalmente cego, ou agnstico capaz de ver, mas no de decifrar o que estava vendo.3 Ele somente tentava usar sua viso quando era chamada sua ateno visualmente para isso. Espontaneamente no o fazia. Sua viso podia ter sido restaurada em grande parte, mas era bvio que o uso dos olhos, o olhar, estava longe de ser natural para ele; continuava com muitos dos hbitos e comportamentos de um cego.4 Tornou-se inseguro, mais incapaz de movimentar-se. Para ele, as rvores no se pareciam com nada. Tinha dificuldade de ler, de identificar as palavras e confundia as letras. No era fcil entender o jogo de sombras das coisas. Os degraus eram um perigo parte: uma confuso, uma superfcie plana de linhas entrecruzadas ou paralelas. Ele
1 2
SACKS, 1900, p. 128. SACKS, 1900, p. 129. 3 SACKS, 1900, p. 131. 4 SACKS, 1900, p. 132.
99
apenas gradualmente conseguiu dar sentido ao que via, mas somente quando era capaz de conectar as experincias visuais com as tteis. Para ele um quadrado tocado no correspondia em nada a um quadrado visto, pois no tinha senso algum de tamanho nem de perspectiva. Em geral, caminhar lhe era assustador, por causa da sua dificuldade com objetos em movimento. Era difcil entender nomes genricos como se no pudessem representar coisas to diferentes. Como a sensao em si no tem marcadores padronizados para tamanho e distncia, que precisam ser aprendidos com base na experincia, Virgil no tinha a menor noo de distncia. No mesmo trabalho Sacks cita tambm histrias de outras pessoas, como um menino que nasceu cego e aos treze anos foi submetido a uma cirurgia que removeu suas cataratas. Apesar de sua grande inteligncia, tinha uma enorme dificuldade com as mais simples percepes visuais. No tinha a menor idia de distncia, de espao ou de tamanho, alm de se confundir com pinturas e desenhos. Oliver Sacks menciona ainda um caso interessante digno de nota:
...tem sido relatado que pessoas que viveram a vida inteira em densas florestas tropicais, com um horizonte de no mais que alguns metros frente, quando colocadas em paisagens amplas e vazias podem chegar a esticar os braos e tentar tocar as montanhas com as mos; no fazem idia da distncia das montanhas.1
A percepo, quando se utiliza do tato, seqencial. A viso envolve a percepo simultnea dos objetos. Oliver Sacks faz ainda consideraes interessantes sobre as noes de tempo e espao.
Ns, com a totalidade dos sentidos, vivemos no espao e no tempo; os cegos vivem num mundo s de tempo. Porque os cegos constroem seus mundos a partir de seqncias de impresses (tteis, auditivas, olfativas) e no sendo capazes, como as pessoas com viso, de uma percepo visual simultnea, de conceber uma cena visual instantnea. Efetivamente, se algum no consegue mais ver no espao, a idia de espao torna-se incompreensvel mesmo para pessoas muito inteligentes que ficaram cegas relativamente tarde na vida.2
O caso de Virgil paradigmtico e importante para nossa discusso, porque comprova nossa assero de que o modo como vemos aprendido. Virgil representa o caso de uma pessoa que enxergou, perdeu a viso, voltou a enxergar e perdeu
1 2
SACKS, 1900, p. 134. SACKS, 1900, p. 138.
100
estranhamente a viso mais uma vez, em contrapartida a todos os esforos de seus mdicos e sua noiva, sendo algum que participa de um modo peculiar do universo escpico. Pois bem, as pessoas que jamais enxergaram, quando recuperam a viso, seriam capazes de ver instantaneamente? Ou poderiam reconhecer os objetos a seu redor apenas pelo ver, sem o toque, o som ou o cheiro? Descobrimos com a anlise desses diversos casos que no. Discusses filosficas tangenciam tambm essa questo h tempos. Temos, por exemplo:
O filsofo do sculo XVII Wilian Moluneux, cuja mulher era cega, colocou a seguinte questo a seu amigo John Locke: Suponhamos que um homem nascido cego, e agora adulto, a quem ensinado distinguir o cubo da esfera pelo tato volte a ver: [ser que poderia agora] pela viso, antes de toc-los, [...] distinguir e dizer qual o globo e qual o cubo? Locke considerou o problema em seu Essay concerning human understanding, de 1690, e decidiu que a resposta era no. Em 1709, examinando mais detalhadamente o problema e toda a relao entre a viso e o tato, em A new theory of vision, George Berkley concluiu que no havia necessariamente conexo entre o mundo ttil e o da viso que uma conexo entre os dois s poderia ser estabelecida com base na experincia.1
Oliver Sacks nos alerta que atingimos a constncia perceptiva a correlao de todas as diferentes aparncias, as modificaes dos objetos logo nos primeiros meses de vida. uma aquisio complexa, que ocorre muito lentamente, o que lhe d a aparncia de um processo simples e natural.
Trata-se de uma enorme tarefa de aprendizado, mas que alcanada to suavemente, to inconscientemente, que sua imensa complexidade mal percebida (embora seja uma conquista que nem mesmo os maiores supercomputadores conseguem comear a fazer face).2
Mesmo com seu aparato biolgico praticamente reconstitudo, Virgil tinha momentos de cegueira psquica alm da fsica. Por que isso ocorria? Ele teria que reaprender a ver, tarefa difcil, como o autor explicita, mas, acrescentamos, Virgil teria de desejar querer ver novamente para ter a fora suficiente para bancar essa odissia. Algo que Sacks vislumbra em seu trabalho, sem perceber e analisar diretamente, o aspecto pulsional do mundo visvel, que nos alerta para o seguinte: para que um sujeito aprenda a ver, ele tem de desejar isso, ele tem de querer fazer parte do mundo
1 2
SACKS, 1900, p. 124-125. SACKS, 1900, p. 141-142.
101
visual, como vidente ou no, tem que ter algum que deseje que ele veja antes mesmo que seja capaz disso. Esses desejos se misturam com toda a configurao psquica do sujeito, o que faz essa aquisio no ser apenas subordinada a atrasos neurolgicos. Sacks fornece algumas consideraes sobre o que chama da personalidade de Virgil, intuindo essa questo: Embora tenhamos falado, no caso de Virgil, sobre uma incapacidade perceptiva, ou agnosia, havia igualmente uma falta de capacidade ou de impulso para olhar, para agir com a viso uma ausncia de comportamento visual.1 Eis nossos questionamentos: Ser que Virgil gostaria de fazer parte do mundo visual vendo? Qual olhar sua famlia, sua noiva e at mesmo o autor tinham sobre ele? Notamos que Oliver Sacks tambm assume em seu relato um ideal neurolgico de recuperao visual, que no foi adotado por Virgil. Sua famlia era contra a cirurgia, apesar dos incentivos da noiva, e mesmo depois da operao e por um bom tempo, continuou tratando-o como um cego. Certa vez, quando fora visitado por seus parentes, apresentou retrocessos ntidos, assumindo o trajeto de progresso somente quando foram embora. J sua noiva gostaria que sua primeira viso fosse a do casamento deles e foi a que mais insistira na operao, investindo to apaixonadamente na viso de Virgil.2 Virgil piora seu estado de sade aps recuperar a viso, engorda muito, passa a ter dificuldades em seu emprego, passa a ver e a no ver ao mesmo tempo. Havia situaes em que ele dizia no enxergar nada, mas ia em direo a objetos e se desviava de obstculos misteriosamente. Oliver Sacks chama esse estado de viso implcita, inconsciente ou cega. Segundo ele, isso ocorre quando as partes visuais do crtex cerebral esto desativadas em contrapartida com os centros visuais na regio subcortical, que permanecem intactos. Os sinais visuais so percebidos e recebem respostas adequadas, mas nada dessa percepo chega conscincia. Estaramos aqui nos defrontando com um caso de cegueira histrica? Infelizmente somente podemos trabalhar com essas informaes, que so filtradas pelo olhar do neurologista que o acompanhou, mas tudo indica que sim. Virgil, segundo Oliver Sacks, teve problemas com a recuperao de sua viso em decorrncia da doena que o enfraquecera. Apesar de atestar como neurologista as dificuldades pelas quais Virgil passou, ele mesmo no percebeu nem assumiu como hiptese, que a recuperao da viso pudesse ter sido um dos motivos que o levaram a
1 2
SACKS, 1900, p. 132. SACKS, 1900, p. 164.
102
perder trabalho, casa, sade, independncia e a prpria viso. Todos os casos que Sacks relata sobre a recuperao da viso curiosamente no possuem um final feliz. Por que o seu paciente seria diferente? Parece-nos que justamente o desejo de ver seu paciente recuperado entre quaisquer outras motivaes, fossem elas quais fossem tenha sido o que o levou a ver o caso de Virgil dessa maneira.
Esta , portanto, a histria de Virgil, a histria de recuperao milagrosa da viso por um homem cego, uma histria basicamente semelhante do jovem paciente de Cheselden, em 1728, e de um punhado de outros nos ltimos trs sculos mas com uma estranha e irnica reviravolta final. O paciente de Gregory, to bem adaptado cegueira, antes da operao, primeiro ficou encantado com a viso, mas logo esbarrou em esforos e dificuldades intolerveis, vendo a ddiva ser transformada em maldio, ficando profundamente deprimido, para morrer pouco depois. Quase todos os primeiros pacientes, de fato, aps a euforia inicial, foram esmagados pelas imensas dificuldades de adaptao a um novo sentido, embora uns poucos, como salienta Valvo, tenham se adaptado e se sado bem. Ser que Virgil poderia ter superado essas dificuldades e se adaptado viso quando tantos outros sucumbiram no meio do caminho?1
O prprio relato de Sacks mostra esse esmagamento de Virgil no meio do caminho. Mas parece que gostaria de incluir seu paciente nesse grupo de poucos. E assim o faz ao escrever e publicar seu relato, sustentando essa dvida. Fica claro, no trecho abaixo, ltimas palavras do artigo, como Sacks denuncia sua interpretao e revela seu prprio ponto de vista que, entra em contradio com o trecho anterior. Virgil foi
...estraalhado por esse golpe e deu vazo a ataques de raiva: raiva de sua incapacidade e de sua doena; raiva de uma promessa e de um sonho despedaados; e subjacente a isso, e mais fundamental que tudo, uma raiva que foi sendo alimentada nele quase desde o incio raiva de ter sido empurrado para uma batalha que no podia nem abandonar, nem vencer. No comeo, houve certamente espanto, admirao e por vezes jbilo. Houve tambm, claro, uma grande coragem. Foi uma aventura, uma excurso para dentro de um novo mundo, do tipo que dado a poucos. Mas ento surgiram os problemas, os conflitos, de ver e no ver, de no ser capaz de criar um mundo visual, e ao mesmo tempo ser obrigado a abrir mo do seu prprio mundo. Viu-se entre dois mundos, exilado em ambos um tormento ao qual no parecia ser possvel escapar. Mas a, paradoxalmente, veio uma libertao na forma de uma segunda e derradeira cegueira uma cegueira que ele recebeu como uma ddiva.2
E Sacks conclui que ento lhe permitido no ver: escapava do mundo ofuscante e atordoante da viso e do espao, para retornar a seu prprio e verdadeiro
1 2
Sacks, 1900, p. 163 SACKS, 1900, p. 163-164.
103
ser, o mundo ntimo e concentrado de todos os outros sentidos que havia sido seu lar por quase cinqenta anos.1 Em algum momento quis ver? Ele no fora empurrado para o mundo visual? Por que a cegueira lhe fora dada como uma ddiva? Quando uma pessoa volta a ver ou comea a ver, est paralelamente sendo imersa em um mundo pulsional escpico, um mundo em que desejam que ela enxergue e consideram a viso como um sentido indispensvel, mesmo sem ela saber o que isso significa. Antes de aprender a ver, considerando a teoria laplancheana que descrevemos na primeira seo deste captulo, diramos, por um lado, que ela deve ser seduzida a ver. Por outro lado, se ela perde a viso ou se jamais enxergou, no quer dizer que tenha sido excluda do universo escpico, pois os significados desse mundo partem originariamente do outro que enxerga desde o momento em que ela ainda desconhece seus olhos. Tambm podemos extrair desse artigo contribuies para a conceituao que pretendemos fazer entre olhar e ver. Quando fala sobre o ver e o olhar, Sacks faz uma distino que se aproxima do que iremos fazer posteriormente. Ele descreve, num determinado momento, essas duas categorias da seguinte forma:
No se v, sente ou percebe em isolamento a percepo est sempre ligada ao comportamento e ao movimento, busca e explorao do mundo. Ver no suficiente, preciso olhar tambm. Embora tenhamos falado, no caso de Virgil, sobre uma incapacidade perceptiva, ou agnosia, havia igualmente uma falta de capacidade ou de impulso para olhar, para agir com a viso uma ausncia de comportamento visual.2
Aqui, o olhar para Sacks um ato que envolve um conjunto de comportamentos:
O ato de olhar como uma orientao, um comportamento pode at desaparecer naqueles que ficam cegos j em idade madura, a despeito do fato de terem sido olhadores durante toda a vida. Muitos exemplos espantosos disso so dados por John Hull em seu livro autobiogrfico Touching the rock. Hull viveu como um homem normal, com viso, at seus quarenta e poucos anos, mas cinco anos aps tornar-se completamente cego perdeu a prpria idia de encarar as pessoas, de olhar para seus interlocutores.3
Poderamos falar que Hull deixou de fazer parte do mundo do olhar? Sim, mas se considerarmos o olhar apenas como ato. Certamente Hull continuou a olhar e ser visto a seu modo e, mesmo cego, fazia parte do mundo escpico.
1 2
SACKS, 1900, p. 164. SACKS, 1900, p. 132. 3 SACKS, 1900, p. 132.
104
Com o intuito de organizar nossas propostas, podemos listar, ento, algumas concluses a que chegamos at aqui e que extrapolam em parte o texto de Sacks. Em primeiro lugar, diramos que esse caso nos mostra que a insero de um sujeito no mundo escpico antecede sua insero no mundo perceptivo visual. Eis nosso principal argumento. Em segundo lugar, percebemos como o olho serve como entrada dos raios luminosos, que sero posteriormente interpretados pelo crebro, junto com a associao de outros estmulos. Em outras palavras, vrios fatores e vrias informaes constroem o enxergar: o olhar engloba uma dimenso que extrapola o ver, a percepo visual. Logo, temos que ampliar o conceito de olhar para qualquer pessoa, o que nos ajuda a entender como um cego participa desse mundo escpico. Em terceiro lugar, constatamos que enxergar algo que se aprende. Interpretar os jogos de luz e sombra, o tamanho aparente dos objetos, as cores, a conjugao de linhas, tudo isso so aquisies provenientes de experincias perceptivas. Em quarto lugar, ficou claro como uma pessoa, mesmo sem ver, faz parte do mundo visual, vendo do modo como seu corpo lhe permite, e pode ou no desejar participar desse mundo como vidente1. Em quinto lugar, notamos que a dimenso pulsional pode ser determinante e se sobrepor a atrasos neurolgicos: o olhar pulsional em todas suas dimenses; o envoltrio pulsional antecede a capacidade orgnica de enxergar e pode prevalecer sobre ela. Para que algum veja, necessrio que deseje isso, que seja seduzido a ver. Esse algum poder conhecer o mundo escpico pela mediao de um outro que ativamente o instigue a ver ou, o contrrio, assim como Virgil, pode desejar no querer fazer parte desse mundo visual. Ao que tudo indica, a rede afetiva do significado do enxergar foi decisiva para sua no-recuperao visual. Diramos que Oliver Sacks d um destaque especial ao fator comportamental, mas indiretamente nos mostra que para ver necessrio muito mais do que a experincia cognitiva. Pessoas que no enxergam
1
Podemos citar, aqui, o relato bastante intrigante de um oftalmologista que conta o caso de uma paciente sua, que, devido a uma alterao gentica, possua um olho atrofiado e o outro com um tamanho exagerado. O olho grande era o olho atravs do qual ela conseguia perceber um pouco de luz e o pequeno era completamente cego. Este olho grande, que acabava tornando-se mais exposto ao ambiente, a fazia sentir dor. Alm disso, ela se queixava que notava em seu namorado, tambm cego, um sentimento de estranheza e averso ao tocar seu olho hipertrofiado. Para sua me esse olho tratava-se da ltima esperana de que sua filha pudesse enxergar. Para o oftalmologista, a nica possibilidade de ela ver a luz. Certa vez, essa paciente procura seu oftalmologista pedindo a ele que retirasse este olho grande que somente a incomodava. Ele fica assustado quando ela diz que o sentido que a luz tinha para ele e para sua me no era o mesmo que tinha para ela. Desconcertado o oftalmologista somente consegue chorar sem saber como agir.
105
podem atribuir certos valores ao mundo vidente, em primeiro lugar em decorrncia das mensagens que recebem, pelo olhar dos que vem. Muitos so os casos de pessoas que adquirem ou recuperam a viso tardiamente e no se adaptam mais ao ver, no gostam dessa melhora. Por fim, verificamos que o olhar deve ser considerado de modo muito mais ampliado do que sua vertente visual; para isso, vamos procurar estabelecer a diferenciao entre ver e olhar no texto de Freud. Antes de terminar esta seo devemos retomar, a ttulo de reflexo, a dimenso surpreendente que identificamos quando o autor mostra que o ato de enxergar pode carregar algo de mortfero, algo desagregador, como fizemos aluso anteriormente:
Marius von Senden, repassando em seu livro clssico Space and sight (1932) todos os casos publicados num perodo de trezentos anos, concluiu que todo adulto que acaba de recobrar a viso passa, mais cedo ou mais tarde, por uma crise de motivao e que nem todo paciente consegue super-la. Fala de um paciente que se sentia to ameaado pela viso (o que significava ter de deixar o instinto de cego e sua noiva l) que ameaou arrancar os prprios olhos; cita caso aps caso de pacientes que se comportam como cegos ou se recusam a ver aps uma operao, e outros, temendo o que a viso pode acarretar, recusam a operao.1
Indagamos, ento, por que seria perigoso impor um novo sentido visual a um cego: Haveria riscos de depresso grave e efeitos letais? Que dimenso desagregadora essa da viso? Que carter ameaador esse? Seria em decorrncia de uma mudana radical em seu envoltrio narcsico, no modo como essas pessoas viam o mundo e a si mesmas? Ganhar a viso no seria, na verdade, perder a organizao psquica vigente at ento? No por acaso que Freud aproxima o complexo de castrao do medo de ficar cego. S que, no caso de Virgil, foi a viso que representou uma castrao. Retomaremos este assunto no ltimo captulo deste trabalho. Voltaremos, a seguir, a contemplar a dimenso pulsional escpica e tentaremos estabelecer os contornos do que todos esses tericos e, em especial Freud, vm denominando de olhar, ver e enxergar.
SACKS, 1900, p. 151.
106
2.3 O desejo cega e faz ver: no ver para ser visto
No se renuncia sexualidade por temor de perder a vida, 1 mas por outras razes, por exemplo, o temor de perder o amor.
Falamos sobre como a aprendizagem do ver marcada por uma passividade primordial e como o enxergar aprendido. Falamos tambm sobre pessoas que apesar de ter seus aparelhos perceptivos recuperados, no conseguem reaprender a ver por uma questo tanto neurolgica quanto pulsional e, alm disso, como a lgica visual est presente em todos esses casos. Comeamos a discutir, ento, como o ver est imerso em um mundo pulsional e como mesmo quem no enxerga far parte desse mundo a seu modo. Pois bem, inevitvel no nos recordarmos e analisarmos os casos em que essa fora pulsional pode cegar, sintoma descrito por Freud como a cegueira histrica. Quando o interesse sexual em ver se torna predominante, o ego se recusa a ver qualquer outra coisa. Que ver esse? Nesse texto Freud est falando de olho, de percepo visual, de olhar, do que afinal? Uma pessoa que no enxerga pode se recusar a ver alguma coisa? Como esse sintoma se manifestaria nessas pessoas? Devemos, neste momento, comear a delinear a distino entre ver, olhar e enxergar, para que seja possvel raciocinar sobre os contornos de cada um desses termos na obra freudiana. Em seu texto de 1910, A concepo psicanaltica sobre a perturbao psicognica da viso, Freud fala do mecanismo de formao dos sintomas neurticos e usa a cegueira histrica como ilustrao de sua teoria pulsional da neurose. No se v nada por querer ver demais: eis uma frase que resume esse artigo de Freud. Segundo ele, a cegueira histrica pertence categoria dos sintomas histricos e tem certa semelhana com os fenmenos que podem ser induzidos pela hipnose. A diferena entre eles reside, porm, no fato de que a cegueira resulta em uma dissociao entre os processos inconscientes e os conscientes no ato de ver, e no , como o que ocorre na hipnose, o efeito de uma sugesto ou auto-sugesto. A idia de que no se v a conseqncia de uma condio psquica, mas no a causa da cegueira. Tal idia
1
LAPLANCHE, 1992, p. 149.
107
somente pode adquirir fora pela ao do inconsciente. A origem desse sintoma histrico estaria no fato de que certas idias relacionadas viso devem ser suprimidas da conscincia e recalcadas, uma vez que esto em oposio a outras idias mais poderosas. A idia de ver, assim, entra em oposio a outro grupo mais forte de idias. No processo de formao desse sintoma, num primeiro momento, as pulses procuram tornar-se ativas por meio de idias que estejam em harmonia com seus objetivos. No instante seguinte, os interesses pulsionais entram, porm, em conflito com outras pulses. A oposio entre as idias a manifestao de conflitos pulsionais. O conflito est estabelecido entre as pulses sexuais e as do ego. Como as duas classes pulsionais possuem os mesmos rgos sua disposio, no caso, os olhos, estes, ao passo que servem para garantir a sobrevivncia, pagam o preo, nas palavras de Freud, ao ser encantados. O mecanismo da formao do sintoma bem simples: o ego sente-se ameaado por exigncias da pulso sexual e a desvia por meio do recalque que, por no ser bemsucedido, leva a substitutos perigosos para o reprimido e a reaes incmodas por parte do ego. O sintoma o substituto prejudicial do recalcado. Ele uma punio ao uso do rgo para prazeres sexuais perversos. Para que o ego suprima as idias sexuais que o incomodam, ele pode sacrificar uma parte do corpo, tornando-a inativa. Ao anular a viso, o ego tenta fazer com que o desejo em olhar seja tambm desativado, o que no ocorre. Dessa forma, a cegueira histrica o resultado de dois processos concomitantes: por um lado, o ego abre mo de seu domnio sobre o rgo para no ficar completamente submetido pulso sexual recalcada e escolhe no ver nada nem enxergar seu desejo; por outro lado, a pulso recalcada assume o total controle do rgo, reage vingativamente ao impedimento de sua expanso psquica, conseqentemente o controle do rgo passa a ser apenas inconsciente. como se os olhos servissem simultaneamente a dois senhores, numa funo dupla. Assim, quanto mais estreita a relao que esse rgo mantm com uma das pulses principais, instinto sexual e instintos do ego, tanto mais ele se retrai da outra. Ento, se as duas pulses fundamentais estiverem desunidas e se o ego mantiver a represso da pulso sexual componente em questo, esse princpio provoca conseqncias patolgicas. E Freud ainda observa que essa relao de um rgo com uma dupla exigncia sobre ele, relao com o ego consciente e com a sexualidade reprimida, mais evidente nos rgos motores do que no olho.
108
Quando uma histrica se torna cega, como se os olhos do inconsciente assumissem o comando. Segundo Freud, ela v incompletamente, e as estimulaes do olho podem provocar emoes inconscientes. Assim, as pessoas histericamente cegas s o so no que diz respeito conscincia; em seu inconsciente elas vem.1 Freud nos mostra como a viso ativa, ou seja, ela impregnada de desejo. No recebemos somente o que vemos: os olhos percebem no s alteraes no mundo externo, que so importantes para a preservao da vida, como tambm as caractersticas dos objetos que os fazem ser escolhidos como objetos de amor.2 A cegueira histrica tem sua origem psquica. Fica claro que Freud no exclui os fatores biolgicos das inervaes dos olhos envolvidos nos diversos sintomas de cegueira, alm de reconhecer que nem todas as perturbaes so psicognicas, simplesmente no as analisa. A razo da cegueira histrica est no excesso desejo/prazer. Os olhos podem se comportar como um rgo sexual. Por querer ver demais, no se v nada e se somente visto. As pessoas que ficam cegas em razo da histeria vem e, ao mesmo tempo, no enxergam. A estimulao atinge o olho, que capaz de perceber os estmulos, porm, estes no se tornam conscientes. Referindo-nos novamente teoria do apoio que resgatamos com Laplanche na primeira parte deste captulo e justificando a epgrafe desta seo, percebemos que o plano sexual no deve ser reduzido ao plano da autoconservao. A histrica abre mo de sua viso no por qualquer ameaa a sua vida, mas como resultado de um conflito psquico, como uma forma de sua sexualidade persistir.
Mesmo mantendo um lugar para a autoconservao, preciso dizer categoricamente que ela no parte ativa de conflito psquico. [...] A autoconservao pode ser o terreno do conflito, pode ser o que est em jogo no sentido de que as funes padecem de um conflito que no se situam no seu nvel. [...] Assim, em A perturbao psicognica da viso, mostra bem que no terreno da viso que se situam, sob a forma de uma cegueira histrica, os resultados do conflito, mas nem por isso a funo visual nas suas finalidades autoconservadoras, parte ativa do conflito.3
Com esse texto Freud nos fornece pistas da direo que devemos tomar ao buscar uma distino ideal entre olhar, ver e enxergar, considerando a teoria psicanaltica, para estabelecer os rumos da pulso escpica. Freud est falando
1 2
FREUD, 1910, p. 222. FREUD, 1910, p. 225. 3 LAPLANCHE, 1992, p. 149.
109
essencialmente do olhar do inconsciente que, de certa forma, independe do enxergar dos olhos. Assim, perguntaramos: Todo olhar inconsciente? Os olhos do inconsciente continuam vendo. Como assim? Em que essa assero nos auxilia? Atravs de que olhos o inconsciente olha? Bem, o ego capaz de anular a funo dos olhos em si, mas no do olhar. Mais uma vez, Freud nos mostra com essa afirmao que seu uso do conceito de olhar/ver deve ser ampliado e extrapolar a viso como sentido perceptivo, apesar de partir dela. Freud est privilegiando no seu texto uma categoria de olhar, o olhar inconsciente em contrapartida ao ver dos olhos, o ver perceptivo. Iremos traar a diferenciao entre esses termos logo mais. J a cegueira provocada pela hipnose uma cegueira do ver tambm. O olhar, no o dos olhos, continua funcionando e talvez at mais ampliado e mais apurado. Segundo nossa hiptese, no ver na cegueira histrica poderia ser chamado de recusa em ver o que no se quer olhar, ou seja, o desejo inconsciente que no pode ser cegado. Esse desejo recusado seria escpico? Exatamente. O que a pulso tem de escpica em sua manifestao escpica o que influenciar a dinmica da viso. Na cegueira histrica, o controle do rgo passa a ser inconsciente, e no mais autoconservativo. Em outras palavras, o ego se recusa a aceitar o olhar do inconsciente. Tenta ceg-lo, mas ele, o inconsciente, continua atuando de outra maneira, sem ser pelo uso dos olhos, continua olhando. Todo olhar inconsciente? No. Defendemos a hiptese de que o prprio conceito de olhar, em si, como mencionado anteriormente, ampliado. O olhar inconsciente outra categoria. O olhar vinculado pulso escpica o olhar do inconsciente. O inconsciente apia-se numa funo biolgica para atuar e no caso da pulso escpica o seu rgo privilegiado o olho e o sistema ptico. Mas por qu? Talvez seja justamente pelo fato de ser o rgo predominante na constituio do olhar. Haveria a possibilidade de o inconsciente deixar de olhar? Quando consideramos o olhar inconsciente, no. O que significa dizer que algum se torna cego para seus desejos inconscientes? Isso quer dizer que tenta anular seu desejo, no saber dele, no enxerg-lo, recalc-lo, mas fracassa em sua tarefa, pois o inconsciente sempre encontrar uma sada. O ego tenta cegar, na verdade, o olhar inconsciente e acaba cegando parcialmente os olhos, o ver perceptivo. O ego tenta cegar o desejo inconsciente e anular a fora pulsional. No conseguindo isso, resta-lhe impedir que esse inconsciente tenha acesso aos dados perceptivos que despertam essa idia
110
incompatvel e conflituosa com seus interesses. Ele tenta aprisionar a alma fechando uma de suas janelas. A questo que restam outras, e o inconsciente sempre encontrar um modo para continuar olhando. Nem todo olhar inconsciente. Se fosse possvel a retirada da ao pulsional, da sexualidade, teramos um olhar puro. Porm, isso no ocorre, e poderamos dizer que, de acordo com esse raciocnio, o inconsciente sempre olha, j que o nosso conceito de olhar extrapola o olho e nos aproxima do que tratamos anteriormente, quando mostramos que possvel olhar com as mos, com o olfato ou por meio de um som, ou seja, de qualquer funo perceptiva que servir de apoio para a pulso escpica. A construo da interpretao perceptiva leva em considerao todos esses fatores, no necessariamente todos juntos, mas os que estiverem presentes. Por que chamamos tudo isso de olhar e no de sentir ou cheirar? O verbo olhar infinitamente metafrico, pois estamos imersos em um mundo em que a visualidade domina e constitutiva. O verbo olhar tornou-se substituto de inmeros outros, inclusive os relacionados aos sentidos. Para perceber isso basta, nos ater ao nosso cotidiano, quando escutamos as recorrentes sentenas: Viu essa msica?, Nossa, viu que cheiro gostoso?. Ver assume tambm a conotao de saber: Voc no v o que est fazendo?, Olha pra voc ver! Sem falar nas expresses amor primeira vista, ponto de vista, ngulo de anlise, olhar sobre um assunto, mau-olhado, olho gordo, etc. Bem, fica claro que estamos em uma lgica em que predomina o raciocnio visual capaz de incluir at mesmo quem no enxerga. essa primazia, presente at na linguagem, que ser transmitida como mensagem para um beb cego e que o far crescer utilizando essas expresses assim como uma pessoa vidente. Os olhos do inconsciente jamais so cegados. O inconsciente sempre encontrar uma forma de demonstrar isso seja por meio de um sonho, um sintoma, um chiste, seja por meio de um ato falho. O inconsciente est inserido justamente nessa concepo ampliada de olhar para ver. No interessa que seja por qualquer uma dessas vias. De acordo com esse raciocnio, seria plausvel dizer, ento, que o olhar seria o meio atravs do qual o inconsciente interage com o mundo externo e com a realidade psquica fazendo parte dela. O olhar inconsciente demonstra, assim, sua dependncia dos olhos. um olhar que nasce do enxergar e do enxergar originrio do adulto que cuida da criana, seja ela cega, seja ela vidente. Como uma pessoa que no v, cujos olhos no funcionam, v? E seu inconsciente? Chegamos concluso de que ela possui pulso escpica. Pois bem, ela
111
olha, v ou enxerga? Uma pessoa que no possui olhos para ver obviamente no enxergar. Porm, ela poder utilizar todas as outras janelas que possui para olhar. E seu inconsciente tambm assim o far, fazendo com que ela seja imersa no mundo escpico pelos outros que a rodeiam e pertencem a essa lgica. Com base nessa concepo podemos entender por que ela pode se recusar a enxergar algo que a incomode ou poder somente ouvir o que lhe interessa. Por outro lado, todas as pessoas que possuem olhos que funcionam sempre olham, vem e enxergam? No. Quem enxerga ver com seus olhos. Ver tambm com todos os componentes do olhar. Seu inconsciente idem. A essa pessoa acrescenta-se a possibilidade de mais um sintoma, ou seja, de ser inclusive cegada literalmente, perdendo o ver perceptivo, em decorrncia de um conflito psquico: o que sucede com a cegueira histrica. Ela tambm poder no querer ver algo metaforicamente. Logo, uma pessoa que possui olho sempre olhar com seu inconsciente, mas nem sempre enxergar com seus olhos. Quem no enxerga sempre olhar com seu inconsciente mesmo sem jamais ter visto com seus olhos. Como tudo indica, foras pulsionais podem ser capazes de anular a recuperao de um sentido que se tornou ameaador, como aconteceu com o caso de Virgil e de pessoas que recuperam a viso. Organizando o que analisamos, chamaramos idealmente ver como o enxergar da percepo visual, do sentido visual que abarca todo o sistema ptico e constri suas referncias e memrias perceptivas por meio da experincia. Como olhar, consideramos esse ver acrescido das demais informaes dos outros sentidos que o compem. Com isso, queremos dizer enxergar perceptivo (viso) juntamente com o ouvir (audio), o cheirar (olfato), o sentir (paladar) e o tocar (tato). Por fim, denominaramos de olhar inconsciente o conceito de olhar ampliado, que engloba todos os sentidos, perpassado pela pulso escpica e seus efeitos. Dessa forma, esquematicamente, poderamos representar as definies de olhar, olhar inconsciente e ver da seguinte maneira, lembrando-nos de que impossvel separ-los, pois todas essas aes estaro sempre mescladas ao pulsional: Ver = enxergar aprendido. Olhar = ver, cheirar, ouvir, tocar, sentir (paladar). Olhar inconsciente = olhar + pulso escpica.
112
Para testar a aplicabilidade1 desses conceitos, recuperando tudo o que dissemos at agora, em especial no incio deste captulo sobre o conceito de fonte e o surgimento da pulso, novamente com a ajuda da teoria de Laplanche retomemos nossas formulaes sobre a situao originria a ttulo de finalizao deste captulo. Na situao originria, para uma criana cega, estabelece-se assim como para uma criana vidente, entre o adulto e essa criana uma operao marcada por um desencontro que deixar restos. Da criana para os pais, temos o seu perceber o mundo (perceber que exclui o enxergar), inicialmente dbil, sem sentido, vinculado ao plano autoconservativo, adaptativo. A criana literalmente no sabe o que no v e, mesmo qualquer ao para buscar alimento ou evitar um perigo ineficaz e dever ser algo aprendido. Est presente um aparelho ptico que ser conhecido aos poucos, apesar da impossibilidade de seu funcionamento. Mas o sentido no ver e no ser visto ser traduzido por seu aparelho psquico em formao. Dessa forma, temos uma criana biolgica e psicologicamente prematura se comparada ao adulto, e ela apresentar perante ele uma posio de passividade. No caso da criana cega, seu descompasso em relao ao adulto vidente, alm dos demais experimentados por uma criana tambm vidente, ser marcado pelo fato de esse adulto ter as informaes perceptivas de seu aparelho visual desenvolvido. O movimento de traduo por essa criana cega do sentido do ver ficar desprovido das informaes perceptivas visuais. como se sua prematurao perceptiva visual persistisse, mas, de acordo com nossas definies acima de olhar, ver e olhar inconsciente, ela aprendesse a olhar sem ver, olhar que dar lugar ao olhar inconsciente. Do adulto para a criana, temos o domnio sexual que se apresenta. Temos um psiquismo mais rico do que o dela, em que est presente a pulso escpica, que assumir uma posio ativa. Temos mensagens enigmticas relacionadas a seu prazer em ver e em ser visto que, sem o saber, sero transmitidas por esse adulto desejante, dotado de um inconsciente e recebidas e simbolizadas, na medida de suas possibilidades tanto psquicas quanto biolgicas, pela criana. So mensagens resultantes de operaes falhas e provenientes do recalcado do adulto e sedutoras por seu carter desviante enigmtico. O resto dessa operao simblica (significantes verbais e no-verbais sobre a viso impregnados de significao sexual, que devero ser traduzidos pela criana), a
1
A partir deste momento tentaremos, sempre que possvel, aplicar esses conceitos, utilizando-os criteriosamente para que possamos ao mesmo tempo facilitar nossa exposio e testar sua aplicabilidade.
113
diferena entre o que simbolizvel e o que no , dar origem aos prottipos inconscientes, que passaro a fazer uma exigncia constante de trabalho, que serviro de objetos-fontes ou simplesmente fontes para a pulso escpica. possvel dizer, portanto, que uma criana, mesmo cega, quando criada em um mundo vidente, aprende a olhar numa relao interativa, quando consideramos seu plano autoconservativo, mas que ela seduzida a olhar numa relao nada recproca, quando falamos de seu plano sexual. O olho (funcione ou no), a ao de ver e ser visto, assim como todos os rgos que incluem o olhar, se tornam zonas ergenas, quando, de um lugar de troca e de localizao dos cuidados maternos, passam a ser, pela implantao de algo externo no funcionamento endgeno do organismo, lugares de fantasias inconscientes, objetos do psiquismo clivado do adulto, ou seja, passam a servir de apoio para a pulso escpica. Assim, a fonte da pulso ser o resultado de algo vindo de fora do psiquismo, ser o resultado da traduo de algo externo implantado pelo adulto. Por tudo isso, deduzimos que uma pessoa cega tambm possuir pulso escpica. Para pensar um mundo sem pulso escpica teramos de imaginar um mundo constitudo, desde suas origens, por pessoas cegas, o que se torna algo bastante complexo.1
1
A questo que salta aos olhos nesse momento a de entender por que, ento, a pulso escpica tem esse nome, existiria alguma denominao mais adequada? Nasio (1995) prope um outro nome para a pulso escpica, uma nova denominao que seguiria a lgica da denominao das demais pulses parciais. ...do mesmo modo que o seio o objeto oral, e o gozo est ligado ao orifcio bucal, da mesma maneira que o objeto voz o objeto ligado ao orifcio gltico (e a glote, portanto, um orifcio ertico), o olhar o objeto que est ligado no aos olhos, mas ao orifcio palpebral, fenda palpebral (NASIO, 1995, p. 56). Como Freud no diz qual a zona ergena do olhar no artigo A pulso e seus destinos, Nasio considera essa zona como o orifcio das plpebras, a fenda das plpebras, que tambm pode ser a fenda da pupila. Na verdade, elas tm que ser bordas que se contraiam e se dilatem, que se abram e se fechem. A borda ergena sempre uma borda que se contrai e se dilata (NASIO, 1995, p. 56). Nasio prope que a pulso escpica deveria se chamar pulso palpebral, e no escpica. Ele alega que a pulso anal chama-se anal j que o orifcio o nus, ou seja, a definio da pulso dada por seu orifcio, o nome anal, oral, etc. Na escpica ela no dada pelo orifcio, mas pelo objeto. O que isso quer dizer? O olho no o rgo-fonte da pulso escpica, assero que corrobora a fala de Freud. Vimos tentando perder o olho de vista e, por isso mesmo, no concordamos com essa nova denominao de Nasio para a pulso escpica. Se a chamarmos de palpebral estaremos centralizados, mais uma vez, apenas no olho como rgo. Por outro lado, no temos at o momento, outra sugesto a no ser manter a mesma denominao, pois, no caso da pulso escpica, percebemos que ela nomeada por uma funo autoconservadora precisa, que lhe d origem, o ver, e que determinante para os moldes de seu funcionamento. Mas essa pulso no se trata restritamente dessa funo, e no podemos deixar de contemplar isso. Nasio discute em seu livro O olhar em Psicanlise (1900), a diferena entre olhar, ato de olhar e sua satisfao, viso, fascinao, gozo, dentre outros. Em suas consideraes no encontramos o enfoque que vimos dando ao tema, j que a questo da cegueira no mencionada. A viso no pode ser a base do
114
processo escpico, mas o olhar pode. Nasio relativiza o olhar, deslocando-o do corpo, porm o vincula especialmente viso fsica, assim como outros autores aqui analisados. O mesmo ocorre com a obra de Quinnet Um olhar a mais.
115
3 ALGUMAS CONSIDERAES SOBRE A PSICANLISE DO OLHAR
Como temos falado de temas interligados que, devido sua diversidade, podem gerar a impresso de no ser parte de um todo, usaremos este captulo para fazer consideraes enlaando muitos deles. Levantaremos hipteses sobre questes ainda no respondidas, tais como: Quais as fronteiras entre o olhar e o ver na tcnica da Psicanlise e qual a Funo do div ao estabelecermos tal distino? Qual a relao entre o complexo de castrao e o medo de se ficar cego? Por que podemos considerar o recalque como um fechar de olhos? Como podemos relacionar o abrir dos olhos, a diminuio da censura onrica e os sonhos de angstia? Alm disso, analisaremos o fenmeno da figura na anlise, conceito que somente poderia ser compreendido tendo como subsdio o que foi dito anteriormente.
3.1 A cegueira provocada pelo div
A qual olhar o div se destina a restringir? O div exclui, diramos aqui, um tipo de olhar, o olhar que diz respeito ao ver perceptivo. De acordo com o que definimos como olhar na seo 2.4 O desejo cega e faz ver: no ver para ser visto que seria a percepo visual acrescida das informaes fornecidas pelos demais sentidos , podese ressaltar que nem mesmo esse olhar totalmente restringido, pois o analista e o paciente continuaro ouvindo, sentindo aromas, etc. Pensando nisso, desde logo, fica claro como algum que no enxergasse continuaria vendo mesmo deitado no div. Alis, veria ainda mais se considerarmos seu costume de usar todos os demais sentidos para ver. Ento, estamos propondo que uma pessoa cega olha na anlise? Se pensarmos que ela est inserida numa lgica visual e que o olhar no se compe apenas da viso, responderamos que sim; de fato, uma pessoa cega pode olhar. Diante da afirmao de que, na situao analtica, o olhar uma pea excluda pelo div ou , at mesmo, insignificante uma vez que apareceria apenas em poucos momentos, Nasio (1995) prope, em seu livro O olhar em Psicanlise, uma contraargumentao bastante plausvel. Para ele, devemos distinguir a ao de ver e a de olhar em Psicanlise, idia que guarda ressonncias com o que trabalhamos anteriormente. Passemos a analisar algumas dessas idias de Nasio.
116
A distino feita por Nasio entre ver e olhar se aproxima da idia que intumos a partir do texto de Freud sobre a cegueira histrica, qual seja, associar o inconsciente ao olhar e no somente ao ver. Mas ser que o inconsciente sempre olha? Constatamos que sim. E devemos usar sempre a palavra olhar quando nos referirmos ao inconsciente? Nesse caso a resposta negativa. Na diferenciao entre olhar e ver, num primeiro momento, Nasio vincula o olhar experincia genuna da anlise. Em grande parte de sua argumentao, ele ressalta a importncia do olhar, como a ao que deve ocorrer na experincia analtica.
...olhar, na experincia da anlise, no sinnimo de ver na anlise. Ver no , para os analistas, o mesmo que olhar. Na experincia da anlise, no dispositivo analtico, no se v, mas se olha, e esses so momentos muito presentes na prtica do analista.1
Porm, ele no deixa de ressaltar, mais adiante em seu livro, que o ato de ver (aqui ele se refere ao ver perceptivo) tambm est presente em alguns instantes no dispositivo clnico e tem sua relevncia. Ento, ele exemplifica situaes em que o analista percebe o paciente chorando pelo movimento de sua cabea, e no pelo rudo, e ressalta como isso pode ser importante. Outro exemplo configurado pelas boas indicaes dadas pela viso da chegada e pela sada do paciente do consultrio. Com Nasio, devemos aproximar tanto o ver do ato perceptivo quanto o olhar de uma ao inconsciente. Dessa forma, entendemos, o div serviria para diminuir o campo visual, tanto do analista como do paciente, ao passo que abriria os horizontes para o olhar inconsciente, que deve ser alcanado tambm por ambos. Em contrapartida, quando o analista est sentado em sua poltrona, sem ver o paciente no dispositivo analtico clssico , o analista olha e o paciente tambm olha.2 Fica claro que Nasio, de certa forma, vincula o aparecimento do olhar inconsciente ao desaparecimento do ver. Temos aqui, ento, mais uma funo do div, funo que vimos procurando definir desde o incio deste trabalho: preciso que a viso dos rostos, que a viso em geral seja especialmente excluda, para permitir que surja um olhar inconsciente.3 Alm de diferentes a viso no o olhar , tudo indica que ele considera que a presena de um incompatvel com a do outro. preciso que a viso seja excluda do espao da
NASIO, 1995, p. 14. NASIO, 1995, p. 14. 3 NASIO, 1995, p. 15.
2
117
sesso analtica para que o olhar tenha maior potncia, para que o olhar seja um olhar forte e poderoso.1 Por que isso ocorre? Como a percepo visual pode ser ofuscante? O analista deve ser cegado no instante em que est com seus pacientes. A viso pode ser limitante e encobrir o que realmente deve ser percebido. interessante notar que Nasio usa a palavra cegueira para descrever um dos efeitos do div:
...a cegueira parcial dos olhos, provocada pela posio estendida no div, contrasta com a luminosidade psquica de um olhar inconsciente, irradiante, e esse olhar inconsciente est no ncleo de muitas das manifestaes clnicas que conhecemos, como, por exemplo, as fantasias, a lembrana encobridora, o j-visto, a cegueira histrica, os atos perversos ou a alucinao visual.2
3.2 Vendo vozes: figuras na anlise
Pensando sobre essa situao de cegueira proporcionada pelo uso do div, falemos agora sobre um fenmeno cuja ocorrncia vinculada privao do ver e que tangencia nosso tema: a figura na anlise.3 Em seu livro A figura na clnica psicanaltica, Eliana Borges (2001) reflete sobre a presena de imagens visuais no funcionamento psquico do analista. Ela investiga o freqente surgimento de figuras, imagens visuais sucessivas que so como lbuns de fotografias, como filmes, no pensamento do analista, enquanto ele est na posio de escuta, em sua clnica. No se trata, afirma ela,
...de que o analista se ponha a ver coisas, no sentido comum da expresso, deslizando para tradues simplistas ou selvagens daquilo que v. Nem o caso tampouco de buscar extrair das abstraes da teoria as legendas que, como num filme, preencheriam o intervalo entre a imagem e o entendimento.4
1 2
NASIO, 1995, p. 15. NASIO, 1995, p. 16. 3 NASIO em seu livro O olhar em Psicanlise traz elaboraes sobre esse fenmeno. Ele descreve essas figuras como uma formao psquica, escpica, visual que ocorre no analista quando ele escuta. (NASIO, 1995, p. 17). Motiva-lhe mais, nesse livro, e instiga sua anlise, essa situao que se d quando, ao ouvir as palavras do analisando, ou seu silncio, surpreende-se representando mentalmente... , com uma nitidez muito particular, uma imagem que condensa de maneira muito compacta a significao inconsciente3 do que escuta. NASIO alerta que no se trata de uma imagem que represente as palavras ou o sentido do que se escuta. uma imagem que no tem nada a ver com o que dito, uma imagem surpreendente, quase anmala em relao ao sentido do que se escuta. 4 LEITE, 2001, p. 14.
118
O surgimento dessas imagens favorecido pelo dispositivo analtico que cria uma situao assimtrica tanto corporal quanto perceptiva, ao suspender a reciprocidade do olhar face a face com suas referncias visuais, que organizariam a sucesso de falas e silncios. O uso do div faz com que a escuta do analista seja como uma superfcie em que a fala ressoa, permitindo que se rompa a lgica discursiva e possam surgir, com as imagens, as tonalidades afetivas. Temos, ento, mais uma funo do div.
com a ruptura desta condio que pode surgir na anlise o pensamento visual prximo do sonho. A assimetria corporal e perceptiva presente no dispositivo analtico permite que o olhar do analista seja flutuante, como sua escuta, de modo a dispor de seus prprios restos mnmicos visuais de forma fragmentada e associativa.1
Eliana Borges fala sobre uma modalidade de escuta, a escuta figural, que acolhe a funo imaginativa do analista, na qual o pensamento por imagem toma como referncia o trabalho do sonho.2 Ou seja, trata-se de uma modalidade de escuta que mais coloca o ouvido na posio de um olho capaz de acompanhar o curso de uma fala, aproximando-se da disposio inconsciente. A escuta figural estaria intimamente vinculada prpria escuta flutuante. Os momentos em que as imagens param de surgir num vazio figural ou a paralisao de seu movimento podem ser momentos em que certas resistncias, inclusive do analista, se manifestam.
com destino linguagem, nos processos que a tornam possvel ou naqueles a que ela retorna, dos quais se sustenta e se renova, que se formam as imagens visuais, as figuras, que se apresentam na escuta do analista. A escuta figural opera neste intervalo entre a imagem e a palavra.3
O sonho e a sesso analtica se aproximam principalmente pela visualidade presente em ambos. Leite demonstra como possvel formular, assim como fizeram outros autores, tal relao de correspondncia, quando mostra como uma transformao das imagens visuais em elementos onricos e figurais tambm se d como parte do processo pelo qual se instala cada anlise.
1 2
LEITE, 2001, p. 18. LEITE, 2001, p. 15. 3 LEITE, 2001, p. 41.
119
De incio, as palavras do analisando falam do que lhe ocorre, do que ele conhece ou supe conhecer a seu prprio respeito, destinam-se a compor um relato do visvel. Acolhidas pela escuta flutuante, entretanto, despertam no analista imagens que passam a mover-se num espao de natureza virtual, como do sonho, e, assim, emprestam forma ao desconhecido, ao que permanecia, at ento, invisvel e suspenso entre as palavras. Assim como a passagem do visvel ao virtual a transformao pela qual o processo de Freud chega concepo de espao psquico, no dispositivo analtico. a escuta flutuante que, ao acolher a fala do analisando e as imagens que ela suscita, opera a passagem deste limiar e transforma a situao analtica em espao propcio ao surgimento das figuras.1
Essas figuras que surgem podem ser tanto a expresso do recalcado quanto a inscrio do indito. Elas participam juntas da criao ou da transformao na realidade psquica que a anlise visa a promover. Percebemos que aqui a autora nos fala sobre o olhar inconsciente e as formaes psquicas dele decorrentes.
Em sua condio de figura, as imagens visuais que surgem na escuta flutuante so precursoras ou, antes so matria-prima da qual iro se constituir as metforas que conferem fala do analista sua potncia de interpretao e so tambm, por vezes, elementos de uma construo que ir cerzir uma lacuna psquica.2
Na anlise a escuta figural acolhe e presentifica as figuras reveladoras dessa histria e possibilita novas figuraes. A figurabilidade na anlise d forma e expressa os arranjos da realidade psquica, fazendo com que esses sejam reconhecidos e se movimentem, o que permite que surjam novas vivncias, seu ingresso nos processos psquicos e seu encadeamento na produo de novos sentidos.3 As figuras que surgem na escuta do analista a partir das produes do analisante so os efeitos do acolhimento e do investimento da anlise. Como ocorreria a escuta figural na escuta de um analista cego? Apesar de Leite tratar o fenmeno da figura da anlise somente em sua configurao visual, arriscaramos dizer que tambm seria possvel ocorrer essa escuta figural em um analista cego, mas em outros moldes. Haveria em sua mente a presena de imagens, mas, assim como em seus sonhos, de nenhuma imagem visual. Esse fenmeno seria ilustrado pela ocorrncia em seu pensamento de sensaes e situaes, da recordao de uma msica ou de um cheiro. A escuta figural continuaria associada escuta flutuante. Os movimentos dessas figuras continuariam apontando os movimentos da prpria
1 2
LEITE, 2001, p. 71. LEITE, 2001, p. 72-73. 3 LEITE, 2001, p. 84.
120
anlise, das resistncias e avanos no tratamento. Seriam a manifestao do recalcado ou do indito e incitariam, por seu carter metafrico, as interpretaes necessrias. Elas continuariam dando forma realidade psquica, mas no mais haveria uma forma em figuras visuais. O sonho e a sesso analtica so, como mencionamos acima, recorrentemente aproximados. De acordo com Leite, tal aproximao se d pela visualidade presente em ambos. Um sonho no-visual se aproximaria da sesso analtica? E, mais ainda: um sonho no-visual se aproximaria da sesso analtica em que o analista ou o analisante fossem cegos? O analisante, cego ou vidente, traz para o analista o modo como v, percebe seu mundo, acolhidas suas palavras pela escuta1 flutuante do analista. Surgem, para o analista, imagens num espao virtual, no necessariamente um espao visual, assim como o espao dos sonhos. Dessa forma,, mesmo sem a visualidade mencionada por Leite, consideramos que a proximidade entre o sonho e a sesso analtica deve ser mantida porque ambos so espaos de elaborao psquica, de manifestao do inconsciente. Para estabelecer a diferena entre ver, olhar e olhar inconsciente na anlise, de acordo com as contribuies de Nasio e de Leite, associadas com o que propomos no captulo 2, podemos sugerir idealmente as seguintes distines que, na prtica, no se separam: o olhar, como somatrio das percepes, apareceria no ver e nas demais imagens perceptivas que o analista tiver de seu paciente, por exemplo, quando o analista recebe seu paciente na sala de espera e quando se despede dele. O olhar inconsciente, ao passo que se mantm, em parte, dependente da percepo, surgiria nas manifestaes do inconsciente, quando a viso, a concretude perceptiva sair de cena dando espao para as representaes; na cegueira provocada pelo div; para o analista, quando surge em sua mente uma figura, visual ou no, que represente de maneira compacta a significao inconsciente do que ouvido, pela escuta figural; na fantasia, na lembrana encobridora, no j visto (dj vu), na cegueira histrica, nos atos perversos e na alucinao visual. E, a essa lista, acrescentaramos: nos sonhos, nas iluses e nas manifestaes da pulso escpica.
Teramos, aqui, a oportunidade para discutirmos sobre como se daria a escuta e todos os temas que abordamos neste trabalho para o caso de um surdo-mudo. Porm, tal empreendimento significaria um desvio inadequado para esse trabalho.
121
3.3 dipo e o Homem da Areia: cegueira, castrao e recalque
Por que temos, em toda essa listagem que acabamos de fazer, a predominncia das imagens visuais como principal representante, ou seja, nas figuras na anlise e nas demais manifestaes do inconsciente? O que mais podemos dizer sobre o papel constitutivo da viso e sobre a visualidade presente na Psicanlise? Para Freud, a viso e o deixar de ver esto intimamente relacionados constituio do psiquismo. Podemos demonstrar isso por meio de mais alguns exemplos significativos. Primeiro, lembramos como Freud estabelece uma ligao entre o complexo de castrao e o medo comum de perder os olhos e a viso. Encontramos essa correlao em seu artigo O estranho (1919), em que fala sobre o sentimento de estranheza que algumas coisas podem causar. Nesse momento, Freud investiga o significado da palavra estranho e rene as propriedades daquilo que causa medo, horror e busca inferir a natureza do que estranho a partir desses exemplos. Assim, ele chega concluso de que o estranho uma categoria do assustador, que remete ao que conhecido e familiar. Para investigar esse tema e demonstrar essa concluso, Freud traz, por exemplo, sua anlise de um conto de Hoffmann, O Homem da areia, que arranca os olhos das crianas ao jogar areia neles. Ento, Freud relaciona a ansiedade de perder os olhos com o complexo de castrao. Ao analisar essa histria, diferentemente do ponto de vista de Jentsch, autor tambm investigado por Freud nesse artigo e que, assim como Freud, analisara a mesma histria, ele chega concluso de que o sentimento de algo estranho est ligado diretamente figura do Homem da areia, ou seja, idia de ter os olhos roubados. Freud afirma que o medo de perder os olhos significativo no psiquismo humano.
Sabemos, no entanto, pela experincia psicanaltica, que o medo de ferir ou perder os olhos um dos mais terrveis temores das crianas. Muitos adultos conservam uma apreenso nesse aspecto, e nenhum outro dano fsico mais temido por esses adultos do que um ferimento nos olhos. Estamos acostumados, tambm, a dizer que estimamos uma coisa como a menina dos olhos.1
Alm de ser comum o medo de ficar cego, como Freud afirma, tal medo atesta o complexo de castrao, complexo que desempenha grande importncia na vida mental dos neurticos. Segundo ele, apesar de racionalmente podermos apenas considerar que a
1
FREUD, 1919, p. 248.
122
perda de um rgo to precioso como o olho pudesse, por si s, despertar um temor proporcional sua importncia, deveramos tambm considerar a relao substitutiva entre o olho e o rgo masculino verificvel nos sonhos, nos mitos e nas fantasias. Dessa forma, ele nos diz que a ameaa de ser castrado excita de modo especial uma emoo particularmente violenta e obscura, e essa emoo a responsvel pelo intenso colorido da idia de perder outros rgos.
O estudo dos sonhos, das fantasias e dos mitos ensinou-nos que a ansiedade em relao aos prprios olhos, o medo de ficar cego, muitas vezes um substituto do temor de ser castrado. O autocegamento do criminoso mtico, dipo, era simplesmente uma forma atenuada do castigo da castrao o nico castigo que era adequado a ele pela lex tallionis.1
Em segundo lugar, para podermos demonstrar a presena da visualidade na constituio do psiquismo e da prpria Psicanlise, podemos voltar anlise feita por Freud sobre os sonhos tpicos que envolvem a morte de pessoas queridas. Para justificar a presena de desejos de morte, que seriam inaceitveis pelos adultos, Freud mostra como esses so desejos infantis, que seguem a lgica dessa poca, para os quais os adultos fecham seus olhos. Analisaremos mais detidamente essas elaboraes, pois elas iro nos direcionar para mais uma discusso fundamental de nosso estudo: como o recalque pode ser considerado como um fechar de olhos. Assim, estaremos cada vez mais distantes da concretude perceptiva de um corpo que enxerga, para atingirmos uma noo ampliada de olhar. Freud ressalta que os desejos realizados nos sonhos podem se tratar de desejos do passado, que foram abandonados, recobertos por outros e recalcados, e aos quais temos de atribuir uma espcie de existncia prolongada apenas em funo de sua reemergncia num sonho.2 So detectados desejos infantis, e lembranas remotas. Essas lembranas remotas so basicamente frases ouvidas e cenas vistas e seus respectivos pensamentos. Isso se d porque a idia infantil de morte bem diferente da dos adultos. As crianas simplesmente tomam as pessoas como ausentes quando as perdem de vista e no se preocupam com o motivo do sumio: se viajaram, foram trabalhar ou morreram; o que importa que esto ausentes. A noo de decomposio, de sofrimento por uma doena, de medo da morte uma aquisio dos adultos. Suas idias vinculadas morte que os fazem ter horror a ela e possibilidade desse desejo.
1 2
FREUD, 1919, p. 248-249. FREUD, 1900, p. 270.
123
Dessa forma, quando uma criana deseja a ausncia de outra pessoa, quando no quer mais v-la, no h impedimentos para que esse desejo assuma a forma de sua morte . Segundo Freud,
...a reao psquica aos sonhos que contm desejos de morte prova que, apesar do contedo diferente desses desejos no caso das crianas, eles so, no obstante, de uma maneira ou de outra, idnticos aos desejos expressos nos mesmos termos pelos adultos.1
Com base no que acabamos de relatar, esperada a concluso de que uma criana pode sonhar sem qualquer angstia, ao desejar o desaparecimento de seu irmozinho, com sua morte, mas somente at dar morte a conotao que os adultos atribuem a ela. A partir da, tambm metaforicamente fechar seus olhos para seu desejo e sonhar com ele disfarando-o. Lembrar o modo como descrevemos o papel da censura e da distoro, que consiste em fazer com que o sonhador possa ver um desejo realizado, ao passo que o deforma, ajuda a entender essa afirmao. Como dissemos, a censura serve como uma forma de fechar os olhos do sonhador ao mesmo tempo que os abre. Freud sugere ainda que os sentimentos hostis para com os irmos e irms devem ser muito mais freqentes na infncia do que capaz de perceber o olhar distrado do observador adulto.2 Mas, nos perguntamos, por que motivo o adulto no percebe essa hostilidade? A que o adulto fecha seus olhos? O que o cega ou, nas palavras de Freud, o que distrai o olhar do observador adulto? Supomos que seja justamente a resistncia do adulto a aceitar tal hostilidade recalcada, que um dia fora conscientemente sua. Identificando-se com essas crianas, ele precisa fechar seus olhos, por isso no pode reconhec-la em seus filhos nem em si mesmo. Os pais no podem perceber tal sentimento reprovvel, ento fecham seus olhos para ele. A que mais temos que fechar nossos olhos? Quais desejos infantis no podem ser aceitos a partir do momento que assumem uma conotao adulta? O que queremos dizer com fechar os olhos? Bem, tomamos emprestada essa expresso, dita pelo prprio Freud, pois percebemos que ela a chave para vrios de nossos raciocnios sobre o olhar nos sonhos e para o recalque. Os sentimentos de amor e dio pelos pais, despertados nas crianas, e seus conseqentes desejos, provocariam essa primeira recusa a ver algo.
1 2
FREUD, 1900, p. 282. FREUD, 1900, p. 279
124
Em minha experincia, que j extensa, o papel principal na vida mental de todas as crianas que depois se tornam psiconeurticas desempenhado por seus pais. Apaixonar-se por um dos pais e odiar o outro figuram entre os componentes essenciais do acervo de impulsos psquicos que se formam nessa poca e que to importante na determinao dos sintomas da neurose posterior. No minha crena, todavia, que os psiconeurticos difiram acentuadamente, nesse aspecto, dos outros seres humanos que permanecem normais isto , que eles sejam capazes de criar algo absolutamente novo e peculiar a eles prprios. muito mais provvel e isto confirmado por observaes ocasionais de crianas normais , que eles se diferenciem apenas por exibirem, numa escala ampliada, sentimentos de amor e dio pelos pais, os quais ocorrem de maneira menos bvia e intensa nas mentes da maioria das crianas.1
Assim, Freud introduz o mito do Rei dipo, talvez o primeiro grande motivo que faz com que tenhamos de deixar de ver. Estamos agora nos embrenhando pela teoria do recalque.
Essa descoberta confirmada por uma lenda da Antiguidade clssica que chegou at ns: uma lenda cujo poder profundo e universal de comover s pode ser compreendido se a hiptese que propus com respeito psicologia infantil tiver validade igualmente universal. O que tenho em mente a lenda do Rei dipo e a tragdia de Sfocles que traz o seu nome.2 [...] dipo, filho de Laio, Rei de Tebas, e de Jocasta, foi enjeitado quando criana porque um orculo advertira Laio de que a criana ainda por nascer seria o assassino de seu pai. A criana foi salva e cresceu como prncipe numa corte estrangeira, at que, em dvida quanto a sua origem, tambm ele interrogou o orculo e foi alertado para evitar sua cidade, j que estava predestinado a assassinar seu pai e receber sua me em casamento. Na estrada que o levava para longe do local que ele acreditara ser seu lar, encontrou-se com o Rei Laio e o matou numa sbita rixa. Em seguida dirigiu-se a Tebas e decifrou o enigma apresentado pela Esfinge que lhe barrava o caminho. Por gratido, os tebanos fizeram-no rei e lhe deram a mo de Jocasta em casamento. Ele reinou por muito tempo com paz e honra, e aquela que, sem que ele o soubesse, era sua me, deu-lhe dois filhos e duas filhas. Por fim, ento, irrompeu uma peste e os tebanos mais uma vez consultaram o orculo. nesse ponto que se inicia a tragdia de Sfocles. Os mensageiros trazem de volta a resposta de que a peste cessar quando o assassino de Laio tiver sido expulso do pas.3
Estarrecido ante o ato abominvel que praticara, dipo fecha seus olhos. Fura seus olhos na tentativa de no ver o que fizera, de esquecer e no mais saber de seu desejo. No esse o efeito do recalque e da cegueira histrica? dipo buscou metaforicamente o recalque, um recalque tardio para que ele pudesse continuar vivendo sem saber que havia desejado sua me e odiado seu pai. Freud demonstra como at os intrpretes dessa pea tentam fechar seus olhos e do uma
1 2
FREUD, 1900, p. 287. FREUD, 1900, p. 287. 3 FREUD, 1900, p. 287-288.
125
outra conotao a ela. Apesar dos esforos de tais intrpretes para construir explicaes1 que desconsideram o que Freud diz, Freud insiste em manter nossos olhos abertos:
Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido o nosso porque o orculo lanou sobre ns, antes de nascermos, a mesma maldio que caiu sobre ele. destino de todos ns, talvez, dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa me, e nosso primeiro dio e primeiro desejo assassino, para nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que isso o que se verifica. O Rei dipo, que assassinou Laio, seu pai, e se casou com Jocasta, sua me, simplesmente nos mostra a realizao de nossos prprios desejos infantis.2
Fechamos nossos olhos e somos salvos pelo recalque, evitando a tragdia pela qual dipo passou. A cegueira de dipo foi tardia. Cegamo-nos antes de literalmente cometer os crimes que ele cometera, apesar de havermos desejado. Ao ver, perceber e saber, por meio de uma conotao moralizante adquirida a posteriori, que certos desejos so reprovveis, essa constatao se torna uma ameaa que aponta para a perda do carinho e do amor dos pais.
...tem o impacto de uma advertncia a ns mesmos e a nosso orgulho, ns que, desde nossa infncia, tornamo-nos to sbios e to poderosos ante nossos prprios olhos. Como dipo, vivemos na ignorncia desses desejos repugnantes moral, que nos foram impostos pela Natureza; e aps sua revelao, bem possvel que todos busquemos fechar os olhos s cenas de nossa infncia. 3
Temos que deixar de ver coisas desagradveis. Para alm da situao promovida pelo complexo de dipo, no ser exatamente isso que fazemos ao longo de toda a vida frente a coisas insuportveis, inclusive quando sonhamos? O complexo de dipo deve ser o prottipo desse aprendizado, o primeiro grande momento em que somos obrigados a nos cegar para podermos continuar a ver.4 Uma criana aprende a ver e a entender o que isso significa. Aprende tambm a se livrar de coisas desagradveis desviando seu olhar delas. Junto com a experincia recebe informaes que excedem sua capacidade de suportar a excitao provocada, com o aparato psquico que desenvolvera at ento, e faz uma traduo de tudo isso a
1
FREUD (1900, p. 289) diz o seguinte: O edipus Rex o que se conhece como uma tragdia do destino. Diz-se que seu efeito trgico reside no contraste entre a suprema vontade dos deuses e as vs tentativas da humanidade de escapar ao mal que a ameaa. A lio que, segundo se afirma, o espectador profundamente comovido deve extrair da tragdia a submisso vontade divina e o reconhecimento de sua prpria impotncia. 2 FREUD, 1900, p. 289. 3 FREUD, 1900, p. 289-290. 4 E no ser esse o caminho inverso do que uma anlise propicia? Uma anlise nos faz ver novamente, dando, ao mesmo tempo, suporte para essa abertura de nossas pupilas.
126
seu modo. Ela tem impulsos moralmente recriminados, pois deseja coisas que so consideradas erradas por seus pais e pela cultura, tem prazer em fazer coisas proibidas. No entanto, no suportando o conflito de perceber que foi ela mesma quem quis tais coisas, pra de querer saber sobre elas. Fechamos os olhos toda vez que somos ameaados de perder o amor. insuportvel ter a real dimenso do desamparo que nos habita. Fechamos os olhos quando nos alienamos com a religio, quando acreditamos rigidamente em teorias, quando criamos convenes e as tomamos como regra nica, quando desconsideramos a morte e a envolvemos em simbolismos, quando no aceitamos um desejo e o censuramos, permitindo que ele volte somente na forma de um sonho distorcido, um sintoma, um ato falho ou um chiste. Essa dimenso metafrica e concreta do fechar os olhos, a aproximao do recalque com a cegueira est presente em dois sonhos relatados por Freud e trabalhados por Ana Ceclia Carvalho em seu artigo Borges freudiano, Freud borgeano: o pai, a cegueira e o recalque.1 O primeiro um sonho que Freud conta a seu amigo Flies em uma carta, sendo descrito de modo mais completo, com algumas modificaes, no captulo VI de A interpretao dos sonhos.
Durante a noite anterior ao funeral de meu pai, tive um sonho com um aviso, placa ou cartaz impresso bem semelhante aos avisos proibindo que se fume nas salas de espera das estaes de trem onde aparecia, ou: Pede-se que voc feche os olhos ou, Pede-se que voc feche um olho. Costumo escrever isto na forma: o(s) Pede-se que voc feche olho(s). um (FREUD, 1900, p. 343.)
Freud traz sua interpretao para cada uma dessas duas verses desse sonho. Ele diz ter escolhido o ritual mais simples possvel para o funeral, pois conhecia as opinies de seu pai sobre essas cerimnias. Porm, outros membros da famlia no simpatizavam
Este artigo uma verso ligeiramente modificada da que foi publicada na Revista de Psicanlise Percurso. So Paulo: Instituto Sedes Sapientiae, ano VIII, n. 15, 2o semestre de 1900, p. 17-25.
127
com tal simplicidade puritana e achavam que ficariam desonrados aos olhos dos que comparecessem ao enterro.
Da uma das verses: Pede-se que voc feche um olho, ou seja, feche os olhos a ou faa vista grossa. Aqui, particularmente fcil ver o sentido da impreciso expressa pelo ou ou. O trabalho do sonho no conseguiu estabelecer um enunciado unificado para os pensamentos dos sonhos, que pudesse ao mesmo tempo ser ambguo, e, conseqentemente, as duas principais linhas de pensamento comearam a divergir at no contedo manifesto do sonho.1
Cabe ressaltar, como exps Ana Ceclia Carvalho, que este sonho possui uma variao em seu relato e interpretao quando Freud o menciona pela primeira vez na carta a Fliess. Nessa ocasio, ele disse, por exemplo, ter sonhado logo aps, e no antes, ao funeral de seu pai, construindo a seguinte interpretao.
...esse sonho foi propiciado pela situao vivida por ele no dia do funeral quando, tendo ido a uma barbearia, tinha ficado esperando sua vez, o que causou seu atraso ao velrio. Na ocasio, sua famlia ficara descontente por ele ter tomado providncias para que o funeral tivesse sido discreto e simples, assim como tambm todos ficaram um pouco ofendidos com o seu atraso. Dessa maneira, na anlise de Freud desse sonho, a frase da placa tem um duplo sentido: cada um deve cumprir seu dever para com os mortos (um pedido de desculpas, como se ele no o tivesse feito e estivesse precisando de um perdo) e o dever real em si mesmo. Para Freud, esse sonho provinha, ento, da tendncia auto-recriminao que costuma instalar-se entre os que permanecem vivos.2
Considerando as duas verses apresentadas por Freud, interessa-nos aqui perceber como esse movimento de fechar os olhos abarca uma srie de significados. De acordo com Carvalho, os temas da culpa e da morte do pai esto representados nesse sonho, em uma situao que se referencia no movimento de fechar os olhos. Fecham-se os olhos, acrescentamos a essa lista, como forma de se desculpar com um pai morto e cumprir suas obrigaes para com ele. Fecham-se os olhos para as crticas e imperfeies que possam ter sido atribudas a esse pai. Fecham-se os olhos fazendo vistas grossas para as divergncias familiares decorrentes dessa morte. Fecham-se os olhos assumindo a impossibilidade de ver uma pessoa morta novamente, o que evidencia a necessidade de elaborar essa perda de vista, esse luto. O perder de vista, o fechar os olhos demonstra, assim, sua manifestao num sonho visual. A cegueira assume simultaneamente uma dimenso concreta, metafrica e constitutiva de um
1 2
FREUD, 1900, p. 344. CARVALHO, p. 4.
128
psiquismo, que convive com a perda de viso desde cedo, perda que se apresenta como uma necessidade para sua constituio.
Lembremo-nos: o pai est morto, no ser mais visto, o filho sobrevive e deve a elaborao de um livro auto-anlise realizada aps a morte de seu pai. Em outras palavras, algum deve no ver algo ou algum, algo ou algum deve no ser visto _ Pede-se fechar o(s) olhos(s) , para que, ento, tenha se produzido o sonho, expresso mxima da realidade psquica.1
Na seo (G) Sonhos absurdos - atividade intelectual nos sonhos do captulo VI, em que Freud fala sobre o absurdo nos sonhos, encontra-se uma complementao do que acabamos de trazer. Ele afirma no ser por acaso que seus primeiros exemplos de absurdo nos sonhos se relacionem com um pai morto e faz o seguinte comentrio:
Nesses casos, as condies para a criao de sonhos absurdos se renem de maneira caracterstica. A autoridade exercida pelo pai provoca a crtica de seus filhos j numa tenra idade, e a severidade das exigncias que lhes faz leva-os, para seu prprio alvio, a ficarem de olhos abertos para qualquer fraqueza do pai; entretanto, a devoo filial evocada em nossa mente pela figura do pai, particularmente aps sua morte, torna mais rigorosa a censura, que impede qualquer crtica desse tipo de ser conscientemente expressa.2
Na seo (B) O material infantil como fonte dos sonhos do captulo V, nas anlises que Freud fez de um dos sonhos relatados, h uma recordao de quando ele tivera seus olhos abertos e se deparou com uma fraqueza de seu pai, e isso exemplifica o que acabamos de citar.
Nesse ponto, fui novamente confrontado com o evento de minha juventude, cuja fora ainda era demonstrada em todas essas emoes e em todos esses sonhos. Eu devia ter dez ou doze anos quando meu pai comeou a me levar com ele em suas caminhadas e a me revelar, em suas conversas, seus pontos de vista sobre as coisas do mundo em que vivemos. Foi assim que, numa dessas ocasies, ele me contou uma histria para me mostrar quo melhores eram as coisas ento do que tinham sido nos seus dias. Quando eu era jovem, disse ele, fui dar um passeio num sbado pelas ruas da cidade onde voc nasceu; estava bem vestido e usava um novo gorro de pele. Um cristo dirigiu-se a mim e, de um s golpe, atirou meu gorro na lama e gritou: Judeu! saia da calada! E o que fez o senhor?, perguntei-lhe. Desci da calada e apanhei meu gorro, foi sua resposta mansa. Isso me pareceu uma conduta pouco herica por parte do homem grande e forte que segurava o garotinho pela mo. Contrastei essa situao com outra que se ajustava melhor aos meus sentimentos: a cena em que o pai de Anbal, Amlcar Barca, fez seu filho jurar perante o altar da casa que se vingaria dos romanos. Desde essa poca Anbal ocupava um lugar em minhas fantasias.3
1 2
CARVALHO, p. 4. FREUD, 1900, p. 468. 3 FREUD, 1900, p. 226-227.
129
Essa dimenso do fechar de olhos e da cegueira aparece ainda outra vez na narrao de um segundo sonho que deve ser citado, pois ocupa um lugar de destaque e inaugura o captulo VII A psicologia dos processos onricos de A interpretao dos sonhos. Trata-se de um sonho que no era de Freud, mas foi relatado por uma paciente que o ouvira em uma conferncia sobre os sonhos e depois passou a ter sonhos parecidos com ele.
As condies preliminares desse sonho-padro foram as seguintes: um pai estivera de viglia cabeceira do leito de seu filho enfermo por dias e noites a fio. Aps a morte do menino, ele foi para o quarto contguo para descansar, mas deixou a porta aberta, de maneira a poder enxergar de seu quarto o aposento em que jazia o corpo do filho, com velas altas a seu redor. Um velho fora encarregado de vel-lo e se sentou ao lado do corpo, murmurando preces. Aps algumas horas de sono, o pai sonhou que seu filho estava de p junto a sua cama, que o tomou pelo brao e lhe sussurrou em tom de censura: Pai, no vs que estou queimando? Ele acordou, notou um claro intenso no quarto contguo, correu at l e constatou que o velho vigia cara no sono e que a mortalha e um dos braos do cadver de seu amado filho tinham sido queimados por uma vela acesa que tombara sobre eles.1
Freud explica sua utilizao desse sonho, pois ele tem um sentido bvio, alm de preservar as caractersticas essenciais que diferenciam os sonhos da vida de viglia. Trata-se de um sonho muito particularmente transparente2 cuja utilizao ser retomada e justificada inmeras vezes ao longo do captulo VII, introduzindo, por exemplo, as sees (B) Regresso e (C) Realizao de desejos. Para Carvalho:
1 2
FREUD, 1900, p. 541. FREUD, 1900, p. 580.
130
Na anlise que Freud oferece desse sonho, alm de ressaltar a condio da sobredeterminao ou seja, a determinao mltipla e tambm a significao mltipla de uma formao psquica so fornecidas algumas explicaes concernentes situao real do fogo cujo claro1 pode ter chegado at aos olhos do homem adormecido, aos pensamentos que ele teve ao se recolher no quarto contguo e que o levaram a recear que o velho talvez no cumprisse a sua funo de viglia e, finalmente, s palavras Estou queimando (palavras que o pai,de fato, deve ter ouvido quando cuidava de seu filho que ardia em febre) e Pai, no v? (que apontam para algo derivado de alguma outra situao altamente emocional da qual nada se sabe). Alm disso, Freud argumenta que, sendo inserido na cadeia de experincias psquicas do sonhador, percebe-se que esse sonho contm a realizao de um desejo, e na figura do filho morto que se comporta como se estivesse vivo que vemos melhor a realizao desse desejo. Pois o filho adverte o pai, vai at o seu leito, agarra-o pelo brao tal como provavelmente o fizera ainda em vida. No s isso, mas por causa da efetivao deste desejo, o pai prolonga seu sono por um instante. Aqui preciso reconhecer que o pai preferiu sonhar que partir para uma reflexo desperta, porque enquanto sonha, o pai v seu filho ainda vivo, e este um dos muitos desejos que esse sonho expressa.2
Falando agora sobre esses dois ltimos sonhos que trouxemos - o sonho de Freud da poca da morte de seu pai e o sonho do menino queimando -, Ana Ceclia Carvalho nos alerta para o fato de Freud ter lanado mo de sonhos significativamente marcados pela cegueira e pelo necessrio fechar de olhos. Ela estabelece uma relao entre eles e a motivao da prpria escrita de Freud de A interpretao dos sonhos.
No primeiro sonho, tnhamos uma situao na qual o pai est morto, a cegueira do filho convocada como advertncia, como censura ou mesmo como elemento de culpa, e uma referncia uma auto-anlise seguindo-se elaborao da perda do pai, tudo isto culminando com a produo de um livro inaugural de uma nova Cincia. No segundo sonho, temos agora uma situao na qual o filho que est morto, o pai que est com os olhos fechados, seguindo-se a apresentao terica do modelo conceitual mais importante da Psicanlise. Mas, entre Pede-se fechar o(s) olho(s) e Pai, no v que?... produziu-se uma inverso que exige uma interpretao.3
Carvalho esclarece de que cegueira se trata e fala sobre o que, nesses sonhos, se expressa sob a forma de olhos fechados, como um enigma. Ela fala sobre o recalcado,
1
Gostaramos ainda de dar um destaque citao do claro de luz localizada como nica fonte externa de estimulao do sonho, presente no seguinte trecho e em vrios outros: Quando o claro de luz incidiu sobre os olhos do pai adormecido, ele chegou preocupada concluso de que uma vela havia cado e poderia ter incendiado o cadver. Transformou essa concluso num sonho, revestindo-a do aspecto de uma situao sensorial e no tempo presente (FREUD, 1900, p. 580). Freud fala desse claro, resultante do fogo que consumia a mortalha e o corpo do filho, que incidiu sobre o pai dormindo; esse claro era o responsvel pela inferncia feita pelo pai de que o cadver de seu filho estivesse queimando. Ser que tambm o pai no pode ter sido estimulado pelo cheiro caracterstico decorrente do incndio ou por algum barulho de algo caindo? Ao localizar um estmulo visual externo como uma das fontes do sonho, mantendo o modo como os tratou em todo seu livro, Freud insiste em considerar apenas uma estimulao visual. 2 CARVALHO, p. 7-8. 3 CARVALHO, p. 8.
131
resultante de uma operao constitutiva do prprio aparelho psquico, como o elemento que faz com que Freud, apesar de ter cumprido rigorosamente a ordem do primeiro sonho (Pede-se fechar os olhos), tenha sua ateno chamada exatamente por estar com os olhos fechados no segundo sonho Pai, no v que?? Isso fica claro, diz ela, com a anlise do captulo VII, pois, ao elaborar um modelo de aparelho psquico, Freud cria um modelo que se assemelha a um aparelho ptico. Assim, a cegueira dentro desse aparelho mais do que um mero efeito, a condio que o estrutura. Encerremos a anlise desses sonhos com a concluso trazida por Ana Ceclia Carvalho, que agora relaciona o perder de vista com a construo do modelo de aparelho psquico feita por Freud.
Freud iluminista acaba por descobrir que o modelo de aparelho ptico que empregou como analogia do aparelho psquico funciona apenas porque tem um ponto cego. Algo assim como se reconhecesse que foi preciso perder de vista para continuar enxergando.1
3.4 A cegueira branca, a censura e os sonhos de angstia
Buscando agora ampliar algumas concluses dos captulos 1 e 2, lembramos que sonhar uma forma de exibio, uma forma de ver algo desejado tomando forma e, ao mesmo tempo, uma forma de manter os olhos fechados para esse desejo. Num sonho tentamos dosar o grau de abertura de nossas pupilas, permitimos que os olhos se abram um pouco mais e, literalmente, criamos as imagens necessrias para essa soluo de compromisso. A censura que controla essa abertura. Assim, h um anteparo e evitamos, quando possvel, a angstia. Tecemos um envoltrio psquico para o desamparo. O que ocorreria caso ficssemos sem esse anteparo, sem essa proteo? Aproximamos aqui essa suposio da situao metaforicamente tratada por Saramago em seu livro Ensaio sobre a cegueira2. Nesse livro, Saramago conta a histria de uma cegueira branca que, inexplicavelmente, se alastra pelas pessoas, provocando o caos absoluto nessa sociedade. Apenas uma mulher continua enxergando durante a trajetria de cegueira das demais pessoas, dando testemunho de toda uma organizao que se
1 2
CARVALHO, p. 8. SARAMAGO, 2001.
132
tornou falida e, ao mesmo tempo, dosando as informaes que transmitia para seus companheiros cegos, servindo, assim, de seu anteparo. Com a cegueira branca, h um homem que tem medo, que mata para sobreviver, que discrimina e classifica seu semelhante por alguma caracterstica, e no lhe interessa saber o nome dessas pessoas, ou seja, um homem que revela seu lado insuportvel, que no deveria ser visto. Temos um homem que se depara com sua fragilidade e desamparo absolutos, que se demonstra completamente dependente da viso fsica, a nica com a qual consegue lidar por ser a melhor opo para camuflar esse desamparo incessantemente negado. Por isso, supomos, a cegueira branca indica no uma cegueira, mas um excesso de viso. Encontramos um homem que perde seu anteparo criado pelo recalque e que se desorienta quando passa a ver demais, jogando por terra todos os construtos que mantm sua estrutura social de p. Ele vislumbra as conseqncias do fim do recalque e a explicitao desordenada das pulses. Saramago no cegou o homem; ele o fez ver algo insuportvel, abriu seus olhos e o fez ver demais: fez o homem ver a si mesmo. O efeito de uma cegueira branca descrito na obra de Saramago exatamente o efeito da ofuscao, do deixar de ver pelo excesso de luz, o que ocorre quando se dilata a pupila em grau elevado. No vemos nada por ver demais. A realidade entra num grau exagerado e cega a retina, saturando-a pelo excesso de luminosidade. Temos que fechar os olhos e controlar a quantidade de estmulos e excitaes que penetram em ns a todo o momento. Se essa excitao exceder os limites suportveis por nosso aparato psquico, ns a limitamos, fechamos completamente nossos olhos e nos cegamos. Diramos aqui que os sonhos de angstia representam um instante em que abrimos demais nossos olhos e acabamos vendo o insuportvel do que foi rejeitado anteriormente, ou seja, um momento em que vislumbramos a cegueira branca de Saramago. Os sonhos de angstia so aqueles em que um desejo onrico foge censura e distoro conseqente dessa censura, fazendo com que o sonhador experimente sensaes desagradveis. Eles ocorrem quando a censura est total ou parcialmente ausente, e a subjugao da censura facilitada nos casos em que a angstia foi produzida como uma sensao imediata decorrente de fontes somticas.1 Quando surgir a necessidade de uma defesa contra algum desejo, ele ser submetido censura e
FREUD, 1900, p. 293.
133
distoro, ou seja, ao fechamento necessrio das pupilas para que se torne aceitvel para todas as instncias envolvidas. Nos sonhos, no h neles nada de arbitrrio.1 Quando surge alguma dvida sobre a exatido do relato de um sonho ou de algum de seus pormenores, Freud afirma que essa situao se trata de um derivado da censura onrica, da resistncia irrupo dos pensamentos onricos na conscincia. Essa resistncia no se esgotou nem mesmo com os deslocamentos e substituies que ocasionou; persiste sob a forma de uma dvida ligada ao material que foi admitido [na conscincia].2
...h alguns sonhos que so realizaes indisfaradas de desejos. Mas, nos casos em que a realizao de desejo irreconhecvel, em que disfarada, deve ter havido alguma inclinao para se erguer uma defesa contra o desejo; e, graas a essa defesa, o desejo incapaz de se expressar, a no ser de forma distorcida.3
Qual , ento, a funo da censura? Assim, podemos notar claramente a finalidade para a qual a censura exerce sua funo e promove a distoro dos sonhos: ela o faz para impedir a produo de angstia ou de outras formas de afeto aflitivo.4 A censura mais uma tentativa de cegar o sujeito. mais uma forma de fechar os olhos ou, ento, de controlar a abertura deles, pois distorcer as coisas apresentar para si mesmo uma forma aceitvel de algo recusado anteriormente. Temos um sonho e, pela ao da censura, nos esquecemos dele. Fechamos nossos olhos novamente.5
FREUD, 1900, p. 547. FREUD, 1900, p. 578. 3 FREUD, 1900, p. 176. 4 FREUD, 1900, p. 293-294. 5 Pensando ainda sobre o tema especfico dos sonhos, convm destacar algo que tangencia essas elaboraes sobre fechar os olhos: o esquecimento dos sonhos. Freud apresenta a falta de garantia que temos de conhecer os sonhos tal como realmente ocorreram tendo em vista uma tendncia comum ao esquecimento de parte dos sonhos, ou de sonhos inteiros na vida de viglia, devido aos efeitos da elaborao secundria e da organizao que damos aos sonhos ao relat-los. Com o passar do dia, tambm comum acentuar-se o esquecimento dos sonhos, considerado por Freud como tendencioso e, em grande parte, como efeito da resistncia , pois muito mais freqente o sonho arrastar consigo para o esquecimento os resultados [de sua] atividade interpretativa do que [sua] atividade intelectual conseguir preserv-lo na memria (FREUD,1900, p. 294).
2 1
Fundamentalmente, o esquecimento estaria relacionado ao recalque. Segundo ele, o recalque (ou, mais precisamente, a resistncia criada por ele) a causa tanto das dissociaes quanto da amnsia ligada ao contedo psquico destas. Alm disso, o estado de sono possibilita a formao de sonhos porque reduz o poder da censura endopsquica (FREUD, 1900, p. 294). Diramos, ento, que fechamos mais uma vez, progressivamente, nossos olhos, depois de os termos abertos durante a noite. Freud, porm, tenta manter essa abertura e dispensa sua interpretao tanto a elementos mais nfimos e insignificantes, quanto aos mais certos e ntidos, ou seja, ele atribui idntica importncia a cada um dos matizes de expresso lingstica em que eles nos forem apresentados (FREUD, 1900, 295).
134
CONCLUSO: O OLHAR DA PSICANLISE
...sobre o visual, no h viso de conjunto, inadequada por natureza a seu objeto.1
A descoberta feita por Freud de que desejos inconscientes influenciam toda a existncia do indivduo tem uma de suas origens em fenmenos histricos e provoca espanto e desconfiana at nossos dias. Os fenmenos descritos pela Psicanlise so mais visveis e dignos de crdito desde seu comeo, principalmente quando uma pessoa pode vivenciar uma anlise ou quando pode presenciar uma manifestao somtica, numa converso histrica, ou seja, ver com seus prprios olhos. Embasado por seu estudo e experincia clnica, Freud expande a influncia psquica para todo o funcionamento do organismo. Assim, o inconsciente pode interferir na formao dos sonhos, no aparelho motor, na fala, na leitura, na escrita, na produo artstica, na memria, na percepo, entre outros. Entretanto, seria ingnuo considerar, que no haja certa limitao ou molde traado pelo prprio corpo nessa influncia. A percepo visual pode ser relacionada realizao de desejos nos sonhos, pulso escpica e cegueira histrica, porm um fator orgnico limitante em alguns fenmenos e limitadora se nos ativermos a ela em seu aspecto biolgico. Ao longo de todo este trabalho, estivemos falando sobre a Psicanlise do olhar, ou seja, sobre o modo como a Psicanlise teoriza e faz uso do olhar em suas vrias dimenses. Para tanto, utilizamos o olhar da prpria Psicanlise com o intuito de pensarmos sobre ela mesma, procurando perder o olho de vista, movimento que deixaremos mais evidente nesse momento. Demonstramos como o olhar pode ser tomado de diversas formas. Vinculado aos olhos, ele aparece como percepo e como sinnimo para todos os demais sentidos; vinculado ao modo de interao do ser humano com seus mundos, incluindo o psquico,
Outro movimento ao qual daramos a mesma conotao de fechar os olhos quando Freud identifica nas teorias de sua poca sobre os sonhos uma tendncia que visa a disfarar as circunstncias fundamentais em que se formam os sonhos e desviar o interesse de suas razes pulsionais 1 PONTALIS, 1991, p. 220-221.
135
ele se apresenta como metfora em termos abstratos revelando-se verdadeiramente como a janela da alma.1 Fizemos, ento, um traado na teoria dos sonhos e da pulso escpica, na teoria que versa sobre a constituio do sujeito, na tcnica psicanaltica e no movimento de constituio da Psicanlise e rapidamente na teoria do recalque, do complexo de dipo e da castrao, delimitando, ento, onde encontramos o olhar, por um lado, como percepo, como ferramenta e, por outro, como algo constitutivo do psiquismo e como metfora. Alm de descrever, procuramos entender o motivo da presena marcante do olhar em todos esses aspectos e justificar algumas afirmaes tais como a que se segue: O retorno aos restos visuais pode servir de referncia compreenso dos demais modos de acesso do inconsciente conscincia, o que se bem justifica a recomendao de que no se deve esquec-lo ou negar sua importncia.2 Devemos ressaltar que, como encontramos incessantemente meno visualidade tanto de forma metafrica quanto de forma concreta nas referidas descries tericas, que tomam como pressuposio um sujeito vidente, criamos a estratgia de estabelecer como contraponto, insistentemente, o caso da cegueira. Houve, ento, trs grandes grupos de questes a que buscamos responder ao longo deste trabalho: como o olhar aparece em A interpretao dos sonhos e como toda a teorizao presente nessa obra se daria para os sonhos de uma pessoa cega? Qual a relao da pulso escpica com a viso e ser que uma pessoa cega inata possui essa categoria de pulso? Caso possua, como seria seu desenvolvimento? Qual a dinmica do olhar na tcnica psicanaltica e quais modificaes deveriam ser feitas nessa tcnica no caso de um analista ser cego, do analisante cego ou de ambos cegos? Sobre o uso do div na tcnica analtica chegamos a algumas concluses importantes. O conforto trazido pelo seu uso reafirmado no caso em que ou o analista, ou o analisando so cegos. Se o analista cego ou deficiente visual grave, ele no v, porm visto, e o div trar um alvio ainda maior se comparado ao alvio trazido para um analista vidente, porque, nesse caso, o div gera uma equiparao visual ao mesmo tempo que cria um descompasso no que diz respeito escuta. Quando o analisando cego, deitar no div tambm implicar no mais ser visto. Neste ltimo caso, o analista no ser visto por seu paciente, apesar de sempre ser observado por meio de todos os
1
Ressaltamos que no podemos considerar os olhos essa janela, pois, se assim os fossem, os cegos no teriam como participar dessa metfora e eles assim o fazem.... Porm, o olhar, na dimenso ampliada que propomos, poderia ser considerado essa janela da alma. 2 LEITE, 2001, p. 17.
136
outros sentidos dele. Quando ambos so cegos, o div mantm-se apenas como um mobilirio confortvel para o analisante se deitar. Buscamos em A interpretao dos sonhos a meno a sonhos no-visuais. Encontramos como representantes de sonhos em que a percepo visual estivesse ausente apenas os sonhos da ordem das idias, bem comuns para Freud, porm nenhum exemplo de sonhos alucinatrios. Logo, a questo da cegueira no mencionada por ele. E para que sua teoria se aplicasse ao sonho dos cegos, percebemos que algumas consideraes deveriam ser feitas e, assim, o fizemos. Tal constatao, deduzimos, faz parte de um movimento de raciocnio oscilante de Freud entre o sentido e a anatomia. Ele enfatiza a interpretao, o sentido, a linguagem, mas descreve esses fenmenos com base na percepo visual, concretiza a figura de um sonho numa pintura, considera as fontes dos sonhos como estimulaes somticas, cria duas extremidades anatmicas, perceptiva e motora para o aparelho psquico, alm de utilizar modelos de aparelhos pticos em busca de uma representao abstrata para esse aparelho anmico. Para explicar a existncia dos sonhos, tanto os alucinatrios visuais e os dos cegos quanto os da ordem das idias, no modelo de aparelho psquico, tivemos de reconstru-lo e todos os caminhos de ziguezague, entre as lentes deste, que vo desde o impulso para a formao dos sonhos at sua vivncia. Mostramos como o impulso para a formao de qualquer sonho parte do inconsciente, segue em direo ao pr-consciente, buscando a conscincia. Nesse momento, tal impulso esbarra com a censura e com a extremidade motora adormecida do aparelho. Ento, atrado pelas lembranas visuais vidas por uma revivescncia, tal impulso vai em direo extremidade perceptiva do aparelho, atingindo a conscincia. Teramos, assim, os sonhos alucinatrios. J os sonhos da ordem das idias fazem a mesma trajetria com exceo da etapa da passagem pelas lembranas visuais. Constatado que os sonhos dos cegos tambm deveriam ser alucinatrios, conclumos que a categoria de tais lembranas no precisaria ser necessariamente visual. Para descrever os sonhos cegos, fizemos uma anlise de cada aspecto do trabalho dos sonhos, buscando o paralelo no-visual para eles. Com relao condensao, demonstramos como ela faz uso dos demais sentidos, alm do visual, numa manobra condizente com a condio de cegueira. Uma pessoa pode, num sonho, possuir o cheiro de uma outra ou sua voz. O deslocamento dota lugares com
137
temperaturas e cheiros adversos. A elaborao secundria encadeia situaes no vistas mas acontecidas, numa seqncia que traga um sentido lgico vivncia dos sonhos. Para entender o motivo dos sonhos visuais, construmos explicaes para cada aspecto mencionado acima e, ao mesmo tempo, encontramos uma justificativa geral, que diz respeito importncia de se sonhar. A condensao encontra nas imagens visuais uma categoria perceptiva tipicamente condensante. O deslocamento pode demonstrar, sem muito esforo, uma intensidade psquica em caractersticas visuais como nitidez e tamanho. A censura se manifesta ao deixar ver coisas distorcidas ao passo que encobre as originrias. A elaborao secundria encadeia imagens numa seqncia lgica que pode apresentar um sentido. Demos ainda um destaque teoria de realizao de desejos inconscientes pelos sonhos. Nosso impasse, nesse momento, disse respeito ao aparente limite que uma pessoa cega teria se desejasse ver em seus sonhos, uma vez que ela no possui registros mnmicos visuais. Caso esse impedimento ocorresse, a teoria freudiana teria encontrado seu tendo de Aquiles? Com exemplos, porm, pudemos demonstrar como uma pessoa cega pode ver sim em seus sonhos medida que desempenha atividades sonhando, atividades que somente seria capaz de executar caso visse. Cada sonhador nos contou grandes desejos que possua, desejos diretamente vinculados ao uso da viso e que, em seus sonhos, eram realizados. Dessa forma, nossa hiptese se confirmou, por exemplo, com o relato de alguns sonhadores cegos que nos contaram como conseguiam dirigir automveis em seus sonhos, atividade impossvel de desempenhar acordados. Conclumos, ento, que entender por que os sonhos so visuais para um vidente e por que no os so para um cego poderia tambm ser uma tarefa bem simples quando pensamos que os sonhos so essencialmente espao para a elaborao psquica. Os sonhos falam numa linguagem que o sonhador capaz de compreender e fornecem a abertura apropriada das pupilas para que o sonhador suporte ver determinada realidade psquica representada. Algum que v enxergar em seus sonhos, pois precisa acreditar que o sonho uma situao como todas as outras. Quem cego tambm ver e viver seus desejos realizados. Demonstramos, dessa maneira, como o sonho ser um ponto de vista sobre o material latente, mesmo para um cego inato, considerando que seu aparelho psquico tenha sido estruturado com base em uma lgica visual. Em suma, o que ocorre quando sonhamos que representamos e no mais vemos, e um cego tambm representar quando deixar de ver, ou seja, quando adormecer.
138
Pudemos deduzir que uma pessoa cega inata tem pulso escpica, considerando simplesmente alguns de seus comportamentos que demonstram prazer e preocupao no modo como percebe seu mundo e como se sente olhada. Pensando nisso, percebemos como estaria comprometido o desenvolvimento proposto por Freud para a pulso escpica no artigo A pulso e seus destinos. Freud parte do pressuposto de um sujeito vidente que compreende o que lhe chega aos olhos.1 Assim, comeamos a buscar uma nova proposta para o desenvolvimento dessa pulso desde suas origens, desconstruindo a idia de uma atividade inicial e do auto-erotismo, repensando o conceito de fonte, e terminamos por delimitar os conceitos de olhar, olhar pulsional e enxergar. Demonstramos como todo ser humano nasce cego e como a aprendizagem da viso marcada por uma passividade inicial do lado do beb, cujo enxergar ser estimulado e desejado prioritariamente pelo adulto que cuidar dessa criana. Com o caso de Virgil, do neurologista Oliver Sacks, mostramos como o enxergar aprendido, como o ver e o no-ver pulsional e como, mesmo um cego, pode desejar no ver com seus olhos, apesar de poder fazer parte do mundo escpico. Alm disso, com as consideraes de Sacks, percebemos que o conceito de olhar deveria extrapolar o ver atravs dos olhos. Voltamos nosso foco para o conceito de pulso escpica e concentramos nossos esforos em alguns de seus aspectos. Frente ao nosso problema de pesquisa, procuramos especificar o conceito de fonte, parte do conceito de pulso que mais se aproxima da anatomia, explicar sua origem e, finalmente, propor um outro modelo para seu desenvolvimento. Para comearmos a falar sobre as origens da pulso escpica, utilizamos as contribuies de Hanns (1996) para explicar como esse fenmeno se localiza entre a fronteira do mental e do somtico. A pulso escpica, como as demais pulses, surge como fenmeno fsico orgnico, mas num momento em que ainda no pode ser chamada de pulso, por no ser algo sexual. De acordo com esse raciocnio, encontramos, no primeiro instante de seu desenvolvimento, os prottipos da fonte pulsional, que consistem num fenmeno fsico, ou seja, nas alteraes provocadas pelos
1
Como podemos ler por suas colocaes: (a) O olhar como uma atividade dirigida para um objeto estranho. (b) O desistir do objeto e dirigir o instinto escopoflico para uma parte do prprio corpo do sujeito, com isso, transformao no sentido de passividade e o estabelecimento de uma nova finalidade a de ser olhado. (c) Introduo de um novo sujeito diante do qual a pessoa se exibe a fim de ser olhada por ele. (FREUD, 1915, p. 134-135).
139
estmulos provenientes dos diversos rgos do corpo que compem o olhar, incluindo o olho. Tais estmulos e significados, num primeiro momento, partiriam, teriam como fonte o corpo do outro, no do beb. Em outras palavras, teramos a atuao desse outro adulto que cuidaria do sujeito e que o faria entender como est sendo percebido, amparado, cuidado, contido, amado, visto e isso faria com que esses estmulos, por seu acmulo energtico e carga afetiva, atingissem a mente do sujeito, transformando a pulso num fenmeno sexual psquico. Posteriormente, a estimulao, de certa forma j implantada e interpretada, poderia brotar do corpo do prprio sujeito, de qualquer rgo que lhe faa ter como objetivo mostrar-se e perceber esse outro. Estaria a a chave do funcionamento da pulso escpica, fundamentalmente no mostrar-se e ser percebido como objeto de interesse, objeto sexual, objeto de amor, e no mais apenas no ver e ser visto com base no sentido visual fisiolgico. Deduzimos, ento, que a passagem do somtico para o psquico feita pelo outro que ativamente dar significado ao ver, ao perceber o sujeito como objeto de seu investimento afetivo. Ver o objeto de amor passa a significar o fim do desamparo, ser visto adquire a conotao de ser cuidado, ser admirado, ser amado. Temos, portanto, a transformao de uma posio passiva da criana que recebe essas mensagens, numa ativa, quando ela passa a traduzi-las e a incorpor-las em seu repertrio psquico. Encontramos em Freud, em seu livro Alm do princpio do prazer (1920), uma demonstrao desse conforto representado pela viso do objeto amado, do desamparo provocado pela ausncia desse objeto e da posio ativa e prazerosa que a criana adquire ao passar a simbolizar essa situao e a represent-la em suas aes, no famoso jogo do carretel. Identificamos ressonncias e complementaes das concluses a que chegamos na teorizao feita por Laplanche sobre a situao originria, o surgimento dos objetosfontes da pulso, a teoria do apoio e da seduo e em sua proposta para o desenvolvimento da pulso sadomasoquista. Aplicamos, ento, todas essas elaboraes para compreender o desenvolvimento da pulso escpica em bebs cegos e videntes. O beb de Laplanche um beb marcado por uma prematurao tanto psquica quanto biolgica. Sua situao de passividade e de desamparo; ele precisa de ajuda e nem mesmo sabe disso. Pensando no caso da viso, teramos um beb que recebe informaes atravs de seus olhos, mas no sabe o significado dessas coisas. Do lado do adulto, temos um sujeito ativo, biolgica e psiquicamente mais desenvolvido.
140
Cognitivamente, ele entende o que enxerga, mas seu ver tambm pulsional. Ele dotado de um inconsciente e transmite para esse beb toda sorte de mensagens que devero ser traduzidas por um aparelho imaturo. Como resultado desse descompasso, temos mensagens enigmticas e, por isso mesmo, sedutoras. O resultado dessa operao falha, desse descompasso, faz com que surjam no beb restos inconscientes, que sero os objetos-fontes da pulso. Para o desenvolvimento da pulso escpica, nos moldes do raciocnio estabelecido por Laplanche para a pulso sadomasoquista, teramos o seguinte: de incio o beb percebe desordenadamente informaes visuais e, apenas quando o adulto entrar no circuito pulsional e transmitir seus sentidos do enxergar, na vertente passiva do ser visto, surgir a pulso propriamente dita. O primeiro momento do ver se apoiaria somente no plano autoconservativo, e o segundo, do retorno sobre o eu, poderia ser considerado sexual, pulsional e exibicionista. Assim, podemos entender, com base em pelo menos dois argumentos, como uma pessoa cega possui pulso escpica: o primeiro momento da pulso passivo, e todos seres humanos possuem uma prematurao visual nas origens. A peculiaridade est no fato de que, numa pessoa cega, essa prematurao persistir. Buscando definir olhar, ver e enxergar, encontramos uma pista fundamental fornecida por Freud em seu texto sobre a cegueira histrica. Com esse sintoma ele nos mostra como as histricas param de ver com seus olhos, mas continuam vendo com seu inconsciente, ou seja, ele nos fala de um olhar inconsciente. Juntando isso com o restante de nossas concluses, organizamos idealmente nossas idias da seguinte forma: o ver perceptivo seria o enxergar aprendido pela interpretao dos raios luminosos que chegam atravs dos olhos; a noo de olhar ampliada seria esse ver somado ao cheirar, ouvir, tocar, sentir (paladar), ou seja, somado aos demais sentidos; o olhar inconsciente seria a noo ampliada de olhar acrescida da pulso escpica. Depois de tratar sobre os sonhos e sobre a pulso escpica, agrupamos uma srie de questes que precisavam ser amarradas ao tema do olhar. Na tcnica psicanaltica identificamos, com a ajuda de Leite e Nasio, o papel do div como o responsvel para restringir o ver perceptivo em busca do olhar inconsciente e para promover uma quebra na configurao corriqueira de um dilogo. Analisamos ainda o lugar do pensamento visual na atividade teorizante e na escuta do analista, com a figura na anlise, e demonstramos como esse fenmeno tipicamente visual ocorreria para um analista cego.
141
Demonstramos como o olhar e a visualidade so tratados como constitutivos por Freud. O medo de perder os olhos relacionado com o medo da castrao no texto O estranho. A proximidade entre o recalque e o perder de vista pode ser inferida com uma anlise da elaborao da obra como um todo e em trechos de A interpretao dos sonhos. A relao do recalque com o fechar de olhos aparece quando Freud fala sobre o complexo de dipo, quando analisa os sonhos tpicos com a morte de pessoas queridas. Demos ainda um destaque a essa relao, trabalhando a primorosa anlise feita por Ana Ceclia Carvalho. Essa autora estabelece uma ligao entre o sonho que Freud teve, pede-se fechar os olhos, na ocasio da morte de seu pai, que um dos estmulos a produo de toda a obra de 1900, e o sonho do menino queimando, que inaugura o captulo VII A psicologia dos processos onricos dessa mesma obra, em que Freud teorizar sobre o aparelho psquico. Estabelecemos ainda uma correlao entre o fenmeno da cegueira branca criada por Jos Saramago, que interpretamos como uma abertura excessiva dos olhos, e no como um fechamento deles, os sonhos de angstia e a diminuio da censura onrica. Em todo esse percurso utilizamos a Psicanlise como nossos olhos para podermos relativizar, reafirmar ou destituir da presena excessiva da visualidade sua importncia. A Psicanlise faz ver ao ajudar a perder de vista e inaugura, por exemplo, a dimenso da sexualidade no olhar, com a pulso escpica, mas, muitas vezes, se prende a um olho perceptivo. Temos, assim, uma visualidade que colocada em destaque por Freud, em suas elaboraes tericas, principalmente quando ele fala sobre os sonhos que so considerados a maior referncia do pensamento visual. Freud mantm com a imagem visual, de acordo com Leite (2001) uma relao ambgua oscilando entre a fascinao e a desconfiana. Embora ele procure justificar seu uso como representaes auxiliares que facilitam a aproximao a fatos desconhecidos, a densidade metafrica de sua escrita ultrapassa de longe esta inteno restrita e revela uma disposio interna em que o pensamento por imagens torna-se um modo singular de produo de conhecimento.1 Essa constatao aponta, a nosso ver, paradoxos mais profundos e essenciais que traduzem a impossibilidade de uma viso de conjunto sobre o visual: o paradoxo da linguagem e das representaes e o paradoxo da Psicanlise que faz ver ao se perder de vista.
LEITE, 2001, p. 17.
142
No mbito da linguagem, de acordo com Pontalis (1991), devemos considerar que falar sobre representao nos remete questo de que representar j designar algo que no est presente em si mesmo e precisa ser dito, ser representado. Nos casos que tratamos aqui, ao longo de todo o trabalho, estamos enfocando a representao visual do psiquismo. No conjunto da coisa psicanaltica, nada da vida mental pode ser traduzido pela imagem sem falseamento.1 Dessa forma, ao falar sobre representaes, estamos tambm falando sobre uma impossibilidade que extrapola as imagens visuais, estamos falando sobre a presena de um aparelho que antes de construir um arcabouo visual de representaes um aparelho de sentido, de linguagem. Por isso mesmo, temos uma linguagem que representa e no mais a coisa que deu origem representao. As representaes, sejam elas de quaisquer naturezas sensrias, implicam uma impossibilidade de apreenso dessa coisa propriamente dita, ou seja, a imagem no acolhe o inconsciente.2 A linguagem nasce da perda, assim como o olhar nasce do perder de vista. Uma linguagem que ignorasse a perda que lhe d vida e que a anima, uma linguagem convencida de enunciar a verdade, a rigor, s remeteria a ela mesma.3 Em suma, na prpria operao de linguagem inscreve-se a impossibilidade de satisfazer sua exigncia. A no-realizao do desejo est nela, mas o desejo no tem limites.4 No mbito da Psicanlise, Pontalis (1991) descreve o paradoxo instaurado por ela, constatao que traduz de certa forma todo o movimento que fizemos ao longo destes escritos do modo a seguir:
...num certo sentido, a Psicanlise libertou o imaginrio, estendeu para alm do campo da percepo o domnio do visvel e assinalou sua influncia tanto na vida pessoal quanto coletiva: os sonhos, devaneios, fantasias, cenas visuais, o teatro privado e as cidades idias dos visionrios nunca param de nos acompanhar. Em outro sentido, porm, ela desacredita esse visvel, destituindo-o da condio a que ele aspira: o inconsciente, tal como o ser dos filsofos, no se d a ver.5
Por fim, falando mais sobre o desenvolvimento da prpria Psicanlise, ao contrrio da mencionada opinio sobre a excluso progressiva do olhar que marcaria o
1 2
PONTALIS, 1991, p. 161. PONTALIS, 1991, p. 161. 3 PONTALIS, 1991, p. 145. 4 PONTALIS, 1991, p. 144. 5 PONTALIS, 1991, p. 161.
143
surgimento da Psicanlise, pensamos que, por um lado, em suas origens e seu desenvolvimento haveria uma valorizao e uma ampliao do olhar, principalmente de uma nova categoria de olhar: o olhar inconsciente. Por outro lado, esse olhar desacreditado, e seu desenvolvimento apontaria para o paradoxo da impossibilidade de captura do inconsciente. Essa a contradio que vimos tentando descrever.1 Assumindo a impossibilidade, anunciada em nossa epgrafe, de uma viso de conjunto sobre o objeto olhar que elegemos abordar nesta dissertao, esperamos ter conseguido demonstrar como a Psicanlise do olhar est primordialmente relacionada com o prprio olhar da Psicanlise sobre o homem. A Psicanlise nos permite enxergar o ser humano sob diversos ngulos, sob uma tica desconhecida por muitos at nossos dias. Ela nos mostra que possvel sempre ver as coisas com novos enfoques e perceber a verdade singular de cada sujeito. Mostra ainda que a percepo visual traioeira, pode ser falseada e que cada sujeito, mesmo o biologicamente cego, enxerga as coisas perpassado pelas imagens que pinta do mundo. Ela nos faz abrir mo de nossos retratos fixados pelos sintomas e ampliar nosso campo visual. O olhar que ela deseja relativizar o olhar perceptivo que traz consigo a iluso de concretude e fixidez imaginria do que
O modo como Freud descreve para seus pacientes como devem se comportar em busca de uma livre associao de seus pensamentos um convite visualidade, um convite para ver, perdendo-se o olho de vista por meio do div. Freud prope a passagem para o campo do olhar, mas o olhar interno, inconsciente. Retomando, mais uma vez, o texto Sobre o incio do tratamento, ressaltamos que Freud, ao apresentar a regra fundamental da tcnica psicanaltica, assinala que o analista deve pedir que o paciente no tente estabelecer um fio de ligao entre suas comunicaes, que diga seus pensamentos que lhe vierem cabea, mesmo os mais absurdos, ignorando as possveis crticas sobre eles ou falta de lgica ou relevncia e, ainda, que comunique os possveis sentimentos de averso a contar tais pensamentos. Freud diz o seguinte: Assim, diga tudo o que lhe passa pela mente. Aja como se, por exemplo, voc fosse um viajante sentado janela de um vago ferrovirio, a descrever para algum que se encontra dentro as vistas cambiantes que v l fora (FREUD, 1913, p. 150) . Freud sugere que o paciente comporte-se como se estivesse do lado de dentro de um trem olhando para fora, sendo que, na verdade, deseja que algum que est fora vislumbre seu interior. De acordo com Leite, com essa citao Freud estimula o surgimento de imagens visuais tanto no pensamento do paciente, quanto no seu, ou seja, a fala tida como uma evocadora de imagens. Lembrando-se do modelo de aparelho psquico formulado como um instrumento ptico, na criao de espaos virtuais, ela conclui que tanto o modelo terico, como o procedimento clnico so concebidos por Freud apoiados numa relao de estreita correspondncia entre o sonho e a situao analtica que pode ser traada a partir da presena, em ambos, das imagens visuais (LEITE, 2001, p. 100). Por um lado Freud restringe o campo visual seu e de seus pacientes ao utilizar-se do div; por outro, convida esses pacientes a ampliar seu olhar, a ver cada vez mais e, como no sonho, os elementos trazidos pela fala do paciente comporta-se como imagens (LEITE, 2001, p. 111). O analista torna-se, dessa forma, o cego vidente que amplia seu olhar sobre as coisas por no ver mais. Teramos, como diria Pontalis, a viso como perda de viso e o analista estaria vendo o que a vista oculta na evidncia sensvel (PONTALIS, 1991, p. 211) no por acaso que temos a figura de Tirsias como um sbio vidente, assim como a de outros cegos que enxergam alm da viso humana em vrias referncias literrias.
144
visto, que seduz e se pinta como completo e fiel realidade das coisas, um olhar que tangencia o preconceito, o olhar que fez Narciso acreditar e se afundar em seu reflexo. A Psicanlise alerta sobre os perigos de um olhar petrificante e mortfero, que pode brotar da perversidade de uma Medusa e nos obriga a perder o olho de vista para que possamos olhar com certa clareza. Talvez olhar o desamparo, a incompletude e a falta inerente ao seres humanos; porm, simultaneamente ilumina a possibilidade de que sempre possvel fazer algo com tudo isso, ao demonstrar que a realidade das coisas est vinculada ao olhar sobre ela.
Palavras finais
Fazendo uma rpida digresso sobre o nosso percurso, podemos, por fim, apontar algumas dificuldades que tivemos, questes no respondidas e sobretudo ressaltar o prazer que nos proporcionou o desenvolvimento desta pesquisa. Como destacamos em alguns momentos, o nosso tema abarca uma infinita possibilidade de anlises, principalmente, pela falta de unidade inerente ao prprio olhar. Justamente por isso, de incio j registramos o lamento pela constatao de que aspectos no foram contemplados e lembramos ao leitor a difcil tarefa que consiste em selecionar o que abordar, tendo em vista a necessria delimitao que uma pesquisa exige. Podemos, assim, listar algumas das questes no-contempladas: estudar mais a fundo como se d a imitao pelos bebs, cegos e videntes, movimento que se revelou importante na constituio do sujeito psquico, tanto quanto para a aprendizagem de vrios comportamentos; analisar e entender com mais detalhes as implicaes decorrentes do fato de nossa sociedade ser to fundamentalmente estruturada com base no sentido visual, levantando hipteses das causas disso e nos indagando se teramos nesse movimento um fenmeno cultural e se ele algo indito ou j bem conhecido; analisar mitos e lendas que somente foram mencionados rapidamente e estender nosso estudo para smbolos culturais, manifestaes artsticas, como pinturas e filmes e poderamos, assim, encontrar no cinema, por exemplo, uma rica fonte de contedo, e, por fim, seria interessante estabelecer a relao entre a pulso escpica e a epistemoflica.
145
Em relao ao material pesquisado, tivemos outro tipo de dificuldade, que consistiu em encontrar bibliografia que abordasse o tema do olhar com o enfoque escolhido.1 Podemos citar, a ttulo de ilustrao, o assunto da cegueira que somente foi localizado em textos de outras reas do conhecimento que no a Psicologia e a Psicanlise. Nos textos de Psicanlise, a cegueira apareceu apenas como uma aluso metafrica ou foi descrita como um componente dentro do complexo mecanismo do sintoma da cegueira histrica. Assim, fomos obrigados a ousar, construindo hipteses e inserindo informaes por vezes arriscadas, que provocaram certa hesitao. Em contraposio escassez de material relacionado ao nosso tema, podemos localizar, em todos os textos que investigamos, o excesso de termos relacionados ao olhar. O ver e seus sinnimos esto presentes como substitutos de inmeros verbos que se relacionam percepo e de outros que significam infinitas aes. Alm disso, ver, olhar e enxergar so usados de modo indistinto e esto acoplados a vrias expresses corriqueiras. Sendo assim, foi necessrio estabelecer uma delimitao para esses termos e organiz-los em conceitos, buscando entender e definir seu emprego. Ainda devido s nuances que envolvem o verbo ver e seu campo semntico, levando-se em considerao a natureza desta pesquisa, que exige um uso constante desses termos, foi preciso ter muita ateno e tentar restringir e selecionar o vocabulrio com rigor. Era natural que esses termos aparecessem em todo o escrito, tanto nas partes em que realmente o tema do olhar era abordado diretamente quanto em todo o restante. Tivemos de rastre-los e buscamos substituir os desnecessrios, para evitar um incmodo e confuso excesso. Tambm com relao ao material para pesquisa, podemos citar a dificuldade em adapt-lo para leitura2 e para a anlise, contraposta facilidade em colh-lo em entrevistas. Foi necessrio usar os contatos que vimos adquirindo na jornada que trilhamos em trabalhos sobre a incluso e a deficincia visual e, assim, tivemos o prazer de dialogar com muitas pessoas que aceitaram de prontido o pedido de ajuda feito a elas. Circulamos, dessa forma, num meio bastante familiar no qual nos sentimos bem vontade.
1 2
A Psicanlise lacaniana possui muitos trabalhos relacionados ao objeto olhar, porm no encontramos ressonncias com o nosso enfoque em nenhum dos textos que analisamos.
Como no consigo ler textos extensos ou com a fonte pequena, todo o material selecionado precisa ser gravado para que eu possa escut-lo, e no l-lo. Essa dificuldade tambm foi o grande empecilho para analisar textos em lngua estrangeira e sem traduo, devido ao curto prazo que tinha.
146
Algo que no chegou a ser uma dificuldade, mas se configurou como um bom exerccio, foi tentar trazer esclarecimentos sobre situaes e noes relativas deficincia visual que, apesar de se tratar de minhas vivncias pessoais cotidianas, podem gerar estranheza para algum com viso normal. Assim, fui lembrada, com a ajuda de minha orientadora, que as informaes e os raciocnios que formulo so embasados tambm por minha condio de possuir um problema visual e que meu leitor no necessariamente teria a mesma familiaridade com algumas argumentaes propostas, o que poderia gerar dificuldade na compreenso, caso no lhe fossem dados tais esclarecimentos. Tive, ento, que ter um enorme cuidado para tentar conduzir o leitor a acompanhar meu raciocnio. A minha condio de deficiente visual implica uma srie de contingncias facilitadoras e provocadoras de zelo. Posso citar vantagens e desvantagens, no mnimo algumas consideraes peculiares que emolduraram muitos caminhos e definiram as direes que este trabalho assumiu. Uma das preocupaes que me consumiram foi que essa proximidade pelo fato de este ser um tema muito prximo e que tangencia elementos vitais para mim , pudesse colocar em risco a pertinncia do que foi sendo construdo, o que engessaria e tornaria algumas concluses mais subjetivas e talvez menos teoricamente coerentes. Para vencer esse impasse tentei a todo o momento colocar prova minhas colocaes e raciocnios, submetendo-os a uma autocrtica e ao mesmo tempo dialogando com colegas e amigos. Outro receio que essa proximidade gerou foi me perder com tantas questes, que germinam diariamente, em meio s quais navego h longa data. Ento, para escapar desse perigo, tive de criar um caminho bem demarcado que, apesar de momentos de desnimo, me obriguei galgar. O entroncamento entre minha vivncia e este estudo se explicita em mais alguns fatores dignos de nota, entre eles, pelas perguntas que fao metapsicologia do olhar; pelo foco que escolhi ao questionar os limites da realizao de desejos pelos sonhos, uma vez que sempre me indaguei qual seria o impedimento que faz com que eu no possa ver normalmente ao sonhar; pela marcada direo do raciocnio argumentativo escolhido, em especial, estabelecer a cegueira como contraponto incessante, o que serviu como estratgia metodolgica e pela definio que procuro sobre o lugar que o div ocupa na tcnica psicanaltica, pensamento que brotou da minha prpria prtica clnica.
147
Refletindo sobre todos esses impasses e certezas, somente consigo perceber ganhos na realizao deste trabalho, considerando sobretudo a oportunidade de investigar que a Psicanlise nos proporciona, ao realizarmos um estudo terico, acadmico, prtico, questes fundamentais, inerentes ao ser humano. notrio como muitas pesquisas (ou seriam todas?) so em parte motivadas por fatores subjetivos. No caso da presente pesquisa, essa correlao bvia e com ela tive a oportunidade de amadurecer idias, aprimorar conhecimentos, mergulhando fundo em questes vitais, numa jornada que passou a fazer parte de uma rotina, emoldurando minha prpria experincia de sonhar, estudar, ler, escutar e escrever. Assim, flagrante a relao da natureza do tema escolhido com minha vivncia, e uma anlise do que digo chega a ser, em alguns momentos, uma anlise de mim mesma. Porm, ao contrrio do que muitos poderiam pensar, sinto-me muito vontade em abord-los. J sabendo de todas essas nuances, no pretendia me abster desse desafio e, com satisfao, digo: eis o resultado.
148
REFERNCIAS
ASSOUM, P. L. O olhar e a voz: lies psicanalticas sobre o olhar e a voz. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1999. BINSWANGER, L. Le rve et lexistence (1954). Paris: Descle de Brouwer, 1954. BLEICHMAR, S. A fundao do inconsciente, destinos da pulso, destino do sujeito. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997. BLEICHMAR, S. Nas origens do sujeito psquico: do mito histria. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997. BONNET, G. Voir tre vu: aspects metapsycholoques. Paris: Puf, 1991. Voix nouvelles en Psychanalyse. BONNET, G. Voir tre vu: tudes cliniques sur lexhibitionnisme. Paris: Puf, 1991. Voix nouvelles en Psychanalyse. CARVALHO, A. C. Borges freudiano, Freud borgeano: o pai, a cegueira e o recalque. Percurso. So Paulo: Instituto Sedes Sapientiae, ano VIII, n. 15, 2o semestre de 1995, p. 17-25. FONSECA, V. Psicomotricidade, filognese, ontognese e retrognese. 2. ed. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1998. FREUD, S. A concepo psicanaltica da perturbao psicognica da viso (1910). Rio de Janeiro: Imago, 1995. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 11). FREUD, S. A interpretao de sonhos (1900). Traduo de Jayme Salomo. Rio de Janeiro: Imago, 1976. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 5). FREUD, S. A interpretao dos sonhos (1900). Traduo de Jayme Salomo. Rio de Janeiro: Imago, 1972. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 4). FREUD, S. Edio eletrnica brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1999. (Legvel por mquina). FREUD, S. Interpretao das afasias. So Paulo: 70 Editora; Persona, 1997. FREUD, S. O ego e o id. Rio de Janeiro: Imago, 1995. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 19).
149
FREUD, S. Recomendao aos mdicos que exercem a Psicanlise. Rio de Janeiro: Imago, 1995. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 12). FREUD, S. Sobre o incio do tratamento. Rio de Janeiro: Imago, 1995. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 12). FREUD, S. Sobre o narcisismo: uma introduo. Rio de Janeiro: Imago, 1995. (Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, 14). FUENTE, B. E. Atendimento precoce. In: MARTIN, M. B.; BUENO, S. T. Deficincia visual: aspectos psicoevolutivos e educativos. So Paulo: Santos, 2003. cap. 11, p. 161175. GARCIA-ROZA, L. A. Introduo metapsicologia freudiana 1: sobre as afasias, o projeto de 1895. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. GARCIA-ROZA, L. A. Introduo metapsicologia freudiana 2: a interpretao dos sonhos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. HANNS, L. A. Dicionrio comentado do alemo de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. HUOT, H. Do sujeito imagem: uma histria do olho em Freud. So Paulo: Escuta, 1991. KANDEL, E. (Ed.); SCHWARTZ, J.; JESSELL, T. Principles of Neural Science. 2nd ed. New York: Elsevier, 1985. KAUFMANN, P. Lexprience mocionnelle de lespace. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1981. KAWFMAN, P. Dicionrio enciclopdico de Psicanlise: o legado de Freud e Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. KRISTEVA, J. Sentido e contra-senso da revolta. (Discurso Direto) poderes e limites da Psicanlise I I. Traduo de Ana Maria Sherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. LACAN, J. Estdio do espelho como formador da funo do eu. In: ______. Escritos. Traduo de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 96-103. LAPLANCHE, J. Freud e a sexualidade: o desvio biologizante. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. LAPLANCHE, J. Novos fundamentos para a Psicanlise. So Paulo: Martins Fontes, 1992. LAPLANCHE, J. Vida e morte em Psicanlise. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1885.
150
LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulrio da Psicanlise. So Paulo: Martins Fontes, 2000. LAVALLE. G. Lenvelope visuelle du moi. Paris: Dunnod, 1999. LECOURT, E. Freud e o universo sonoro: o tique-taque do desejo. Goinia: Ed. UFG, 1997. LEITE, E. B. P. A figura na clnica psicanaltica. So Paulo: Casa do psiclogo, 2001. MARTIN, M. B.; BUENO, S. T. (Org.). Deficincia visual: aspectos psicoevolutivos e educativos. So Paulo: Santos, 2003. MASSARA, G. Elementos para uma investigao sobre a conscincia na metapsicologia de Freud. Dissertao (Mestrado em ______) - Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte 1998. MEZAN, R. A medusa e o telescpio ou vergasse. In: O olhar. So Paulo: Companhia das Letras, 1989. MEZAN, R. Freud: a trama dos conceitos. So Paulo: Perspectiva, 1982. MONZANI, L. R. Freud: o movimento de um pensamento. Campinas: Ed. UNICAMP, 1989. NASIO, J. D. O olhar em Psicanlise. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. OLIVEIRA, A. Os efeitos da cegueira congnita no desenvolvimento das crianas. Revista Benjamin Constant, n. 4, set. 1996. Original ingls: The Effects of Congenital Blindness on the Development of the Infant and Young Child. OLIVEIRA, J. F. Freud e as teorias pr-psicanalticas do aparelho psquico. Belo Horizonte: s/n, 1999. PONTALIS, J. B. Perder de vista: da fantasia de recuperao do objeto perdido. Rio de Janeiro: Zahar, 1991. QUEIROZ, M. A. Sopro no corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. RODRIGUES, M. R. C. Estimulao precoce: a contribuio da psicomotricidade na interveno fisioterpica como preveno de atrasos motores na criana cega congnita nos dois primeiros anos de vida. Publicao Tcnico-cientfica do Centro de Pesquisa, documentao e informao do Instituto Benjamim Constant, Rio de Janeiro, ano 8, v. 21 abr. 2002. p. 6-22. SACKS, O. Ver e no ver. In: ______. Um antroplogo em Marte: sete histrias paradoxais. Traduo de Bernardo Carvalho. So Paulo: Companhia das Letras, 1995.
151
SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. So Paulo: Companhia das Letras, 2001. SCHEINKMAN, D. Da pulso escpica ao olhar: um percurso, uma esquize. Rio de Janeiro: Imago editora, 1995. WITTGENSTEIN, L. Anotaes sobre as cores.Lisboa: Edies 70, 1977.
Potrebbero piacerti anche
- Resumo de AntibióticosDocumento20 pagineResumo de AntibióticosLucianaNessuna valutazione finora
- Da Nau Dos Insensatos Ao Círculo AntropológicoDocumento24 pagineDa Nau Dos Insensatos Ao Círculo AntropológicoKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Fischer, A, Nodani, TMS, Feger, JE (2007) - Empreendedorismo-Algumas Reflexo - Es Quanto A - S Caracteri - SticasDocumento14 pagineFischer, A, Nodani, TMS, Feger, JE (2007) - Empreendedorismo-Algumas Reflexo - Es Quanto A - S Caracteri - SticasKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Teseluizademirdeoliveira PDFDocumento232 pagineTeseluizademirdeoliveira PDFKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Teseluizademirdeoliveira PDFDocumento232 pagineTeseluizademirdeoliveira PDFKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- A Organização Do TrabalhoDocumento2 pagineA Organização Do TrabalhoKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Single Aos MultiplayersDocumento39 pagineSingle Aos MultiplayersLeão ReiNessuna valutazione finora
- Biografia - Helena AntipoffDocumento5 pagineBiografia - Helena AntipoffKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Visitas Técnicas e AutoconfrontaçãoDocumento17 pagineVisitas Técnicas e AutoconfrontaçãoKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- A Influência Da Videoarte Sobre A Identidade Visual Das Vinhetas Da MTV BrasilDocumento28 pagineA Influência Da Videoarte Sobre A Identidade Visual Das Vinhetas Da MTV BrasilKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Biografia - Helena AntipoffDocumento5 pagineBiografia - Helena AntipoffKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- John BowlbyDocumento33 pagineJohn BowlbyKylmer Sebastian100% (4)
- CARVALHO, L. A. V. O Conceito de Pulsão em PsicanáliseDocumento9 pagineCARVALHO, L. A. V. O Conceito de Pulsão em PsicanáliseKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Eros e TanatosDocumento3 pagineEros e TanatosKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Biografia - Helena AntipoffDocumento5 pagineBiografia - Helena AntipoffKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- A Interpretação e o Ato Na Psicanálise Com CriançasDocumento10 pagineA Interpretação e o Ato Na Psicanálise Com CriançasKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- Psicopatologia Debate Não Ao DSMDocumento203 paginePsicopatologia Debate Não Ao DSMJúlia CarolinaNessuna valutazione finora
- Tutorial - Monkey Island 3Documento25 pagineTutorial - Monkey Island 3Kylmer SebastianNessuna valutazione finora
- A Feminilidade para Freud e LacanDocumento2 pagineA Feminilidade para Freud e LacanKylmer SebastianNessuna valutazione finora
- KleinDocumento7 pagineKleinAndrea MenezesNessuna valutazione finora
- Ficha de EmergenciaDocumento1 paginaFicha de EmergenciaalvinhobrNessuna valutazione finora
- Aspectos Da AdolescenciaDocumento35 pagineAspectos Da AdolescenciaDeusanira Raiol100% (1)
- PCA - Brasal Refrigerantes FormosaDocumento8 paginePCA - Brasal Refrigerantes FormosaAna CláudiaNessuna valutazione finora
- Análise Do Modelo de Gompertz No Crescimento de Tumores Sólidos e Inserção de Um Fator de TratamentoDocumento10 pagineAnálise Do Modelo de Gompertz No Crescimento de Tumores Sólidos e Inserção de Um Fator de TratamentoGraciela MarquesNessuna valutazione finora
- DLN-Z40-011 Ed1 Rev2Documento272 pagineDLN-Z40-011 Ed1 Rev2RAD50Nessuna valutazione finora
- Biologia - ExerciciosDocumento209 pagineBiologia - ExerciciosRafael Patropí100% (4)
- Aula PráTica 4 - Osmose e CicloseDocumento12 pagineAula PráTica 4 - Osmose e CicloseLEONARDO LOTTINessuna valutazione finora
- Resumo Nutrientes e Sistema DigestivoDocumento6 pagineResumo Nutrientes e Sistema Digestivoejardim2972Nessuna valutazione finora
- Guiomar GabrielDocumento6 pagineGuiomar GabrielportesleaoNessuna valutazione finora
- Genes e Cromossomos Mapa Mental PDFDocumento1 paginaGenes e Cromossomos Mapa Mental PDFAna Clara FrotaNessuna valutazione finora
- Ficha AtendimentoDocumento4 pagineFicha AtendimentoGiovanna CarpintieriNessuna valutazione finora
- Lombalgia e Discopatia Degenerativa 2015Documento61 pagineLombalgia e Discopatia Degenerativa 2015Renan Scalon MachadoNessuna valutazione finora
- Prova 2003Documento10 pagineProva 2003Klayverson ElizeuNessuna valutazione finora
- Crioterapia1 1Documento5 pagineCrioterapia1 1Mirelly MirllysNessuna valutazione finora
- Oculto em Branco NovoDocumento129 pagineOculto em Branco NovoVinicius FerreiraNessuna valutazione finora
- Atraso Global Do Desenvolvimento NatflixDocumento15 pagineAtraso Global Do Desenvolvimento NatflixShirlene GonçalvesNessuna valutazione finora
- 02 Bandeira+amarelaDocumento14 pagine02 Bandeira+amarelaRafael RochaNessuna valutazione finora
- Gabarito Avaliação de Ciencias 5º Ano 2º Trimestre 2022Documento2 pagineGabarito Avaliação de Ciencias 5º Ano 2º Trimestre 2022Celedir Lacerdea de Melo Dias100% (2)
- Alcool, Embriaguez e Contatos Culturais No Brasil ColonialDocumento392 pagineAlcool, Embriaguez e Contatos Culturais No Brasil Colonialjrvoivod4261Nessuna valutazione finora
- Regulador de Vávuo Toráxico Takaoka PDFDocumento30 pagineRegulador de Vávuo Toráxico Takaoka PDFAoExtremo100% (1)
- Histórias Da Visa Real Volume 3Documento56 pagineHistórias Da Visa Real Volume 3danielNessuna valutazione finora
- RDC 26 - 2014Documento7 pagineRDC 26 - 2014Regulatório IndividualNessuna valutazione finora
- TrabalhoDocumento6 pagineTrabalhoLucasBruxelNessuna valutazione finora
- GinásticaDocumento6 pagineGinásticaDaniel BeltraoNessuna valutazione finora
- Lista de IpssDocumento389 pagineLista de IpssJaime LopesNessuna valutazione finora
- 1° Exercício de Fixação - Semana 4 - Francis AlvarengaDocumento3 pagine1° Exercício de Fixação - Semana 4 - Francis AlvarengaRenatta RenattinhaNessuna valutazione finora
- Príncipios Da Análise Do Comportamento Aplicada - O Que ÉDocumento31 paginePríncipios Da Análise Do Comportamento Aplicada - O Que ÉLuciana MendesNessuna valutazione finora
- Cardápios para Dieta BHCGDocumento4 pagineCardápios para Dieta BHCGAlexandreBellaCruzNessuna valutazione finora
- Sons Harmónicos e Sons Complexos - Aula de 6 de DezembroDocumento2 pagineSons Harmónicos e Sons Complexos - Aula de 6 de DezembroSonia CoelhoNessuna valutazione finora