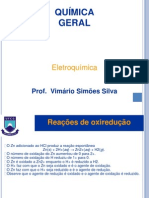Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
O Dito e o Feito
Caricato da
Iris Abreu0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
98 visualizzazioni232 pagineTitolo originale
o_dito_e_o_feito
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
98 visualizzazioni232 pagineO Dito e o Feito
Caricato da
Iris AbreuCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 232
leo
Antlopologi ... Polftica
fim Ncleo de
r.tr.l Antropologia
~ d Poltica
Mariza Peirano
Organizadora
O DITO
E O FEITO
Ensaios de Antropologia
dos Rituais
RELU ME DUMAR
s Cincias soc1a1s uma dMso
de trabalho VIncula diferentes diSCiplinas
a ob1etos espec1ftcos de 1nvest1gacao
O Nucleo de Antropologia da Polltlca
procura suplantar essas d1v1s0es
dtSClpllnares e concertos pre-estabelecidos.
cruzando barretras e questionando
a politlca nas suas concepOes natwas.
Deftn1dos por sua opao etnograf1ca.
os pesqUisadores do Nucleo
de Antropologta da Politlca (NuAP)
mostram os resultados de suas
1nvesttgaOes nos livros dessa Coleo
sobre temas to d1versos como per da
de mandato por decoro parlamentar.
ele1Oes, p1stolagem e band1ttsmo.
dtsputas pelo oramento da Un1tlo,
reun10es de trabalhadores. marchas
do MST. r1tua1s da pollttca. dtrettos
humanos e c1dadama Justamente
porque recortam rigorosamente eventos
etnogrftcos. os pesquisadores seguem
as tr1lhas dos atores envolvidos.
das aOes VIVIdas e das tnterpretaOes
nativas daqueles que pensam, fazem
e/ ou viVem a poltica A propr1a nocao
de polittca repensada e redef1n1da.
tnciUtndo sua arttculatlo com o contexto
soc1al ma1s amplo
A Colecao Antropologia da Pollttca
teve tncto em 1 998 e publica os
resultados das 1nvest1gacoes realizadas
no mb1to do NuAP Coordenados
por Moac1r Palmetra, Manza Petrano.
Csar Barre1ra e Jose Srgto Le1te
Lopes, e com sede no Museu
Nactonai/UFRJ. fazem parte Integrante
do Ncleo pesquisadores da
Umvers1dade de Braslia e
da Unrvers1dade Federal do Cear.
ass1m como de outras unrvers1dades
(IFCS/UFRJ. UFPR. UFF. UFAGS)
MARIZA PEIRANO professora titular
do Departamento de Antropologia
da Universidade de Braslia. Pesquisadora
do CNPq e do Ncleo de Antropologia
da Poltica (NuAP). coordena a linha
de pesqu1sa "Artua1s da Poltica. autora
de Uma Antropologia no Plural.
Trs Expennctas
(Editora da UnB. 1992) e A Favor
da Etnografia (Relume Dumar. 1995).
O dito e o feito
Copyri ght 2002, dos autores
Direitos cedidos para esta edio
D UMAR DtSTRIIJUIIX>RA l>h PUIJI.ICAOES L TI>A.
www.relumedumara.com.br
Travessa Juraci, 37 - Penha Circular
21020-220 - Rio de Janeiro, RJ
Tel. : (21) 2564 6869 Fax: (21) 2590 01 35
E-mail : relume@relumedumara.com.br
Preparao de originais
e copidesq11e
Tema Pechman
Reviso
MariOor Rocha
Editorao
Dilmo Milheiros
Capa
Simone Villas Boas
CIP-Brasil. Catalogao-na-fome.
Sindicato Nacional dos Editores de Li vros, RJ.
O dito c o feito : ensaios de antropologia dos rituais I Mari1.a Peirano
0643 (org.). - Rio de Janeiro : Rclumc Dumar : Ncleo de Antropologia da
Poltica!UFRJ, 2002
02-0095
Inclui bibliografi a
ISBN 85-7316-268-6
. - (Coleo Antropologia da polftica; 12)
I. Ritos c cerimni as. 2. Usos c costumes. 3. Antropologia. I. Peirano,
Mari1.a G. S. (Mariza Gomes e li. Uni versidade Federal do Rio de
Janeiro. Ncleo de Antropologia da Poltica. 111. Srie.
CDD 306
CDU3 16.7
Todos os direitos reservados. A reproduo
desta publicao, por qualquer meio, seja ela total ou parcial, constitui
violao da Lei n" 5.988.
SUMRIO
PREFCIO
Rituai s como estratgia analftica e abordagem ctnogrfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mariza C. S. Peirano
Parte I - RITUAIS E EVENTOS
CAPITULO I
A anlise antropolgica de rituais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mariza C. S. Peirano
Parte TI - ENSAIOS ANALfTICOs
CAPITULO 2
Peirce c O Beijo no Asfalto .......................................... 43
Ana Flvia Moreira Santos
CAPITULO 3
Jakobson a bordo da sonda espacial Voyager ............. . ............. . 59
Jayme Moraes Aranha Filho
Parte Il1 - G ~ N R O S DF. EVENTOS COMUNICATIVOS
CAPITULO 4
A nao na web: rumores de identidade na Guin-Bissau ................... 85
Wilson Trajano Filho
CAPITULO 5
Das Bravatas. Mentira ritual e retrica da desculpa na
cassao de Srgio Naya ........................................... 11 3
Carla Costa Teixeira
6 0 DITO E O FEITO
CAPITULO 6
A Marcha Nacional dos Sem-terra: estudo de um ritual poltico .. .. ... . ... . . 133
Christine de Alencar Chaves
CAI>ITULO 7
Reunies camponesas, sociabilidade c lutas simblicas .................... 149
John Comerford
Parte IV - CLIMA DE TEMPOS
CAPITULO 8
Poltica c tempo: nota expl oratria .................................... 17 1
Moacir Palmeira
CAPITULO 9
As naes vo s umas: eleies na Assemblia Geral da ONU ............. 179
Paulo de Ges Filho
CAPITULO 10
Poltica, etnia e ritual - o Rio das Rs como remanescente de quilombos ....... 197
Carlos Alberto Steil
BIBLIOGRFICAS . . . . .... . ... . .... . .... . ........ . ... . ... . . 2 11
COLABORADORES .... .. ... .. ............... . ................ 227
PREFCIO
Rituais como estratgia analtica
e abordagem etnogrfica
Mariza Peirano
m ais de um sculo depois do reconhecimento da antropologia como disciplina no
LlLJ Ocidente, por que manter um debate sobre tema to clssico como o dos ri-
tuais? O que significa propor, no momento atual, a abordagem dos rituais como estra-
tgia para se analisar eventos etnogrficos? Em que sentido a concepo de ritual nos
auxili a na pesqui sa antropolgica? Dcadas de discusso sobre uma defi nio de
ritual (de Ourkheim a Victor Tumer, por exemplo), sobre a diferena entre ri tual e
cerimonial (preocupao central de Max Gluckman), ou ainda sobre a primazia entre
ri tos c mitos (disputa de Lvi-Strauss) no teri am esgotado o tema? De que nos serve,
enfim, a idia de ri tual hoje?
Estas so as perguntas que esta coletnea procura responder. Todos os trabalhos
foram apresentados no Seminrio "Uma Anli se Antropolgica de Rituais", realiza-
do na Uni versidade de Brasflia de 26 a 28 de junho de 2000, que reuniu, quase todos
c em um momento ou outro, pesquisadores que haviam participado de cursos sobre o
tema oferecidos nas ltimas duas dcadas na UnB c no Museu Nacionai/UFRJ. Por
sua vez, a matriz desses cursos teve como inspirao seminrio ofertado por Stanley
Tambiah na Uni versidade de Harvard, em 1977, poca em que o autor redigia "A
Pcrformativc Approach to Ritual" (Tambiah 1985)
1
Os ensaios deste livro abordam temas variados, c neles encontramos a idia de
ritual como um modelo para analisar eventos sociais em sentido lato (ver itens iii a v
abaixo), ampliando assi m o foco desse fenmeno to fami liar aos antroplogos. An-
tes de o lei tor iniciar seu percurso, contudo, neste prefcio procuro expl icitar de for-
ma resumida alguns pontos centrais que estaro presentes implfcita ou explicitamen-
te nos diversos captulos. Vejamos.
(i) Pri meiro, creio que todos os autores do li vro comungam da idia de que
a antropologia se desenvolve pela constante renovao terica que se reali -
za quando dados etnogrfi cos di alogam, contestam ou expandem teorias
anteriores. Esses confrontos essenciais resultam, primeira vista de forma
paradoxal, em novos refinamentos e ampliao de perspectivas - essa a
8
0 DITO E O FEITO
base da posio wcbcriana sobre a "eterna j uventude" das cincias sociais
c, na antropologia, vem sendo desenvolvida desde que Malinowski estabe-
leceu o kula como uma nova agncia no mundo ocidental em contraste com
as teorias ento vigentes sobre "economia primitiva". Em decorrncia des-
sa perspecti va, autores/obras clssicos so sempre atuais, porque atuam como
referncia no movimento espiralado mediante o qual o refinamento da dis-
ciplina se d.
(i i) Em segundo lugar, se a antropologia se desenvolve por meio do di logo
entre teoria e etnografi a, esse procedi mento tem como base a surpresa com
que o antroplogo se depara com novos dados de pesquisa que so revela-
dos, geral mente, nos tipos de eventos de que participa ou que reconhece
como significativos para aqueles que observa - de Mauss e Malinowski a
Gecrtz, passando por Lvi-Strauss, essa tem sido a base do entendimento
sobre o que etnografi a. Eventos consistem no acontecimento "then anti
there" (Pei rce 1955: 75). Sempre tangveis, s vezes esperados, outras ve-
zes meros acasos, produzindo revelaes ou perplexidades, sua atualidade
depende de suas relaes com outros elementos cxistcntes
2
.
(iii) Nesse sentido, entendemos que ri tuais so tipos especiais de eventos,
mais formali zados c c tereotipados e, portanto, mais suscetveis anlise
porque j recortados em termos nativos. Em outras palavras, tanto eventos
ordinrios, quanto eventos crticos c rituais partilham de uma natureza simi-
lar, mas os ltimos so mais estveis, h uma ordem que os estrutura, um
sentido de acontecimento cujo propsito coletivo, c uma percepo de que
eles so diferentes. Eventos em geral so por pri ncfpio mais vulnerveis ao
acaso e ao impondcrvcl, mas no totalmente desprovidos de estrutura c pro-
psito se o olhar do observador foi previamente treinado nos rituais.
(i v) Um quarto ponto pode ser expl icitado: rituais c eventos crticos de uma
sociedade ampliam, focalizam, pem em relevo e justifi cam o que j usual
nela; se h uma coerncia na vida social como antroplogos acreditamos,
ento o tipo de anlise que se aplica a rituais tambm serve a eventos. (Esta
perspectiva no excl usiva da antropologia, naturalmente, e foi utilizada
anteriormente por Jakobson, por exemplo, ao estudar a afasia e perceber nes-
se distrbio lingstico princpios bsicos da linguagem em geral.) Estamos,
portanto, lidando com fenmenos semelhantes em graus di vcrsos
3
.
(v) Em razo da nfase na perspecti va etnogrfica preciso sali entar que
no compete aos antroplogos defini r o que so rituais. "Rituais", "eventos
RITUAIS COMO ESTRATGIA ANATICA E ABORDAGEM ETNOGRACA
especiais", "eventos comunicativos" ou "eventos crticos" so demarcados
em termos ctnogrficos e sua definio s pode ser relativa - nunca absolu-
ta ou a priori; ao pesquisador cabe apenas a sensibilidade de detectar o que
so, c quais so, os eventos especiais para os nativos (sejam "nativos" pol-
ticos, o cidado comum, at cientistas sociais)
4
.
(vi) Focalizar rituais tratar da ao social. Se esta ao se realiza no con-
texto de vises de mundo partilhadas, ento a comunicao entre indiv-
duos deixa entrever classificaes implcitas entre seres humanos, huma-
nos e natureza, humanos e deuses (ou demnios), por exemplo. Quer a co-
municao se faa por intermdio de palavras ou de atos, ela difere quanto
ao meio, mas no minimizao objetivo da ao nem sua eficcia. A lingua-
gem parte da cultura; tambm possvel agir c fazer pelo uso de palavras.
Em outros termos, a fala um ato de sociedade tanto quanto o ritual
5
. H
uma conseqncia fundamental dessa constatao: a antropologia sempre
incorpora, de forma explcita ou implcita, uma teoria da linguagem.
(vi i) At pouco mais de duas dcadas, a teoria lingstica dominante na
antropologia provinha de Ferdinand de Saussurc. A definio de signo como
a relao entre conceitos e imagens acsticas, se por um lado destacou a
dimenso psquica da lngua, por outro deu nfase estrutura e arbitrarieda-
de como definidoras da lingstica (que seria parte da semiologia) na cin-
cia que se afirmava (Saussure s/d). O carter social da lngua estava estabe-
lecido c permitia analogias com outros cdigos. Ao focalizar rituais, no
entanto, o paradigma saussureiano mostrou-se restrito, j que nos rituais a
ao to ou mai s importante que o pensamcnto
6
.
(vi i i) Com Pcirce c Jakobson devolve-se a dimenso da ao linguagem
pela presena fundamental do Objeto em suas abordagens teri cas - os
doi autores (um, filsofo; outro, lingista) iluminam a performance dos
signos e enfatizam a linguagem em uso. Em Peircc, "o signo representa
alguma coisa, seu objeto" ( 1955: 99), o que permite, sem se tornar uma
unidade monoltica, tomar a forma de um {cone ("um signo que se refere
ao Obj eto que denota meramente em virtude de caractersticas prprias"),
um ndice ("um signo que se refere ao Objeto que denota em virtude de
ser realmente afetado por esse Objeto") ou um smbolo ("um signo que se
refere ao Objeto que denota em virtude de uma lei, usualmente em asso-
ciao a idias gerai s"; c f. Peirce 1955: I 02). J para Jakobson, o "con-
texto da situao" renete-se nas diferentes funes da linguagem, que
influenciam e/ou informam o significado dos signos. Quando dirigida de
9
10 0 DITO E O FEITO
forma primordi al ao remetente, domina a funo emoti va; ao destinatri o,
a funo conaliva; ao contexto, a funo referenci al ; prpri a mensa-
gem, a funo potica; ao contato, a funo fti ca; c ao cdi go, a funo
mctalingfstica (Jakobson s/d)
7
.
(i x) Em vri os dos ensaios que se seguem, Austin ( 1962) ter um lugar
central. El e rejei ta a idi a de que os enunci ados apenas " descrevem" situa-
es c, portanto, podem ser considerados fal sos ou verdadeiros. O autor
refora a noo de que diversas pal avras em pronunciamentos aparente-
mente descritivos indicam (i sto , no descrevem) as circunstncias nas
quai s eles ocorrem. Pal avras so atos e podem ser referenciai s- como nos-
so senso comum pressupe -, mas tambm fazer coisas por meio de seu
prprio pronunciamento. Desse ngul o, Austin recorta atos performativos,
que so aqueles nos quai s a enunci ao j constitui sua realizao: "Eu
prometo" um exemplo. Trata-se de expresso que no apenas exprime
al go no presente ou no futuro, mas um compromisso, uma ao, com uma
fora intrfnscca que o autor chama de "ilocucionria"
8
.
(x) O potencial c a riqueza de autores como Pcircc, Jakobson c Austin sero
examinados, de diferentes perspecti vas c ngulos, nos ensaios desta colet-
nea. Partindo de um ponto de vi sta pcrformati vo do ritual , desenvol vido por
Tambiah ( 1985), os autores deste livro do maior ou menor nfase a um des-
ses tericos da linguagem, dependendo do di logo com o materi al etnogrti-
co que esto examinando. Vale ressaltar, como ltimo ponto, que a partir de
Peirce, Jakobson c Austin, estamos no domnio da ao, do ato, do rito. Nesse
contexto, quando contemporaneamcntc antroplogos de outras vertentes
enfati zam a fala (do nati vo e do antroplogo) como forma de questionamento
da autori a da etnografi a em suas dimenses polfticas, fi xamos nosso interes-
se na ao (c compreendemos inclusi ve a fal a como tal), exatamente porque
entendemos que o ato e o processo tm uma dimenso teri co-polti ca que
nasce da temporalidade do evento, da cri atividade do vi vido, da perda e do
ganho inevitveis do instante histrico. No exame do evento e do ritual, obje-
ti vos teri co-intelectuais e poltico-pragmticos se unem.
Em suma, os trabalhos aqui apresentados focalizam o que os sujeitos fazem,
tanto ou mai s do que dizem fazer. Parte-se da perspecti va durkhcimiana que v nos
cul tos c rituai s verdadeiros atos de sociedade nos quai s so revel adas vi ses de
mundo dominantes de determinados grupos. Nesse contexto, ritos continuam sendo
a contrapartida das representaes, mas muitas vezes analiticamente superi ores pel a
dimenso impondcrvel , aspecto fundamental da vida em soci edade. Nos textos
RITUAIS COMO ESTRATGIA ANATICA E ABORDAGEM ETNOGRACA 11
aqui reunidos, rituais c eventos ampliam, acentuam, sublinham o que comum em
uma sociedade, trazendo como conseqncia o fato de que o instrumental analftico
utilizado para o exame de rituai s mostra sua serventia para a anlise de eventos
naturalizados ou excepcionais de uma sociedade. Um outro ponto merece destaque:
a fala um evento comunicativo e deve ser colocada em contexto para que seu
sentido seja compreendido. No possvel, portanto, separar o dito e o feito, por-
que o dito tambm f eito. Considerando-se esta dimenso bsica, preciso ento
ressaltar que a etnografia bem mais que um mero descrever de atos presenciados
ou (re)contados- a boa etnografia leva em conta o aspecto comunicativo essencial
que se d entre o pesquisador c nativo, o "contexto da situao", que revela os mlti-
plos sentidos dos encontros sociais. A nfase na dimenso vivida como meio de aces-
so a vises de mundo est marcada no livro pela prpria natureza dos ensaios: exceto
doi s deles, todos so anlises de materiai s ctnogrficos especficos. Aqui temos a
teoria em ao nas anlises.
A estrutura do livro
O livro est dividido em quatro partes: um ensaio introdutrio compreende a
primeira delas, onde fao um exame sobre o estudo de rituais na antropologia para
ento introduzir a perspectiva performativa de Stanley Tambiah, ao mesmo tempo
que procuro homenagear o autor por meio de um comentrio detalhado sobre seu
livro Levelling Crowds, que ilustra como o estudo de rituais permite explicitar com-
ponentes centrais de cenrios de violncia contempornea.
Na segunda parte, dois trabalhos tm por objetivo mostrar o rendimento analti-
co de clssicos da teoria da linguagem no exame de eventos atuais. Ana Flvia Moreira
Santos inspira-se em Charles Pcirce para analisar a pea teatral Um Beijo no Asfalto,
de Nelson Rodrigues, indicando como processos de tipificao se desenvolvem no
pela descrio de uma dada realidade, mas pela construo dialgica, em um jogo
que inclui interesses, poder e desejo. Jayme M. Aranha Filho, por sua vez, elege
como interl ocutor Roman Jakobson para examinar as mensagens enviadas por
espaonavcs na expectativa de encontrar um destinatrio extraterrestre. Esse contex-
to inusitado lhe permite observar como a inexistncia de um destinatrio emprico
repercute no modelo de conversao, revelando, em diversas situaes, as relaes
hierrquicas das seis funes da linguagem que Jakobson prope.
Todos os ensaios da terceira parte focalizam gneros de eventos comunicativos,
resultado de pesqui as de campo empricas individuai s. Para Wilson Trajano Fi lho,
este gnero so os rumores na Guin-Bissau. Depoi s de estud-los como narrativas
da nao, Trajano agora cscrutina esse mesmo fenmeno no contexto da web c indica
como a defini o de rumor como um gnero narrativo oral complexo que se caracte-
12 0 DITO E O FEITO
riza por uma estrutura de transmi sso aberta, di algica e dramtica e por um forte
valor performati vo se mantm nos fruns de discusso da internet, colocando em ques-
to a necessidade propalada do print capitalism nos processos de construo nacional.
J Carla Costa Teixeira elege as bravatas como gnero a ser examinado no contexto do
Congresso Nacional brasileiro, a partir do processo de cassao do deputado federal
Srgio Naya. Carla caracteriza a bravata como uma mentira ritual, um ato de fal a cuja
mensagem comunicada no constituda por sua referencial idade ao contexto comuni-
cativo, mas pelo compromisso firmado pelo prprio ato de fala. Tipo especfico de
linguagem defensiva, as bravatas do deputado no o livraram da cassao.
Outro gnero de evento anali sado por Chrisline de Alencar Chaves a partir da
Marcha Nacional do MST em 1997. Para Chri stine, como um ritual de longa durao,
a Marcha produziu um capital simblico conquistado ao longo da caminhada, reve-
lando o potencial de agregao de um fenmeno to antigo e generalizado como so
as peregrinaes. Como demonstra a autora, a Marcha Nacional , como ao coletiva
de carter expressivo, percorreu mais que estradas: criou e atravessou um solo moral.
No ltimo captulo deste conjunto de ensaios, John Comerford mostra como o vncu-
lo entre morfologia social e sentido est presente nas reuni es de camponeses por
meio de uma etnografi a minuciosa dos elementos que as compem, focalizando a
negociao da pauta, o poder da coordenao, o papel das discusses e do pblico,
chegando tenso entre dois tipos de concepes: uma mais igualitria, que enfatiza
valores de participao, e outra, mais hierrquica, quando aqueles que falam bem se
destacam no corpo social.
A quarta parte abre com a "nota exploratria" de Moacir Palmeira sobre poltica
e tempo. Aqui , Moacir ampli a a noo de "tempo da poltica" que desenvolveu ante-
riormente, e que geralmente se constitui em um perodo marcado por rituais e interdi-
es. Mas "tempo" tambm termo nati vo entre populaes camponesas para se
referir a outros fenmenos (festas, safra, planti o, Quaresma, greve) e at personalida-
des. O autor lana ento a idia provocativa de que, nesses contextos, a ordem social
no percebida em termos orgnicos ou mecnicos, como foi naturali zada pelo senso
comum intelectual, mas em termos de adequao de comportamentos a determinadas
finalidades postas em um certo momento. Trata-se, portanto, da identificao de uma
sociologia nativa que no di vide a sociedade em "esferas" ou "domnios" de uma
estrutura social, mas sim em tempos, momentos quando o poder se toma fora. As
implicaes desta proposta so instigantes e desafi adoras.
Dois trabalhos encerram o livro sugerindo um "clima de tempo" em dois contex-
tos muito diferentes. Para examinar as eleies na Assemblia Geral da ONU, Paulo
de Ges Filho utiliza o instrumental da anlise de rituais para indicar os paradoxos
que permeiam as relaes no mundo das naes: em circunstncia em que se pretende
exaltar a igualdade e a simetri a, recorre-se s diferenas e chamam-se as hierarquias;
em um espao que se pretende pblico, negocia-se a portas fechadas. Mesmo na
RITUAIS COMO ESTRATGIA ANATICA E ABORDAGEM ETNOGRFICA
13
ONU, o tempo da poltica est marcado por campanhas, consultas, negociaes e
eleies: quando se expressa o ideal de uma ordem internacional democrtica. Atra-
vessando outros espaos e tempos, Carlos Alberto Stcil vai retratar o processo de
etnizao da poltica em Rio das Rs, Bahia, onde as categorias "posseiros" e "traba-
lhadores rurais" so ressignificadas como "negros" e "remanescentes de quilombo".
Nesse movimento, simblica a caravana que se dirige a Braslia e percorre um
roteiro que inclui os Ministrios da Cultura c da Justia, Palcio do Planalto, Procu-
radoria-Geral da Repblica e Polcia Federal. Carlos Stcil v o percurso como uma
via-crcis, que comporta quedas e percalos, mas que tambm produz um novo sen-
tido no qual reivindicar direitos sociais a partir de uma histria c identidade se torna
ato legtimo.
Agradecimentos
Nunca possvel agradecer a todos que ajudam na reali zao de um evento c na
feitura de um li vro. Aproveito esta oportunidade para explicitar a dvida com Wilson
Trajano Filho, que contribuiu para a preparao do Seminrio que deu origem a este
livro no que diz respeito ao seu desenho e organizao, e que, como cordenador do
Programa de Ps-Graduao da Universidade de Braslia na poca, tornou-o vivel.
Este Prefcio tambm deve muito sua leitura rigorosa. Lus Roberto Cardoso de
Oliveira foi solidrio quando tudo apontava para dificuldades a vencer. A Moacir
Palmeira, coordenador do projeto "Uma Antropologia da Poltica", agradeo tanto a
participao no encontro quanto pela pequena jia com que nos brindou, ento e
agora. A Rosa Cordeiro devemos o trabalho de infra-estrutura, realizado invariavel-
mente com competncia e serenidade. A Tema Pcchman, o agradecimento pelo fino
copidcsquc c pela cumplicidade nas artes de se fazer um livro. Fi nalmente, sou grata
aos participantes, quase todos antigos alunos, que me deram o mai or presente, o entu-
siasmo do encontro c das discusses, e a gratificao de sentir que valeu a pena.
Notas
1
No projeto "Uma Antropologia da Poltica: Rituais, Representaes c Violncia", uma divi-
so de trabalho fc.t da UnB o ponto de referncia para a linha de pesquisa sobre rituais. Vrios
dos autores do li vro fazem parte desse proj eto maior (ver Pcirano (2000) para ensaios que
resultaram de curso recente sobre o tema, oferecido no 1 semestre de 2000 na Ps-Graduao
em Antropologia Social na Universidade de Brasli a).
2
Ver Mauss ( 1925), Malinowski ( 1922), Lvi-Strauss ( 1962) c Gecrtz ( 1995). Madan ( 1994:
128) insiste que o antroplogo est constantemente "lwping to be surprised" (nfases no ori-
ginal ).
3 No por acaso, esses princpios bsicos (metafricos c mctonmicos) que Jakobson detectou
j haviam sido explicitados por Frazer na sua teoria da magia.
14 0 DITO E O FEITO
4
Tambiah ( 1985). Para a idia de "great events", ver Tambiah ( 1985: 130); para a idia de
"eventos comunicativos", cf. Daniel (1996); para "criticai events", ver Das ( 1995).
5
Para o desenvolvimento desse ponto especffi co, ver Leach ( 1966).
6 Sil vcrstein ( 1977) aborda o vnculo entre a lingstica e a antropologia em termos das conse-
qncias para a pesquisa de campo. A arbitrariedade dos signos pode ser constatada j em
1954, quando Lcach argumenta que no interessa saber por que as mulheres casadas inglesas
usam anel em um dedo espccffico c as mulheres kachins, um turbante (Lcach 1954). Natural-
mente, o estruturalismo de Lvi-Strauss o grande devedor de Saussure. Ver Sahlins ( 1981 ),
para um ensaio que procura incluir a ao e a mudana na perspectiva saussuriana. (A nfase
nos rituais e a incompatibilidade que tinha com a lingstica ento predominante, talvez te-
nham levado Tumer ( 1967) a optar pela perspectiva junguiana.)
7
Vale ressaltar que, para Peircc, no h cones, ndices ou smbolos puros, mas uma hierarquia
de valores dominantes em cada signo, c, para Jakobson, algumas funes so predominantes,
mas no exclusivas. Para a noo de "contexto da situao", ver Malinowski ( 1930).
8
Se a locuo pcrformativa tem um fora ilocucionria, o enunciado referencial tem, para
Austin, fora locucionria. Por outro lado, os efeitos no-antecipados de uma ao so consi-
derados perlocucionrios. importante salientar que locues performativas no obedecem a
critrios de verdade mas, nas circunstncias apropriadas, so "felizes" ou "corretas". Chamo
a ateno para a inevitvel associao entre a idia de "fora ilocucionria", que realiza a ao
pela prpri a enunciao, com a noo de "transferncia" na magia, formulada por Mauss ( 1925).
Parte I
RITUAIS E EVENTOS
CAPiTULO 1
A anlise antropolgica
de rituais
Mariza G. S. Peirano
~ o r o o refinamento terico das cinci as sociai s no linear mas espiralado,
...::3 freqente que eventuai s reapropriaes do passado sejam utili zadas como ala-
vancas heursticas. Tal fato no deriva de uma nostal gi a intel ectual, ou de um fasc-
nio por teorias anteriores, nem da idealizao de seu poder expl icativo, mas porque,
rcvi sitadas, essas teori as revelam aspectos inesperados nas combinaes e bricol agens
que, ento como agora, so, estas sim, produtos sempre atuai s. Teorias sociolgicas
tm vnculo com a realidade empri ca na qual so geradas, mas no so por esta
determinadas; a rel ativa autonomia das teorias sociolgicas as faz ao mesmo tempo
efmeras c contnuas.
minha proposta que o estudo de rituai s, tema clssi co da antropol ogia desde
Durkheim, assume um especial significado teri co c, menos bvi o, poltico, quando
transplantado dos estudos cl ssicos para o mundo moderno. Nessa transposio, o
foco antes direcionado para um tipo de fenmeno considerado no rotineiro e espec-
fi co, geralmente de cunho reli gioso, amplia-se e passa a dar lugar a uma abordagem
que privilegia eventos que, mantendo o reconhecimento que lhes dado social mente
como fenmenos especiai s, diferem dos rituai s clssi cos nos elementos de carter
probabilstico que lhes so prprios. Voltarei a este ponto. Por enquanto, basta mencio-
nar que, na anli se de eventos, mantm-se o instrumental bsico da abordagem de
ri tuais, mas implicaes so redireci onadas e expandidas.
Esta a perspecti va geral deste ensaio. Nele, procurarei situar a anlise de ri-
tuai s na hi stri a teri ca da antropologia (cf. Peirano 1995; 1997) c seu vnculo com o
exame de eventos contemporneos, assim como indicar as conseqncias ao mesmo
tempo disciplinares e polticas dessa abordagem analtica. O ensai o divide-se em
cinco sees: na primeira, discuto o tema magia c cincia como promotor da teoria
antropolgica no incio do sculo; em seguida, apresento o contraste entre mitos e
ritos e os aspectos positivos c negativos dessa dicotomia; na terceira parte, introduzo
o tema da efi ccia soci al c situo a abordagem pcrformativa para a anlise de rituai s;
na quarta, vinculo rituai s a eventos mediante a rel ao entre cultura e l inguagem; na
quinta seo, examino em detalhe o li vro Leveling Crowds, de Stanley Tambiah, pu-
18 0 DITO E O FEITO
bli cado em 1996, como exemplo da relao entre anli se de rituai s c teoria sociolgi-
ca. Um eplogo em dois tempos focaliza a relao entre eventos, acasos e histrias no
contexto da (poltica da) teori a contempornea.
Magia e cincia
Passado meio scul o, fcil reconhecer a revoluo que as idias de Lvi-Strauss
representaram na antropologia. Desde o final do oitocentos, atormentados com a dis-
tino entre magia, cincia c religio - ora para colocar estes fenmenos em seqn-
cia evoluti va, ora para procurar caracteriz-los como mais, ou menos, primitivos c
civil izados, ou, ainda, para demonstrar a racionalidade em contexto - , em algumas
dcadas os antroplogos j havi am alcanado um nvel alto de sofi sticao nas consi-
deraes que desenvolveram a respeito desses temas at hoj e pertinentes. Mas na
seqncia que vai de Tylor e Frazer a Durkhcim, Mauss c Lvi-Bruhl , ou de Tylor c
Frazer a Malinowski , Evans-Pritchard c Radcliffc-Brown, Lvi-Strauss ocupa um
lugar de destaque por haver dado aquele passo fundamental que, ao sintetizar o pas-
sado da disciplina e harmoniz-lo com as preocupaes ento presentes, produziu um
refinamento notvel. Para o prprio autor, no se tratava de uma nova bricolagem,
mas de ruptura com os autores que o precederam. De qualquer fonna, fosse por meio
de continuidade ou de ruptura, com Lvi-Strauss chegou ao fim o longo processo no
qual, na antropologia, a aproximao entre as coordenadas de tempo (evolutivo ou
hi strico) e espao (etnogrfi co) se resolveu de maneira conclusiva com a premissa
de que todos, primitivos e civilizados, com ou sem escrita, com mais ou menos
tecnologia, somos no s racionais em contexto, psiquicamente unos, mas, como
Radcliffe-Brown j havia antevisto uma dcada antes, pensamos da mesma fonna
(em termos binrios) e temos, todos, nossa prpri a magia, cincia c religio.
Nesse contexto, dois trabalhos de Lvi-Strauss, ambos publicados no incio da
dcada de 60, oferecem compl ementaridade interessante. Um tornou-se marco da
di sciplina; o outro, um simples arti go de divul gao. Re firo-me ao livro O Pensa-
mento Sel vagem e ao artigo "A Crise Moderna da Antropologia"
1
Apesar da au-
di ncia e dos objeti vos di versos a que se destinavam - visveis no estilo de argu-
mentao -, os dois textos complementam-se no cerco que Lvi-Strauss fazia
(ir)racionalidade.
Em O Pensamento Selvagem reconhece-se o argumento otimi sta. Seqncia de
Totemismo Hoj e, nele a soluo para a diferena entre magia, cincia e reli gio
explicitava-se: primiti vos e modernos pensam do mesmo modo; magia, arte e cincia
so formas de conhecimento paralelas; se os primitivos tm magia, tambm operam
cientificamente, e ns, modernos, alm de cincia, tambm vivemos a magia e o
totcmi smo baseados na bricolagcm. Se possvel hoje levantar restries maneira
obsoleta como Lvi-Strauss uti liza a idia de cincia
2
, o fato que a revoluo, ante-
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 19
vista por Durkhcim e Mauss (c retomada por Lvi-Bruhl), estava realizada de fato:
primitivos e modernos estavam lado a lado. verdade que a magia ainda conservava
uma inflexo arcaica de "sombra que antev a cincia"
3
, assim como diferentes tipos
de classificao (taxonmicas e metafricas) se mantinham subjacentes, respecti-
vamente, cincia e magia. Os ritos eram contrastados com os jogos pelo resultado
previsvel dos ltimos: nos ritos, a assimetria entre profano c sagrado produzia uma
unio, nos jogos, a estrutura criava eventos; os ritos vinculavam-se bricolagem, os
jogos, cincia. Mas entre todas as novidades introduzidas por Lvi-Strauss, foi a
noo de bricolagcm que representou a maior delas e produziu a euforia que tomou
opacas quaisquer objees sua proposta. As idias bsicas defendidas em O Pensa-
mento Selvagem tomaram-se a partir da auto-evidentes, isto , foram agregadas ao
senso comum da antropologia.
Esse um processo que se repete constantemente na histria da disciplina. Trata-se
da contnua incorporao dos antecessores, mas vivida como ruptura c inovao.
Assim, Mauss criticou Frazcr no seu intelectuali smo - e o incorporou como parte de
sua anlise sociolgica; Evans-Pritchard demoliu Malinowski c seu pendor exclusi-
vamente etnogrfico - e assimilou suas idias nas suas anlises estruturais; Lvi-Strauss
criticou tanto Malinowski quanto Radcliffe-Brown - e se interpretou erroneamente o
primeiro naquilo que considerou a fora do estmago do primitivo, incorporou o
segundo na sua pergunta fundamental: "por que esses pssaros?" O destino do pr-
prio Lvi-Strauss no seria diferente. Inici almente suas idias produziram uma ex-
ploso em vrias direes: desde a aproximao entre as cosmologias primitivas e os
sofisticados debates da fi losofia ocidental, at mostrar que tudo que se detectava no
mundo primitivo tinha seu correspondente moderno, dos tabus alimentares aos siste-
mas capitali stas de vesturio. Mais recentemente, os estudos antropolgicos sobre a
cincia ficam a lhe dever seu lugar na linhagem intelectual
4
.
Escrito na mesma poca, " A Crise Moderna da Antropologia" tem uma estra-
tgia retrica diversa: dirigido a um pblico amplo, o enunciado do problema pare-
ce, no incio, pessimi sta. Focalizando o possvel fim da antropologia e utili zando o
termo crise no prprio ttulo, o quadro aparentemente conspiratrio: de um lado,
os povos primitivos desaparecem quantitativamente; de outro, os Estados
recm-independentes manifestam sua intol erncia em relao s pesqui sas
etnogrficas. O sentido bidirccional das pesquisas, baseado na igualdade da mente
humana, se em O Pensamento Selvagem defendido teori camente, aqui descarta-
do pragmaticamente: o que uma diversidade desejvel para uns, isto , para os
antroplogos, sentida como desigualdade insuportvel para outros, os nativos.
quando Lvi-Strauss executa uma de suas manobras retricas conhec idas para
(rc)afirmar que, na verdade, a antropologia nunca se de finiu em termos absolutos:
ela sempre se desenvolveu como uma certa relao entre observador e seu objeto.
Assim, se inevitvel que o mundo se ocidentalize e se torne uma grande aldeia
20 0 DITO E O FEITO
mestia, este mesmo mundo continuar mantendo os desvios diferenciais que os
antroplogos antes procuraram em civilizaes distintas e longnquas. O resultado
da argumentao mltiplo: primeiro, no resta nenhuma dvida sobre o futuro da
antropologia porque seu objeto no um tipo de sociedade, mas as sempre-presentes
diferenas culturais; segundo, e como conseqncia, esto eliminadas crises atuais
ou futuras: "Enquanto as maneiras de ser ou de agir de certos homens forem proble-
mas para outros homens, haver lugar para uma renexo sobre essas diferenas
que, de forma sempre renovada, continuaro a ser o domnio da antropologia"
(Lvi-Strauss 1962: 26).
Hoje podemos ver esses dois textos como representando, respectivamente, a
renovao terica e o otimismo pragmtico da disciplina
5
. Mas, passados alguns anos,
verificamos a complementaridade dos dois c a importncia de "A Crise ... ", inclusive
nas suas implicaes epistemolgicas: Lvi -Strauss a negava a (im)possibilidade de
uma suposta homogeneizao planetria, assim como deixava claro que a antropolo-
gia no seria afetada pelas conseqncias da ocidcntalizao do mundo moderno. A
antropologia estava pronta, como sempre, para enfrentar mudanas.
Estas so questes at hoje debatidas. Para muitos, " the ncw indeterminatc
cmcrgent worlds with which we ali now li vc" (Fi scher 1999: 457) trazem desafios
tericos, se no prticos, mas a antropologia continua sendo " the most uscful o f checks
on theori zing becoming parochial , ethnoccntric, generally uncomparat ive,
uncosmopolitan, and sociologically ungroundcd" (ibidem: 457). esse otimi smo que
encontramos nos textos de Lvi-Strauss dos anos 60, concernentes tanto
hori zontalidade das prticas humanas quanto tarefa a que se destinava a antropolo-
gia, de revelar os mecani smos de um mundo com novos contornos empricos.
Mitos e ritos
No momento em que se estabelecia a hori zontalidade entre magia, cincia e
religio, estava eliminada, como conseqncia, a dicotomia entre primiti vos e mo-
dernos. Mas, no espiral ar da hi stria, outras dicotomias (res)surgiram, ou tornaram-se
mais evidentes c, em certo sentido, perversas. Chamo aqui a ateno para o processo
intelectual que levou Lvi-Strauss e os estruturalistas a questionarem o totemismo
como instituio e, em seu lugar, estabelec-lo como um mecanismo, de tipo totmico,
"bom para pensar". Este mecanismo contrastava com aquele visto como simplesmen-
te "bom para comer"- preocupao pragmtica atribuda a Malinowski como base de
sua teoria sociolgica. Se, portanto, de um lado, se abria caminho para desconstruir
uma srie de categorias, como totemismo, magia, religio, e, nesse processo, even-
tualmente, outras tantas, como economia, parentesco, poltica, de outro, faltava algo
importante para se retomar, com proveito, ao fato social total. O prprio Lvi-Strauss
comentou, retrospectivamente:
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS
"La gnration laquelle j' apparti ens fut esscnti ell ement proccupe
d'introduire un peu plus de ri gueur dans notres di sciplines; elle s'est donc
efforcc, chaque foi qu'elle tudiait des phnomemes, de limitcr lc nombre des
variables qu' il fallait considrcr. [ ... ] Car videmment, nous le savious, que
l'conomie, la parent, la religion taient lies; nous lc savons depuis Mauss,
qui nous l'a enscigne et l'a proclam avcc Malinowski" ( 1975: 184- 185; n-
fases minhas).
21
Essa lucidez sobre a ligao entre os fenmenos da economia, do parentesco, da
religio etc. no o impedi u, contudo, de manter e defender a dicotomia mitos versus
ritos, exigindo inclusive um estudo separado dos dois, de modo a fazer dos mitos a
via privilegiada de acesso mente humana. Aos ritos era relegada a execuo dos
gestos e a manipulao dos objetos, a prpria exegese do ritual passando a fazer parte
da mitologia:
"On dira que Ll c ritucl] consiste en paroles profres, gestcs accomplis, objets
manipuls indpcndamment de toute glose ou exgesc pcrmisc ou appele par
ces trois genres d'activit ct qui relvent, non pas du ritual mme, mais de la
mythologie impl icitc" (Lvi-Strauss 197 1: 600).
Mitos c ritos marcariam uma antinomia inerente condio humana entre duas
sujeies inelutvei s: a do viver c a do pensar. Ritos fazi am parte da primeira; mitos,
da segunda. Se o rito tambm possua uma mitologia implfcita que se manifestava nas
exegeses, o fato que em estado puro ele perderia a afi nidade com a lngua (langue).
O mito, ento, seria o pensar pl eno, superi or ao rito que se relacionava com a prtica.
O resultado paradoxal dessa di stino foi fazer ressurgir, com novas vestimentas, a
velha e surrada dicotomia entre relaes sociai s (ou "realidade") c representaes.
Embora Durkhei m tenha insistido na necessidade de incluir os atos de sociedade no
estudo do domnio social, tendo enfatizado que pela ao comum que a sociedade
toma conscincia de si, se afi nna c se recria periodicamente, e embora Mauss tenha
visto a magia como uma fonna indi vidual privilegiada de um fenmeno coletivo, mas
eficaz de forma sui gene ris, por vrias dcadas a apropriao hi strica destes autores
- inclusive por Lvi -Strauss- separou heuristicamente os doi s nveis: os mitos fica-
ram associados s representaes e os ritos, s relaes sociais empricas (como na
proposta de van Gennep).
Curiosamente, at os contendores de Lvi-Strauss na poca contriburam para a
analogia mitos= representaes. Vindo da tradio britnica, Victor Turner procurou
resgatar a dimenso do viver, definindo os rituais como loci privilegiados para se
observar os princpios estruturais entre os ndcmbu afri canos, mas tambm apropria-
dos para se detectar as dimenses processuais de ruptura, cri se, separao e reintegra-
o social , cujo estudo ele havia iniciado com sucesso mediante a idia de "drama
22 0 DITO E O FEITO
social"- ritos seriam dramas sociais fi xos c rotini zados, c seus smbolos, no mbi to
da razo durkhcimiana, estar iam aptos para uma anlise microssociolgica refinada.
Fasci nado pelos processos, connitos, dramas- em suma, pelo vivido-, para Tumer,
smbolos insti gam a ao. Em 1975, ele dizia, no contexto de sua polmica com o
estruturali smo: "On carth thc broken ares, in hcaven lhe perfect round" ( 1975: 146),
observando que em nenhuma sociedade os sistemas simblicos se realizam em sua
pcrfcio
6
.
No contexto dos anos 60, Edmund Lcach tambm contri buiu para o tema com
um pequeno ensaio que se tornou clssico. Antes, ele j havia procurado reduzir a
distino mito/rito quando concebeu os kachin birmancscs como engajados em com-
portamentos que eram menos ou mais tcni cos, c menos ou mais rituais (Lcach 1954 ).
No artigo de 1966, Leach passa a di stinguir trs tipos de comportamentos: alm do
racional-tcnico (diri gido a Iins especlicos que, julgados por nossos padres de veri-
licao, produzem resultados de maneira mecnica), o comuni cati vo (que faz parte
de um sistema que serve para transmitir informaes atravs de um cdigo cultural) e
o mgico (que clicaz em termos de convenes culturais). Para o autor, os dois
ltimos tipos eram considerados rituais. Assim, de um lado, Lcach dava um grande
passo no di stinguindo comportamentos verbais de no-verbais. Como conseqncia,
ele aproximava o ritual do mito. Esta era urna grande inovao: o riLUal era um
complexo de palavras e aes c o enunciado de palavras j era um ritual. O ritual
tomava-se, assi m, linguagem condensada e, portanto, econmica, e o primi ti vo, um
homem sagaz e engenhoso. Contudo, por se manter fiel ao estruturali smo como
orientao, Lcach aproxi mava demais, em excesso, o ritual do mito, fazendo com
que ele perdesse sua espcci licidade: corno o principal objeti vo do ritual era trans-
mitir e perpetuar o conheci mento socialmente adquirido, tanto o rito quanto o mito
estavam igualmente inseridos na ordem da mente humana. A di menso do "bom
para viver" desaparecia.
Desnecessrio relembrar que foi Victor Turner, e no Lcach, quem recebeu reco-
nhecimento social como o especialista do estudo dos rituais. Ambos, no entanto, no
deram importncia a um ponto central, que era o de perceber que traos formais, quer
de mitos ou de ri tos, so produtos tambm culturais que resul tam de cosmologias
di stintas. Evans-Pritchard ( 1929) havia esclarecido esse ponto por meio de um pre-
cioso achado ctnogrfi co, quando comparou os azandc c os trobriandcscs. Usando-os
como cones da fri ca c da Mclansia, Evans-Pritchard associou-os, respectivamen-
te, aos rituais c aos encantamentos verbais. Se hoje temos a li berdade de retomar essa
linha de trabalho, na dcada de 60 os antroplogos ainda estavam preocupados em
manter o que haviam conqui stado no perodo ps-Malinowski , isto , " um pouco
mais de ri gor na di sciplina" - como reconheceu Lvi-Strauss em I 975. Para tanto era
necessrio limitar o nmero de variveis a considerar, o que resultou, por exemplo,
tanto na rejeio etnogralia iatmul enquanto experimento etnogrlico c analtico
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 23
(Bateson 1936), quanto na alirmao da cspecilicidade irredutvel de cada um dos
sistemas (que mai s tarde seria dcsconstrufda), como parentesco, economia, polftica,
religio. A relao entre esses sistemas, ensinados c proclamados por Mauss e
Malinowski , ficou em segundo plano, assim como a relao entre etnografia e anlise
antropolgica. Todo passo inclui avanos e recuos. Este foi parte do preo que a
antropologia pagou pelos avanos do estruturalismo.
Eficcia
Di stinguir relaes sociai s c representaes um recurso heurstico na anlise
antropolgica. Mas sociedades no se reproduzem apenas porque os indivduos se
relacionam c porque pensam o mundo; o movimento c o dinamismo das sociedades
derivam da eficcia de foras sociai s ativas - para usar a idia-me de Durkheim. Em
outras palavras, a sociedade no um ser nominal c de razo, mas um sistema de
foras atuantes, c a cliccia das idias c crenas precisa ser includa na anlise
explicati va, somando-se ao, para que se identiliqucm os mecanismos de movi-
mento c de reproduo da sociedade.
O papel fundamental da noo de cliccia foi reconhecido quando Mauss pro-
ps, na teoria da magia, que um poder sui generis vinculava o mgico, os ritos e as
representaes (Mauss 1974). Para ele, no s atos c representaes so inseparveis,
quanto indispensvel a incluso das noes de crena ("a magia no percebida:
cr-se nela", : 126), fora c poder mgicos ("os ritos mgicos explicam-se de modo
muito menos fcil pela aplicao de leis abstratas do que como transferncias de
propriedades cujas aes e reaes so previamente conhecidas", :I 04; ou "h mais
transferncia do que associao de idias", :96), fundidas no mana ("a fora por
excelncia, a verdadeira cliccia das coisas",: 140). Mana, essa categoria inconscien-
te do entendimento, combina qualidade, substncia c atividade ("o mana no sim-
plesmente uma fora, um ser; tambm uma ao, uma qualidade e um estado",
: 138). Embora raramente atinja a conscincia, ele inerente magia corno fenmeno
social :
"Estamos, pois, em posio de concluir que por toda parte existiu uma noo
que envolve a noo do poder mgico. a noo de uma cliccia pura, que,
no obstante, uma substncia materi al c localizvcl, ao mesmo tempo que
espiritual, que age distncia c, portanto, por conexo direta, se no por conta-
to, mvel e motora sem mover-se, impessoal e rcvcstidora das formas pes-
soais, divisvel c contnua. Nossas vagas idias de sorte e de quintessncia so
plidas sobrevivncias dessa noo muito mais rica" (: 146- 147) .
Mauss continua:
24
0 DITO E O FEITO
"Poder-se-ia ainda dizer, para mais bem exprimir como o mundo da magia
superpe-se ao outro sem destacar-se, que nele tudo se passa como num mun-
do construdo em uma quarta dimenso do espao, da qual uma noo como a
de mana exprimiri a, por assim dizer, a existncia oculta" (: 147; nfases mi-
nhas).
E conclui :
"Vimos como raro ela atingir a conscincia e como ainda mais raro que na
conscincia encontre sua expresso. que uma noo como a de mana ine-
rente magia, como o postulado de Euclides inerente nossa concepo de
espao" (: 14 7).
Estabelecida no incio do sculo, a noo de eliccia inaugurada por Mauss no
fez muitos seguidores nas dcadas seguintes. Por volta dos anos 50, ela foi breve-
mente retomada por Lvi-Strauss- com referncia somente tangencial sua origem -
em dois ensaios que se tornaram conhecidos, mas descontinuados na sua obra. O
estruturali smo estava mais atento s c lassificaes em si do que ao movimento e
dinmica da sociedade, incluindo a transferncias, valores, poderes
7
. Tudo indica
que foi necessria a exausto do estruturalismo enquanto proj eto direcionado mente
humana para que a preocupao etnogrlica voltasse a dominar a antropologia nas
dcadas de 70 e 80 e o rito pudesse ser recuperado - agora no s como um mecanis-
mo bom para pensar, mas tambm ao social boa para viver. A proposta durkhcimiana
que percebia na sociedade a fonte das representaes coleti vas, mas que reconhecia
sua eliccia nos cultos, fazia um retorno saudvel:
"O culto no simplesmente um sistema de smbolos pelos quais a f se traduz
exteriormente; o meio pelo qual ela se cria e se recria periodicamente. Con-
sistindo em operaes materiais ou mentais, ele sempre eficaz" (Durkhei m
1996: 460).
nesse contexto que surgem os ensaios tericos sobre ritual de Stanley Tambiah.
Diretamente influenciado por Edmund Leach (cf. Tambi ah 1996c), c por seu est-
mulo transformado em antroplogo (ou convertido di sciplina), Tambi ah recebeu
como legado o desalio que Leach no conseguiu reali zar plenamente: o experimen-
to de combinar os postulados estruturalistas de Lvi-Strauss com os ideais etnogr-
ficos de Malinowski . Mas Tambi ah acrescentou j difcil tarefa o enigma maussiano
da eti ccia
8
.
O caminho foi percorrido por etapas: em 1969, Tambiah defendia que "cultures
and social systems are, aftcr ali , not only thought but also li ved" ( 1969: 459) no
contexto de um di logo com o artigo de Leach ( 1964) sobre o abuso verbal. Entre o
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 25
intelectualismo de Lvi-Strauss ("natural species are chosen not bccause lhey are
good to cal but bccause lhey are good to lhink") c o moralismo de Meyer Fortes
("animais are good to prohibit because they are good to cat"), Tambiah defendia um
espao para a reconciliao entre as propriedades estruturais dos sistemas simblicos
qua systems c a eficcia dos smbolos em unir indivduos e grupos a regras morais de
conduta ( 1969: 458).
Nos dez anos seguintes, o projeto de unir simbolismo c eficcia sociolgica foi
desenvolvido em vrios artigos, muitos deles utili zando como estratgia a reanlise
de clssicos da di sciplina, demonstrando assim a riqueza dos textos etnogrticos e
indicando que, na antropologia, ao se refinar uma anlise anterior com novo instru-
mental terico rende-se, ao mesmo tempo, homenagem ao autor original. Vejamos a
seqncia: em 1968, apoiado no material trobriands de Malinowski, Tambiah publi-
cou um ensaio no qual indicava que a linguagem da magia no era qualitativamente
diferente da linguagem usual , mas uma forma intensificada c dramatizada da mesma.
As mesmas lei s de associao que se aplicam linguagem em geral esto presentes
na magia - como metforas e metonmias, por exemplo -, exceto que na magia o
objetivo transferir uma qualidade ao recipiente, quer via propriedades da lingua-
gem, quer por meio de substncias e objetos rituais.
A transferncia de propriedades continua a ser objeto de reflexo em Tambiah
( 1973), quando ento a rcanlisc da magia azande leva o autor a experimentar as
idias de Austin ( 1962) sobre atos performativos c sua " fora ilocucionria" nas ana-
logias mgicas, positivas c negativas. Tambiah a indicava estar consciente de seu
rompimento com a di stino entre languelparole de Saussure c enfatizava que o ato
mgico tem significados predicativos e referenciais, mas tambm pcrformativo. Em
artigo de 1977, Tambiah introduzia a noo de cosmologia para explicar a cura nos
ritos budi stas na Tailndia por meio da meditao. E em 1979, havia refinado seu
instrumental analtico a ponto de, finalmente, elaborar um texto-sntese sobre a abor-
dagem pcrformativa do ritual
9
.
Diferente de seus predecessores, contudo, Tambiah tomava como ponto de par-
tida a no-pertinncia de definir o ritual em termos absolutos. Aos nativos ficava
delegada a distino possvel (relativa ou absoluta) entre os diversos tipos de ativida-
de social, c ao etngrafo a capacidade de detect-la. Para Tambiah, os eventos que os
antroplogos definem como rituais parecem partilhar alguns traos: uma ordenao
que os estrutura, um sentido de realizao coletiva com propsito definido e tambm
uma percepo de que eles so diferentes dos do cotidiano. Mas o ritual faz parte de
uma cosmologia:
"Thus, whilc wc must grant the importancc of cultural prcsuppositions, of
cosmological constructs, as anterior and antcccdcnt contcxt to ritual, wc must
also hold that our undcrstanding of lhe communicativc aspects of ritual may
26
0 DITO E O FEITO
not be furthered by imagining that such a belief context adcquately explains
the form ofthe ritual per se. Butthe clue for synthesizing this seeming antinomy
has already been revealed, in lhe fact that cosmological constructs are embcdded
(of course not exclusivcly) in rites, and that rites in turn enact and incarnate
cosmological conceplions" (Tambiah 1985: 130).
Na verdade, o carter performativo do ritual est implicado na relao entre
forma c contedo que, por sua vez, est contida na cosmologia. Para Tambiah, a
inevitabilidade da perspectiva cosmolgica foi graficamente expressa por Wittgenstcin
no aforismo: "if the llea wcrc to construct a rite, it would bc about the dog" (apud
Tambiah 1985: 129). Por cosmologia, ento,
"I mean the body of conccptions that enumeratc and classify thc phenomena
that compose the universe as an ordered whole and the norms and processes
that govern it. From my point o f vicw, a socicty's principal cosmological noti ons
are allthose oricnting principies and conceptions that are held to bc sacrosanct,
are constantly uscd as yardsticks, and are considered worthy of pcrpetuation
relati vel y unchanged" ( 1985: 130).
E acrescenta:
"As such, depcnding on lhe conceplions of the society in qucstion, its legal
codes, its political convcntions, and its social class rclalions may be as integral
to its cosmology as its ' religious' bcliefs concerning gods and supcrnaturals. In
othcr words, in a discussion of cnactmcnts which are quintessentially rituai s in
a ' focal ' sense, lhe traditional disti nction belwecn rcligious and secular is of
little relevance, and lhe idea of sacrcdness need not attach to religious things
defined only in Lhe Tylorian sense" ( 1985: 130).
E, portanto:
"Anything toward which an ' unqucstioned' and ' traditionali zing' altitude is
adopted can be viewed as sacred. Rituais that are buill around thc sacrosanct
character of constitutions and legal charters or wars of independence and
liberalion, and that are devoted to their preservation as enshrined truths or to
their invocalion as great cvents, have a ' traditionali zing role', and in thi s sense
may share similar constitutive features with rituais devoted to gods or ancestors"
( 1985: 130).
Ao evitar a definio rgida de ritual, a relao entre ritos c outros eventos toma-se,
tambm, flexvel, em uma plasticidade engendrada pela si tuao ctnogrfica. Isto ,
somente uma determinada cosmologia pode explicar por que, em certos contextos,
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 27
mitos, ritos, tabus, proibies tm a capacidade de di zer c fazer coisas diferentes, j
que semanticamente eles so tanto separados quanto relacionados: se uma sociedade
privilegia ritos, outra pode enfati zar mitos (cf. , p. ex., Evans-Pritchard 1929).
Como sistemas culturalmente construdos de comunicao simblica, os ritos
deixam de ser apenas a ao que corresponde a (ou deri va de) um sistema de idias,
resultando que eles se tornam bons para pensar c bons para agir - alm de serem
socialmente eficazes. Tambiah afirma que a efi ccia deriva do carter performati vo
do rito em trs sentidos: no de Austin (em que dizer fazer como ato convencional);
no de uma performance que usa vrios meios de comunicao atravs dos quais os
participantes experimentam intensamente o evento c, finalmente, no sentido de reme-
ter a valores que so vi nculados ou inferidos pelos atores durante a performance
(Tambiah 1985: 128). Em outras palavras, os rituais partilham alguns traos formais
e padroni zados, mas estes so variveis, fundados em constructos ideolgicos parti-
cul ares. Assim, o vnculo entre forma c contedo toma-se essencial efi ccia e as
consideraes culturais integram-se, implicadas, na forma que o ritual assume
10
.
A ao ritual assim compreendida consiste em uma manipulao de um objeto-
smbolo com o propsito de uma transferncia imperati va de suas propriedades para
o recipiente. Assim, o ritual no pode ser considerado falso ou errado em um sentido
causal, mas, sim, imprprio, invlido ou imperfeito. Da mesma maneira, a semntica
do ritual no pode ser julgada em termos da dicotomia falso/verdadeiro, mas pelos
objetivos de "persuaso", "conceptuali zao", "expanso de signifi cado", assim como
os critrios de adequao devem ser relacionados "validade", "pertinncia", "legi-
timidade" c "felicidade" do rito realizado (Tambiah 1985: 77-84)
11
Em suma, ao considerar o rito etnografi camcnte, Tambiah reintegra a centenria
preoc upao dos antroplogos com as caracterst icas intrnsecas do ritual,
dissolvendo-as. Tambiah segue, portanto, a trajetri a consagrada das di sciplinas hu-
manas no sculo XX: focali zar o que o senso comum considera diferente, estranho,
anmalo para dissolver sua bi zarri a e depois rcagreg-lo na nuidez do usual. Foi
assim com a afasia, quando Roman Jakobson provou que ela poderi a ajudar-nos a
desvendar mecani smos tanto lingsticos quanto mentais, presentes em qualquer co-
municao verbal; com os sonhos, quando Sigmund Freud demonstrou que eles eram
bons para analisar, indicando mecani smos do consciente e do inconsciente; com o
totemi smo, quando Lvi-Strauss detectou nesses fenmenos mecani smos analgicos
entre cultura e natureza, presentes no simboli smo em geral. No caso dos rituais,
focaliz-los em sua especificidade para demonstrar que so momentos de intensifica-
o do que usual torna-os Loci pri vilegiados- verdadeiros cones ou diagramas-
para se detectar traos comuns a outros momentos e si tuaes sociais. Se existe uma
coerncia na vida social - como os antroplogos acreditamos -, o que se observa no
fragmento do ritual (quer seja a resoluo de connitos, Turner; transmi sso de co-
nhecimentos, como queri a Leach; ou o vnculo entre ao social eficaz e cosmologia,
28
0 DITO E O FEITO
seguindo Tambiah) tambm se revela em outras reas do comportamento que o pes-
quisador investiga. Vi vemos sistemas rituais complexos, interligados, sucessivos c
vinculados, atualizando cosmologias e sendo por elas orientados.
Ritos e eventos
O sculo que valorizou a cincia como realizao mxima tambm deu valor
central funo referencial da linguagem. Nos ltimos cem anos, o senso comum
ocidental concebeu a linguagem como um processo paralelo c correspondente ao
processo mental. Esta foi a viso preponderante da comunicao verbal, que domi -
nou inclusive a lingstica tradicional que dela evolvcu. No decorrer do sculo,
contudo, confrontadas com outras tradies no-europias, essa nfase na funo
da proposicionaJidade da linguagem foi sendo questionada, mas a observao de
MaJinowski , de que"[ ... ) there is nothing more dangerous than to imagine that language
is a process running parallel and cxactl y corresponding to mental process, and that
the function of language is to renect or to duplicate the mental rcaJity of man in a
secondary now of verbal equivalents" (Malinowski 1935 apud Sil verstcin 1977), no
foi reconhecida como fundamental seno recentemente, assim mesmo apenas por
alguns lingistas e antroplogos. Ainda vivemos sob o domnio da funo referencial.
Para se ter uma dimenso das implicaes dessa viso basta mencionar que
Lvi -Strauss, assim como todos que adotaram a abordagem estruturali sta em geral,
considera a relao entre gramtica (linguagem) e cultura como especular, impli can-
do uma analogia estrutural entre esses dois planos de descrio (seguindo, portanto,
as idias de Saussure). Se, no entanto, aceitamos que a linguagem extrapola a funo
referencial , abrimos espao para usos e funes (culturais) da linguagem que deri-
vam do que Malinowski ( 1930) chamou de "contexto da situao". Tais funes c
usos decorrem de propriedades intrnsecas linguagem, isto , no so acrescidas
depois ou quando a lngua posta em uso; elas so inerentes ao fenmeno mesmo da
linguagem. (Aqui, os nomes de referncia so, naturalmente, Peirce, Jakobson e
Austin.) O caso dos pronomes pessoais exemplar de um signo no qual o aspecto
referencial e o indxico se combinam: dependendo de quem enuncia e para quem se
enuncia o significado dos pronomes muda. Por outro lado, determinados verbos so
por sua prpria natureza performativos e, neste caso, dizer fazer (ver Austin 1962)
12
.
A conseqncia mais imedi ata dessa relao entre o enunciado verbal e o con-
texto da situao que linguagem e cultura no se unem por laos isomrficos mas,
sim, por meio de um vnculo entre parte e todo, isto , a linguagem parte da cultura.
Como resultado, a lingstica passa a se associar antropologia no como duas di sci-
plinas independentes, fontes de inspirao mtua, mas em uma relao mais comple-
xa - uma no pode prescindir da outra. A etnografi a sem o conhecimento da lngua
nativa , portanto, impensvel em teori a (embora comum na prtica), assim como os
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 29
estudos gramaticais sem a compreenso da funo ou uso das formas de fala, impos-
sveis.
Se, ento, a cultura engloba a linguagem, possvel delas tirar proveito mtuo.
A lingstica refinou o instrumental analtico em relao comunicao verbal; a
antropologia refinou a comunicao ritual: h um relativo consenso de que a teori a da
linguagem (incluo a lingstica c a fil osofi a) foi um dos saberes mais amadurecidos
neste sculo, com repercusses nas diversas humanidades. Mas entre lingstica e
antropologia, uma antecede a outra. Se a teoria da linguagem viu seu florescer maior
no incio do sculo, foi na segunda metade deste que a antropologia foi reconhecida
como fonte de idias alternati vas ao senso comum, contribuindo assim para expurgar
valores ocidentais c ctnocntricos das teorias sociolgicas.
Como em um conjunto de bonecas russas, ento, a fala e/ou o rito passam a ser
reconhecidos como ti pos de eventos culturais/sociais e, nesse caso, tanto a teoria da
linguagem quanto a antropologia passam a colaborar analiticamente. Mais: dado que
a afasia revelou meios (metafri cos e metonmicos) bsicos da linguagem usual , o
ritual escl arece mecani smos fundamentais do repertrio social. Em outras palavras:
falas e ri tos - esses fenmenos que podem ser recortados na seqncia dos atos so-
ciais- so bons para revelar processos tambm existentes no dia-a-dia e, at mesmo,
para se examinar, detectar c confrontar as estruturas elementares da vida social.
Uma das grandes lies da antropologia est, portanto, neste fato singelo mas
bsico: as leis de associao que se aplicam magia, ao ritual, ao lotcmismo, aos
encantamentos etc. no so qualitati vamente di versas das da linguagem ou ao so-
cial comum. Voltamos aqui , mais uma vez, clari vidncia de Mauss quando este
afi rmou que o mundo da magia "superpe-sc ao outro sem destacar-se" ( 1974: 147).
Esclarecida a questo, hora de realizar um movimento contrrio quele dos primrdios
da antropologia, isto , em lugar de focalizar o bi zarro e o extico, fazer retomar
vida social costumeira as descobertas que foram feitas para os momentos ou fenme-
nos um dia considerados excepcionais.
Riots como rituais
O fato de a antropologia reunir um grande repertrio de evidncias empricas,
resultado cumulativo de trabalho de campo em vrias culturas, e de, ao mesmo tem-
po, refinar seu instrumental teri co a partir desses dados comparativos faz com que
suas abordagens analticas sejam pertinentes para, em princpio, elucidar vrios tipos
de fenmenos em diferentes sociedades, e tambm sejam aptas a totaliz-los em teo-
rias renovadas. Pode-se di zer que a antropologia uni versalista por di sposio, mas
se enriquece, ampli a seu repertrio e se soli stica teoricamente quando confrontada
com novos uni versos empricos. Como o objeto da antropologia no inerte, ele
influi no olhar que lhe dirigido, criando novas agncias (o kula, o potlatch, o mana)
30 0 DITO E O FEITO
e estimulando refinamentos tericos. Disso resulta que, partindo de uma orientao
universali sta, a antropologia particulari za-se em ao c se torna "antropologia da
poltica", "antropologia da religio", "antropologia dos movimentos sociais", "an-
tropologia do gnero", "antropologia do parentesco", "antropologia das sociedades
indgenas" etc., terminando, assim, o perodo que j dura dema iado de subdi vidi r a
disciplina em "antropologia poltica", "antropologia econmica", "antropologia filo-
sfica" etc.
dessa perspectiva que se pode examinar o livro de Stanley Tambiah, Leveling
Crowds. Ethnonationalist Conjlicts and Collective Violence in South Asia, publicado
em 1996
13
Tendo anteriormente desenvolvido trabalhos sobre a violncia no Sri Lanka
(Tambiah 1986; 1992), em um sentido mai s ou menos evidente Tambiah d continui -
dade a eles. Estes livros sobre seu pas de origem seguiram-se a uma trilogia sobre
budismo e poltica na Tailndia ( 1970; 1976; 1984), projeto desenvolvido de forma
concomi tante publicao de ensaios tericos de reanlise de material etnogrfico
cl ssico, assim como abordagem de uma teoria performati va do ritual (Tambiah
1979; 1985).
At ento, embora suas propostas tericas sobre ritual e simboli smo esti vessem
presentes nos ensaios hi strico-antropolgicos, era possvel perceber uma certa dife-
renciao entre estudos tericos e monogrficos
14
J em Leveling Crowds as duas
orientaes se combinam em sentido pleno. Tambiah mobili za instrumental analtico
sobre ritual para construi r seu livro dentro da tradio monogrfica: de um lado,
verificam-se as contribuies que se totalizaram na formulao de uma abordagem
performativa
15
, de outro, a srie de erupes de violncia coletiva no Sul da sia,
fenmeno contemporneo que desafia a capacidade interpretati va de socilogos, hi s-
tori adores e cientistas polfticos. Ao fazer dialogar a teoria, que no caso da antropolo-
gia se sustenta na etnografia presente e passada, c os eventos contemporneos, Tambiah
d prova da plasticidade c riqueza da disciplina - de sua "eterna j uventude".
Leveling Crowds tem como propsito di scutir os conflitos etnonacionali stas e a
violncia coletiva no Sul da sia. Para alcanar este objeti vo, Tambiah recorta um
objeto emprico bsico, sobre o qual vai atuar analiticamente. Este objeto emprico
no fortuito: trata-se dos episdios de grande violncia coletiva que causam perple-
xidade tanto aos cientistas sociai s, ao grande pblico, quanto aos j ornalistas e mdi a
em geral por sua constncia e vi rulncia no mundo de hoje - os riots. Para apresentar
esses eventos, acontecimentos de difcil traduo na lngua portuguesa, Tambiah
baseia-se em textos acadmicos, relatos oficiais, reportagens jornalsticas c em sua
prpria experincia.
A primeira parte do livro inclui narrativas de riots no espao/tempo de Sri Lanka,
ndia c Paquisto nos ltimos cem anos, entre budistas e catlicos (Sri Lanka, 1883),
budistas e muulmanos (Sri Lanka, 19 15), budi stas c tamils (Sri Lanka, 1956-83),
hindus e sikhs (ndia, 1984), hindus e muulmanos (ndia, 1992), muhaj irs e sindhis
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 31
(Paquisto, 1988-90), muhajirs e pathans (Paquisto, 1985-86). Independentemente
das etnias, a leitura seqencial dos inmeros episdios, ao expor o leitor a uma gran-
de diversidade de connitos, tem a fora (i locucionria) de reafirmar um padro.
Nesse sentido, a primeira parte do livro deixa de ser puramente um relato de
casos etnogrficos. A l eitura sucessiva de espasmos de violncia que se repetem um
aps o outro, saqueando, depredando, tirando vidas, destruindo propriedades, provo-
cando incndios, amedrontando e causando pnico, fazendo vftimas e traumatizando
populaes faz com que o leitor no apenas experimente, ele prprio, o impacto e o
trauma da violncia, mas tambm se sensibilize para o fato de que, recorrente e
repetitiva, independentemente dos atores envolvidos, a compreenso desse tipo de
fenmeno do mundo moderno exige dos cienti stas sociais uma abordagem nova. Como
que cerzindo sua narrativa, Tambiah vai ento inserindo comparaes com eventos
contemporneos, assim como com casos hi stricos do Ocidente. No decorrer da ex-
posio, introduz doi s conceitos interligados para explicar a trajetria dos tumultos:
por focalizao, Tambiah indica os processos pelos quais incidentes locais e de pe-
quena escal a, ocasionados por di sputas religiosas, comerciais, familiares, envolven-
do pessoas em contato direto, crescem cumulativamente at tornarem-se grandes ques-
tes abrangendo um grupo que se v como tnico e que, sob a innuncia de rumores
de atrocidades, engaja a populao por meio de l ealdades e antagonismos que dizem
respeito raa, religio, lngua, nao, lugar de origem. Esse movimento de transfor-
mar pequenas disputas em grandes problemas, Tambiah chama de transvalorizao.
Na segunda parte, os relatos continuam, mas o propsito agora desenvolver a
anlise de modo a abranger os eventos e as questes tericas sobre a violncia coleti -
va. Em busca de um repertrio dos tumultos, Tambiah observa que os riots, esses
fenmenos aparentemente espontneos, caticos e orgisticos, apresentam feies
organizadas, antecipadas, programadas, assim como traos c fases recorrentes. pos-
svel distinguir um padro de eventos provocadores, uma seqncia da violncia,
estabelecer a durao rpida, verificar quem so os participantes, os locais onde se
inicia c se espalha, e como termina. factvel tambm observar por intermdio de
que mecani smos se propaga, e confirmar o papel central dos rumores como profecias
que se cumprem, eficazes na construo, produo e propagao dos atos de violn-
cia. Rumores so causa de pnico e parania, mas so tambm produto de pnico e
parania. Na medida em que so repetidos inmeras vezes, os atos supostamente
brbaros dos inimigos ci rcul am, so reelaborados, distorcidos, geram outros rumores
e, ao fim, o pnico e a fri a produzidos pelos boatos levam perpetrao de atos to
si nistros quanto aqueles atribudos aos oponentes. Boatos so de uma eficcia cruel
nesses contextos.
Riots apresentam, portanto, traos sintticos que, se no exaurem os eventos
contingentes de seu significado pragmtico, se sustentam em um repertrio cujos
elementos so usualmente selecionados das formas cotidianas de sociabilidade, do
32 0 DITO E O FEITO
calendrio ritual de festividades, das sanes e punies populares e dos rituais de
purificao e exorcismo. Esses elementos podem ser imitados, invertidos, parodia-
dos, de acordo com suas possibi lidades dramticas e comunicativas. Reali zando um
potlatch s avessas, as multides que se engajam nos tumultos no so homogneas e
tampouco compostas pelos criminosos c desocupados que o senso comum imagina,
mas refletem parte do perfil socioeconmico de cidades como Bombaim, Delhi, Cal-
cut, Karachi, Colombo e se constituem de trabalhadores de fbricas, de servios de
transpones (trens e nibus), de empregados em bazares c no pequeno comrcio, estu-
dantes, alm de polfticos, agentes locais, polfcia
16
Focalizar a rotinizao e a rituali zao da violncia e seu carter coletivo per-
mite compreender um aparente enigma: por que brutalidades cometidas por mem-
bros da multido inflamada em nome de uma causa poltica "vlida" para uma
coletividade (seja grupo tnico ou nacionalidade) no deixa marcas psquicas no
agressor no plano individual. So os aspectos de rituali zao que tambm permi -
tem entender por que, depois de espasmos de violncia - riots tm sempre cuna
durao - , os participantes logo voltam sua vida normal c continuam a viver junto
aos seus (antigos) inimigos. Em termos do timing da violncia, a superposio de
mltiplos calendrios religiosos faz com que muitas vezes o rudo das festividades
de uma etnia coincida com o perodo de recluso de outra: este um detonador
infalvel de tumultos. Eventos pblicos com potencial de violncia incluem tam-
bm: procisses carregando smbolos emotivos c recitando slogans inflamados;
comcios com oratria estereotipada com aluses mtico-histricas transmi tidas c
amplificadas em alto-falantes; intimidao do oponente com exploso de bombas
em lugares pblicos; suborno para facilitar o movimento de multides; desafios,
insultos e dessacralizao de smbolos reli giosos.
Em outro nvel interpretativo, Tambiah quer entender como esses fenmenos
urbanos incluem a destruio de propriedade com o propsito intencional de
nivelamento (leveling) social. Vantagens que so percebidas no oponente devem ser
eliminadas e a desigualdade sofrida pelo oprimido, compensada. Outro trao marcante
que tanto os agressores quanto as vtimas muitas vezes vivem nas mesmas cidades,
ou lado a lado em di stritos ou cidades prximas. De maneira sintomtica, as diferen-
as de convico s se transformam em dio quando existem vnculos anteriores
essenciais entre as panes. Uma terceira considerao sobre a dinmica dos confli-
tos: a unidade desejada e imaginada de uma coletividade tnica com freqnci a
difcil de se consumar em vinude de diferenas internas.
Em outras palavras, mesmo no interior das etnias no h homogeneidade. No
h uma multido, mas vrias multides; as cristalizaes das coletividades que se
autodenominam cingaleses, tamil s, sikhs, hindus so episdicas e contextuais. Essas
mesmas coletividades so traspassadas por interesses faccionais, sectrios, de casta,
de classe, regionais, econmicos, o que faz com que haja muitos cenrios possveis c
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 33
a violncia dos tumultos seja muito mais dramtica e intensi fi cada do que a ao
planejada e antecipada. Tambiah ressalta, com evidente propsito de desafiar algu-
mas posies de vanguarda:
"Wc should not forgct that sections of thc civilian populacc may collide, both
with thc aid of statc agents whose loyalties are divided and against the
rcpresentativcs of lhe state taking part in lhe connict. These are complexities
that no contcmporary witncss of ethnic connicts can forgct or mute. There is
no monolithic archenemy called 'coloniali sm' availablc to be excoriated; and
onc cannot romanti cizc contemporary South Asian cthnic ri ots as pure
'rcsistancc' and the attcndant acts of arson, homi cide, and injury as
commensuratc with a ' conscious undertaking' on lhe part of Lhe rioters"
( J996a: 3 17).
Na ltima parte do livro, Tambiah reencontra Lc Bon c Durkheim: para o pri-
meiro, as multides tinham um carter descstabi lizador, destrutivo c degenerativo;
para o segundo, eram fonte de sentimentos sagrados e representaes e prticas cole-
tivas que celebravam solidariedade e integrao social. Tambiah tambm dialoga com
E. P. Thompson e os hi storiadores dos subaltern studies, perguntando-se se o argu-
mento da "economia moral", desenvolvido para explicar os tumultos do sculo XVlll
na Europa, pode aplicar-se aos riots atuai s no Sul da sia.
A resposta negativa. Os connitos de hoje no Sul da sia se desenvolvem em
um contexto em que no existe uma ideologia cristali zada c coerente, c tampouco um
corpo de normas c prticas polticas aceitvel e partilhado pela maioria da populao.
H, na verdade, cri se a respeito da idia de estado-nao. Os partidos apelam para
normas, tradies e valores particulari stas c dividem os proponentes em protagonis-
tas c antagonistas em uma arena onde no existe uma "economia poltica moral"
unitria.
De fato, a dimenso nacional ocorre s avessas da prtica unificada. Essa di -
menso visvel, por exemplo, quando um evento de dimenses " nacionais" explode
em vrios pontos como bombas radiando do centro para a periferi a, afetando cente-
nas de cidades e aldeias, vinculando-se a estruturas locais de poder, complexos locais
de castas, seitas e grupos tnicos, adaptando a causa nacional a contextos e conti n-
gncias polticas locais
17
. Assim, a questo paradoxal que o sul-asitico (especial-
mente a fndia) coloca para o mundo moderno, diz respeito ao fato de que democracia
participativa, eleies, militncia de massa c violncia tnica no so connitantes em
ao. A ctnicidadc hoje fora dominante, incorporando identidades e interesses
reli giosos, lingsticos, territoriais, de classe c casta; mas tambm o guarda-chuva
sob o qual se aninham idias e interesses pessoais, fami liares e comerciais locais. Em
suma, para Tambiah:
34 0 DITO E O FEITO
" The cri si s of the nation-state in South Asi a (and many other pl aces) i s
dialecti cally linked wilh the surge of elhnonati onali sm. In l ndia, Paki stan, Sri
Lanka, and Bangladesh, lhe auempt to realize lhe nation-state on a Western
Europcan model has virtually failed. The nalion-state concepti on has not taken
deep roolS i n South Asia or generated a widespread and robust participatory
' publ ic culturc' that celebrates it in widel y meaningful cercmonics, festi vai s,
and rituais. The ' indepcndence day' parades and speeches, lhe opening of
Parli ament, the weak affirmati ons of the secular state in the face of sectari an
cl aims to spccial trcatment, and other markers of nati on-state cxi stcnce palc in
public support and relevance when compared to the scale and intensity of
calendrical religious and cthni c festi vai s" ( 1996a: 265).
Tambiah compara o caso sul-asiti co com o ocidental c concl ui que o repertri o
cul tural daquel a regio no oferece as bases para a vida cvica do estado-nao. (Pa-
rafraseando Mauss, no h um mundo ao qual se superpor a magia do estado-nao
sem se destacar.)
''The ri tuais and affirmati ons surrounding lhe monarchy as embodyi ng nati onal
unity in Britain and the celebrati ons of 'ci vil religion' focused on nation-making
events in the United States have no real paralel s in the new nati on-states of
South Asia. The trul y engaging foci of a public culture are to bc found in the
arena and festi viti es linked to features of communal li fe, associated with
literature, recitati ons, texlS, sagas, mythol ogi es, and popul ar theater, which
celebrate and enact rel igi opoliti cal and soci al rnemori es and concerns of
collectivitics in pl ace for a long time. Thi s is why, for instance, Lhe di vi si ve
themes but effecti ve presentati ons of Hindu nati onali sm, Sikh nati onali sm,
Sinhala Buddhist nati onalism, and Dravidian nati onali sm so grcatl y constitule
and dominate mass politics and participati on in electi ons" (Tambiah 1996a: 265).
Os episdios de vi ol nci a tnica do fi nal do novecentos desafi am as profeci as
ps-i lumini stas de que o declnio da religi o era inevitvel. Eles tambm fazem face
idia de que lealdades c senti mentos primordi ai s i ri am desaparecer ou diminui r
medida que interesses naci onai s a eles se sobrepusessem. As exploses de viol nci a
continuam a confrontar as explicaes convencionais da cinci a social no que conceme
s democracias modernas. Nesse sentido, Leveling Crowds um marco nessa rea de
investi gao, produzido por um antroplogo que no se afasta da formao soci ol -
gica sl ida. (Por esse experimento, em 1997, Tambi ah recebeu o presti gi oso " Balzan
Pri zc".)
Ao focalizar a rel igio em contextos naci onai s, Leveling Crowds revcl ador da
complexidade dos ideais c prti cas do mundo moderno. Apoi ado na anli se de ritual
(de ori gem durkheimiana), Tambiah insere-se no proj eto webcri ano mai s amplo, ao
i nvesti gar histori camente os ml ti plos planos da vida das comunidades, expl icitando
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 35
os diversos agentes e interesses envolvidos, assim como os valores ("religiosos") em
questo
18
Mas h um subproduto a mais. O li vro tambm nos indica o longo caminho
percorrido pela antropologia no ltimo sculo. H cem anos, grandes debates procu-
ravam focalizar a relao entre religio, magia c cincia e, tambm, discutir a prima-
zia ora do rito, ora do mito. Hoje podemos continuar a fazer uso da noo de ritual ,
mas em sentido ampliado, expandido, tornando-o instrumental analti co para eventos
crticos de uma sociedade. Rituais indicam-nos o caminho das cosmologias, quer
daquelas um dia consideradas tribais, primitivas, ou, hoje, modernas. Vi vendo um
processo de constante renovao di sciplinar, os antroplogos aprendemos com a ex-
perincia etnogrfica acumulada de um scul o, a qual nos permite reiterar, indepen-
dente da inclinao interpretativa e dos objetos com que nos defrontamos, que a dis-
ciplina tem sido um dos controles mais efetivos contra a tendncia de a teoria tomar-se
paroquial , ctnocntrica, sociologicamente superficial, no-comparativa c, portanto,
pouco cosmopoli ta.
EPLOGO EM DOIS TEMPOS
No momento em que o ritual revi sitado do pri sma analtico, dois pontos de
rencxo se impem: um, metodolgico, sobre a relao entre eventos e acasos; outro,
de natureza da poltica da teoria, sobre a uti li zao da abordagem de rituais por algu-
mas comunidades de especiali stas. Abordo brevemente as duas questes aqui, reser-
vando renexcs mais aprofundadas para o futuro.
Eventos e acasos
Para o senso comum, tumultos como os riots sul -asiticos descritos por Tambiah
no so rituai s no sentido estrito. Acostumamo-nos a associar rituai s a performances
auspiciosas. No entanto, h trs aspectos a considerar: primeiro, a populao
sul-asitica, isto , os nati vos, marcam esses momentos como distintos dos aconteci-
mentos cotidianos; segundo, trata-se de uma performance coleti va para atingir deter-
minado fim; terceiro, os eventos possuem uma ordenao que os estrutura. Estes so
traos fundamentais de um ritual na definio heurstica c no-absoluta que Tambiah
props em 1979. No caso em tela, esses fenmenos tm uma designao especfica-
so riots - c, embora aparentemente espontneos, irracionais c cati cos, quando ana-
li sados revelam fei es antecipadas, programadas, durao determinada, traos e fa-
ses recorrentes. necessrio ao etnlogo, portanto, desenvolver a sensibilidade para
reconhecer nesses fenmenos os aspectos rituais- alis, como Mauss fez em relao
ao potlatch. E se Mauss utilizou a destruio ritual de propriedade para desenvolver
a teoria da troca, possvel se partir dos riots para discutir o destino do estado-nao
c da democracia em contextos etnicamente plurais.
36 0 DITO E O FEITO
Eventos como o potlatch c os riots nascem de um repertrio cultural que no os
faz aberraes em termos sociolgicos: produzi ndo eventos intensificados, exaltados
c, no caso sul -asitico, incluindo extrema violncia coleti va, por sua familiaridade
que se tomam um desafi o para o c ientista social. A questo bsica parte de uma
perspectiva comparativa: o que faz com que a equivalncia de etnias, mais do que a
liberdade c a igualdade dos indivduos, se torne o principal problema das democra-
cias participativas em muitas das sociedades multitnicas do mundo moderno? Leveling
Crowds demonstra a rentabilidade analtica da (re)construo de repertri os culturais
c cosmologias a partir de eventos rituali zados, no caso, trgicos em termos dos valo-
res modernos mais caros, inclusive os do cienti sta social.
Mas eventos dessa natureza tm ainda outra face que preciso confrontar: de
um lado, so reconhecidos como "gramaticais" em determinadas culturas- como j
notamos, fazem parte de um repertrio cultural; de outro, eles ocorrem em momentos
c contextos impossveis de antecipar totalmente. Isto , embora a passagem de uma
procisso festiva em frente do templo de outra etni a que se encontra recl usa j exi ba
elementos incitadorcs de violncia c tumulto, no se trata de uma fatalidade sociol-
gica o fato de que ocorrer um riot de grandes propores. Este exemplo traz tona a
questo do grau de impondcrabilidadc dos eventos e dos acasos no cotidiano da vida
social.
Este um tema que j recebeu ateno detalhada no debate sociolgico de cunho
hi strico (Weber 1992), assim como na histria da cincia (Latour 1995). No mi-
nha inteno retomar a discusso em profundidade, mas apenas apontar, primeiro,
para o fato de que no se trata, no contexto presente, de examinar a causalidade dos
eventos, mas sua interpretao - para usar a expresso wcberiana, o surgimento de
"indivduos hi stricos". Em segundo lugar, sugerir que a ampliao da anli se de
rituais para eventos crticos de uma sociedade implica conceder aos fenmenos assim
examinados uma liberdade sui generis, derivada de suas dimenses sociolgica c
hi strica. De um lado, ento, preciso reconhecer que eles so, em parte, "sua pr-
pria causa" - o evento tem elementos que o tornam imprevisvel, uma surpresa, uma
diferena; no fosse assim, no se tratari a de um evento, mas somente da ativao de
uma potencialidade, da mera atualizao de uma causa, da reali zao de uma estrutu-
ra19. Por outro, justamente esses traos especficos dos eventos - diferente dos rituais
convencionais - trazem como conseqncia uma ampliao dos "efeitos perlocu-
cionrios" (cf. Austin 1962), isto , dos resultados no-anteci pados que derivam
dos contextos culturai s particulares nos quai s ocorrem. Mas justamente a que,
mais uma vez, Leveling Crowds nos surpreende quando Tambiah aponta para pa-
dres nesses efeitos: o que era possibilidade, potencialidade, probabilidade de ex-
panso e intensi fi cao, no caso da violncia coletiva no sul-asitico toma a forma
de dois pares que Tambiah denomina, um, de " focalizao" e "transvalorizao", c
o outro, de "nacionalizao" c " paroquializao". Para esses movimentos de vio-
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 37
lncia coleti va poderamos arri scar o rtul o, em princpio conlraditrio, de "pro-
cessos perlocucionrios". Essa possibi lidade envolve uma questo fundamental para
desvendar mais profundamente os vnculos entre o ritual e o evento, mas que, aqui ,
fi ca apenas sinali zada.
Eventos e stoTies
Outro tema apenas sugerido diz respeito responsabilidade polftica como di -
menso intrnseca s cincias sociai s. Como um sul-asitico de ori gem, Stanley
Tambiah rclembra-nos esse vnculo. Em suas pal avras:
"Thc conundrum that faces many o f us South Asians is this: whi lc we ali should
makc lhe effort to comprchcnd and apprcciatc thc rcasons for thc rcjcction of
Wcstcm secularism by ccrtain religious communitics, we al so have to face up
to thc question of what policy lo pul in its placc in an arena where multiplc
rcl igious communities wi th divergent political agendas contest onc anothcr and
makc claims that lhrcaten to engender di scrimination and inequality among
citizcns who in principie must enjoy thc samc civil ri ghts and should peaccfully
cocxist" ( 1996a: 19).
Recordando que a prpria cincia social nasce engajada em projetos polfticos de
longa durao no sculo XIX, encerro este ensaio com uma provocao: na pesqui sa
antropolgica h sempre um aconteci mento, seja evento, estri a, relato, que detm
certo privilgio do momento etnogrfico deci sivo. Dados so conslrufdos, fatos so
feitos. Mas a articulao de experincias que o etnlogo vive e da qual participa (ou
que reencontra como documento ou memria, de natureza, mbito e domnio diver-
sos) preci sa de uma ncora no apenas textual, mas cogniti va e psquica que totalize
a experincia. A apropriao do momento efmero ou do incidente rcvclador tem nas
experincias da disciplina o caso exemplar que levou Mauss, depois de analisar o
ku/a c o potlatch, a expressar o cuidado que o etnlogo precisa ter ao observar "o que
dado" (ce qui est donne'). Vale a pena repetir, para no haver dvida: "Or, lc donn,
c'cst Romc, c'est ALhcncs, c'cst lc Franais moycn, c'cstle Mlansicn de tcllc ou
tcllc ilc, ct non pas la pricrc ou lc droit en soi" (Mauss 1925: 182).
a essa Lradio que podemos associar a escolha de Tambiah em eleger riots do
sul -asitico como os incidentes crticos para sua monografia. So eles que represen-
tam o tangvel, a experincia vivida, o sofri mento episdico, a tentati va de capturar o
instante perdido mas crucial da pesquisa (ou da hi stria) e, no menos, de fazer coi n-
cidir objetivos terico-intelectuais com polftico-pragmticos. So eles "Roma, Ale-
nas, o melansio da ilha ta1''
20
.
Mas essa prtica usual'? A resposta negativa. Em contraste com a opo pelo
evento, h ma is de uma dcada um gru po significativo de antroplogos nor-
38 0 DITO E O FEITO
te-americanos escolhe a construo de narrati vas ou estrias (stories) como alternati -
va epistemolgica e poltica, em um contexto no qual o exotismo, tendo dominado o
olhar da di sciplina por um sculo, provoca intenso mal-estar em um mundo que se
quer igualitrio. Agora que passam a condenar a etnografi a realista, a questionar a
autoridade do antroplogo como autor, a denunciar a validade dos fatos, a projetar
um mundo no-colonial, novas possibil idades para a construo do texto ctnogrfi co
incluem notas de campo, biografi as, entrevistas, fi co cicntffica, manifestos, co-
mentrios21.
nesse contexto que proponho a comparao entre o uso de eventos, de um
lado, e de narrati vas (stories), de outro, arriscando introduzir uma nova di cotomia e
aumentar ainda mais a lista das muitas j existentes na di sciplina. Mas impossvel
no reconhecer esses dois tipos ideais na antropologia contempornea que, na verda-
de, correspondcm a diferentes construes do objeto: onde esse objeto foi um dia
pautado pelo exoti smo, a antropologia hoje est em cri se (c se abriga nos cultural
studies,Jeminist studies, science studies etc.); onde o objeto encontrado na diferen-
a (quer social, cultural ou outra), a anlise de eventos apropriada para resumir,
expandir, suportar e encorajar o conhecimento que continua a se pretender uni vcrsalista
mas multi ccntrado nas suas manifestaes. preciso esclarecer: se todo exotismo
um tipo de diferena, nem toda diferena extica; a diferena compara c relaciona,
j o exoti smo separa e isola; a diferena produz uma teoria poltica, o exotismo pro-
duz militncia parte da etnografia. De forma intencional, as narrativas tornaram-se
uma opo retrica para alguns antroplogos; talvez de maneira menos consciente,
anlises de eventos tm nos feito examinar pressupostos bsicos da vida social. A
anlise de rituai s e de eventos tem uma afinidade eletiva com a opo pela diferena
- que preciso explorar em sua enorme potencial idade.
Notas
Para Tambi,
110 seu 70 aniversrio
1
Este artigo, publicado no Le Courrier da UNESCO, passou despercebido c difcil encon-
tr-lo mesmo nas melhores bibliotecas. No Brasil , "A Cri se ... " ( 1961) tornou-se texto bastante
utilizado em cursos de graduao, certamente por haver sido traduzido para o portugus no
ano seguinte sua publicao original.
2
Para Lvi-Strauss, cincia basicamente a capacidade de classificao. Ver os pargrafos de
abertura do livro, em que o autor rev a literatura ento recente da ethnoscience. Para as
defini es de cincia em geral, e no caso da antropologia em particular, ver Latour ( 1996).
3
Ver Tambiah ( 1968), para uma apreciao crtica de O Pensamento Selvagem e as vacilaes
de Lvi-Strauss em relao magia e cincia, em comparao com os trabalhos de Malinowski
e Evans-Pritchard.
A ANUSE ANTROPOLGICA DE RITUAIS 39
4
Ver Rabinow ( 1996) e os mecanismos de bricolagcm na cincia contempornea.
5
Vale lembrar que Lvi -Strauss escreveu vri os textos para a UNESCO. Al guns deles, como
" Raa c Hi stria", se tornaram marcos na disciplina, tendo sido incorporados em coletneas
organizadas pelo autor. J "A Cri se Moderna da Antropologia" no recebeu, nem de seu pr-
pri o autor, maior ateno. Ver Bcnthallk ( 1984) para a relao entre Lvi-Strauss c a UNESCO.
6
importante enfatizar que Turncr ( 1967) manteve a defini o de ritual vinculada a crenas
em seres ou poderes msti cos. Para uma reanlise das rvores dos Ndembu estudadas por
Victor Turner, ver Peirano ( 1995).
7
Trata-se dos artigos "A Eficcia dos Smbolos" e "O Xam e a Magia" (Lvi-Strauss 1970).
Ci tando Lvi-Strauss em passagem significati va: "O xam fornece sua doente uma lingua-
gem, na qual se podem exprimir imedi atamente estados no-formul ados, de outro modo
i nfor mulvcis. E a passagem a esta expresso verbal (que permite, ao mesmo tempo, vi ver
sob uma forma ordenada c intel igvel uma experi ncia real , mas, sem isto, anrqui ca e inef-
vel ) que provoca o desbloqueio do processo fi siolgico, isto , a reorgani zao, num sentido
favorvel , da seqncia cujo desenvol vimento a doente sofreu" ( 1970: 2 17).
8
Ver Tambi ah ( 1996c; 1998) para os vnculos que ligam Tambiah a Lcach; Lcach ( 1967: 85)
para crtica ao trabalho sociolgico de Tambiah: "Thi s perhaps reads like a pcrsonal attack on
Dr. Tambiah but that is not ai ali what is intended. I find Dr. Tambiah's di scussion of Kandyan
inhcritancc trul y illuminating, indccd I repeat my patronizing commcnt that his sociological
insights mark him out as a first class anlhropologist !"
9
Os ensaios mencionados acima esto reunidos em Tambi ah ( 1985), coletnea de artigos so-
bre anlise simblica do ritual c cosmologia em tcnnos de pensamento c ao.
1
0 A defi nio de ritual estabelecida assim: "Ritual is a culturally constructcd system of
symbolic communication. lt is constituted of pattcrncd and ordered sequenccs of words and
acts, ofl cn cxpressed in multi pi e media, whose contcnt and arrangemenl are charactcri zed in
varying dcgrcc by formality (conventionality), stcrcotypy (ri gidity), condcnsati on (fusion),
and rcdundancy (repetiti on). Ritual acti on in its constituti vc fcatures i s performati vc in these
thrcc scnscs: in the Austini an scnsc of performati vc, whcrcin saying something is also doing
somcthing as a conventional act; in lhe quite di ffcrcnt scnsc of a staged performance that uses
multi pie media by which lhe participants expericncc thc cvcnt i ntensi vel y; and i n lhe sensc of
i ndcxical values - I deri ve thi s concept from Peircc- bei ng attached to and infcrrcd by actors
duri ng thc performance" (Tambiah 1985: 128).
11
Tambi ah continuou a desenvol ver ensaios tericos sobre rituais, analogias, fora ilocucionri a
c cosmologias. Em trabalho recente desafi a a abertura dos sistemas cosmolgicos, focali zando
orientaes (cosmolgicas) mlti plas (Tambiah 1996b).
12
A i nnuncia di ferenciada de Saussure, Peirce, Jakobson c Austin objeto de ensai o em
elaborao. Sil verstcin ( 1977: 125) menciona que as frases indefi nidas so aquelas em que
nenhum elemento depende do contexto de situao. Esses so exatamente os enunciados que
importam teori a l ingstica de Chomsky (e de outras teori as que seguem uma metodologi a
semelhante).
13
O livro foi obj eto de duas apreci aes no Brasil , por Comerford ( 1998) c Chaves ( 1999).
14
Tambiah explica esta di stino, apontando para o fato de que, freqentemente, apenas os
especiali stas das reas culturais lem li vros monogrficos. Assim sendo, ele nota que a maio-
40 0 DITO E O FEITO
ria de suas contribuies tericas passaram despercebidas quando desenvolvidas em monografias
(cf. Tambiah 1996c).
l5 Podemos exemplificar com os mecanismos que detectou na compreenso do carter metaf-
rico e metonmico da magia trobriandcsa (em "The Magical Power of Words"), a fora
ilocucionria nas prticas Zande (em "Form and Meaning o f Magical Acts"), as classificaes
nalivas dos camponeses tailandescs que as tomavam boas para pensar c viver (em "Animais
are Good to Think and Good to Prohibit"), os meios de cura por meio da meditao (em "Thc
Cosmological and Performative Significancc of a Thai Cu h of Healing through Mcditation"),
a (re)construo da cosmologia trobriandesa por meio dos valores masculinos c femininos (em
"On Flying Witchcs and Flying Canoes"). Estes anigos esto reunidos em Tambiah ( 1985).
16
Para uma discusso dos tumultos como casos de potlatch s avessas, conferir Tambiah
( 1996a: 122, 279).
17
A esses processos Tambiah chama de nacionalizao e paroquialiwo, c os contrasta com
os processos defocaliwo e transvalorizao: os dois primeiros relacionam-se de cima para
baixo e do centro para a pcri feria; os segundos, de baixo para ci ma e da periferia para o centro.
Ver especialmente Tambiah ( 1996a: 257).
18
Comerford ( 1998) ressalta a dimenso wcberiana do livro.
19
Ver Latour ( 1995: 19) a respeito do encontro de Pasteur com o cido ttico: "For thcrc to be
history, the yeast-of-1857-at-Li lle-with-Pastcur must in pari bc causa sut'. Ver, tambm, Sahlins
( 1981) para a relao entre evento e estrutura. Para os acasos, ver Pcirano ( 1995, cap. 4).
20
Incluo nessa tradio alguns li vros recentes: Amin ( 1995), Das ( 1995), Trouillot ( 1995).
Outros trabalhos de que tenho conhecimento, esses diretamente inllucnciados pela proposta
de Tambiah, so: Trajano Filho ( 1984; 1993; 1998), Chaves ( 1993; 2000), Boixads ( 1994),
Comerford ( 1996; 1999), Steil (1996), Teixeira ( 1998), Aranha ( 1993), Santos (1994), Little
( 1995), Ges Filho ( 1999).
21
Ver Pcirano ( 1997; 1998; 1999), Dirks ( 1998). Chamo ateno para os ensaios de Crapanzano
( 1992; 1994) como experimentos bem-sucedidos no desafio de narrar o dilogo ctnogrfico na
sua complexidade indxica. Esses trabal hos se situam, ponanto, a meio caminho entre o texto
c o evento.
Parte 11
ENSAIOS ANALTICOS
CAPTULO 2
Peirce e O Beijo no Asfalto
Ana Flvia Moreira Santos
r:::ll stc trabalho tem como tema e objeto de anlise o drama teatral O Beijo no Asfal-
L..:I to: Tragdia Carioca em Trs Atos, de Nelson Rodrigues ( 1990). Os eventos
narrados na pea sero considerados em si mesmos, no sentido de serem tomados
para interpretao tal como poderiam ser certos acontecimentos da "vida real", o que
fao apoiando-me no carter hipersignificativo da cri ao literria: o ato seletivo,
inerente a esta, impe ao mundo imaginado uma economia simblica que o toma
significativo de um modo extremo, e que o faz revelar dimenses essenciais da vida
humana
1
Vejo, assim, O Beijo no Asfalto, como um diagrama - no sentido peirciano
do termo - da realidade social, expressivo de uma de suas instncias mais estratgi-
cas: as interaes dos indivduos, por intermdio das quais estes definem situaes e
se constituem como "pessoas".
A anli se tem seu eixo principal nas consideraes de Yincent Crapanzano ( 1982;
1988) sobre a caracterizao do self e em sua assero de que o movi mento reflexivo,
atravs do qual ego toma conscincia de si e se constitui , ocorre por meio da lingua-
gem, em conversaes com o outro. Para Crapanzano, esse movimento dialtico en-
tre eu c o outro - intermediado por um Terceiro (a linguagem enquanto conveno)-
um fluxo contnuo c instvel, estando os significados das mtuas caracteri zaes
mediante as quais eu c o outro se constituem dependentes dos elementos pragmticos
- circunstanciais, portanto - das transaes verbai s. Nesse processo, uma ilusria
estabilidade fornecida pelos "momentos de parada" (arrest moments), em que o self
- ou o eu c o tu de uma conversao- pode ser capturado, sendo tipificado por meio
de categorias que, aparentemente descritivas, constituiriam, na verdade, essenciali-
zaes dos aspectos pragmticos das transaes verbais. Tais tipificaes, pensadas
como diagnsticos de uma realidade objetiva, mascaram o instvel processo de con-
tnua criao do self, apresentando-o como uma entidade objetiva que atravessa o
tempo c o espao, passvel de uma descrio empiricamcntc verificvel (Crapanzano
1988: 4-7).
O Beijo no Asfalto composto por um complexo jogo dialgico, por meio do
qual se caracteri zam os personagens. No centro - enquanto interlocutor, observador
44 0 DITO E O FEITO
ou objeto de tipificaes- est Arandir, em um processo de contnua caracterizao,
que tem como ponto crucial o gesto descncadeador de toda a estria: o beijo dado em
um desconhecido, vtima fatal de um atropelamento. Ao longo do drama, Arandir
caracterizado como homossexual c assassino, tipificaes que, longe de corrcspon-
dercm descri o de uma realidade que est dada, so construdas di alogicamcnte,
em um jogo de interesses, poder e desej o de que parti cipam os personagens, em
particul ar (alm do prprio Arandir) Amado Ribeiro, reprter policial; o delegado
de polcia, Cunha; a esposa de Arandi r, Sclminha; sua cunhada, Dlia, c seu sogro,
Aprfgio
2
.
O primeiro ato da pea tem, como ncl eo, quatro relatos di stintos a respeito do
beijo, a partir dos quais se delineia todo o desenvolvimento da estria. As cenas se
passam, de forma entrecortada, em dois cenrios di stintos: o Di strito Policial corres-
pondente Praa da Bandeira, local do atropelamento, c a casa de Sclminha c Arandir.
No primeiro quadro, Cunha e Amado Ribeiro di scutem. Este, repncr policial
do jornal A ltirna Hora, havia presenciado, momentos antes, a cena do beijo. Ao
longo da cena, Amado consegue seu objeti vo: expor o que havia visto c envolver o
delegado em um plano que serviria aos dois - "vender j ornal pra burro" e "reabilitar"
a imagem de Cunha, desacreditado como policial. O pl ano: montar, ao redor do fato
- o beijo - , uma estria sensacionalista, em que Arandir caracterizado como ho-
mossexual.
Uma primeira interpretao desse quadro poderia ser feita, acredito, a partir das
seguintes linhas. Amado presencia, casualmente, um ato imprevisto e "anormal",
dada a caracterstica que o sujeito desse ato apresenta: a de ser um homem, no sentido
do papel social apropriado a tal categoria. Um ato, ponanto, potencialmente dirupti vo
desse papel, e que, por essa caractersti ca, lhe fornece o insight do qual surgir o
plano:
"- Manja. Quando eu vi o rapaz dar um beijo. Homem beijando homem. (Des-
criti vo) No asfalto. Praa da Bandeira. Gente assi m. Me deu um troo, uma
idia genial. De repente."
Contudo, em que medida o beijo um gesto "anormal"? No o , certamente, a
priori, j que o prprio Cunha incapaz de, apenas ouvindo o relato de Amado,
tom-lo como tal:
"- Quer dizer que. Um sujeito beija o outro na boca c ... No houve mais nada.
S isso?"
Tambm o comissrio Barros, que toma o primeiro depoimento de Arandir, no
parece preocupado com o fato: Arandir, ressalta em di logo com o delegado, s
uma testemunha.
PEIRCE E O 8Euo NO AsFALTO
45
No , portanto, em contraposio s caractersticas socialmente apresentadas por
Arandir que o ato se toma anmalo; pensado como tal a partir de um pressuposto
interpretati vo (Fish 1979). Um pressuposto que est radicado no nos fatos, mas em
Amado. Se, como afirma Peircc ( 1990: 47), um signo pode significar a partir de aspec-
tos variados ou segundo diferentes preceitos explicativos, dir-se-ia que Amado tomou
apenas um de seus aspectos como significante, dado seus interesses e, tambm, a fami -
liaridade- proporcionada pel a profi sso -com estrias semelhantes que pretende
impor como sendo a de Arandir. Como observador, ele tem um papel ativo no processo
de interpretao ou de atri buio de significado ao de Arandir (Heritage 1986, cap.
5). Evidentemente, sua interpretao uma interpretao possvel - o beijo na boca, no
contexto cultural em que se passa a ao, pode ser tomado como smbolo de amor ou
proximidade sexual. Ainda assim, h uma mudana radical de nfase: no uma discre-
pncia dada no plano da interao social que suscita a interpretao. No , portanto,
pelo gesto objetivo do beijo que Arandir passar a ser caracterizado como homosse-
xual. Tal caracterizao vai ser construda a partir de uma verso determinada "do que
ocorreu de fato", sendo objeti vada atravs de inmeros expedientes, lingsticos ou
no. Um deles ser o de reforar o aspecto referencial do relato, recorrendo-se objeti-
vidade do fato: "eu vi", diz Amado, "gente assim" viu.
Momento exemplar desse processo de caracterizao o segundo interrogatrio
de Arandir, realizado conjuntamente por Cunha e Amado. De acordo com Crapanzano,
o processo dialgico de tipificao estabelece hierarquias e posies entre os sujeitos
que dialogam ( 1988: 5, li ). Pois bem, ao longo desse interrogatrio - di logo
tipifi cador por excelncia - , possvel detectar, em primeiro lugar, uma mudana
significati va na posio de Arandir que, de testemunha, fi gura tangencial, passa a
ocupar um lugar central, apesar de, explicitamente, no ser acusado de nada. Arandir
percebe essa mudana ao afi rmar, em um aparente nonsense que "O lotao foi o
culpado". A que rebate Cunha:
"- rapaz! o lotao no interessa. Compreendeu? No interessa. O que inte-
ressa voc!"
A ausncia de uma acusao explcita indica alguns pontos importantes, trazen-
do baila o modo como a tipificao de Arandir vai se construindo. Tambm ela no
explicitada - ningum afi rma di ante de Arandir que ele um homossexual; ocorre
implicitamente, mediante um jogo de perguntas e respostas por meio do qual os
interrogadores buscam atribuir a Arandir traos de um comportamento sexual no-
convencional:
"- Rapaz, escuta! Uma hiptese. Se aparecesse, aqui agora, uma mulher, uma
'boa'. Nua. Completamente nua. Qual seria ... uma curi osidade. Seria a tua
reao?"
46 0 OITO E O FEITO
Cunha e Amado estariam, assim, procurando reunir aqueles exemplos de com-
portamento que, segundo Crapanzano, vo, pragmaticamente, sustentar a caracteri-
zao ( 1988: 4, 6). A importncia, nesse jogo, da dimenso pragmtica da linguagem,
evidencia-se na medida mesma em que as expresses metapragmticas so mantidas
implfcitas. Tomo como exemplo a primeira pergunta feita a Arandir:
"CUNHA (lanando a pergunta como chicotada): - Voc casado, rapaz?
ARANDIR: - No ouvi.
[ ... ]
AMADO (i nclinando-se para o rapaz): - Casado ou solteiro?
ARANOIR: - Casado.
CUNHA: - Casado. Muito bem. (Vira-se para Amado, com segunda inteno)
O homem casado. (Para o comissrio Barros) Casado."
Aqui, Cunha "simplesmente" repete a autocaractcrizao que ele mesmo exigiu
de Arandir. Em termos puramente semntico-referenciais, o sentido da afirmao
"ser casado" no mudou quando pronunciada por Cunha: para todos os efeitos, Arandir
um homem casado. Entretanto, percebe-se que a apropriao que o delegado faz da
autocaractcrizao de Arandir no significa que ela tenha sido considerada "at face
value", como diz Crapanzano. Ao contrrio, as entonaes dadas pelo delegado
palavra (seguindo as indicaes do autor) c o fato de di ri gi-la a Amado c Barros,
conferem-lhe um outro valor, que pode ser mesmo interpretado como antittico: Arandir
no apenas um homem casado; ele ainda por cima casado ou, apesar de ser
casado ... Outros doi s exemplos so similares:
"CUNHA- Escuta. O que significa pra ti . Sim, o que significa pra 'voc' uma
mulher!?
[ ... ]
CUNHA (falando macio) - Conta para mim. Conta. Conta o que voc fez na
Praa da Bandeira."
Na primeira frase, o que inicialmente parecia uma pergunta se transforma em um
quase-espanto, haja vista o ponto de exclamao: que significaria, afinal, uma mulher
para algum que no homem?! Um algum que Cunha faz questo no s de iden-
tificar por meio do pronome pessoal "voc". Atravs do "voc" duplamente enfatizado
(pelas aspas c pela contraposio ao "ti"), enfat iza tambm a particularidade desse
algum, enquanto membro de uma "categoria especial" de homens. Na segunda fra-
se, por sua vez, a "maciez" do modo como o delegado se dirige a Arandir, junto s
pausas que cortam sua fala, sugerem que ele espera no uma resposta, mas sim uma
confisso (c af o relato de Arandir, qualquer que seja, certamente seria caracterizado
como tal).
P EIRCE E o BEIJO NO A SFALTO 47
Nesse mesmo jogo de perguntas e respostas, possvel perceber, ainda, como os
atores "entram" - por assim dizer- "em relao" com um Terceiro. Pois o que Cunha
e Amado fazem, basicamente, lanar, para Arandir, imagens convcncionalizadas do
que seria o comportamento "natural" de um homem, em primeiro lugar, que casado,
em segundo lugar:
"- Gosta de sua mulher, rapaz?"
[ ... ]
"- E no usa nada no dedo, por qu?"
[ ... ]
"- Praticamente em lua-de-mel. Em lua-de-mel!"
Imagens que so contrapostas seja confuso das respostas oferecidas por
Arandir, seja "anormalidade" que caracterizaria seu comportamento. O que se toma
claro quando, em um momento crucial do interrogatrio, Cunha faz referncia ao
beijo, convencionalmente tido como um si nal de proximidade. Diante da recusa de
Arandir em caracterizar o morto como algum prximo ou conhecido, apontam para
a prpria impossibilidade da inexistncia deste nexo, sem o qual o beijo - supem -
jamais teria ocorrido:
"AMADO (furioso) - Escuta! Se um de ns, aqui , fosse atropelado. Se o lota-
o passasse por cima de um de ns. (Amado comea a rir com ferocidade) Um
de ns. O delegado. Diz pra mim? Voc faria o mesmo? Voc beijaria um de
ns, rapaz? (Riso abjeto. Arandir tem um repelo selvagem)"
Para Arandir, entretanto, o importante estava no fato de que o atropelado, mesmo
desconhecido, "Era algum! Algum!" Algum que morrera na sua frente. O beijo
ento perde sua conotao sexual para ganhar uma dimen o humanitria: a da amiza-
de, como diz Nelson Rodriguc ( 1994: 233), ou a da generosidade, corno aponta Magaldi
( 1990: 14). J esto delineadas, portanto, nesse primeiro ato, as duas interpretaes
divergentes com as quais os personagens iro lidar no decorrer de toda a pea. Inter-
pretaes que, apresentadas como relatos descri tivos, implicam, na verdade, uma
construo e reconstruo permanentes do fato c de Arandir, seu protagonista.
As outras duas cenas que compem esse ato se passam na casa de Selminha,
mulher de Arandir. Na primeira delas, Selminha toma conhecimento do que ocorrera
na Praa da Bandeira, por intermdio de seu pai, Aprgio, que acompanhava Arandir
no momento do atropelamento e que, portanto, presenciara - ou melhor testemunha-
ra - o gesto do beijo. Posteriormente, na outra cena, o prprio Arandir quem expli-
ca a Selminha o que aconteceu. Aprgio representaria (para a infelicidade de Arandir)
o elo entre duas platias distintas: a familiar c a multido de desconhecidos ento
presente na Praa da Bandeira. um ator que refora o potencial diruptivo do gesto
48 0 DITO E O FEITO
de Arandir: no s possui um conhecimento anterior da fachada pessoal (Goffman
1967; 1985) de Arandir suficiente para caracterizar o ato como "anormal", como est
capacitado para afirmar esta caracterizao no mbi to fami liar. De fato, Aprgio toma
o beijo como algo no mnimo inusitado, que requer explicaes:
"APRiGIO (realmente confuso) - No tem cabi mento e olha: - deixa cu con-
tar. Perdi o fi o. A h! Teu marido correu na frente de todo o mundo. Chegou
antes dos outros. (Com uma tristeza atnita) Chegou, ajoelhou-se c fez uma
coisa que at agora me impressionou pra burro.
SELMINHA - Mas o que foi que ele fez?
APRiGIO (na sua clera contida) - Beijou. Beijou o rapaz que estava agoni-
zante. E morreu logo, o rapaz.
SELMlNHA (maravilhada) - O senhor viu?
APRGIO (sem ouvi-la c com mais vivacidade que desejaria) - Voc no acha?
No acha que. Eu, por exemplo. Eu no faria isso. No creio que outro qual-
quer. Ningum faria isso. Rezar, est bem, est certo. Mas o que me impres-
siona, realmente me impressiona. o beijo."
Neste dilogo, Aprgio no s separa o beijo da seqncia de atos de Arandir,
como que enfatizando sua peculiaridade; aponta, explicitamente, a anormalidade do
gesto: o normal , o certo, seria ajoelhar e rezar, no ajoelhar c "beijar". Ningum mais
(ele em particular) o faria. Entretanto, nessa mesma passagem h indicaes de que
uma interpretao como essa pode ser simplificadora. A comear pela reao de
Sclminha, que, maravilhada, busca a confirmao do fato, do qual ir dizer, aps a
ltima fala de Aprgio aci ma transcrita: "- Mas eu at acho bonito!" Mais uma vez,
portanto, o beijo, em si, no parece significar "anormalidade", no sendo suficiente
para romper a caracterizao atual que Se! minha possui de seu marido (c nem o ser
para Dlia, sua irm). De forma tal que a insistncia de Aprgio nessa caracteri zao,
no decorrer da pea, vai provocar mudanas substanciai s no nas caracterizaes que
as fi lhas fazem de Arandir, mas, ao contrrio, nas que elas fazem de sua pessoa:
Aprgio odiari a Arandir por nutrir por Se! minha um "amor de homem", no um "amor
de pai". Por meio das tipificaes que faz de Arandir, Aprgio estar, assim, tipificando-
sc (aos olhos da filhas c de Arandir).
Mas vale lembrar que, aqui, estamos situados no terreno do desejo, indicado j
nas observaes que o autor faz sobre as emoes expressas por Aprgio ao longo
de suas falas. Algo que explicitado para o leitor na passagem logo anterior
aci ma retratada, quando Selrni nha acusa o pai de nunca se ter diri gido a Arandir
pelo nome:
"- [ ... ] Papai! O senhor dizia 'seu namorado'. Depois: 'seu noivo' . Agora
'seu marido' ou, ento 'meu genro' ."
PEIRCE E o BEIJO NO ASFALTO 49
Assim, embora s no final da pea o significado dessa recusa seja revelado,
pode-se dizer, retomando Peirce e Crapanzano, que, se o signo apenas representa
quando em relao com um interpretante, o interpretante suscitado pelo beijo na mente
de Aprgio estaria determinado antes pelo secreto desejo que nutre por Arandir que,
propriamente, pelo inusitado contido no gesto, dadas as caractersticas social mente
objetivas da situao em que ocorreu ou do ator que o praticou.
Em face da recusa de Selminha em aceitar sua caracterizao do fato - e, conse-
qentemente, a de Arandir a implcita -, Aprgio inverte a perspectiva de suas falas:
tenta, junto filha, apresentar uma tipificao de Arandir que julga possvel depois
do beijo, para ento possibilitar que sua interpretao do fato seja considerada, posto
que congruente com a nova tipificao. Esta, contudo, permanece ainda implcita,
pois colocada sempre em forma de pergunta, atravs de um questionamento das su-
postas bases em que se apia Selminha para negar a verso de Aprgio: o conheci-
mento que, como esposa, possui de Arandir:
"APRfGIO (com mais vivacidade do que desejaria) - E voc. Conhece? Diga:
- Conhece seu marido?
[ ... ]
(vivamente)- Quero saber como marido! (muda de tom) De casada tem um
ano, nem isso. Menos. Pois . Minha filha, isso pouco. Isso nada."
Selminha, entretanto, permanece afirmando o significado que v no beijo, con-
trapondo s dvidas do pai uma certeza absoluta:
"- Mas absoluta! Eu conheo tanto o Arandir, tanto que ... Nem ele me esconde
nada. Papai , olha. Confio mais no Arandir que em mim mesma. No duro!"
Este significado se reafirma ao longo do dilogo de Selminha com Arandir, na
ltima cena do 1 ato. Percebe-se, porm, que nem Dlia, Selminha ou Arandir per-
maneceram inclumes reiterao constante - seja por Aprgio ou pela polcia - da
tipificao no-explicitada de Arandir como homossexual (ou como homem "anor-
mal"). Arandir demonstra raiva c agrcssividadc quando verifica que Selminha j
sabia do "beijo". Dlia interpe, ao relato deste: "-Era bonito?; - Voc conhecia ?;
- Nem de vista?"
A determinao demonstrada por Sclminha nessas primeiras cenas vai se trans-
formar em reticncia, no decorrer do 2 ato. Nessa transformao, um acontecimento
fundamental: a publicao, no jornal A ltima Hora, da reportagem de Amado
Ribeiro, intitulada " Beijo no Asfalto". Com a reportagem, a interpretao dada aos
fatos por Amado, Cunha (c Aprgio) institucionalizada: a notfcia como que fornece
um parmetro, devidamente autorizado, para todos aqueles que, de agora em diante,
pretenderem interpretar o gesto de Arandir. No h dvida que, por trs da figura do
50 0 DITO E O FEITO
j ornal, encontramos a fi gura do Terceiro: ele atua, claramente, como um "garantidor
do signifi cado", na medida em que visto por todos como mero reprodutor ou
"retratador" de fatos. Nesse sentido, realmente mascara a instabilidade das represen-
taes e todo o processo - perceptvel no 1 ato - de construo da caracteri zao de
Arandir c da definio da situao em que ocorreu o beijo. Este gesto, enquanto
signo, se transforma - por meio da institucionali zao de um de seus possveis signi -
fi cados (beijo: intimidade: sexo) - de smbolo em ndicc
3
: passa a ser visto como
guardando, com seu objeto (a homossexualidade de Arandir), uma conexo existen-
cial, real.
Com a notcia do j ornal (c no qualquer j ornal, mas"- A ltima Hora !", como
exclama Dlia), toda a situao da pea comea a mudar de fi gura, a partir da prpria
manchete - " Beij o no Asfalto"- que, embora pouco acrescente, em termos de "con-
tedo", ao que j "sabido" pelos personagens, tem uma e fi ccia impressionante:
"-Esse tft ulo 'Beijo no Asfalt o'!", diz Selminha, como se s ento tomasse cons-
cincia do que teria ocorrido. Uma efi ccia, porm, que est muito mais vinculada
imagem do j ornal enquanto " retratador" da realidade que ao sensacionali smo a em-
butido. E de fato, a partir do 2 ato, a ideologia de uma linguagem puramente referen-
cial, em que esto engaj ados os personagens, torna-se mais aparente: o j ornal , ao
reproduzir fatos, apenas descreve o mundo. (Aprgio dir, posteriormente, "- O re-
prter, esse Amado Ribeiro, escuta Se/minha. { ... ] O reprter estava 16. Viu tudo! ".)
A interpretao dos fatos que, por meio da notcia Amado apresenta, tomada como
intrinsecamente verdadeira (publicada, ela se valida por si mesma). o que acontece,
por exemplo, quando Sclminha, por intermdio de uma vizinha (0. Matildc), toma
conhecimento da notcia. Ainda no convencida pel o que l, Sei minha tem que con-
trapor, palavra da vizinha - secundada pelo jornal - , a sua prpri a palavra:
"SELMINHA - Ainda no acabei! (Para D. Matildc) Estou que .. . Tinindo, D.
Matildc, tinindo! Como que um j ornal ! (Para Dli a) Di z que o Arandir beijou
o rapaz na boca!
[ ... 1
SELMINHA - Se meu marido, D. Matilde! E na boca! Era um desconhecido,
D. Matildc!
D. MATILDE (prfida) - Desconhecido?
SELMINHA - Desconhecido!
D. MATTLDE (mclnua) - Tem ccrtc7..a?
SELMINHA - Mas D. Matilde!
D. MATILDE - Claro que ! Evidente ! Acredito na senhora, nem se discute.
Mas interessante, D. Sei minha. Sabe que ... Pela fotografi a do j ornal , a fi sionomia
do rapaz no me parece estranha. (Bruscamente c com vivacidade) O morto
no um que veio aqui , uma vez?
SELMJNHA - Na minha casa?
P EJRCE E O BEIJO NO AsFALTO
D. MATILDE- Na sua casa! Aqui!
SELMINHA (fremente) - A senhora est me chamando de mentirosa, D.
Mati lde?
D. MATILDE - Deus me livre! A senhora no entendeu. Eu no ponho em
dvida. Absolutamente. (Repete) Em absoluto! No ponho. Mas h uma parte
no jornal. A senhora leu tudo?
[ ... ]
D. MATlLDE - Essa parte cu acho que a senhora no leu.
1 ... ]
D. MATILDE (implacvel, nftida, incisiva) - O jornal diz: (Ergue a voz) "No
foi o primeiro beijo! (Triunfante) Nem foi a primeira vez!" (nfases minhas).
51
Este dilogo bem significativo do que foi dito acima: primeiro, o espanto de
Sei minha ao verificar a possibilidade de um jornal publicar uma inverdade; segundo,
a insistncia de D. Matildc em afirmar que " no era ela", no fundo, quem estava
desmentindo as afirmaes de Sei minha e, conseqentemente, caracterizando-a como
mentirosa. Era o jornal, diante do que as afirmaes de Sei minha se tornam extrema-
mente frgeis: se " no era a primeira vez", como sustentar que o atropelado era um
desconhecido? Ao mesmo tempo, surge um ponto importante: D. Mati ldc, a partir da
notfcia, passa a reorganizar o passado, de modo a nele encontrar indfcios que referen-
dem a defini o atual c pblica da situao presente. O mesmo ocorre no escritrio
onde Arandir trabalha: D. Judith, uma datilgrafa, confirma, em sua presena, que
um rapaz "parecido" com o da fotografia o havia procurado "semana passada". "-O
senhor no estava!", completa, tornando ainda mais sem sentido as negativas de
Arandir, j desautori zado pelo jornal. A notfcia publicada, portanto, no fornece um
parmetro de interpretao apenas para o que acontecera na Praa da Bandeira, mas
para toda a vida e comportamento "pblicos" de Arandir, no passado, presente e
futuro. Como aponta Smith ( 1978: 33), quando um evento se transforma em fato, por
meio de um relato autorizado, imediatamente coloca disposio dos atores um con-
junto preliminar de instrues que fornece a orientao correta das leituras de even-
tos futuros ou passados, uti lizados, por sua vez, para reforar o prprio relato.
tambm essa circularidade que - poder-se-ia sugerir, voltando a Crapanzano - a ide-
ologia de uma linguagem referencial mascara c esconde.
No ser ento por acaso que, no decorrer das cenas desse ato, Sei minha passa a
se referir verso do jornal no como uma verso, mas como o prprio fato:
"SELMINHA - Ento, o senhor vai me dizer. O senhor vai me di zer o que se
passou. Quero saber! Quero!
APRGIO (persuasivo) - Meu anjo, ontem cu no te contei ?
SELMINHA - O senhor no me contou nada!
APRGIO (doce mas firme)- Contei .
52 0 DITO E O FEITO
SELMINHA - Tenho mai s confiana em Arandir que em mim mesma. Se ti -
vesse acontecido o que o jornal diz. Um momento, papai . (Com mai s violn-
cia) Arandir me contaria. Arandir no me esconde nada. Arandir me coma
tudo!" (nfases minhas).
Nesse momento, Selminha, ao caracterizar como nada o que seu pai havia rela-
tado c ao desconsiderar o que Arandir lhe contara, realmente confere notcia do
jornal o estatuto de fato. Paradoxalmente, tambm vem da a sua desconfiana diante
da notcia: "- Mentira! ", afirma repetidamente ao longo das cenas. a sua nica
sada: o Terceiro, como mostra Crapanzano, o fundamento ltimo nas negociaes
entre os sujeitos. Uma vez institucionalizada uma verso, no h mai s como caracteri z-
la enquanto tal. No h mai s como negociar o significado das representaes, o signi-
ficado do gesto de Arandir. Ou os fatos so desmentidos, ou aceita-se a representao
que deles faz o Terceiro. E no toa que, a partir de ento, pequenos detalhes da
cena do beijo ganham uma importncia que antes no possuam: quem tomou a ini-
ciativa do beijo, Arandir ou o atropelado? Este ainda agonizava ou j estava morto
quando recebeu o beijo de Arandir? Teria ou no sido na boca? Aprgio, por exemplo,
afirma para Selminha:
"- O sujeito caiu de bruos, rente ao meio-fio. De bruos. Teu marido foi l e
virou o rapaz. E deu o beijo. Na boca."
E este nvel de detalhes, perceba-se, o nico a permitir ainda alguma negocia-
o, vi sto que o gesto em si - o beijo - impossvel de ser negado. Mesmo assim,
necessrio ressalvar, o que est em jogo todo o fato (pois no h meio-termo), como
sugere a seguinte fal a de Arandir, dirigida a Selminha:
"- Eu te contei. Propriamente, eu no. Quando cu me abaixei. O rapaz me
pediu um beijo. Um beijo. Quase sem voz. E passou a mo por trs da minha
cabea, assim. E puxou. E, 11a agonia, ele me beijou" (nfases minhas).
Sclminha, a negar ainda os "fatos", comea, todavia, a ceder autoridade do
Terceiro, caracterizando o relato anterior de Arandir, este sim, apenas como uma
verso - que, a partir desse momento, comea a perder sentido:
"- E por que que voc, ontem! 1 ... 1 - No foi assim que voc me contou.
Discuti com meu pai. Jurei que no me escondia nada".
A atitude resoluta torna-se assim reticente, perceptvel por sua recusa em aceitar
o beijo de Arandir e afirmar, literalmente, que o ama.
"- Voc no capaz de repetir que me ama?"
P EJRCE E O B EIJO NO A sFALTO
53
No 3 e ltimo ato da pea, a caracteri zao de Arandir como homossexual con-
solida-se, sendo, pela primeira vez, ao longo de todo o texto, nitidamente expressa
em termos referenciais. A "realidade" dessa caracterizao ganha contornos definiti -
vos quando aceita por Dlia e Selminha, nicos personagens (com exceo de Arandir)
que ainda resisti am " verdade dos fatos". Tanto uma quanto outra, entretanto, ini-
ciam a ao defendendo veementemente Arandir, como que retomando a atitude de-
monstrada no I o ato.
Na primeira cena, Selminha interrogada por Cunha e Amado (tendo sido
foradamente levada presena dos dois). Mais uma vez, o interrogatrio policial
fornece um exemplo claro de processo tipificador, em que as relaes de poder so
demarcadas: Cunha, inicialmente, desautoriza a violncia do policial Aruba (que ha-
via conduzido Sei minha), caracteri zando-o como um mau poli cial. A esta tipificao,
Amado, com sua autoridade de reprter que j "meteu o pau na polcia", contrape a
imagem de Cunha: "- Um dos raros, entende? - Humano." Simultaneamente,
Selminha caracteri zada como uma "menina"- a quem se atribui ingenuidade c de
quem se espera docilidadc. O ponto crucial da cena ocorre quando Amado e Cunha
apresentam, como "prova", o depoimento forjado da viva do atropelado
4
, que alir-
ma ter visto, em sua prpria casa, Arandir e o marido juntos no banho. Novamente,
portanto, a homossexualidade de Arandir , no alirmada, mas indicada por meio de
um comportamento:
"AMADO (feroz e cxultante) - D. Sclminha, o banho um detalhe mas que
basta! Pra mim basta! O resto a senhora pode deduzir.
SELMINHA (lenta e estupefata)- O senhor quer dizer que meu marido!. ..
[ ... 1
AMADO (ofegante)- Ou a senhora prefere que cu fale portugus claro?
SELMINHA (que se crispa para uma crise de histeria) - Prcli ro. Fale, sim!
Fale portugus claro!"
Ora, a partir do depoi mento da viva, c de sua traduo por Amado ("- A
polcia sabe que havia. Havia entre seu marido e a vtima uma relao ntima. {. . .]
Um tipo de intimidade que no pode existir entre homens"), que a caracteri zao de
Arandir explicitada: "Est na cara que seu marido no homem", diz Cunha.
Nesta explicitao, perde-se qualquer dimenso de "construti vidade" que a caracteri-
zao possua: ela apresentada como j pronta, posto que referenciado- no s a
viva "viu", testemunhou; est na cara, est dado para quem mais qui ser ver que
Arandir no homem. Alirm- lo simplesmente descrever aquilo que . Sclminha
ainda tenta utilizar uma contraprova: est grvida, indcio (ou ndice) objeti vo e ine-
gvel de que seu marido homem. "Homem!", uma vez que [com Arandir ] "todo o
dia! Todo o dia!"
54
0 DITO E O FEITO
Entretanto, de que prova a gravidez de Sclminha e a "assiduidade" sexual de
Arandir? De nada, j que toda prova requer, para ser considerada como tal, um pres-
suposto interpretati vo, anteri or aos dados: ele quem define as provas que iro vali -
dar, circul armente, o relato - no caso, a caracteri zao de Arandir. Mas Cunha e
Amado, certamente, no parti lham do pressuposto de que parte Selminha. E, se a
gravidez um ndice, como tal difi cilmente rcfutvcl (j que mantm conexo real
com seu objeto), toma-se simples, no entanto, descaracteriz-lo como ndice de algo
no-especfi co, como o a "virilidade" de Arandir para Amado c Cunha:
"- Voc nunca ouviu falar em gilete
5
? Em barca da cantareira?"
Atravs destas categorias, no s Arandir defi niti vamente caracterizado, como
tambm so solucionadas quaisquer contradies que, pragmaticamente, pudessem
perturbar tal caracterizao. Uma caracterizao expressa, agora de modo positivo,
em termos puramente referenciais: a descrio da sexualidade de Arandir. Tambm
Aprgio, ao dizer energicamente Dli a que Arandir e o morto eram "Amantes"!
Amantes!", est apenas descrevendo a relao que supostamente existi a entre os dois.
Consolidada essa tipificao, sua "realidade" passa a constituir uma base firme para
novas caracterizaes: atravs do j ornal, Amado denuncia Arandir como criminoso -
este, amante do atropelado, teria, em virtude de um desentendimento amoroso, em-
purrado o ltimo na frente do lotao. O beijo, assi m, nada mais significaria que uma
demonstrao de arrependimento.
Sclminha, sente-se obri gada a aceitar os " fatos". Obri gada
6
o termo exato:
"- Dlia, escuta, claro que eu ... Mas todo o mundo! Todo o mundo acha, tem
certeza. Certeza! Que os dois eram amantes!"
Dir-se-ia que ela se curva autoridade do Terceiro, aparente sob a forma da
unanimidade. Uma unanimidade reafirmada posteriormente por Aprgio que, na lti-
ma cena, diz a Arandir:
"- Eu no acredito em voc. Ningum acredita. Os jornais, as rdi os! No h
urna pessoa, uma nica, em toda a cidade. Ningum!"
E nem poderia haver: Arandir, definiti vamente caracterizado como desviante -
homossexual e crimi noso -, perde a autoridade necessria sustentao de qualquer
relato. Os demais personagens passam a ter o privi lgio de apresentar suas verses
sem sequer "ouvi-lo"; ou melhor, sem obrigatori amente tomar aquilo que ele tenha
dito como algo pertinente, seno como sintoma (Smith 1978). o que Sei minha faz,
ao reorgani zar acontecimentos passados de sua vida com Arandir, escutando sua "pr-
pria voz interior" (o Terceiro, aqui configurado em "conscincia"):
P E1RCE E O BEuo No AsFALTo
"- 1 ... ] Alis, Arandir tem certas coisas. CerLas delicadezas! E outra que eu
nunca disse a ningum. No disse por vergonha. 1 ... ] Mas voc sabe que a
primei ra mulher que Arandir conheceu fui cu. Acho isso to! Casou-se to
virgem como eu, Dlia!"
55
De ta l forma, ali s, esse Terceiro absoluliza representaes, signi ficados c acon-
tecimentos que, por fim, o prprio Arandir chega a duvidar de si mesmo. Na tenLativa
de tambm se ancorar em " fatos" - externos c coercitivos-, utiliza o mesmo recurso
que Sei mi nha- a reorgani zao do passado - , procura de algum detalhe que justifi -
casse, minimamente, sua situao:
"- Diz l que cu empurrei o rapaz. [ ... ] Ser que esbarrei no rapaz? Sem querer,
claro."
Arandir questiona-se no s sobre uma possvel participao no atropelamento.
Duvida, tambm, do prprio significado que, um dia, o beijo teve (ou poderia ter)
para si:
"- 1 ... 1 Querem que cu duvide de mim mesmo! Querem que eu duvide de um
beijo que ... r ... ] Perguntei a mim mesmo, a mim, mil vezes:- Se entrasse aqui,
agora, um homem. Um homem ... E. No! Nunca! Eu no beijaria na boca um
homem que ... Eu no beijaria na boca um homem que no estivesse morrendo!
Morrendo aos meus ps! A meus ps! Beijei porque! Algum morria! 'Eles'
no percebem que algum morria!"
E, embora volte a afirmar sua crena em si mesmo, no h como negar que o
desenl ace da pea demonstra, mais uma vez, quo persuasiva pode ser uma defini o
de situao devidamente autorizada, apoiada na funo referencial da linguagem:
Aprgio, cujo amor por Arandir s revelado no fi nal, disfara-se de "pai ul trajado"
e "defensor da honra" para, impunemente ( "- [ ... f Absol vio seria a nwior barbada",
lhe havia dito Amado), satisfazer um antigo desej o- di zer o nome de Arandir, ainda
que sobre o seu cadver.
O Beijo no Asfalto, atravs de seu mundo ficcional c hipersignificativo, demons-
tra ao lei tor o modo pelo qual, continuamente, " fatos" c "pessoas" so construdos e
reconstrudos por meio da linguagem, e como esse processo , Lambm, continua-
mente, mascarado - devedor de uma ideologia que cnfati za e essencializa a funo
referencial da linguagem. Na pea, a caracterizao de Arandir, construda atravs do
dilogo constante c de (re)dcfini es de si tuaes, torna-se, ao fi nal, a simples des-
crio de um fato inquesti onvel. Tal transformao, se apoiada em "dados" cnica e
intencionalmente forjados, encontra-se ausente da conscincia dos personagens, des-
velando-se na justa medida em que voltamos a ateno para outros nveis da li ngua-
56
0 DITO E O FEITO
gem: aqueles dos quais nos fala Crapanzano ao tratar a caracterizao do self como
uma nui da e permanente transao de significados entre sujeitos. A pea ilustra ma-
gistralmente esse processo, e os trs atos, tomados seqencialmente, traduzem e en-
cerram o prprio movimento de que fala esse autor ( 1988:4-7): aspectos pragmticos
das transaes verbais como suporte de tipificaes ( I o ato); utilizao de exemplos
"comportamcntais" a secundarem essas caractcri7..aes (2 alo); sumarizao, atra-
vs de categorias de teor "caracteriolgico", desses aspectos c comportamentos, quando
ento do lugar pura funo referencial (3 alo).
APNDICE
O Beijo no Asfalto: tragdia carioca em trs atos
PERSONAGENS:
Uma prosti tuta
O investigador Aruba
O reprter Amado Ribeiro
Um fotgrafo
O delegado Cunha
Aprfgio
Sei minha
Dlia
Comi ssrio Barros
Arandir
O. Mati ldc
Werneck
Pimentel
D. Judith
A viva
O vizinho
1 ATO
I o quadro - Delegacia - Sala do delegado Cunha.
2 quadro - Casa de Sei minha, no Graja.
3 quadro - Delegacia - Sala do comi ssrio Barros.
4 quadro- Casa de Sei minha - mesmo cenri o do 2 quadro.
2 ATO
1 quadro - Casa de Sei minha, no Graja - mesmo cenrio do 1 ato (quadros 2 e 4).
2 quadro - Escritri o da firma onde Arandir trabalha.
P EIRCE E o B EIJO NO ASFALTO 57
3 quadro - Casa de Selminha - mesmo cenrio do 1 ato (quadros 2 e 4), 2 ato
(quadro I
0
).
4 quadro- Casa de Sei minha - quarto de dormir.
3 ATO
I o quadro - Casa na Boca do Mato.
2 quadro- Casa de Sclminha - mesmo cenrio do 1 ato (quadros 2 e 4), 2 ato
(quadros 1 c 3).
3 quadro- Quarto do Reprter Amado Ribeiro, de ltima Hora.
4 quadro - Casa de Sclminha- mesmo cenrio do 1 ato (quadros 2 c 4), 2 ato
(quadros I o c 3), 3 ato (quadro 2).
5 quadro - Quarto do hotel.
Notas
1
De acordo com Rosenfcld ( 1976: 45), " [ ... 1 a grande obra de arte literria (ficcional) o l ugar
em que nos defrontamos com seres humanos de contornos definidos e definiti vos, em ampla
medida transparentes, vi vendo situaes exemplares de um modo exemplar (exemplar tam-
bm no sentido negativo). [ ... I So momentos supremos, sua maneira perfeitos, que a vida
emprica, no seu nuir cinzento c cotidiano, geralmente no apresenta de um modo to ntido e
coerente, nem de forma to transparente e seleti va que possamos perceber as motivaes mais
ntimas, os connitos e cri ses mai s recnditos na sua concatenao e desenvolvimento". Ant-
nio Cndi do ( 1976: 65) condu1. a rencxcs semelhantes em " A Personagem do Romance", ao
perceber na obra literri a a capacidade de comunicar " um conhecimento mai s completo dos
seres", devido lgica, simplificao c coerncia de que os seres fictcios, concreti zados em
personagens, so dotados.
2
A relao de todos os personagens c o sumrio dos atos que compem a pea se encontram
no final do texto. Sua leitura facilitar o acompanhamento da anlise que se segue.
3
Para as defini es de ndi ce, cone c smbolo, ver Pcirce ( 1990:63-76).
4
Amado, em cena do 2 ato, coage a viva, atravs de ameaas, a reconhecer a foto de Arandir
publicada no j ornal e a prestar as declaraes que se seguem. (Cena do velrio.)
5
Gilete: " M. Bras., Chulo. Indivduo sexualmente ativo e passivo". Dicion rio Aurlio.
6
Este "sentir-se obri gada", por sua vez, fornece ao relato uma fonte a mai s de autoridade.
Algum que se v, por "fora das ci rcunstncias", obrigada a aceitar coi sas tidas como " desa-
gradvei s" e de " difci l aceitao", acaba por conferir a essas "coi sas" uma aura de verdade a
partir do momento em que justifica c define desse modo sua aceitao dos f atos - o que faz
Sclminha em seu dilogo com Dlia (ver Smith 1978).
C APTULO 3
Jakobson a bordo da
sonda espacial Voyager
Jayme Moraes Aranha Filho
~ ostumo deixar o meu computador pessoal permanentemente li gado. Sempre que
~ s t ocioso, entra em ao um pequeno programa do tipo "protetor de tela", o
qual se dedica a analisar uma pequena parcela dos dados coletados regularmente pelo
radiotelescpio de Arecibo, procurando detectar padres de sinais que possam repre-
sentar a emi sso de uma civilizao extraterrestre. Quando termina sua tarefa, o pro-
grama se conccta automaticamente internet, entrega seus resultados e recebe um
novo bloco de dados brutos a analisar.
No se trata de uma mera curiosidade, mais um programinha de fantasia para
enfeitar o dcsktop. Ele executa efetivamente parte do processamento cientfico do
rastreamento do cu, coordenado por cientistas respeitados, c a sede do projeto, na
Uni versidade da Califrni a, depende da oferta de "tempo de processamento volunt-
ri o" dos seus associados para poder analisar a enorme quantidade de dados gerada
todos os dias pelo maior radiotelcscpi o do mundo.
Qualquer um que possua um micro c acesso internet pode cadastrar-se no pro-
jeto, c passar a participar coleti vamente do esforo de busca pelo sinal que pode
provar se existem ETs. A rede j possui quase 2,5 milhes de membros cadastrados,
metade deles norte-americanos, 3 1 mil somente no Brasil (em novembro de 2000).
O projeto SETJ @HOME uma das muitas iniciati vas cicntfficas recentes de
investigar a possibilidade de existncia de vida inteli gente em outros planetas
1
Em
todas as suas formulaes, a questo da possibilidade de estabelecer comunicao
com outras espcies fundamental. Este ensaio analisa como concebida esta comu-
nicao, tomando algumas de suas iniciati vas paradigmticas, as tentati vas de estabe-
lecer contato atravs da procura por ou do envio de uma mensagem interestelar.
Transmito logo existo
A noo de que outros planetas talvez sejam habitados, formulada de diferentes
maneiras, um tema recorrente na histria das concepes cosmolgicas. Ai nda que
no seja nova, o modo como se coloca hoje a questo no data de mais de meio
60 0 DITO E O FEITO
sculo. Em vez de recorrer especulao ontolgica c a argumentos dogmticos c
teolgicos, como noutras pocas - p. ex., a cosmogonia newtoniana de Kant ( 1984) -,
atualmente fala-se em constatar experimentalmente se os tai s seres de fato existem, e
toda a di scusso versa sobre mtodos para, caso existam, estabelecer comunicao
efeti va com eles. Hoje em dia, para se pensar o extraterrestre, deve-se busc-lo na
interseo onde a busca por evidncia emprica encontra o vnculo de comunicao.
Filsofos e historiadores da cincia
2
j estabeleceram que discusses sobre a
existncia de seres, em algum nvel comparveis aos humanos, vivendo em outros
planetas, datam pelo menos do heleni smo, mas tornaram-se um tema quase obri gat-
rio dos modelos cosmolgicos desde a revoluo copernicana: o dcscentramcnto do
mundo (ou melhor, o "desterramcnto" do centro do universo) c o rebaixamento do
status da Terra a mero planeta equivalente a tantos outros, obri garam a que se consi-
derasse a possibilidade de haver "outras humanidades" em outros globos.
A partir de meados do sculo XJX, o processo de laicizao da temtica acele-
rou-se. Questes teolgicas c dogmticas adquiriram tons materi ali stas. Com o
darwinismo, saber qual o lugar do homem na criao se transfi gurou em locali zar a
sua posio na corrida evolutiva - ou, mais rcccntcmcntc, se a "evoluo terrestre"
a norma ou uma singular exceo no Universo. Os aliengenas deixaram de ser ima-
ginados entre anjos c demnios, c tornaram-se espcies vivas de uma biologia exti -
ca, surgida independentemente.
Modcrnamentc, controvrsias abstratas sobre a existncia de "habitantes de ou-
tros planetas", argumentos especulati vos em prol da sua viabilidade ou impossibili -
dade, tm sido reformulados em termos das possibilidades de comunicao com as
supostas civilizaes extraterrestres. J na segunda metade do sculo passado, em
meio polmica sobre os "canai s marcianos", alguns eminentes cientistas propuse-
ram mtodos de produzi r sinais que pudessem ser avistados por algum situado em
Marte: uma floresta qui lomtrica cortada no formato de um tri ngulo retngulo (Gauss);
a construo de um canal no Saara na forma de um cfrculo ou quadrado, a ser abasteci-
do com querosene e incendiado (Littrow); espelhos parablicos usados como farol (Cros);
uso de todas as luzes da cidade de Londres, orquestrando blackouls intermitentes para
cifrar mensagens (Haweis). No faltaram, tampouco, os que chegaram a observar sinais
provindos de Marte: Mercicr ( 1899) afirma ter visto luzes noturnas no planeta; Tesla
( 190 I) c Marconi ( 1920) alegam ter captado sinais de rdio extratcrrcstres
3
.
A grande guinada, consoli dada com a publicao do artigo ori ginal de doi s
astrofsicos na Nature (Cocconi c Morrison 1959)
4
, ocorre quando a prpria questo
da existncia se torna passvel de ser decidida por um experimento: atrav de meti-
culosa observao emprica radioastronmica. Segundo a verso dominante, tera-
mos alcanado patamar tecnolgico capaz de ouvir os barulhos dos vizinhos. Pode-
ramos, talvez, at mesmo entrar na conversa, reunirmo-nos a uma imaginada "comu-
nidade galclica".
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER
61
Invoca-se uma espcie de princpio cartesiano s avessas para aplacar a dvida
ontolgica aliengena: se eles emitem, logo existem. Existem e pensam e falam e
manipulam. Um fenmeno teoricamente plausvel, mas baseado em suposies mui-
to incertas, torna-se testvel quando formulado como um problema de trfego de
mensagem, pois o aspecto ftico de toda comunicao serve como teste de existn-
cia: o fato de estarem no canal, de conseguirmos detectar suas emisses, implica
obviamente que haja algum l transmitindo.
Por outro lado, as clssicas di scusses tericas sobre a possibilidade de existn-
cia tenderam a assumir a forma de um mtodo de calcular sua probabilidade, uma
estimativa do nmero de ETis existentes. A frmula mais consagrada para este clcu-
lo foi proposta por Drakc no incio dos anos 60, e ficou conhecida como "equao de
Green Bank"
5
. , basicamente, a multiplicao de uma srie de probabilidades par-
ciai s, cada uma das quais avalia as chances do desenvolvimento de uma das condi-
es que concorreriam para o surgimento de uma civilizao como a nossa. Como j
observamos em outra ocasio (Aranha F. 1990), tal frmula condensa toda uma
cosmologia evolucionista, descrevendo a ordem do mundo, estabelecendo uma hie-
rarquia entre seres c fenmenos, saberes c valores. essa cosmologia que permeia
todo o investimento ETI.
bom no esquecermos que nesse perodo (anos 50/60) que se inicia a explo-
rao espacial (satlites de comuni cao, corrida Lua), a fico cientfica torna-se
definitivamente um gnero aceito pelo grande pblico, e, em especial, surgem os
OVNls (objetos voadores no-identificados). Com predominncia nos EUA, mas um
tanto por toda parte c causando sensao na mdia, proliferam testemunhos da apari-
o de di scos voadores, relatos semi -reli giosos de "contatados" que afirmam ter esta-
do face a face com aliengenas, viajado em suas espaonaves, at mesmo se envolvi-
do em imbrglios sexuai s com os estranhos; multiplicam-se associaes reunindo
pesquisadores amadores para a investigao das ocorrncias do fenmeno que as
"autoridades" c "militares", supostamente, tentariam ocultar. Convertido nova crena
do terceiro milni o, todo cidado ocidental passa a olhar o cu com novos olhos, pois
a qualquer momento poderia ser ele tambm mais uma testemunha da chegada dos
seres "do espao sideral". Como dizia o slogan: "Eles j esto entre ns."
A matriz do campo ETI
Baseados na agenda de Cocconi c Morri son, os projetos cientficos de vasculha-
mento radioastronmico do cu em busca de um sinal inteligente (SETI - Searchfor
ExtraTerrestrial /ntelligence) sucedem-se desde 1960
6
. A prpria NASA chegou,
durante um perodo, a montar um programa com pretenses exaustividade, iniciado
em 1992 (significativamente no bojo das comemoraes dos quinhentos anos de
Colombo), mas interrompido poucos anos depois por escassez de verbas. No momen-
62 0 DITO E O FEITO
to, h vrios proj etos em curso, cobrindo diferentes regies e janelas do espao
pesquisvel. Entre eles, o mais visvel - devido sua capil arizao em redes de c-
modo engaj amento voluntri o- o projeto SETI@HOME antes mencionado.
Por outro lado, em oportunidades especiais, e de modo marcadameme ritual ,
alguns dos mesmos cientistas envolvidos com a SETI, c patrocinados pela mesma
NASA, elaboraram mensagens a serem enviadas ao espao, destinadas a alguma even-
tual civi lizao extraterrestre que estivesse atenta para receb-las (sondas Pioneer-
1972/73, rcinaugurao do radiotelescpio de Arecibo - 1974, sondas Voyager - 1977).
Podemos reunir c ordenar essas vrias concepes c iniciati vas prticas de tentar
estabelecer contato com os extraterrestres em um nico quadro, a nossa "matri z de
comunicao extraterrestre":
RECEBER ENVIAR
RADIOASTRONOMIA St.,.l (1959- ) Arccibo (1974)
ASTRONUTICA UFO ( 1947-) Pionccr ( 1972), Voyager ( 1977)
As colunas di scriminam a posio terrestre no circuito de comunicao com os
extraterrestres: ou cabe-nos receber, tentar captar uma mensagem (SETI), quem sabe
at flagrar uma tmida delegao enviada pela civili zao extraterrestre com o fito de
contatar-nos (UFO); ou partimos para a iniciativa de enviar-lhes uma mensagem
(Arecibo
7
), tal vez at uma sonda de pesquisa (Pioneer, Voyagcr), destinada a encontr-
los e convid-los ao contato. Cada coluna define a quem cabe a autoria da mensagem,
a iniciati va primeira da comunicao c a posio no circuito de troca: tomadores ou
doadores.
J as linhas discriminam as tecnologias envol vidas, o que no uma distino
desimportantc ou meramente tcnica, pois representa uma diferena fundamental no
modo de travar comunicao: atravs da radioastronomia, trocam-se apenas si nais
(h um mnimo de materi alidade no meio transmissor, no suporte da comunicao);
na astronutica, o prprio emi ssor (ou um seu duplo, um rob, uma mquina, uma
nave) desloca-se at o interlocutor, procura-o diretamente, como portador da mensa-
gem, um embaixador. Neste ltimo caso, a comunicao uma visita, um encontro, c
a presena fsica do emi ssrio, o seu prprio corpo, adquire funo de mensagem.
A ufologia - a crena de que deve haver espaonavcs de civilizaes extra-
terrestres visitando nosso pl aneta - teve uma curta e polmica traj etria acadmica c
foi praticamente excluda do meio cientfico no final dos anos 60, aps vinte anos de
programas oficiais de pesquisa inconclusivos. Ela sobrevive sustentada por grupos
de pesquisadores amadores c associaes paraacadmicas. Por outro lado, outras ini-
ciativas alcanaram maior prestgio, tanto acadmico corno de pblico em geral, no
final dos anos 70, e desde ento tenderam a se consolidar como ramo legtimo de
pesquisa cientfica, e aos poucos vm se institucionalizando e profi ssionalizando.
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 63
SETI e ufologia tenderam a se afastar, seguindo a linha que separa a legitimida-
de acadmica das alegaes das paracincias. u rologistas criticaram as mensagens
enviadas pela NASA para possveis ETis nas sondas espaciais, acusando a iniciati va
de cnica e hi pcrita, poi s ela se recusava a admitir a evidncia de que os extraterres-
tres j se encontram em nosso planeta. Por outro lado, os advogados da SETI , na sua
campanha para obter apoio ofi cial para os seus programas de pesquisa, no se cansam
de vir a pblico elucidar seus propsitos estritamente cientficos, fri sando no ter
nenhuma relao com qualquer especulao ufolgica - eventualmente acusada de
charlatanismo ou misticismo
8
.
As iniciativas experimentais SETI e as mensagens enviadas, em contraste com a
proposta ufolgica, configuram uma rede coesa: so promovidas pelos mesmos ato-
res, baseadas em uma mesma articulao de idias e argumentos, amparadas pelo
mesmo gnero de instituies. Chamarei a estas ltimas iniciati vas, excluda a ufologia,
de COMPLEXO ETI (hachurado no quadro). Ele o nosso objeto de ateno aqui .
Comunicao sem interlocutor
Aceitemos a representao "nativa" e tentemos levar a cabo uma anlise do
COMPLEXO ETl como um evento de comunicao. Logo de incio, estancamos em
um impasse: h apenas um ator em cena, o lugar do interlocutor est vazio. O circuito
no chega a fechar-se: ou doa sem esperar retomo, ou, no obstante o crescente esfor-
o, no consegue receber, nunca encontra a suposta mensagem. O outro, insistente-
mente mudo, permanece apenas postulado, imaginado. O COMPLEXO ETl sofre
dessa carncia estrutural, mas tambm define-se por ela. Ora, mas sabido que no
pode haver processo comunicativo nessas circunstncias: por defini o, ele exige a
presena e o lao de no mnimo dois interlocutores. Nas palavras de Jakobson, "Qual-
quer di scurso individual supe uma troca. No h emissor sem receptor" ( 197 1: 22)
9
.
Jakobson termina a frase jocosamente: "Exceto, claro, quando o emi ssor um
doente mental ou um bbado. " (Ao que poderamos acrescentar, agora, "ou um cien-
ti sta da NASA".) Mas detenhamo-nos na anedota, vamos lev-la a srio. O psictico
delirante e o bbado chato so dois casos em que se termina " falando sozi nho" por
distrbios da comunicao originados no emissor: um porque, em virtude de uma
disfuno do teste de realidade, alucina ouvinte aonde no h; o outro porque, com-
portando-se no limite de uma sociabi lidade expansiva, torna-se companhia desagra-
dvel, levando todo ouvinte potencial a evit-lo. So situaes em que se fala sozinho
por deficincia funcional, por alguma perturbao que prej udica o uso normal da
linguagem como meio de comunicao.
Mas h outras situaes em que a linguagem plenamente uti lizada, em que se
encena um ato de comunicao genuno c, no obstante, parece contar com apenas
um locutor. E no so necessariamente "disfunes" ou "defi cincias", a linguagem
64 0 DITO E O FEITO
no opera af desfalcada e desmerecida. Ao contrrio, ela comparece em uma situao
nobre, valorizada, reconhecidamente investida de todo o seu poder e eficcia. Referi-
mo-nos funo da linguagem no ritual
10
No diffcil constatar que em certos
procedimentos mgicos, e mais familiarmente nas oraes, o emi ssor enuncia mensa-
gens - lamentos, splicas, encantamentos, promessas - dirigidas a um destinatrio
que no se tem a menor garantia de estar presente, sequer se existe algures. claro
que o fi el est convencido da sua existncia, c somente um observador exterior, ceti-
camente encharcado em niilismo, pode dela duvidar. No entanto, o prpri o crente
nunca pode estar plenamente seguro da efi ccia do seu clamor, nunca est certo se a
sua prece foi ouvida, no tem como saber se o seu pedido ser atendido, se a sua
oferenda foi aceita, se a sua magia funcionar. Ele no tem meios de confirmar se a
mensagem que enviou alcanou o destinatrio, se atraiu-lhe a ateno, se o comoveu:
falta-lhe o feedback ftico.
de novo Jakobson ( 1960: 126) quem sugere como interpretar a f uno da lingua-
gem nos ritos de magia: "A funo mgica, encantatri a, sobretudo a converso de
uma ' terceira pessoa' ausente ou inanimada em destinatri o de uma mensagem
conativa."
11
No apenas um papel talvez restrito ou deslocado da linguagem no ritual
que est em jogo: o ato ritual na sua totalidade que parece poder ser interpretado como
um evento de comunicao, mesmo quando o destinatrio no um sujeito no mesmo
sentido que o emissor. Jakobson sugere que exatamente nessa improvvel substitui-
o - uma no-pessoa ocupando o lugar estrutural do destinatrio - que reside a condi-
o comunicativa da performance ritual mgica c a raiz da sua eficcia.
Retornemos ao COMPLEXO ETI. Aqui , a peculi aridade que no h ainda
comunicao propriamente dita. Ideali za-se uma espcie de mito de primeiro contato
entre civi lizaes absolutamente estranhas. O parceiro no est presente, mas acredi-
ta-se que exista. Mais precisamente: baseando-se em concepes cosmognicas, esti-
ma-se o seu nmero, calcula-se a sua probabilidade, a freqncia da sua distribuio.
Nada mgico ou sobrenatural, no considerado um ser "do outro mundo", que vive-
ria interferindo no curso do nosso por piedade, capricho ou malvadeza; nem deus
nem demnio, mas apenas um ser equivalente, ori ginado noutro lugar, um vizinho
galctico absolutamente sem "laos de sangue", e que igualmente nos ignora. Um
afim ou inimigo em potencial.
Na medida em que, por defini o, o suposto parceiro no compartilha de ne-
nhum cdigo prvio comum, encena-se tambm uma espcie de "mito do incio da
linguagem", da formao dos primeiros balbucios entre falantes a partir do silncio
pregresso. O arquivo etnogrfi co coleciona a descrio de inmeras cosmogonias
que tratam da origem da raa humana, desde um mundo primevo, comparti lhado em
igualdade por diversos seres falantes, e que em um momento herico se rompe, sepa-
rando homens, deuses, animais, com a irremedivel perda da li nguagem utpica co-
mum. In versamente a esses mitos da babeli zao ou "da perda do contato" original de
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 65
sociedades tradicionais, a problemtica ETI representa um mito da virtual inaugura-
o de contato- da recente espcie humana com outra especular, ai nda inteiramente
desconhecida, mas prevista, plausvel, interpelada, buscada.
A carncia estrutural do COMPLEXO ETI, o interlocutor ausente, que inicial-
mente parecia ser um impedimento intransponvel, descartando qualquer abordagem
do fenmeno como evento de comunicao, acaba provando-se um caso pri vilegiado
de como a comunicao pode servir de modelo para compreender crenas e atos hu-
manos- mesmo os mais caracteristicamente cientfi cos. aqui que a anlise formal
que Jakobson props do ato de comunicao em geral pode ser til (cf., esp., Jakobson
1960). Distinguindo os vrios fatores que concorrem simul taneamente numa situao
comunicativa, e a sua arti cul ao hierrquica, permite-nos localizar precisamente
a assi metria, e determinar como as funes da linguagem se articul am para supri r a
carncia, de que maneira elas se compem de modo a fazer dessa carncia a mola
propulsora de toda uma agenda cientfica, mas tambm mitolgica e ritual.
As seis orientaes do ato de comunicao
Jakobson daqueles que nunca se conformaram com certa tradio da fil osofi a
e da psicologia de considerar que a nica funo prpria da linguagem a represen-
tao ou referncia - descrever realidades. Afastando-se tambm de um certo
saussureani smo ingnuo, c das dificuldades derivadas de uma dicotomia demasiado
rgida entre Langue c paro/e, empenhou-se em considerar a diversidade dos determi-
nantes lingsticos envolvidos nas circunstncias do ato de comunicao, apoiando-
se para tanto em, pelo menos, duas outras tradies scmiticas: a fi losofi a da signifi-
cao de Peircc c os aspectos qualitati vos da teoria matemtica da comunicao.
Seguindo Bhler, adotou inicialmente o modelo tri dico, no qual, alm do papel de
representao do mundo, a linguagem pode expressar a atitude moral ou psicolgica
daquele que fala, ou ai nda pode invocar diretamente o desti natrio, como um apelo
ou um imperativo. A essas trs orientaes di stintas c complementares do ato de
significar
12
, Jakobson acrescenta outras trs: a voltada manuteno do contato (fun-
o ftica, d'apres Malinowski 1930), ao estabelecimento do cdigo (funo
metalingstica), estetizao da mensagem (funo potica).
CONTEXTO referencial
MENSAGEM potica
REMETENTE emotiva - - - - - - DESTINATRI O COflativa
CONTATO ftica
CDIGO metalingfstica
Fatores e funes constitutivos de todo processo de comunicao, segundo
Jakobson ( 1960)13.
66 0 DITO E O FEITO
Nenhum dos seis fatores pode faltar em qualquer ato de comunicao. Do mes-
mo modo, as seis funes no so mutuamente excludentes, ao contrrio, so com-
plementares, e devem estar sempre presentes. O que vari a, caracterizando os di versos
usos da linguagem, a relao que as seis estabelecem entre si, constituindo uma
articulao hierrquica c estratificada (Jakobson 1960: 123, 129). A combinatria
das composies funcionais permitiria elaborar uma tipologia estrutural dos modos
de comunicao - o que Jakobson parece sugerir quando classifica os gneros de
poesia clssica segundo a dominncia funcional'
4
Receber
Situando nossos atores no esquema, descobrimos que, na SETl, somos recepto-
res afoitos, e na Voyagcr, emi ssores romnticos. A assimetria do circuito - a ausncia
estrutural do parceiro de comunicao - leva-nos a esperar que, de todas as funes
opcrantcs em um circuito de comunicao, a funo f tica sej a aqui a predominante.
Se o contato ainda no foi estabelecido, tentar alcan-lo, verificar se ele pode ser
obtido, deve ser o centro de toda atividade comunicati va do momento.
Como descrito antes, a busca por emisses ETI pretende-se um experimento
cientfico, capaz de apurar se "eles" existem. Antes de "abrir" a mensagem extrater-
restre, o que pretendem apenas receb-la, meramente detectar o sinal. Da comuni-
cao, contentam-se apenas com "estabelecer o contato". Pois o que basta para se
obter prova irrefutvcl da existncia de um interl ocutor.
No que no interesse compreender o que di z a mensagem ali engena. Mas o seu
contedo como um ganho suplementar, com que se preocupar apenas depois de
obtido sucesso na busca. Alguns especiali stas em criptoanli se chegam mesmo a con-
siderar que, uma vez detectada, e por mai s enigmtica que parea primeira vista,
uma tal mensagem quase certamente findari a sendo decodi fi cada (c f. Dcavours 1987;
Minsky 1987). Argumentam que o di fcil mesmo no traduzir a linguagem estranha,
mas reconhec-la, perceber onde ela est escondida no meio de tanto ru do
15
Era de se esperar que a funo ftica fosse no apenas a dominante, mas a nica
funo do processo de comunicao efeti vamente presente. Procurar o sinal, antes
verilicar minuciosamente se h sinal, se existem "addressers out therc". E s. Afinal ,
o que poderia haver alm disso, se a comuni cao sequer comeou? Se ainda no se
confirmaram as condies mnimas necessri as para estabelec-la? Mas no o que
ocorre. Para que a prpria funo ftica possa operar, preciso fazer apelo desde o
incio a outras funes da comunicao.
Embora identifique com argcia as diferentes funes concorrentes, o modelo
de Jakobson nos d poucos subsdios para visuali zar o desenrolar de uma relao
comunicativa, a rotina do seu desdobramento no tempo, o fato de que ela costuma
seguir alguns passos relati vamente formali zados, rituali zados. Por exemplo, os mo-
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 67
dos, um tanto convencionais, de iniciar e finali zar uma conversao. No caso do
COMPLEXO ETI, encontramos uma srie de procedimentos e rituai s destinados a
iniciar a comunicao, portanto, prvios e preparatrios ao ato mesmo de comunicar.
O surpreendente que muitos dos fatores da comunicao j parecem em alguma
medida innuenciar o comportamento dos atores, antes mesmo da comunicao efeti-
va haver sido estabelecida. H uma espcie de efeito antecipado do conjunto das
funes comuni cati vas, antes da troca se dar, mas preparando-a, propiciando-a,
criando as condies adequadas para que se d.
mpeto de busca (funo conativa)
Por que procurar? De onde se ori gina a moti vao, a j ustificati va para mobi li-
zar esforo de busca to incerta? Em condies normais, cabe ao emissor utili zar
um canal que Lenha certeza atingir o destinatrio, escolher um meio garantido de
chamar-lhe a ateno, para traz-lo ao dilogo. Mas aqui , antes de ser despertado
por qualquer manifestao de algum possvel emi ssor, o receptor quem toma, por
conta prpria, a iniciati va de procurar emissores potenciais, empenha-se em "pres-
tar ateno". A virtual idade de uma mensagem ETI "a caminho" parece ter, por
antecipao, um efeito invocati vo, seno imperati vo sobre o receptor humano: que
ele urgente construa e erga ouvidos eletrnicos para o cosmos. Com algum abuso
do termo, c invertendo a ordem natural, podemos di zer que esse efeito conativo
antecipatrio e " fantasmtico" da comunicao ETI que mobi liza o esforo recep-
tor na busca pelo sinal.
Poo d'gua (funo referencial)
Em que direo procurar? A resposta bvia tem sido comear pelas estrelas mais
prximas da classe do Sol e depois estender a todo astro observvel. Pode estar em
qualquer parte. Do mesmo modo quanto faixa de freqncia de rdio a escutar:
sintonizar inicialmente nas freqncias supostamente preferenciais e depois ampliar
para todo o espectro do rdi o. Pode estar emitindo em qualquer estao do dia/
interestclar. O nmero de possibilidades to astronmico (concedam-me a redun-
dncia), e to limi tados os recursos e a capacidade tcnica para examin-las, que
preciso fazer restries na ambio de exausti vidade. Ao menos ordenar prioridades
de busca.
nesse ponto que se faz apelo a critrios explicitamente antropom6rficos
16
Por
exempl o: entre as freqncias consideradas " mais provveis", h algumas conheci-
das no meio SETI por " freqncias mgicas". A mais paradigmti ca a faixa apeli-
dada de "waterhole" (poo d'gua): o intervalo do espectro entre a freqncia de
emisso do hidrognio neutro (H) e a da hidroxila (OH-), j usto os derivados da de-
68 0 DITO E O FEITO
composio da molcul a da gua. Por coincidncia, essas freqncias se situam pr-
ximas uma da outra, e na faixa de menor rufdo no espectro de ondas curtas. uma
fai xa "tecnicamente" boa para emisso, mas tambm uma faixa semanticamente
marcada. Ela possui uma associao natural - indxica, para usar o termo peirciano -
com os elementos componentes da gua, solvente bsico de todas as formas de vida
terrestres.
Vrios envolvidos nos projetos SETI propuseram que as peculi aridades da faixa
de emisso dos componentes da gua levariam um emissor desconhecido a preferi-la,
na falta de outra melhor, como marcador de identidade na escolha do canal de trans-
misso. Determinado por coincidncias arbi trrias das constantes ffsicas, c portanto
uni versal, mas com significao especial para os seres vivos terrestres devido s
peculiaridades da sua bi oqufmica, o "waterhole" seri a uma espcie de faixa
transcendental para os seres baseados na gua.
Assim, a escolha c confi rmao do canal de transmisso (funo ftica) apia-se
na referncia indireta realidade extralingfsti ca c ao contexto do interlocutor. E
carrega tambm algo de funo potica, em virtude de uma certa paronomsia da
escolha: assim como a poesia explora interferncias entre os planos do som e o senti-
do, da materialidade fontica s significaes fonolgica c semntica, a preferncia
pela faixa do "poo d'gua" pede emprestado a uma medi ao de sentido para estabe-
lecer o suporte ffsico da comunicao
17
.
Depurao de "UROs" (metalingstica)
O ponto mais crftico, no entanto, quanto ao que procurar. Mais do que quanti -
tati vo, o problema aqui qualitati vo. Procura-se um sinal peculiar, extico, algo que
no possa ser atribufdo a uma fonte emissora natural. Toda a probl emtica SETI
converge para a questo de determinar o signo de identidade, o trao di stinti vo obje-
ti vo de todo e qualquer sinal inteligente de comuni cao.
O espectro eletromagntico astronmico est repleto de emisses. Praticamente
todo astro emite em inmeras freqncias c amplitudes. No uni verso, o comum no
o silncio, mas o rufdo. Para receber um sinal especffi co, preciso antes saber detect-
lo, i. c., di stingui -lo da babei das outras recepes. A pesqui sa SETI concebida
como um enorme garimpo, exige uma tcnica de reconhecer c separar possfveis, po-
rm raras, pepi tas mi sturadas em montanhas de cascalho. preciso possuir uma cha-
ve, um critrio incontestvel que permita discri minar qualquer emi sso " inteligente"
do mero e farto rufdo estelar. Mais uma vez preciso postular, desta fei ta em termos
radioastronmi cos, o trao di stintivo entre cultura c natureza.
Para os participantes da iniciati va SETI, tal critrio deri va da convico sobre a
peculiaridade ostensiva de qualquer sinal codificado: toda emisso "inteli gente" e
"comunicati va" deve, por defini o, estar ci frada segundo um cdigo bem definido,
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 69
capaz de portar informao referencial e passvel de decodificao. Por isso, uma
srie de consideraes sobre as condies necessrias para estabelecer um canal e um
cdigo minimamente eficiente passa a ser crucial, pois sero essas constries, e
apenas elas, que permitiro reconhecer o sinal. desse modo que, para realizar a
funo ftica, preciso recorrer finalmente metalingfstica.
Os proponentes da SETJ crem que se pode perceber o carter codificado de
uma emisso, mesmo que no se consiga depois decifr-la, mesmo desconhecendo
absolutamente o cdigo. Isto porque todo cdigo deve obedecer a algumas caracters-
ticas formai s inevitveis. Uma mensagem codificada deve possuir um formato exter-
no, uma inscrio material que permita identific-la, independente do contedo que
porte: ela ostenta a marca inocultvel que um cdigo simblico, qualquer cdigo,
necessariamente lhe imprime.
Os critrios aventados para selecionar os sinais candidatos podem ser reunidos
grosso modo em duas categorias, que chamaremos de os negativos e os positivos.
Negativos so os que definem o sinal pela sua estranheza: padres diferentes de tudo
que se conhece e que no se consegue explicar como originado de fonte natural ou
proveniente de artefatos humanos. uma categoria residual , o que sobrou de inslito
ou no-identificado do material coletado aps a eliminao de todas as demai s fontes
conhecidas. Os fenmenos discriminados dessa maneira correspondem, em Lermos
radioastronmicos, ao lugar ocupado pelos UFOs em relao aos fenmenos do espa-
o areo terrestre. Poderamos, por analogia, cham- los de " UROs", ou "ORNis",
objetos radioemissorcs no-idcnti ficados
18
H, por outro lado, critrios positivos, os que reivindicam caractersticas preci-
sas que o sinal deve possuir para que seja carreador de comunicao. Tai s critrios
derivam basicamente de postulados da teoria da informao e da engenharia de tele-
comunicaes. Necessariamente antropomrficos, j que selecionam os sinai s mai s
parecidos com os que estamos habituados a usar em telecomunicaes, mas que, no
entanto, no tenham origem em interferncia terrestre.
Para servir com alguma eficincia como canal de transmisso, um sinal deve
obedecer a uma economia rigorosa de traos difcrcnciadores: o mnimo de consumo
de energia na produo do sinal (estreita largura de banda, estreito feixe de emisso),
o mnimo de variao sobre uma norma constante, constituindo alguns poucos ele-
mentos de diferenciao, os correspondentes dos "traos distintivos didicos" de um
cdigo arbitrrio. A padronizao do sinal c a otimizao da sua capacidade de portar
informao simblica conferem-lhe o carter inconfundvel de uma ferramenta, um
instrumento desenhado especilcamentc para o exercfcio de uma funo intencional.
E a funo comunicar.
O critrio mai s amplamente adotado - o mais evidente, c o mais fci l de ser
usado - o da estreita largura de banda: um sinal concentrado em uma determinada
freqncia, com pouca variao no comprimento da onda de emisso (portanto, pou-
70 0 DITO E O FEITO
co desperdcio de energia). O anlogo, no espectro eletromagntico, ao tom puro,
fundamental , em acstica. Na verdade, todas as fontes naturais conhecidas que emi-
tem ondas eletromagnticas, fazem-no simultnea c generosamente em uma larga
faixa de freqncias, borrando copiosamente o espectro, di spersando enormes quan-
tidades de energia sem modulao.
Espreita e farol (funo expressiva)
Conjecturando sobre as motivaes do emi ssor, a SETI cogita sobre doi s tipos
de sinal que poderiam ser captados. Em primeiro lugar, fl agrar casualmente um sinal
local, usado por ETI em suas telecomunicaes intracivi lizatrias - o anlogo das
emisses de rdio, radar, televiso, enlim telecomunicaes terrestres, que j formam
uma esfera de mai s de 50 anos-luz ao redor da Terra, uma "onda de di vulgao" a
expandir-se e denunciar a nossa presena. Em segundo lugar, receber um sinal en-
viado intencionalmente para chamar a ateno c inaugurar contato com outra civili-
zao - o anlogo da mensagem enviada em 1974 pelo radiotclcscpio de A recibo. O
primeiro tipo de escuta foi apelidado "eavesdrop"; o segundo, "beacon".
Quanto ao eavesdropping, ele no exige das ETls nenhuma inteno comunica-
tiva. Na verdade, estaramos apenas observando seus rudos - como se pode igual-
mente gravar o som de pssaros ou observar chimpanzs em seu ambiente natural.
Tudo que preciso que eles sej am usurios de alguma tecnologia radioastronmica,
que estej am fazendo um pouco de "barulho" em ondas curtas. No preciso que
imaginem que h uma outra civili zao perscrutando-os. J a existncia de um sinal
do tipo farol exige que mergulhemos em suposies sobre as intenes do emissor,
suas motivaes para entrar em contato. preciso supor uma mensagem propositada-
mente dirigida a ns. Tais suposies, necessrias possibilidade do contato, fazem
apelo ao que Jakobson chamaria deftmo expressiva.
Alarmes falsos
O esforo para lidar com a distino entre sinal natural e sinal cultural, estabele-
cer o critrio decisivo capaz de separar os doi s sem ambigidades, surge em toda a
tenso do seu carter precrio c indecidvel nos casos chamados de "alarmes falsos".
So sinais captados que, em um primei ro julgamento, foram considerados fortes can-
didatos a ser o sinal to procurado: a emisso ETI. Durante um certo perodo h
euforia e disputa. Posteriormente, no entanto, concluem tratar-se de um equvoco:
um defeito no equipamento, uma interferncia terrestre, um fenmeno natural mal
interpretado, uma observao aberrante isolada que no se conseguiu reproduzir.
Tais eventos, longe de serem excees ocasionai s, so recorrentes, pois esto na
natureza mesma da proposta SETI: todo registro atpico deve ser considerado candi-
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 71
dato ao heureca, at prova em contrrio. Achados negativos parciais nada provam, e,
como basta um nico evento positivo (nunca obtido) para decidir a principal questo
- a existncia ETI - ,h uma sobrecarga de ateno c expectativa sobre cada achado
potencial
19
.
Os pesquisadores SETI dedicam o seu tempo a tentar fabri car um nico exem-
plar do fato que bastaria para provar suas suspeitas. O trabalho de fabricao segue
uma cadeia que se inicia com a coleta sistemtica de dados, varrendo regies do cu
e do espectro radioastronmico c annazenando essas leituras em arquivos di gitais;
anali sar os dados, submetendo-os a algoritmos computacionais de triagem e busca
por padres; separar as aberraes como possfveis candidatas e ento se empenhar
obsessivamente em prov-las quer como banalidades, quer como artefatos. Tal como
ocorre com as pesqui sas ufolgicas, a proliferao de casos ambfguos incvitvel
20
.
A expectativa de encontrar o fato "puro", incontestvel, que preencha todos os crit-
rios antecipados pela conjectura terica, mantm a usina de catalogao-triagem-
dcsqualilicao em movimento. Os alarmes falsos permitem testemunhar de forma
exemplar as tenses que orientam os pesqui sadores a traar a fronteira que dcliniria o
sinal ETI.
Um dos casos mais clebres deu-se em 1967: astrnomos ingleses detectaram
casualmente um sinal extremamente forte, regular c intermitente. O staff do obser-
vatrio logo desconsiderou o registro aberrante, j ulgando-o obviamente interfern-
cia de algum artefato terrestre. Mas uma j ovem astrnoma assistente levou-o a s-
rio. Passou a monitorar o sinal, estabelecendo que provinha decididamente de uma
fonte extra-solar. Um furor correu o mei o radi oastronmico. Informalmente j se
chamava o objeto de LGM (iniciais de " liulc grccn man"
21
). A descoberta no foi
publicada por quatro meses, enquanto observaes mai s minuciosas conlirmavam
o achado.
Para decepo de muitos, c alfvio de outros, o sinal no correspondeu a todos os
requisitos de uma emi sso artili cial. Era exageradamente intenso (a energia emitida
era maior que a de toda uma estrela), cobria toda a banda do espectro (no economi -
zava energia emissora, concentrando-se apenas em uma fai xa), e, pi or, mantinha-se
rigorosamente regular. No havia a menor vari ao na mecnica repetio dos rpi-
dos pulsos; como um relgio, como o ciclo inabalvel de um cristal. Posteriormente,
concluiu-se se tratar de um novo tipo de astro, previsto teoricamente mas ainda no
observado: foi o primeiro pul sar (estrela de nutron de rpida rotao) de uma li sta
hoje extensa c ainda em franco crescimento
22
.
O "caso LGM" leva-nos a propor que tanto o excesso quanto a carncia de irre-
gul aridades acabam caracteri zando emisses de fenmenos naturais: o rufdo branco
usual de estrelas, o tic-tac preciso dos pulsares; a rocha e o cristal. Procura-se a lin-
guagem articulada, mesmo a alienfgena, em algum ponto entre os dois, como uma
anomali a intermediria: sobre uma base regular, um estreito sistema de variaes
23
.
72 0 DITO E O FEITO
As seis orientaes comunicativas da SETI
Recapitulemos. Vimos como a estratgia de um experimento para verificar a
existncia de ETis se baseia na funo ftica, o sucesso em estabelecer contato, de-
tectar um sinal comunicativo produzido por ETis. Sugeri que os pretensos receptores
- os humanos - se comportam como se j sofressem, por antecipao, um efeito
conativo da mensagem, uma presso fantasmtica de presena, obedecendo a uma
espcie de apelo para capt-la, uma urgncia em procur- la. E demonstrei que o ni -
co modo de realizar a operao ftica, a tri agem dos sinais em busca do contato,
atravs do recurso funo metalingsti ca: extrair de uma renexo sobre as caracte-
rsticas necessrias ao cdigo utilizado os critrios de deteco.
Quanto s outras funes de uma comuni cao arroladas por Jakobson,
referencial, expressiva, potica, so quando muito incipientes. De certa forma, j
esto presentes no imaginrio e orientam a conduta dos responsveis pela SETI,
mas no chegam a determinar as grandes linhas em que o projeto de pesqui sa se
estrutura. Elas, no entanto, se manifestaro de forma exemplar quando alguns des-
ses mesmos atores trocarem de posio c passarem a formul ar a nossa mensagem
para ETis.
Na verdade, o que se enviou para o espao em tai s ocasies , cspecul armcntc,
j usto o que se espera captar de uma ETI. Sobre o que tratar uma mensagem das ETI,
qual o seu lema? A expectati va de que sej a o mesmo enviado na Yoyagcr: informa-
es sobre a localizao, a data, a biologia c cultura dos emissores. Qual a sua moti-
vao para emitir? O que expressam? Talvez tambm a sua "solido csmica" e a
expectativa de "continuar a evoluir". Enviariam amostras da sua arte? Msica? Fi lo-
sofi a? Talvez, se ousadas. Mas antes de tudo, c visando estabelecer uma base comum,
da sua cincia.
Enviar
As mensagens enviadas a ETi s no compartilham do carter de experimento
cientfico atribudo SETI. Mai s, sequer se pretendem capazes de cumprir a sua
misso nominal: os autores so os primeiros a reconhecer que as chances efetivas de
conseguirem alcanar o destinatrio declarado, uma ETI, so desprezveis. No por
esses critrios que devem ser avali adas.
Antes de tudo, enviar as mensagens um procedi mento assumidamentc ritual,
di rigido antes Terra que s galxias, de inteno simblica mais do que prtica. A
placa da Pioneer, o di sco da Voyager mereceram ampla divulgao na mdia mundi al,
tornando-se mais um produto em circulao no mercado cultural pop. Nos termos de
Carl Sagan, elas so "a message from and lo Earth" (Sagan 1973, caps. 3-4)
24
. Uma
especularidade completa garante que a mensagem terrestre representa a expectat iva
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VoYAGER 73
de uma mensagem a receber, aquela que se poderia captar em uma vigflia SETI. a
recproca, mas tambm uma equivalente da mensagem ETJ esperada.
Mesmo no sendo um experimento cientfico, mesmo estando fadadas a no
alcanar o seu destino, essas mensagens expressam os mesmos valores e concepes
cosmolgicas que embasam a iniciativa experimental SETl. Mas s os expressam ao
assumir a fico de estarem efetivamente enviando, como se pudessem de fato ser
recebidas, como se as sondas tivessem boas chances de alcan-los. S expressam
por estarem cifradas de modo a que "eles"- tal como se imagina que sejam- possam
decodific-las, por terem sido escritas em uma verso da "lngua uni versal". Elas so
uma espcie de demonstrao da viabilidade de uma mensagem intercstelar entre
civi lizaes estranhas.
Em vi rtude das di stncias interestelares, c o tempo requerido para trafeg-las, o
destinatrio potencial considerado praticamente fora de alcance, intangvel. Impos-
svel estabelecer um contato direto. Mesmo optando-se por enviar apenas um si nal de
rdio, velocidade da luz, no possvel realizar o modelo di algico de conversao,
com sua srie de trocas curtas c autocorretoras, " two-way communication". A nica
alternativa que resta condensar tudo o que se quer dizer em um ni co pacote, envi-
lo e esquecer. As mensagens tm o carter de doao de informao, presente cogniti vo,
um documento abandonado para arquelogos futuros, ai nda que aliengenas. Preten-
dem-se "cpsulas do tempo", amostras de uma biblioteca de Alexandri a que sobrevi-
va ao seu incndio
25
.
Em um certo sentido, se ETJs existem, de fato ou no, acaba sendo uma circuns-
tncia quase desimportantc para toda a emprei tada. As mensagens so uma oferenda
gratuita ao mundo exterior, c para cumprirem sua funo basta que "sobrevivam a ns".
um documento que deve permanecer como testemunho da passagem (e passamento)
do seu autoflii. As mensagens garantem que ns existimos, e tambm que elas (ETls)
podem existir. Uma vez enviada, cada mensagem no pode mais ser recolhida, evitada,
um ato sem volta, e est destinada a perdurar eras alm dos seus autores.
Duas sondas espaciais de pesquisa, lanadas nos anos 70, em conseqncia das
trajetrias que seguiri am para cumprir suas mi sses cientficas (colher dados dos
planetas exteriores ao sistema solar), tornaram-se os primei ros artefatos que jamais
lograram escapar pri so gravitacional do Sol. A essas sondas, e aproveitando o fato
inslito de que seguiri am, j esgotadas e inativas, arremessadas deriva no espao
intercstelar, foram acopladas mensagens, como para selar antecipadamente o luto de
defuntos civi lizatrios crrantcs
27
.
Pi oneer acoplaram uma placa com inscries de natureza predominantemente
icnica c indxica, que registravam local, data, si lhuetas de um casal de humanos em
saudao. Voyagcr fi xaram um disco com gravaes codificadas, contendo basica-
mente quatro blocos de informaes: ( I) uma seqncia com mais de cem FOTO-
GRAFIAS digitalizadas, com informaes sobre o sistema solar, a diversidade geol-
74 0 DITO E O FEITO
gica e biolgica da Terra, vrios aspectos e cenas da civilizao humana; (2) SAU-
DAES verbais em meia centena de idiomas, em que se queria ver representada a
diversidade lingstica da humanidade; (3) uma srie de SONS "brutos" caractersti-
cos do planeta, que pretendiam representar, acusticamente, uma srie evolutiva; e (4)
hora e meia com uma seleo de 27 MSICAS de vrios povos c pocas, embora os
autores no escondessem sua predileo pelos trs Bachs c dois Bcethovcns inclu-
dos. Isto sem contar um trecho com gravaes dos cantos da baleia corcunda
28
A
mensagem que acompanhou as sondas Voyagcr foi a mai s extensa e elaborada das
mensagens enviadas a ETis c, de certa forma, incorporou o contedo das anteriores.
O que essa mensagem acrescenta sonda, no que muda o seu estatuto? Afinal , a
nave, s a nave, aps cumprida a misso, esgotada a energia e o programa, j carrega
muita informao sobre a humanidade: denota a sua existncia c trai muito do seu
perfil. A localizao de origem, idade, a cincia e tecnologia que a possibilitaram,
algo das intenes dos seus fabricantes: conota o impul so de expanso, de explorao
espacial. A nave, sem mais nenhum enfeite ou recado intencional , j traz consigo, de
forma bruta e implcita, boa parte das informaes que o disco tentou cristalizar. Ele
parece assim uma redundncia tola, uma fantasia desnecessria. Seria?
O que a placa c o di sco fazem assumir a primeira pessoa, conjugar o shifter
"cu", transmutar a informao apenas inerte em mensagem dirigida, o dado inocullvel
em inteno de exposio. Eles interrompem o constrangimento c a tenso ameaa-
dores que emergem quando dois estranhos se confrontam em silnci o
29
. introduzem a
funo ftica no que antes era apenas objeto bruto. Quando alcanasse o destinatrio,
este no se apropriaria simplesmente do objeto como um paleontlogo recuperando
um fragmento fssil mudo. Aps algumas manipulaes, o objeto deveria comear a
falar, revelar seus segredos, dirigir-se ao seu descobridor c oferecer-lhe generosa-
mente as informaes que deliberadamente carregava - antes de tudo, apresentar o
seu emissor, dirigir-se diretamente ao receptor como um interlocuto.-30. As mensa-
gens transmutam o ser terrestre de mero tool-making em emissor, defaber a loquens,
c fazem do extraterrestre o seu destinatrio.
Por outro lado, a mensagem compensa uma insuficincia de informaes que o
mero artefato no teria como satisfazer de outro modo: a carcaa das sondas quase s
permitiria inferncias sobre nossa localizao c tecnologia - mas pouco ou nada ofe-
receria sobre a nossa linguagem, nossos meios de escrita, a capacidade de simbolizar
c representar. Nada sobre a biologia terrestre, sobre nossa diversidade tnica e cultu-
ral. E, acima de tudo, no dava o menor indcio de que gostvamos de msica.
Lngua universal
Antes de decidir sobre o que falar, c qual o " tom" dessa fala, era preciso atender
a uma exigncia fundamental: a mensagem da Voyager deveria ser dccodificvel por
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 75
um destinatrio absolulamente estranho - um ser falante com um desconhecimento
radical de qualquer linguagem humana, sem nenhuma base histrica (sequer biolgi-
ca!) comum. Um estrangeiro absoluto, sem intrprete ou Roseta, mas seguramente
um falante, i. e., ele Lambm capaz de linguagem. E tecnolgico, o que tambm quer
di zer, capaz de escrita, acostumado a decodificar cifras esquecidas.
Ao examinarmos esse material , percebe-se uma bifurcao fundamenlal de es-
tratgias visando cruzar a di stncia lingstica limite do destinatri o: o uso do que os
autores acreditam ser "a linguagem uni versal da cincia" e o recurso a um modo
imedi ato, supralingstico de comunicao. Embora ambas as estratgias permeiem
toda a mensagem, mantendo uma tenso nunca inteiramente resolvida, ora uma ora
outra tende a predominar segundo o trecho da mensagem considerado: na srie de
FOTOS e SONS, impera a exigncia de uma "linguagem cientffica"; na srie de
SAUDAES c MSICAS, no se espera propri amente decodificao intelectual
por parte do receptor, mas uma espcie de recepo imedi ata, intuiti va, bruta.
Comecemos considerando a " linguagem uni versal". Partem do suposto de que
alguns conhecimentos elementares necessari amente deveriam ser compartilhados por
qualquer ser "inteli gente e tecnolgico". Referem-se a conceitos bsicos de lgica,
matemtica e fsica (cincias a priori por excelncia). A cincia tende ao universal,
pois o uni verso mesmo que investi ga uno, regido por leis que valem em toda parte.
Qualquer ser inteli gente acabari a convergindo para um ncleo de achados comum
31
-
c. g., as ETis tm de conhecer a srie dos nmeros naturai s, c devem estar cientes das
peculiaridades do tomo de hidrognio por ser o mais elementar e abundante em todo
o universo.
Util izando estes elementos mnimos de signifi cao supostamente compartilha-
da, procuram represent-los atravs de smbolos no-arbitrri os, de interpreLao ine-
quvoca, por manterem relaes naturais (= uni versais) com o referente: cones e
ndi ces, fi guras e di agramas. Aos poucos, introduzem novas nolacs, construindo
paulatinamente uma linguagem convencional atravs de definies explfciLas
32
. Er-
gue- e assim, degrau a degrau, um cdigo mnimo comum com o qual trocar informa-
o referencial.
A idia constituir uma linguagem em que o arbitrrio esteja reduzido ao mni -
mo: partir de tomos de signi ficao imediata, necessria, e construir o vocabulrio
por composio, seguindo regras de sinlaxc estritamente lgicas e "auto-evidentes".
Este mtodo uma espcie de "anti criptografi a" (Dcavours 1987), pois ao invs de
ci frar uma mensagem para que ningum, desprovido da chave, consiga decodific-la,
ele tcnla, ao contrri o, tornar o cdigo o mais transparente possvel, procura entregar
de imediato a chave de decifrao a qualquer um que se depare com a linguagem. Em
um mundo sem latim, ou pidgin, comece pela matemti ca, parta da fsica l e m e n ~
3
Norteados por esses princpios, revestiram o disco com uma capa, na qual grava-
ram inscries que deveri am ensinar ao destinatrio como "tocar" o dispositivo. Da
76 0 DITO E O FEITO
mesma forma, entre as primeiras fotos codillcadas digitalmente, encontra-se um "di-
cionrio", convencionando notao para os nmeros, operaes aritmticas, as medi-
das de tamanho, peso, tempo. Com estes elementos mnimos, conseguem organizar
uma pequena enci clopdia informativa, documentando o planeta, a vida e a civiliza-
o humana, um auto-retrato genealgico do ser inteligente terrestre.
A estabilidade desse cdigo, arquitetado custa de inmeras suposies, no
nada segura. A interpretao equivocada de qualquer dos passos de construo das
convenes pode comprometer todo o julgamento posterior. H uma espcie de pre-
cariedade irredutvel do cdigo e da comunidade de entendimento, o que determina
uma srie de recursos de preveno contra a m interpretao e constrangimentos
sobre o contedo informacional da mensagem, procurando evitar ambivalncias, du-
pl os sentidos, prevenindo conflitos entre o plano icnico, indxico e o simbolizado.
Permanece sempre o risco de todo o sentido ruir, ou ainda, entenderem o contrrio do
pretendido, tomarem a saudao por provocao!
o reconhecimento da precariedade do cdi go que j ustillca a idealizao do
"retrato da civilizao humana" enviado. Para evitar mal-entendidos desastrosos, os
autores, no obstante pretenderem um retrato llel, acabam optando por estabelecer
certos "tabus" temticos: censuram imagens de violncia, destruio, misria, desi-
gualdade social. No poderi am correr o ri sco de ter a descrio de urna tragdi a,
infelizmente tpica, ser compreendida corno a manifestao da inteno de causar tal
tragdia, sabe-se l com que intuitos intirnidatrios.
Esse ri sco tender a aumentar em outras sees da mensagem, onde a funo
potica predomina. Como se sabe, com Jakobson, a ambi gidade e a dubiedade
referencial so corolrios obrigatrios da poesia
34
.
Emoo universal
Em contraste com essa exigncia de cifrar a mensagem em urna linguagem uni -
versal, para poder transmitir informaes e conhecimentos objeti vos sobre a nossa
civilizao, que orienta a seo de FOTOS e SONS do di sco da Yoyager, h outros
blocos da mensagem em que a nfase claramente outra. Nos termos de Jakobson,
em lugar de predominar os imperati vos da funo metalingstica e referencial, na
seo de SAUDAES c MSICAS as funes privi legiadas so a emotiva e a
potica.
Isto rica bem claro com as SAUDAES. Constitui a nica parte com frases
faladas, pronunciadas em mais de cinqenta idiomas, desde lnguas mortas, corno o
surneriano e o latim, at o ingls e rabe modernos. No obstante seja o nico trecho
explicitamente verbal, no se tem a menor expectativa de que as frases enunciadas
possam ser compreendidas pelo destinatrio ET. O contedo semntico, referencial,
secundrio aqui . O que vale a llgura de um conjunto composto de variaes justa-
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VoYAGER 77
postas, e no o signilicado de cada parte em si. Para a ETJ, a srie de SAUDAES
pretendeu apenas apresentar uma amostragem da diversidade lingstica humana,
que, em uma chave maior, representa a diversidade etnocultural.
No caso da MSICA, a questo mais complexa. E mais signilicati va. Para os
autores da mensagem, a MSICA compartilha algum parentesco com as cincias- as
propores matemti cas das escalas tonai s, as constries da mecnica vibratri a.
Chegam a especular, pitagoricamente, se tal parentesco no garantiri a talvez s for-
mas musicais algum grau da mesma universalidade postulada para as cincias.
Por outro lado, a MSICA permitiri a expressar o que a "linguagem cientflica"
incapaz: as emoes humanas
35
. Para os autores, esta era a principal mensagem a ser
veicul ada pelo di sco: expressar uma espcie de estado afeti vo coletivo da civilizao
emissora, particularmente o que denominam o "sentimento de solido csmica", uma
certa melancol ia pelo isolamento na natureza, o desejo de encontrar interlocutor. Por
outro lado, a mensagem deveri a afetar o destinatrio, convid-lo, incit-lo comuni-
cao, a mani festar-se, a retribuir. Em uma palavra, a mensagem deveria (co)mov-
los. E, entre estranhos absolutos, s a MSICA poderi a faz- lo.
A msica no pode compartilhar do mesmo grau de uniformidade pretendido
pela cincia, j que seu obj etivo no descrever o mundo comum observado, mas
intervir nele para expressar o mundo prpri o do autor. A sua funo mai s expres-
siva do que representativa: cada lugar, cada ser, cada cultura deve desenvolver a
sua prpri a e caracterstica MSICA. Ela pecul iar, idi ossincrtica, original. Um
dos alvos da mensagem musical da Voyager anlogo ao bloco de saudaes: pre-
tendia recolher uma amostragem representati va da nossa diversidade de estil os
musicais, denotando a riqueza c pluralidade das nossas razes culturais convivendo
harmon icamentc
36
.
Mas, ao contrrio das saudaes, cujo contedo semnti co no seria compreen-
svel para extraterrestres, no caso das MSICAS ele deveria ser. A essncia do efeito
musical no pode ser apreendida como a codi licao de uma mensagem referencial
ou expressiva, utilizando um cdigo arbitrrio c convencional, que poderia ser subs-
titudo por qualquer outro. Da mesma forma, a recepo e compreenso da mensagem
musical pelo destinatrio no implica nem exige a sua decodilicao. A MSICA,
por sua prpri a natureza, no traduzve1
37
. A signilicao musical prescinde do
processo de codilicao/decodilicao, i. c., prescinde da mediao de um cdigo
convencional comum entre emissor c receptor.
Na mensagem da Voyagcr, a MSICA representaria a vi rtualidade de uma co-
municao imediata entre " inteli gncias", de uma linguagem utpica do sentido puro.
Para os autores da mensagem, qualquer ser, de qualquer lngua me, deveria ser ca-
paz de entender a MSICA alheia. Permitindo comunicar o que se julga ser o mais
particular e intraduzvcl, a afetividade, ela instauraria imaginariamente uma comu-
nho profunda, de ordem transcendente, entre os "seres inteligentes".
78
0 DITO E O FEITO
As seis funes polarizadas por dois eixos
significativos
Recapitulando, c seguindo os tennos tomados de Jakobson: a mensagem da
Voyagcr ftica ao dirigir-se diretamente ao destinatrio desconhecido, c tentar esta-
belecer contato, por uma saudao, um aceno; metalingstica ao submeter toda a
empresa ao imperativo do cdigo uni versal, c ocupar-se explicitando-o camada a
camada; referencial ao registrar um retrato da civi li zao terrestre c sua formao;
expressiva por transmitir o sentimento de angstia com a solido e conativa ao
pretender induzir no receptor o impul so de tentar romp-la; por fim, potica ao
recorrer ao efeito esttico, ao jogo dos alofones, como forma- limite de comunicar
prescindindo de cdigo comum.
Essas funes no atuam separadamente uma das outras. Elas arti cul am-se em
tenses signifi cativas. Como sugeri , toda mensagem construda a partir de uma
antinomia fundamental, uma "hesitao" a respeito de como representar a civilizao
humana: como (ltima) etapa de uma srie evoluti va, linear, hierarqui zada e uni ver-
sal, ou como um leque contemporneo, di versificado, igualitrio c singular. O senti-
do da mcn agem, o melhor retrato da nossa civilizao, est justamente na tenso
entre as duas orientaes divergentes, que, reunidas em sua desarmonia, configuram
uma n ica cosmologia, mediadas pela composio entre as funes da comunicao.
No contexto dessa bifurcao, encerro com a sugesto de que as funes comunicati-
vas se articulam com os eixos significati vos da mensagem, reforando a tenso, o que
pode ser representado pelo seguinte quadro:
FoTos & SoNs
Ftica
Metalingstica
Referencial
lngua uni versal da cincia
cincia & tecnologia
cdigo univ ersal
Evoluo
Diacronia
Natureza
Retrato
Descries
informar (w ord)
LINGUAS & M SICAS
Conativa
Potica
Expressiva
comunicao supralingstica
tica & esttica
estilo singul ar
Di versidade
Sincroni a
Cultura
Convite
Intenes
agir (deed)
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER
79
Jakobson sempre a bordo
No caso da apurao da conjectura ETI - a possibilidade da exi stncia de outras
civilizaes tecnolgicas, desenvolvidas independentemente em outros pl anetas -,
vimos como a anlise proposta por Jakobson, distinguindo funes concorrentes na
comunicao, permite uma melhor compreenso das vrias facetas que assume a ques-
to, e mesmo as vari adas possibi l idades - assim como as limitaes- de uma aborda-
gem cicntlica do problema.
No entanto, tambm em outros cenrios do conhecimento cientlico recente ob-
serva-se a impregnao de concepes calcadas no modelo comunicacional , quando
no meramente no modelo do " processamento de informaes". Cangui l hem sugere
que uma tendncia semelhante vem se consolidando desde o sculo XIX: "Na hist-
ria da cinci a, desde o scul o XIX, as revolues so menos coperni canas que
'gutenbergui anas', pois se referem aos grafismos. Elas no concernem ao ponto a
partir do qual se v ou se mede, mas ao modo como se cifra c decifra" ( 1968: 82).
Se dermos crdito a intuies como esta de Canguilhcm, tal vez muito do que
Jakobson formulou ori ginalmente para analisar fatos c atos da linguagem humana
poder se tornar inestimvel para compreender muitos outros fatos e atos humanos,
incluindo a a prpria cinci a.
Notas
1
Sobre a rede SETI@ HOM E, ver o seu sfti o web em http://sctialhome.ssl. berkeley.edu/. Mais
informaes nos sftios de The Planetary Society (hllp://www.planctary.org/) e do S/!.71/nstitute
(http://www.scti-inst.edu/).
2
Tais como Lovcjoy ( 1964), Koyr ( 1986), Beck ( 1987), Dick ( 1982) c Crowe ( 1988). Entre
ns, temos a di ssertao de mestrado em Histria de Eduardo Barcelos ( 199 1); ver tambm
Barcelos ( 1993).
3
Para todas essas referncias, consultar Crowe ( 1988: 205 e ss.; 394 e ss.).
4
neste arti go tambm que se lana a expresso "inteligncia extraterrestre" (extraterrestrial
intelligence, ETI), que se tomar a forma cannica no meio cicntflico para designar as supos-
tas outras civilizaes, substituindo outras mais antigas, como "habitantes de outros mundos".
Sobre a origem dessa expresso, e do uso de "extraterrestre" como substantivo, ver Renard
( 1986) c Tipler (198 1).
5
Para uma apresentao da frmula original de Drake, ver Sagan c Shklovsky (s/d). A verso
mais di vulgada, uma adaptao da anterior, pode ser encontrada em Sagan ( 1983).
6
O pblico mais geral talvez s tenha tomado conhecimento dos programas SETI atravs da
recente produo hollywoodiana Contato, baseada em um romance homnimo, escrito por
Carl Sagan ( 1986).
7
Nos ltimos dois anos, outras iniciati vas de emitir mensagens por ondas de rdi o, dirigidas
a eventuais ETis, vm sendo reali zadas, no que se tornou conhecido como "SETI ati va". Ver,
80 0 DITO E O FEITO
p. ex., o sftio web de uma dessas empreitadas: hllp://www.encounter2001 .com/. Entre ns,
tenho notcia de pelo menos um grupo dedicado a este gnero de iniciati va, o GIRA (Grupo
Independente de Rdio Astrnomos), do interior de So Paulo, que promove o "Projeto
Extracom - um experimento de exodiplomacia" (ver Cavalcanti & Marques 2000).
8
As anlises de Westrum ( 1977) ajudam a compreender as prticas de produo de conheci-
mento presentes na ufologia (ver tambm referncias mencionadas na nota 20, adiante). Para
alm dos meios cientficos SETI, como tambm dos circuitos paraacadmicos c da pretenso
disciplina sistemtica (que boa parte dos grupos ufolgicos reivi ndica), o imaginrio ETI nun-
ca perdeu o seu vigor, seja na cultura popular seja na indstria cultural de fi co cientfica c
mistrio como atesta, p. ex., o recente sucesso de longa-metragcns e sries de TV como "Ar-
quivo X" c "Homens de Preto".
9
Visando melhor diferenciar os artigos, todas as referncias aos textos do Jakobson apontam
para o ano de publicao do original, porm a paginao segue a da sua edio brasileira.
lO Como observa Tambiah: "No ritual , a linguagem parece ser usada de maneiras que violam a
funo de comunicao" ( 1985: 22). Para uma reavaliao das anlises tradicionais de ritual c
o seu rcvigoramento a partir da perspectiva dos atos de comunicao, ver Tambiah ( 1985, cap.
4), Peirano ( 1993).
11
Eventualmente, no apenas o receptor est ausente mas at mesmo o ato de enunciao
elidido. Buchillet (1987) descreve rituais entre os desanas, na Amaznia brasileira, em que o
xam "recita" encantamentos em total silncio, repassa as frmulas mgicas apenas mental-
mente, para que ningum em volta as escute, exceto ele prpri o.
12
Jakobson usa o termo alemo Einstellung, o que indica a inspirao fenomenolgica dessa
sua abordagem (cf. Holenstcin s/d: 30).
13
O modelo de comunicao constitudo por seis funes foi adotado pelos demais membros
do chamado Crculo Lingstico de Praga, c acabou difundindo-se independente do nome do
seu autor. Observe-se, por exemplo, os verbetes sobre cada uma dessas funes no dicionrio
Aurlio, que parece supor o modelo como cannico. Isto sugere que o modelo sofreu um
processo similar ao de "des-indcxicali .r.ao", descrito por Latour e Woolgar ( 1986) como a
trajetria retrica tpica de uma proposio cientfica at se tornar um "fato". (Algumas
sinonmias que Jakobson eventualmente utiliza: contexto o mesmo que tpico ou referncia;
a funo referencial tambm chamada de cognitiva, denotati va, representativa ou de identi-
fi cao; o par remetente/destinatrio s vezes referido como emissor/ receptor ou codificador/
decodificador; a funo emotiva tambm se diz expressiva.)
14
Quando investiga a comunicao animal, a aquisio da linguagem no desenvolvimento da
criana, ou a sua regresso na afasia, Jakobson chega a sugerir uma espcie de hierarqui a
"natural" dessas funes. Sobre o esquema bsico das funes emotiva-ftica-conativa se er-
gueriam as mais sofi sticadas metalingsticas, c por fim as funes cognitiva (referencial) c
potica. (Lvi-Strauss ( 1964) retoma-as, considera estas ltimas trs como cognitivas, e iden-
tifica a funo potica como funo propriamente mtica.)
15
E. A. Poc j observara, sculo e meio atrs, a respeito das tcnicas de cri ptografia: "No
pode haver dvida de que muito melhor evitar que as cifras sejam suspeitadas de o serem do
que gastar tempo em tentativas de torn-las prova de investigao, quando interceptadas. A
experincia demonstra que os criptogramas mais engenhosamente construdos, se suspeitados,
podem ser e sero decifrados" ( 198 1: 1014).
JAKOBSON A BORDO DA SONDA ESPACIAL VOYAGER 81
16
Ao tentar destituir a espcie humana do centro do universo, tende-se a atribuir ao resto do
uni verso as prprias qualidades humanas. Para evitar o antropocentrismo, mais uma vez
antropomorfiza-se o outro. Como sugeriu Viveiros de Castro ( 1999), e ao contrrio de opinio
comumente aceita, o antropomorfismo costuma ocorrer como o oposto ou complementar do
antropocentrismo, em vez de seu associado.
17
Sobre a paronomsia como princpio potico, ver Jakobson ( 1960: 150 e ss.).
18
Vale lembrar que Drakc, em um velho e precursor texto (Drake 1960), descrevendo os alvos
de um programa SETI, chegou a utili zar a expresso "unidentijied radio sources" para desig-
nar a classe de objetos relevantes para a pesquisa SETI.
19
Tarter, uma das principais pesquisadoras empricas do campo SETI, observa que "! ... ] resul-
tados negati vos no provam no-existncia", c que a busca no vai parar "! ... ] at que se
alcance o sucesso ou que a explorao tenha sido to exaustiva a ponto de descartar a possibi-
lidade de toda e qualquer evidncia conceb(vef' ( 1987: 169, nfase no original).
20
Para uma anlise da construo do fato ufolgico, visto como o resultado de uma complexa
cadeia de iniciati vas e procedimentos de invesligao de evidncias, purificao de relatrios e
descarte de interferncias e fraudes- no muito diferente, em natureza, da rotina cientfica pa-
dro - ver Lagrangc ( 1990; 1997). Ferreira Neto ( 1984) estudou ctnograficamente grupos de
"ufologia avanada" em Brasflia, explorando a ambigidade do seu carter cientfico/religioso.
21
Sagan ( 1973: 260) um dos que relatam este episdio.
22
A tese de Ph.D. de Woolgar ( 1978) examina o episdio do estabelecimento cientfico do
objeto pulsar, expl orando a prolongada demora entre os primeiros registros do fenmeno e a
publicao dos achados - e que valeriam posteri ormente um prmi o Nobel ao grupo de
Cambridgc.
23
Para usar as i magcns de Atlan ( 1992), o i nleressc cst.1. no cristal impuro, leve e heterogenea-
mcntc tingido de fumaa.
24
Tambiah cnfatiza: " possvel argumentar que todo ritual, qualquer que seja o idioma,
endereado aos prprios participantes humanos c usa urna tcnica que busca reestruturar e
integrar as mentes c emoes dos atores" ( 1985: 53).
25
"Achvamos que estvamos fa1.endo algo que sobreviveria a ns c ao nosso tempo, algo que
seria o nico smbolo da Terra que o universo teri a" (Lornbcrg 1984: 75).
26
Lyotard ( 1988) comenta a impossibilidade de conceber a idia de fim do mundo (ele se
refere ao fim do sistema solar, previsto por cosrnlogos para daqui a alguns bilhes de anos) se
nada deste mundo permanece aps o cataclismo, corno uma garantia do que j houve.
27
A mensagem acoplada sonda cumpriria assim uma funo anloga do "koloss6s" grego
no trat.'lrncnto dos mortos desaparecidos longe de sua cidade, que no ofereciam corpos aos
rituais fnebres (c f. Vcrnant 1965). A mensagem pode ser comparada tanto a urna placa fne-
bre, registrando a identidade c os feitos de uma biografia herica, quanto a urna placa triunfal,
comemorando o sucesso c a conquista. De fato, as placas deixadas na Lua pelas misses Apollo
encaixam-se justo nestas duas categorias: a Apoll o l i deixou placa comemorativa da I "
aluni ssagcrn comparvel placa que acompanhou as Pionccrs; a Apollo 15 deixou placa em
homenagem aos astronautas at ento mortos na corrida espacial, listando os seus nomes (uma
reproduo das pl acas pode ser consultada em, p. ex. , Dcwaard c Dcwaard 1984: 69, 76).
82 0 DITO E O FEITO
28
Para uma descri o detalhada do contedo e consideraes sobre as ci rcunstncias em que
essas mensagens foram elaboradas, escrita pelos prprios autores, consul te-se Sagan et alii
( 1984). Para uma anli se antropolgica desse materi al , ver Aranha F" ( 1990).
2
9 " [ ... ] para um homem natural, o si lncio de um outro homem no um fator tranqilizador
mas, pelo contrrio, algo alarmante e perigoso. O estranho que no sabe falar a lngua , para
todos os homens de uma tribo selvagem, um inimigo natural.[ ... ] Romper o si lncio [ neces-
srio] para superar a estranha e desagradvel tenso que os homens sentem quando se defron-
tam em si lncio" (Malinowsld 1930).
3
Correspondc passagem do sinal de eavesdrop para o de beacon na pesquisa SETI : em vet.
de pilhar resduo perdido de um sinal local, captar um sinal intencionalmente dirigido para
comunicao interestclar, uma mensagem explicitamente enviada para fazer contato e trans-
mitir informaes a estranhos.
31
Os autores parecem acreditar que os conhecimentos cientficos, tal como o Ocidente os veio
estruturando nos l timos ci nco sculos, so um resultado inevitvel da evoluo civilizatria
da espcie humana. Mai s cedo ou mai s tarde, chegaramos a algo no fundo sempre muito
parecido, como se aproximando-nos do espelho da natureza, para usar a expresso crtica de
Rorty ( 198 1 ). (Curiosamente, o captul o 3 do li vro de Rorty construdo utilizando-se da
imagem de um marciano fictcio visitando o nosso planeta e observando (c antropologicamen-
te estranhando) os usos c costumes locais.)
32
Um dos trabalhos que innuenciaram as concepes dos autores da mensagem foi o do mate-
mtico Freudcnthal ( 1987), que desenvolveu uma linguagem uni versal baseada na lgica ma-
temtica, e construda de forma a ser " auto-cxpl icitadora" . Para uma discusso geral sobre a
idia de uma " lngua universal", de longa histri a na tradio ocidental , c um passeio sagat.
por di versas das iniciati vas j propostas, ver Rnai ( 1970).
33
Jakobson observa que o trabalho do criptoanalista difere do dccodificador comum, pois este
deci fra a mensagem pelo conhecimento do cdigo compartilhado, enquanto aquele procura
deduzir o cdigo a partir da mensagem, analisa as vari aes em busca dos traos di stinti vos:
"O criptoanalista observa alofones na procura pelos fonemas" ( 1971 : 23).
34
"A supremacia da funo poti ca sobre a funo referencial no oblitcra a referncia, mas
toma-a ambgua" (Jakobson 1960: 150).
35
Lvi-Strauss, que se apropri ou a seu modo do esquema j akobsoni ano das seis funes,
afirma: "[ ... ] vimos que funo emoti va e linguagem musical so, de direito, seno tambm de
fato, coextcnsivas" ( 1964: 38).
36
Se considerarmos os mecanismos gramati cais da funo potica, tal como Jakobson os ana-
lisa ( 1960: 130), a projeo do " princpio de equivalncia do ei xo da seleo para o eixo da
combinao", ento a construo formal dos segmentos das saudaes e o das msicas- se-
qncia de elementos diversos mas equivalentes - conota a sua ascenso potica.
37
Tal como a poesia (Jakobson s/d: 72). Lvi-Strauss parece concordar de novo: "[ ... [ a msi -
ca uma linguagem [ ... ] e dentre todas as linguagens a nica que rene as caractersticas
contraditri as de ser ao mesmo tempo inteligvel c intraduzvcl [ .. .]" ( 1964: 26).
Parte 111
GNEROS DE EVENTOS
COMUNICATIVOS
CAPTULO 4
A nao na web:
rumores de identidade na
Guin-Bissau
1
Wilson Trajano Filho
esde a minha primeira visita Guin-Bissau, em 1987, que um certo tipo de
tem me chamado a ateno por causa do impacto provocado por onde
circul am, pela velocidade com que so disseminadas c pelas conseqncias resultan-
tes do prprio ato de cont-las. Elas so parte de um complexo sistema de comunica-
o oral cujo contedo, alcance e potencial de repercusso tm grande variabilidade.
Constituem este ti po narrati vo estorietas vrias sobre o comportamento de dirigentes
estatais, manobras freqentemente ilcitas de grandes empresrios, relaes ertico-
afeti vas de notveis, atos extremos de violncia que rompem a marcha rotineira da
vida cotidiana c especul aes di versas sobre doenas, infortnios e acidentes. s
vezes essas estri as circulam excl usivamente no interior de um grupo; outras tantas
elas borram as fronteiras grupais, espalhando-se por um certo nmero deles, e em
ocasies excepcionais elas so disseminadas difusamcnte por todos os cantos da so-
ciedade. Al gumas narrati vas so ouvidas com descaso c em pouco tempo dei xam de
ser veicul adas. Um pequeno nmero provoca um verdadeiro rebulio nas atitudes e
sentimentos dos ouvintes, permanecendo em circulao por longos perodos. A maio-
ria, porm, tem repercusso medi ana, entrando e saindo do circuito de transmisso
at que, em razo de sua constituio interna, morre defi niti vamente ou readquire
carga significati va com o aporte de novos sentidos.
Chamei de rumor esse tipo de narrati va e devotei especial ateno a um grupo
delas, que denominei de narrati vas da nao (Trajano Filho 1993). Trata-se de est-
rias que tcmatizam implicitamente o que seri a pertencer ociedade crioul a da Guin,
em sua pretenso de ser nacional, dando expresso s tcn es c contradies bsicas
desta sociedade. Com alto grau de efi cincia, inculcam nas pessoas envolvidas em
sua transmisso os val ores e as representaes fundamentais da cultura crioula desen-
volvida nos centros urbanos do pas e criam, na prpria dinmica de faz-las circular,
a unidade de identificao que a nao.
Em outra ocasio pude ainda me voltar para o exame das pegadas deixadas por
rumores estruturalmente anlogos s narrati vas da nao c que, no passado, davam a
pensar sobre unidades de identificao de outra ordem (Traj ano Fi lho 1993a). Eram,
86 0 DITO E O FEITO
por assim dizer, rumores mortos, cujo registro qua rumores s podia ser presumido
por meio dos parcos resduos que deixaram de sua passagem nos documentos escri-
tos. Pude demonstrar, ento, que tais narrati vas eram endmicas na cultura das po-
voaes crioulas da Guin-Bissau no fim do sculo XIX e primeiras dcadas do XX,
focalizando conOitos c intrigas que perpassavam a sociedade crioula no processo de
constituio e manuteno da hegemoni a colonial : a construo de um estilo de vida
que pressupunha o desenvolvimento de padres de consumo c de socializao, uma
hierarquia ordcnadora das diferenas sociais, raciais c religiosas, uma prtica comu-
nicativa comum aos mais variados grupos sociais existentes na situao coloni al e a
produo e gerenciamento de projetos de auto-representao (Comaroff c Comaroff
1991 :23-25, Fabian 1986: 68-74).
Quero aqui tratar de um tipo ambguo e intermedirio de narrativa que considero
pertencente ao gnero dos rumores. A Guin-Bissau o tema central dessas narrati-
vas que, diferentemente de outras formas por mim j tratadas, a tcmati zam explicita-
mente como uma unidade de identificao. So textos produzidos por autores vrios,
cujas identidades esto freqentemente veladas c protegidas por pseudnimos. Fo-
ram elaborados para ser apresentados no frum de di scusses da pgina destinada
Guin-Bissau, construda pela Portugalnet, que mantm um ponto de encontro em
lngua portuguesa na web com rubricas dedicadas aos vrios pases lusfonos em
frica, sia c Amrica
2
Variados so meus propsitos ao analisar essas narrativas. Dentre outros, res al-
to: retomar a renexo sobre o gnero rumor iniciada em outra ocasio (cf. Trajano
Filho 1998), dando mais plasticidade sua conformao sem, contudo, negar o dis-
curso essencialista com o qual as pessoas na Guin o definem enquanto gnero narra-
tivo; reformular meu argumento anteri or (Trajano Filho 1993a) sobre a relao entre
escri ta e oralidade e, por fim, acrescentar novos elementos discusso sobre o modo
pelo qual o rumor veicula a questo da nacionalidade na Guin. Para alcanar estes
objetivos necessrio fazer uma recapitulao de meus argumentos anteriores sobre
os rumores que narram a nao, sobre o gnero em si e sobre a relao entre escrita e
oralidade na anlise desse gnero narrativo.
A criao de descontinuidades
Ao boato registrado h mais de um sculo sobre o juiz do povo de Geba, que
extraa das veias das cri anas o sangue com o qual escrevia cartas que serviam de
talism para o chefe ful a Mussa-Molo
3
, acrescentei rumores vivos, cujas tramas nar-
ram as aes de misteri osos e temidos personagens - os sapa kabesa
4
- que percor-
rem a Guin-Bissau cortando cabeas de pobres e indefesas vtimas para vend-las
nos pases vizinhos, onde seriam consumidas em festins diablicos, c de um agente
indeterminado e desumano que aprisiona crianas guinccnses em contcntores no por-
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA G UINt-BISSAU 87
to, com vi stas a export-las para um desti no incerto. Essas narrati vas fornecem que-
les que as contam e as ouvem os mei os simbl icos para forjar uma unidade de identi-
fi cao coleti va. El as realizam esta complexa tarefa demarcando e mantendo frontei-
ras simblicas que criam uma arena de sociabi l idade onde so representados encon-
tros c desencontros e onde construdo e manipulado um vasto conjunto de expecta-
ti vas c auto-representaes. Isto feito concretamente pel a narrao de uma trama
aterrori zante cujo enredo bsico focaliza a rel ao fundamental para qualquer forma
de i dentidade soci al : aquel a que ope um Ns a um Outro.
As cabeas decapitadas c seu consumo ritual, assim como a extrao de sangue
e seu uso na confeco de amuletos, so expresses dramticas de temas cul turais do
mundo cri oul o muito apropri adas para criar e manter di ferenas, poi s geram uma
descontinuidade que separa os que vampirizam cri anas c suas pobres vtimas, os que
cortam e consomem cabeas e os que as tm cortadas
5
. No passado, eram as crianas
cri sti anizadas da povoao cri oula de Geba que tinham o sangue retirado por um
agente intermedi ri o e ambi valente- o j ui z do povo-, em benefci o de um Outro que
assumia, ento, a forma do poderoso chefe afri cano que desafi ou por longos anos a
autoridade de franceses e portugueses em uma vasta extenso da frica Ocidental -
Mussa Moto. E, em uma continuidade impressionante com o passado, so os guineenses
de hoje as presas dos repugnantes c desumanos sapa kabesa: uma nova modalidade
de Outro, que os rumores i mplicitamente i dentificam com os africanos que transitam
pel a Guin, expelidos por razes vari adas das sociedades nacionai s vi zinhas.
Fazendo uso de smbol os polissmicos e moti vados hi stori camente, como o por-
to c os artefatos que o compem, o segundo tipo de rumor completa o quadro de
altcridadc por meio da cri ao de uma segunda descontinuidade, desta feita entre a
cri ana aprisi onada, por um l ado, e o agente que a apri si ona e os membros do mundo
para onde seri a exportada, por outro. A identidade desses atores no nominada, mas
o modo como a vi ol ncia sobre a criana exercida desenha com preci so os seus
contornos bsicos. Trata-se, obviamente, do mundo dos brancos europeus. O porto
tem sido historicamente o centro da vida soci al nos aglomerados urbanos da Guin.
por mei o das ati vidades nel e real i zadas que a sociedade cri oul a tem se reproduzido ao
l ongo dos sculos. Pelos portos passavam os escravos que vinham do serto africano
para serem embarcados rumo Amri ca; por el es chegavam os produtos i ndustri al i -
zados, os tecidos, as tintas c a cola da Europa, de Cabo Verde e da Serra Leoa c por
eles fluam os produtos tropicai s que da Guin segui am para o mundo industri aliza-
do: o amendoim, a castanha de caj u e as madeiras.
A centralidade dos portos tambm se mostra no fato de eles serem habitados
pelo personagem que histori camente tem sido o membro paradigmti co do mundo
crioulo: o grumete. Gente ligada s lides do mar, os grumetes eram afri canos que,
vi vendo nas povoaes l uso-afri canas e adotando com grande l i berdade os hbi tos
cristos c os modos lusitani zados de ser, operavam como remadores, construtores e
88
0 DITO E O FEITO
pilotos de barcos, carregadores e auxiliares no comrcio. Como categoria sociolgi-
ca, eles desempenhavam um papel -chave no frgil compromisso em que a sociedade
crioula se fundava, sendo os intermedirios que faziam a delicada mediao entre a
minoria de comerciantes europeus e luso-africanos e os rgulos das sociedades tradi-
cionai s africanas que produziam bens para cxportao
6
.
Finalmente, o porto pertence tambm simblica da nacionalidade. Foi no
cais do Pidiguiti que, no dia 3 de agosto de 1959, os porturios de Bissau, os grumetes
de ento, entraram em uma greve fatdica. A polcia colonial interveio imediata-
mente e, com violncia inusitada, atirou e matou dezenas de trabalhadores. Este
incidente, conhecido como o "massacre do Pidiguiti", aparece com tal freqncia
nos documentos do Partido Africano da Independncia da Guin e Cabo Verde
(PAJGC) e nos di scursos de lderes polticos que pode ser tratado como um dos
mitos fundadores da nacionalidade. Di z a mitologia poltica da nao que a deciso
de se opor ao regime colonial , fazendo uso de todos os meios, inclusive a luta
armada, s foi tomada depois dos acontecimentos trgicos daquele incio de agos-
to. Com toda essa carga associativa, o porto continua sendo um poderoso smbolo
para pensar as relaes entre guinecnses e europeus. Ele no representa somente o
local onde se desenrolam as atividades do comrcio de longa di stncia que liga
Bissau a outros lugares do mundo. Evoca com forte apelo emocional a violncia da
relao entre europeus c africanos, a brutal mercantili zao humana dos sculos de
trfico atlntico e representa com grande carga de afetividade o berri o da socie-
dade crioula e de seus membros prototpi cos: os grumetes. Assim, na estria sobre
a criana aprisionada, assiste-se narrao da criao violenta de uma descontinui -
dade que identifi ca e separa. Por um lado, ela gera a identificao entre os que
fazem o rumor circular e a personagem central da estria, criando um Ns. Por
outro, ope esse guineense fragili zado c incompleto a um Outro violento: o euro-
peu inominado que apri siona a criana.
Apesar das diferenas na superfcie narrativa, os trs rumores compartilham uma
estrutura comum. Eles descrevem com enorme fora evocati va uma ao violenta
que separa pessoas e grupos, criando uma unidade de identificao cujos atributos
positivos so muito vagos c giram em torno das idias de incompletude, parci alidade
e fragi lidade. Esta unidade s vai ganhar contornos mai s definidos por meio dos
atributos negativos, isto , pela alteridade criada. Os sujeitos da ao violenta so os
outros que esto c vivem prximos a ns, sem, contudo, pertencer ao grupo. Nos
rumores de hoje so os estrangeiros africanos que, expelidos de seus locais de ori-
gem, transitam por toda a Guin ou os europeus aventureiros que a toda hora chegam
ao pas para "fazer a frica" . Nos rumores do passado, era um grumete especial (o
juiz do povo) que, da perspectiva da elite crioula de Geba, no era confi vel. Mas so
os beneficirios finai s da ao violenta que representam a diferena radical que cons-
titui o Ns como frgil, incompleto e parcial. E eles conformam o Outro radical : no
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU
89
rumor passado, ele o chefe fui a Mussa Molo; nas estrias atuais, os senegaleses que
consomem cabeas decapitadas e os europeus que Lraficam crianas.
Rumor: um fenmeno escorregadio
As aterrori zantes estrias sobre os sapa kabesa e a criana aprisionada no porto,
intrigas maldosas sobre infidelidades conjugais de notveis e sobre o uso ilfcito de
parentes c amigos bem posicionados para se obter benefcios de agncias governa-
mentais c narrativas sobre os poderes excepcionais de alguns heris da guerra
anticoloni al fornecem uma interessante e produtiva via de acesso para a compreenso
da sociedade crioul a da Guin-Bissau. Analisei um grande nmero delas e as Lratei
como pertencendo ao gnero dos rumores (Trajano Filho 1998). O que me legi timou
ento a trat-las desta forma? O que conecta todas elas, tomando possvel classific-
las sob uma nica rubrica? O que , na realidade, um rumor?
Mexericos, boatos, fofocas e rumores so fenmenos fugidios que resistem ao
olhar analtico de antroplogos, socilogos, historiadores e psiclogos. Esto em to-
dos os lugares c tm enorme repercusso quando veiculados adequadamente. Sabe-
mos reconhec-los quando nos alcanam, mas temos grandes dificuldades para
circunscrev-los analiticamente. A enorme variabilidade inerente ao gnero tem de-
safiado os estudiosos do fenmeno, tomando-os obcecados por questes de defini -
o. O rumor tem sido defi nido to diversamente que os esforos para entend-lo
como uma classe parte de outras tm tido, na melhor das hipteses, um xito parcial
(Petcrson c Gist 195 1: 159). Os psiclogos Gordon Allport e Leo Postman procura-
ram delimit-lo a partir de quatro atributos bsicos: ser uma declarao de crena,
no requerer padres seguros de evidncia, ser transmitido diadicamcnte pessoa a
pessoa e ter a oralidade como meio de Lransmi sso (AIIport e Postman 1947: ix).
Quatro anos mais tarde, alguns destes atributos foram plenamente ignorados por
Peterson e Gist ( 195 1: 159), que o trataram como uma explicao no-verificvel
sobre eventos ou questes de interesse pblico cuja transmisso feita de pessoa a
pessoa. Shibutani ( 1966: 17), cujas conLribuie representam um marco no estudo
do fenmeno, vai consider- lo como um esforo elaborado coletivamente para se
construir uma interpretao significati va sobre fatos ou situaes ambguas e imper-
feitamente compreendidas. O fato de, dentre os autores mencionados, apenas Allport
e Postman tornarem o meio de transmisso oral como um trao distintivo do rumor
indicativo das divergncias que cercam o estudo desta forma narrativa. Chamo a
ateno ainda para outras fontes de di ssenso. Enquanto All port e Postman ( 1947) e
Firth ( 1967: 141 ) destacam a acuidade duvidosa como um dos atributos essenciais
desse gnero, Petcrson c G ist ( 195 I) pem em suspenso o terna da veracidade dos
rumores, embora reconheam que, em geral, os rel atos tm natureza imprecisa e no-
verificvel. No extremo oposto, Shibutani ( 1966), Lienhardt ( 1975: I 08) e Kapferer
90 0 DITO E O FEITO
(1990: 12- 14) reconhecem a importncia da questo da veracidade para aqueles que
fazem os rumores circularem, mas negam explicitamente sua relevncia objetiva.
Assim que Kapfcrcr vai notar que o que caracteriza o contedo do rumor no sua
correo, mas o fato de a informao ser proveniente de uma fonte no-oficial, no-
controlada pelas instituies da sociedade ( 1990: 13, 263).
As incongruncias encontradas na literatura para se construir uma teoria do ru-
mor c do mexerico com pretenso de universalidade fi zeram com que minhas tentati-
vas de dar conta dos rumores crioulos se voltassem gradativamente para a dimenso
ctnogrfica do fenmeno. A melhor resposta que pude oferecer questo que interro-
ga o que conecta estorietas to variadas c o que me levou a trat-las sob uma s
rubrica puramente ctnogrfica. Aloquei-as em uma nica categori a porque as pes-
oas na Guin-Bi ssau as concebem como pertencentes a um nico gnero comunica-
tivo. Chamei-as de rumor porque acreditava c ai nda acredito ser esta a melhor tradu-
o para a categoria crioula bokasifiu, que designa um gnero de narrativa c o sujeito
que as conta.
H outras palavras no crioulo da Guin-Bi ssau que designam esse tipo de narra-
tiva e as pessoas que a fazem circular. Assim, o bi sbilhoteiro chamado de kucidur
ou kin ki ta kuci (aquele que cochicha). Banoba c banoberu designam, respectiva-
mente, o gnero e seu "especialista". Banoba uma palavra crioula formada pela
aglutinao do substantivo portugus " nova" com o prefi xo ncxional ba, usado para
marcar o plural em vrias lnguas do tronco atlntico ocidental. Banoberu um termo
polissmico usado para designar aquele que espalha rumores e mexericos, o profis-
sional que narra as informaes (o jornalista) c um dos veculos que transmite a not-
cia (o jornal). ( guisa de curiosidade, durante meus ltimos meses de pesquisa de
campo em Bi ssau, em 1992, veio a pblico um j ornal semanal com este nome.) Jor-
nal di tabanka Gomal das vilas) outra expresso usada para identificar o rumor e o
mexerico, partilhando com batwba e banoberu a associao com meios de comunica-
o de massa
7
.
Narrando coisas to variadas como infidelidades conjugais, iniqidades de po-
derosos, m conduta de empresrios, comportamentos inadequados de funcionrios,
o uso condenvel de poderes msticos, a ao da inveja, entre outras coisas, os rumo-
res surgem como veculos especialmente adequados para fazer a crni ca da vida co-
tidiana nas cidades guinccnses. Eles tcmatizam explicitamente os connitos e intrigas
que perpassam a sociedade crioula, especialmente as disputas ocorridas em torno da
constituio do poder simblico que organiza a experincia cotidiana dos sujeitos
sociais.
Como uma estrutura lingstica e narrativa os rumores se compem de um con-
junto de temas ligados uns aos outros, formando uma estrutura diferencial de valores.
Seu sentido tem a ver com o modo pelo qual seus temas esto incrustados nos valores
da cultura. Esta incrustao realizada por um tipo especial de relao que seme-
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU 91
lhante ao proferimento dos atos de fala que Austin ( 1962) chamou de performativos.
So atos, como a expresso " Deus te abenoe", que, ao serem ditos, reali zam alguma
coi sa. Comportamentos verbai s dessa natureza podem no realizar plena c adequada-
mente aquilo que seu proferimento indica explicitamente ou podem ainda faz-l o
diferentemente daquilo que era pretendido por eles na prpria ao de proferi-los. Em
outras palavras, eles podem ser usados de maneira atrapalhada, e no abenoar nin-
gum. Mas a eles no cabe o julgamento de verdade ou falsidade. Os critri os para
julg-l os tm a ver com a propriedade, adequao c "felicidade" de suas performances.
Meu argumento geral que o mesmo se d com os rumores. Estrias sobre sapa
kabesa, sobre o canibali smo do presidente deposto ou daqueles que se vestem com
tapa-sexo, sobre a falta de higi ene ou os hbitos alimentares de gente chamada de
funditiu c de tope, assim como as asseres sobre a natureza animal de guineenses,
cabo-vcrdi anos ou sencgal escs, sobre ordens dadas por Jacques Chirac c sobre o
comportamento de ministros c outros notveis da Guin narrados pelos kuciduris e
banoberus ou escritas na pgina da Portugalnct no so exatamente verdadeiras ou
fal sas. Quem as ouve e as conta se preocupa mais com a felicidade c adequao da
narrao do que com a veracidade dos fatos narrados. A feli cidade c adequao
da incrustao das rel aes representadas pelos rumores nos valores culturais c, com
isto, a importncia significati va de um rumor so produtos de uma complexa combi -
nao que envolve coi sas to diversas quanto a posio social dos atores que os dis-
seminam, a relevncia conjuntural das mensagens especficas, o tipo de rel ao entre
temas e val ores, as caractersticas estilsti cas do discurso que faz o rumor circular e
os fechos concretos das estri as narradas.
Emanando de uma fonte difusa e inominada que a sociedade, os rumores tm
uma dinmica de gerao c transmisso muito peculiar, que tem sido objeto de di spu-
ta entre os estudiosos do fenmeno, apesar de haver entre eles um consenso de natu-
reza operaci onal a afirmar que tais narrati vas emergem em si tuaes sociais amb-
guas c carregadas de tenso (Pctcrson e Gist 195 1; Shibutani 1966: 56-57, 139- 140,
172- 176; Lienhardt 1975)
8
. A chamada " lei bsica do rumor" proposta por Allport e
Postman afirma que o rumor tem interesse temporri o c que sua fora vari a conforme
a importnci a atribuda ao assunto rel atado pelos sujeitos envol vidos multiplicada
pela ambigidade das evidnci as pertinentes ao tema em questo ( 1947: 33-34). Des-
de a sua proposio, em 1947, esta frmul a tem sido questionada total ou parcialmen-
te. Em primeiro lugar, h i nmeras evidncias de temticas l ongevas que do aos
rumores uma vida ccl i ca. Segundo Kapferer ( 1990: 114), os bons rumores nunca
morrem; eles simplesmente se aquietam como os vulces, para retomar a erupo
al gum tempo mai s tarde, com fora renovada. O tema do sacrifcio humano, que sob
formas variadas se faz presente nos rumores cri oulos h pelo menos um sculo, um
bom exempl o de um rumor duradouro. Alm disso, a relevncia dos temas narrados
na constitui o da fora de transmisso dos rumores tambm tem sido obj eto de dis-
92 0 DITO E O FEITO
cusso. Argumentando que a equao implcita na " lei bsica" de Allport c Postman
no explica plenamente o seu modo de difuso, Chorus ( 1953) introduziu um terceiro
elemento na frmula original - a habi lidade crtica dos participantes. Quando cres-
cente, ela teria o poder de enfraquecer a sua circulao e transmi sso. Aps ponderar
que o rumor uma transao coletiva que surge para dar sentido a eventos importan-
tes que se apresentam como ambguos por no terem sido devidamente explicados,
Shibutani ( 1966: 17, 164- 166) argumenta que o rumor um tipo de notcia- notcia
improvisada-que no circula por canais institucionais. O nascimento de um rumor
c sua circulao dependem da ambigidade da situao, da demanda por notcias e do
grau de excitao coleti va existente na sociedade. Na mesma linha de raciocni o,
Rosnow traz novos elementos para se pensar sua difuso. Segundo ele, a fora dos
rumores seria funo das ansiedades emocionais dos indivduos envolvidos em sua
circul ao, de incertezas cogniti vas, da credulidade ou confiana no que reportado
pelo rumor e da importncia do que relatado ( 1980: 586-587, 1988: 19-20).
Originalmente, argumentei que os rumores tm uma estrutura de transmi sso
aberta, dramtica e dialgica. Eles circulam por meio de interaes face a face, o que
os torna diferentes de outros meios de comunicao em que a mensagem transmiti -
da a partir de uma fonte nica e conhecida, atingindo simultaneamente todos que a
eles tm acesso. O rumor ganha energia atravs de uma srie de dilogos em que os
atores sociais criam e recriam o sentido das mensagens que veicul am. Com freqn-
cia o enredo narrado , literalmente, representado durante as interaes c, em cada
dilogo dramatizado, novos sentidos so negociados, diferentes contedos so agre-
gados trama, interpretaes prvias so descartadas e novos fatos acrescentados.
Na realidade, quando se toma a trajetri a total de circulao de um rumor descobre-se
que ele se desdobra em vrios rumores.
As categorias nati vas que o nominam- bokasiri u e kucidur - relacionam imedia-
tamente o rumor com a oralidade e com um tipo de rudo cuja ressonncia dispersa e
difusa s pode ter como fonte a sociedade. Assim, a defini o nati va deste gnero o
coloca em uma relao especial com os meios de comunicao escritos que no assu-
me a forma de uma oposio, mas de uma tenso permanente. Foi em torno desta
tenso que ocorreram as disputas voltadas para a constituio c manuteno da
hegemonia na Guin colonial. O contorno bsico dessas di sputas se ligava s mlti-
pl as tentati vas de capturar os sistemas de cl assificao, as formas de percepo e os
estilos de vida veiculados pelos rumores c outros gneros de narrati vas orais na Guin
de ento, domesticando-os pela lgica prpri a de um certo tipo de di scurso escrito -
os textos elaborados pela administrao colonial para expedir ordens c comandos c
para regul ar o comportamento dos sujeitos coloniai s. Querer fi xar pela escrita o que
tcmatizado pelos rumores , em larga medida, uma forma de tentar controlar a dife-
rena e domesticar as contradies que, porventura, existam no argumento interno da
narrativa e que, certamente, se manifestam nas variadas verses desdobradas de um
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU
93
rumor original. E ao controlar a contradio e a diferena, a fixao dos rumores pela
escrita tambm recria a noo de verdade, que passa a ser pensada como adequao e
correspondncia entre aquilo que narrado no di scurso e os fatos acontecidos. Con-
trolando a multiplicidade de sentido dos rumores, a escrita quer para si uma verdade
que parece se recusar a uma hermenutica, por desnecessria. Sendo escrita, ela seria
transparentemente verdadeira: no torcida ou inventada, no envolve a utilizao
das qual idades basicamente humanas da fantasia e da imaginao, no passa pela
mediao dos sujeitos sociai s. Como os funcionrios coloniais do passado e as auto-
ridades governamentais do presente parecem pensar, a verdade da escrita nica,
completa c no di z respeito ao mundo intersubjetivo, poi s provm diretamente dos
fatos c de sua inscrio pela escrita por um sujeito com autoridade para faz-lo.
Sugeri, ento, que o discurso escrito tem competido com os rumores e outras
formas narrativas tfpicas da oralidade para estabelecer a verdade na Guin, isto ,
para instaurar o sentido com fora de verdadeiro. Ressaltei, porm, que a inscrio do
discurso oral pela escrita deixa alguns resduos de sentido na medida em que a dimen-
so " ilocucionria" c os "efeitos perlocucionrios" tpicos da faJa resistem fixao
pela escrita. Com isto os textos escritos, especialmente os textos oficiais, perdem
fora performativa para ganhar preciso referencial, perdendo ainda nesse processo o
poder de evocao e de convencimento. Por esta razo, opus os projetos para a nao
formulados pelo Estado, orientados por definies autoritrias de valores e por uma
perspectiva referencial ou lexi cogrfica do sentido, aos projetos esboados pela
oralidade dos rumores, formados a partir de campos semnticos com grande
plasticidade c abertura c orientados por uma perspectiva pcrformativa do sentido
9
.
Estou agora pronto para indagar: o que acontece na pgina da Guin mantida
pela Portugalnct?
Rumores na web
O frum de discusso da pgina destinada Guin-Bissau recebe atualmente
uma mdia de dez mensagens di rias cujo contedo c extenso so bastante variados.
So comuns textos de poucas linhas, mas tambm o so as longas reflexes. Apare-
cem ali reprodues de matrias de j ornais e de agncias de notfcias sobre o pas, em
sua maioria provenientes de j ornais e agncias portugucses
10
Menos comuns so as
notfcias c comentrios sobre personalidades e acontecimentos fora da Guin. Nestes
casos, os eventos relatados geralmente tm lugar nos pases lusfonos onde os
guinecnscs que visitam o frum residem ou nos pases africanos vizinhos da Guin.
Embora mais raro, este tipo de mensagem relevante para o tema aqui tratado pois
funciona para enquadrar a Guin em uma armadura em que esto presentes outras
unidades de identificao nacional, revelando de certo modo a estrutura de relaes
entre as naes, segundo a perspectiva dos freqentadores do frum de discusso.
94 0 DITO E O FEITO
Pequenas notas sobre eventos protagonizados por guinecnscs em vrios pases tam-
bm fazem parte do corpo de mensagens da pgina destinada essa pequena nao
africana. Trata-se, na maioria dos casos, da di vulgao de festas, comemoraes,
filmes, palestras c espetculos de dana e msica guinccnse na Europa c Amrica.
Avisos de sociabilidade tambm so regulares. Guinecnses buscando contato com
familiares fora ou dentro do pas, gente procurando endereos ou notcias de amigos
e conhecidos, mas sobretudo gente querendo conhecer gente. Comentrios sobre a
situao poltica e social do pas e sobre acontecimentos extraordinrios de grande
repercusso na vida nacional formam, juntamente com as inmeras respostas que
provocam dos freqentadores do frum, o ncleo bsico da discusso veicul ada na
pgi na da Guin-Bissau. So as diversas tramas urdidas por esses comentrios que
vou tratar corno narrativas que pertencem ao gnero que chamei de rumores da na-
cionalidade.
A pgina freqentada majoritari amente por guinecnses que vivem fora do pas.
A maioria parece morar em Portugal, mas visitam o frum com regularidade, deixan-
do ali suas contribuies, gui necnscs residentes em vrias localidades dos Estados
Unidos, Frana, Holanda, Itli a, Brasi l, Cabo Verde, Sucia e Austrlia. Menos usual
a presena dos que vivem na Guin c de estrangeiros. Os primeiros, em razo da
precariedade da infra-estrutura de comunicaes do pas, cuj as redes telefnica e
eltrica encontram-se em estado de pane quase permanente. Alm disto, eles tm
outros meios e canais mais eficientes para pensar c vivenciar sua unidade de
pertencimento. Os segundos, por causa da distncia social , pela falta de interesse
despertada pela minscula e pobre nao africana e at mesmo pela barreira lings-
tica. A pgina foi concebida para ser um frum de discusso em lngua portuguesa c,
de fato, a maior parte das mensagens nela difundidas escrita em portugus. Contu-
do, ali tambm so veiculados textos em ingls, francs c, sobretudo, em crioulo.
Passo agora a relatar fragmentos de mensagens que creio pertencerem ao mesmo
gnero dos rumores. Elas foram coletadas a partir de junho de 1998, quando o general
Ansumanc Man se amotinou contra o governo presidido desde 1980 por Joo Bernardo
"Nino" Vi eira. Rebelando-se contra sua demisso da chefi a do Estado-Maior, em
meio a acusaes de trfi co de armas para o movimento separati sta da Casamansa, no
Sul do Senegal, Man proclamou-se chefe de uma Junta Militar que reivindicava a
demisso do presidente da Repblica e a realizao de eleies parlamentares. To
logo se viu isolado em pal cio, o presidente buscou auxlio nos pases vizinhos com
os quais havia assinado acordos de cooperao militar - o Senegal c a Guin-Conacri .
Em pouco tempo, desembarcavam em Bissau milhares de soldados estrangeiros.
Tenho vi sitado regularmente o frum de di scusso desde o incio da rebeli o
militar. A busca por manter-me informado acerca dos acontecimentos na Guin foi o
que originalmente motivou as visitas a esse ponto de encontro e a gravao da maio-
ria das mensagens ali veiculadas para posterior anlise. De modo geral, minha parti -
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU 95
cipao nesse frum tem sido equivalente a de uma audincia perante uma encena-
o, assistindo atenta e silenciosamente ao desempenho dos atores. Ocasionalmente,
ti ve ainda a oportunidade de observar diretamente a dupla participao de guineenses
nessa pgina: como leitores c produtores de mensagens
11
Em dezembro de 1998, Simes envi ou uma mensagem ao frum de discusso,
comentando os tri stes acontecimentos na Guin. Di zia ele, referindo-se aos governantes
dos pases da regio: "So todos assassinos, c at Chirac mandou o Senegal semear
minas antipessoal na Guin-Bissau."
Um longo dilogo teve incio em 24 de maio daquele ano com uma mensagem
despretensiosa de Dr. Rovi, um estudante guinccnse em Portugal, que ento mandava
abraos para os funcionrios de uma casa comercial em Bissau, de propriedade de um
holands. Sibi di Bo introduziu um elemento de intriga nesta troca, acusando o rico
proprietrio. Dizia ele que o holands "no passa dum corrupto sem escrpulos wur
(sic) corrompeu os dirigentes do antigo regime"
12
E se voltando para outro interlocutor
do frum, escreveu: "tu deves calar a boca c nem tente enganar os outros pois os dias
de Jan e a epidemia de corrupo est (sic) j contados. Pois Jan Van Maancn tanto
pior como os mauritanianos". Um dia depoi s, Djoka entrou na di scusso em apoio s
acusaes de Sibi di Bo. Dizia ele que "Jan tinha ao seu poder no s alfandegrios,
polfti cos e at polcias corruptos das antiga j udiciria". E agregando mais pimenta ao
caso, complementava afirmando que o holands "mandava embora pessoas que fodiam
com a mulher dele".
Em fevereiro de 1999, Anonimato apareceu de sbito na pgina da Guin com a
seguinte mensagem sobre o presidente da Repblica:
O Nino tem um quarto reservado para atos de matana. f ... ] O Nino acorda a
partir das 3 horas de madrugada levanta para tomar pequeno almoo com carne
do ser humano.
Nino ta nheme pecdur (sic) cru. (Nino come gente crua.)
Sacur balofa (Socorro!)
Nessa mesma poca, o cabo-verdiano Juj u respondeu mensagem denominada
"Somos todos guineenses", de exortao da unidade entre Guin e Cabo Verde, com
a seguinte alirmao:
Ami di kauberdi ... Por isso ka nhu fia ma nhs tudu di guin, xissa! N'ka
mandjaku nem Burro (Eu sou de Cabo Verde ... Por isso no deves mais falar
que somos todos guincenscs, xiii! Eu no sou mandjaku
13
nem Burro).
Um di a depois, algum com o pseudnimo "Guinccnsc" replicou:
96
0 DITO E O FEITO
Esta tua mensagem mostra que s um MACACO. No mereces a honra de ser
chamado Caboverdiano. Deves ser um agente Scncgals sempre tentando cau-
sar desarmonia no meio lusfono. Espero que morras como um co sarnento,
seu bastardo.
Em outubro de 1998, no auge da rebelio da Junta Militar, a pgina da Guin na
Portugalnet foi inundada de mensagens com forte apelo emocional sobre algumas
categorias com as quai s os guineenses pensam o seu pas. Em 29 de outubro, Umaro
Bald (no um pseudnimo) enviou uma mensagem intitulada "Cri ston Matchu - O
Grande Vencedor", em que comentava a facilidade com que algum, identificando-se
como Criston Matchu, apareceu no frum de di scusso fomentando o tribalismo en-
tre os guinecnscs c os connitos entre Lope,fundinu c kriston.
Fidjo de Guin explicou em uma longa mensagem o sentido de alguns destes
termos:
Cristos so os indivduos de origem papel
14
que na poca colonial foram
batizados catlicos e tal vez conseguiram a educao de quarta classe primria
e fi zeram a primeira comunho.
Esses indivduos no se identificam nem tm orgulho da sua prpria origem
tnica. Esses indi vduos no so Cristos verdadeiros porque L I praticam ri-
tos religiosos no fundo das florestas ... ritos que envolvem matar ces [ ... ] e
fazer crculos de sangue.
l ... j
Digo aos fundinhos o nome derrogatri o que os criton (sic) chamam aos
Guinccnses de religio islmica (por causa de seus trajes): no se preocupem
com os Cristos eles no respeitam c nem tm orgulho de sua prpria origem
tnica como poderamos esperar ns que respeitassem as outras etnias?
Felismina Manc Ferreira respondeu a uma mensagem de Criston Matchu, cha-
mando-o de burro tribalista. Di zia ela:
I cafundinlw qui tchama senegalis pa luta contra no povo, mas sin qui/ cu ta
tchamadu di civilisadu [ ... ]. (No foi fundinho que chamou os scncgaleses para
lutar contra nosso povo, mas sim aquele que chamado de civili zado 1 ... ].)
Pabia anos Guineensi no ista fartu de civilizadus suma presidenti cura misti
bindi no terra. Corda Criston catchur, pabia abo e catchur grandi. (Porque ns
guinecnses, ns estamos fartos de civilizados como o presidente que sempre
est querendo vender nossa terra. Acorda Cristo cachorro, porque tu s um
grande cachorro.)
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUINBISSAU
Uiiii saca na abo qui camufuladu, i Nino frontadu qui mnndau pa cumfundi no
i mil i desarmonia na tW metadi. Guine i di nos tudu, Civilizadu oh, Djintiu oh,
Branco Guineensi oh, Fundinho oh, Lope oh [ ... ]. (Ui seu sacana camuflado,
o Nino afrontado que te mandou para nos confundir c trazer confuso para a
nossa metade. A Guin de ns todos, dos civilizados, dos gentios, dos bran-
cos guinccnses, dos muulmanos e dos Lope
15
- aqueles que vestem s um
porta-sexo [ ... [.)
97
Outro freqentador do frum tambm polemi zou com Criston Matchu. Dizia
ele:
Guineenses corda badja disna anti bi (sic) bu padidu. I tchiga tempu de no bari
pes de Nino tchamidur, bafadur, muntrus [ ... 1 assassinu, kaba/idu, ku manga di
utrus nomis. Viva Tudu Guineensis. Abaixo Tribalistas. Bapur Kana N' Kadja.
(Os guinccnscs j acordaram antes mesmo de teres nascido. Chegou a hora de
varrer o Nino bebedor, violador, monstro [ ... ] assassino, sem nenhuma valia e
muitos outros nomes. Viva todos os guineenses. Abaixo os Tribalistas. Ou vai
ou racha.)
Fidjo de Fundinho Orgulhoso assim se referi a aos Lope:
Nhu lope cheio de fora. Abo i ca matchu kunu que bu rene. Fidjo de baranda
alto de strada de Santa Luzia na tempo militar tuga. U mame sustentou na
moca peloton intero. Criado de cabunca cu medo r de fijon congo cu catchupa,
sin sapato. Nhu lope cheio de fora, bindidur de carne de pecadur na fera de
Bande ', antropfago filho de uma puta. (Seu tope de merda
16
. Tu no s ma-
cho, vagina o que tens. Filho de um prostbulo da estrada de Santa Luzia no
tempo dos militares portugueses. Tua me te sustentava fodcndo o peloto in-
teiro. Criado de Cabunca - pejorativo para cabo-vcrdiano - comedor de feijo
com cachupa, sem sapato. Seu lope de merda, vendedor de carne humana na
feira do Bandim, antropfago, filho de uma puta.)
[ ... I seu criston matchu cu lope cheio de fora. Bai fede la na matu junto cu
santclw bu companher. ([ ... ] seu criston matchu e tope de merda. Vo feder no
mato, com o macaco, seu companheiro.)
Finalmente, para terminar o embate entre os tipos sociai s que constituiriam a
nao guinccnse nessa pgina da rede mundial, Fundinha respondeu em 28 de outu-
bro de 1998 a Sem Nome, que a havia criti cado anteriormente por ter respondido s
provocaes de Criston Matchu com a mesma falta de compostura na linguagem que
caracterizava as mensagens do provocador. El a no gostou da crtica de Sem Nome e
passou a cham- lo de "estpido, ignorante c sem raa". Assim ela prosseguiu:
98 0 DITO E O FEITO
Certamente os teus bisavs ou avs foram criados dos tugas o que lhes valeu o
seu apelido seu estpido. Voc um covarde e lambidor (sic) de botas de chul
de Nino[ ... ] De certeza tu dormes com os porcos, galinhas c bebes cana e ata ia
dju (vinho de caju). Bu sussu suma porcu i bu ta fedi suma coco i hora cu bu ta
tchami cana di noti bu ta missa cala riba di bu mindjer cu ta missa i cata laba
si cussa ... Ma anos fundinhu no tem igieni i no L impu. Bu sibi me c uma qui no
ta tchama bos me? Enton si bu ca sibi, alinna contou no ta tchama bos "RA-
AS PRETUS E SUSSUS" [ ... ] (Tu s sujo como porco c fedes como coc c
noite quando ests embriagado pela aguardente tu mijas nas calas em cima de
tua mulher que tambm mija e no lava suas partes. Mas ns muulmanos, ns
temos higiene. Tu sabes como chamamos vocs. Se no sabes eu conto que ns
os chamamos RAA DE PRETOS SUJOS [ ... ].)
Concl ui se desculpando com seus ami gos cri stos c com todos os "filhos da
Guin" que no so tribal i stas. Mas para quem pensa que a Guin s deles, el a
manda "cheirar tabaco", porque:
[ ... ] anos tudu i guineensis i mas um bias na Guine no cunsin utru i rw sibi tudu
quin qui quin. ([ ... ]ns somos todos guinccnscs e, mai s de uma vez, na Guin
ns conhecemos uns aos outros c sabemos todos quem quem.)
Bai-pa-Tanaf fez reparos ao cri oulo usado por Fadea em uma mensagem que ele
havia enviado para Cri ston Malchu. Assim foi que Bai-pa-Tanaf criticou Fadea:
Fadea bu crio[ ca bati nada. Abo i ca fundinho nao. U tene um cadencia de
palavras que ta parce Senegalis na tenta papia crio/. I muito certo que abo i
um agente secreto de Senegal na no metade. (Fadca, seu crioulo no presta.
Voc no muulmano no. Voc tem uma cadncia nas palavras que parece
senegal s tentando fal ar o cri oulo. bem provvel que voc seja um agente
secreto do Senegal no nosso lado.)
Ao que Fadca respondeu:
Nha ermon e dias pior cussa cu pudi tchaman i senegalis. N'ca ten tambi nada
quelis e nunca n'ca tchiga di vivi na Senegal ou utro "tchon francis". Nha
crio/ i di Bissau r ... ] Lembra cuma crio/ i ca nim um lngua inda. N' misti fala
cuma por enquanto i ca ten inda nim um estrutura gramatical cu ta regula/.
(Meu irmo, nos dias de hoje a pior coi sa que tu podes me chamar de scnegals.
No tenho nada com eles e nunca vivi no Senegal ou outra colni a francesa.
Meu cri oulo de Bissau [ ... ] Lembro que o crioulo no uma lngua ainda.
Quero dizer que por enquanto ele no tem nenhuma estrutura gramatical para
regul-lo.)
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU 99
Isto se relaciona com outro tema caro e freqente no frum de discusso, o da
auto-imagem marcada pelos atributos da humildade c fragilidade. Ele se fez presente
em uma complexa troca de mensagens em tomo das qualidades (ou ausncia delas)
do ministro dos Negcios Estrangeiros. Friend, em uma mensagem em ingls, fez
reparos a um freqentador da pgina por ele ter chamado o ministro de incompetente.
Disse que o governo era "jovem" c que levaria muitos anos para reconstruir o pas
destrudo pela rebelio militar e que o governo atual no podia alcanar os resultados
que o freqentador do frum esperava porque era pobre e necessitava de financia-
mento internacional. Em resposta a Friend, uma terceira pessoa, com o pseudnimo
de Utru Friend, disse que o mini stro em questo j tinha a vida feita antes de ser
ministro porque soube utilizar bem o que "ganhara com seu humilde trabalho". Ainda
nesta seqncia de mensagens, uma quarta pessoa criticou Friend pelo fato de ele
escrever em ingls e de se definir como "I 00% Ou incense". Isto revelaria um "sno-
bismo" e um exibicionismo inaceitveis.
Em um outro mexerico, que procurava abalar o prestgio de uma notvel famlia
de Bissau, algum se identificou como "Conhecido di Insultado" e defendeu os ir-
mos Cardoso de uma longa srie de maledicentes mensagens, dizendo que "os pais
lhes ensinaram a viver humilde c honestamente".
Mais diretamente ligado ao tema da humi ldade, porm com certa ambivalncia,
Apili Dju desafiava em outubro de 1998:
Senegal i ca ninguin. Se balenti, pabia di que ca pudi caba cu se guerra na
Cassamansi. Oh i lebecementi oh i troa. No mostra e' catchuris di Senegal
c uma no ca mama sussu. Mindjeris di Guine no co mamanta no fidjos liti sussu
] ... ] (Senegal no nada. Se valente por que no pe fim na sua guerra na
Casamansa. Ou falta de respeito ou troa. Ns vamos mostrar a estes ca-
chorros do Senegal como ns no comemos sujeira. As mu lheres da Gui n no
amamentam nossos filhos com leite sujo ] ... ].)
Si no tira Tuga na terra anta i senegal que nin co pudi durallfi 16 anos caba cu
um grupo di rebeldes di se terra. Co no seta lebecimento, pabia terra i di nos,
no ca djuntal cu senegal. No piquinino, ma no cana seta lebecimento. (Se ns
tiramos os portugueses de nossa terra ento o que dizer do Senegal que durante
16 anos no pde com um grupo de rebeldes em seu pas. No aceitamos falta
de respeito, porque esta terra nossa, ns no nos juntamos com o Senegal.
Somos pequeninos, mas no aceitamos falta de respeito.)
No tira e' djintius di no terra, es limbiduris di mon hora que na cume ] ... ](Ns
vamos tirar esses "gentios" de nossa terra, esses lambcdores de mo quando
comem[ ... ].)
100
0 DITO E O FEITO
Repensando os rumores e a nao
Quero nesta ltima seo fazer uma renexo sobre o material apresentado aci-
ma, referindo-o s minhas incurses anteriores aos rumores que narram a nao.
Espero com isto poder dar mais preciso e densidade aos meus achados sobre os
rumores corno um gnero comunicati vo e sobre a problemti ca da identidade na-
cional na Guin-Bissau c estabelecer um cho seguro o bastante para que possa dar
incio construo de um edifcio analfti co um pouco mais amplo, de validade
regional.
Antes de prosseguir, so necessrias algumas palavras de cautel a, pois os exem-
plos apresentados podem induzir o leitor a uma identificao automtica entre as
mensagens que circul am no frum de discusso da Portugalnct c um estilo chuto de
linguagem em que os sujeitos, aparentemente, se esforam c competem para ver quem
mais indecoroso. De fato, o linguajar rude e vulgar em que abundam expresses
grotescas c obscenas um trao peculiar de algumas salas de conversao na internet
Nelas, os participantes parecem fazer uso das palavras chut as corno se estivessem
manipulando objetos inexpl orados, experimentando um encanto c fascnio semelhan-
te ao das crianas quando lidam com as novidades, com tudo que indito e no-
sabido. Li vres das formas de controle que regulam as trocas verbais nas interaes
face a face, os freqentadores desses chats brincam com a vulgaridade, fazendo uso
exausti vo de palavres, testando-os em vrios contextos, imaginando infinitas possi-
bilidades para sua aplicao. Protegidos pelo anonimato c pela inexistncia de uma
co-presena fsica inerente ao meio virtual, eles inconseqentemente travam di sputas
que, de outro modo, teri am desdobramentos catastrfi cos para a continuidade das
relaes sociais. Entretanto, o caso das mensagens que circul am na pgina da Guin
bastante diferente do das salas de conversao destinadas pura sociabilidade.
Certamente, os exemplos que apresentei so marcados por um linguaj ar rude, mas as
obscenidades neles presentes funcionam muito mais como um meio do que como um
fim em si mesmas. No representando os objeti vos primrios dos autores das mensa-
gens, a ofensa c o grotesco tm pouco valor substanti vo. Ao contrrio, elas operam
basicamente no sentido de qualificar (i ntensificar, neutralizar, diminuir etc.) as narra-
ti vas concretas que versam sobre o que ser guinccnsc. Alm di sso, os exemplos que
apresentei sofrem do vis prprio das amostras que no foram obtidas aleatori amen-
te. Eles representam apenas um subtipo de um ti po mais geral de mensagens veicula-
das no frum: aquelas que tcmalizam explicitamente a Guin, mas que se inserem
diretamente no circuito das trocas de idias tendo a conversao como modelo. So,
portanto, renexcs sobre o que ser guinecnse que j nascem sendo ou clamando por
rplica, pretendendo polmica. E curiosamente, elas so majoritari amente veicul adas
em crioulo ou em uma alternncia entre este e o portugus. Com estes acautelamentos,
quero sobretudo di zer que a pgina da Guin mantida pela Portugalnct muito mais
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUINBISSAU 101
rica e variada, no que toca ao estilo de l inguagem, do que os exemplos escolhidos
para anli se.
Esses fragmentos de mensagens na rede mundial de computadores, a princpio,
parecem no comparti lhar de al guns dos atributos bsicos dos rumores, tal como
esbocei acima, especialmente sua natureza oral c seu modo de transmisso por meio
de interaes face a face. J havia reconhecido em mais de uma ocasio (Trajano
Filho 1993, 1993a, 1998) a existncia de uma espcie de migrao de gneros que faz
com que certas mensagens deixem o plano dos rumores orais para se tomarem rumo-
res escritos ou que deixem de ser transmitidas diadicamente, pessoa a pessoa, para
entrar no circuito dos meios de comunicao de massa
17
No caso guinccnsc, a pr-
pria poli ssemia das categorias banoba e banoberu indicativa disso. No entanto, ao
reconhecer esta migrao cu, implicitamente, admitia um decrscimo de si gnifica-
o, pois ao ser fi xado pela escri ta ou veiculado pelo rdio ou televiso o rumor
perderia aquilo que lhe mai s prprio: sua fora performativa e seu poder evocativo.
A polissemi a dos termos banoba e banoberu no aponta somente para diferen-
as hori zontais de sentido. El a estruturada por um princpio que gera primazia e
subordinao. As noes de enquadramento e modulao oriundas das anlises de
Goffman ( 1986) so tei s para o entendimento desta e de outras questes que se
desdobraro a seguir
18
Banoba c banoberu desi gnam respectivamente uma atividade
e seu principal agente. So experi enciados pelos guineenses segundo um esquema
interpretativo ou um quadro de referncia que os destaca do nuxo contnuo dos even-
tos por meio de um conjunto de marcadores que lhes fornecem os contornos semnti-
cos. Os marcadores c os sentidos que constituem esse enquadramento dotam os
guincenses com os meios para l ocal izar, identificar c nomear o que est acontecendo
toda vez que uma banoba alcance seus ouvidos ou saia de suas bocas. Essas catego-
ri as so tomadas como evento e suj eito associados primariamente ao rumor, i sto , a
um gnero narrati vo oral complexo que se caracteriza por uma estrutura de transmis-
so aberta, dialgica e dramtica e por um forte val or pcrformativo. Mas do mesmo
modo que al go enquadrado como briga pode ser modulado em uma brincadeira de
brigar, a atividade enquadrada como rumor (barwba) pode ser modul ada em uma
ati vidade definida como notci a veiculada nos meios de comunicao de massa
(banoba). A dificuldade que esse par de categori as nati vas desi gna simultaneamen-
te o enquadramento bsico e sua modul ao. Estou com isto querendo dizer que o
evento definido culturalmente como notcia (barwba) e seu principal agente, o jorna-
li sta (banoberu) so uma modulao de algo que, Lendo um contorno semntico pr-
prio, constitui um enquadramento bsico: banoba como rumor c banoberu como
mexeriqueiro. Resta saber o que acontece quando banoba como rumor modulada
em banoba como notcia j ornalsti ca. Na realidade, esta modulao impli ca analitica-
mente um duplo desl ocamento. O primeiro remete a uma mudana nos canais de
comuni cao
19
Deixa-se o pl ano da oralidade para se adentrar no da escrita. Este
102 0 DITO E O FEITO
desl ocamento tem como conseqncia imedi ata uma mudana potenci al no pblico
de receptores j que, sendo veiculadas pelo canal escrito, as mensagens s al canam
aqueles que detm a chave para decodificar os sinais transmi tidos por este canal - os
que sabem ler e que tm acesso a tai s media. O segundo deslocamento no implica
descontinuidade, mas uma mera alterao do modo estilfstico (c f. Hymcs 1974: 441 ),
i sto , um conjunto de atributos definido culturalmente cujo uso consi stente toma-
do, em um caso, como definidor do puro rumorejar c, em outro, do plantar rumor
como notci a.
Se, ori ginalmente, cu acreditava que tal modul ao implicava a perda da fora
pcrformati va e do poder evocati vo dos rumores, minhas observaes de como os
guineenses reagem s mensagens veiculadas no frum de discusso acaba por reque-
rer uma modificao deste ponto de vi sta ori ginal. Durante mai s de uma semana,
minhas visitas ao frum foram fei tas com um guineensc que o freqentava ati va e
assiduamente. Nesse perodo, pude notar a ansiedade com que este freqentador me
esperava todas as manhs para acessar a pgina da Guin, no tanto em busca de
notcias sobre seu pas, mas, sobretudo, procura de um di l ogo com seus conterrneos
que desse sentido aos seus sentimentos de pertcncimcnto. Nessa oportunidade pude
observar que os dilogos que constituam esses rumores da web tinham o poder de
alterar profundamente o estado de nimo dos freqentadores, transformando seus
modos de percepo do mundo c evocando realidades duradouras. Diferentemente
das mensagens escritas c vei culadas pelos mei os impressos, segundo o que estou
chamando de lgica lexicogrfi ca, esses rumores modul ados compartilham com os
que fornecem a moldura bsica do gnero uma estrutura de transmisso que torna
possvel a veicul ao de contedos ambival entcs e abertos negociao a cada troca.
Se o desembocar dos rumores nos mei os de comunicao de massa bastante
comum, sendo produto de uma modulao de um gnero culturalmente construdo, o
movimento no sentido contrrio muito mais raro. Vou encontr-l o em algumas men-
sagens trocadas no frum da Portugalnct, que seriam reveladoras de uma transmigrao
invertida de gneros. Nesse caso, o gnero modulado (prprio dos meios de comuni-
cao de massa) seri a remodul ado (rekeyed), conduzindo a ao ao enquadramento
ori ginal. Isto se observa no caso de mensagens relati vamente comuns cujos autores se
identificam com sujeitos apropriados ao tipo de enquadramento bsico dos mei os de
comunicao de massa. No frum de di scusso eles aparecem com nomes to varia-
dos como Reprter, Reprter XYZ e Bantaba FM, sendo bantaba uma palavra cri ou-
la de ori gem mandinga que desi gna o lugar da aldei a usado para os encontros pbl i-
cos, o local da sociabilidade.
Apesar da amide transmi grao do modo oral ao modo escrito, creio serem
abundantes os el ementos de oralidade nas mensagens escritas na pgina da Portugalnct.
Em primeiro lugar, chamo a ateno para o uso freqente de verbos c expresses
indicati vos desse modo de expresso. Assim, Juju demanda que no se deve falar que
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUINB ISSAU 103
somos todos guineenscs; Sibi di Bo aconselha um interlocutor a calar a boca; Bai-pa-
Tanaf destaca a cadncia das palavras de Fadea, que parece a fala de um sencgals.
Friend tambm adverte um participante annimo daquela pgina dizendo/escrevendo
"you check yourself before you speak". Respondendo a ele, Utru Fricnd aconsel ha
"no te apoquentes com esses falatrios" e prossegue apontando uma "razo para
todo esse palavreado", referindo-se s intrigas contra o ministro dos Negcios Es-
trangeiros. Conhecido de Insultado, que veio ao frum defender a honra da famnia
Cardoso, afirma que um dos membros desta famnia "nunca faria isto que andaram a
dizer". Fadea acusada por Compatriota "andar a dizer coisas sem nexo". Responde
afirmando que "si mplesmente disse em voz alta o que[ ... ] a maioria do povo guincense
pensa c deseja". Fidjo de Chon Raa Manhoca defende o comerciante holands inda-
gando quem tem moral para critic-lo. E de modo muito interessante responde indi-
cando que a oral idade no tem a autoridade da verdade: "o z povinho fala, fala, fala,
mas no sabem (sic) de nada." E na mesma linha de negar a verdade do que transmi-
tido pela boca, Betina, em uma longa e emocionada resposta s crticas recebidas,
assinala a maldade e invcrdade das intrigas contra ela levantadas e exorta:
1 ... ] no dissa di basofaria, anos tudu i Guineenses i no cunsim utru bick. Tudo
i son na boca, bardadi lundju inda. ([ ... 1 deixemos de fanfarronice, somos Lo-
dos guinecnses e nos conhecemos muito bem. Tudo r o falado] s de boca, e a
verdade ainda est muito longe.)
Em segundo lugar, a oralidade tambm se deixa entrever atravs da natureza
dialgi ca das mensagens que nucm no frum. Frcqcnlemcnle, nota-se a presena
ausente de um interlocutor a quem a mensagem parece ser destinada. Este sujeito
virtual de um dilogo imaginrio se insinua at mesmo nas mensagens que no so
produzidas como respostas, explcitas ou no, a mensagens anteriores. Tal insinuao
toma formas variadas, dentre as quais destaco o uso de pronomes que exercem a
funo de individualizar um leitor hipottico por meio de um pblico indifercnciado
de leitores e a mudana da forma de discurso indireto para o discurso direto, criando
com isto um interlocutor. Por exemplo, Fidjo de Guin abandona o discurso indireto
com o qual vinha renctindo sobre kristons c fundi nus e assume o discurso direto
dirigido aos ltimos, gerando com este movimento retrico um interlocutor virtual.
Sugiro tambm que enquanto o discurso escrito est as ociado a uma ati vidade
crtica que o torna objeto de uma inspeo mais detalhada c cuidadosa, j que pode
ser escrutinado nas partes e no todo e ter suas relaes e lgica internas examinadas
em detalhes, as formas de oralidade tendem a uma maior instabilidade de tpico e a
uma grande susceptibilidade com relao s situaes sociais (o registro)
20
. Assim,
nas trocas de mensagens mais longas, envolvendo vrios interlocutores, assiste-se a
uma alterao constante de foco temtico e a uma variao estilstica associada
104
0 DITO E O FEITO
mudana de registro. Por exemplo, a saudao feita pelo estudante chamado Dr. Rovi
aos funcionrios da casa comercial de propriedade de um holands transforma-se em
um mexerico no qual o comerciante acusado, numa primeira troca de mensagens, de
corromper funcionrios do Estado guineense, em uma segunda, de denunciar a exis-
tncia de falsos refugiados guineenses s autoridades holandesas c, em uma terceira,
de demitir funcionrios que dormiam com sua mulher. E como c isto no bastasse,
h gente que intervm mais de uma vez nessas trocas para corrigir erros de portugus
e, de passagem, denegrir com ironia a inteligncia de quem os comete c gente que se
intromete para fazer comentrios breves mas rcvcladorcs do humor to prprio do
gnero rumor, como o que se dirige ao Dr. Rovi para lembrar que ele nem bem acabou
a licenciatura c j se diz doutor.
Um outro trao da oralidade pode ser encontrado no estil o de linguagem utiliza-
do pelos part icipantes do frum. Ele marcado por trs atributos gerais que, segundo
Ong ( 1982: 38), so caractersticos da linguagem das culturas orais. I) A nfase nas
oraes coordenadas aditivas em lugar do estilo subordinativo. Este tipo de constru-
o se faz presente no di scurso de Fidjo de Guin, quando este afirma que "cri stos
so os indivduos [ ... 1 que na poca colonial foram bati zados catlicos e talvez conse-
guiram a educao de quarta classe e fi zeram a primeira comunho". Usando o mes-
mo esti lo aditivo, Fundinha vitupera: "tu dormes com os porcos, galinhas e bebes
cana e vinho de caju. Tu s sujo como porco e fedes como coc e noite [ ... ] tu mijas
nas calas e em ci ma de tua mulher que tambm mija e no lava suas partes." 2) O uso
abundante de eptetos e frmulas. So muito comuns os fechamentos com expresses
convencionai s tais como Bapur Kana N'Kaja (lit. vapor no encalha), "Abaixo os
Tribalistas", "Viva a Guin", "Fora Junta", Fora Nino cu si djintis, f ora senegalis
(Fora Nino com sua gente, fora scnegalcscs), ou com provrbios como Ca bu cumsa
que cu ca na bim sibi cabanta (no deves comear o que no sabes acabar). 3) O uso
de redundncias c repeties, como exemplificado pel os seguintes trechos:
Esses indivduos no se identifi cam nem tm orgulho da sua prpria origem
tnica. Esses indivfduos no so cristos verdadeiros [ ... ). A bebida favorita
destes ind ivfduos "CANA" aguardente, carne favorita carne de co. Esses
indivduos embora com pouco nvel educacional querem ser chefes [ ... ].
Ou ainda:
O Nino tem um quarto reservado para atos de matana ) ... ). O Nino acorda a
partir das 3 horas [ ... ]. Nino come gente crua.
O ltimo indcio de oralidade nas mensagens veiculadas no frum de discusso
mostra-se nas inmeras marcas visuais indicati vas de vari aes prosdicas. As prin-
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUINt -BISSAU 105
cipais seriam: a) a repetio de letras que serviria para indicar durao, acento e
entonao (mcrdaaaaaa; byeeeee); b) o jogo entre maisculas e minscul as para su-
gerir mudana de volume, registro e de entonao; c) o uso de sinais de pontuao
para orientar pausas, suspenses, aceleraes e desaceleraes no fraseado (Home u
papia .... !!!!!! Comentaria pa k.e???????) e d) sinais visuais que emulariam signos
sonoros no-verbais como as vrias formas do riso (Palerma, dja bu odja ma m'tinha
rason ora kim fia ma nhos so burro! ehehehh uhuhuhu ahahahah). Essas marcas
visuais funcionam de modo anlogo s variaes prosdicas usadas pelas pessoas
envolvidas em interaes verbais face a face para iniciar, sustentar e terminar os
encontros c suas partes constitutivas. Como estas, aquelas servem tambm para redu-
zir as ambigidades das trocas verbais e para recuperar o valor do contexto e um
pl ano de signifi cao que est alm do referencial: agregam marcas estilsticas aos
valores referenciais c indi cam ou sugerem a sobrevivncia da fora performativa
sufocada pela fixao pela escrita
21
Certamente, em face das evidncias trazidas pelo exame das mensagens no frum
mantido pela Portugalnct, necessrio repensar o tratamento prvio que dei questo
da relao entre os modos da escrita e da oralidade. Os rumores da web trazem consi-
go a novidade prpria dos textos eletrnicos. Trata-se de um modo de comunicao
escrita que, sob certos aspectos, difere profundamente da escrita impressa. Compa-
rando com as formas impressas e at mesmo com as mensagens orais veiculadas pelo
rdio c pela televiso, o texto eletrnico tem uma capacidade de reproduo to mai-
or c a um custo to baixo que se aproxima de zero. Mas ao contrrio destes meios, ele
pode ser facilmente manipulado por todos que a ele tm acesso, fazendo com que sua
di vulgao escape da maioria dos mecani smos sociais de controle e censura. As con-
seqncias di sto so imensas, no havendo espao neste trabalho sequer para um
esboo mai s completo. Restrinjo-me a apontar algumas que tm impacto direto sobre
o tema que estou tratando. Em primeiro lugar, a quase ilimitada capacidade de repro-
duo do texto eletrnico, sua elevada acessibilidade c a possibilidade de ser manipu-
lado durante todo o circuito de transmi sso tomam de certo modo anacrnica a fi gura
do autor indi vidual e minam a perspectiva lexicogrfi ca de sentido to prpria das
formas impressas. Isto o aproxima do modo de comunicao oral, onde a autoria
coleti va ou annima e a ambigidade e negociao de sentido so comuns. Em se-
gundo lugar, o texto eletrnico tambm se aproxima das formas orais porque tem uma
dinmica de comunicao assemelhada adotada nas prticas de comunicao oral,
dando uma ccntralidadc toda especial ao modelo de conversao. As salas de con-
versao na internet - os chats - ou redes internas fornecem um bom exemplo dessa
aproximao. Operando em tempo real, esses espaos virtuai s so concebidos como
locais de conversao onde se emulam trocas verbais atravs da comunicao escrita.
Para manter a dinmica dos di logos orai s, mas restringidos pelas limitaes do di-
logo textual escrito, os freqentadores desses espaos tm desenvolvido um estilo
106 0 DITO E O FEITO
prprio, marcado por frases curtas escritas em um jargo caracteri zado por bajxa
padronizao, carregado de abreviaes e cones construdos com sinais de pontua-
o grfi ca - os emoticons ou smileys
22
- para indicar emoes, estados d'alma e
sensaes fsicas. Com isso buscam recuperar a dimenso da oralidade perdida no
processo de passar para o modo escrito uma mensagem ori ginalmente oral -a sua
fora performativa capaz de fazer coi sas, de evocar fortes emoes. Isto especi al-
mente necessrio quando as mensagens so trocadas em um meio em que no h
contexto ou referentes externos ao texto, como o caso das salas de conversao.
O frum de discusso que estou examinando no um espao de trocas verbais
que opera em tempo real , por isso seus parti cipantes no sofrem com as restries do
di logo textual escrito existentes nas salas de conversao. Nele no se observa o
estilo prprio desses espaos virtuais nem o jargo neles utilizado. Mas como espero
ter demonstrado, os textos veicul ados no frum comparti lham com os textos eletrni-
cos das salas de conversao a ilimitada capacidade de reproduo c manipulao, a
liberdade diante dos mecani smos de censura ou controle, o anonimato da autoria e a
abundncia de elementos prprios da oralidade, inclusive sua dimenso performativa.
A especificidade da pgina destinada Guin encontra-se no fato de que nela a mo-
dulao da oralidade, especialmente no que toca baixa padronizao, est tambm
associada ao uso do crioulo, uma lngua que ainda no adquiriu sistematizao escri-
ta. Isto faz com que, no contexto do frum, tal modulao sej a rcmodulada como um
enquadramento primrio indito, que faz a medi ao entre os modos escrito e oral.
Ao anali sar o desaguar dos rumores nos jornais c em outros textos escritos pude
mostrar que a tenso entre estes dois modos era ela mesma parte do ethos colonial e,
de certa maneira, constitutiva da relao entre a cultura do Estado, com seus projetos
e defi nies referenciais ou lexicogrfi cas, e a cultura da sociedade, com seu murmu-
rante burburinho sonoro, sua tagarelice c falatrio. Reconhecia, ento, que oralidade
e escrita no deviam ser tratados como dois modos estanques que separam mentalida-
des, estratificando c hierarquizando diferenas (cf. Furniss c Gunncr 1995; Collins
1995), mas no ia alm da afirmao de uma tenso. No tendo ferramentas para
descrever os processos de transmigrao de um modo a outro, s reconhecia a tenso
pela via dos resduos e marcas do modo oral deixados no modo escrito. A apropriao
das idias de Goffman sobre enquadramento e modulao no implica mudana de
meu argumento bsico sobre a existncia de uma tenso constituidora de identidades
e de um ethos, mas oferece ferramentas para a descrio de trnsitos, dinmicas e
processos de passagem de um modo a outro.
Alguns fragmentos das estrias apresentadas, corno aqueles que mencionam os
hbitos alimentares do presidente Nino Vieira, as ordens de Jacques Chirac c as aes
do holands Jan Van Maanen, poderiam induzir o leitor/ouvinte a tomar essas narra-
ti vas como pertencentes a um gnero parte, di stinto dos rumores: o dos mexericos
ou das fofocas. Deixei de mencionar, para evitar repetio desnecessria, inmeras
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU
107
intrigas que surgem no frum da Portugalnet, em geral , li gadas s prticas dos not-
veis da Guin. Em meus trabalhos anteriores no fi z nenhum esforo para diferenciar
rumor de mexerico. Tratei como casos de um mesmo gnero tanto os rumores mais
bvios, como o dos sapa kabesa, e as intrigas mai s mexeriqueiras, como as estrias
sobre brigas c infidelidades conjugais, e em nenhum momento me deti ve para ponde-
rar sobre a inutilidade de tal di stino. Gostaria agora de dedicar um dedo de pensa-
mento ao assunto, revelando com isto uma faceta da sociedade crioula da Guin.
Os esforos de autores como Rosnow ( 1988: 14- 15), Kapferer ( 1990: 15, 177-
178) c Bcrgmann ( 1993: 45-70) para di stinguir mexerico de rumor sofrem de uma
mesma deficincia bsica, que est ligada crena equivocada na prevalncia univer-
sal da separao entre as esferas pblica c privada. Esta distino de gneros carece-
ria de signifi cao em contextos sociais onde as duas esferas no so to claramente
separadas, como atesta a dificuldade vivida por um rico comerciante no seguinte
aviso publicado no Bolerim Oficial da Guin em 1904.
Havendo n'csta terra o pessimo costume de no se dcferenar a casa commercial
da particular, declaro para que ningucm possa allcgar ignorancia, que s tracto
de negocio, quando as ponas da loja esti verem abertas.
Pelo porto grande do jardim s entram as pessoas de minhas relaes- ass.
Jos de Macedo (Boletim Oficial da Guin Portugueza, n 29, 25nll904: 202).
Em uma sociedade fortemente marcada por princpios patrimonialistas de orga-
nizao polftica em que h uma relativa indistino entre o patrimnio pessoal de
governantes c notveis em geral e o aparato admini strati vo pblico, em uma cultura
si ncrtica em que as formas de se conceber o poder c a autoridade so orientadas por
uma ideologia de pertencimento corporado que afirma uma interdependncia extre-
ma entre governantes c seus sujeitos, entre os interesses c o destino da unidade pol-
tica como um todo e os dos grupos de parentesco que ocupam posies de autoridade
(Kopytoff 1987: 49-52; Trajano Filho 1998), no gramatical que se conceba qual-
quer separao radical entre as esferas pblica c privada c, em conseqncia, entre
rumores e mexericos. No h, portanto, um gnero especfico cuja circulao se res-
tringe ao grupo primrio, cuja temtica se volta basicamente para aes pessoais
relacionadas a violaes do cdigo moral, cuja eficcia se deve ao estilo conversador,
distinto de um outro, cuja circulao alcana toda a sociedade ou suas fraes mais
amplas, cuja disseminao se d como a do cheiro, se espalhando por todas as dire-
es, cuj a temtica impessoal e cuja fora reside no seu sentido de urgncia
23
. Na
Guin, o que h so estrias narradas com maior ou menor fora dramtica, com
maior ou menor propriedade, com muita ou pouca credi bi lidade c talento dramtico-
narrativo, tematizando assuntos e relaes centrais ou perifricas; em ltima instn-
cia, o que h so rumores que pegam c que no pegam.
108 0 DITO E O FEITO
Um grande nmero de mensagens veiculadas no frum de discusso tem a pr-
pria Guin, enquanto unidade de identificao coletiva, como tema. Tal como os
rumores abordados em meus trabalhos anteriores, as mensagens que circulam nessa
pgina da Portugalnet so verdadeiras narrativas da nao, porque a criam e recriam
sempre que algum entra no frum. Elas representam o que pertencer a essa unidade
e fornecem queles que as experienciam uma moldura para enquadrarem e organiza-
rem a experincia de serem membros de uma unidade de pcrtencimento delineada por
fronteiras construdas simbolicamente por meio do estabelecimento de algumas des-
continuidades atravs de aes violentas. O prprio sentido de absurdo que tai s vio-
lncias potencialmente esto aptas a evocar por causa de sua natureza extremada
poderia retirar dessas narrativas sua veracidade e sua aura realstica, especialmente
quando as aes de ruptura e dilaceramento deixam de ser perpetradas por seres an-
nimos como os sapa kabesa e passam a ser realizadas por seres do poder como os
presidentes Nino e Chirac. O sentido de veracidade , no entanto, recuperado pela
preocupao esti lstica com os detalhes da narrativa como, por exemplo, a referncia
ao tipo de mina que o presidente francs mandou espalhar pela Guin e ao horrio e
local, e o tipo de carne humana preferido pelo presidente deposto da Guin.
As aes concretas pelas quais tais narrativas representam a criao de descon-
tinuidades conslituidoras de identidades e diferenas so basicamente do mesmo tipo
que as expostas nos rumores orais. Trata-se de aes violentas por parte de um Outro
que pem o guineense parte dele mesmo, tornando-o um ser incompleto c parcial.
Se antes isto era feito cortando ritualmente as cabeas, extraindo a alma ou o sangue
do corpo e separando crianas de seus pais, agora isto se faz semeando minas que
dilaceram corpos. Assim, um Outro cxplfcito e nominado, poderoso e perverso, o
presidente francs Jacques Chirac, manda um outro prximo mas vi l c coisificado, o
Senegal, espalhar minas especiais para matar gente na Guin. Tambm se faz por
meio da imputao de qualidades que desumanizam, pelo excesso, monstruosidade e
ausncia de sociabi lidade. Encontram-se neste caso a me do tope que tem sexualida-
de exacerbada, dormindo com um peloto inteiro de portugueses; o prprio tope an-
tropfago, traficante de carne humana; o presidente canibal, monstruoso, bbado e
violador; a pessoa que, por ser chamada Sem Nome, tambm "sem raa", isto , sem
os laos de pertencimento que dariam sentido ao seu ser social; aquele que bebe em
excesso e no tem controle de suas funes fisiolgicas bsicas, urinando nas calas,
sobre sua mulher que, por sua vez, tambm urina sem controle e no lava suas partes;
os gentios senegaleses que no tm maneiras, lambendo-se quando comem e comen-
do coisas sujas. Alm disto, o guineense tambm tornado incompleto e parcial pela
via da animalizao cxplfcita, que pode tomar a forma do xingamento puro e simples
que imprime no ofendido as qualidades inerentes aos seres com os quai s se ofende
com uma fora tal que aquele incopora as qualidades destes. A animalizao pode
tambm ser criada por meio de relaes metonmicas que criam continuidades entre
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUIN-BISSAU
109
ofendidos e os veculos da ofensa. Desta forma, a proximidade e o contgio dos
kristons com porcos, gal inhas c vacas transferem as qualidades dos ltimos aos pri-
meiros.
Diferentemente dos rumores orais, em que as aes violentas que criavam o
guineense como um ser incompleto eram perpetradas exclusivamente por um Outro
monstruoso, desumano c estrangeiro, por i sso carente de sociabilidade, os rumores
que circulam no frum discorrem sobre sujeitos que fragi lizam e violentam, cujas
origens esto fora c dentro da Guin. Obviamente, os franceses e senegaleses so os
sujeitos externos preferidos para assumir o papel do Outro que violenta
24
. I sto espe-
cialmente significativo quando se tem em conta que as mensagens anal isadas aqui
datam majoritariamente do perodo em que a Guin encontrava-se invadida por mi-
lhares de sol dados scnegaleses.
Entretanto, a maioria das aes que cria a descontinuidade possibilitadora da
constituio de identidades e diferenas so aes perpetradas por um Outro inte-
rior. A nao narrada nos rumores do frum pela representao de um certo tipo
de diferena interna veicul ada pelas categori as fundinu, Lope, kriston, burmeju,
civilisadu, entre outras. A mensagem bsica desses rumores que essas categorias
no so vi vei s como uni dades de identificao porque so marcadas por deficin-
cias fundamentais. Em outras palavras, os rumores na Portugalnet reconhecem as
diferenas internas s para afirmar sua inviabi l idade como unidades de i dentifica-
o signifi cativas - sobretudo para quem est fora da Guin, como o caso da
imensa maioria das pessoas que freqenta o frum de di scusso. A inviabi l idade
posta em termos positivos e negativos. Representam o primeiro caso as exortaes
do tipo "somos todos gui ncenses" ou "na Guin nos conhecemos uns aos outros,
sabemos quem quem". Representam o segundo caso as descri es emocional -
mente carregadas dos atributos desacreditadorcs de cada categoria, as difamaes e
ofensas radi cai s a quem foi o piv da cri se de ento - o presidente Nino Vi eira, que
na cultura patrimoniali sta l ocal passou a representar variadamcnte kriston, Lope e
civilisadu - c, sobretudo, a frmula ritualizada, escrita na maioria dos casos em
maisculas: ABAIXO O TRIBALISMO!
Curioso caso o da Guin, em que a ameaa do tribali smo no se configura pela
identificao dos sujeitos sociai s com unidades tnicas ou tribai s. exceo de uma
mensagem com claros objeti vos didticos, escrita em portugus por Fidjo de Guin,
no h nos exemplos arrolados anteriormente uma nica meno ao termo etnia ou
tribo. O tribal ismo que ameaa os guineenscs que freqentam a pgina da Portugalnet
tem como referncia lingstica bsi ca categorias l igadas ao vesturio e rel igio.
Lope descreve um tipo de vestimenta usado por grupos sociais de origem tnica va-
riada. Fundinu tambm se refere a uma espcie de roupa - o ampl o calo usado
pel os grupos i sl amizados da Guin. Kriston , obviamente, uma categoria que origi-
nalmente aponta para uma diferenci ao de natureza rel i giosa c, secundariamente,
110 0 DITO E O FEITO
para uma diferenciao social sem contedo tnico - o africano que vive nos aglo-
merados urbanos crioulos, mais ou menos exposto s prticas e valores lusitanos.
Minha sugesto que este tipo de tribali smo que no tem nas tribos a sua refe-
rncia primria revelador do sucesso parcial de um projeto colonizador que se pen-
sava como misso civilizadora. Tratei recentemente (Trajano Filho 2000) do estilo de
colonizao portuguesa, notando que ele se constituiu em torno da imagem de um
Portugal frgil e humilde, cuj a presena em frica era boa para pensar a continuidade
da frgil nao com as glrias passadas do tempo dos descobrimentos, boa, sobretu-
do, para contemplar e no para explorar. Sugeri que esse esti lo de coloni zao repre-
sentou uma concretizao notvel do poder dos fracos, porque teve enorme sucesso
em inculcar essa auto-imagem nos sujeitos colonizados.
Quero concluir, voltando comparao entre os rumores que anali sei anterior-
mente e os rumores travestidos da web. Os primeiros representam o esforo interno
para pensar implicitamente a totalidade que a nao, atravs de descontinuidades
que focalizam a ao viol enta de um Outro externo sobre o incompleto c frgil
guineense. Os segundos representam o esforo de guinecnses vivendo fora da Guin
para pensar expli citamente a nao por meio do estabelecimento de diferenas inter-
nas. Ambos criam e recriam uma unidade de identificao com grande fora evocativa
e sentimental como uma comunidade imaginada e o fazem atravs dos rumores como
um gnero comunicativo enquadrado pelo modo da oralidade. Ambos confirmam a
produtividade analtica do modo de se conceituar a nao proposto por Benedict
Anderson ( 1983), mas ambos revelam o eurocentrismo bsico que funda sua proposi-
o. Afinal de contas, as comunidades nacionais podem ser imaginadas pela oralidade
comparti lhada dos rumores, que contracenam com uma certa independncia e auto-
nomia com os discursos elaborados a partir do Estado, podem ser imaginadas sem a
mediao do print capitalism.
Notas
1
Agradeo a Mariza Peirano, Alcida Ramos, Lus Roberto Cardoso de Oli veira e Jayme Ara-
nha pelos preciosos comentrios feitos ao texto original.
2
A pgina da Guin- Bissau pode ser acessada no seguinte endereo: <hllp://www.portugalnet.pt/
encontro/guine>.
3
Este e outros rumores correntes na povoao crioula de Geba no ltimo quartel do sculo
XIX encontram-se registrados em Marques Gera Ides ( 1887: 476-479).
4
O leitor notar ao longo do texto alguma discrepncia no modo de grafar as palavras crioulas.
Isto se deve ao fato de no haver ai nda uma padronizao para a escrita do crioulo. Quando o
meu uso do idioma no for urna citao direta, adoto o projeto de grafia da lngua elaborado
em 1981 pelo Ministrio da Educao Nacional, publicado corno apndice em Roug ( 1988).
5
O assassinato e consumo ritual de partes do corpo humano so, na realidade, elementos da
A NAO NA WEB: RUMORES DE IDENTIDADE NA GUINBISSAU 11.1
simblica pan-africana para lidar com a temtica do poder, operando muito alm da estreita
dimenso da cultura crioula. Aes desse tipo tm sido registradas desde os primeiros contatos
entre europeus c africanos, permanecendo pl enamente signi ficativas no contexto das profun-
das mudanas do perodo ps-colonial. Para exemplos contemporneos, fora do mbito da
cultura crioula, ver Comaroff c Comaroff ( 1999) e Brinkman (2000).
6
Ver o estudo de Nardin ( 1966) sobre os usos do termo grumete e sua variante francesa gourmet
na costa africana ocidental. Alguns textos do sculo XIX c incio do XX que f azem referncia
aos grumetes guinecnses merecem ser mencionados. Dentre outros, ver Faro ( 1958), Pereira
Barreto ( 1947), Lopes de Lima ( 1844), Valdez ( 1864), Marques Gera Ides ( 1887), Barros ( 1911)
e Vasconcelos ( 19 16). Esforos contemporneos para explorar histri ca e sociologicamente
esta categori a encontram-se em Cunningham ( 1980), Plissier ( 1989) c Trajano Filho ( 1998).
7
Uma formao social estrutural e historicamente prxima da sociedade cri oula da Guin-
Bissau, o mundo crioulo de So Tom e Prncipe, tambm aproxima os rumores dos meios de
comunicao de massa. L os rumores, boatos e anedotas so chamados indistintamente " r-
dio boca a boca" ou " Rdio BB". De modo anlogo, em vrias cidades da frica francfona,
a discusso informal e popular sobre os assuntos correntes conhecida como radio trottoir.
Ver Trajano Filho ( 1993b) e Seibert ( 1999) sobre o caso santomensc.
8
O problema com este frgil consenso est ligado dificuldade de se estabelecer uma l inha
fixa de ambigidade e tenso que uma vez cruzada produziria rumores.
9
A natureza performativa do rumor tambm tem sido ressaltada de maneira independente por
outros autores. Ver, p. ex., Bhabha ( 1994: 200-203) e Das ( 1998).
10
Durante o perodo de instabilidade poltica que se iniciou com a rebelio da Junta Militar em
junho de 1998 c s veio a terminar com a queda do presidente Nino Vi eira c sua sada do pas
em maio de 1999, a reproduo de matria jornalfsti ca sobre a Guin na pgina da Portugalnet
tinha um espectro muito ri co. Apareciam ali notci as provenientes de j ornais portugueses,
franceses, senegalcses e de agncias como a BBC, a CNN c vrias agncias africanas.
11
No jargo usado pelos intcrnautas, o ato de acompanhar de maneira incgnita as discusses
reali zadas em um frum eletrnico chamado de lurking, c aquele que o pratica o lurker.
12
Em geral as mensagens so escritas sem sinais de acentuao grfica. Para faci l itar a leitura,
as ci taes em portugus sero acentuadas.
13
Na Guin, Mandjaku (Manjaco) um etnnimo. Em Cabo Verde uma categori a pejorativa
usada para designar todos os africanos da costa ocidental.
14
Papel o grupo tni co majoritrio na ilha de Bissau, onde se localiza a capital da Guin.
15
Lope a palavra crioula de ori gem banhum que designa o pano usado como tapa-sexo pelos
rapazes. Por um processo de extenso semntica passou a designar tambm, c de modo pejo-
rati vo, a cl asse de gente que f az uso de tal vestimenta.
16
A expresso cheio de fora, que traduzo pela locuo chula " de merda", qualifica o sujeito
como algum que pensa que vale mais do que realmente vale, algum cheio de si.
17
Nunca esti ve s na defesa deste ponto de vista. Na literatura que consultei, a mai ori a dos
autores reconhece que, sob as mais diversas condies, os meios de comunicao de massa,
como os jornai s, televiso c rdio, tambm veiculam rumores, de modo ori ginal ou como
relatos de segunda mo. Ver, dentre outros, Peterson c Gist ( 195 1: 162), Shibutani ( 1966,
112
0 DITO E O FEITO
passim), Firth ( 1967: 153), Lienhardt ( 1975, passim); Rosnow ( 1980: 578) c Kapfcrer ( 1990:
I, 53-59).
IS Enquadramento e modulao so as formas que encontrei para traduzir os conceitos de
framing c keying.
l9 lsto acontece at mesmo no caso dos rumores que transmigram para o rdio e a televiso. A
organizao dessas instituies sociais de tal modo regul ada pela lgica lexicogrfica da
escrita que at os rumores que elas veiculam acabam por ter a mesma natureza dos transmiti-
dos pelos jornais c outras formas impressas.
2
0 Sigo aqui Hymcs ( 1974: 440), que define registro como os grandes estilos de fala associados
a tipos recorrentes de situaes.
21
Sobre a importncia da prosdia na reduo da ambigidade nas conversaes e a noo
de conveno de contcxtualizao, ver Gumperz ( 1982: I 00- 152). No tocante a este ltimo
conceito, Gumperz (idem: 208) aponta que ele nos permite tratar sob uma mesma rubrica
fe nmenos que aparente mente so di stintos, dentre os quais destaco prosdi a, mudana de
cdigo c de e ti l o c escolha de opo sinttica ou lxica. O fenmeno da mudana de cdigo
nas mensagens trocadas no frum da Portugalnet muito freqente c merece uma anli se
independente.
22
Sobre o jargo usado na internet e a funo dos emoticons, ver Nbilc ( 1998), o texto de
Cyberrdewed, acessado em <http://members.aol.com/Cybersoc/is2cybcrdude.html>, e The New
Hacker 's Dictionary, acessado em <http://www.eps. mcgi ll.ca/jargonl>.
2
3 Estes seriam os atributos bsicos que no entender de Orrin Klapp separariam os dois gne-
ros. Ver exposio deste argumento em Rosnow ( 1988: 14- 15). Bcrgmann procura demonstrar
o modo de disseminao prprio dos rumores focalizando a categoria cultural alem Gercht
(rumor). Segundo ele ( 1993: 70), esta categoria gravita no mesmo campo semntico da cate-
goria "cheiro", Geruch, havendo entre elas uma associao semntica que aponta para uma
semelhana no modo de disseminao.
24
Os cabo-vcrdi anos tambm assumem este papel com grande freqncia, em razo da rivali-
dade existente entre estes c os guineenses, rivalidade que foi ainda mais intensificada pelos
eventos obscuros ligados ao assassinato de Amlcar Cabral c pelo golpe de Estado que deps
o presidente Luis Cabral em 1980, pondo fim ao sonho de unidade polftica entre os dois pa-
ses. Porm, para efeitos desta anlise, possvel tratar as tenses que envolvem os cabo-
verdianos como uma forma de oposio interna.
CAPTULO 5
Das Bravatas.
Mentira ritual e retrica da desculpa
na cassao de Srgio Naya
Carla Costa Teixeira
sta comunicao se insere em um projeto maior que busca desenvolver uma
1.::2 etnografia comparativa dos contextos comunicativos das promessas e das brava-
tas no domnio da ao poltica. Meu foco aqui a noo de bravata e sua negociao
ao longo do processo de cassao do deputado federal Srgio Naya - sendo a concep-
o de promessa a referncia comparativa, embora muitas vezes no explicitada. A
promessa, sendo um ato de compromisso pblico firmado na anunciao de atos futu-
ros, ou seja, na contrao de uma dvida, realiza-se em uma temporal idade distinta da
bravata. Esta um ato de fal a que confirmaria realizaes passadas, afirmando com-
promi ssos cumpridos c, por tal procedimento, reforando o "saber fazer" do poltico
e seu potencial para renovar alianas e fazer novas promessas. Em que consiste o
discurso da bravata, quais so os mecanismos internos que o estruturam c as circuns-
tncias que propiciam o seu surgimento, so algumas das indagaes que orientaro a
anlise aqui dcscnvolvida
1
O empresrio c deputado federal Srgio Naya, deputado mai s votado em seu
estado nas eleies de 1990, engenheiro civil c possui vrias empresas integradas
na Sociedade Empresas Reunidas Srgio Augusto Naya (SERSAN), dentre as quais
se destaca uma empresa de construo civil, responsvel por empreendimentos imo-
bilirios dentro c fora do pas
2
A construtora SERSAN tem contra ela centenas de
processos trabalhistas em Braslia, local em que concentra a maior parte de suas ati-
vidades, c vrias obras embargadas pela Justia. Tal perfil veio ao conhecimento do
pblico em geral quando uma coluna de 22 andares de um prdio residencial de sua
responsabilidade desabou na Barra da Tijuca, regio de classe mdia no Rio de Janei-
ro, na madrugada de 22 de fevereiro de 1998, em meio ao carnaval carioca. No desa-
bamento, vri os moradores fi caram feridos e oito morreram. O edifcio foi condena-
do pela Defesa Civil c a estrutura restante demolida, por imploso, dias depois.
As primeiras avaliaes reali zadas no local apontaram a utili zao de material
de construo de pssima qual idade e erros no projeto estrutural como causas do
desabamento. As manchetes dos jornais e revi stas, bem como as reportagens transmi-
tidas pelas emissoras de televiso, davam vazo indignao geral provocada pela
114 0 DITO E O FEITO
"tragdia" do Palace 11 (nome do edifcio que desabou) - ao mesmo tempo que a
constituam. Esta indignao, contudo, seria agravada pelas declaraes de Srgio
Naya, responsabilizando os prprios moradores pelo desmoronamento do edifcio
3
,
e, principalmente, pelas imagens transmitidas pela maior rede de televiso brasileira
nas quais Naya se vangloriava, em uma reunio cerca de um ano antes, de ter come-
tido aes passveis de enquadramento em crime de falsidade ideolgica, contraban-
do c compra de votos.
Assim, na vspera da divulgao destas imagens, se podia ler nos jornais edito-
riais como estes:
"O fato do construtor ser tambm deputado uma pitada a mais de fel no epi-
sdio, e ajuda a chamar a ateno sobre ele. [ ... 1 H outros empreiteiros, com
ou sem mandato, construindo em padres semelhantes ao da SERSAN -e isso
no deve ser desconhecido em nome da politizao da tragdia" (O Estado de
S. Paulo, I /311998).
"Se a licena para processar Srgio Naya j difcil, mais ainda a hiptese de
prosperar um eventual pedido de cassao" (Folha de S. Paulo, 1/3/1998).
Todavia, posteriormente, o foco das acusaes deslocou-se do empresrio para o
parlamentar. A dimenso polftica do evento - presente desde o incio, mas em menor
destaque - foi posta em evidncia pelas "confisses" de Naya, redefinindo o cenrio
no qual os embates passariam a ser travados. Uma cpia da reportagem exibida pelo
programa de televiso foi imediatamente solicitada pela Cmara dos Deputados.
Embora o processo na Justia j estivesse em curso, foi somente a partir desse progra-
ma de TV que teve incio o processo polftico de cassao de seu mandato, com base
no dispositivo constitucional de conduta incompatvel com o decoro parlamcntar4.
O processo poltico
No dia 14 de abril de 1998, o deputado federal Jos Genono (Partido dos Traba-
lhadores, So Paulo
5
), defendendo no plenrio da Cmara sua posio favorvel
cassao de Naya, fez a seguinte declarao: "H uma fita que reproduz uma voz,
uma imagem e uma pessoa, cuja imagem, fala e contedo da fala no foram desmen-
tidos." Repetindo: "H uma fita que reproduz urna voz, urna imagem c uma pessoa,
cuja imagem, fala e contedo da fala no foram desmentidos."
Ora, que estilo de narrativa esta sentena nos evoca? Que impresses suscita?
Sua fora especfica, tomada de emprstimo ao jornalismo, parece residir em sua
funo referencial estrita, ou seja, na afirmao construda descritivamente de que
existe um fato/uma fita e que este no foi negado pela defesa. Sendo assim, sugere
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA 115
que no caberiam interpretaes. O fato poltico ocorreu e Srgio Naya deveria ser
condenado. Se no houve um desmentido, e no houve mesmo, tambm no houve
uma aceitao do fato nos termos de voz, imagem, pessoa, fala e contedo.
A tensa negociao durou quase dois meses e sua observao minuciosa - dire-
tamente nas dependncias da Cmara c atravs dos registros do processo no Dirio
da Cmara dos Deputados, das notcias c entrevistas nos j ornais c nas emi ssoras de
televiso - permitiu-me apreender a importncia e o percurso da noo de bravata no
duelo que se estabeleceu entre acusao c defesa em torno dos outros componentes
do evento, ou sej a, quando, por qu c aonde o dito fato teria ocorrido. A estrutura do
Lead - evocada pelo deputado Genono - estava, assim, em via de se completar.
A fit a de vdeo em questo consiste de uma reportagem exibida pelo progra-
ma Fantstico, da Rede Gl obo de Televi so, em I
0
de maro de 1998. Neste pro-
grama, alternam-se imagens relativas ao desmoronamento c imploso do edifcio
Palacc 11, imagens de outros empreendimentos da construtora de Srgio Naya e,
mais importante, imagens, atuai s c anti gas, da cidade de Trs Pontas (Minas Ge-
rais). Trs Pontas, cabe esclarecer, uma das cidades onde Srgio Naya costumava
ter expressiva votao, somando-se a outras cidades do sul de Minas: Laranjal -
cidade em que Naya nasceu - , Muria, Leopoldina, Nanuque, Itanhandu, Passa-Qua-
tro c Bambu. O ritmo e o tom da seqncia de imagens podem ser apreendidos logo
no incio do programa:
PROGRAMA FANTSTICO - REDE GLOBO DE TELEVISO
[Imagens mostrando Rosana Nunes - moradora do edifcio Palacc ll - choran-
do, desesperada l
LOCUTOR: Os cinco segundos mais terrveis da vida de Rosana Nunes.
DEPUTADO SRG lO NAYA l Dirigindo-se a vereadores de Trs Pontas- MG]:
Eu falsifico mesmo.
LOCUTORA: As trs p l v r ~ mais reveladoras do deputado Srgio Naya.
LOCUTOR: Boa noite. Entre o grito da moradora do Edifcio Palacc 11 e o
cini smo do deputado empresrio, uma tragdia expe o pior da prtica poltica
no Brasil.
LOCUTORA: Voc vai conhecer a bi ografi a de Srgio Naya, o deputado c
empreiteiro que acusado de construir edifcios de areia. O Fantstico mos-
tra, com excl usividade, uma reuni o onde Naya confessa os seus mtodos
que incluem compra de votos, falsificao de documentos, fraude e trfico de
innuncia
6
.
A exibio de tomadas de cenas em torno de ex-moradores (freqentemente
denominados "vtimas") do edifcio Palace 11 cria, no vdeo, o clima emocional
acusatrio que atinge seu ponto alto com a edio de imagens da reunio do deputado
Srgio Naya com vereadores de Trs Pontas em outubro de 1997. Estas foram as
116 0 DITO E O FEITO
imagens que serviram de base para a abertura do processo de cassao de seu manda-
to. Vejamos:
LOCUTORA: E agora voc vai ver cenas excl usivas de uma reunio no Sul de
Minas em que o deputado Srgio Naya se vangloria de praticar fraudes, fal sifi-
caes e trfico de influncia.
REPRTER: O deputado Srgio Naya figura conhecida na cidade de Trs
Pontas.
SENHOR NO IDENTIFICADO: S quando ele vem pedir voto aqui, precisa
de voto que ele aparece aqui .
REPRTER: Est sempre em rodas de pol ticos recebendo homenagens, fa-
zendo pose nos palanques c nas inauguraes do Governo Federal. Esta Coo-
perativa de Costura [imagens de costureiras trabalhando! obra do deputado.
H trs anos deu mquinas c emprego para 90 mulheres, mas a cooperativa
faliu. E quando as costureiras pediram aj uda para pagar salri os atrasados. o
deputado props uma fraude.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigindo-se s costureiras!: Tem doi s meses
atrasados ... Olha, voc vai receber um ms. Tem que assinar duas folhas. Rece-
be quem assinar aqui . Quem no assinar no recebe. Tem que partir para isso.
Eu no vim aqui para ensinar besteira para vocs, no. a nica maneira que
cu t vendo!
REPRTER: A ltima obra patrocinada pelo deputado Srgio Naya em Trs
Pontas a construo de 120 casas populares na periferia. O deputado paga
tij olos, cimento, telhas. Em troca quer o apoio pol tico dos vereadores. Tudo
ficou acertado numa reunio h quatro meses. As imagens so de um cincgrafista
amador. O deputado esperado com ansiedade.
VEREADOR NO IDENTIFI CADO: O Srgio Naya est chegando!
[Manifestaes de sati sfao dos presentes]
REPRTER: Quando entra na Cmara, cumpri menta os vereadores. E, sem
nenhuma modsti a, fala das doaes para os eleitores. Demonstra ter facilida-
de para entrar com produtos estrangeiros no Brasil.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigi ndo-se aos vereadores I: Eu comprei e pa-
guei um respirador artificial. Trouxe um ultra-som. Eu t dizendo que s apare-
lho de hemodi li se eu trouxe sete. Eu t descobrindo um veio nos Estados
Unidos. Eu vou trazer muito.
REPRTER: Para a construo das casas populares Naya promete pagar do
material bsico ao acabamento.
DEPUTADO SRGIO NAYA [ Dirigindo-se aos vercadorcsl : E vamos dar um
luxo queles mai s amigos. Se quiser, eu trago at papel de parede para decorar
a cozinha. Eu tenho como trazer barato, de promoo dos Estados Unidos. Vou
l quase toda semana.
REPRTER: E di z como vai comprar.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigindo-se aos vereadores I: No tem proble-
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA
ma. Eu boto todos os aparelhos sanitrios. Eu compro de segunda mo que
parecem de primeira. Mas depois de assentado passa como de primeira.
REPRTER: O deputado planeja a festana de inaugurao.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigindo-se aos vereadores]: Eu banco a festa.
Trazer uns homens aqui para bater palmas para os vereadores. Eu banco tudo
o que eles gastarem. Traz caviar, traz salmo, traz as iguarias mai s caras do
mundo.
REPRTER: Fala de sua intimidade com clculos.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigindo-se aos vereadores]: Traz a planta do
que vai fazer. Eu no preciso de fazer conta, no. Eu no preci so de mquina,
no. Eu fao conta de cabea muito rpido. s vezes mais rpido do que a
mquina.
REPRTER: Na reunio o deputado Srgio Naya disse que se preocupa muito
com quem no tem onde morar. E revelou seu mtodo de trabalho. Para cons-
truir um conjunto habitacional na cidade de Palma, divisa de Minas com o Rio
de Janeiro, falsificou documentos.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigindo-se aos vereadores]: Eu assinei pelo
Governador. " Por ordem do governador ... ". Ele no deu ordem nenhuma. Mas
cu falei que ele deu ordem.
REPRTER: E revelou mais. Quando a Prefeitura de ltanhandu, Sul de Minas,
precisou de mquinas para limpar rios e resolver o problema das enchentes, o
socorro veio com o deputado Naya e mais uma falsificao.
DEPUTADO SRGIO NAYA [Dirigindo-se aos vereadores]: Eu no roubei.
Eu me apoderei de uma mquina que teve aqui e foi para Leopoldina, uma
Drag-Linc. O prefeito no deu ateno nenhuma. Eu arranjei um projeto Som ma
para Lcopoldina de quase I milho. Eu consegui liberar. Ele com um projeto de
I milho no queria a Drag-Line l. "Ento me d essa mquina." Foram l e
cataram. Di sse que era ordem do Governo. Eu falsifico mesmo. O prefeito
acreditou que era ordem, mas era fal so, cu falsifiquei. Eu falsifico mesmo.
[ Imagens da imploso do edifcio Palace 11] (:00356-57)
117
As imagens so fortes, a montagem do programa foi feliz (no sentido dado por
Austin, 1962) c provocou, imediatamente, conforme vimos anunciado pelo locutor, a
reao do corregedor da Cmara que, doi s dias depois, no dia 3 de maro, encaminha-
ria o pedido de abertura do processo de perda de mandato do deputado Srgio Naya
7
.
Neste mesmo dia, Srgio Naya entregou uma retratao escrita ao presidente da C-
mara dos Deputados. Estava em curso o embate de argumentos poltico-jurdicos
com a finalidade de estabelecer, ou no, a adequao poltica, normativa e moral do
comportamento regi strado na fita de vdeo. Antes de iniciar a anlise deste embate,
vivido dentro c fora das dependncias da Cmara dos Deputados, preciso destacar
que a responsabilidade do deputado Srgio Naya pela queda do edifci o Palace li no
foi tomada como objeto de investigao pela Cmara (caberia ao Judicirio faz-lo),
118 0 DITO E O FEITO
mas, sem dvida, este foi o evento que precipitou objetivamente e legitimou a cons-
truo do Srgio Naya indecoroso.
O dito e o feito
Dois di as aps o programa Fantstico mostrar a matria sobre o deputado Srgio
Naya, ele enviou uma carta ao deputado Michel Temer - presidente da Cmara dos
Deputados - na qual assumi a o que havia falado na reunio com os vereadores de
Trs Pontas, mas negava que tivesse reali zado as aes a que se referi a. Afirmou a
legalidade da importao dos aparelhos de hemodi li se, da operao de transferncia
da draga de Trs Pontas para Leopoldina c de l para ltanhandu e, com rel ao ao
"bancar a festa" de inaugurao das casas populares, alegou a necessidade de que sua
frase fosse "observada dentro de um contexto", embora no esclarecesse muito bem
qual teria sido esse contexto. A carta concluiu com a negao de que tivesse falsifica-
do a assinatura do governador, acompanhada da explicao de que sua inteno era
angariar prestfgio junto aos vereadores. O campo semntico da bravata anuncia-se j
nesse momento, mas, como veremos adiante, muitos outros elementos entraro na
sua composio.
Naquela oportunidade, importante destacar, Srgio Naya no fez referncia ao
"conselho" dado s costureiras da cooperativa e tampouco sua afirmao de que
utilizava material de segunda como se fosse materi al de primeira. Seu objeti vo era
claramente distinguir palavras c aes, separar o dito do feito. Nesse sentido, seja por
prioridade ou por impossibilidade, foi necessrio um tempo maior para que quelas
fal as pudessem ser contrapostos os, digamos, devidos falos.
A disjuno entre atos c falas foi uma das linhas fortes de orientao de sua
defesa desde o infcio, concretizando-se medi ante a apresentao de documentos -
comprovando a ausncia de qualquer ilegalidade por parte de Naya- e a acusao de
que a fita de vdeo havia sido montada maliciosamente, com o intuito de alterar o
sentido de suas palavras atravs da edio de trechos "pinados" da seqncia real
dos fatos, ou seja, de falas deslocadas de seu contexto origi nal.
Uma fita, vrios fatos
Contudo, a prova maior do alegado carter ardiloso c faiscador da realidade que
estari a expresso na montagem da fita de vdeo, no existia no incio do processo -
tanto na j referida carta ao presidente da Cmara dos Deputados em 3 de maro,
quanto na defesa escrita entregue Comi sso de Justia no dia li de maro. Essa
"prova" seria apresentada apenas em 17 de maro quando foram ouvidas as testemu-
nhas trazidas pelo advogado de Srgio Naya, com a denncia de que nem todas as
imagens do deputado em Trs Pontas eram registros de um mesmo momento e de um
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA 11.9
mesmo evento. A maioria das imagens era dele com os vereadores de Trs Pontas na
Cmara Municipal na noite de 9 de outubro de 1997. Mas havia a filmagem da inau-
gurao de uma escola, realizada em 1995, inserida na seqncia do vdeo sem qual-
quer meno da existncia do hi ato temporal, levando impresso da simultaneida-
de, ou melhor, da continuidade dos fatos que, na realidade, tinham entre si quase trs
anos de defasagem.
A apresentao de dois contextos acopl ados como constituindo um s foi
explicada por Srgio Naya (primeiro na voz de suas testemunhas c de seu advogado)
pela conjugao de uma imprensa irresponsvel c inescrupulosa (uma retrica que,
como j analisei em outros trabalhos (Teixeira 1998; 1999), constitutiva da prpria
vida parl amentar) com as rivalidades locais expressas em uma "prtica pequena, de
polftica pequena". Alegou-se que a fita, ao apresentar o deputado Srgio Naya e o ex-
prefeito Mendona como se esti vessem juntos em 1997/98, teri a como objetivo per-
miti r ao ento prefeito de Trs Pontas, pertencente a uma terceira corrente polftica
diferente da de Naya e da corrente de Mendona, atingi-los simultaneamente, "colo-
cando os dois no mesmo barco" (palavras do ex-prefeito Mendona). Foi da perspec-
tiva de adversrio polftico de Srgio Naya que esse poltico de Trs Pontas se apre-
sentou como testemunha no processo, alegando querer limpar o seu prprio nome:
"[ ... ) porque para a regio, para as pessoas que me conhecem fi cou parecendo que
esta poca desta reunio da Cmara fazia parte da minha administrao. E vim aqui ,
diante de toda a imprensa nacional, di zer que so pocas diferentes".
Outras testemunhas tambm apresentaram o argumento da " poltica local", acres-
centando detalhes c reforando a importncia das intri gas da polftica em Trs Pontas.
A Rede Globo foi, assim, relati vamente isentada da responsabilidade da montagem
da fita c a crtica tornou-se mais vaga e centrada nas presses indevidas da imprensa
em geral sobre os parlamentares. Naquele momento do processo, portanto, o foco de
argumentao da defesa foi deslocado da imprensa - objeto inicial das acusaes de
Naya que alegava estar sendo "alvo de uma campanha j amais vista por parte da im-
prensa de todo o pas", carta de 3 de maro - para a crtica aos adversrios polticos
de Srgio Naya na regio onde concentravam-se os votos que o elegeram, mais de
urna vez, deputado federal.
Mas se a fi ta exibida pelo programa Fantstico era uma edio de pelo menos
duas fitas diferentes, onde estari a a fi ta com o registro do encontro de Srgio Naya
com os vereadores de Trs Pontas gravada em "tempo real"? Esta fita jamais apare-
ceu. Mas sua evocao foi recorrente e central para a rc significao do evento.
O fato e suas verses, da mentira ritual brincadeira
Desde as imagens veiculadas pelo Fantstico em 1 de maro, a autoria da gra-
vao foi atribuda a um "cinegrafi sta amador", cuj a presena no episdio foi trans-
120 0 DITO E O FEITO
formada ao longo do processo. De personagem annimo, responsvel por um "ardil
inescrupuloso", o cinegrafi sta amador ganhou nome, rosto c voz na condi o de tes-
temunha de Srgio Naya. Sua participao foi fundamental para a negociao em
tomo das verses sobre o que realmente teria acontecido no dia 9 de outubro de 1997
na Cmara Municipal de Trs Pontas. Afinal , ele fora o observador por detrs das
lentes da filmadora c, nessa condi o, poderia adquiri r o estatuto de critrio legtimo
de resoluo do conflito que se travava em nome do decoro parlamentar, esclarecen-
do a seqncia das interaes editadas, para quem havia reali zado as filmagens e em
que circunstncias. Alguns vereadores presentes naquela conversa com Srgio Naya
tambm foram convocados para testemunhar na Comi sso de Justia da Cmara dos
Deputados. Em suas descries - em di logo com os parlamentares e com o prprio
advogado de Srgio Naya - , bem como na defesa escrita do deputado Naya no incio
do processo (dia 4 de maro), podemos apreender os principais elementos em torno
dos quais se travou o embate, cujo desenrolar se constituiu c foi constituda pela
pluralidade de sentidos da bravata.
Estarei, assim, analisando um primeiro evento presente na fita de vdeo e nos
discursos construdos no curso do processo que, desta forma, constitui um segundo
evento. O tempo em sua ambigidade de ao reali zada ( fato consumado no mundo
exterior, sendo irreversvel) c ao significativa (cujos sentidos so atribudos pelos
sujeitos da ao, adquirindo um carter de abertura aos interesses do presente) torna-
se aqui um elemento fundamental na construo dos elos entre os eventos de fala
passados e o evento poltico em curso.
A palavra bravata surgiu pela primeira vez em uma entrevista que o deputado
Srgio Naya deu a um reprter do jornal da Rede Bandeirantes de Televiso, na noite
de 13 de maro de 1998. O dilogo foi o seguinte:
REPRTER: Eu queria saber ... Agora vamos nos referir ao vdeo exibido pelo
programa Fantstico, do domingo, em Trs Pontas, a uma gravao feita em
Trs Pontas, interi or de Minas Gerais. O senhor ali aparece se vangloriando do
fato de que falsificou a assinatura de um governador. O senhor falsificou a
assinatura de que governador?
DEPUTADO SRGIO NAYA: Olha, no de governador. Se cu falsifi quei a
assinatura de algum, no s governador, de qualquer pessoa, se cu falsifi -
quei, se tiver uma prova cu renuncio no ao meu mandato de parlamentar,
no, minha cidadania de brasileiro. Quero ser um apatriado.
REPTER: Mas ento o senhor mentiu? O senhor mentiu naquela gravao
que o Fantstico exibiu?
DEPUTADO SRGIO NAYA: Bravata, doutor. Eu tinha viaj ado a noite anteri-
or, a noite toda, cheguei em Brasfl ia, vi meus compromissos, fui Cmara,
votei, teve votao, noite sa para Trs Pontas c cheguei atrasado. Eu estava
supercansado. Foi uma viagem que teve turbulncia. Foi no ms de outubro.
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA
Lembro disso. Desci no aeroporto de Varginha. Um aeroporto que desce bem,
mas j ti ve um acidente que perdi dois pneus de um avio, e o avio ficou fora
da pista. E desci j amedrontado ... Aquele negcio. E no percurso da viagem,
quando o avio bate, s vezes eu saio do srio, cu tomo mais uma ... Bebi um
pouco. E cheguei l , contei bravala. Eu peo mil desculpas a esse povo. Eu
nunca falsifiquei assi natura, no. Negcio da Drag-Linc ... Tenho prova de tudo,
desde que [ ... ) (:00390)
Mais adi ante, Srgio Naya continua:
Eu falei que falsificava. Eu peo desculpas. Foi bravata. No interi or, quem no
conta, que fal a que ami go do mini stro, que tem amigos poderosos? Qualquer
polti co faz isso. [ ... [
Doutor, cu posso ser cassado por uma fita que eu falei uma bravata no interior.
O inimigo gravou. Numa reunio de solidariedade entre amigos, eu no sabia
que tinha um microfone debaixo da coisa. Eu nunca quis ... A Cmara de Trs
Ponlas. Eu tinha um ttulo para receber tinha 8 a 9 anos. Eu no fui receber esse
ttulo. Com essa arrancada que fizeram para construir cem casas, cento e vinte,
cu falei: uma vez concludas eu trago aqui cem pessoas c ns vamos fazer uma
bela festa aqui na cidade de Trs Ponlas (:00392-93).
121
Neste trecho a qualifi cao da fal a como uma bravata se apia na afirmao de
doi s componentes fundamentais compreenso do evento: o ambiente onde a fala se
realizou c a quem Srgio Naya dirigiu suas palavras; em que condies e com que
intenes o fez.
1 o componente - Tratar-se-ia de uma reunio Informal e privada
Nas palavras de Srgio Naya, como vimos, tratava-se de uma reunio de solida-
riedade entre amigos, que o deputado desconhecia estar sendo gravada. No texto da
defesa escrita, esta reunio apresentada como se reali zando em "ambi ente
informalssimo" cuja filmagem teri a consi stido em " dcsnudcz de privacidade". Na-
quele momento, cabe destacar, o cinegrafi sta amador foi tratado como o sujeito da
ao invasora; posteri ormente, esta identidade ser transferida ao propri etrio da
empresa para a qual ele trabalhava, apresentado como aliado do prefeito em exercci o
na ocasio da gravao.
As metforas utili zadas para a composio da informalidade c do carter pri va-
do do evento, que na apresentao das testemunhas seria enfaticamente definido como
"encontro" c no mais como " reunio", foram diversas, mas todas evocativas de
afeti vidade domsti ca c col oquial: "como se companheiros estivessem detrs das
muralhas de quintal, protegidos no recesso da residncia" (:00054) ou " prospia
dcscontrada, em espci e de implvio" (:00045), " no recato da intimidade" (:00054).
122 0 DITO E O FEITO
A idia de pri vacidade alcanou, porm, sua representao mais radicalizada ao
ser remetida prpria subjeti vidade do agente, tratando-se o dito como algo anlogo
a "pensamentos falados". Um tipo de ao que, palavras extradas do documento de
defesa, deveri a se exaurir no foro ntimo, "sem conseqncias nem allcrabilidadcs
em linha de ' facere' ou no ' faccre"', no fosse, claro, a presena do cinegrafista
amador. Assim, a exteri oridade da ao foi posta em dvida quase como se existi sse
apenas sob a lente da cmera de vdeo c no no nuxo das interaes por esta registra-
da. Aqui , gostaria de chamar a ateno para o contraste entre o estilo rebuscado do
texto apresentado pela defesa, presente tambm nas intervenes orais feitas pelo
advogado Daniel Azevedo, e a forma coloqui al, por vezes, truncada c cheia de idias
inconcl usas, atravs da qual o deputado Srgio Naya se expressava.
Na construo dessas metforas, alguns elementos da caracteri zao objeti va do
ambiente desse encontro - realizado em espao indubitavelmente pblico (a Cmara
Municipal de Trs Pontas)- foram destaques c ganharam visibilidade especial, tor-
nando-se signos expressivos c indicadores da existncia de um contexto no-formal:
a reunio realizou-se noite, aps o encerramento da reunio ordinria da Cmara;
nem todos os vereadores estavam presentes e nem todos os presentes eram vereado-
res; tanto os vereadores quanto o deputado no usavam terno c gravata; os participan-
tes circularam por diferentes recintos - no permanecendo no plenrio, s vezes at
saindo da Cmara - c, por fim, recostavam-se dcscontraidamentc em suas cadeiras,
nem sempre uti lizando o mi crofone c tampouco o tratamento formal que marca os
di logos parlamentares em sesso. Esto ausentes das gravaes os pronomes de tra-
tamento uti lizados entre os parlamentares, tais como "vossa excelncia" ou ainda
"senhor" deputado. Embora os vereadores presentes tratassem Srgio Naya de "de-
putado", o que foi destacado pelos que o acusavam de falta de decoro parl amentar, o
uso de expresses como "olha" c "cara" indicam a informalidade do evento.
Contudo, nos relatos das testemunhas (uma costureira, o ci negrafi sta amador e
vereadores), a definio da situao como privada fi caria fortemente comprometida.
Todos foram unnimes em afirmar que o encontro acontecera a portas abertas com
livre circulao de pessoas. No intui to de reforar o carter no-oficial do encontro,
as testemunhas fri saram repetidas vezes o vaivm no s de vereadores mas tambm
do "povo"; nas palavras do cincgrafi sta Robson Oli veira Novak ao testemunhar na
Comisso de Justia em 24 de maro: "Qualquer um que chegasse ali podia entrar.
Por exemplo, para tomar um caf, para conversar." A defesa permaneceu sobrepondo
c, por vezes, alternando as concepes de informalidade c pri vacidade do contexto,
ignorando a contradio entre as duas caracterizaes do evento feitas por suas teste-
munhas ao longo do processo.
A persistncia dessa estratgia de Srgio Naya - conjugando a informalidade
com a idia de reunio ntima c, simultaneamente, o carter no-ofi cial da reunio
com a participao aberta a todos - parecia ter como objetivo descaracterizar sua
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA 123
condio de membro do Congresso Nacional nesse evento. Trata-se de uma estrat-
gia que, embora hi storicamente inefi caz, se faz presente em todos os processos de
perda de mandato por decoro parlamentar no Congresso Nacional, assim como o
argumento de inpcia da pea acusatri a. Dessa perspecti va, a informalidade seria
mais importante c englobari a a idia de pri vacidade na defini o do papel social
envolvido naquela interao: teri a sido o amigo (segundo suas palavras: ami go nti-
mo de alguns c no to nti mo de outros) e no mximo o correligionrio - nunca o
deputado federal - que estivera presente. A questo central parece ser a representa-
o da razoabil idade e da acci tabilidade, em sentido ampl o, daquela conversa no
contexto e na condi o em que Srgio Naya a realizou.
Sob a proteo da "descontrao" que a informalidade abrigari a, Naya pode
argumentar, ainda, que suas palavras no foram propri amente mentiras, mas uma
demonstrao inconseqente de vaidade pessoal, reconhecida por ele prprio como
indevida no seu pedido de perdo pblico. A noo de bravata adquire agora o senti-
do de "bazfi as, [palavras ditas 1 da boca para fora, iguai s santa vaidade de todo
homem vencedor, da qual, legitimando-a como humana, falava Schopenhaucr gizando-
lhc a naturalidade pura e inccnsurvel" (texto extrado da defesa escrita, :00045). A
di menso poltica da bravata, apresentada inicialmente atravs da noo de prestgio,
cedeu lugar ao rei no da natureza humana c sua imperfeio inerente.
2 componente - lntenclonalidade e lucidez das bravatas
Aqui vou me deter nas declaraes fei tas pelo prprio Srgio Naya acerca de
suas intenes ao desempenhar dois atos de fala especficos, aqueles considerados os
mais graves por parlamentares c na cobertura feita pela imprensa:
"Eu assinei pelo governador. ' Por ordem do governador .. .'. Ele no deu ordem
nenhuma. Mas cu falei que ele deu ordem."
"Eu no roubei. Eu me apoderei de uma mquina que teve aqui e foi para Lco-
poldi na, uma Drag- Line. O prefei to no deu ateno nenhuma. Eu arranjei um
projeto para Lcopoldina de quase I milho. Eu consegui liberar. Ele com um
projeto de I milho no queri a a Drag-Line l. 'Ento me d essa mquina'.
Foram l c cataram. Disse que era ordem do governador. Eu falsifico mesmo.
O prefeito acreditou que era ordem, mas era falso, eu falsifiquei. Eu falsifico
mesmo" (:00358).
Estas duas falas tm como referente a mesma realizao, ou seja, a reti rada de
uma mquina do ti po draga da cidade de Lcopoldina para ltanhandu obtida por meio
da falsificao de uma ordem do governador de Minas Gerais, na poca Newton
Cardoso. Srgio Naya apresentou a documentao que comprovava a legalidade da
124 0 DITO E O FEITO
operao, mas esta no era a questo. Como declarou poca o senador Antni o
Carlos Magalhes: "ele foi cassado no pelo que fez, mas pelo que ele di sse que fez".
Tal declarao, apesar de aparentar manter a separao entre palavras e aes, atribui
s palavras o mesmo estatuto poltico das aes c, nesse sentido, traduz ou indica a
vigncia da concepo de atos de fala na esfera da poltica.
Era fundamental que Srgio Naya apresentasse as razes pelas quais havia dito
Ler realizado uma ao ilegal sem L-la feito, buscando, assim, legitimar o nuxo da-
quelas experincias que o foco do vdeo havia recortado, deslocado c amplificado.
Com este intuito, dois caminhos foram tri lhados pelo deputado, alm da j referida
nfase na informalidade do encontro: o da perda temporria de lucidez c o da ampl i-
ao do campo semntico da bravata. Afinal, como ele poderi a justificar naquele
momento, diante dos seus pares na Cmara dos Deputados, em meio a um processo
de cassao de mandato, ter afirmado, de plena posse de seus sentidos, a reali zao
de atos ilegais na inteno de obter reconhecimento c prestgio poltico?
Assim, verso de ingesto de bebida alcolica durante o vo turbul ento, apre-
sentada inicialmente, foi acrescentado o uso de medicamentos em funo de proble-
mas cardacos. Srgio Naya declarou ter sofrido vri os acidentes cardiovasculares c
com isso pde minimizar a negati vidade do uso excessivo de bebida alcolica alega-
do inicialmente. Em um quadro medicamentoso, bastaria uma dose de usque para
provocar o atordoamento de sentidos caracterstico da embriaguez. Essa embriaguez,
contudo, no foi reconhecida ou confirmada pelos demais participantes da reuni o
"informalssima" de Trs Pontas. Nenhuma das testemunhas disse Ler notado qual-
quer sinal de ingesto exagerada de usque ou de outro tipo de bebida alcolica. Ao
contrrio, o tom predominante nos relatos foi de que tudo no havia passado de uma
brincadeira
8
bem no estilo que Srgio Naya costumava fazer-, desautorizando, as-
sim, a excepcionalidade do feito evocado dado o suposto estado de euforia de Naya
provocado pela combinao de lcool com medicamentos durante o vo. Observa-se,
assim, a inteno de banali7..ar aquele evento de fala mediante sua caracterizao
como algo usual na performance do deputado. Nas palavras do vereador de Trs
Pontas Ruy Quinto:
"O Srgio Naya ... Eu conheo o Srgio h dez anos. Ele gosta mui to de se
exi bir. Di z ele: 'Eu fao isso com o governador'; 'Eu consigo isso com o
presidente'. uma exibio, ele gosta de fazer isso em brincadeiras. Cansou
de fazer isso em Trs Pontas; no foi a primeira vez. Gostava de dar uma
exibio como deputado. Cansou de fazer isso no s em Trs Pontas, como
acredito que em outras cidades, por brincadeira. So bravatas mesmo"
(:00463).
Mais adiante, interpelado pelo advogado de defesa, o vereador continuou:
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA .
"Na fita original no sei se vai aparecer, deve aparecer- no posso garantir se
o rapaz cortou, no sei - eu dizendo: 'Deputado, no acredito. Conheo o se-
nhor h dez anos c jamais o senhor faria isso com o Newton Cardoso. Eu co-
nheo o senhor. O senhor no falsifica nada!'[ ... ] Ele sorriu e disse: ' Voc me
conhece, Ruy Quinto, so as minhas bravatas, as minhas brincadeiras. Voc
fez isso quantas vezes!'" (:00475).
125
Em seu depoimento Comisso de Justia, Srgio Naya confirmou este dilogo
c acrescentou ao ato de sorrir enquanto falava, presente na descrio do vereador,
outros traos expressivos:
"Eu falei isso c disse: 'Foi brincadeira, Ruy, espera a. Estou te provocando.'
! ... ]!Ruy Quinto:] 'Voc est falando isso srio?' Eu disse: 'No. Estou brin-
cando, Ruy. Pra com isso.' Pisquei o olho para ele. Foi brincadeira" (:00629,
nfase minha).
Contudo, Naya, contrariando sua testemunha, negou a recorrncia desse tipo de
brincadeira c sustentou o carter excepcional dessa prtica em sua trajetria poltica:
"! ... ] s vezes a gente conta vantagem doutor ... Diga-se de passagem, eu no
sou contador de vantagem por esse interior de Minas. Esse dia que eu me
excedi um pouco" (:006 11 ).
O campo de representao e expresso do Lermo bravata estava finalmente de-
terminado. O deputado Srgio Naya, em sua infeli z autocaractcrizao como poltico
do interior, havia passado do ato de "contar vantagem", "brincadeira" c, por fim, ao
perdo pblico em tom de humildade constitudo pelo uso do pronome de tratamento
"doutor" ao se referir ao reprter.
O horizonte semntico da bravata fora ampliado em uma diversidade insuspeita
em sua primeira definio como instrumento de obteno de prestfgio. Enquanto tal ,
a bravata pode ser de crita como um tipo de mentira ritual, ou seja, um alo de fala
cuja mensagem comunicada no constituda por sua funo referencial exterior ao
contexto comunicativo, mas pelo compromisso firmado pelo prprio ato de fala. Esta
independncia da bravata parece ser mais radical do que a da promessa. Na bravata o
contedo do que dito pode ser objetivamente fal so, no realizado c no ser sentido
como prtica de mentiras. Mais: a bravata se distingue por construir como suposta
conduta referencial um tipo de ao marcado por um algo mais que a caracteriza
como espetacular c fora dos procedimentos c padres usuais e rotineiros.
No evento aqui analisado, o carter espetacular do que parecia estar sendo dito e
feito que Srgio Naya seria capaz de praticar qualquer ao para "aj udar" as "pes-
soas carentes, doentes etc." daquelas cidades do Sul de Minas ... at mesmo falsificar
126
0 DITO E O FEITO
uma ordem do governador. desse compromisso que parece advir o reconhecimento
e o prestgio do poltico Srgio Naya, poi s sua capacidade poltica apresentada
como a de algum que, alm de deter conhecimentos sobre os meios de realizao
poltica (pessoas, instituies, procedimentos), no poupa esforos, no se detm dian-
te de nada ou de ningum para otimizar suas realizaes em prol de seus eleitores.
A cobertura da imprensa chegou a mostrar o clima de tristeza que se abateu
sobre alguns moradores dessas cidades, mas, novamente, foi o vereador Ruy Quinto
quem expressou de maneira mais eloqente a importnc ia do deputado Srgio Naya
na regio, para, ento, concluir que um trabalho to importante no deveria ser inter-
rompido por " meras bravatas":
"O deputado Srgio Naya, em Trs Pontas, um verdadeiro dolo. um ben-
feitor. O Srgio Naya, em Trs Pontas, ele deu gua a quem tinha sede, ele
matou a fome de muita gente, ele abrigou muita gente pobre, salvou muitos
doentes com remdios" (:00462).
"Tem muita gente chorando em Trs Pontas, mas muita gente mesmo, choran-
do, porque vo perder a ajuda, vo perder um remdio, vo perder uma cadeira
de rodas, vo perder uma cesta bsica, vo perder ajuda para construir uma
casinha! Quem vai fazer isso agora? Pergunto: quem vai fazer? Qual o outro
deputado mineiro que vai fazer? Ser que vai aparecer mais um? Que Deus
ajude" (:00496).
A evocao religiosa dessas palavras salta aos olhos e ouvidos e parece buscar
estabelecer a redeno da imagem de Srgio Naya: heri e benfeitor de uma polti-
ca cujo locus a carncia e a all io dos moradores dessa regio. Mas a interpreta-
o feita do trabalho poltico de Naya no contexto do decoro parlamentar traduziu
este, digamos, empenho ilimitado em falta de escrpulos e procedimento indecoro-
so. Contrariando a reao pretendida, os demais significados arrolados pelo depu-
tado Srgio Naya e sua defesa para as bravatas registradas na fita de vdeo - brin-
cadei ras; tipo de conversa informal, ntima e privada; provocaes; excessos; exi-
bicioni smo; ato de contar vantagem -criaram um ambiente de descrdito, refora-
do pelas contradies explicitadas conforme as verses eram apresentadas pelos
diferentes sujeitos do evento. Uma bravata pode ter qualquer um desses sentidos,
mas no pode t-los simultaneamente, se for uma forma de obter prestgio no pode
ser uma brincadeira. Enquanto uma mentira ritual , a bravata perde eficcia ao ser
explicitada como mentira seja ela considerada sri a ou jocosa. Sua "fora ilocucio-
nria" (Austin 1962) desautorizava, assim, as explicaes apresentadas na busca de
minimi zar efeitos no-i ntencionais desse episdio e o fazia de modo especialmente
dramtico, pois, aqui, o evento de fala passado fazia-se presente em uma fita de
vdeo e no por meio de rumores9.
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA
Bravata, um discurso sobre o interdito
ou a hiena e Naya
127
A palavra bravata, como vimos, surge em enunciados que tm como referencial
outros atos de fala do sujeito, aqueles atos que por sua vez narram acontecimentos de
um ti po especfico: os feitos excepcionais. Nesse sentido, a bravata uma fi gura de
linguagem que faz um comentrio sobre um dizer, mas o faz apenas quando o carter
excepcional do feito narrado rcapropriado socialmente, adquirindo um signifi cado
negati vo. No caso aqui analisado, Srgio Naya utiliza-a quando o significado de sua
fala realizada na cidade de Trs Pontas deslocado e apresentado pelos meios de
comunicao de massa como "o pior da prtica poltica no Brasil".
Dessa perspectiva, a bravata um comentrio sobre um primeiro di scurso que
possibilita reabri -lo, construindo novos di scursos como se j estivessem contidos
anteriormente, c, mediante tal desdobramento, busca reorganizar o primeiro evento
de fala, resgatando o que seri a o seu verdadeiro scntido
10
Se enquanto mentira ritual
a enunciao da bravata permite compreender o primeiro ato da interao (o dito e o
feito no contexto de Trs Pontas), enquanto comentrio a bravata anula a efi ccia do
primeiro di scurso (o da mentira ritual) e se insere no idioma da irresponsabilidade.
No se tratando de um comentrio qualquer, atravs da bravata o sujeito pretende se
desculpar, se eximir dos excessos cometidos no acontecimento de fala a que se refere;
excessos que, agora negados, foram contudo os elementos constituti vos fundamen-
tais no primeiro momento do desempenho, delineando um certo estilo performativo.
Assi m, o que antes podia ser considerado uma forma de fazer poltica mais ou menos
efi caz se transforma na quebra de uma interdio: a enunciao da palavra proibida
(no sentido foucaulti ano), aquela que no est de acordo com a qualificao dos
falantes, suas respecti vas posies, campos expressivos, propriedades e papis
preestabelecidos.
Assim, no universo da bravata, estabelecido no processo de cassao de Srgio
Naya, j no importava mais se o que ele havia falado era falso ou verdadeiro, pois
esta oposio perdera a gramatical idade como critri o de juzo de conduta. A interdi-
o violada o fora no mbito do acontecimento di scursivo; na prpri a seqncia de
atos de fala o dito se transformara em interdito, avaliar tal violao era o objeto da
luta polftica que explicitamente, como em raros momentos observamos na poltica, se
reconhecia interna ao discurso. Afinal, lembrando a colocao do senador Antnio
Carl os Magalhes, j citada, Naya foi cassado no pelo que ele fez, mas pelo que ele
disse que fez.
Impossibilitado de negar o que havia falado, registrado em fi ta de vdeo, Srgio
Naya enveredou pela retrica da desculpa atravs da fi gura da bravata, desdobrando
a oposio falso vs. verdadeiro na oposio ao vs. inteno. Assumindo o compor-
tamento excessivo, o parlamentar procurou ameniz-lo evocando como central a
128
0 DITO E O FEITO
intcncionalidade da conduta c no a conduta em si. No se tratava, no entanto, de
desculpar-se no sentido de apresentar razes morais que justificassem, naquele con-
texto especfico, o ato de afi rmar, mentindo, ter falsifi cado a assinatura do govcma-
dor11. Ao caracterizar o exagero do seu comportamento como uma bravata, e no
como uma mentira, Srgio Naya evocou a imagem de brincadeira, de ausncia de
seriedade, de ato incon cqcnte (reforado pelo argumento da embriaguez) em seu
duplo sentido: conduta carente de reflexo c da qual, portanto, no se deveria cobrar
responsabilidade ou extrair maiores conseqncias. A diferena entre justificar-se c
desculpar-se revela-se central aqui , pois, como anali sa Austin em seu artigo clssico
"The Plea for Excuscs" (Austin 1979), o que est em jogo na desculpa a no-
aceitao da plena responsabi lidade sobre a ao que reconhecidamente, inclusive
para o prprio sujeito da ao, no defensvel em si
12
Assim, nos eventos de fala do tipo "desculpas", as expresses uti lizadas visam
negociao da autoria do ato de fa la c, em torno desta definio, pretendem
reconfigurar o contexto abrangente. A autoria pode, por um lado, ser deslocada do
sujeito empri co da ao para uma entidade suprapcssoal, sendo atribuda a agncias
tais como "Deus", o "destino", a "fatalidade", o "poder" ou as " foras ocultas"
13
Por
outro lado, como verificamos aqui a partir da qualificao da conduta como bravata,
a desculpa pode orientar-se para modificar o senso de responsabil idade pelo aconte-
ci mento de fala, rcdirccionando o foco no para quem foi o autor, mas para a sua
atitude ao agir e, secundariamente, para as circunstncias que o levaram a faz-lo:
suas motivaes e intenes, seus interlocutores, o tipo de papel social que estava
desempenhando e o ambiente em que se inseria. A alegao de bravata parece
desautori zar o dito, negando-lhe qualquer capacidade de efeti vao c real izao. O
sujeito da ao deteria, a priori, o poder para ter feito valer aquela fala, mas alega no
a ter realizado e, tampouco, ter intencionado afirmar sua reali zao sequer
discursivamente.
Contudo, pode-se dizer que a bravata, enquanto a enunciao de um falso ato de
bravura, alegadamcntc fruto da vaidade, constitui uma simulao discursiva da bra-
vura. Desta perspecti va, preciso ter claro qual a ao que est sendo objeto das
desculpas: a bravura (simulada), a simul ao ou ambas? No caso aqui analisado hou-
ve uma conjuno destas dimenses, sendo alocadas nfases distintas - em cada uma
ou na combinao de ambas - conforme o momento do processo. Observamos o
deputado Srgio Naya alegar como defesa em sua primeira argumentao, em carta
enviada ao presidente da Cmara, a busca de prestgio - retomada posteriormente em
entrevista imprensa. Uma defesa que susci tou de imediato entre os parlamentares a
reprovao da pretenso de obter reconhecimento poltico a partir do cometimento de
atos criminosos, ou seja, tratava-se de condenar a priori a conduta apresentada como
prestigiosa- independente do fato de ter sido (apenas) enunciada ou objeti vamente
concretizada. Esta interpretao, tomando como foco a definio do que poderia ou
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA 129
no ser considerado bravura, coragem ou conduta valorosa, se fez presente ao longo
de todo o processo. A alegao de bravata foi justamente uma tentativa, do parlamen-
tar acusado, de deslocar o campo de discusso para a simulao em si , redefinindo-a
como uma brincadeira ou provocao entre amigos e correligionrios.
Vista sob este pri sma, a alegao de bravata faz-nos refletir sobre que limites
podem ter sido desrespeitados no contexto de referncia, levando ao surgimento des-
se tipo de defesa. Se as oposies entre fal so c verdadeiro, ao e inteno trazidas
por Srgio Naya no foram efi cazes em sua defesa, cabe perguntar se estas so as
oposi es centrais no campo semntico da bravata que foi estabelecido. Mai s uma
vez, recorro a Austin, trazendo, agora, como ponto de partida o "exemplo da hiena"
por ele analisado:
" On a f estive occasion you are ordered, for a forfeit, to prctend to be a hyena:
going down on ali fours, you make a fcw essays at hidcous laughter and
finally bitc my cal f, taking, with a touch of rcalism possibly exceeding your
hopes, a fair-si zed piccc right out of it. Bcyond qucsti on you have gonc too
far. Try to pl cad that you wcrc only prctcnding, and I shall advert forcibly to
lhe statc of my cal f - not much prctencc about that, i s thcrc? There are limits,
old sport. Thi s sort of thing in these circumstances will not pass as '(onl y)
pretending to bc a hyena'. True - but thcn ncithcr will it pass as really being
a hycna" ( 1979: 256).
Cl aramente, neste caso, como o autor destaca, o contraste entre o fato de simular
ser uma hiena c realmente ser uma hiena no se col ocou para nenhum dos participan-
tes. A oposio entre "ser" c "apenas fingir ser" no era pertinente, pois se no havia
dvida entre os presentes de que o referido convidado no era uma hiena, tampouco
fazia sentido alegar como desculpa por ter mordido a panturrilha de outra pessoa o
fato de estar "somente" simulando ser uma hiena.
Assim, a recriminao ao comportamento do convidado no se deu a partir da
acusao de que fingia ser al go ou algum que de fato no era. Pode-se mesmo supor
o contrrio, atribuindo a reprovao de sua conduta ao reconhecimento de que houve
uma continuidade indevida entre suas motivaes reai s (querer fingir ser uma hiena)
e o comportamento simulado (comportar-se como uma hiena). Afinal , o convidado
comportara-se deliberadamente como uma hi ena, ou seja, com uma seqncia de
aes no mundo exteri or que exagerou atributos que julgou di stinguirem c demarca-
rem o comportamento considerado de hiena.
Desta perspectiva, Naya teri a destacado em seu discurso exemplos de comporta-
mentos que julgou expressarem seu poder c sua capacidade para empreender realiza-
es comprometidas com aquel a regi o, tendo uma atuao, naquele momento,
deliberadamente extraordinria. Tal dimenso da conduta, importante mencionar,
no tem a ver com o domfnio refl exi vo ou consci ente da ao, inserindo-se no campo
130
0 DITO E O FEITO
performativo da conduta tal qual apreendida publicamente. Neste campo, muitas ve-
zes, torna-se difcil diferenciar quando algum est apenas simulando uma ao ou
quando algum, ao buscar simular uma ao, acaba de fato realizando-a e, ainda,
freqentemente, realizar esta distino no fundamental para os sujeitos envolvidos
na interao - como no caso da bravata enquanto mentira ritual, em que a permeabi-
lidade dessas fronteiras constitutiva da interao.
Tanto no exemplo do convidado-hiena como no caso do deputado Naya, se o
foco da recriminao no foi quanto da conduta de ambos foi brincadeira ou no,
tampouco o foi a ao substanti va em si. Como bem lembrou Austin ( 1979: 256),
mesmo no caso do " fingir ser uma hiena", pode-se imaginar outras situaes nas
quai s no se conduzir da forma como o convidado o fez seri a considerado uma con-
duta imprpri a
14
. No que se refere ao processo do deputado Naya, esta dimenso no
reificada da conduta recriminada ainda mais clara, pois a acusao que suscitou a
alegao de bravata como defesa no surgiu no curso da interao, mas, si m, quando
houve uma mudana de contexto. Foi apenas sob a edio de imagens c falas realiza-
da por um programa de TV que o comportamento de Srgio Naya em Trs Pontas
adquiriu o carter imprprio que veio a desencadear seu processo de cassao e,
conseqentemente, a defesa em termos de bravata. Talvez no contexto da reunio de
Trs Pontas, contrari amente, um poltico que no afirmasse ser capaz de tudo fazer
pel a cidade suscitaria desconfi ana e desaprovao.
Pode-se, portanto, concluir que o domnio propcio bravata cri ado, no por
qualquer qualidade intrnseca ao desempenho que se busca desculpar, mas quando o
ato de fala considerado, durante ou aps a interao di scursiva, como tendo ido
alm do socialmente permissvel naquela dada circunstncia, sendo a quebra desse
limite, por "excesso", definidora da bravata enquanto um tipo especfico de lingua-
gem defensiva. Como vimos, a prpria defini o dos limites sociais pode ser reaber-
ta, suscitando o surgimento da bravata onde antes no era necessria, devido ao falo
de o excepeional ter sido transformado em excessivo.
Assim, uma mesma ao pode, modificando-se o mundo em que est inserida,
requerer defesa e tornar-se bravata: um tipo de retrica de desculpas que pretende
redefinir o contexto originrio a partir de sua estrutura argumcntativa em torno da
oposio entre "ser" e "(apenas) simular ser al gum", entre " fazer" c "(apenas) simu-
lar fazer algo", por brincadeira, vaidade ou provocao. Sua maior ou menor efi ccia
depende das possibilidades de o sujeito traduzi r o limite social rompido nos termos
dessa lgica contrasti va, que pode ser desdobrada em moti vao c ao, ao simul a-
da e ao apreendida, ato de simular fazendo-sendo c ato de simular no fazendo-
sendo a ao-pessoa pretendida. O deputado Srgio Naya lanou mo de vrias des-
sas alternativas, mas no obteve sucesso e terminou sendo cassado. A falta de serie-
dade que pretendeu dar sua fala perdeu fora ao ser mencionada nas acusaes
sobre a queda de um edifcio de sua construtora, resultando em vrias mortes, em
DAS BRAVATAS. MENTIRA RITUAL E RETRICA DA DESCULPA 131
funo de erros de projeto e utili zao de materi al de m qualidade em sua execuo.
A retri ca da irresponsabilidade articulada defesa da bravata acabou transforman-
do-se em uma arma contra ele prprio, adquirindo o estatuto de um trao de carter
que, presente anos atrs em Trs Pontas, como as fitas de vdeo registraram, viera a
aparecer novamente no seu desempenho irresponsvel na condio de empresrio da
construo civil e, agora, com conseqncias fatais.
Notas
1
A abordagem analtica dos rituais, enquanto um sistema de comunicao simblica, desen-
volvida por Stanley J. Tarnbi ah ( 1985) fundamenta as di scusses aqui desenvolvidas. Destaco,
ainda, duas coletneas de trabalhos no mbito da etnografi a da fala: Gurnpcrz c Hymes ( 1986)
e Fishman ( 1977).
2
Srgio Naya pertencia ao Partido Progressista Brasileiro, Minas Gerais, um partjdo identi -
fi cado com os setores conservadores no cenrio pol tico nacional. J era empresrio quando
ingressou na vida poltica, tendo sua construtora realizado vrias obras para o governo federal.
No exterior, construiu o Sand Lake Towcrs, um hotel de quatro torres de apartamentos em
Orlando, na Flrida (EUA).
3
Srgio Naya, inicialmente, declarou que indenizaria a todos caso fosse legalmente compro-
vada a responsabilidade de sua construtora; logo depois, alegou que obras indevidas realiza-
das pelos moradores teri am causado a queda de parte do edifcio.
4
Para uma anlise da categoria de decoro parlamentar na poltica brasileira, ver Teixeira ( 1998).
5
Partido de orientao socialista que surgiu a partir da aliana de lideranas polticas socialis-
tas c comunistas com as lideranas das lutas sindicais nas indstrias metalrgicas, na regio de
maior concentrao industrial do pas, o Estado de So Paulo, nos anos 80.
6
A transcrio da fita de vdeo utilizada neste artigo a transcrio efetuada pela Cmara dos
Deputados e que integra o conjunto de documentos que compe o processo de cassao do
deputado Srgio Naya. Em funo de o processo contra Srgio Naya na Justia ainda estar em
tramitao, no pude ter acesso s gravaes em vdeo, mas apenas sua transcrio publicada
pela Cmara. Todas as refernci as de pginas so, portanto, da Representao da Mesa da
Cmara dos Deputados contra o deputado Srgio Naya que levou sua cassao.
7
O Partido dos Trabalhadores tambm, nessa ocasio, encaminhou urna representao contra
o deputado Srgio Naya Mesa da Cmara dos Deputados.
8
Para outros usos da brincadeira tambm na regio do Sul de Minas Gerais, ver Comcrford
( 1999).
9
No que conccrnc ao rumor, entendido como uma forma narrati vo-performtica, Tambiah
( 1996a), Das ( 1998) e Traj ano Filho ( 1993) desenvolvem anlises do rumor no domnio da
ao poltica em diferentes contextos contemporneos.
10
Para uma anlise do comentrio como um princpio de rarefao do discurso, ver Foucaull
( 1996).
132 0 DITO E O FEITO
11
Para aqueles i nteressados em uma reflexo acerca dos diferentes usos c justifi calivas da
mentira, sugiro a leitura de Bok ( 1979).
12
Nas palavras de Austin: " In the one defence Uustification], bri efl y, we accept responsibility
bul deny thal it was bad: in the other [excuscJ, we admit that il was bad but don't accept full,
or even any, rcsponsibi l ity" ( 1979: 176).
13
Herzfeld ( 1982), tendo como referncia os trabalhos de Austin, faz uma anlise instigante
da eti mologia c da retrica das desculpas na Grcia moderna.
14
Em uma nota de rodap, Austin apresenta um bom contra-exemplo: "But if Nero ordercd
you, in thc arena, to pretcnd l o bc a hyena, it might bc unwiscly pcrfunctory not to takc a piece
right out" ( 1979: 256).
CAPiTULO 6
A Marcha Nacional dos Sem-terra:
estudo de um ritual poltico
1
Christine de Alencar Chaves
A Marcha
No dia 17 de abril de 1997 teve lugar em Braslia uma das maiores manifesta-
es pblicas ocorridas na capital do Brasil -s comparvel ao comcio pelas elei-
es diretas, em 1984. Ela marcou o trmino da marcha dos sem-terra, uma caminha-
da de dois meses que percorreu a p vrios estados do pas. Contrariando expectati-
vas de dissoluo e fracasso, a longa peregrinao foi bem-sucedida: alcanou sua
meta e conquistou naquele momento a simpatia da opinio pblica nacional. Simpa-
tia testificada pela afluncia de pessoas manifestao dos sem-terra no dia do encer-
ramento de sua marcha, o que de certo modo autenticava pesqui sa de opinio nacio-
nal que reconheceu legitimidade reforma agrria, bandeira maior do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST), promotor do evento.
Como uma " marcha nacional", a caminhada dos sem-terra foi constituda por
trs "colunas", que buscaram atravessar pontos diversos do territrio brasileiro,
seguindo itinerrios diferentes rumo a Braslia. So Paulo, Governador Valadares e
Cuiab foram as cidades escolhidas como ponto de partida das trs Colunas, com-
postas por integrantes do MST - "acampados" e "assentados"- de diferentes esta-
dos da Federao, no empenho em dar marcha uma representao nacional. Com
atos pblicos nas cidades de origem, ela teve incio em 17 de fevereiro. Cada uma
das Colunas percorreu mais de mil quilmetros de estrada, durante exatos doi s
meses. Alm do percurso dirio ao longo das rodovias, uma seqncia determina-
da marcou a passagem das Colunas pelas cidades e vilarejos no caminho da capi-
tal : entrada das fileiras da marcha, realizao de ato pblico em ponto central e
montagem de acampamento provisrio - padro repetido, em escala maior, em
Braslia.
Intitulada Marcha Nacioflfll por Reforma Agrria, Emprego e Justia, a cami-
nhada dos sem-terra teve como propsito manifesto chamar a ateno da sociedade
no s para a necessidade da reforma agrria, mas tambm para o problema do de-
semprego nas cidades e para a impunidade dos crimes c violncias cometidos contra
134
0 DITO E O FEITO
trabalhadores rurais na di sputa por terras no Brasil. Em cada vilarejo ou cidade que
os caminhantes atravessaram, na passagem das li leiras da Marcha pelas vias pblicas
e no ato principal, quando se pretendia reunir populao e marchantcs, a razo de ser
da peregrinao era exposta mediante palavras de ordem, hinos, representaes tea-
trais c di scursos inflamados. Junto com as manifestaes pblicas, reunies eram
feitas em escolas, faculdades, cmaras municipais, sindicatos e igrejas com a linali -
dade de dar ressonncia passagem da Marcha Nacional c mensagem que ela pre-
tendia veicular. O 17 de abril foi escolhido para trmino do percurso com a chegada a
seu destino, a capital do pas, por ser a data do massacre de Eldorado dos Carajs, no
Par, ocorrido um ano antes - convertida em dia internacional de luta pela reforma
agrria
2
Enquanto organizador c promotor da Marcha, o MST tornou-se o principal
bcnelicirio do capital simblico que ela acumulou, conquistado ao longo da cami-
nhada medida que esta avanava c se aproximava de seu termo. O contraste entre o
incio obscuro e o trmino vitorioso da Marcha Nacional revela o potencial de agre-
gao simblica de um fenmeno to antigo quanto generalizado como so as pere-
grinaes, potencial tornado fato e poder nessa caminhada. A chegada dos annimos
caminhantes sem-terra a Braslia no foi apenas a realizao de um desgnio, mas
representou a converso simblica de uma peregrinao de homens c mulheres em
vitria poltica.
A cliccia da Marcha Nacional consistiu no seu reconhecimento pblico, capital
fundamental da poltica e principal instrumento de luta do MST para atingir seus
propsitos no cnfrcntamento direto que empreende com o Estado. Destitudos da
tradicional capacidade de influncia sobre os aparatos jurdico c administrativo de
poder, instrumentos de que h sculos dispem os setores terratcnentes no Brasi l,
uma vez que as instituies polticas e a prpria formao do Estado estiveram histo-
ricamente vinculadas aos interesses desse setor (Reis 1982; 1988; Camargo 1986;
Fernandes 1981 ), os trabalhadores sem-terra criaram uma organizao cuja ferra-
menta poltica , eminentemente, a ao direta. Em ntido contraste com os mecanis-
mos tradicionais de atuao de seus oponentes, as principai s formas de atividade
poltica empreendidas pelo MST realizam-se atravs de presso sobre o aparato de
poder mediante mobi li zao coletiva c pblica, em nome de interesses coletivos,
reivindicando direitos coletivos.
Com acampamentos em beira de estrada c em praas pblicas, ocupaes de
terras e de rgos governamentais, marchas, saques, jejuns coletivos c declaraes
pblicas, os sem-terra criam fatos c notcia. A criao de eventos coletivos na esfera
pblica o principal meio de atuao poltica do MST. No embate pblico institudo
pelas aes coletivas do Movimento, a definio dos direitos, das lei s e da violncia
a moeda de troca entre os diferentes atores envolvidos - sem-terra, proprietrios,
funcionrios pblicos, agentes religiosos, polticos, advogados, juzes, ministros,
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POTICO 135
polcias militares. Com aes coleti vas, o MST coloca em questo o sentido do Esta-
do de direito c da democracia, a definio de justia c de violncia, a constituio da
ordem institucional, das leis c da legitimidade. Assim, ao tomar-se foco das atenes
durante dois meses, a Marcha Nacional converteu-se em caixa de ressonncia desse
embate, acirrado pelo posicionamento do governo federal, que alm de apostar no
seu fracasso promoveu uma contramarcha com as viagens do ministro da Justia a
diferentes estados da Federao, no intuito de cobrar medidas penais contra as aes
do MST c seus lderes.
A eficcia da Marcha Nacional pode ser melhor compreendida se tomada como
uma ao coletiva expressiva, cuj a importncia teve por suposto a capacidade de
comunicar os fundamentos ideolgicos e os propsitos polfticos do MST e, ao evocar
referncias simblicas consagradas, angariar-lhe a conformidade c solidariedade da
sociedade mais abrangente
3
. Delimitada no tempo e no espao, a Marcha demarcou
uma esfera especfica no curso da vida social, podendo ser considerada um ritual de
longa durao. Como ritual, possvel tom-la como uma forma privi legiada de in-
terpretao dos agentes que a promoveram e do pblico que conferiu legitimidade
ao social posta em curso.
A tradio antropolgica, na linhagem de Durkheim, tem mostrado quo pro-
fundos - inextricvcis e instituintcs - so os nexos entre atos da sociedade e repre-
sentaes sociais, por meio dos quais as sociedades se criam, recriam, tomam cons-
cincia de si mesmas c, pode-se acrescentar, procuram empreender dinamicamente a
mudana
4
. Nesse sentido, os rituai s apresentam-se como fenmenos privi legiados de
investigao, pois no apenas se constituem como instncias condensadas de repre-
sentao da experincia social, como so capazes de promover a sua dinamizao.
Mediante o aporte terico dos rituais possvel combinar a ambio de identificar
singularidades significativas e formas sociais uni versais. A compreenso terica des-
sa capacidade criativa dos rituais em conjugao com o reconhecimento do valor
mpar da etnografia consti tuem, portanto, a inspirao orientadora deste trabalho,
assim como a formulao apresentada por Stanley J. Tambiah ( 1985) a respeito dos
rituais.
Amparada nessa tradio, propus-me a tomar a Marcha dos sem-terra como um
Locus privi legiado de investi gao do MST como ator poltico e do contexto
ociocultural que o baliza - na trilha de Mareei Mauss, procurar desvendar a interao
efetiva c os nexos significativos entre agente, ato e sociedade. A Marcha Nacional,
como ao coletiva de carter expressivo, percorreu mais que estradas: atravessou
um solo moral. Realizar essa travessia - reconstituindo-a em texto -junto com a
caminhada dos sem-terra, pode ser um percurso revclador das trilhas, cami nhos e
encruzi lhadas que se apresentam sociedade brasileira contempornea. O presente
trabalho fundou-se na expectativa de, nessa trajetria, explicitar alguns de seus dile-
mas e virtualidades.
136
0 DITO E O FEITO
O MST
Ao assumir uma atuao poltica fundada na ao direta mediante a promoo
de eventos coletivos e pblicos, o MST tece no cotidiano da poltica encenaes que
polari zam a opinio pblica, promovem fatos, geram poder e procuram cri ar direitos.
Que ator social esse que subverte os parmetros usuais da poltica c, paradoxalmen-
te, revel a algumas de suas dimenses menos expl citas? O MST foi fundado em 1984,
na cidade paranaense de Cascavel, como resoluo do I Encontro Nacional dos Sem-
Terra. Promovido pela Comisso Pastoral da Terra (CPT), o encontro teve por finali-
dade reunir os diversos movimentos locali zados de luta pela terra que noresceram,
sob os auspcios das pastorais sociais da lgreja
5
, no final dos anos 70 c incio da
dcada de 80. Particularmente no Sul do pas, esses movimentos evoluram para uma
crescente autonomi a poltica. No recm-fundado MST assumiu-se como princpio: a
direo poltica do Movimento prerrogati va de seus militantes; aos agentes pasto-
rai s c simpatizantes em geral cabe a funo de assessoria.
Entretanto, a herana de origem pode ser constatada na estrutura de organizao
do MST - como o carter colegiado e hierrquico das instncias de deciso, a di viso
por estados e " regionai s", dotados de relati va autonomia de ao, a definio do
papel de assessor etc. - , em elementos mais impondcrveis como o sentido da mili tncia
como um servio, a valori zao do "esprito de sacrifcio", a ccntralidade da " msti -
ca", bem como na forma de luta fundada na realizao de eventos dotados de forte
carter simblico. Um patrimnio da Igrej a tradicional e da reli giosidade popular, as
procisses e as peregrinaes, por exemplo, so recorrentes na curta hi stri a do MST.
Elas constituem um repertrio simblico de carter religioso por ele apropri ado e
transformado em forma de ao poltica.
Em poucos anos o MST se expandiu, com o objetivo explcito de tomar-se uma
organizao de abrangncia nacional . No MST a unidade da "luta" tida como um
esteio fundamental, o que confere peculi aridades importantes sua estrutura
organizativa e gesto poltica interna: ela bali za tanto a urgncia em assentar uma
estrutura nacional quanto a concepo da preeminncia das decises "do coletivo"
sobre quaisquer posies individuai s - di vergnci as, por exemplo, no devem tomar-
se pblicas. Como saldo do aprendi zado de experincias anteriores na luta por terra,
a fragmentao considerada um grave erro. De fato, na periodizao das "lutas por
terra no Brasil", tema recorrente nos cursos de formao promovidos pelo Movimen-
to, destacam-se trs "fases": as "lutas messinicas", as "lutas radicai s localizadas" e
os " movimentos de camponeses organizados" (Stdile e Frei Srgio 1993). A parti r
da valorizao da experi ncia histrica depreendem-se lies: a dependncia de um
nico lder ou de partidos polticos, assim como a fragmentao, so considerados
erros capitais a serem evitados. Embora tenha hoje uma estrutura organi zacional ho-
mognea com abrangncia nacional, o MST, a despeito dos propsitos de seus mil i-
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POTICO 137
tantes, apresenta uma consistncia organizativa bastante diferenciada nos estados e
no pde evitar di ssidncias
6
.
Apesar de di ssidncias menores, o MST tem se mantido unificado, com uma
atuao poltica coerente com seus propsitos c gi l em adaptar-se s diferentes cir-
cunstncias polticas. Desde as primeiras ocupaes, ainda sob o regime mi litar, a
luta pela terra foi assumindo dimenso poltica maior, tomando-se inicialmente uma
bandeira pela redemocratizao poltica, quando acampamentos, considerados rea
de segurana nacional , sofriam interveno federal (Marcon 1997). Mais tarde, a
reforma agrria, no sentido amplo proposto pelo MST, descortinou-se no apenas
como uma luta pela democratizao do acesso terra, mas como a ponta-de-lana de
um projeto de transformao social centrado na democratizao de diferentes recur-
sos, materiai s e simblicos, da sociedade naciona1
7
. A luta por terra converte-se,
ento, em luta por cidadania.
A ampliao do horizonte poltico da luta por terra no Brasil , ao ser-lhe empres-
tado um sentido catali sador de transformao social, revestiu-a do carter de uma
idia-fora. Essa ampliao foi sendo construda ao longo da histria do MST, conso-
lidando-se nas sucessivas transformaes por que passou. No I Congresso Nacional
do MST, em 1985, definiram-se os lemas nortcadores de sua ao poltica: "terra no
se ganha, se conquista" c "ocupao a nica soluo". A seguir, em face de cir-
cunstncias adversas e da carncia de solidez organizativa do Movimento, propuse-
ram-se lemas de resistncia: "ocupar, resistir, produzir" e "reforma agrria, essa
luta nossa". Com uma estrutura organizativa mais consolidada, no 111 Congresso
Nacional , reunido em 1995, o sentido da "luta" foi amplificado na mesma proporo
da abrangncia do pblico-alvo, o que se expressou no lema "reforma agrria, uma
luta de todos". A reforma agrria passou a ser considerada um bem para a sociedade
como um Lodo. Reconhecendo nela uma conqui sta que requer legitimao social, o
MST apresenta em sua formulao da reforma agrria uma concepo que rompe a
distino campo-cidade, ao sugerir um "novo modelo de desenvolvimento para a
sociedade brasilei ra".
Ao manter o propsito de promover a reforma agrria, ncora da identidade de
sem-terra, o MST aponta para o problema maior da integrao social no Brasil - para
questes clssicas da democracia e da cidadania. Na observao de um militante,
"terra poder", o que no contexto do MST traduz no uma opinio pessoal, mas uma
perspecti va compartilhada, cujo contedo serve de fundamento lgico aos propsitos
abrangentes advogados pelo Movimento. Por outro lado, trata-se de uma percepo
apurada, uma vez que a questo fundiria tem vncul os hi stricos com o sistema
poltico no Brasi l, como inmeros trabalhos acadmicos j apontaram desde o de
Vitor Nunes Leal ( 1975). Desse modo, com suas aes coletivas o MST constitui -se
como ator em uma luta qual procura emprestar um significado poltico amplo, posto
que solidamente ancorado em urna identidade bem definida e relati vamente restrita.
138 0 DITO E O FEITO
Entretanto, ao constituir a luta por reforma agrria em tomo de uma identidade nega-
tiva, tomando-a sujeito coletivo atravs de um cnfrcntamcnto direto com o Estado e
sua ordem legal , o MST, criando fatos, coloca em xeque os fundamentos de legitimi -
dade de uma ordem social que se reproduz historicamente sem resolver o problema
da integrao de larga parcela de sua populao
8
.
De um ponto de vista interno, como "organizao", o MST um ator social que
alcana expresso polftica atravs da capacidade de forjar a identidade "sem-terra",
que ultrapassa diferenas de origem e tradio c serve como um suporte social signi-
ficativo de suas aes polticas. Sem-terra uma categoria genrica que congrega
uma congrie de outras, cuja incluso , no entanto, apenas potencial
9
. sem-terra
quem integra as fil eiras do MST em alguma de suas atividades, essencialmente mobi-
lizaes coletivas, tendo como incio privilegiado uma permanncia em acampamen-
to, verdadeiro rito de passagem
10
. A identidade de sem-terra forjada no curso da
"luta", realizada fundamentalmente por meio das mais diversas mobilizaes promo-
vidas pelo MST. Assim, mobilizaes so ritos de fundao, reali zaes "para den-
tro" e "para fora" - como a Marcha Nacional, elas constituem-se em fontes de
legitimao tanto para o pblico interno ao MST, acampados, assentados e militan-
tes, quanto para o externo, constitudo pela sociedade nacional.
No deixa de ser inesperada a galvanizao polftica empreendida pelo MST ao
organizar um segmento marginal da sociedade brasileira plenamente urbanizada, como
so os camponeses, mediante uma identidade construda em to curto espao de tem-
po. Esta uma realizao que, como movimento social, o MST empreende mediante
a gerao de fatos polticos que so atos criativos em sentido pleno: forjam os atores,
a cena e o pblico; desencadeiam fatos novos, sem antecipar, como dramas sociais
que so, os seus variados resultados. Com a gerao de fatos polticos, o MST magne-
tiza a opinio, suscitando paixes da mais variada abrangncia. Mas, esses homens e
mulheres reunidos sob uma "organizao" forjam uma identidade especfica, sem-ter-
ra, estabelecida em tomo de uma coletividade representada c por meio dela constroem
uma utopia que converte o sonho da terra em sementeira de transformao social. Dese-
jada por muitos, negada por outros tantos, essa utopia formulada pelos sem-terra
como o sonho de um "Brasil para todos os brasileiros"
11
, uma nao de iguais.
A abordagem dos rituais
Se o MST se constitui atravs da multiplicidade de eventos que promove, de
todos, at hoje, a Marcha Nacional alcanou maior envergadura c xito. Foi um acon-
tecimento especial por seus propsi tos, propores c repercusso. Mas foi tambm
um evento exemplar, na medida em que apresentou os elementos principais da ao
poltica do MST: mobi lizao coletiva, constituindo, simultaneamente, veculo de
presso c legitimao.
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POTICO 139
Como fenmeno social, a marcha no uma inveno do MST. uma forma
cultural transtemporal c presente em diferentes tradies, dotada de caractersticas
distintivas que permitem reconhec-l a, conquanto passvel de ser revestida de signi-
ficados os mais diversos. Como forma cultural estereotipada, as marchas so pass-
vei s de classificao entre os rituai s, eventos pblicos padronizados, embora permi-
tam performances variveis conforme o contexto. Segundo essa caracteri zao, a
Marcha Nacional pode ser considerada um ritual de longa durao, o que lhe confere
um estatuto privilegiado de compreenso no s dos atores que o encenaram, mas do
"pblico" que o tomou relevante - o MST como ator social, seu modo particular de
construo da poltica c as relaes mais profundas que ele guarda com a sociedade
brasileira.
Tratar dessa maneira a Marcha Nacional corresponde adoo da perspectiva
desenvolvida por Tambiah ( 1985; 1996a) a respeito dos rituai s, abordagem que rom-
pe com uma definio restrita em benefcio de um ponto de vista que, sem abandonar
o reconhecimento de caractersti cas formai s universai s, valoriza a demarcao feita
pelas prprias sociedades daquel es eventos que por sua estrutura c ordenamento se
distinguem do cotidiano. Do ponto de vista formal , os rituais so classificveis por
serem eventos delimitados no tempo e no espao, com forma e padronizao cultural-
mente definidas e que, supondo participao coletiva, concorrem para uma intensifi-
cao da vida social. A perspectiva apresentada por Tambiah toma os rituais como
eventos em acepo ampla: atos, proferimentos, interaes e prticas - eventos que
aliam semntica e pragmtica
12
Consistindo em formas culturais padronizadas, os rituai s veiculam significados
cujo contedo culturalmente delimitado. Na definio do autor, os rituai s conjugam
el ementos referenciais c indxicos, traduzem concepes sociais abrangentes e dura-
douras ao mesmo tempo que so referidos a um contexto varivel e circunstancial. O
conjunto dos elementos que o constituem tornam-no capaz de desencadear efeitos
pragmticos atravs do poder simblico de que so portadores, por fora de conven-
es culturais. A eficincia da ao ritual ancora-se no fato de acionar crenas cultu-
rai s essenciai s, crenas que constituem uma cosmologia, i sto , concepes funda-
mentais para um determinado universo social. O conjunto de crenas ativado atravs
de formas rituai s estveis torna-se sancionado pela idia de tradio nelas embutida:
forma c contedo so indi ssocivei s na ao ritual.
Efetivao de atos convencionais referidos a uma cosmologia determinada, fon-
te maior de l egitimao, os rituais constituem uma linguagem que pode assumir con-
torno c contedo polticos. Com caractersticas expressivas e pragmticas, segundo
Tambiah, os rituais tanto representam o cosmos quanto legitimam hierarquias sociais.
Mas justamente porque so eventos padronizados sujeitos variao das performances,
possvel apresentar a interpretao alternativa de que os rituais podem concorrer
para a construo de novas legi timidades, ao simbolicamente conectarem conven-
140 0 DITO E O FEITO
es consagradas a arranjos i nus itados, indicando a poss ibi lidade de outros
ordenamentos. Ao "indexarem" contedos referenciais convencionai s da cultura a
novos atores, eles apontam para padres inovadores de relacionamento social - de
forma a ati var potencialidades latentes da cosmologia. Assim, os rituais podem ser
utili zados como formas legtimas de manifestao do di sscnso, tomando-se instru-
mentos de construo de novas legitimidades, ncoras de ordenamentos sociais alter-
nativos.
Dessa perspectiva, uma teoria dos rituais proporciona mais que uma forma pri-
vilegiada de acesso cultura, ao contexto que torna os rituais fatos sociais significa-
tivos e relevantes. Na verdade, toma possvel guardar o valor lotalizador do conceito
de cultura, fugindo, entretanto, de seu sentido totalitrio ao permitir desvendar os
mecanismos de diferenciao social, de constituio da dominao e de instaurao c
legitimao de resistncias. Permite, enfim, e fetivar o intuito antropolgico de apre-
ender o uni verso signifi cativo totalizantc das ideologias e, simultaneamente, realizar
a passagem - difcil para a teori a e cotidiana na prtica - destas para os sistemas de
ao, nos quai s homens c mulheres de carne c osso buscam transformar interesses e
ideais em real izaes concretas.
Nesse sentido, uma vez constitudos por "atos c proferimcntos" convencionais,
pertinente indagar como os rituais empenham e promovem aes inovadoras. Ou
seja, como, atravs de aes expressivas, o ritual consegue desencadear efeitos cria-
tivos e imprevistos. A conjugao de represent ao com ao presente nos rituai s
desdobra-se em uma tenso entre reproduo e inovao, pois embora no completa-
mente determinveis, os resultados pragmticos antevistos so esperados, c mesmo
desej ados. essa dimenso, concreti zada etnograficamente pela Marcha, que toma
apropri ado o emprego da teori a dos rituais esfera da poltica, domnio da "tica da
responsabi lidade", que deve prestar conta dos resultados, previsveis mas incertos, da
ao. E permite conjugar a ambio antropolgica de empreender uma investigao
totalizante, cujos pri ncipais trunfos e triunfos se remetem ao domnio da ideologia,
com a necessidade de apreender a fragmentao caracterstica do no menos clusivo
domnio da ao.
Na conjuno desses dois domni os reside a principal contribuio de um enfoque
antropolgico da poltica, em um un iverso social caracteri zado pela fragmentao,
dife renciao c desigualdade. Trata-se da necessidade de conc ili ar o enfoque
durkheimiano da sociedade com a esfera das preocupaes wcbcrianas - o que no
impossvel uma vez que se atente para o fato de que Durkhcim conjugou em uma
mesma abordagem o estudo das representaes com o dos ritos e Webcr empenhou-se
na investigao do domnio da ao social assim como ao das teodicias. No
incidental que ambos tenham, no final de suas carreiras, se dedicado ao estudo da
esfera reli giosa da vida - onde, em ltima instncia, possvel determinar os elemen-
tos fundamentais de construo da autoridade c, com ela, pensar os meios de consti-
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POTICO 141
tuio e destituio da dominao, escapando s annadilhas de uma perspectiva indi-
viduali sta que negli gencia o fato de que o poder s se mantm pelo consentimento da
maioria, uma vez que um fenmeno eminentemente social. A aproximao antropo-
lgica entre poltica e religio, s aparentemente extempornea, justifica-se a partir
da constatao de que a constituio do poder, como o expressou Loui s Dumont
( 1985), incompreensvel se desvinculada da esfera dos valores.
Marchas, peregrinaes, romarias
O nexo entre religio c poltica apresenta-se como elemento determinante de
caractersticas do MST enquanto ator social. Este nexo se encontra na prpri a origem
do Movimento, no suporte insti tucional inicial fornecido pela Comi sso Pastoral da
Terra, fundamental para a articulao do MST como entidade poltica autnoma com
abrangncia nacional. To importante quanto o institucional, o suporte ideolgico
efeti vou-se com a utili zao de smbolos reli giosos legitimadores, ativados atravs
da promoo de cerimnias, sob inspirao do princpio de que "a terra um dom de
Deus para todos", assim como de uma pedagogia de renexo sobre a realidade luz
do texto bblico, desenvolvida nas Comunidades Eclcsiais de Base. As referncias
religiosas, fortalecidas pela presena marcante de religiosos no cotidiano dos primei-
ros acampamentos, serviram para dar inteligibi lidade ao sofrimento presente e forta-
leza ante as incertezas do futuro. Essas primeiras referncias assumiriam, no contex-
to da " luta", um contedo crescentemente poltico.
Smbolos religiosos foram transformados em smbolos da luta poltica. Assim
que no acampamento pioneiro da Encruzilhada Natalino, Rio Grande do Sul, uma
cruz pequena com a inscrio "salva tua alma" foi substituda por outra grande e
pesada, que simbol izava o sofrimento de todos e a esperana de vitria comum. A
cruz foi posta no centro do acampamento, onde se passaram a realizar as reunies
dirias, a acolhida de visitantes, as reunies de equi pes, as assemblias e celebraes
(Gaiger 1987: 4 1 ). Centro simblico, na cruz foram colocados panos brancos em
sinal de luto pelas mortes ocorridas no acampamento e escoras simboli zando a soli-
dariedade e o apoio de entidades c organizaes. Pesada, a cruz precisava ser trans-
portada por muitos braos nas procisses que se fi zeram
13
, em uma representao da
necessidade de uni o assim como do sofrimento redentor, vitorioso com a esperada
conqui sta da terra. Se com o amadurecimento da autonomia poltica do MST a cruz
foi substituda pela bandeira e pelo hino da Organi zao, o sentido de sacralidade
referido luta que eles simbolizam foi preservado.
A velha tradio das romarias- peregrinaes rumo a um santurio, centro reli-
gioso onde o sagrado se manifesta- foi sendo transformada quando transposta por
acampados do MST em caminhadas em direo s cidades e aos centros de poder, as
capitais. De uma peregrinao rumo ao territrio sagrado, elas se transformaram em
142 0 DITO E O FEITO
marcha, caminhada em direo ao espao poltico. De um processo de reafirmao c
renovao da r atravs do sacrifcio em cujo termo o peregrino reencontra nos luga-
res considerados santos a comunho com o transcendente, em uma caminhada que
cimenta a esperana atravs da unio de todos, lirmada diante de um poder temporal.
Transfigurada em luta por reforma agrria, essas novas caminhadas fizeram a passa-
gem da esperana messinica de uma terra que promessa para a esperana poltica
de uma terra que deve ser conquistada. Passagem da noo da graa divina individual
que se quer receber de direito de todos que se deve cumprir.
Desse modo, a popular tradio religiosa de romarias rumo aos santurios roi
investida de novos signilicados quando apropriada pelos integrantes do MST. As
romarias converteram-se em marchas rumo aos centros de poder poltico, reivindi-
cando direitos que cumpre ao Estado razcr valer. Entretanto, a mesma prtica de
peregrinao passvel de ser revestida de inmeros signilicados, tendo assumido,
nos ltimos anos, uma pletora variada de manirestaes no Brasil. Assim, ao lado das
tradicionais romarias e procisses rumo aos santurios consagrados pela religiosida-
de popular
14
, e das marchas polticas promovidas pelo MST, uma nova tradio roi
inventada, a das romarias da tcrra
15
. Assumindo um carter simultaneamente religio-
so e poltico, elas so freqentemente organizadas pelas pastorais populares da Igre-
ja, muitas vezes sob oposio da hierarquia clerical. Algumas delas realizam-se nos
santurios das romarias tradicionais, como o caso de Canind (CE), Juazei ro do
Norte (CE), Bom Jesus da Lapa (BA) e Trindade (00). Outras, porm, defi nem-se,
ano a ano, por locai s marcados pelo conOito e luta de terras- renovando o sentido do
martrio - ou naqueles lugares onde a conquista da terra permite a celebrao da
vitria e a realizao da "resta da colheita"
16
.
As peregrinaes no so, porm, uma manifestao religiosa exclusivamente
crist - tanto o Cristianismo quanto o Judasmo tm como ponto comum de origem
uma mesma peregrinao: a partida de Abrao rumo "Terra Prometida", experin-
cia paradigmaticamente revi vida na mstica das Romarias da Terra e sempre lembra-
da no percurso da Marcha Nacional. No obstante seu aparato racionalizador em
direrentes medida e direo, grandes religies mundiais, como o Islamismo e o Bu-
di smo, tm nas peregrinaes e procisses um ponto alto. Alm delas, religiosidade
com contedo to diverso quanto a dos povos guarani , por exemplo, investiram de
significado simblico suas peregrinaes rumo "terra sem males".
Entretanto, marchas, peregrinaes, romarias no se revestem exclusivamente
de significado religioso, como a Marcha Nacional dos sem-terra atesta. Elas esto
presentes em direrentes partes do planeta, servindo aos mais diversos Iins: religiosos,
polticos, pacifistas, militares, de conqui sta e de li bertao, pela manuteno da or-
dem17 e por sua subverso. Como nos ratos sociais totais, nelas muitas vezes essas
delimitaes se embaralham. Nas romarias da terra no Brasil, assim como nas procis-
ses que demarcam os territrios protestante c catlico nas cidades irlandesas, por
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POTICO 143
exemplo, a fronteira entre o religioso e o polftico perde nitidez. Esse fenmeno talvez
indique a necessidade de se repensar a adequao de algumas di stines analfticas
consagradas.
A "grande marcha do sal", organizada por Gandhi , em uma cruzada pacffica
pela libertao da ndia; a "grande marcha", de carter militar, organizada por Mao
Ts-tung, na China; a marcha promovida por Martin Luther King, a favor dos direitos
civis da populao negra americana; a "Coluna Prestes", empreendida pelos tenentistas
brasileiros no infcio do sculo so uns poucos exemplos da diversidade de que se
reveste essa manifestao coletiva. Estarfamos diante de uma forma social elementar,
uma forma capaz de revestir os mais diversos contedos? Uma forma que, por ser
passfvcl de ser preenchida por contedos variveis, pode assumir tanto a feio de
um cortejo fnebre mais ou menos solene revestido do carter de comoo nacional
quanto a de um desfile carnavalesco eminentemente festivo? Se, de um lado, a inves-
tigao desse evento particular e especffico que foi a Marcha Nacional, sob a inspira-
o da teoria dos rituai s, favorece uma compreenso do MST enquanto ator social, de
outro, pode ajudar no entendimento de aspectos significativos da sociedade brasileira
contempornea e, ainda, a possibi lidade de olhar os rituai s enquanto fenmenos so-
ciais f undantes.
Marcha: fabricao do social
A deciso de tomar a Marcha Nacional como tema de investigao serviu de
motivao interessada em um duplo sentido: simultaneamente cidad c terica
18
Vis-
lumbrava no empreendimento um campo frti l para a reflexo a respeito dos nexos
entre polftica e sociedade, de modo a contemplar a partir de um contexto etnogrfico
preciso significados particulares e processos gerais da poltica no Brasi l. Nesse pri-
meiro impulso, a ambio terica era ainda, reconhecidamente, bastante cidad. Foi o
encontro com a dinmica criativa e contundente da ao polftica do MST que tomou
significativo o enfoque terico dos rituai s e, a partir de ento, abriu a perspectiva de
identificar, na prpria tcssitura das aes c representaes a serem investigadas, aqui-
lo que as ultrapassava, como forma elementar c, portanto, como modo de "fabrica-
o" do social. As noes de Durkheim c Mauss rcavivaram-se como fundo comum
de inspi rao e cstfmulo intelectual, demonstrando mai s uma vez o vigor do pensa-
mento de ambos.
Durkheim e Mauss, ao estudarem as formas elementares da vida religiosa, apon-
taram para o carter instituinte de que so dotadas as manifestaes coletivas da vida
social. Como isto ilumina a ao polftica do MST e contribui para a compreenso de
seu significado no contexto da sociedade brasileira? Ao se constituir como uma orga-
ni zao de ao direta, a ao polftica do MST c sua prpria existncia conformam-
se pela criao de eventos de mobilizao coletiva continuada. Sendo um processo, a
144
0 DITO E O FEITO
"luta" desdobra-se tambm no espao, em um movimento de "tcrritorializao"
19
que
se expande em acampamentos c assentamentos, nos quai s o MST busca imprimir a
marca de uma sociabi lidade prpri a e diferenciada. Mas o MST ganha visibilidade
pblica, c com ela expresso poltica, atravs da multiplicidade de aes que realiza.
atravs dessas aes coletivas, geralmente de forte impacto simblico, que o MST
constitui-se como sujeito poltico. nelas tambm que se expressa c realiza a identi -
dade de sem-terra. Nesse sentido, as aes coletivas do MST no espao pbl ico so
condio de sua constituio e existncia social. Elas so criadoras.
A hi stria, remota e recente, est repleta de exemplos de aes coleti vas contcs-
tadoras, particularmente dos setores despossudos da sociedade (Michelet 1998; Rud
199 1; Tambiah 1996a). Uma de suas caractersticas, porm, a descontinuidade no
tempo c a relativa invisibi lidade- s vezes clandestinidade- de seus centros promo-
tores. O que refora a peculiaridade assumida pelo MST: uma organizao voltada
exatamente para a produo concertada
20
de aes di retas de cunho coleti vo que,
desafiando as fronteiras da legalidade, busca na visibi lidade do espao pblico con-
quistar legitimidade. O MST inscreve-se na cena poltica mais abrangente integrando
seu campo de foras mediante aes consideradas transgressoras, embora dotadas de
forte carter expressivo.
Como evento de longa durao, a Marcha Nacional agregou tanto elementos das
aes diretas quanto caractersticas da organizao social dos acampamentos sem-
terra. Criando um processo continuado de comunicao com a sociedade mais
abrangente, supunha tambm uma ordenao interna consistente. Nesses termos, ela
representou uma espcie de sntese dos elementos constituti vos do MST e tambm de
seus desafi os: a construo de uma identidade e de uma sociabilidade prpri as e, ao
mesmo tempo, de um poder polftico efi caz. A Marcha Nacional comportou em sua
forma elementos cxtracotidianos e prosaicos, mas s pde sustentar-se ao cimentar a
f na realizao de um propsito, capaz de converter cansao em sacrifcio e de con-
jugar di sciplina c efervescncia. Esse processo laborioso foi uma cri ao feita de
interao social tanto interna quanto externa, e no seu encerramento produziu uma
amplificao social de suas conqui stas simblicas.
Mas a Marcha Nacional conformou-se na confluncia de uma dinmica comu-
nitria, de relaes face a face, com a lgica prpri a dos modernos meios de comuni-
cao de massa. Assim, estabeleceu um processo comunicati vo com mltipl as di -
menses, ou seja, fundado em inseres diferenciadas - compreendendo simultanea-
mente interaes no contexto interno e em contextos locais di versos, alm do na-
ci onal. Reunindo um repertri o vari ado de formas rituais - peregrinao, parada
militar, comcio poltico, procisso, festa etc. - , foi em um crescendo criando essa
espcie clusiva de capital, o capital simbli co. A multido fechada c itinerante,
dimensionada em interaes internas e locais, converteu-se, ao final, em uma mul-
tido aberta e multi facetada
21
, incluindo aquela, de dimenses nacionais, consti tu-
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POTICO 145
da atravs da intensa cobertura dos meios de comunicao. Desse modo, um fen-
meno semelhante efervescncia coletiva produziu-se no mbito de uma complexa
sociedade nacional.
Ao longo de seu percurso a Marcha Nacional foi "conquistando a sociedade"-
nas palavras dos marchantes- de modo que, ao chegar capital do pas, dei xou de ser
apenas dos sem-terra. Os temas que a intitulavam, apontando para questes sociais
candentes - a reforma agrria, o emprego e a justia -, ganharam o aporte de outras
categorias sociais que concorreram com sua presena para o ato de encerramento da
longa caminhada. Assim, o lema da Marcha Nacional generalizou-se ainda mai s,
sendo acrescido de reivindicaes especficas portadas pelas demai s categorias so-
ciais22. A esse processo de agregao social corrcspondeu, na chegada da Marcha a
Braslia, um amlgama de formas rituais: no dia 17 de abril a Marcha unificou em
uma mesma manifestao as forrnas de parada militar, procisso religiosa, comcio
poltico, show artstico, festa e carnaval. A intensidade emocional acompanhou a
multiplicidade de manifestaes presentes, congregando tudo e todos em um grande
ato de protesto polftico.
Assim, a Marcha Nacional foi um rito de sacralizao e dessacralizao, sacrif-
cio c festa. Por suas caractersticas formais apresentou-se como aquelas cerimnias
em que, segundo Mauss, "anima-se todo o corpo social num s movimento[ ... ]. Este
movimento rtmico, uniforme e contnuo, a expresso imediata de um estado mental
em que a conscincia de cada um monopolizada por um s sentimento, uma s idia
alucinantc - a da finalidade comum" ( 1974: 161 ). De um conjunto originalmente di s-
perso de homens c mulheres provindos de diferentes regies do pas, formou-se um
grupo coeso pelo "desejo comum" e pela "certeza comum", unido no propsito de
chegar a Braslia. Formar essa identidade coletiva em torno da Marcha Nacional foi
um processo no despido de vicissitudes, mas plenamente realizado s vsperas de
sua chegada a Brasl ia. Um processo que, galvanizando a ateno da sociedade, f- la
por um momento comungar os mesmos ideais coletivos, na identificao da desigual-
dade como problema. Nessas condies, seguindo Mauss ( 1974), verifica-se "o con-
sentimento universal [que] pode criar realidades", fenmeno "em que, por assim di-
zer, fabrica-se conscientemente o social" ( 1974: 16 1- 162). Como Mauss antevira,
essa capacidade que o rito tem de constituir uma espcie de necessidade social, po-
der-se-ia dizer, de engendrar formas elementares da vida social, "a noo funda-
mental de todo ritual, [ ... 1 a noo de sagrado" ( 1974: 174). Mas a conformao do
sagrado no necessariamente religiosa. A Marcha Nacional, processo de sacralizao
do MST e de dessacralizao do poder constitudo, revelou-se criadora de um sagra-
do vi nculado configurao da autoridade pblica c, conseqentemente, aos meca-
nismos de legi timao c dcslcgitimao polticas. Ela revelou, ao mesmo tempo, o
carter extremamente voltil dessa legitimidade, o que parece impor uma contnua
reconstituio dos fundamentos da autoridade polftica nos tempos contemporneos.
146 0 DITO E O FEITO
Notas
1
Este texto se remete tese de doutorado da autora, transformada em livro (ef. Chaves 2000).
2
A Marcha Nacional celebrou pela primeira vez o Dia lntemaciona/ de Luta Camponesa, data
criada pela "Via Campesina", uma articulao internacional de organizaes camponesas, que
se encontrava reunida no quando ocorreu o massacre no Par.
3
Nesse sentido, possvel dizer que a marcha se constituiu em um rito simptico, em duplo
sentido: o do senso comum c o tcnico, ou seja, ao evocar eventos semelhantes transferiu, por
similitude, representaes latentes legitimadoras.
4
Para uma discusso a respei to da aplicao do conceito de linhagem "comunidade dos
antroplogos", assim corno para uma abordagem mais ampla da relao entre teoria c pesquisa
na tradio antropolgica, consultar Peirano ( 1995).
5 Urna parcela significativa dos lderes e dirigentes mais antigos do MST, que determinam sua
direo poltica, teve passagem por alguma dessas pastorais. Diolinda Alves dos Santos c
Rainha Jnior, por exemplo, participaram de Comunidades Eclcsiais de Base (CEBs); ele teve
ainda experi6ncia corno lder de sindicato rural, no Esprito Santo. Joo Pedro foi
assessor da prpria CPT. Para urna histri a da CPT, do ponto de vista de um de seus assesso-
res, ver Poleto ( 1997).
6
O MTST urna organizao dissidente, com presena expressiva particul armente no Estado
de Minas Gerais. O massacre que vitimou sem-terras em Corumbi ara, Rondnia, atingiu um
acampamento dissidente do MST. Em episdio de violncia de sem-terras contra faJ.Cndeiros
no Paran, em 1998, os protagonistas, assi m como a prpria organiL.ao do acampamento no
tinham vnculo com o MST. Esses acontecimentos confirmam que a organizao do MST
consiste, de fato, em um instrumento de conteno da viol6ncia.
7
Um exemplo dessa a constiLUi o de um setor de educao no MST. Sendo um
dos mais ativos setores do Movimento, ele recebeu o pr6rnio lta-UNICEF para educao.
8
De modo que possvel aos lderes do MST conclamarem os demais "sem" - sem-teto, sem-
alimento, sem-emprego - a se organizarem, corno fez o lder Joo Pedro Stdi le aps a Marcha
Nacional.
9
Na definio expressa no MST: "O termo 'sem-terra' foi um apelido popular dado a uma
classe social que vive no campo, que os socilogos chamam de camponeses, que trabalham a
terra sem ser proprietrios dela. Essa classe est dividida em vrias categorias sociais de dis-
tintos tipos de trabalhadores rurais, conforme a forma corno participam na produo. Assim,
esto includos como 'sem-terra' as seguintes categorias: parceiro, arrendatrio, posseiro, as-
salariado rural , pequeno agricultor, fi lhos de pequenos agricultores" (Stdi lc c Frei Srgio
1994).
10
Importante ressaltar como reunies e mobili7.aes so fontes instauradoras de sociabilidade
c de identidade, o que registra a acuidade da anlise de Durkhcim ( 1996). Para um trabalho
dedicado ao estudo das reunies, ver Cornerford, 1996 e captulo 7 deste li vro.
11
Mote da Marcha Nacional.
12
Em suas palavras: " Ritual is a culturally constructed systern of syrnbolic comrnunication. lt
is constituted of patlerned and ordered sequenccs o f words and acts, often expressed in multi pie
A MARCHA NACIONAL DOS SEM-TERRA: ESTUDO DE UM RITUAL POLiTICO 147
media, whose contcnt and arrangement are characterized in varying degree by formality
(conventionality), stereotypy (rigidity), condensation (fusion), and redundancy (repetition).
Ritual action in its constitutive features is performative in these three senses: in the Austinian
sense of performativc, whcrein saying something is also doing somcthing as a conventional act;
in the quite di ffcrent sense of a staged performance that uses multiple media by which the
participants expericncc thc event intensively; and in thc sensc of indcxical values- I deri ve tllis
concept from Pcirce - bci ng attached to and inferred by actors during the performance" (Tambiah
1985: 128).
13
O testemunho de um padre que atuou na Encruzil hada Natalino eloqUente: "Essa a
explicao que cu daria tambm pras procisses. Constantemente, o pessoal pede procisso, e
a gente v bem porqu, porque a procisso com o povo carregando a cruz, rezando c cantan-
do, isto firma novamente o compromisso de seguir em frente, todos juntos at alcanar a
terra ... A grande tentao na qual recaem a acomodao individualista c at rezas somente
individualistas. Diante disto as constantes procisses c celebraes c revises concretam a
amarrao interna do povo c a caminhada do acampamento. Pra eles isso d uma certeza.
Porque duas coisas eles sabem dizer: Deus est conosco, c que ns se ficarmos unidos vamos
conqui star a terra" (Mliga c Janson 1982: 90).
14
Entre elas, a Procisso do Crio de Nazar, em Belm, as romarias a Aparecida do Norte,
So Paulo, a Jua.tciro do Norte, no Cear, a Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a So Francisco de
Canind, no Cear, a So Jos Ribamar, no Maranho, a Santo Cristo do lpojuca, em
Pernambuco, a Trindade, em Gois, alm da Romari a de Nossa Senhora, em Minas Gerais, de
Nossa Senhora da Penha, no Esprito Santo, de Bom Jesus do Pirapora, em So Paulo, de
Nossa Senhora Medianeira, no Rio Grande do Sul (Barros e Peregrino 1996: 16).
15
H controvrsias quanto ao local e data da primeira reali zao da romaria da terra. A primei-
ra delas teria dado incio, em 1978, ao Ano dos Mrtires, em So Miguel das Mi sses, no Rio
Grande do Sul. Uma sugesto de O. Pedro Casaldliga, bi spo de So Miguel do Araguaia,
Tocantins, o Ano dos Mrtires foi inaugurado pela romaria da terra no local onde "So" Sep
Tiaraj u morreu, com 1.500 outros, combatendo por terra (Barros e Peregrino 1996: 20-23).
Em 1978, c segundo alguns testemunhos j em 1977, ocorreu a Misso da Terra, que daria
lugar romaria da terra, no tradicional Santurio de Bom Jesus da Lapa, BA (Steil 1996: 275-
276). Seja como for, inmeras romarias passaram a ser anualmente realizadas, em vri os esta-
dos brasileiros, quase sempre sob a coordenao da Comisso Pastoral da Terra. Como uma
entidade ecumnica, a CPT tem enfrentado o desafi o de emprestar urna feio ecumnica
romaria- urna manifestao religiosa que na tradio crist tem a marca do catolicismo (Fer-
nandes 1982).
16
Exemplo des e empenho ecumnico. traduzido na celebrao festiva da "festa da colheita",
de tradio luterana, foi a 12 Romaria da Terra do Paran, em outubro de 1997. Exemplo,
igualmente, da continuidade da relao CPT-MST, ela foi organizada no Assentamento lreno
Alves dos Santos, resultado da desapropriao de parte da propriedade da Fazenda Giacornet-
Marundi, onde se localizou o maior acampamento do MST. O sentido de martrio no foi,
porm, esquecido: levantou-se uma cruz, no centro do assentamento, em memri a de dois
sem-terra mortos por seguranas da fazenda.
17
Basta lembrar a "Marcha com Deus, pela famlia e pela propriedade", organizada pela Igreja
Catlica brasileira pouco antes da ecloso do Golpe Mi li tar de 1964, sendo comumente apre-
sentada como um dos suportes legitimadores do novo regime.
148 0 DITO E O FEITO
IS A imbricao, desde as origens, entre as cincias sociais no Brasil e a questo da nao foi
tratada por Pcirano ( 1981) c, novamente, tematizada na condio do "antroplogo como cida-
do" ( 1992).
19
O conceito 6 empregado por Fernandes ( 1996).
20
Os eventos de ocupao simultnea de rgos pblicos, em maio de 2000, em 23 estados da
Federao so disso um exemplo.
21
Em sua chegada a Brasnia, a Marcha Nacional congregou urna multido muhi fonnc fonna-
da por funcionrios pblicos, estudantes, aposentados, desempregados, sem-teto, representan-
tes de minorias etc., vindos de todas as partes do pas.
22
Este processo pode ser descrito atravs dos conceitosfoca/ization/ transva/uation, cunha-
dos por Tambiah ( 1996a: 81, 192 e ss.), do mesmo modo que ao processo descrito na nota
anterior caberia a aplicao do par oposto de conceitos: nationa/ization/parochia/ization
( 1996a: 257 c ss.).
CAPTULO 7
Reunies camponesas,
sociabilidade e lutas simblicas
1
John Comerford
r::l ste texto anal isa reunies realizadas no mbito de organizaes de trabalha-
dores rurais c tem como objetivo mostrar que, para al m de sua dimenso
instrumental de simpl es meios de tomar decises ou discutir assuntos de interesse
dos membros das organizaes, elas podem ser vistas tambm como um el emento
importante na construo desse universo social. Reunies criam um espao de
sociabilidade que contribui para a consolidao de redes de relaes que atraves-
sam a estrutura formal das organizaes, estabelecem alguns dos parmetros c me-
cani smos para as di sputas pelo poder, possuem uma dimenso de construo
ritualizada de smbolos col etivos c colocam em ao mltiplas concepes relati-
vas natureza das organi zaes de trabalhadores e ao papel de seus dirigentes e
membros, bem como sobre a natureza da categoria que essas organizaes se pro-
pem a representar.
O termo reunio, tal como costuma ser usado no universo pesquisado, refere-se
a um tipo de encontro convocado por alguma organizao formalmente definida -
sindicato, associao, movimento - em torno de um objetivo previamente estabel eci-
do, contando com uma pauta - tanto no sentido de questes a serem discutidas como
de uma seqncia de etapas a serem seguidas (nesse segundo sentido pode tambm
ser chamada de programao da reuni o) - e uma coordenao, que um grupo
responsvel pelo andamento dos trabalhos. O local para a sua realizao geralmente
pblico (sede do si ndi cato ou associao, sal o paroquial) e reti rado (ou seja, no se
privilegia a visibilidade pblica do l ocal). A reunio pressupe discusses c deve
chegar a al gum tipo de concluso (propostas, decises ou concluses). Faz-se uso
tanto da pal avra fal ada (desde di scursos formais at cantos, oraes e piadas) como
da escrita (documentos para discusso, atas, relatrios, anotaes). Uma reunio
pode contar com a presena de todas ou al gumas das seguintes categori as de partici-
pantes: dirigentes ou lideranas (trabalhadores rurai s com cargos de direo ou com
atuao destacada nas suas organizaes), assessores (agentes de pastoral , advoga-
dos, professores, agrnomos), convidados (padres, autoridades do governo, profes-
sores uni versitrios, tcnicos ligados agricultura) e os demais participantes (traba-
150
0 DITO E O FEITO
lhadores rurais, predominantemente homens adultos, mas em algumas circunstncias
tambm mulheres c j ovens).
Essa caracterizao muito geral j sufi ciente para di scernir as reunies de
outras formas de ao do mundo social dessas organi zaes, tais como diferentes
tipos de manifestao, o atendimento individual a trabalhadores (na sede da asso-
ciao ou do sindicato, por funcionrios ou diri gentes da organi zao), as visitas s
casas de trabalhadores (visitas de dirigentes para conversar sobre assuntos ligados
ao sindicato, associao etc.) e assim por di ante. Essa descrio mostra tambm
que as reuni es se diferenciam de outros gneros de interao coletiva no-cotidi a-
nos, que no so distintivos do mundo das organi zaes camponesas mas que so
conhecidos do pblico desse tipo de organi zao, tais como as cerimnias reli gio-
sas, os com{cios pol ti cos, as f estas de bairro, as festas domsticas (ani versrios,
por exemplo). As reuni es di stinguem-se, por fim, de formas de interao c socia-
bilidade mais "informais" como as brincadeiras, as conversas, as visitas a ami gos,
vizinhos c parentes ctc.
2
.
As reunies do tipo aqui abordado so muitas vezes pensadas explicitamente,
sobretudo por assessores c diri gentes que as promovem, como uma oportunidade
para que todos falem abertamente o que pensam, um espao para tomar decises
coleti vas, e ainda um espao de aprendizado e conscientizao. Tudo isso deve ocor-
rer mediante discusses, nas quais cada participante tem, a princpi o c em funo de
sua qualidade de trabalhador rural e membro da organi zao que promove o evento,
direito palavra, possibilidade de externar suas opini es, dvidas c propostas. As
di scusses devem ser adequadamente registradas, para que possam ser rcapropriadas
em outros contextos, de modo a dar origem a um processo de discusso mais amplo c
permanente, que permita uma relativa continuidade entre discusses feitas "na base"
e as instncias mais "altas" das organizaes. As reuni es aparecem nessa concepo
ou modelo como fundamentai s para o carter democrtico, igualitrio c participati vo
da organizao.
A importncia que dada s reunies e a natureza quase "obrigatria" que elas
assumem no contexto das organizaes de trabalhadores rurais no impedem, porm,
que haja reclamaes freqentes a respeito da inefi ccia das mesmas, tanto por parte
daqueles que as organizam como daqueles que apenas as freqentam. Os organi zadores
costumam reclamar que nas reunies os objetivos propostos no so alcanados, no
se aprofundam as discusses, nada se decide, no se f echa nada, que as decises
tomadas no so seguidas, que os resultados so esquecidos na reunio seguinte, que
certas reunies s servem para marcar outras tantas, que as pessoas no falam durante
as reunies mas apenas depois delas, e sobretudo que as pessoas no participam. Tra-
balhadores "de base" dessas organizaes, alm de compartilharem crticas como es-
sas, muitas vezes reclamam que reunies so perda de tempo, que so s6 conversa, que
h muito bate-boca, que as pessoas voltam a questes j resolvidas, que as reunies
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 151
no resolvem nada. Paradoxalmente, porm, os mesmos dirigentes, assessores ou
trabalhadores que reclamam da ineliccia das reunies podem em outros momentos
reclamar da falta de reunies e considerar negativa a diminuio de sua freqi.incia.
Mas, se por um lado, so comuns essas avaliaes da ineliccia das reunies,
por outro, elas so valorizadas em funo de aspectos que no esto relacionados
com as discusses, geralmente concebidas como o cerne das reunies. comum ou-
vir trabalhadores que participam desse tipo de evento observarem que reunies so
um momento de encontro com os amigos, uma oportunidade de conhecer pessoas, de
sair da rotina e conhecer novos lugares (quando envolvem deslocamento). Outra evi-
dncia da val orizao de aspectos aparentemente "secundrios" so as avaliaes,
frcqi.ientcmcnte realizadas como um levantamento de pontos positivos c pontos nega-
tivos. muito comum que sejam col ocados em destaque, sobretudo, certos aspectos
que talvez possam ser qualilicados como "festivos", como a alimentao, o lazer e a
animflo (futebol, forr, msica, dramatizaes), c ainda as condies de alojamen-
to, e que sejam enfatizados os agradecimentos (em particular, ao pessoal responsvel
pela infra-estrutura da reunio e s cozinheiras). As avali aes sobre o contedo das
di scusses e o cumprimento ou no dos objetivos previamente estabelecidos, geral-
mente feitas apenas ou principalmente por assessores c dirigentes, muitas vezes li-
cam em segundo plano.
Foram esses problemas vividos pelos que promovem e participam de reunies,
bem como as diferenas de opinio na avaliao das reunies, que serviram como
ponto de partida para se tomar as reunies em si mesmas como objeto c pensar as
mltiplas dimenses que elas assumem e as mltiplas expectativas c concepes a
elas associadas. Para tanto, foi realizada uma observao detalhada de vrias reunies
de uma associ ao de trabalhadores de um assentamento rural no estado do Rio de
Janeiro (chamado aqui de Fazenda So Bernardo), buscando um "cstranhamento" em
relao a esses procedimentos que me pareciam demasiadamente familiares
3
.
As reunies
Em termos gerais, uma reunio do tipo aqui enfocado tem infcio com uma aber-
tura, quando os participantes dispersos se renem no recinto a ser usado para a reu-
nio, ao chamado de membros da coordenao. comum que na abertura haja ora-
es e/ou canes. Os membros da coordenao falam dando boas-vindas aos partici -
pantes e explicam a linalidade e a importncia da reunio, bem como apresentam a
programao e a pauta. Geral mente, nesses momentos iniciais tambm feita uma
apresentao dos participantes.
A seguir, dependendo da pauta, a reunio pode ter expl anaes ou discursos de
pessoas previamente designadas (ou em relao s quais h uma expectativa de que
falem), a respeito de temas relacionados linalidade especlica da reunio, ou mais
152 0 DITO E O FEITO
genericamente sobre a organizao que a promove, sua importncia etc. Se a reunio
for breve, passa-se logo para os informes da organizao que a convocou e discusses
dos tpicos estabelecidos na pauta, que podem incluir desde questes "administrati-
vas" at outras mais abstratas sobre a sociedade, a economia c a poltica. Os momen-
tos de discusso so concebidos como ocasies em que todos podem c devem parti-
cipar, falando, colocando suas dvidas, opinando, discordando ou concordando, de
modo que as decises tomadas sejam representativas das opinies dos participantes
e/ou que as di scusses feitas sejam bem compreendidas por todos em todas as suas
implicaes.
Se a reunio for relativamente longa, costuma haver intervalos para lanches c
refeies, que so tambm momentos de conversas informai s entre os partici pantes.
Nas reunies mai s prolongadas, comum que parte das discusses dos temas em
pauta seja feita mediante trabalhos em grupo, concebidos geralmente como uma
manei ra de aumentar a participao, cujos resul tados so apresentados para a plen-
ria, ou seja, para o conjunto dos participantes. So comuns, ademais, os momentos
em que membros da coordenao se encarregam de propor jogos ou dinmicas de
grupo das mai s variadas (como, por exemplo dramatizaes), que geralmente so
tambm concebidos corno mecanismos para aumentar o entrosamento ou a animao
c, conseqentemente, faci litar a participao.
Ao longo da reunio, membros da coordenao encarregam-se de anotar os re-
sultados das discusses, e essas anotaes (que podem ser feitas em papel , cartolina
ou quadro-negro) podem ser usadas em outras etapas da mesma reunio e/ou dar
origem a um relatrio. Mais para o final , os membros da coordenao procuram
fechar as di scusses, ou seja, surjam os resultados esperados, tais como decises
tomadas pelos grupos, tarefas a serem di stribudas ou resultados de reflexes a res-
peito dos temas definidos na pauta. Esse processo de f echar c tomar decises pode ou
no envolver votaes. Na parte final, comum se reservar um tempo para uma ava-
liao da prpria reunio. O encerramento pode ser mais ou menos sumrio, ocorren-
do assim que a coordenao considerar alcanados os objetivos, ou pode envolver
alguns discursos, cantos c oraes finai s.
A organi zao espacial dos participantes da reunio e a montagem do seu "ce-
nrio" so relati vamente si mples, porm significativas. A varivel bsica nesse as-
pecto a di stncia e separao entre o lugar onde fi cam a coordenao e as pessoas
de destaque (como os convidados) - que a mesa- c os dcmajs participantes. No
tipo de reunio aqui enfocado, tende a se privilegiar o arranjo das cadeiras em
crculo, no qual a distncia entre os membros da mesa e os participantes tende a
zero, em uma espcie de di ssoluo da mesa. Esse arranjo possibilita, em tese,
igual visibi lidadc/audibilidadc a todos os partici pantes. Nesse sentido, o prprio
arranjo espacial simboliza os ideai s igualitri os e democrticos da organizao que
promove a reunio.
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 153
No outro extremo, h reunies (ou momentos dentro de reunies) que se organi-
zam em um espao claramente hierarquizado, com uma mesa bem destacada onde se
sentam os coordenadores, dirigentes da organizao e convidados (muitas vezes com
o lugar central da mesa sendo ocupado pelo dirigente mximo da organizao), dian-
te da qual se sucedem linhas de cadeiras ou bancos, todos voltados para a frente do
salo. Nesse tipo de ordenao, as pessoas que desejam falar e que no se encontram
na mesa, geralmente, tm que levantar e caminhar at a frente do salo, em uma
espcie de momentnea incorporao mesa (o que certamente constrangedor para
os que apresentam menos desenvoltura naquele contexto, ou seja, todos os que tm
moti vos para acreditar que a mesa no o seu lugar).
Evidentemente, h muitas combinaes entre esses arranjos extremos, desde
modificaes da di sposio espacial ao longo das reunies ( comum uma abertura
mais "hierarquizada", com as cadeiras alinhadas c com uma mesa, e discusses com
arranjo em crculo) at padres ambguos, com parte das cadeiras em linha e parte em
crculo, mas com um ponto focal, como acontecia nas assemblias que presenciei na
Associao de So Bernardo.
A pauta
A seqncia dos procedimentos, bem como das questes a serem discutidas, so
definidas pela pauta, que em geral montada antes do incio da reuni o
4
. A pauta tem
um duplo aspecto: ela define a ordem c a durao dos procedimentos (programao)
- algo especialmente importante quando se trata de uma reuni o longa, de um dia ou
mais de durao - e tambm as questes que podem c devem ser discutidas; desse
modo, ela orienta tanto a forma quanto o contedo da reunio.
Quanto forma, a pauta ou programao vai definir algumas variveis impor-
tantes. Ela estabelece certa dosagem entre momentos de concentrao c disperso.
importante que no haj a excessiva disperso, pois o evento acabari a sendo visto como
algo pouco marcante e pouco significati vo em termos coletivos- na verdade, uma
reunio excessivamente dispersiva mal chega a ser considerada uma reuni o, pois a
prpri a defini o est associada ao plo da concentrao. Mas, ao mesmo tempo, a
pauta no deve frustrar a expectati va dos participantes de que haj a alguns momentos
de di sperso, que tm um papel fundamental para todos. (Em reunies curtas como as
assemblias da Associao de So Bernardo, os momentos de di sperso fi cam " fora"
dos limites do evento propri amente dito, ou seja, antes da abertura e depois do encer-
ramento, mas nem por isso deixam de ser encontros ocasionados pela reuni o c, nes-
se sentido, fazem parte dela.) So essas ocasies que permitem encontrar ami gos e
fazer novas amizades, ter notcias de parentes c amigos, resolver questes do dia-a-
dia, atuali zar informaes. Para os participantes "de base", podem tambm ser opor-
tunidades para falar pessoalmente ("ao p do ouvido") com autoridades (inclusive,
154
0 DITO E O FEITO
em certos casos, com os prprios dirigentes) que eles no encontram no cotidiano e
tentar "resolver problemas" individuais ou da comunidade. Para as "autoridades",
dirigentes, tcnicos, lideranas, assessores, so momentos de encontrar pessoas "das
comunidades", atualizar informaes e, muitas vezes, estabelecer contatos que no
seriam facilmente estabelecidos em outras circunstncias, abrindo portas que pode-
ro ser importantes para que o sindicato, a ONG ou o rgo governamental possam
"entrar" nessas comunidades. Ou seja, so momentos fundamentai s no sentido de
criar, atualizar c consolidar laos que compem as redes de sociabilidade que atra-
vessam as organizaes formalmente institudas c que so essenciais para a sua
existncia "de fato". A pauta dosa os aspectos "solenes" (discursos, oraes), "fes-
tivos" (refeies, bailes, f orr6, futebol, brincadeiras, encontros informai s) c "par-
ticipativos" (discusses, trabalhos em grupo), estabelecendo entre esses diferentes
aspectos um "ponto de equilbrio" que prprio de cada reunio e do "estilo" de
cada organizao.
A partir da observao desse tipo de reunio, os diferentes momentos podem ser
descritos, do ponto de vista formal, da seguinte maneira: momentos em que os parti -
cipantes se engajam em atividades coletivas, como oraes ou cantos; momentos em
que pessoas previamente designadas falam diante dos outros participantes, como nos
di scursos de abertura e encerramento, nas explanaes, anlises de conjuntura etc.;
momentos em que pessoas voluntariamente falam diante do pblico; etapas que se
caracterizam pela fala ordenada de cada participante diante dos demais, com o foco
se revezando de modo a induzir a todos a falar (isso acontece na apresentao e, em
certos casos, na avaliao); etapas de discusso, talvez as mais caractersticas das
reunies, ou seja, aquelas que no podem faltar; momentos em que h uma subdivi-
so em grupos formados aleatoriamente ou de acordo com algum critrio considerado
pertinente (corno local de origem, frente de Luta etc.) - so os trabalhos em grupo;
momentos de lazer coordenado (jogos de futebol , bailes, concursos ou apresentaes
de msica ou poesia); momentos em que os participantes esto agrupados de maneira
espontnea, como os que antecedem o incio da reunio ou sucedem imedi atamente o
seu final , e os momentos de intervalo; refeies; etapas "ps-reunio" - avaliaes
formai s da reunio pelos organizadores, c informai s pelos demais participantes, c
elaborao de documentos escritos (relatrios, atas) por membros da coordenao.
Como as reunies formam cadeias, as etapas "ps-reunio" so igualmente etapas
"pr-reunio", ou seja, so tambm preparao para as prximas reunies.
Cada um desses momentos se relacionam entre si formando o todo maior que a
reunio, cuja lgica, nesse plano, justamente conjugar esses elementos de diferen-
tes maneiras c em diferentes "dosagens" de acordo com as circunstncias e a "tradi -
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS
155
o" de cada organizao e local idade. Evidentemente, muitas reunies no contam
com todos esses diferentes momentos, podendo chegar a ser bastante simples e sum-
rias. Mas qualquer reunio pressupe, no mnimo, uma abertura (que pode ser a sim-
ples fala de um coordenador), uma discusso (pois se no houver um momento assim
caracteri zado ou designado, por menor que seja, no se trata de uma reunio), e um
encerramento (que tambm pode se resumir a uma fala simples e direta de um coorde-
nador). Por outro lado, h reunies de vrios dias que congregam todas ou quase
todas essas etapas, repetidas mais de uma vez ao longo dos dias.
Do ponto de vista do contedo, a pauta que define as questes que sero objeto
de explanao ou de discusso e at certo ponto del imi ta os termos em que a questo
ser colocada. A el aborao da pauta tambm uma del imitao negociada da esfera
de ao e de autoridade da organizao em contraste com a esfera de ao e autorida-
de das famlias, por um l ado, e das agncias do Estado, organizaes de apoio e da
Igreja, por outro
5
. Isso fruto de um longo processo de delimitao de autoridade,
particular a cada organizao.
A produo dos pontos de pauta uma negociao constante nesse sentido. Lon-
ge de ser um mero agrupamento de probl emas que existem naturalmente, trata-se de
"criar" certas questes como problemas e, ao mesmo tempo, si tuar os limites da ao
do si ndicato, da associao, do movimento. Geralmente, a deciso a respeito dos
temas a serem includos na pauta anterior ao incio da reunio, e parece haver uma
tendncia a deixar essa definio a cargo dos dirigentes c assessores. Mas, ainda que
as categorias usadas para definir a pauta venham a ser as "oficiais" da organizao, as
di scusses podem abrir espao para novas categorias ou novos usos de categorias,
levando os temas em pauta a assumir novos contornos. O peso rel ativo previsto para
os diferentes itens da pauta tambm pode mudar no decorrer da reunio, com pontos
que a coordenao esperava secundrios ou irrelevantes ocupando um tempo bastan-
te longo.
A coordenao
A coordenao da reunio pode ser exercida por um grupo de pessoas que se
revezam ou que estabelecem certa diviso de trabalho, ou por uma nica pessoa. A
coordenao tem, antes de mais nada, a atribuio de fazer que seja seguida a progra-
mao e/ou pauta. Para isso, lana mo de uma srie de mecani smos, tais como:
controle das etapas (i niciando-as e encerrando-as, alm de comentar seu sentido e
expl icar as " regras" vlidas para cada uma); disciplinamcnto (controle do tempo de
fal a, do grau de rudo do pblico, da ordem da fala, da pertinncia daquilo que
falado em termos das questes em pauta); animao (aumentar o entusiasmo coletivo
nos momentos de canto, orao c dinmica de grupo, c favorecer o "entrosamento",
em tese para facilitar a participao de todos); ordenao espacial (orientar a distri-
156
0 DITO E O FEITO
buio dos participantes no espao e a montagem do "cenrio", com a colocao de
decoraes, cartazes, cartolinas com anotaes dos resultados das di scusses etc.);
rclatoria (anotar esquematicamente aquilo que apresentado e discutido, bem como
todas as resolues, decises, concluses, tarefas a serem realizadas, c questes a
serem discutidas em outras ocasies); elaborar documentos que representam o resul-
tado ofi cial das reunies, c organi zar a infra-estrutura (alojamento, limpeza, alimen-
tao, materiais para uso ao longo da reunio). A coordenao, atravs do exerccio
dessas suas vrias atribuies, efetivamente d forma reunio, c pode alterar c adaptar
essa forma ao longo da mesma.
Essas atribuies so normalmente sistematizadas em manuai s de "como fazer
reunio", sendo objeto de transmisso sistemtica, por exemplo, em cursos de forma-
o, alm de serem absorvidas na prtica atravs da freqncia s reunies. H regras
explcitas que a coordenao deve seguir na conduo da reunio, e h uma espcie
de senso adquirido na prtica. A coordenao tem legitimidade para impor-se aos
participantes no apenas c principalmente em funo do prestgio pessoal de seus
componentes (ainda que isto sem dvida ajude), mas sobretudo em funo da aceita-
o das regras existentes pelo conjunto dos participantes c da percepo de que os
coordenadores respeitam essas regras. Regras bem estabelecidas e uma pauta bem
definida tendem a afastar atritos e disputas de coordenao nas reunies. Mas quando
esses atritos surgem e explici tamente colocada em questo a forma de conduo da
reunio, os resultados parecem ser desastrosos do ponto de vista da continuidade (e
" felicidade", no sentido de Austin) do evento, levando disperso c ao esvaziamento
(urna reuni o "infeli z")
6
. Por outro lado, disputas pelo poder podem redundar em (ou
tornar a forma de) disputas pela coordenao que envolvem contestaes quanto
forma de coordenar o evento, com acusaes de manipulao da reunio ou de falta
de democracia ("coordenar no grito")
7
.
O poder da coordenao de fato significati vo. Por um lado, os coordenadores
podem mudar o rumo das di scusses ao serem mais rgidos com o tempo de fala de
certos participantes e menos com o tempo de outros (inclusive o deles prprios),
acionando critrios implcitos de hierarqui zao dos participantes c de suas respecti-
vas falas, ou ao qualificarem (com base em critrios relativamente implfcitos) uma
determinada fala como estando "dentro" ou " fora" da pauta. Podem mostrar maior ou
menor grau de rigidez com o tempo destinado a cada discusso ou etapa da reunio,
alterando as dosagens previ stas de concentrao e disperso, ou de aspectos "festi-
vos", "solenes" e "participativos". Podem ainda definir rumos uma vez que do for-
ma sinttica s propostas a serem di scutidas ou votadas, a partir de uma profuso de
falas relativamente desencontradas. Sobretudo, ao serem encarregados de relatar por
escrito as discusses, no podem seno transformar aquil o que foi expresso em lin-
guagem oral, fazendo intervir outra modalidade de linguagem c as categorias "ofi-
ciais" em que a di scusso defini da (que so as categori as que tambm orientam a
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 157
pauta). Ao serem responsveis por apreender, resumir e registrar, por escrito e rapida-
mente, aquilo que foi falado nas discusses feitas nos trabalhos em grupo c nas pie-
ruirias, para que esses contedos possam ser rcapropriados em outros contextos, os
membros da coordenao so responsveis por alteraes na forma que tm grande
probabilidade de afetar os contedos, ou sej a, esto parcialmente condenados ao pa-
pel de tradutores imperfeitos. Dado o ritmo em que deve ser feita a sfntese e o registro
das falas, acaba se impondo, at certo ponto, a utilizao mais ou menos automtica
de categori as genricas e de uso corrente no mbito da organi zao, e de esquemas de
apreenso e interpretao que tm sua ori gem na prpri a formao do agente de coor-
denao, em detrimento de uma apreenso mais matizada de falas.
Finalmente, outro aspecto da coordenao o fato de que ela se toma, no mo-
mento da reunio, uma espcie de mediadora do contato entre autoridades, tcnicos e
assessores que comparecem como "convidados", e os demais participantes. Um as-
pecto de seu poder que, no contexto da reunio, so evidenciadas as ligaes dos
membros da coordenao com pessoas e entidades situadas "para fora" e "para cima",
pessoas c entidades que se encontram alm do alcance cotidi ano dos parti cipantes
"de base". Isso legitima os membros da coordenao pessoalmente, bem como a
organizao de que fazem parte.
As discusses e a "equipe de frente"
As discusses so, de modo geral, concebidas como momentos de participao
por excelncia, em que o maior nmero possfvel de participantes passaria a expor
seus argumentos a respeito dos temas em pauta. Por isso mesmo, as di scusses so
consideradas o momento central e definidor das reunies como procedimentos demo-
crticos, participativos e igualitrios. Mas, apesar das intenes e dos esforos dos
organizadores das reunies, na prtica as discusses geralmente assumem uma confi-
gurao diferente, menos igualitria. Uma parcela dos participantes, geralmente bas-
tante minoritri a, fala bem mais do que a outra parcela, majoritria, que basicamente
se limita a assistir c ouvir atenta e respeitosamente aqueles que falam mais. No s h
pessoas que falam bem mais do que outras como de maneira geral so sempre as
mesmas pessoas. Os dirigentes organizam reunies com a inteno de promover a
participao de todos, mas acabam dando visibilidade a alguns.
Chamarei de "equipe de frente" o conjunto de pessoas que fala mais vezes e
mais longamente nos momentos de discusso, a ponto de se destacar, e as demais, que
basicamente assistem s falas dessas primeiras, de "pblico". Esses termos se inspi-
ram na analogia dramatrgica de Goffman ( 1985)
8
A "equipe de frente" uma cate-
gori a usada aqui para fins analfticos, a partir da observao da prtica de reunies, ao
contrrio do que ocorre com a coordenao, que uma categoria reconhecida pelos
partici pantes c muitas vezes formalizada.
158 0 DITO E O FEITO
Os limites da "equipe de frente" so relativamente fluidos. Seus membros no
so necessariamente membros da coordenao, dirigentes da organizao ou convi-
dados, e nem mesmo indivduos de grande prestgio. Mas sempre h urna expectativa
de que pessoas com esses atributos e nesses papis falem bastante, alm de terem
maior desenvoltura para se desempenhar em pblico. Al m di sso, geralmente os co-
ordenadores, os dirigentes e as pessoas de maior prestgio tm mais informaes
relevantes para a di scusso, estando mai s a par dos assuntos em pauta. De modo
geral , so essas lideranas que compem a "equipe de frente". No impossvel,
todavia, que algum participante "de base" se destaque nas di scusses c passe, grada-
ti vamente, a fazer parte da "equipe de frente". Isso, sem dvida, pode vir a ser um
primeiro passo no sentido de adquirir alguns dos atributos mencionados, aumentar o
seu prestgio na organizao e eventualmente assumir um cargo de direo. Mas para
chegar com sucesso c de forma mais permanente "equipe de frente", necessrio
que a sua "participao" no seja espordica, preciso ter sempre o que dizer a res-
peito dos temas em debate (inversamente, quando os membros mais bem estabeleci-
dos da "equipe de frente" no tm o que dizer, a di scusso tende a se dissolver). Para
fazer parte da "equipe de frente" com sucesso, indi spensvel saber di zer a coisa
certa no momento certo, saber se situar nos debates, saber levar os outros membros da
"equi pe de frente" a responder s suas colocaes de modo a realar sua contribuio
- pois a lgica da participao na equi pe de frente no a da participao isolada,
mas a da polmica com outros membros da "equi pe".
Se fssemos usar outra analogia e considerar as discusses como um jogo em
que os membros da "equipe de frente" so os jogadores e o "pblico" o conjunto de
espectadores, esse jogo, cujas jogadas seriam as falas, seria pautado pela capacidade
de destacar suas prprias posies e desgastar ou ofuscar as alheias de modo a fixar-
se mais na memria do pblico e aumentar o seu prestgio na organizao
9
. O desta-
que das prprias posies guarda relao com o tempo de exposio, ou seja, de fala
c visibilidade, de modo que falar bastante , em geral, positivo (guardados certos
limites, pois h um "tempo de fala" imposto pel a coordenao c um tempo alm do
qual surge uma avaliao por parte do pblico de que a pessoa " fala demais" e " no
deixa os outros falarem"). Trata-se de um jogo que envolve tambm a capacidade de,
ao falar, criar identidade com o pblico, ou seja, urna competio pelo reconhecimen-
to do pblico por aquele que fala e pela identificao daquele que fala com a organi-
zao e seus ideais.
Por outro lado, dar um carter polmico s di scusses tambm pode aumentar a
tenso e a ateno do pblico (tambm dentro de certos limites). Com isso, "jogadas"
(falas) mais provocativas e controversas (ou feitas em tom provocativo) podem ter
maior efeito, ou seja, colocar quem fala em posio de destaque. Mas aumentam
tambm os seus ri scos, tanto no sentido de haver uma "resposta altura" de outro
"jogador", como a possibilidade de surgir urna avali ao, por parte do pblico, de
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 159
que quem provocou "excedeu os limites" dados pela "etiqueta" do jogo, ou ainda
uma avaliao da coordenao (que age como uma espcie de juiz) de que as "regras"
foram infringidas c que a questo suscitada no tem relao com a pauta. Uma manei-
ra de obter o mesmo efeito evitando alguns ri scos criticar ardentemente persona-
gens ausentes ou distantes do cotidiano dos presentes, ou fazer crticas genricas. Os
"jogadores", ainda que o jogo Lenha tambm uma dimenso individual , devem lanar
mo de ali anas (temporri as ou permanentes), formando subgrupos- cujos contor-
nos certamente guardam relao com fatores que no se resumem lgica interna das
reunies, remetendo-se aos alinhamentos nas disputas pelo poder na organizao,
mas que podem ser alterados pelo que acontece nessas di scusses. Apesar da dimen-
so polmica dos dilogos c do eventual acirramento causado pelas provocaes
mtuas, as regras c a "etiqueta" das di scusses limitam ou "domesticam" os confli-
tos, especialmente no sentido de desqualilicar agresses que possam ser interpreta-
das como de carter pessoal.
A dimenso polmica da reunio depara-se com limites estreitos de avaliao
por parte do tipo de pblico que a freqenta. Trata-se de um pblico que tende a
interessar-se pela polmica, desde que ela se mantenha dentro de certos limites e no
se coloque em termos concebidos como excessivamente violentos. Caso contrrio, o
debate, interpretado como connito e bate-boca, pode ocasionar o esvaziamento da
reunio. Os "jogadores", nesse caso, encontram-se permanentemente sobre o fio da
navalha. Talvez por isso mesmo, outra jogada muito valorizada, talvez a mais valori-
zada, saber dar um desenlace para as polmicas mediante a criao de um consenso
na discusso. O consenso - uma situao que os participantes "sentem" que foi
alcanada, mas que a coordenao costuma oficializar atravs de frases como "bom,
gente, ento chegamos a um consenso ... " - associado inequivocamente unio,
categoria fundamental na simbol ogia desse universo social.
De certo modo, a performance da "equipe de frente" facilitada porque algumas
das falas mais destacadas nas discusses (c mesmo nos discursos realizados em mo-
mentos como aberturas e encerramentos) j foram ditas antes, em conversas no dia-a-
dia, em ocasies que funcionam praticamente como "ensaios" (ai nda que no sejam
pensadas assim). Parece ser muito comum que, antes das reunies, em conversas
informais com amigos ou companheiros de direo da organizao, ou ainda em reu-
nies menores, essas falas sejam apresentadas em termos muito prximos dos que
sero usados depois, nas reunies. Por vezes h praticamente uma repetio de falas
que j haviam sido ditas mais informalmente, ou seja, j haviam sido " testadas" dian-
te de um pblico menor e mais "prximo" de quem fala, ou mesmo diante de mais de
um pblico diferente. Na verdade, quem reconhecido como parte da direo de uma
organi zao (sindicato, associao) - inclusive em funo da qualidade de sua parti-
cipao nas reunies da organi zao, ou seja, de seu pertencimento "equipe de
frente" -, geralmente, acaba tendo at mesmo suas conversas mais " informai s"
160 0 DITO E O FEITO
marcadas por essa identificao, havendo certa "demanda" ou "expectativa" de que
essas pessoas fal em sobre a vida sindical ou associativa. No faltam oportunidades,
portanto, no cotidiano desses agentes para pequenos "ensaios", que parecem ser im-
portantes para garantir o sucesso da participao na "equipe de frente" das reunies.
Assim, quem fala mais c se sobressai nas reunies acaba tendo mais oportunidades
(ou mesmo sendo um pouco "coagido") para falar sobre os assuntos da vida associativa
ou sindical c se destacar tambm no cotidiano, o que aumenta suas chances de se
distinguir nas reunies: algumas falas "centrais" so como que "ensaiadas" e podem
ser colocadas com maior confiana e desenvoltura. Essa espcie defeedback positivo
fortalece a identificao das pessoas com o sindicato ou a associao, reforando
conseqentemente a necessidade de sua presena nas reunies. E torna mai s forte o
interesse desses agentes de promover reunies. A existncia das reunies como "pal-
co" onde essas pessoas que "falam bem" podem se apresentar (c aprender a falar cada
vez melhor c com mai s desenvoltura) diante de um " pblico garantido" (que pode ser
obrigado a comparecer por outros motivos que no para ouvi-los, como a necessidade
de participar das assemblias da associao para poder se beneficiar de projetos do
governo), importante para associar essas pessoas cada vez mais ao sindicato ou
associao ou ao movimento. Em alguns casos, se a pessoa tiver realmente sucesso
em suas apresentaes, suas frases passaro a ser reapropriadas no cotidiano por
membros do pblico, tornando-se moeda corrente nas conversas
10
Isso tudo aumenta
bastante o reconhecimento no mbito da organizao e certamente um dos elemen-
tos que abre e consolida o caminho para as carreiras dos dirigentes. tambm um dos
caminhos atravs do qual certo "senso comum" sobre a organizao c a vida sindical
ou associativa vai sendo formado e reproduzido, com seus lugares-comuns e sua
"sabedoria prtica", formando uma base sobre a qual podem ser construdos os con-
sensos, essas "jogadas" to valorizadas nas discusses.
O pblico
Aqueles que no fazem parte da coordenao nem da "equipe de frente" com-
pem o "pblico" das reunies. Trata-se de trabalhadores que podem estar ali em seu
prprio nome e de sua famlia ou estar "representando" a sua comunidade de origem,
o seu sindicato, a sua associao ou assentamento (quando tiverem sido escolhidos
ou indicados para participar da reunio). Geralmente, as reunies tendem a ler um
pblico predominantemente masculino e adulto, mas isso pode variar bastante de
acordo com a organizao e as circunstncias.
O pblico caracteriza-se por participar sobretudo assistindo s falas, mesmo nos
momentos em que supostamente todos deveriam expressar suas opinic e propostas
(as discusses). Em geral, os membros do pblico costumam prestar uma ateno
respeitosa, em particular quando falam as pessoas de destaque, como na abertura c no
R EUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 161
encerramento, mas at mesmo nos momentos de trabalhos em grupo, supostamente
mai s " participati vos". Os membros do pblico desse tipo de reunio tambm costu-
mam esforar-se mui to no sentido de fazer anotaes, l eituras e cumprir tarefas de-
si gnadas pel a coordenao. possvel que se manifestem, em certos momentos do
debate, de forma coletiva, porm desencontrada, gerando certo grau de rudo que
pode ser significati vo e rcvcl ador para os membros da coordenao e da "equipe de
frente". Conforme as circunstnci as, as manifestaes do pblico so mais ordenadas
c permitem que se verifique a fora rel ati va de duas propostas ou posies em discus-
so. Em certos casos, em funo do trabalho da coordenao ou da "equi pe de frente"
no sentido de dar forma s manifestaes, o " rudo" do pbl ico contra ou a favor uma
posio ou pessoa torna-se bastante coordenado, transformando o pblico em algo
mai s prximo de uma " torcida" que vai a e aplaude
11
Alm di sso, os membros do pblico participam da voz coleti va nas oraes e
cantos, das " dinmicas de grupo" c do lazer coordenado. Tomam pane prazerosa mente
em bailes, j ogos de futebol, tornei os musicai s e outras ati vidades afi ns. E certamente
aprovei tam os momentos de intervalo e refeio para estabel ecer interaes infor-
mai s em conversas e brincadeiras.
O tamanho do pblico tambm um elemento importante no sentido de definir o
carter de uma reuni o. Uma reuni o com um pblico pequeno- em que praticamen-
te todos os parti cipantes fazem parte da coordenao e da "equipe de frente"- ter
um carter di verso de uma reuni o em que coordenao e " equipe de frente" so uma
mi noria di ante de um pblico expressi vo, como em um grande encontro, congresso
ou assemblia. A dinmi ca das rel aes estabelecidas entre a coordenao e os de-
mai s parti cipantes e o "jogo" das di scusses variam de acordo com a proporo entre
organi zadores c pbl ico e conforme a " equi pe de frente" se ampli a ou diminui . A
fronteira entre pblico e "equipe de frente" dinmica, uma vez que pessoas que
fazem parte do pbl i co podem aos poucos passar a ser incorporadas na " equi pe de
frente", ainda que essa nexibilidade no seja muito grande. Outro fator o anuxo ou
esvazi amento do pblico durante a reuni o, que pode dar indicaes coordenao
sobre a necessidade de mudar a maneira de conduzir a reunio.
Tanto as vari aes do nmero de presentes ao longo dos diferentes momentos
das reunies, como a proporo entre o pbl ico esperado c o pblico efeti vo so
indicadores importantes para a coordenao. Outro aspecto a ser destacado o fato
de que o tempo de permanncia nas reuni es, de certo modo, " mede" o grau de "com-
promi sso" com as reunies c de identificao com a organizao. O pblico um
elemento rel ati vamente mvel, ou seja, pode sair da reunio sem que esta cj a in-
terrompi da; j os membros da coordenao c da "equi pe de frente" tendem a perma-
necer at o fi m.
Alm do pblico presente, h sempre um " pbl ico virtual" mais amplo, formado
por todos aqueles que vo fi car sabendo, por intermdi o de terceiros ou de registros,
162
0 DITO E O FEITO
o que se passou na reunio. Esse dado tambm levado em conta por aqueles que
falam, de modo que em certas circunstncias eles tendem a adequar suas falas para
incluir esse "pblico" virtual.
Os mltiplos significados das reunies
As reuni es do tipo aqui anali sado geram expectativas variadas, que apontam
para distintos modos de perceber esses eventos, tendo como implicao diferentes
avaliaes quanto aos aspectos mai s marcantes e importantes das reunies. Algumas
vezes, as avaliaes privilegiam ou enfatizam primordialmente os aspectos substanti-
vos do debate. Isso nos fala de uma percepo das reunies em que o aspecto central
so justamente os momentos de discusso, vistos como ful cro da dimenso
participativa do evento. Dessa perspectiva, a polmica considerada fundamental,
uma maneira de esclarecer pontos de vista divergentes e explicitar discordncias.
Outras avaliaes parecem apontar, porm, para uma percepo das reunies
que considera mai s marcantes c importantes as dimenses "solene" (ou "cerimo-
ni al") c " festiva" das mesmas. Nessas avaliaes h uma tendncia a enfatizar a boa
organizao do encontro (a qualidade das refeies c do alojamento, o respeito aos
horrios, a limpeza), a importncia de estar ali e encontrar os outros participantes, e a
agradecer a maneira pela qual foram recebidos pelos "anfitries" c organizadores -
ou seja, como se se falasse sobre um evento festi vo. Por outro lado, parece ser
relativamente comum que os participantes, em suas conversas informais aps as reu-
nies, avaliem positivamente os momentos mais "solenes", como a abertura c o en-
cerramento, e as falas mais longas e formais feitas por pessoas de destaque, especial-
mente aquelas que enfatizam a unio e a harmonia do grupo c o sentido de sua luta.
H, no entanto, aqueles que demonstram certo estranhamento com o fato de "qual-
quer um" poder "chegar e falar", evidenciando a expectati va de um evento mai s
hierarqui zado. Nesse sentido, tendem a avaliar de forma relativamente negativa jus-
tamente os momentos de discusso - tanto mais negati va quanto mais "quentes" e
"partieipativos" eles forem, ou seja, quanto menos ordenados de acordo com uma
hierarquia de participao
12
.
Muitos partici pantes das reunies se mostram reticentes quanto a discusses
acaloradas e sentem um certo estranhamcnto e desconforto com o que qualificam
como bate-boca em um tipo de evento em que no esperavam ou no gostariam de
encontrar divergncias pblicas. Essa reticncia com relao s discusses, valoriza-
das pelo "modelo" participati vo e igualitrio de reuni o, parece apontar no s para a
expectativa de eventos mais "ordenado "c hierarqui zados, como tambm para a difi-
culdade de no considerar divergncias pblicas como "ofensas pessoais", ou seja,
de evitar que as "regras do jogo" da convi vncia cotidi ana se imponham sobre as
"regras" provisrias adotadas nas reuni es.
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 163
Na Associao de So Bernardo, por exemplo, essa queslo se colocava com
certa insistncia. Por um lado, havi a a imagem constantemente acionada de um isola-
mento eficaz entre a reunio c o cotidiano, que permitia que as reunies tivessem uma
dimenso participativa sem que as polmicas "contaminassem" o cotidiano. Uma
frase relati vamente comum entre os assentados di zia que "ali dentro" - ou seja, no
recinto da reuni o- "todo mundo fala tudo, mas saiu dali tudo amigo". As polmi-
cas, por vezes speras, surgidas nas discusses no contaminariam o cotidiano supos-
tamente harmonioso dos assentados, representados como turma de amigos ou como
famlia. Mas havia assentados que deixavam de comparecer s reunies justamente
por no se sentirem confortveis com as discusses e no perceberem esse " isola-
mento" ritual que evitava que "aJi dentro" as divergncias adquirissem o sentido de
troca de ofensas e/ou de desrespeito s hierarquias da coleti vidade e comprometes-
sem tanto a convivncia cotidiana como a imagem de uni o que o grupo deveria ter
13
.
Talvez possa ser interpretado nesse mesmo sentido o fato de que, em algumas
assemblias, os momentos que contavam com maior presena eram os solenes mo-
mentos iniciai s, a orao de abertura e a reflexo religiosa, quando aJgumas pessoas
- o presidente da Associao, outros dirigentes de prestfgio, o pastor - falavam sobre
o cotidiano do as entamento a partir do texto bfbl ico. A presena diminufa medida
que as discusses se tomavam "excessivamente quentes", c as reunies em que se
esperava haver fortes divergncias explfcitas, aparentemente tendiam a ser esvazia-
das14.
Essas diferentes expectati vas/avali aes com relao s reunies no se distri-
buem nitidamente ao longo da linha que separa a coordenao c os participantes, os
diri gentes e assessores c a "base", ou a "equipe de frente" c o "pblico", ainda que
possa haver em algumas circunstncias uma coincidncia entre essas di vagens.
Assim, quem promove uma reuni o nesse contexto, no deve descuidar dos seus
aspectos "solenes" c " festi vos"; ao mesmo tempo, no deve deixar de lado a dimen-
so "participati va", pri vilegiada como ideal por muitas organi zaes de trabalhado-
res e, alm disso, fundamental do ponto de vista de diri gentes, assessores c lideran-
as, pois atravs das polmicas e de seus desfechos nos consensos que esses agentes
se colocam em evidncia c cri am um dos espaos onde se d seqncia ao jogo do
poder dentro da organizao.
Em todos os aspectos ou dimenses da reunio- "solenes", " festivos", "partici-
pati vos", de concentrao c de disperso - , h uma abundante simboli zao de
pcrtencimcnto a um grupo, classe ou categoria - os trabalhadores rurais, os traba-
lhadores de tal ou qual comunidade ou assentamento, os sem-terra, os posseiros, os
assentados. Ademais, h uma insistente simbolizao da unio que existe ou deve
existir dentro do grupo ou classe que ali celebrado. Tanto a aparncia harmnica e
ordenada dos procedimentos solenes ou "ritualizados", como a alegri a de estar j untos
nos momentos festivos e a possibi lidade de criar polmicas c expressar di vergncias
164 0 DITO E O FEITO
sem ocasionar ofensas e sem prej uzo da busca de consensos, so vistos como apon-
tando para a existncia de um grupo unido ou da unio do grupo.
Concluses
Ao longo deste artigo procurei mostrar que as reunies so eventos com mlti-
plas dimenses e que h a seu respeito vrias concepes, mais ou menos divergen-
tes. Essa complexidade redunda em alguns dramas para quem se prope a organizar e
conduzir esse tipo de evento. As dificuldades para promover a participao nas dis-
cusses, por exempl o, so vistas recorrentemente como um problema. bastante
comum v-las atribudas a alguma espcie de "carncia" do pblico que comparece
s reunies (apatia, falta de conscincia, falta de informaes), ou ausncia de tc-
nicas ou mtodos adequados para encorajar a fala dos participantes menos acostuma-
dos com discusses.
Mas o que procuro evidenciar aqui que o que aparece como dificuldade de
participao pode ser encarado, de um outro ponto de vista, como algo consistente
com a dinmica que as reunies (apesar das intenes de seus coordenadores) podem
acabar assumindo, c congruente com uma srie de concepes por meio das quais os
participantes encaram as reunies: vises de autoridade, de ordem pblica, do carter
do evento coletivo, da forma adequada de "participar", da natureza do grupo que
celebrado c do carter da unio que simboli zada.
Pelo lado da dinmica, na medida em que as reunies se tomam pontos de passa-
gem obrigatrios para a legitimao das lideranas e de suas aes, bem como focos
de ordenao das aes de mediao empreendidas pela organizao de trabalhado-
res, as discusses tornam-se espaos estratgicos de competio por prestgio no in-
terior da organizao c de exerccio do poder de definir suas aes. Cada fala c cada
ao que surgem nesse espao passam a ter leituras mltiplas, remetendo a mltiplos
contextos - aquele mais imediato e " local" da comunidade, o da organi zao e os
mais abrangentes em que se insere a organizao. E esses contextos so hierarquizados.
Com isso, uma fala que no consiga ligar-se de modo sistemtico a esses vrios con-
textos, e que se limite a fazer sentido no contexto mais imediato e "local", tende a ser
deixada em segundo plano, c acaba por licar deslocada. Ou seja, ocorre a construo
paulatina de um sistema em que a fala de um "si mples participante", preocupado com
questes que fazem sentido na sua comunidade ou famnia, c percebendo-as nos ter-
mos em que elas se apresentam "localmente", li ca sem muita resposta e sem muito
espao. Isso coincide, na prtica, com o predomnio, mesmo nos momentos suposta-
mente abertos de di scusso, da fala daqueles que sabem falar ou que falam bem. A
forma de participao centrada na fala - que nesse caso pblica, ou seja, que se d
diante de um pblico que mais abrangente do que a famlia ou o grupo de amigos -
tende a ser exercida por aqueles que tm maior domnio prtico sobre essa moda lida-
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS
165
de de participao. Os que no tm esse atributo tendem a adotar uma forma de par-
ticipao que no centrada na fala pblica, mas na sua presena como pblico, no
seu envolvimento nas formas de celebrao coletiva, na sua sociabilidade ativa nos
momentos que, do ponto de vista da coordenao, no so mais do que meros interva-
los em meio quilo que realmente interessa.
Procurei mostrar evidncias de que na prtica dessas reunies vm tona a ten-
so e as descontinuidades entre concepes que esto presentes e vivas nesse univer-
so social c concepes divergentes que so igualmente constitutivas dele. Assim,
ainda que haja necessariamente uma celebrao do pcrtcncimento a uma categoria ou
grupo c uma celebrao da unio, encarnada na organi zao que o representa, esto
em jogo concepes diversas a respeito da natureza do grupo que celebrado, das
bases da unio que o caracteriza c do carter da organizao que o representa.
Essas concepes podem ser simplificadamcntc agrupadas em dois "plos". Em
um extremo, h aquelas mais "igualitrias", em que a unio do grupo se d a partir da
vontade de adeso e participao de cada um e os dirigentes so nada mais do que
"delegados" ou "representantes"; a reunio , nesse caso, "de todos", e todos podem
e devem participar (falar, se manifestar). No outro extremo, h vises mai s "hierr-
quicas", em que o grupo se organiza em tomo de posies de destaque, que so tam-
bm posies de autoridade, c a unio se d pela juno adequada de partes diferen-
tes. Essas "partes" estariam reunidas porm separadas (p. ex., pela distncia enLre
mesa e pblico) nos momentos mais "solenes" das reunies. Nessa concepo, as
reunies no so eventos propriamente "de todos" (e de cada um), mas "do grupo" e,
portanto, daqueles que o encarnam. Nesse plo de concepes mai s " hierrquicas",
os procedimentos das reuni es apontam ou deveriam apontar para di stines claras
cnLrc o papel e a forma de insero ou parti cipao daqueles que esto em posies
"superiores" c os dos simples trabalhadores "de base". como se as regras da ceri -
mnia ditassem que os primeiros devem fal ar, c falar bem; devem saber conduzir-se
de modo harmnico; se houver debates, devem saber chegar prontamente ao consen-
so; devem mostrar as ligaes c relaes que so o seu "passaporte" para o mundo
que est fora do alcance dos simples trabalhadores c para as categorias mais "de
cima" que a dos "trabalhadores" e que, em parte, justificam o seu destaque e sua
posio ao centro. corno se os demais parti cipantes devessem estar presentes, no
para falar c expressar suas idias, mas como urna espcie de "audincia" c corno parte
de um corpo social. H uma expectativa de que a fala desse segundo tipo de partici-
pante se d apenas em momentos bem delimitados. Nessa viso ou " modelo", a reu-
nio ou deveria ser um evento em que categorias diferentes de pessoas esto nitida-
mente separadas durante a maior parte do tempo (inclusive espacialmente - mesa e
pblico), ou seja, so rituai s que explicitam e destacam urna certa ordem. Por outro
lado, nessa concepo, " natural" a expectati va de que haja espao, em meio a uma
ceri mnia onde predomina a separao de categorias, para encontros informai s, que
166 0 DITO E O FEITO
tm o sentido de aproximar essas categorias de pessoas que, em outros momentos da
reunio, se encontram separadas.
J no plo das concepes mais "iguali trias", cada procedimento aponta para a
associao entre os smbolos de pertencimento ao grupo c os de igualdade entre seus
membros. Essa associao est por toda parte: na virtual dissoluo da "mesa" atra-
vs da disposio circular das cadei ras; nas tcnicas de dinmica de grupo voltadas
para "igualar" os participantes por meio de regras e comportamentos ldicos; no tem-
po igual reservado para a apresentao de cada participante no incio da reunio; nas
regras explcitas que, nas discusses, garantem o mesmo tempo de fala para todos; na
prtica do voto individualizado.
A anlise das reunies no aponta para o predomnio claro de um ou outro des-
ses plos de concepes, ou para a associao inequfvoca de algum deles a alguma
categoria de agentes em particular. Aponta, antes, para a persistncia com que se
apresentam esses plos, mesmo em situaes em que ideais mais prximos do "plo
igualitrio" so explicitamente assumidos.
Mais que isso, o sentido da apresentao pblica das polmicas c divergncias
atravs das discusses, dentro da moldura dessas reunies, em si mesmo objeto de
disputas. Der.nir at que ponto se trata de participao, debate c conscientizao, ou
de troca de ofensas, provocaes e violncia, ou de ar.rmao, pela palavra, do poder
de alguns ou da organizao que eles encarnam, uma questo para quem participa
dessas reunies. Saber se o que est em jogo a honra dos participantes (sobretudo os
da "equipe de frente") dentro da coletividade, a representatividade de alguns partici-
pantes para essa coletividade, ou uma explicitao de fora e de poder diante dela,
so questes que as reunies vo propondo e, ao mesmo tempo, resolvendo da sua
prpria forma, da lenta transformao dessa forma, c das transformaes que a pr-
pria existncia das reunies vai gradati vamente impondo ao cotidiano dos campone-
ses para os quais elas se tomam signir.cativas.
Notas
1
Este texto uma verso resumida c ligciramenLe modificada do segundo captulo do meu
livro Fazendo a Luta: Sociabilidade, Falas e Rituais na Construo de Organizaes Campo-
nesas (Rio de Janei ro, Relume-Dumar, 1999), que, por sua vez, se baseia em minha disserta-
o de mestrado (Comerford 1996), defendida em maro de 1996 no PPGAS/Museu Nacio-
nal/UFRJ. Agradeo aos participantes do seminrio "Antropologia dos Rituais" pelas obser-
vaes feitas.
2
Evidentemente, reunies no so exclusividade do mundo das organizaes de trabal hadores
rurais: ver, p. ex., Bailey ( 1965), Schwartzman ( 1987), DuranLi ( 1990). Creio, no entanto, que o
texto vai deixar claro alguns aspectos que me parecem cspccfftcos das reunies aqui abordadas.
3
As reunies dessas associaes so as assemblias ou reunies semanais, as reunies do
conselho fiscal c outras reunies eventuais (cursos, encontros regionais de assentados), que
REUNIES CAMPONESAS, SOCIABIUDADE E LUTAS SIMBUCAS 167
foram acompanhadas ao longo de cerca de dez meses. Acompanhei tambm algumas reunies
do Sindicato de Trabalhadores Rurais do mesmo municpio, e de uma associao em um as-
sentamento de outro municpio prximo, bem como uma reunio (Encontro) estadual do Mo-
vimento Sem Terra. Alm disso, lancei mo de observaes realizadas de maneira menos
sistemtica, em outras circunstncias que no uma pesquisa sobre esse tema, em um nmero
considervel de reunies das quais participei, promovidas por si ndicatos e associaes de
trabalhadores rurais na Bahia e em Minas Gerais, e tambm de registros escritos dos mais
diversos tipos, desde depoimentos de dirigentes sindicais, assessores e trabalhadores rurais de
diversas regies do pafs, "manuais" de "como fazer reunio" ou de "dinmica de grupo" usa-
dos nesse contexto, at cartilhas de reunio de Comunidades Eclesiais de Base (que em algu-
mas regies foram um importante espao de formao de dirigentes e lideranas dos sindicatos
c associaes), relatrios c atas de reunies sindicais, anlises sobre movimentos c organiza-
es de trabalhadores rurais, c assim por diante.
4
No caso da Associao de So Bernardo, a programao das etapas das assemblias sema-
nais fixa, bem definida, c a pauta de questes montada em uma reuni o do Conselho Fiscal,
tambm semanal, feita especificamente para isso.
5
Assim, as discusses na Associao de So Bernardo, p. ex., versam sobre questes que
di zem respeito, principalmente, gesto do patrimnio da Associao, s condies da
comercializao conjunta de produtos, s reivindicaes coletivas por servios do Estado e s
negociaes coletivas com polfticos em poca de eleio.
6
Austin ( 1962) tece consideraes sobre as condies em que um ato realizado por palavras
pode ser eficaz, ou seja, "feliz". diferenciando essa perspectiva daquela que busca entender as
condies para que um enunciado seja verdadeiro ou falso. Dentre essas condies, h aquelas
que dizem respeito, por exemplo, necessidade de que as palavras certas sejam enunciadas da
maneira correta pelas pessoas autorizadas a faz-lo. Se essas condies no estiverem pre en-
tes, surgem di versos tipos de "infelicidades".
7
Outra acusao comum a de que estariam havendo ronchavos, reunies paralelas fechadas
para discuti r e decidir, ou seja, fazer aquilo que deveria estar sendo feito na reunio, diante de
todos.
8
Os membros de uma "equipe", no sentido proposto por Goffman, so um grupo de atores
individuais "que cooperam na encenao de uma rotina particular", ou seja, colaboram para
manter uma definio de situao diante de um pblico ou platia. A "equi pe" um grupo
informal que no coincide com o grupo de amigos, com uma faco ou grupo corporado:
define-se apenas em funo da representao, do estabeleci mento e manuteno de uma dada
definio da situao. Assim, mesmo pessoas que fazem parte de faces opostas, que tm
origens sociais muito diferentes, que participam de grupos distintos e que defendem posies
opostas em relao a um dado tema, podem ser vistas como estando associadas informalmente
(c no-intencionalmente) na medida em que atuam de modo a sustentar uma situao definida,
no caso aqui enfocado, como discusso.
9
Trata-se de uma analogia. c no estou afirmando que sejam essas as intenes dos participan-
tes das di scusses.
10
o que acontecia, at certo ponto, com o ex-presidente da Associao de So Bernardo.
No era incomum que, ao falar para o pesquisador sobre algum aspecto do assentamento ou da
Associao, algum trabalhador comeasse a frase da seguinte forma: " como diz o Z Pedro
(o ex-presidente da Associao) 1 ... 1".
168 0 DITO E O FEITO
11
I sso parece acontecer sobretudo em grandes reunies, como congressos e encontros.
12
Um exemplo dessa forma de perceber as reunies a fala de um trabalhador assentado na
fazenda So Bernardo, que antes de se tomar assentado trabalhava como padeiro. Saudoso das
reunies do Sindicato dos Padeiros, no Ri o, observa que, ao contrrio das reunies da Asso-
ciao, l "s quem fal ava o certo que podia falar", e que havia uma ordem determinada para
cada um fal ar, sem ser interrompido. Lembra tambm que havia lanche para todos, c lugar para
beber e at para dormir depois das reunies. Outra ilustrao dessa expectativa de uma maior
"ordem" foi fornecida por um dirigente sindical de Minas Gerais, que observou que em algu-
mas comunidades que tm pouco contato com o trabalho do sindicato ou das Comunidades
Eclesiais de Base, h situaes em que se marca uma reuni o e quando os sindicalistas che-
gam, encontram o l ocal da reunio arrumado com uma mesa c as cadei ras em linha, dando-lhes
o trabalho de rearrumar tudo em crculo. Nesses casos, segundo ele, costuma haver grande
dificuldade de partici pao, com as pessoas esperando uma palestra.
13
"Sou um caboclo positivo: no vou", dizia um assentado referindo-se s reunies da Asso-
ci ao, alegando que poderia acabar brigando c contando que j havia "se estranhado" com
uma pessoa em uma dada ocasi o, depois da qual deixara de freqentar as reunies. Outro
assentado reclamava que no deveri a haver "aquele bal anga-beio", referindo-se s discus-
ses mais acirradas. Segundo ele, as reunies eram momentos em que pessoas "de fora" (os
convidados) estavam presentes para conhecer o assentamento c essas discusses no deveri am
ocorrer em pblico, mas apenas entre os dirigentes, em situaes fechadas, " l entre eles".
Esse mesmo assentado contou que deixara de comparecer porque no se conformava de ouvir
falar mal de seu cunhado, um dos dirigentes da Associao que naquele momento sofria um
pesado desgaste nas assemblias e tambm havia dei xado de comparecer.
14
O pastor, que j foi secretri o da Associao, rel atou que, " no infcio", deixara de ir s
reunies por causa da violncia que percebia nas discusses, com agresses verbais entre a
pessoas; e que depoi s, com a cri ao do momento de reflexo e da orao no incio, essa
violncia se reduziu - ou seja, a introduo de aspectos "solenes" ajudou a "equilibrar" a
reunio ao olho de seus freqentadores, contrabalanando a polmicas surgidas nos mo-
mentos " participativos". J o ex-prefeito do municfpi o, que se tornou um importante al iado
dos assentados e costumava freqentar as reunies, conta como nas primeiras vezes em que
compareceu s reunies da Associao, impre sionou- c com o fato de que houvcs e discus-
ses muito acirradas c que apesar disso, ao final, conseguissem "chegar a um consenso", e
disse admirar justamente esse aspecto " participativo" - que o pastor parece qualificar de ex-
cessi vamente violento.
Parte IV
CLIMA DE TEMPOS
CAPTULO 8
Poltica e tempo:
nota exploratria*
Moacir Palmeira
n faz alguns anos, tentando entender o porqu da no-coincidncia entre grandes
U mobili zaes sociai s c voto poltico em candidatos dos sindicatos ou de outras
organizaes que as promoviam, ou eram por eles indicados, deparei-me, entre popu-
laes camponesas do Nordeste brasileiro, com uma concepo de poltica que asso-
cia poltica a cleies
1
De modo recorrente, as pessoas referiam-se ao perodo eleito-
ral como o tempo da poltica, a poca da poUtica ou, simplesmente, a polltica. Se eu
perguntava sobre a poltica do municpio ou do estado, automaticamente fal avam de
eleies.
Como as primeiras idas a campo ocorreram durante processos eleitorais, pensei
tratar-se de uma maneira de di zer regional para referir-se a algo meramente circuns-
tancial, uma vez que aquele um perodo em que as atividades polticas quase que se
resumem s campanhas eleitorais. A idia do "regionali smo" foi rapidamente descar-
tada, pois Beatriz Hercdia encontrou o mesmo tipo de associao no Rio Grande do
Sul, em uma rea com caractersticas sociais e culturais muito diversas daquelas que
eu estava estudando em Pernambuco. A volta a campo, em outros perodos eleitorais
e fora destes, iria afastar a suposio da circunstancialidade.
Se o tempo da poltica corresponde grosso modo ao perodo eleitoral, no se
trata de uma traduo perfeita. O tempo da poltica no envolve apenas candidatos e
elei tores, mas toda a populao, cujo cotidiano subvertido. Nesse perodo de confli-
to autori7..ado, as faces polticas em que se dividem as municipalidades- ao longo
Este texto reproduz, com algumas alteraes, a segunda parte da conferncia "Antropologia
e Poltica" que fiz no Museu Nacional em agosto de 1994, durante o concurso pblico para o
preenchimento da vaga de professor-titular da UFRJ (Antropologia) que hoje ocupo. Posterior-
mente (2000), a primeira verso com uns poucos acrsci mos foi lida e discutida com colegas
durante o seminrio "Anli se de Rituais", na Uni versidade de Braslia. Tentei minimamente
incorporar as sugestes feitas c responder a algumas questes ento postas. Agradeo queles
colegas c, especialmente, a Mari 7.a Pcirano que, tendo sido membro da banca, teve a pacincia
de ouvi-lo ser lido duas vezes, estimulou sua publicao e di scutiu comigo, nessas c em outras
ocasies, questes abordadas no trabalho.
172 0 DITO E O FEITO
do ano, mais uma referncia para a " navegao social" das pessoas do que grupos
substantivos - se explicitam plenamente. A sociedade exibe suas divises. No
casual que se trate de um perodo marcado por rituais e interdies. Nele, mais do que
a escolha de reprcscnlantcs ou governantes, parece estar em jogo um rcarranjo de
posies sociais.
Em uma srie de artigos (Palmeira 1991 ; Palmeira c Heredia 1995; 1997), tentei
explorar diferentes dimenses desse "tempo" identificado pelas populaes que esla-
va estudando. Hoje, percebo que no tratamento da expresso tempo da poltica, ex-
plorei fundamentalmente o seu termo poltica. E no por acaso: tempo da poltica c
poltica so empregados como si nnimos, ai nda que poltica tenha algumas outras
acepes sobre as quais no me deterei agora.
E ficaria por a, se a pal avra tempo, combinada com outros termos, no fosse
usada de modo equivalente para se referi r a festas, safra, plantio, Quaresma, greve
ou, ai nda, a personalidades, instituies ou fatos. Tempo de festas, tempo de safra,
tempo do plantio, tempo da Quaresma, tempo da greve - substituvcis por festas,
safra, plantio
2
, Quaresma, greve-, mas Lambm tempo de Arraes, tempo do sindica-
to, tempo das greves, quando as coisas no so intercambiveis. Alm dos usos me-
nos problemticos, pelo menos aos nossos ouvidos de antroplogos: tempo antigo,
tempo de hoje em dia. Se estes correspondem si mpl esmente a uma certa datao, no
caso do segundo e do primeiro blocos, e em especial deste, parece estar em jogo
menos uma concepo qualquer de tempo como o representamos habitualmente, linear
ou cclico, cumulativo ou no-cumulativo, c mais uma cerla maneira de a populao
recortar/represenlar a estrutura social. Trata-se menos de estabelecer um desenho
qualquer de temporal idade e mais de descrever ou de postular um conjunto de ativi-
dades adequadas c um ritmo prprio sua consecuo em um determinado momento.
Se a Cmara Cascudo ( 1984: 745) no passa despercebida aquela concepo de
tempo centrada em torno de pessoas ou acontecimentos - " Medida de durao das
coisas, poca. Diz-se sempre tomando-se um ponto de referncia. Na linguagem po-
pular usa-se no Tempo Antigo, no tempo dos Antigos, no Tempo do Rei Velho, refe-
rindo-se a EI -Rei Dom Joo VI, especialmente em sua estada no Brasil! ... ]" - Aur-
lio Buarquc de Holanda Ferreira ( 1998: 1940) registra a associao entre tempo c
ao adequada. Logo a seguir ao significado mais corriqueiro de tempo ("A sucesso
dos anos, dos dias 1 ... )") assinala: "Momento ou ocasio apropriada (ou disponvel)
para que uma coisa se reali ze."
O tempo da poltica no apenas uma subdiviso de um calendrio onde se
inscreveriam Lambm o tempo das festas, o tempo da Quaresma, o tempo da greve
etc. Esses tempos no se definem essencialmente uns com relao aos outros, ainda
que possam ocorrer incompatibilidades. Por exemplo, nas reas que estudei em
Pernambuco parece haver urna certa oposio entre o tempo de festas, formulado
como um tempo de congregao, c o tempo da poltica, pensado como um tempo de
PoTJCA E TEMPO: NOTA EXPLORATRIA 173
diviso. Pude tambm constatar os problemas que causam as incompatibilidades pr-
ticas na coexistncia acidental entre o tempo da poltica e o tempo da greve, tempos
em que diferentes tipos de lealdade so solicitados da populao camponesa. Que
essas incompatibilidades no so absolutas, fornece-nos um bom exemplo Maria lsaura
Pereira de Queiroz, que em seu O Mandonismo Local ( 1969), ao mesmo tempo que
chama a ateno para a central idade das eleies nas vilas do Brasil Colnia, assinala
que elas eram realizadas preferencialmente no tempo de festas, nas festas natalinas.
A ordem social no percebida em termos orgnicos ou mecnicos, que como
ela foi naturalizada pelo senso comum intelectual, mas em termos de adequao de
comportamentos a determinadas finalidades postas em um certo momento. O tempo
da greve, por exemplo, que para setores patronai s o exemplo mesmo da subverso,
percebido como algo to ordenado quanto qualquer outro tempo: no tempo da gre-
ve, para os camponeses da rea canavieira de Pernambuco, " de lei" pamr de traba-
Ihail. Do mesmo modo, o tempo da poltica adequado para a explicitao de certos
conflitos que em outros tempos seriam profundamente desagregadores.
Se h incompatibilidades tpicas entre tempos - que remetem a discrepncias
entre suas finalidades - , todos eles se contrapem, cada um a seu modo, a um coti-
diano que no classificado, nesse nvel, como tempo. como se estivssemos dian-
te de uma refrao da oposio eternidade-tempo, com o tempo cotidiano (o "curso
do tempo" dos dicionrios) assumindo o lugar da "eternidade", do permanente, e o
tempo a posio do "tempo", do contingente, do transitrio. Mas, por paradoxal que
parea, nesse "transitrio" est embutida a idia de excepcionalidade. Trata-se de
criar um tempo prprio para o desempenho de atividades consideradas importantes
pela sociedade.
Kantorowicz ( 1957) lembra que na teologia poltica medieval "tempo, tempus,
era o expoente da transitoriedade, ele significava a fragilidade do mundo presente e
de todas as coisas temporais e carregava o estigma do perecvel", mas era criao
divina - "O tempo foi criado, no antes mas junto com o mundo transitrio, e cobria
no mais que as horas que foram da criao ao ltimo dia" - e no por acaso que
"palavras como temporalis ou secularis significavam, por assim dizer, a degradao
moral do tempo".
Mais prximo da nossa realidade, Otvio Velho associa "a exigncia de autono-
mia Idos camponeses] na [ ... 1 utilizao do tempo (idealmente, o trabalho para si)"
tradi o que considera que "o tempo de Deus c no dos homens" e lembra que esta
"concepo leva mai s universalmente adoo de uma soluo de compromisso:
nfase no carter particularmente sagrado de determinados dias (dias santos, domin-
gos) em contraste com o tempo de trabalho 1 ... 1" ( 1995: 32, nfases no original).
Desconfio que a excepcionalidade dos tempos a que nos estamos referindo opere na
mesma lgica, de que seriam indcios o tempo da polflica e os outros tempos marca-
dos por rituais e rel aes de evitao.
174 0 DITO E O FEITO
Uma representao grfica feita na areia por um poeta popular nordestino para
Shepard Forman, que este autor v como uma reintcrprctao da ordem religiosa
dominante em termos das crenas l ocais, talvez seja uma transcrio muito mais orto-
doxa do que se supe daquel a espcie de cosmologia agostiniana. Trata-se de uma
balana armada como cruzamento de um eixo verti cal em que no alto est o espao
(cu) e embaixo est a terra, e um eixo hori zontal em que esquerda est o mar e
direita est o vento. Do eixo horizontal pendem dois tri ngulos (que so os pratos) e
no cruzamento dos dois eixos est assinalado que Jesus o fiel da balana. Abaixo do
eixo horizontal (portanto, entre o mar, o vento c a terra), no l ocal apontado pelo poeta
analfabeto, Forman transcreveu o poema que ele recitou: "Aqui eu fao uma balana/
Peso o homem e a mulher/Peso o estudo com saber/E a cincia pela f" (Forman
1979: 312). Para no ir muito longe, limito-me a chamar a ateno para a contraposio
entre saber e estudo e entre f e cincia, os primeiros termos sendo pensados como de
ordem divina (saber, f) c os segundos (estudo, cincia) como de ordem humana, que
absolutamente recorrente nessa regio
4
.
O mesmo Forman faz uma observao que podemos ler como um sintoma da
importncia crucial que tem o tempo assim concebido para os camponeses brasilei -
ros. Referindo-se aos movimentos messinicos, ele lembra " que na sua condenao
do presente, el es suspendem o tempo e buscam uma sociedade mais justa c perfeita
numa vaga recoleo do passado [ ... ]" (Forman 1979: 239). Minha sugesto que
nesses casos estaria em jogo o confronto entre comportamentos e tempo (isto , suas
finalidades prpri as ou os desgnios de Deus), a partir da aplicao ao tempo coti-
diano dos critrios de adequao constitutivos do tempo, que no so diferentes da-
queles que teriam operado na criao do mundo e do tempo na verso bblica
5
. A
percepo de inadequaes que levaria uma coletividade a "suspender o tempo"
para que pudesse ser reordenado ou recriado
6
.
Acoplada quel a representao do tempo c de uma sociedade feita de tempos,
parece estar uma concepo agostiniana de sociedade poltica
7
como reali zao im-
perfeita de uma ordem divina ou, na formulao que lhe d Quentin Skinner ( 1978:
50), "uma ordem divinamente decretada e imposta aos homens decados como um
remdi o para seus pecados". No parece, pois, despropositado enxergar-se uma esp-
cie de "teologia poltica" contempornea na concepo de poder poltico dos campo-
neses, descrita com grande sensibilidade por Afrnio Garcia Jr. , no seu Terra de Tra-
balho8:
" Regra geral, h trs personagens que encarnam o poder: o Presidente, o Go-
verno, o Papa. Estas trs liguras que so responsvei s pelas leis, normas a
que todos tm que obedecer, e que zelam por sua apli cao. Se regulam o com-
portamento social, porque so pessoas que tm este atributo. Nenhuma refe-
rncia feita concepo destas posies sociais como cargos para os quais
Po TICA E TEMPO: NOTA EXPLORATRIA
so eleitos periodicamente seus ocupantes. Assim, tambm no vem, em ne-
nhum dos trs personagens, um mandatrio seu. [ ... ] Mas o mundo em que se
vive, a Terra, no o mundo onde vive Deus, o Cu. As regras segundo as
quais se vive na Terra devem conformar-se aos desgnios de Deus, mas so
criadas e aplicadas por homens. Os homens que criam estas regras e zelam por
sua aplicao, so justamente o Presidente, o Governo e o Papa. Estas figuras
so vistas como os homens mais ri cos que h no mundo, e que podem impor
sua vontade porque tm fora. Note-se que fora, aqui , ope-se a poder, pri vi-
lgio de Deus, que pode derrogar todas as regras da natureza e do mundo dos
homens" ( 1983: 93-94).
175
A sociedade no vista dividida em partes, ou em "esferas" ou "espaos", como
se tomou mais adequado enxerg-la em nosso tempo acadmico contemporneo, mas
em tempos. Embora haj a afirmaes, como a de um poeta popular, de que "o tempo
de tudo/sem tempo nada se faz"
9
, essa mais uma virtual idade do que outra coisa: em
princpio tudo " tcmporali zvel", mas s "temporalizado" (isto , transformado em
tempo, como o tempo da polftica, o tempo das festas etc.) o que considerado social -
mente relevante pela coletividade em determinado momento. Por isso mesmo, o rol
de tempos no fi xo, como tambm no so permanentes as suas incompatibilidades.
Isso transparccc no uso do termo "tempo" (significando tempo) pelas pessoas
para explicar certas regularidades sociais que no confi guram necessariamente um
tempo. Assim, um informante ao qual j me referi , indagado por que a mulher no ia
feira (como se tratava de uma hi stria de vida, cu que coloquei a questo no
passado), respondeu taxati vo: " um clima do tempo. um ambiente mesmo nosso.
Mulher ia missa, mas em feira no ia. Nem mulher, nem moa, ningum. Quem ia
para a feira era os homens. 1 ... 1. Era um ambiente que notamos l, nesse tempo nosso.
[ ... 1 Ainda hoj e assim: a mulher no vai c, se mandar, ela di z: ' Deus me livre! No
vou de jeito nenhum.' [ ... ] o costume daquele clima do tempo." Clima e ambiente
sugerem um uso metafrico, um " como se fosse um tempo". Mas o contraste com a
missa (peridica, como a feira) e a indicao das regras de adequao ("mulher vai
mi ssa"; " homem vai feira") podem sinal izar tambm que no seria absurdo pensar
a feira (c a mi ssa?) corno tempo. Vale lembrar que a feira, corno tem sido assinalado
h muito na literatura antropolgica, no simplesmente um lugar de trocas econ-
micas, mas urna ocasio em que se renem parentes c ami gos c, por vezes, inimigos
acertam contas; e, tanto ou mais do que um encontro de vendedores e compradores,
uma daqueles situaes em que a sociedade "se mostra a si prpria".
Urna certa ambigidade subsiste porque, como a missa, a feira circunscrita
espacialmente. Se a sua ocorrncia mexe com a coleti vidade para alm de seu per-
metro, ela no tem ( possvel que j tenha tido ou venha a ter) a capacidade do tempo
da polftica ou do tempo da festa do padroeiro do lugar de "contaminar" todo o tecido
social. Essa capacidade de dominar as outras atividades socialmente reconhecidas,
176 0 DITO E O FEITO
isto , de fazer com que tudo vire poltica ou festa, de converter as demais ati vidades
ati vidade definidora do tempo, uma das caractersticas diferenciais dos tempos no
sentido restrito.
Para concluir esta nota, voltemos poltica. Se as formul aes que avanamos
tm alguma consistncia, elas podem nos ajudar a pensar as dificuldades de "acumu-
lao" para os que esto "embai xo". A viso no-orgnica da estrutura social c, mai s
que isso, a sua viso em termos de adequao a tempos relati vamente estanques,
representam um obstculo maior para que aqueles que no dispem de fora ou que
dispem de alguma fora em um tempo determinado (como, por exemplo, trabalha-
dores no tempo da greve) transponham essa fora para outros tempos (por exemplo,
trabalhadores no tempo da poltica).
Do mesmo modo, extremamente difcil para perdedores c, sobretudo, para
aqueles perdedores que estruturalmente se encontram "embaixo", acumularem expe-
rincia que sej a entre dois tempos da poltica. Por isso mesmo a sua tendncia, se
qui serem ter algum acesso f ora dos "de cima", ser no sentido de se li garem aos
vencedores. Se isso no chega a ser uma explicao, ajuda a entender como se repro-
duz o carter residual da oposio na polaridade situao X oposio, que marca a
poltica local, mas no apenas ela, no Brasil. J para os que esto "em cima", homens
concebidos e autoconccbidos como de f ora, homens do tempo, mas tambm da po-
ltica, ao contrrio, o interregno (c o tempo no perde seus outros signifi cados) signi -
fi ca extenso de redes pessoais, "acumulao" de homens.
Notas
1
Essa era a motivao inicial do proj eto de pesquisa "Concepes de Poltica e Ao Sindi-
cal", que desenvolvi, a partir de 1988, junto com Bcatrit. Hcrcdia. A pesqui sa acabaria ampli -
ando-se, dando lugar a vrios projetos voltados para a investigao do modo de operar da
poltica dita "tradicional". Aquele projeto c alguns de seus desdobramentos foram realizados
graas ao apoio financeiro do convnio FINEP-UFRJ/ Muscu Nacional/ PPGAS c a uma bolsa
de pesquisa do CNPq.
2
A import ncia social ou sociolgica de algumas dessas expresses j havia sido destacada
anteri ormente por outros autores. Para "tempo de Arraes", ver Callado ( 1964). Para o mesmo
"tempo de Arracs", "tempo do sindicato", "tempo das greves", ver Sigaud ( 1980a). Para "tem-
po de greve", ver Sigaud (1980b).
3
Um folheto distribudo nas campanhas salariais de Pernambuco, no incio dos anos 80, tinha
como sua principal chamada a frase " tempo de greve!"
4
Um informante, durante pesquisa realizada ao longo dos anos 70, na Zona da Mata norte, em
Pernambuco, no s discorri a longamente sobre o tema como fazia questo de marcar a con-
tingncia do conhecimento do pesquisador em face da sabedoria de Deus a que s a f daria
acesso.
5
Segundo o Gnesis, Deus, aps cada ato de cri ao, a partir da criao da luz, contemplaria
POLTICA E TEMPO: NOTA EXPLORATRIA
177
sua obra c afirmaria que o que fez era bom. Santo Agostinho comenta essa passagem nos
eguintcs termos: "Que outra interpretao se deve dar s pal avras repetidas a cada nova cri a-
o: Viu Deus que era bom, seno a aprovao das obras realizadas em conformidade com a
arte que a Sabedoria de Deus?" (Agostinho 1990: 39).
6
Otvio Vel ho ( 1995: 32-33) tambm nota, em scqilncia ao seu texto que transcrevi pouco
atrs, que nos movimentos milenari stas " comum interromper o trabalho para se manter em
disponibilidade total".
7
Autores como Otvio Velho e Carlos Steil fal am, no caso brasileiro, de uma "cultura bbli -
ca". O primeiro para acentuar que a referncia bblica presente na viso de mundo dos campo-
neses seri a mai s do que simplesmente analgica, atingindo "o nvel das crenas e atitudes
profundas" (Velho 1995: 16). Stcil prefere falar de uma "cultura bblico-catlica, onde se pode
ver realizada, embora em permanente tenso, a sntese entre o texto bblico e a teia de sentidos
que os romei ros vo tecendo para sustent-los na difci l arte de viver" (Stcil 1996: 150- 151,
nfases no ori ginal ).
8
Sua pesquisa foi realizada no agreste meridi onal de Pernambuco.
9
Para controle do leitor e do prpri o poeta, transcrevo o seu " Poema sobre o Tempo", clara-
mente referido ao Livro do &lesiastes, declamado (c, depois, di tado, para o pesquisador)
durante uma sesso plenri a do 6 Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, em abril de
1995:
" H tempo para passar mal
H tempo para vi ver tri ste
Tempo que fala pelo bem c pelo mal
Tempo que com o tempo existe
Tempo que o tempo acaba
Tempo que tudo resiste
Bem gente o tempo de tudo
Sem tempo nada se faz
O mesmo tempo leva c traz
Assim no haja descuido
Eu como no tempo cuido
No tempo espero tambm
Quem no tempo espera tem
No tempo tem alegri a
Ou com mai s ou menos dia
Tem pacincia meu bem
Deus de j pede conta do meu tempo
Como posso do meu tempo cu j dar conta
Como posso dar sem tempo tanta conta
Eu que gastei sem conta tanto tempo
Tanto tempo passou eu no fi z conta
Quero hoj e fazer conta e falta tempo"
Marras Neto Bezerra
(Sindicato dos Trabalhadores Rurai s de Monsenhor Hi pl ito, Piau)
CAPiTULO 9
As naes vo s urnas:
eleies na Assemblia Geral
da ONU
Paulo de Ges Filho
r::l ntre as atri bui es conferidas pel a Carta de So Franci sco Assembli a Geral
L..:l das Naes Unidas, a responsabilidade de el eger os candidatos para os diver-
sos cargos nos numerosos rgos e organi smos especi al izados que compem o cha-
mado Si stema das Naes Unidas, pode ser considerada uma das mai s rel evantes
do ponto de vi sta dos rituai s da polftica internacional. Em al guns casos, essa atribui -
o compartilhada com o Conselho de Segurana, como a escolha do secretrio-
geral, as el ei es dos juzes da Corte Internaci onal de Justi a c a admi sso de novos
Estados-membros. As demai s el ei es visam ao preenchimento de outros postos de
menor importnci a. No mbito da Assembl ia Geral , as el eies so os eventos que
evidenciam de forma mai s cl ara as di sputas por prestgi o entre os membros da Or-
gani zao' .
Dada a importnci a dessa funo, no excepci onal que, no conjunto das ati vi -
dades que constituem o programa de uma sesso anual da Assembli a Geral, os di-
versos ti pos de eleio mobili zem de forma intensa as del egaes, em particular aquelas
envol vidas, em um determinado ano, com a apresentao de candidaturas. Certamen-
te, as el eies que despertam maior interesse so as que se destinam ao preenchimen-
to dos assentos de membros no-permanentes do Conselho de Segurana e escolha
de novos membros do Consel ho Econmico c Social (ECOSOC)
2
Embora com uma intensidade diferente, desde que haj a ( I ) uma candidatura de
um Estado para uma posio em um outro rgo - uma comisso ou uma agncia
especi al izada qualquer - ou (2) um indi vduo que tenha obtido o endosso ofici al de
seu pas, postul ando um cargo considerado de relevnci a, os recursos das misses
di plomti cas so i gualmente mobilizados para que a el eio tenha xito. As elei es
no esto, portanto, apenas rel aci onadas ao poder associ ado a uma dada posio, mas
sobretudo rcafirmao da honra e do prestgio nacionais.
A construo do prestgi o se faz em doi s nveis: mediante o reconhecimento
pelos pares de que um determinado Estado-membro possui um " bom corpo diplo-
mtico", ou seja, formado por um grupo de agentes capacitados a intervir nos
processos de negoci ao, e em f uno da " tradio" de liderana nos di versos gru-
180 0 DITO E O FEITO
pos de que participa e da capacidade de mobili zar recursos para mediar posies
antagnicas que se produzam em processos de negociao no decorrer da Assem-
blia Geral. Nesse sentido, particularmente relevante a presena c a visibilidade
dos representantes.
No caso das candidaturas de diplomatas, grande parte do seu prestgio deri va da
tradio das diplomacias nacionais, mas no caso dos candidatos individuais, depen-
dendo da importncia do cargo, todo o capital disponvel em uma mi sso investido
no candidato de forma a legitim-lo. Nesse caso, a construo da candidatura exige
um esforo redobrado.
O efeito mobilizador das eleies rcvclador de uma srie de tenses constitutivas
dos paradoxos que permciam as relaes no mundo das naes. Em um lugar que
pretende exaltar a igualdade e a simetria, recorre-se, freqentemente, s diferenas c
se reconhece a exi stncia de hierarquias. Em um espao que se pretende pblico se
negocia a portas fechadas.
Ao lado das relaes fundadas em um conjunto de valores compartilhados pelos
representantes dos Estados nacionai s, que poderiam ser identificadas como uma "cul-
tura diplomtica", existem relaes entre os Estados nacionais que muitas vezes trans-
cendem as intenes subjeti vas dos diplomatas. Nesse sentido, a par das relaes
pessoais entre os representantes dos di stintos Estados, as interaes so mediati zadas
pelas " instrues". So elas que mapeiam as frontei ras entre o formal c o informal c
entre o pblico e o privado. Explcitas ou implcitas elas conformam as "posies" de
cada Estado-membro c cimentam o "esprit de corps" que garante a continuidade
como um "mana" que se transmite sem interrupo entre as sucessivas levas de diplo-
matas de uma dada mjsso.
Na medida em que no exerccio de suas atividades os diplomatas "personifi-
cam" o Estado, seus atributos pessoais, por um efeito de metonmia, tendem a ser
vistos como atributos do Estado que representam. Por outro lado, a posio que cada
Estado ocupa na rede de relaes internacionais tende a produzir imagens estereoti-
padas, positivas ou negativas, de seus representantes.
O presente trabalho concentra-se em trs eleies que tiveram lugar em dois dos
perodos em que esti ve realizando trabalho de campo na sede das Naes Unidas em
Nova York ( 1998 c 1999), sendo duas para o Conselho de Segurana c uma para o
ECOSOC.
Figuraes
Analogamente ao que ocorre em outros lugares no mundo da poltica, as elei-
es para o preenchimento de cargos nas Naes Unidas buscam obedecer lgica da
proporcionalidade e no da representao dos partidos, como ocorre nos parlamen-
tos nacionais e mesmo no parlamento europeu. O pri ncpio que organi za o sistema
As NAES vo S URNAS: ELEIES NA AssEMBLIA GERAL DA ONU 181
poltico no mundo das naes c segundo o qual cada uma delas se representa a
territorialidade, que se funda nas unidades mnimas em que esse mundo se segmenta:
os Estados nacionai s soberanos. A cada um desses Estados correspondem fronteiras,
que so os limites a partir dos quais, segundo o princfpio 7 do artigo 2 da Carta,
cessa o mandato da ONU e se inicia a jurisdio domstica.
Foi , e continua sendo, a partir da fuso ou segmentao dessas unidades, igual-
mente em obedincia ao princfpio da territorialidade, que se constituram, ao longo
da histria da ONU, diversos grupos regionais formados para que a participao das
vrias regies do globo nos di versos rgos, comi sses etc., pudesse atender a todas
as regies. Di stintamente de outras normas da Organizao, a criao desses grupos
no foi objeto de uma deciso da Assemblia Geral, mas uma decorrncia do prop-
sito comum de que cada regio se fizesse representar nas diversas instncias da Orga-
nizao3.
com base na distribuio dos Estados nacionai s pelos distintos grupos que se
criam as condies para a apresentao das candidaturas c se produzem os espaos
onde os Estados disputam o privilgio de representar o grupo a que pertencem. As-
sim, no mbito dos grupos regionais que se realizam os primeiros movimentos de
negociao e barganha com vista escolha desses representantes, quer sejam eles os
prprios Estados, atravs de seus agentes autorizados, quer sejam indivduos que,
mesmo no sendo oficialmente "representantes" desses Estados, so com eles identi-
fi cados4.
Embora a territori alidade seja o princfpio dominante que informa o pertenci-
mento de cada Estado aos distintos grupos, outros eixos classificatrios, igualmen-
te significati vos, permitem diversos tipos de agrupamentos e oposies, de acordo
com as diferentes conjunturas em que, nos ltimos cinqenta anos, se ordenou a
vida internacional. possivelmente nas disputas entre esses grupos que se pode
perceber de forma mais clara a dinmica do processo poltico no mbito das Naes
Unidas
5
.
Entre os grupos de base no-territorial rel evantes, os mais importantes so: o
Grupo dos 77, que confronta desenvolvidos e subdesenvolvidos, o Movimento
dos No-alinhados e o Grupo rabe. Dos mais antigos merecem referncia os
" Pases do Leste" e a Commonwealth, cuja tendncia a votar em bloco produziu
alguns dos impactos mais signifi cati vos na hi stria da Organizao. Esse grupos,
que se fundam em vrios tipos de identidades- tnicas, hi stricas ou ideolgicas
- tm algumas especificidades que os di stinguem das coli gaes de partidos exis-
tentes em outros parlamentos, alm de exercerem no processo eleitoral da ONU
innuncia decisiva. Possivelmente, a maior diferena entre as coligaes dos par-
lamentos nacionais e as que se formam na ONU resida na durao dos vnculos,
que no caso dos partidos polticos parece ter uma vigncia menor do que nesses
agrupamentos.
182
0 DITO E O FEITO
A Assemblia Geral como parlamento
A analogia entre os procedimentos da ONU c aqueles adotados nos diversos
parlamentos tem sido objeto de algumas reflexes. Estas derivam, em alguns casos,
da comparao entre os rituais da Assemblia Geral e os do Parlamento ingls e da
Europa Continental. Outras exploram as possveis simi laridades entre os rituais da
ONU e os do Congresso americano.
Como observam Riggs c Plano ( 1994), a Assemblia Geral se parece com o
Congresso americano em suas tentativas de conciliar conflitos regionais, de classe,
credo, religio, alm de se defrontar com interesses paroquiai s e com a necessidade
de estabelecer regras de procedimento que tomem os rituais inteligvcis
6
. Para Nicholas
( 1975) a Assemblia Geral, mais do que um parlamento, se assemelha a uma reunio
de uma central sindical ou conveno de um partido poltico, com suas descontinui-
dades temticas, votos em bloco e estrutura federativa. Sua referncia tambm o
Congresso amcricano
7
.
Independentemente das comparaes, o que interessa aqui o fato de que a
relao entre os Estados nacionais, no mbito da diplomacia multilateral, obedece a
um modelo de organizao poltica consagrado nas democracias ocidentais que, ado-
tado no mundo das naes, tem resultado na progressiva consagrao das prticas
parlamentares como antdoto da violncia. Esse processo deriva da adoo entre os
Estados nacionais de um tipo de interao no qual as disputas, dada a inexistncia de
uma autoridade central , ou se resolvem pelo conflito, ou pressupem a presena de
um mediador, cujo principal atributo forjar sua deciso em uma linguagem persua-
siva c no como um julgamento pronunciado com autoridadc
8
. Entretanto, o elemen-
to mais significativo dos rituais que tm lugar nas Naes Unidas o fato de que eles
se baseiam em uma representao idealizada da vida internacional. Esta viso funda-
menta uma representao do mundo das naes na qual os aspectos mai s relevantes
so o pressuposto da completa simetria entre Estados soberanos c a "ilegitimidade"
dos diferenciais de poder entre elas. O mundo das naes seria um mundo simetrica-
mente diferenciado (Bateson 2000: 70) e no uma totalidade homognea. Se existem
assimetrias, elas no se j ustificariam na dimenso simblica dessas relaes, mas
derivariam de "desajustes" na ordem ideali zada.
Todavia, o fato de este mundo no ser percebido como uma totalidade homog-
nea, permite que o reconhecimento de di stines e oposies no contradiga essa
percepo, o que nos revela que ali existem tambm, e simultaneamente, formas de
diferenciao complementares e de reciprocidade. Distintamente de outras represen-
taes totali zadoras como " humanidade", "sociedade humana", entre outras, o mun-
do das naes pressupe processos e mudanas, fuses e separaes.
Nele encontram-se operando todos os processos de sismogncse, no em suas
formas "puras" mas, como sugere Bateson, de maneira tal que em cada uma dessas
As NAES vo As URNAS: ELEIES NA AssEMBLIA GERAL DA ONU 183
formas existam alguns elementos da outra. Na compreenso dessa dinmica neces-
srio que no se privilegie apenas uma dimenso da realidade, mas se busque a com-
preenso da totalidade.
Da mesma forma que no Negara, descrito por Geertz, os rituai s da Assemblia
Geral buscam revelar uma dimenso expressiva de um mundo no qual o alto grau de
cerimonialismo c a etiqueta so fundamentais e mesmo constitulivos da ao poltica.
Entretanto, diversamente da sociedade balinesa, a desigualdade e a hierarquia do
centro so substitufdas pela igualdade e pela si metria, e o orgulho do status, pela
consagrao de cada nao como uma totalidade singular c nica (Geertz 1980). No
teatro das naes no h protagonistas c coadjuvantes, cada uma ocupa um lugar
absolutamente especial em relao a todas as outras.
Entretanto, para a compreenso desses rituais c seus efei tos deve ser evitada a
separao entre a "dimenso expressiva" e a "dimenso instrumental" resultante das
mltiplas interaes possfveis no mundo das naes. Como alerta Tambiah ( 1985), se o
fizermos corremos o risco de ignorar a principal fora desse tipo de ritual, qual seja, seu
carter performativo. Os rituais no apenas expressam o mundo, mas agem sobre ele.
A par da dimenso de teatral idade nos grandes rituais da ONU, particularmente
nas sesses da Assemblia Geral e nas Grandes Conferncias, busca-se, de um lado,
encenar essa ordem idealizada e, de outro, reafirmar as diferenas e singularidades.
Na medida em que as naes ali se representam como sendo equivalentes, para que
suas vozes sejam ouvidas fundamental que assumam alguma visibilidade. O centro,
nesse caso, no dado, mas objeto de disputas.
Tendo em vista que as naes s existem umas em relao s outras e essas
relaes so representadas como produto da interao de unidades com poderes equi-
valentes, para que seus interesses possam ser reconhecidos como legftimos, neces-
srio dcsconstruir a igualdade, sublinhar as diferenas c promover alianas com ou-
tras unidades cujos interesses se assemelhem aos seus.
Como cada nao pode representar um subconjunto e se fazer representar por
outras naes, exercer o papel de porta-voz, arbitrar divergncias e, especialmente,
unir-se na defesa de interesses comuns, ser bem-sucedido na conquista de mltiplas
posies toma-se um objeti vo e um sinal de distino. Paradoxalmente, a fronteira, o
primeiro elemento que separa as naes, aquela que na esfera simblica se toma o
primeiro elemento a (re)uni-las. Por essas razes, o processo eleitoral parece desem-
penhar um papel to central em todo o processo poltico das Naes Unidas e merecer
tanta ateno por parte dos agentes sociais que transitam por seus sales e corredores.
As campanhas
As eleies so as oportunidades em que os representantes dos Estados-mem-
bros mobili zam de maneira intensa tanto os mecanismos formais de busca de ade-
184 0 DITO E O FEITO
so s suas candidaturas (visitas protocolares s chancelarias nas capitai s, trocas de
notas solicitando e comprometendo apoios e busca de reciprocidade no cumpri -
mento dos compromissos previamente assumidos), quanto as formas de relaciona-
mento tradicionalmente identificadas ao tempo livre, particularmente aquelas em
que os espaos de trabalho e lazer se interpenetram e confundem: as festas , recep-
es, almoos etc.
Embora estas ltimas atividades possam ser classificadas como pertencentes ao
mundo do lazer, o que caracteriza sua prtica no mundo da diplomacia um alto grau
de rotinizao
9
. Como sugerem Elias e Dunning no espectro do tempo livre "unas
actividades de tiempo libre ticnen la naturalcza del trabajo ocupacional ; otras
actividades de tiempo libre, no todas cn absoluto son voluntrias; no todas son
placenteras y aJgunas de ellas cstn altamente rutinizadas" ( 1992: 125). justamente
no mbito dessas atividades, aparentemente recreativas, que se desenvolve grande
parte das campanhas eleitorais voltadas para a ocupao de cargos na Organizao.
particularmente notvel , durante as campanhas, o uso dessas prticas,
freqentemente associadas "arte da diplomacia" e percebidas como sendo
constitutivas do habitus desses atores que, inclusive, recebem parte de sua remunera-
o sob a forma de "verba de representao". nessas oportunidades, tambm, que,
respeitada a etiqueta, se apela para o plo mais informal c pessoal das relaes.
Inicialmente no mbito de cada grupo, depois de forma ampliada, sucedem-se
vrios "eventos sociai s". Um dos principais objetivos desses eventos aproximar
eleitores e candidatos. Uma vez que a composio das delegaes Assemblia Ge-
ral no obedece a um padro rgido e no h mandatos, a organizao dessas recep-
es uma estratgia fundamental para angariar simpatia, principalmente no caso
dos novos representantes permanentes
10
Tornar conhecido o novo representante permanente, no entanto, no uma estra-
tgia suficiente, j que a cada perodo de sesses regulares da Assemblia Geral a
composio das diversas delegaes varia significativamente. Delas participam no
s os diplomatas que esto servindo nas distintas misses em Nova York, que se
encontram habitualmente nas dependncias da ONU e, freqentemente, estabelecem
relaes pessoais, como tambm os "novos" delegados, sejam eles diplomatas re-
cm-chegados ao posto em Nova York ou especialmente designados para participar
daquela sesso.
Por essa razo, a freqncia dos delegados em certos locais, que primeira vista
parecem ao observador desatento irrelevantes para os objetivos mais " nobres" do
trabalho diplomtico, pode ser parte de uma estratgia destinada a conhecer c se fazer
conhecer. Este o caso, por exemplo, da presena dos diplomatas nas bancadas du-
rante o Debate Geral
11
e, sobretudo, na fila de cumprimentos aos oradores. "Freqen-
tar a ONU" , na percepo de alguns informantes, um atributo positivo de um bom
diplomata c, especialmente, de um bom representante permanente
12
.
As NAES VO S URNAS: ELEIES NA ASSEMBLIA GERAL DA ONU 185
A construo das candidaturas inicia-se com vrios meses de antecedncia e
culmina no dia das eleies com verdadeiras "campanhas de boca-de-uma" quando
membros das diversas delegaes se aproximam de outros delegados em busca da
confirmao de seus votos, distribuem pedidos de apoio sob a forma de um "panfle-
to" colocado nas bancadas ou entregues aos representantes de cada pas, relembrando
a candidatura. Nesses momentos, muitos delegados que apenas se conhecem de vista
se dirigem uns aos outros, nomeando o pas a que pertencem, se apresentam e di scu-
tem as candidaturas.
Em cada misso h, geralmente, um diplomata encarregado das candidaturas.
Durante cada um dos perodos de meu trabalho de campo essa funo foi exercida na
mi sso brasileira por um diplomata diferente. No primeiro ano, 1996, o encarregado
era um secretrio com vasta experincia na ONU, o diplomata com o maior tempo de
permanncia em Nova York c detentor de uma expressiva rede de conheci mentos
entre os colegas de outras misses. No segundo ano, 1998, essa tarefa passou a ser de
responsabi lidade de um diplomata recm-chegado que, a princpio, resistiu a aceitar a
incumbncia.
No caso da misso do Brasi l, esse trabalho no considerado entre as atividades
nobres da diplomacia e pode ser mesmo visto como uma tarefa que exige "sacrif-
cios". Ao diplomata incumbido das candidaturas cumpre, muitas vezes, representar o
embaixador nas vrias recepes que se realizam no decorrer das campanhas, assinar
livros de condolncias e outras tarefas protocolares. Em 1999, o diplomata que havia
resistido a assumir o encargo j demonstrava um grande desembarao no exerccio
dessa tarefa c nas vrias oportunidades em que estivemos juntos na ONU j conhecia
um grande nmero de colegas de outros pases.
No perodo que precede a abertura dos trabalhos de cada sesso anual, alm da
escolha do presidente da Assemblia Geral, feita a eleio para os cargos das mesas
das distintas Comisses. As negociaes nesses casos, embora intensas, obedecem a
uma tradio c, por essa razo, raramente tm resultados inesperados
13
O fato de serem marcadas por atividades relacionadas ao lazer no faz com que
as campanhas eleitorais na ONU se diferenciem, de fom1a significativa, daquelas que
se reali zam no mbito dos parlamentos nacionais, quando se busca o preenchimento
de cargos c a participao em comisses. No mundo da diplomacia o objetivo funda-
mental obter posies que sirvam para reafirmar o prestgio de cada Estado perante
seus pares. Perder uma eleio afeta profundamente a delegao derrotada.
As eleies
As eleies na ONU so fortemente caracterizadas pela observncia de uma
etiqueta que confere a esses eventos seu carter ritual. Apesar da constatao de que
a igualdade, expressa no mesmo peso atribudo ao voto de todos os Estados sobera-
186 0 DITO E O FEITO
nos, possa ser considerada uma "fico polftica", esse fato constitui a essncia do
poder simblico da Assemblia Geral
14
nessa premissa que se funda a possibilidade de a Organizao produzir mu-
danas significativas na atuais formas de representar o mundo c contribuir, cada vez
mais intensamente, para que se consagrem como " universai s" princpios como a de-
fesa dos direitos humanos c do meio ambiente. Como demonstrou Tambiah ( 1985), a
consagrao de novas cosmologias est intrinsecamente vinculada aos rituai s.
O primeiro contato que tive com o processo eleitoral nas Naes Unidas foi por
ocasio de minha chegada a Nova York em 1996. Naquela oportunidade minha posi-
o diante da Mi sso do Brasil era de "observador informal" j que no obtivera uma
autorizao oficial do Ministrio das Relaes Exteriores (MRE) para realizar o tra-
balho de campo. Especificamente naquele ano, vrios brasileiros eram candidatos a
postos de relevncia no sistema das Naes Unidas: um ex-ministro de Estado das
Relaes Exteriores, candidato Corte Internacional de Justia, um antigo secret-
rio-geral do ltamaraty c da OEA, candidato Comisso de Direito Internacional e um
candidato ao Comit de Conlribuies
15
A primeira eleio foi para a Corte Internacional de Justia e, como determinam
as regras de procedimento, foi feita de forma concomitante pelo Conselho de.Segu-
rana e pela Assemblia Geral. Havia naquela eleio li candidatos para 5 vagas, o
que representava a renovao de um tero da Corte para o exerccio de mandatos com
durao de 9 anos
16
Apesar de o candidato brasileiro di spor dos requisitos necessrios ocupao do
cargo, a eleio dos juizes para a Corte foi diffcil. No Conselho de Segurana ele foi
eleito no terceiro escrutni o c na Assemblia Geral no primeiro, tendo ali obtido a
quinta vaga.
As demais eleies foram menos disputadas, tendo o candidato brasi leiro Co-
misso de Direito Internacional, na qual as vagas obedecem a um cri tri o de
proporcionalidade regional, sido escolhido na primeira votao com o maior nmero
de votos.
A intensidade com que se mobili zaram os recursos da misso naquela oportuni -
dade me fez perceber que (I) ao lado da defesa dos interesses nacionais ou dos gru-
pos, na negociao de propostas de resoluo, as eleies ocupam um lugar central
no mundo da diplomacia multilateral; (2) a nacionalidade incorpora-se como se fosse
um atributo intrnseco ao postulante ao cargo, mesmo que o candidato seja eleito em
carter pessoal.
Escrutnios
Existem trs formas de escrutnio nas eleies da ONU: (i) aquelas que se pro-
cessam pelo registro no painel eletrnico, identificam o votante e so habitualmente
As NAES vo As URNAS: ELEIES NA AssEMBLIA GERAL DA ONU 187
util izadas para a aprovao das propostas de resoluo; (ii) aquelas que se referem
escolha de pases e indi vduos como membros de comi sses ou escolha de rgos
de direo e que se processam por voto secreto; (iii) aquelas em que a deciso
tomada por chamada de li sta (roll-cal{) e cada pas declara oralmente seu voto.
As trs eleies a que assisti obedeceram prtica do voto secreto. O voto secre-
to, de um lado, possibilita uma considervel margem de incerteza quanto aos resulta-
dos de cada eleio; de outro, estabelece um certo grau de liberdade quanto obser-
vncia de certas regras de reciprocidade, sobretudo no mbito dos grupos regionais
17
.
i. A eleio de 1998 para o Conselho de Segurana
Em 1998 o Brasil era um dos membros no-permanentes do Conselho de Segu-
rana. Naquele ano as eleies se destinavam a preencher as vagas de membros no-
permanentes do Conselho, em substituio Costa Rica, ao Japo, ao Qunia, a Por-
tugal c Sucia, que teriam seus mandatos encerrados em 3 1 de dezembro de 1998.
As eleies so realizadas no grande auditrio da Assemblia Geral. No di a da
eleio, distintamente do que ocorre nas outras sesses que se realizam aps o Debate
Gcral
18
, h uma grande mobilizao dos diplomatas. Nesse dia, todos os diplomatas
da misso, c vrios funcionrios, comparecem ao plenri o para assistir eleio.
Trata-se, portanto, de um evento percebido como extraordinri o mesmo consideran-
do que se repete a cada ano.
Ao chegar ao auditrio verifiquei que todos os seis lugares de todas as bancadas
se encontravam ocupados. Na bancada do Brasil estavam o chefe da mi sso, o embai-
xador alterno, um mini stro c trs secretrios. Os demais diplomatas e eu nos dirigi-
mos para as galerias.
Visto de cima, o pl enri o estava cheio e percebia-se grande movimentao e um
burburinho incessante. Pequenas rodas se formavam, especialmente em torno das
bancadas dos pases candidatos. Sobre as mesas encontrava-se o materi al de propa-
ganda dos pases, nos quais era relembrada a candidatura c solicitado o apoio das
demais delegaes.
Com cerca de 15 minutos de atraso o presidente da Assemblia Geral deu incio
sesso c prestou alguns esclarecimentos prcliminarcs
19
Afirmou que, de acordo
com as prticas usuais
20
, os dois Estados-membros a serem eleitos entre os pases
asiticos c africanos, um deveria ser da frica c outro da sia. Disse, ento, que
havia sido informado que os candidatos endossados pelo grupo s duas vagas eram a
Nambia e a Malsia.
No caso do grupo lat ino-americano c do Caribc, a quem cabia uma vaga, a
candidata era a Argentina, c no caso dos pases do grupo da Europa Ocidental e
outros Estados havia trs candidatos para duas vagas: o Canad, a Grcia e a Holanda.
Informou ento Assemblia que, de acordo com as regras de procedimento, a
eleio seri a realizada por voto secreto e que no haveria indicao de candidatos.
188 0 DITO E O FEJTO
Aqueles que recebessem o maior nmero de votos, uma vez ultrapassados dois teros
dos votos dos presentes, seriam declarados eleitos.
Antes da votao o delegado permanente da Suazilndia pedi u a palavra afir-
mando que seu discurso era uma orao a Deus, em nome de sua delegao, para que
este iluminasse os novos membros do Conselho diante da misso que lhes estava
sendo conliada, alertando para a importncia de sua tarefa. Reafirmou que o Conse-
lho de Segurana no era superior Assemblia e criticou a prtica das consul tas
fechadas, reivindicando que o Conselho abolisse as consultas informai s c que subme-
tesse suas decises ao voto da maiori a.
A interveno do delegado afri cano foi extempornea. O espao para manifesta-
es dessa natureza o Debate Geral, durante o qual, naquela sesso da Assemblia,
haviam sido numerosas as manifestaes cxplfcitas dos Estados-membros no sentido
de que fosse abolido o poder de veto do Conselho. Durante o Debate Geral, a maioria
das delegaes propugnara por mais votos c pela abolio do veto.
Terminada a interveno do delegado iniciou-se o processo de eleio. Trs c-
dulas foram distribudas s delegaes pelo pessoal do Secretariado (A, B c C), cada
uma correspondendo a um grupo regional. Depois da distribuio das cdulas, o pre-
sidente solicitou que em cada uma fossem escritos os nomes dos pases a serem elei-
tos. Designou como fiscais os representantes do Mxico, da Repblica do Congo e da
Coria, que se dirigiram para perto do pdio. Nesse momento foram depositadas 3
urnas diante do rostro, uma na frente de cada liscal. Um membro de cada delegao,
geral mente o representante permanente, escrevia em cada cdul a o nome do pas
escolhido, dobrava o voto c o depositava na urna. Iniciou-se, ento, a coleta de votos
pelos funcionrios, seguidos dos liscais, que foram passando pelos corredores e dian-
te das bancadas at retornarem ao ponto de partida. O processo durou aproximada-
mente 30 minutos. (A presena na maioria das bancadas dos embaixadores um
indicador da importncia que se atribui s eleies e uma forma de sinalizar para os
demais delegados, especialmente para os candidatos, que se espera contar com a mesma
deferncia em uma prxima eleio.)
Terminada a passagem das urnas o presidente anunciou que se porventura algu-
ma delegao no houvesse votado poderia faz-lo aproximando-se do pdio. Como
no foi este o caso, o presidente suspendeu a sesso para a contagem dos votos. Os
cscrutinadores dirigiram-se para uma sala atrs do pdio c a sesso foi suspensa por
quinze minutos.
Durante o intervalo a movimentao na sala aumentou consideravelmente e os
delegados procuravam uns aos outros para conversar. O chefe da misso do Brasil ,
ex-ministro das Relaes Exteriores e membro do Conselho de Segurana, foi um
dos mais cumprimentados. Terminada a contagem dos votos o presidente leu os resul-
tados e, como na primeira votao, ci nco candidatos haviam obtido dois teros dos
votos, tendo sido declarada encerrada a sesso.
A s NAES vo As URNAS: ELEIES NA AssEMBLIA GERAL DA ONU 189
As eleies para o Consel ho em 1998 foram tranqilas. Nos dois primeiros gru-
pos onde as candidalUras havi am sido endossadas no houve di sputa. No caso dos
pases da Europa Ocidental c outros Estados, o Canad recebeu a mai ori a dos votos e
a Grci a e a Holanda di sputaram a segunda vaga, tendo vencido a ltima.
Encerrada a sesso os representantes das vri as del egaes cumprimentaram
efusi vamente os novos membros do Conselho.
ii. A eleio de 1999 para o Conselho de Segurana
Nas eleies de 1999 fi cou mai s evidente que as sesses em que se realizam as
eleies so momentos extraordinri os no conjunto dos eventos que constituem o
ri tual da Assemblia Geral. Nesse ano foram real i zadas, na mesma sesso em que se
elegeram os novos membros do Conselho, duas homenagens pstumas: a primeira
para Julius Nyerere, antigo presidente da Tanznia; a segunda para trs funci onrios
do secretariado mortos em servio.
As homenagens a Nycrcrc, que havia falecido naquel a manh, c aos funcion-
ri os procuravam enfati zar doi s temas que vm sendo objeto de preocupao nas lti-
mas reunies da Assemblia: a questo afri cana c os atentados a funci onrios em
reas de connito. A escol ha, par a essas homenagens, dessa sesso em que se reali za-
riam as elei es para as vagas do Conselho garantia, de um l ado, uma audinci a
representada pelos delegados de mai s al to nvel e, de outro, um auditri o l otado. As
expectati vas foram confirmadas pela grande audinci a na sala.
A ceri mnia foi inici ada com um di scurso do presidente da Assemblia- afri ca-
no como o homenageado- no qual as quali dades de lder pan-africanista c de heri da
resi stnci a ao col oni ali smo do morto foram repetidamente afirmadas. O presidente
menci onou protocolarmente os trs funci onri os- um blgaro, um chi leno e um ho-
l ands - mortos a servio da ONU, apresentando seus psames s famlias.
No di scurso da Secretari a-Geral Adjunta inverteu-se a nfase nas homenagens.
A meno a Nycrcrc foi protocolar, enquanto o tributo aos funcionrios foi marcado
por uma srie de apel os comunidade internaci onal para que fosse assinada e ratificada
a Conveno sobre a Segurana do Pessoal das Naes Unidas c seus Associ ados.
A homenagem encerrou-se com um minuto de si lncio durante o qual toda a
audincia se manteve de p.
Teve inci o, ento, o processo eleitoral com as i nformaes de praxe. Naquele
ano, das trs vagas para a fri ca e si a, duas seriam da fri ca e uma da sia. Os
candidatos eram Mali c Tunsi a pel a frica, e Bangl adesh pel a si a. O candidato
nico pel os pases da Amri ca Latina e do Cari bc foi a Jamaica. Para a vaga dos
pases da Europa Oriental havi a doi s candidatos: a Eslovquia e a Ucrnia. O presi-
dente convocou como fi scais os representantes do Bcnim, do Equador e do Vietn. O
procedimento de coleta de votos foi idntico ao do ano anteri or e, terminada a vota-
o, suspensa a sesso.
190 0 DITO E O FEJTO
No primeiro escrutnio foram eleitos Bangladesh, Tunsia, Mali c a Jamaica.
Procedeu-se, ento, a uma segunda rodada, denominada escrutnio restrito, limitado
vaga da Europa Oriental, quando nem a Ucrnia, que recebeu 98 votos, nem a
Eslovquia, que recebeu 72, obteve os dois teros exigidos. O clima no auditrio
tomou-se mais tenso e procedeu-se a uma nova votao. Contados os votos, de uma
maioria requerida de 11 4 votos, a Ucrnia obteve 11 3 e a Eslovquia 57, o que impli-
cou a realizao de um quarto escrutnio.
Precedendo esse escrutnio, o representante da Eslovquia pediu a palavra e
agradeceu aos pases que haviam apoiado seu pleito, retirando, ento, sua candidatu-
ra. Este gesto, no entanto, no teve valor legal, c sim simblico, c um novo escrutnio
foi convocado: de 168 votos a Ucrnia obteve 158.
iii. A Eleio para o ECOSOC em 1999
A ltima eleio a que assisti, ainda em 1999, foi aquela destinada a preencher
as vagas resultantes da renovao de um tero dos membros do Conselho Econmico
c Social (ECOSOC), que eleito todo ano
21
Diversamente do caso dos membros do
Conselho de Segurana, no ECOSOC est prevista a reeleio. A permanncia no
ECOSOC por um longo perodo um forte indicador de prestgio.
O padro de representao geogrfica nesse Conselho distinto do adotado no
Conselho de Segurana. A distribuio dos assentos a seguinte: 14 para a frica, li
para a sia, 6 para a Europa Oriental, lO para a Amrica Latina c o Caribc c 13 para
os pases da Europa Ocidental e outros Estados.
A disputa para ingressar ou permanecer no ECOSOC , na verdade, extrema-
mente acirrada. No havendo a prtica do endosso descrita anteriormente, as campa-
nhas no se restringem aos grupos regionais, mas se ampliam em busca do apoio mais
generalizado possvel. Nessas eleies, o controle da reciprocidade mai s difcil e o
candidato com quem uma delegao est comprometida raramente mencionado.
Antes do incio dos trabalhos, predominava na sala um clima de campanha. O
embaixador de Bahrcin, por exemplo, esperava os delegados na entrada c cumpri-
mentava um a um. Delegados de outros pases percorriam as bancadas, j cobertas a
essa altura por papi s com pedidos de apoio. Outros delegados percorriam a sala
fazendo consultas c buscando informaes. As misses dos pases candidatos encon-
travam-se em peso no plenrio.
Nessas "consultas" era claramente perceptvel a utilizao da "linguagem diplo-
mtica" - como um cdigo que encobre mai s do que revela - e o uso dos aspectos
mais formais da etiqueta que preside as relaes entre os delegados em plenrio.
A sesso teve incio com as recomendaes de praxe por parte do presidente,
tendo sido indicados como fiscais os representantes do Laos, Repblica da Gergia,
Peru, Sucia e Tunsia. Durante as eleies ocorreram resultados inesperados: pases
sem "tradio" de participao no Conselho foram eleitos antes de membros "com
A s NAES vo S URNAS: ELEIES NA AssEMBLIA GERAL DA ONU 191
maior experincia". Nos intervalos entre os escrutnios percebia-se claramente a rea-
o daqueles que, em uma aluso a Elias, poderiam ser identificados como os
established diante das pretenses dos outsiders. Entretanto, ao contrrio da localida-
de inglesa estudada por Elias c Scotson ( 1994), no mundo da diplomacia as estrat-
gias de excluso parecem ser mais sofisticadas e a oposio dissimulada.
A sesso estendeu-se muito mais do que estava previsto no programa, e a au-
di ncia parecia compartilhar a tenso com que os candidatos esperavam o anncio
dos resultados, como se no houvesse "preferncias". Na verdade, grande parte dos
presentes procurava antecipar, pelo desenrolar das votaes, como seriam recebidas
suas prprias candidaturas em prximas eleies. Os futuros candidatos, sobretudo
os que tinham longa participao no ECOSOC, buscavam transmitir uma imagem de
segurana quanto ao seu futuro, felicitando c acolhendo os parvenues como se estes
no representassem nenhuma ameaa sua permanncia no Conselho.
Para que os candidatos das diferentes regies obtivessem a maioria requerida
foram necessrios cinco escrutnios. Na primeira rodada, os 5 pases africanos (Ca-
mares, Angola, Bcnim, Burquina Faso e o Sudo) obtiveram a maioria dos votos;
dos pases asiticos candidatos a 3 vagas, apenas o Japo foi eleito no primeiro escru-
tnio; entre os 3 candidatos dos pases da Europa Oriental para I vaga, nenhum foi
eleito, e no caso das 4 vagas para os pases da Amrica Latina c o Caribe foram
eleitos Costa Rica e Cuba; quanto aos candidatos da Europa Ocidental e de outros
Estados, os 5 assentos foram preenchidos j nesse escrutnio pela Frana, Grcia,
Portugal, Alemanha c ustria.
Aps o anncio dos resultados, precedido de um intervalo, procedeu-se a uma
nova votao. Desta feita, elegeu-se o Bahrcin para uma das duas vagas restantes
entre os asiticos, nenhum dos candidatos da Europa Oriental, nenhum pas da Am-
rica Latina e do Caribe.
Nesse momento da sesso a tenso dos participantes comeou a tomar-se mais
evidente. Antes que o terceiro escrutnio tivesse incio, os representantes do Equador
e da Tailndia anunciaram a retirada de suas candidaturas.
Iniciou-se, ento, a terceira rodada de votaes. Nesta rodada os pases da sia
conseguiram preencher sua vaga com a eleio do representante das Ilhas Fiji e o
Surinamc foi eleito pelos pases latino-americanos c dos caribenhos. Anunciado o
resultado o representante da Litunia retirou sua candidatura.
Aps a contagem dos votos, a sesso foi suspensa. A essa altura, a maioria dos
embaixadores, exceo daqueles cujos pases eram candidatos, j se havia retirado
c nas bancadas permaneceram apenas delegados de nvel hierrquico inferior. Nas
dependncias externas do plenrio a movimentao era intensa. Vrios delegados
consultavam suas misses ou informavam sobre os resultados. As chances de o pro-
cesso se estender por muitas horas eram grandes.
Durante as duas horas em que a sesso esteve suspensa, nos diversos lugares na
192 0 DITO E O FEITO
ONU ou prximos dali , encontrei grupos de delegados fazendo contas sobre suas
chances nas eleies, sendo que os que mais pareciam preocupados eram os latino-
americanos, em particular o Mxico.
Reiniciada a sesso, o quarto escrutnio visava ao preenchimento de duas vagas:
uma para os pases da Europa Oriental c a outra para os pases da Amrica Latina c o
Caribe. Apenas a Europa Oriental conseguiu eleger o seu representante: a Crocia.
Depois do anncio do quarto escrutnio, o Uruguai retirou sua candidatura c
procedeu-se ltima eleio que, fi nalmente, permitiu ao Mxico a permanncia no
ECOSOC.
Concluso
O trabalho de Tambiah ( 1985) sobre rituais mostra como diferentes sociedades
estruturam certos eventos, que consideram importantes, de forma similar; so esses
eventos que podemos reconhecer como "rituais". Embora possam variar, tanto no
seio de uma sociedade, quanto entre sociedades, no que se refere ao grau de formali-
dade, ao uso de meios, atribuio de significados c ao nvel de dependncia para
com diferentes contextos em que tm lugar, eles apresentam caractersticas comuns.
Se no possvel demarcar cl aramente um "domnio" do ritual, ainda assim,
vivel identificar nesses eventos instncias paradigmticas que esto sempre presen-
tes, independentemente de seu carter: o sentido de ordem c regras de procedimento,
uma ao comum intencional c a percepo de que so di stintos dos eventos colidia-
nos. Alm destes, h os seguintes traos di stinti vos: a limitao do tempo, a limitao
do espao, a repetio c a alternncia, a di sputa por um resultado c seu carter de
representao.
O ritual , portanto, um sistema de comunicao simblica, socialmente construdo
e seu contedo cultural est fundado em determinados constructos cosmolgicos ou
ideolgicos. Assim, a descrio cultural e a anlise formal do ritual se integram em
uma mesma interpretao, c a combinao entre forma c contedo essencial para
sua efi ccia e carter performati vo.
As eleies nas Naes Unidas representam momentos cruciais no grande ritual
anual que a Assemblia Geral. nas eleies que se expressa o ideal de urna ordem
internacional democrtica, da representao proporcional das regies, fundada na
vontade soberana dos Estados nacionais, e se afirma a valorizao de se frum como
instncia maior de negociao, em contraposio ao Conselho de Segurana com seu
poder de veto.
Ao lado do ritual da eleio propriamente dito, o processo eleitoral como um
todo extremamente rcvclador do mundo da diplomacia multi lateral. Ao reproduzir
um parlamento, a ONU valoriza prticas que expressam o ideal de boa sociedade que
prevalece no Ocidente. Neste, a democracia representati va, configurada na paria-
As NAES vo S URNAS: ELEIES NA AssEMBLIA GERAL DA ONU
193
menLarizao da vida polftica, assume importncia fundamental como expresso no
s do Estado de direito e da igualdade dos representantes, mas como o lugar por
excelncia de controle " preventivo" da violncia.
Mai s do que isso, independentemente dos efeitos polticos que possa ter a atua-
o da ONU, no reconhecimento de seu valor simblico que reside o maior poder da
Organizao. A forma de exercer esse poder nos ltimos anos tem sido, a meu ver,
profundamente marcada por um investimento na produo de novos princpios que,
se por um lado so acordados como " universais", por outro podem ser apropriados
pelos Estados mai s poderosos para reforar as hierarquias ou justificar aes
discriminatrias em relao queles que a eles no aderem. Para que se possa com-
preender a eficcia desses princpios a anlise no pode estar dissociada dos rituai s
que os produzem c consagram.
Mas a compreenso desses rituais no pode estar dissociada do entendimento da
prtica dos atores que participam dos mesmos. Mediadores entre as chancelarias de
seus Estados c a coletividade das naes, os diplomatas esto permanentemente sub-
metidos tenso provocada pela imposio de defender posies e obedecer a instru-
es que no necessariamente expressam suas prprias percepes da realidade. O
grau de liberdade que desfrutam extremamente limitado diante dos controles im-
postos sua atuao. Ao personificarem a nao o valor pcrformativo de seu discurso
correspondente ao poder do Estado que representam.
Aqui se produz uma distino fundamental entre parlamentares c diplomatas.
Enquanto os primeiros so eleitos porque expressam a vontade do segmento da so-
ciedade que os elegeu, c da derivam sua autoridade, os diplomatas deveriam apenas
exercer o papel de porta-vozes de suas chancelarias c, quando eleitos para o exerccio
de um cargo, dos grupos que representam. Enquanto sobre os parlamentares os con-
troles so difusos e frgei s, sobre os diplomatas esses controles so muito mais rigo-
rosos. Mas corno no mundo social no h uma correspondncia absoluta entre a nor-
ma e a prtica c os agentes atuam a partir de uma pluralidade de referncias, inevi-
tvel que por mai s rgidas que sejam as regras dos rituai s c restritivas as etiquetas h
sempre um espao para o imprevi svel.
nessa imprcvisibi lidadc com relao aos resultados que reside o maior fasc-
nio das eleies da ONU.
Notas
1
As eleies evidentemente traduzem o diferencial de poder entre os Estados, mas o princpio
de que a deciso se faz por voto, de que a cada Estado correspondc um voto c de que as
decises so tomadas pela maioria conforma o cenrio onde essas eleies tm lugar.
2
O programa de trabal ho de uma sesso da Assemblia Geral constitui o roteiro que ori enta o
ritual que conforma a sesso anual. Nesse programa as eleies ocupam um lugar especi al-
mente importante.
194 0 DITO E O FEITO
3 Nichol as ( 1975: 13 1) considera que nas eleies os blocos tendem a se comportar corno
verdadeiros partidos polfticos. Esses bl ocos formados pelos Estados, ou melhor, pel os repre-
sentantes dos Estados, so bons exemplos do que Elias concei tua corno fi guraes (Eli as c
Dunning 1992: 63).
4
Nos documentos ou listas que enumeram os participantes de grupos formados por peri tos elei-
tos em sua condio de " indi vduos" h sempre meno ao pas a que cada um pertence, como,
por exemplo, no caso da Comisso de Direi to Internacional e o Comit de Contribuies.
5
As alianas mencionadas aqui so as que so feitas em torno de interesses comuns. Como se
produzem vari aes ao longo do tempo nesses i nteresses, surgem vri os problemas deri vados
da adeso dos pases a esse tipo de bloco. Al guns autores reconhecem que pertencer a um
bl oco reduz o nvel de autonomia do Estado, que lica limitado c constrangido pela deciso da
maiori a, mas concordam que, de modo geral , "aderir opinio do grupo" aumenta o poder de
barganha dos pases de menor prestgio (Ri ggs c Plano 1994: 64).
6
Segundo esses autores: ''The U.S. federal system produces an attachment to states' rights in
sornewhat Lhe same rnanner that thc sovercign statcs of Lhe world with lhcir auachrncnts to
nati onal interest s producc a l oose, unti dy, somcwhat anarchic General assernbl y. Yct a
parli amcnt' s main role is conccrncd with freedorn of debate, in which i ssucs can bc discussed,
dcci sions made, budgets approved, taxes levied and adrnini strati ve operati ons supervised. The
General assembl y resembles ali national parl iaments in these functi ons. Although it does not
possess a direct lawmaking authority, its cornpetcncc to discuss and debate extcnds to any
probl ern of Lhe world or of the organization itself lhal a majori ty of rncrnbcrs rcgard as proper
for Asscrnbl y considerati on. Thc only exccptions to thi s broad powcr are Lhe dornest ic
jurisdiction clause (Article 2) and the limi t ation on thc asscrnbl y concerni ng mattcrs under
considcrati on by lhe Security Counci l ( Articl e 12)" (Ri ggs c Pl ano 1994: 25).
7
Segundo Nicholas: "Each instituti on h as onl y a ccrtain arnount o f control over constituem parts
that are frcquenlly older, proudcr, and more tcnacious than thc whole. Problems of credentials,
recognition, and voting strength occur in both, and though the rivalries of states dclegations in
Lhe party conventions necessari l y stop short o f war thcy do not balk at walkouts or sccessions. In
nei ther, lhough, can a single uni t, howcver dctcrmincd, gct i ts way alone; i t must scck fri cnds and
allies and to doso rnust tradc votes, offer gi fls, thrcatcn (but with discrcti on), and prornise (but
not much more than it can deti ver). Thc chiaroscuro of publici ty and pri vacy - of appeal s to
public opinion from lhe pl atfonn and to pri vatc intcrcst in Lhe lobbi es, and lhe ensuing discrepancy
between outward appearancc and political reali ty - this is a dorninant characteri stic o f each. The
party convention, of course, i s assisted towards unity by Lhe cxistence o f a permancnt and pressing
ri val; lhe General Assembl y has no encmy but itscl f; yct both, in varying dcgrecs, work i n a
cornrnon task-master 's eye - Lhe public which has put thcm lhcre and which, for ali its partialitics
and indulgence, expects some rcsul t." ( 1975: 104- 105).
8 Com relao ao primeiro, ver Elias e Dunning ( 1992), c ao segundo, Evans-Pritchard ( 1968:
esp. 147).
9
Esses eventos constituem rituais em si mesmos.
10
Um informante di sse-me que as eleies tm um carter particularmente exci tante quando o
mecanismo de endosso no adotado no grupo e no h garantias de que um candidato seja
eleito. Produz-se, ento, urna disputa pelo voto na qual no h nenhuma garantia quanto aos
resultados. As normas de reciprocidade so substitudas por contatos f ace a face entre os dele-
gados e nos quai s as men agen so proposi tadamente ambguas (Jervis 1989).
As NAES VO S URNAS: ELEIES NA ASSEMBLIA GERAL DA ONU
195
11
Nicholas observa que esse o momento do ritual em que os delegados se conhecem j que
"for lhe UN is, amongst othcr things, a socicty of its own, and ncver the same socicty two
Assemblies running" ( 1975: 11 3).
12
Distintamente do que parece ocorrer nos parlamentos nacionais onde a participao nas
atividades do plenrio pode ser compensada com um trabalho junto s bases, nas organizaes
internacionais a ausncia fonte de perda de prestgio (Bezerra 1999 c Abls 1999). Recen-
temente, dois chefes de mi sso brasileiros (no-diplomatas), em duas organizaes interna-
cionais, foram alvo de severas criticas ao infringirem essa norma.
13
Essa tradio compreende algumas regras: o presidente da Assemblia, eleito para cada
sesso, no pode ser o representante de uma das grandes potncias; h um sistema de rodzio
entre os representantes dos diversos blocos; h um Comit Geral com 21 vice-presidentes c os
presidentes das seis comi sses.
14
Para uma anlise histrica do fortalecimento do poder polftico da Assemblia Geral, ver
Armstrong et ali i ( 1996).
15
Quando da minha chegada ti ve dificuldades para entrar em contato com a misso. A justifi-
cativa para essa "dificuldade" era que todos os diplomatas do posto estavam envolvidos com
essas candidaturas. Alm dos diplomatas do posto, encontravam-se em Nova York vrios ou-
tros diplomatas da Secretaria-Geral para auxiliar na campanha. Essa foi a primeira evidncia
da importncia que a misso atribua s eleies.
16
Segundo as regras de procedimento, a indicao dos candidatos feita pelos "grupos
nacionai s" da Corte Permanente de Arbitragem. Esta Corte, criada em Haia em 1899, na
verdade, constitui uma lista de 260 rbitros potenciais, indicados pelos signatrios da Conven-
o de 1899, revista em 1907.
17
H aqui um paradoxo. As relaes multilaterais estabeleceram-se com o intuito de tornar
pbli ca a ati vidade diplomtica, o que o presidente Woodrow Wi lson chamava "open
diplomacy". Entretanto, enquanto na diplomacia bilateral o respeito reciprocidade o pres-
suposto da manuteno do vnculo, nas relaes multil aterais o voto secreto permite que mui-
tos compromissos se mantenham ambguos.
18
A sesso anual tem incio com o Debate Geral, que dura duas semanas. Esse o momento
mais importante do ritual , quando so feitos os discursos dos chefes de Estado e de governo no
plenrio da Assemblia. Esse auditrio, que constitui o centro do ritual, acessvel apenas aos
delegados credenciados. Terminado o Debate Geral comeam os trabalhos das distintas co-
misses.
19
Nos rituais na Assemblia Geral das Naes Unidas um dos atores centrais o presidente da
Assemblia Geral. Em 1998 a conduo do processo eleitoral pareceu estar sob o controle
absoluto daquela que seri a a maior autoridade no plenrio e que dirigiu a sesso com total
domnio das regras. Este fato no ocorreu durante as eleies de 1999, quando foram constan-
tes as consultas do novo presidente ao funcionrio do secretariado que o assessorava.
20 E no com uma regra de procedi mento.
21
O ECOSOC elabora ou inicia estudos c rel atri os relacionados a temas econmicos e so-
ciais e faz recomendaes sobre esses temas no s Assemblia Geral, como aos Estados-
membros c s agncias especialit.adas. Ao ECOSOC cabe, igualmente, o credenciamento das
organizaes no-governamentais e a coordenao das agncias especializadas.
CAPTULO 10
Poltica, etnia e ritual -
o Rio das Rs como remanescente
de quilombos
Carlos Alberto Steil
F.1 questo tnica, assim como os connitos e atritos que so gerados a partir de
t.iJ identidades indgenas ou afro-brasileiras, no evidentemente fenmeno novo
no contexto poltico nacional. Novo, porm, o destaque que as categorias tnicas
adquiriram a partir dos anos 80 na literatura das cincias sociais e o modo como
passaram a ser usadas no campo das di sputas polticas
1
Apropriando-se da teoria da
anlise ritual proposta por Stanlcy Tambiah ( 1985) para o estudo de connitos polti-
cos, e transpondo-a para contexto brasi leiro, este trabalho pretende apontar para as
transformaes que ocorrem no processo da luta pela terra no pas na medida em que
categorias tnicas so introduzidas pelas lideranas e acionadas pela comunidade
local, tomando o Rio das Rs/BA como um estudo de caso.
Tendo surgido na dcada de 1970, o connito do Rio das Rs se transforma, nos
anos 90, pelo deslocamento de nfase das categorias poltico-econmicas para aque-
las que salientam outros traos socioculturai s, como etnia, gnero c meio ambiente.
Estas passam, ento, a condensar um outro universo de valores c sentidos que se
tomam mobi li zadorcs de prticas e lutas sociais. Desse modo, esse novo cenrio vai
reclassilicar, sob uma nova chave, fenmenos que eram agrupados sob rtulos como
classe social , raa, conscientizao/alienao.
H que salientar, no entanto, que se trata de um deslocamento que se d em
mbito mundial , sendo comum aos pases perifricos c aos do Primei ro Mundo. As-
siste-se, assim, emergncia de movimentos tnicos no mundo industriali zado e anu-
cnte, primeiramente nos Estados Unidos, mas logo em seguida na Europa, que, a
partir dos anos 70, passa a ter que lidar com uma extensa populao de migrantes,
especialmente asiticos c africanos. Aps a dissoluo da Unio Sovitica e dos regi-
mes comunistas do Leste europeu, o mesmo conceito ser aplicado para caracterizar
os movimentos de carter etnonacionalista que a eclodiram.
A ubiqidade, freqncia e densidade dos connitos tnicos, intensamente divul-
gados pelas modernas tecnologias de comunicao, so vividas c percebidas como
um dos fatos mais crticos da realidade deste linal de sculo (Tambiah 1997). De
modo que, os connitos locais, mesmo quando centrados na reivindicao de direitos
198 0 DITO E O FEITO
sociais, ao serem expressos no cdigo de relaes tnicas c proj etados na tela dessa
conjuntura internacional, no s ganham maior visibilidade, como so intensamente
potencializados.
Mas, como isto acontece? Que mecani smos so empregados para transformar
uma luta social por direitos indi viduais e coleti vos em um conflito tnico? Como se
d esse processo de etni cizao da poltica no qual os participantes so incitados a
assumir uma identidade tnica como razo de sua mobili zao? O que faz com que
passem a manipul ar smbolos e categori as tnicas como instrumentos de ao polti -
ca? So estas questes que pretendo trabalhar, tomando como uni verso de observa-
o o contexto particular do Ri o das Rs, no serto da Bahi a. Podemos ver a como,
ao longo de uma luta de mais de dez anos, sentidos c signos poltico-sociais, associa-
dos a categorias como "posseiros", "trabalhadores rurais", "famfl ias humi ldes" etc.
so, a partir de um determinado momento, entrelaados com aqueles de carter tnico
como " negros", "quilombos", "escravido/liberdade" etc.
O conflito agrrio: trabalhadores rurais e posseiros
Situada no muni cpio de Bom Jesus da Lapa, a cerca de mil quilmetros de
Salvador, a fazenda Rio das Rs seria apenas mais um foco localizado de conflito, no
quadro de violncia que marca as relaes sociais no campo brasi leiro, no fosse a
visibilidade que esta luta adquiriu com a incorporao de sentidos tnicos que pas-
sam a caracteriz-la a partir do incio dos anos 90.
Acompanhando as notcias que saem na imprensa, podemos observar que, efeti-
vamente, de 1977 - quando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da
Lapa faz a primeira denncia de "invaso de terras c violncias prati cadas no local
contra posseiros pelo fazendeiro Carlos Teixeira" (Jornal da Bahia, 9151 1977) - at
1990 no h meno alguma condio de negros da populao local. Tanto para os
agentes envolvidos, quanto para a mdia, tratava-se apenas de uma questo fundiria,
em que se presenciava um litgio sobre uma vasta gleba de terra, s margens do rio
So Francisco, estimada, na poca, em torno de 12 mi l hectares. A mesma reporta-
gem traz a seguinte caracterizao da situao:
"Detentor de seis lguas de terra de frente por quase seis de fundo, o Sr. Carlos
Teixeira, que se diz proprietrio desse vasto latifndio - no obstante a exis-
tncia de moradores antigos em toda a extenso da rea - tem-se arvorado na
prpria lei para impedir que humildes trabalhadores rurais, legtimos ocupan-
tes do Rio das Rs, plantem e culti vem as suas roas" (Jornal da Bahia, 9151
1977, nfases minhas).
As vri as reportagens que noticiam o conflito, ao caracterizarem os litigantes
referem-se, basicamente, situao fundi ria c s relaes de classe. Assim, na
PoTICA, ETNIA E RITUAL - O RIO DAS RS COMO REMANESCENTE
199
edio de 29/ 10/1987, o Jornal da Bahia publ ica sob o tftulo "PC do B faz denn-
cia" que:
"De acordo com relatrio divulgado pela Federao dos Trabalhadores na Agri-
cultura no Estado da Bahia (FETAG), as perseguies aos posseiros- que j
estavam instalados na fazenda quando Carlos Bonfim a adquiriu de Nelson
Teixeira, sabendo que parte dela seria interdi tada para a Reforma Agrria- vo
de queima de cercas, plantaes e pastos de 37 posseiros destruio de equi-
pamentos e tratores" (nfases minhas).
No mesmo sentido, o jornal A Tarde di vulga, em 6/3/ 1988, que "A FETAG rece-
beu notcia do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da
Lapa, sobre a ao de grilei ros contra posseiros da regio". O mesmo jornal, denun-
cia, no dia 14/1 011 988, que:
"Dezenas de trabalhadores eram mantidas em regi me de escravido, na Fazen-
da do Rio das Rs, distante 90 km de Bom Jesus da Lapa, na regio do Mdio
So Francisco, no Centro-Oeste baiano. O delegado Pedro Eduardo Cortez con-
seguiu resgatar quatro menores que estavam na propriedade h mais de quatro
meses, mas no pde prender os responsveis pela administrao da fazenda,
pois eles fugiram."
Mesmo na denncia de trabalho escravo, como a que vemos acima, est ausente
qualquer referncia ori gem negra da popul ao que vive na fazenda do Ri o das Rs.
No se percebe, portanto, nenhuma predi sposio para a questo tnica, de modo que
seus signos no emergem no confronto
2
O conflito tnico: os remanescentes de quilombos
apenas a partir de 1990 que os entidos c smbolos tni cos comeam a ser
incorporados lula das comunidades do Ri o das Rs. Rompe-se, assim, um longo
si lncio que havia em relao ao fato de se tratar de uma popul ao constituda na sua
totalidade por negros. Esta innexo coincide com trs fatores novos que se agregam
luta dos posseiros.
O primeiro refere-se ao envolvimento mais efeti vo c atuante das igrejas cri sts e
do movimento negro no encaminhamento das reivindicaes da comunidade local. A
atuao das igrejas se d especialmente por intermdi o de organi smos de carter
ecumnico, como a Comisso Pastoral da Terra, da Igrej a Catlica, c a Comisso
Evanglica dos Direitos da Terra (CEDITER). O movimento negro, por sua vez, se
faz presente no connito pela mediao de entidades de abrangncia regional e nacio-
200 0 DITO E O FEITO
naJ, tais como: Grupo Cultural Niger Okan, Guerreiros de Jha, Il Aye, Unio de
Negros pela Igualdade, Movimento Negro Unificado
3
.
O segundo, de carter mais externo, tem a ver com a promulgao da Constitui-
o do Brasil de 1988, que estabelece, no artigo 216, pargrafo 5, que "ficam tomba-
dos todos os documentos e os stios detentores de reminiscncias histricas dos anti-
gos quilombos". E, no artigo 68 dos Atos das Disposies Transitrias, que "aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os ttulos respec-
tivos" .
A imprensa aparece como o terceiro fator que vai contribuir para a rcdcfinio
do perfil do conflito. Os prprios atores envolvidos tm conscincia da visibilidade e
potcncializao que a luta adquire ao se transformar em um fato nacional , ganhando
maior espao na imprensa local c virando notcia nos grandes veculos de divulgao
do centro do pas. Em uma avaliao do conflito em 1993, as lideranas do movimen-
to reconhecem que o
"Rio das Rs marcou um importante tento ao transformar o fato em algo nacio-
nal. o que mostram as vrias matrias publicadas no Correio Brasiliense,
Jornal do Brasil, A Tarde, Tribuna da Bahia, TVs Bandeirantes, SBT. E a vit-
ria foi mais poltica do que material " (Relatrio da Caravana, 1993).
As igrejas crists no conflito
Um documento de divul gao, intitulado Carta Aberta da Comunidade Negra
Rural Rio das Rs, cxplicita como a mudana de nfase das relaes de classe para a
questo tnica vem associada presena mai s efetiva das igrejas crists no campo de
disputas
4
. Um breve trecho desse documento pode dar uma idia mais clara de como
a questo era colocada naquele momento:
"Ns fazemos parte de uma Comunidade Negra Rural , que tem suas razes
ainda na poca da escravido. Isso no nos acanha, no! Mas isso refora o
valor que temos hoje aqui em nossas terras" ( 1217/1992).
A carta, embora escrita em nome dos moradores de Rio das Rs, tem um tom
religioso e pastoral, que revela a atuao dos organismos cclcsiais. O discurso da
Teologia da Libertao, que busca articular signos e sentidos religiosos com eventos
da polftica e da cultura popular, serve de modelo para o relato da situao. Para se ter
uma idia, a carta ini cia afirmando que "Da mesma forma como Deus escutou c
sentiu o sofrimento de SEU POVO, este mesmo DEUS est hoje escutando o nosso
sofri rncnto" ( 12.17 I 1992).
POTICA, ETNIA E RITUAL - O RIO DAS RS COMO REMANESCENTE
201
Ao traduzir a luta de Rio das Rs para uma linguagem tnica, adota-se um novo
idioma de ao para a disputa entre posseiros c gri leiros. Desse modo, a luta pela
terra passa a orientar-se por novas categorias. Entretanto, ao acion-las, os agentes de
pastoral no esto introduzindo um cdigo tnico/cultural na comunidade de Rio das
Rs que lhes seja totalmente estranho; na verdade, esto estendendo para esta expe-
rincia local um cdigo lingstico que j alcanou certa legitimidade no interior do
movimento ecumni co. Os movimentos de Conscincia Negra e dos Agentes de Pas-
toral Negros h tempos vm buscando incorporar na rcncxo teolgica e na liturgia
de suas igrejas a tradi o afro, mediante a afirmao positi va dos seus valores cultu-
rais c religiosos. Em outras pal avras, esse idioma tnico pde ser acionado no caso do
Rio das Rs, justamente porque faz parte da "tradio cri st" das igrejas ecumnicas,
inscrevendo-se na ortodoxia da pastoral popular c da Teologia da Libertao.
A Constituio
A Constituio, com seus artigos referentes aos direitos sociais das comunida-
des remanescentes de quilombos, surge como um evento que vai provocar um
reordcnamcnto das posies e dos papis dos diversos atores implicados no conflito.
Ao entrar no campo de disputas com um di spositi vo de direitos, aciona uma srie de
sentidos c signos que colocam em risco outros que j estavam estabelecidos
5
. Pode-
mos ver, ento, como este dispositi vo provoca uma mudana no s no sentido das
reivindi caes dos di versos grupos envolvidos, mas traz para a arena poltica outros
atores que estavam fora e que, possivelmente, no entrari am sem essa transforma-
o6.
Conforme se pode verificar na seqncia das notcias veiculadas pela imprensa,
as posies centrais no palco dos connitos eram ocupadas, at 1988, por entidades
como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, Federao dos
Trabalhadores da Agricultura (FETAG), Partido Comunista do Brasil (PC do B). A
nova Constituio ir produzir um outro contexto, em que novos atores, tanto do
campo governamental , quanto da sociedade civil , vo se legitimar como representan-
tes dos interesses da comunidade negra de Rio das Rs.
Ao lado dos grupos do movimento negro, da parte do governo, vo ocupar lugar
de destaque o Mini stri o da Cultura, especialmente atravs da ao da Fundao
Palmares, c o Mini strio da Justia. Aqui tambm cabe destaque para a uni versidade,
mais especificamente, para a prpria antropologia, que ser chamada para produzir
laudos sobre a legitimidade ou no da reivindicao da comunidade como sendo re-
manescente de quilombos
7
. Isto me leva a perceber que no apenas o contexto que
define os sentidos c as foras sociais em disputa, mas um evento externo pode produ-
zir novos contextos em que vo aparecer contradies que tero que ser incorporadas
pelo sistema de significados em que se situa a ao social.
202
0 DITO E O FEITO
A imprensa
A transformao do connito fundirio em uma questo tnica no s reflete a
opinio pblica sobre o fenmeno, mas tambm funciona como um fato poltico.
Uma srie de reportagens publicadas a partir de 1993, no mai s apenas nos jornais da
Bahia, mas tambm nos veculos de circulao nacional , pode ser tomada como agen-
te na construo dos sentidos tnicos de que se vai revestir o conflito.
Em 8 e 9 de maio de 1993 so publicadas duas matrias de pgina inteira no
jornal A Tarde, de Salvador. Os ttulos das reportagens so: "Connito envolve fazen-
da que seria um qui lombo desde 1600" e "Quilombo de B. J. da Lapa pode ser reco-
nhecido oficialmente". Em 17/511993, o mesmo jornal noticia: "Uma caravana em
defesa dos posseiros remanescentes de quilombos da Fazenda do Rio das Rs partir
de Salvador c de Bom Jesus da Lapa [ ... ) com destino a Braslia." Mai s adiante, a
reportagem apresenta as fontes da informao: a coordenao do Movimento Negro
Unificado c a Comisso Pastoral da Terra (CPT).
O Correio Brasiliense de 19/5/1993 noticia que "grupos representantes dos di-
reitos dos negros acompanhados de parlamentares estiveram ontem com Maurcio
Corra, solici tando a interveno federal no local". A revista Isto-, de 26/511993,
traz a seguinte notci a:
"Ao demitir, na quarta-feira 19, o presidente da Fundao Nacional do fndi o
(FUNAI), Sydnei Possuelo, o ministro da Justia, Maurcio Corra, apagou o
cachimbo da paz que havia fumado com os 250 mil ndios brasileiros. Mas
Corra decidiu, no mesmo dia, fazer um agrado minoria negra do pas. Rece-
beu 200 remanescentes do quilombo Rio das Rs, no serto baiano, a 1.000 km
de Salvador. Os negros reivindicaram a demarcao de 13 mil hectares de terra
para fazer cumprir o artigo 68 das disposies transitrias da Constituio. O
pedido de demarcao indito e vem respaldado com pareceres favorveis da
Procuradoria-Geral da Repblica e da Fundao Palmares, do Ministrio da
Cultura. Corra se comprometeu a dar um empurro primeira reforma agr-
ria antropolgica no campo" (nfases minhas).
H que se observar nesse texto que o governo vai, efetivamente, procurar jogar
com o novo contexto que situa o conflito do Rio das Rs no campo das lutas das
minorias tnicas, contrapondo os interesses dos ndios aos dos negros. Deve-se ter
presente, no entanto, que se essa associao pode ser manipulada dessa forma, tam-
bm pode ser usada a favor de um alargamento dos direitos sociai s. Assim, ao situar
a reivindicao dos posseiros do Rio das Rs no campo da etnia, conceitos c signos
que alcanaram certa legitimidade na luta indgena so transferidos para o campo dos
direitos sociai s mais amplos, que passa a indexar valores c significados que foram
construdos no contexto especfico da luta indgena.
PoTICA, ETNIA E RITUAL - O RIO DAS RS COMO REMANESCENTE 203
A ritualizao do conflito
A partir do repertrio de fatos apresentados at aqui, possvel verificar o surgi-
mento de uma identidade negra que est sendo construda pelos moradores das comu-
nidades do Rio das Rs atravs da mediao de diversos agentes soci ais que esto
envolvidos no connito. Cabe-nos deter um pouco mai s sobre os dispositivos que so
acionados para formular essa identidade. Se tomamos "a identidade como uma cons-
truo que se narra" (Canclini 1997: 140), devemos nos perguntar: que narrativa est
sendo construda nesse movimento e com que elementos significativos?
O quadro que presenciamos aponta para uma identidade que est sendo narrada
atravs da ritualizao do conflito que se produz nos processos de negociao polti-
ca, no palco dos rgos governamentai s c nas manifestaes em praas pblicas,
segui ndo o modelo das procisses c peregrinaes religiosas. Buscarei , em seguida,
elucidar, mediante a descrio desses rituais, a trama de significados que vai entrela-
ando a identidade desse grupo com os sentidos que tecem a rede mais abrangente
dos diversos atores sociais que se articulam politicamente no contexto nacional.
Entendo, todavia, que a identidade que est sendo construda no est fundada
na materialidade de uma base biolgica, nem na cor da pele, nem em um fato hi stri-
co, como a origem do quilombo. Trata-se, antes, de uma identidade que est sendo
elaborada a partir de um processo dinmico de assimilao da condio tnica e de
significao dos eventos polfticos dentro de uma estrutura ritual que funciona como
suporte da memria c modelo de interpretao do presente.
Minha hiptese que os rituais polticos que sero descritos em seguida, podem
ser vistos como disposi tivos estruturantes de uma outra narrativa que est permitindo
comunidade do Rio das Rs elaborar sua identidade negra de forma positiva. To-
mando como referncia o conceito de Sahlins de sociedades prescritivas e socieda-
des performticas, acredito que a forma como essa comunidade atua aponta para uma
dinmica mais performtica do que prescritiva (Sahlins 1990: 53-72). Mas, em vez
de uma estruturao exercida pelo mito, como na sociedade Maori e em sociedades
similares que, segundo Sahlins, estariam marcadas por um processo que ele denomi-
na mito-prxis, aqui o elemento estruturante deve ser atribudo, fundamentalmente,
aos rituais. Trata-se, a meu ver, de um processo semelhante ao que Matory observou
em relao sociedade Oyo-Yoruba da frica, que ele chamou de cono-prxis ( 1994:
4). Ou seja, podemos observar como essas novas formas de ao polftica ritualizadas
se constituem em modelos ou tipos rituais dentro dos quais os negros do Rio das Rs
esto reformulando positivamente sua memria enquanto " remanescentes de
quilombos".
Os rituais funcionam, ento, como suporte para a construo de uma memria
que se perdeu na nebulosidade de um tempo em que para sobreviver como negro c
quilombola era preciso se tornar invisvel. Quando, como di z Carvalho, "o negro era
204 0 DITO E O FEITO
gente somente na medida em que deixava de ser negro" ( 1996:57). , nesse sentido,
que se pode acrescentar que a construo da subjetividade do negro representado no
quilombo teve, como condio, um processo de "dcnegrificao". Em contrapartida,
o que estaramos presenciando hoje, em uma srie de rituais polticos vividos em
Braslia, no centro do poder, seria uma leitura c interpretao que os negros do Rio
das Rs esto fazendo de uma experincia que at recentemente no podia ser narrada
dentro de uma sociedade que s reconhecia como cidados plenos de direitos aqueles
que fossem brancos
8
.
Tomando como base o que afirmei at aqui, poderia dizer que, se as comunida-
des negras no Brasil "tiveram que se tomar invisveis, simblica c socialmente, para
sobreviver" (Carvalho 1996: 46), atravs da performance ritual que se realiza nas
variadas formas de luta poltica que visam garantir o acesso propriedade da terra,
esta situao est sendo efetivamente revertida.
A Caravana em Braslia
Em maio de 1993, o movimento constitudo em defesa dos remanescentes de
quilombos do Rio das Rs leva a Braslia uma caravana formada por um diversifica-
do espectro de atores sociai s, incluindo desde representantes da comunidade at sin-
dicatos rurais, organismos eclesiais, entidades do movimento negro, deputados, gru-
pos culturais. O Relatrio da Caravana discorre sobre uma seqncia de ritos que
so cuidadosamente executados, durante os dias que os "remanescentes de qui lombo"
permanecem em Braslia, como uma ao reivindicatria que visa pressionar o go-
verno para que seja cumprido o artigo 68 das Disposies Transitrias da Constitui-
o de 1988
9
. O Relatrio da Caravana comea afirmando que:
"De Bom Jesus da Lapa partiram dois nibus de homens, mulheres e crianas
de Rio das Rs, alm de representantes de entidades c sindicatos da regio. De
Salvador, partiu um nibus com entidades de apoio c do movimento negro,
destacando-se a presena de 20 msicos e seus instrumentos, que seguiram
junto para ani mar c expressar, pela dana c pela msica, as razes da cultura
negra."
A caracterizao da disputa como uma questo tnica muda as prprias armas
de luta, legitimando a dana e a msica, que sero incorporadas nas prticas polti-
cas no apenas como expresses da "cultura negra", mas tambm como uma forma
de afi rmao de direitos sociais. Nesse sentido podemos ler no Relatrio da Cara-
vana que:
"No dia 18, por volta das 14h, o grupo concentrou-se em frente ao Mini strio
da Cultura. No estava lixada nenhuma audincia. Ali permanecemos durante
PonCA, ETNIA E RITUAL - O RIO DAS RS COMO REMANESCENTE
40 minutos, danando e cantando. O rufar dos tambores atraiu muita gente para
l. Um nibus do movimento negro de Gois, proveniente de Goinia, engros-
sou a caravana. Muitos reprteres estavam presentes e tudo transcorria sob os
olhares atentos de um grupo de policiais. Depois disso, seguimos em passeata
rumo ao Ministrio da Justia."
205
Acompanhada por um grupo de msicos com seus instrumentos, a Caravana
desloca-se de um rgo governamental a outro, acionando em cada local um conjunto
de smbolos c sentidos que lhes parecia mais eficaz. No Ministrio da Cultura, pri-
meiro local a ser visitado, seus membros fazem apenas uma "manifestao cultural"
que consiste em cantos c danas. No solicitam audincia com o ministro, mas, mes-
mo assim, "o secretrio-geral do Ministrio, representando o ministro", acompanha a
Caravana nas audincias nos outros rgos.
H, portanto, uma transformao significativa: a incorporao dos significados
tnicos na luta acaba rcdefinindo os papis e a relao dos rgos pblicos que tratam
das questes fundirias. Assim, agncias que tinham uma posio central na resolu-
o do conflito, como o INCRA e o Ministrio da Agricultura, so secundarizados
em relao a outros que passam, ento, a ser o lugares privilegiados enquanto recep-
tores das reivindicaes do movimento
10
Em suma, a caracterizao do conflito como tnico vai envolver de forma bas-
tante prxima o Mini strio da Cultura, especialmente a Fundao Cultural Palmares
-rgo do Ministrio responsvel por identificar c delimitar as terras ocupadas por
comunidades remanescentes de quilombos - com os interesses do movimento. Ao
inscrever o connito no mbito da cultura, o Ministrio vislumbra a possibilidade de
estender seu campo de atuao e poder. E isto, apoiado no prprio texto da Constitui-
o de 1988 que, como mostra Rios, alarga o conceito de cultura, que passa a definir
no apenas o ensino c as expresses artsticas e cientfficas, mas todo o patrimnio de
"bens portadores de referncia identidade, memria c ao dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, incluindo-se a as formas de criar, fazer e viver
desses grupos" ( 1996: 67). Portanto, podemos pensar a manifestao diante do Mi-
nistrio como a celebrao de uma aliana j selada por interesses comuns. Este sen-
tido no escapa imprensa, que registra o fato, destacando especialmente seus aspec-
tos culturais.
A segunda estao da Caravana acontece no Mini strio da Justia, depois de
uma procisso formada pelos representantes da comunidade, do movimento negro,
agentes de pastoral , sindicalistas e deputados que atravessam a Esplanada dos Minis-
trios portando cartazes, faixas e bandeiras. Tudo sob o som dos instrumentos de
percusso que do ritmo dana c aos movimentos c os olhares dos policiais que
acompanham a passeata sem intervir. Estes so atores importantes, pois ao permane-
cerem impassveis, tornam visvel para o grupo a mudana que est sendo operada na
206 0 DITO E O FEITO
conjuntura poltico-jurdica, diferente daquela que associava os quil ombos a grupos
" fora-da-lei", aos quais se aplicou di spositivos legais de represso, obrigando-os a
buscar uma invi sibilidade dentro do sistema escravocrata.
E o "sacerdote" principal, nessa nova etapa do ritual, no outro seno o Sr.
Tom, um retrUinescente de quilombo, de 98 anos de idade. Sua importncia salien-
tada pelos aclitos que o acompanham, como aparece no Relatrio da Caravana:
"Benedita da Sil va, Paulo Paim (ambos negros), Alcides Modesto e Nelson
Pellcgrino, todos deputados do PT, acompanharam o trajeto [ ... 1. No saguo, o
ministro Maurcio Corra veio ao encontro do grupo, ouviu a banda, conversou
com o Sr. Tom (98 anos) c seguiu para a audincia com a comisso ali forma-
da" (1993: 1).
O encontro do Sr. Tom, um "preto-velho", com o mini stro da Justia torna
visvel a articulao entre a autoridade tradicional, representada pela sabedoria dos
mais velhos, e a autoridade constituda na ordem democrtica moderna. No contexto
ritual do encontro, o Sr. Tom a palavra-testemunho de uma tradio cuja continui-
dade precisa ser comprovada para que os negros do Ri o das Rs possam ter garantida
a propriedade de suas terras. Atualiza-se, assim, o mito de uma convivncia pacfica
e complementar dos "doi s brasis": o tradicional c o moderno. As lideranas jogam
com este mito, apresentando o seu movimento como representante legtimo desse
"brasil" tradicional que Leri a sido esquecido c marginalizado ao longo da hi stria. E,
ao evocarem simbolicamente esse mito, nesse contexto, se colocam em consonncia
com o prprio esprito que informou a ao dos conslituintcs de 1988 que, corno
mostra Almeida, ao defi nirem na lei " remanescentes de comunidades de qui lombo
teriam partido do passado para chegar idia de quil ombo c o trataram como mera
'sobrevivncia"' ( 1996: 16).
Como podemos observar nos atos que se seguem, os sentidos afirmados no se
restringem a essa leitura jurdica e consensual de resduo, remanescente, "sobrevi-
vncia"11. Ao ato ritual de encontro com o mini stro, segue-se audincia com urna
comisso representativa da comunidade do Rio das Rs, "constituda por quatro re-
manescentes (urna mulher amamentando c outra grvida, Mrio c o Sr. Tom)" ( 1993:
3), e representantes do movimento negro, sindical istas, igreja, deputados. A inverso
simblica da situao dos negros pode ser percebida na descrio que o Relatrio faz
da di sposio das pessoas mesa do Ministrio: "Na chegada a mesa do gabinete foi
ocupada pelo ministro, vrios parlamentares, as duas remanescentes c o Sr. Tom. As
demais pessoas fi caram de p" ( 1993:3).
A terceira estao Leve lugar na manh do dia 19 de maio, no Palcio do Pl anal-
to. Mas, como na via-crcis, que comporta quedas c percalos, o objeti vo no foi
alcanado. Depoi s de trs horas de concentrao em frente ao Pal cio, enquanto uma
PonCA, ETNIA E RITUAL - O RIO DAS RS COMO REMANESCENTE 207
comisso em vo buscava garantir uma audincia com o mini stro da Casa Civil, a
Caravana desloca-se para a Procuradoria-Geral da Repblica: a quarta estao. L o
procurador-geral, Aristides Junqueira, como alirma o Relatrio da Caravana, "veio
at ns e conversou por alguns instantes com o Sr. Tom" ( 1993: I).
A Procuradoria passa a ser encarada pelos envolvidos no connito como um alia-
do estratgico. Na medida em que o artigo 68 do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias (ADCT), como alirma Silva, "conligura um comando constitucional
dotado de imperatividade e detentor de normatividade", cabe Procuradoria da Re-
pblica garantir que todos respeitem "as regras do jogo constitucionalmente esta-
belecidas, na construo de uma nao onde a diferena seja reconhecida e respeita-
da" ( 1996: 60). Efetivamente, nesse momento, observa-se a agi lidade da Procurado-
ria-Geral no encaminhamento do processo, de forma que, no dia 24 de maio de 1993,
o procurador fez cumprir a liminar que garantia a ocupao do Lameiro e Alagadio
pelos membros da comunidade negra do Rio das Rs
12
A quinta estao tambm foi de queda. A Caravana vai sede da Polcia Fede-
ral. L a representao tem outra composio: a advogada, o deputado Alcides Mo-
de Lo, o Movimento Negro Unilicado, a CPT e algumas lideranas da comunidade
local. Diante da fora policial, avaliam que Leria pouco apelo simblico a presena do
Sr. Tom c das mulheres que ocuparam os lugares mesa do mini stro da Justia.
Solicitam do secretrio da Polcia cooperao, mas recebem como resposta: "Em nome
da lei s possvel a participao da Polcia Federal para garantir o cumprimento da
liminar por solicitao formal da Procuradoria-Geral da Repblica" ( 1993: 4).
A passagem da Caravana pela Polcia poderia ser interpretada como uma forma
de refazer a memria de uma experincia em que o quilombo esteve historicamente
associado fuga, marginalidade e desordem. Aqueles que ontem fugiam, isolan-
do-se nas matas c nos sertes, onde eram perseguidos pelas foras repressivas da
ordem, agora pisam na sede federal da "autoridade policial". Atravs desse ritual, os
negros do Rio das Rs no s tornam visvel que a situao mudou, mas tambm que
a polcia poder, em nome da lei , ter de agir em seu favor. E isto lhes permite deslocar
o sentido de quilombo de seu campo de signilicao "origi nal", isto , da matri z
colonial , para um novo sentido que est sendo produzido pela emergncia de um
confronto em que se torna legtimo reivindicar direitos sociais a partir de uma histria
e identidade ncgras
1
3.
O ltimo ato em Braslia foi a audincia com o subchefe da Casa Civil, encontro
que havia sido negado anteriormente, e que s se realizou devido persistncia da
Caravana que permaneceu horas diante do Palcio do Planalto. O Relatrio traz uma
avaliao do encontro, alirmando que transcorreu em um clima de tenso e descon-
liana em relao ao movimento: "A conversa no incio foi tensa. O Sr. Bandeira
inicialmente reagiu, questionando a presena da Igreja c se de fato havia lideranas
autnticas dos remanescentes" ( 1993: 5).
208
0 DITO E O FEITO
Podemos ver realirmada na preocupao do representante do governo em vcrili-
car a autenticidade das lideranas, a mesma concepo acrlica c rfgida de quilombo
que se funda sobre um passado rcilicado e uma tradio cri stali zada. O atendimento
aos direitos sociais lica, assim, condicionado possibilidade de identilicao do
movimento com o resduo de al go que "j f oi" e que pertence a uma outra ordem
social que estaria sendo reparada. De forma que, o movimento que ali se apresenta,
constitudo por di versos setores sociais c que coloca na agenda poltica o connito
direto entre grupos antagnicos, explicitando interesses irreconcili veis dentro da
nova ordem democrtica, no pode ser considerado legtimo. Ou sej a, o resgate da
dvida da nao para com a sua populao negra no deveria passar, na viso do
governo, pela mobilizao poltica das comunidades negras rurais.
A presso social que se ritualiza no centro do poder estaria, assim, conspirando
contra o consenso- que repousa no nosso inconsciente coletivo c que se tornou um
dogma para as elites polticas- de que as populaes marginali zadas, negros c cam-
poneses especialmente, teriam sofrido um processo de dominao ao longo da hist-
ri a to violento e profundo que as teri a tornado incapazes de qualquer mobili zao
poltica. Isto seria, por sua vez, reforado por uma concepo esttica de cultura que
inscreve essas comunidades no plo tradicional da sociedade brasilei ra, donde s se
deve esperar formas simblicas de resistncia que se expressari am atravs da reli-
gio, da msica, da dana, do folclore etc. Nesse sentido, qualquer elemento de car-
ter poltico reivindi catrio, movido pel a racionalidade moderna do connito social,
que emerge nesse meio, se torna suspeito c ilegtimo.
O Relatrio expe, ainda, que a Comi sso representante da Caravana, di ante do
subchefe da Casa Civil , teve que "refutar, ponto por ponto, os questionamentos c
evidenciar a dimenso poltica do problema" ( 1993: 5, nfases minhas). Constata-se
a uma tenso que atravessa o prprio movimento que, se por um lado, se constitui
numa mediao de novos sentidos que vm sendo forjados na mobilizao poltica c
na reivindicao de di reitos sociais, por outro, precisa desfazer uma estrutura de sig-
nilicados de origem coloni al que se cristalizou no senso comum, remetendo-nos sem-
pre a uma vi so negativa de qui lombo.
Enlim, a participao da Caravana nos rituais polticos em Brasli a funcionou
como um di spositi vo que permitiu aos diversos atores envolvidos nesse connito
rcinterpretarem e assimil arem novos sentidos tnicos que so forj ados atravs dessa
mobilizao poltica. Estes novos sentidos se deslocam cada vez mais de uma estru-
tura original de signilicados, onde o negro enquanto "remanescente de quilombo"
est associado idia de resduo hi strico, parte de um passado que preciso redi mir,
para um sentido positivo, que alirma uma identidade que est se constituindo no
presente.
Ao apresentar-se como "remanescente de quilombo", a comunidade do Rio das
Rs assume, no espao pblico, o estigma de uma forma positi va, desfazendo signili-
PoTICA, ETNIA E RITUAL - O RIO DAS RS COMO REMANESCENTE 209
cados que se cri stalizaram no senso comum, compondo uma viso negativa de
quilombo. A mobilizao poltica possibilita, portanto, real izar uma inverso de sen-
tidos: o que foi o quilombo na ordem escravocrata, algo que tomava ilegtima a posse
da terra e ilegal qualquer pretenso de direitos, toma-se agora a base, respaldada
juridicamente pelo artigo 68, sobre a qual as comunidades negras rurais vo reivindi-
car seus direitos c afirmar sua cidadani a.
Notas
1
O termo ctnicidadc, na literatura das cincias sociais, aparece durante a dcada de 60 e incio
da de 70. nesse perodo, como afirma Tambiah ( 1996a; 1997), que esse termo entra na moda
c se estabelece nos dicionrios usuais da lngua inglesa.
2
Jntercssantc observar que mesmo a charge que acompanha a notcia apresenta na situao de
escravo a figura de um jovem de cor branca.
3
No relatrio descritivo do conOito do Rio das Rs, Jos Jorge de Carvalho e Siglia Zambrotti
Doria afirmam que "a Comunidade Negra do Rio das Rs vem resistindo, com todos os meios
de que possa dispor, contra o processo de expulso. De incio, contando com suas prprias
foras, no sentido de organizar a resistncia, e com o apoio do Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Bom Jesus da Lapa. A presena da CPT foi espordica, inicialmente, e, a partir de
1991. esta instituio comeou a acompanhar mais de perto a questo. O Movimento Negro
Unificado de Braslia fez uma visita ao local em maro de 1992 c documentou, inclusive
fotograficamente, a regio c o connito" ( 1996: 78-79, nfases dos autores).
4
Este documento, distribudo em julho de 1992 para os diversos grupos e instituies envolvi-
dos ou simpatizantes do movimento, faz um balano da situao jurdica do connito.
5
Embora possamos tomar estes artigos da Constituio como o resultado de uma luta poltica
dos movimentos negros 110 Brasil , ao serem estabelecidos na forma de lei, ganham uma natu-
reza c autonomia que transcendem o sentido de uma conquista poltica.
6
O dispositivo legal vai engendrar uma srie de renexes c peas jurdicas no campo do
direito sobre questes tnicas, que vo desde uma reconstituio histrica e semntica dos
quilombos, at aquelas que vo buscar uma atualizao dos sentidos em consonncia com os
conhecimentos sobre esse tema no campo da antropologia. Cito aqui dois trabalhos como
exemplos: Si lva (1996) e Rios (1996).
7
Para uma compreenso mais aprofundada do impacto da prtica pericial dos laudos antropo-
lgicos sobre a antropologia enquanto cincia, ver Oliveira Jr. ( 1996).
8 Remeto o leitor rcncxo que Jos Jorge de Carvalho fal sobre a aluso "negro no gente"
como expresso da excl uso ontolgica do negro na sociedade escravocrata que tratava os
africanos, c seus descendentes, como escravos ( 1996: 56-58).
9
Tendo chegado a Brasli a 110 dia 17, a Caravana permanece na capital federal at o dia 20 de
maio de 1993.
lO A seqncia de lugares visitados pela Caravana a seguinte: Uni versidade de Braslia, onde
se encontra com os antroplogos que iro fazer o laudo da comunidade; Ministrio da Cultura,
210 0 DITO E O FEITO
onde cantata o secretrio-geral do Ministrio que passa a acompanhar a Comisso na vi sita aos
outros rgos governamentais; Ministrio da Justia, onde conversa com o ministro Maurcio
Corra; Palcio do Planalto, onde no recebida nem pelo Chefe da Casa Civil, nem pelo
presidente da Repblica; Polcia Federal; Procuradori a-Geral da Repblica, onde conversa
com Aristides Junqueira; e finalmente, retorno ao Palcio do Planalto, tendo conseguido uma
audincia com o subchefe da Casa Civil. Nesse peregrinar pelos Ministrios c rgos do go-
verno, so acompanhados por deputados do Partido dos Trabalhadores. Convm registrar,
contudo, que fi ca fora da agenda do movimento uma visita ao Ministrio da Agricultura, ou
mesmo ao INCRA.
11
O prprio documento vai usar o termo remanescentes para designar os membros da comuni-
dade, como na frase que transcrevo: "Ela veio at ns c conversou alguns instantes com o Sr.
Tom, alm de ouvir, rapidamente, denncias feitas por alguns remanescentes."
12
Trata-se de uma gleba de terra junto ao rio, fundamental para o plantio por se tratar de um
local irrigado pelas enchentes, em uma regio rida. Recentemente, esse terreno foi interdita-
do comunidade local pelo grileiro, atravs de ao judicial e policial.
13
A avaliao que os relatores fazem do encontro bastante significati va: "Samos frustrados
e resignados que a burocracia do Estado funciona para se contrapor aos poderosos dentro dos
estritos limites da lei"(: 4). Pode-se ver a o reconhecimento de que preciso mais do que a lei
para que se tenha o direito a seu favor.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AGOSTINHO, Santo. 1990. A Cidade de Deus (Comra os Pagos) - parte II (2a ed.).
Pclrpolis, RJ: Vozes.
ALLPORT, Gordon e POSTMAN, Leo. 1947. The Psychology of Rumor. New York:
Holt, Rinchart & Winston.
ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de. 1996. "Qui lombos: Sematologia face a Novas lden-
dades". In: M. J. Cruz (coord.), Frecha/: Terra de Preto. Quilombo Reconhecido
como Reserva Extrativista. So Lus, SMDDHJCCN-PVN, pp. 11 - 19.
AMIN, S. 1995. Event, Metaphor, Memory. Chauri Chaura 1922- 1992. Berkeley:
Univcrsity of California Press.
ANDERSON, Bcncdict. 1983. lmagined Communities: Rejlections on the Origin and
Spread of Nationalism. Londres: Verso.
ARANHA P', J. M. 1990. Inteligncia Extraterrestre c Evoluo: As Especulaes sobre
a Possibilidade de Vida em Outros Planetas no Meio Cientfico Moderno. Disserta-
o de Mestrado em Antropologia Social, PPGASIMN/UFRJ, Rio de Janeiro.
____ . 1993. Extraterrestres Bons para Pensar c Proibir: Jakobson on ETl. Manus-
crito. [Ver "Jakobson a Bordo da Sonda Espacial Voyager", neste volume.]
ARMSTRONG, D. ct ali i. 1996. From Versailles to Maastricht: lntemational Organisation
in the Twentieth Cemury. Ncw York: St. Martins' Prcss.
ATLAN, H. 1992. Entre o Cristal e a Fumaa: Ensaio sobre a Organizao do Ser Vivo.
Rio de Janei ro: Jorge Zahar.
AUSTIN, John L. 1962. How to Do Things with Words. Cambridge, Mass.: Harvard
Univcrsity Prcss.
____ . 1979. Philosophical Papers. Oxford: Clarendon Press.
BAILEY, F. G 1965. "Dccisions by Conscnsus in Councils and Committees". In: M.
Banton (cd.), Poltica/ Systems mui the Distribution of Power. London: Tavistock.
212 0 DITO E O FEITO
BARCELOS, E. D. 199 1. Histria da Pesquisa de Vida c Inteligncia Extraterrestre ( 1959-
1990). Dissertao de Mestrado, Uni versidade de So Paulo.
_____ . 1993. "Na Terra de Oz: os Debates sobre a Pesquisa de Vida c Inteligncia
Extraterrestres ( 1959- 1993)". Revista da Sociedade Brasileira de Histria da Cin-
cia, 10: 29-42.
BARREIRA, I. 1998. Chuva de Papis. Ritos e Smbolos de Campanhas Eleitorais no
Brasil. Rio de Janeiro: Relumc Dumar.
BARROS, M. c PEREGRINO, A. 1996. A Festa dos Pequenos: Romarias da Terra no
Brasil. So Paulo: Paulus.
BARROS, Pedro A. 199 1. Pela Guin. Lisboa: Ed. do Autor.
BATESON, G 1936. Naven. The Culture o f the /atmul People of New Guinea as Revealed
through a Study ofthe "Naven" Cerimonial. Cambridgc: Cambridgc Uni versity Press.
---- - 2000. Steps to an Ecology of Mind. Chicago: Chicago Uni vcrsity Prcss.
BECK, L.W. 1987 [ 1971 ]. " Extraterrestri al Intclligcnt Lifc". In: E. Rcgis Jr. (cd.),
Extraterrestrials: Science and Alien lntelligence. Cambridgc: Cambridgc Uni vcrsity
Prcss.
BENTHALLK, J. 1984. " Lvi-Strauss and Unesco". RAIN, Royal Anthropologicallnstitute
Newsletter, 60: 2-3.
BERGMANN, Jrg R. 1993. Discreet lndiscretions: The Social Organization of Gossip.
New York: Aldine de Gruytcr.
BEZERRA, M. O. 1999. Em Nome das Bases. Polftica, Favor e Dependncia Pessoal.
Rio de Janeiro: Rclume Dumar.
BHABHA, Homi K. 1994. The Location of Culture. London: Routlcdgc.
BOIXADS, R. 1994. Fundacioncs de ciudadcs como ritualcs. Anlisis de tres casos en
cl contexto de la conquista dcl Tucumn Colonial. Anurio Antropo/gico/92: 145-
178. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
BOK, Sissela. 1979. Lying. Moral Choice in Public and Privare Life. Ncw York: Vintagc
Books.
BRINKMAN, lnge. 2000. "Ways o f Dcath: Accounts of Terror from Angolan Rcfugees
in Namibia". Africa, 70( 1): 1-24.
BUCHILLET, D. 1987. "' Personnc n'est l pour coutcr' . Lcs Conditions de Misc cn
Forme dcs l ncantations Thrapeutiques chcz lcs Desana du Uaups Brsi li en".
Amerindia, 12: 7-32.
CALLADO, Antonio. 1964. Tempo de Arraes. Rio de Janeiro: Jos lvaro Ed.
CMARA CASCUDO, Lus da. 1984. Dicionrio do Folclore Brasileiro (5a cd.). Belo
Horizonte: Itatiaia.
R EFERNCIAS BIBUOGRACAS
213
CAMARGO, A. de A. 1986. "A Questo Agrria: Crise de Poder e Reformas de Base
( 1930- 1964)". In: B. Fausto (org.), Histria Geral da Civilizao Brasileira vol. III:
O Brasil Republicmw - Sociedade e Poltica (1930-1964). So Paulo: Difel.
CANCLINI , N. G. 1997. Consumidores e Cidados. Conflitos Multi culturais da
Globalizao. Rio de Janeiro, UFRJ.
CNDIDO, A. 1976. " A Personagem do Romance". In: A. Cndido cl alii, A Persona-
gem de Fico. So Paulo: Editora Perspectiva.
CANGUILHEM, G. 1968. "Naturc Dnaturc ct Nature Naturantc". tttdes d'Histoire et
de Philosophie des Sciences. Paris: Vrin.
CARVALHO, J. J. 1996. "A Experincia Histrica dos Quilombos nas Amricas e no
Brasil". In: J. J. Carvalho (org.), O Quilombo do Rio das Rs. Histrias, Tradies,
Lutas. Salvador, EDUFBA, pp. 13-73.
____ .c DORlA, Siglia Z. 1996. "A Comunidade Rural do Rio das Rs". In: J. J.
Carvalho (org.), O Quilombo do Rio das Rs. Histrias, Tradies, Lutas. Salvador,
EDUFBA, pp. 75-82.
CAVALCANTI, M. e MARQUES, E. B. 2000. Seqncia de c-mail s, trocados em clima
polmico e companilhados por uma lista informal de membros da comunidade SETI,
no ms de junho/2000, debate ndo as ati vidades do GIRA c da pesquisa SETI no
Bras i I.
CHAVES, C. A. 1993. Buritis: Festas, Poltica c Modernidade no Serto. Di ssertao de
Mestrado, Uni versidade de Braslia.
____ . 1999. "A Face Annima da Democracia Moderna". Anurio Antropol-
gico/97: 249-257. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
____ . 2000. A Marcha Nacional dos Sem-Terra. Um Estudo sobre a Fabricao
do Social. Rio de Janeiro: Relume Dumar.
CHORUS, A. 1953. "The Basic Law of Rumor". Joumal of Abnormal and Social
Psychology, 48: 3 13-3 14.
COCCONI, G. c MORRISON, P. 1959. "Scarching for Intcrstell ar Communicalions".
Nature, 184: 844-846.
COLLINS, Jamcs. 1995. "Literacy and Literacies." Annual Review of Anthropology, 24:
75-93.
COMAROFF, Jean c COMAROFF, John. 1991. Of Revelation and Revolution:
Christianity, Colonialism and Consciousness in South Africa (vol. I). Chicago: The
Uni vcrsity of Chicago Press.
____ . 1999. "Occult Economies and lhe Vi olcncc of Abstraction: Notes from the
South African Postcolony". American Ethnologist, 26(2): 279-303.
214 0 DITO E O FETO
COMERFORD, J. 1996. Reunir c Unir. As Reunies de Trabalhadores Rurais como For-
ma de Sociabilidade. Dissertao de MesLrado, PPGAS/MN/UFRJ.
----- 1998. "Resenha de S. Tambiah, Leveling Crowds. Ethnonationalist Con.flicts
and Collective Violence in South Asia". Mana, 4( I ): 180- 183.
----- 1999. Fazendo a Luta. Sociabilidade. Falas e Rituais na Constmo de
Organizaes Camponesas. Rio de Janeiro: Rclumc Dumar.
CRAPANZANO, V. 198 1. Text, transfercncc and indexicality. Ethos vol. 9, n. 2.
____ . 1982. "Thc Self, thc Third, and Dcsire". In: B. Lec (cd.), Story ofthe Se/f:
New Developments. New York: Plenum.
_____ . 1988. "On Sei f Characterization". Working Papers and Proceedings of the
Center f or Psychosocial Studies, 24, Chicago: Centcr for Psychosocial Studics.
_____ . 1992. Hermes' Dilemma & Hamlet 's Desire. On the Epistemology of
lnterpretation. Cambridgc, Mass.: Harvard Uni vcrsity Prcss.
_____ . 1994. "Kevin: On Lhe Transfer of Emotions". American Alllhropologist,
86(4): 866-885.
CROWE, M. J. 1988 11 986]. The Extraterrestrial Life Debate 1750- 1900. The ldea of a
Plurality of Worlds Jrom Kant to Lowell. Cambridgc: Cambridge Uni versity Prcss.
CUNNINGHAM, James. 1980. "Thc Colonial Pcriod in Guin''. Tarikh, 6(4): 3 1-45.
DANIEL, E. V. 1996. Charred Lullabies. Chapters in an Anthropography of Violence.
Princcton: Princeton Uni versity Prcss.
DAS, V. 1995. Criticai Events. An Anthropological Perspective on Contemporary lndia.
Delhi : Oxford University Prcss.
_____ . 1998. "Official Narrativcs, Rumour, and thc Social Producti on of Hate."
Social ldentities, 4( I): I 09- 130.
DEAVOURS, C. A. 1987. "Extratcrrestrial Communication: A Cryptologic Perspccti ve".
In: E. Regis Jr. (ed.), Extraterrestria/s: Science and Alien lntelligence. Cambridge:
Cambridge Uni versity Press.
DEWAARD, J. c DEWAARD, N. 1984. History ofNASA: America's Voyage to the Stars.
Ncw York: Bison Books.
DICK, S. 1982. Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterrestrial Life Debate f rom
Democritus to Kant. Cambridge: Cambri dgc Uni versity Prcss.
DIOCESE DE BOM JESUS DA LAPA. 1993. Relatrio da Caravana. (mimeo).
DIRKS, N. (ed.). 1998. In Near Ruins. Cultural Theory at the End of the Century.
Minncapolis: University of Minnesota Press.
DRAKE, F. 1960. "How Can We Dctect Radio Transmi ssions from Distant Pl anetary
Systems?". Sky and Telescope, 19: 140. [Reprinted in D. Goldsmith (ed.), The Quest
REFERtNCIAS BIBUOGRACAS
215
for Extraterrestrial Life: A Book o f Readings. Mill Vall cy: Univcrsity Scicncc Books,
pp. 114- 11 7 .[
DUMONT, L. 1985. O Indi vidualismo. Uma Perspectiva Antropo16gica da Ideologia
Moderna. Rio de Janeiro: Rocco.
DURANTI , Alcssandro. 1990. "Politics and Grammar: Agcncy in thc Samoan Political
Discoursc". American Ethnologist, 17(4): 646-666.
DURKHEIM, E. 1996. As Formas Elementares da Vida Religiosa. So Paulo: Martins
Fontes.
ELIAS, N. c DUNNING, E. 1992. Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilizaci6n.
Madrid: Fondo de Cultura Econmica.
____ .c SCOTSON, J. L. 1994. The Established and the Outsider. A Sociological
lnquiry into Community Problems. London: Sagc Publications.
EVANS- PRITCHARD, E. E. 1929. "Thc Morphol ogy and Function of Magi c. A
Comparativc Study of Trobriand and Zande Ritual and Spel l s". American
Anthropologist, 31: 619-641.
____ . 1968 [ 1940 J. The Nuer: A Description o f the Modes o f Livelihood and
Political lnstitutions. New York: Clarendon Prcss.
FABIAN, Johanncs. 1986. Language and Colonial Power: The Appropriation of Swahili
inthe Former Belgian Congo, 1880- 1938. Cambridgc: Cambridgc University Press.
FARO, Jorge. 1958. " Os Problemas de Bissau, Cachcu c suas Dependncias Vi stos em
183 1 por Manuel Antonio Martins". Boletim Cultural da Guin Portuguesa, 13(50):
203-2 16.
FERNANDES, B. M. 1996. MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. For-
mao e Territorializao em So Paulo. So Paulo: Hucitec.
FERNANDES, F. 198 1. A Revoluo Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretao Soci-
o/6gica. Petrpolis: Vozes
FERNANDES, R. C. 1982. Os Cavaleiros do Bom Jesus. Uma 111/roduo s Religies
Populares. So Paulo: Brasi l icnsc.
FERREIRA NETO, J. F. 1984. A Cincia dos Mitos e o Mito da Cincia. Dissertao de
Mestrado em Antropologia Social, UnB, Braslia.
FERREI RA, Aurlio Buarque de Holanda. 1998. Novo Dicionrio da Lfngua Portuguesa
(2a cd., 40" impr.). Ri o de Janeiro: Nova Fronteira.
FIRTH, Raymond. 1967. " Rumour in a Primiti ve Socicty". In: Ttkopia Ritual and Belief
Boston: Bcacon Prcss.
FISCHER, M. M. J. 1999. "Emcrgent Forms of Lifc: Anthropologies of Late or Post-
moderniti cs". Annual Review of Anthropology, 28: 455-478.
216 0 DITO E O FEITO
FlSH, S. 1979. "Normal Circunstances, Literal Languagc, Dircct Specch Acts, lhe Ordinary,
thc Evcryday, thc Obvious, whal Gocs without Saying, and Other Spccial Things".
In: P. Rabinow & W. Sullivan.lnterpretative Social Science: A Reader. Los Angclcs:
University of California Press.
FISHMAN, Joshua A. (cd.). 1977. Readings in The Sociology of Language. Thc Hague:
Mouton Publishers.
FORMAN, Shepard. 1979. Camponeses: Sua Participao no Brasil. Rio de Janeiro:
Paz e Terra.
FOUCAULT, Michel. 1996. A Ordem do Discurso. So Paulo: Edies Loyola.
FREUDENTHAL, H. 1987 [ 1960]. "Excerpls from LINCOS: Design of a Languagc for
Cosmic lntercourse". In: E. Regi s Jr. (cd.), Extraterrestrials: Science and Alien
lntelligence. Cambridge: Cambridge University Prcss.
FURNISS, Graham e GUNNER, Liz. 1995. " lntroduction: Powcr, Marginalily and Oral
Literature". In: G Furniss c L. Gunner (cds.), Power, Marginality and African Oral
Literature. Cambridgc: Cambridge Univcrsity Prcss.
GAIGER, L. I. G 1987. Agentes Religiosos e Camponeses Sem-Terra no Sul do Brasil:
Quadro de Interpretao Sociolgica. Petrpolis: Vozes.
GARCIA Jr. , Afrnio. 1983. Terra de Trabalho. Rio de Janeiro: Paz c Terra.
GEERTZ, Clifford. 1980. Negara: The Theatre State in Nineteenth-century Bali. Princeton:
Princcton Univcrsily Prcss.
_____ . 1995. After the Fact. Two Countries, Four Decades, One Anthropologist.
Cambridge, Mass.: Harvard University Prcss.
GES F", P. 1999. "Construindo o Internacional: Um Enredo em Trs Atos" . Cadernos
do NuAP, 4: 80-92.
GOFFMAN, E. 1967. "On Face-work: An Analisys of Ritual Ele mc nts in Social
lnteraction" . In: lnteraction Ritual: Essays on Face-to-face Behavior. Ncw York:
Pantheon Books.
_____ . 1985. A Represemao do Eu na Vida Cotidiana. Petrpolis: Vozes
_____ . 1986. Frame Analysis: An Essay on the Organization o f Experience. Boston:
Northeastern Univcrsity Prcss.
GUMPERZ, John J. 1982. Discourse Strategies. Cambridgc: Cambridgc Univcrsity Press.
_____ .e HYMES, Dell (cds.). 1986. Directions in Sociolinguistics. The Ethnography
of Communication. Ncw York: Basil Blackwcll.
HERITAGE, J. 1986. Garfinkel and the Etlmometlwdology. Cambridge: Polity Prcss.
REFERNCIAS BIBUOGRFlCAS
217
HERZFELD, M. 1982. "Thc Etymology of Excuses: Aspccts of Rhetorical Performance
in Grcccc". American Etlmologist, 15 (2): 644-663.
HOLENSTEIN, E. s/d. "Jakobson Phnomnologue?". In: L'Arc: Roman Jakobson
(Smiologie, Potique, pistmologie). Paris: Librairic Duponchelle, pp. 29-37.
HYMES, Del I. 1974. "Ways of Spcaking". In: R. Bauman c J. Sherzer (cds.), Explorations
in the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridgc University Prcss.
JAKOBSON, R. s/d. "Aspectos Lingsticos da Traduo". In: Lingstica e Comunica-
o. So Paulo: Cultri x, pp. 63-72. [Originalmente publicado em 1959 como
"Lingui stic Aspects of Translation". In: Brower (org.), On Translation. Cambridge,
Mass.: Harvard Uni vcrsity Prcss.]
____ . 1960. "Lingstica e Potica". In: Lingstica e Comunicao (s/d). So
Paulo: Cultrix, pp. 11 8- 162. [Originalmente publicado em 1960 como "Linguistics
and Poctics". In: T.A. Scbcok (cd.), Style in Language. Cambridgc, Mass.: MIT
Prcss, pp. 350-373. 1
____ . 1971. "A Linguagem Comum dos Lingistas e dos Antroplogos". In: Lin-
gstica e Comunicao (s/d). So Paulo: Cultri x, pp. 15-33. [Conferncia na Uni-
versidade de Indiana em 1952, primeiramente publicada em 1953, e republicada em
1971 como " Results o f a Joint Confercncc o f Anthropologists and Linguists". Selected
Writings 11: Word and Lcmguage, pp. 555-567.]
JERVIS, Robert. 1989. The Logic o f Jmages inlmernationa/ Relations. New Yorkl Oxford:
Columbia Uni versity Press.
KANT, I. 1984 L 1755]. Histoire Gnrale de la Nature et Thorie du Ciel. Pari s: Vrin.
KANTOROWICZ, Ernst. 1957. The King Two Bodies: A Study in Medieval Poltica[
Theo/ogy. Princeton: Princeton Uni versity Press.
KAPFERER, Jean- Noel. 1990. Rumors: Uses, l nterpretations, and lmages. New
Brunswick: Transaction Publishers.
KELLY J. O. c KAPLAN, M. 1990. " Hi story, Structurc and Ritual". Annual Review of
Anthropology, 19: 11 9- 150.
KOPYTOFF, Igor. 1987. "The Internai African Frontier: Thc Making of African Polilical
Culturc". In: I. Kopytoff (ed.), The African Frofllier: The Reproduction of African
Societies. Bloomington: Indiana Uni vcrsity Prcss.
KOYR, A. 1986 [ 19571. Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Rio de Janeiro: Fo-
rense.
LAGRANGE, P. 1990. "Enqutes sur les Soucoupes Volantes: La Construction d'un Fail
aux Etats-Uni s ( 1947) et en F rance ( 195 1-54)". Terra in. Carnets du Patrimoine
Etlznologique- "L' Incroyable et ses Prcuvcs", no 14, Mini stcre de la Culture et de la
Communication, pp. 92- 11 2.
218 0 DITO E O FEITO
____ . 1997. Som-ils Panni Nous? La Nuit Extraterrestre. Paris: Gallimard.
LATOUR, B. 1995. Do Scientific Objecls Have a History Too? An Encounter bctween
Pasteur and Whitehead in a Lactic Acid Bath. Trabalho apresentado no Department
of History of Sciences, Harvard University, 7 de novembro. Manuscrito.
____ . 1996. "Not lhe Question". Anthropology Newsletter, 37(3): 1-5.
____ . e WOOLGAR, S. 1986. Laboratory Life: The Construction of Scientific
Facts. Princeton: Princeton University Prcss.
LEACH, E. R. 1954. Political Systems of Highland Burma. Boston: Beacon. [Publicado
em portugus como Sistemas Polticos da Alta Birmnia pela Editora da Uni versi-
dade de So Paulo, 1995.]
____ . 1964. "Anthropological Aspects of Language: Animal Categories and Ver-
bal lnsults". In: E. H. Lennebcrg (ed.), New Directions in the Stt1dy of Language,
Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 23-63.
____ . 1966. "Ritualization in Man". Philosophical Transactions ofthe Royal Society
of London, srie B, 25 1 (772): 403-408.
____ . 1967. "An Anthropologist's Renections on a Social Survey". In: O. G.
Jongmans & P. C. W. Gutkind (eds.), Anthropologists in the Field. Van Gorcum &
Comp.
LEAL, V. N. 1975. Coronelismo, Enxada e Voto: O Municpio e o Regime Representativo
no Brasil. So Paulo: Alfa-mega.
LVI -STRA USS, C. 1961. "La Cri se Moderne de I' Anthropologie". Le Courrier
(UNESCO), 14( 11 ): 12- 17. (Traduzido para o portugus como "A Crise Moderna da
Antropologia", Revista de Antropologia, 1962.)
____ . 1962. La Pense Sauvage. Paris: Plon.
LEVI-STRAUSS, C. 1964. "Ouverture". In: Le Crut et le Cuit. Mythologiques. Paris:
Plon, pp. 7-40.
____ . 1970. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
____ . 197 1. "Finale". In: L' Homme Nu. Mythologiques. Pari s: Plon.
____ , AUG, M. e GODELI ER, M. 1975. "Anthropologie, Hi stoire, ldologie".
L'Homme, XV(3-4): 177- 188.
LIENHARDT, Peter. 1975. "The Interpretation of Rumour". In: J. H. M. Beattie c R. G.
Lienhardt (eds.), Studies in Social Anthropology: Essays in Memory of E.E. Evans-
Pritchard. Oxford: Clarendon Press.
LITTLE, P. 1995. "Ritual , Power and Ethnography at the Rio Earth Summit". Critique of
Anthropology, 15(3): 297-320.
REFERNCIAS BIBUOGRACAS
219
LOMBERG, J. 1984. " Retratos da Terra". Ln: C. Sagan et alii, Murmrios da Terra: O
Disco lntereste/ar da Voyager. Rio de Janeiro: Francisco Al ves, pp. 71 - 121. [Ori-
ginalmente publicado em 1978 como Murmurs of Earth. New York: Literary Agence.]
LOPES DE LIMA, Jos Joaquim. 1844. Ensaio sobre a Statistica das Possesses
Portuguezas. (Li vro I, Partes I e 2). Lisboa: Imprensa Nacional.
LOVEJOY, A. O. 1964 [ 1936]. The Creat Chain of Being. Cambridge, Mass.: Harvard
Uni versity Press.
LYOTARD, J.-F. 1988. ''Si l'on Pcut Penser Sans Corps". In: L'lnhumain: Causeries sur
le Temps. Paris: Galilc.
MADAN, T. N. 1994. Pathways. Approaches to the Study of Society in lndia. New Delhi :
Oxford Uni vcrsity Press.
MAGALDI , S. 1990. " Introduo". In: N. Rodri gues, Teatro Completo de Nelson
Rodrigues, 4: Tragdias Cariocas 11. (organizao de Sbato Magaldi ). Rio de Ja-
neiro: Nova Fronteira.
MALI NOWSKI , 8 . 1922. Argonauts ofthe Western Pacific. Ncw York: E. P. Duuon.
____ . 1930. "The Problem of Meaning". In: C. K. Ogden & I. A. Richards (eds.),
The Meaning of Meaning (3rd ed.). London: Kcgan Paul. [Traduzido para o portu-
gus como "O Problema do Significado em Linguagens Primiti vas". In: G. K. Ogden
c I. A. Richards (cds.), O Significado de Significado: um Estudo da Influncia da
Linguagem sobre o Pensamento e sobre a Cincia do Simbolismo. Rio de Janeiro:
Zahar, pp. 295-330.]
_ ___ . 1935. Coral Cardens and their Magic. London: G. Allcn and Unwin.
MARCON, T. 1997. Acampamento Natalino: Histria da Lllla pela Ref orma Agrria.
Passo Fundo: Ediupf.
MARQUES GERALDES, Francisco A. 1887. "Guin Portugucza". Boletim da Socieda-
de de Geografia de Lisboa, 7(8): 465-522.
MATORY, J. Lorand. 1994. Sex mui the Empire That ls no More. Cender and Politics of
Metaphor in Oyo Yoruba Religion. Minneapolis: University of Minnesota Press.
MAUSS, M. 1925. "Essai sur le Don. Forme ct Raison de I'change dans les
Socits ArchaYqucs". L'Anne Sociologique (n. s.), I: 30- 186.
____ . 1974. "Esboo de uma Teoria Geral da Magia". In: Sociologia e Antropolo-
gia (vol. I). So Paulo: EPU/EdUSP, pp. 37- 176. [Originalmente publicado em
L'Anne Sociologique, 1902- 1903, em colaborao com H. Hubcrt.]
MLIGA, L. D. c JANSON, M. C. 1982. Encruzilhada Natalino. Porto Alegre: Vozes.
MICHELET, J. 1998. Histria da Revoluo Francesa: da Queda da Bastilha Festa da
Federao. So Paulo: Companhia das Letras.
220
0 DITO E O FEITO
MlNSKY, M. 1987. "Why lntclligenl Aliens will Bc lntclligiblc". In: E. Rcgis Jr. (ed.),
Extraterrestrials: Science and Alien lntelligence. Cambridgc: Cambridgc Univcrsity
Press.
NARDlN, Jean-Claude. 1966. "Recherches sur les ' GourmeLs' d' Afriquc OccidenLale".
Revue Franaise d'Histoire d'Outre-Mer, 192/ 193: 2 15-244.
NJCHOLAS, H. G. 1975. The United Nations as a Political lnstitution. London/ Oxford/
Ncw York: Oxford Univcrsity Press.
NBILE, Ni cols. 1998. " Escritura clectrnica y nucvas formas de subjctividad". ln:
Internet: PoUticas y Comunicacin. Buenos Ai res: Editori al Biblos.
OUYEIRA JR., Adolfo Neves de. 1996. "Renexes Antropolgicas c Prtica Pericial".
In: J. J. Carvalho (org.), O Quilombo do Rio das Rs. Histrias, Tradies, Lutas.
Salvador, EDUFBA, pp. 197-236.
ONG, Waltcr. 1982. Orality and Literacy. The Technologizing of the World. London:
Mcuthcn.
PALMEIRA, Moaci r. 199 1. "Poltica, Faco c Compromisso: Alguns Significados do
Voto". In: Encontro de Cincias Sociais do Nordeste 4. Salvador: C R H/ Fincp/ CNPq/
Anpocs, pp. 113-130.
____ . 1997. "Poltica Ambgua". In: P. Birman, R. Novacs c S. Crespo (orgs.), O
Mal Brasileira. Rio de Janeiro: EDUERJ, pp. 159- 184.
____ c HEREDIA, Beatri z. 1995. "Os Comcios c a Poltica de Faces". Anu-
rio Antropolgico/94: 31-94. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
PEIRANO, M. 1981. Thc Anthropology of Anthropology: lhe Brazi lian Case. Tese de
doutorado, Harvard Univcrsity.
____ . 1992. Uma Antropologia no Plural. Trs Experincias Comemporneas.
Braslia: Ed. UnB.
____ . 1993. "As rvores Ndembu: Uma Reanlise". Anurio Antropolgico/90.
9-64. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. [Republicado em A Favor da Etnografia.
Rio de Janeiro: Rclumc Dumar.]
____ . 1995. A Favor da Etnografia. Rio de Janeiro: Rclumc-Dumar.
____ . 1997. "Onde Est a Antropologia?". Mana 3(2): 67- 102.
____ . 1998. "Whcn Anthropology Is at Home. The Diffcrcnt Contcxts of a Single
Discipline". Annual Review o f Anthropology, 27: I 05- 128.
_ ___ . 1999. "Antropologia no Brasil (Alteridadc Contcxtualizada)". In: S. Miceli
{ed.), O que Ler na Cincia Social Brasileira ( 1970- / 995) (vol. I). So Paulo: Edi-
tora Sumar/ANPOCS, Braslia: CAPES, pp. 225-266.
REFERNCIAS BIBUOGRACAS 221
_ ___ (org. e intro.). 2000. "Anlises de Rituais". Srie Antropologia 283. Braslia:
Universidade de Braslia, 11 9 pp.
PEIRCE, C. 1955 11 940j. Philosophical Writings of Peirce (selcctcd and editcd with an
introduction by J. Buchler). Ncw York: Dover Publications. [Alguns captulos fo-
ram publicados em portugus pela Editora Perspectiva, So Paulo, em Semi6tica,
1990.1
____ . 1990. Semitica. So Paulo: Editora Perspecti va.
PLISSIER, Ren. 1989. Histria da Guin: Portugueses e Africatws na Senegambia,
1841- 1936. Lisboa: Editori al Estampa, 2 vols.
PEREIRA BARRETO, Honorio. 1947. "Mcmoria sobre o Estado AcluaJ de Senegambia
Portugueza, Causas de sua Decadencia e Meios de a Fazer Prosperar" [I" edio:
1843]. ln: J. Walter (cd.), Hon6rio Pereira Barreto. Bissau: Centro de Estudos da
Guin Portuguesa.
PEREIRA DE QUEIROZ, Maria lsaura. 1969. O Mandonismo Local na Vida Polftica
Brasileira (2" cd.). So Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros!USP.
PETERSON, Warrcn A. e GIST, Noel P. 195 1. "Rumor and Publi c Opinion". The American
Joumal of Sociology , 57(2): 159- 167.
POE, E. A. 198 1. "Criptografi a". In: Fico Completa, Poesia & Ensaios. Rio de Janeiro:
Ed. Nova Aguilar, pp. 1009- 10 19.
_ ___ . 1986. "La Croyance aux Extraterrestres- Approche Lexicologiquc". Revue
Franaise de Sociologie, 27(2): 22 1-229.
POLETO, I. 1997. " A terra c a vida em tempos ncoli bcrais. Uma relcitura da histri a da
CPT'. In: A Luta pela Terra. A Comisso Pastoral da Terra 20 anos Depois. So
Paulo, Paulus.
RABINOW, P. 1996. Making PCR. A Story of Biotechnology. Chicago: Univcrsity of
Chicago Prcss.
REIS, E. P. 1982. "Elites Agrrias, Statc-Building c Autoritarismo". Dados, vol. 25, n. 3.
____ . 1988. "Mudana c Continuidade na Polftica Rural Brasileira". Dados, vol.
3 1, n. 2.
RIGGS, Robert E. c PLANO, Jack C. 1994. The United Nations: lnternational
Organization and World Politics. Belmonl: Wadsworth Publishing Company.
RIOS, Aurlio Virgli o V. 1996. "Qui lombos: Razes, Conceitos, Perspectivas". Boletim
Informativo NUER/Ncleo sobre Identidade e Relaes lntertnicas, 1(1): 65-77.
RODRIGUES, N. 1990. "O Beijo no Asfalto: Tragdia Carioca em Trs Atos". In: Teatro
completo de Nelson Rodrigues, 4: Tragdias Cariocas 11. (organizao de Sbato
Magaldi). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
222 0 DITO E O FEITO
_____ . 1994. A Menina Sem Estrela. Memrias. Ri o de Janeiro: Companhia das
Letras.
RNAI, P. 1970. Babel & Antibabel. So Paulo: Perspectiva.
RORTY, R. 1981. Philosophy and the Mirrar of Nature. Princeton: Princcton Uni v. Prcss.
ROSENFELD, A. 1976. "Literatura c Personagem". In: A. Cndido ct alii , A Persona-
gem de Fico. So Paulo: Editora Perspectiva.
ROSNOW, Ralph L. 1980. " Psychology ofRumor Rcconsidcred". Psychological Bulletin,
87(3): 578-59 1.
_____ . 1988. " Rumor as Communication: A Contcxtualist Approach". Journal of
Communication, 38( I): 12-28.
ROUG, Jcan-Louis. 1988. Petit Dictionaire Etymologique du Kriol . Bissau: INEP.
RUD, G 1991 . A Multido na Histria. Estudo dos Movimentos Populares na Frana e
na Inglaterra 1730- 1848. Rio de Janeiro: Campus.
SAGAN, C. 1973. Cosmic Connection: An Extraterrestria/ Perspective. Ncw York:
Doublcday.
_____ . 1983. Cosmos. Rio de Janeiro: Franci sco Alves. [Origi nalmente publicado
em 1980 como Cosmos. New York: Random House. J
_____ . 1986. Contato. Rio de Janeiro: Guanabara.
____ .e SHKLOVSKY, I. S. sld. A Vida Inteligente no Universo. Lisboa: Europa-
Amrica. !Origi nalmente publicado em 1966 como l11telligent Life in the Universe.
San Francisco: Holdcn-Day.]
SAGAN, C. et alii. 1984. Murmrios da Terra: O Disco Jmereste/ar da Voyager. Rio de
Janeiro: Francisco Alves. I Originalmente publicado em 1978 como Murmurs of Earth.
New York: Litcrary Agencc.]
_____ . s/d. "La Semiolique Jakobsoniennc et I'Anthropologic Socialc". In: L'Arc:
Roman Jakobson (Smiologie, Potique, pistmologie). Paris: Librairi e
Duponchelle, pp. 45-49.
SAHLINS, M. 1981. Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in Early
History ofthe Sandwich lslands Kingdom. Ann Arbor: Univcrsity of Michigan Prcss.
_____ . 1990. Ilhas de Histria. Ri o de Janeiro: Jorge Zahar.
SANTOS, A. F. 1994. Linguagem c Construo: Pcirce e O Beijo no Asfalto. Manuscri-
to. [Ver "Pcircc c O Beijo no Asfalto", neste volume. I
SAUSSURE, F. de. s/d. Curso de Lingfstica Geral. So Paulo: Cultrix.
SCHWARTZMAN, Helcn. 1987. "Thc Significance of Mcctings in an Amcrican Mental
Health Center". American Etlmologist, 14(2): 27 1-294.
REFERNCIAS BIBUOGRACAS
223
SEIBERT, Gcrhard. 1999. Comrades, Clients and Cousins: Colonialism, Socialism an
Democratization in So Tom and Prfncipe. Leidcn: Research School of Asian,
African and Amcrindian Studies (CNWS).
SHIBUTANI, Tamotsu. 1966. lmprovised News: A Sociologica/ Study of Rumor.
Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.
SIGAUD, Lygia. 1980a. "A Nao dos Homens". Anurio Antropol6gico/18: 13- 114.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
SIGAUD, Lygia. 1980b. Greve nos Engenhos. Rio de Janeiro: Paz c Terra.
SILVA, Dimas S. 1996. Constituio c Diferena tnica: o Problema Jurfdico das Comu-
nidades Negras Remanescentes de Quilombos no Brasil. Boletim Informativo NUER/
Ncleo sobre Identidade e Relaes lntertnicas, I ( I ): 5 1-64.
SILVERSTEIN, J. 1977. "Language as Part of Culture". In: S. Tax & L. Greeman (eds.),
Horizons of Anthropology (2nd. edition). Chicago: Aldine Publishing Co., pp. 11 9-
131.
SKINNER, Qucntin. 1978. The Founations of Modern Po/itical Thought. Cambridge:
Cambridgc Uni vcrsity Press, vol. I.
SMITH, D. 1978. " K is mentally i li: the anatomy of a fact ual account". Sociology n. 12,
vol. I.
STDlLE, J. P. c SRGIO, Frei. 1993. A Luta pela Terra no Brasil. Porto Alegre: Scritta.
____ ."Introduo". In: J. P. Stdile (org.), A Questo Agrria Hoje. Porto Alegre:
Ed. da UFRGS.
STEIL, Carlos. 1996. O Serto das Romarias: Um Estudo Antropolgico sobre o Santu-
rio de Bom Jesus da Lapa - Bahia. Petrpolis, RJ: Vozes.
TAMBIAH, S. J. 1968. ' 'Thc Magical Power of Words". Man, 3(2): 175-208.
____ . 1969. "Animais Are Good to Think and to Good to Prohibit". Etlmology,
8(4): 423-459.
---- 1970. Buddhism and the Spirit Cults in North-east Thailand. Cambridge:
Cambridgc Univcrsity Press.
____ . "Form and Meaning of Magical Acts". In: R. Horton & R. Finnegan (eds.),
Modes ofThought. London: Fabcr and Fabcr, pp. 199-229.
____ . 1976. World Conqueror and World Renouncer. A Study of Buddhism and
Polity in Thailand against a Historical Background. Cambridgc, Mass.: Cambridge
Uni vcrsi ty Prcss.
____ . 1977. "The Cosmological and Pcrformati vc Significancc of a Thai Cult of
Hcaling lhrough Mcditation". Culture, Medicine and Psychiatry, I: 97- 132.
224 0 DITO E O FEITO
_____ . 1979. " A Performative Approach to Ritual ". Proceedings of the British
Academy, 65: 113- 169.
_____ . 1984. The Buddhist Saints ofthe Forest mui the Cult of Amulets. A Study in
Charisma, Hagiography, Sectarianism, and Millennial Buddhism. Cambridge:
Cambridge University Press.
_____ . 1985. Culture, Thought, and Social Action. An Amhropological Perspective.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
_____ . 1986. Sri Lanka. Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy.
Chicago: Chicago University Press.
_____ . 1992. Buddhism Betrayed? Religion, Politics, and Violence in Sri Lanka.
Chicago: Chicago University Press.
_____ . 1996a. Leveling Crowds: Ethnonationalist Conjlicts and Collective Violence
in South Asia. Califomia/London: University of California Press.
_____ . 1996b. "Rclations of Analogy and ldentity: Toward Multiple Orientalions
to the World". In: D. Olson & N. Torrance (eds.), Modes ofThought. Explorations in
Culture and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 34-52.
_____ . 1996c. "Continuity, Integration and Expanding Horizons". Srie Antropo-
logia, 230. Brasflia: Universidade de Brasflia.
_____ . 1997. "Connito etnonacionalista e violncia coleti va no sul da sia". Re-
vista Brasileira de Cincias Sociais, v. 12, n. 34, jun. 1997, p. 4-24.
____ . 1998. "Edmund Ronald Leach. 19 1 0- 1989". Proceedings of the British
Academy, 97: 293-344.
TARTER, J. 1987. "Scarching for Extraterrestrials". In: E. Regis Jr. (cd.), Extraterrestrials:
Science and Alien lntelligence. Cambridge, Mass.: Cambridge Uni versity Press.
TEIXEIRA, Carla C. 1998. A Honra da Poltica. Decoro Parlamelltar e Cassao de
Mandato 110 Congresso Nacional. Rio de Janeiro: Relume Dumar.
_____ . 1999. "O Preo da Honra". Srie Antropologia, 253. Braslia: Universidade
de Brasflia.
TIPLER, F. J. 1981. "A Brief History of lhe Extraterrcstrial lntelligence Concept". Q. J.
Royal Astronomical Society, 22: 133-145.
TRAJANO FILHO, W. 1984. Msicos e Msica na Travessia. Dissertao de Mestrado,
Universidade de Brasflia.
_____ . 1993. "Rumores: Uma Narrativa da Nao". Srie Antropologia, 143.
Braslia: Uni versidade de Brasli a.
____ . 1993a. "A Tenso entre a Escri ta e a Oralidade". Sorortda, 16: 73- 102.
REFERNCIAS BIBUOGRRCAS 225
____ . 1993b. "O Auto de Carnaval em So Tom e Prfncipe". Anurio Antropol6-
gico/91: 189-220. Rio de Janei ro: Tempo Brasilei ro.
____ . 1998. Polymorphic Creolcdom: Thc "Creolc Society" of Guinca-Bissau.
Ph.D. Dissertation, Univcrsity of Pcnnsylvania.
_____ . 2000. Higiene, Etiqueta e Projeto Civilizador em frica. Trabalho apresen-
tado no seminrio Projetos Portugueses de Colonizao em Trs Conti nentes. De-
partamento de Antropologi a/UnB, 7 de junho.
TROUILLOT, M.-R. 1995. Silencing the Past. Power and the Production of History.
Boston: Beacon Press.
TURNER, V. 1967. The Forest of Symbo/s. Aspects of Ndembu Ritual. Ithaca: Comell
Univcrsity Press.
____ . 1975. "Symbolic Studics". Annual Review of Anthropology, 4: 145- 161.
VALDEZ, Francisco T. 1864. Africa Occidenta/: Notfcias e Consideraes. Lisboa: Im-
prensa Nacional.
VASCONCELOS, Loff de. 191 6. A Defeza das Victimas da Guerra de Bissau: O Exter-
mfnio da Gtn. Lisboa: Imprensa Libanio da Silva.
VELHO, Otvio. 1995. "O Cativeiro da Besta-Fera". In: Besta-Fera: Recriao do Mun-
do. Ensaios Crticos de Antropologia. Rio de Janeiro: Rclume Dumar.
VERNANT, J.-P. 1965. "La Catgori e Psychologiquc du Double: Figuration de l'lnvisible
ct Catgorie Psychologiquc du Double: Le Colossos". In: Mythe et Pense chez les
Grecs 11. Paris: Maspero, pp. 65-78.
VIVEIROS DE CASTRO, E.B. 1999. "Thc Transformati on of Objccts into Subjects in
Amcrindian Ontologies". lnvitcd Scssion, 98th Annual Meeting of thc American
Anthropological Association. Chicago, Novcrnber 1999.
WEBER, M. 1992. Metodologia das Cincias Sociais. So Paulo: Editora da Unicamp/
Cortcz.
WESTRUM, R. 1977. "Sociallntclligcncc about Anomalics: The Case of UFOs". Social
Studies of Science, 7: 271-302.
WOOLGAR, S. 1978. The Emergence and Growth of Research Arcas in Scicnce with
Spccial Referencc to Research on Pulsars. Ph.D. Thcsis, University of Cambridge.
CoLABORADORES
ANA FLVIA MOREIRA SANTOS, mestre em Antropologia pelo PPGASIUnB,
doutoranda do PPGAS/Museu Nacional!UFRJ . Atua desde 1997 como analista peri-
cial em antropologia do Ministrio Pblico Federal, assessorando a Procuradoria da
Repblica em Minas Gerais.
CARLA COSTA TEIXEIRA, doutora em Antropologia pelo PPGAS/UnB, profes-
sora do Departamento de Antropologia da Uni versidade de Brasli a e pesqui sadora
do Ncleo de Antropologia da Poltica (NuAP). autora de A Honra da Poltica
(Rclumc Dumar!NuAP, 1998) c organizadora do li vro Em Busca da Experincia
Mundann e seus Significados: Georg Simmel, Alfred Sclwtz e a Afltropologia (Relu me
Dumar, 2000).
CARLOS ALBERTO STEIL, doutor em Antropologia pelo PPGAS/Muscu Nacio-
nai/UFRJ , professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. autor de O
Serto das Romarias. Um Estudo Antropol6gico sobre o Santurio de Bom Jesus da
Lapa, Bahia (Vozes, 1996). Nos ltimos anos tem se dedicado a pesqui sas nas reas
de antropologia da religio e da poltica.
CHRISTI NE DE ALENCAR CHAVES, doutora em Antropologia pelo PPGAS/UnB,
professora da Uni versidade Federal do Paran c pcsqui adora do Ncleo de Antro-
pologia da Poltica (NuAP). autora de A Marcha Nacional dos Sem-Terra. Um
Estudo sobre a Fabricao do Social (Relumc Dumar/NuAP, 2000). Seu interesse
est voltado para a relao entre movi mentos sociais c Estado, alm de processos
poltico-eleitorais.
JAYME M. ARANHA FILHO, mestre em Antropologia pelo PPGAS/Museu Nacio-
nai/UFRJ, especiali zou-se em estudos de cincia c tecnologia. Desenvolve pesqui sas
sobre representaes de ori gem da vida c da inteli gncia na cosmologia cientfica, e
pessoa c sociabilidade na Internet.
228 0 DITO E O FEITO
JOHN CUNHA COMERFORD, doutor em Antropologia pelo PPGAS!Muscu Nacio-
nai!UFRJ, pesqui sador do Ncleo de Antropologia da Poltica (NuAP). autor de
Fazendo a Luta: Sociabilidade, Falas e Rituais na Construo de Organizaes Cam-
ponesas (Relumc Dumar/NuAP, 1999).
MARIZA PEIRANO, Ph.D. em Antropologia pela Uni versidade de Harvard, pro-
fessora titular do Departamento de Antropologia da Uni versidade de Brasni a c pes-
qui sadora do CNPq c do Ncleo de Antropologia da Polt ica (NuAP), onde coordena
a linha de pesquisa " Rituais da Polftica". autora de Uma Antropologia no Plural.
Trs Experincias Contemporneas (Editora da UnB, 1992) c A Favor da Etnografia
(Relume Dumar, 1995).
MOACIR PALMEIRA, doutor em Sociologia pela Uni versidade de Paris, profes-
sor titular do PPGAS!Museu Nacionai!UFRJ, pesquisador do CNPq e coordenador
geral do Ncleo de Antropologia da Poltica (NuAP). organi zador (com Mareio
Goldman) de Antropologia, Voto e Representao Polftica (Contra Capa, 1996) c de
Candidatos e Candidaturas: Enredos de Campanha Eleitoral no Brasil (com lrl ys
Barreira) (Editora Annablume, 1998). Seus interesses principais de pesquisa incluem
o estudo do campesinato e da questo agrria.
PAULO DE GES FILHO, mestre e doutorando do PPGAS!Muscu Nacionai/UFRJ,
antigo funcionrio do CNPq c do Mini stri o do Meio Ambiente. Trabalha desde
1992 como assessor da presidncia da Academia Brasileira de Cincias.
WILSON TRAJANO FILHO, Ph.D. em Antropologia pela Uni versity ofPcnnsylvania,
professor do Departamento de Antropologia da Uni versidade de Brasfli a. Suas
reas de interesse c pesquisa compreendem etnologia afri cana (Guin-Bissau c Cabo
Verde) e colonialismo.
Esta obra foi impressa na
segunda quinzena de janeiro de 2002.
Impresso pela grfi ca Lidador.
Ri o de Janeiro
O que significa propor a abordagem dos ritueia como
estratgia para se analisar avantoe etnogrfic:aa? Em que
sentido o ritual nos awcile na paeqe lisa 811tr0p016gica?
Dcadas de di8CII88ao sobre sua daftnilo nao t.ar1an
esgotado o tema? De que nos serve e idie de ritual hoje?
Estas sao perguntes que esta coletnea procura responder,
ao indicar como a anliae de rituais amplia e expande
as possibilidades de invastigaao sobre eventos
contemporneos. De exercicios anallticos inspirados em
clssicos a tpicos mais diretamente Hgados antropologia
da polltica, os anseios aqui reunidos abordam temas
variados: os rumores na construao da naao em Guin-
Bissau, a bravata como mentira ritual no Congresso Nacional
brasileiro, a eficcia das marchas do MST como eventos
pollticos, o papel das reuniOes de camponeses como parte
da luta, as concepOas nativas de polltica e t:Bmpo,
as eleiOes na ONU como rituais, o processo de atnizalo
da polltica por trabalhadores rurais na Bahia. Em todos
os ensaios a idia de ritual atua como modelo pera analisar
eventos sociais em sentido lato, ampliando assim o foco
desse tanomeno tio familiar aos antroplogos.
JlUfiif
(mNdeode
r:1r.1 Antropologia
Poltica
RELU DUMA R
Potrebbero piacerti anche
- GlossárioDocumento28 pagineGlossárioIris AbreuNessuna valutazione finora
- A Natureza Do Gênero Na Psicanálise e Na Antropologia - Rita Laura SegatoDocumento10 pagineA Natureza Do Gênero Na Psicanálise e Na Antropologia - Rita Laura SegatoSilvana MarianoNessuna valutazione finora
- Marlise Mattos Trajetória Dos Estudos de GêneroDocumento25 pagineMarlise Mattos Trajetória Dos Estudos de GêneroLynnette GrahamNessuna valutazione finora
- Teologia Da Prosperidade, Literatura de Autoajuda e ModernidadeDocumento20 pagineTeologia Da Prosperidade, Literatura de Autoajuda e ModernidadeIris AbreuNessuna valutazione finora
- Formação Indivíduos DesinstitucionalizaçãoDocumento6 pagineFormação Indivíduos DesinstitucionalizaçãoNatália IlkaNessuna valutazione finora
- Abordagem Qualitativa em Dois Projetos de Pesquisa LADocumento14 pagineAbordagem Qualitativa em Dois Projetos de Pesquisa LAIris AbreuNessuna valutazione finora
- Analisis Antropologico Del Los Rituales - PeiranoDocumento29 pagineAnalisis Antropologico Del Los Rituales - PeiranoemiliolombardoNessuna valutazione finora
- Maçonaria e o EscotismoDocumento3 pagineMaçonaria e o EscotismoJordan SoaresNessuna valutazione finora
- Aquabloc - Bloqueador de UmidadeDocumento6 pagineAquabloc - Bloqueador de UmidadeGilvaneSilvaNessuna valutazione finora
- Letramento e Alfabetização Na Educação InfantilDocumento21 pagineLetramento e Alfabetização Na Educação InfantilThays Byhanka100% (1)
- Patrimônio Cultural Direito InternacionalDocumento18 paginePatrimônio Cultural Direito InternacionalNayane Galdámez SoutoNessuna valutazione finora
- Revista Selecoes Novembro2023Documento116 pagineRevista Selecoes Novembro2023Rex Brasilis PSNNessuna valutazione finora
- Aula EletroquimicaDocumento65 pagineAula EletroquimicaCarol LimaNessuna valutazione finora
- Comparação de métodos numéricos para encontrar raízesDocumento2 pagineComparação de métodos numéricos para encontrar raízesMariana OliveiraNessuna valutazione finora
- Avaliação Diagnóstica - 7º Ano EF2Documento5 pagineAvaliação Diagnóstica - 7º Ano EF2Elton Vieira GuimarãesNessuna valutazione finora
- TC Algoritmos e Logica de ProgramaçãoDocumento4 pagineTC Algoritmos e Logica de ProgramaçãoBrunaCarolineNessuna valutazione finora
- Inquilinos da TerraDocumento1 paginaInquilinos da TerradougnovaesNessuna valutazione finora
- Plano Da Eletiva de Geometria Ii (Espacial)Documento6 paginePlano Da Eletiva de Geometria Ii (Espacial)Lucinio BarbosaNessuna valutazione finora
- Exercícios História Da Fotografia 2014-2Documento4 pagineExercícios História Da Fotografia 2014-2guimatosarrudaNessuna valutazione finora
- As fases e classificação do imposto emDocumento10 pagineAs fases e classificação do imposto emAvelino Pavlov CaleiNessuna valutazione finora
- I 060567Documento10 pagineI 060567leoNessuna valutazione finora
- 1991 - Gestão Do Território AmazôniaDocumento15 pagine1991 - Gestão Do Território AmazôniaTania GomesNessuna valutazione finora
- Edital de Licitação Pe 091-2022Documento42 pagineEdital de Licitação Pe 091-2022Lauene AlbuquerqueNessuna valutazione finora
- ECOSYSM2640idw PTBRDocumento252 pagineECOSYSM2640idw PTBRWellington QuadrosNessuna valutazione finora
- Aditivo para Radiadores Glysantin G 48Documento4 pagineAditivo para Radiadores Glysantin G 48José NeresNessuna valutazione finora
- Fatura Amex FevereiroDocumento11 pagineFatura Amex FevereiroThales AntunesNessuna valutazione finora
- Produção Mineral Brasil 2008Documento20 pagineProdução Mineral Brasil 2008cesarcmNessuna valutazione finora
- Mãe, o cacete! Uma história sobre o relacionamento conturbado entre mãe e filhaDocumento3 pagineMãe, o cacete! Uma história sobre o relacionamento conturbado entre mãe e filhaMarcio Gregório SáNessuna valutazione finora
- Produção de Suínos Da Raça Alentejana em Sistema Intensivo Até o Final Da Pré-EngordaDocumento70 pagineProdução de Suínos Da Raça Alentejana em Sistema Intensivo Até o Final Da Pré-EngordaAnelisa GregoletiNessuna valutazione finora
- David Dias - Guião - Doc Polo A Polo - 9noDocumento2 pagineDavid Dias - Guião - Doc Polo A Polo - 9noDavid DiasNessuna valutazione finora
- Conversão Planilha Agua CaldeirasDocumento1 paginaConversão Planilha Agua Caldeirasrodrigo_domNessuna valutazione finora
- Manual Cafeteira Philco Multicapsula pcf19vpDocumento21 pagineManual Cafeteira Philco Multicapsula pcf19vpSCRIBD NGASPNessuna valutazione finora
- Manual Vtiger 5 X PT BR PDFDocumento163 pagineManual Vtiger 5 X PT BR PDFJarvis BugfreeNessuna valutazione finora
- Por Que Pensar Interdisciplinaridade ComDocumento14 paginePor Que Pensar Interdisciplinaridade ComDaniela ReisNessuna valutazione finora
- Problemas matemáticos e lógicos para alunos do 3o e 4o anosDocumento16 pagineProblemas matemáticos e lógicos para alunos do 3o e 4o anosSylvie LinoNessuna valutazione finora
- 7 - Exercícios Sobre Gametogénese - 2017Documento25 pagine7 - Exercícios Sobre Gametogénese - 2017Délcia Da SilvaNessuna valutazione finora
- para avaliação de história e geografiaDocumento3 paginepara avaliação de história e geografiaElaine MozerNessuna valutazione finora