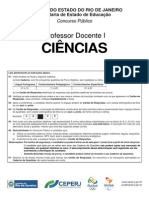Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Fisica 3 A Aulas - 1a12
Caricato da
sebastiao007Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Fisica 3 A Aulas - 1a12
Caricato da
sebastiao007Copyright:
Formati disponibili
Introdu cao `a hidrostatica
ODULO 1 - AULA 1
Aula 1 Introdu cao `a hidrostatica
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Estabelecer a no cao de uidos e s olidos.
Denir as grandezas fsicas relevantes: press ao e densidade.
Estabelecer a no cao de uido incompressvel.
Calcular a varia cao da press ao em um uido num campo gravitacional.
Introdu cao
Neste modulo estudaremos as leis que regem o comportamento fsico
dos uidos. Conforme veremos adiante, tais leis estao diretamente relaciona-
das com diversas experiencias do nosso cotidiano, alem de terem aplica coes
importantes em muitos dispositivos mecanicos de grande utiliza cao como
direcoes, freios e macacos hidr aulicos. Primeiramente, trataremos de ui-
dos estaticos, isto e, em repouso ou equilbrio. Mas, antes de come carmos a
descrever o comportamento dos uidos, precisamos estabelecer o que enten-
demos por um uido. Como sabemos, podemos diferenciar s olidos e uidos de
maneira intuitiva. Um corpo solido possui forma bem denida cuja altera cao
devido ` a a cao de forcas externas e praticamente imperceptvel. Por exem-
plo, uma bola de sinuca sofre uma deforma cao imperceptvel ao ser golpeada
por um taco. Contudo, alem de muito pequena, esta deformacao dura um
intervalo de tempo muito curto, ap os o qual praticamente desaparece. Desta
forma, podemos desprezar as deforma coes de um corpo s olido e trat a-lo como
rgido como foi feito no estudo das rota coes.
Entao, um uido se caracteriza sobretudo por ser facilmente deformavel,
de maneira a moldar-se de acordo com o recipiente que o contem. Este e o
caso da agua. Ao colocarmos uma determinada quantidade de agua em um
copo, esta imediatamente adapta-se ` a forma das paredes do copo. Em um
uido dois tipos de forca devem ser considerados: forcas normais e for cas
tangenciais `a superfcie do uido. As forcas tangenciais est ao associadas ` a
viscosidade do uido e s ao respons aveis, por exemplo, pelo atrito entre a agua
e um barco em movimento. Contudo, uma boa descri cao do comportamento
dos uidos pode ser construda desprezando-se, em primeira aproxima cao,
7
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
os efeitos de viscosidade. Ent ao, adotaremos neste curso esta aproxima cao e
consideraremos os uidos como ideais, isto e, incapazes de exercerem forcas
tangenciais. Nesta aproxima cao, a intera cao de um uido ideal com o meio
que o circunda ocorre atraves de forcas normais ` a superfcie do uido. Es-
sas for cas normais d ao origem ao que chamamos press ao num uido, o que
deniremos a seguir.
Pressao e densidade
O estudo de qualquer fenomeno fsico comeca com a denicao das gran-
dezas fsicas importantes para a descri cao desse fen omeno. De posse de tais
denicoes podemos estabelecer um conjunto de leis fsicas que
traduzam uma rela cao quantitativa entre as grandezas relevantes. Deni-
remos agora duas grandezas fundamentais ao estudo do comportamento dos
uidos: pressao e densidade. Como mencionamos anteriormente, a press ao
est a associada ` as for cas normais que um uido exerce sobre as superfcies que
o circundam, enquanto a densidade nos d a uma medida da concentracao de
massa num corpo.
Comecemos com a denicao de press ao. A maioria de nos est a fami-
liarizada com a no cao de press ao atraves de varias experiencias do nosso
cotidiano. Esta no cao surge, por exemplo, quando mergulhamos numa pis-
cina e nos direcionamos ao fundo desta. Temos uma sensa cao de press ao
nos ouvidos que aumenta ` a medida que descemos a profundidades maiores.
Esta sensa cao est a diretamente relacionada com as for cas normais que a agua
exerce sobre as superfcies de nossos tmpanos. Note que esta sensa cao de-
pende da profundidade em que nos encontramos, mas independe da direcao
em que orientamos nossos ouvidos. Portanto, se quisermos denir uma gran-
deza que traduza a pressao da agua sobre nossos ouvidos, esta dever a ser
uma grandeza escalar.
Ao exercermos uma for ca
F sobre um objeto, podemos imaginar que
esta forca se distribui sobre toda a area da superfcie de contato com o objeto.
Por exemplo, quando colocamos um tijolo sobre uma mesa, a for ca normal
que sustenta o tijolo nao e aplicada em um unico ponto mas distribuda
por toda a area de contato entre o tijolo e a mesa. A distribui cao da for ca
normal pela area de contato determina o esfor co exercido sobre o material
que constitui a mesa. De fato, se desejarmos apoiar um n umero grande de
tijolos sobre a mesa, e intuitivo esperar que esta corra um risco menor de
quebrar-se ao distribuirmos os tijolos por toda a superfcie da mesa como na
CEDERJ
8
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
Figura 1.1.a, do que se os apoiarmos todos empilhados uns sobre os outros
como na Figura 1.1.b, ainda que a for ca normal total exercida seja a mesma.
N
N
N
N
4
N
a)
b)
Figura 1.1: For cas normais atuando sobre tijolos distribudos lado a lado
(a) e empilhados (b) sobre uma mesa.
Assim, desenvolvemos a no cao de que o esfor co exercido sobre o mate-
rial da mesa est a relacionado com a distribui cao da for ca pela superfcie de
contato, isto e, com a for ca de contato por unidade de area. Outra quest ao
importante refere-se `a dire cao desta for ca de contato. Por exemplo, imagine
que agora apoiamos um tijolo sobre uma superfcie inclinada. Se n ao existir
atrito entre a superfcie e o tijolo, este ir a escorregar e cair. Na presen ca de
atrito estatico, o tijolo car a em equilbrio, mas agora a for ca de contato
F
c
entre o tijolo e a superfcie ser a igual ` a soma vetorial de uma componente
normal ` a superfcie de contato (rea cao normal
N) e outra tangente a esta
superfcie (forca de atrito
F
at
) conforme mostrado na Figura 1.2. Ao anali-
sarmos o risco de a mesa quebrar, apenas a componente normal ser a impor-
tante, a forca de atrito esta distribuda pelas rugosidades das duas superfcies
em contato.
9
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
[
N[ = [
F
c
[ cos
F
c
F
at
Mg
Figura 1.2: For cas atuando num tijolo apoiado sobre uma superfcie inclinada
com atrito.
Levando em conta as no coes colocadas acima, denimos uma grandeza
escalar que chamaremos press ao como:
P =
N
A
=
F
c
cos
A
,
ou seja, a press ao e a raz ao entre a componente normal da for ca de contato
(N = F
c
cos ) e a area A de contato . No Sistema Internacional de unidades
Obs.: Lembre-se de que ao
omitirmos o smbolo de
uma grandeza vetorial, esta-
mos nos referindo ao modulo
desta grandeza.
(SI), a press ao e expressa numa unidade chamada Pascal (Pa) denida como:
1Pascal = 1Newton/m
2
ou 1Pa = 1N/m
2
. (1.1)
Apesar de termos desenvolvido a no cao de press ao num exemplo con-
creto envolvendo a superfcie de contato entre dois corpos rgidos (mesa
e tijolo), a press ao pode ser denida para todos os pontos de um uido.
A pressao exercida por um uido sobre as paredes do recipiente que o contem
e transmitida a todos os pontos do uido e, como veremos na pr oxima se cao,
a pressao em um dado ponto do uido depende da profundidade, ou seja, da
altura da coluna de uido acima deste ponto. Devido ao peso dos gases que
a comp oem, os diferentes pontos de nossa atmosfera pr oximos ` a superfcie
terrestre encontram-se a uma press ao de cerca de 1, 01 10
5
Pa. Freq uente-
mente expressamos valores de press ao em unidades da press ao atmosferica.
Assim, denimos uma unidade chamada atmosfera (atm) de maneira que
1atm = 1, 01 10
5
Pa.
Alem do atm e do Pa, existem outras unidades de pressao. Chama-
mos bar ometro o aparelho utilizado para medir press ao. Por causa de sua alta
densidade, o merc urio (smbolo qumico: Hg) e muito utilizado na constru cao
CEDERJ
10
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
de barometros, sendo a press ao medida atraves da altura de uma coluna de
merc urio no bar ometro. Assim, e muito comum expressarmos a press ao em
unidades da pressao exercida por uma determinada altura de Hg. Por exem-
plo, a pressao atmosferica corresponde `a press ao exercida por uma coluna
de Hg com 760mm de altura, ou seja, 1atm = 760mmHg. Denimos assim,
mais uma unidade de pressao chamada torr como sendo a press ao exercida
por 1mm de Hg, ou seja, 1torr = 1mmHg.
Denimos pressao em termos de for ca por unidade de area. Suponha-
mos agora o caminho inverso, isto e, conhecendo-se a pressao em todos os
pontos de um uido desejamos determinar a for ca total exercida sobre as pa-
redes do recipiente que contem o uido. Lembre-se de que um uido ideal nao
e capaz de exercer for cas tangenciais e de que a pressao foi convenientemente
denida em termos apenas da componente normal da for ca de contato entre
duas superfcies. Podemos facilmente calcular a for ca a partir da press ao em
condicoes simples como a de uma superfcie plana de area A cujos pontos
est ao todos ` a mesma pressao P. Este e o caso, por exemplo, da for ca exer-
cida sobre o fundo plano de uma garrafa vertical contendo um determinado
uido conforme e mostrado na Figura 1.3.
n
F
A
A
A
n
F=PA n
n
F
Figura 1.3: Elementos de forca e area sobre as superfcies de um recipiente contendo
um uido.
Neste caso a for ca total exercida no fundo da garrafa e
F = P A n , (1.2)
11
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
onde n e o vetor unit ario normal ` a superfcie, que aponta para fora do uido.
No entanto, em geral, a pressao pode variar de um ponto para outro da
superfcie, ou ainda podemos estar interessados em calcular a for ca exercida
sobre uma superfcie curva, como a superfcie lateral da garrafa da Figura
1.3. Neste caso, devemos tomar por coes innitesimais da superfcie com areas
A aproximadamente planas. Sendo estas porcoes innitesimais, podemos
ainda considerar a press ao P como constante sobre a area A. A cada
por cao A corresponder a uma for ca innitesimal
F = P A n, onde n e
o vetor unit ario normal ` a superfcie na regi ao do elemento A. Note que
para uma superfcie curva, a dire cao de n varia de um ponto a outro. Para
calcularmos a for ca total exercida sobre a superfcie, devemos somar sobre
todas as por coes A e fazer o limite A 0, ou seja, devemos integrar
sobre todas as por coes A:
F =
_
P dA n . (1.3)
Outra grandeza escalar de grande import ancia no estudo da hidrost atica
e a densidade, que traduz a distribuicao espacial da massa do uido e e uma
caracterstica particular de cada substancia. A densidade e denida como a
massa por unidade de volume do uido e no sistema internacional e expressa
em Kg/m
3
. A densidade da agua, por exemplo, e 1, 0 10
3
Kg/m
3
e a do
merc urio e da ordem de 13, 610
3
Kg/m
3
. Para um uido homogeneo (todos
os pontos com a mesma densidade), a densidade e dada simplesmente pela
razao entre a massa total do uido e o volume ocupado por ele:
=
M
V
. (1.4)
Neste modulo do curso trataremos de uidos que consideraremos como
incompressveis, ou seja, a densidade nao varia com a press ao. Este certa-
mente nao e o caso de um g as ideal cujo volume (a uma dada temperatura)
e inversamente proporcional ` a press ao, como veremos no m odulo de termo-
dinamica. A varia cao do volume de um uido com a press ao e dada pelo
modulo de elasticidade volumar:
B =
P
V/V
, (1.5)
que nos d a a raz ao entre a varia cao de press ao P e a varia cao percentual
V/V de um uido. Note que como V/V e adimensional, B e expresso
em dimensao de press ao. O sinal negativo na deni cao acima garante que B
seja uma grandeza positiva. De fato, em geral, ao aumentarmos a press ao
CEDERJ
12
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
sobre um uido (P > 0) ocorre uma diminui cao do volume (V < 0) e vice-
versa. Ou seja, P e V geralmente tem sinais opostos, o que e compensado
pelo sinal negativo na deni cao de B. Se uma subst ancia possui B muito
grande, entao e necessario exercer uma press ao muito alta para produzir uma
varia cao percentual de volume apreci avel. Por exemplo, o m odulo volumar
da agua e igual a 2, 210
9
N/m
2
. Isto signica que sob a pressao existente no
fundo do Oceano Pacco (4, 010
7
N/m
2
400 atm), a varia cao percentual
de volume da agua e de apenas 1, 8 %. Assim, podemos considerar a agua
como um uido incompressvel. De agora em diante, restringiremos nossa
discussao aos uidos que, com boa aproxima cao, podem ser considerados
como incompressveis.
Uma experiencia cotidiana nos mostra intuitivamente que a pressao que
o uido exerce sobre uma superfcie nao depende da orienta cao relativa dessa
superfcie. Acima mencionamos a sensa cao associada ` a pressao que a agua
exerce sobre a superfcie de nossos tmpanos ao mergulharmos. A evidencia
maior que temos ao mergulhar, quando nadamos em direcao ao fundo, e jus-
tamente o aumento da press ao dentro dos ouvidos. Esta sensa cao traduz a
varia cao real da press ao de um uido em funcao da profundidade, fato que
sera discutido mais adiante. Um outro fato, que talvez o leitor ja tenha
percebido, e a invariabilidade desta sensa cao de press ao nos ouvidos quando,
estando com a cabe ca sempre na mesma profundidade , a inclinamos de modo
a variar a orienta cao dos ouvidos. Verica-se que, se a varia cao da profun-
didade for mesmo pequena durante este movimento, nenhuma altera cao ser a
percebida na pressao exercida sobre os ouvidos.
A independencia da pressao em funcao da orienta cao da superfcie sobre
a qual ela est a sendo exercida, pode ser mostrada ao analisarmos o equilbrio
de um elemento de uido. Anal, e preciso lembrar que estamos estudando
hidrost atica, ou seja, uidos em equilbrio. O elemento de uido sobre o qual
se baseia nossa discuss ao est a mostrado na Figura 1.4. Este e um poliedro,
com faces paralelas duas a duas, com a exce cao das faces 1 e 2, as quais
serao objeto de nossa discuss ao. Como vemos nesta gura, as faces 1 e 2
tem orienta coes diferentes em relacao ` a horizontal.
E importante observar
tambem que estas duas faces sao as unicas faces do poliedro nas quais a
pressao exerce uma for ca com componente na direcao x.
13
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
h
d
c
Face 2
Face 1
z
x
y
Figura 1.4: Elemento de volume utilizado para vericar a dependencia da press ao com
a orienta cao da superfcie. A gura mostra as dimensoes do poliedro e as faces (1 e 2)
utilizadas na discuss ao.
Para vericar que a press ao n ao depende da orienta cao da superfcie
sobre a qual ela e exercida, nos utilizaremos do fato que o uido est a em
equilbrio. Logo, a for ca resultante sobre qualquer elemento constituinte do
uido deve ser nula, como no caso do poliedro da Figura 1.5. Isto signica que
todas as componentes da forca resultante sobre o poliedro devem se anular,
ou seja: F
x
= F
y
= F
z
= 0. Portanto, as componentes horizontais das for cas
exercidas sobre as faces 1 e 2 dever ao satisfazer a:
F
1x
+ F
2x
= 0 . (1.6)
Como F
1x
= F
1
sen = p
1
A
1
sen, e F
2x
= p
2
A
2
, conclumos ent ao que
p
1
A
1
sen = p
2
A
2
. (1.7)
Por outro lado, observando as areas dos ret angulos que constituem as
faces 1 e 2, verica-se a seguinte relacao:
A
1
sen = A
2
. (1.8)
Conclumos, portanto, que p
1
= p
2
, ou seja, a press ao n ao depende da
orienta cao da superfcie sobre a qual ela e exercida.
CEDERJ
14
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
2
h
c
sen =
h
c
h = c sen
A
1
= cd
A
2
= hd = c sen d = A
1
sen
ent ao A
2
= A
1
sen
F
1x
= F
1x
x = F
1
cos
_
2
_
x = F
1
sen x = P
1
A
1
sen
F
2
= P
2
A
2
x
F
1z
z
x
F
1
Figura 1.5: Descricao das componentes na dire cao x das for cas que atuam nas faces 1
e 2 do poliedro, e relacao entre as areas destas faces.
Fluido incompressvel num campo gravitacional
Na item anterior, para mostrar a independencia da pressao em funcao
da orienta cao da superfcie, utilizamo-nos do fato do uido estar em equilbrio.
Mais especicamente, reunimos as forcas atuando na direcao x, as quais de-
veriam anular-se. estas for cas resumiam-se `aquelas provenientes da press ao
exercida sobre as faces do poliedro. Mas se, ao contrario, tivessemos resolvido
analisar as for cas na direcao z, a situa cao seria um pouco mais complexa,
pois teramos que incluir o peso do elemento de uido, forca que so tem com-
ponente na dire cao z. E este e o efeito que come caremos a discutir agora: a
varia cao da press ao em funcao da presen ca de um campo gravitacional.
Antes de comecarmos a discutir esta situacao em um uido, vamos
tentar enxergar o que acontece analisando as for cas que agem sobre uma
pilha de tres tijolos empilhados sobre o tampo de uma mesa, como mostra a
Figura 1.6.a. Suponhamos que os tijolos tenham as mesmas dimens oes e o
mesmo peso, e estejam empilhados de modo alinhado.
15
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
1
2
3
1
2
3
F
21
F
32
F
12
+
W=
W-
F
21
F
M3
F
23
+
W=
W-
F
32
a) b)
Figura 1.6: Descricao das for cas que atuam sobre tres tijolos empilhados.
Comecemos com a an alise do tijolo superior. Sobre ele agem duas
forcas, ambas na direcao vertical: o pr oprio peso (igual a mg z), e a forca
normal do tijolo 2 sobre o tijolo 1, que chamaremos
F
21
= F
21
z. Sobre
o tijolo do meio (tijolo 2), por sua vez, agem tres for cas, todas tambem
verticais: o seu peso, a for ca normal
F
12
exercida pelo tijolo 1, (a qual, como
conseq uencia da Terceira Lei de Newton deve ser igual a
F
21
), e a forca
normal
F
32
exercida pelo tijolo 3. Finalmente, sobre o tijolo 3 agem, alem do
peso, a for ca normal exercida pela mesa
F
M3
, e a for ca normal
F
23
=
F
32
exercida pelo tijolo 2. Todas estas for cas estao mostradas esquematicamente,
para cada tijolo, na Figura 1.6.b.
Com base nesta an alise, podemos entao escrever a equa cao de equilbrio
para cada tijolo, na direcao z:
F
21
mg = 0 (tijolo 1) ,
F
32
F
21
mg = 0 (tijolo 2) , (1.9)
F
M3
F
32
mg = 0 (tijolo 3) .
A solu cao para o sistema de equa coes acima pode ser obtida, resolvendo
primeiro a equa cao do tijolo 1, substituindo o valor de F
21
obtido na equa cao
do tijolo 2, assim determinando F
32
, valor que substitudo na equa cao do ti-
jolo 3 permite a determina cao de F
M3
. Seguindo este procedimento, podemos
obter a magnitude de todas as for cas envolvidas:
CEDERJ
16
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
F
21
= mg ,
F
23
= 2mg , (1.10)
F
M3
= 3mg .
Podemos ent ao, fazer algumas observa coes em rela cao a esses resulta-
dos. Em primeiro lugar, observa-se que, como deve ser esperado, a for ca
que a pilha de tijolos faz sobre a mesa (
F
3M
=
F
M3
) e igual ao peso da
pilha. Em segundo lugar, observamos que, para cada um dos tijolos, a for ca
exercida nas faces superior e inferior apresentam magnitudes diferentes, o
mesmo acontecendo com as press oes exercidas nestas faces, uma vez que as
suas areas de superfcie sao iguais. Veja tambem, que a for ca exercida na face
superior de cada tijolo tem magnitude igual ao peso dos tijolos empilhados
sobre ela (o que se traduz em forca nula para o tijolo 1, for ca igual a mg para
o tijolo 2, e 2mg para o tijolo 3). Obviamente, a diferen ca entre as forcas
nas faces inferior e superior de cada tijolo e igual em magnitude ao seu peso,
uma vez que os tijolos est ao em equilbrio.
Apesar da marcante diferen ca entre um uido e um solido, o comporta-
mento discutido acima para a pilha de tijolos, deve encontrar correspondencia
no comportamento de um uido em equilbrio. A discuss ao a seguir ser a base-
ada na suposi cao de que se possa pensar em um uido como sendo composto
de um n umero innitamente grande de elementos de volume, ou celulas de
um uido. Isto corresponde a delimitar os elementos de volume do uido
por meio de superfcies imaginarias, de modo a se formar um poliedro de
uido. Pode-se, por exemplo, dividir um uido por meio de planos parale-
los ` as dire coes x, y e z, com espa camentos regulares em cada dire cao, como
mostra a Figura 1.7.
Assim, um elemento de uido ser a constitudo por paleleppedos com
arestas iguais a x, y, e z. Mesmo sendo imaginarias as superfcies de
separa cao com os outros elementos de uido, e nelas que e exercida a for ca de
um elemento de uido sobre o outro. Como o uido est a em equilbrio, a for ca
resultante deve ser nula, portanto dever a tambem ser nula a sua componente
vertical F
x
. Considerando que as dimensoes das faces do elemento de uido
sao pequenas o suciente para que a press ao sobre elas seja constante, as
forcas que atuam sobre o elemento s ao: o seu peso (g x y z), e as
forcas provenientes da pressao exercida sobre as faces superior e inferior do
paraleleppedo de uido, como mostra a Figura 1.7. A equa cao de equilbrio
17
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
x
y
z
z
z + dz
p(z) x y z
z
y
x
p(z + z) x y z
p(z + z) x y z
Peso (W) densidade volume
. .
massa
g
W = x y z g
p(z) x y z
Figura 1.7: Elemento de volume utilizado na discussao da pressao em fun cao da pro-
fundidade, na presen ca de um campo gravitacional.
para este uido ca sendo ent ao:
F
z
= g x y z p(z + z) x y + p(z) x y = 0 , (1.11)
onde z e a posi cao do uido em rela cao ` a superfcie , p(z) e p(z + z) No caso, o eixo z escolhido
tem a origem na superfcie e
aponta para baixo.
sao as press oes na faces superior e inferior do uido respectivamente, e e a
densidade do uido. Dividindo-se a equa cao de equilbrio por xy obtemos
entao:
p = gz (1.12)
ou
g =
p
z
. (1.13)
Fazendo agora o limite para dimensoes muito pequenas do pareleleppedo,
obtemos a equa cao diferencial:
g =
dp
dz
, (1.14)
cuja solucao e dada por:
p p
0
= g
_
z
0
dz , (1.15)
o que resulta em:
p = p
0
+ gz , (1.16)
CEDERJ
18
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
onde p
0
e a press ao na superfcie do lquido (posi cao z = 0), ou seja, a
pressao de um uido aumenta com a profundidade, o que est a em acordo
com o aumento da press ao sobre os ouvidos quando mergulhamos em dire cao
ao fundo de um reservat orio de agua.
E comum chamar-se a quantidade g h
pressao manometrica, isto e, o valor da press ao menos a press ao atmosferica.
Exemplo 1
Um tubo estreito com area da secao transversal a = 5, 0 cm
2
e altura
h
1
= 2, 0 m, e colocado sobre um barril com area da base A = 1, 0 m
2
e
altura h
2
= 1, 0 m, conforme mostrado na Figura 1.8. O barril e o tubo s ao
cheios ate o topo com agua. Calcule a for ca hidrost atica exercida no fundo
do barril. Compare esta for ca com o peso do lquido e discuta o resultado.
a
h
1
h
2
A
Aa
p
0
(A a)
(p
0
+ gh
1
)(Aa)
[p
0
+ g(h
1
+ h
2
)]A
p
0
A
a) b)
Figura 1.8: Exemplo 1. (a) Dimens oes do barril e do tubo estreito acoplado ` a sua
tampa superior. (b) For cas verticais que atuam sobre o barril.
Solu cao:
A for ca hidrost atica exercida no fundo do barril pode ser calculada a
partir do produto da area pela pressao no fundo do barril:
F = P A .
19
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
A pressao no fundo do barril ser a dada pela altura h = h
1
+h
2
= 3, 0 m
da coluna de lquido acima dele, de acordo com a Eq.(16):
P = P
0
+ g h
= 1, 01 10
5
Pa + 1, 0 10
3
Kg/m
3
9, 8 m/s
2
3, 0 m
= 1, 30 10
5
Pa .
Assim, podemos facilmente calcular a for ca F exercida no fundo:
F = 1, 30 10
5
Pa 1, 0 m
2
= 1, 30 10
5
N .
Passemos agora ` a compara cao com o peso da agua. O volume total do
recipiente e a soma dos volumes do barril e do tubo:
V = a h
1
+ Ah
2
= 1, 001 m
3
.
O peso do uido pode ent ao ser facilmente calculado:
W = V g = 1, 0 10
3
Kg/m
3
1, 001 m
3
9, 8 m/s
2
9, 8 10
3
N .
Note que a for ca hidrost atica no fundo do barril e muito maior do que o
peso total do lquido. A princpio, isto pode parecer uma contradi cao. Esta
contradi cao desaparece, porem, se lembrarmos que a agua exerce tambem
uma for ca hidrost atica na superfcie superior do barril (com area A a),
forca esta que e dirigida para cima. Esta for ca tambem pode ser facilmente
calculada como:
F
= P
(Aa) = (P
0
+ g h
1
) (Aa) .
Se contabilizarmos todas as for cas verticais que atuam no barril, como
indicado na Figura 1.8.b, devemos incluir as for cas devido ` a press ao at-
mosferica nas partes exteriores do fundo e da superfcie superior do barril.
Assim, a for ca resultante sobre o barril ser a:
F
R
= (P
0
+ g h) A P
0
A + P
0
(Aa) (P
0
+ g h
1
) (Aa)
= g h A g h
1
(Aa) = g (h
1
a + h
2
A) = W ,
(1.17)
ou seja, a for ca resultante tem apenas a contribui cao das press oes manometricas
em cada superfcie.
CEDERJ
20
Introdu cao `a hidrostatica
M
ODULO 1 - AULA 1
Resumo
Nesta aula, denimos press ao e densidade, que s ao as grandezas fsicas
importantes para o estudo do comportamento dos uidos em equilbrio.
Aprendemos a calcular a press ao a partir da for ca e da area de contato en-
tre duas superfcies, e tambem vimos como realizar o procedimento oposto,
isto e, conhecendo-se a pressao em todos os pontos de contato aprendemos
a calcular a for ca de contato entre duas superfcies. Estudamos tambem a
varia cao da press ao num uido em equilbrio na presenca de um campo gra-
vitacional. Vimos como a press ao aumenta com a profundidade de acordo
com a rela cao P(h) = P
0
+ gh.
Exerccios
1. Uma seringa possui um pist ao com 0, 87 cm de diametro. Determine
a press ao no uido da seringa quando aplica-se uma for ca de 50, 6N
sobre o pist ao.
2. A porta de uma casa mede 2, 1 m por 1, 7 m. Numa ventania, a press ao
do ar do lado de fora cai a 0, 97 atm, mas no interior a press ao per-
manece em 1 atm. Calcule o m odulo e de o sentido da for ca que atua
na porta.
3. Derramamos merc urio (Hg) no ramo esquerdo de um tubo em U con-
tendo inicialmente agua. Quando a coluna de agua no ramo direito
sobe 15, 7 cm, qual a altura da coluna de merc urio no ramo esquerdo?
Hg
15, 7cm
Nvel inicial da agua
h
0
agua
Figura 1.9: Exerccio 3. Tubo em U contendo merc urio e agua.
21
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrostatica
4. Uma caixa d agua possui uma base quadrada com 3, 0 m de lado e uma
altura de 2, 0 m. A caixa encontra-se completamente cheia. Calcule o
m odulo da for ca exercida pela agua (a) no fundo da caixa e (b) numa
das paredes laterais.
5. Um recipiente contendo um uido de densidade e acelerado vertical-
mente para cima com acelera cao a. Mostre que a press ao manometrica
no uido e dada, em fun cao da profundidade h, por h (g + a).
Sugest ao: Reexamine a Equa cao 1.11, escrita para a condi cao de equilbrio,
e adapte-a para o caso em que o elemento de uido considerado est a
acelerado para cima.)
CEDERJ
22
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
M
ODULO 1 - AULA 2
Aula 2 Os princpios de Pascal e de
Arquimedes
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Estabelecer o Princpio de Pascal.
Apresentar a prensa hidr aulica.
Estabelecer o Princpio dos vasos comunicantes.
Estabelecer o Princpio de Arquimedes.
Discutir dispositivos para medidas de press ao.
Princpio de Pascal e aplicacoes
A primeira coisa que faremos nesta aula ser a olhar um pouco mais
de perto a equa cao 16 da Aula 1, a qual descreve a varia cao da press ao
em um uido, em funcao da profundidade. Observe que ela tem um termo
que depende da profundidade e um termo constante igual a p
0
, a press ao
na superfcie do uido. Uma conseq uencia direta desta equa cao e que, se
variarmos o valor de p
0
, esta varia cao de press ao ser a transmitida a todos os
pontos do uido. Esta propriedade dos uidos e conhecida como Princpio
de Pascal, pois foi enunciada pela primeira vez por Blaise Pascal, em 1663.
Este princpio aplicado por Pascal e a realiza cao do que se conhece
como prensa hidraulica. Voce certamente ja viu este dispositivo em fun-
cionamento.
E o conhecido macaco hidraulico, com o auxlio do qual uma
pessoa pode, facilmente, erguer um autom ovel com massa de centenas de qui-
logramas, em uma ocina mec anica. A Figura 2.1 mostra esquematicamente
a prensa hidr aulica, que consiste em um recipiente cheio de um uido, com
duas aberturas, por exemplo cilndricas, com di ametros diferentes. Nestas
aberturas est ao encaixados embolos leves bem adaptados, de tal forma que
nenhuma quantidade de uido possa passar entre a parede das aberturas e
os embolos. Na Figura 2.1, as areas dos embolos est ao assinaladas como A
1
e A
2
, sendo obviamente A
1
> A
2
. Imagine que os embolos est ao no mesmo
nvel, e que, sobre o pistao de area A
1
, esta posicionado um objeto pesado
de massa M. Assim, para entender o funcionamento da prensa hidr aulica,
23
CEDERJ
2
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
devemos responder ` a pergunta: qual e a for ca F que devemos exercer sobre o
embolo de area A
2
para que o objeto com massa M permane ca em equilbrio?
M
A
1
A
2
F
Figura 2.1: Esquema da prensa hidr aulica.
Para responder a esta pergunta precisaremos analisar as for cas que
est ao agindo sobre o objeto de massa M. Estas sao o seu peso Mg e a
forca normal N do embolo sobre o objeto. Uma vez que a massa M est a em
equilbrio N = Mg e, como conseq uencia, a pressao exercida sobre o uido
sera igual a N/A
1
que por sua vez e igual a Mg/A
1
. Pelo Princpio de Pascal,
esta press ao ser a transmitida `a superfcie do uido em contato com o embolo
menor. Ou seja:
F =
A
2
A
1
Mg , (2.1)
onde F e a for ca que precisaremos exercer para manter o objeto de massa M
em equilbrio.
Exemplo 1
Uma prensa hidr aulica possui um embolo maior com 10 cm de diametro e
um menor com 2 cm de diametro. Calcule a for ca necessaria para erguer um
objeto com massa M = 100kg com o auxlio da prensa.
CEDERJ
24
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
M
ODULO 1 - AULA 2
Solu cao:
A area de contato do embolo maior (diametro de 10 cm) e A
1
= 0, 031m
2
e a do embolo menor (di ametro de 2 cm) e A
2
= 0, 00012m
2
. A for ca
necessaria para equilibrar o objeto com massa igual a 100 kg ser a ent ao
igual a:
F =
A
2
A
1
Mg =
(
2
2
)
2
(
10
2
)
2
980 N =
1
25
980 N = 39, 2 N . (2.2)
Observe que a forca necessaria e quase trinta vezes menor que o peso
do objeto, o que explica a facilidade com que se ergue um carro num posto
de gasolina.
Uma outra conseq uencia do que foi discutido na Aula 1, e que voce
provavelmente j a conhece, e o Princpio dos vasos comunicantes. Este efeito
est a esquematizado na Figura 2.2, a qual mostra um vaso constitudo por
ramica coes de formatos diferentes, sendo o seu fundo nivelado. Uma vez que
todos os pontos do fundo do vaso estar ao ` a mesma pressao, e que a pressao
na superfcie do uido em cada ramica cao e igual ` a press ao atmosferica,
as alturas de uido em cada ramica cao ser ao iguais. Este fato e melhor
explicado quando se expressa a pressao p
F
do fundo do vaso em funcao da
altura do lquido:
p
F
= p
0
+ gh
1
,
p
F
= p
0
+ gh
2
, (2.3)
p
F
= p
0
+ gh
3
.
Destas equa coes conclumos que h
1
= h
2
= h
3
.
h
1
h
2
h
3
Figura 2.2: Esquema dos vasos comunicantes
25
CEDERJ
2
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
Princpio de Arquimedes
Faz parte da experiencia de qualquer pessoa a observa cao de que um ob-
jeto largado em um uido pode ter tres tipos de comportamento de equilbrio:
utuar na superfcie, car mergulhado em uma determinada profundidade ou
estacionar no fundo do recipiente que contem o uido. Outro fato de inte-
resse e o comportamento dos peixes, ou o dos submarinos, que podem mudar
de profundidade com uma relativa facilidade.
Para analisar sicamente esta situa cao iremos usar o mesmo artifcio
utilizado para discutir a varia cao da press ao de um uido com a profundi-
dade. Vamos supor um paraleleppedo de um s olido com densidade
S
, com
dimensoes L
x
, L
y
e L
z
. Imaginemos que este solido est a mergulhado em um
uido com densidade , estando sua face superior a uma profundidade z. Va-
mos, ent ao, analisar as for cas exercidas pelo uido sobre o s olido. Elas tem
origem na pressao exercida pelo uido sobre as faces do pareleppedo. As
forcas provenientes da pressao sobre as faces laterais do solido obviamente
se anulam. Restam, ent ao, as for cas provenientes da pressao sobre as faces
superior e inferior do s olido. Esta for ca e dada por:
F
z
= [p(z) p(z + L
z
)]L
x
L
y
. (2.4)
Mas, como vimos na aula anterior, p(z) e p(z + z) sao dados por:
p(z) = p
0
+gz ,
p(z + L
z
) = p
0
+g(z + L
z
) . (2.5)
Portanto, a for ca resultante da press ao sobre as faces superior e inferior do
solido ser a dada por:
Fz = gL
x
L
y
L
z
= gV
S
, (2.6)
onde V
s
e o volume do s olido considerado. Portanto, o m odulo desta forca
e igual ao peso de uma quantidade de uido com volume igual ` a do s olido
considerado. O sinal negativo indica que esta for ca aponta para cima, isto
e, contraria ao sentido do eixo z adotado na Aula 1 (veja a Figura 1.7).
E
importante notar que esta for ca, que e denominada empuxo, depende ape-
nas das propriedades do uido no qual o s olido est a mergulhado, e do vo-
lume do solido. Esta lei foi, pela primeira vez, enunciada por Arquimedes,
sendo por isso denominada Princpio de Arquimedes, o qual pode ser enunci-
ado da seguinte forma: um corpo mergulhado em um uido sofre uma forca
CEDERJ
26
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
M
ODULO 1 - AULA 2
para cima, cujo valor absoluto e igual ao peso do volume de uido deslocado
pelo corpo.
O estado de movimento de um solido ao ser mergulhado em um uido
depender a somente de sua densidade. Se sua densidade for maior que a
densidade do uido, o seu peso ser a ent ao maior do que o empuxo, fazendo
com que ele se movimente em direcao ao fundo do recipiente que contem o
uido. Se a sua densidade for igual ` a do uido, ele estar a em equilbrio, pois
seu peso sera igual ao empuxo. Se, caso contr ario, sua densidade for menor
que a do uido, ele utuar a na superfcie do uido, com parte de seu volume
acima da superfcie.
Exemplo 2
Uma caixa c ubica com 50 cm de aresta e massa M = 5, 0 kg utua
numa piscina com agua. Se derramarmos merc urio (Hg) dentro da caixa,
qual a altura m axima de Hg (com rela cao ao fundo da caixa) que pode ser
transportada sem que a caixa afunde?
h
Hg
50 cm
AGUA
5, 0 kg
d
a)
z
E
(M + m
Hg
)g
b)
Figura 2.3: Exemplo 2. Aplica cao do princpio de Arquimedes. a) Caixa com merc urio
(Hg) utuando na agua. b) Diagrama de for cas atuando no sistema formado pela caixa
com merc urio.
27
CEDERJ
2
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
1
a
Solu cao:
Consideremos a caixa parcialmente cheia com uma massa m
Hg
de Hg.
Isolamos o sistema formado pela caixa com Hg, identicando todas as for cas
que atuam no sistema:
F
z
= (M + m
Hg
) g E = 0 ,
onde (M + m
Hg
) g e o peso total do sistema e E, o empuxo exercido pela
agua. Uma vez que o sistema se encontra em equilbrio, temos que
F
z
= 0.
Por outro lado, pelo Princpio de Arquimedes, o empuxo e igual ao peso do
volume de agua deslocado, isto e,
E =
a
V g = Ah g ,
onde
a
e a densidade da agua, A e a area da secao reta da caixa e h e a
altura submersa da caixa. Podemos ent ao relacionar h com a massa m
Hg
colocada no interior da caixa atraves de:
(M + m
Hg
) g
a
Ah g = 0 = m
Hg
=
a
Ah M .
Obviamente, a caixa afundar a quando a altura submersa igualar-se `a
aresta da caixa, ou seja, h = 50 cm. Assim, a quantidade m axima de Hg que
pode ser transportada e:
m
Hg
= 1, 0 10
3
kg/m
3
(0, 5 m)
2
0, 5 m 5, 0 kg = 120 kg .
Conhecendo a densidade
Hg
do merc urio, podemos calcular o volume
ocupado por m
Hg
:
V
Hg
=
m
Hg
Hg
=
120 Kg
13, 6 10
3
Kg/m
3
= 8, 82 10
3
m
3
.
Logo, a altura de Hg na caixa ser a
d =
V
Hg
A
= 35, 3 mm
2
a
Solu cao:
Mencionamos anteriormente que, devido ao Princpio de Arquimedes,
a condi cao necessaria para um objeto utuar em um uido e a de que a
densidade do objeto seja menor que a do uido. Assim sendo, podemos
comparar a densidade media da caixa contendo Hg com a densidade da agua.
CEDERJ
28
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
M
ODULO 1 - AULA 2
Lembrando que o volume total da caixa e V
T
= AH e m
Hg
=
Hg
Ad, a
densidade media da por cao submersa da caixa com Hg ser a:
c
=
M + m
Hg
V
T
=
M
V
T
+
Hg
d
H
,
onde H = 0, 5 m e a altura da caixa. A caixa ir a afundar quando a altura de
Hg atingir o valor d tal que
c
=
a
. Assim, temos que
d = H
a
(M/V )
Hg
=
0, 5 m
1, 0 10
3
kg/m
3
(5, 0 kg / 0, 125 m
3
)
13, 6 10
3
kg/m
3
= 35, 3 mm
Medidas de pressao
A medida de pressao pode ser realizada tanto por tecnicas hidrost aticas
como por tecnicas hidrodin amicas. Nesta aula, trataremos apenas das tecnicas
hidrost aticas. As tecnicas hidrodin amicas baseiam-se nas leis de escoamento
de um uido que estudaremos mais tarde.
De maneira geral, chamamos bar ometro o aparelho utilizado para a
medicao da press ao atmosferica. Um tipo rudimentar de bar ometro de merc urio
foi inventado no seculo XVII pelo italiano Evangelista Torricelli. Um tubo de
vidro fechado em uma das extremidades, e completamente cheio de merc urio,
e colocado de cabe ca para baixo em um recipiente, tambem cheio de merc urio,
como mostra a Figura (2.4).
Utilizando um tubo sucientemente longo, observa-se que a coluna de
merc urio desce produzindo v acuo na parte mais alta do tubo. A press ao na
regi ao de v acuo e praticamente nula. Neste caso, podemos calcular a press ao
atmosferica, lembrando que os pontos de um mesmo uido, que se encontram
`a mesma altura, possuem a mesma press ao. Assim sendo, analisaremos os
pontos A, B e C indicados na Figura (2.4), um sobre a superfcie do merc urio
no recipiente (ponto A), outro ` a mesma altura no interior do tubo (ponto B),
de maneira que p
A
= p
B
, e, ainda, outro na superfcie do merc urio no interior
do tubo (ponto C). Uma vez que o ponto A est a em contato com a atmosfera,
p
A
e igual ` a pressao atmosferica p
0
que queremos medir. Por outro lado, a
pressao no ponto B pode ser calculada com a Equa cao (1.12) aplicada aos
pontos B e C, lembrando-se de que p
C
= 0 pois C encontra-se na interface
entre o merc urio e a regi ao de v acuo. Assim, conclumos que p
A
= p
B
= gh.
Portanto, conhecendo-se a densidade do merc urio e a acelera cao da gravidade
no local da medida, pode-se medir a altura h da coluna de merc urio no tubo e
obter o valor da press ao atmosferica no local. Por exemplo, ao nvel do mar,
29
CEDERJ
2
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
p
B
= p
A
B
C
A
p
A
=p
0
p = 0
h
Figura 2.4: Bar ometro de merc urio.
a altura da coluna de merc urio ser a de cerca de 760mm. Mais precisamente,
1 atmosfera (1 atm) corresponde a uma coluna de Hg de 760mm de altura a
0
o
C, sob gravidade g = 9, 80665m/s
2
. Substituindo a densidade do merc urio
a 0
o
C,
Hg
= 1, 35955 10
4
kg/m
3
, obtemos
1atm = (1, 35955 10
4
kg/m
3
)(9, 80665m/s
2
)(0, 76m) = 1, 01 10
5
Pa .
Baseado no bar ometro de merc urio denimos a unidade de pressao torr
(em homenagem a Torricelli) como sendo a pressao correspondente a uma
coluna de 1mm de Hg, ou seja,
1torr = (1, 35955 10
4
kg/m
3
)(9, 80665m/s
2
)(0, 001m) = 133, 326Pa .
Conforme dissemos na Aula 1, chamamos press ao manometrica a di-
ferenca entre a pressao medida e a press ao atmosferica. A press ao absoluta
num ponto qualquer de um uido e a soma da press ao manometrica com
a pressao atmosferica, e, portanto, corresponde `a press ao real no ponto em
quest ao. O manometro e um aparelho utilizado para medir-se pressoes ma-
nometricas. Um tipo simples deste aparelho e o man ometro de tubo em U
mostrado na Figura (2.5).
CEDERJ
30
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
M
ODULO 1 - AULA 2
SISTEMA
PRESS
AO p
A
p
A
= p
B
h
C p
C
= p
0
p
B
= p
A
Figura 2.5: Man ometro de tubo em U.
Ele e formado por um tubo em forma de U, aberto em ambas as ex-
tremidades, contendo um uido manometrico com densidade . Uma das
extremidades e colocada em contato com o sistema cuja press ao queremos
medir, enquanto a outra extremidade est a em contato com a atmosfera. Para
calcularmos a pressao do sistema, utilizamos tres pontos de referencia: o
ponto A de contato entre o sistema e o uido manometrico, o ponto B loca-
lizado no outro ramo do tubo em U ` a mesma altura de A, e o ponto C na
regi ao de contato entre o uido manometrico e a atmosfera. Como A e B
est ao ` a mesma altura, sobre o mesmo uido, temos que p
A
= p
B
. Por outro
lado, podemos aplicar a Equa cao (1.16) aos pontos B e C de maneira que
p
A
= p
B
= p
0
+ g h. A pressao manometrica no ponto A e portanto
p
A
p
0
= g h ,
ou seja, e proporcional ` a diferen ca de altura do uido manometrico em cada
ramo do man ometro. Assim, conhecendo-se e g podemos obter a pressao
manometrica medindo a altura h.
31
CEDERJ
2
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
Resumo
Nesta aula, apresentamos dois princpios fundamentais da hidrost atica.
Os princpios de Pascal e de Arquimedes tem diversas aplica coes pr aticas,
sendo a base do funcionamento de todas as m aquinas hidr aulicas. O Princpio
de Pascal nos diz que a varia cao de press ao em um ponto de um uido est atico
e transmitida a todos os pontos do uido. Este princpio fornece a base para
o funcionamento da prensa hidr aulica que permite que um objeto pesado seja
erguido com uma for ca inferior ao seu peso. O Princpio de Arquimedes, em
contrapartida, nos diz que um objeto submerso em um uido sofre a a cao de
uma for ca vertical para cima, exercida pelo uido, e cujo m odulo e igual ao
peso do volume de uido deslocado. Nesta aula, vimos ainda os dispositi-
vos b asicos para medidas de press ao. Chamamos bar ometros os dispositivos
para medidas de pressao absoluta. Estudamos o funcionamento de um tipo
rudimentar deste dispositivo que e o bar ometro de merc urio. As medidas
de pressao relativa s ao realizadas por dispositivos chamados manometros.
Tambem estudamos um tipo comum deste aparelho que e o man ometro de
tubo em U.
Exerccios
1. Um elevador hidr aulico e constitudo de dois pist oes com tamanhos
diferentes. O pist ao menor tem 4, 0 cm de diametro e o pist ao maior
possui 1, 0 m de diametro. Um carro com 2, 0 10
3
kg e apoiado sobre
o pist ao maior. Que peso devemos colocar sobre o pist ao menor para
equilibrarmos o carro?
2. Um negociante de metais preciosostenta vender uma j oia, suposta-
mente feita de ouro, ao Sr. Arquimedes da Silva, que descona da pe ca
e prop oe um teste de legitimidade. Ele pesa a peca e conclui que a
massa dela e de 39, 0 g. Em seguida, ele a submerge em um tubo con-
tendo agua, com 2, 5 cm
2
de area transversal. Sabendo que o nvel da
agua no recipiente sobe 2, 0 mm, encontre a densidade da pe ca e diga
se ela e legtima.
3. Uma plataforma utua em agua doce ( = 0, 998 10
3
kg/m
3
), deslo-
cando 5, 0 10
3
kg de agua. Calcule o peso e o volume de agua que
a plataforma deslocaria se utuasse em agua salgada ( = 1, 024
10
3
kg/m
3
)? O volume de agua deslocada muda?
CEDERJ
32
Os princpios de Pascal e de Arquimedes
M
ODULO 1 - AULA 2
4. Um bloco de 500 kg possui a forma de um cubo com 50 cm de aresta.
Este bloco e pendurado por um o no interior de um recipiente cheio
de agua como mostra a gura 2.6. O objeto est a submerso com sua
face superior a 30 cm de profundidade.
(a) Calcule a forca total
F
1
que atua na face superior do bloco.
(b) Calcule a for ca total
F
2
que atua na face inferior do bloco.
(c) Calcule a tra cao
T no o.
(d) Calcule, utilizando o Princpio de Arquimedes, o empuxo
E exer-
cido pela agua sobre o bloco.
(e) Mostre que E=F
2
-F
1
.
(f) Considere agora que a face superior do bloco encontra-se a 50 cm
de profundidade, e refaca os itens de (a) a (e). Que itens ter ao
suas respostas modicadas?
Figura 2.6: Exerccio 4. O bloco de 500 kg, pendurado por um o esta submerso em
um recipiente com agua.
5. Suponha um bar ometro que utilize agua (
a
= 1, 0 g/cm
3
) no lugar de
merc urio. Sabendo que o valor da press ao atmosferica e de 1, 01
10
5
Pa, calcule a altura da coluna de agua no bar ometro.
33
CEDERJ
Introdu cao `a hidrodinamica
M
ODULO 1 - AULA 3
Aula 3 Introdu cao `a hidrodinamica
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Introduzir no coes acerca do movimento dos uidos.
Estabelecer criterios para o estudo do escoamento de um uido.
Obter a equacao da continuidade de um uido.
Escoamento de um uido
Temos tratado, ate o momento, do comportamento de uidos em equil-
brio. Nesta aula, come caremos a estudar os uidos em movimento. Como
vimos nas aulas anteriores, um uido apresenta propriedades diferentes de
outros sistemas, como os corpos rgidos. Num corpo rgido, a dist ancia en-
tre as partculas que o comp oem e xa e a descri cao de seu movimento e
feita de forma global. J a em um uido, devido ao fato deste amoldar-se ao
vaso que o contem, a dist ancia entre as partculas, em geral, pode variar.
Como conseq uencia, para descrevermos o movimento de um uido, temos de
considerar, de alguma maneira, o movimento de cada partcula.
Antes de passarmos ` a descri cao do movimento de um uido, convem
denir o que seja uma partcula de uido. De alguma forma, isso foi feito no
estudo da hidrost atica, quando utilizamos elementos de uido de dimens oes
innitesimais. Mas, para um uido em movimento, uma restri cao deve ser
imposta: as dimens oes das partculas de um uido devem ser bem maiores
que as dimensoes moleculares, de modo que se possa desprezar o movimento
das moleculas constituintes do uido em sua descri cao. Uma das maneiras
de descrever o movimento de um uido e acompanhar a trajet oria de cada
partcula, atraves de sua posi cao r(t) e sua velocidade v(t), em funcao do
tempo. Mas, dessa forma, a solu cao das equa coes de movimento seria muito
difcil. Uma outra metodologia e mais utilizada para o estudo do movimento
dos uidos. Ela se baseia na observacao da varia cao da velocidade em funcao
do tempo, em cada ponto de posi cao r do uido, ou seja:
v = v(r, t) . (3.1)
Sob este ponto de vista, estaremos interessados em determinar a ve-
locidade da partcula do uido que est a passando na posi cao r, em funcao
35
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrodinamica
do tempo. Observe bem que n ao estaremos mais interessados em acompa-
nhar a trajet oria de uma partcula de uido, e sim, analisar a velocidade da
partcula que est a passando por uma dada posi cao, em um dado instante.
Nesta forma de analisar as coisas, estaremos interessados em determinar um
campo vetorial, o campo de velocidades do uido. Determinar este campo
consiste em associar a cada ponto do uido, a cada instante, o vetor velo-
cidade do uido. A Figura 3.1.a exemplica o campo de velocidades de um
uido escoando por um tubo com um estreitamento.
(a)
(b)
Figura 3.1: (a) Campo de velocidades de um uido escoando dentro de um tubo com
um estreitamento; (b) Linhas de escoamento correspondentes ao escoamento representado
pelo campo de velocidades mostrado em (a).
Vimos acima, que a deni cao de campo de velocidade inclui a de-
pendencia no tempo. Isto signica que, em geral, o campo de velocidades
varia com o tempo. Quando o campo de velocidades de um uido n ao varia
com o tempo, temos o que se chama escoamento estacionario, no qual o
campo de velocidades e dado por v(r).
E interessante mencionar um tipo de
escoamento n ao estacion ario, o escoamento turbulento, no qual as veloci-
dades variam aleatoriamente de um ponto para outro, e de um instante para
outro. Este e o caso, por exemplo, do escoamento de agua em cachoeiras e
corredeiras.
Para termos uma vis ao inicial um pouco mais completa do escoamento
de uidos, podemos classicar os escoamentos observando outras caractersticas,
alem da dependencia temporal. Do ponto de vista da presen ca de for cas de
atrito ou dissipativas, um escoamento pode ser classicado como viscoso ou
CEDERJ
36
Introdu cao `a hidrodinamica
M
ODULO 1 - AULA 3
nao viscoso. Em um escoamento n ao viscoso est ao ausentes for cas dissipa-
tivas entre as partculas do uido em movimento ou entre as partculas do
uido e sua vizinhan ca, an alogas ` as for cas de atrito. O uido que apresenta
escoamento n ao viscoso e chamado de uido ideal. Os escoamentos podem
ser classicados tambem como rotacionais ou irrotacionais. Em um es-
coamento rotacional, o campo de velocidades mostra padr oes de circulacao,
como mostrado na Figura 3.2.Um exemplo de escoamento rotacional e o re-
demoinho apresentado pela agua escoando pelo ralo de uma pia. Devemos
observar, em rela cao aos diversos tipos de escoamento, que a analise de
dinamica dos uidos apresentada, nesta e na pr oxima aula, sera
sempre baseada em escoamentos estacion arios, irrotacionais e nao
viscosos.
Figura 3.2: Campo de velocidades de um escoamento rotacional.
Podemos obter uma melhor visualiza cao do escoamento de um uido
fazendo passar linhas tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do uido.
As linhas obtidas desta forma s ao chamadas linhas de corrente, e est ao es-
quematizadas na Figura 3.1.b. Esta gura mostra linhas de corrente cor-
respondentes ao campo de velocidades mostrado na Figura 3.1.a. Quando
estudamos um escoamento estacion ario, as linhas de corrente se confundem
com as linhas de escoamento, que sao as linhas que descrevem a trajet oria
de uma partcula de um uido em movimento.
A partir do conceito de linhas de corrente, podemos denir tambem o
que seja um tubo de corrente. Um tubo de corrente e a superfcie formada
pelas linhas de corrente que passam pelos pontos de uma determinada curva
fechada C no uido, como mostra a Figura 3.3. No regime estacion ario, as
37
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrodinamica
linhas de corrente nunca atravesam as paredes de um tubo de corrente, uma
vez que as linhas de corrente n ao mudam com o tempo.
Figura 3.3: Tubo de corrente no escoamento de um uido.
Equacao da continuidade
Na sess ao anterior, introduzimos algumas no coes acerca do escoamento
de uidos. Agora, iremos discutir o escoamento propriamente dito, ou seja,
o movimento de um uido. Nessa primeira abordagem, nos basearemos no
fato de que a massa de um uido em escoamento se conserva. Para um uido
em escoamento, a massa de uido que entra em uma determinda regi ao deve
ser igual ` a massa que sai desta regi ao, em um determinado intervalo de
tempo. Tomemos como exemplo uma canaliza cao de agua. Se delimitarmos
um trecho desta canaliza cao, toda a massa de agua que entra neste peda co
de cano em um intervalo de tempo, ser a igual ` a massa de agua que sai no
mesmo intervalo de tempo.
P
1
P
1
A
1
V
1
V
1
t
A
2
V
2
V
2
t
Figura 3.4: Conservacao da massa de um uido escoando.
O estabelecimento da conserva cao da massa pode ser feito atraves da
grandeza chamada vaz ao m assica Q
M
, que nada mais e do que a taxa de
CEDERJ
38
Introdu cao `a hidrodinamica
M
ODULO 1 - AULA 3
varia cao temporal da massa de uido em escoamento, ou seja:
Q
M
=
dM
dt
, (3.2)
onde a vaz ao Q
M
e expressa em unidades de kg/s (quilogramas por segundo).
O pr oximo passo de nosso estudo ser a considerar a conserva cao da
massa em um tubo de corrente. Nosso objetivo sera relacionar a velocidade
do uido com a sua vaz ao. Para isso, consideraremos um tubo de corrente
no interior do qual a velocidade e constante . Consideremos tambem, para
efeito do c alculo da vaz ao, um intervalo de tempo t innitesimal, pequeno o
suciente para considerarmos constante a velocidade v do uido ao longo de
um comprimento vt (ver Figura 3.4). Consideremos, para efeito de nossa
an alise, o trecho de tubo de corrente entre P
1
e P
1
, o qual est a mostrado na
Figura 3.4. Consideremos, tambem, que a area de sess ao reta e a velocidade
do uido em P
1
sao iguais a A
1
e V
1
, respectivamente. O volume do trecho
de tubo entre P
1
e P
1
sera igual ent ao a A
1
V
1
t. Se a densidade do uido
neste trecho de tubo for igual a
1
, a massa M de uido contida no trecho
de tubo entre P
1
e P
1
sera igual a:
M =
1
A
1
v
1
t. (3.3)
A vaz ao do uido em P
1
sera dada ent ao por:
Q =
M
t
=
1
A
1
v
1
t
t
=
1
A
1
v
1
. (3.4)
Como a vaz ao no tubo deve ser constante, para qualquer ponto do tubo
dever a valer a equa cao:
Q
M
= Av , (3.5)
ou seja, para quaisquer dois pontos do tubo de corrente valer a a seguinte
rela cao:
1
A
1
v
1
=
2
A
2
v
2
. (3.6)
Neste ponto, vale a pena denirmos a vaz ao volumetrica de um uido,
Q
V
, que e a taxa de varia cao temporal do volume de um uido em escoa-
mento, ou seja:
Q
M
= Q
V
, (3.7)
ou ent ao:
Q
V
= Av . (3.8)
39
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrodinamica
Por outro lado, se o uido for incompressvel, ou seja, se a sua densidade
for uniforme ao longo de todo o tubo de corrente, teremos ent ao:
A
1
v
1
= A
2
v
2
. (3.9)
A equa cao da continuidade permite a an alise de diversas situacoes que
ocorrem em nosso dia-a-dia. Este e o caso do aumento do alcance do jato
de agua de uma mangueira, quando diminumos o di ametro de sua sada,
ou do estreitamento do o de agua que cai da boca de uma torneira. Essas
situa coes serao tratadas nos exemplos a seguir.
Exemplo 1
O bocal de uma mangueira para molhar jardins pode variar o seu
diametro entre 1 e 3mm. Sabendo que a vaz ao de agua na mangueira e igual
a 1, 0l/s, e que o bocal est a posicionado horizontalmente a 1, 0m do ch ao,
determine os valores maximo e mnimo do alcance do jato da mangueira.
Solu cao:
Em primeiro lugar, devemos perguntar qual ser a a trajet oria das partculas
de agua quando estas abandonarem o bocal da mangueira. Ao sair do bocal,
cada partcula comportar-se- a como uma partcula em queda livre, devendo
seguir uma trajet oria parabolica, como mostrado na Figura 3.5. Como a ve-
locidade inicial de cada partcula de agua e horizontal, o seu alcance L sera
dado por (lembre-se de Fsica 1):
L = v
2h
g
,
onde v e a velocidade da partcula de agua ao deixar o bocal da mangueira, h
e a altura da mangueira em rela cao ao ch ao e g e a acelera cao da gravidade.
Uma vez que a altura da mangueira e mantida constante, e sua inclina cao
tambem, a unica maneira de variar o alcance do jato e atraves da variacao
da velocidade de sada da agua.
Uma vez que a vaz ao Q da agua que sai da mangueira e constante,
podemos variar a velocidade de sada da agua atraves da variacao do di ametro
do bocal, j a que:
Q
V
= Av ,
onde A e a area do bocal, a qual, por sua vez, e igual a d
2
/4. Logo, a
velocidade de sada da agua ser a dada por:
v =
Q
V
A
=
4Q
V
d
2
.
CEDERJ
40
Introdu cao `a hidrodinamica
M
ODULO 1 - AULA 3
1, 0m
L
Figura 3.5: Exemplo 1.
Agora, ent ao, podemos escrever a equa cao do alcance em fun cao dos
dados do problema:
L =
4Q
d
2
2h
g
.
A vaz ao e igual a 1l/s, o que por sua vez e igual a 10
3
m
3
/s e a altura
h e igual a 1, 0m. Logo, o alcance ser a dado por:
L =
4 10
3
m
3
/s
3.14 d
2
2 1m
9, 8m/s
2
=
5, 7 10
4
m
3
d
2
.
Primeiramente, calculemos o alcance quando o bocal est a com 0, 5cm =
5, 0 10
3
m:
L =
5, 7 10
4
m
3
25, 0 10
6
m
2
= 22, 8m .
Quando o bocal est a com seu di ametro igual a 1, 0cm temos:
L =
5, 7 10
4
m
3
1, 0 10
4
m
2
= 5, 7m .
Portanto, o alcance mnimo sera igual a 5, 7 m e o alcance m aximo ser a igual
a 22, 8 m.
Exemplo 2
Uma torneira (ver Figura 3.6) despeja agua com uma vaz ao de 10ml/s.
Sabendo que a boca da torneira tem 1, 0cmde diametro, determine o di ametro
do o de agua que cai da torneira , 10, 0cm abaixo da boca da torneira.
Solu cao:
Da mesma forma que no exemplo anterior, as partculas de agua, ao
sarem da boca da torneira estarao em queda livre. Isto far a com que a
41
CEDERJ
2
Introdu cao `a hidrodinamica
10, 0 cm
d
2
Figura 3.6: Exemplo 2.
sua velocidade aumente enquanto elas caem. Por outro lado, uma vez que a
densidade da agua e constante, a vaz ao volumetrica do o de agua que cai da
torneira ser a a mesma em qualquer altura. A velocidade com que a agua sai
da torneira pode ser facilmente determinada atraves da equa cao Q
V
= A
1
v
1
,
onde Q
V
e a vaz ao volumetrica, A
1
e a area de secao reta do tubo, e v
1
e a
velocidade de sada da agua. Portanto:
v
1
=
Q
A
1
=
10 10
6
m
3
/s
3, 14
(10
2
m)
2
4
=
10
5
m
3
/s
7, 8 10
5
m
2
= 1, 3 10
1
m/s.
Como a densidade da agua e constante ao longo do o, podemos fa-
cilmente determinar as areas do o em qualquer altura atraves da equa cao
A
1
v
1
= A
2
v
2
, ou seja:
A
2
=
v
1
v
2
A
1
.
Mas para isso precisaremos determinar a velocidade v
2
, que pode ser
obtida atraves da equa cao (lembre-se, mais uma vez, das aulas de Fsica 1):
v
2
2
= v
2
1
+ 2gh ,
onde h e a altura de queda das partculas de agua. A velocidade v
2
sera dada
entao por:
v
2
=
_
(1, 3 10
1
)
2
m
2
/s
2
+ 2 9, 8m/s
2
0, 1m = 1, 4m/s .
Entao, podemos calcular a area A
2
:
A
2
=
v
1
v
2
A
1
=
1, 3 10
1
m/s
1, 4m/s
7, 8 10
5
m
2
= 7, 2 10
6
m
2
.
Agora, podemos determinar d
2
, o di ametro do o de agua, 10cm abaixo
da torneira:
d
2
=
4 A
2
3, 14
=
4 7, 2 10
6
m
2
3, 14
= 3mm.
CEDERJ
42
Introdu cao `a hidrodinamica
M
ODULO 1 - AULA 3
Resumo
Nesta aula, discutimos a mec anica dos uidos. Come camos pela in-
trodu cao ao estudo do escoamento de um uido por meio do campo vetorial
de velocidades v(r, t), e, a seguir, zemos a classica cao de diversos tipos
de escoamento (estacion ario e nao estacion ario, viscoso e nao viscoso, ro-
tacional e irrotacional). Continuamos introduzindo os conceitos de linha de
corrente e tubo de corrente. Finalmente, estabelemos a conserva cao da massa
para o escoamento de um uido, a qual pode ser visualizada pela equa cao
1
A
1
V
1
=
2
A
2
v
2
, em duas secoes retas de um tubo de corrente.
Exerccios
1. Uma tubula cao de 25, 4 cmde diametro transporta agua com velocidade
de escoamento igual a 3 m/s. Qual a massa total de agua transportada
por essa tubula cao durante um dia inteiro de opera cao?
2. O embolo de uma seringa de inje cao cheia de agua e empurrado a uma
velocidade de 1 mm/s. A seringa tem seu di ametro interno igual a
1, 0 cm. A agulha na sada da seringa tem o di ametro igual a 0, 5 mm.
Determine (a) a vaz ao e (b) a velocidade de escoamento d agua na sada
da agulha.
3. Uma mangueira de agua, cujo bocal tem 12mm de diametro, est a apon-
tada verticalmente para cima. Pela mangueira passa agua a uma vaz ao
de 300ml/s. Qual a altura m axima acima do bocal atingida pela agua?
4. Em vez de agua, a seringa de inje cao do exerccio 2 est a cheia com
glicerina. Determine a vaz ao m assica de glicerina que sai pela ponta
da agulha.
43
CEDERJ
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
Aula 4 A equa cao de Bernoulli
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Descrever a din amica de escoamento de um uido.
Deduzir a Equa cao de Bernoulli.
Aplicar a Equa cao de Bernoulli e a Equa cao da Continuidade a apare-
lhos de medida como o Medidor de Venturi e o Tubo de Pitot.
Introdu cao
Na Aula 3, deduzimos uma propriedade cinem atica fundamental do es-
coamento de um uido, dada pela Equa cao da Continuidade. Esta equa cao e
uma conseq uencia natural do princpio de conserva cao da materia e expressa
apenas o fato de que a massa total de um uido deve permanecer constante
durante o escoamento. Este princpio simples, contudo, nos fornece uma
informa cao importante acerca da cinem atica do escoamento, dizendo como
deve variar a velocidade do uido ao variar-se a se cao reta de escoamento. Na
aula de hoje, estaremos interessados em descrever as propriedades dinamicas
do escoamento de um uido. Estas propriedades podem ser obtidas a partir
das leis fundamentais da mecanica newtoniana. A quest ao b asica que procu-
raremos responder na aula de hoje e: como podemos calcular a press ao em
todos os pontos de um uido em escoamento? Assim como um princpio de
conserva cao nos forneceu a Equa cao da Continuidade, a equa cao din amica
para o escoamento de um uido tambem ser a obtida a partir de uma lei de
conserva cao: a Lei de Conserva cao da Energia. A equa cao din amica que ob-
teremos e chamada Equa cao de Bernoulli, em homenagem a Daniel Bernoulli,
matematico frances do seculo XVIII.
A Equa cao de Bernoulli
Para deduzirmos a Equa cao de Bernoulli, vamos estudar o trecho de
escoamento de um uido mostrado na Figura 4.1. Este trecho envolve a
varia cao de altura de z
1
para z
2
, e da secao reta de escoamento de A
1
para
A
2
. Note que, ao contr ario do que foi feito nas aulas de Hidrost atica (Aulas
45
CEDERJ
2
A equa cao de Bernoulli
1 e 2), vamos escolher o eixo de referencia vertical z orientado para cima. A
escolha da origem do eixo z e livre e nao interfere no c alculo da pressao no
uido. Concentremos nossa atencao na por cao de uido compreendida entre
os pontos A e B da Figura 4.1.a. Trataremos esta por cao de uido como
nosso sistema, para o qual aplicaremos o Teorema do Trabalho e Energia.
A Figura 4.1.a mostra a posi cao do sistema no instante t, enquanto que a
Figura 4.1.b mostra um instante posterior t
. Entre t e t
o sistema se move
e em t
ele esta compreendido entre os pontos C e D.
(a) t
m
A
1
A
v
1
F
1
=p
1
A
1
z
1
REGI
AO
_1
REGI
AO
_2
(b) t
F
1
=p
1
A
1
z
1
A
1
x
1
v
1
C
A
2
F
2
=p
2
A
2
B
z
2
v
2
x
2
m
A
2
D
F
2
=p
2
A
2
z
2
v
2
Figura 4.1: Representacao de um trecho do escoamento de um uido incompressvel
em dois instantes de tempo.
Vamos agora identicar as for cas que atuam no sistema. Seja p
1
a
pressao na parte inferior do uido, de maneira que uma for ca horizontal com
m odulo F
1
= p
1
A
1
atue nesta parte do uido. Esta for ca e exercida pelo
restante do uido, ` a esquerda do nosso sistema. Trata-se, portanto, de uma
forca que aponta para a direita conforme indicado na Figura 4.1. Por outro
lado, h a tambem uma for ca horizontal com modulo F
2
= p
2
A
2
que atua na
parte superior do uido. Esta for ca aponta para a esquerda, pois e exercida
pela por cao do uido ` a direita do nosso sistema.
CEDERJ
46
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
Para calcularmos o trabalho resultante realizado sobre o sistema entre
t e t
, temos ainda que discutir o movimento das partes inferior e superior
do sistema. Nesse intervalo de tempo, a extremidade inferior do sistema
desloca-se de uma dist ancia x
1
indo de A para C, e a forca F
1
realiza o
trabalho W
1
= F
1
x
1
. Ao mesmo tempo, a extremidade superior desloca-se
de x
2
indo de B para D, e a forca F
2
realiza o trabalho W
2
= F
2
x
2
.
Note que, W
2
e negativo, pois o sistema desloca-se para a direita, enquanto
F
2
aponta para a esquerda. Assim, o trabalho total realizado sobre o sistema
e
W = W
1
+ W
2
= p
1
A
1
x
1
p
2
A
2
x
2
. (4.1)
O Teorema do Trabalho e Energia nos diz que o trabalho realizado pe-
las for cas externas aplicadas sobre o sistema e igual ` a varia cao de energia
mecanica do sistema. Por outro lado, a energia mec anica do nosso sistema e
a soma das energias cinetica e potencial gravitacional. Assim, para aplicar-
mos o teorema, precisamos calcular a varia cao de energia do sistema entre
t e t
. Repare que se o escoamento do uido for ideal e o uido incom-
pressvel, todos os pontos do nosso sistema compreendidos entre os pontos C
e B ter ao densidades e velocidades constantes durante o intervalo de tempo
entre t e t
. Portanto, a energia mec anica (cinetica + potencial gravitacional)
deste peda co do sistema E
CB
permanecer a constante durante este intervalo
de tempo. Assim, podemos concentrar nosso estudo nas mudancas ocorridas
em duas regi oes do sistema, uma entre os pontos A e C (regi ao 1) e outra
entre B e D (regiao 2). Seja m = A
1
x
1
a massa contida na regi ao
1 no instante t, onde e a densidade do uido e A
1
x
1
e o volume desta
regi ao. O volume total do sistema pode ser escrito como V
T
= V
CB
+ A
1
x
1
,
sendo V
CB
o volume da regi ao intermedi aria, compreendida entre os pontos
C e B. Em t
esta por cao de uido ter a se deslocado completamente para
a direita, e a parte superior do sistema ter a ocupado a regi ao 2. Neste
momento, o volume total do sistema ser a V
T
= V
CB
+ A
2
x
2
. Uma vez
que o uido e incompressvel, sua densidade permanece constante bem como
o volume total do sistema, isto e, V
T
= V
T
. Portanto, cancelando V
CB
,
encontramos que
A
1
x
1
= A
2
x
2
= V , (4.2)
o que signica que as regi oes 1 e 2 tem o mesmo volume, e
A
2
x
2
= A
1
x
1
= m , (4.3)
47
CEDERJ
2
A equa cao de Bernoulli
o que signica que as regi oes 1 e 2 possuem a mesma massa m. Estas
conclusoes sao essenciais para calcularmos a varia cao de energia mec anica
entre t e t
.
De fato, a energia mec anica total do sistema em t e igual ` a energia
mecanica do trecho entre C e B mais a soma das energias cinetica e potencial
da regiao 1, isto e,
E(t) = E
CB
+
1
2
mv
2
1
+ mg z
1
.
Da mesma forma, temos que
E(t
) = E
CB
+
1
2
mv
2
2
+ mg z
2
.
Portanto, a varia cao de energia E = E(t
) E(t) entre os instantes t
e t
e
E =
1
2
mv
2
2
+ mg z
2
1
2
mv
2
1
mg z
1
.
Usando o Teorema do Trabalho e Energia (W = E) e a Equa cao 4.1
encontramos que
p
1
A
1
x
1
p
2
A
2
x
2
=
1
2
mv
2
2
+ mg z
2
1
2
mv
2
1
mg z
1
. (4.4)
Finalmente, lembrando que A
1
x
1
= A
2
x
2
= V (Equa cao 4.2) e
m = V (Equa cao 4.3), podemos cancelar V na Equa cao 4.4 e rearrumar
os termos para obter
p
1
+
1
2
v
2
1
+ g z
1
= p
2
+
1
2
v
2
2
+ g z
2
. (4.5)
Como os pontos 1 e 2 s ao dois pontos quaisquer do uido, podemos
escrever de maneira geral que
p +
1
2
v
2
+ g z = C , (4.6)
onde C e uma constante. A Equa cao 4.6 e a Equa cao de Bernoulli, que
governa o escoamento ideal de um uido incompressvel. Ela nos diz que
durante o escoamento as varia coes de altura e velocidade do uido devem ser
acompanhadas de varia coes de pressao, de maneira a manter-se constante a
quantidade do lado esquerdo da Equa cao 4.6. Por exemplo, de acordo com
a Equa cao de Bernoulli para pontos `a mesma altura (z
1
= z
2
), onde a
velocidade de escoamento do uido for maior (tubula cao mais estreita), a
CEDERJ
48
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
pressao ser a menor, e vice-versa. Da Equa cao 4.5 vemos ainda que, sabendo-
se a pressao e a velocidade no ponto 1, a press ao no ponto 2 depender a apenas
da velocidade v
2
e da diferen ca de altura entre os dois pontos. Assim sendo,
a pressao p
2
e independente da posi cao da origem do eixo z. Ou seja, a
escolha da origem e livre e n ao afeta o c alculo da pressao, conforme dissemos
inicialmente.
Por outro lado, e interessante notar que a Equa cao de Bernoulli tambem
pode ser aplicada a um uido est atico fazendo-se v = 0. Por exemplo, con-
sidere um uido em repouso no interior de um recipiente. Seja p
0
a pressao
na superfcie do uido e z
0
a altura da superfcie com rela cao ao fundo do
recipiente. Se quisermos calcular a pressao em um ponto qualquer P si-
tuado a uma altura z do uido, podemos aplicar a Equa cao de Bernoulli
(com v = 0):
p
0
+ g z
0
= p + g z = p = p
0
+ g (z
0
z) . (4.7)
Repare que, z
0
z e justamente a profundidade do ponto P, de maneira
que a Equa cao 4.7 e equivalente ` a Equa cao 1.16 (veja a Aula 1). Contudo, ao
compararmos as Equa coes 4.7 e 1.16 devemos ser cuidadosos, notando que na
parte de Hidrost atica (Aula 1) utilizamos um sistema de referencia formado
por um eixo vertical, orientado para baixo, e com a origem na superfcie do
uido; enquanto, aqui, utilizamos um eixo vertical, orientado para cima, e
com a origem no fundo do recipiente. Por isso, na Equa cao 4.7 temos z
0
z,
enquanto na Equa cao 1.16 temos apenas z, mas o conte udo fsico de ambas
as equa coes e o mesmo.
z
0
P
z
z
0
z
Figura 4.2: Aplica cao da Equa cao de Bernoulli a um uido em repouso
49
CEDERJ
2
A equa cao de Bernoulli
Exemplo 1
Uma seringa cheia de agua, com A = 2, 0 cm
2
de se cao transversal
e conectada a uma mangueirinha cuja se cao e a = 1, 0 cm
2
. A seringa e
disposta na horizontal e a outra extremidade da mangueirinha e elevada a
uma altura h = 3, 0 m acima da seringa. Uma for ca F e, entao, aplicada
ao embolo da seringa de maneira a ejetar um jato de agua pela extremidade
alta da mangueira (veja a Figura 4.3). Supondo que o jato de agua seja
ejetado horizontalmente, qual deve ser o valor de F para que a agua tenha
um alcance R = 1, 5 m ?
A=2, 0 cm
2
h=3, 0 m
a=1, 0 cm
2
R=1, 5 m
v
2
1
F
Figura 4.3: Exemplo 1. Uma seringa conectada a uma mangueirinha elevada de 3, 0 m,
ejeta agua a uma dist ancia de 1, 5 m.
Solu cao:
A for ca F pode ser facilmente calculada se conhecermos a pressao p
pr oximo ao embolo. Uma vez que o embolo est a em contato com a atmosfera,
a pressao sobre ele ser a dada pela press ao atmosferica p
0
mais o acrescimo
de pressao devido ` a for ca F, ou seja,
p = p
0
+ F/A =F = (p p
0
) A .
Portanto, a for ca F depende da pressao manometrica da agua pr oxima
ao embolo. Assim sendo, temos primeiro que calcular a press ao manometrica
p p
0
. Para tal, aplicamos a Equa cao de Bernoulli aos pontos 1 (pr oximo
ao embolo) e 2 (logo ap os a sada da mangueirinha) conforme e mostrado na
Figura 4.3. Uma vez que o ponto 2 est a do lado de fora da mangueirinha,
a pressao neste ponto e justamente a pressao atmosferica, isto e, p
2
= p
0
.
CEDERJ
50
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
A escolha da origem do eixo z e livre, de maneira que faremos z = 0 pr oximo
ao embolo. Assim sendo, a Equacao de Bernoulli nos d a
p +
1
2
V
2
= p
0
+
1
2
v
2
+ g h ,
onde V e a velocidade do embolo e v e a velocidade de ejecao da agua. Por
outro lado, da Equa cao da Continuidade temos que
V =
a
A
v .
Portanto, a for ca F no embolo ser a
F = (p p
0
) A =
1
2
v
2
_
A
2
a
2
A
_
+ ghA.
Resolvendo a queda livre (trajet oria parabolica), com lancamento ho-
rizontal a uma altura h e velocidade v, encontramos que o alcance e:
R = v
2 h
g
= v
2
=
g R
2
2 h
=
9, 8 m/s
2
(1, 5 m)
2
2 3, 0 m
= 3, 7 m
2
/s
2
.
Finalmente, substituindo este valor de v
2
na expressao para F, e utili-
zando a densidade da agua = 1, 0 10
3
kg/m
3
, encontramos:
F =
1, 0 10
3
kg/m
3
3, 7 m
2
/s
2
2
(2, 0 10
4
m
2
)
2
(1, 0 10
4
m
2
)
2
2, 0 10
4
m
2
+ ghA+ 110
3
kg
m
3
4, 8
m
s
2
3m(215
4
m
2
)
2
= 0, 28 N
O Medidor de Venturi
O Medidor de Venturi e um dispositivo utilizado para a medi cao da
velocidade v de escoamento de um uido. O esquema deste dispositivo est a
descrito na Figura 4.4. O tubo de escoamento, de se cao transversal A, pos-
sui um estrangulamento com uma secao transversal menor a. Tomamos dois
pontos do escoamento (pontos 1 e 2), um deles sobre o estrangulamento
(ponto 2), e aplicamos primeiramente a equa cao da continuidade, o que
nos fornece
v
2
= v
A
a
. (4.8)
Alem disso, os pontos 1 e 2 est ao aproximadamente ` a mesma altura,
de maneira que z
1
= z
2
. Portanto, os termos oriundos da energia potencial
51
CEDERJ
2
A equa cao de Bernoulli
se cancelam ao aplicarmos a Equa cao de Bernoulli aos pontos 1 e 2:
p
1
+
1
2
v
2
= p
2
+
1
2
v
2
A
2
a
2
.
Resolvendo para v obtemos
v = a
2 p
(A
2
a
2
)
, (4.9)
onde p = p
1
p
2
e a diferenca de pressao entre os pontos 1 e 2.
h
1
h
B A
A
1
v
2
a
Figura 4.4: Esquema do Medidor de Venturi.
A Equa cao 4.9 nos permite obter a velocidade de escoamento do uido
a partir de uma medida de p. Assim sendo, um man ometro de tubo em U
e, entao, conectado aos pontos 1 e 2. A diferen ca de pressao p e dada pelo
desnvel h do uido manometrico nos dois bracos do man ometro. Ao conec-
tarmos o man ometro, parte do uido em escoamento entra nos dois bracos
do manometro e preenche os espa cos n ao ocupados pelo uido manometrico.
Os uidos no interior do man ometro car ao em equilbrio, de maneira que
poderemos aplicar os princpios da hidrostatica ao man ometro. Para tal, to-
memos os pontos A e B ` a mesma altura, um em cada braco do manometro
como mostra a Figura 4.4. Acima do ponto A temos uma coluna de altura
h
1
do uido em escoamento. A pressao no topo desta coluna e justamente a
pressao p
1
. Por outro lado, acima do ponto B temos uma coluna de altura
h do uido manometrico, seguida de uma coluna de altura h
1
h do uido
em escoamento A press ao no topo desta coluna e igual a p
2
. Calculando as
Obs.: A diferenca de al-
tura devido `a variacao do
diametro do tubo de escoa-
mento e pequena e pode ser
desprezada.
pressoes nos pontos A e B e igualando-as, obtemos:
p
1
+ g h
1
= p
2
+
m
g h + g (h
1
h) ,
= p = (
m
) g h , (4.10)
CEDERJ
52
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
onde
m
e a densidade do uido manometrico. Finalmente, podemos substi-
tuir a Equa cao 4.10 na Equa cao 4.9 para obtermos
v = a
2 (
m
) g h
(A
2
a
2
)
. (4.11)
Assim, conhecendo-se as secoes transversais A e a, e as densidades e
m
, o Medidor de Venturi nos fornece o valor da velocidade de escoamento,
a partir da leitura do desnvel h no manometro.
O Tubo de Pitot
O Tubo de Pitot e um dispositivo utilizado para medir a velocidade
de escoamento de gases. O esquema deste dispositivo e mostrado na Figura
4.5. Ele e constitudo de um tubo estreito, interno a outro tubo mais largo.
O tubo externo e mais estreito em uma de suas extremidades (extremidade
esquerda na Figura 4.5), juntando-se ao tubo interno. Na outra extremidade,
o tubo interno atravessa a base do tubo externo e conecta-se a um dos bra cos
de um manometro de tubo em U. O outro bra co do manometro e conectado
ao tubo externo, o qual possui ainda duas aberturas laterais a. Assim, um
bra co do manometro (o direito) estar a sob a press ao do tubo interno enquanto
o outro bra co estar a sob a press ao existente na regi ao entre os dois tubos.
b
a
a
C
D
h
Figura 4.5: Esquema do Tubo de Pitot.
Quando um g as escoa pelo Tubo de Pitot, a pressao na regi ao entre
os tubos (regi ao intermedi aria) ser a diferente da pressao no interior do tubo
53
CEDERJ
2
A equa cao de Bernoulli
interno. Isto ocorre porque n ao h a escoamento do g as dentro do tubo in-
terno, enquanto as aberturas a fazem o contato da regi ao intermedi aria com
o uxo tangente ao tubo externo, conforme indicam as linhas de escoamento
mostradas na Figura 4.5. Assim, podemos aplicar a Equa cao de Bernoulli
`as aberturas a e a um ponto b dentro do tubo interno. Para tal, iremos des-
prezar a varia cao de altura entre estes pontos uma vez que ambos os tubos
interno e externo sao na realidade estreitos. Uma vez que v
b
= 0, pois n ao
ha escoamento dentro do tubo interno, obtemos
p
a
+
1
2
v
2
a
= p
b
,
=v
a
=
2 p
, (4.12)
onde p = p
b
p
a
e a diferenca de pressao entre a regi ao intermedi aria e o
interior do tubo interno.
Como no caso do Medidor de Venturi, esta diferenca de pressao ser a
obtida atraves da leitura do desnvel h no man ometro de tubo em U. Contudo,
lembre-se de que estamos tratando do escoamento de um gas, cuja densidade
e certamente muito menor do que a densidade
m
do uido manometrico.
Assim sendo, iremos desprezar as colunas de g as em ambos os bra cos
do manometro, de maneira que a press ao no ponto C do man ometro (veja a
Figura 4.5) ser a
p
C
= p
a
+
m
g h
e a press ao no ponto D ser a
p
D
= p
b
.
Como os pontos C e D do man ometro est ao ` a mesma altura, temos que
p
C
= p
D
e p =
m
g h . Finalmente, substituindo p na Equa cao 4.12,
obtemos
v
a
=
2
m
g h
. (4.13)
O Tubo de Pitot e usado, por exemplo, para medir a velocidade de
escoamento do ar pelas asas de alguns avi oes.
CEDERJ
54
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
Resumo
Nesta aula, zemos a descri cao din amica do escoamento de um uido,
deduzindo a Equa cao de Bernoulli que fornece a rela cao entre a press ao,
a altura e a velocidade de escoamento em todos os pontos de um uido.
Lembre-se de que esta equa cao s o e aplicavel em condicoes de escoamento
ideal. Felizmente, em diversas aplica coes pr aticas a Equa cao de Bernoulli
pode ser utilizada. Assim sendo, vimos tambem na aula de hoje os princpios
de funcionamento de aparelhos de medida como o Medidor de Venturi e o
Tubo de Pitot.
Exerccios
1. Uma bomba mec anica e utilizada para encher uma caixa d agua loca-
lizada 6, 0 m acima. A sada da bomba tem um di ametro de 10, 0 cm,
e e conectada a uma tubula cao com 5, 0 cm de diametro. Sabendo que
a agua e jogada na caixa d agua a uma velocidade de 1, 0 m/s:
(a) Encontre a velocidade da agua na sada da bomba.
(b) Encontre a press ao da agua na sada da bomba.
(c) Calcule a potencia gasta pela bomba.
(d) Calcule o trabalho realizado pela bomba para encher uma caixa
com 4, 0 m
3
.
2. Em uma tubula cao de agua com 4, 0 cm de diametro, o escoamento
se da com velocidade igual a 5, 0 m/s. A agua e conduzida para um
ponto 12, 0 m mais alto, onde a tubula cao e mais estreita, com 1, 5 cm
de diametro. Encontre a diferen ca de pressao na agua entre o ponto
mais alto e o ponto mais baixo do escoamento.
3. Um lquido escoa por uma tubula cao horizontal com uma area trans-
versal de 30 cm
2
. A tubula cao eleva-se por 12, 0 m e conecta-se a outra
tubula cao com area transversal de 90 cm
2
. Qual deve ser a vaz ao do
lquido se a pressao e a mesma nas duas tubula coes?
4. Um tanque contem agua ate uma altura H = 3, 0 m. Um pequeno furo
com area a = 1, 0 cm
2
e feito na superfcie lateral do tanque, a uma
profundidade h = 1, 0 m, deixando a agua escapar. Esta situa cao est a
descrita na Figura 4.6. Suponha que a area A da superfcie do tanque
seja muito grande (A >> a).
55
CEDERJ
2
A equa cao de Bernoulli
(a) Encontre com que velocidade v a agua escapa pelo furo e a que
distancia x da base do tanque ela cai.
(b) Se quisermos que a agua caia a uma dist ancia x = 4, 0 m, em
que profundidade devemos furar o tanque? Quantas respostas
podemos encontrar?
(c) Encontre a profundidade na qual devemos furar o tanque para que
o alcance seja m aximo.
(Sugest ao: Aplique a Equa cao de Bernoulli e a Equa cao da Con-
tinuidade a um ponto situado sobre a superfcie do uido e outro
imdediatamente ap os o furo.)
H
h
x
v
a
A >> a
Figura 4.6: Exerccio 4. Tanque cheio com agua, furado lateralmente. A agua escapa
e e ejetada a uma distancia x da base do tanque.
5. O sif ao e um dispositivo bem conhecido, muito utilizado para retirar o
lquido de um recipiente que n ao pode ser tombado. Este dispositivo
est a descrito na Figura 4.7. Para utilizarmos o sif ao, devemos primeiro
encher um tubo com o lquido, submergir uma das extremidades do
tubo no recipiente (extremidade A), mantendo a outra extremidade
(C) tampada, e posicionar a extremidade C a uma altura abaixo da
extremidade A. Ao destamparmos a extremidade C, o lquido come ca
a uir pelo tubo, esvaziando o recipiente.
Considere um lquido de densidade . Seja h
A
a profundidade da ex-
tremidade A imersa no lquido, h
B
a altura do ponto mais alto do tubo
(ponto B na Figura 4.7), contada a partir da superfcie do lquido, e
h
C
a diferen ca de altura entre as extremidades A e C.
CEDERJ
56
A equa cao de Bernoulli
M
ODULO 1 - AULA 4
(a) Qual e a velocidade do lquido ao sair pela extremidade C? O que
ocorre se h
C
= 0, ou seja, se as duas extremidades estiverem ` a
mesma altura?
(b) Qual e a press ao no lquido no ponto mais alto (ponto B)?
(c) Qual e a altura maxima ` a qual podemos elevar o ponto B de
maneira a n ao interromper o escoamento do lquido pelo sif ao?
B
A
h
A
h
C
h
B
C
Figura 4.7: Exerccio 5. Sifao utilizado para retirar o lquido de umrecipiente.
57
CEDERJ
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
Aula 5 Temperatura e equilbrio termico
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Assimilar o conceito de equilbrio termico e temperatura.
Estudar as escalas de temperatura.
Compreender o fen omeno da dilata cao termica.
Introdu cao
Nesta aula, come caremos o estudo da Termodin amica. Esta parte da
Fsica, diferentemente de outras, como a Mecanica Newtoniana, n ao se ba-
seia na descri cao microsc opica do sistema estudado. Aplicar os metodos
da mec anica ao estudo, por exemplo, de um litro de g as, geraria uma ta-
refa impossvel de ser cumprida. Tarefa impossvel, mesmo ao estudar um
litro de g as, utilizando um modelo bem simples, no qual as intera coes en-
tre as moleculas do g as, ou entre as moleculas e as paredes que contem o
g as, sejam tratadas como colis oes elasticas. Esta tarefa demandaria resol-
ver as equa coes de movimento de aproximadamente 2, 7 10
23
partculas
(n umero de moleculas, `a temperatura ambiente e ` a press ao atmosferica, con-
tidas em um litro de g as), e analisar o mesmo tanto de trajet orias resultantes
destas equa coes. Uma tarefa de fato impossvel. A Termomodin amica, ao
contr ario, estuda sistemas de muitas partculas, como o mencionado litro de
g as, utilizando apenas grandezas macrosc opicas, como press ao, temperatura,
volume, energia interna etc. Nosso estudo da Termodin amica come car a com
a discussao do conceito de equilbrio termico e da grandeza macrosc opica
diretamente associada a este conceito, a Temperatura.
Equilbrio termico e temperatura
Para discutir este t opico, recorreremos ao material did atico utilizado
no curso de Introdu cao ` as Ciencias Fsicas, Mais especicamente, voltaremos
`a discussao da experiencia 3 da Aula 3 do M odulo 5. Para um melhor apro-
veitamento desta aula, seria interessante que o leitor revisasse os resultados
obtidos naquela experiencia, ou mesmo que a zesse novamente.
59
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
Num dos t opicos desta pr atica (ver Figura 5.1) enche-se dois recipientes
met alicos, um com agua aquecida no fog ao, e outro com agua fria, retirada
da geladeira. Ap os coloc a-los em contato termico, estando ambos isolados do
exterior, por estarem dentro de um recipiente de isopor, registra-se periodi-
camente, com a utiliza cao de um term ometro, a temperatura da agua contida
em cada um dos recipientes. O que voce certamente observa, quando realiza
esta experiencia, e a contnua redu cao da temperatura da agua contida no
recipiente com agua quente, e o tambem contnuo aumento da temperatura
da agua contida no recipiente cheio com agua gelada. Ao nal do processo,
voce deve ter observado que a temperatura da agua dos dois recipientes deve
ter atingido o mesmo valor, ou seja, os dois recipientes atingiram o equilbrio
termico, expressao cujo signicado ser a discutido mais adiante.
Figura 5.1: Esquema experimental utilizado na experiencia 3, da Aula 3, do M odulo
5 do curso de Introdu cao `as Ciencias Fsicas.
Na descri cao acima, foram utilizados diversos conceitos ainda n ao rigo-
rosamente denidos neste curso, mas j a de larga utiliza cao pelo leitor. N ao
denimos o que e calor, mas podemos intuir que algo est a sendo trocado
entre os dois recipientes metalicos, que faz a temperatura de um subir e a
do outro descer. Se os recipientes fossem de isopor em vez de metal (caso
tambem observado na referida experiencia), n ao seria observada a varia cao
de temperatura dos recipientes. Isto porque o isopor impediria a troca da-
quele algoque resulta na varia cao de temperatura. A este algo damos o
nome de calor. Quando nao h a troca de calor entre dois sistemas fsicos em
contato termico, dizemos que foi atingido o equilbrio termico.
CEDERJ
60
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
Uma forma de denir equilbrio termico e atraves da descricao do que
acontece quando colocamos em contato, atraves de paredes diatermicas,
Paredes diatermicas
permitem a passagem de
calor, enquanto paredes
adiatermicas nao a
permitem. Paredes
adiabaticas nao permitem
a passagem de calor ou
materia, alem de serem
indeformaveis. A palavra
adiabatica vem do grego, e
signica que nao pode ser
atravessada.
dois sistemas fsicos originalmente isolados um do outro e do exterior
por paredes adiab aticas. Em geral, os dois sistemas trocam calor, o que pro-
voca mudancas em suas propriedades macrosc opicas. As mudan cas observa-
das s ao inicialmente r apidas, e v ao gradualmente tornando-se mais lentas, ate
tornarem-se imperceptveis. A partir deste instante, quando as propriedades
macroscopicas dos dois sistemas tornam-se constantes no tempo, dizemos que
os dois sistemas est ao em equilbrio termico.
Desde o incio do texto desta aula, referimo-nos, diversas vezes, ` a tem-
peratura, cujo signicado tambem ainda nao foi rigorosamente explicado, ou
denido, tarefa que e o objetivo principal desta aula. Para sanar esta falta
de denicao, poderamos ter nos referido somente ao que de fato observamos
quando medimos a temperatura por meio de um term ometro, a altura da
coluna de merc urio dentro de um tubo capilar de vidro (ver Figura 5.2).
Tubo capilar
de vidro
Escala
graduada
Bulbo de vidro com
mercrio
Figura 5.2: O termometro de merc urio e constitudo por um bulbo de vidro cheio de
merc urio, ligado a um tubo capilar tambem de vidro. Sob a inuencia das trocas termicas
como o meio que cerca o termometro, a massa constante de merc urio pode expandir-se ou
contrair-se, fazendo variar a altura da coluna do merc urio dentro do capilar.
61
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
Bastaria substituir a palavra temperaturapela express ao altura da
coluna de merc urio no term ometrono texto que descreve o experimento,
que nao haveria necessidade de denir a temperatura. Poderamos falar do
experimento como a intera cao entre quatro sistemas fsicos: os dois recipien-
tes metalicos com agua quente e fria, em contato termico entre si, e os dois
term ometros, cada um em contato termico com a agua de um dos recipientes.
Deve-se notar que, entre os quatro sistemas citados, s o observamos vari aveis
macroscopicas dos dois term ometros, sendo apenas uma vari avel observada:
a altura da coluna de merc urio. Utilizando a denicao de equilbrio termico,
poderamos dizer que, ao estabilizar-se a altura da coluna de merc urio de
cada term ometro, cada um deles estaria em equilbrio termico com a agua
do recepiente em que est a mergulhado. Uma vez que as alturas das colunas
de merc urio dos dois termometros s ao iguais, seria ent ao tambem razo avel
dizer que, se retirassemos um dos term ometros de seu recipiente, e o co-
loc assemos dentro do outro recipiente, a altura da coluna de merc urio do
mesmo n ao deveria alterar-se. Ou seja, ele estaria tambem em equilbrio
termico com o recipiente no qual n ao estava originalmente. A partir disso,
podemos car fortemente inclinados a dizer que os dois recipientes tambem
estarao em equilbrio termico. E e o que podemos de fato dizer, baseados no
postulado conhecido como Lei Zero da Termodinamica, enunciada a seguir.
Lei Zero da Termodinamica - Sejam tres sistemas fsicos A, B e C. Se
o sistema C est a separadamente em equilbrio termico com o sistema A e o
sistema B, entao os sistemas A e B est ao em equilbrio termico entre si.
Voltando a analisar o nosso experimento-prot otipo, notamos que, ao reti-
rar o term ometro de um dos recipientes e imergi-lo rapidamente na agua
contida no outro recipiente, a altura da coluna de merc urio n ao se alte-
rou. Isto nos leva a concluir que o term ometro em quest ao estava, original-
mente, em equilbrio termico com o primeiro recipiente, estando tambem em
equilbrio termico com o segundo recipiente em que foi rapidamente imerso.
Podemos, ent ao, concluir, com a ajuda da Lei Zero da Termodin amica, que
os dois recipientes chegaram ao equilbrio termico ao nal do processo no
experimento discutido.
E interessante ressaltar que, atraves da Lei Zero da Termodinamica,
podemos discriminar se dois sistemas est ao em equilbrio termico mesmo que
estes nao estejam em contato termico entre si. Ou melhor, podemos obser-
var se dois sistemas afastados um do outro estariam em equilbrio termico
CEDERJ
62
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
entre si caso fossem colocados em contato termico. Basta vericar se es-
tes estao simultaneamente em equilbrio termico com um terceiro sistema, o
qual possa ser colocado em contato com cada um dos sistemas testados, em
momentos diferentes.
Podemos, por exemplo, vericar se dois copos de agua que nao est ao
em contato termico, estao em equilbrio termico entre si. Basta fazermos
uso de um terceiro sistema, no qual seja possvel observar facilmente uma
propriedade macrosc opica. Este e o caso dos termometros utilizados no ex-
perimento que serviu de base para esta aula. Podemos colocar um deles
em contato com a agua de um dos copos, e deixar que a altura da coluna
de merc urio se estabilize em um determinado valor
1
. Apos o que, retira-se
o o term ometro do primeiro copo, mergulhando-o na agua do segundo. Se a
altura da coluna de merc urio n ao se alterar, ent ao poderemos dizer que os
dois copos de fato est ao em equilbrio termico.
O leitor j a deve ter percebido que o termometro pode constituir-se em
um ecaz instrumento para avaliar equilbrio termico. Se, ao colocarmos um
term ometro em contato com um sistema fsico A, e a altura da coluna de
merc urio atingir um dado valor, podemos, com certeza, armar que todos os
sistemas que fazem a coluna de merc urio atingir este mesmo valor ao entrarem
em contato com o term ometro, estariam em equilbrio termico se colocados
em contato termico entre si. Ou seja, podemos especular sobre a existencia de
uma propriedade ou grandeza (em nosso caso, a altura da coluna de merc urio
dos termometros), que e essencialmente ligada ao equilbrio termico.
E e justamente o que esta manifesto em uma outra formula cao da
Lei Zero da Termodinamica, a qual dene, em seu bojo, o conceito
de temperatura:
Existe uma grandeza escalar chamada temperatura, que e uma propri-
edade de todos os sistemas termodin amicos em equilbrio termico. Dois siste-
mas estao em equilbrio termico se e somente se suas temperaturas
s ao iguais.
Uma vez que a denicao e baseada em equilbrio termico, a tempe-
ratura e estreitamente ligada `as propriedades macrosc opicas dos sistemas
termodin amicos. Para determin a-la, deve-se entao recorrer ` as propriedades
1
Deve-se notar que, nao so neste procedimento, como nos outros que utilizaram
termometros, ao colocar um destes instrumentos em contato com um sistema, a variacao
das propriedades macroscopicas deste sistema seja muito pequena, em decorrencia dos
detalhes construcionais do instrumento.
63
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
macroscopicas de um sistema determinado, e estabelecer o vnculo entre esta
propriedade, a propriedade termometrica, e as propriedades macroscopicas
de outros sistemas em equilbrio com o sistema termometrico, que estejam
em estados bem caracterizados. Estabelecer escalas para medidas de tempe-
ratura e o objetivo da pr oxima sessao.
Escalas de temperatura
Por ser o termometro de merc urio um instrumento muito conhecido, e
por termos visto, nos par agrafos anteriores, a utilidade deste instrumento na
caracteriza cao do equilbrio termico, ele ser a utilizado na discussao do esta-
belecimento de escalas de temperatura. Como ocorre com outras grandezas
fsicas e suas respectivas unidades de medida, para realizar medidas de tem-
peratura e necessario que se estabele ca um padrao, e que se relacione outras
escalas com este padr ao. Mas isso n ao e uma tarefa simples como o foi para
outras grandezas, como comprimento. Ao denir, por exemplo, o ponto de
ebuli cao de agua como padr ao de temperatura, n ao h a maneira simples de
se obter o dobro, ou outro m ultiplo da temperatura padr ao. Por isso, para
estabelecer uma escala de medi cao de temperaturas, e necessario basear esta
escala em uma determinada propriedade de uma subst ancia, propriedade
esta que varie com a temperatura. Esta subst ancia e chamada subst ancia
termometrica, e a propriedade e chamada propriedade termometrica.
O instrumento para medir temperatura, ou term ometro, deve ser ent ao
baseado em uma propriedade termometrica X, sendo a temperatura uma
funcao de X. A forma mais simples que pode assumir a funcao T e a rela cao
linear, a qual e dada por:
T(X) = aX + b (5.1)
Entao, para estabelecer a escala de temperatura, basta escolhermos dois pon-
tos de calibra cao, isto e, denirmos dois pontos arbitr arios T
1
e T
2
, realizar
medidas da propriedade termometrica nestas temperaturas, determinando
X
1
e X
2
, e relacionar estes valores de modo a obter as constantes a e b.
As escalas mais conhecidas de temperatura, a escala Celsius e a escala
Farenheit, s ao utilizadas nos term ometros de uso cotidiano. Muitas vezes,
elas usam o merc urio como subst ancia termometrica, sendo o volume a pro-
priedade termometrica utilizada. O volume de merc urio e observado atraves
da medida da altura da coluna de merc urio em um tubo capilar de vidro.
CEDERJ
64
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
A escala Celsius e internacionalmente utilizada para todos os tipos
de medidas, inclusive boa parte das medidas cientcas. Essa escala foi
originalmente baseada em dois pontos de calibra cao, que s ao:
0
o
C (zero graus Celsius) - correspondente ao ponto de congelamento
da agua em condi coes normais.
100
o
C (cem graus Celsius) - correspondente ao ponto de ebuli cao da
agua em condi coes normais.
A escala Farenheit, por sua vez, e mais utilizada nos Estados Unidos da
America. S ao dois os pontos de calibra cao originalmente utilizados na escala
Farenheit:
0
o
F (zero graus Farenheit) - corresponde ao ponto de congelamento de
uma mistura de agua e sal.
100
o
F (cem graus Farenheit) - corresponde `a temperatura normal do
corpo humano.
Na escala Farenheit os pontos normais de congelamento e de ebuli cao
da agua s ao, respectivamente, 32 e 212 graus. Como a rela cao entre as escalas
Celsius e Farenheit e linear, a rela cao entre as duas escalas de tempertaura
deve ser escrita na forma
2
:
T
F
=
9
5
T
C
+ 32 . (5.2)
A escala Kelvin
A escala Kelvin adota o valor zero da propriedade termometrica como
ponto zero de sua calibra cao. Como consequencia desta deni cao, a Eq. (1)
pode ser escrita como:
T(x) = aX . (5.3)
A determina cao de uma temperatura nesta escala requer apenas um ponto
de calibracao P, pois o outro ponto j a foi xado ao considerar T = 0 para
x = 0. Neste ponto, a temperatura e dada por T
P
, sendo que a propriedade
termometrica tem seu valor dado por:
2
Verique voce mesmo, partindo do fato que as duas escalas de temperaturas devem
relacionar-se linearmente
65
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
a =
T
P
X
P
, (5.4)
sendo a rela cao entre a temperatura na escala Kelvin e a vari avel termometrica
dada por:
T(X) =
T
P
X
P
X . (5.5)
O ponto de calibra cao escolhido, por acordo geral, e o ponto trplice
da agua, que e a temperatura na qual coexistem, em equilbrio, gelo, agua e
vapor d agua. Esta temperatura e muito pr oxima do ponto de congelamento
da agua. Por acordo internacional, a temperatura do ponto trplice da agua
e xada em
T
tr
= 273, 16K , (5.6)
onde T
tr
e a temperatura de ponto trplice da agua, e K e o smbolo de
Kelvin, a unidade do SI para temperatura. O Kelvin ent ao pode ser denido
como
1
273,16
do ponto trplice da agua. A partir desta escolha, a Eq. (5.5)
pode ser escrita como:
T(X) = (273, 16K)
X
X
P
. (5.7)
O tamanho do grau, ou de uma unidade de temperatura, e o mesmo
nas escalas Celsius e Kelvin, mas o zero da escala Celsius e colocado numa
posi cao mais conveniente. Atualmente, a escala Celsius e denida, a partir
da escala Kelvin, da seguinte maneira:
T
C
= T
K
273, 15 . (5.8)
Exemplo 1
Considere as escalas de temperatura Celsius, Farenheit e Kelvin, e determine
em que temperatura a indica cao destas escalas e igual para cada par formado
por estas escalas.
Solu cao:
(a) Escalas Kelvin e Celsius T
K
= T
C
+ 273.15, o que, igualando-se as
temperaturas, resulta em:
T = T + 273, 15 0 = 273, 15,
ou seja, n ao h a solu cao para este par de escalas
CEDERJ
66
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
(b) Escalas Farenheit e Celsius: T
F
=
9
5
T
C
+ 32, o que, igualando-se as
temperaturas, resulta em:
T =
9
5
T + 32
4
5
T = 32 T =
5
4
32 = 40
ou seja, T = 40
o
C (ou 40
o
F)
(c) Escalas Farenheit e Kelvin: T
C
= T
K
273, 15 T
F
=
9
5
(T
K
273, 15)+
32, o que, igualando-se as temperaturas, resulta em:
T =
9
5
(T 273, 15) + 32 T =
5
4
459, 7 = 574, 6
ou seja, T = 574, 6
o
F (ou 574, 6K)
Exemplo 2
E possvel utilizar um elemento resistivo (um peda co de o, por exemplo)
como termometro, se a sua resistencia variar sensivelmente na faixa de tem-
peratura que se pretende medir. Um term ometro de resistencia indica uma
resistencia de 153, 0 quando seu bulbo e imerso em agua em ebuli cao. Con-
siderando que o term ometro utiliza a escala K, e que foi calibrado no ponto
trplice da agua, determine a resistencia indicada no ponto de calibra cao.
Solu cao:
A escala utilizada e a escala Kelvin, portanto pode-se escrever a equa cao:
T(R) = aR ,
onde R e a resistencia do term ometro. Inserindo os dados do problema na
equa cao temos:
373.125K = a 153 a =
373.125
153
= 2.44
K
.
Como a =
T
P
R
P
, temos ainda que
R
P
=
T
P
a
=
273.16
2.44
= 68.3 .
O term ometro de gas ideal
Neste momento, e preciso ressaltar que nem sempre as escalas de tem-
peratura s ao lineares entre si, e nem sempre tambem as propriedades ma-
croscopicas das subst ancias termometricas sao lineares entre si para a mesma
faixa de temperaturas. O ideal seria que a temperatura n ao dependesse do
67
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
metodo utilizado para medi-la. Para isso e necessario um term ometro padr ao,
que seja util nao somente nas medidas pr aticas de temperatura, como tambem
na formula cao de leis fsicas. Os term ometros de g as a volume constante,
quando utilizam diversos gases na sua opera cao, apresentam varia cao bas-
tante pequena da leitura. Por isso, iremos estudar os term ometros de g as a
volume constante, cujo esquema est a mostrado na Figura 5.3.
h
R
B
T
Escala
Figura 5.3: Diagrama de um term ometro de gas a volume constante, o qual consiste em
um bulbo de vidro, ou outro material adequado ` a faixa de temperatura em que se realiza
a medida, ligado, por um tubo capilar, a um man ometro de merc urio. O bulbo contendo
gas e colocado no meio que esteja ` a temperatura T que se quer medir. Levantando-se e
abaixando-se o reservat orio de merc urio, pode-se fazer o nvel de merc urio car constante
no ramo esquerdo do manometro, mantendo o gas a volume constante.
Nestas condi coes, a press ao do g as e dada por:
p = p
0
gh (5.9)
onde e a densidade do merc urio utilizado no man ometro, e h e a diferenca
de altura entre as colunas do man ometro, como mostrado na Figura 5.3.
Para um determinado volume de g as, a uma dada temperatura do banho
no qual o bulbo est a imerso, a temperatura ser a dada por:
CEDERJ
68
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
T(p) = (273, 16K)
p
p
tr
(V constante) . (5.10)
A medida seguinte sera feita ap os retirar-se uma pequena quantidade
de g as do bulbo (faz-se isso para a temperatura medida, e para a referencia,
o ponto trplice da agua), determinando-se uma nova temperatura T, dada
pela Eq. (5.10). Registrando-se diversos valores de temperatura em fun cao do
volume de g as (p
tr
e uma medida deste volume), observa-se uma dependencia
linear, como mostra a Figura 5.4. Na mesma gura, observa-se que retas
determinadas para diversos gases extrapolam-se, para quantidade de g as zero,
ao mesmo valor de temperatura. Este e o valor que tomamos para a deni cao
de uma escala absoluta de temperatura. Este valor e dado por:
T(p) = (273, 16K) lim
ptr0
p
p
tr
(V constante) . (5.11)
0 20 40 60 80 100
O
2
Ar
N
2
He
H
2
T
(
K
)
Figura 5.4: Gr aco da temperatura em um termometro de gas a volume constante,em
fun cao da quantidade de g as, ou de sua pressao `a temperatura de ponto trplice.
A escala de temperaturas assim determinada n ao depende do g as uti-
lizado, sendo por isso chamada de escala absoluta de temperaturas. En-
tretanto, a utiliza cao do term ometro de g as a volume constante e difcil e
tediosa. Para efeitos pr aticos, o term ometro de g as e utilizado para estabe-
lecer determinados pontos xos, os quais sao utilizados para calibrar outros
term ometros. Este e o caso da Escala Internacional de Temperatura, ITS-90,
que esta mostrada na Tabela (5.1).
69
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
Substancia Estado Temperatura (K)
Helio Ponto de Ebuli cao 3-5
Hidrogenio Ponto Trplice 13,8033
Hidrogenio Ponto de Ebuli cao 17,025 - 17,045
Hidrogenio Ponto de Ebuli cao 20,26 - 20,28
Neonio Ponto Trplice 24,5561
Oxigenio Ponto Trplice 54,3584
Arg onio Pnto Trplice 83,8058
Merc urio Ponto de Fus ao 234,3156
Agua Ponto Trplice 273,16
Galio Ponto de Fus ao 302,9146
Indio Ponto de Congelamento 429,7485
Estanho Ponto de Congelamento 505,078
Zinco Ponto de Congelamento 692,677
Alumnio Ponto de Congelamento 933,473
Prata Ponto de Congelamento 1234,93
Ouro Ponto de Congelamento 1337,33
Cobre Ponto de Congelamento 1357,77
Tabela 5.1: Escala Internacional de Temperaturas, ITS-90
Dilata cao termica
O fenomeno de dilata cao termica est a presente em diversas situa coes
do nosso cotidiano. Por exemplo, a maior parte dos term ometros de uso
domestico utilizam a varia cao de volume de um lquido (freq uentemente
merc urio ou alcool) para a medida de temperatura. Tipicamente, nestes
term ometros, o comprimento de uma coluna do lquido varia quando este e
aquecido ou resfriado, indicando a temperatura correspondente atraves de
uma calibra cao. Os s olidos met alicos tambem apresentam o efeito de di-
lata cao termica. Assim, uma regua met alica calibrada a uma determinada
temperatura poder a fornecer medidas incorretas quando for muito aquecida
ou resfriada. Atualmente, para evitar as deforma coes decorrentes da di-
lata cao termica, os trilhos das estradas de ferro s ao seccionados, de maneira
a evitar a deforma cao devida ao excesso de dilata cao. Este recurso tambem e
utilizado em viadutos e pontes, a m de compensar a dilata cao do concreto.
A Figura 5.5 mostra uma junta de dilata cao em um dos viadutos de acesso
`a Ponte Rio-Niter oi.
CEDERJ
70
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
Figura 5.5: Junta de dilatacao entre duas se coes da pavimentacaode um viaduto.
Para entendermos o fen omeno da dilata cao termica dos solidos, pode-
mos recorrer `a natureza at omica da materia. Conforme j a mencionamos, a
temperatura esta associada ao movimento dos atomos e moleculas de um
corpo. Um s olido cristalino (como os metais) pode ser imaginado como um
arranjo espacialmente ordenado de atomos, conforme mostramos na Figura
5.6. A liga cao qumica entre os atomos produz uma intera cao entre eles,
como se estivessem ligados por molas. A temperatura do corpo s olido est a,
assim, relacionada com a oscila cao da rede cristalina. A eleva cao da tempera-
tura implica na agita cao dos atomos, aumentando a amplitude das oscilacoes
e, conseq uentemente, a distancia media entre os atomos. Isto resulta no
aumento das dimens oes do objeto, ou seja, na sua dilata cao.
Figura 5.6: Arranjo regular dos atomos num solido cristalino. A intera cao entre os
atomos age como molas interligando a rede cristalina.
71
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
Podemos determinar, experimentalmente, que a varia cao do tamanho
de um objeto depende da varia cao de temperatura ` a qual ele e submetido e
do seu tamanho original. De fato, a varia cao L do comprimento de uma
barra met alica e proporcional ao comprimento L da barra e ` a varia cao T
de sua temperatura, ou seja,
L = LT , (5.12)
onde e chamado coeciente de dilata cao linear. Ele mede a varia cao per-
centual das dimensoes lineares de um objeto por unidade de varia cao da
temperatura. Sua unidade no sistema internacional e K
1
. A rigor, este
coeciente pode variar com a temperatura do objeto, mas, em geral, esta
varia cao e pequena, de modo que pode ser tratado como uma constante
caracterstica da subst ancia que comp oe o objeto. O merc urio apresenta um
coeciente de dilata cao termica bastante alto (1, 8 10
4
K
1
) em com-
para cao com outros metais (11 10
6
K
1
para o a co, por exemplo). Por
isto, ele e tao utilizado na constru cao de term ometros. Em contrapartida,
quando a dilata cao termica e indesej avel, subst ancias com coecientes de
dilata cao pequenos s ao utilizadas, como o quartzo ou uma liga met alica cha-
mada invar, cujo nome j a sugere pequenas varia coes com a temperatura.
Na tabela 5.2 apresentamos os coecientes de dilatacao linear de algumas
subst ancias no intervalo entre 0
o
C e 100
o
C .
Tabela 5.2: Tabela de coecientes de dilatacao termica linear de algumas subst ancias
no intervalo entre 0
o
C e 100
o
C .
Substancia Coeciente (10
6
K
1
)
Merc urio 180
Alumnio 23
Lat ao 19
Cobre 17
Aco 11
Vidro 9
Liga invar 0, 7
Quartzo (fundido) 0, 5
CEDERJ
72
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
A dilata cao supercial A de um objeto delgado, como uma chapa
met alica, pode ser expressa em termos de como
A = 2 AT , (5.13)
sendo A a area do objeto. De forma semelhante, a varia cao de volume V
de um objeto maci co e dada por
V = 3 V T , (5.14)
sendo V o volume do objeto.
A dilata cao de um uido e expressa em termos de seu coeciente de
dilata cao volumar
=
V / V
T
, (5.15)
uma vez que os uidos nao tem forma bem denida. Os gases possuem
coecientes de dilata cao volumar bem maiores do que os lquidos. Estes, por
sua vez, apresentam coecientes de dilata cao cerca de dez vezes maiores do
que os dos solidos. Em geral, os lquidos se expandem quando aquecidos.
Contudo, a agua apresenta um comportamento bastante particular na faixa
de temperaturas entre 0
o
C e 4
o
C. Nesta faixa, a agua se expande quando e
resfriada. Por isto, o valor m aximo da densidade da agua (999, 973 kg/m
3
)
ocorre a 3, 98
o
C .
Exemplo 3
Uma regua de a co, calibrada a 30
o
C, e utilizada para medir-se o comprimento
de uma barra ` a temperatura de calibra cao, fornecendo o valor de 15, 01 cm.
Em seguida, a barra e a regua s ao aquecidas ` a temperatura de 300
o
C e uma
nova medida do comprimento da barra fornece o valor de 15, 10 cm. Calcule
o coeciente de dilata cao linear da barra.
Solu cao:
Seja L
B
o comprimento inicial da barra e x o tamanho inicial da
marca cao de 1, 0 cm Assim, a leitura inicial do comprimento da barra in-
dica que
L
B
x
= 15, 01 . (5.16)
Ao aquecermos a regua, sua gradua cao tambem se dilata e a marca cao de
1, 0 cm varia o seu comprimento. O comprimento da barra aquecida ser a
L
B
= L
B
+ L
B
= L
B
(1 +
B
T) , (5.17)
73
CEDERJ
2
Temperatura e equilbrio termico
onde
B
e o coeciente de dilata cao termica da barra e T a varia cao de
temperatura. Por sua vez, a marca cao de 1, 0 cm tambem se dilata, de
maneira que
x
= x + x = x(1 +
A
T) , (5.18)
onde
A
e o coeciente de dilata cao termica do aco. A leitura do comprimento
da barra aquecida, porem, nos diz que
L
B
x
= 15, 10 . (5.19)
Finalmente, substituindo as Eqs.(5.17) e (5.18) em (5.19) e usando a Eq.(5.16)
chegamos a
15, 01
1 +
B
T
1 +
A
T
= 15, 10 . (5.20)
O coeciente de dilata cao termica do aco e
A
= 11, 0 10
6
K
1
, de
maneira que
B
=
(15, 10/15, 01) (1 + 11, 0 10
6
K
1
270 K) 1
270 K
= 33, 3 10
6
K
1
. (5.21)
Resumo
Nesta aula, foi introduzido o conceito de equilbrio termico, que foi uti-
lizado para, a partir da Lei Zero da Termodin amica, denir Temperatura.
A seguir, foram descritos metodos para a constru cao de escalas de tempera-
tura, incluindo a escala Kelvin. Discutimos a utiliza cao de term ometros de
g as a volume constante para a obten cao de uma escala absoluta de tempera-
turas. Estudamos, ainda, o fenomeno da dilata cao termica, e apresentamos
uma lei emprica para a varia cao das dimens oes de um corpo s olido com a
temperatura.
Exerccios
1. A que temperatura a leitura da escala Farenheit e igual a: (a) duas
vezes a da escala Celsius; (b)metade da escala Celsius?
2. Fa ca uma tabela na qual constem os valores de temperatura, nas escalas
Celsius, Farenheit e Kelvin, dos seguintes pontos xos de temperatura:
ponto de congelamento da agua, temperatura normal do corpo humano,
ponto normal de ebuli cao da agua, e ponto de congelamento da prata.
CEDERJ
74
Temperatura e equilbrio termico
M
ODULO 1 - AULA 5
3. Um frasco de vidro tem 95% de seu volume preenchido com merc urio a
35
o
C. O sistema e entao aquecido, dilatando o frasco e o merc urio no
seu interior. A que temperatura o merc urio ir a transbordar do frasco?
Dados: Coeciente de dilata cao linear do vidro
v
= 9, 0 10
6
K
1
e do merc urio
m
= 1, 8 10
4
K
1
.
75
CEDERJ
Gases ideais
M
ODULO 1 - AULA 6
Aula 6 Gases ideais
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Descrever as propriedades macrosc opicas de um g as.
Formular a Lei do G as Ideal.
Introdu cao
Nesta aula iniciaremos o estudo do comportamento fsico de um g as.
Como sabemos, a materia e formada por constituintes elementares que cha-
mamos atomos e moleculas. Os objetos do nosso cotidiano s ao formados por
uma quantidade muito grande ( 10
23
) destes constituintes. As tres fases
(s olida, lquida e gasosa) de uma subst ancia diferenciam-se essencialmente
pela forma como suas moleculas se organizam. Enquanto em um s olido ou
em um lquido as moleculas interagem fortemente umas com as outras, em
um g as esta intera cao e fraca e as moleculas tem grande mobilidade pelo
volume ocupado pelo g as, a n ao ser pelas colis oes que ocorrem entre elas.
Quando tratamos uma partcula com a Mecanica Newtoniana, n os a
descrevemos atraves do seu estado de movimento, isto e, de sua posi cao r e
velocidade v (ou do momento linear p = mv). As leis de Newton nos permi-
tem escrever as equa coes de movimento da partcula, e calcular como estas
grandezas evoluem com o tempo. Por outro lado, uma vez que o n umero
de moleculas em um g as e realmente muito grande, e inviavel resolvermos
as equa coes de movimento de todas as moleculas para descrevermos o com-
portamento de um g as. Assim sendo, temos que criar uma descri cao do g as
por inteiro, isto e, uma descricao macrosc opica. Para tal, temos primeiro
que estabelecer as grandezas macrosc opicas que caracterizam o estado de
um g as, para em seguida formularmos as leis que estabelecem uma rela cao
quantitativa entre estas grandezas.
Uma pergunta surge ent ao: como as grandezas macrosc opicas de um g as
podem ser interpretadas em termos de suas propriedades microsc opicas, isto
e, em termos da din amica individual de suas moleculas. A Teoria Cinetica
dos Gases nos da uma resposta. Ela estabelece a conex ao entre as des-
cri coes microscopica e macrosc opica, incorporando conceitos estatsticos `a
descricao dada pela Mec anica Newtoniana. Na aula de hoje discutiremos
77
CEDERJ
2
Gases ideais
a descri cao macrosc opica de um g as, para nas pr oximas aulas construirmos
uma justicativa microsc opica.
A Lei do Gas Ideal
Considere a situacao descrita na Figura 6.1. Um g as e connado no
interior de um recipiente cilndrico, com base e paredes laterais rgidas, e
com uma tampa formada por um embolo m ovel de area A. As grandezas que
utilizaremos para a descri cao macrosc opica do g as s ao: o volume V ocupado
por ele, a press ao P exercida sobre as paredes do recipiente, o n umero N
de moleculas do g as e sua temperatura T. O dispositivo da Figura 6.1 nos
permitir a variar estas grandezas da seguinte maneira: A regi ao acima do
embolo e evacuada, de maneira a eliminar do sistema a press ao atmosferica.
Entao, sobre o embolo m ovel, apoiamos uma caixa de areia (por exemplo)
que servir a como peso vari avel, permitindo variar-se a press ao p = M g/A
no g as. Por outro lado, a pr opria mobilidade do embolo permite variar-se
o volume V , o qual pode ser calculado atraves da altura h do embolo como
V = Ah.
Suponhamos ainda que a base do recipiente esteja em contato com
um reservatorio termico, cuja temperatura possa ser ajustada de modo a
variarmos T. A leitura da temperatura do g as pode ser feita com o auxlio
de um termometro. Finalmente, podemos variar o n umero de moleculas do
g as N, injetando-se g as a partir de um botij ao.
As leis que regem o comportamento macrosc opico de um g as ser ao
formuladas em termos de p, V , T e N. Estas serao as vari aveis de estado
do g as Contudo, antes de formularmos uma lei geral com todas as grandezas
envolvidas, vamos obter leis parciais que fornecem a dependencia entre estas
grandezas, duas a duas, para depois combinarmos estes resultados numa lei
geral. Assim, iremos discutir primeiro as varia coes em pares destas grandezas,
enquanto as demais s ao mantidas constantes.
Rela cao entre V e N: A Lei de Avogadro
Abrindo a v alvula do botij ao injetamos g as no recipiente e observa-
mos que o volume ocupado pelo g as tende a aumentar. Suponha que o
peso da caixa de areia seja mantido constante, de maneira a preservar o
valor de p durante o processo. O ajuste do reservat orio tambem deve ser
controlado para garantir que T permane ca constante. Neste caso obtem-se
CEDERJ
78
Gases ideais
M
ODULO 1 - AULA 6
RESERVAT
ORIO
T
ERMICO
CONTROLE DE
TEMPERATURA
h
G
AS
Mg
AREIA
REGI
AO EVACUADA
EMBOLO M
OVEL DE
AREA A
TERM
OMETRO
BOTIJ
AO DE G
AS
V
ALVULA
Figura 6.1: Sistema utilizado para estudarmos as leis que regem o comportamento
macroscopico de um g as.
empiricamente que o volume ocupado pelo g as e diretamente proporcional
ao n umero de moleculas do g as no recipiente, ou seja,
V = C
1
N , (6.1)
onde C
1
e a constante de proporcionalidade, obtida a partir do coeciente
angular da reta no gr aco V N , construdo com os dados experimentais.
A rela cao entre V e N, com p e T mantidos constantes, e tambem chamada
Lei de Avogadro.
Rela cao entre V e p: A Lei de Boyle
Suponha agora que a valvula do botij ao de g as seja fechada, de ma-
neira a n ao haver mais trocas de g as com o recipiente. Assim, o n umero
de moleculas N permanecer a constante. Como anteriormente, o reservat orio
termico ser a controlado de modo a garantir que T tambem permaneca cons-
tante. Para estudar a dependencia entre o volume V do g as com a pressao
p, podemos variar o peso da caixa de areia. Neste caso, obtem-se empirica-
mente que o volume ocupado pelo g as e inversamente proporcional ` a pressao
exercida, ou seja,
p =
C
2
V
, (6.2)
79
CEDERJ
2
Gases ideais
onde C
2
e uma constante. Representando num gr aco os valores experimen-
tais de 1/V e p, obtem-se uma sequencia de pontos que podem, com boa
aproxima cao, ser ajustados por uma reta. Neste caso, a constante C
2
pode
ser obtida como o coeciente angular desta reta. A rela cao entre V e p, com
N e T mantidos constantes, e tambem chamada Lei de Boyle.
Rela cao entre V e T: A Lei de Charles ou Lei de Gay-Lussac
Suponhamos que a valvula do botij ao de g as continue fechada, de ma-
neira que o n umero de moleculas N permane ca constante. Tambem mantere-
mos constante o peso da caixa de areia e, portanto, a press ao no g as. Desta
vez, porem, o reservat orio termico ser a controlado de modo a variarmos a
temperatura T do g as. Medindo-se o volume ocupado pelo g as como funcao
da temperatura, que V e diretamente proporcional a T
V = C
3
T , (6.3)
onde C
3
e uma constante, obtida a partir do coeciente angular da reta no
gr aco V T , construdo com os dados experimentais. A rela cao entre V e
T, com N e p mantidos constantes, e tambem chamada Lei de Charles, ou
Lei de Gay-Lussac.
A equa cao de estado do gas ideal
As leis enunciadas acima podem ser combinadas numa unica lei relaci-
onando, ao mesmo tempo, as quatro vari aveis de estado N, p, V e T:
p V
N T
= k , (6.4)
onde k e uma constante universal chamada constante de Boltzmann, cujo
valor e
k = 1, 38 10
23
J/K .
Podemos reescrever a Equa cao 6.4 utilizando o conceito de mol. Lembre-se de
que 1 mol de uma subst ancia corresponde a N
A
moleculas desta subst ancia,
onde N
A
= 6, 02 10
23
e o n umero de Avogadro. Neste caso, podemos
escrever o n umero total N de moleculas em um g as em termos de N
A
e do
n umero de moles n no g as: N = nN
A
, e reescrever a Equacao 6.4 como
p V = nRT , (6.5)
CEDERJ
80
Gases ideais
M
ODULO 1 - AULA 6
onde R = N
A
k e uma nova constante chamada constante universal dos gases.
Substituindo o n umero de Avogadro e a constante de Boltzmann, obtemos
o valor R = 8, 31 J/mol . K . A princpio, nem todos os gases satisfazem
`a Equa cao 6.5. Aqueles que a satisfazem sao denominados gases ideais, e
a Equa cao 6.5 e chamada, portanto, Lei do Gas Ideal. Uma vez que ela
relaciona as vari aveis de estado de um g as, ela tambem e denominada equacao
de estado do g as ideal. De maneira geral, a equa cao de estado de um g as
qualquer e uma equa cao da forma:
f(p, V, T, n) = 0 .
f e uma funcao das vari aveis de estado (p, V , T e N), cuja forma especca
depende do tipo de g as estudado. Assim sendo, a Equa cao 6.5 vale para um
tipo particular de gases, os gases ideais.
O comportamento macrosc opico de um g as certamente depende das
suas caractersticas microscopicas. Se a Equa cao 6.5 caracteriza macrosco-
picamente um g as ideal, quais devem ser as caractersticas microscopicas de
um tal gas?
Exemplo 1
O volume de um pneu de caminh ao e de cerca de 1500 in
3
. O pneu e cheio
de ar e a press ao manometrica e de 28, 3 lb/in
2
para uma temperatura de
12, 4
0
C. Calcule a press ao manometrica do ar no pneu quando a tempe-
ratura subir para 35, 0
0
C e o pneu expandir seu volume para 1600 in
3
. A
pressao atmosferica em unidades do sistema brit anico e de cerca de 14, 7 lb/in
2
.
Solu cao:
Para calcularmos a press ao nal do ar no pneu, utilizaremos a Lei
do G as Ideal. Uma vez que n ao h a varia cao do n umero de moleculas, a
quantidade p V/T deve permanecer constante. Neste caso,
p
i
V
i
T
i
=
p
f
V
f
T
f
.
Devemos levar em conta a press ao atmosferica, uma vez que o dado inicial
fornece apenas a pressao manometrica. Assim, p
i
= 43, 0 lb/in
2
. Equacio-
nando para p
f
obtemos que
p
f
= p
i
V
i
V
f
T
f
T
i
= 43, 0 lb/in
2
1500 in
3
1600 in
3
308, 0 K
260, 6 K
= 47, 6 lb/in
2
.
81
CEDERJ
2
Gases ideais
Lembre-se de que devemos sempre expressar a temperatura em Kelvin ao
utilizarmos a Lei do G as Ideal. A pressao manometrica sera, portanto,
47, 6 lb/in
2
14, 7 lb/in
2
= 32, 9 lb/in
2
.
Exemplo 2
Dois recipientes de volumes V
A
= 1, 5 l e V
B
= 3, 0 l contem um mesmo
g as, que pode ser tratado como um g as ideal, e est ao conectados por um
tubo estreito. Inicialmente, os dois recipientes estao ` a mesma temperatura
T
0
= 20
0
C, e `a mesma pressao p
0
= 1, 7 atm. O recipiente maior e, entao,
aquecido ate T
B
= 120
0
C , enquanto o menor permanece ` a temperatura ini-
cial (20, 0
0
C). Calcule a pressao nal do g as supondo que n ao h a vazamentos.
A
B
Figura 6.2: Dois recipientes com volumes diferentes contem o mesmo gas ideal. Os
recipientes s ao conectados por um tubo estreito.
Solu cao:
Uma vez que os dois recipientes estao conectados, a press ao em ambos
deve ser sempre a mesma. Aplicando a Lei do G as Ideal ` a condi cao inicial
do sistema obtemos:
p
0
=
N
A
k T
0
V
A
=
N
B
k T
0
V
B
N
B
N
A
=
V
B
V
A
. (6.6)
Apos o aquecimento do recipiente maior, as moleculas se redistribuem en-
tre os dois recipientes atraves da conexao pelo tubo estreito. Nesta nova
condi cao, a Lei do G as Ideal nos fornece a nova pressao p
do sistema:
p
=
N
A
k T
0
V
A
=
N
B
k T
B
V
B
A
N
B
=
V
A
V
B
T
B
T
0
. (6.7)
Dividindo a Eq.(6.7) pela Eq.(6.6) encontramos as seguintes rela coes:
p
= p
0
N
A
N
A
e
N
B
N
B
=
T
0
T
B
N
A
N
A
(6.8)
CEDERJ
82
Gases ideais
M
ODULO 1 - AULA 6
Contudo, n ao conhecemos o n umero de moleculas no sistema, mas sabemos
que, n ao havendo vazamentos, o n umero total de moleculas nos dois recipi-
entes deve permanecer constante, ou seja,
N
A
+ N
B
= N
A
+ N
B
. (6.9)
Dividindo a Eq.(6.9) por N
A
e utilizando a Eq.(6.6) encontramos
N
A
N
A
+
N
B
N
A
= 1 +
V
B
V
A
= 3, 0 . (6.10)
Porem, usando as Eqs.(6.6) e (6.8), podemos escrever
N
B
N
A
=
N
B
N
A
N
B
N
B
=
V
B
V
A
T
0
T
B
N
A
N
A
=
N
A
/N
A
3, 0
.
Substituindo na Eq.(6.10), encontramos
N
A
N
A
= 3, 0
1
3, 0
= 2, 7 . (6.11)
Finalmente, substituindo na primeira das Eqs.(6.8), obtemos
p
= 2, 7 p
0
= 2, 7 1, 7 atm = 4, 6 atm . (6.12)
Resumo
Nesta aula, apresentamos uma descri cao geral do que denominamos g as
ideal. Estabelecemos as grandezas relevantes, press ao, temperatura, volume
e n umero de moleculas (ou de moles), que constituem as variaveis de estado
de um g as. Apresentamos ainda as leis que relacionam estas vari aveis, para o
caso de um g as ideal, e reunimos todas as leis numa unica equacao, a Equa cao
de Estado do g as ideal. Fizemos, assim, uma descri cao macrosc opica do g as,
sem nos preocuparmos com o estado de movimento de seus constituintes fun-
damentais, ou seja, atomos e moleculas. Na proxima aula apresentaremos a
Teoria Cinetica que incorpora conceitos estatsticos `a descri cao mec anica das
partculas de um g as. Veremos como a Teoria Cinetica nos permite entender
o comportamento macrosc opico do g as a partir de conceitos microsc opicos.
Exerccios
1. Considerando o ar como um g as ideal, estime o n umero de moleculas de
ar por cm
3
, a uma temperatura de 30
0
C, ao nvel do mar (p 1 atm).
83
CEDERJ
2
Gases ideais
2. Uma garrafa de oxigenio em estado gasoso, com 1, 5 l, encontra-se a
uma temperatura de 25
0
C e pressao de 100 kPa.
(a) Qual ser a a nova press ao do oxigenio se a temperatura for elevada
ate 45
0
C ?
(b) Quantos moles de oxigenio devemos deixar escapar da garrafa para
que a press ao volte ao seu valor original?
3. Um mergulhador encontra-se no fundo de um lago com 45 m de pro-
fundidade, onde a temperatura e de 5, 0
0
C. Ao respirar ele solta uma
bolha com 25, 0 cm
3
de volume. A bolha sobe e atinge a superfcie do
lago onde a temperatura e de 20, 0
0
C. Supondo que, ao subir, a tem-
peratura do ar na bolha seja igual ` a da agua que a circunda, calcule o
seu volume imediatamente antes de alcan car a superfcie do lago.
4. Um recipiente A contem um g as ideal sob press ao de 4, 0 atm e `a tempe-
ratura de 270 K. Um tubo estreito liga o recipiente A a outro recipiente
B, cujo volume e cinco vezes maior que o de A. O recipiente B contem
o mesmo g as ideal ` a temperatura de 360 K e pressao de 2, 0 atm. A
v alvula que separa os dois recipientes e aberta e o g as atinge o equilbrio
com uma pressao igual nos dois recipientes. Porem, a temperatura de
cada recipiente permanece inalterada. Qual a press ao nal do sistema?
(Sugestao: O n umero total de moles do g as nos dois recipientes per-
manece inalterado apos a abertura da v alvula)
V
ALVULA
A
B
Figura 6.3: Dois recipientes com volumes diferentes contem o mesmo gas ideal a tempe-
raturas e pressoes distintas. Os recipientes sao conectados por um tubo estreito contendo
uma v alvula que sera aberta, igualando as pressoes.
5. Uma das extremidades de um tubo em U, parcialmente cheio de merc urio,
e selada de maneira a connar o ar existente entre ela e a superfcie do
merc urio. Neste momento, os dois ramos do tubo est ao equilibrados,
isto e, possuem a mesma altura de merc urio. A altura da coluna de
CEDERJ
84
Gases ideais
M
ODULO 1 - AULA 6
ar no ramo selado e, inicialmente, h = 20, 0 cm. Considere que o ar se
comporta como um g as ideal.
(a) Se a temperatura do ramo selado for triplicada, qual ser a a nova
altura h
da coluna de ar? (Observe que, ao expandir-se, o
ar empurra a coluna de merc urio, variando a pressao na
superfcie de contato entre os dois uidos.)
(b) Para que o ar retorne ao seu volume original, adicionamos merc urio
ao ramo aberto do tubo em U, mantendo a temperatura do sis-
tema constante. Qual deve ser o desnvel h de merc urio entre os
dois ramos para que a coluna de ar retorne ` a altura inicial?
h=20,0 cm
T
0
h
3T
0
h
a) b) c)
Figura 6.4: a) Tubo em U parcialmente cheio de merc urio. O ramo esquerdo do tubo
e selado, connando o ar em seu interior; b) a temperatura do ramo selado e triplicada,
expandindo o ar no seu interior; c) mais merc urio e adicionado ao ramo livre, de maneira
a comprimir a coluna de ar ate que esta retorne ao seu volume inicial.
85
CEDERJ
A Teoria Cinetica dos Gases
M
ODULO 1 - AULA 7
Aula 7 A Teoria Cinetica dos Gases
Objetivos
O aluno dever a ser capaz de:
Estabelecer um modelo microsc opico para um g as ideal.
Formular as interpreta coes cineticas da press ao e da temperatura.
Introdu cao
Uma vez conhecidas as leis que regem o comportamento macrosc opico
de um g as, uma pergunta surge naturalmente: ser a possvel deduzir estas
leis aplicando-se as leis basicas da Mec anica Newtoniana aos constituintes
fundamentais de um g as, isto e, seus atomos e moleculas? Ao formularmos
as leis que regem o comportamento de um g as, utilizamos grandezas como
pressao e temperatura, que caracterizam o g as por inteiro. A conex ao entre
o comportamento macrosc opico de um g as e suas propriedades microsc opicas
requer uma interpretacao da press ao e da temperatura em termos das gran-
dezas microsc opicas como for ca e momento linear, por exemplo. Isto e o
que chamamos interpreta cao cinetica, cuja formula cao constitui o objetivo
central desta aula.
Modelo de gas ideal
Antes de iniciarmos a descri cao microsc opica propriamente dita, deve-
mos precisar o que entendemos como sendo um g as ideal. Ou seja, nossa
descricao microsc opica devera pressupor algumas caractersticas do compor-
tamento do g as a nvel molecular. Nossas hip oteses b asicas s ao:
1. O n umero de moleculas no g as e muito grande (da ordem do n umero
de Avogadro).
2. As dimens oes tpicas de uma molecula sao muito inferiores ` a dist ancia
media entre duas moleculas do g as. Isto signica que o volume ocupado
pelas moleculas e desprezvel se comparado ao volume do recipiente que
contem o g as.
3. As moleculas movem-se constantemente e aleatoriamente em todas as
dire coes. Isto ocasiona colisoes das moleculas entre si e com as paredes
87
CEDERJ
2
A Teoria Cinetica dos Gases
do recipiente. A aleatoriedade deste movimento garante que, se to-
marmos qualquer dire cao do espa co, o n umero de moleculas movendo-
se no sentido positivo desta dire cao e igual ao n umero de moleculas
movendo-se no sentido negativo. Por exemplo, no esquema da Figura
7.1 o n umero medio de moleculas com v
x
> 0 e igual ao n umero medio
de moleculas com v
x
< 0 . Esta hip otese e bastante razo avel, pois, do
contr ario, teramos um ac umulo do g as em um dos lados do recipiente.
z
x
y
L
L
L
Figura 7.1: As moleculas de um gas movem-se aleatoriamente pelo volume do recipi-
ente. O n umero medio de moleculas com v
x
> 0 e igual ao n umero medio de moleculas
com v
x
< 0 .
4. As forcas de interacao entre as moleculas, ou das moleculas com as
paredes do recipiente sao de curto alcance e de curta dura cao. Isto sig-
nica que estas forcas so atuam a curtas dist ancias, durante as r apidas
colis oes sofridas pelas moleculas. A duracao das colis oes e, em geral,
muito menor do que o tempo medio transcorrido entre duas colisoes
consecutivas.
5. As colis oes sofridas pelas moleculas do g as (entre si ou com as pare-
des do recipiente) sao el asticas. Portanto, a energia cinetica total das
moleculas deve permanecer constante. Mesmo que algumas moleculas
efetuem colisoes inelasticas, podemos supor que, em media, a energia
cinetica ganha nestas colis oes e igual ` a energia perdida.
CEDERJ
88
A Teoria Cinetica dos Gases
M
ODULO 1 - AULA 7
Interpretacao cinetica da pressao
No contexto da teoria cinetica, podemos entender a press ao exercida
por um g as sobre as paredes do recipiente que o contem como conseq uencia
das colis oes entre as moleculas do g as e a superfcie deste recipiente. Nestas
colis oes, as moleculas transferem momento linear para as paredes, dando
origem ` a press ao do g as sobre o recipiente.
Para simplicarmos nossa discussao, vamos considerar o recipiente c ubico
com aresta L da Figura 7.1, contendo um g as ideal constitudo de moleculas
de massa m. Considere a face do recipiente perpendicular ao eixo x, loca-
lizada em x = L como mostra a Figura 7.2. Ao colidir com esta face do
recipiente, apenas a componente da velocidade da molecula normal ` a face,
isto e, v
x
, sofrer a alguma altera cao. As componentes v
y
e v
z
devem perma-
necer inalteradas. Uma vez que a massa do recipiente e muito maior do que
m, a componente v
x
sera praticamente invertida ap os a colis ao.
x
y
L
p
i
p
f
Dp=2mv
x
x
p
i
p
f
Figura 7.2: Visao lateral da colisao de uma molecula do g as com uma das paredes do
recipiente. A componente da velocidade normal `a parede e invertida ap os a colisao.
Portanto, sendo p
i
= m(v
x
x+v
y
y+v
z
z) o momento linear da molecula
antes da colis ao, o momento linear ap os a colis ao ser a p
f
= m(v
x
x +
v
y
y + v
z
z), de maneira que a varia cao de momento sofrida pela molecula e
dada por
p = p
f
p
i
= 2 mv
x
x . (7.1)
89
CEDERJ
2
A Teoria Cinetica dos Gases
Uma vez que o momento linear total da molecula mais o recipiente e
conservado na colis ao, o momento transferido ` a parede ser a p = 2 mv
x
x.
Como dissemos anteriormente, esta transferencia de momento d a origem a
uma for ca de contato e ` a pressao do g as sobre o recipiente. Para calcularmos a
pressao exercida, devemos considerar as colis oes de diversas moleculas com as
paredes. Para tal, tomaremos uma regi ao do g as vizinha ` a parede localizada
em x = L, por exemplo. Esta regi ao e delimitada pela parede e por um
quadrado imaginario, de lado L, parelelo ` a parede, e situado em x = Lx
como mostra a Figura 7.3.
Figura 7.3: Regiao de referencia para o calculo da pressao do g as sobre as paredes do
recipiente. Somente as moleculas com v
x
> 0 colidem com a parede, contribuindo para a
pressao do g as.
A regi ao assim delimitada possui volume V = L
2
x, e o n umero medio
de moleculas no seu interior e
N =
V
m
=
L
2
x
m
. (7.2)
As diversas moleculas no interior da regi ao possuem velocidades diferentes.
Em media, o tempo gasto por uma molecula com componente v
x
da ve-
locidade (as componentes v
y
e v
z
sao irrelevantes) para atingir a parede
e t = x/v
x
. Portanto, a for ca media exercida por esta molecula ser a
(lembre-se de que o momento transferido `a parede e p = 2 mv
x
x.)
f =
p
t
=
2 mv
2
x
x
x . (7.3)
CEDERJ
90
A Teoria Cinetica dos Gases
M
ODULO 1 - AULA 7
Note que o momento transferido, bem como a for ca
f, sao perpendiculares
`a parede.
A for ca total exercida sobre a parede e obtida somando-se as contri-
buicoes individuais das moleculas. Contudo, e importante notar que apenas
as moleculas que se movem em direcao ` a parede (v
x
> 0) ir ao colidir. Logo,
a for ca media total exercida sobre a parede ser a
F =
f =
2 m
x
_
vx>0
v
2
x
_
x . (7.4)
Uma vez que o movimento das moleculas e aleat orio, e razo avel considerar-
mos que metade das moleculas no interior da regi ao se aproxima da parede
do recipiente (v
x
> 0), enquanto a outra metade se afasta (v
x
< 0), de
maneira que
vx>0
v
2
x
=
1
2
v
2
x
F =
m
x
_
v
2
x
_
x . (7.5)
Uma deni cao muito util `a teoria cinetica e a de velocidade media
quadr atica:
v
rms
=
v
2
1
+ v
2
2
+ ... + v
2
N
0
N
0
=
_
1
N
0
N
0
n=1
v
2
n
, (7.6)
onde v
2
n
= v
2
nx
+ v
2
ny
+ v
2
nz
e a velocidade escalar da nesima molecula ao
quadrado, e o somat orio estende-se sobre as N
0
moleculas do g as. Para re-
presentarmos o valor medio de uma grandeza tomado sobre o n umero de
moleculas do g as, colocaremos a grandeza em quest ao entre )
1
. Por exem-
plo, para o valor medio do quadrado da velocidade escalar das moleculas do
g as teremos:
1
N
0
N
0
n=1
v
2
n
v
2
) .
Assim, a velocidade media quadr atica e dada por v
rms
=
_
v
2
) .
Levando-se em conta a hip otese 3 do nosso modelo de g as ideal (mo-
vimento aleat orio das moleculas em todas as dire coes), esperamos que as
medias quadr aticas tomadas nas tres direcoes sejam iguais, isto e, v
2
x
) =
v
2
y
) = v
2
z
) = v
2
)/3 . Alem disso, se o gas for homogeneo, ou seja, suas dife-
rentes partes apresentarem as mesmas propriedades, as medias quadr aticas
tomadas em qualquer fra cao do volume do g as devem coincidir com a media
1
Obs.: Em alguns livros o valor medio de uma grandeza e representado colocando-se
uma barra sobre a grandeza em questao. Por exemplo, v
2
no lugar de v
2
) .
91
CEDERJ
2
A Teoria Cinetica dos Gases
calculada sobre o g as por inteiro. Isto ser a v alido desde que a fra cao de g as
considerada ainda possua um n umero muito grande de moleculas. Assim
sendo, aplicando estas ideias ` a nossa regi ao de interesse obtemos:
v
2
x
= N v
2
x
) =
N
3
v
2
) . (7.7)
Substituindo as Eqs.(7.2) e (7.7) na Eq.(7.5) obtemos
F =
N m
3 x
v
2
) x =
1
3
L
2
v
2
) x . (7.8)
Finalmente, a pressao exercida e dada pela for ca normal ` a superfcie por
unidade de area:
p =
[
F [
L
2
=
1
3
v
2
) . (7.9)
A Eq.(7.9) constitui a express ao desejada para a press ao do g as em termos
de caractersticas microscopicas do g as como a velocidade media quadr atica.
Conforme veremos a seguir, a temperatura do gas tambem est a relacionada
de maneira simples com v
rms
. Em contrapartida, a Eq.(7.9) nos permite es-
timar a velocidade das moleculas de um g as conhecendo-se sua press ao e
sua densidade.
Exemplo 1
Mostre que, em uma mistura de gases que nao interagem quimicamente,
a pressao total exercida sobre as paredes do recipiente e igual ` a soma das
pressoes que cada um dos constituintes da mistura exerceria se estivesse
sozinho no recipiente. Esta e a Lei de Dalton.
Solu cao:
Para estendermos nossas conclus oes a uma mistura de gases, voltemos
`a for ca media exercida por uma molecula sobre a parede do recipiente, dada
pela Eq.(7.3). Na presen ca de dois tipos de moleculas com massas m
1
e m
2
,
a for ca media exercida por cada tipo de molecula ser a
f
1
=
2 m
1
v
2
1x
x
x ,
para as moleculas de massa m
1
, e
f
2
=
2 m
2
v
2
2x
x
x ,
para as de massa m
2
. Portanto, a for ca total exercida na parede do
recipiente ser a
F =
f
1
+
f
2
=
_
N
1
m
1
3 x
v
2
1
) +
N
2
m
2
3 x
v
2
2
)
_
x ,
CEDERJ
92
A Teoria Cinetica dos Gases
M
ODULO 1 - AULA 7
onde N
1
e N
2
sao os n umeros de moleculas de cada tipo no interior da regi ao
de interesse mostrada na Figura 7.3. Note que N
1
m
1
=
1
L
2
x e N
2
m
2
=
2
L
2
x (
1
e
2
sao as densidades de cada tipo de g as no recipiente), de
maneira que
F =
_
1
3
1
v
2
1
) +
1
3
2
v
2
2
)
_
L
2
x .
Finalmente, a pressao total exercida pela mistura ser a:
p = p
1
+ p
2
, (7.10)
onde
p
1
=
1
3
1
v
2
1
) e p
2
=
1
3
2
v
2
2
) ,
sao as press oes parciais de cada tipo de g as na mistura, isto e, as pressoes
que cada tipo de g as exerceria se estivesse sozinho no recipiente.
Interpretacao cinetica da temperatura
A partir do c alculo da pressao usando a teoria cinetica, podemos relaci-
onar a temperatura, uma propriedade macrosc opica, com caractersticas mi-
croscopicas de um g as.Come camos multiplicando os dois membros da Eq.(7.9)
pelo volume V, obtendo:
pV =
1
3
V v
2
) , (7.11)
onde V e a massa total do g as, que tambem pode ser escrita como nM,
onde M e a massa molar (massa de um mol do g as) e n e o n umero de moles
de g as contido no volume V. Substituindo o valor da massa teremos:
pV =
1
3
nMv
2
) . (7.12)
Podemos, a seguir, relacionar a Eq.(7.12) com , o valor da energia cinetica
total de translacao do g as, a qual por sua vez e dada por:
=
1
2
(v
2
1
+ v
2
2
+ ... + v
2
N
) =
1
2
m(Nv
2
)) , (7.13)
onde N e o n umero total de moleculas. Como a massa total do g as nM e
igual a nM, podemos escrever a Eq.(7.12) como:
pV =
1
3
Nmv
2
) =
2
3
(
1
2
nMv
2
)). (7.14)
93
CEDERJ
2
A Teoria Cinetica dos Gases
Podemos combinar ent ao este resultado com a j a conhecida equa cao de
estado dos gases ideais pV = nRT:
2
3
(
1
2
nMv
2
)) = nRT,
ou seja,
1
2
Mv
2
) =
3
2
RT . (7.15)
Portanto, podemos concluir que a energia cinetica media molar de um g as
ideal e proporcional ` a sua temperatura. Desta forma estabelecemos um
vnculo entre a temperatura, grandeza macrosc opica que caracteriza o es-
tado de um gas ideal, e um par ametro microsc opico, a energia cinetica das
moleculas que constituem este g as. Este vnculo nos permite uma melhor
compreensao do conceito de temperatura (para o caso do g as ideal), antes
denido de forma muito geral, pela Lei Zero da Termodin amica, discutida
na Aula 5.
E importante ressaltar que a velocidade de que falamos nas equa coes
apresentadas e a velocidade das moleculas em rela cao ao centro de massa
do sistema. Ao colocar, por exemplo, um cilindro de g as em movimento, a
velocidade do cilindro n ao contribuir a para o aumento da energia cinetica
media e, portanto, n ao se traduzir a em aumento de temperatura do g as.
Uma outra rela cao interessante e obtida dividindo ambos os membros
da Eq.(7.15) pelo n umero de Avogadro N
A
:
1
2
M
N
A
v
2
) =
3
2
R
N
A
T . (7.16)
Ou seja,
1
2
mv
2
) =
3
2
kT , (7.17)
que e a expressao da Eq.(7.15) para apenas uma molecula. Esta equa cao nos
faz concluir que a energia cinetica media de cada molecula e determinada
pela temperatura.
Quando temos dois gases cujas moleculas tem massa molecular m
1
e m
2
a uma dada temperatura T, a razao entre as velocidades medias quadr aticas
dos dois gases e dada por:
v
1rms
v
2rms
=
v
2
1
)
v
2
2
)
=
_
m
2
m
1
, (7.18)
CEDERJ
94
A Teoria Cinetica dos Gases
M
ODULO 1 - AULA 7
sendo portanto igual ` a raiz quadrada da raz ao entre as massas moleculares
dos dois gases.
Este resultado pode ser usado para efetuar a separa cao de dois gases
misturados entre si. O esquema utilizado para esta nalidade est a mos-
trado na Figura 7.4.a. Dois vasos, um deles contendo a mistura gasosa, e
o outro evacuado, s ao separados por uma parede porosa. Como a veloci-
dade quadr atica media das moleculas do g as mais leve e maior do que a das
moleculas do outro g as, a vaz ao do g as mais leve, ao passar de um vaso para
outro, ser a relativamente maior do que a do g as mais pesado.
Vcuo
Mistura
gasosa
V
A
vdt
(a)
(b)
Vcuo Mistura gasosa
Parede porosa
Figura 7.4: a) esquema utilizado para a separacao isotopica de misturas gasosas; b)
vis ao ampliada da passagem de uma molecula por um poro da parede de separacao.
95
CEDERJ
2
A Teoria Cinetica dos Gases
O n umero de moleculas de um determinado g as ao passar por um poro
(aqui tomado um pequeno orifcio na parede de separacao dos dois vasos em
um intervalo de tempo dt sera igual ao n umero de moleculas de g as contido em
um volume Avdt, onde A e a area do furo e v e a velocidade das moleculas
do g as (ver Fig, 7.4.b). O n umero de moleculas atravessando o furo ser a,
entao, igual a
N
V
Avdt onde
N
V
e o n umero de moleculas de um determinado
tipo por unidade de volume presente, originalmente, no vaso que contem a
mistura gasosa. Se a raz ao entre os n umeros de moleculas dos dois gases da
mistura original for igual a
N
1
N
2
, entao a raz ao entre as vaz oes dos gases que
atravessam o furo ser a igual a:
2
=
AdtN
1
v
1rms
AdtN
2
v
2rms
=
N
1
v
1rms
N
2
v
2rms
=
_
m
2
m
1
N
1
N
2
. (7.19)
Portanto, se o g as 1 for o mais leve, sua concentra cao em rela cao ao g as
2 e enriquecido por um fator ao atravessar a parede porosa. O fator ,
chamado fator de separa cao, ent ao, e dado por: vaso originalmente em v acuo.
=
_
m
2
m
1
. (7.20)
Esta tecnica e utilizada para separar, atraves da massa, is otopos de um
mesmo elemento. Este e o caso da separa cao de is otopos de Ur anio radioativo,
o que ser a discutido no exemplo 2 a seguir.
Exemplo 2
O ur anio encontrado natural (como encontrado em minerios) tem essenci-
almente dois is otopos, o
235
U e o
238
U. O segundo e bem mais abundante
(abundancia igual a 99, 3%). E apenas o primeiro, o
235
U, e adequado para
utiliza cao em processos nucleares, pois ssiona-se facilmente. Determine a
abundancia de
235
U em um g as de uoreto de ur anio, apos o mesmo passar
400 vezes por uma parede porosa. Observe que no g as original, e observada
a abund ancia original do ur anio.
Solu cao:
Como originalmente a abundancia e a natural, a raz ao isot opica na
mistura de uoretos original e igual a
N235
UF
6
N238
UF
6
=
0, 007
0, 993
.
CEDERJ
96
A Teoria Cinetica dos Gases
M
ODULO 1 - AULA 7
Cada vez que uma mistura dos dois isotopos de uoreto gasoso passa
pela parede porosa, a mistura se enriquece em
235
U de um fator dado por:
=
_
m235
UF
6
m238
U
=
M235
UF
6
M238
UF
6
,
onde M
x
e a massa molar do is otopo x. Ap os passar 400 vezes a mistura
por uma parede porosa, ela ser a enriquecida no is otopo de massa 235 de um
fator
400
. A massa molar do
235
UF
6
e igual a 0, 349kg/mol e a do
238
UF
6
e
igual a 0, 352kg/mol, ent ao, a rela cao isot opica nal ser a:
N
235
UF
6
N
238
UF
6
=
0, 007
0, 993
__
0, 352
0, 349
_
400
= 0, 039 .
Expressando o resultado em termos de uma fra cao cujos denominador e nu-
merador somem 1, temos:
N
235
UF
6
N
238
UF
6
=
0, 038
0, 962
.
Ou seja, apos passar 400 vezes por uma parede porosa, a abund ancia do
235
UF
6
aumenta de 0,3% para 3,8%.
Resumo
Nesta aula, construmos um modelo microsc opico para um g as ideal e
estabelecemos uma conex ao entre as descri coes microscopica e macrosc opica
deste tipo de g as. As grandezas macrosc opicas, como press ao e temperatura,
foram interpretadas em termos de grandezas microsc opicas. Mostramos que,
por um lado, a press ao est a relacionada com a transferencia de momento
linear ` as paredes do recipiente, e, por outro lado, a temperatura de um
g as est a ligada ` a energia media de cada molecula. Em ambos os casos, a
velocidade media quadr atica das moleculas de um g as desempenha um papel
fundamental na rela cao entre as grandezas macrosc opicas e microscopicas.
Exerccios
1. A massa de uma molecula de H
2
e 3, 3 10
24
g . Sabendo-se que 4, 8
10
23
moleculas de hidrogenio colidem, por segundo, contra 2, 0 cm
2
de
parede, num angulo de 37
o
com a normal ` a parede, e com velocidade
escalar de 2, 0 10
5
cm/s , calcule a press ao exercida por elas sobre
a parede.
97
CEDERJ
2
A Teoria Cinetica dos Gases
2. A 44
o
C e 2, 46 10
2
atm a densidade de um g as e 6, 60 10
6
g/cm
3
.
(a) Determine v
rms
para as moleculas do g as.
(b) Determine a massa molecular do g as e o identique.
3. A que temperatura a energia cinetica media de uma molecula de um
g as ideal e igual a 0,01 eV?
4. A que temperatura os atomos de g as nitrogenio tem a mesma velocidade
media quadr atica que as moleculas de arg onio a 100
o
C?
5. Um recipiente contem uma mistura de dois gases ideais. Um dos gases
tem massa molecular M
1
e tres moles dele estao presentes no recipiente.
O outro tem massa molecular M
2
= 3 M
1
e dois moles deste gas est ao
presentes no recipiente.
(a) Qual a razao entre as velocidades medias quadr aticas das moleculas
dos dois gases? Em media, quais moleculas se movem mais rapi-
damente, as mais leves ou as mais pesadas?
(b) Que fra cao da press ao total sobre a parede do recipiente e devida
ao segundo g as?
CEDERJ
98
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
Aula 8 Trabalho e energia em um gas ideal
Objetivos
Compreender a deni cao da energia interna de um g as ideal.
Familiarizar-se com o calculo de trabalho realizado sobre um g as ideal.
Introdu cao
A formula cao de uma lei de conserva cao da energia nas trocas ocorridas
entre o gas e o ambiente externo, traz, naturalmente, a necessidade de de-
nirmos uma forma de energia associada ao g as. Trata-se da energia interna
de um g as, que e a energia de movimento de suas moleculas. Na Aula 7 ja
estabelecemos uma rela cao entre temperatura e energia cinetica molecular.
Nesta aula veremos como esta rela cao nos permite estimar a energia contida
em um g as devido ` a agita cao de suas moleculas, isto e, sua energia interna.
A expans ao ou compress ao de um g as envolve a troca de energia deste
com o ambiente que o circunda. Esta troca de energia ocorre atraves da
realiza cao de trabalho pelo ou sobre o g as. Trataremos ainda desta quest ao e
veremos como calcular o trabalho realizado quando um g as sofre uma varia cao
de volume. Alguns casos especiais serao abordados, como varia coes de volume
a pressao constante, temperatura constante, ou em isolamento termico.
Energia interna de um gas ideal
Nosso objetivo inicial ser a discutir todas as contribui coes relevantes
para a energia inerente ` as moleculas de um g as ideal, ou energia interna de
um g as ideal. Para isso, devemos contabilizar todas as contribui coes possveis
para a energia cinetica e potencial de um g as ideal.
Consideremos, inicialmente, a energia cinetica. Uma vez que conside-
ramos, no modelo de g as ideal, as moleculas como sendo partculas pontuais,
a unica contribuicao a ser levada em conta e a relativa ao movimento de
translacao das moleculas do g as. Pelo fato de moleculas pontuais n ao apre-
sentarem movimento de vibra cao ou rota cao, n ao teremos contribui cao ` a
energia cinetica relacionada com estes movimentos.
A contribui cao da energia potencial das moleculas, por sua vez, e nula.
Primeiramente, temos que as moleculas de um g as ideal n ao interagem ` a
99
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
distancia, entre si ou com as paredes, o que faz anular as respectivas ener-
gias potenciais de intera cao. O mesmo acontece com as intera coes intra-
moleculares. Uma vez que as moleculas s ao consideradas partculas pontu-
ais, nao devemos levar em conta as contribuicoes relativas ` a energia potencial
molecular, ou ` a energia potencial vibracional ou el astica.
Em conclusao, para um g as ideal, s o temos uma contribui cao para a
energia interna: a energia cinetica de transla cao das moleculas do g as. Mas e
preciso lembrar que, ao desenvolvermos o modelo de um g as ideal, conclumos
que a temperatura do g as depende da energia cinetica media de transla cao
das moleculas. Portanto podemos, a partir da equa cao (15) da aula 7, obter
a seguinte expressao para E
int
, a energia interna:
E
int
= n(
1
2
Mv
2
)) =
3
2
nRT, (8.1)
ou seja, a energia interna de um g as ideal n ao depende da press ao ou do
volume do g as, depende apenas de sua temperatura.
Vamos supor agora que o nosso g as ideal seja composto por moleculas
diat omicas, em vez de monoat omicas, como temos considerado ate o mo-
mento. Consideremos tambem que estas moleculas sejam rgidas, ou seja,
que a distancia entre os atomos n ao mude com o tempo. Ao escrevermos
uma expressao para a energia cinetica de uma molecula deste g as, deve-
mos tambem incluir a energia cin
tica de rotacao das moleculas. Para cada
molecula, o termo de energia cin
tica rotacional ser a descrito por:
K
rot
=
1
2
I
2
x
2
x
+
1
2
I
2
y
2
y
, (8.2)
onde I
x
(y
)
e o momento de inercia da molecula em rela cao ao eixo x(y) da
molecula, como mostrado na Figura (8.1.b) e
x
(y
)
e a velocidade angular
para rota cao em torno do eixo x(y). Observe que n ao foi includa a rota cao em
torno do eixo z da molecula, uma vez que o momento de inercia em rela cao
a este eixo deve anular-se, devido ` as pequenas dimens oes dos atomos que
compoem a molecula. A energia cinetica da molecula diat omica em quest ao
sera ent ao dada por:
K =
1
2
mv
2
x
+
1
2
mv
2
y
+
1
2
mv
2
z
+
1
2
I
2
x
2
x
+
1
2
I
2
y
2
y
, (8.3)
que e a contribui cao que cada molecula dar a ` a energia interna do g as com-
posto por moleculas diat omicas. Ent ao, para o caso da molecula diat omica
rgida, a equa cao (8.1) n ao descrever a mais corretamente a energia interna
CEDERJ
100
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
do g as, pois a energia cinetica das moleculas n ao ter a apenas os termos re-
lativos ao movimento de transla cao. Para se obter uma express ao para a
energia interna de um g as que inclua outras comtribui coes alem da energia
cinetica translacional, deve-se calcular a energia cinetica media por molecula,
e depois multiplicar pelo n umero de moleculas N. Isto pode ser realizado no
contexto da Mec anica Estatstica Cl assica, assunto que ser a discutido ao -
nal deste curso. Pode-se mostrar, dentro deste contexto, o teorema chamado
Teorema da Equiparti cao da Energia, o qual tem o seguinte enunciado:
Quando o n umero de partculas e grande, e nos casos onde prevalece a
Mec anica Newtoniana, cada um dos termos que se apresentam como con-
tribui cao independente `a energia , e sejam expressos de forma quadr atica,
tem a mesma energia media igual a
1
2
kT
A Figura (8.1) mostra a aplica cao do teorema da equiparti cao da energia
em tres casos, com diferentes conguracoes moleculares. Primeiramente, na
Figura (8.1.a), temos o caso de moleculas monoat omicas. Neste caso so h a
energia cinetica, que e escrita como
1
2
mv
2
x
+
1
2
mv
2
y
+
1
2
mv
2
z
ou seja, com tres termos quadr aticos. Aplicando o teorema da equiparti cao,
teremos a energia media por molecula igual a 3
1
2
kT. Ou seja, a energia
interna do g as ser a ent ao igual a:
(E
int
)
mono
=
3
2
NkT =
3
2
nRT,
como est a na equa cao (8.1)
Na Figura (8.1.b), est a mostrado o caso da molecula rgida discutido
nos par agrafos anteriores. Neste caso, a energia total envolve as energias
cineticas translacional e rotacional, e e escrita na forma
1
2
mv
2
x
+
1
2
mv
2
y
+
1
2
mv
2
z
+
1
2
I
2
x
2
x
+
1
2
I
2
y
2
y
,
ou seja, a express ao da energia envolve cinco termos quadr aticos independen-
tes, o que, pelo teorema da equiparticao, traduz-se em uma energia media
igual a 5
1
2
kT, ou seja, a energia interna pode ser escrita como:
(E
int
)
di,rot
=
5
2
NkT =
5
2
nRT,
Ainda em relacao a moleculas diat omicas, pode-se tambem conside-
rar o caso em que a molecula pode vibrar ao longo de seu eixo (ver Fi-
gura 8.1.c), ou seja, os atomos da molecula podem oscilar em torno de suas
101
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
molcula monoatmica
energia cintica translacional
E =3/2NKT
int
(a)
(b)
molcula diatmica rgida
energia cintica translacional+
energia cintica rotacional
E =5/2NKT
int
molcula diatmica vibrante
energia cintica translacional+
energia cintica rotacional+
energia potencial vibracional+
energia cintica vibracional
E =7/2NKT
int
(c)
x
y
x
y
z
Figura 8.1: (a) Molecula monoatomica; (b) Molecula diat omica rgida; (c) Molecula
diat omica com vibra cao.
posi coes de equilbrio. Neste caso, a energia da molecula ter a mais dois ter-
mos quadr aticos. O primeiro e a energia potencial vibracional (ou el astica),
com energia proporcional a (x
0
)
2
, onde x
e a dist ancia instantanea entre
os dois atomos que comp oem a molecula e x
0
e a dist ancia de equilbrio,
exatamente como se a molecula fosse composta por duas massas unidas por
uma mola. Da mesma forma, a energia cinetica vibracional e proporcional
a v
2
R
, onde v
R
e a velocidade relativa entre os dois atomos da molecula, ao
longo do eixo x
. Desta forma, conclumos que, para a molecula diat omica
vibrat oria, a express ao da energia envolve sete termos quadr aticos, portanto
CEDERJ
102
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
a energiaintena se a igual a:
(E
int
)
di,rot,vib
=
7
2
NkT =
7
2
nRT.
Trabalho realizado sobre um gas ideal
Considere a situa cao descrita na Figura 8.2, na qual um recipiente
contendo um g as ideal possui um embolo m ovel de area A. Um objeto de
massa m e apoiado sobre o embolo. Ao variarmos o volume do g as, variando
sua pressao, a massa m sera deslocada. Por exemplo, se aumentarmos a
temperatura do g as, este ir a se expandir, suspendendo a massa m.
m
mbolo mvel
(rea A)
Gs ideal
Base com temperatura
controvel
Figura 8.2: Recipiente contendo um gas ideal e um embolo movel sobre o qual repousa
uma massa m.
A for ca exercida pelo g as sobre o embolo aponta para cima, e tem
m odulo igual ao produto da press ao do g as pela area A do embolo, ou seja,
F = p A y. Pela terceira lei de Newton, o embolo reage a esta for ca, exercendo
uma for ca de mesmo m odulo e sentido contr ario sobre o g as, isto e,
F
F.
Portanto, ao deslocarmos o embolo de uma altura innitesimal dy, o trabalho
realizado por
F
e dado por dW =
F
dy = p Ady . Freq uentemente,
representamos as transformacoes sofridas por um g as num diagrama que
relaciona sua pressao com seu volume, isto e, num diagrama pV . Por isto,
sera interessante expressar o trabalho realizado em termos destas grandezas.
Note que o produto Ady e justamente a varia cao innitesimal do volume do
g as, de maneira que dW = p dV . O trabalho total realizado por
F
sera,
103
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
entao, dado por
W =
_
V
f
V
i
p dV , (8.4)
onde V
i
e V
f
sao, respectivamente, os volumes inicial e nal do gas. Assim,
num diagrama p V como o da Figura 8.3, o m odulo do trabalho reali-
zado sobre o g as e dado pela area embaixo da curva que representa p como
funcao de V .
C
v
i
v
f
p
p
f
p
i
V
| | W
Figura 8.3: Diagrama p V . A expansao de um g as desde o volume inicial V
i
ate o
volume nal V
f
e representada pela curva C. O modulo do trabalho realizado e igual ` a
area sob a curva C.
Note que, quando o g as e comprimido, temos dV < 0 e V
f
< V
i
, de
maneira que W > 0. Isto signica que o meio externo realiza trabalho so-
bre o gas. Em contrapartida, quando o g as se expande temos dV > 0 e
V
f
> V
i
, de maneira que W < 0 . Neste caso, o trabalho e realizado pelo
gas sobre o meio externo, representado pelo embolo e a massa m. Conforme
veremos mais tarde, o trabalho realizado pelas for cas que o g as exerce no am-
biente externo esta associado ` a troca de energia entre o g as e este ambiente.
Portanto, veremos que um trabalho negativo representa a perda de energia
pelo g as para o ambiente, enquanto um trabalho positivo signica que o g as
recebe energia do ambiente. De posse da Eq.(8.4), podemos calcular o tra-
balho realizado pelo ou sobre o g as quando este sofre uma transformacao.
Contudo, observe que se o g as sofrer altera coes de temperatura ou press ao,
mas seu volume permanecer constante, teremos W = 0 . De fato, num dia-
grama pV , uma alteracao deste tipo e representada por uma linha vertical,
sob a qual a area compreendida e nula. Portanto, a realiza cao de traba-
lho pelo ou sobre o g as numa transforma cao qualquer requer a varia cao do
seu volume.
CEDERJ
104
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
Trabalho realizado a pressao constante
Suponha que o g as da Figura 8.2 sofra uma expans ao, a uma press ao
constante p
0
, desde o volume inicial V
i
ate o volume nal V
f
. Para tal, pode-
mos aumentar a temperatura do g as e manter constante a massa
m sustentada pelo embolo m ovel. De fato, teremos uma expans ao a press ao
constante, de maneira que este processo e representado por uma linha hori-
zontal no diagrama p V , conforme mostramos na Figura 8.4. O c alculo do
trabalho neste caso e bastante simples. Como a press ao e constante, podemos
fatorar p na integral da Eq.(8.4):
W = p
0
_
V
f
V
i
dV = p
0
(V
f
V
i
) . (8.5)
Portanto, o m odulo do trabalho realizado pelo g as ser a igual ` a area retangular
sob a reta horizontal que representa a press ao como fun cao do volume.
v
i
v
f
p
p
0
| | W
V
Figura 8.4: Expansao de um gas a pressao constante.
Trabalho realizado a temperatura constante
Quando, mantendo a temperatura constante, um g as expande-se ou
contrai-se, o produto da pressao com o volume permanece constante:
pV = cte. = nRT (8.6)
Num diagrama pV , a varia cao da press ao com a temperatura sera dada por
p =
cte.
V
, que e a equa cao de uma hiperbole, cuja curva est a representada
na Figura (8.5). O trabalho realizado sobre o sistema numa expansao a
temperatura constante, entre os volumes V
i
e V
f
sera dado ent ao por:
W =
_
V
f
V
i
p dV = nRT
_
V
f
V
i
dV
V
= nRT ln(
V
f
V
i
) (8.7)
105
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
Isoterma, p=cte / V
v
i
p
p
f
p
i
| | W
v
f
V
Figura 8.5: Expansao de um gas a temperatura constante.
Devemos notar que o trabalho realizado e negativo para uma expansao (V
f
>
V
i
). Portanto, neste caso, o sistema cede energia para o reservat orio termico
que mantem a temperatura do g as constante.
Exemplo 1Um mol de g as sofre um processo de compressao, partindo de
um volume igual a 0, 5 m
3
, e atingindo um volume igual a 0, 1 m
3
, sendo
a pressao inicial igual a 100Pa e a press ao nal igual a 40 Pa. Calcule
o trabalho realizado para os processos descritos a seguir, e mostrados na
Figura (8.6):
60
40
20
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
V (m )
3
P
(
P
a
)
(c)
(a)
(b)
70
80
Figura 8.6: Processos de compressao do exemplo 1.
(a)Inicialmente a volume constante (0, 5m
3
), com a press ao variando de 20
e 100 Pa; ap os o que o g as e comprimido, variando-se o volume de 0, 5 a
0, 1 m
3
, ` a pressao de 100 Pa.
CEDERJ
106
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
(b) Inicialmente a pressao constante, variando-se o volume de 0, 5 a 0, 1 m
3
, `a
pressao de 20 Pa.; ap os o que aumenta-se a pressao de 20 e 100 Pa, a volume
constante (0, 1 m
3
).
(c) Seguindo a isoterma que passa pelos pontos inicial e nal do
diagrama pV.
Solu cao
Pelo processo (a), o trabalho ser a igual a o no primeiro trecho (volume cons-
tante). No segundo trecho, o trabalho ser a dado por:
W =
_
0,1
0,5
p dV = 100 Pa [V ]
0,1
0,5
= 0, 4 100 J = 40 J
Entao W
a
= 40J.
Pelo processo (b), no primeiro trecho, o trabalho ser a dado por:
W =
_
0,1
0,5
p dV = 20 Pa [V ]
0,1
0,5
= 0, 4 20 J = 8 J
No segundo trecho, o trabalho e nulo pois a pressao aumenta a volume cons-
tante. Portanto, o trabalho total ser a igual a W
b
= 8 J.
Quanto ao processo (c), e interessante observar se os pontos inicial e nal
realmente estao sobre uma isoterma, o que de fato acontece, pois P
i
V
i
=
20 0, 5 Pa m
3
= P
f
V
f
= 100 0, 1Pa m
3
= 10Pa m
3
. O trabalho, ent ao,
sera dado por:
W
c
=
_
0,1
0,5
P dV =
_
0,1
0,5
10
V
dV = 10ln(
0, 1
0, 5
) = 10ln(0, 2) = 16, 1 J.
E interessante observar que apenas estimando, no diagrama pV, as areas
abaixo das curvas que denem os caminhos para calculo de trabalho, pode-se
concluir que W
b
< W
c
< W
a
.
Trabalho realizado em isolamento termico
Os processos em que se imp oe isolamento termico sao denominados
processos adiab aticos. Em um processo adiab atico, como n ao h a troca de
calor com o exterior, devemos esperar que a temperatura do g as varie, quando
sobre ele realiza-se trabalho, ou quando o g as realiza trabalho sobre o exterior.
No diagrama pV a curva de expans ao de um g as submetido a condi coes
adiabaticas deve seguir a equa cao
1
:
1
Por enquanto, deveremos aceitar esta dependencia funcional, a qual ser a justicada
posteriormente.
107
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
pV
= const., (8.8)
onde a constante representa a raz ao entre calores especcos, e e determi-
nada experimentalmente para cada g as, sendo que os valores tpicos variam
na faixa de 1, 1 a 1, 8. A Figura (8.7) mostra que a curva corresponde a uma
varia cao da press ao em funcao do volume para uma expans ao adiab atica
(p =
cte.
V
), juntamente com uma curva de expans ao a temperatura constante
partindo do mesmo ponto (V
i
, p
i
) inicial. Como podemos observar nessa -
gura, a curva correspondente ` a expans ao adiab atica tem valores sempre me-
nores que a correspondente `a expans ao isotermica que parte do mesmo ponto.
Podemos agora, a partir da equa cao (8.8), calcular o trabalho correspondente
a uma expans ao adiab atica:
W =
_ V
f
V
i
p dV =
_ V
f
V
i
p
i
V
i
V
dV = p
i
V
i
_ V
f
V
i
dV
V
= =
p
i
V
i
1
(V
1
i
V
1
f
)
(8.9)
isoterma, p=cte/V
adiabtica, p=cte/V
g
W
p
i
p
p
f
v
i
V v
f
Figura 8.7: Expansao adiab atica de um gas.
Trabalho e energia em um gas ideal
A for ca que um g as exerce sobre sua vizinhan ca, devido ` a sua pressao,
nao e conservativa. O trabalho de uma for ca conservativa nao depende da
trajet oria seguida pelo sistema, enquanto o trabalho realizado nas trans-
forma coes de um g as depende da trajet oria. De fato, isto pode ser visto
facilmente se analisarmos a transformacao de um g as desde uma condi cao
inicial com press ao p
i
e volume V
i
, ate uma condicao nal com press ao p
f
CEDERJ
108
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
e volume V
f
. Considere que esta transforma cao seja feita por dois caminhos
alternativos, conforme est a representado no diagrama p V da Figura 8.8.
No caminho ABD, a press ao do g as e aumentada a volume constante desde
p
i
ate p
f
(isto pode ser feito aquecendo-se o g as a volume constante). Em
seguida, e permitida a expans ao do g as a press ao constante (igual a p
f
) desde
o volume V
i
ate o volume V
f
. Uma vez que no trecho AB o volume perma-
nece constante, temos W
AB
= 0 . J a no trecho BD, a press ao permanece
constante, de modo que W
BD
= p
f
(V
f
V
i
) , de acordo com a Eq.(8.5). O
trabalho total realizado ser a, ent ao,
A
B
C
D
v
i
p
p
f
p
i
v
f
V
Figura 8.8: Diagrama pV: transforma coes realizadas por caminhosalternativos
W
ABD
= W
AB
+ W
BD
= p
f
(V
f
V
i
) . (8.10)
Em contrapartida, seguindo o caminho ACD, temos primeiro
uma expansao do g as de V
i
ate V
f
a pressao constante (igual a p
i
), e de-
pois o aumento de press ao a volume constante desde p
i
ate p
f
. Neste caso,
W
AC
= p
i
(V
f
V
i
) e W
CD
= 0 . Portanto, o trabalho total realizado ser a
W
ACD
= W
AC
+ W
CD
= p
i
(V
f
V
i
) . (8.11)
Das Eqs.(8.10) e (8.11) ca claro que W
ABD
,= W
ACD
. Porem, os estados
inicial e nal do g as s ao os mesmos em ambas as transforma coes realizadas.
Isto demonstra nossa arma cao de que as for cas exercidas pelo ou sobre o
g as n ao s ao conservativas.
109
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
O trabalho de uma for ca conservativa depende apenas das condi coes
inicial e nal do sistema. Neste caso, podemos associar uma forma de energia
`a for ca conservativa, de modo que o trabalho realizado seja igual ` a diferen ca
de energia no sistema entre os estados nal e inicial. Na Mec anica Cl assica,
e desta maneira que denimos a energia potencial associada a uma for ca
conservativa. A energia potencial e uma energia de conguracao, isto e, ela
depende das variaveis, ou coordenadas, que descrevem o estado de um sistema
mecanico. Por exemplo, a energia potencial armazenada em uma mola de
constante el astica k depende do deslocamento x da mola com rela cao ` a sua
posi cao de equilbrio:
U(x) =
1
2
k x
2
. (8.12)
Chegamos aqui a um ponto que requer uma reex ao acerca do trabalho e
energia em um g as. J a dissemos na Aula 6 que as vari aveis que descrevem o
estado de um g as s ao p , V , T e N . Em outro ponto desta aula, mostramos
que a energia interna de um g as ideal est a relacionada com sua temperatura
T. Isto signica que a energia interna e uma energia de congura cao para um
g as. De fato, voltando ` as transforma coes descritas no diagrama da Figura
8.8, a varia cao de energia interna do g as entre os estados inicial e nal n ao
depende do caminho seguido pelo g as entre estes dois estados. Por exemplo,
supondo-se um g as monoat omico, teremos
E
ABD
int
= E
ACD
int
=
3
2
N k (T
f
T
i
) , (8.13)
onde k e a constante de Boltzmann e N e o n umero de moleculas no g as. Ou
seja, E
int
depende apenas das temperaturas nal (T
f
) e inicial (T
i
) do g as,
e nao da trajet oria seguida. Portanto, o trabalho realizado pelo ou sobre o
g as n ao pode explicar sozinho a varia cao de energia ocorrida. Neste caso, a
formula cao de uma lei de conserva cao requer a existencia de outra forma de
troca de energia entre o g as e o ambiente externo. Esta ser a a motiva cao
principal da nossa proxima aula.
Resumo
Atraves da Teoria Cinetica dos gases, estabelecemos a rela cao entre a
energia interna de um g as (que e a energia de movimento de suas moleculas)
e sua temperatura. Formulamos o teorema da equiparti cao da energia, que
nos d a a energia interna por molecula como sendo 1/2 k T para cada termo
quadr atico na sua energia. Comentamos ainda que a energia interna depende
CEDERJ
110
Trabalho e energia em um gas ideal
M
ODULO 1 - AULA 8
apenas das vari aveis de estado do g as, sendo que para um g as ideal ela
depende somente da temperatura.
Em seguida, discutimos o c alculo do trabalho realizado quando um g as
sofre uma transformacao em suas vari aveis de estado. Vimos que o m odulo
do trabalho corresponde `a area sob a curva que representa a trajet oria des-
crita seguida pelo g as no diagrama p V . Sempre que o g as se expande,
o trabalho realizado e negativo, signicando que o g as realiza trabalho so-
bre o meio externo. Do contr ario, quando o g as e comprimido, o trabalho
e positivo, e o meio externo realiza trabalho sobre o g as. Alguns particula-
res como transforma coes a press ao constante, temperatura constante, ou em
isolamento termico foram considerados.
Finalmente, discutimos o car ater nao conservativo das for cas de in-
tera cao entre o g as e as paredes do recipiente. Vimos que o trabalho reali-
zado por um g as depende da trajet oria seguida, e que, portanto, n ao pode
explicar sozinho a varia cao de energia do g as. Assim, conclumos que deve
haver outra forma de troca de energia entre o g as e o ambiente externo. Este
sera o objeto da pr oxima aula.
Exerccios
1. Calcule a energia cinetica de rota cao de 1 mol de O
2
a 30, 0
o
C .
2. Um g as ideal sofre uma compress ao adiab atica a partir de p
i
= 100 kPa ,
V
i
= 5, 0 m
3
, T
i
= 30, 0
o
C , ate p
f
= 1.500 kPa , V
f
= 0, 40 m
3
.
(a) Calcule o valor de .
(b) Determine a temperatura nal.
(c) Calcule o n umero de moles do g as.
(d) Calcule a energia cinetica de transla cao total por mol antes e de-
pois da compress ao.
(e) Calcule a raz ao entre a velocidade media quadr atica antes da com-
pressao e a velocidade media quadr atica depois da compress ao.
3. Uma amostra de um g as ideal se expande desde 0, 5 ate 2, 5 m
3
. Nesta
expans ao, a press ao do g as diminui de 30, 0 ate 10, 0 Pa . A expans ao do
g as pode ser feita por um dos tres caminhos mostrados na
Figura 8.9.
111
CEDERJ
2
Trabalho e energia em um gas ideal
40
30
20
10
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
V (m )
3
p (Pa)
1
2
3
Figura 8.9: Diagrama p V representando os tres possveis caminhos para a expansao
do g as do exerccio 3.
(a) Calcule o trabalho realizado por cada um dos tres caminhos
considerados.
(b) Calcule a varia cao da energia interna do g as, sabendo-se que se
trata de um g as monoat omico.
4. Calcule o trabalho realizado por um agente externo na compress ao
isotermica de 1, 25 mol de oxigenio, a partir do volume de 25, 2 l e da
pressao de 1, 48 atm, ate o volume de 14, 2 l .
5. Quatro litros de um g as ideal com = 1, 40 encontra-se a uma tempe-
ratura de 300 K e pressao de 1, 30 atm. Ele e comprimido adiabatica-
mente ate a metade do seu volume original.
(a) Calcule a press ao nal do g as.
(b) Calcule a temperatura nal do g as.
(c) Calcule o trabalho realizado sobre o g as.
CEDERJ
112
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
Aula 9 Calor e transferencia de energia
Objetivos
Ao nal desta aula o aluno dever a ser capaz de:
Compreender o conceito de calor e suas aplica coes.
Entender a denicao de capacidade calorca e calor especco.
Introdu cao
Na ultima aula discutimos o car ater nao conservativo do trabalho re-
alizado por um g as ideal. Como vimos, o trabalho realizado pelo g as numa
transforma cao pode depender da trajet oria seguida pelo sistema entre as
condi coes inicial e nal no diagrama p V . Uma vez que a varia cao de
energia interna do g as n ao deve depender da trajet oria, conclumos que o
trabalho n ao pode explicar sozinho as trocas de energia entre o g as e o ambi-
ente externo. Deste modo, conclumos tambem que deve existir outra forma
de transferencia de energia. Chamaremos calor a energia trocada entre um
sistema termodinamico qualquer (um g as, por exemplo) e sua vizinhan ca,
como conseq uencia da diferen ca de temperatura entre eles. Assim, a no cao
de calor surge vinculada ` a transferencia de energia. Em outras palavras, ca-
lor e uma forma de energia em transito. Neste momento, e importante
enfatizarmos a diferenca entre calor e energia interna. Muitas vezes somos
tentados a confundir estes conceitos e construir armativas erroneas do tipo
um corpo muito quente possui muito calor. O calor n ao e uma caracterstica
intrnseca de um sistema. N ao faz sentido falarmos do calor contido em um
corpo. Calor e uma forma de troca de energia com o ambiente externo.
Tratando-se de uma forma de troca de energia, e natural que o calor
seja expresso em unidades de energia. Assim sendo, no sistema internacional
(SI) de unidades, utilizamos o joule (J). Contudo, historicamente, antes de
ser estabelecida a rela cao entre calor e transferencia de energia, j a existiam
outras unidades. Algumas delas sao utilizadas atualmente, como caloria (cal)
e unidade termica brit anica (Btu). Os fatores de convers ao destas unidades
para o joule sao:
1 cal = 4, 186 J e 1 Btu = 1.055 J .
Em nosso metabolismo, a queima de a c ucares produz energia qumica
para o nosso corpo. Por isso, em Nutri cao, muitas vezes expressamos a
113
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
quantidade de energia que pode ser fornecida por um determinado alimento.
Para esta nalidade, utilizamos freq uentemente a quilocaloria (Cal ou kcal).
Assim,
1 Cal = 1.000 cal = 4.186 J.
Ja a unidade termica britanica e freq uentemente adotada na especi-
ca cao da capacidade de um aparelho condicionador de ar. Assim, um
aparelho com capacidade de 7.500 Btu/h e capaz de transferir 7.500 Btu ou
7, 9125 10
6
J de energia para fora do ambiente durante o tempo de 1 h .
Infelizmente, a capacidade de um aparelho condicionador de ar e popular-
mente expressa em Btu, o que e incorreto. A capacidade de um aparelho
est a ligada ` a energia transferida por unidade de tempo. Portanto, a uni-
dade correta e o Btu/h ou ainda o J/h .
Historicamente, a rela cao entre calor e energia mec anica foi estabelecida
por James Joule em 1850. Este fsico ingles obteve um equivalente mecanico
do calor atraves de um experimento engenhoso esquematizado na Figura 9.1.
A queda de dois objetos de massa m foi utilizada para movimentar um con-
junto de p as imersas num recipiente com agua. A agita cao da agua provocava
o seu aquecimento, e a deni cao original da caloria era a quantidade de ca-
lor necess aria para aumentar a temperatura de 1 g de agua, de 14, 5
o
C para
15, 5
o
C. Assim sendo, Joule mediu a varia cao de temperatura da agua para
obter a quantidade de calorias equivalente ao trabalho mec anico W = 2 mg h
realizado pela queda dos pesos de uma altura h . Desde 1948 o Joule foi ado-
tado como a unidade do sistema internacional (SI) para calor. Desse modo,
usamos para o calor a mesma unidade utilizada para expressarmos trabalho
e energia.
Figura 9.1: Esquema do experimento de Joule.
CEDERJ
114
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
Capacidade calorca e calor especco
Quando transferimos energia, na forma de calor, a um corpo, algumas
das propriedades macrosc opicas deste corpo podem mudar. Quando pensa-
mos nos efeitos da transferencia de calor a um corpo, a primeira coisa que
vem `a cabe ca e que o corpo esquentar a, ou seja, aumentar a a sua tempera-
tura. Ao receber uma quantidade Q de calor, a varia cao de temperatura T
sofrida por um corpo depender a de como evoluem outras caractersticas do
sistema, durante a transferencia. Um exemplo deste fato e uma certa quanti-
dade de gas dentro de um cilindro, o qual e fechado por um pist ao m ovel. A
varia cao de temperatura assumir a valores diferentes se o pist ao estiver xo,
ou se este estiver livre e sobre ele apoiar-se um peso constante.
Levando-se sempre em conta as condi coes a que est a submetido um
corpo, podemos caracterizar seu comportamento em face da transferencia
de energia na forma de calor, denindo a grandeza chamada capacidade ca-
lorca, C
, a raz ao entre o calor Q e a varia cao de temperatura T:
C
=
Q
T
, (9.1)
O conhecimento da capacidade calorca de um corpo permite, por
exemplo, saber qual a quantidade de calor Q que se devera dar a este corpo,
para variar a sua temperatura de T. Mas devemos observar que, em ge-
ral, a capacidade calorca de um corpo varia com a temperatura, devendo-
se considerar os valores de C
obtidos atraves da Equacao (9.1) como um
valor medio para uma determinada faixa de temperatura. Podemos de-
nir valores da capacidade calorca para uma dada temperatura, no limite
em que T 0.
A capacidade calorca serve apenas para estudar um determinado
corpo. Para descrever o comportamento de uma subst ancia em face da trans-
ferencia de calor, e necessario denir a capacidade calorca especca ou o
calor especco c ou seja, a capacidade calorca por unidade de massa de
um corpo constitudo por uma determinada subst ancia:
c =
C
m
=
Q
mT
, (9.2)
onde m e a massa do corpo. As mesmas observa coes feitas para C
com res-
peito ` a varia cao em funcao da temperatura valem para o calor
especco c.
Se conhecemos a massa m de um corpo, e o calor especco c da
subst ancia que o constitui, podemos calcular a quantidade de calor necess aria
115
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
para elevar sua temperatura, de um valor inicial T
i
a um valor nal T
f
. Basta
dividir o intervalo de temperatura em N intervalos T
n
, e realizar a soma:
Q =
N
n=1
mc
n
T
n
. (9.3)
Fazendo-se T
n
0 (limite innitesimal), obtemos:
Q = m
_
T
f
T
i
c dT , (9.4)
onde c pode variar com a temperatura, ou seja, c = c(T). No caso do calor
especco da subst ancia variar pouco no intervalo de temperatura conside-
rado (como a agua, cujo calor especco varia menos de 1% no intervalo de
temperatura de 0 a 100
o
C), o calor necess ario para aquecer o corpo de T
i
a
T
f
pode ser descrito de forma mais simples:
Q = mc(T
f
T
i
) . (9.5)
E importante ressaltar que, complementarmente ` a utiliza cao da Equa cao
(9.2) para a deni cao do calor especco, deve-se especicar em que condicoes
foi obtida a varia cao da temperatura. Uma condi cao muito utilizada na deter-
mina cao de calores especcos e a press ao atmosferica (pressao constante),
enquanto se transmite calor ao corpo. Alem de calor especco `a pressao
constante, designado por c
p
, podemos denir outras condi coes, como, por
exemplo, volume constante. Em geral, calores especcos obtidos em diferen-
tes condicoes tem valores diferentes.
CEDERJ
116
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
Na Tabela 9.1 est ao mostrados os calores especcos de diversas subst ancias
determinados ` a pressao constante.
Substancia Capacidade Capacidade
Calorca Calorca
Especca
(J/kg.K) (J/mol.K)
Subst ancias
S olidas Puras
Chumbo 129 26,7
Tungstenio 135 24,8
Prata 236 25,5
Cobre 387 24,6
Carbono 502 6,02
Alumnio 900 24,3
Outros
S olidos
Lat ao 380
Granito 790
Vidro 840
Gelo (10
o
C) 2220
Lquidos
Merc urio 139
Alcool etlico 2430
Agua do mar 3900
Agua 4190
Tabela 9.1: Capacidades calorcas de algumas substancias.
Calores de Transforma cao
Quando adicionamos calor a um corpo, nem sempre a temperatura
deste varia. Quando uma amostra de uma subst ancia muda de estado ou de
fase, ela permanece `a temperatura na qual ocorre a transforma cao, ate que
a mesma se processe por completo. Uma panela de agua em ebuli cao, por
exemplo, a pressao de 1 atm, permanecera ` a temperatura de 100
o
C, ate que
toda a agua contida na panela se transforme em vapor d agua. O mesmo tipo
de comportamento ocorre em outros processos, como condensa cao de vapor
d agua, congelamento de agua e fus ao de gelo.
117
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
Chamamos calor de transforma cao ou calor latente, representado por
L, a quantidade de calor por unidade de massa necessaria para realizar o
processo de mudanca de fase. O calor transferido em uma mudanca de fase
e entao dado por:
Q = Lm , (9.6)
onde m e a massa da amostra de subst ancia que muda de fase. Os calores
latentes em processos de vaporizacao e fus ao s ao chamados, respectivamente,
calor de vaporiza c ao e calor de fus ao. Os calores de vaporiza cao e fus ao de
algumas substancias est ao mostrados na Tabela 9.2.
Subst ancia Ponto Calor Ponto Calor
de Fusao de Fus ao de Ebuli cao de Vaporiza cao
(K) (kJ/kg) (K) (kJ/kg)
Hidrogenio 14,0 58,6 20,3 452
Oxigenio 54,8 13,8 90,2 213
Merc urio 234 11,3 630 296
Agua 273 333 373 2256
Chumbo 601 24,7 2013 858
Prata 1235 105 2485 2336
Cobre 1356 205 2840 4730
Tabela 9.2: Calores de transforma cao de algumas substancias.
Exemplo 1
Um professor de Fsica, pai de uma crian ca recem-nascida, precisa preparar
agua para o banho de seu lho ` a uma temperatura de 38
o
C. Ele dispoe, para
o banho, de 10, 0 de agua a 60
o
C. Que quantidade de gelo a 0
C ele precisa
adicionar ` a agua quente para obter a temperatura adequada?
Solu cao:
Para reduzir a temperatura de 10( 10kg) de 60
o
C a 37
o
C sera ne-
cessario adicionar a quantidade de calor igual a:
Q = mcT = 10 kg 4190 J/kgK (38 60)
o
C = 921.8 kJ ,
mas esta quantidade de calor dever a ser cedida pelo gelo, e corresponder a ao
calor latente necess ario para fundi-lo, mais o calor necess ario para elevar a
CEDERJ
118
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
temperatura do gelo fundido, de 0
o
C a 38
o
C, ou seja:
Q = mL+mcT = m333kJ/kg+m4, 19 kJ/kgK38
o
C = m492, 2 kJ/kg .
Portanto, temos:
m =
921, 8
492, 2
kg 1, 9kg ,
ou seja, ser a necessario adicionar 1,9kg de gelo `a agua quente.
Capacidades calorcas dos s olidos
Analisando a Tabela 9.1, podemos constatar que os calores especcos
das subst ancias s olidas variam largamente. Mas podemos, em vez da capa-
cidade calorca especca, ou do calor especco, analisar a capacidade ca-
lorca molar, ou capacidade calorca por mol da subst ancia, que e
denida por:
C =
C
n
=
Q
n T
, (9.7)
onde n e o n umero de moles da amostra da subst ancia que tem capacidade
calorca C
.
A Tabela 9.1 mostra, para as subst ancias s olidas, alem do calor es-
pecco, a capacidade calorca molar. Analisando os dados desta tabela,
podemos concluir que, ` a exce cao do cobre, os valores de C sao bastante
pr oximos de 25 J/molK. Como se trata de subst ancias puras, os n umeros
Dulong e Petit, em 1819,
foram os primeiros a
constatar a invariancia da
capacidade calorca molar
das substancias solidas
elementares.
analisados traduzem-se na capacidade calorca por atomo de subst ancia, o
que se constitui em uma conrmacao da constitui cao at omica da materia.
A Figura 9.2 mostra a capacidade calorca molar em funcao da tem-
peratura para o chumbo, o alumnio e o carbono. Devemos observar que
quando T tende a zero, o valor de C tambem tende a zero para os tres ele-
mentos. Por outro lado, quando a temperatura tende para valores altos, ` a
excessao do carbono, a capacidade calorca molar aproxima-se do valor de
Dulong-Petit. Em contrapartida, a varia cao de C em funcao da temperatura
e bastante diferente para os tres elementos. Pode-se especular que o fato de o
carbono n ao apresentar o valor de Dulong-Petit para a capacidade calorca
a altas temperaturas e devido ` a varia cao mais lenta de seu valor de C em
funcao da temperatura comparativamente a do alumnio, a qual por sua vez,
e mais lenta do que a do chumbo.
119
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
C
h
u
m
b
o
Valor limite
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a
A
m
b
i
e
n
t
e
Temperatura (K)
C
a
p
a
c
i
d
a
d
e
c
a
l
r
i
c
a
m
o
l
a
r
(
J
/
m
o
l
-
K
)
0
200 400 600 800 0
5
10
15
20
25
A
l
u
m
n
i
o
C
a
r
b
o
n
o
Figura 9.2: Varia cao da capacidade calorca molar em fun cao da temperatura para
chumbo, alumnio e carbono.
A Figura 9.3 mostra que, de fato, esta especula cao deve corresponder
`a realidade. Esta gura mostra a varia cao da capacidade calorca molar,
em funcao da temperatura, para v arios s olidos. Este gr aco foi preparado
usando o artifcio de adotar escalas diferenciadas de temperatura para cada
solido, de modo a tentar fazer coincidir as curvas de C em funcao de T. Por
isso, a abcissa do gr aco e apresentada como
T
T
D
, onde T
D
(conhecido como
temperatura de Debye) e o fator de escala.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
0
25
20
15
10
5
T/T
D
Al
CaF
2
Cu
KCl
NaCl
Pb
Zn
Figura 9.3: Varia cao da capacidade calorca molar de diversas subst ancias solidas,
em fun cao da temperatura reduzida
T
TD
.
A Figura 9.3 evidencia ent ao, um comportamento universal para os
solidos elementares. Este comportamento pode ser entendido levando-se em
consideracao o modelo de s olidos apresentado na Aula 5 deste curso: os
atomos de um s olido vistos como massas interligadas umas ` as outras, por
CEDERJ
120
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
meio de molas. Uma vez que, num s olido, o movimento dos atomos est a
restrito ` a oscila cao em torno do ponto de equilbrio, podemos admitir, se
supusermos que nao se realiza trabalho sobre o s olido, que a unica contri-
buicao a ser levada em conta em sua energia interna e a relativa ` a vibra cao.
Utilizando o Teorema da Equiparti cao da Energia, tambem apresentado na
Aula 5, podemos calcular a energia interna de um s olido elementar. Cada
atomo do s olido pode vibrar em tres direcoes (x, y, z). Como o movimento
vibrat orio contribui para a energia com dois termos quadr aticos (energia
cinetica e energia potencial), podemos concluir que a energia interna molar
de um solido pode ser escrita como:
E
int
= 2 3 N
A
(
1
2
kT) = 3RT . (9.8)
Como n ao estamos realizando trabalho sobre o s olido, para elevarmos sua
temperatura de T sera necessario fornecer um uxo de calor por mol
(
Q
n
) igual a 3RT. A capacidade calorca molar a volume constante
sera ent ao dada por:
C
V
=
Q
n
1
T
= 3R = 24, 9J/molK, (9.9)
valor que e extremamente pr oximo ao de Dulong-Petit.
Lembre que n ao se est a realizando trabalho sobre o s olido. Portanto, seu
volume permanece constante.
Capacidades calorcas de um gas ideal
A capacidade calorca de um g as ideal depende do tipo de trans-
forma cao sofrida por ele. Por exemplo, se o recipiente que contem o g as
possuir paredes diatermicas rgidas, o g as troca calor com o ambiente ex-
terno, mantendo seu volume constante. Porem, a pressao do g as deve variar
de acordo com a sua equa cao de estado. A capacidade calorca do g as nestas
condicoes e dita capacidade calorca a volume constante. Em contrapartida,
se o recipiente contendo o g as possuir paredes diatermicas moveis, mas a
pressao do g as for mantida constante durante as trocas de calor com o am-
biente externo, temos a capacidade calorca ` a press ao constante. Veremos
a seguir como estas capacidades calorcas podem ser facilmente calculadas
a partir dos resultados da Teoria Cinetica.
121
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
Capacidade calorca a volume constante
Considere a situacao ilustrada na Figura 9.4. Um g as ideal e colocado
no interior de um recipiente cilndrico com um embolo m ovel. Suponha que
um calor Q seja cedido ao g as. A energia transferida ao g as pode ser arma-
zenada na forma de energia cinetica de suas moleculas, variando, portanto,
a energia interna E
int
do g as, ou ser utilizada para a realiza cao de trabalho
sobre o embolo m ovel.
fixador
mbolo
Figura 9.4: Recipiente cilndrico com um embolo movel, que pode ser xado quando
quisermos manter o volume constante.
Se o embolo for xado, o volume do g as permanecer a constante, de
maneira que W = 0, e a energia transferida ao g as ser a armazenada na forma
de energia cinetica de suas moleculas. Ou seja, o calor ir a se transformar em
energia interna do g as, causando a varia cao:
E
int
= Q . (9.10)
Assim sendo, a capacidade calorca molar a volume constante, simbolizada
por C
V
, e dada por:
C
V
=
Q
nT
=
E
int
nT
, (9.11)
onde n e o n umero de moles do g as. Ou seja, C
V
representa a energia
necessaria para elevarmos de 1 K a temperatura de 1 mol de g as, a volume
constante.
De acordo com a Teoria Cinetica dos gases, a temperatura e a energia
interna de um g as ideal est ao diretamente relacionados. Portanto, ao vari-
armos a energia interna de um g as, variamos tambem a sua temperatura.
CEDERJ
122
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
Por exemplo, de acordo com a Equa cao(1) da Aula 8, temos
E
int
=
3
2
nRT , (9.12)
para um g as monoat omico. Assim sendo, a capacidade calorca molar a
volume constante de um g as monoat omico e:
C
V
=
3
2
R = 12, 5 J/mol K (g as monoat omico). (9.13)
Para gases diat omicos e poliat omicos temos:
C
V
=
5
2
R = 20, 8 J/mol K (g as diat omico), (9.14)
C
V
= 3 R = 24, 1 J/mol K (g as poliat omico). (9.15)
Capacidade calorca `a pressao constante
Suponhamos que o gas do recipiente da Figura 9.4 sofra uma trans-
forma cao ` a pressao constante. Por exemplo, se liberarmos o embolo do
recipiente, e aplicarmos sobre ele uma for ca constante, a press ao do g as
ir a permanecer constante. Neste caso, de acordo com a equa cao de estado
do g as ideal, qualquer transforma cao no g as envolver a uma varia cao de tem-
peratura e volume. Assim sendo, considere que a temperatura do g as varie
de T a T + T , enquanto sua pressao e constante e igual a p
0
. Na Figura
9.5 este processo esta representado pelo segmento de reta ab . Alem disso,
representamos, ainda, as isotermas associadas ` as temperaturas inicial e nal
da transforma cao. Queremos calcular o calor Q recebido pelo g as do ambi-
ente externo nesta transformacao e obtermos a capacidade calorca molar `a
press ao constante, C
p
, dada por:
C
p
=
Q
nT
. (9.16)
Porem, note que, neste caso, o c alculo do calor n ao e tao simples quanto
o do caso anterior (a volume constante), pois h a duas contribui coes para a
varia cao da energia interna do g as. Uma e o calor recebido Q, e a outra e o
trabalho W sobre o g as, ou seja,
E
int
= Q+ W . (9.17)
De acordo com as conven coes que adotamos, tanto Q como W serao po-
sitivos caso contribuam para o aumento da energia interna do g as, e negativos
123
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
em caso contrario. Para calcularmos C
p
, precisamos obter Q em funcao de
T. Isto pode ser facilmente alcan cado obtendo-se primeiro E
int
e W em
funcao de T , e depois substituindo-se estes resultados na Equa cao(9.17).
O trabalho realizado a pressao constante, conforme vimos na Aula 8, e
simplesmente:
W = p V = nRT , (9.18)
onde a segunda igualdade segue diretamente da equa cao de estado do g as
ideal. A Equa cao(9.18) fornece, assim, a rela cao desejada entre W e T .
Resta ainda obtermos E
int
em termos de T . Para tal, vamos considerar
um processo hipotetico a volume constante representado pelo segmento ac
na Figura 9.5. Neste caso, temos, de acordo com a Equa cao(9.11), que
E
ac
int
= nC
V
T . (9.19)
c
b
a
v
p
p
0
T
T+ T D
Figura 9.5: Diagrama p V representando as transforma coes a volume constante e `a
pressao constante entre as isotermas T e T + T .
Contudo, note que a varia cao de energia interna do g as depende apenas
da varia cao de temperatura, e n ao do caminho percorrido no diagrama p
V . Como tanto o processo ab quanto o ac envolvem a mesma varia cao de
temperatura T , ambos os processos produzem a mesma varia cao de energia
interna do g as, ou seja,
E
ab
int
= E
ac
int
= nC
V
T . (9.20)
CEDERJ
124
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
Finalmente, substituindo as Equa coes.(9.18) e (9.20) na Equa cao(9.17),
obtemos
nC
V
T = nC
p
T nRT ,
ou
C
p
= C
V
+ R . (9.21)
Portanto, o valor de C
p
e obtido imediatamente a partir do valor de C
V
:
C
p
=
5
2
R = 20, 8 J/mol K (g as monoat omico), (9.22)
C
p
=
7
2
R = 29, 1 J/mol K (g as diat omico), (9.23)
C
V
= 4 R = 33, 3 J/mol K (g as poliat omico). (9.24)
O calor especco se relaciona com a capacidade calorca molar atraves
de c = C/M onde M e a massa molar da subst ancia. Assim, podemos
tambem denir os calores especcos, a volume constante e ` a pressao cons-
tante, de um gas como sendo
c
V
=
C
V
M
e c
p
=
C
p
M
. (9.25)
125
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
Na Tabela 9.3 listamos as capacidades calorcas molares de alguns
gases juntamente com os valores dos gases ideais correspondentes.
Gas C
p
C
V
C
p
C
V
(J/mol K) (J/mol K) (J/mol K)
Ideal
Monoat omico 20,8 12,5 8,3
He 20,8 12,5 8,3
Ar 20,8 12,5 8,3
Ideal
diat omico 29,1 20,8 8,3
H
2
28,8 20,4 8,4
N
2
29,1 20,8 8,3
O
2
29,4 21,1 8,3
Ideal
poliat omico 33,3 24,9 8,3
CO
2
37,0 28,5 8,5
NH
3
36,8 27,8 9,0
Tabela 9.3: Capacidades calorcas molares de alguns gases.
Exemplo 2
A massa de um atomo de helio e 6, 6610
27
kg . Calcule o calor especco a
volume constante c
V
para o helio gasoso em J/kg K a partir da capacidade
calorca molar a volume constante C
V
.
Solu cao:
O helio e um g as nobre e, portanto, monoat omico. Em um mol de helio
temos N
A
= 6, 02 10
23
atomos; portanto, sua massa molar e
M
He
= 6, 02 10
23
6, 66 10
27
kg/mol = 4, 01 10
3
kg/mol .
Assim sendo, seu calor especco a volume constante e
c
V
=
3
2
R
M
He
= 3, 12 10
3
J/kg K.
O calor especco `a press ao constante tambem e facilmente obtido de
c
p
=
5
2
R
M
He
= 5, 19 10
3
J/kg K .
CEDERJ
126
Calor e transferencia de energia
M
ODULO 2 - AULA 9
Exemplo 3
Quanto calor devemos ceder a 1, 50 moles de oxigenio (O
2
) para dobrar o seu
volume ` a press ao constante, partindo de uma temperatura inicial de 280 K ?
Solu cao:
Uma vez que a expans ao do g as ocorrer a ` a press ao constante, devemos
dobrar sua temperatura para que ele atinja o dobro do volume inicial. De
fato, utilizando a equa cao de estado do g as ideal na condi cao inicial:
p
1
V
1
= nRT
1
, (9.26)
e na condi cao nal:
2 p
1
V
1
= nRT
2
, (9.27)
e dividindo a Equa cao (9.26) pela (9.27) obtemos facilmente:
T
2
= 2 T
1
= 560 K. (9.28)
Logo, a varia cao de temperatura do g as e T = 280 K . Uma vez que o g as
se expande `a pressao constante, podemos calcular o calor Q recebido por ele
como sendo
Q = nC
p
T =
7
2
nRT
= 3, 5 1, 50 moles 8, 31 J/(mol K) 280 K = 1, 22 10
4
J,
onde utilizamos a capacidade calorca molar de um gas diat omico.
Resumo
Nesta aula, foi introduzido o conceito de calor como energia transferida
entre dois sistemas em conseq uencia da diferen ca de temperatura entre eles.
Estabelecemos a equivalencia entre calor e trabalho mec anico mencionando a
celebre experiencia de Joule. Denimos ainda grandezas como a capacidade
calorca e o calor especco, que sao medidas da energia necess aria para
alterar-se a temperatura de um sistema. Aplicamos esses conceitos a um
g as ideal e calculamos sua capacidade calorca quando este sofre dois tipos
basicos de transformacoes: a volume constante e ` a pressao constante. Vimos
que as duas capacidades calorcas se relacionam de forma bastante simples
atraves de C
p
= C
V
+ R.
127
CEDERJ
2
Calor e transferencia de energia
Exerccios
1) Um peda co de alumnio, com massa igual a 100g, e aquecido ` a tem-
peratura de 90
o
C, ap os o que e colocado em contato com 100ml de agua a
20
o
C, dentro de um recipiente termicamente isolado. Calcule o calor trocado
no processo, e determine a temperatura nal atingida.
2) Que massa de vapor d agua a 100
o
C precisa ser misturada a 2kg de gelo,
`a temperatura de 0
C em um vaso termicamente isolado, para que o lquido
resultante tenha a temperatura de 45
o
C?.
3) Uma amostra de 5, 32 moles de um g as ideal diat omico e aquecido de
54, 6 K a pressao constante.
a) Calcule o calor Q recebido pelo g as.
b) Calcule a varia cao da energia cinetica de rota cao do g as.
4) Vinte gramas de nitrogenio (N
2
) sao aquecidos de 30
o
C a 180
o
C , no
interior de um recipiente com paredes rgidas.
a) Calcule o n umero de moles de N
2
no recipiente.
b) Calcule o calor recebido pelo g as.
c) Calcule a variacao de energia interna do g as.
5) Um recipiente de volume V = 100 l est a preenchido com um certo g as
diat omico, e possui um pequeno furo que permite a troca de g as com o
exterior. O g as do recipiente e aquecido desde uma temperatura inicial
T
i
= 10
o
C `a temperatura nal T
f
= 30
o
C , mantendo-se a press ao cons-
tante p
0
= 1, 0 atm.
a) Calcule a varia cao, em n umero de moles, da quantidade de g as no recipi-
ente.
b) Calcule a varia cao de energia interna do g as no recipiente.
CEDERJ
128
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
Aula 10 A Primeira Lei da Termodinamica
Objetivos
Ao nal desta aula, o aluno dever a ser capaz de:
Descrever a Primeira Lei da Termodin amica e aplic a-la.
Entender o fenomeno da transmiss ao de calor.
Introdu cao
Na Aula 9, tratamos o conceito de calor como uma forma de trans-
ferencia de energia entre dois sistemas, em conseq uencia da diferen ca de
temperatura entre eles. Assim sendo, podemos atribuir a troca de ener-
gia entre um sistema termodin amico e suas vizinhan cas a dois mecanismos
basicos: realiza cao de trabalho (W) e troca de calor (Q). Portanto, e natu-
ral que a formulacao de uma lei de conserva cao da energia para um sistema
termodin amico contemple estes dois mecanismos.
No caso de um g as, uma quest ao conceitual importante surge ao con-
siderarmos diferentes trajet orias no diagrama p V . J a comentamos an-
teriormente que o trabalho realizado sobre ou pelo g as, quando este sofre
uma transforma cao entre os pontos (p
i
, V
i
) e (p
f
, V
f
), depende da trajet oria
seguida entre estes dois pontos. Contudo, sabemos tambem que a energia
interna do g as depende apenas da sua temperatura; portanto, a varia cao
de energia independe da trajet oria. Uma vez que esta variacao de energia
decorre da realiza cao de trabalho e da troca de calor, esta ultima tambem
dever a depender da trajet oria seguida no diagrama pV . Apesar de depen-
derem da trajet oria, as grandezas Q e W devem se combinar para fornecer
uma grandeza independente da trajet oria seguida pelo sistema: a varia cao de
energia interna. Este ser a o objeto principal da aula de hoje. A formula cao
de uma lei de conserva cao da energia para um sistema termodin amico e suas
aplica coes nos levar ao a resultados de importancia hist orica acerca do funci-
onamento das m aquinas termicas.
Nesta aula, discutiremos ainda os mecanismos de transmiss ao de calor.
129
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
A Primeira Lei da Termodinamica
A nossa discussao da Primeira Lei da Termodin amica ser a iniciada con-
siderando processos baseados em gases ideais. Vimos, na Aula 6, que a ener-
gia interna de um g as ideal s o depende de sua temperatura. Por outro lado,
na Aula 8, constatamos que o trabalho realizado sobre (ou pelo) sistema,
entre dois pontos do diagrama p V , depende da trajet oria seguida pelo
processo no plano p V . O leitor pode retornar ` a secao Trabalho e energia
em um g as ideal da Aula 8, e constatar de novo que os trabalhos realizados
sao diferentes, quando se percorre os caminhos ABD e ACD mostrados na
Figura 8.8.
Se admitirmos que a conserva cao da energia tambem e satisfeita por
sistemas termodinamicos, e lembrarmos que a varia cao da energia interna
do sistema s o depende de seus estados inicial e nal (para um g as ideal e
o mesmo que depender apenas da varia cao da temperatura), concluiremos
que o referido sistema devera trocar quantidades diferentes de calor com a
vizinhan ca ao percorrer os caminhos alternativos citados, de modo a manter
constante a varia cao da energia interna do sistema. Esta conclus ao e melhor
expressa pela equa cao:
W
ABD
+ Q
ABD
= W
ACD
+ Q
ACD
= E
D
E
A
= E
int
, (10.1)
onde W e Q sao, respectivamente, o trabalho realizado sobre o sistema e
o calor trocado, quando o sistema percorre cada trajet oria no plano p V .
Dizendo de outra forma, devemos considerar que a varia cao da energia interna
de um g as ideal deve se igualar ` a soma do trabalho realizado e do calor
trocado durante a realiza cao de um determinado processo. Um outro aspecto
a observar na discussao deste exemplo e que, em um processo cclico, a soma
Q+W do calor e do trabalho ser a nula, uma vez que os estados inicial e nal
sao os mesmos, ou seja, n ao h a varia cao da energia interna do g as.
A discussao que zemos agora foi baseada em um g as ideal. Ou-
tros sistemas termodinamicos tem comportamentos diferentes dos de um g as
ideal, suas vari aveis de estado e a maneira de calcular o trabalho podem ser
tambem diferentes das do gas ideal. Mesmo assim, devemos considerar que a
Equa cao (10.1) tem validade para qualquer sistema termodin amico. Ou seja,
em primeiro lugar, devemos considerar que a troca de energia entre qual-
quer sistema termodinamico e sua vizinhan ca se da atraves da realiza cao de
trabalho, e da troca de calor. Em segundo lugar, devemos admitir que a
energia total (sistema + vizinhan ca) se conserva, como postula a Primeira
CEDERJ
130
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
Lei da Termodinamica:
E
int
= Q+ W , (10.2)
isto e, a varia cao da energia interna de um sistema termodinamico
e igual `a soma de todo o calor trocado com a vizinhan ca, com todo
o trabalho realizado pela vizinhan ca sobre este sistema. Deve-se
compreender que esta lei se refere a um sistema inicialmente em equilbrio,
com energia interna E
i
, que recebe a quantidade de calor Q e o trabalho W,
fazendo-o evoluir para um novo estado de equilbrio com energia interna E
f
,
sendo E
int
= E
f
E
i
.
Em geral, como discutimos para os gases ideais, o trabalho realizado
sobre o sistema se refere ao movimento das paredes que denem a fronteira
entre o sistema e sua vizinhan ca, como, por exemplo, o movimento de um
pistao dentro de um cilindro de g as. Mas outras formas de trabalho tambem
podem ser consideradas, como o trabalho realizado por campos eletricos ou
magneticos.
A Primeira Lei da Termodinamica tambem pode ser expressa em sua
forma diferencial:
dE
int
= dQ+ dW . (10.3)
Como o calor Q e o trabalho W nao representam vari aveis de estado, as dife-
renciais dQ e dW devem ser entendidas como quantidades muito pequenas,
innitesimais, de calor e trabalho. Ela estabelece o Princpio da Conserva cao
da energia em processos termodin amicos, mas n ao fornece uma descri cao
completa dos mesmos, pois n ao discrimina quais desses processos s ao sica-
mente aceit aveis. A Primeira Lei ser a complementada pela Segunda Lei, que
trata da reversibilidade dos processos termodin amicos e ser a discutida nas
pr oximas aulas.
Aplica coes da Primeira Lei
Para possibilitar a voce uma ambienta cao melhor no uso da Primeira Lei
da Termodin amica, a seguir ser ao mostrados alguns exemplos de aplica coes
desta lei em processos termodinamicos. Come caremos pela deducao da de-
pendencia entre p V (pV
= constante) em processos adiabaticos, a qual
foi utilizada sem demonstracao na Aula 8.
131
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
Processos adiabaticos
No caso de um g as isolado do exterior por paredes isolantes, iremos
utilizar a Primeira Lei para determinar a rela cao entre a press ao p e o volume
V do g as. Neste caso, o sistema esta termicamente isolado de seu exterior,
nao havendo transferencia de calor (Q = 0). Portanto, a Primeira Lei ser a
escrita na forma:
dE
int
= W , (10.4)
ou seja, apenas o trabalho realizado sobre o sistema contribui para a varia cao
da energia interna do g as.
Como a energia interna de um g as ideal depende apenas da tempe-
ratura, podemos utilizar, para expressar dE
int
, o calor especco a volume
constante C
V
:
E importante ressaltar que
nao utilizamos a Equacao
(10.5) por estarmos tratando
de um processo a volume
constante. (Podemos
utiliza-la devido ao fato da
energia interna de um gas
ideal depender apenas da
temperatura.)
E
int
= n C
V
dT . (10.5)
Como dW = p dV podemos escrever, relacionando as Equa coes (10.4)
e (10.5):
p dV = n C
V
dT . (10.6)
Podemos, de modo a tentar obter uma expressao para V dp , escrever a
A necessidade de obter-se
uma expressao para V dp em
funcao de dT cara clara ao
m da presente discussao.
equa cao de estado do g as na forma diferencial:
d(pv) = d(nRT) , (10.7)
ou seja,
p dV + V dp = n R dT . (10.8)
Substituindo a Equa cao (10.6) na Equa cao (10.8), e rearranjando os membros
da equa cao resultante teremos:
V dp = n C
V
dT + n R dT = n (C
V
+ R) dT . (10.9)
Lembrando a rela cao entre C
p
e C
V
(C
p
= C
V
+ R) determinada na
Aula 9, temos:
V dp = n C
p
dT. (10.10)
CEDERJ
132
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
Finalmente, dividindo a Equa cao (10.10) pela Equa cao (10.6), temos:
V dp
p dV
=
n C
p
dT
n C
V
dT
=
C
p
C
V
= , (10.11)
equa cao que pode ser rearranjada, de modo a se obter:
dp
p
=
dV
V
. (10.12)
Integrando a Equa cao (10.12) entre os estados inicial e nal, temos:
_
f
i
dp
p
=
_
f
i
dV
V
ln
p
f
p
i
= ln
V
i
V
f
, ou seja,
p
i
V
i
= p
f
V
f
. (10.13)
Finalmente chegamos ` a equa cao que relaciona a press ao p com o volume
V de um g as ideal submetido a condicoes adiab aticas:
pV
= constante (10.14)
Mas podemos tambem, de modo a determinar a rela cao entre T e V em
processos adiab aticos, explicitar a equa cao de estado na Equa cao (10.14):
pV
= (constante)
1
(pV )V
1
= (constante)
1
nRTV
1
= (constante)
1
TV
1
=
(constante)
1
nR
= (constante)
2
,
(10.15)
onde utilizamos a nota cao (...)
1,2
para evidenciar que os produtos pV
e
TV
1
sao constantes, mas constantes diferentes.
Processos isotermicos em um gas ideal
No caso de gases ideais, o fato de a temperaura permanecer constante,
resulta na invari ancia da energia interna, ou seja, E
int
= 0, o que resulta,
pela aplica cao da Primeira Lei em:
Q+ W = 0, (10.16)
o que leva a:
Q = W, (10.17)
133
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
ou seja, para um g as ideal ` a temperatura constante, o calor trocado e o
simetrico do trabalho realizado.
Processos a volume constante em um gas
Se o volume de um g as e constante, n ao h a realiza cao de trabalho. A
aplica cao da Primeira Lei resulta em:
E
int
= Q , (10.18)
ou seja, a varia cao da energia interna deve ser totalmente atribuda ` a trans-
ferencia de calor.
Processos Cclicos
Em um processo cclico, como o representado esquematicamente em
diagrama p V na Figura 10.1, o sistema parte de um estado, e retorna ao
mesmo estado, ap os algumas opera coes. Como a energia interna depende
apenas do estado do sistema, a varia cao de energia interna ser a nula em
processos cclicos, uma vez que o estado inicial e o nal coincidem. Portanto,
E
int
= 0 e:
Q + W = 0 , (10.19)
em um ciclo fechado.
Exemplo 1
O processo cclico mostrado na Figura 10.1 e composto por dois trechos
adiabaticos (
ab e
cd) e dois trechos isotermicos (
bc e
da). Este tipo de pro-
cesso, muito importante para o estudo de m aquinas termicas e refrigeradores,
e conhecido como Ciclo de Carnot. Em rela cao ao ciclo mostrado na Figura
10.1, determine, sabendo que o processo e realizado por n moles de um g as
monoat omico ideal: (a) as temperaturas dos trechos isotermicos; (b) o tra-
balho realizado sobre o sistema em cada um dos trechos; e (c) o calor em
cada um dos trechos.
CEDERJ
134
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
V
T
1
a
d
T
2
c
b
isotrmicas
adiabticas
p
Figura 10.1: Diagrama pV mostrando um processo cclico em um gas ideal, composto
por dois trechos isotermicos (`as temperaturas T
1
e T
2
) e dois trechos adiab aticos. Este
processo e conhecido como Ciclo de Carnot.
Solu cao:
(a) Em um processo isotermico, pV = nRT, portanto, as duas tempe-
raturas requeridas sao:
T
1
=
p
a
V
a
nR
=
p
b
V
b
nR
T
2
=
p
c
V
c
nR
=
p
d
V
d
nR
.
(b) Em primeiro lugar, calcularemos o trabalho nos trechos isotermicos,
o que j a foi feito na Aula 8 (ver Equa cao (7) da Aula 8).
W
ab
= nRT
1
ln
_
V
b
V
a
_
,
que e menor que zero, uma vez que V
b
> V
a
.
Analogamente, o trabalho no trecho
cd sera dado por:
W
cd
= nRT
2
ln
_
V
d
V
c
_
= nRT
2
ln
_
V
c
V
d
_
,
que e maior que zero, uma vez que V
c
> V
d
Agora, considerando os trechos adiab aticos, lembremos que o traba-
lho em processos adiabaticos de gases ideais j a foi determinado na Aula 8
135
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
(Equa cao 9 da Aula 8):
W
bc
=
1
1
(p
c
V
c
p
b
V
b
) =
nR
1
(T
2
T
1
),
que e menor que zero, pois T
2
< T
1
.
Analogamente, no trecho
da, teremos:
W
da
=
nR
1
(T
1
T
2
) ,
que e maior que zero, uma vez que T
2
< T
1
.
(c) S o e necessario o c alculo do calor nos trechos isotermicos, uma vez
que, nos trechos adiab aticos, Q = 0. Em cada um dos trechos isotermicos, a
varia cao da energia interna e nula, uma vez que a temperatura e constante.
Portanto, temos:
W + Q = 0 e, portanto, W = Q ,
entao teremos:
Q
ab
= W
ab
= nRT
1
ln
_
V
b
V
a
_
> 0 ,
Q
cd
= W
cd
= nRT
2
ln
_
V
c
V
d
_
< 0.
Resumindo os resultados dos itens (a) e (b):
Trecho W Q
ab nRT
1
ln(
V
b
Va
) nRT
1
ln(
V
b
Va
)
bc
nR
1
(T
2
T
1
) 0
cd nRT
2
ln(
Vc
V
d
) nRT
2
ln(
Vc
V
d
)
da
nR
1
(T
1
T
2
) 0
Expansao livre
Este processo est a esquematizado na Figura 10.2. Um recipiente tem
uma parede divis oria, que o divide em dois, sendo que as duas metades se
comunicam por meio de uma v alvula que est a inicialmente fechada. Uma
das metades contem um g as em equilbrio, e a outra est a em v acuo. Abre-se
a v alvula, e o g as expande-se de uma metade para outra, sem realiza cao de
trabalho e sem troca de calor com o exterior, uma vez que o recipiente tem
paredes adiab aticas. Portanto, E
int
= 0, ou seja, o g as permanece ` a mesma
temperatura. Este processo e um exemplo de processo fora do equilbrio.
CEDERJ
136
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
Inicialmente, o g as est a em equilbrio, representado por determinado ponto do
diagrama pV. Ao nal do processo, o sistema estar a tambem em equilbrio,
sendo representado por um outro ponto no diagrama pV , sobre uma mesma
isoterma. Mas nao ser a possvel representar o processo por uma curva unindo
os dois pontos no diagrama, pois, durante a expans ao, o g as n ao ter a press ao
e volume bem denidos.
vlvula
fechada
vlvula
aberta
vcuo
isolao
trmica
Figura 10.2: Esquema do processo de expans ao livre de um gas.
A transmissao do calor
Na Aula 9 tratamos o conceito de calor como energia em transito. Con-
tudo, ainda nao discutimos como ocorre esta troca de energia. Vamos des-
crever a seguir os tres mecanismos basicos de transmissao do calor.
137
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
Conducao
Ao aquecermos a extremidade de um objeto met alico como um prego,
por exemplo, constatamos que, ap os algum tempo, a temperatura da outra
extremidade tambem torna-se elevada. Podemos entender este fato interpre-
tando-o em termos da agita cao termica dos atomos que constituem o objeto.
De fato, devido ao aquecimento, os atomos da extremidade aquecida inici-
almente possuem um movimento de agita cao com grandes amplitudes. A
interacao com os atomos vizinhos transmite esta agita cao para as outras
regi oes do objeto, ate que este seja aquecido por completo. Assim sendo,
e facil observar que ao segurarmos a cabe ca de um prego e colocarmos sua
ponta numa chama, queimaremos nossa m ao ap os algum tempo.
Para construirmos uma descri cao quantitativa do fen omeno da condu cao,
considere a conducao de calor por uma barra comprida, cujas extremidades
sao mantidas em contato com dois reservat orios termicos a temperaturas
Chamamos reservat orio
termico um sistema com
uma capacidade calorca
muito grande, isto e, capaz
de trocar calor sem
modicar sua temperatura
apreciavelmente.
distintas, T
A
e T
B
, sendo T
A
> T
B
. Esta situa cao est a descrita na Figura
10.3a. Suponha que a troca de calor pela superfcie lateral da barra seja
desprezvel, ou seja, que haja um isolamento termico lateral, de maneira que
a barra troque calor apenas com os reservat orios. Em conseq uencia da di-
ferenca de temperatura entre as extremidades da barra, surge um uxo de
calor ao longo desta.
Por enquanto, vamos concentrar nossa aten cao num trecho da barra
limitado por duas se coes retas de area A e distantes de x, como mostra
a Figura 10.3 a. A temperatura varia ao longo da barra, de modo que as
duas secoes retas que delimitam o trecho considerado est ao a temperaturas
distintas T e T + T . A taxa de trasmissao de calor H = Q/t representa
a quantidade de calor que ui entre as duas se coes por unidade de tempo.
Experimentalmente, sabemos que esta taxa e proporcional ` a area Adas secoes
retas e ` a diferen ca de temperatura T entre elas. Alem disso, H deve ser
inversamente proporcional ` a dist ancia x entre as duas secoes. Portanto,
obtemos experimentalmente:
H =
Q
T
A
T
x
. (10.20)
CEDERJ
138
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
T
A
T >
A
T
B
barra
A
H
Dx
T
B
T T+ T D
isolamento trmico lateral
O L x
T
B
T
A
Figura 10.3: a) Condu cao de calor por uma barra com extremidades em contato
termico com reservatorios a temperaturas xas T
A
e T
B
. A barra e isolada lateralmente,
trocando calor apenas pelas extremidades. b) dependencia linear da temperatura da barra
com a coordenada x ao longo da dire cao de condu cao do calor.
O sinal negativo foi includo de modo a fornecer um valor positivo de
H . De fato, se escolhermos o sentido positivo do eixo x como sendo o sentido
do uxo de calor, a temperatura T da barra dever a decrescer com x, pois o
calor ui das regioes mais quentes para as mais frias. Assim sendo, temos
T/x < 0 e H > 0 . Chamamos condutividade termica (k) a constante de
proporcionalidade, de maneira que
H =
Q
T
= k A
T
x
. (10.21)
Assim, uma subst ancia e considerada melhor condutora quanto maior
for o seu valor de k . Nos s olidos, a condutividade termica est a relacionada
com a condutividade eletrica. Assim, os materiais s olidos bons conduto-
res de calor tambem sao bons condutores de eletricidade. Na Tabela 10.1
mostramos as condutividades termicas de algumas subst ancias. Note que as
139
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
condutividades termicas dos metais e muito superior ` as dos gases. Na Tabela
10.1 est ao relacionadas ainda as condutividades termicas de alguns materiais
de construcao freq uentemente utilizados para o isolamento termico. Note
que, de fato, estes materiais possuem valores muito baixos de k .
Material k (W/m K)
Metais
Aco 14
Chumbo 35
Alumnio 235
Cobre 401
Prata 428
Gases
Ar (seco) 0,026
Helio 0,15
Hidrogenio 0,18
Materiais de constru cao
Espuma de poliuretano 0,024
L a de vidro 0,043
Fibra de vidro 0,048
Pinho 0,11
Vidro de janela 1,0
Tabela 10.1: Condutividades termicas de algumas substancias.
Uma aplica cao simples da Equa cao (10.21) pode ser feita para uma
barra de comprimento L e secao reta uniforme de area A. Neste caso,
temos um regime de transmissao estacion ario ou permanente, ou seja, as
temperaturas e as taxas de transmiss ao de calor ao longo da barra n ao va-
riam com o tempo. Obviamente, o calor ui da extremidade de temperatura
mais alta (T
A
) para a de temperatura mais baixa (T
B
). Nestas condi coes, a
taxa de transmissao de calor H e a mesma para todos os pontos da barra
e pode ser calculada diretamente a partir da Equa cao (10.21) aplicada ` as
extremidades da barra:
H = k A
T
B
T
A
L 0
= k A
T
A
T
B
L
. (10.22)
CEDERJ
140
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
Uma vez que a taxa de transmissao de calor n ao varia de um ponto a ou-
tro, e facil ver que a temperatura deve variar linearmente ao longo da barra.
Se escolhermos a origem do eixo x na extremidade ` a temperatura mais alta
(T
A
), e o orientarmos no sentido do uxo de calor (de A para B), ent ao
a temperatura diminuir a com x, conforme e mostrado na Figura 10.3b.
Neste caso, o coeciente angular da reta T x sera negativo, de modo que
T
x
=
T
A
T
B
L
= cte .
Portanto,
T(x) = T
A
T
A
T
B
L
x . (10.23)
Freq uentemente, os materiais de constru cao s ao qualicados em termos
da resistencia termica (R) denida por
R =
L
k
. (10.24)
Note que, quanto menor a condutividade, maior a resistencia termica.
Esta ultima, porem, depende ainda da espessura do material. Bons isolantes
termicos devem ter alto valor de R.
Podemos ainda formular a deni cao diferencial de H tomando o limite
x 0 na Equa cao (10.21). Deste modo, temos:
H = k A
dT
dx
. (10.25)
A derivada dT/dx e chamada gradiente de temperatura. Assim, quanto
maior o gradiente de temperatura, maior a taxa de condu cao H . Uma vez
que o eixo x foi orientado no sentido de conducao do calor, o sinal negativo
expressa o fato de que a temperatura diminui no sentido de conducao.
Exemplo 2
Dois materiais distintos com condutividades termicas k
1
e k
2
sao empregados
na composicao de uma camada dupla com espessuras L
1
e L
2
, conforme e
mostrado na Figura 10.4. As duas camadas possuem a mesma area A e estao
sujeitas ` as temperaturas T
1
e T
2
de cada lado da dupla camada. Calcule a
taxa de transmissao de calor atraves da dupla camada em regime estacionario.
Solu cao:
Podemos utilizar a Equa cao (10.22) para calcular o uxo de calor em
cada camada separadamente. Para tal, vamos considerar T
i
a temperatura
141
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
L
2
L
1
T
2
T
1
T
i
k
1
H
k
2
Figura 10.4: Condu cao de calor atraves de uma camada dupla composta por materiais
com condutividades termicas diferentes.
na interface entre as duas camadas. Assim sendo, o uxo de calor na camada
2 e
H
2
=
k
2
A(T
2
T
i
)
L
2
,
e na camada 1 e
H
1
=
k
1
A(T
i
T
1
)
L
1
.
No regime estacionario, n ao deve ocorrer o ac umulo de calor na interface, de
modo que o uxo que chega (H
2
) deve ser igual ao que sai dela (H
1
), ou seja,
k
2
A(T
2
T
i
)
L
2
=
k
1
A(T
i
T
1
)
L
1
.
Resolvendo para T
i
e substituindo em qualquer uma das express oes para H
1
ou H
2
, obtemos
H =
A(T
2
T
1
)
(L
2
/k
2
) + (L
1
/k
1
)
=
A(T
2
T
1
)
R
2
+ R
1
,
onde R
1
e R
2
sao as resistencias termicas de cada camada.
E facil generalizar
este resultado para qualquer quantidade de camadas em serie:
H =
A(T
2
T
1
)
n
(L
n
/k
n
)
=
A(T
2
T
1
)
n
R
n
. (10.26)
Convec cao
A transmissao de calor por convec cao ocorre quando um uido (lquido
ou gasoso) e parcialmente aquecido, gerando uma temperatura n ao uniforme
ao longo do uido. Neste caso, surgem correntes de conveccao que repre-
sentam o transporte macrosc opico de materia do uido entre regioes com
CEDERJ
142
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
temperaturas diferentes. Por exemplo, ao aquecermos localmente um g as na
presenca da gravidade, a por cao aquecida torna-se menos densa e sobe devido
`a a cao do empuxo da vizinhan ca mais fria do gas. Assim, e bem conhecido o
fato de que, ao ser aquecido, o ar sobe, formando uma corrente de convec cao
para o alto.
As condicoes clim aticas dependem fortemente das correntes de con-
veccao atmosfericas. As correntes termicas que se dirigem da terra para o
ceu sao muito utilizadas por aves e pilotos de planadores. Tambem nos oce-
anos, os gradientes de temperatura tem papel importante na forma cao das
correntes martimas.
Radia cao
Suponha que dois corpos a temperaturas diferentes sejam colocados, um
diante do outro, numa regi ao evacuada, isto e, na ausencia de um meio condu-
tor de calor entre eles. Ap os algum tempo, eles atingem o equilbrio termico
atraves da troca de calor por radia cao, isto e, ondas eletromagneticas. Sabe-
mos hoje que a luz e um fenomeno ondulat orio de origem eletromagnetica.
Utilizamos o termo radia cao de forma generica para este tipo de ondas que
serao estudadas com mais detalhes no curso de Fsica 4. A luz corresponde
apenas ao espectro (conjunto de freq uencias) visvel pelo olho humano.
De maneira geral, todos os corpos emitem radia cao por causa da agita cao
termica de seus atomos. Chamamos a esta emiss ao radia cao de corpo negro.
Quanto maior a temperatura de um corpo, maior a potencia emitida por
ele. Assim sendo, dois corpos colocados um diante do outro, trocam ener-
gia atraves da radiacao de corpo negro. Enquanto o corpo de mais alta
temperatura emite mais do que absorve, o contr ario ocorre para o corpo
de temperatura mais baixa. Por esse motivo, ap os algum tempo, o corpo
mais quente se resfria e o mais frio se aquece ate que o equilbrio termico
seja atingido.
A radia cao e o mecanismo respons avel pela troca de energia entre a
terra e o sol, por exemplo.
E tambem este o mecanismo pelo qual nos aque-
cemos ao nos posicionarmos diante de uma fogueira. O corpo humano, a
uma temperatura media de 36
o
C , emite radia cao com freq uencias na faixa
do infravermelho. Por isto, os visores de infravermelho s ao utilizados para
visao noturna.
143
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
Resumo
Nesta aula formulamos a Primeira Lei da Termodin amica, que expressa
a conserva cao da energia nas transforma coes sofridas por um sistema termo-
dinamico. Conforme discutimos, a formula cao de uma tal lei depende da de-
nicao de energia interna como uma vari avel de estado. De fato, vimos que o
calor trocado (Q) e o trabalho realizado (W), numa transformacao qualquer,
dependem da trajet oria seguida pelo sistema no diagrama p V . Contudo,
a soma dessas grandezas e independente da trajet oria, sendo determinada
apenas pelas condi coes inicial e nal do sistema ap os a transforma cao. Isto
nos permite denir a energia interna como uma vari avel de estado, cuja va-
ria cao numa transforma cao e igual ` a soma Q+ W . Vimos ainda que, numa
transforma cao cclica, a varia cao total da energia interna do sistema deve ser
nula, uma vez que o estado inicial e retomado ao nal do ciclo. A formula cao
da Primeira Lei nos permitiu ainda algumas aplica coes uteis como o calculo
do trabalho realizado em um processo adiab atico.
Encerramos a aula discutindo os principais mecanismos de transmiss ao
do calor, como conducao, convec cao e radia cao. Uma enfase particular foi
dada ao estudo quantitativo do fen omeno de condu cao.
Exerccios
1) Um sistema termodin amico executa o ciclo ABCA, mostrado no di-
agrama p V da Figura 10.5
40
30
20
10
0 1,0 2,0 3,0 4,0
Volume (m )
3
P
r
e
s
s
o
(
P
a
)
A B
C
Figura 10.5: Diagrama p V representando o ciclo ABCA.
CEDERJ
144
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
a) Calcule os trabalhos W
AB
, W
BC
e W
CA
trocados em cada trecho do ciclo.
b) Calcule os calores Q
AB
, Q
BC
e Q
CA
trocados em cada trecho do ciclo.
2) Considere um mol de um g as ideal com capacidade calorca molar c
V
=
20, 7 J/mol K realizando o ciclo representado na Figura 10.6, onde a pressao
e dada em kPa e o volume em litros. O processo b e isotermico.
400
300
200
100
0 1 2 3 4
Volume ( ) l
P
r
e
s
s
o
(
k
P
a
)
1
3
2
a
b
c
Figura 10.6: Diagrama p V representando o ciclo abc .
a) Calcule a temperatura do estado 2.
b) Calcule o calor total absorvido no ciclo.
3) O funcionamento de um motor a gasolina pode ser descrito aproxima-
damente pelo ciclo de Otto, cujo diagrama p V est a desenhado na Figura
10.7. Os processos 2 3 e 4 1 s ao adiab aticos, enquanto 1 2 e 3 4
ocorrem a volume constante.
a) Supondo que o motor empregue um g as diat omico ( = 7/5 = 1, 4), calcule
o trabalho W realizado e o calor Q trocado pelo g as em cada
trecho do ciclo.
b) Calcule as temperaturas do g as em cada um dos vertices do ciclo.
c) Supondo que o motor funcione a 2.000 rpm, calcule a potencia
fornecida por ele.
145
CEDERJ
2
A Primeira Lei da Termodinamica
3p
0
1
2
3
4
p
0
v
5
0
v
0
Figura 10.7: Diagrama p V representando o ciclo de Otto.
4) Quatro recipientes contem, cada um, 1 mol de g as oxigenio (O
2
) ` a
pressao de 0, 2 atm e `a temperatura de 27
o
C . Em cada recipiente a pressao
e reduzida `a metade por um processo diferente:
Recip. I: Mantendo contato com um reservat orio termico `a temperatura
constante de 27
o
C ;
Recip. II: Sem alterar o tamanho do recipiente;
Recip. III: Sem deixar calor entrar ou sair;
Recip. IV: Atraves de uma expansao livre.
Sabendo que = 7/5 para o O
2
, calcule para cada um destes processos:
a) o volume nal do recipiente;
b) a variacao E
int
na energia interna do g as;
c) o calor Q trocado pelo g as, e
d) construa um diagrama p V indicando as trajet orias correspondentes a
cada um dos processos realizados.
5) Uma janela de vidro tem uma area de 1, 5 m
2
e espessura de 0, 5 cm.
Num dia de calor, a temperatura externa chega a 40
o
C . Conhecendo as
condutividades termicas do vidro: 1 W/m K e do ar: 0, 026W/m K ,
calcule:
CEDERJ
146
A Primeira Lei da Termodinamica
M
ODULO 2 - AULA 10
a) A quantidade de calor que ui por segundo atraves do vidro, se a tempe-
ratura interna for mantida a 20
o
C;
b) O uxo de calor para uma janela com dupla vitragem, isto e, formada
por dois paineis de vidro separados por 0, 5 cm de ar. Considere os paineis
com as mesmas dimensoes da janela do item a), bem como as mesmas tem-
peraturas interna e externa.
147
CEDERJ
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
Aula 11 A Segunda Lei da Termodinamica
Objetivos
Entender a 2
a
Lei da Termodinamica e saber aplic a-la `as m aquinas
termicas e aos refrigeradores.
Entender o ciclo de Carnot.
Introdu cao
A formula cao da 1
a
Lei da Termodinamica, junto com a deni cao de
energia interna, nos forneceu uma ferramenta poderosa para a descri cao quan-
titativa de um sistema termodinamico. A 1
a
Lei restringe as trocas de energia
entre um sistema e sua vizinhan ca, impondo a conserva cao da energia total.
Contudo, quando tratamos de sistemas termodinamicos, podemos imaginar
processos que respeitam a 1
a
Lei, isto e, que conservam a energia, mas que
nunca s ao observados na Natureza. Por exemplo, ao colocarmos uma pe-
dra de gelo num recipiente contendo agua quente, observamos que o gelo se
derrete e a agua se resfria ate a temperatura de equilbrio. Neste caso, a
energia ui, na forma de calor, da agua quente para o gelo, de modo que
a energia total do sistema agua + gelo permane ca constante. A 1
a
Lei e,
portanto, respeitada.
Imagine agora uma situacao hipotetica, na qual, ao misturarmos gelo e
agua num recipiente isolado, o gelo se resfrie e a agua se aque ca ainda mais,
com transferencia de energia do gelo para a agua. Note que, a princpio,
podemos supor, sem problemas, que a energia total do sistema permaneca
inalterada, de modo que a 1
a
Lei ainda seja respeitada. Contudo, e senso
comum que um tal processo NUNCA ocorra espontaneamente, mesmo n ao
sendo proibido por nenhuma das leis que estudamos ate o momento. Por-
tanto, e natural que esteja faltando algo na termodin amica estudada ate
aqui. Trata-se da 2
a
Lei da Termodinamica, a qual come caremos a estudar
nesta aula.
Inicialmente, iremos formular a 2
a
Lei no contexto do funcionamento
de maquinas termicas e refrigeradores. Veremos de que modo esta lei apa-
rece como uma limitacao natural ao desempenho desses dispositivos. Nesse
contexto, deniremos o ciclo de Carnot, cujo desempenho e o melhor que
podemos esperar de um sistema termodin amico real.
149
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
Maquinas termicas
O que chamamos m aquinas termicassao dispositivos concebidos para
converter calor em trabalho util. Melhor dizendo, na forma de calor, uma
certa quantidade de energia ui para um sistema (a nossa m aquina termica),
e uma fra cao dessa energia que entrou sai do sistema na forma de trabalho
mecanico. Essa e a base do funcionamento, por exemplo, da m aquina a
vapor, ou do motor a combust ao interna. Nesta se cao voce ira se familiarizar
com o conceito de m aquina termica e estudar seu rendimento.
Um cilindro de g as dotado de um embolo m ovel, em contato com um
reservat orio `a temperatura constante, como mostrado na Figura 11.1, e um
exemplo de m aquina termica. Se o gas est a inicialmente a uma temperatura
T, o cilindro com volume V e o g as a uma press ao p, o sistema sera repre-
sentado por um ponto (p
i
, V
i
) no plano p V . Podemos retirar um pouco
do peso que esta sobre o pist ao, fazendo com que este suba, realizando um
trabalho negativo (o g as se expande, ou seja, o sistema realiza trabalho sobre
o exterior). Como est a em contato com um reservat orio `a temperatura T,
a energia interna do g as n ao se altera, sendo necessario, para que a tempe-
ratura se mantenha constante, que o sistema absorva calor do reservat orio. Lembre-se da 1
a
Lei da Ter-
modinamica: Em um ci-
clo, E
int
= 0 = Q +
W.Portanto Q > 0, uma vez
que W < 0.
Se retir assemos passo a passo pequenas quantidades de peso do cilindro, o
processo seriasemelhante ao mostrado na Figura 11.2, ou seja, uma expans ao
isotermica.
E claro que esta m aquina seria pouco pratica, uma vez que, se
ela funcionasse durante um certo tempo, chegaria o momento que a retirada
de peso do pistao n ao seria mais possvel, ou o pist ao alcan caria o topo do
cilindro, impedindo o funcionamento de nossa m aquina
m
mbolo mvel
(rea A)
Gs ideal
Base com temperatura
controvel
Figura 11.1: Exemplo de maquina termica: cilindro de g as em contato com um reser-
vat orio ` a temperatura constante.
CEDERJ
150
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
Figura 11.2: Processo termodin amico referente `a maquina termica mostrada
na Figura 11.1.
Uma m aquina termica baseada em um processo cclico seria mais fa-
cilmente utilizada para a realiza cao de trabalho util. A Figura 11.3 mostra
um exemplo de m aquina termica um processo cclico. O ciclo mostrado na
Figura 11.3 e composto por trechos a volume constante e ` a press ao constante,
sendo, por isso, representado por um ret angulo no diagrama p V .
Figura 11.3: Processo cclico composto por trechos a volume constante, e trechos a
pressao constante.
Iremos agora discutir com mais detalhe o ciclo referido no par agrafo
anterior. Desta forma, voce poder a compreender melhor os conceitos envol-
vidos no funcionamento de uma m aquina termica. Em primeiro lugar, voce
pode observar que cada um dos vertices do retangulo est a sobre uma iso-
terma. A unica excecao possvel seria os pontos b e c pertencerem `a mesma
isoterma, o que n ao invalidaria a discuss ao a seguir. Se levarmos em conta
a lei dos gases ideais (pV = nRT), podemos facilmente chegar ` a conclus ao
que T
a
< T
b
T
d
< T
c
, rela cao que nos permite avaliar a varia cao da ener-
gia interna do g as durante o processo. A seguir determinaremos o sinal do
calor trocado durante cada etapa do ciclo, baseando-nos na 1
a
Lei da Ter-
modinamica (E
int
= Q + W):
151
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
1 - Trecho ab
Neste trecho, o cilindro de g as est a inicialmente ` a temperatura T
a
, ocu-
pando o volume V
a
. Ent ao, aumentamos gradualmente a temperatura
do reservat orio, com o pist ao xado com volume V
a
. A energia interna
tambem aumentar a (E
int
> 0) e, uma vez que o volume permanece
constante no trecho, o trabalho se anula (W
1
= 0). Portanto temos que:
Q
1
> 0 .
2 - Trecho bc
Neste trecho, o g as est a inicialmente em contato com o reservat orio `a
temperatura T
b
. Faz-se entao aumentar gradualmente a temperatura
do g as, com peso constante sobre o pist ao. fazendo com que o g as ve-
nha a se expandir a pressao constante. Portanto, W < 0 (o sistema
realiza trabalho sobre a vizinhan ca). Como no trecho ab, E
int
> 0,
teremos que:
Q
2
> 0 .
3 - Trecho cd
Neste trecho, o pist ao e novamente xado (agora no volume V
c
), fazendo-
se a temperatura cair gradualmente. Desta forma, ocorrer a o decrescimo
da energia (E
int
< 0) e, como W = 0, teremos que:
Q
3
< 0 .
4 - Trecho da
Neste trecho, novamente operando ` a pressao constante, o trabalho e
positivo (W > 0, a vizinhan ca realiza trabalho sobre o sistema), e a
energia interna do g as diminui (E
int
< 0), portanto:
Q
4
< 0 .
Constatamos entao que, para o ciclo mostrado na Figura 11.3, o calor
entra no sistema nos trechos ab e cd, totalizando Q
entra
= Q
1
+ Q
2
, e sai do
sistema nos trechos cd e da, totalizando Qsai = Q
3
+Q
4
. No que se refere ao
trabalho, observamos que o sistema realiza sobre a vizinhan ca, no trecho bc,
uma quantidade de trabalho igual a mgh, onde mg e o peso colocado sobre
o embolo neste trecho, e h e a altura m axima atingida pelo pist ao durante
esta etapa. No trecho da, ao levar o pist ao ` a sua posi cao inicial, a vizinhan ca
CEDERJ
152
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
realiza sobre o sistema um trabalho de valor absoluto menor do que na etapa
bc, uma vez que o peso colocado sobre o embolo e menor nesta etapa, ou
seja, a press ao e menor. O trabalho total W realizado e entao negativo.
Podemos escrever o balan co de energia deste sistema, para ciclo completo, da
seguinte forma:
W + Q = 0 ,
ou
W = Q . (11.1)
O valor absoluto do trabalho ser a ent ao dado por:
[W[ = [Q[ = [Q
entra
[ [Q
sai
[. (11.2)
Podemos, ent ao, descrever o processo mostrado na Figura 11.3 da se-
guinte forma: ao se fornecer a quantidade de calor [Q
entra
[ ao sistema,
realizou-se o trabalho mecanico [W[, e liberou-se a quantidade [Q
sai
[
de calor para a vizinhanca.
Para caracterizar a ec acia de uma m aquina termica ao produzir tra-
balho a partir de calor, denimos a sua eciencia e:
e =
[W[
[Q
entra
[
, (11.3)
que e expressa em funcao dos valores absolutos para obter-se um valor
positivo.
Utilizando a Equa cao (11.2), tambem podemos escrever eciencia na
seguinte forma:
e =
[Q
entra
[ [Q
sai
[
[Q
entra
[
= 1
Q
sai
Q
entra
, (11.4)
Uma m aquina termica seria 100% eciente (teria e = 1), se Q
sai
, o
calor cedido ` a vizinhan ca, fosse igual a zero, o que e equivalente a dizer
que todo o calor que entra e convertido em trabalho. A 2
a
Lei da Ter-
modinamica diz que nao e possvel construir uma maquina termica com
eciencia perfeita. Um dos enunciados da 2
a
Lei, tambem chamado Enunci-
ado de Kelvin-Plank, e o seguinte:
N ao e possvel, em um processo cclico, converter totalmente calor em
trabalho, sem que qualquer outra modica cao ocorra.
153
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
A referida ocorrencia de outra modica cao no ciclo mostrado na Figura
11.3 e a libera cao de calor ao ambiente. De acordo com a 2
a
Lei, e impossvel
anular totalmente este calor cedido ` a vizinhan ca.
A Figura 11.4 mostra uma maneira de representar esquematicamente
uma m aquina termica. A Figura 11.4.b representa uma m aquina termica
real que retira o calor Q
A
de um reservat orio `a temperatura T
A
, que e con-
vertido parcialmente no trabalho W, nalmente cedendo o calor Q
B
ao re-
servat orio `a tempertaura T
B
. Neste esquema, as quantidades de calor Q
A
e
Q
B
podem ser provenientes de etapas diferentes do processo, o mesmo ocor-
rendo com o trabalho W. A Figura 11.4.b representa uma m aquina termica
perfeita que retira o calor Q
A
de um reservat orio `a temperatura T
A
, e o
converte totalmente em trabalho. Esta representacao esquem atica pressup oe
uma serie de opera coes realizadas com uma subst ancia operante. No caso
da m aquina a vapor, por exemplo, a queima de combustvel prove o reser-
vat orio `a temperatura T
A
, que fornece o calor Q
A
para gerar o vapor d agua
(subst ancia operante), respons avel pela realiza cao do trabalho mec anico W,
e cede o calor Q
B
`a atmosfera, que desempenha o papel de reservat orio `a
temperatura T
B
.
Figura 11.4: Representacao de uma maquina termica: (a) perfeita; (b) real.
Exemplo 1: Um g as monoat omico ideal e utilizado como subst ancia
operante em uma m aquina termica cujo diagrama p V e semelhante ao
mostrado na Figura 11.3, sendo p
a
= p
d
= 0, 2kPa, p
b
= p
c
= 0, 4kPa,
V
a
= V
b
= 0, 02m
3
e V
c
= V
2
= 0, 05m
3
. Determine a eciencia desta
m aquina termica.
CEDERJ
154
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
Solu cao:
A eciencia sera dada por:
e =
[W[
[Q
entra
[
.
O trabalho realizado no ciclo e dado por:
W = p
b
(V
c
V
b
) + p
a
(V
c
V
b
) = (p
a
p
b
)(V
c
V
b
)
= 20 10
3
Pa 0, 3m
3
= 6, 0 10
3
J .
A entrada de calor no sistema e dada por Q
entra
= Q
ab
+Q
bc
. No trecho
ab, o volume e constante, o que leva a:
Q
ab
= Eint =
3
2
nRT =
3
2
(p
b
p
a
)V
a
=
3
2
20 10
3
Pa 0, 2m
3
= 6 10
3
J .
No trecho bc, o calor e dado por:
Q
bc
= p
b
(V
c
V
b
) +
3
2
nRT = p
b
(V
c
V
b
) +
3
2
p
b
(V
c
V
b
)
=
5
2
40 10
3
Pa 0, 3 10
3
m
3
= 30 10
3
J .
Finalmente, a eciencia da m aquina termica e dada por:
e =
[ 6J[
[36J[
=
1
6
.
Refrigeradores
Um refrigerador e uma m aquina que trabalha em um processo cclico,
semelhante ao representado na Figura 11.3, s o que percorrido em sentido
inverso (anti-hor ario). A representa cao esquem atica de um refrigerador e se-
melhante ` a da m aquina mostrada na Figura 11.4, s o que operada ao contr ario.
Um refrigerador retira o calor de um reservat orio `a baixa temperatura T
B
e o envia em direcao a um reservat orio `a alta temperatura T
A
. A Figura
11.5.a mostra a representa cao de um refrigerador real, no qual e necessaria a
realiza cao de trabalho sobre o sistema para enviar o calor do reservat orio de
baixa temperatura para o de alta temperatura. A Figura 11.4.b mostra um
refrigerador perfeito, no qual [Q
A
[ = [Q
B
[.
Como na m aquina termica, o refrigerador trabalha sob um processo
cclico, sendo nula a varia cao de energia interna em um ciclo, portanto:
[W[ = [Q[ = [Q
A
[ [Q
B
[. (11.5)
155
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
Figura 11.5: Representacao de um refrigerador: (a) perfeita; (b) real.
Em um refrigerador, por ser este uma m aquina termica operada ao
contr ario, Q
B
< 0, Q
A
> 0 e W > 0. No refrigerador e a vizinhan ca que
realiza trabalho sobre a subst ancia operante.
Podemos denir, tambem, para o refrigerador, uma grandeza que de-
ne a sua ec acia. Fazendo analogia com a m aquina termica, denimos o
coeciente de desempenho K de um refrigerador:
K =
[Q
B
[
[W[
=
[Q
B
[
[Q
A
[ [Q
B
[
, (11.6)
No contexto do estudo de refrigeradores pode-se propor um outro
enunciado para a 2
a
Lei da Termodinamica, conhecido como Enunciado de
Clausius:
N ao e possvel, em um processo cclico, fazer uir calor de um corpo para
outro mais quente sem que outra mudan ca ocorra.
A outra mudan ca a que este enunciado se refere e a realiza cao de
trabalho. O Enunciado de Clausius equivale a dizer que n ao existem re-
frigeradores perfeitos.
Em uma geladeira domestica, a subst ancia operante e um g as liq uefeito,
o Freon, que circula em seu interior. O reservat orio de baixa temperatura e
o interior da geladeira, onde cam guardados os alimentos, e o de alta tem-
peratura e o ambiente onde est a a geladeira. O trabalho sobre a subst ancia
operante e realizado por um motor eletrico, que aciona um compressor.
Os dois enunciados da 2
a
Lei da Termodinamica s ao equivalentes. Para
mostrar isso, utilizaremos a associa cao de uma m aquina termica perfeita
com um refrigerador, como apresentado na Figura 11.6. Nesta associa cao
CEDERJ
156
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
(Figura 11.6.a), o trabalho W, gerado a partir da convers ao total do calor
Q
A
, e utilizado para operar um refrigerador, que retira uma quantidade de
calor Q
B
do reservat orio de baixa temperatura, e transfere o calor Q
A
para
o reservat orio de alta temperatura. O resultado desta associa cao (Figura
11.6.b) e um refrigerador perfeito, que retira o calor Q
B
do reservat orio `a
temperatura T
B
, e o transfere, sem realiza cao de trabalho ao reservat orio `a
temperatura T
A
. Portanto, vericamos a equivalencia dos dois enunciados.
Figura 11.6: (a) Refrigerador real acionado por uma m aquina perfeita;
(b) Refrigerador perfeito equivalente `a associa cao.
O Ciclo de Carnot
Como voce pode constatar nas duas se coes anteriores, a 2
a
Lei da Ter-
modinamica probe a realiza cao de m aquinas termicas e refrigeradores per-
feitos. Mas esta limita cao n ao e muito precisa. A 2
a
Lei probe 100% de
eciencia para uma m aquina termica. Mas ser a que 99, 99% seriam rea-
lizaveis? Ou melhor, h a algum outro tipo de limita cao ao desempenho de
uma m aquina termica?
E o que ser a considerado agora, com a discuss ao de
uma m aquina que opera com um ciclo especial, o Ciclo de Carnot.
Podemos considerar, como foi enfatizado na introdu cao, que existem
processos termodin amicos irreversveis. Um exemplo de processo termo-
dinamico irreversvel e a transferencia de calor de um corpo quente para
um corpo frio. N ao e de forma nenhuma aceit avel, mesmo para um leigo em
termodin amica, que uma m aquina termica que envolva transferencias de ca-
lor deste tipo nao possa ser considerada reversvel. Ou seja, n ao e concebvel
que, ao se inverter o sentido de funcionamento de uma m aquina envolvendo
um processo de transferencia de calor entre uma fonte quente e uma fonte
fria, se fa ca retornar ` a fonte fria o calor cedido ` a fonte quente. Um outro
exemplo e a gera cao de calor atraves de atrito entre as partes moveis de uma
m aquina termica ou refrigerador.
157
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
De modo a aumentar o rendimento de m aquinas termicas e refrigera-
dores, faz-se necessario evitar, na sua concep cao, processos irreversveis de
transferencia de calor. O Ciclo de Carnot, descrito a seguir, e uma m aquina
termica constituda apenas por processos reversveis.
Vejamos o Ciclo de Carnot para um g as ideal como subst ancia ope-
rante, colocado dentro de um cilindro dotado de pist ao, e utilizando dois
reservat orios de temperatura, um de alta temperatura (T
A
) e outro de baixa
temperatura (T
B
). O Ciclo de Carnot e constitudo por quatro processos
reversveis. Dois deles sao isotermicos (equivalendo aos dois reservat orios de
temperatura), enquanto os outros dois s ao adiab aticos. Nesta congura cao,
a transferencia de calor ser a feita apenas ` a temperatura constante, e conco-
mitante com a realiza cao de trabalho. A Figura 11.7 mostra a representa cao
de um Ciclo de Carnot no plano p V , cujas etapas s ao detalhadas a seguir:
V
c
V
d
V
b
V
a
d
c
b
a
T
B
T
A
isotermas
adiabticas
p
V
Figura 11.7: Ciclo de Carnot
1 - Trecho ab
Neste trecho, o cilindro com g as e colocado no reservat orio de alta
temperatura (T
A
), sendo que o g as est a inicialmente no ponto a do
ciclo. A seguir, remove-se peso do pist ao, gradualmente, fazendo com
que o g as se dilate vagarosamente (o pist ao sobe) ate atingir o ponto
b do ciclo. Como se trata de um processo isotermico, a varia cao da
energia interna e nula e, portanto:
CEDERJ
158
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
E
int
= 0 = Q
A
+ W
b
a
.
Como W
b
a
< 0 (trabalho realizado pelo sistema), ent ao o sistema
absorve calor nesta etapa (Q
A
> 0).
2 - Trecho bc
Neste trecho, retira-se o cilindro do reservat orio `a temperatura T
A
,
isola-se o cilindro (processo adiabatico), ao mesmo tempo em que se
retira vagarosamente mais peso do cilindro, ate o ponto c do ciclo ser
atingido. Como o trecho bc constitui-se em um processo adiabatico,
Q = 0, sendo a varia cao da energia interna dada por:
Eint = W
c
b
< 0,
o que faz com que a temperatura caia para T
B
.
3 - Trecho cd
Este trecho comeca com a coloca cao do cilindro no reservat orio `a tem-
peratura T
B
, ap os o que se adiciona peso ao pist ao, lentamente, fazendo
o g as se comprimir, isotermicamente, ate o ponto d do ciclo ser atin-
gido. Como na etapa ab, a varia cao da energia interna do g as e nula.
Como o processo trata-se de uma compress ao, o trabalho W
d
c
e posi-
tivo, sendo portanto o calor Q
B
< 0, ou seja, o sistema absorve calor
do reservat orio.
4 - Trecho da
Neste trecho, isola-se novamente o cilindro, e continua-se a retirar peso
do pist ao, gradualmente , fazendo o g as se comprimir adiabaticamente.
Como a transferencia de calor e nula (Q=0) e o trabalho e positivo
(W > 0), a energia interna do g as aumenta, fazendo a temperatura
subir novamente ate T
A
(E
int
< 0), retornando ao ponto a do ciclo.
159
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
Passaremos, agora, a calcular o rendimento de uma m aquina termica
baseado no Ciclo de Carnot. Utilizaremos a deni cao de eciencia dada pela
Equa cao (11.4):
e = 1
Q
sai
Q
entra
= 1
Q
B
Q
A
.
Precisaremos calcular, ent ao, as quantidades de calor Q
A
e Q
B
. Para
isso, aplicaremos a 1
a
Lei da Termodinamica aos trechos ab e da, os quais
constituem-se em processos isotermicos. Portanto, a varia cao da energia
interna do g as e nula nos dois trechos, e o calor em cada um deles ser a dado
por Q = W , de modo que
[Q[ = [W[ .
No trecho ab teremos:
Q
A
=
_
V
b
Va
nRT
A
V
dV = nRT
A
ln
V
b
V
a
.
Analogamente, no trecho cd teremos:
Q
B
= NRT
B
ln
V
c
V
d
,
de modo que:
[Q
sai
[
[Q
entra
[
=
[Q
B
[
[Q
A
[
=
T
A
T
B
ln
V
b
Va
ln
Vc
V
d
. (11.7)
Para simplicar a Equa cao (11.7), vamos nos utilizar do fato que os tre-
chos bc e da sao adiab aticos e utilizar a Equa cao 15 da Aula 10
para escrever:
T
A
V
1
b
= T
B
V
1
c
(11.8)
e
T
A
V
1
a
= T
B
V
1
d
. (11.9)
Dividindo a Equa cao (11.8) pela Equa cao (11.9), teremos ent ao:
V
1
b
V
1
a
=
V
1
c
V
1
d
, (11.10)
que e equivalente a :
V
b
V
a
=
V
c
V
d
. (11.11)
CEDERJ
160
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
Substituindo a Equa cao (11.11) na Equa cao (11.7), teremos ent ao:
[Q
A
[
[Q
B
[
=
T
A
T
B
. (11.12)
A Equa cao (11.12), se escrita recuperando os sinais originais, tem a forma:
Q
A
T
A
+
Q
B
T
B
= 0 . (11.13)
Esta equa cao assumir a grande import ancia na pr oxima aula, na discuss ao da
entropia. Voltando ao c alculo da eciencia da m aquina de Carnot,
teremos ent ao:
e = 1
Q
sai
Q
entra
= 1
Q
B
Q
A
= 1
T
B
T
A
=
T
A
T
B
T
A
. (11.14)
Pode-se mostrar, tambem, que o refrigerador de Carnot, ou seja, a
m aquina de Carnot operada ao contr ario, tem o seu coeciente de desempe-
nho dado por:
K =
T
B
T
A
T
B
. (11.15)
Voce pode, como exerccio, demonstrar o resultado da Equa cao 11.15.
O Teorema de Carnot
Carnot prop os o seguinte teorema acerca do funcionamento de m aquinas
termicas, baseado na m aquina de Carnot:
O rendimento de uma m aquina termica, que opere entre duas tempe-
raturas dadas, n ao pode ser maior que o rendimento de uma m aquina de
Carnot que opere entre essas mesmas temperaturas.
Ou seja, o rendimento dado pela Equa cao (11.14) constitui-se em limite
superior para o rendimento de qualquer m aquina termica. A viola cao deste
teorema constitui-se, tambem, em viola cao da 2
a
Lei da Termodinamica.
Para mostrar isto, vamos supor que uma determinada m aquina M tem o seu
rendimento e
M
maior que o rendimento e
C
de uma m aquina de Carnot, que
funciona entre as temperaturas m axima e mnima da m aquina M. Vamos
fazer a m aquina M operar acoplada a uma m aquina de Carnot que funcione
com seu ciclo invertido, ou seja, como um refrigerador, como mostra a Figura
11.8.a. A m aquina M extrai o calor Q
1
do reservat orio de alta temperatura
e entrega o calor Q
2
ao reservat orio de baixa temperatura, realizando, neste
161
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
processo, o trabalho W. O refrigerador de Carnot, ent ao, utiliza o trabalho
W para retirar o calor [Q
2
[ do reservat orio frio (temperatura T
2
) e fornecer
o calor [Q
1
[ ao reservat orio quente (temperatura T
2
).
Figura 11.8: (a)Representacao da associacao entre uma maquina termica generica e
um refrigerador de Carnot. (b)Refrigerador resultado da associa cao.
Fazendo o balan co de todo o calor transferido na associa cao das duas
m aquinas, temos que a fonte fria cede o calor [Q
1
[ [Q
1
[ e a fonte quente
recebe o calor [Q
2
[ [Q
2
[. Podemos aplicar a 1
a
Lei da Termodinamica a
cada uma das m aquinas:
Maquina M:
[W[ = [Q
2
[ [Q
1
[ .
Maquina de Carnot:
[W[ = [Q
2
[ [Q
1
[ .
Portanto, teremos que:
[Q
2
[ [Q
1
[ = [Q
2
[ [Q
1
[ , (11.16)
ou seja,
[Q
1
[ [Q
1
[ = [Q
2
[ [Q
2
[ = Q , (11.17)
A hipotese de partida e que o rendimento da m aquina M excede o de
uma m aquina de Carnot que funciona entre as temperatuas T
1
e T
2
, ou seja:
e
M
> e
C
, (11.18)
CEDERJ
162
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
de modo que,
[W[
[Q
2
[
>
[W[
[Q
2
[
ou [Q
2
[ > [Q
2
[ .
O que nos leva a concluir que Q > 0, ou seja, que a associa cao da
m aquina M com a m aquina de Carnot resulta em um refrigerador perfeito
(Figura 11.8.b), ou seja, em uma m aquina que leva uma quantidade de calor
Q de uma fonte fria a uma fonte quente, sem que qualquer outra coisa ocorra,
violando, portanto, a 2
a
Lei. Logo, a viola cao do Teorema de Carnot leva
a uma viola cao da 2
a
Lei da Termodinamica. Se, em vez disso, e
M
e
C
,
o calor Q sera menor ou igual a zero, invertendo, portanto, o sentido da
transferencia de calor da m aquina mostrada na Figura 11.8.b, deixando de
violar a 2
a
Lei.
De fato, a m aquina de Carnot constitui-se no limite de eciencia possvel
de ser atingido por uma m aquina termica.
Resumo
De modo a discutir a 2
a
Lei da Termodinamica, introduzimos o con-
ceito de m aquina termica e refrigerador, utilizando processos termodinamicos
cclicos. A 2
a
Lei da Termodinamica foi enunciada para m aquinas termicas
(Enunciado de Kelvin-Plank) e refrigeradores (Enunciado de Clausius), ex-
cluindo a possibilidade da constru cao de m aquinas perfeitas. Foram introdu-
zidos os conceitos de m aquina e de refrigerador de Carnot, baseados em pro-
cessos termodinamicos reversveis. Discutindo a operacao destas m aquinas,
estabelecemos o Teorema de Carnot, que imp oe como limite superior para
o rendimento de qualquer m aquina termica, o rendimento da m aquina de
Carnot. Concluindo, demonstramos a equivalencia entre a 2
a
Lei da Termo-
dinamica e o Teorema de Carnot.
Exerccios
1) Um motor de combust ao operando com gasolina pode ser, com
um certo nvel de aproxima cao, representado pelo ciclo mostrado na Figura
11.9. Suponha que a subst ancia operante desta m aquina e um g as ideal mo-
noat omico e utilize uma taxa de compressao de 3 : 1 (ou seja, V
d
= 3V
a
).
Suponha que p
b
= 2p
a
.
a)Determine a press ao e a temperatura em cada um dos vertices do ciclo;
b)Calcule o rendimento do ciclo.
163
CEDERJ
2
A Segunda Lei da Termodinamica
Figura 11.9: Exerccio 1.
2)Uma geladeira, para resfriar o seu compartimento frio, precisa reti-
rar 568J de calor do mesmo. De modo a realizar este resfriamento, precisa
realizar 153 J de trabalho.
a)Calcule o coeciente de desempenho do refrigerador.
b) Qual e o calor cedido ao ambiente onde est a localizada a geladeira?
3)Determine o rendimento de uma maquina de Carnot que opera entre as
temperaturas m axima e mnima da m aquina discutida no Exemplo 1, e com-
pare com o rendimento obtido no Exemplo.
4)Uma maquina termica funciona baseada no ciclo mostrado na Figura 11.10.
O ciclo e composto por dois trechos a volume constante, os quais operam en-
tre duas isotermas ` as temperaturas T
1
e T
2
.
a) Obtenha o rendimento desta m aquina termica.
b) Compare o rendimento desta m aquina com o da m aquina de Carnot, ex-
plicitando a origem da diferen ca observada.
Figura 11.10: Exerccio 4.
CEDERJ
164
A Segunda Lei da Termodinamica
M
ODULO 3 - AULA 11
5) Mostre que a rela cao entre o rendimento de uma m aquina termica
reversvel ideal e o coeciente de desempenho do refrigerador, que se tem ao
operar a referida m aquina termica ao contr ario, e dada por:
e =
1
K + 1
.
165
CEDERJ
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
Aula 12 Entropia
Objetivos
Entender o conceito de entropia como uma funcao de estado e suas
aplica coes.
Estabelecer a diferen ca entre processos reversveis e irreversveis atraves
do conceito de entropia.
Descrever a 2
a
Lei da Termodinamica em termos da entropia.
Introdu cao
A Lei Zero da Termodinamica, que estabelece o conceito de equilbrio
termico, esta diretamente ligada ` a denicao de temperatura. Da mesma
forma, a formula cao da 1
a
Lei da Termodinamica est a ligada ` a deni cao
de energia interna, uma quantidade a ser conservada nos processos termo-
dinamicos. Nesta aula, veremos que a 2
a
Lei da Termodinamica tambem
est a associada ` a deni cao de uma grandeza muito util, a entropia. Esta
denicao est a entre as mais importantes da Termodin amica. Conforme vere-
mos, a entropia e uma funcao de estado, cuja varia cao em um dado processo
determina se este e reversvel ou irreversvel. Este e um aspecto funda-
mental desta nova grandeza, cujas conseq uencias se apresentam tanto em
quest oes pr aticas, como o funcionamento de m aquinas termicas e refrigera-
dores, quanto em quest oes conceituais acerca da termodinamica do nosso
universo. Por isso, o conceito de entropia tem tanta import ancia para a
Fsica Contempor anea. Atualmente, o poder deste conceito j a vem sendo
explorado ate mesmo em outras areas, como na macroeconomia e na Teoria
da Informa cao. De fato, hoje entendemos a entropia como uma medida do
grau de desordem ou desinforma cao em um sistema.
Nesta aula, discutiremos, ainda, a formula cao da 2
a
Lei da Termo-
dinamica em termos da entropia. Esta formula cao tem na sua abrangencia,
a sua maior beleza. De fato, trata-se de uma formula cao mais geral do que
as apresentadas na Aula 11, no contexto do funcionamento de refrigeradores
e maquinas termicas.
167
CEDERJ
2
Entropia
Uma nova fun cao de estado
A denicao de grandezas que dependam apenas do estado de um sis-
tema, e nao da trajet oria seguida por este ate o seu estado presente, e um
procedimento bastante freq uente na constru cao das teorias fsicas. De fato,
lembre-se de que, para uma partcula sujeita ` a a cao de for cas conservativas,
podemos denir uma energia potencial U(x) como fun cao de sua posi cao.
A varia cao de U entre duas posi coes (estados) da partcula n ao depende da
trajet oria seguida por ela, mas apenas de suas posi coes inicial e nal. Da
mesma maneira, denimos a energia interna para um sistema termodin amico.
Quando o sistema evolui de um ponto a outro do diagrama p V , a varia cao
de energia interna tambem so depende dos estados inicial e nal, e n ao da
trajet oria seguida entre eles. Assim, dizemos que a energia interna e uma
funcao de estado do sistema. Outra forma de denirmos uma fun cao de
estado, que e equivalente ` a anterior, consiste em vericarmos se e nula a va-
ria cao total da grandeza num ciclo fechado, ou seja, quando o sistema volta ao
estado inicial.
Na Aula 11 (Equa cao 13), estudamos o ciclo de Carnot e vimos que o
calor trocado pelo sistema no ciclo e tal que
Q
A
T
A
+
Q
B
T
B
= 0 , (12.1)
sendo Q
A
o calor recebido pelo sistema do reservat orio `a temperatura T
A
,
e Q
B
o calor cedido pelo sistema ao reservat orio `a temperatura T
B
. Uma
vez que o calor trocado pelo sistema e nulo nos trechos adiab aticos do ciclo,
podemos escrever que
ciclo
Q
T
= 0 ou
_
ciclo
dQ
T
= 0 , (12.2)
para o ciclo de Carnot.
Mostraremos agora que, de fato, a Equa cao (12.2) vale para qualquer
processo cclico reversvel.
De fato, considere um processo arbitr ario, como o representado na Fi-
gura 12.1, que leve o sistema desde a condi cao inicial (p
i
, V
i
) para a condi cao
nal (p
f
, V
f
) . Utilizando a 1
a
Lei da Termodinamica, podemos facilmente
expressar o calor dQ trocado pelo sistema quando este sofre uma varia cao
innitesimal de volume dV e de temperatura dT :
dQ = dE
int
+ p dV = c
V
dT + p dV . (12.3)
CEDERJ
168
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
V
p
i
f
Figura 12.1: Diagrama p V representando uma transformacao arbitr aria de um g as
ideal entre as condi coes inicial i e nal f.
Assim, podemos escrever que
_
f
i
dQ
T
= c
V
_
T
f
T
i
dT
T
+
_
V
f
V
i
p
T
dV = c
V
ln T
f
/T
i
+ nR ln V
f
/V
i
, (12.4)
onde utilizamos a equa cao de estado do g as ideal para escrever que p/T =
nR/V na integral de volume.
Lembrando que c
p
c
V
= nR e que = c
p
/c
V
, podemos ainda rees-
crever a Equacao (12.4) como:
_
f
i
dQ
T
= c
V
ln
_
T
f
V
1
f
T
i
V
1
i
_
= c
V
ln
_
p
f
V
f
p
i
V
i
_
. (12.5)
A Equa cao (12.5) nos mostra que a integra cao da quantidade innitesi-
mal dQ/T depende apenas dos valores iniciais e nais das vari aveis de estado
do sistema, e n ao do caminho percorrido.
E facil ver ainda que a integral da
Equa cao (12.5) se anula quando o sistema completa um ciclo fechado. De
fato, neste caso os valores iniciais e nais de p e V (ou T e V ) sao iguais, de
modo que a fun cao logartmica da Equacao (12.5) se anula. Assim, exten-
demos o resultado da Equa cao (12.2) para qualquer ciclo fechado. Como no
caso da energia interna, podemos ent ao denir uma nova fun cao (ou vari avel)
de estado chamada entropia S, de modo que dS = dQ/T, ou ainda
_
f
i
dQ
T
= S
f
S
i
= S . (12.6)
No Sistema Internacional de unidades (SI), a entropia e expressa em
Joule/Kelvin (J/K).
Lembre-se de que, na Aula 10, mostramos que p V
= cte para um
processo adiabatico. Observando a segunda igualdade da Equa cao (12.5), e
169
CEDERJ
2
Entropia
facil ver que a entropia deve permanecer constante quando o sistema sofre
um processo adiabatico. De fato, como dQ = 0 num processo adiab atico,
teremos, ainda, dS = dQ/T = 0 . Logo, da Equa cao (12.6) vemos que
S = 0 e S
f
= S
i
. Por isto, os processos adiab aticos tambem sao chamados
isoentropicos.
A demonstra cao que acabamos de fazer se aplica apenas aos gases ide-
ais. Contudo, e possvel denirmos entropia de maneira geral e aplicarmos
a Equa cao (12.6) a qualquer sistema termodin amico, como um s olido, um
lquido, ou, ainda, a sistemas magneticos. Por isto, o conceito de entropia e
de grande import ancia para toda a Termodin amica.
Implicitamente, ao fazermos a integra cao em dQ/T , consideramos que
o sistema termodin amico observado permanece em equilbrio, em cada in-
tervalo innitesimal. Assim sendo, as vari aveis de estado do sistema s ao
bem denidas durante todo o processo que leva o sistema de um estado a
outro. Nestas condicoes, o processo e dito reversvel. Portanto, nossa de-
monstracao de que a varia cao total de entropia e nula num ciclo fechado,
vale apenas para esta classe de processos. Na pr oxima se cao, discutiremos
alguns exemplos de processos que n ao atendem ` a condi cao de reversibilidade
(processos irreversveis), e veremos como calcular a varia cao de entropia
nestes casos.
Processos reversveis e irreversveis
Na introdu cao da Aula 11, comentamos que, num sistema isolado for-
mado por uma por cao de gelo em contato termico com uma por cao de agua
quente, a troca de energia (calor) ocorre de maneira a transferir energia da
parte mais quente do sistema para a mais fria. Em contrapartida, o processo
inverso, isto e, o calor uindo do gelo para a agua quente, nunca e obser-
vado. Suponha que um cinegrasta lme a evolu cao do sistema agua + gelo
desde a condicao inicial ate o equilbrio termico. Em seguida, este mesmo
cinegrasta faz uma exposi cao do lme no sentido inverso, de maneira que
o espectador observe a evolu cao de tr as para a frente. Baseado no senso
comum, o espectador logo se daria conta de que o lme est a sendo exibido
com o sentido invertido, pois o calor uiria do gelo para a agua quente. Esta
e a no cao b asica do que chamamos processos irreversveis: processos cuja
evolu cao no sentido inverso do tempo n ao e sicamente aceit avel.
CEDERJ
170
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
Outro exemplo claro de um processo irreversvel e a expans ao livre
de um g as. Por exemplo, considere um recipiente termicamente isolado,
dividido em duas partes iguais por uma parti cao, conforme e mostrado na
Figura 12.2a. Um dos lados da parti cao e preenchido com um g as enquanto
o outro est a vazio. Suponha que esta parti cao seja quebrada, de maneira que
o g as preencha todo o volume do recipiente como na Figura 12.2b. Como
no caso anterior, a evolu cao invertida no tempo, na qual o g as espalhado
pelo recipiente subitamente se concentra numa das metades deste, n ao e
sicamente aceit avel. O cinegrasta tambem seria facilmente desmascarado
se tentasse mostrar um lme da expans ao livre de um g as em sentido inverso.
V
2
0
V
2
0
isolamento trmico
V
0
isolamento trmico
Figura 12.2: a) Recipiente termicamento isolado contendo uma parti cao que separa
dois volumes iguais do recipiente. Um gas ideal est a connado do lado esquerdo, enquanto
o lado direito esta vazio. b) A parti cao e removida, e o gas se espalha por todo o volume
do recipiente, ate que o equilbrio termico seja reestabelecido.
Em contrapartida, um processo no qual um g as recebe calor de um re-
servat orio termico e realiza trabalho sobre sua vizinhan ca pode ser concebido
em sentido inverso, desde que ele ocorra lentamente. Trata-se, portanto, de
um processo reversvel. Num diagrama p V , um processo reversvel pode
ser representado por uma trajet oria ligando os estados inicial e nal. Ou
seja, o sistema deve passar por estados de equilbrio intermedi arios. Porem,
nos processos irreversveis, apenas os pontos inicial e nal s ao de equilbrio,
de maneira que os pontos intermedi arios n ao admitem uma representacao no
diagrama p V . Por exemplo, durante o intervalo de tempo extremamente
curto da expans ao livre de um g as, as vari aveis de estado termodin amicas
como volume, temperatura e press ao n ao s ao bem denidas para o g as por
inteiro. Estas vari aveis s o possuem valor bem determinado antes do incio
da expans ao livre e depois que o equilbrio termico e atingido no nal.
Uma quest ao surge, ent ao: como podemos calcular a varia cao de entro-
pia de um sistema quando este passa por um processo irreversvel?
A no cao de entropia, como uma fun cao de estado, nos diz que a varia cao
de entropia num dado processo depende apenas das condi coes inicial e nal.
171
CEDERJ
2
Entropia
Uma vez que estas condicoes sao de equilbrio, podemos utilizar qualquer
processo auxiliar (hipotetico) reversvel, que leve o sistema do mesmo es-
tado inicial para o mesmo estado nal, e calcular a varia cao de entropia por
este processo. Como a entropia depende apenas dos estados inicial e nal, a
varia cao de entropia no processo irreversvel deve ser a mesma que aquela cal-
culada no processo auxiliar. Portanto, obtemos a varia cao de entropia num
processo irreversvel, calculando-a atraves de um processo reversvel auxiliar,
que leve o sistema desde o estado inicial ate o estado nal considerados.
A seguir, mostraremos dois exemplos que ilustram esta ideia: expans ao
livre e transferencia irreversvel de calor.
Expansao livre
Considere novamente a situa cao ilustrada na Figura 12.2: um recipiente
termicamente isolado de sua vizinhan ca, contendo uma parti cao que divide
o recipiente em duas partes com volumes iguais a V
0
/2 . Suponha que o lado
direito do recipiente esteja vazio, enquanto o lado esquerdo possui n moles
de um g as ideal. A parti cao e, entao, removida, deixando que o g as ocupe
todo o volume do recipiente. Desejamos calcular a varia cao total de entropia
do g as, desde a condicao inicial ate o reestabelecimento do equilbrio termico
subseq uente `a remo cao da parti cao.
Imediatamente ap os a remo cao da parti cao, durante a expans ao livre do
g as ate o equilbrio nal, o sistema estara fora de equilbrio, de modo que as
vari aveis de estado do g as, como press ao, volume e temperatura, n ao s ao bem
denidas. Neste caso, n ao faz sentido representarmos este tipo de processo
por uma trajet oria no diagrama p V . Contudo, podemos representar as
condi coes inicial e nal de equilbrio, e escolhermos um processo reversvel
auxiliar a m de calcularmos a varia cao total de entropia. Uma vez que
nao h a troca de calor nem realiza cao de trabalho, a energia interna do g as
deve ser a mesma antes e depois da expansao livre do g as. Alem disso, a
temperatura do g as tambem deve ser a mesma antes e depois da expansao,
pois a energia interna de um g as ideal depende apenas de sua temperatura.
Portanto, ainda que os pontos intermedi arios n ao possam ser representados
no diagrama, sabemos que os estados nal e inicial do g as se encontram sobre
uma mesma isoterma.
CEDERJ
172
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
V
p
i
f
p
i
p
f
V
2
0
V
0
isoterma
auxiliar
Figura 12.3: Diagrama pV representando as condicoes inicial i e nal f da expansao
livre de um gas ideal, juntamente com a isoterma auxiliar utilizada no c alculo da varia cao
de entropia.
Assim sendo, vamos escolher um processo auxiliar isotermico, que liga
os pontos inicial e nal do diagrama p V do g as, conforme mostrado na
Figura 12.3. Neste caso, podemos utilizar a primeira igualdade da Equa cao
(12.5), lembrando que T
f
= T
i
sobre a isoterma, para obtermos
S = c
V
( 1) ln
_
V
f
V
i
_
= nR ln2 , (12.7)
pois o volume nal do g as e o dobro do volume inicial (V
f
= 2 V
i
). Como
nao h a contato termico do recipiente com a vizinhanca, a varia cao total de
entropia do g as + vizinhan ca ser a positiva.
Transferencia irreversvel de calor
Considere dois blocos identicos, de massa m e mesmo calor especco
c . Os blocos est ao inicialmente isolados termicamente entre si, e da vi-
zinhanca externa. As temperaturas iniciais dos blocos s ao T
1
e T
2
. Em
seguida, os blocos s ao colocados em contato termico um com o outro, perma-
necendo, ainda, isolados da vizinhan ca externa. O calor ui do bloco mais
quente para o mais frio ate que a temperatura de equilbrio T
e
seja atin-
gida por ambos os blocos. Desejamos calcular a varia cao total de entropia
do sistema + vizinhan ca externa desde a situa cao inicial ate a condi cao de
equilbrio termico.
Novamente, devemos substituir o processo real, onde os blocos tro-
cam calor irreversivelmente, por dois processos auxiliares, nos quais cada
bloco troca calor independentemente com um respectivo reservat orio termico,
173
CEDERJ
2
Entropia
cujas temperaturas podem ser variadas continuamente, de forma reversvel.
Portanto, em nossos processos auxiliares, o bloco 1 e colocado em contato
termico com um reservat orio inicialmente a T
1
, cuja temperatura e variada
lentamente ate que a temperatura de equilbrio T
e
seja alcan cada. A hipotese
de varia cao lenta da temperatura do reservat orio garante que o bloco per-
mane ca em equilbrio durante todo o processo. Da mesma forma, sup oe-se
que o bloco 2 est a em contato com um reservat orio inicialmente a T
2
, cuja
temperatura e lentamente variada ate T
e
.
Ao sofrer uma variacao innitesimal de temperatura dT , cada bloco
troca uma quantidade de calor dQ = mc dT e sofre uma variacao innitesimal
de entropia dS = mc dT/T . Portanto, a varia cao de entropia do bloco 1 ser a
S
1
=
_
f
i
dQ
T
= mc
_
Te
T
1
dT
T
= mc ln
T
e
T
1
. (12.8)
Da mesma forma, a varia cao de entropia do bloco 2 ser a
S
2
= mc
_
Te
T
2
dT
T
= mc ln
T
e
T
2
. (12.9)
Logo, a varia cao total de entropia ser a
S = S
1
+ S
2
= mc ln
T
e
T
1
+ mc ln
T
e
T
2
= mc ln
T
2
e
T
1
T
2
. (12.10)
Uma vez que os blocos trocam calor, isolados da vizinhan ca externa, a
conserva cao de energia (1
a
Lei) exige que o calor total trocado seja nulo, isto
e, o calor cedido pelo bloco mais quente deve ser igual ao calor recebido
pelo bloco mais frio. Ou seja,
Q
1
+ Q
2
= mc (T
e
T
1
) + mc (T
e
T
2
) = 0 , (12.11)
de modo que T
e
= (T
1
+ T
2
)/2 . Com isto, podemos escrever T
2
e
/T
1
T
2
como:
T
2
e
T
1
T
2
=
(T
1
+ T
2
)
2
4 T
1
T
2
=
4 T
1
T
2
+ (T
1
T
2
)
2
4 T
1
T
2
= 1 +
(T
1
T
2
)
2
4 T
1
T
2
,
e, nalmente,
S = mc ln
_
1 +
(T
1
T
2
)
2
4 T
1
T
2
_
> 0 . (12.12)
Uma vez que os blocos est ao isolados da vizinhan ca externa, S = 0
para a vizinhan ca e a varia cao total de entropia dos blocos + vizinhan ca
e positiva.
CEDERJ
174
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
Note que, das Equa coes (12.8) e (12.9), podemos concluir que a entro-
pia do bloco mais frio aumenta, enquanto a do bloco mais quente diminui.
Suponha que o bloco 1 esteja inicialmente mais quente do que o bloco 2.
Neste caso, T
1
> T
e
> T
2
, de modo que S
1
< 0 e S
2
> 0 . Contudo, a va-
ria cao total de entropia n ao depende disto. De fato, observe que na Equa cao
(12.12), a diferen ca de temperatura entre os dois blocos est a elevada ao
quadrado, de maneira que S > 0, qualquer que seja o bloco inicialmente
mais frio.
E interessante vermos, no contexto dos exemplos anteriores, como a
no cao de informa cao est a contida no conceito de entropia. No caso da ex-
pans ao livre, o g as ocupa um volume menor, inicialmente, do que ap os sua
expans ao. Portanto, podemos dizer que, de certa forma, possumos mais in-
forma cao sobre as posi coes de suas moleculas antes do que ap os a expans ao.
Neste caso, atribumos o aumento da entropia do g as ao aumento da desor-
dem ou desinforma cao no sistema.
Da mesma maneira, em nosso segundo exemplo, podemos dizer que
temos mais informa cao acerca da distribui cao de energia dos corpos antes,
do que ap os o contato termico. De fato, antes do contato, temos um bloco
mais quente e outro mais frio. Logo, sabemos que a energia total do sis-
tema se encontra em maior quantidade no primeiro do que no segundo. De-
pois que o equilbrio termico e atingido, perdemos o pouco de informa cao
que tnhamos, pois, agora, a energia se encontra igualmente distribuda
entre os dois blocos. Novamente, atribumos o aumento da entropia ` a de-
sordem criada.
Entropia e a 2
a
Lei
Nas secoes anteriores, denimos entropia e mostramos como calcular
sua varia cao em processos reversveis e irreversveis. O papel desta nova
funcao de estado e de grande import ancia para a termodin amica, pois pode-
mos utiliz a-la para enunciar a 2
a
Lei da seguinte maneira:
Em qualquer processo termodin amico que ocorra entre dois estados de
equilbrio de um sistema, a entropia total do sistema + sua vizinhanca
permanece constante se o processo for reversvel, e aumenta se o processo
for irreversvel. A entropia jamais diminui.
175
CEDERJ
2
Entropia
Podemos concluir que esta formula cao da 2
a
Lei da Termodinamica e
equivalente ` as anteriores. De fato, podemos investigar a varia cao total de
entropia em cada um dos casos estudados na Aula 11.
Maquinas ideais
Uma m aquina ideal deve ser capaz de remover um calor Q
A
> 0 de um
reservat orio `a temperatura T
A
, e converte-lo integralmente em trabalho
W . Note que devemos ter W < 0 , pois a m aquina deve realizar trabalho
sobre a vizinhan ca. Uma vez que a m aquina realiza um ciclo fechado, sua
varia cao de entropia (isto e, da subst ancia operante da m aquina) deve ser
nula. Em contrapartida, o reservat orio cede um calor Q
A
`a m aquina, de
modo que a varia cao de entropia do reservat orio sera Q
A
/T
A
< 0 . Portanto,
a varia cao total de entropia da m aquina ideal + o reservat orio (vizinhan ca)
deve ser negativa para uma maquina ideal. Vemos imediatamente que tal
m aquina viola a formula cao da 2
a
Lei em termos da entropia.
Como vimos na Aula 11, uma m aquina real requer um segundo reser-
vat orio termico `a temperatura T
B
< T
A
, ao qual ela cede uma quantidade
de calor Q
B
< 0 . A varia cao de entropia do reservat orio B sera, portanto,
Q
B
/T
B
> 0 . Esta varia cao de entropia positiva do reservat orio B garante
que a 2
a
Lei, conforme a formula cao acima, seja observada. Neste contexto,
o melhor que podemos conseguir e a m aquina de Carnot, para a qual a
varia cao total de entropia (m aquina + reservat orio frio + reservat orio
quente) e nula.
Refrigeradores ideais
Um refrigerador ideal deve ser capaz de transferir o calor Q > 0 de
um reservatorio mais frio, ` a temperatura T
B
, para outro mais quente,
`a temperatura T
A
> T
B
, sem que qualquer outra mudan ca ocorra nos re-
servat orios ou em suas vizinhan cas. Em outras palavras, o calor deve uir
do reservat orio mais frio para o mais quente sem a realiza cao de trabalho.
Neste caso, a varia cao de entropia do reservat orio mais quente ser a Q/T
A
e a do reservat orio mais frio ser a Q/T
B
. Portanto, a varia cao total de
entropia ser a
S
TOT
=
Q
T
A
Q
T
B
= Q
_
1
T
A
1
T
B
_
.
Uma vez que T
A
> T
B
, S
TOT
deve ser negativa, o que tambem viola
nossa ultima formula cao da 2
a
Lei em termos da entropia. Note, ainda, que o
CEDERJ
176
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
funcionamento de um refrigerador ideal pressup oe uma transferencia de calor
no sentido inverso ao que observamos na Natureza.
Resumo
Nesta aula denimos uma nova vari avel de estado chamada Entropia.
Vimos como a entropia nos permite identicar um processo termodin amico
quanto ` a sua reversibilidade. Esta no cao de reversibilidade assume um papel
fundamental no contexto da Termodin amica, pois d a ao princpio de aumento
da entropia o status de lei.
E a 2
a
Lei da Termodinamica, formulada em
termos da nossa nova vari avel de estado. A import ancia da entropia aparece,
ainda, ao mostrarmos a equivalencia entre o novo enunciado da 2
a
Lei e os
enunciados anteriores. Assim, vimos, de forma muito simples, que tanto as
m aquinas quanto os refrigeradores ideais violam este novo enunciado.
Tambem discutimos qualitativamente a rela cao entre o conceito de en-
tropia e a no cao de desordem ou desinforma cao. Esta no cao e de grande
interesse atual, tanto em temas puramente academicos, como a origem do
nosso universo, quanto para as tecnologias modernas de informa cao, que par-
ticipam de nosso cotidiano. A entropia de informa cao e muito utilizada na
inform atica para dimensionar a capacidade de um algoritmo de compress ao
de dados, por exemplo. Trata-se, neste caso, do emprestimo de um conceito
fsico a outras areas do conhecimento humano. Historicamente, este tipo de
emprestimo ja ocorreu diversas vezes, e mostra a for ca desta Ciencia.
Exerccios
1) Tres moles de um gas ideal dilatam-se desde o volume V
0
ate o vo-
lume V = 3, 5 V
0
.
a) Calcule o trabalho realizado sobre o g as se a dilatacao for isotermica e
ocorrer a T = 400K .
b) Calcule a varia cao de entropia, se houver.
c) Calcule qual seria a variacao de entropia, se a dilata cao fosse adiab atica
e reversvel.
2) Podemos representar um processo termodin amico qualquer num diagrama
de temperatura versus entropia (T S). Neste diagrama, um ciclo de Carnot
e representado por um ret angulo.
177
CEDERJ
2
Entropia
S (J / K)
T(K)
0
100
200
300
400
0,2 0,4 0,6 0,8
Figura 12.4: Diagrama T S representando um ciclo de Carnot.
a) Explique o porque.
b) Calcule o calor trocado pelo sistema para o ciclo de Carnot mostrado na
Figura 12.4.
c) Calcule o trabalho realizado pelo sistema neste mesmo ciclo.
3) Um mol de um g as diat omico ideal passa pelo ciclo mostrado no dia-
grama p V da Figura 12.5, onde V
2
= 3 V
1
. Calcule, em termos de p
1
, V
1
,
T
1
e R:
V
p
p
1
3V
1
V
1
1
2
3
isoterma
adiabtica
Figura 12.5: Diagrama p V representando o ciclo do Exerccio 3.
a) p
2
, p
3
e T
3
.
b) W , Q, E
int
e S para os tres processos.
CEDERJ
178
Entropia
M
ODULO 3 - AULA 12
4) Um mol de um g as ideal monoat omico passa por dois processos dife-
rentes, indo desde um estado inicial ` a pressao p
0
e volume V
0
, ate um estado
nal ` a pressao 2 p
0
e volume 2 V
0
:
(I) O g as se dilata isotermicamente ate que o volume dobre e, entao, a press ao
e aumentada, a volume constante, ate que o estado nal seja alcan cado.
(II) Ele e comprimido isotermicamente ate que sua pressao dobre e, ent ao,
ele se dilata ` a pressao constante ate que o estado nal seja alcan cado.
a) Represente os dois processos em um diagrama p V .
b) Calcule o calor total absorvido pelo g as em cada processo.
c) Calcule o trabalho realizado sobre o g as em cada processo.
d) Calcule a varia cao de energia interna do g as.
e) Calcule a variacao de entropia do g as.
5) Um bloco de 50, 0 g de cobre a 4004 K e outro de chumbo de 100, 0 g
a 200 K sao colocados em uma caixa termicamente isolada da vizinhan ca
externa. No interior da caixa, os blocos est ao em contato termico entre si.
a) Calcule a temperatura de equilbrio do sistema formado pelos dois blocos.
b) Calcule a varia cao de energia interna quando o sistema passa da condi cao
inicial ` a de equilbrio.
c) Calcule a variacao da entropia total do sistema.
179
CEDERJ
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 1
Experimento 1
Determinacao da densidade de um uido atraves
da determinacao da pressao em fun cao da
profundidade
Objetivos
Ao nal desta aula, voce devera ser capaz de:
Utilizar um man ometro de tubo aberto para determinar a press ao de
um uido em funcao da profundidade e, a partir desta, a densidade
do uido.
Conhecimentos importantes para a realiza cao do
experimento
Fluido incompressvel num campo gravitacional, Aula 1 da disciplina
Fsica 2A, do M odulo 1. Voce deve rever como varia a pressao em
funcao da profundidade em um uido incompressvel na presen ca de
gravidade (Equa cao 1.16.)
Man ometro de tubo em U, na secao Medidas de press ao da Aula 2,
do M odulo 1 da disciplina Fsica 2A. Voce deve rever como se usa
o man ometro de tubo em U para medir a press ao manometrica em
um ponto.
Material utilizado
Painel hidrost atico (ref. EQ033/CIDEPe): man ometro de tubo em U,
aberto, localizado ` a direita do painel.
Tubo submersvel e escala graduada acoplada, a serem gradualmente
submersos no uido estudado.
Frasco Becker, destinado a conter o uido estudado.
Pinca de Mohr (dispositivo para estrangular a mangueira exvel `a
sada do ramo direito do man ometro).
181
CEDERJ
2
Experimentos
Seringa com extens ao, para colocar agua no man ometro.
Pigmento para colorir a agua do man ometro e facilitar a medida.
Esquema do experimento
A Figura 1.1 mostra esquematicamente a montagem utilizada para a
realiza cao do experimento. Na gura, est ao designados, pela numera cao
utilizada na secao anterior, alguns dos principais elementos da montagem.
Ela tambem mostra os par ametros que serao medidos durante o experimento,
designados pela mesma representa cao utilizada no texto.
Figura 1.1: Esquema do equipamento utilizado no experimento.
CEDERJ
182
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 1
Procedimento passo a passo para a realiza cao do
experimento
Passo 1 - Carga de agua no man ometro
Utilize a seringa com o prolongador para introduzir lentamente a agua
colorida com pigmento no man ometro, ate o seu nvel atingir o meio
da escala graduada localizada entre os dois ramos do man ometro. Se
por acaso ocorrer a forma cao de bolhas de ar, utilize a seringa com o
prolongador para retir a-las.
Passo 2 - Teste de vazamento
Estrangule a mangueira exvel com a pin ca de Mohr e mergulhe a
extremidade do tubo submersvel no frasco Becker com agua. Observe
por trinta segundos o desnvel entre os dois ramos do manometro. Caso
o desnvel nao se mantenha constante, haver a um vazamento. Para
corrigi-lo, passe esmalte incolor nas jun coes das mangueiras.
Passo 3 - Prepara cao para o experimento
Retire a pin ca de Mohr e o Becker. Encoste um pano ou papel absor-
vente na extremidade do tubo submersvel, de modo a remover qualquer
por cao de lquido que tenha cado em sua extremidade. Nivele o zero
da escala submersvel com a extremidade do tubo met alico que a su-
porta. Regule a altura do painel de modo que a escala submersvel
que aproximadamente 10mm acima do tampo da mesa.
Passo 4 - Prepara cao do man ometro
Com as duas extremidades do man ometro abertas, coloque a pin ca
de Mohr na mangueira exvel. Caso haja algum desnvel entre os
dois ramos do man ometro, verique o nivelamento do painel e/ou a
existencia de bolhas.
Passo 5 - Prepara cao do experimento
Cuidadosamente, para evitar danos ao equipamento, coloque o tubo
submersvel dentro do Becker, que deve estar vazio. Coloque agua no
Becker ate que a superfcie do lquido toque a extremidade do tubo
submersvel. Caso haja algum desnvel nos dois ramos do man ometro,
goteje, cuidadosamente, mais agua no seu ramo esquerdo, ate que os
nveis de agua nos dois ramos se igualem novamente.
183
CEDERJ
2
Experimentos
Passo 6 - Realiza cao do experimento
Coloque mais agua no Becker, de modo a aumentar o seu nvel em
5ml. Observe a agua penetrar na extremidade mergulhada do tubo, de
profundidade h
. Anote os valores de h, h
e x. Repita esse passo por
seis vezes, de modo a obter um total de sete conjuntos de valores h, h
e x.
Passo 7 - Analise dos resultados
Observe que podemos escrever a seguinte equa cao para a press ao p na
superfcie do lquido que penetra no tubo submerso:
p +
H
2
O
g h
= p
0
+
H
2
O
g h , (1.1)
sendo a press ao manometrica medida dada por:
p p
0
=
H
2
O
g (h h
) , (1.2)
ou seja,
H
2
O
g x =
H
2
O
g (h h
). (1.3)
Tendo essa analise em mente, fa ca uma tabela com os pontos obtidos
(x em funcao de hh
) e fa ca um gr aco de x em funcao de hh
.
Muito provavelmente, voce obter a uma reta com coeciente angular
pr oximo de 1,0.
Ate o momento, apenas podemos concluir que a utiliza cao da Lei de
Stevin leva a resultados coerentes sem, na verdade, comprov a-la expe-
rimentalmente
1
.
Passo 8 - Realiza cao do experimento com glicerina
Retire cuidadosamente o Becker e jogue fora a agua. Seque o frasco,
coloque novamente o tubo submersvel dentro dele e repita os passos 5
e 6, colocando glicerina no Becker, em vez de agua.
Passo 9 - Analise dos resultados
Fa ca novamente a tabela e o gr aco de x em funcao de hh
e deter-
mine a densidade da glicerina a partir desses resultados (e necessario
justicar os seus calculos).
1
E preciso notar que utilizamos a Lei de Stevin para medir press ao.
CEDERJ
184
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 1
Passo 10 - Vericacao do resultado obtido
Obtenha a densidade da glicerina pesando um volume conhecido desta
subst ancia. N ao esque ca de pesar o Becker utilizado antes e depois sub-
trair o seu peso do resultado. Compare esse resultado com o resultado
obtido no passo 9. O que voce concluiu?
185
CEDERJ
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 2
Experimento 2
Verica cao da Lei de Boyle-Mariotte
Objetivos
Ao nal desta aula, voce devera ser capaz de:
Vericar a Lei de Boyle-Mariotte por intermedio da compress ao isotermica
de um g as.
Conhecimentos importantes para a realiza cao do ex-
perimento
Rela cao entre volume e press ao de um g as ideal, Aula 6 da disci-
plina Fsica 2A. Voce deve rever como varia o volume de um gas
ideal em funcao da press ao, quando a temperatura e mantida constante
(Equa cao 6.2).
Material utilizado
Conjunto de seringa graduada e man ometro (ref. EQ037C/CIDEPe)
Figura 2.1: Esquema do equipamento utilizado no experimento.
187
CEDERJ
2
Experimentos
Esquema do experimento
A Figura 2.1 mostra o esquema da montagem utilizada para a
realiza cao do experimento. Ela consiste de uma seringa com embolo m ovel,
montada sob um parafuso de suporte e conectada a um manometro por uma
mangueira. O parafuso de suporte pressiona o embolo da seringa, permitindo
a varia cao gradual do volume de g as connado nela. O g as que utilizaremos
sera o ar, cujo comportamento e pr oximo do de um g as ideal para as nos-
sas condicoes experimentais. O ar e admitido no sistema por meio de uma
v alvula que, alternativamente, conecta o interior da seringa com o exterior ou
com o man ometro. Quando a v alvula e fechada, o ar e connado no interior
da seringa e na mangueira de conex ao. A varia cao do volume do ar connado
pode ser medida com o auxlio da graduacao existente na parede da seringa.
Alem disso, o parafuso de suporte possui uma calibra cao que permite ava-
liarmos a varia cao de volume a cada volta do parafuso. A varia cao de press ao
do ar em rela cao ` a press ao atmosferica pode ser lida a partir do man ometro.
Analise te orica
A Lei de Boyle-Mariotte arma que o produto da press ao p pelo
volume V de um g as ideal deve permanecer constante quando este passa por
transforma coes isotermicas (T = cte):
pV = cte (2.1)
Uma diculdade que temos em nosso aparato experimental e o desco-
nhecimento do volume total do g as connado, uma vez que n ao sabemos o
volume do g as na mangueira e no interior do man ometro. Assim sendo, ao
variarmos o volume do g as, faremos medidas da diferen ca entre o volume
inicial (desconhecido) e o novo volume para cada nova posi cao do embolo:
V = V
0
V (2.2)
Portanto, usando a Lei de Boyle-Mariotte, temos que:
p
0
V
0
= pV = p(V
0
V ) V =
p
0
V
0
p
+ V
0
(2.3)
CEDERJ
188
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 2
Logo, V e
1
p
tem uma relacao linear do tipo V =
a
p
+b , com coeci-
ente angular a = p
0
V
0
e coeciente linear b = V
0
. Observe que p e a press ao
total sobre o g as, de modo que devemos adicionar ` a leitura do man ometro a
pressao
atmosferica p
0
= 1, 01 10
5
Pa = 1, 03kgfcm
2
.
Procedimento experimental
Passo 1 - Admissao do ar
Com a v alvula de admissao do ar aberta, eleve o embolo da seringa
ate que o volume inicial de 20ml seja alcan cado. Em seguida, feche a
v alvula de admissao, connando o ar no interior da seringa.
Passo 2 - Teste de vazamento
Girando o parafuso de suporte do embolo, comprima o ar no inte-
rior da seringa ate o volume de 10ml, e anote o valor da press ao ma-
nometrica. Mantenha o sistema nessa posi cao e observe se a leitura
do manometro permanece inalterada. O vazamento de ar acarreta uma
diminui cao da press ao manometrica com o tempo. Sempre h a pequenos
vazamentos, mas se eles forem sucientemente pequenos, poderao ser
desprezados desde que a seq uencia de medidas nao dure muito tempo.
Caso a press ao manometrica diminua muito rapidamente, mesmo com
o embolo im ovel, verique a posi cao da v alvula e as conex oes da man-
gueira com a seringa e o man ometro.
Passo 3 - Medida de p e V
Uma vez certo de que n ao h a vazamentos importantes no sistema, pro-
ceda `as medidas de p e V . Cada volta no parafuso de suporte do
embolo corresponde a uma diminuicao de 0,44ml no volume do g as.
Para a medida de p, lembre-se de adicionar o valor da pressao at-
mosferica ` a leitura do man ometro. Fa ca dez medidas de V e dos va-
lores correspondentes de p, e construa um gr aco de V
1
p
em uma
folha de papel milimetrado. Trace a reta que melhor se ajuste aos pon-
tos experimentais e calcule os coecientes angular e linear
desta reta.
189
CEDERJ
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 3
Experimento 3
Calorimetria
Objetivos
Ao nal desta aula, voce devera ser capaz de:
Estudar as trocas de calor entre corpos a temperaturas distintas.
Medir a capacidade calorca de um calormetro.
Medir o calor especco de uma subst ancia s olida.
Conhecimentos importantes para a realiza cao do
experimento
Denicoes de capacidade calorca e calor especco, Aula 9.
Material utilizado
1 calormetro de agua (ref. EQ085A/CIDEPe);
1 term ometro;
1 agitador;
1 copo de Becker de 250ml, com 100ml de agua gelada;
1 copo de Becker de 250ml, com 100ml de agua ` a temperatura ambiente;
1 copo de Becker de 250ml vazio;
1 proveta graduada de 100ml.
Esquema do experimento
A Figura 1 mostra de modo esquem atico a montagem utilizada para
a realiza cao do experimento. Ela consiste de um calormetro did atico trans-
parente de constitui cao robusta, com vaso externo de vidro resistente ao calor
e vaso central de alumnio. Possui ainda um conjunto isolante de separa cao e
191
CEDERJ
2
Experimentos
centragem dos frascos em a co inoxidavel e silicone, um agitador, uma tampa
transparente de apoio periferico para alinhamento e fechamento simult aneo
dos vasos, alem de um termometro com escala de 10 a 110
o
C. Apresenta-se
predominantemente em vidro natural, acrlico polido e silicone.
Figura 3.1: Esquema do equipamento utilizado no experimento.
Analise te orica
O presente experimento e dividido em duas etapas. Na primeira,
iremos medir a capacidade calorca do nosso calormetro. Na segunda, me-
diremos o calor especco de um bloco de alumnio. Assim sendo, faremos, a
seguir, a descri cao te orica de cada parte.
Como vimos na Aula 9, a capacidade calorca nos da uma informa cao
global sobre as varia coes de temperatura de um corpo quando este troca calor
com sua vizinhanca.
E, portanto, uma caracterstica do corpo por inteiro. J a
o calor especco e uma caracterstica particular de uma substancia. Uma vez
que o calormetro e composto de diversas partes com subst ancias diferentes, e
mais conveniente lidar com sua capacidade calorca do que tentarmos obter
o calor especco de suas diferentes partes. Assim sendo, mediremos, na
primeira parte do experimento, a capacidade calorca do nosso calormetro,
para em seguida realizarmos uma medida do calor especco do alumnio.
CEDERJ
192
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 3
Capacidade calorca do calormetro
Para determinarmos a capacidade calorca do calormetro, iremos, inicial-
mente, introduzir neste uma massa m
a
de agua fria e, ap os algum tempo,
medir a temperatura inicial do calormetro com agua fria T
1
. Em seguida,
adicionaremos a mesma massa m
a
de agua morna ` a temperatura T
2
. Apos
algum tempo, o equilbrio termico e atingido ` a temperatura T
e
. Supondo
nao haver perdas de calor para o ambiente externo ao calormetro, a soma do
calor cedido pela agua morna com o calor recebido pelo calormetro contendo
agua fria deve ser nula:
m
a
c
a
(T
e
T
1
) + C
cal
(T
e
1) + m
a
c
a
(T
e
T
2
) = 0 , (3.1)
onde c
a
e o calor especco da agua e C
cal
e a capacidade calorca do ca-
lormetro, que queremos determinar.
Calor especco do alumnio
Nesta parte, determinaremos o calor especco do alumnio. Para tal, vamos,
inicialmente, preparar o calormetro contendo uma massa m
a
de agua ` a tem-
peratura ambiente T
amb
. Em seguida, vamos inserir no interior do calormetro
um bloco de alumnio de massa m
al
, preparado inicialmente `a temperatura
T
al
. Finalmente, mediremos a temperatura de equilbrio termico T
e
do sis-
tema e obteremos o calor especco do alumnio a partir do balan co das trocas
de calor no sistema:
m
a
c
a
(T
e
T
amb
) + C
cal
(T
e
T
amb
) + m
al
c
al
(T
e
T
al
) = 0 , (3.2)
onde c
al
e o calor especco do alumno.
193
CEDERJ
2
Experimentos
Procedimento experimental
Capacidade calorca do calormetro
Passo 1
Coloque 50ml de agua fria (cerca de 10
o
C abaixo da temperatura
ambiente) no interior do calormetro.
Passo 2
Prepare 50ml de agua morna (cerca de 10
o
C acima da temperatura
ambiente).
Passo 3
Meca e anote a temperatura T
1
do calormetro com agua fria.
Passo 4
Meca e anote a temperatura T
2
da agua morna.
Passo 5
Derrame a agua morna no interior do calormetro com agua fria.
Passo 6
Agite a mistura de maneira leve e constante, observando o aumento
da temperatura do sistema. Meca e anote a temperatura m axima al-
can cada, isto e, a temperatura T
e
de equilbrio termico entre o ca-
lormetro e a mistura.
Passo 7
De posse das medidas de temperatura que voce efetuou e sabendo que
1ml de agua possui 1g de massa, substitua os dados experimentais na
Equa cao (3.1) e calcule a capacidade calorca do calormetro.
Passo 8
Repita o experimento mais duas vezes e calcule a media dos valores
obtidos para a capacidade calorca do calormetro. Ao nal de cada
experimento, esvazie o calormetro e espere alguns minutos para que
ele retorne ` a temperatura ambiente.
CEDERJ
194
Experimentos
M
ODULO 1 - EXPERIMENTO 3
Calor especco do alumnio
Passo 1
Coloque 100ml de agua ` a temperatura ambiente no interior do ca-
lormetro. Tampe o conjunto e introduza o term ometro no interior
do calormetro.
Passo 2
Meca e anote a massa m
al
do bloco de alumnio que ser a utilizado.
Passo 3
Coloque o bloco de alumnio no interior do Becker com 100ml de agua ` a
temperatura ambiente, e aqueca o conjunto ate come car a ebuli cao da
agua. Em seguida, aguarde tres minutos, agitando levemente o bloco
de alumnio no interior da agua quente.
Passo 4
Meca e anote a temperatura inicial T
al
do bloco de alumnio e da agua
quente.
Passo 5
Meca e anote a temperatura ambiente T
amb
do calormetro com agua.
Passo 6
Transporte o bloco de alumnio, com o auxlio de um o, para o inte-
rior do calormetro. Deposite SUAVEMENTE o bloco de alumnio no
fundo do calormetro, tomando MUITO CUIDADO para n ao quebrar o
calormetro. Tampe o calormetro e introduza o term ometro no orifcio
da tampa.
Passo 7
Agite a mistura de maneira leve e constante, observando o aumento
da temperatura do sistema. Meca e anote a temperatura m axima al-
can cada, isto e, a temperatura T
e
de equilbrio termico do sistema.
Passo 8
De posse das medidas de temperatura que voce efetuou, substitua os
dados experimentais na equacao (3.2) e calcule o calor especco do
alumnio.
195
CEDERJ
Potrebbero piacerti anche
- Os CorposDocumento4 pagineOs CorposDanúbia LimaNessuna valutazione finora
- Bases Biológicas Do Comportamento - U1 PDFDocumento196 pagineBases Biológicas Do Comportamento - U1 PDFPrih Silva80% (5)
- Linguagem de Maquinas MIPSDocumento30 pagineLinguagem de Maquinas MIPSsebastiao007Nessuna valutazione finora
- Aberrações CromossômicasDocumento30 pagineAberrações CromossômicasMARCELO FERREIRA100% (2)
- Tudo Sobre Informática - Ed 53 - Redes SociaisDocumento50 pagineTudo Sobre Informática - Ed 53 - Redes Sociaissebastiao007Nessuna valutazione finora
- Cadeia AlimentarDocumento1 paginaCadeia AlimentarJUNIORNessuna valutazione finora
- Historia de Duque de Caxias RJ Ache Tudo e RegiaoDocumento3 pagineHistoria de Duque de Caxias RJ Ache Tudo e Regiaosebastiao007Nessuna valutazione finora
- FísicaDocumento11 pagineFísicasebastiao007Nessuna valutazione finora
- Física 08 Termologia (04 Calorimetria)Documento3 pagineFísica 08 Termologia (04 Calorimetria)sebastiao007Nessuna valutazione finora
- Município de Cantagalo: Professor de Ciências 30hDocumento12 pagineMunicípio de Cantagalo: Professor de Ciências 30hsebastiao007Nessuna valutazione finora
- Heranca Dos Grupos SanguineosDocumento3 pagineHeranca Dos Grupos SanguineosDouglas SalgadoNessuna valutazione finora
- Ciências CeperjDocumento7 pagineCiências Ceperjsebastiao007Nessuna valutazione finora
- Celula AnimalDocumento4 pagineCelula AnimalDiego PaesNessuna valutazione finora
- A PecuáriaDocumento4 pagineA Pecuáriasebastiao007Nessuna valutazione finora
- ETICADocumento1 paginaETICAsebastiao007Nessuna valutazione finora
- EnzimaDocumento2 pagineEnzimasebastiao007Nessuna valutazione finora
- Abastecimento de AguaDocumento3 pagineAbastecimento de AguaDiego PaesNessuna valutazione finora
- Orbitais AtomicosDocumento2 pagineOrbitais AtomicosDiego PaesNessuna valutazione finora
- AidsDocumento3 pagineAidssebastiao007Nessuna valutazione finora
- A PecuáriaDocumento4 pagineA Pecuáriasebastiao007Nessuna valutazione finora
- Acidos e BasesDocumento4 pagineAcidos e BasesamarildocecchinNessuna valutazione finora
- Aulas 1 A 2Documento22 pagineAulas 1 A 2Marcos RobertoNessuna valutazione finora
- AdverbsDocumento1 paginaAdverbsdjfox31Nessuna valutazione finora
- Química Inorgânica - SeminárioDocumento4 pagineQuímica Inorgânica - SeminárioDarlene AntunesNessuna valutazione finora
- A Populacao e o Espaco UrbanoDocumento3 pagineA Populacao e o Espaco UrbanoDiego PaesNessuna valutazione finora
- f1b Aula21Documento23 paginef1b Aula21sebastiao007Nessuna valutazione finora
- A PecuáriaDocumento4 pagineA Pecuáriasebastiao007Nessuna valutazione finora
- Técnicas de RedaçaoDocumento120 pagineTécnicas de Redaçaozeixas1234Nessuna valutazione finora
- Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao ContextoDocumento27 pagineLinguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contextosebastiao007Nessuna valutazione finora
- 02b - Relacoes e FuncoesDocumento22 pagine02b - Relacoes e Funcoessebastiao007Nessuna valutazione finora
- 03 - Linguagens e GramaticasDocumento63 pagine03 - Linguagens e Gramaticassebastiao007Nessuna valutazione finora
- Colégio UnigrauDocumento11 pagineColégio Unigraugilssito3835Nessuna valutazione finora
- Detergente glicerina fórmulaDocumento4 pagineDetergente glicerina fórmulaGilvan NóbregaNessuna valutazione finora
- Válvula RotativaDocumento2 pagineVálvula RotativaLucas Vinícius CostaNessuna valutazione finora
- Os Perigos do Efeito Diesel em Carabinas de Ar ComprimidoDocumento2 pagineOs Perigos do Efeito Diesel em Carabinas de Ar ComprimidoMozart Gustavo100% (1)
- Prev Acidentes Cargas Perigosas em AeronavesDocumento0 paginePrev Acidentes Cargas Perigosas em AeronavesSandro Alves PereiraNessuna valutazione finora
- 03 - Química - Pss2Documento20 pagine03 - Química - Pss2profciroteixeiraNessuna valutazione finora
- Variação temperatura trocadores calorDocumento1 paginaVariação temperatura trocadores calorhajisameNessuna valutazione finora
- Química - Teórico - VOLUME2Documento94 pagineQuímica - Teórico - VOLUME2Gerusa RodriguesNessuna valutazione finora
- Lista 11 - Nox - Química 2Documento2 pagineLista 11 - Nox - Química 2Arthur GarciaNessuna valutazione finora
- Tipos de Controle - FortecDocumento7 pagineTipos de Controle - FortecRenato De Azevedo FroesNessuna valutazione finora
- Estrutura e função da membrana celularDocumento9 pagineEstrutura e função da membrana celularjosiane_fasou825Nessuna valutazione finora
- Coordenação de Elos Fusíveis e Suas ConseqüênciasDocumento13 pagineCoordenação de Elos Fusíveis e Suas ConseqüênciasFelipe FrancoNessuna valutazione finora
- Hidrocarbonetos AromáticosDocumento5 pagineHidrocarbonetos AromáticosFernanda SalesNessuna valutazione finora
- Exercícios de Fixação QNDocumento6 pagineExercícios de Fixação QNNandaOdebrechtNessuna valutazione finora
- AASDocumento5 pagineAASAntonio Roque CardosoNessuna valutazione finora
- Janeiro PDFDocumento13 pagineJaneiro PDFJosNessuna valutazione finora
- Mapa in 20 1999 AnexoDocumento115 pagineMapa in 20 1999 AnexoLíviaMendonçaNessuna valutazione finora
- Sobre o Desenvolvimento Da Análise Volumétrica e Algumas Aplicações Atuais PDFDocumento6 pagineSobre o Desenvolvimento Da Análise Volumétrica e Algumas Aplicações Atuais PDFElieidy GomesNessuna valutazione finora
- Relatório 1 - CaioDocumento12 pagineRelatório 1 - CaioCaio SimõesNessuna valutazione finora
- Beatrizfracaro Turmaa Lista4 PDFDocumento4 pagineBeatrizfracaro Turmaa Lista4 PDFBeatriz FracaroNessuna valutazione finora
- Medição de pH de soluções químicasDocumento4 pagineMedição de pH de soluções químicasThaysa LimaNessuna valutazione finora
- Normas GNV veículosDocumento30 pagineNormas GNV veículosLuiz MagriNessuna valutazione finora
- INSTITUTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA Cad PDFDocumento45 pagineINSTITUTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA Cad PDFAbiude Felix Fundice SinamundaNessuna valutazione finora
- Processos redox químicosDocumento14 pagineProcessos redox químicosDaniel Bicicgo0% (1)
- Relatório de AnalíticaDocumento8 pagineRelatório de AnalíticaKaua AwNessuna valutazione finora
- Sedimentos e Rochas SedimentaresDocumento35 pagineSedimentos e Rochas SedimentaresFABIO JOSE DA SILVANessuna valutazione finora
- Tratamento Térmico em AlumínioDocumento5 pagineTratamento Térmico em AlumínioRafael BelinattiNessuna valutazione finora
- Estatística e ProbabilidadeDocumento27 pagineEstatística e ProbabilidadeAnnaHellenRibeiroNessuna valutazione finora