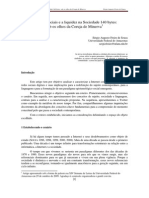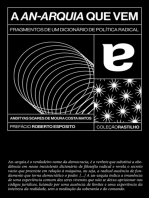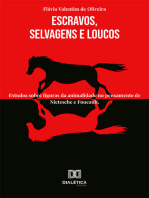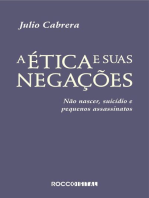Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
As Ambivalências Textuais de Roland BARTHES
Caricato da
Fabiano NǝuTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
As Ambivalências Textuais de Roland BARTHES
Caricato da
Fabiano NǝuCopyright:
Formati disponibili
As ambivalncias textuais de Roland Barthes
Marcio Renato Pinheiro da Silva
Instituto de Biocincias, Letras e Cincias Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rua Cristvo Colombo, 2265, 15054-000, So Jos do Rio Preto, So Paulo, Brasil. e-mail: marcellen@hexalink.com.br
RESUMO. Por meio da leitura crtica de A Morte do Autor e Da Obra ao Texto, ambos de Roland Barthes, pretende-se desenvolver um estudo da construo das noes de autor, leitor e texto. Tal construo, baseada em dicotomias, atribui importantes funes sociais e polticas ao leitor, ao texto e ao autor. A prpria noo de texto de Barthes coloca, contudo, em xeque essas dicotomias e suas implicaes, revelando as ambivalncias de sua argumentao.
Palavras-chave: autor, doxa, leitor, Roland Barthes, teoria literria, texto.
ABSTRACT. Roland Barthes textual ambivalences. Based on a critical reading of The Death of the Author (A Morte do Autor) and From Work to Text (Da Obra ao Texto), both by Roland Barthes, a study on the construction of the notions: author, reader and text is developed. Such construction, based on dichotomies, gives the text, the author and the reader important social and political functions. However, Barthes notion of the text itself checkmates these dichotomies and their implications, showing the ambivalence about his argument.
Key words: author, doxa, literary criticism, reader, Roland Barthes, text.
Introduo bastante comum considerar o francs Roland Barthes (1915-1980) como uma espcie de camaleo das cincias humanas da segunda metade do sculo XX. Isso compreensvel, pois ele costuma aderir, no sem que haja contradies algumas vezes, a vrios posicionamentos crtico-tericos, como o marxismo, o estruturalismo e a psicanlise, e ater-se a inmeros assuntos - literatura, lingstica, semiologia, cinema, msica, pedagogia, publicidade, automveis, alimentos, imprensa marrom (fait divers), moda, fotografia etc. Mas isso tudo tem uma nica fora motriz, a oposio doxa: A grande inimiga de Barthes sempre a Doxa ou a opinio pblica, o Esprito majoritrio, o Consenso pequeno-burgus, a Voz do Natural, a Violncia do Preconceito (PerroneMoiss, s/d: 58). Barthes, sempre, persegue a doxa, desmembra consensos de toda ordem, revelando seu carter coercitivo, centralizador, arbitrrio e excludente - leva a doxa paradoxa. Por isso, Barthes adere, temporariamente ou no, a vrios posicionamentos terico-analticos: a despeito de sua pertinncia, todos esses posicionamentos tm implicaes scio-polticas, inerentes e/ou advindas de seu uso; da que esses posicionamentos podem ser identificados doxa,
Acta Scientiarum: human and social sciences
fazendo com que Barthes os abandone. , tambm, por isso que se atm ao estudo rigoroso dos mais variados fenmenos semiticos e culturais: em vez de natural, qualquer um desses fenmenos uma construo histrica que, normalmente, tenta dissimular sua ideologia. Esse posicionamento diferencial ocorre j em seu primeiro livro, O Grau Zero da Escritura, de 1953. Em princpio, trata-se de um estudo de teoria da literatura de cunho marxista. Mas, em vez de conceber a literatura como superestrutura, como reflexo das tenses e ambivalncias dos modos de produo, Barthes aponta necessidade de se desenvolver uma histria da escritura, da prtica que, independentemente da lngua e do estilo, impe, ao escritor, uma escolha consciente no que se refere problemtica da linguagem: (...) a Literatura no mais sentida como um modo de circulao socialmente privilegiado, mas como uma linguagem consciente, profunda, cheia de segredos, dada ao mesmo tempo como sonho e como ameaa (Barthes, 1971: 13, grifo do autor). A escritura, esta terceira dimenso da Forma tambm liga, no sem um trgico suplementar, o escritor sociedade, pois, para o Barthes de ento, no existe Literatura sem uma Moral da linguagem (Barthes, 1971: 15, grifo do autor).
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
18
Silva
Da em diante, seja qual for o vis tericoanaltico que adote, Barthes investe, sempre, contra a doxa. Mesmo seus trabalhos vinculados ao estruturalismo tm uma importante funo nesse conflito. Em princpio, pode-se dizer que o estudo a-histrico das estruturas oblitera sua luta contra a doxa, ao mesmo tempo em que sofistica sua percepo dos fenmenos semiticos (cf. p. ex., Barthes, 1973: 19-60.). Mas, a partir do final dos anos sessenta do sculo XX, Barthes transpe a retrica anti-historicista (e, por vezes, pseudocientfica) dos estruturalistas, como bem demonstra S/Z, de 1970, e retoma a luta contra a doxa de forma, certamente, mais vigorosa que antes. Os dois trabalhos de Barthes sobre os quais este artigo pretende refletir datam, justamente, da virada da dcada de sessenta para a de setenta do sculo XX: tratam-se de A Morte do Autor, de 1968, e Da Obra ao Texto, de 19711. A, motivado pela necessidade de relativizao das relaes entre escritor, leitor e observador (crtico) (Barthes, 1977: 156), Barthes enfrenta as noes consensuais de texto, autoria e leitura, retomando suas reflexes anteriores, pautadas pela conjugao entre marxismo, estruturalismo e psicanlise no estudo das significaes, e sintetizando seus trabalhos posteriores. De fato, a teoria da literatura, no sculo XX, redimensionou o papel das instncias autor, leitor e texto. Por exemplo, no momento em que o texto literrio concebido como um objeto possibilitado por procedimentos especficos que, em geral, promovem a desautomatizao da percepo esttica (Formalismo Russo); quando se sistematiza os conjuntos estruturados e intercambiveis de diferenas a partir dos quais as formas e as significaes se articulam (Estruturalismo); quando se considera o leitor parte integrante do texto (Esttica da Recepo, Semitica de Umberto Eco) enfim, essas perspectivas rompem com a antiga concepo de texto literrio como sendo o veculo da intencionalidade do autor, relativizam a funo das instncias autor, leitor e texto. E mesmo, especificamente, sobre a problemtica do autor, h outros trabalhos interessantes (cf. p. ex., Blanchot, 1987: 81-159; Foucault, 1992: 29-87). Mas o que torna esses dois trabalhos de Barthes particularmente pertinentes a radicalidade de suas propostas. Sua concepo de texto difere das do Formalismo Russo (o texto um objeto imanente),
1
do New Criticism anglo-americano (por ser um objeto, tambm, imanente, o texto possui elementos que lhe so intrnsecos e extrnsecos), do Estruturalismo (o texto o resultado da combinao de estruturas organizadas por um centro que, apesar de empreender tal organizao, est fora da articulao, no afetado por elas, sendo, portanto, transcendente)2, da Esttica da Recepo e das demais teorias semiticas que pleiteiam a participao do leitor (o texto um objeto semitico que, apesar de necessitar do leitor como instncia constitutiva, prev e limita seu trabalho). Em vez disso, Barthes aborda o texto em sua produtividade, a qual no possui limites/limitaes nem fronteiras, abrindo caminho para uma complexa configurao da significao, bem como a uma posio radical e iconoclasta do leitor. Somando isso tpica luta contra a doxa, Barthes abre uma reflexo que, at ento, excetuando os trabalhos de Jacques Derrida e de Julia Kristeva, no tinha precedentes; reflexo que, tambm, possui suas ambivalncias. Obra e autor sob o signo da doxa Ars longa, vita brevis: desde os latinos, costuma-se exaltar a obra de arte por ser considerada uma arma contra o tempo, que transcende as contingncias e a morte, que promove a longevidade do esprito humano. Mas, para que isso ocorra, necessria uma materialidade que permanea, que contenha e desencadeie os caracteres atemporais da obra. Ou seja, a obra deve ter um corpo que veicule sua alma, uma aparncia que comporte sua essncia. Esta materialidade subalterna, este suplemento necessrio manuteno da obra de arte, que a presentifica - isso, tradicionalmente, o texto. A partir da Renascena, diversos fatores histricos, sociais e polticos contriburam, dentre outras coisas, para a inveno e a exaltao do indivduo (cf. Foucault, 1995: 319-404), o qual, na arte, corresponde figura do autor. A conjuno entre as noes de autor e de obra perfeita, reforando-se mutuamente:
O Autor, se se cr nele, tido, sempre, como o passado de seu prprio livro: livro e autor fixam-se, automaticamente, em uma linha dividida em um antes e um depois. O Autor concebido para criar o livro, o que equivale a dizer que o Autor existe antes do livro, pensa, sofre, vive por ele, est na mesma relao de antecedncia em relao ao livro que o pai em relao a seu filho (Barthes, 1977: 145, grifo do autor).
O texto uma cela que aprisiona o rebento do autor, que mantm a obra de arte sob os desgnios
2
Em um outro trabalho, Teoria do Texto (Barthes, 1981: 31-47), Barthes empreende esta mesma reflexo, s que de maneira menos vigorosa que em A Morte do Autor e Da Obra ao Texto. Por isso, este artigo se concentrar nos dois ltimos.
Sobre a funo do centro no Estruturalismo, cf. Derrida, 1971: 229-249.
Acta Scientiarum: human and social sciences
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
As ambivalncias textuais de Roland Barthes
19
do Pai, garantindo sua pureza, no permitindo que seja corrompida, abalada, duplicada ou desviada. Da que a funo do texto mimetizar, representar, de maneira plena e precisa, a intencionalidade do autor em sua ausncia. Por isso, em relao obra, no h autoridade maior que o autor: A explicao de uma obra , sempre, exigida do homem ou da mulher que a produziu, como se se tratasse, no final das contas, por meio da relativa transparncia alegrica da fico, da voz de uma nica pessoa, do autor nos contando um segredo (Barthes, 1977: 143, grifo do autor). Segredo, alis, passvel de venda e de consumo - no por acaso, a inveno do autor coincide com a emergncia do Capitalismo, o resumo e a culminncia da ideologia capitalista (Barthes, 1977: 143). Barthes, em uma de suas tpicas investidas nietzscheanas, identifica autor e obra a doxa: o segredo que o autor nos conta forjado pela obliterao do processo de significao textual, pela atribuio dogmtica e coerciva de um significado nico, fixo e unvoco ao texto:
, precisamente, desta maneira que a literatura (seria melhor, a partir de agora, dizer escritura), ao recusar-se a conceber o texto (e o mundo como um texto) como a determinao de um segredo, de um significado final, libera o que se pode chamar de atividade antiteolgica, uma atividade que , verdadeiramente, revolucionria, pois recusar sentidos fixos , em suma, recusar Deus e suas hipstases - razo, cincia, lei (Barthes, 1977: 147, grifo do autor)3.
, portanto, contra doxa que Barthes investe ao depor o autor e ao redimensionar as noes de texto e de obra, como se ver adiante. O texto como atividade produtiva Em princpio, Barthes opera uma inverso simples das noes tradicionais de obra e de texto: a obra torna-se suporte material; texto, um campo metodolgico que s existe no movimento do discurso (...); o Texto percebido, somente, em uma atividade de produo (Barthes, 1977: 157, grifo do autor). Mas, a despeito dessa inverso em relao materialidade (o que era obra torna-se, para Barthes, texto, e vice-versa), h, aqui, uma alterao importante: se, tradicionalmente, a obra contm um sentido nico, unvoco e estvel, o qual havia sido, previamente, arquitetado pelo autor, aquilo que
3
O fato de o sentido nico ser relacionado a instncias como Deus, razo, lei e cincia remete concepo de significado transcendental (Derrida, 1982: 15-36), em que uma instncia no-lingstica (p. ex., Deus, ordem, lei etc.) regula a linguagem, reprimindo a instabilidade do sentido que lhe inerente e, da, instaurando um controle arbitrrio de dimenses no s lingsticas, bem como polticas, sociais, filosficas etc.
Barthes concebe como texto uma atividade produtiva, dinmica. As propriedades dessa atividade podem ser compreendidas se se pensar que o texto pratica o infinito adiamento do significado, negligente; seu campo o do significante, e o significante no deve ser concebido como o primeiro estgio do sentido, seu vestbulo material, mas, em total oposio a isso, como sua ao adiada (Barthes, 1977: 158, grifo do autor), ao cuja infinidade de significantes refere-se no inefabilidade (o significado inominvel), mas ao jogo (Barthes, 1977: 158, grifo do autor). Esse adiamento do significado contraria a noo tradicional que se tem de signo lingstico, em voga na maioria das cincias da linguagem ainda hoje. Em geral, as noes de signo encontram suporte nas concepes de Plato, expostas em A Repblica (no terceiro livro principalmente), de lexis (a representao verbal/material, aparncia) e de lgos (aquilo que dito, a representao mental, essncia). Esses princpios platnicos disseminaram-se durante a Idade Mdia, podendo ser encontrados, a partir da, nas mais diversas concepes de signo. E mesmo uma das mais prestigiadas pela lingstica moderna e contempornea, a de Ferdinand de Saussure, guarda bastante relao com as concepes de Plato: Saussure concebe o signo lingstico como composto por uma parte material, o significante (letras escritas ou sons articulados), e a imagem mental que este significante suscita, o significado (Saussure, 1983: 79-84). Retornando a Barthes, a articulao do adiamento do sentido desfaz a diferenciao platnica entre lgos e lexis, questiona em que medida o significado/lgos no , simplesmente, um significante/lexis4. Pois, ao invs de a um significado, um determinado significante remete a outro significante, que, por sua vez, remete a outro, e assim sucessivamente. Por isso, o sentido , constantemente, adiado: no h significado fixo, estvel e unvoco se ele, sempre, d vazo a uma cadeia de significantes cujo sentido reside em outros significantes, que, por sua vez... Se o sentido acontece, se no adiado, no porque, finalmente, encontrou-se aquilo a que o significante remete, mas, sim, porque o processo textual foi finalizado arbitrariamente, sem que chegasse exausto - se que, nesse processo, pode haver exausto. Da que, caso se elegesse um determinado sentido como sendo o do texto, ele, de fato, no o poderia ser: isso se daria, justamente, ao custo do aborto do processo que engendra o texto. Se no h
4
Este mesmo questionamento, s que em termos de narrao e representao literrias (diegsis e mmesis), feito em Gennete, 1973: 255-262.
Acta Scientiarum: human and social sciences
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
20
Silva
texto, no pode haver, portanto, sentido do texto5 - o jogo s existe enquanto jogado. Outro fator que corrobora o apagamento da distino entre lexis e lgos a lgica metonmica do texto, na qual no cabem questes como origem (arkh) ou finalidade (tlos) das significaes: a atividade de associaes, contigidades e sobreposies coincide com a liberao da energia simblica (em sua ausncia, o homem morreria); (...) o Texto , radicalmente, simblico: uma obra concebida, percebida e recebida em sua natureza simblica integral um texto (Barthes, 1977: 158-159, grifo do autor). Em virtude dessa radicalidade simblica, o texto engendra uma pluralidade de significaes. Mas isso no implica ter, simplesmente, vrias significaes, mas executar uma pluralidade de significaes: uma irredutvel (e no aceitvel simplesmente) pluralidade. O texto no a coexistncia de significaes, mas uma passagem, um cruzamento; assim, no corresponde a uma interpretao, mesmo a uma liberal, mas a uma exploso, a uma disseminao (Barthes, 1977: 159, grifo do autor). A disseminao gerada pelo texto no uma polissemia, noo recorrente, mesmo que implicitamente, a perspectivas tericas como o Formalismo Russo, o New Criticism anglo-saxo e a Lingstica (p. ex., a bastante difundida funo potica de Roman Jakobson). A polissemia seria, em ltima instncia, uma ambigidade, cuja resoluo, cuja reduo a um significado/sentido unvoco, poderiam ser empreendidas - empreendimento, alis, projetado como ideal -, implicando a crena na totalidade, na clausura do texto, a partir da qual seria gerada. Tratar-se-ia no de um processo, mas do efeito devido s diferentes perspectivas a partir das quais se observaria um objeto uno, fechado e definido. J a disseminao a atividade em que um dado significante engendra outro, o qual engendra outro...: uma ao adiada, um jogo ininterrupto e imensurvel. Se o texto uma passagem, um cruzamento, ele vai de encontro completude, clausura. por isso que o texto s o pode ser em sua diferena (o que no significa sua individualidade) (Barthes, 1977: 159): como que se poderia atribuir uma individualidade ou uma identidade a um processo que, sempre, adia as condies necessrias a tais atribuies?
5
Sem identidade, individualidade ou singularidade, a atividade textual revela-se como, fundamentalmente, intertextual:
[O Texto ] tecido, inteiramente, com citaes, referncias, ecos, linguagens culturais (qual linguagem no o ?), anteriores ou contemporneas, que o atravessam em uma vasta estereofonia. A intertextualidade em que cada texto organizado, sendo, ele mesmo, o entre-texto de outro texto, no deve ser confundida com alguma origem do texto: tentar encontrar as fontes, as influncias de uma obra, cair no mito da filiao; as citaes que organizam o texto so annimas, no podem ser seguidas, e, ainda assim, so j lidas: so citaes sem aspas (Barthes, 1977: 160, grifo do autor, colchetes nossos).
A recusa de Barthes designao da fonte ou da origem intertextual, da qual o texto seria derivado, explica-se se se tiver em mente que, se a intertextualidade afim ao texto como processo, no cabem especulaes teleolgicas ou arqueolgicas6. Para Barthes, conforme O Prazer do Texto, o processo intertextual , justamente, a inverso das origens, a desenvoltura que faz com que o texto anterior provenha do texto ulterior, dando vazo a uma memria circular: E bem isto o intertexto: a impossibilidade de viver fora do texto infinito - quer esse texto seja Proust, ou o jornal dirio, ou a tela de televiso: o livro faz o sentido, o sentido faz a vida (Barthes, 2002: 45). Texto infinito: uma espcie de depsito textual que no corresponde a uma origem, visto surgir com a produtividade textual. Da que o texto se revela como um cruzamento de diversos outros textos, disseminando significaes e relaes, adiando estabilidades. por isto que o texto no cabe na categoria de representao/imitao, no se reduz mmesis, pois isso implicaria a obliterao de todo esse processo. Tendo, agora, uma noo da atividade produtiva que engendra o texto, relevante refletir sobre o papel do autor nessa atividade, bem como o do leitor. Em nome do pai, do filho...: autoria e leitura Viu-se, anteriormente, que, para Barthes, a deposio do autor uma atividade revolucionria e
6
Novamente, h certa semelhana entre os trabalhos de Barthes e de Derrida: o adiamento do sentido remete noo de diffrance (Derrida, 1991: 33-63). Alm disso, a crtica de Barthes noo tradicional de signo traz mente a crtica de Derrida ao logocentrismo, ao sistema de coero metafsicotranscendental do qual toda lingstica moderna e contempornea derivada (Cf. Derrida, 1999: 01-118).
No final dos anos sessenta do sculo XX, com base nos estudos sobre a obra do russo Mikhail Bakhtin, Julia Kristeva foi a primeira cunhar termo intertextualidade (cf., p. ex., Kristeva, 1974a: 64). Mas, em 1974, a autora cogitava substituir intertextualidade por transposio, visto que o primeiro termo estava sendo, em demasia, vinculado crtica das fontes, afim s influncias e s origens do texto. Para Kristeva, esse vnculo impertinente, pois seu campo de enunciao [da intertextualidade] e seu objeto denotado no so, jamais, nicos, plenos e idnticos a eles mesmos, mas, sempre, plurais, explosivos, suscetveis a modelos classificatrios/tabulares (Kristeva, 1974b: 60, colchetes meus). Trata-se de uma posio semelhante de Barthes.
Acta Scientiarum: human and social sciences
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
As ambivalncias textuais de Roland Barthes
21 livro, e o prprio livro , apenas, um tecido de signos, uma imitao perdida, adiada infinitamente (Barthes, 1977: 146-147, grifo do autor).
antiteolgica. Em conjuno com essas motivaes polticas, Barthes justifica a deposio do autor, tambm, por meio de argumentos de cunho lingstico. Nesse sentido, tal deposio favorecida pela despersonalizao inerente ao processo da escritura:
(...) a escritura a destruio de cada voz, de cada ponto de origem. A escritura o espao neutro, composto e oblquo onde nosso eu adormece, a negatividade em que toda identidade se perde, o que se inicia a partir da identidade precisa da forma escrita. No h dvida de que tenha sido assim sempre. To logo um fato narrado, visando, de antemo, agir sobre a realidade de maneira intransitiva, isto , fora, finalmente, de qualquer prtica que no seja a do smbolo, a desconexo acontece, a voz perde sua origem, o autor adentra sua prpria morte, a escritura comea (Barthes, 1977: 142, grifo do autor).
No h intencionalidade a ser transmitida, veiculada pelo texto: ainda que isso seja pretendido, esta empreitada est, de antemo, fadada ao fracasso, j que a escritura s se inicia a partir do instante em que a origem perdida, em que se entra, sem volta, na rede de relaes (inter) textuais. Por isso, o texto lido sem a inscrio do Pai: Da que no se deve respeito vital algum ao Texto: ele pode ser violado (...); ele pode ser lido sem a garantia de seu pai, a restituio do intertexto, paradoxalmente, abolindo qualquer legado (Barthes, 1977: 161, grifo do autor). Isso no significa que no h uma instncia que, de algum modo, regule a enunciao, que no interaja com as propriedades da escritura. H: tratase do escritor, cujos poderes sobre a escritura e sobre o texto so, estratgica e consideravelmente, menores que os do autor. O escritor um sujeito, no uma pessoa; o eu (de papel) que assim se manifesta nada mais que a instncia que diz eu: no tem histria que no seja lingstica, textual; no tem existncia fora da linguagem. Esse sujeito pode ter aquilo que se costuma chamar de subjetividade, embora esta precise ser revista:
(...) o escritor pode, apenas, imitar um gesto sempre anterior, nunca original. Seu nico poder o de misturar escrituras, colocar umas contra as outras, de modo que nenhuma prepondere sobre a outra. Caso ele quiser se expressar, ele dever saber, ao menos, que o sentimento interior que ele quer traduzir , somente, um dicionrio j fabricado, cujas palavras s podem ser explanadas por meio de outras palavras, e assim sucessivamente (...). Sucessor do Autor, o escritor lana mo de suas paixes, humores, sentimentos, impresses, mas, preferencialmente, de seu imenso dicionrio, do qual ele traa uma escritura que no pode conhecer hesitao: a vida nunca faz mais do que imitar o Acta Scientiarum: human and social sciences
Trata-se de uma subjetividade instvel: tudo aquilo que, em conjunto, poderia estabilizar-se e formar algo passvel de nomeao dissemina-se, entra em contato com outros textos -no h ningum a quem se possa atribuir uma identidade. No h, tambm, origem do texto, no h, entre escritor e texto, a mesma relao de antecedncia existente entre autor e obra, entre pai e filho: o escritor moderno nasce, simultaneamente, com o texto, no , de maneira alguma, provido de uma existncia anterior da escritura ou alm dela, no o sujeito com o livro como predicado; no h outro tempo que no o da enunciao, e todo texto , eternamente, escrito aqui e agora (Barthes, 1977: 145, grifo do autor). Essa diminuio de poder sobre a instncia de autoria tem, como correlato, o aumento do poder do leitor. O leitor o espao em que todas as citaes que constituem a escrita so inscritas sem que nenhuma delas se perca, mas, do mesmo modo que o escritor, o leitor no tem histria, biografia, psicologia (Barthes, 1977: 148): uma instncia articulada em funo do texto, cuja existncia restringe-se ao ato de leitura, que , tambm, ato de produo textual. Tanto que o texto requer a abolio (ou, ao menos, a diminuio) da distncia entre escritura e leitura, no para intensificar a projeo do leitor na obra, mas para uni-los em uma mesma prtica de significao. A distncia que separa leitura de escritura histrica (Barthes, 1977: 162). Transpondo a distncia que separa leitura de escritura, no h, de um lado, autor e, do outro, leitor: ambos so produtores do texto, ambos so escritores. Barthes reconhece que esse processo de equiparao entre escritor (ou autor) e leitor uma utopia social (Barthes, 1977: 164), utopia cujas motivaes advm no s das propriedades do texto e da escritura, pois h radicais implicaes polticas: (...) sabemos que, para dar escritura seu futuro, necessrio destruir o mito: o nascimento do leitor deve dar-se ao custo da morte do Autor (Barthes, 1977: 148). Se, tradicionalmente, o autor anterior obra e a obra que engendra leitores, o nascimento do leitor ao custo da morte do autor equivale a um parricdio simblico7 - parricdio este declarado pelo crtico, o
7
Em que pese ao fato de tanto Roland Barthes quanto a chamada Esttica da Recepo e a Semitica de cunho fenomenolgico de Umberto Eco descortinarem o leitor, a proposta de Barthes a mais radical de todas. Wolfgang Iser, um dos maiores tericos da Esttica da Recepo, diz que o leitor deve preencher os brancos do texto, os hiatos cuja significao deve ser inferida
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
22
Silva
qual, estrategicamente, coloca-se fora da cena do crime. Dicotomia histrica e jogo textual Em um dado momento de Da Obra ao Texto, ao escrever sobre o carter subversivo e resistente s hierarquizaes do texto, Barthes diz que a classificao do texto uma de suas funes sociais (Barthes, 1977: 157). Subentende-se que classificar textos e/ou hierarquiz-los dar aval sociedade para que lhes d uma funo, julgue-os como sendo afins ao bem ou ao mal, teis ou inteis, agradveis ou nocivos etc. Barthes tem razo. Afinal, as classificaes prescrevem a cultura e a sociedade e indicam as maneiras de se lidar com as contingncias, com a existncia histrica e material. Mas, mesmo por um vis cientfico-filosfico, a nsia pelo saber, que estabelece ordens e leis para os mais diversos fenmenos nas mais diversas reas, prescreve, tambm, uma determinada maneira de se lidar com esses fenmenos, tendo, igualmente, uma funo social e poltica. De modo que diferenciar obra de texto, autor de escritor e leitor de crtico diz respeito, tambm, atribuio de uma funo social, a uma atitude poltica. A diferenciao entre autor e escritor e suas implicaes lingsticas, literrias, sociais e polticas j foram dadas pelo prprio Barthes. Mas restam as demais dicotomias (obra e texto, crtico e leitor8), cuja sondagem pode fornecer uma nova dimenso do pensamento de Barthes. Quanto diferenciao entre obra e texto, Barthes, em princpio, concebe a primeira como materialidade; e o segundo, como produtividade. Contudo, conforme avana em sua argumentao, escreve que a obra - no melhor dos casos - , moderadamente, simblica (seu simblico se esvai, estabiliza-se); o Texto , radicalmente, simblico: uma obra concebida, percebida e recebida em sua natureza simblica integral um texto (Barthes, 1977: 158, grifo do autor). Isso significa que a obra , tambm, uma
(Iser, 1979: 83-132). J Umberto Eco prope que o texto projeta um leitor modelo/ideal, o qual atualizar as potncias do texto (cf. Eco, 1993a, passim; Eco, 1993b: 53-77). Nos dois casos, a atuao do leitor determinada pelo texto, e no recomendvel que esta determinao seja transposta. Para Barthes, no se deve respeito vital algum ao Texto: ele pode ser violado (Barthes, 1977: 161, grifo do autor), o que abre caminho posio transgressora, anrquica e (simbolicamente) parricida do leitor. Barthes diferencia, sub-repticiamente, leitor de crtico em uma pequena passagem de Da Obra ao Texto. A, justificando sua motivao para refletir sobre o texto, ele diz haver a necessidade de relativizao das relaes entre escritor, leitor e observador (crtico) (Barthes, 1977: 156). Essa diferenciao no retomada posteriormente, o que bastante representativo no que se refere funo do observador (crtico), como se ver adiante.
atividade produtiva, ainda que moderada se comparada ao texto. O prprio Barthes admite isso implicitamente: O Texto (em decorrncia de sua freqente ilegibilidade) libera/decanta a obra (a concesso da obra) do consumo e a reorganiza como jogo, atividade, produo, prtica (Barthes, 1977: 162). As fronteiras entre obra e texto tornam-se difusas. Barthes diferencia esses termos com base no carter simblico: o texto radicalmente simblico; a obra, moderadamente. Entretanto, como se pode medir um simbolismo moderado (obra) e um radical (texto) e, da, diferenci-los - qual a escala a ser usada? Tarefa penosa e impraticvel em se tratando de algo como o simblico, rarefeito e rebelde a classificaes e a mensuraes. As funes sociais e polticas da distino entre obra e texto remetem a uma querela bastante em voga durante a primeira metade do sculo XX, a qual, a partir de prticas culturais como a pop art dos anos cinqenta e sessenta, foi problematizada: tratase da oposio entre kitsch e vanguarda9. O kitsch um fenmeno cultural vinculado, diretamente, ao surgimento da Indstria Cultural: so artefatos culturais fabricados em escala industrial, ligados, por isso, sociedade de consumo. Costuma-se caracteriz-lo pela redundncia composicional, pois visa efeitos e significaes precisos e previsveis; redundncia esta vinculada diluio de procedimentos da arte sria ou culta/erudita. Surgido na virada do sculo XIX para o XX nos Estados Unidos10, o kitsch um fenmeno caracterstico do Capitalismo e identificado classe mdia recm-emergente. Essa classe-mdia no tem acesso a uma educao formal de padres aristocrticos/europeus que lhe garanta o gosto pela arte culta/erudita. Mas, ainda assim, tem grande poder aquisitivo. O kitsch feito para suprir as necessidades estticas e ldicas dessa classe e, paralelamente, para movimentar a indstria e o mercado culturais. Pela breve descrio fornecida acima, nota-se que no difcil identificar o kitsch ao consumo, alienao e ao esteticamente retrgrado e prfabricado. E se valendo desta predicao que as vanguardas se lhe opem.
9
10
Cf. Adorno e Horkheimer, 1985: 113-156; Broch, 1973a: 49-67; Broch, 1973b: 68-76; Eco, 1970: 33-128; Greenberg, s/d: 121134. o que testemunham Tocqueville, 1977: 350-359 e Poe, 1956: 214-221. J Moles (1975), por um vis bastante estruturalista, concebe o kitsch como categoria meta-histrica, isto , recorrente a vrias pocas e culturas, independentemente das condies scio-histricas. Aqui, concebe-se o kitsch como fenmeno identificado ao Capitalismo e Indstria Cultural, o que se d, apenas, a partir do final do sculo XIX.
Acta Scientiarum: human and social sciences
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
As ambivalncias textuais de Roland Barthes
23
As vanguardas ocorrem em um dos momentos culminantes do moderno. Este termo, em suas mais variadas utilizaes, vincula-se mudana, transio do velho ao novo. Nos ltimos sculos, a partir do Iluminismo francs especialmente, a noo de moderno tem sido ndice de negao de todo e qualquer vnculo com o passado em prol de um futuro livre de laos histricos particulares, isto , um futuro universal (Habermas, 1983: 86). No sculo XIX, essa ltima noo de moderno fortaleceu-se devido crena - inspirada na cincia moderna - no progresso infinito do conhecimento e no avano infinito em direo ao aperfeioamento social e moral (Habermas, 1983: 86). Passou-se, ento, a uma valorizao da mudana, da ruptura, a qual poderia levar a humanidade a um avano infinito e universal, sem precedentes. Algo bastante caracterstico dessa configurao do moderno a racionalizao: no se trata de uma ruptura inconseqente, mas de refutar predestinaes teolgicas para incluir o ser humano na histria, torn-lo agente de seu prprio presente para que lide com as contingncias visando um futuro emancipador, um agir racional-com-respeito-afins. (Habermas, 1980: 320). nesse contexto que surgem as vanguardas artsticas. Embora, a partir do princpio do sculo XX, em paralelo ao Modernismo, tenham surgido inmeras vanguardas, muitas proferindo crticas entre si, pode-se caracteriz-las, de maneira geral, pela atitude iconoclasta, utpica, crtica e combativa em relao aos cnones, ao consumo, alienao e ao esteticamente retrgrado e pr-fabricado (Menezes, 1994: 79-144). Conglomerados de artistas lutando por uma causa comum, as vanguardas so revolucionrias e racionalistas, esttica e politicamente, quebrando os paradigmas da a arte do passado em prol do novo, do indito, daquilo que, projetado no futuro, propicie a emancipao da arte e da humanidade, daquilo que, tambm, tem suas ambivalncias: Semelhante ao presente fixo do cristianismo, nosso futuro [o caracterstico da vanguarda] eterno. (...) A supervalorizao da mudana implica a supervalorizao do futuro: um tempo que no (Paz, 1998: 54-55, colchetes nossos). As razes para a superao dessa querela so complexas e de difcil sistematizao. De qualquer modo, no se pode deixar de mencionar o fato de o kitsch assimilar, constantemente, os procedimentos vanguardistas e transp-los para um nvel de produo e de consumo que descaracterizam tais procedimentos como revolucionrios. Em razo disso, as vanguardas aceleram seu movimento de
Acta Scientiarum: human and social sciences
ruptura a ponto de tais rompimentos darem-se, sobremaneira, entre as prprias vanguardas. Isso d vazo a um movimento auto-referencial, que perde as dimenses revolucionrias em termos polticos e sociais. Ou seja, o rompimento das vanguardas torna-se autofgico, instaurando uma tradio da ruptura: A tradio da ruptura implica no s a negao da tradio, bem como a da ruptura (Paz, 1998: 17). Alm disso, a perspectiva utpica e programtica foi identificada a regimes polticos autoritrios, cujo descrdito devido, principalmente, Segunda Guerra Mundial provocou a reviso desses parmetros. E, por fim, a partir da segunda metade do sculo XX, as poticas ps-modernas desfazem a oposio entre kitsch e vanguarda por meio da instaurao do paradoxo nessas noes, desarticulando os pilares estticos e ideolgicos dessa oposio: j no mais possvel (nem pertinente) diferenciar o que kitsch e o que vanguarda (Cf. Hutcheon, 1978: 467-477; Hutcheon, 1981: 140155; Hutcheon, 1989; Hutcheon, 1991). Retornando, finalmente, a Barthes, parece claro que obra relativa ao kitsch; enquanto texto, vanguarda. H um trecho bastante esclarecedor quanto a isso:
A obra , normalmente, objeto de consumo; no se trata, aqui, de demagogia em relao chamada cultura de consumo, mas se deve reconhecer que, hoje, a qualidade da obra (o que supe, ao cabo, uma apreciao de gosto), e no a operao de leitura, que pode diferenciar as obras: estruturalmente, no h, na prtica, diferena entre leitura culta e leitura casual. O Texto (em decorrncia de sua freqente ilegibilidade) libera/decanta a obra (a concesso da obra) do consumo e a reorganiza como jogo, atividade, produo, prtica. (Barthes, 1977, p. 161-162).
Essa citao possui trs aspectos relevantes: a) sugere que os limites entre obra e texto so tnues (O texto libera/decanta a obra do consumo...); b) ao vincular obra a consumo, reafirma a analogia entre obra e kitsch; c) ao afirmar que o texto promove a liberao/decantao do consumo, relaciona-se texto vanguarda. Outro fator interessante so as propriedades da atividade de leitura na sociedade de consumo. Barthes escreve, na citao transposta acima, que o diferencia obra de texto a qualidade e o gosto, critrios esses que do vazo a juzos arbitrrios como Eu gosto desta obra porque (ou por isso) boa ou No gosto porque (ou por isso) ruim. Para Barthes, essa diferenciao deveria ocorrer com base em uma leitura produtiva que engendrasse o texto, como aquela que, no decorrer de todo O Prazer do Texto, vinculada ao novo, quilo que no
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
24
Silva
pr-fabricado, destruio do clich (Barthes, 2002) - outro fator de analogia com a vanguarda. H, ainda, outro aspecto relevante na leitura tpica do consumo. Barthes escreve que, com base nos juzos arbitrrios de gosto e de qualidade estruturalmente, no h, na prtica, diferena entre leitura culta e leitura casual (Barthes, 1977: 162). Por leitura casual, entende-se uma leitura sem compromissos, distrada, sem maiores pretenses seno o entretenimento inconseqente. Mas, o que significa essa leitura culta, grafada entre aspas? Ao que parece, trata-se de uma leitura, supostamente, culta, vinculada ao consumo. Isso remete aos bastante difundidos nveis ou estratos culturais, base da reflexo sobre o kitsch: nvel alto (high brown), mdio (middle brown) e baixo (low brown) (cf., p. ex., Eco, 1970: 33-128). O nvel baixo seria relativo leitura casual, sem maiores compromissos ou conseqncias; o mdio, quilo que Barthes chama de culta; o alto, leitura produtiva que engendra o texto. O kitsch seria relativo, principalmente, ao nvel mdio, ao que se pretende culto, mas que, de fato, guiado por critrios relativos ao consumo. Entretanto, Barthes equipara o nvel baixo ao kitsch/leitura culta medida que, tambm, no capaz de empreender uma atividade produtiva textual. Ao que parece, para Barthes, a nica capaz disso a leitura relativa ao nvel alto. Crticas a esse modelo de anlise da cultura em trs nveis so inmeras, algumas bastante pertinentes (Eco, 1970: 54-57; Moriconi, 1994: 58). Mas, direcionando a reflexo ao caso especfico de Barthes, o fato de a leitura de nvel alto ser relativa ao texto como atividade produtiva remete segunda e ltima dicotomia que, aqui, proponho discutir: a que se estabelece entre crtico e leitor. A morte do autor dando-se ao custo do nascimento do leitor, esta atitude antiteolgica e parricida, promove, de fato, uma utopia social (Barthes, 1977: 164). Contudo, tendo em vista as dimenses da leitura kitsch e/ou de consumo, esta utopia diz respeito, unicamente, ao leitor verdadeiramente culto, cuja cultura e cuja disposio possibilitem uma atividade textual produtiva. V-se, assim, que esta utopia no incide sobre qualquer leitor11.
11
H, no Brasil, algo caracterstico desta utopia com restries: trata-se dos trabalhos de Leyla Perrone-Moiss, que, alm do mais, tradutora e estudiosa da obra de Barthes. Em uma poca na qual se difunde o questionamento dos cnones literrios por serem identificados coero logocntrica, Leyla Perrone-Moiss lana um livro intitulado Altas Literaturas (Perrone-Moiss, 1998), o qual problematiza esta deposio do cnone com argumentos cuja base est, certamente, em Barthes. Trata-se de um livro interessante para se relativizar a morte do autor de Barthes, menos brbara e anrquica do que, em princpio, possa parecer.
Convm perguntar em que medida esse leitor culto diferencia-se do crtico, ou se o crtico no o leitor culto por excelncia. De fato (em tese), o crtico no se relaciona com obras/textos de maneira casual ou culta medida que lhe so solicitadas justificativas/argumentos que sustentem seus juzos. Ou, no caso do crtico acadmico, vinculado s instituies de ensino superior e de pesquisa, -lhe exigido mtodo e rigor em seu trabalho, sendo abolidas (em tese) leituras casuais ou cultas. Talvez, nem todo leitor culto seja crtico; mas recomendvel que todo crtico seja um leitor culto. Da mesma forma que, para Barthes, no h diferena, estruturalmente, entre o leitor culto e o casual (Barthes, 1977: 162), pode-se dizer que, entre o crtico e o leitor culto, tambm, no h. O que os diferencia a funo que exercem junto sociedade. O autor, uma inveno moderna e burguesa, , tradicionalmente, considerado como a autoridade mxima em se tratando de texto e/ou obra. Conseqentemente, cabe ao leitor (seja ele culto ou casual) uma funo secundria e parasitria no processo de leitura: a mera decoberta do segredo que o autor depositou no texto/obra; com o crtico, ocorre o mesmo, j que sua funo to secundria e parasitria quanto do leitor - lembre-se de sentenas populares como o crtico um artista frustrado. Se o nascimento do leitor (culto) d-se ao custo da morte do autor, plausvel supor que ou o crtico quem, de fato, nasce ou, no mnimo, tanto o leitor quanto o crtico nascem. De qualquer modo, o crtico se beneficia do parricdio simblico. E, considerando que quem proclama a morte do autor um crtico, possvel que o agente, o parricida no seja um leitor qualquer, mas, justamente, um crtico. Este parricida chama-se Roland Barthes. No se sabe se o fato de o leitor ser o bode expiatrio do parricdio uma estratgia sub-reptcia ou se se trata de um recalque. Mas h uma outra explicao para isso, a qual, paradoxal e ironicamente, o prprio texto de Barthes fornece. Conforme j visto, uma das principais caractersticas do texto como atividade produtiva o adiamento do sentido: em vez de remeter a um significado, um determinado significante remete a outro significante, que, por sua vez, remete a outro, e assim sucessivamente. Da que o sentido , constantemente, adiado: no h significado fixo, estvel e unvoco se ele, sempre, d vazo a uma cadeia de significantes cujo sentido reside em outros significantes que, por sua vez... Ad infinitum. Viu-se, tambm, que no h distino plausvel entre os pares opositivos com os quais Barthes
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
Acta Scientiarum: human and social sciences
As ambivalncias textuais de Roland Barthes
25 DERRIDA, J. Positions. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. DERRIDA, J. Margens da filosofia. Campinas: Papirus, 1991. DERRIDA, J. Gramatologia. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1999. ECO, U. Apocalpticos e integrados. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1970. ECO, U. Leitura do texto literrio. 2. ed. Lisboa: Presena, 1993a. ECO, U. Interpretao e superinterpretao. So Paulo: Martins Fontes, 1993b. FOUCAULT, M. O que um autor? 2. ed. Lisboa: Vega, 1992. FOUCAULT, M. As palavras e as coisas. 7. ed. So Paulo: Martins Fontes, 1995. GENETTE, G. Fronteiras da narrativa. In: BARTHES, R. et al. Anlise estrutural da narrativa. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 1973. cap. 8, p. 255-274. GREENBERG, C. Vanguarda e Kitsch. In: ROSENBERG, B; WHITE, D. M. Cultura de massa. So Paulo: Cultrix, s/d. cap. 9, p. 121-134. HABERMAS, J. Tcnica e cincia enquanto ideologia. In: BENJAMIN, W. et al. Os pensadores. So Paulo: Abril Cultural, 1980. cap. 15, p. 313-343. HABERMAS, J. Modernidade versus ps-modernidade. Arte em Revista, So Paulo, v. 7, n. 1, p. 86-91, 1983. HUTCHEON, L. Ironie et parodie: Stratgie et structure. Potique, Paris, v. 36, n. 1, p. 467-477, 1978. HUTCHEON, L. Ironie, satire, parodie. Potique, Paris, v. 46, n. 1, p. 140-155, 1981. HUTCHEON, L. Uma teoria da pardia. Lisboa: 70, 1989. HUTCHEON, L. Potica do ps-modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991. ISER, W. A interao do texto com o leitor. In: LIMA, L. C. A literatura e o leitor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, cap. 5, p. 83-132. KRISTEVA, J. Introduo semanlise. So Paulo: Perspectiva, 1974a. KRISTEVA, J. La rvolution du langage potique. Paris: Seuil, 1974b. MENEZES, P. A crise do passado. So Paulo: Experimento, 1994. MOLES, A. O kitsch. 2. ed. So Paulo: Perspectiva, 1975. MORICONI, I. A provocao ps-moderna. So Paulo: Diadorim, 1994. NIETZSCHE, F. Os pensadores. 2. ed. So Paulo: Abril Cultural, 1978. PAZ, O. Los hijos del limo. 5. ed. Barcelona: Seix Barral, 1998. PERRONE-MOISS, L. Altas literaturas. So Paulo: Companhia das Letras, 1998. PERRONE-MOISS, L. Lio de casa. In: BARTHES, R. Aula. So Paulo: Cultrix, s/d. cap. 2, p.49-89. PLATO. A repblica. 4. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1983. Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
trabalha (obra versus texto, autor versus escritor, autor versus leitor, crtico versus leitor etc.), todos agregveis ao par doxa versus paradoxa. As razes dessa impossibilidade de distino correspondem, justamente, ao adiamento do sentido: doxa e paradoxa so, tambm, textos, cujo sentido , constantemente, adiado. a obliterao desse adiamento, do jogo textual, visando, sempre, a atribuio de funes sociais, histricas e polticas passveis de decomposio analtica, que permite a Barthes estabelecer a srie de pares opositivos - obliterao temporria, arbitrria e ilusria. Nietzsche, em 1873, diz que o trabalho conceitual e especulativo , na verdade, construdo com base em metforas, em uma linguagem, inevitavelmente, intransitiva, instaurando uma desconfiana em relao atividade filosfica (Nietzsche, 1978: 43-52). Barthes, um sculo mais tarde, d continuidade ao trabalho de Nietzsche, empreende uma pesquisa lingstica e filosfica audaciosa, antev o jogo, mas se recusa a participar: coloca-se fora do jogo. Mas no h como escapar dele. Barthes faz isso, talvez, porque o jogo desarticularia sua luta contra a doxa, traria a necessidade de uma reviso de toda a sua trajetria, reviso na qual no haveria lugar para a estabilidade confortvel - Barthes, ento, perceberia que a doxa se dissemina, toma formas vagas e fugidias, surge, por vezes, em sua prpria crtica-escritura. Referncias
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialtica do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. BARTHES, R. O grau zero da escritura. So Paulo: Cultrix, 1971. BARTHES, R. Anlise estrutural da narrativa. 3. ed. Petrpolis: Vozes, 1973. BARTHES, R. Image, music, text. New York: Hill & Hang, 1977. BARTHES, R. S/z. Lisboa: 70, 1980. BARTHES, R. Theory of the text. In: YOUNG, R. Untying the text. London: Routledge & Kegan Paul, 1981. cap. 2, p. 31-47. BARTHES, R. O prazer do texto. 3. ed. So Paulo: Perspectiva, 2002. BLANCHOT, M. O espao literrio. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. BROCH, H. Notas sobre el problema del kitsch. In: DORFLES, G. El kitsch. Barcelona: Lumen, 1973a. cap. 3, p. 49-67. BROCH, H. Kitsch y arte de tendencia. In: DORFLES, G. El kitsch. Barcelona: Lumen, 1973b. cap. 4, p. 68-76. DERRIDA, J. A escritura e a diferena. So Paulo: Perspectiva, 1971. Acta Scientiarum: human and social sciences
26 POE, E. A. Ensayos y crticas. Madrid: Alianza Editorial, 1956. SAUSSURE, F. Curso de lingstica geral. 17. ed. So Paulo: Cultrix, 1983.
Silva TOCQUEVILLE, A. A democracia na amrica. 2. ed. Belo Horizonte/So Paulo: Itatiaia/Edusp, 1977.
Received on November 04, 2002. Accepted on January 13, 2003.
Acta Scientiarum: human and social sciences
Maring, v. 25, n. 1, p. 017-026, 2003
Potrebbero piacerti anche
- A Morte Do Autor - Resnha ResumoDocumento3 pagineA Morte Do Autor - Resnha Resumocamila Gandra100% (1)
- BARTHES, Roland - A Morte Do AutorDocumento6 pagineBARTHES, Roland - A Morte Do AutorfelipeuerjNessuna valutazione finora
- Panofsky. Erwin. Iconografia e Iconologia. Armanelli, LuizaDocumento3 paginePanofsky. Erwin. Iconografia e Iconologia. Armanelli, LuizaAlexandre Vander VeldenNessuna valutazione finora
- Identidades e Realidades Múltiplas - Os Estranhos No Meio de Nós (João Crlos Correia)Documento32 pagineIdentidades e Realidades Múltiplas - Os Estranhos No Meio de Nós (João Crlos Correia)0-DrixNessuna valutazione finora
- 2 Modernidade e Identidade - o Caso BrasileiroDocumento31 pagine2 Modernidade e Identidade - o Caso BrasileiroJuarez PsiNessuna valutazione finora
- Platao e A Caverna Digital PDFDocumento2 paginePlatao e A Caverna Digital PDFjeguim7471Nessuna valutazione finora
- O Nascimento e A Morte Do Sujeito Moderno. - FilosofonetDocumento5 pagineO Nascimento e A Morte Do Sujeito Moderno. - FilosofonetJosé Carlos Freitas LemosNessuna valutazione finora
- A Revolucao Da DialeticaDocumento149 pagineA Revolucao Da DialeticaAntonio Walmir Silverio BezerraNessuna valutazione finora
- Iconografia e Iconologia Uma Introdução Ao Estudo Da Arte Da RenascençaDocumento3 pagineIconografia e Iconologia Uma Introdução Ao Estudo Da Arte Da RenascençaPedro Sanches100% (1)
- Pessoa e A Visão Gnóstica Do Tempo - Armando Nascimento RosaDocumento31 paginePessoa e A Visão Gnóstica Do Tempo - Armando Nascimento RosaSonia WeilNessuna valutazione finora
- Sujeito e Agência em Judith ButlerDocumento9 pagineSujeito e Agência em Judith ButlerIsaac Matheus Santos BatistaNessuna valutazione finora
- A República de DiostievskiDocumento27 pagineA República de DiostievskiLuís LimaNessuna valutazione finora
- Alexander Kluge: Temos de Arrancar A Madeira Dos Salões e Construir Jangadas - Electra MagazineDocumento2 pagineAlexander Kluge: Temos de Arrancar A Madeira Dos Salões e Construir Jangadas - Electra MagazinecleliaNessuna valutazione finora
- Significado Nas Artes VisuaisDocumento4 pagineSignificado Nas Artes VisuaisVera Lucia Silveira Machado100% (1)
- Deleuze - O Frio e o Cruel PDFDocumento13 pagineDeleuze - O Frio e o Cruel PDFRafael Kafka50% (2)
- Formalismo e Funcionalismo Fatias Da Mesma TortaDocumento11 pagineFormalismo e Funcionalismo Fatias Da Mesma TortaAnderson RangelNessuna valutazione finora
- Changeling The Dreaming KithainDocumento257 pagineChangeling The Dreaming KithainBruno Ribeiro SilvaNessuna valutazione finora
- Resumo de Os Irmãos KaramázovDocumento1 paginaResumo de Os Irmãos KaramázovJonatha dos SantosNessuna valutazione finora
- Confunomicon CaosDocumento33 pagineConfunomicon Caosapi-3770721100% (1)
- As Redes Sociais e A Liquidez Na SociedadeDocumento13 pagineAs Redes Sociais e A Liquidez Na Sociedadevla.r6019Nessuna valutazione finora
- John Zerzan - Correndo No Vazio, o Fracasso Do Pensamento Simbólico.Documento24 pagineJohn Zerzan - Correndo No Vazio, o Fracasso Do Pensamento Simbólico.João JorgeNessuna valutazione finora
- O Ato "Responsível", Ou Ato Ético, em Bakhtin PDFDocumento17 pagineO Ato "Responsível", Ou Ato Ético, em Bakhtin PDFCaio VictorNessuna valutazione finora
- Ecologia Da AlmaDocumento66 pagineEcologia Da AlmaRicardo Bitencourt100% (1)
- A Tentação PDFDocumento5 pagineA Tentação PDFGarrone VozNessuna valutazione finora
- A Ordem Da DiscordiaDocumento190 pagineA Ordem Da DiscordiaGuilherme Ribeiro HimmlerNessuna valutazione finora
- Panorama Geral Das Teorias Funcionalistas PDFDocumento14 paginePanorama Geral Das Teorias Funcionalistas PDFHumbertoC.NobreNessuna valutazione finora
- Arte Tumular 3Documento9 pagineArte Tumular 3LauraNessuna valutazione finora
- De Mauss A Levi-StraussDocumento17 pagineDe Mauss A Levi-StraussHugo CiavattaNessuna valutazione finora
- # As Formas Cinematográficas e Seu Contexto Sócio CulturalDocumento69 pagine# As Formas Cinematográficas e Seu Contexto Sócio CulturalHenrique FincoNessuna valutazione finora
- Bergson e as duas vias de acesso ao real: entre a metodologia intuitiva e a metodologia analíticaDa EverandBergson e as duas vias de acesso ao real: entre a metodologia intuitiva e a metodologia analíticaNessuna valutazione finora
- Notas Sobre A Supremacia Branca - James HillmanDocumento31 pagineNotas Sobre A Supremacia Branca - James HillmanLívia AscavaNessuna valutazione finora
- Sobre 'O Poder - História Natural de Seu Crescimento' - Bertrand Jouvenel - Mises BrasilDocumento1 paginaSobre 'O Poder - História Natural de Seu Crescimento' - Bertrand Jouvenel - Mises BrasilFranciscoNessuna valutazione finora
- A Teoria Das Multiplicidades Na Obra de Deleuze & GuattariDocumento84 pagineA Teoria Das Multiplicidades Na Obra de Deleuze & GuattariJorgeLuciodeCamposNessuna valutazione finora
- A Sombra Da Cidadania Suely RolnikDocumento17 pagineA Sombra Da Cidadania Suely RolnikAna GodoyNessuna valutazione finora
- O Expressionismo AlemãoDocumento3 pagineO Expressionismo Alemãowilhia100% (2)
- Fichamento - Erguer A Voz - Yuri BritoDocumento2 pagineFichamento - Erguer A Voz - Yuri Britoyurisb13Nessuna valutazione finora
- 04 Renascimento Empirismo Racionalismo e IluminismoDocumento54 pagine04 Renascimento Empirismo Racionalismo e IluminismoJhone MendonçaNessuna valutazione finora
- A an-arquia que vem: Fragmentos de um dicionário de política radicalDa EverandA an-arquia que vem: Fragmentos de um dicionário de política radicalNessuna valutazione finora
- Fichamento SPIVAKDocumento5 pagineFichamento SPIVAKLaura Roratto FolettoNessuna valutazione finora
- Frankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaDocumento4 pagineFrankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaGiovannaNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento330 pagineUntitledFrancisco WiederwildNessuna valutazione finora
- O Afastamento de Tibério em Caligula (1979)Documento3 pagineO Afastamento de Tibério em Caligula (1979)Murilo Henrique GarciaNessuna valutazione finora
- Resenha - Fichamento - Dialética Da Malandragem PDFDocumento9 pagineResenha - Fichamento - Dialética Da Malandragem PDFRoberto JuniorNessuna valutazione finora
- Cibercultura Pós-Humano e Crise de IdentidadeDocumento12 pagineCibercultura Pós-Humano e Crise de IdentidadeAline AlvesNessuna valutazione finora
- O Discurso Publicitário - Desvendando A SeduçãoDocumento23 pagineO Discurso Publicitário - Desvendando A SeduçãoGilson Costta100% (1)
- Alteridade Ética e Levinas PDFDocumento8 pagineAlteridade Ética e Levinas PDFJulhana100% (1)
- LINGUAGENS LÍQUIDAS NA ERA DA MOBILIDADE - Cap 3Documento18 pagineLINGUAGENS LÍQUIDAS NA ERA DA MOBILIDADE - Cap 3Eliaquim FerreiraNessuna valutazione finora
- Transcriação Teoria e PráticaDocumento4 pagineTranscriação Teoria e PráticaARayniacNessuna valutazione finora
- Sabina Loriga - o Pequeno X - 2011Documento6 pagineSabina Loriga - o Pequeno X - 2011Cristiane MariaNessuna valutazione finora
- Surrealismo e CinemaDocumento44 pagineSurrealismo e CinemaMarcelo RibaricNessuna valutazione finora
- Revista Literatura e Sociedade USP Psicanalise e LiteraturaDocumento272 pagineRevista Literatura e Sociedade USP Psicanalise e LiteraturaMonique Comin LosinaNessuna valutazione finora
- Escrever a Mágoa: Cruzamento entre Nietzsche e DerridaDa EverandEscrever a Mágoa: Cruzamento entre Nietzsche e DerridaNessuna valutazione finora
- Escravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultDa EverandEscravos, Selvagens e Loucos: estudos sobre figuras da animalidade no pensamento de Nietzsche e FoucaultNessuna valutazione finora
- O vale da feitura da alma: O modelo pós-kleiniano da mente e suas origens poéticasDa EverandO vale da feitura da alma: O modelo pós-kleiniano da mente e suas origens poéticasNessuna valutazione finora
- A ética e suas negações: Não nascer, suicídio e pequenos assassinatosDa EverandA ética e suas negações: Não nascer, suicídio e pequenos assassinatosValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Em busca da singularidade perdida: uma jornada imanenteDa EverandEm busca da singularidade perdida: uma jornada imanenteValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Boleto Visual I ZarDocumento2 pagineBoleto Visual I Zarr_alengNessuna valutazione finora
- Ghurth MastryonteDocumento23 pagineGhurth Mastryonter_alengNessuna valutazione finora
- Bho Rist Ghs Soma TzarDocumento5 pagineBho Rist Ghs Soma Tzarr_alengNessuna valutazione finora
- Grimositorium NadesDocumento8 pagineGrimositorium Nadesr_alengNessuna valutazione finora
- Bhoristghssomatzar PDFDocumento1 paginaBhoristghssomatzar PDFr_alengNessuna valutazione finora
- Grimositorium NadesDocumento8 pagineGrimositorium Nadesr_alengNessuna valutazione finora
- Edital de Abertura 212, de 25 de Agosto de 2016Documento51 pagineEdital de Abertura 212, de 25 de Agosto de 2016r_alengNessuna valutazione finora
- ApostiladejudoDocumento16 pagineApostiladejudor_alengNessuna valutazione finora
- FRM Visualizar BulaDocumento9 pagineFRM Visualizar Bular_alengNessuna valutazione finora
- UFF TRM2018 Anexo XI TopicosPesos ReingressoDocumento4 pagineUFF TRM2018 Anexo XI TopicosPesos Reingressor_alengNessuna valutazione finora
- ApostiladejudoDocumento16 pagineApostiladejudoFellipe MarinhoNessuna valutazione finora
- Aos Pés Do Mestre - Alcione (J. Krishnamurti) PDFDocumento17 pagineAos Pés Do Mestre - Alcione (J. Krishnamurti) PDFJoe SykesNessuna valutazione finora
- FRM Visualizar BulaDocumento9 pagineFRM Visualizar Bular_alengNessuna valutazione finora
- UFF TRM2018 Anexo I Quadro de VagasDocumento3 pagineUFF TRM2018 Anexo I Quadro de VagasRodrigo LoosNessuna valutazione finora
- Evolucao UniversoDocumento284 pagineEvolucao UniversoemailboxcarlosNessuna valutazione finora
- UFF TRM2018 Anexo XI TopicosPesos ReingressoDocumento4 pagineUFF TRM2018 Anexo XI TopicosPesos Reingressor_alengNessuna valutazione finora
- UFF - Edial 2016 - T Cnico Administrativo - V Rios CargosDocumento81 pagineUFF - Edial 2016 - T Cnico Administrativo - V Rios Cargosr_alengNessuna valutazione finora
- A Ressocialização Do Preso BrasileiroDocumento7 pagineA Ressocialização Do Preso Brasileiror_alengNessuna valutazione finora
- A Prisão Sob A Ótica de Seus ProtagonistasDocumento8 pagineA Prisão Sob A Ótica de Seus Protagonistasr_alengNessuna valutazione finora
- Reincidência E Reincidentes PenitenciáriosDocumento41 pagineReincidência E Reincidentes Penitenciáriosr_alengNessuna valutazione finora
- Dacia - K1 PDFDocumento171 pagineDacia - K1 PDFandretarsNessuna valutazione finora
- Joao - Nunes.maia. .Filosofia - Espirita.2Documento90 pagineJoao - Nunes.maia. .Filosofia - Espirita.2jotacouves100% (1)
- NUMES MAIA Cirurgia - Moral PDFDocumento52 pagineNUMES MAIA Cirurgia - Moral PDFmanukenseNessuna valutazione finora
- Aula 01 Direito TrabalhistaDocumento4 pagineAula 01 Direito Trabalhistar_alengNessuna valutazione finora
- Pontos Cantados XangôDocumento1 paginaPontos Cantados Xangôr_alengNessuna valutazione finora
- Umbanda de Todos NosDocumento248 pagineUmbanda de Todos NosEmalgumLugardanet100% (2)
- Livro - LIÇÕES DE UMBANDADocumento95 pagineLivro - LIÇÕES DE UMBANDAAustrum100% (11)
- Súmulas, Ojs e PN Do TSTDocumento264 pagineSúmulas, Ojs e PN Do TSTBassalo2018Nessuna valutazione finora
- Algumas Palavras Sobre o PanteismoDocumento2 pagineAlgumas Palavras Sobre o PanteismoJamile SantanaNessuna valutazione finora
- A EXISTÊNCIA COMO LIBERDADE ABSOLUTA (SARTRE) Por COLEÇÃO OS PENSADORESDocumento4 pagineA EXISTÊNCIA COMO LIBERDADE ABSOLUTA (SARTRE) Por COLEÇÃO OS PENSADORESandrecaregnatoNessuna valutazione finora
- Os Doze Passos de Aa ComentadoDocumento9 pagineOs Doze Passos de Aa ComentadoTania Maria Ferraz ContrimNessuna valutazione finora
- TCF Mudanças ClimáticasDocumento17 pagineTCF Mudanças ClimáticasFrancisco GalvãoNessuna valutazione finora
- fq8 - Teste 3 - EnunciadoDocumento6 paginefq8 - Teste 3 - EnunciadoCarla Alexandra Estevam CanhotoNessuna valutazione finora
- Fichamento Texto A Brincadeira Suas Implicações No Processo de AprendizagemDocumento6 pagineFichamento Texto A Brincadeira Suas Implicações No Processo de Aprendizagemchriscost100% (1)
- Tribuna-Espirita-nº-184 EsquizofreniaDocumento28 pagineTribuna-Espirita-nº-184 EsquizofreniaMarcosPaterraNessuna valutazione finora
- Alcenos, Alcinos, Álcoois e ÉteresDocumento3 pagineAlcenos, Alcinos, Álcoois e ÉteresOrlando FirmezaNessuna valutazione finora
- Instituto Federal de Educaçã1Documento2 pagineInstituto Federal de Educaçã1ROBERIO NOGUEIRA ARAUJONessuna valutazione finora
- História e Geografia de RondôniaDocumento134 pagineHistória e Geografia de RondôniaLucas MoreiraNessuna valutazione finora
- GRUPO 1 2 EtapaDocumento19 pagineGRUPO 1 2 EtapaIcaro FurtadoNessuna valutazione finora
- CALVET, Louis-Jean. Comportamentos e AtitudesDocumento2 pagineCALVET, Louis-Jean. Comportamentos e AtitudesAmanda Ramos0% (1)
- Recurso PronominalizaçãoDocumento1 paginaRecurso PronominalizaçãoMytimeNessuna valutazione finora
- Questões de Concurso - Professores Da Educação Infantil.Documento6 pagineQuestões de Concurso - Professores Da Educação Infantil.Anonymous aPzoIa4Nessuna valutazione finora
- Quimis Lavadora Ultrassonica Q304M Manual PTDocumento10 pagineQuimis Lavadora Ultrassonica Q304M Manual PTalbari silvaNessuna valutazione finora
- Komeco20di - ManualDocumento13 pagineKomeco20di - ManualEduardoNessuna valutazione finora
- ExercíciosDocumento4 pagineExercíciosPaulo JúniorNessuna valutazione finora
- Argamil MultiusoDocumento2 pagineArgamil MultiusoPedro Paulo de OliveiraNessuna valutazione finora
- Capitulo 6 O Interregno Café FilhoDocumento3 pagineCapitulo 6 O Interregno Café FilhoLaizNessuna valutazione finora
- Guia Do Corretor ExcelsiorDocumento17 pagineGuia Do Corretor ExcelsiorRoberta FidellisNessuna valutazione finora
- Livro Vem Ler R02 LM - 30 03Documento35 pagineLivro Vem Ler R02 LM - 30 03Marcilania BarbosaNessuna valutazione finora
- NBN ArtigoDocumento3 pagineNBN ArtigoDaniel da Silva VasemNessuna valutazione finora
- A Importância Das Novas Ferramentas No Ensino e Aprendizagem de Sistemas de Duas Equações Lineares Com Duas Incógnitas PDFDocumento40 pagineA Importância Das Novas Ferramentas No Ensino e Aprendizagem de Sistemas de Duas Equações Lineares Com Duas Incógnitas PDFJosé Nelson PatrícioNessuna valutazione finora
- Amorim e Navarro, 2012Documento7 pagineAmorim e Navarro, 2012Armando Ferreira JúniorNessuna valutazione finora
- Resenha Ética e Novas MídiasDocumento5 pagineResenha Ética e Novas MídiasNatália VilaçaNessuna valutazione finora
- Relatório RC e RLDocumento14 pagineRelatório RC e RLAriel HennigNessuna valutazione finora
- Pressões AnormaisDocumento38 paginePressões AnormaisLuiz Antonio Pereira0% (1)
- 4p119e05 01Documento9 pagine4p119e05 01Pandora RostyNessuna valutazione finora
- Flyer Pino ReiDocumento4 pagineFlyer Pino ReiMarsen NunesNessuna valutazione finora
- 1-2020. Textos Filo. Latinos I (A Distância)Documento6 pagine1-2020. Textos Filo. Latinos I (A Distância)Thamires GomesNessuna valutazione finora
- Собираем Hi-Fi УНЧ StonecoldDocumento5 pagineСобираем Hi-Fi УНЧ StonecoldmarcosscaratoNessuna valutazione finora