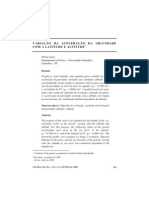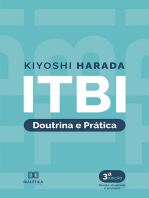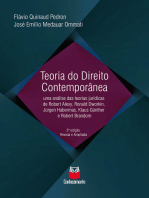Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
CLASTRES, Pierre. A Sociedade Contra o Estado
Caricato da
Thomas ContiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
CLASTRES, Pierre. A Sociedade Contra o Estado
Caricato da
Thomas ContiCopyright:
Formati disponibili
Pierre Clastres
A SOCIEDADE
CONTRA O ESTADO
(INVESTIGAES DE ANTROPOLOGIA POLITICA)
AFRONTAMENTO/PORTO
1979
, ... ' ..
\\,oo
'Q: \ \?:,
Direitos de traduo reservados para Portugal por Publicaes Escorpio/
/Edies Afrontamento, Porto, 1975.
,r- 'I
' -.. /.
'-" ' - ; '- ..1
Traduo de Bernardo Frey
Reviso de Miguel Serras Pereira
Capa de Joo B.
EDIOES AFRONTAMENTO
R. Costa Cabral, 859 - 4200 Porto
CAPITULO I
COPllRNICO E OS SELVAGENS
On di8oit Socrates que qnelqu'on ne s'estit
aucuuement amend en son voyage: Je croy
Dien, di.t-U, il s'estoit emport avecqnea soy.
Montai.gne
Poder-nos-emos interrogar seriamente a propsito do
poder? Um fragmento de PaTia alm do bem e do maJ comea
da seguinte maneira: Se verdade que ao longo de todos
os tempos, desde que os homens existem, existiram tam-
bm rebanhos humanos (confrarias sexuais, comunidades, tri-
bos, naes, Igrejas, Estados) e sempre um grande nmero
de homens obedecendo a um pequeno nmero de chefes; se,
por conseguinte, a obedincia o que melhor e durante
mais tempo foi exercido e cultivado entre os homens, estamos
no direito de presumir que, por princpio, cada um de ns
possui em si a necessidade inata de obedecer, como uma espcie
de conscincia jormal que ordena: 'Tu fars isto, sem dis-
cutir; tu abster-te-s daquilo, sem discutir'; resumindo, de
um 'tu fars' que se trata. Pouco preocupado, como habitual-
mente, com o verdadeiro e o falso dos seus sarcasmos, Nietzs-
che, sua maneira, no obstante isola e circunscreve exacta-
mente um campo de reflexo que, dantes confinado unicamente
aos horizontes do pensamento especulativo, se v desde h dois
decnios, aproximadamente, ligado aos esforos de uma inves-
tigao de vocao a bem dizer cientfica. Referimo-nos ao
espao do poTitico, no centro do qual o poder coloca a sua
questo: temas novos, em antropologia social, estudos cada
vez mais numerosos. Que a etnologia no se tenha interessado,
seno tardiamente, pela dimenso poltica das sociedades arcai-
cas- seu objecto preferencial, no entanto- eis o que de resto
no estranho, tentaremos demonstr-lo, prpria proble-
mtica do poder: ndice sobretudo dum modo espontneo, ima-
nente nossa cultura e portanto OI:'temente tradicional, de
apreender as relaes polticas tais como se ligam em culturas
outras. Mas o atraso ultrapassa"se, as lacunas preenchem-se;
h doravante textos e descries suficientes pare que possa-
mos falar de uma antropologia politica, medir os seus resul-
tados e reflectir sobre a natureza do poder, sobre a sua
origem, sobre as transformaes que a histria lhe impe
consoante os tipos de sociedade em que ele se exerce. Projecto
ambicioso, mas tarefa necessria que a obra considervel de
J. W. Lapierre Ensaio BObre o fundamento do poder poltico
leva a cabo' Trata-se de um trabalho tanto mais digno de
interesse, quanto neste livro se encontra antes do mais reunida
e explorada uma massa de informaes respeitantes no ape-
nas s sociedades humanas, mas tambm s espcies animais
sociais, e em seguida porque o autor um filsofo cuja refle-
xo se exerce sobre os dados fornecidos pelas disciplinas
modernas que so a sociologia animal e a etnologia.
Estamos portanto perante a questo do poder politico
e, muito legitimamente, J. W. Lapierre interroga-se antes do
mais sobre se este facto humano corresponde a uma neces-
sidade vital, se ele se desenvolve a partir de uma raiz biol-
gica, se, noutros termos, o poder encontra o seu local de
1
J. W. Laplerre, Essal sur Ie fondement du pouvoir politique,
Publicao da Faculdade de A'ix-en-Provence, 1968.
6
nascimento e a sua razo de ser na natureza e no na cultura.
Ora, no termo de uma discusso paciente e sbia dos traba-
lhos mais recentes de biologia animal, discusso nada acad-
mica, de resto, se bem que o seu resultado fosse previsvel,
a resposta clara: 0 exame critico dos conhecimentos adqui-
ridos sobre os fenmenos sociais entre os animais e nomea-
damente sobre o seu processo de autoregulao social eviden-
ciou-mos a ausncia de toda a forma, mesmo embrionria, de
poder poltico ... (pg. 222). Ultrapassado este problema, e
perante a certe21a de nada mais ter a investigar nesse campo,
o autor volta-se para as cincias da cultura e da histria, na
inteno de interrogar- na seco que rpelo volume a mais
importante da sua investigao- as formas 'arcaicas' do
poder poltico nas sociedades humanas. As reflexes que se
seguem encontraram a sua inspirao mais particularmente
na leitura destas pginas consagradas, por assim dizer, ao
poder entre os Selvagens.
O leque das sociedades consideradas impressionante;
suficientemente amplo, em todo o caso, para afastar o leitor
exigente de qualquer eventual duvida quanto ao carcter exaus-
tivo da aferio, j que ,a anlise Se exerce sobre exemplos
recolhidos em frica, nas trs Amricas, na Oceania, Sib-
ria, etc. Resumindo, uma recolha quase completa, pela sua
variedade geogrfica e tipolgica, daquilo que o mundo pri-
mitivo podia oferecer de diferenas relativamente ao hori-
zonte no arcaico, sobre cujo fundo se desenha a figura do
poder poltico na nossa cultura. Isto , o alcance do debate
e a seriedade que requer o exame da sua conduo;
Facilmente se imagina que estas de21enas de sociedades
arcaicas nada possuem em comum para alm precisamente
da determinao do seu arcasmo, determinao negativa,
como o indica Lapierre, estabelecida pela ausncia de escrita
e pela economia dita de subsistncia. As sociedades arcaicas
podem portanto diferir profundamente entre si, nnhuina se
assemelha de facto a outra e estamos longe da dbil repetio
que tornaria iguais todos os Selvagens. :m portanto necessrio
7
introduzir um minimo de ordem nesta multiplicidade a fim
de permitir a comparao entre as unidades que a compem,
e esta a razo que leva Lapierre, aceitando quase inteira-
mente as clssicas classificaes propostas pela antropologia
anglo-saxnica relativamente a frica, a imaginar cinco gran-
des tipos partindo das sociedades a:reaicas nas quais o poder
poltico se encontra mais desenvolvido at chegar finalmente
s que apresentam... uma quase ausncia deste, e at um
vazio absoluto de poder propriamente poltico (pg. 229).
Ordenam-se portanto as culturas primitivas numa tipologia
fundada, em suma, sobre a maior ou menor quantidade de
poder poltico que cada uma de entre elas oferece observa-
o, podendo esta quantidade de poder tender para o zero,
... certos grupos humanos, em condies de vida determina-
das que lhes permitiam subsistir em pequenas 'sociedades
fechadas', puderam passar Aem poder poltico (pg. 525).
Reflictamos na prpria natureza desta classificao. Qual
o seu critrio? Como se define aquilo que, presente em maior
ou menor quantidade, permite assinalar tal lugar a tal socie-
dade? Ou, noutros termos, que se entende, mesmo que a ttulo
provisrio, por poder poltico? A questo , admitir-se-, de
importncia j que, no intervalo que se supe separar sociedades
sem .poder e sociedades com poder, se deveriam evidenciar simul-
taneamente a essnda do poder e o seu fundamento. Ora, no
se fica com a impresso, seguindo as anlises, minuciosas no
entanto, de Lapierre, de assistir a uma ruptura, a uma des-
continuidade, a um salto radical que, arrancando os grupos
humanos sua estagnao prepoltica, os transformaria em
sociedade civil. Deveremos portanto concluir que entre as
sociedades de signo + e as sociedades de signo - a passagem
progressiva, continua e da ordem da quantidade? Se assim
, a prpria possibilidade de classificar as sociedades desapa-
rece, pois entre os dois extremos- sociedades com Estado
e sociedades sem poder- figurar a infinidade de graus
intermedirios, definindo no limite cada sociedade particular
como uma classe do sistema. Este , de resto, o destino de
8
qualquer projecto taxinmico desta espcie, medida que se
aprofunda o conhecimento das sociedades arcaicas e que, em
consequncia, melhor se desvendam as suas diferenas. Por
conseguinte, tanto num caso oomo noutro, na hiptese da des-
continuidade entre no-poder e poder ou na da continuidade,
parece correcto pensar que nenhuma classificao das socie-
dades empiricas nos pode esclarecer nem sobre a natureza do
poder politico nem sobre as circunstncias do seu advento,
e que o enigma persiste no seu mistrio.
0 poder realiza-se numa relao social caracterstica:
/I comando-obedincia (pg. 44). Daqui resulta que as socie-
dades onde no se observa esta relao essencial so socie-
dades sem poder. Voltaremos a este assunto. O que convm
desde j revelar o tradicionalismo desta concepo que
exprime com bastante fidelidade o espirita da investiga-
o etnolgica: a certeza nunca posta em dvida de que o
poder poltico existe unicamente numa relao que se resolve,
em definitivo, numa relao de coero. De modo que, sobre
este ponto, entre Nietzsche, Max Weber (o poder do Estado
como monoplio do uso legitimo da violncia) ou a etnologia
contempornea, o parentesco mais intimo do que parece, e as
linguagens diferem pouco, pois partem dum mesmo principio:
a verdade e o ser do poder consistem na violncia e no se
pode pensar no poder sem o seu predicado, a violncia. Talvez
seja efectivamente assim, e nesse caso a etnologia no rigo-
rosamente culpada de aceitar sem discusso aquilo que o Oci-
dente pensa desde sempre. Mas, precisamente, necessrio que
nos asseguremos disso e verifiquemos sobre o prprio terreno
-o das sociedades arcaicas- se quando no existe coero
o violncia deixamos de poder falar de poder.
Que acontece com os tndios da Amrica? Srube-se que
excepo das altas culturas do Mxico, da Amrica Central
e dos Andes, todas as sociedades indias so arcaicas: ignoram
a escrita e subsistem, do ponto de vista econmico. Por outro
lado, todas, ou quase todas, so dirigidas por lfderes, chefes
e, caracterstica decisiva digna de reter a ateno, nenhum
9
destes caciques possui poder. Encontramo-nos portanto con-
frontados com um enorme conjunto de sociedades onde os
detentores do que noutro lado se designaria por poder esto
de facto sem poder, onde o poltico se determina como campo
fora de toda a coero e de toda a. violncia, fora de toda a
subordinao hierrquica, onde, numa palavra, no se pro.
cessa nenhuma relao de comando-obedincia. li: esta a grande
diferena do mundo ndio e o que permite falar das tribos
americanas como dum universo homogneo, apesar da extrema
variedade de culturas que o habitam. Portanto e de acordo
com o critrio retido por Lapierre, o Novo Mundo cairia
na sua quase-totalidade no campo prepoltico, quer dizer, no
ltimo grupo da sua tipologia, aquele que engloba as socie-
dades onde o poder poltico tende para o zero. No entanto
nada se passa assim, j que exemplos americanos pontuam
a classificao em causa, que sociedades ndias so includas
em todos os tipos e que poucas de entre elas pertencem justa-
mente ao ltimo tipo que as deveria normalmente agrupar
a todas. Existe a algum mal-entendido, porque das duas uma: \\
ou bem que encontramos em certas sociedades chefias no
impotentes, quer dizer, chefes que, dando uma ordem, a vem
executada, ou ento isso no existe. Ora a experincia directa
no terreno, as monografias dos investigadores e as mais anti-
gas crnicas no permitem dvida alguma a este respeito:
se alguma coisa h de totalmente estranho a um Indio, a *"
ideia de dar uma ordem ou de ter que obedecer, salvo em
circunstncias muito especiais como durante uma expedio
guerreira. Como figuram neste caso os lroqueses no primeiro
tipo, ao lado das realezas africanas? Poder-se- assemelhar o
Grande Conselho da Liga dos Iroqueses a um Estado ainda ru-
dimentar mas j nitidamente constitudo? Pois que se O pol-
tico respeita ao funcionamento da socidade global (pg. 41)
e se exercer um poder, decidir pele grupo inteiro (pg. 44).
ento no se pode afirmar que os cinquenta sachems que com-
punham o Grande Conselho iroqus formavam um Estado:
a Liga no era uma sociedade global, mas uma aliana pol-
10
tica de cinco sociedades globais que eram as cinco tribos iro-
quesas. A questo do poder entre os Iroqueses deve portanto
pr-se, no ao nvel da Liga, mas ao nvel das tribos: e a esse
nvel, no haja dvidas, os sachems no estavam certamente
mais investidos de poder do que o resto dos chefes ndios. As
tipologias britnicas das sociedades africanas so talvez per-
tinentes para o continente negro; no podem servir de modelo
para a Amrica dado que, reincidamos neste ponto, entre o
sachem iroqus e o lder do roais pequeno bando nmada no
existe diferena de natureza. Indiquemos por outro lado que
se a confederao iroquesa suscita, a justo ttulo, o interesse
dos especialistas. houve noutros lados ensaios, menos not-
veis porque descontnuos, de ligas tribais, nomeadamente entre
os Tupi-Guarani do Brasil e do Paraguai.
As observaes acima expostas quereriam problematizar
a forma tradicional da problemtica do poder: no evidente
para ns que coero e subordinao constituam a essncia do
podeT poltico em toda a parte e em todo o sewpre. De tal
modo que se abre uma alternativa: ou o conceito clssico de
poder adequado realidade que ele pensa, e nesse caso
necessrio apontar-lhe o no-poder, justamente onde foi assi-
nalado; ou ele no adequado, e ento necessrio abando-
n-lo ou transform-lo. Mas convm que antes disso nos inter-
roguemos sobre a atitude mental que permite elaborar uma
tal concepo. E, nessa perspectiva, o prprio vocabulrio da
etnologia susceptvel de nos indicar o caminho.
Consideremos antes do mais os critrios do arcasmo:
ausncia de escrita. e economia de subsistncia. Nada h a
dizer sobre o primeiro, pois trata-se de um dado :!)actual: uma
sociedade ou conhece a escrita ou no a conhece. A pertinn-
cia do segundo parece pelo contrrio menos segura. Coro efeito,
o que subsistir? 1!: viver na fragilidade permanente do
equilibrio entre as necessidades alimentares e os meios de as
satisfazer. Uma sociedade de economia de subsistncia aquela
que consegue aUmentar os seus membros apenas o estrita-
mente necessrio, e que se encontra assim merc do mnimo
11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
acidental natural (seca, inundao, etc.), j que a diminuio
dos recursos se traduziria mecanicamente pela impossibilidade
de alimentar toda a gente. Ou, noutros termos, as sociedades
arcaicas no vivem, mas sobrevivem, a sua existncia um
combate interminvel contra a fome, pois so incW[J(12es de
produzir excedentes, por carncia tecnolgica e tambm cul-
tural. No h nada mais obstinado do que esta viso da
sociedade primitiva, e ao mesmo tempo nada mais falso. Se se
pde falar recentemente dos grupos de caadores-colectores
paleolticos como primeims sociedades de a:bundncia ', o que
no ser dos agricultores neolticos'? No nos podemos alO'lJ.-
gar aqui sobre esta questo de importncia decisiva para a
etnologia. Indiquemos somente que um grande nmero destas
sociedades arcaicas com economia de subsistncia, na Am-
rica do Sul por exemplo, produziam uma quantidade de exce-
dente alimentar por vezes equivalente ao necessrio ao con-
sumo anual da comunidade: produo portanto capaz de satis-
fazer duplamente as necessidades, ou de alimentar uma popu-
lao duas vezes mais importante. Isto no significa eviden-
temente que as sociedades arcaicas no so arcaicas trata-se
. '
srmplesmente de mostrar a fatuidade Cientfica do conceito
de economia de subsistncia, que traduz muito mais as atitudes
e hbitos dos observadores ocidentais face s sociedades pri-
mitivas do que a realidade econmica sobre a qual repousam
estas culturas. No foi, em todo o caso, pelo facto de a
sua economia ser de subsistncia que as sociedades arcai-
cas Sobreviveram em estado de extremo subdesenvolvimento
at aos nossos dias (pg. 225). Parece-nos mesmo que, nestes
termos, antes o proletariado europeu do sculo XIX, iletrado
e subalimentado, que seria conveniente qualificar como arcaico.
Na realidade, a ideia de economia de subsistncia remonta ao
: M. Shalins, A primeira sociedade de abundncia:., Les Temps
Modernes, Outubro 1968.
1
Sobre os problemas que uma definio 'do neoltico coloc-a, ver
o ltimo capitulo.
12
campo ideolgico do Ocidente moderno, e no ao arrsenal con-
ceptual duma cincia. E paradoxal ver a prpria etnologia
ser vtima duma mistificao to grosseira, e tanto maiS peri-
gosa quanto contribuiu para orientar a estratgia das naes
industriais relativamente ao mundo dito subdesenvolvido.
Mas, objectar-se-, tudo isto tem pouco a ver com o pro-
blema do poder poltico. Pelo contrrio: a mesma perspectiva
que leva a falar dos primitivos como homens vivendo difi-
cilmente em economia de subsistncia, em estado de subdesen-
volvimento tcnico ... (pg. 319) determina tambm o sentido
e o valor do discurso familiar sobre o poltico e o poder. Fami-
liar pelo facto de, desde sempre, o encontro entre o Ocidente
e os Selvagens ter sido a ocasio de repetir sobre eles o mesmo
discuvso. Testemunha-o, por exemplo, o que diziam os pri-
meiros descobridores europeus do Brasil a propsito dos 1ndios
Tupinamba: Gentes sem f, sem lei, sem rei. Os seus mburu-
vicha, os seus chefes, no gozavam com efeito de nenhum
poder. Que poderia haver de mais estranho para os que che-
gavam de sociedades onde a autoridade culminava nas monar-
quias absolutas de Frana, de Portugal ou de Espanha? Vinham
encontrar brbaros que no viviam em sociedade policiada. A
inquietao e a irritao de se encontrarem na presena do anor-
mal desapareciam pelo contrrio no Mxico de Moctezuma ou
no Peru dos Incas. A os conquistadores respiravam uma atmos-
fera habitual, para eles a mais tnica das atmosferas a das
hierarquias, da coero, numa palavra, do verdadeiro' poder.
Ora, observa-se uma admirvel continuidade entre este dis-
curso sem variaes, ingnuo, poder-se-ia dizer selvagem, e o
dos sbios ou investigadores modernos. O juzo o mesmo
se for enunciado em termos mais delicados, e encontramos sob
a pena de Lapierre numerosas expresses conformes obser-
\>ao mais corrente do poder poltico nas sociedades primi-
tivas. Exemplos: OS 'chefe,:/ Trebriamdeses au Tikopianos
no detm um poder social e um poder econmico muito desen-
volvidos, contrastando com um poder propriamente poltico
muito embrionrio?. (pg. 284). Ou ainda: Nenhum povo
13
niltico se pde elevar ao nivel das organizaes polticas cen-
tralizadas dos grandes reinos bantos (pg, 365). E ainda:
A sociedade lobi no pde dar-se uma organizao poltica>
(pg. 435, nota 134) ' Que significa de facto este tipo de voca-
bulrio onde os termos embrionrio, nascente, pouco desen-
volvido, aparecem muito frequentemente 7 No se trata eviden-
temente da nossa parte de declarar guerra a um autor, pois
sa;bemos bem quanto esta linguagem prpria da antropo-
logia. Tentamos aceder ao que se poderia chamar a arqueolo-
gia desta linguagem e do saber que cr atravs dela dar-se a
ver, e perguntamo-nos: que que esta linguagem diz exacta-
mente e a partir de que lugar diz aquilo que diz?
Constatamos que a ideia de economia de subsistncia
queria ser um julgamento de facto, mas envolve ao mesmo tempo
um julgamento de valor sobre as sociedades assim qualifica-
das: avaliao que destri imediatamente a objectividade que
para si reclama. O mesmo preconceito- pois, em ltima an-
lise, de um preconceito que se trata- perverte e vota ao
falhano o esforo para julgar o poder poltico nessas mes-
mas sociedades. Sabendo que o modelo ao qual relacionado
e a unidade que o mede so wntecipadamente constitudos pela
ideia do poder tal como foi desenvolvida e formada pela civi-
lizao ocidental. A nossa cultm"a, desde as suas origens, pensa
o poder poltico em termos de relaes hierarquizadas e autori-
trias de comando-obedincia. Qualquer forma, real ou pos-
svel, de poder por conseguinte redutvel a esta relao pri-
vilegiada que exprime a priori a sua essncia. Se a reduo no
possvel, porque nos encontramos aquem do poltico: a
ausncia da relao comando-obedincia acarreta ipsofacto a
ausncia do poder politico. Existem no apenas socieda-
des sem Estado, como ainda sociedades sem poder. D e ~ d e
h muito reconhecemos o adversrio sempre desperto, o obs-
tculo constantemente presente na investigJao antropolgica,
o etnocentrismo que mediatiza todo o olhar sobre as diferenas
' O sublinhado nosso.
14
para as identificar e finalmente as abolir. Existe uma espc1e
de ritual etnolgico que consiste em denunciar vigorosamente
os riscos desta atitude: a inteno louvvel, mas nem sempre
impede os etnlogos de a ela sucumbirem por sua vez, mais
ou menos tranquilamente, mais ou menos distraidamente. Evi-
dentemente que o etnocentrismo , como muito justamente o
sublinha Lapierre, a coisa mais bem partilhada do mundo:
toda a cultura , poder-se-ia dizer por definio, etnocentrista
na sua relao narcsica consigo prpria. No obstante, uma
diferena considervel separa o etnocentrismo ocidental do
seu homlogo primitivo; o selvagem de qualquer tribo ndia
ou australiana considera a sua cultura superior a todas as
outras sem se preocupar em assegurar sobre elas um discurso
cientfico, enquanto que a etnologia pretende situar-se duma
s vez no elemento da universalidade sem se dar conta de que
permanece em muitos pontos solidamente instalada na sua
particularidade, e que o seu pseudo-discurso cientfico se
degrada rapidamente em ideologia. (Isto reduz sua justa
medida algumas afirmaes afectadas sobre a civilizao oci-
dental como nico lugar cap3)z de produzir etnlogos). Decidir
que certas culturas so desprovidas de poder poltico porque
nada oferecem de comparvel ao que a nossa apresenta no
uma proposta cientfica: antes denota, no fim de contas,
uma pobreza evidente do conceito.
O etnocentrismo no portanto um ilusrio entrave
reflexo e as suas implicaes so de maiores consequncias
do que poderamos supor. No pode deixar subsistir as dife-
renas cada uma por si na sua neutralidade, mas quer com-
preend-las como diferenas determinadas a partir do que lhe
mais familiar, o 'POder tal como experimentado e pensado
na cultura do Ocidente. O evolucionismo, velho compadre do
etnocentrismo, no est longe. A diligncia a este nivel dupla:
primeiramente recensear as sociedades segundo a maior ou
menor proximidade a que o seu tipo de poder est relativa-
mente ao nosso; afirmar em seguida explicitamente (como
ontem) ou implicitamente (como hoje) llli!a continuidade entre
15
todas estas diversas formas de poder. Por ter, a seguir a Lowie,
abandonado wmo ingnuas as doutrinas de Morgan ou Engels,
a antropologia j no pode (pelo menos no que "refere
questo do poltico) exprimir-se em termos 180C!i0logwos.
Mas como, por outro lado, a tentao de continuar a pensar
segundo o mesmo esquema demasiado forte, existe o recurso
a metforas bwZgicas. Donde o vocabulrio anteriormoote
salientado: embrionrio, nascente, pouco desenvolvido, etc. H
aproximadamente meio-sculo, o modelo perfeito que todas
culturas, atravs da histria, tentavam realizar, era o adulto
ocidental so de esprito e letrado (se possvel doutor em
cincias fsicas). Isto pensa-se ainda hoje, sem dvida, mas
j no se diz. No entanto, se pelo seu lado a. linguagem
mudou, o discurso permaneceu o mesmo. O que e um poder
embrionrio seno o que poderia e deveria desen'!Xilver-se
at atingir o estado adulto? E qual esse estado adulto
de que se descobrem, aqui e ali, as premissas embrion-
rias? 11:, bem entendido, o poder a que o etnlogo est acos-
tumado o da cultura que produz etnlogos, o Ocidente. E porque
' .
se encontram sempre votados desgraa estes fetos culturais
do poder? Qual a razo por que 'Sociedades que os con-
cebem abortam regularmente? Esta fraqueza congnita facil-
mente explicvel pelo seu arcasmo, pelo seu subdesenvolvi-
mento, pelo simples facto de elas ,no serem o Ocidente. As
sociedades arcaicas seriam assim axolotles sociolgicos inca-
pazes de aceder, sem ajuda exterior, ao estado adulto
o biologismo da expresso no evidentemente mais
que a mscrura furtiva da velha convico ocidental, de facto
muitas vezes partilbada pela etnologia, ou pelo menos por
numerosos dos seus praticantes, de que a histria possui um
sentido nico, que as sociedades sem poder so a inlagem do
que j no somos e que a nossa cultura para elas a imagem
do que necessrio ser. E no apenas o nosso sistema de poder
* Ax.olotles: formas larvares de batrquios urod.elos anfibios do
gnero ambllstomo, orlgin.rlos do MlOioo (NdT).
16
considerado como o melhor, como se chega mesmo ao ponto
de atribuir s sociedades arcaicas uma certeza anloga, Por-
que dizer que nenhum povo niltico se pode elevar ao nvel da
organizao poltica centralizada dos grandes reinos bantos
ou que a sociedade lobi no conseguiu dar-se uma organi-
zao poltica, num certo sentido afirmar acerca destes
povos o esforo para se darem um verdadeiro poder poltico.
Que sentido teria dizer que os ndios Sioux no conseguiram rea-
lizar o que haviam atingido os .A:ztecas, ou que os Bororo foram
incapazes de se elevar ao nvel poltico dos Incas? A arqueo-
logia da linguagem antropolgica conduzir-nos-ia, e sem que
fosse necessrio perfurar um solo na realidade bem pouco
espesso, a pr a nu um parentesco secreto entre a ideologia
e a etnologia, votada esta, se no estivermos atentos, a mer-
gulhar no mesmo pntano lamacento da sociologia e da psi-
cologia. Ser possvel uma antropologia poltica? Pod<:r-se-ia
duvidar, se fossemos a considerar a mar sempre crescente da
literatura consagrada ao problema do poder. O que sobretudo
chama a ateno constatar nela a dissoluo gradual do
poltico que, no se descobrindo onde se esperava justamente
encontr-lo, se cr assinalar em todos os nveis das socie-
dades arcaicas. Tudo cabe ooto no campo do poltico, todos
os sub-grupos e unidades (grupos de parentesco, classes de
idade, unidades de produo, etc.) que constituem uma socie-
dade so investidos, a propsito de tudo e de nada, duma signi-
ficao poltica, a qual acaba por recobrir todo o espao do
social e perder, em consequncia, a sua especificidade. Pois
que, se o poltico existe em todo o lado, ele no existe em parte
alguma. 11: caso de resto para nos perguntarmos se no pre-
cisamente isso que se procura dizer: que as sociedades arcaicas
no so verdadeiras sociedades, j que no so sociedades pol-
ticas. Resumindo, seramos levados a decretar que o poder
poltico no ,pensvel, uma vez que aniquilado no prprio
acto de o captar. Nada impede no entanto de supor que a etno-
logia no se coloca seno os problemas que pode resolver. 11:
17
preciso ento que nos perguntemos: em que condies o poder
poltico pensvel? Se a antropologia faz finca-p porque
se encontra no fundo num impasse, torna-se portanto neces-
srio tomar outra via. O caminho pelo qual ela se extravia
o mais fcil, o que podemos seguir cegamente, o que indica o
nosso prprio mundo cultural, no pelo facto de se desdobrar
no universal, mas antes por se revelar to particular como
qualquer outro. A condio renunciar asceticamente, dire-
mos ns, concepo extica do mundo arcaico, concepo
que, em ltima anlise, determina massivamente o discurso
pretensamente cientfico sobre este mundo. A condio ser
neste caso a deciso de tomar finalmente a srio o homem das
sociedades primitivas, sob todos os seus aspectos e em todas
as suas dimenses: tambm sob o ngulo do poltico, mesmo
e sobretudo se este se realiza nas sociedades arcaicas como
negao daquilo que no mundo ocidental. 1l: preciso aceitar
a ideia de que negao no significa o nada, e que quando
o espelho no nos devolve a nossa imagem isso no prova que
nada haja para olhar. Mais simplesmente: da mesma maneira
que a nossa cultura acabou por reconhecer que o homem pri-
mitivo no uma criana, mas, individualmente, um adulto,
poder tambm ela progredir um pouco se lhe reconhecer uma
equivalente maturidade colectiva.
Os povos sem escrita no so portanto menos adultos
que as sociedades letradas. A sua histria to profunda
como a nossa e, a menos que seja por racismo, no h razo
alguma para os julgar incapazes de reflectir na sua prpria
experincia e de inventar para os seus problemas as solues
a.propriadas. Eis porque no poderamos contentar-nos em
enunciar que nas sociedades onde no se observa a relao de
comando-obedincia (quer dizer, nas sociedades sem poder
poltico), a vida do grupo como projecto colectivo se mantm
por meio do controle social imedia!to, imediatamente qualifi-
cado de apoltico. Que se entende ao certo por isto? Qual o
referente pOltico que permite, por oposio, falar de apol-
tico? Mas, justamente, no h poltico visto tratar-se de
18
sociedades sem poder: como se pode ento falar de a poltica?
Ou bem que o poltico est presente, mesmo nestas sociedades
ou a de controle social imediato apoltico
em _si contraditoria e de qualquer maneira tautolgica: que nos
ensma ela, com efeito, relativamente s sociedades s quais a
aplicamos? E que rigor possui a explicao de Lowie, por
segundo a qual, nas sociedades sem poder poltico,
Um poder no oficial da opinio pblica? Se tudo
politico, nada o , dizamos; mas se em algum lado existe
0
apoltico, porque num outro lugar o poltico se manifesta!
Em ltima anlise, uma sociedade apoltica no teria sequer
0
seu lugar na esfera da cultura, mas deveria estar colocada a
par das sociedades animais regidas pelas relaes naturais de
dominao-submisso.
. Ta!vez se confrontado a com a barreira que se pe
a. reflexao sobre o poder: impossvel pensar
0
a pol-
tico sem o politico, o controle social imediato sem a mediao
palavra a sociedade sem o poder. O obstculo
que a politicologia no soube at aqui ultrapassar,
detect-lo no etnocentrismo cultural do pensamento
ocidental, ele prprio ligado a uma viso extica das socie-
dades no ocidentais. Se nos obstinarmos em reflectir sobre
o poder partindo da certeza de que a sua forma verdadeira se
encont11a realizada na nossa cultura, se persistirmos em fazer
desta forma o molde de todas as outras, inclusivamente
0
seu telos, ento seguramente renunciaremos coerncia dos
e deixarmos que a cincia se degrade em opinio.
A Ciencia do homem no talvez necessria. Mas a partir do
momento em que a queremoR constituir e articular o discurso
etnolgico, ento convm mostrar um pouco de respeito pelas
culturas areaicas, e interrogarmo-nos sobre a validade de cate-
gorias como as de economia de subsistncia ou de controle
social imediato. A no ser efectuado este trabalho crtico, expo-
desde a deixar escapar o real sociolgico, e em
seguida a. desviarmo-nos da prpria descrio emprica: che-
gamos assim, segundo as sociedades ou segundo a fantasia dos
19
seus observadores, a encontrar o poltico por todo o lado ou
a no o encontrar em lado nenhum.
O exemplo anteriormente evocado das sociedades ndias
da Amrica ilustra perfeitamente, estamos em crer, a impos-
sibilidade efectiva de falar de sociedades sem poder poltico.
No este o lugar prprio para definir o estatuto do poltico
neste tilpo de culturas. Limitar-nos-emos a recusar a evidncia
etnocentrista segundo a qual o limite do poder a coero, para
alm ou para aqum da qual nada mais haveria; que o poder
existe de facto (no somente na Amrica mas em muitas outras
culturas primitivas) totalmente separado da violncia e exte-
rior a toda a hierarquia; que, por conseguinte, todas as socie
dades, arcaicas ou no, so polticas, mesmo se o poltico se
diz em sentidos mltiplos, mesmo se esse sentido no imedia-
tamente decifrvel e se necessrio desvendar o enigma de
um poder <impotente. Isto leva-nos a dizer que:
1) No se pode repartir as sociedades em dois grupos:
sociedades de poder e sociedades sem poder. Julgamos, pelo
contrrio (em toda a conformidade com os dados da etnogra-
fia) que o poder poltico wniversal, imanente ao social (quer
o social seja determinado pelos laos de sangue quer pela.q
classes sociais), mas que se realiza com base em dois modelos
principais: poder coercivo, poder no coercivo.
2) O poder poltico como coero (ou como relao
de comando-obedincia) no o modelo do poder verdadeiro,
mas simplesmente um caso particular, uma realizao concreta
do poder poltico em certas culturas, como a ocidental (que
no a nica, naturalmente). No h portanto razo cient-
fica alguma em privilegiar esta modalidade particular do poder
para dela fazer o ponto de referncia e o princpio de explica-
o doutras modalidades diferentes.
3) Mesmo nas sociedades onde est ausente a insti-
tuio poltica (por exemplo, onde no existem chefes), mesmo
a o poltico est presente, mesmo a se pe a questo do poder:
no no sentido enganador que incitaria a querer dar conta de
uma ausncia impossvel, mas ,pelo contrrio no sentido pelo
20
qual, talvez misteriosamente, algwrna coisa existe na 11lU8ncia.
Se o poder poltico no uma necessidade inerente natu-
reza humana, ao homem como ser natural (e aqui Nietzs-
che engana-se), ele em contrapartida uma necessidade ine-
rente vida social. Pode pensar-se o poltico sem a violncia
no se pode pensar o social sem o poltico: noutros termos'
no existem sociedades sem poder. :m por isso que, duma
maneira, poderamos retomar por nossa conta a frmula de
B. de Jouvenel, A autoridade surgiu-nos como criadora do lao
social, e ao mesmo tempo subscrever absolutamente a crtica
que dela faz Lapierre. Pois se, como o pensamos, o poltico
se encontra no CO!'ao do social, no certamente no sentido
em que o encara o senhor de Jouvenel, para quem o campo do
poltico se reduz aparentemente ao ascendente pessoal das
personalidades fortes. No se poderia ser mais ingenuamente
(mas tratar-se- realmente de ingenuidade?) etnocentrista.
As anteriores abrem a perspectiva na qual
se pode situar a tese do senhor Lapierre cuja exposio ocupa
a quarta parte da obra: 0 poder poltico deriva da inova-
o social (pg. 529), e ainda: 0 poder poltico desenvolve-se
a inovao social mais importante, o seu
ntmo mais m:enso, o seu alcance mais alargado (pg. 621).
demonstraa?, apoiada em numerosos exemplos, parece-nos
rigorosa e convmcente e nada mais podemos fazer do que afir-
mar a nossa concordncia com as anlises e as concluses do
autor. Com uma restrio, no entanto: que o poder poltico
de que aqui se trata, aquele que provm da inova!;o social
o poder que, pelo nosso lado, designamos como coercivo:
com isto dizer que a tese do senhor Lapierre visa
as sociedades onde se manifestam as relaes de comando-
mas no as outras: que, por exemplo, no se pode
evidentemente falar das sociedades ndias como sociedades
onde o poder poltico provm da inovao social. Noutros ter-
mos, a inovao social talvez o fundamento do poder poltico
no certamente o fundamento do poder poltico
nao coerCivo, a menos que se decida (o que impossvel) que
21
----,
no h poder que no seja coercivo. O alcance da tese do senhor
Lapierre est limitado a um certo tipo de sociedade, a uma
modalidade particular do poder poltico, j que significa impli-
citamente que onde no h inovao social o poder poltico
no existe. Ela traz-nos, no obstante, um ensinamento pre-
cioso: a saber, que o poder poltico como coero ou como
violncia a marca das sociedades histricas, quer dizer, das
sociedades que trazem consigo a causa da inovao, da mu-
dana, da historicidade. E poderamos assim dispor as diversas
sociedades segundo um novo eixo: as sociedades de poder pol-
tico no coercivo so as sociedades sem histria, as socieda-
des de poder poltico coercivo so as sociedades histricas.
Disposio bem diferente daquela que implica a reflexo actual
sobre o poder, que identifica sociedades sem poder e socieda-
des sem histria.
11: portanto da coero e no do poltico que a inovao
o fundamento. Daqui resulta que o trabalho de Lapierre
no realize seno metade do programa, visto no ter respon-
dido questo do fundamento do poder no coercivo. Questo
que se enuncia mais sucintamente e de forma mais virulenta:
.porque existe poder poltico? Porque h poder poltico em
vez de coisa nenhuma? No pretendemos trazer a resposta,
quisemos apenas dizer porque que as respostas anteriores
no so satisfatrias e em que condies uma resposta justa
possvel. Trata-se em suma de definir a tarefa de uma antro-
pologia poltica geral, e no mais regional, tarefa que se divide
em duas grandes interrogaes:
1) O que o poder poUtico? Quer dizer: o que a
sociedade?
2) Como e porqu se passa do poder poltico no coer-
civo ao poder poltico coercivo? Quer dizer: o que a histria?
Limitar-nos-emos a constatar que Marx e Engels, apesar
da sua grande clllltura etnolgica, nunca conduziram a sua
reflexo neste sentido, mesmo supondo que tenham formulado
correctamente a questo. Lapierre nota que a verdade do
marxismo que no haveria poder poltico se no houvesse
22
conflitos entre as foras s o c i a i s ~ . 11: uma verdade sem dvida,
mas vlida unicamente para as sociedades em que foras
sociais esto em conflito. Que no se pode compreender o
poder como violncia (e 'a sua forma ltima: o Estado cen-
tralizado) sem o conflito social, indiscutvel. Mas que
se passa nas sociedades sem conflito, naquelas onde reina
o comunismo primitivo? E poder o marxismo dar conta
(e nesse caso constituiria com efeito uma teoria universal
da sociedade e da histria, e portanto da antropologia) desta
passagem da no-histria historicidade e da no-coero
violncia? Qual foi o primeiro motor do movimento histrico?
Talvez conviesse procur-lo precisamente naquilo que, nas
sociedades arcaicas, se dissimula ao nosso olhar, no prprio
poltico. Nesse caso seria necessrio inverter a ideia de Dur-
kheim (ou coloc-la no seu devido lugar) segundo a qual o poder
poltico pressupunha a diferenciao social: no seria justa-
mente o poder poltico que constitui a diferena absoluta da
sociedade? No encontraramos por este meio a ciso radical
enquanto raiz do social, o corte inaugural de todo o movi-
mento e de toda a histria, o desdobramento original como
matriz de todas as difeTenas?
11: de uma revoluo coprnica que se trata. No sen-
tido em que, at agora, e sob certos aspectos, a etnologia
deixou as culturas primitivas rodar em torno da civilizao
ocidental, num movimento centrpeto, poder-se-ia dizer. Que
uma inverso completa das perspectivas seja necessria ( con-
tanto que estejamos realmente empenhados em enunciar sobre
as .sociedades arcaicas um discurso adequado ao seu ser e no
ao ser da nossa), o que nos parece demonstrar amplamente
a antropologia poltica. Ela confronta-se com um limite, que
menos o das sociedades primitivas do que aquele que traz
consigo prpria, a prpria limitao do Ocidente do qual ela
exibe a marca ainda gravada em si. Para escapar atraco
da sua terra natal e se elevar verdadeira liberdade de pensa-
mento, para se arrancar evidncia natural onde continua a
chafurdar, a reflexo sabre o poder deve operar a converso
23
heliocntrica: com isso ela beneficiar talvez de uma melhor
compreenso do mundo dos outros e, por conseguinte, do
nosso. O caminho da sua converso -lhe de resto indicado
por um pensamento do nosso tempo que soube tomar a srio
o dos Selvagens: a obra de Claude Lvi-Strauss prova-nos a
rectido da diligncia pela amplitude (talvez ainda insuspei-
tada) das suas conquistas, e convida-nos a ir mais longe. :El
tempo de mudar de sol e de se pr em movimento.
Lapierre inicia o seu trabalho denunciando a justo ttulo
uma pretenso comum s cincias humanas, que julgam asse-
gurar o seu estatuto cientfico rompendo todos os laos com
aquilo a que elas chamam a filosofia. E, de facto, tal refern-
cia no necessria para descrever cabeas ou sistemas de
parentesco. Mas trata-se antes de uma outra coisa, e de
temer que, sob o nome de filosofia, seja muito simplesmente
o prprio pensamento que se procura abandonar. Deve-se ento
dizer que cincia e pensamento se excluem mutuamente, e que
a cincia se edifica a partir do no-pensado, ou mesmo do
antipensado? As tolices, por vezes tmidas e hesitantes, por
vezes decididas, que por todos os lados proferem os militantes
da cincia parecem ir neste sentido. Mas neste caso neces-
srio saber reconhecer ao que conduz esta vocao frentica
para o antipensamento: sob a capa da cincia, de servilis-
mos epigonais ou de empreendimentos menos ingnuos, ela
leva directamente ao obscurantismo.
Ruminao triste que afasta de todo o saber e de toda
a jovialidade: sendo menos fatigante descer do que subir, no
ser, no entanto, mais eficaz e leal o pensamento que se ins-
tala nas vertantes mais abruptas ?
* Estudo inicialmente publicado na revista Critique (n.
0
270,
Nov. 1969).
24
CAPITULO II
TROCA E PODER: FILOSOFIA DA CHEFIA lNDIA
A teoria etnolgica oscila, deste modo, entre duas ideias,
opostas e no entanto complementares, do poder poltico: se-
gunda uma, as sociedades primitivas so, no limite, desprovi-
das na sua maior parte de qualquer forma real de organizao
poltica; a ausncia de um orgo aparente e efectivo do poder
conduziu a que se recusasse a prpria funo desse poder a
essas sociedades, a partir da consideradas como tendo estag-
nado num estdio histrico prepoltico ou anrquico. Para a
segunda, pelo contrrio, uma minoria de entre as sociedades
primitivas ultrapassou a anarquia primordial para aceder a
esse modo de ser, que o nico autenticamente humano, do
grupo: a instituio poltica; mas ento v-se o defeito, que
caracterizava a massa das sociedades, converter-se aqui em
excessO, e a instituio perverter-se em despotismo ou tira-
nia. Tudo se passa portanto, como se as sociedades primi-
tivas se encontrassem colocadas perante uma alternativa:
ou a falta da instituio e o seu horizonte anrquico,
ou, ento, o excesso dessa mesma instituio e o seu destino
desptico. Mas esta alternativa constitui de facto um dilema,
porque, para aqum ou para alm da verdadeira condio poli-
tica, sempre esta ltima que escapa ao homem primitivo. E
justamente na certeza do falhano quase fatal a que eram
ingenuamente condenados os no-ocidentais pela etnologia nas-
25
I '
cente que se detecta essa complementaridade dos dois extre-
mos, acordados cada um pelo seu lado, um por excesso, outro
por defeito, em negar a justa medida do poder poltico.
A Amrica do Sul oferece a este respeito uma ilustrao
marcada dessa tendncia para inscrever as sociedades primi-
tivas no quadro dessa macrotipologia dualista: ao separa-
tismo anrquico da maioria das sociedades ndias, ope-se
a massividade da organizao inca, imprio tot!l!litrio do
passado>. De facto, a consider-las segundo a sua organiza-
o politica. essencialmente pelo sentido da democracia ~
pelo gosto da igualdade que se distinguem a maior parte das
sociedades ndias da Amrica. Os primeiros viajantes do Brasil
e os etngrafos que se lhes seguiram por muitas vezes o subli-
nharam: o atributo mais notvel do chefe ndio consiste na
sua carncia quase completa de autoridade; a funo politica
parece ser. no seio dessas populaes, s muito tenuemente
diferenciada. Apesar da sua disperso e insuficincia, a docu-
mentao que possumos vem confirmar essa viva impresso
de democracia a que foram sensveis todos os americ8111istas.
De entre a enorme massa das tribos recenseadas na Amrica
do Sul, a autoridade da chefia no foi explicitamente atestada
seno no caso de a>lguns grupos, tais como os Taino das ilhas,
os Caquetio, os Jirajira, ou os Otomac. Mas convm notar que
estes grupos, quase todos Arawak, esto localizados no noroeste
da Amrica do Sul, e que a sua organizao social apresenta
uma ntida estratificao em castas: no se encontra este
ltimo trao seno entre as tribos Guaycuru e Arawak
(Guana) do Chaco. Pode-se alm disso supor que as sociedades
do noroeste esto ligadas a uma tradio cultural mais pr-
xima da civilizao Chibcha e da rea andina do que das cul-
turas ditas da Floresta Tropical. Portanto sobretudo a ausn-
cia de estratificao social e de autoridade do poder que se
deve reter como trao pertinente da organizao poltica do
maior nmero das sociedades indias: a>lgumas de entre elas,
como os Ona e os Yahgan da Terra de Fogo. no possuem
sequer a instituio da chefia; e diz-se dos Jivaro que a
sua lngua no possua termo algum para designar o chefe.
Para um esprito formado por culturas em que o poder
poltico dotado de poderio efectivo, o estatuto particular
da chefia americana impe-se portanto como sendo de natu-
reza paradoxal; o que pois esse poder privado dos meios de
se exercer? Atravs de qu se define o chefe, uma vez que
a autoridade lhe falta? E imediatamente nos sentiramos incli-
nados, cedendo s tentaes de um evolucionismo mais 011
menos consciente, a concluir por um carcter epifenomenal
do poder poltico nessas sociedades, cujo arcasmo impediria
a inveno de uma autntica forma poltica. Resolver assim
o problema s pode conduzir no entanto a ter de recoloc-lo
de uma maneira diferente: onde vai buscar uma tal institui-
o sem Substncia a fora para subsistir? J que o que
se trata de compreender bi'zarra persistncia de um poder
praticamente impotente, de uma chefia sem autoridade, de uma
funo que funciona no vazio.
Num texto de 1948, R. Lowie, analisando os traos dis-
tintivos do tipo de chefe acima evocado, a que chamou titular
cMef, isola trs propriedades essenciais do lder ndio, cuja
recorrncia ao longo das duas Amricas permite tomar como
condio necessria do poder nessas regies:
1.'-O chefe um fazedor de paz; a instncia mode ..
radora do grupo, tal como o atesta a diviso frequente de
poder em civil e militar.
2.'- Tem de ser generoso com os seus bens, e no pode
permitir-se, sob pena de se desautorizar, repelir os incessantes
pedidos dos seus administrados.
3.' -Apenas um hom orador pode aceder chefia.
Este esquema da tripla qualificao necessria ao deten-
tor da funo poltica evidentemente to pertinente para
as sociedades sul- como norte-americanas. Com efeito, antes
do mais notvel o facto de as atribuies da chefia serem muito
opostas em tempo de guerra e em tempo de paz, e que com
muita frequncia a direco do grupo seja assumida por dois
27
indivduos diferentes, como por exemplo entre os Cubeo, ou
nas tribos do Orenoco: existe um poder civil e um poder mili-
tar. Durante a expedio guerreira, o chefe dispe de um
poder considervel, por vezes mesmo absoluto, sobre o con-
junto dos guerreiros. Mas, uma vez refeita a paz, o chefe de
guerra perde todo o seu poderio. Portanto, o modelo do poder
coercivo no aceite seno em casos excepcionais, quando
o grupo se v confrontado com uma ameaa exterior. Mas a
conjuno do poder e da coero cessa assim que o grupo
passa a estar em relao apenas consigo mesmo. Era assim
que a autoridade dos chefes tupinamba, incontestada durante
as expedies gueiTeiras, se encootrava estreitamente subme-
tida ao controle do conselho dos ancios em tempo de paz. Do
mesmo modo, os Jivaro no teriam chefe seno em tempo de
guerra. O poder normal, civil, fundado no cansen81U8 omnium
e no na coaco, assim de natureza profundamente pacfica;
a sua funo igualmente pacificadora: o chefe tem a seu
cargo a manuteno da paz e da harmonia no grupo. Assim,
a ele que compete apaziguar as querelas, regular os diferen-
dos, no pelo uso de uma fora que no possui e que no lhe
seria reconhecida, mas valendo-se apenas das virtudes do seu
prestgio, da sua equidade e da sua palavra. Mais do que um juiz
que sanciona, um rbitro que procura reconciliar. No por-
tanto surpreendente constatar que as funes judicirias da
chefia sejam to raras: se o chefe falha a reconciliao das
partes adversas, no pode impedir que o diferendo se trans-
forme em hostilizao mtua prolongada *. E isto revela cla-
ramente a disjuno entre o poder e a coero.
O segundo trao caracterstico da chefia ndia, a gene-
rosidade, parece ser mais do que um dever: uma servido.
Com efeito, os etnlogos notaram no seio das mais diversas
No original, a palavra fend, termo ingls que designa uma
hostUizao mtua prolongada (be at feud with), entre duas tribos,
rammas, etc., com ataques sangrentos Inspirados pelo desejo de vingana
de uma injria feita anteriormente (NdT).
28
populaes da Amrica do Sul que essa obrigao de dar,_ a
que o chefe est vinculado, de facto vivida ndws
como uma espcie de dTeito de o submeter a uma pilhagem
permanente. E se o infeliz lder procura e_ssa
de presentes, todo o prestgio, todo o poder lhe sao
mente denegados. Francis Huxiey escreve a propos1to dos
Urubu: 0 papel do chefe ser generoso e dar tudo o que lhe
pedem: em certas tribos ndias pode sempre reconhecer-se
o chefe pelo facto de ele possuir menos que os outros e usar
os ornamentos mais pobres. O resto foi-se, em presentes '
A situao perfeitamente anloga entre os Nambikwara,
descritos por Claude Lvi-strauss: ... A generosidade desem-
penha um papel fundamental na determinao do grau de popu-
laridade de que gozar o novo chefe ... ' Por vezes, o chefe,
Uiltrapassado pelos repetidos peddos, exclama: Acabou-se!
Basta de dar! Que um outro venha ser generoso em meu
lugar!'. E intil multiplicar os exemplos, dado esta rela-
o dos ndos com o seu chefe constante atraves de todo o
continente (Guiana, Alto-Xingu, etc.). Avareza e poder no
so compatveis; para ser chefe, preciso ser generoso.
Pwra alm deste to vivo gosto pelas posses do chefe,
os ndios apreciam verdadeiramente as suas palavras: o talento
oratrio ao mesmo tempo uma condio e um meio do poder
politico. Grande o nmero das tribos cujo chefe deve quoti-
dianamente, ora ao amanhecer ora ao crepsculo, gratificar
com um discurso edificante as suas gentes: os chefes pilaga,
sherent, tupinamba, todos os das exortam o seu povo a viver
segundo a tradio. Porque a temtica do seu discurso est
estreitamente ligada com a sua funo de fazedor de paz.
... O tema habitual dessas arengas a paz, a harmonia e a
honestidade, virtudes recomendadas a toda a gente da tribo .
1
F. Hwcley, Amables Sauva.ges.
2 c. Lvi-Strauss, La vie familiale et sociale des lndiens Nam-
blkwa.ra.
lbld.
B8Jidi>Ook <>f South American lndia.Ds, vol. V, p. 343.
29
No h dvida de que por vezes o chefe prega no deserto:
os Toba do Cbaco ou os Trumai do Alto-Xingu no prestam,
as mais das vezes, a menor ateno ao discmso do seu lder,
que fala assim no meio da indiferena generalizada. Que no
entanto isto no nos oculte o amor que os lndios tm pela
palavra: no era um Chiriguano que explicava o acesso de
uma mulher chefia dizendo: 0 seu pai tinha-lhe ensinado
a falar?
A literatura etnogrfica atesta pois claramente a pre-
sena destas trs caractersticas essenciais da chefia. No en-
tanto, a rea sul-americana ( excepo das culturas andinas,
de que no se ir aqui tratar) apresenta uma caracterstica
suplementar a juntar s outras trs referenciadas por L>wie:
quase todas essas sociedades, quaisquer que sejam o seu tipo
de unidade scio-,poltica e a sua estatura demogrfica, reconhe-
cem a poligamia; mas, do mesmo modo, quase todas a reco-
nhecem como sendo, as mais das vezes, privilgio exclusivo
do chefe. A dimenso dos grupos varia fortemente na Am-
rica do Sul, consoante o meio geogrfico, o modo de aquisio
dos alimentos, o nvel tecnolgico: um bando de nmadaS:
guayaki ou siriono, povos sem agricultura, raras vezes conta
com mais de trinta pessoas. Em 'Contrapartida, as aldeias
tupinamba ou guarani, agricultores sedentrios, agrupavam
por vezes mais de mil pessoas. A grande casa colectiva dos
Jivaro abriga entre oitenta e trezentos residentes, e a comu-
nidade witoto compreende cerca de cem pessoas. Por conse-
guinte, segundo as reas culturais, o tamanho mdio das uni-
dades scio-polticas pode sofrer variaes considerveis. O
que mais impressionante constatar que a maior parte destas
culturas, desde o miservel bando guayaki at enorme aldeia
tupi, reconhecem e admitem o modelo do casamento plural,
alis frequentemente sob a forma da poliginia sororal. Por
conseguinte, preciso admitir que o casamento polgino no
funo de uma densidade demogrfica mnima do grupo,
uma vez que essa instituio possuda pelo bando guayak!
assim como pela aldeia tupi, trinta ou quarenta vezes mais
30
numerosa. Como se pode, calcular, a poliginia, quando posta
em prtica no seio de uma massa populacional importante,
no acarreta perturbaes demasiado graves para o grupo,
Mas
0
que dizer quando ela atinge unidades to fracas con:o
0
so os bandos nambikwara, guayaki ou siriono? Ela nao
pode deixar de afectar fortemente a vida d? grupo, e so. por
certo bem slidas as razes que este mvoca para amda
assim a aceitar razes essas que importa tentar elucidar.
A este interessante interrogar o material etno-
grfico, apesar das suas numerosas lacunas:
no possu.mos, acerca de um grande nmero de tnbos, ma1_s
do que algumas magras informaes; em certos casos ate,
no se reconhece de uma tribo mais do que o nome sob o qual
era designada. Parece no entanto ser possvel outorgar a certas
recorrncias uma verosinlhana estatstica. Se retivermos o
montante aproximado, mas [lTOvvel, de um total de cerca
de duzentas etnias para toda a Amrica do Sul, apercebemo-
-nos de que, sobre esse total, a informao de que podemos dis-
por no estabelece formalmente uma estrita para
mais do que uma dezena de grupos, se tamto: e por exemplo
0
caso dos Palikur da Guiana, dos Apinay e dos Timbira do
grupo G, ou dos Yagua do norte do Amazonas. s:m conceder
a estes clculos uma exactido que por certo nao possuem,
eles no deixam no entanto de ser indicativos de uma ordem
de grandeza: apenas uma em cada vinte das
pratica a monogamia rigorosa. O que quer d1zer a mawr
parte dos grupos reconhece a poliginia e que esta e quase con-
tinental na sua extenso.
Mas, do mesmo modo, preciso notar que a poliginh
ndia est estritamente limitada a uma pequena minoria de
indivduos, quase sempre os chefes. E alis
que no possa ser de outra maneira. com se consi-
derar que a sex-ratio natural, ou a ,relaao numeriCa dos
no poderia nunca ser suficientemente baixa para pe:'mbr a
cada homem desposar mais do que uma mulher, ve-se que
uma po!iginia generalizada biologicamente impossvel: ela
31
I:
I
portanto culturalmente limitada a certos indivduos. Esta
determinao natura.l confirmada pelo exame dos dados etno-
grficos: em 180 ou 190 tribos praticantes da poliginia,
uma dezena apenas no lhe estabelece um limite; o que signi-
que qualquer homem adulto dessas tribos pode desposar
ma1s do que uma mulher. So, por exemplo, os Achagua, Ara-
wak do noroeste, os Chibcha, os Jivaro, ou os Roucouyenes,
Carib_ Guiana. Ora os Achagua e os Chibcha, que perten-
cem a area cultural conhecida por circum-carib, comum
Venezuela e Colmbia, eram muito diferentes do resto das
populaes sul-americanas; envolvidos num processo de pro-
funda estratificao social, reduziam escravatura os seus
viZinhos menos poderosos e beneficiavam assim de uma entrada
constante e importante de prisioneiras, imediatamente toma-
das como esposas complementares. No que se refere aos Jivaro,
era por certo a sua paixo pela guerra e pela caa de cabeas
que, acaiTetando uma forte mortalidade dos jovens guerreiros
permitia maior parte dos homens a prtica da poliginia:
Os Roucouyenes, e com eles vrioa outros grupos Carib da
Venezuela, eram igualmente populaes muito belicosas: as
expedies militares visavam, as mais das vezes, a!:Tan-
JRr escravos e mulheres secundrias.
Antes do mais, tudo isto nos demonstra a raridade, natu-
ralmente determinada, da poliginia geral. Por outro lado vemos
que, quando se no limita ao chefe, essa possibilidade se funda
sobre determinaes culturais: existncia de castas, prtica
da escravatura, actividade guerreira. Aparentemente estas
ltimas sociedades parecem mais democrticas do as
dado a poliginia deixa, nestes casos, de ser o privi-
legiO de um umco. E, de facto, parece mais funda a oposio
cavada entre esse chefe iquito, possuidor de doze mulheres.
e os seus homens atreitos monogamia, do que entre
0
achagua e os homens do seu grupo, a quem a poliginia igual-
mente permitida. Lembremos no entanto que as sociedades
do noroeste estavam j fortemente estratificadas e que uma
aristocracia de nobres ricos detinha, atravs da sua prpria
32
riqueza, o meio de ser mais poliginos, por assim dizer, do que
os plebeus menos favorecidos: o modelo do casamento por
compra permitia aos homens ricos adquirir um maior nmero
de mulheres. De modo que, entre a poliginia como privilgio
do chefe e a poliginia generalizada, a diferena no de natu-
reza mas de grau: um plebeu chibcha ou achagua no podia
em caso algum desposar mais do que duas ou trs mulheres,
enquanto, pelo seu lado, Guaramental, um clebre chefe do
noroeste, possua duzentas.
Assim, da anlise precedente legtimo reter que para
a maior parte das sociedades sul-americanas a instituio
matrimonia.! da poliginia est estreitamente articulada com
a instituio poltica do poder. A especificidade deste lao
no poderia ser abolida sem que se processasse um restabele-
cimento das condies da monogamia: uma poliginia de igual
extenso para todos os homens do grupo. Ora, o breve exame
dessa meia dzia de. sociedades que possuem o modelo genera-
lizado do casamento plural, revela que a oposio entre o chefe
e o resto dos homens se mantm, e que at se refora.
Era igualmente porque estavam investidos de um poder
real que certos guerreiros tupinamba, os mais felizes no com-
bate, podiam possuir esposas secundrias, muitas das vezes
prisioneiras arrancadas ao grupo vencido. Porque o Conselho>>,
a que o chefe devia submeter todas as suas decises, era com-
posto precisamente em parte pelos guerreiros mais brilhantes ;
e era entre estes ltimos, geralmente, que a assembleia dos
homens escolhia o novo chefe quando o filho do lder morto
se revelava inapto para o exerccio desta funo. Se por outro
lado certos grupos reconhecem a poliginia como privilgio do
chefe, e tambm dos melhores caadores, porque a caa,
enquanto actividade econmica e actividade de prestigio, se
reveste para eles de uma importncia particuJar, sancionada
pela influnia que confere ao homem hbil a sua destreza
em a.panhar muita caa: no seio de certas populaes, como
os Puri-coroado, os Caingang, ou os !purina do Jurua-Purus,
a caa constitui uma fonte decisiva da alimentao; por con-
3
33
seguinte, os melhores caadores adquirem um estatuto social
e . um pesO politico conformes sua qualificao profissio
na!. Sendo a principal .tarefa do lder velar pelo bem-estar
do. seu grupo, ao chefe . .ipurina ou caingang compete ser um
dos melhores caadores, com que o grupo fornece geralmente
os homens elegveis para a chefia. Assim, para alm do facto
de .apenas um bom caador estar altura de responder s
exigncias de uma fanlia polgina, a caa, actividade econ-
mica essencial sobrevivncia do grupo, confere queles que
nela. so mais bem sucedidos uma .importncia poltica segura.
Permitindo a polginia aos mais eficazes dos seus fornece-
dores .de .alimentos, o grupo, de algum modo fazendo uma hipo-
teca sobre o .futuro, .reconhece-lhes, .implicitamente, a .quali,
dade .de. lideres. possveis. No entanto, necessrio assinalar
que.essa .poliginia, longe .de. ser igualitria, favorece sempre
o chefe. efectivo do grupo.
O modelo po!iginico do casamento, encarado .segundo
es.tas diversas. extenses: geral ou. :restrito, seja . apenas ao
chefe, seja ao chefe e a uma fraca minoria de homens, reme-
teu-nos portanto constantemente para a vida poltica do grupo;
sobre este horizonte que a poliginia desenha a sua figura,
e :provavelmente esse o lugar em que se poder ler o sentido
da sua funo.
portanto por quatro caracteristicas que na Amrica
do Sul se .distingue o chefe. Como tal, ele um pacificador
profissio:nal; alm disso .deve ser generoso e bom orador;
finalmente, a poliginia seu privllgo.
Todavia, impe-se uma distino entre o primeiro destes
critrios e os .trs seguintes. Estes ltimos definem o con-
junto das prestaes e contra-prestaes pelas quais se man-
tm .o equilbrio entre a estrutura social e a instituio pol-
tica: o lder exerce um direito sobre um nmero amormal de
mulheres do grupo; este ltimo, em contrapartida, est no seu
direito de exigir do seu chefe generosidade nos bens e talento
oratrio, Esta relao de ruparncia cambista determina-se assim
a um nvel essencial da sociedade, um nvel propriamente socio-
34
lgico, que tem a ver-com a prpria estrutura do grupo como
tal. A funo moderadora do chefe desdobra-se, pelo contrrio,
no elemento .diferente da prtic. estritamente poltica. No se
pode com efeito, como o. parece fazer. Lowie, situa!! -no mesmo
plruno de realidade sociolgca, por um lado o que se. define,
nos termos da anlise precedente, como-o conjunto das condi-
es de possibilidade da esfera politica, e por outro lado o que
constitui o pr em prtica efectivo, vivido como tal, das fun-
es quotidianas da instituio. '!'ratar como elementos homo-
gneos o modo de constituio do poder e o modo de operar
do poder constitudo, de certo modo poderia conduzir a con-
fundir o ser e o fazer da chefia, o transcendental e o emprico
da instituio. Humildes embora no seu alcance, as funes .do
chefe . no so por isso menos controladas pela opinio pblica.
Planificador das actividades econmicas e cerimoniais do grupo,
o lder no possui qua;Jquer poder de deciso; . nada lhe asse-
gura que as suas so executadas: esta fragilidade
permanente de um poder que no cessa de ser contestado d
o seu tom ao exerccio da funo: o poder do chefe depende
unicamente do muito bem querer do grupo. Compreende-se a
partir da o interesse directo do chefe em manter a paz: a
irrupo de uma crise destruidora da harmonia interna obriga
interveno do poder, mas suscita ao mesmo tempo essa
inteno de contestao para cuja superao o chefe no pos-
sui os meios.
A funo, exercendo-se, indica assim aquilo cujo sentido
aqui se procura: a impotncia da instituio. Mas no plano
da estrutura, isto , a um outro nivel, que reside, mascarado,
esse sentido. Como actividade concreta da funo, a pr-
tica do chefe no remete portanto para a mesma ordem de
fenmenos que os trs outros critrios; ela deixa-os subsistir
como uma unidade estruturalmente articulada prpria essn-
cia da sociedade.
, com efeito, notvel coostatar que esta trindade de
predicados: dom oratrio, generosidade, poliginia, ligados
pessoa do lder, est relacionada com os mesmos e:Jementos de
entre os quais a troca e a circulao a sociedade
como tal, e sancionam a passagem da natureza cultura. li:
antes de mais pelos trs nveis .fundamentais da troca dos bens.
das mulberes e. das palavras que se define a sociedade; igual-
mente por referncia imediata a esses trs tipos de Sinais
que se constitul a esfera poltica das sociedades indias .. O poder
est pois aqui em relao (desde que se reconhea a essa con-
corrncia um valor outro que no o de uma coincidncia sem
significao) com os trs nveis estruturais .essenciais da socie-
dade, isto , com o prprio cerne do universo da comunicao.
portanto em elucidar a natureza desta relao que nos deve-
mos doravante esforar, para tentar extrair dela as impli-
caes estruturais.
Aparentemente, o poder fiel lei de troca que funda
e rege a sociedade; tudo se passa, pare:e, como se o chefe
uma parte das mulheres do grupo, em troca de bens
econmicos e de sinais lingusticos, resultando a nica dife-
rena do facto de aqui as unidades cambistas serem por um
lado um indivduo e por outro o grupo tomado globa)mente.
Uma tal interpretao, no entanto, fundada sobre a impresso
de que o princpio da reciprocidade determina a relao entre
poder e sociedade, rapidamente se revela insuficiente: sabe-se
que as sociedades ndias da Amrica do Sul no possuem em
geral uma tecnologia mais do que relativamente rudimentar,
e que, por conseguinte, nenhum indivduo, nem sequer o chefe,
pode concentrar entre as suas mos uma grande quantidade
de riquezas materiais. O prestgio de um chefe, como j vimos,
depende em grande parte da sua generosidade. Mas, por outro
lado, as exigncias dos lndios ultrapassam frequentemente as
possibilidades imediatas do chefe. Este portanto obrigado,
sob pena de se ver rapidamente abandonado pela maior parte
das suas gentes, a tentar satisfazer os seus pedidos. Sem dvida
que as suas esposas podem, em grande medida, apoi-lo na sua
tarefa: o exemplo dos Nambikwara ilustra bem o papel deci-
sivo das mulheres do chefe. Mas certos objectos- arcos, fle-
chas, ornamentos masculinos-, de que so gulosos os caa-
36
dores e guerreiros, no podem ser fabricados seno pelo
chefe; ora, as suas capacidades de produo so muito redu-
zidas e isso limita de imediato o alcance das prestaes em
bens do chefe ao grupo. Sabemos tambm, por outro lado, que,
para as sociedades primitivas, as mulheres so os valores
por excelncia. Como pretender, neste caso, que essa troca
aparente ponha em jogo duas massas equivalentes de valores,
equivalncia essa que seria no entanto de esperar, uma vez
que 0 princpio da reciprocidade funciona para articular a
sociedade com o seu poder? evidente que para o grupo, que
se desapossa, em benefcio do chefe, de uma quantidade impor-
tante dos seus valores mais essenciais- as mulheres-, as
arengas quotidianas e os magros bens econmicos de que pode
dispor o lder no constituem uma compensao equivalente.
E isto assim tanto mais que, apesar da sua falta de autori-
dade, o chefe goza no entanto de um estatuto social invejvel.
A desigualdade da troca impressionante: ela no se pode-
ria explicar seno no seio de sociedades em que o poder, munido
de uma autoridade efectiva, estivesse por isso mesmo nitida-
mente diferenciado do resto do grupo. Ora, precisamente
essa autoridade que falta ao chefe ndio: como compreender
ento que uma funo gratificada com privilgios exorbitantes
seja por outro lado impotente em se exercer?
Ao analisar em termos de troca a relao do poder
com o grupo, mais depressa se consegue destruir este para-
doxo. Consideremos pois o estatuto de cada um dos trs nveis
de comunicao, tomado em si mesmo, no seio da esfera. poli-
tica. claro que, no que se refere s mulheres, a circula-
o se faz em sentido nico: do grupo para o chefe; porque
este ltimo seria, como evidente, incapaz de repor em circuito,
em direco ao grupo, um nmero de mulheres equivalente
quele que dele recebeu. Evidentemente, aR esposas do chefe
dar-lhe-o filhas que mais tarde sero outras tantas esposas
potenciais para os jovens do grupo. Mas deve-se considerar
que a reinsero das filhas no ciclo das trocas matrimOIIIiais
no chega paia compensar a po!iginia do pai. Com efeito, na
37
! t
!
maior parte das sociedades sul-americanas, a chefia herda-se
patrilinearmente. Assim, e tendo em conta as aptides indi-
viduais, o filho do chefe, ou, falta deste, o filho do irmo
do chefe, ser o novo lder da comunidade, E ao mesmo tempo
que o cargo, ele receber o privilgio da funo; a saber, a
poliginia. O exerccio deste privilgio anula pois, em ca;da
gerao, o efeito do que poderia neutra,lizar, por intermdio
das filhas, a poliginia da gerao precedente. No sobre o
plano diacrnico das geraes sucessivas que se desenrola o
drama do poder, mas sobre o plano sincrnico da estrutura
do grupo. A subia ao poder de um chefe reproduz sempre
a mesma situao; essa estrutura de repetio no pode-
ria ser abolida seno na perspectiva cclica de um .poder que
percorresse sucessivamente todas as famlias do grupo, .sendo o
chefe- escolhido,- em cada gerao, numa. familia diferente,
at reencontrar a primeira famlia, inaugurando assim um
novo ciclo. Mas o cargo hereditrio: no se trata pois aqui
-de troca;, mas de ddiva pura e simples do grupo ao seu lder,
ddiva sem contrapartida, aparentemente destinada a sancionar
o estatuto social do detentor de um cargo institudo para
no -se exercer.
Se nos voltarmos para o nvel econmico da troca,
apercebemo-nos de que os bens sofrem o mesmo tratamento;
unicamente do -chefe para o grupo que se efectua o
seu movimento; As sociedades ndias da Amrica do Sul so.
com efeito, raramente obrigadas a prestaes econmicas para
com o seu chefe e este ltimo; como qualquer outra :pessoa,
deve cultivar a-sua: mandioca e .matar a sua caa. Excepo
feita para certas sociedades do noroeste da Amrica do Sul,
os privilgios da chefia no se situam geralmente sobre o plano
material, e apenas algumas tribos fazem da ociosidade a marca
de um estatuto social superior: os: Manrasi da Bolvia ou os
Guarani -cultivam os -jardins dp chefe e fazem as sua:s colhei-
tas,l!) preciso aln\lafazer notar que; -entre os Guarani, o
uso destedireito honratalvez.menosochefe do que-o xamane.
Seja como for, a maioria dos Uderes ndios est longe de ofe-
recer a imagem de um rei preguioso: muito pelo contrrio,
o chefe, obrigado a responder generosidade que dele se espera,
deve incessantemente pensar em arranjar presentes para ofe-
recer ao seu povo. O comrcio com outros grupos. -pode ser uma
fonte de bens; mas, mais frequentemente, no seu engenho
e no seu trabalho pessoal que o chefe confia. De modo que,
curiosamente, o lder quem, na Amrica do Sul, tra;balha
mais duramente.
Finalmente, o estatuto dos sinais lingusticos ainda
mais evidente: em sociedades que souberam proteger a lin-
guagem da degradao que lhe i:tfligem os nossos, a palavra
, mais do que um privilgio, um dever do chefe: nele que
recai o domnio das pa1avras, ao ponto de se ter podido eser-
ver, a propsito de uma tribo norte-americana: Pode dizer-se,
no que o chefe um homem que fala, mas que aquele que fala
um chefe>>, frmula facilmente aplicvel a todo o continente
sul-americano. Porque o exerccio deste quase monoplio do
chefe sobre a linguagem se refora ainda pelo facto dos ndios
no o apreenderem de modo algum como motivo para uma
frustrao. A diviso est to nitidamente estabelecid, que
os dois assistentes do lder Trumai; por exemplo, embora go-
zando de um certo prestgio, no podem falilr como o chefe:
no em virtude de uma interdio exterior, mas por causa do
sentimento de que a actividade falante seria uma frOlta tanto
ao chefe como linguagem; porque, diz um informador, qual-
quer outro que no o chefe teria vergonha de falar como ele.
Na medidaem que, recusando a ideia de uma trocadas
mulheres do grupo contra os bens e as mensagens do chefe,
se examina por conseguinte o movimento de cada sinal
segundo o seu circuito prprio, descobrimos que esse triplo
movimento apresenta uma dimenso negativa comum que c o n ~
fere a estes trs tipos de sinais um destino idntico: no
a;parecem mais como valores de troca, a reciprocidade deixa
de regular a sua circulao, e -cada um deles cai a partir de ento
no exterior do universo da comuniao. Portanto, revela"<ie
aqui uma relao original entre a regio do poder e a essncia
39
do grupo: o poder mantm uma relao privilegiada com os
elementos cujo movimento recproco funda a prpria estrutura
da sociedade; mas esta relao, denegando-lhes um valor que
de troca ao nvel do grupo, instaura a esfera poltica no
apenas como exterior estrutura do grupo, mas, mais do que
isso ainda, como negadora desta: o poder est contra o grupo,
e a recusa da reciprocidade, como dimenso ontolgica da
sociedade, a recusa da prpria sociedade.
Uma tal concluso, articulada premissa da impotn-
cia do chefe nas sociedades ndias, pode parecer paradoxal;
nela no entanto que se desfaz o problema inicial: a ausncia
de autoridade da chefia. Com efeito, para que um aspecto da
estrutura social esteja medida de exercer uma influncia,
seja ela qual for, sobre essa estrutura, preciso, no mnimo,
que a relao entre esse sistema particular e o sistema global
no seja inteiramente negativa. 11: na condio de ser de alguma
maneira imanente ao grupo que se poder desdobrar efectiva-
mente a funo poltica. Ora, esta, nas sociedades ndias, encon-
tra-se excluda do grupo e mesmo exclusiva dele: pois na
relao negativa mantida com o grupo que se enraza a impo-
tncia da funo poltica; a rejeio desta para o e:>cterior da
sociedade o prprio meio de a reduzir impotncia.
Conceber assim a relao do poder e da sociedade nas
populaes ndias da Amrica do Sul pode parecer implicar
uma metafsica finalista, segundo a qual uma vontade miste-
riosa usaria de meios desviados a fim de denegar ao poder
poltico precisamente a sua qualidade de poder. No se trata
no entanto de modo algum de causas finais; os fenmenos
aqui analisados dizem resneito ao camoo da actividade i n ~
ciente neJa qual o grppo elabora os seus modelos: e o modelo
estrutural da relaco do grupo social com o poder p o l ~
gue estamos a tentar descobrir. Este modelo permite integrar
dados recebidos como contraditrios numa primeira abordagem.
Nesta etapa da anlise, damo-nos conta de que a impotncia
do poder se articula directamente com a sua situao de
margem, relativamente ao sistema total; e essa situao
40
resulta ela prpria da ruptura que o poder introduz no ciclo
decisivo das trocas de mulheres, de bens e de palavras. Mas
ver nessa ruptura a causa do no-poder da funo pdltica
no esclarece no entanto a sua razo de ser profunda. Deve-
remos interpretar a sequncia: ruptura da troca- exteriori-
dade- impotncia, como um desvio acidental do processo cons-
ti:tutivo do poder? Isso deixaria supor que o resultado efectivo
da operao (a falta de autoridade do poder) apenas contin-
gente relativamente inteno inicial (a promoo da esfera
politica) . Mas seria preciso aeeitar ento a ideia de que esse
erro coextensivo ao prprio modelo e que se repete inde-
finidamente atravs duma rea quase continental: nenhuma
das culturas que a ocupam se mostraria assim capaz de se
dar uma autntica autoridade poltica. Est aqui subjacente
o postulado, completamente arbitrrio, de que essas culturas
no possuem criatividade: , ao mesmo tempo, o retorno ao
preconceito do seu arcasmo. No se pode portanto conce-
ber a separao entre funo poltica e autoridade como o
fracasso acidental de um processo que visava sua sntese,
como o resvalar>> de um sistema apesar de tudo desmen-
tido por um resultado que o grupo seria incapaz de corrigir.
Recusar a perspectiva do acidente conduz a supor uma
certa necessidade inerente ao prprio processo; a procurar
ao nvel da intencirmalidade sociolgica -lugar de elaborao
do modelo- a razo ltima do resultado. Admitir a confor-
midade deste com a inteno que preside sua produo no
pl.E(].e siguificar outra coisa que no a implicao deste resul-
to jo na inteno original: o poder exactamente o que estas
socieiiades quiseram que ele fosse. E como esse poder no
a, para o dizer esquematicamente, nada, o grupo revela, ac
proceder assim, a sua recusa radical da autoridade, uma nega-
o absoluta do poder. Ser possvel dar conta dessa deciso
das culturas ndias? Deveremos julg-la como fruto irracio-
nal da fantasia, ou poderemos, pelo contrrio, postular uma
racionalidade imanente a esta escolha? A prpria radicali-
dade da recusa, a sua permanncia e a sua extenso, sugerem
talvez a perspectiva na qual a situar. A relao do poder com
a troca, por ser negativa, no deixou por isso de nos mostrar
que ao nvel mais profundo da estrutura social, lugar da
constitui:o inconsciente das suas dimenses, que advm e se
esconde a problemtica desse poder. Para o dizer noutros ter-
mos, a prpria cultura, como diferena maior da natureza,
que se investe totalmente na recusa deste poder. E no jus-
tamente na sua relao com a. natureza que a c u ~ t u r a mani-
festa um desmentido duma igual profundidade? Esta identi-
dade na recusa leva-nos a descobrir, nestas sociedades, uma
identificao do poder e da natureza: a cultura a negao
de um e da outra, no no sentido em que poder e natureza
seriam dois perigos diferentes, cuja identidade no seria seno
aquela- negativa -de uma i!'elao idntica ao terceiro tel!'mo,
mas justamente.no sentido em que a cultura apreende o poder
como a prpria ressurgncia da natureza.
Tudo se passa, com efeito, como se estas sociedades
constitussem a sua esfera poltica em funo de uma intui:o
que lhes asseguraria o lugar de regra: a saber, que o poder
na sua essncia coero; que a actividade unificadora da
funo politica se exerceria, no a partir da estrutura da socie-
dade e confol!'memente com ela, mas a partir de um alm
incontrolvel e contra ela; que o poder na sua natui!'eza no
seno um alibi furtivo da natureza no seu poder. Longe por-
tanto de nos oferecer a imagem tema de uma incapacidade
pai!'a resolver a questo do poder politico, estas sociedades
espantam-nos pela subtileza com que o colocal!'am e o re;at
!aram. Desde muito cedo pressentiram que a transcedncia.l!_<i>
poder esconde um risco 'mortal para o grupo, que o princpio
de uma autoridade exterior e criadora da sua prpria legali-
dade uma contestao da prpria cultum; foi a intuio dessa
ameaa que detel!'minou a. profundidade da sua filosofi pol-
tica. Porque, descobrindo o grande parentesco do poder e da
natureza, como dupla limitao do universo da 'cultura, as
sociedades ndias souberam inventar um meio de neutralizar
a virulncia da autoridade poltica. Escolheram ser elas prp-is
42
as suas fundadoras, mas de maneira a no deixar aparecer
o poder seno como negatividade imediatamente dominada:
elas instituemcno segundo a sua essncia (a negao da cul-
tura), mas justamente para lhe denegar todo o poderio efec-
tivo. ne modo que a emergncia do poder, tal como , se ofe-
rece a essas sociedades c.omo o prprio meio de o anulai!'. A
mesma operao que instaura a esfera poltica proibi-lhe o
seu desdobramento: assim que a cultura utiliza contra o
poder a prpria al!'madi:lha da natureza; por isso que se chama
chefe ao homem em quem se vem quebrar a ti!'oea das mulheres,
das palavras e dos bens.
Enquanto devedor de riquezas e de mensagens, o chefe
no traduz outra coisa seno a sua dependncia l!'elativamente
ao grupo, e a obrigao em que se encontra de manifestar em
cada instante a inocncia da sua funo. Poder"se,ia com efeito
pensar, sefossemos a medir a confiana com que o grupo cre-
dita o seu chefe, que atravs dessa liberdade vivida pelo grupo
na sua relao com o poder se toma evidente, como que subrep-
ticiamente, um controle, tanto mais profundo quanto menos
avarente, do chefe sobre a comunidade. Porque; em certas
circunstncias, singulai!'mente em perodo de escassez, o grupo
volta-se totalmente para o chefe; quando a fome ameaa, as
comunidades do Orenoco instalam-se na casa do chefe, a cujas
expensas, doravante, decidem viver; at chegada de melho-
res dias. no mesmo modo, o bando Nambikwara, com falta
de alimentao depois duma dura etapa, espera do chefe e no
de si prprio que a situao melhore. Parece neste caso que
o grupo, no podendo passar sem chefe, depende integralmente
dele. Mas essa subordinao apenas aparente: ela mascara
de facto uma espcie de chantagem que o grupo exerce sobre
o chefe. Porque, se este ltimo no faz aquilo que se espera
dele, a sua aldeia ou o seu bando muito simplesmente abando-
nam-no para se irem juntar a um !dercmais fiel para com os
seus deveres. li) somente por meio desta dependncia real que
o chefe pode manter o seu estatUto; Isso aparece muito niti-
damente na relao do poder e da palavra: porque, se a lin-
43
...
guagem o prprio oposto da violncia, a prulavra deve inter-
pretar-se, mais do que como privilgio do chefe, como o meio
que o grupo se oferece de manter o poder no exterior da vio-
lncia coerciva, como que a garantia cada dia repetida de que
essa ameaa est afastada. A palavra do lder oculta em si
a ambiguidade de estar desviada da funo de comunicao
imanente linguagem. :m to pouco necessrio ao discurso do
chefe ser escutado que os tndios as mais das vezes' no lhe
prestam ateno alguma. linguagem da autoridade, dizem
os Urubu, um ne eng hafftt(Jlfl: uma linguagem dura, que no
espera resposta. Mas essa dureza no compensa de modo algum
a impotncia da instituio poltica. exterioridade do poder
responde o isolamento da sua palavra que carrega, por ser
dita duramente justamente para no se fazer ouvir, o testemu-
nho da sua doura.
A poliginia pode interpretar-se da mesma maneira: para
l do seu aspecto formal de dom puro e simples destinado a
colocar o poder como ruptura da troca, desenha-se uma fun-
o positiva, anloga dos bens e da linguagem. O chefe, pro-
prietrio de valores essenciais do grupo, por isso mesmo
responsvel diante dele, e por intermdio das mulheres, de
algum modo o prisioneiro do grupo,
Assim, este modo de constituio da esfera poltica pode
compreender-se como um verdadeiro mecanismo de defesa das
sociedades indias. A cultura afirma o prevalecimento daquilo
que a funda- a troca'--- precisamente ao visar no poder a
negao deste fundamento. Mas preciso para a1m disse,
notar que estas culturas, privando os Sinais do seu valor
de troca na regio do poder, tiram s mulheres, aos bens e s
palavras justamente a sua funo de sinais para trocar; e
ento como puros valores que so apreendidos esses elementos,
porque a comunicao deixa de ser o seu horizonte. O estatuto
da linguagem sugere com uma fora singular essa converso
do estado de sinal ao estado de valor: o discurso do chefe,
na sua solido, lembra a palavra do poeta para quem as pala-
vras so valores aind mais do que sinais. Que pode pois
s1gnificar esse duplo processo de des-siguificao e de valori-
zao dos elementos da troca? Talvez exprima, mesmo para
alm da ligao da cultura aos seus valores, a esperana
ou a nostalgia de um tempo mtico em que cada um pode-
ria aceder plenitude de uma fruio no limitada pela
exigncia da troca.
Culturas ndias, culturas inquietas por recusar um poder
que as fascina: a opulncia do chefe o sonho acordado do
grupo. E justamente por exprimir ao mesmo tempo a preo-
cupao que tem de si a cultura e o sonho de se ultrapassar,
que o poder, paradoxal na sua natureza, venerado na sua
impotncia: metfora da tribo, imago do seu mito, eis o
chefe indio *.
* Estudo inicialmente publicado em L'Bomme II (1), 1962.
I
I
I
!
CAPTULO III
INDEPENDNOA E EXOGAMIA
1
A oposio to constrastada entre culturas dos altos
planaltos . andinos e culturas da Floresta Tropical, posta em
relevo por narraes e. relatos dos missionrios, soldados,. via-
jantes dos sculos XVI e XVII, foi em seguida acentuada at
ao exagero: pouco a pouco desenhou-se a imaginria popular de
uma Amrica pr-colombiana completamente entregue sel-
vajaria, excepo da regio andina onde os Incas tinham
conseguido fazer triunfar a civilizao. Estas concepes ape-
nas na aparncia simplistas e ingnuas - porque estavam em
completo acordo com os objectivos da colonizao branca -
cristalizaram-se numa verdadeira tradio cujo peso se fez
1
Sem dvida que .uma ausncia ir surpreender; a das numerosas
tribos pertencendo ao importante stock lingustico G. No se trata evi-.
dentemente de retomar aqui a olassif-icao do HSAI (Handbook of South
American lndians) ' que confere a populaes um estatuto de Mar-
ginais, quando a sua ecologia, comportando a agricultura, deveria inte-
gr-los na rea da Floresta Tropical. Se no tratamos dele
neste trabalho precisamente por causa da complexidade parttcular
dais suas organiZaes sociais em cls, mltiplos sistemas de metades,
associaes, etc. Os G, a este titulo, merecem um estudo especial. E
no al-is um dos paradoxos menores do Handbook o associar
ecologia ,muito desenvolvida,. da Floresta modelos scio-polticos 'muito
rudimentares, enquanto os G, de sociologia to rica, estagnariam a
um nvel nitidamente
47
!
sentir fortemente sobre a etnologia americanista nos seus prin-
cpios. Porque se esta, ao escolher e ao colocar os problemas
em termos cientificas, se confonnou com a sua vocao, as
solues propostas no deixavam por isso transparecer mens
uma persistncia certa dos esquemas tradicionais, de um estado
de esprito que, independentemente da vontade dos seus pr-
prios autores, determinou parcialmente as suas perspectivas
de investigao. Por que se caracterim esse estado de
esprito? Antes do mais por uma certeza: os primitivos, de
uma maneira geral, so incapazes de realizar bcms modelos
sociolgicos; em seguida por um mtodo: levar at carica-
tura o trao mais aparentemente perceptvel das culturas con-
sideradas. Foi assim que o imprio inca espantou os antigos
cronistas, essencialmente pela forte centralizao do poder e
por um modo de organizao da economia at ento desco-
nhecido. Ora estas dimenses da sociedade inca so transfor-
madas pela etnologia moderna em totalitarismo com R. Kars-
ten' ou em socialismo com L. Baudin ' Mas um exame menos
etnocntrico das fontes conduz correco destas imagens
demasiado modernas de uma sociedade apesar de tudo arcaica;
e Alfred Mtraux ', numa obra recente, ps em relevo a exis-
tncia, no Tahuantinsuyu, de foras centrfugas que os cls
do Cuzco no pensavam sequer em quebrar.
No que toca s populaes da Floresta, no foi em esque-
mas anacrnicos que se procurou inscrev-las; pelo contrrio,
e na prpria medida em que se tentava dilatar os traos OCi-
dentais do imprio inca, os quadros sociolgicos das socie-
dades da Floresta no pareciam desse modo seno mais pri-
mitivos, mais fracos, menos susceptveis de dinamismo, estrei-
tamente limitados a pequenas unidades. Sem dvida que s
assim se explica a tendncia em insistir sobre o aspecto divi-
" R. Karsten, La Civilisation de l'Emrp:ire Inca., Pari.s, Payot, 1952.
1
L. Baudin, L'Empire SociaUste des Inka, Paris, Inst. d'Ethno--
logie, 1928.
4
A. Metraux, Les Incas. Paris, ed du Seuil, 1961.
48
dido, separatista ', das comunidades ndias no andinas, e
sobre a consequncia necessria dessa situao: uma guerra
quase permanente. E a Floresta, enquanto rea cultural, apre-
senta-se assim como uma poeira de micro-"Sociedades, todas elas
mais ou menos semelhantes entre si, mas todas igualmente
hostis umas s outras. bm certo que se, com L. Baudin, se
pensa do ndio Guarani que ... a sua mentalidade a de uma
criana
6
no se pode de modo algum esperar descobrir tipos
de organizao social adultos. Esta sensibilidade ao ato-
mismo das sociedades ndias detecta-se tambm em Koch-
-Grundberg ou Kirchhoff, por exemplo no uso frequentemente
excessivo do termo tribo para designar toda a comuni-
dade, o que os conduz noo surpreendente de exogamia tri-
bal a propsito das tribos Tucano do Uaups, e a tentar
sobrepor de algum modo as tribos da Floresta Trapical s dos
Andes. Parece no entanto que o quadro mais corrente das
sociedades em questo nem sempre o mais exacto; pois com
o escreveu Murdock, The warlikeness and atomism of simple
societies have been grossly exaggerated ', o que inteiramente
verdadeiro para a Amrica do Sul. O reexame Caqueta, por-
tanto uma tarefa que se impe'
Sem dvida que no se trata aqui de pegar na contra-
partida do material etnogrfico e de reavaliar as unidades
scio-polticas da Floresta Tropical, simultaneamente na sua
natureza e nas suas relaes.
A informao etnogrfica est em grande parte contida
no monumental Hambook of South American Indians, cujo
volume Ill consagrado s culturas da Floresta. Esta rea cul-
tural comporta uma quantidade muito importante de tribos, de
entre as quais muitas pertencem aos trs principais stocks
5
Of. Uowie, The Journal of the Royal Insti-
titute, 1948.
' L. Baud.in, Une Theoeratie Socialiste: l'Etat jsuite du Paraguay,
Paris, Gn'in, 1962, pg. 14.
' HSAI, t. m, P 780.
Cf. Sooia.I Structure, p. 85.
49
.,
lingusticos: Tupi, Carib, Arawak. Pode-se agrupar sob uma
categoria comum todas estas populaes: a sua ecologia
submete-se, com efeito, sob reserva de variaes locais, a um
mesmo modelo. O modo de subsistncia das sociedades da
floresta essencialmente agrcola, de uma agricultura limi-
tada jardinagem, certo, mas cuja contribuio , quase
por toda a parte, pelo menos to importante com a da caa,
da pesca e da colecta. Por outro lado, as plantas cultivadas
so mais ou menos constantemente as mesmas, as tcnicas
de produo so semelhantes, assim como os hbitos de tra-
balho. A ecologia fornece pois aqui uma valiosa base de clas-
sificao, e somos confrontados com um conjunto de socie-
dades que apresentam, deste ponto de vista, uma real homo-
geneidade'. No pois surpreendente constatar que a identidade
ao nvel da infraestrutura se encontra iguahnente ao nvel
das superstruturas, isto , dos tipos de organizao social
e poltica. .A!ssim, o modelo sociolgico mais comum na
rea considerada parece ser, a acreditar pelo menos na docu-
mentao geral, o da famlia alargada, que constitui alis,
muitas vezes, a comunidade politicamente autnoma, ao abrigo
da grande casa colectiva ou maloca; nomeadamente, o
caso das tribos das Guianas, da regio do Jurua-Purus,
dos Witoto, dos Peba, dos Jivaro, de numerosas tribos Tupi, etc.
A dimenso demogrfica destes hauseholds pode variar entre
quarenta e vrias centenas de pessoas, embora a mdia pthna
parea si entre cem e duzentas pessoas por cada nuiloca.
Assin:lilveis excepes regra: as grandes aldeias apiaca,
guarani, tupinamba, que reuniam at cerca de mil indivduos ''
Mas coloca-se ento uma dupla srie de problemas. A
primeira dificuldade diz respeito natureoo das unidades scio-
po!Hicas da Floresta Tropical. A sua caracterizao sociol-
gica como comunidades constitudas por uma famlia alar-
gada no se ajusta sua dhnenso demogrfica mdia. Com
Cf. HSAI, t. III, Lowie, Introdul!.o.
" Cf. Zeitscbrift fur Ethnol<>gie, vol. LXIll, pp. 85-193.
50
efeito Lowie retm a definio dada por Kirchhoff deste tipo
de organizao social n : trata-se de um grupo composto por
um homem, a sua mulher -ou as suas mulheres se ele for
polgino -, os seus filhos e as esposas se a residncia
ps-marital patrilocal, as suas filhas nao casadas, os filhos
dos seus filhos. Se a regra de residncia for matrilocal, um
homem est rodeado das suas filhas e dos seus maridos, dos
seus filhos no casados, e dos filhos das suas filhas. Os dois
tipos de famlia alargada existem na rea da Floresta, o
segundo menos expandido do que o primeiro, e pre-
valecendo nitidamente seno nas Guianas ou na do
JuruaoPurus. A dificuldade provm do facto de uma famlia
alargada, definida stricto sensu, no poder atingir a dimenso
habitual das comunidades da Floresta, isto , uma centena de
pessoas. Uma famlia alargada no engloba mais
do que trs geraes de parentes ligados em lmha directa;
e alm disso, tal como o afirma Kirchhoff, um processo de
segmentao submete-a a uma transformao permanente que
a impede de ultrapassar um certo nvel de populao. Por con-
seguinte, hnpossvel que as unidades scio-polticas da Flo-
resta sejam compostas por uma nica famlia alargada, e que
ao mesmo tempo elas agrupem cem ou mais pessoas. preciso
pois admitir, para esclarecer a contradio, a inexactido dos
nmeros avanados ou ento um erro na identificao do tipo
de organizao social. E como sem dvida mais fcil enga-
nar-se sobre a medida> de uma sociedade do que sobre a
sua natureza, a propsito desta que ser necessrio interro-
garmo-nos.
A comunidade ndia da Floresta descrita, tal como
vhnos como sendo uma unidade autnoma de que um atributo
essencial a independncia poltica. Haveria ento, ao longo
de toda essa imensa rea, uma multido de estabelecimentos
existindo cada um por si, cujas relaes recprocas seriam fre-
quentemente negativas, isto , guerreiras. E aqui que surge
u Cf. Cap. IV, de Dmographie Amrind.ienne.
51
.i;-
i'
a segunda dificuldade. Porque, para alm de uma maneira
geral as sociedades primitivas serem abusivamente condena-
das a um esboroamento, revelador de uma primitividade
que no se manifestaria seno sobre o plano estr1tamente
politico, o estatuto etnolgico das .populaes ndias da Flo-
resta Tropical apresenta uma particularidade suplementar: se
estas esto com efeito agrupadas no seio de um mesmo con-
junto cultural, na medida exacta em que so diferentes das
outras populaes no andinas, isto , das tribos ditas margi-
nais e sub-marginais". Estas ltimas so culturalmente deter-
minadas pela ausncia mais ou menos geral e completa da
agricultura; so pois constitudas por grupos nmadas de
caadores, pescadores e colectores: Fuegianos, Patagnios,
Guayaqui, etc. E claro que essas populaes no podem subsis-
tir seno em pequenos grupos dispersos sobre vastos territ-
rios. Mas esta necessidade vital de disperso no incomoda
as gentes da Floresta que, enquanto agricultores seden-
trios, poderiam, ao que parece, pr em prtica modelos socio-
lgicos diferentes dos dos seus vizinhos marginais menos favo-
recidos. No ser estranho ver coexistir num mesmo conjunto
uma organizao social de tipo nmada e uma ecologia de
agricultores para os quais, por outro lado, as S'Uas capacidades
de trrunsporte e deslocao por navegao fluvial permiti-
riam uma intensificao das relaes exteriores? Ser real-
mente possvel que se desvanea assim o benefcio, de certo
modo enorme, da agricultura e da sedentarizao? Que
populaes ecologicamente marginais possam inventar mode-
los sociolgicos muito sofisticados no oferece impossibili-
dade nenhuma: os Bororo do Brasil central, com a ~ u a
organizao clnica recortada por um duplo sistema de meta-
des, ou os Guaycuru do Chaco, com a sua hierarquia de castas.
do-nos disso a melhor prova. Mas o inverso de populaes
agrcolas organizadas segundo os esquemas marginais mais
dificilmente concebvel. A questo que se coloca pois a de
u HSAI, t. V. pp. 669 segs.
52
saber se o isolamento poltico de cada comunidade um trao
pertinente para a etnologia da Floresta Tropical.
Mas antes de mais necessrio elucidar a natureza
destas comunidades. Que esta seja efectivamente problemtica,
justamente o que parece resultar da ambiguidade terminol-
gica que se encontra ao longo de todo o Handbook. Se, no volume
m, Lowie chama famlia alargada unidade scio-[Joltica
mais corrente na rea estudada, Stewart, no tomo V, chama-lhe
-linhagem, indicando assim a inadequao do termo proposto
por Lowie. Mas, embora as unidades consideradas sejam dema-
siado povoadas>> para ser const>tudas por uma nica famlia
alargada, nem por isso nos devemos encontrar em pre-
sena de linhagens no sentido estrito, isto , de agrupamentos
de descendncia unilinear. Na Amrica do Sul, e particular-
mente na rea da Floresta Tropical, com efeito a descen-
dncia bilateral que parece prevalecer. A posse de genea-
logias mais variadas e mais completas permitiria talvez des-
cobrir que se trata, em vrios casos, de organizaes unili-
neares. Mas o material actualmente disponvel no permite ligar,
com grande certeza, este ltimo tipo de organizao seno a um
nmero muito reduzido de sociedades da Floresta: populaes
da regio de Para (Mundurucu, Mau) ou do Uaups-Caqueta
( Cubo, lfucano, etc.).
No se trata tambm, evidentemente, de kindreds ou
parentelas: a residncia ps-marital, que no nunca neolocal,
acaba por determinar a composio das unidades, pelo prprio
facto de que em cada gerao, e admitindo que o sex ratio
seja estatisticamente equilibrado, uma metade dos siblings,
sejam os irmos em caso de residncia matrilocal, sejam as
irins em caso de residncia patrilocal, deixam a comunidade
de origem para ir viver na do cnjuge. Por conseguinte e
de uma certa maneira, as regras do casamento conferem
ao grupo uma uni-liniaridade efectiva, seno culturalmente
reconhecida pelos seus membros, dado que estes so, segundo
a regra de residncia adoptada, parentes consanguneos m
linha patrilinear ou em linha matrilinear. Foi sem dvida isso
53
i;-
o que determinou Stewart a identificar como linhagens as
unidades sociolgicas da Floresta. Convm no entanto notar
que se a noo de famlia alargada, demasiado curta, deixa
escapar em grande parte a realidade concreta destes grupos.
a noo de linhagem, .por seu turno, confere-lhes um certo
nmero de determinaes que visivelmente eles no possuem.
Porque uma autntica .Jinhagem comporta uma descendncia
articulada segundo um modo unilinear, enquanto que aqui ela
bilateral na maioria dos casos; e sobretudo, a pertena a esw
tipo de agrupamentos independente do lugar de residncia.
Seria pois necessrio, para que as comunidades da Floresta
Tropical fossem equivalentes a linhagens, que todos os seus
membros, incluindo aqueles a quem o casamento afastou da
sua maloca de nascena, continuassem a fazer parte delas
na mesma qualidade, quer dizer, que a residncia ps-marital
no transformasse o seu estatuto sociolgico. Ora, as unidades
em questo so essencialmente residenciais, e uma mudana
de residncia parece acarretar uma mudana de pertena, ou
pelo menos uma ruptura com o estatuto anterior ao casamento.
Trata-se pois neste caso de um problema clssico da etnologia:
o da relao entre uma regra de residncia e um modo de des-
cendncia. Com efeito, evidente que uma regra de residn-
cia patrilocal, por exemplo, favorece fortemente por natureza a
instituio de um modo patrilinear de descendncia, isto , de
uma estrutura de linhagem de regime harmnico. Mas no h
nisso nenhuma mecnica, nenhuma necess.idade formal de pas-
sagem da regra de residncia da filiao; simplesmente uma
possibilidade largamente dependente das circunstncias hist-
ricas concretas, muito grande certamente, mas ainda insufi-
ciente para permitir a identificao rigorosa dos grupos, dado
que a determinao da pertena no est liberta da regra
de residncia.
Se no pode pois tratar-se de linhagens verdadeiras, isso
no deve no entanto mascarar a actividade muito real - e
talvez insuficientemente posta em evidncia- de um duplo
processo dinmico que, interrompido definitivamente pela Con-
54
quista, parecia operar pouco a pouco no da
mao das comunidades da Floresta Tropical, precisamente
em linhagens:
0
primeiro, que ser preciso examinar mais
tarde, tem a ver com as relaes recprocas das diferentes
unidades quanto ao segundo, o que funciona no seio de cada
unidade tomada em si prpria, e articula-se com a unilocali-
dade da residncia. Deve-se ainda notar que no se trata, de
facto, eno de um nico processo, mas de dupla incidncia,
externa e interna, cujos efeitos, longe de se anularem, se acu-
mulam e reforam, tal como tentaremos demonstrar.
Ser possvel agora, aps esta referenciao das razes
que nos impedem de considerar as unidades da Floresta Tro-
pical como famlias alargadas ou linhagens, fazer-lhes corr:s-
ponder uma denominao positiva? Sabendo o qu: . elas
so e conhecendo os seus traos distintivos essenciais, a difi
culdade reduz-se finaJmente a uma simples questo de termi-
nologia: como nomear estas comunidades? Elas agrupam em
mdia entre cem e duzentas pessoas; o seu sistema de descen-
dncia geralmente bilateral; praticam a exogamia local, e a
residncia ps-marital ou patrilocal ou matrilocal, de modo que
se manifesta uma certa taxa de uniliniaridade. Estamos pois
confrontados com verdadeiros demas no sentido de
Murdock", isto , com unidades principalmente residenciais,
mas em que a exogamia e a unilocalidade da residncia desmen-
tem numa certa medida a bilateralidade da descendncia, con-
ferindo-lhes assim a aparncia de linhagens ou mesmo de clis.
O que se passa pois finalmente quanto composio
destes demas? Se as comunidades, em lugar de serem demas,
se reduzissem a famlias alargadas como o sugerem Kirchhoff
e Lowie a questo seria relativamente acadmica. Mas, tal
como vi:Uos, os dados demogrficos invalidam essa hiptese.
o que no significa no entanto que este modelo de
o social no exista na Floresta Tropical: simplesmente, deixa
de ser extensivo prpria comunidade local, que o ult:ra-
u Cf. Social smroture, op. eit.
55
'
'
passa de longe. O modelo mantmse nas culturas da Flo-
resta, mas perde o seu carcter por assim dizer mximo,
para se tornar o elemento mnimo de organizao social: o
que quer dizer que cada dema composto por uma pluralidade
de famlias alargadas; e estas, longe de serem estranhas umas
s outras e simplesmente justapostas no seio de um mesmo
conjunto, esto pelo contrrio ligadas em linha patri- ou matri-
linear. Isso permite alis supor que, de um modo diferente
do que escreveu Kirchhoff, a profundidade genealgica destas
unidades ultrapassa trs geraes, mesmo se os ndios no
tm delas um cmputo e:xlacto. Encontra-se assim a tendncia
j detectada para a unilinearidade; e legitimo deste ponto de
vista pensar que o tipo de habitat mais corrente na rea, a
grande casa colectiva ou maloca, exprime esta dimenso
fundamental no plano da distribuio espacial. Quanto
questo do nmero das famlias alargadas que compem um
dema, depende evidentemente do tamanho das unidades:
poderiamos no entanto estim-lo em trs ou quatro para os
grupos mais pequenos ( 40 a 60 pessoas: uma comunidade do
rio Aiari compreendia 40 pessoas), em dez ou doze para os
maiores (100 a 200 pessoas: uma comunidade manjeroma no
Jurua-Purus contava 258 pessoas), considerando que cada fa-
mlia alargada constituda rpor quinze a vinte pessoas.
Falar destes demas como unidades scio-polticas implica
que funcionem segundo o esquema unitrio de totalidades
orgnicas>, e que a integrao dos elementos componentes
seja profunda: o que se traduz pela existncia de um esprito
de corpo como conscincia de si do grupo, e por uma solida-
riedade permanente dos seus membros. Neste sentido, K. Oberg
tem razo em ver nestas colectividades SOCiedades homog-
neas, isto , sem social ou segmentao hori-
zontal". As clivagens que a se orperam so as do sexo, da
idade e das linhas de parentesco; e essa coalescncia expri-
me-se no carcter qua..<;e sempre colectivo das actividades
" Ameri.can Anthropologist, vol. Lvn, n.a 3, p. 472.
56
essenciais vida do grupo: construo da casa, arroteamento
das hortas, trabalho de colheita, vida religiosa, etc. Mas esta
homogeneidade encontrar-se- integralmente em todos os nveis
da existncia social? Afirm-lo conduziria ideia de que as
sociedades arcaicas so, como tais, sociedades simples, e que
a diferena ou o conflito esto ausentes da sua sociologia.
Ora a sua possibilidade parece fundada, pelo menos sobre um
plano: o da autoridade poltica. Com efeito, por um lado, sabe-se
que cada comunidade dirigida por um chefe, e por outro
lado que cada elemento da estruture, isto , cada famlia alar-
gada, possui igualmente o seu lder, em geral o homem mais
velho. Aparentemente, nenhum problema se coloca: no h,
por razes expostas noutro lugar, uma corrida ao poder
nestas sociedades, e, para alm do mais, a hereditariedade
do cargo poltico parece regular todas as questes. No entanto,
o que no deixa de acontecer que a autoridade, longe de ser
nica, de algum modo se retalha e torna-se mltipla; que,
ao coruservar o seu prprio lder, cada famlia alargada tra-
duz a sua Vontade de manter, de maneira mais ou menos
acentuada, a sua identidade; isso liberta, no interior do grupo,
foras que podem ser divergentes: evidentemente que isso no
vai ao ponto de ameaar a exploso do grupo, e a preci-
samente que intervm a funo maior do chefe: a sua vocao
de pacificador, de integrador das diferenas. V-se ento a
estrutura social do grupo e a estrutucra do seu poder fundi-
rem-se, atraremse e completarem-se uma outra, e cada uma
encontrar na outra o sentido da sua necessidade e a sua justi-
ficao: porque h uma instituio central, um lder prin-
cipal exprimindo a existncia efectiva - e vivida como unifi-
cao- da comunidade, que esta pode permitir-se, de algum
modo, um certo qtlii1Mtum de fora centrifuga, representada na
tendncia de cada grupo para conservar a sua personalidade;
e , reciprocamente, a multiplicidade destas tendncias diver-
gentes que legitima a actividade unificante da chefia prin-
cipal. O equilbrio, que constantemente tem de ser conquis-
tado, entre a dualidade do perifrico e do focal, no poderia
57
'
i
jl
ser confundido com a simples homogeneidade do todo mais
digno de uma composio geomtrica das partes do da
inventividade sociolgica imanente cultura. Ao nvel da inves-
tigao etnogrfica, isso traduzir-se-ia pela tarefa de analisar
a estrutura das relaes entre os diversos sub-grupos, entre
os sub-grupos e a chefia, com todas as intrigas, tenses resis-
tncias mais ou menos aparentes, entendimentos mais ou' menos
durveis que o devir concreto de uma sociedade implica.
Assim se destaca a presena latente, e como que furtiva,
da contestao e do seu horizonte ltimo: o conflito aberto
presena no exterior essncia do grupo, mas pelo
da vida colectiva engendrada pela prpria estrutura
social. Eis o que nos afasta da bela simplicidade das socie-
dades arcaicas; a observao atenta e prolongada das socie-
dades primitivas mostraria que elas no so mais imediata-
transparentes que as nossas, e um estudo como o que Buell
Quam levou a cabo sobre os Trumai do Alto-Chingu contribui
;para desmentir eRte preconceito etnocentrico " As sociedades
primitivas, do mesmo modo que as sociedades ocidentais sabem
perfeitamente lidar com a possibilidade da diferena iden-
tidade, da alteridade no homogneo; e nesta recusa do meca
nismo pode ler-se o sinal da sua criatividade.
Tal parece ser portanto a figura, mais fiel talvez reali-
dade, destas sociedades ndias alojadas ao longo da imensa
bacia am_a::nica: so demas exogmicos compostos por algu-
famihas alargadas e ligadas em linha matri- ou patri.
lmear. E, por existir e funcionar como unidades verdadeiras.
elas no deixam por isso de permitir um certo jogo aos seus
elementos. A tradio etnogrfica ps por outro lado forte-
mente o acento sobre a autonomia, a independncia poltica
destas comunidades, sobre o separatismo das culturas ndias.
Encontrarnos-amos portanto confrontados com pequenas
SOCiedades vivendo como num recipiente fechado, mais ou
16
0!. R. Murphy, B. Quain, Tb.e Truma.i of Central Brazil,
New York, J. J. Augustin, 1955.
58
menos hostis umas s outras, e inscrevendo as suas relaes
recprocas essencialmente no quadro dum modelo muito desen-
volvido da guerra. Esta viso das suas relaes exteriores,
se assim se pode dizer, estreitamente solidria com a imagem
primeiramente oferecida da sua natureza. E como o exame
desta conduziu a concluses sensivehnente diferentes, uma
anlise do seu ser-conjunto impe-se pois: com isso que
nos devemos preocupar agora.
Uma constatao impe-se imediatamente: a grande
maioria destas populaes pratica a exogamia local.
sem dvida difcil fundamentar rigorosamente, isto ,
sobre factos verificados, a generalidade desta instituio. Por-
que se a tecnologia e mesmo a mitologia de numerosas tribos
sulamericanas so frequentemente do nosso conhecimento, infe-
lizmente o mesmo no se passa no que toca sua sociologia.
No entanto, por dispersa e por vezes contraditria que seja
a informao utilizvel, certos dados permitem, quanto quase-
-universalidade da exogamia local, seno uma certeza absoluta.
pelo menos uma probabilidade extremamente alta. De um modo
geral, o nmero de populaes sobre as quais rpossuimos infor-
maes vlidas muito fraco relativamente ao nmero total
das etnias recenseadas. A do material recolhido
no Hambook (tomo ID) e no Outlime of South American Cul-
tures de G. Murdock, permite avaliar aproximadamente em
cento e trinta o nmero das etnias (alis de importncia desi-
gual) em evidncia na rea da Floresta Tropical. Mas apenas
para trinta e duas tribos que so indicados factos precisos
no que toca ao estatuto do casamento, ou seja, volta de um
quarto do total. Ora, sobre estas trinta e duas tribos, vinte
e seis so apresentadas como praticando a exogamia local,
enquanto que as seis ltimas so formadas por comunidades
endogmicas. O que quer dizer, por conseguinte, que a exoga-
mia local se apresenta em trs quartos das tribos sobre as
quais possumos dados concretos. Fica no entanto uma cen-
tena de tribos cujas regras de casamento ignoramos, pelo
menos nesse ponto de vista. Mas pode-se supor que a propor-
59
o das tribos exogam1cas e endogmicas tal como se esta-
belece entre as tribos conhecidas se mantm pouco mais ou
menos idntica entre as tribos desconhecidas: isso conduz-nos
a admitir, no como certeza (esta definitivamente inaces-
svel, dado que uma grande parte das tribos ndias desapa-
receram), mas como hiptese parcialmente verificada, a ideia
de que pelo menos trs quartos das populaes da Floresta
praticavam a exogamia local, Devemos ainda notar que algu-
mas das etnias nitidamente identificadas como endogmicas
(por exemplo os Siriono, os Bacairi, os Tapirap) so grupos
numericamente fracos ou isolados no seio de cultu-
ralmente diferentes. Convm finalmente assinalar que as tribos
as quais a exogamia local foi a-testada pertencem s prin-
famlias da Floresta ( Arawak, Carib, Tupi,
Chrbcha, Bano, Peba, etc.), e que, longe de estarem concentra-
das, elas esto pelo contrrio dispersas em todos os !POntos da
rea considerada: do Per oriental (tribos amahuaca e yagua),
ao 'Este brasileiro (tribos tupi) e das Guianas (tribos yecuana)
Bolvia (tribos tacana) .
Se o exame por assim dizer estatstico das tribos da
Floresta Tropical torna verosmil a vasta extenso da exo-
gamia local, esta, num grande nmero de casos, est mesmo
necessariamente presente, por causa da natureza da comuni-
Quando, com efeito, uma nica maZoca abriga
0
con-
JUnto do grupo, os membros que a compem reconhecem-se
reciprocamente como parentes consanguneos reais quando
0
grupo constitudo por uma ou duas famlias aJargadas, e como
parentes consanguneos fictcios ou classificatrios quando
o. mais importante. Em todo o caso, as pessoas que
VIvem JUntas numa mesma maZoca so muito estreitamente
aparentadas entre si, e podemos ento esperar uma proibio
do casamento no interior do grupo, isto , a obrigao da exo-
gamia local. A sua presena no tem apenas a ver com uma
das suas funes que, como veremos mais adiante, procurar
vantagens polticas: ela est ligada antes do mais natureza
das comunidades que a praticam, comunidades essas cuja
60
propriedade principal a . de no agrupar seno parentes de
facto assinlilados a siblings, o que exclui que Ego se case no
seu grupo. Ou seja, a comunidade de residncia numa grande
casa e a pertena culturalmente reconhecida a um mesmo con-
junto de parentes fazem dos grupos da Floresta Tropical uni-
dades sociolgicas entre as quais se operam as trocas e se con-
cluem as aJianas: a exogamia, que ao mesmo tempo a sua con-
dio e o seu meio, essencial estrutura destas unidades e sua
manuteno como tais. E, de facto, o carcter locaJ desta exo-
gamia apenas contingente, dado que ele uma consequncia
do afastamento geogrfico das diversas comunidades; quando
estas se aproximam e se justapem at formarem uma aldeia,
como se passa com as populaes tupi, a exogamia, pelo facto
de deixar de ser local, no desaparece no entanto: converte-se
em exogamia de linhagem.
Portanto estabelece-se de iniediato uma abertura para
o exterior, para as outras comunidades, abertura que compro-
mete a partir da o princpio demasiadamente afirmado da auto-
nomia absoluta de cada unidade. Porque seria de surpreender
que grupos empenhados num processo de troca de mulheres
(quando a residncia patrilocal) ou de genros (quando
ela matrilocal), isto , numa relao positiva vital para
a existncia de cada grupo como tal, contestassem simul-
taneamente a positividade desta ligao pela afirmao - sus-
peita justamente por ser demasiado valorizada - duma inde-
pendncia radical, de sinal negativo, dado que ela implica uma
hostilidade recproca rapidamente desenvolvida em guerra.
No se trata, naturalmente, de negar que estas comunida-
des levem uma existncia completamente autnoma sobre
certos planos essenciais: vida econmica, ritual, organizao
poltica interna. Mas para alm de no podermos estender a
todos os aspectos da vida colectiva uma autonomia que, por
se reportar a nveis importantes, no deixa de ser menos par"
cial, o facto geral da exogamia local torna impossvel uma
independncia total de cada comunidade. A troca de mulheres
de mal.oca para rntiloca, fundando ligaes estreitas de paren
61
tesc_o entre famlias alargadas e demas, institui por essa mesma
razao relaes polticas, mais ou menos explcitas e codifica-
das 'Certo, mas que impedem grupos vizinhos e aliados pelo
casamento de se considerarem reciprocamente como puros
estranhos ou mesmo como inimigos comprovados. o casamento,
enquanto aliana de famlias e mesmo de demas contribui
P?ntanto para integrar as comunidades num muito
difuso e muito fluido, certo, mas que se revela por um
implcito de direitos e deveres mtuos, por uma
sohd!!inedade revelada ocasionalmente em circunstncias gra-
ves, pela certeza de cada colectividade em saber-se rodeada
por exemplo em caso de escassez ou de ataque armado
por estrangeiros hostis: mas por aliados e parentes.
o alargamento do honzonte politico para alm da simples
no releva somente da presena contingente de
am1gos na proximidade: remete para a necessidade
llllperwsa em que se encontra cada unidade sedentria de
assegurar a sua segurana pela concluso de alianas.
. Um outro fa,ctor favorece a constituio de tais con-
Juntos multicomunitrios. A exogamia local opera com efetto
entre os _conjuntos uma classificao tal que apenas
os parce1ros sexuais acess1veis pertencem a unidades dife-
rentes da de Ego. Mas o prprio conjunto destes parceiros
encontra-se reduzido, dado que entre eles apenas uma minoria
cai na categoria dos conjuntos preferenciais: com efeito a regra
do rosamento dos primos cruzadns parece ser coextensiva
exogamia local. De modo que a esposa provvel ou dese-
Javel de Ego macho no apenas uma mulher residente numa
maJoca que no a sua, mas tambm 'a filha do irmo da
me, ou da inn do seu ,pai. O que quer dizer, por conse-
gumte, que a troca de mulheres no se instaura entre unidades
partida indiferentes umas s outras, mas sim entre grupos
encerr!lidos rede . de ligaes estreitas de parentesco,
mesmo se esta e, como e decerto provvel, mais cl!liSsificatria
do que As de parentesco j frixadas e a exogamia
l.ocal adiciOnam po1s os seus efeitos para arrancar cada uni-
62
dade sua unicidade, elaborando um sistema que transcende
cada um dos seus elementos. Podemos no entanto perguntar-
-nos que inteno profunda anima a prtica da exogama local:
se se trata simplesmente de sancionar a proibio do incesto
impedindo o casamento entre cc-residentes, isto , entre paren-
tes, o meio pode parecer desproporcionado ao fim; porque,
como cada maJoca abriga em mdia pelo menos cem pessoas,
teoricamente todas parentes entre si, o carcter bilateral
da descendncia retira s conexes genealgic!liS a preciso
e a extenso que poderiam permitir a estimativa exacta dos
graus de parentesco, e que .lhes conferida exclusivamente pela
descendncia unilinear. Um homem de uma famlia alargada
A poderia portanto casar-se com uma mulher da mesma maJoca
que a dele mas pertencendo a uma famlia alargada B sem
por isso se arriscar formalmente transgresso maior, dado
que o estabelecimento de uma ligao de parentesco no fictcio
entre o homem A e a mulher B poderia muito bem ser impos-
svel. A funo da exogamia local no pois negativa,
gurar a proibio do incesto, mas positiva, obrigar a contrair
casamento fora da comunidade de origem. Ou, noutros termos,
a exogamia local encontra o seu sentido na sua funo: ela
o instrumento da aliana pOltica.
Ser possvel enfim avaliar o nmero das comunidades
que podem compor uma tal ,rede de alianas? A 'ausncia mais
ou menos completa de documentos a este respeito parece proi-
bir qualquer tentativa de resposta, mesmo que aproxima-
tiva. No entanto, certos dados permitiro talvez chegar a um
nmero verosmil, ou antes, situ-lo entre um mnimo e um m-
ximo. Com efeito, se a exogamia local no se institusse de uma
maneira permanente seno entre duas comunidades, estara-
mos ento confrontados com um verdadeiro sistema de metades
exogmicas complementares. Mas, como este tipo de organiza-
o social, mais ou menos universal entre as tribos G, no
foi realizado seno muito ,raramente pelas populaes da Flo-
resta Tropical, excepo por exemplo dos Mundurucu ou dos
Tucmo, muito provvel que as trocas matrimoniais tivessem
63
I'
I
' li,
, I
I I
I
I
Alm do mais, estes demas apresentam igualmente uma
determinao importante da linhagem: a continuidade. Por-
que, contrariamente ao que escrevia Kirchhoff ", a comuni-
dade- para ele uma famlia alargada- no se dissolve com
a morte do seu chefe, pela simples razo de que a chefia
quase sempre hereditria, como o releva- curiosamente - o
prprio Kirchhoff. A hereditariedade do cargo poltico um
sinal suficiente da permanncia no tempo da estrutura social.
De facto, o que se produz por vezes quando morre o chefe,
como entre os Witoto, no a dispers!O do gr111p0, mas o
abandono da casa de que o chefe proprietrio e a cons-
truo de uma maloca na vizinhana muito prxima da pri-
meira. A tl1Mlsmisso do cargo de lder de pai pa;ra filho, iBto ,
a sua manuteno na descendncia patrilinear que forma o cora-
o da estrutura social, traduz justamente a vontade do grupo
de manter a sua unidade. espacio-temporal. Os Tupinamba
levavam muito longe o seu respeito da patrilinearidade, dado
que uma criana nascida de uma me pertencendo ao grupo
mas de um pai estrangeiro- frequentemente um prisioneiro
de guerra- era rapidamente devorada, enquanto que os filhos
de um homem do grupo eram filiados na descendncia do seu
pai. Estes diversos factores, funcionando ao nvel da organi-
zao interna do dema, revelam bem uma tendncia para pr
o acento sobre uma das duas linhas de parentesco e para
assegurar a sua continuidade; o dema orienta-se para a linha-
gem, e o motor, se assim se pode dizer, dessa dinmica a
contradio entre um sistema bilateral de descendncia e uma
residncia unilocal, isto , entre a legaJidade bilateral e a
realidade unilinear.
Sabemos que a unilocalidade da residncia no conduz
necessariamente unilinearidade da descendncia, mesmo se
uma condio necessria dela, tal como mostrou Murdock,
em desacordo neste ponto com Lowie. No se pode falar de
linhagens verdadeiras seno no caso da filiao ser indepen-
111
Cf. nota 10.
66
dente da residncia. Os dernas patrilocais da Floresta Tro-
pical seriam linhagenB se as mulheres continuassem a fazer
parte do seu grupo de origem, mesmo depois da partida devida
ao casamento. Mas, precisamente, o afastamento das grandes
casas, que d partida de uma mulher um carcter quase
definitivo, impede essa tendncia para a organizao em linha-
gem de se confirmar, dado que para uma mulher o casamento
como que um desaparecimento. Pode-se pois dizer que, em
todos os sectores da Floresta Tropical onde as estruturas
polidmicas, por causa da disperso das rruiloca, so fluidas,
a tendncia para a linhagem no pode reaJizar-se. O mesmo
no se passa onde esse tipo de estrutura mais nitido, maiB
afirmado, mais cristalizado : as grandes aldeias guarani ou
tupinamba. Aqui, a contiguidade espaciaJ das casas suprime
o movimento das pessoas: o jovem, durante os anos de Ser-
vio devidos ao sogro, a rapariga quando o casamento defi-
nitivo, no fazem seno mudar de mciloca. Oada indivduo
mantm-se pois permanentemente sob o olhar da sua famHa.
e em contacto quotidiano com a sua linhagem de origem. Nada
se ope portrunto, entre estas populaes, conV"erso dos de-
mas em linhagem. E isto tanto menos quanto outras foras
vm apoiar esta orientao. Porque se os Tupi realizaram
com vigor os modelos apenas esboados pelas outras popu-
laes da floresta, isto , uma integrao ava;nada das
unidades scio-qx>lticas num conjunto estruturado, por-
que havia correntes centripetas cuja presena atestada
pela e..qtrutura alde concentrada. Mas, devemos ento pergun-
tar-nos, que acontece com as unidades no seio dessa nova
organizao? Oferecem-se aqui duas possibilidades sociol-
gicas: ou a tendncia para a unificao e para a integrao
se traduz pela dissoluo progressiV"a destas unidades ele-
mentares- ou pelo menos por uma diminuio importante das
suas funes estruturais- e pelo aparecimento consecutivo
dum princpio de estratificao social que pode acentuar-se
mais ou menos depressa; ou ento as unidades subsistem
e reforam-se.
67
;.
'
A primeira possibilidade foi realizada pelas populaes
do noroeste da Amrica do Sul (Ohibcha, Arawak das Ilhas
por exemplo), unificadas sob a categoria de rea cultural cir-
cum-carib ". Estas regies, particulannente a Colmbia e o
norte da Venezuela, viram desenvolver-se grande nmero de
pequenos Estados, feudalidades frequentemente limitadas a
uma cidade ou a um vale. A, as aristocracias que controla-
vam os poderes religioso e militar, dominavam uma massa
de plebeus, e uma classe numerosa de escravos conquis-
tados pela guerra contra as populaes vizinhas. A segunda
possibilidade parece ter sido adoptada pelos Tupi, dado que
no havia entre eles uma estratificao social. No se pode
com efeito assimilar os prisioneiros de guerra dos Tupinamba
a uma classe social de escravos de cuja fora de trabalho
se tivessem apropriado os senhores-vencedores. Os primeiros
cronistas do Brasil como Thevet ", Lery " ou Staden "' con.
tam que a posse de um ou vrios pr>sioneiros de guerra era
geradora de um tal prestgio social para os guerreiros tu pi-
namba que estes preferiam, em caso de escassez, deixar eles
prprios de comer em vez de fazer jejuar os seus cativos.
Estes ltimos eram alis rapidamente integrados na comuni-
dade do seu senhor, e este no hesitava em dar a sua prpria
irm ou a sua filha em casamento a esse testemunho vivo
da sua glria. E a incorporao considerava-se completa
quando, ao fim de um tempo por vezes longo, a execuo
do prisioneiro o transformava em alimento ritual dos seus
senhores.
~ sociedades tupi no estavam pois estratificadas; por
consegumte, as clivagens e linhas de fora em torno das quais
u Cf. HSAI, t. IV e V.
" A. Thevet, Le Brsll et leo BrsUiens, Paris, P.U.F., 1953, p. 93.
u Jean de Lry, Jolll'll8l de bord... en la terre de Brsil, 1557,
Paris, ed. de Paris, 1952.
~ Hans Staden, V ritable histoire et descriptlon d'un pays ...
situ dans Je Nouveau Monde nomm Amrique, Paris, A. Bertrand, 1837.
68
se edificavam eram as mesmas que no resto da rea: sexo,
idade, parentesco, etc., e precisamente o enclausuramento e a
contraco do modelo geral de organizao social multi-comu-
nitria, de que a aldeia constitui a expresso espacial, no
operaram como princpio unificador pondo em questo a per-
sonalidade>> de cada um dos elementos, neste caso dos demas;
mas pelo contrrio a prpria emergncia de uma tal forg;
centripeta visando cristalizao de uma estrutura flu-
tuante determinou o reforo simtrico das tendncias cen-
trifugas imanentes estrutura dos demas. Ou, por outras
palavms, a dinmica aqui descrita de natureza diwloticq,:
porque, medida que se precisa e se afirma a constituio
do sistema, os elementos que o compem reagem a essa trans-
formao do seu estatuto acentuando a sua particularidade
concreta, a sua individualidade. De modo que o advento da
estrutura giliobal engendra, no a supresso dos demas- o
que permitiria uma outra diferenciao, isto , uma estrati-
ficao social-, mas uma modificao estrutural das uni
dades. Qual ser o sentido desta transformao? Ele est
inteiramente contido nas determinaes que lhe so prprias:
so essencialmente grupos de parentesco. Que meios tero
pois estes ltimos para se remodelarem em funo de um
devir que os identifica unificando-os? 1!: de salientar em
primeiro lugar a unilinearidade latente que os caracteriza,
centrar a lei de pertena no mais sobre uma c<rresidncia que
deixa de ser primordial, mas sobre a regra de filiao: os
demas transformam-se pois em linhagens, e a transformao
dos elementos aparece solidria oom a constituio dos con-
juntos. As populaes tupi oferecem-nos assim a ilustrao
da passagem de uma estrutura polidmica a uma estrutura
tk lin.ha'gem mttfrpla.
Querer isto dizer que as linhagens no aparecem seno
por reaco a uma nova organizao de um conjunto de uni-
dades residenciais e em relao com ela? 1!: evidentemente!
impossvel afirm-lo, dado que residncia e filiao no so
concomitantes. Esta passagem em si prpria contingente,
69
'
articulada com a histria e no com a estrutura: no que
se refere aos Tupi, o elemento catalizador do que no era
seno tendencial e potencial entre as outras populaes
da Floresta Tropical foi a inquietao que os levou a cons-
truir estruturas sociais mais contradas. Processos hist-
ricos diferentes poderiam igualmente operar esta passagem.
Mas o que possvel reter que a mutao de um dema em
linhagem conduz a desdobrar a essncia mlaciontil de cada
unidade. No h linhagens seno no seio de um sistema forte
e, reciprocamente, a promoo de um tal sistema desemboca
ou numa estratificao social negadora do valor estruturante
das regras de filiao, ou ento na confirmao e mesmo na
dessas regras: a linhagem, poder-se-ia dizer,
e de natureza diacritica. Tudo se passa pois como se
0
movi-
centrpeto pelo qual se alarga o campo das relaes
politicas de uma sociedade anteriormente fluida, criando um
desequilbrio interno, deteTm.inasse Sinmltaneamente o meio
de o pela actuao, ao nvel dos elementos, de foras
centrfugas que respondem nova situao e que permi-
tem reequiUbrar a sociedade. Porque finalmente para a
conquista de um equilbrio constantemente ameaado que ten-
dem, de uma maneira directa ou desviada, as foras que.
trabalham estas sociedades primitivas.
:m certo por outro lado que a verso tupi do modelo socio-
lgico da Floresta no deixa subsistir idnticas a si prprias
as relaes internas descritas ao nfvel do dema. Por um !:ado,
a emergnci!a da estrutura de linhagem, isto , de uma contrac-
o das conexes genealgicas em que se afirma o seu carcter
unitrio, diminui consideravelmente o valor funcional dos sub-
componentes da linhagem, ou das famlias a:l:argadas.
Eis porqu_: o problema pertinente , no que se refere aos Tupi,
0
das entre linhagens. Cada aldeia tupinamba agrupava
em mdia entre quatro e oito grandes casas, cada uma abri-
gando uma linhagem, e cada uma tendo o seu Jider. Mas a
aldeia como tal achava-se ela prpria sob a direco de um
70
chefe; a comunidade tupinamba eleva a uma escala desco-
nhecida no resto da Floresta a questo das relaes politicas :
enquanto estrutura de linha:gem mltipla ela d-se uma autori-
dade <<Centralizada, e conserva ao mesmo tempo as sub-chefias
locais. E era sem dvida a este dualismo do poder que
respondia, entre os ndios, a instituio de um Conselho dos
ancios, cuja aprovao era necessria pa;ra o exerccio da
autoridade pelo chefe principal. As populaes do grupo tu pi-
-guarani diferenciam-se pois das outras etnias da mesma rea
cultural pela maior complexidade da sua problemtica pol-
tica, ligada ao alargamento por vezes muito vasto do seu
horizonte. Mas parece justamente que os Tupi no limitavam
essa extenso constituio de comunidades aldes de linha-
gem mltipl:a. e que, em diversas zonas da Floresta, se desen-
volvia uma tendncia para construir um modelo de autoridade
que ultrapassava largamente o quadro estreito da aldeia. Sa-
be-se que, de um modo geral, as relaes inter-trbais na,
Amrica do Sul eram muito mais estreitas e observadas do que
levaria a acreditar a insistncia sobre o humor belicoso destes
povos, e diversos autores, como por exemplo Claude Lvi-
-Strauss
21
e .Aifred Mtraux ", mostraram claramente a inten-
sidade frequente das trocas comerciais entre grupos situados
a distncias considerveis. Ora, no caso dos Tupi, no se
trata apena;s de relaes comerciais, mas antes de uma ver-
dadeira expanso territorial e politica, com exerccio da auto-
ridade de certos chefes sobre vrias aldeias. Lembremos a
'figura de Quoniambec, esse famoso chefe Tamoio, que im-
pressionou to vivamente Thevet e Staden. Este rei era
muito venerado por todos os Selvagens, e mesmo por aqueles
que no pertenciam sua terra, to bom soldado ele tinha
n c. Lvi-Strauss, Guerre et Commerce chez les Indiens de
l'Amri,que du .sud,, Renaissance, v-ol. I. fase. 1 e 2.
= A. M:trawc, La CivUisatlon matrielle deB tribos Tupi-Guara.ni,
Paris, P. Geuthner, 1928, I' 277.
71
sido no seu tempo, e to sabiamente os conduzia na guerra. "
Estes mesmos cronistas ensinaram-nos por outro lado que
a autoridade dos chefes tupinamba no era nunca to
fol'te como em tempo de guerra, e que o seu poder era entiio
quase absoluto, e perfeitamente respeitada a disciplina im-
lpOSta s suas tropas. Deste modo o nmero de guerreiros
que um chefe era capaz de mobilizar o ndice do
alcance da sua autoridade. Precisamente, os nmeros citados
so por vezes- e guardadas as devidas propores- enormes:
Thevet d um mximo de doze mil Tabaiarres e Margageaz
combatendo uns contra os outros num nico recontro. Lry
d, em circunstncia semelhante, o mximo de dez mil homens
e um nmero de quatro mil para uma escaramua qual assis-
tiu. Staden, seguindo os seus senhores no combate, contou na
ocasio de um ataque por mar a posies portuguesas trinta
e oito barcos de dezoito homens em mdia, ou seja perto de
setecentos homens apenas para a pequena aldeia de Ubatuba '*-
Como convm multiplicar mais ou menos por quatro o nmero
destes guerreiros para obter o da populao total, v-se que
havia entre os Tupinamba verdadeiras federaes agrupando
entre dez e vinte aldetas. Os Tupi, e parlicularmente os da
costa brasileira, revelam pois uma tendncia muito ntida para
a constituio de sistemas polticos considerveis, com chefias
poderosas cuja estrutura seria preciso analisar; com efeito, ao
alargar-se, o campo de de uma autoridade centra:!
suscita conflitos agudos com os pequenos poderes locais; a
questo que ento se coloca a da natureza das relaes entre
a chefia principal e as sub-chefias: vor exemplo, entre o rei>
Quoniambec e os rgulos, seus vassalos.
Os Tupi costeiros no so alis os nicos a revelar tais
tendncias. Para evocar um exemplo muito mais recente, assi-
nalemos igualmente os Tupi Kawahib; um dos seus grupos,
Ibld., p. 93.
" lbid., p. 178, nota 2.
72
os Takwatip. estendia pouco a pouco no princpio . do
a sua hegemonia sobre as tribos vizinhas, sob a drrecao do
.seu chefe Abaitara, cujo filho Claude Lvi-Strauss encon-
trou" P1"0cessos anlogos foram notados entre os e
os Cocama. populaes tupi estabelecidas no curso mdio e
superior do Amazonas, entre os quais a autoridade de um
chefe se exercia no apenas sobre a grande casa, mas sobre
0
conjunto da comunidade inteira: esta podia ser de din:enso
considervel, dado que uma aldeia omagua compreendia, se-
gundo se diz, sessenta casas de cinquenta a
cada . Por outro lado, os Guarani, culturalmente tao pron-
mos dos Tupinamba. possuam igualmente chefias muito de-
senvolvidas.
No nos arriscaremos no entanto, ao apreender assim a
cultura tupi na sua dinmica poltica criadora de r:alezas,
a forar a sua originalidade relativamente ao conJunto da
Floresta Tropical e, por oonseguinte, a constitu-la C'OniO enti-
dade cultural independente da rea na qual a situamos par-
tida? Isso corresponderia a negligenciar processos idnticos,
embora de bem menor envergadura, entre populaes perten-
cendo a outms existncias lingusticas. Convm lembrar por
exemplo que os Jivaro apresentavam tambm esse de
oraanizao multi-romunit:ria, dado que eram conclmdas ruhan-
o . , . ..
as militares entre grupos Iooais: foi assim que vanos JUJa-
ria _as .maJ,oca destes ndios - se associaram para guerrear
oontra os Espanhis. Por outro lado as tribos carib do Ore-
noco utilizavam a exogamia local como meio de alargar a
hegemonia poltica sobre vrias comunidades: De
maneiras se atesta portanto, como caracter!stica propna da
rea da Floresta, a tendncia para constituir conjuntos sociais
mais vastos do que no resto do continente. O que devemos
sinlplesmente reter que a fora desta corrente variava com
c. Levi Strauss, Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955, cap. XXXI
Cf. HSAI, t. m.
73
,,
I
I
as circunstncias concretas- ecolgicas, demogrficas, reli-
giosas- das culturas onde se manifestava. A diferena entre
os Tupi e as outras sociedades no justamente de natureza,
ma. de grau; o que quer dizer, por conseguinte, que do
mesmo modo que realizaram melhor do que os outros, sobre
o plano da estrutura social, um modelo de organizao que
no lhes exclusivo, tambm a dinmica imanente ao con-
junto das culturas da Floresta encontrou entre os Tupi um
ritmo e uma acelerao mais rpidas do que em qualquer
outra parte.
Avcaicas, as sociedades amerndias foram-no, mas,
assim se pode dizer, negativamente e segundo os nossos cri-
trios europeus. Devemos por essa razo classifiar com.'O
imveis culturas cujo devir no se conforma com os nossos
prprios esquemas ? Ser preciso ver nelas sociedades sem
histria? Para que a questo tenha um sentido, ainda neces-
srio coloc-la d tal modo que uma resposta seja possvel,
isto , sem postular a universalidade do modelo ocidental. A
histria diz-se em mltiplos sentidos e diversifica-se em fun-
o das diferentes perspectivas nas quais situada: A opo-
sio entre culturas progressivas e culturas inertes parece,
assim resultar, antes do mais, de uma diferena de focali-
zao ". A tendncia para o sistemOJ, desigualmente realizada
em extenso e profundidade conforme as regies, conduz, pelas
suas prprias diferenas, a dar s culturas dessa rea uma
dimenso diacrnica, recensevel nomeadamente entre os
Tupi -Guarani : no so portanto sociedades sem histria. 11:
ao nvel da organizao poltica muito mais do que no plano
da ecologia que se situa a oposio mais ntida entre culturas
marginais e culturas da Floresta. Mas elas no so tambm
sociedades histricas: neste sentido, a oposio simtrica e
inversa com as culturas andinas igualmente muito forte. A
dinmica poltica que confere a sua especificidade s socie-
" C. Lev!-Strauss, Race et Hlsto!re, Paris, Unesco, 1952; p. 25.
74
. . b e um plano estruturai
d
des da situa-las-la ,pms so r .
a . . e se podena chamar
-e no numa etapa cronologiCa- qu , . .
, h' t 'rico fornecendo os Marginais o exemplo de
pre- .s o . : . Incas o de uma cultura j hJstorJCa.
dades a-hJstoncas, e os . . . a da Floresta
. le timo supor que a dmamJCa propn
Parece pms g . _ 'bilidade da histria tal como
Tropical uma. oond<ao de posm ..
. t Andes A problemtica politiCa da Floresta
ela conqms ou os . limitam. o plano
remete portanto para os dois planos que. a. - . . tr
t do lu"'ar de nascimento da insttmao, e um ou o,
gene lCO, ,, .
histrico, do seu destmo .
em L'Homme III (3)' 1963.
EstudQ inicialmente publicado
75
CAPTULO IV
ELEMENTOS DE DEMOGRAFIA AMERINDIA
Talvez haja quem se espante ao ver colocar, ao lado
de estudos consagrados antropologia poltica, um texto
preocupado principalmente com demografia. Com efeito, nada
obriga, ao que parece, a que para analisar o funcionamento das
relaes de poder e das instituies que as regem se v buscar
o tamanho e a densidade das sociedades em questo. Haveria
como que uma autonomia do espao do poder (ou do no..poder),
estabelecendo-se e reproduzindo-se distncia e ao abrigo de
toda a influncia externa, por exemplo o nmero da populao.
E, de facto, a ideia desta relao serena entre o grupo e o seu
poder pareee corresponder claramente realidade que ofere-
cem as sociedades arcaicas, que conhecem e pem a funcionar
mltiplos meios para controlar ou impedir o crescimento da
sua populao: aborto, infanticdio, tabus sexuais, desmamar
tardio, etc. Ora, essa capacidade que os Selvagens mostram
para controlar o fluxo da sua demografia fez acreditar a pouco
e pouco a convico de que uma sociedade primitiva neces-
sariamente uma sociedade restrita, tanto mais que a eeo-
nomia dita de subsistncia no poderia, segundo se assegura.
bastar s necessidades de uma populao numerosa.
A imagem tradicional da Amrica do Sul (imagem em
boa parte desenhada, no devemos esquec-lo, pela prpria
etnologia) Hustra particularmente. bem esta mistura de meias-
77
-verdades, de erros, de preconceitos, que conduz a tratar os
factos com ligeireza surpreendente (Cf., no Harndbook of
South Amerwan huimns, a classificao das sociedades sul-
'). Por um lado, os Andes e as Altas Culturas que
ai se sucederam; por outro, o resto: florestas, savanas, pampas
em que formigam pequenas sociedades, todas semelhantes entre
si, montona repetio do mesmo que parece no ostentar dife-
A questo no tanto a de saber em que medida
tudo Isso e verdadeiro, mas antes a de medir at que ponto
fals_?. E, para voltar ao ponto de partida, o problema d&
conexao entre demografia e autoridade poltica desdobra-se
em duas interrogaes:
1 -Ser que todas as sociedades da floresta da Amrica
do Sul so iguais entre si, ao nvel das unidades
que as compem?
2- A natureza do poder poltico manter-se- imutvel
se alarga e se torna mais ,pesado o seu campo de
aphcaao demogrfico?
Foi reflectindo sobre a chefia nas sociedades tupi-guarani
que ?eparamos com o problema demogrfico. Esse conjunto
de tnbos, muito homogneo 1:a:nto do ponto de vista lingustico
como do cultural, apresenta duas propriedades demasiado not-
veis para .impedir que se confunda os Tupi-Guarani com as
outras soctedades da Floresta. Antes do mais, a chefia afir-
mava-se, entre estes ndios, com muito mais vigor do que em
qualque: outro em seguida., a densidade demogrfica
das umdades sociais -os grupos locais- era nitidamente
superior s mdias habitualmente admitidas para as sociedades
sul-americanas. Sem querer afirmar que a transformao do
1
Para os dados que se referem aos sculos XVI, XVII e XVIII
remetemos em bloco para os cronistas franceses, portugueses espanhis'
alemes, etc., assim como para os textos e cartas dos
na Amrica do Sul Estas fontes so suficientemente conhecidas para
que seja suprfluo dar mais indicaes. Para alm disso, consultamos
o Bandbook of Soutb American IJuJians, New York, v. 1963.
18
poder poltico era provocada entre os Tupi-Guarani pela expan-
so demogrfica, parece-nos pelo menos legtimo pr em pers-
pectiva essas duas dimenses, especficas destas tribos. Mas
uma questo prvia se coloca: os grupos locais dos Tupi-
-Guarani seriam efectivamente muito mais numerosos do que
os das outras culturas?
justamente o problema das fontes e do crdito
que se lhes pode conceder. Os Tupi-Guaratni realizam o para-
doxo de terem desaparecido quase completamente desde h
muito tempo ( excepo de alguns milhares que
vivem ainda no Paraguai) e de serem no entanto a popu-
lao indgena talvez melhor conhecida da Amrica do Sul.
Dispe-se com efeito de uma muito abundante literatura a
seu respeito: a dos primeiros viajantes, rapidamente seguidos
pelos jesutas, que, vindos de Frana, de 'Espanha e de Por-
tugal desde os meados do sculo XVI, puderam observar a seu
bel-prazer esses Selvagens que ocupavam todo o litoral brasi-
leiro e uma grande parte do actual Paraguai. Assim, milhares
de pginas foram consagradas a descrever a vida quotidiana
dos ndios, as suas plantas selvagens e cultivadas, a sua maneira
de se casar, de educar as crianas, de fazer a guerra, de matar
ritualmente os prisioneiros, as relaes entre os grupos, etc.
Os testemunhos desses ,crouista:s, formulados em momentos
e em lugares diferentes, oferecem uma coerncia etnogrfica
nica na Amrica do Sul onde somos as mais da.s vezes con-
fl'ontados com uma extrema diviso lingustica e cultural. Os
Tu pi-Guarani apresentam a situao inversa: tribos, situa-
das a milhares de quilmetros umas das outras, vivem da
mesma maneira, praticam os mesmos ritos, falam a mesm:t
lngua. Um Guarani do Paraguai encontrar-se-ia em terreno
perfeitamente familiar entre os Tupi do Maranho, distantes
no entamto qu'<lltro mil quilmetros. E se a leitura das anti-
gas crnicas se pode revelar por vezes fastidiosa pelo facto
dos seus autores verem e descreverem a mesma realidade, elas
fornecem em todo o caso uma slida base de trahalho pelo
facto de se validarem reciprocamente: Montoya ou Jarque,
79
missionrios entre os Guarani, fazem no Paraguai eco a Thevet
ou Lry que, sessenta anos antes, visitaram os Tupinamba da
baa do Rio. Talento dos cronistas, quase todos pessoas ins-
trudas e fiis observadores, relativa uniformidaele dos p o v o ~
observados: do seu encontro subsiste, para grande sorte dos
americanistas, um material duma riqueza excepcional, um
material sobre o qual os investigadores podem alicerar-se.
Quase todos os cronista-s se esforaram por completar
as suas descries com dados numricos referentes s dimen-
ses das casas, superfcie das plantaes, s distncias que
separam as aldeias e, sobretudo, ao nmero de habitantes
das regies que visitavam. Evidentemente, as preocupaes
que os animavam eram diversas: rigor etnogrfico de um
Lry, objectividade militar de um Staden, preocupao admi-
nistrativa dos missionrios que tinham necessidade de recen-
sear as populaes cadas sob o seu controle. Mas, neste ponto
como nos outros, as informaes quantitativas, quer tenham
sido recolhidas entre os Guarani ou entre os Tupi, no Mara-
nho ou no sul do Brasil, no apresentam discordncia alguma:
de uma ponta outra do imenso territrio ocupado pelos Tupi-
-Guarani, os nmeros indicados so muito prximos. Ora,
bizarramente, os especialistas da Amrica do Sul, at ao pre-
sente, negligenciaram completamente estas indicaes- tanto
ma.is preciosas no entanto quanto so muitas vezes muito
precisas-, quando no as recusaram simplesmente em bloco.
Razo invocada: os cronistas exageraram fantasticamente a
importncia da populao indgena. Encontramo-nos assim
coloca-dos perante uma situao bem estranha: tudo acei-
tvel nos cronistas, excepto os nmeros que nos do! Que
os erros, seno as mentires, dos cronistas se situem todos na
mesma ordem de grandeza parece no incomodar ningum.
Trata-se de examinar antes do mais o valor das crticas,
directas ou implcitas, dirigida.s s avoaliaes dos cronistas.
Elas encontram-se, no essencial, juntas e expostas nos tra-
balhos do principal especialista de demografia amerindia,
Angel Rosenbla.tt. O mtodo que este autor utiliza para eal-
80
cular a populao indigena da Amrica do Sul no momento
da Descoberta revela bem o pouco caso que ele faz das indi-
caes fornecidas pelos cronistas. Quantos ndios havia na
Amrica antes da chegada dos Brancos? A esta questo, desde
h muito que os americanistas trouxeram respostas to varia-
das quanto arbitrrias porque desprovidas de todo o funda-
mento cientfico. Oscila-se assim, para o Novo Mundo no seu
conjunto, entre oito milhes e quatrocentos mil habitantes
segundo Kroeber e quarenta milhes segundo P. Rivet. A.
Rosenblatt, abordando por seu turno o problema da popula-
;o pr-colombiana dia Amrica, chega ao nmero de quase
treze milhes e quinhentos mil, dos quais seis milhes sete-
centos e oitenta e cinquenta mil seriam da Amrica do Sul.
Crul.cula ainda que a margem de erro que o seu clculo com-
porta no ultra.passa os 20 ro ' e que portanto a sua investiga-
o rigorosa, cientfica. Que rigor este? O autor explica
que a densidade de populao depende ( ... ) no apenas do
meio mas tambm da estrutura econmica e social. No estudo
'
de todos os povos observamos, como natural, um certo para-
lelismo entre densidade de populao e nivel cultural '. Esta
determinao suficientemente vaga para que se possa admi-
ti-la sem dificuldade. Mais contestvel ainda nos parece
o ponto de vista do autor quando escreve: Encontramos
em particular grandes centros populacionais nos lugares
onde se constitui uma grande formao poltica sobre formas
agrcolas de existncia. Foi na Amrica o caso da.s civi-
lizaes azteca, maya, chibcha e inca. Com ela.s, aJtingiu o
seu apogeu a agricultura ,pr-colombiana e agruparam-se den-
sos ncleos de populao'. H aqul, pa.rece-nos, como que um
passe de m:gica: Rosenblatt no se contenta, com efeito, em
a-rticular a forte densidade de populao e a tecnologia de agri-
cultura intensiva, ele introduz subrepticiamente, quando fala
' A. Rosenblatt, La Poblacl6n indigena y el mesUza.je en America,
Buenos Aires, 1954:, vol. I, p. 103.
' Ibldem, p. 100.
81
'de grande formao poltica, a ideia de Estado. No entanto,
embora carregada de implicaes, essa referncia ao Estado
como sinal e produtor da civilizao no diz seno de longe res-
peito aos nossos propsitos. O essencial vem em seguida: <<Mas
se as grandes culturas atingiram a etapa agrcola, se no Per
,chegaram a domesticar o lama e a alpaca, a maiar parte do
contimente vivia da oaa, dia pesoa e da cOlecta. Os povos caa-
dores tm necessidade de vastas pradarias ( ... ), os povos que
se alimentam da caa e da pesca so obrigados a um certo
nomadismo intermitente. A floresta nunca abrigou grandes
populaes, por causa da grande mortalidade, das condi-
es climatricas difceis, da luta contra os insectos e os ani-
mais selvagens, da raridade das plantas alimentares ( ... ).
Exceptuando a zona agrcola que se estendia sobre uma estreita
faixa ao longo dos Andes (."), o conti'l'l!ente era em 1492 uma
imensa floresta ou uma estepe '. Cometeramos um erro se
julgssemos estar a perder tempo ao examinar um tal enun-
ciado de cretinices, porque toda a demografia> de Rosenblatt
est fundada sobre isso, e os seus trabalhos so ainda a refe-
rncia e a fonte dos americanistas que se interessam pelo
problema da populao.
A via seguida pelo autor sumria. Os povos caadores,
tendo necessidade de muito espao, tm uma populao de
fraca densidade; ora, a Amrica do Sul era na sua quase tota-
lidade ocupada por tribos de caadores; portanto a populao
indigena do continente era muito frruca. Subentendido: no se
deve, a partir daqui, dar crdito algum s estimativas dos
cronistas, por exemplo, drudo que eles apresentam de
populao relativamente elevados.
No seriJa, preciso dizer que tudo isto arqui-falso, mas
ainda melhor faremos se o dissermos. A. Rosenblatt invenh
com todas as peas uma Amrica de caadores-nmadas, com
vista a fazer admitir uma avaliao demogrfica fraca. (Ainda
assim, preciso notar que ele se mostra muito mais generoso
Ibidem, pp. 104-105; o sublinhado nosso.
82
do que Kroeber). O que que se passava na Amrica do Sul
em 1500? Exactamente o contrrio do que afirma Rosenblatt.
A maior pavte do continente era ocupruda por sociedades de
agricultores sedentrios que cultivavam uma grande variedade
de plantas, cuja lista no vamos aqui reproduzir. Podemos
mesmo a.xioma!tizar este dado de base dizendo que nos luga-
res em que ecologicamente e tecrndJogicamente a aJgricul-
tura era possivel, ela estava presente. Ora, esta determina-
o do espao cultivvel possvel engloba o imenso sistema
Orenooo-Amazonas-Paran-Paraguai e mesmo o Chaco; no
se encontra excluda dessa :rea seno a regio de pampas que
se 1e/Stende da de F'ogo mais ou me'nJl's at ao para-
lelo 32, territrio de caa e de colecta das tribos tehuelche
e puelche. Portanto, apenas uma fraca parte do continente
corresponde tese de Rosenbla tt. Objectar-nos-o talvez que
no interior da zona em que a agricultura possvel certas
populaes no a praticam. Antes do mais observaremos que
esses casos so extremamente raros e localizados: Guayaki
do Paraguai, Siriono da Bolvia, Guahibo da Colmbia. Lem-
braremos em seguida que praticamente, para cada um destes
casos, foi possvel estabelecer que se tratava no de verda-
deiros arcaicos mas, pelo contrrio, de sociedades que tinham
perdido a agricultura. Por nosso lado, mostramos que os
Guayaki, puros caadores-nmadas de floresta, renunciaram
a clllltivar o milho por volta do fim do sculo XVI. Re:<u-
mindo, no subsiste nada das bases em que se apoda a obra
de Rosenblatt. Evidentemente, isso no pe
em questo o nmero de seis milhes setecentos e odtenta
e cinco mil habita!lltes dado pelo autor para a Amrica do
Sul. Simplesmente se passa que, tal como todas as outras
avaliaes anteriores, esta puramente arbitrria, e se se
verificasse que era justa, s-lo-ia por <puro acaso. Po'!' outro
lado, ,ao revelar-se totalmente fantasista a razo que leva
Rosenblatt a recusar ter em conta as precises dos cronistds,
isso d-nos o direito de dizer: dado que nenhum argumento
vlido destri os dados demogrficos dos cronistas -que
83
foram testemunJws oculares-, talvez convenha, afastando os
preconceitos habituais, tomar de uma vez por todas a srio
o que nos dizem. o que vamos tentar fazer.
No se trata para ns de seguir a ;pista clssica de
calcular a populao ndia do cO!lljunw da Amrica do Sul
em 1500, tarefa irrealizvel no que nos toca. Mas pode-
mos tentar saber quantos eram nessa poca os ndios Guarani
e isso por duas razes. A primeira tem a ver com a dis-
posio do seu territrio, muito homognea, de limites conhe-
cidos, e portanto susceptvel de ser medido. No o caso dos
Tupi: estes ocupavam quase todo o litoral brasileiro, mas
ignoramos a profundidade a que se estendiam as suas tribos
para o interior; impossvel por conseguinte medir o seu
territrio. A segunda razo tem a ver com os dados num-
ricos. Mais abundantes, como veremos, do que se poderia jul-
gar, eles so de duas ordens: os que foram reeolhidos no
sculo XVI e no princpio do sculo XVIT; depois, os do fim
do sculo XVII e do princpio do sculo XVIII. Estes ltimos,
fornecidos pelos jesutas, referem-se apenas aos Guarani.
Quanto aos primeiros, informam sobre os Guarani e sobre os
Tupi, sobretudo alis 'Sobre estes ltimos. Mas a homogenei-
dade destas sociedades tal, de todos os pontos de vista, que
as dimenses demogrficas dos grupos locais guarani e tupi
eram certamente muito prximas. Poder-se-, por CO!llseguinte,
seno sobrepor meeanicamente os nmeros tupi sobre a reali-
dade guarani, pelo menos tom-los segundo uma ordem vero-
snriJJ. de grandeza, no caJSO de nos faltarem informaes a
propsito dos Guarani.
Entre ndios do Brasil e Europeus, rapidamente se esta-
beleceram os contactos, sem dvida no decurso do primeiro
decnio do sculo XVI, por intermdio dos comerciantes nave-
gadores franceses e portugueses que vinham trocar, contra
instrumentos metlicos e pacotilha, o pau brasil ou pau de
fogo. As primeiras cartas dos missionrios jesutas portu-
,gueses instalados entre os Tupinamba datam de 1549. A pene-
trao branca no interior do continente desenvolveu-se durante
84
a primeira metade do sculo. Os Espanhis, lanados pro-
cura do Eldorado inca, subiram o Rio de la Plata, depois o
Paraguai. A primeira fundao de Buenos Aires teve lugar
em 1536. Os Conquistadores, sob a presso das tribos, tive-
ram que a abandonar quase a seguir para fundar em 1537
Asuncin, desde ento capital do Paraguai. No era mais
nessa poca do que um acampament<>"base para organizar
as expedies de conquista e de explorao em direco aos
Andes, de que os separava a imensido do Chaco. Foi com os
ndios Guarani, senhores de toda a regio, que se aliaram Ol'l
Espanhis. Estes breves dados histricos explicam porque
que os Tupi-Guarani foram quase to precocemente conheci-
dos como os Aztecas ou os Incas.
Como eram constitudos os grupos locais, ou aldeias, dos
Tu pi-Guarani? Todos estes factos so bem conheeidos, mas
no intil voltar a record-los no essencial. Uma aldeia
,guarani ou tupi compunha-se de quatro a oito grandes casas
colectivas, as maloca, dispostas em torno de uma praa cen-
tral reservada vida religiosa e ritual. As dimenses das
malooa variam ,segundo os observadores e, sem dvida, segundo
os grupos visitados. O seu comprimento situa-se entre qua-
renta metros para as mais pequenas e cento e sessenta metros
para as maiores. Quanto ao nmero de habitantes de cada
mriloca, oscila entre 100 (segundo Cardim, por exemplo) e 500
ou 600 (Lry). Resulta da que a populao das aldeias tupi-
namba mais modestas (de quatro maloca) devia comportar
cerca de quatrocentas pessoas, enquanto que a das mais impor-
tantes (sete ou oito maloca) atingia, quando no ultrapas-
sa VIa, trs mil pessoas. Thevet, por seu lado, faJla, a propsito
de certas aldeias onde esteve, de seis mil e mesmo dez
mil habitantes. Admitamos que estes ltimos nmeros so
eJ<Cagerados. Isso no obsta a que a dimenso demogrfica dos
grupos tupi ultrapasse, e de muito longe, a dimenso corrente
da.q sociedades sul-americanas. A titulo de comparao lem-
braremos que entre os Yanomani da Venezuela, populao
da floresta, intacta porque tambm protegida ainda do con-
85
tacto com os Brancos, os grupos locais mais numerosos
agrupam 250 pessoas.
As informaes dos cronistas indicam claramente que
as aldeias tupi-guarani eram de importncia desigual. Mas
podemos aceitar uma mdia de 600 a 1.000 pessoas por grupo,
hiptese que, fazemos questo em sublinh-lo, deliberada-
mente ba4xa. Esta avaliao poder parecer enorme aos ame-
ricanistas. Ela confirmada no apena.. pelas anotaes
impressionistas dos primeiros viajantes- a multido de crian
as que formigam nas aldeias-, mas sobretudo pelas indi-
caes numricas que fornecem. Frequentemente dizem res-
peito s actividades: militares dos Tupinamba. Com efeito,
todos os cronistas ficaram espantados, por vezes mesmo
horrorizados, com o gosto fantico destes ndios pela guerra.
Franceses e Portugueses, em competio :armada com vista
a assegurarem a dominao do litoral brasileiro, souberam
explorar essa belicosidade ndia fazendo alianas com tribos
inimiga.. entre si. Staden, por exemplo, ou Anchieta, falam,
enquanto testemunhas oculares, de frotas de guerra tupi-
namba que compreendram cerca de duzentas pirogas, trans-
portando cada uma vinte a trinta homens. As eXI]ledies
guerreiras podiam no alistar seno algumas centenas de
combatentes. Mas algumas, que duravam vrias semanas e
s vezes vrios meses, punham em movimento um nirn.ero
de guerreiros que chegava a elevar-se a doze mil, sem con-
tar as mulheres, encarregadas da logstica ( transpo.rte da
farinha de guerra destinada a alimentar a tropa) . Lry
conta como participou num combate nas praias do Rio,
que durou meio-dia: calcula em cinco ou seis mil o nmero
de combatentes de cada faco. Tais concentraes, apesar
de possveis enganos inerentes estimativa de uma vista
de olhos, no eram naturalmente possveis seno mediante
a aliana de vrias aldeias. Mas a relao entre o nmero
de homens em idade de combater e o nmero total da po-
pulao mostra evidncia a amplitude demogrfica das
sociedades tupi-guarani. (Dar-nos..,mos ccmta de que todas
86
as questes referentes . guerra e ao nmero dos grupos
iocais implicados na rede de alianas tocam de mu:ito perto
ao mesmo tempo o problema demogrfico e o problema pol-
tico. No podemos deter-nos agora nessa anlise. Assinala-
remos apenas de passagem que, pela sua durao e pelas
massas que punham a funcionar, estas expedies militares
nada tm em comum com o que se chama guerra nas outras
tribos sul-americanas, e que consiste quase sempre num raid.
relmpago ao romper da manh por um punhrudo de assal-
tantes. Para l da diferena na na:tureza da guerra, aperce-
be-se a diferena na natureza do poder poltico).
Todos estes dados referem-se aos Tupi do litoml. Mas o
que se passa relativamente aos Guarani? Se os Conquista-
dores se mostraram :a seu pre1psito avaros de nmeros,
sabemos em contrapartida que as suas aldeias, compostas
como as dos Tupi por quatro a oito maloca, deixaram aos pri-
meiros exploradores uma impresso de multido. Alvar Nufiez
Cabeza de Vaca, partido do Atlntico em Novembro de 1541,
chegou a Asuncin em Maro de 1542. A narrao dessa tra-
vessia de todo o territrio guarani abunda em notas sobre
o nmero de aldeias visitadas e de habitantes em cada aldeia.
Eis aqui, mais convinCCIIltes porque mais precisas, as pri-
meiras informaes numricas sobre os Guarani. Quando os
Espa111his, sob as ordens de Domingo de !rala, chegaram
ao lugar em que actualmente est Asuncin, entraram em
contacto com os dois chefes que controlavam a regio: estes
podiam alistar m guerreiroo. Muito pouco tempo
depois da concluso da aliana, esses dois caciques foram
capazes de levantar o que se poder chamar um exrcito
-oito mil 'homens que ajudaram !rala e os seus a comba-
ter as tribos agazes sublevadas contra os Espanhis. Estes, em
1542, tiveram que travar batalha contra um grande chefe Gua-
rani, l!'abar, que diriga oito mil guerreiros. Em 1560, nova
revolta dos Guarani, dos quais trs mil foram exterminados
pelos novos senhores. Nunca mais acabaramos de alinhar
nmeros, todos eles situados nesta ordem de grandeza. De
87
1:
i;-
I
quaJquer modo citemos ainda mais alguns, fornecidos estes
pelos jesutas. s .. bemos que as primeiras l'eSet"Vl!)S>>, fun-
dadas no princpio do sculo XVII por Rui'z Montoya, ime-
diat..mente sofre:mm os assaltos daqueles a que se chamava
os Mamelucos. Estes bandos de l!)SSassinos, constitudos por
Portugueses e mestios, partiam da regio de S. Paulo para
ir capturar o mximo possvel de fndios no interior da regio
guarani, que revendiam depois como escravos aos colonos
il!wtalados = litoral. A histria do incio daJs Misses a
histria da sua luta contra os Mameluoos. Estes, dizem os
arquivos dos jesutas, teriam em poucos anos morto ou captu-
rado trezentos mil fndios. Entre 1628 e 1630, os Portugueses
levaram das Misses sessenta mil Guarani. Em 1631, Mon-
toya resignou-se a evacuar as dul!)S ltimas reservas do
Guaira (portanto situadas em territrio portugus). Doze mil
ndios puseram-se em marcha sob o seu comando numa deso-
ladora ana:bl!)Sia: qua:tro mil sobreviventes atingimm o Paran.
Numa aldeia, Montoya recenseou cento e setenta famlias, au
seja, em palavras mais simples, uma populao de oitocentos
a oitocentos e cinquenta pessoas.
Estes diversos dados, que cobrem cerca de um sculo
(de 1537 com os Conquistadores, a 1631 com os jesutas),
estes nmeros, mesmo aproxoimativos, mesmo massivos, deter-
minam com oo nmeros tupi uma mesma ordem de grandeza.
Anchieta, homlogo de Montoya no Brasil, escreve que em
1560 a Companhia de Jesus exerce j a sua tutela sobre oitenta
mil ndios. Essa homogeneidade demogrfica dos Tupi-Guarani
convida a duas concluses provisrias. A primeira que, para
estas populaes, preciso aceitar as hipteses fortes ( enten-
da-se fortes em relaio s taxoas habituais das outras socie-
dades indfgenas). A segunda que, se tivesse havido necessi-
dade disso, poderamos ter-nos auxiliado com os nmeros tupi
para tratar a realidade gwarami, sob reserva- e
0
que
tentaremos fa:zer- de demonstrar em seguida a validade do
nosso mtodo.
88
Seja pois a populaw Guarani de que queremos cal-
cular a importncia. Trata-se antes do mais de estabelecer
a superfcie do territrio ocupado por estes ndios. Dife-
rentemente da rea tupi, impossvel de medir, a tarefa aqui
relativamente fcil, mesmo se nw permite obter resulta-
tados de uma preciso cadastral. A regio guaEani era limi-
tada a oeste pelo rio Paraguai, pelo menos pela parte do seu
-curso situada entre o paralelo 22 a mont=te e o 28 a jusante.
A fronteira meridional encontrava.,ge um pouco ao sul da
confluncia do Paraguai e do Paran. As margens do Atln-
tico constituam o limite oriental, mais ou menos desde o
porto brasileiro de Paranagu, ao norte (paralelo 26), at
fronteira do Uruguai actual, noutros tempos ptria dos
tndios Charrua (paralelo 33). Temos assim dul!)S linhas
paralelas (o curso do Paraguai, o litoral martimo), de que
basta ligar as extremidades para conhecer os limites seten-
trional e meridional do territrio gual.'ani. Estes limites cor-
respondem quase exactamente rea de expanso dos Guarani.
Os Guarani nw ocupavam integralmente este quadriltero
de cerca de quinhentos mil quilmetros quadrados, dado qu"
outras t r ~ b o s residiam nessa mesma regio, principalmente
os Caingang. Podemos :avaliar em trezentos e cinquenta mil
quilmetros quadrados a superfcie do territrio guai'ani.
Posto isto, e CO!llhecendo a densidade mdia dos grupos
locais, poderemos chegar a determinar a populao total?
Seria preciso poder estrubelecer o nmero dos grupos locais
compreendidos no conjunto territorial. :m evidente que 'a este
nvel os nossos clculos se baseiam em mdias, em nme-ros
grandes e que os resultados que permitiro atingir so de
ordem hipottica, o que no si-gnifica arbitrria. Que ns sai-
bamos, nw existe- para este periodo- seno um nico l.'ecen-
seamento de popul..o para um determinado territrio. Foi o
que efectuou, no princpio do sculo XVII, o padre Claude
d'AbbeviUe, na ilha do Mamnho, qua:ndo da 1tima tentativa
fra:ncesa de instal..o no Brasil. Neste espao de 1.200 Km'.
repartiam-se doze mil ndios Tupi em vinte e sete grupos
89
locais, o que d uma mdia de quatrocentas e cinquenta pes-
soas por aldeia, cada uma delas ocupando em mdia um espao
de quarenta e cinco quilmetros quadrados. A densidade da
populao na ilha do Maranho era assim de
dez habitantes por quilmetro quadrado. Mas no possvel
transpor essa densidade para o 'Spao guarani (o que daria
trs milhes e quinhentos mil ndios). No que um tal nmero
nos inquiete, mas a situao na ilha do Maranho no gene-
l'a!izvel. Com efeito, era uma zona refgio para os Tupinamba
que queriam escapar aos Portugueses. A ilha era portanto
sobrepovoada. Paradoxcalmente, isto que excplica, sem dvida,
a fraca dimenso dos grupos: havia dema.'<iadas aldeias.
Nas zonas costeiras vizinhas da ilha, os missionrios fr-an-
ceses tinham recenseado quinze a vinte grupos em Tapuy-
tapera, entre quinze a vinte grupos em Cuma e vinte a
vinte e quatro grupos entre os Caet. Havia portanto a
um total de cinquenta a sessenta e quatro grupos, que
devia agrupar entre trinta mil e quarenta mil indivduos.
E todas estas aldeias, dizem os cronistas, repartidas sobre
um espao muito mais vasto do que o da ilha, eram mais
povoadas do que as da ilha. Resumindo, a ilha do Maranho
com a sua densidade de populao um caso ilm pouco a:ber-
rante, inutilizvel.
Felizmente encontramos nos cronistas informaes sus-
ceptveis de nos fazer avanar; e, particularmente, uma pre-
ciosa indicao de Staden. Este, durante os nove meses que
esteve prisioneiro dos Tupinamba, levado de grupo em grupo,
teve todo o tempo disponvel para observar a vida dos seus
senhores. Faz notar que as aldeias eram, em geral, afastadas
de nove a doze quilmetros umas das out11as, o que daria
volta de cento e cinquenta quilmetros quadrados de espao
!por grupo local. Retenhamos este nmero e suponhamos que
o mesmo se passava com os Guarani. :m ento possvel conhe-
cer o nmero- hipottico e estatstico- dos grupos locais.
Seria de 350.000 dividido por 150: 2.340 mais ou menos. Acei-
temos como verosmil o nmero de 600 pessoas em mdia por
90
unidade. Teremos pois: 2.340 x 600 = 1.404.000 habitantes.
Portanto, perbo de um milho e meio de ndios Guarani, antes
da chegruda dos Brancos. Isso implica uma densidade de habi-
tantes por quilmetro quadrado. (Na ilha do Mamnhao era
de 10 hiabrta:ntes pOT quilmetro quadrado).
Este nmero parecer enorme, inverosmil, inaceitvel
para alguns, seno para muitos. Ora, no somente no h
razo alguma ( exccepto ideolgica) para o recusar, mas esta-
mos em querer que a nossa estimativa mesmo assim mo-
desta. agOTa talvez o momento de evocar as investigaes
da chamada Escola de Berkeley, grupo de historiadores dem-
grafos cujos trabalhos abalaram de cima a baixo as cen:ezas
clssicas quanto Amrica e sua populao. Pertence a Pierre
Chiaunu' o mrito de ter, a partir de 1960, assinalado
ateno dos investigadores a extrema importncia das desco-
bertas da Escola de Berkeley, e ns remetemos para os dois
textos em que esse autor excpe com vigor e clareza o mtodo
e os resultados dos investigadores americanos. Diremos sim-
plesmente que os seus estudos demogrficos, levados a cabo
com um rigor irrepreensvel, conduzem 'a admitir nmeros de
populao e taxcas de densidade at ao presente insuspeitadas,
quruse incrveis. :m assim que para a regio mexicana do
Anahuac (514.000Km'), Borah e Cook determinam, em 1519,
uma populao de 25 miJhes, isto , como escreve Pierre
Chaunu uma densidade comparvel da Frana de 1789, de
' .
50 habitantes por quilmetro quadrado. O que quer dizer
que a demografia de Berkeley, no hipottica mas demons-
trada, vai, medida que avana, no sentido dos nmeros
mais elevados. Os trabalhos recentes de Nathan Wachtel
ceroa dos Andes estabelecem trambm para a taxas de
populao muito mais fortes do que se julgava: 10 milhes
s Une Histoire hispano-am.ricaine pilote. En marge de l'oeuvre
de J'Ecoie de BerkeleY. Revue Historique, tomo IV, 1960, PP
E: La Population de 'l'Amrique Indlenne. Nouvelles Recherches, Revue
Historique, 1963, tomo I, p. 118.
91
de lndios no Imprio inca em 1530. Constatamos pois que
as investigaes realizadas no Mxico ou nos Andes obri-
gam a aceitar as hipteses fortes no que se refere popu-
lao indgena da Amrica. E eis porque o nosso nmero de
um milho e quinhentos mil 1ndos Guarani, absurdo aos
olhos da demografia clssica (Rosenblatt e outros), se torna
muito 11azovel quando recolocado na perspectiva demogr-
fica traada pela Escola de Berkeley.
Se temos razo, se efectivamente 1.500.000 Guarani
habitavam um territrio de 350.000 quilmetros quadrados,
ento preciso transformar radicalmente 1as nossas concep-
es sobre a vida econmica das populaes da floresta (a
cretinice do conceito de economia de subsistncia), recu-
sar as estpidas crenas sobre a pretensa incapacidade deste
gnero de a:gricultura para sustentar uma populao impor-
tante e, bem entendido, repensar totalmente a questo do
poder poltico. Faremos observar que nada impedia os Gua-
rani de ser numerosos. Consideremos com efeito a quanti-
dade de espao cultivado necessria. Sabemos que pre-
ciso volta de meio hectar para uma familia de quatro a
cinco pessoas. Este nmero est perfeitamente estabelecido
pelas medidas muito precisas de Jacques Lizot entre os
Yanomani: descobriu entre eles (pelo menos para os grupos
em que efectuou as suas medidas) uma mdiJa de 1.070 m'
cultivados por pessoa. Portanto, se preciso meio hectar para
cinco pessoas, sero precisos 150.000 hectares de plantaes
pa.11a 1.500.000 pessoas, ou seja, 1.500 Km. O que equivale a
dizer que a superfcie total das terras simultaneamente cul-
tivadas para reeponder s necessidades de 1.500.000 ndios
no ocupa mais do que 220. parte do territrio total. (Na
ilha do Maranho, caso especial como vimos, as hortas no
ocupam no entanto mais do que a nonagsima parte da
superfcie da ilha. E, segundo Yves d'Evreux ou Claude
d'AbbevHle, nada indica que os doze mil . habitantes da
e Comunicao Pessoal.
92
ilha estivessem particularmente ameaados de escassez). Por
conseguinte, o nosso nmero de 1.500.000 Guarani, em?o_ra
hipottico, nada tem de inverosmil. Muito pelo contrarw,
so as avaliaes de Rosenblatt que nos parecem absur-
das, dado que admite 280.000 ndos em 1492.
Sobre que bases assenmm os seus calculos,
Quanto a Steward, descobre para os Guaram uma densi-
dade de 28 habitantes por 100 Km', o que devia dar um total
de 98.000 ndios. O que o teriJa levado a decidir que
duzentos mil em 1.500? Mistrio e incoerncia da demografia
amerndia clssica.
No nos esquecemos de modo algum que o nosso pr-
prio nmero se mantm hipottico ( consideremos
um xito a possibilidade de ter estabelecido uma ordem de
grandeza que nada mais tem a ver com os clculos.anteriores).
Ora, ns dspomos de um meio de controlar a destes
clculos. A utilizao do mtodo regressivo, brilhantemente
elucidado pela Escola de Berkeley, servir de contraprova para
0 mtodo que punha em relao 1as e as
Com efeito -nos possvel proceder dtferentemente. a
partir da taxa de despovoamento .. sorte em por
duas estimativas efectuadas pelos Jesmtas. Referem-se _a popu
lao tndia agrupada nas Misses, isto , de facto, a quase
totalidade dos Guarani. A primeira, devemo-la ao Padre
&wp. Ele escreve que em 1690 havia ao todo :eser-
vas, .quais nenhuma com de seis =.1 ndios, e
algumas ultrapassando oito mil hl!)bltantes .. Hav1a
fim do sculo XVII, cerca de duzentos nnl Guaran1
contar com as tribos livres). Trata-se, com a segunda estima-
tiva de um verdadeiro recenseamento, quase at
de os habitantes das Misses. Foi o Padre Loza:no, histo-
riador da Companhia de Jesus, que enunciou.os seus resultados
na sua insubstituvel HistCYT'L de la del
A populao Guarani era de 130.000 pessoas em 1730. Reflic-
tamos sobre estes dados.
93
:r,
Como o testemunha o desaparecimento, em menos de
meio SQculo, de mais de um tero da populao, as Misses
jesutas no puseram de modo algum ao abrigo do despovoa-
mento os ndios que nelas residiam. Muito pelo contrrio,
a concentrao de populaes naquilo que atingia a dimenso
de pequenas cidades devia oferecer um terreno privilegiado
propagao das epidemias. As c:artas dos jesutas so
ponl:uadas por descries pavorosas sobre as dev1astaes pe-
ridicas da varola ou da gripe. O Padre 8epp, por exemplo,
escreve que em 1687 uma epidemia matou dois mil ndios
numa nica Misso, e que em 1695 uma epidemia de varola
dizimou todnls as reservas. bem evidente que o processo de
despov<>a.mento no comeou no fim do sculo XVTI, mas desde
a chegada dos Brancos, nos meados do sculo XVI. O padre
Lozano constata-o: na poca em que redigiu a sua Histria,
a populao ndia baixara muito relati..,amante que existia
antes da Conquista. Assim, ele escreve que no fim do sculo
XVI havia, apenas na regio de Asuncin, vinte e quatro mil
ndios de encamienda. Em 1730 no havia mais do que dois
mil. Todas as tribos que habitavam essa parte do Paraguai
no submetida autoridade dos jesutas desapareceram com-
pletamente por causa da escravatura da encamienda e das epi-
demias. E, com amargura, Lozano escreve: A provincia do
Paraguai era a mais povoada de ndios, e hoje est quase
deserta, apenas l se encontram os das Misses.
Os investigadores de Berkeley traaram para a regio
de Anahuac a curva de despovoamento. :11: aterradora, dado
que dos 25.000.000 de ndios em 1500, no havia mais do CjUe
um milho em 1605. Wachtel' d, para o Imprio inca, nmeros
pouco menos impressionantes: 10.000.000 de ndios em 1530
1.000.000 em 1600. Por diversas razes, a queda demogrfic;
foi menos brutal do que no Mxico, dado que a populao foi
reduzida apenas, se assim se pode dizer, de nove dcimos,
enquanto que no Mxico o foi na ordem dos 96/100. Tanto
' N. Wachtel, La Vision des V-cus, Paris, Gallimaro, 197.1.
94
nos Andes como no Mxico se assiste, desde os fins do sculo
XVII a um lento aumento demogrfico dos ndios. No o
caso 'dos Guarani, dado que entre 1690 e 1730 a populao
passou de duzentos mil para cento e trinta mil.
Pode-se estinlar que, nessa poca, os Guarani livres,
isto , os que escaparam simultaneamente encomienda e
s Misses, no eram mais do que vinte mil. S,omados aos
cento e trinta mil Guarani das Misses, temos pois um total
de cento e cinquenta mil por volta de 1730. Pensan1os pol."
outro lado dever aceitar uma taxa de despovoamento rela-
tivamente fraca, se a compararmos ao caso mexicano, de nove
dcimos 1em dois sculos ( 1530-1730). Por conseguinte, os
150.000 :ndios de 1730 eram dez vezes mais numerosos dois
sculos antes: eram 1.500.000. Consideremos a taxa de queda
de nove dcimos como moderada, mesmo sendo catastrfica.
Aparece talvez a 'Ulila funo relativamente protectOl."a das
Misses dado que os ndios de encomienda desapareciam a um
' '
ritmo mais ripido: 24.000 no fim do sculo XVI, 2.000 em 1730.
O nmero de 1.500.000 Guarani em 1539, .assim obtido,
no mais hipottico, como no modo de clculo anterior.
Consideramo-lo mesmo como mnimo. Em todo o caso, a con-
vergncia dos resultados obtidos pelo mtodo regressivo e pelo
mtodo das densidades mdias refora a nossa convico de que
no nos angail]amos. Elstamos longe dos 250.000 Guarani em
1570, segundo RosenblJatt, que no aceita para um perodo de
perto de um sculo (1570-1650) seno uma taxa de dez/povoa-
mento de 20% (250.000 ndios em 1570, 200.000 em 1650).
Esta taxa foi formulada arbitrariamente, e est em com-
pleta contradio com as taxas conhecidas para todo o resto
da Amrica. Com Steward, a coisa torna-se ainda mais absurda:
se havia 100.000 Guarani (segundo a densidade de vinte e
oito habitantes por quilmetro quadrado) em 1530, ento,
caso nico, a sua populao no teria cessado de aumentar
durante os sculos XVI e XVLI! Nada disto verdadeiro.
:11: preciso pois, para reflectir sobre os Guarani, aceitar
estes dados de base: eles eram, antes da Conquista, 1.500.000,
95
repartido& por 350.000 quilmetroB quadrados, au seja; urna
dmtsUule de um pouco mais de 4 luibitantes par quilmetro
quoxl,rado. Este facto rico em consequncias :
1) No que se refere demografia dedutvel das esti-
mativas massivas dos. cronistas, foroso constatar que tinham
razo. As suas avaliaes, completrunente coerentes entre si
pelo facto de definirem uma mesma ordem de grandeza, so-no
igualmente com os resultados obtidos pelo clculo. Isso des-
qualifica a demografia tradicional demonstrando a sua falta
total de rigor cientfico e leva-nos a perguntar por que que
Rosenblatt, ou Kroeber, ou Steward, sistematicamente escolbe-
ram-contra a evidncia-as hipteses mais fracas poss-
veis quanto ao nmero da populao ndia.
2) No que se refere questo do poder politico, desen-
volvela-emos ulteriormente. Contentar-nos.emos de momento
em indicar que entre o guia de um bando de caadores nma-
diaJS guaytaki de vinte e cinco ou trinta pessoas e o chefe de
um grupo de uma centena de guerreiros no Chaco, e os grandes
mburuvicha, os lderes tupi-guarani que conduziam em com-
bate exrcitos de vrios milbares de homens, h uma dife-
rena i'adical, uma diferena de natureza.
3) Mas o ponto essencial refere-se questo geral da
demografia ndia antes da chegada dos Brancos. As investi-
gaes da Escola de Berkeley para o Mxico, as de Wachtel
para os Andes, convergentes pelos seus resultados (hipteses
fortes), tm para alm do mais em comum o facto de tratarem
daquilo a que se convencionou chama,. as Altas Culturas. Ora,
a nossa modesta reflexo sobre os Guarani, isto sobre uma
p o p u ~ a o da floresta, conduz pelos seus resultados exacta-
mente no mesmo sentido que os trabalbos supmcitados: tam-
bm. para as popUlaes da Floresta preciso partir de hip-
teses fortes. No podemos aqui deixar de afirmar o nosso
acordo completo com Pierre Chaunu: Os resultados de Borah
e Cook conduzem a uma reviso completa da nossa represen-
tao da histria ame..icana. No so mais os 40 milhes
de homens julgados excessivos pelo dr. Rivet que pre-
96
ciso supor na Amrica pr-colombiana, mas 80, talvez 100
milhes de almas. A catstrofe da Conquista ( ... ) foi to
grande como Las Casas a tinha denunciadO>>. Concluso que
nos gela: ... Foi um quarto da humanidade, aproximada-
mente, que ter sido aniquilada pelas razias microbianas do
sculo XVI '.
A nossa anlise de um caso da floresta muito loca:lizado
deve, se a aceitarmos, aparecer como uma confirmao das
hipteses de Berkeley. Ela obriga a admitir a hiptese demo-
grfica forte para toda a Amrica, e no apenas para as Altas
Culturas. E sentir-nos-"emos satisfeitos se este trabalho sobre
os Gua..ani deixoar a convico de que preciso empreender
essa grande reviso qual, desde h quinze anos, a Escola de
Berkeley nos convida de um modo premente ,.
7
P. Chaunu, op. cit., 1963, p. 117.
lbldem, 'P 118.
* Estudo publicado iDJ.clalmente em L'Homme XIII (1-2), 1973.
97
CAPTULO V
O ARCO E A CESTA
Quase sem transio, a noite apoderou-se da floresta,
e a massa das grandes rvores parece tornar-se mais prxima.
Com a obscuridade instala-se tambm o silncio; calaram-se
aves e macacos e apenas se fazem ouvir, lgubres, as seis
notas desesperadas do urutau. E, como que por um tcito
acordo com o recolhimento geral a que se dispem seres e coisH.s,
mais nenhum rudo surge deste espao furtivamente habitado
onde um pequeno grupo de homens acampa. A fez para-
gem um bando de lndios Guayaki. Por vezes avivado por um
golpe de vento, o brasido de cinco ou seis fogos familia-
res arranca sombra o circulo vago dos abrigos de ramos
de palmeira, cada um dos quais, frgil e passageira morada
dos nmadas, protege o repouso de uma famlia. As conversas
murmuradas que se seguiram refeio foram cessando pouco
a pouco; as mulheres, estreitando ainda nos braos as suas
crianas encolhidas, dormem. Poder-se-iam julgar adormecidos
tambm os homens que, sentados perto do fogo, montam uma
guarda muda e rigorosamente imvel. Eles no dormem, no
entanto, e o seu olhar pensativo pousado nas trevas vizinhas,
se o !pudssemos ver, revelaria uma expectrutiva sonhadora.
Os homens preparam-se para cantar e esta noite, como tantas
vezes a essa hora propcia, eles vo entoar, cada um para
si, o canto dos caadores: a sua meditao .prepara a conju-
99
gao subtil de uma alma e de um instante com as palavras que;
vo exprimi-la. Cedo uma voz se eleva, quase imperceptvel a
princpio, de tal modo nasce interior, prudente murmrio que
nada articula ainda, que se dedica pacientemente procurra de
um tom e de um discurso exactos. Mas ela cresce pouco a !POUco,
o cantor est doravante seguro de si e de repente, sonoro,
livrre e tenso, o seu canto brota. Estimulada, uma segunda
voz se vem juntar primeira, depois uma outra; entoam
pa:lavras antecipadas, como respostas a que.sJtes que sempre
antecipariam. Os homens cantam todos agora. Mantm-Be
sempre imveis, com o olhar um pouco mais perdido; cantam
todos juntos, mas cada um canta o seu prprio canto. So
senhores da noite e cada um se quer, na noite, senhor de si.
Mas precipitadas, ardentes e gm.ves, as palavras dos
caadores ach ' cruzam-se, sem- que o saibam, num dilogo
que quereriam esquecer.
Uma oposio muito ntida organiza e domina a vida
quotidiana dos Guayaki: a dos homens e das mulheres cujas
actividades respectivas, fortemente mareadas peia diviso
sexual das tarefas, constituem dois campos nitidamente sepa-
rados e alis, como por todo o lado, complementares. Mas dife-
rentemente da maior parte das outras sociedades ndias, os
Guayaki no conhecem forma alguma de trabalho em que
participem simultaneamente homens e mulheres. A agricul-
tura, por exemplo, depende tanto das a0tividades masculinas
como das femininas, j que se geralmente as mulheres se dedi-
cam sementeira, ao tratamento das hortas e recolha dos
legumes e cerea:is, so os homens que se ocupam com a prepara-
o do lugar das plantaes abatendo as rvores e queimando a
vegetao seca. Mas se os papeis so bem distintos e no se
invertem nunca, nem por isso deixam de assegurar em comum
a feitura e os resultados duma operao to importante
como a ragricultura. Ora, nada disso acontece entre os Guayaki.
Nmadas que ignoram tudo da arte de plantar, a sua eco-
1
Ach: autodenominao dos Guayaki.
100
nomia .apoia-se exclusivamente na explorao dos recursos
natllli"ais que a floresta oferece. Estes dividem-se em dois
grupos principais: !Produtos da caa e produtos da colecta, com-
preendendo estes ltimos o mel, as larvas e a medula
da palmeira pindo. Poder-se-ia pensar que a . procura destas
duas classes de alimento se conforma com o modelo muito
espalhado na Amrica do Sul segundo o qual os homens caam,
o que natural, deb<ando para ras mulheres a ta:refa de colectar.
Na realidade, as coisas passam-se de ma,neira muito diferente
dado que, entre os Guayaki, os homens caam e tambm
colectam. Nilo porque, mais atentos que outros aos lazeres das
suas esposas; as queiram dispensar dos trabalhos que normal-
mente lhes caberiam; mas porque de facto os produtos da
colecta obtidos graas a operaes penosas que 1as mulhe-
res dificilmente poderiam levar a cabo: localizao dos enxa-
mes, extraciio do mel, a:bate das rvores, etc. Trata-se
portanto dum tipo de colecta que cabe bem melhor dentro
do quadro das actividades masculinas, Ou, noutros termos,
a colecta conhecida no resto da Amrica, consistindo na pro-
cura de bagos, frutos, razes, insectos, etc., praticamente
inexistente entre os Guayaki, porque a floresta que ocupam
no abunda em recursos desS gnero. Portanto, se as mulhe-
res praticamente nada colectam, porque no h quase nada
pall'a colectar.
Em consequncia, encontrando-se as possibilidades eco-
nmicas dos Guayaki culturalmente reduzidas pela ausncia
de agricultura e naturalmente pela relativa raridade dos ali-
mentos vegetais, a tarefa cada dia recomeada de procurar
a alimentao do grupo repousa essencialmente nos homens.
Isto no significa de modo algum que as mulheres no parti-
cipem na vida material da comunidade. Para alm da funo,
decisiva para os nmrudas, de transportar os bens fami-
liares, as mulheres dos caadores fabricam cestaria, cer-
mica, ,as cordas dos arcos; cozinham, tratam das crianas, etc.
Longe de se mostrarem ociosas, consagram inteirr-amente o
seu tempo execuo de todos estes trabalhos necessrios.
101
W' 11>1! Cii\.:.<:::1!! SOl:rars e
.0:-
Mas isto no impede que, no plano fundamental da produ-
o do alimento, o papel de facto menor que as mulhe-
res desempenham deixa aos homens o seu absorvente e presti-
giante monoplio. Ou, em termos mais precisos, a diferena
entre homens e mulheres ao nvel da vida econmica pode
ver-se como a oposio entre um grupo de produtores e um
grupo de consumidores.
' O pensamento Guayaki, como iremos ver, exprime clara-
mente a natureza desta oposio que, por se situar na prpria
raiz da vida social da tribo, comanda a economia da sua exis-
tncia quotidiana e confere o seu sentido a todo um conjunto
de atitudes onde se tece a trama das relaes sociais. O
espao dos caadores nmadas no se pode repartir segundo
as mesmas linhas que o dos agricultores sedentrios. Dividido'.
por estes em espao da cultura, constitudo pela aldeia e pelas'
hortas, e em espao da natureza, ocupado pela floresta cir-
cundante, ele estrutura-se em crculos concntricos. Para os
Guayaki, pelo contrrio, o espao invariavelmente homo-
gneo, reduzido pura extens:o onde no h, ao que parece, i
diferena entre a natureza e a cultura. Mas, na realidade, a
oposio anteriormente assinalada no plano da vida material
fornece igualmente o princpio duma dicotomia do espao que,
por ser menos evidente do que em sociedades dum outro nvel
cultural, no por isso menos pertinente. Existe entre os
Guayaki um espao masculino e um espao feminino, respec-
tivamente definidos pela floresta onde os homens caam e
pelo acampamento onde reinam as mulheres. Sem dvida q u e ~
as paragens destinadas a acampar so muito provisrias:
raramente duram mais de trs dias. Mas constituem o lugar
do repouso, onde se consome a comida preparada pelas mulhe-
res, enquanto que a floresta o local do movimento, especial-
mente dedioado s corridas dos homens lanados na procura
da caa. No devemos concluir daqui, claro, que as mulheres
so menos nmadas que os seus maridos. Mas, em conse-
quncia do tipo de economia de que depende a existncia da
tribo, os verdadeiros senhores da floresta so os caadores: eles
102
penetram-na efectivamente, obrigados como so a explor-la
com mincia para lhe aproveitar sistematicamente todos os
recursos. Espao do perigo, do risco, da aventura sempre reno-
vada para os homens, a floresta pelo contrrio, para as
mulheres, espao percorrido entre duas etapas, h'avessia mon-
tona e fatigante, simples vastido neutra. No poJo oposto, o
acampamento oferece ao caador :a tranquilidade do repouso
e a ocasio dos .pequenos trabalhos rotineiros, enquanto que
constitui para as mulheres o loool onde se realizam as suas
actividades especficas e se desenvolve uma vida familiar que
elas controlam em larga medida. A floresta e o acampajllento
encontram-se assim afectadas de sinais contrrios conforme
se trata dos homens ou das mulheres. O espao da banali-
dade quotidiana, se assim lhe podemos chamar, para as
mulheres a floresta, e para os homens o acampamento: par-a
estes a existncia s se torna autntica quando a vivem como
caadores, quer dizer na floresta, e para as mulheres quando,
deixando de ser meios de transporte, podem viver no acampa"
mento como esposas e mes.
Podemos portanto medir o valor e o alcance da oposio
scio-econmica entre homens e mulheres, pelo modo como
ela estrutura o tempo e o espao dos Guayaki. Ora eles no
relegam de modo algum para o impensado o vivido desta
'{YT'axis: tm dela uma oonscincia clara, e o desequilbrio das
relaes econmicas entre os caadores e as suas mulheres
exprime-se, no pensamento dos tndios, como a op'osio entre
o arco e a cesta. Cada um destes dois instrumentos , conf:
efeito, o meio, o sinal e o resumo de dois eMilOI'I de exis-
tncia ao mesmo tempo opostos e escrupulosamente separe-
dos. li: quase desnecessrio sublinhar que o arco, nica arma :
dos caadores, um utenslio exclusivamente masculino e que:
a cesta, que por excelncia prpria das mulheres, n:o
utilizada seno por elas: os homens caam, as mulheres trans-.
portam. A pedagogia dos Guayaki funda-se principalmente'
nesta grande diviso dos papis. Apenas com a .idade de quatro
ou cinco anos, o rapazinho recebe j da mo do seu pai um
103
pequeno arco, prprio para o seu tamanho; desde esse momento
comear a exercitar-se na arte de bem arremessar a flicha.
Alguns anos mais tarde, -lhe oferecido um arco muito maior.
flechas j eficazes, e as aves que ele traz para a sua me
constituem a prova de que um rapaz srio e a promessa de
que ser um bom caador. Passam-se ainda alguns anos e
chiga ento a altura da iniciao; a lbio inferior do jovem
de aproXimadamente quinze nos perfurado, ele tem o direito
de usar o ornamento 1bial, o beta, e ento considerado como
um verdadeiro caador, como um kyuchut. O que equivale
a dizer que dentro de p<)uco tempo poder aTTanjar uma mu-
lher e dever por conseguinte prover s necessidades do
novo lar. Tambm por isso a sua primeill'a preocupao, uma
vez integrado na comunidade dos homens, fabricar um arco
para seu prprio uso; doravante membro produtor do brido,
caar com uma a:rma talhada pelas suas prprias mos, e
apenas a morteou a velhice o sparao'odo 8eu arco. Comple-
mentar e :paralelo o destno da mulher. Rapariguinha de
nove ou dez anos, recebe da sua me uma miniatura de cesta
cuja confeco segue atentamente. Evidentemente que ela no
lhe serve para transportar nada; mas o gesto gratuito do seu
caminhar, de cabea ba:ix e nuca esticada nessa antecipao
do seu esforo futuro, prepara-a para o seu muito prximo
destino. Pois o aparecimento, par volta dos doze ou treze
anos, da sua primeira menstruao e o ritual que sanciona o
advento da sua feminilidade fazem da jovem virgem uma
dar, uma mulher que ser dentro de pouco tempo a esposa
de um caador. Como primeiro dever do seu novo estado e
marca da sua condio definiti..,a, ela confecciona ento a sua
prpria cesta. E cada um dos dois, o rapaz e a rapariga, ao
mesmo tempo senhores e prisioneiros, um da sua cesta, o
outro do seu arco, acede assim idade adulta. Finalmente,
quando um caador morre, o seu arco e as .suas flechas so
ritualmente queimadas, como o tambm a ltima cesta de
uma mulher: .porque, sendo os prprios sinais das pessoas,
no poderiam sobreviver-lhes.
104
Os Guayaki apreendem esta grande oposio, segundo
a qual funciona a sua sociedade, por meio de um sistema de
proibies recprocas: uma prohe s mulheres de tocarem
no aTeo dos caadores, a outra impede os homens de pega-
rem na cesta Duma maneira geral os Ultenslios e instru-
mentos so neutros, se assim o podemoo dizer:
o homem e a mulher podem utiliz-los indiferentemente; s .
escapam a esta neutralidade o arco e a cesta. Este tabu sobre
o contacto fsico com as insgnias mais evidentes do sexo
oposto permite assim evitar qualquer transgresso da
scio-sexual que regula a vida do grupo. :m escrupulosamente
respeitado e nunca nos dado assistir conjuno bizarra
duma mulher e dum arco, nem outra, mais que ridcula, de um
caador e de uma cesta. Os sentimentos que cada sexo expe-
rimenta em relao ao objecto privilegiado do outro so muito,
diferentes: um caador no suportaria a vergonha de trans-
portar uma cesta enquanto que a sua mulher temeria.
no seu -arco. J1l aue o contacJto entre a mulher e o arcO)
muito mais do que o do homem com a cesta. Se um \
mulher experimentasse manipular um arco, seguramente faria I
com que sobre o seu recasse o pan, isto , o
azar na caa, o que seria desastroso para a economia dos<
Guayaki. Quanto ao caador, o que ele v e recusa na cesta \
precioomente a ameaa possvel do que ele teme '
de tudo, o pam. Porque, quando um homem vtim:a desta
verdadeira maldio, sendo incapaz de cumprir a sua funo
de caador, perde por isso ,a sua prpria natureza, a sua prpria
substncia escapa-se-lhe: forado a abandonar um arco dora-
vante intil, nada lhe resta seno renunciar sua masculi-
nidade e, trgico e resignado, munir-se duma cesta. A dura
lei dos Guayaki no lhes permite escapatria alguma. Os
homens existem a;penas como caadores, e mantm a certeza
do seu ser preservando o seu arco do contacto da mulher.
Inversamente se um indivduo no chega a realizar-se como
caador, -ao mesmo tempo de ser um homem: p!Ulsando
do arco cesta, metaforicame-nte ele transforma-se numa
105
com frequncia descontente. Como se explica esta diferena
introduzida pelos Ach no tratamento reservado a dois indi-
vduos que. pelo menos no plano formal, eram negativamente
idnticos? lll que, ocupando um e outro uma mesma posio rei:=
tivamente aos outros homens pior ambos serem pan, o seu ,
estatuto positivo deixava de ser equivalente, j que um, Cha-
chubutawachugi, se bem que obrigado a renunciar parcial- ,'
mente s determinaes masculinas, continuava a ser um
homem, enquanto que o outro, Krembgi, havia assumido at
s suas ltimas consequncias a sua condio de homem n_o,
1
-caador tornandO'-se>> uma mulher. Ou, posta a questo nou-1
tros termos, este havia descoberto, por meio da sua homos- !
sexualidade, o topos a que o destinava logicamente a sua I
incapacidade em ocupar o espao dos homens; o outro, pelo i
contrrio, recusando o movimento desta mesma lgica, foi !
I
eliminado do ,circulo dos homens sem por isso se integrar i
no das mulheres. O que equivale a dizer que, litel'almente, ,
ele no se encontrava em parte algnma, e que a sua situa-!
o em muito mais desconfortvel que a de Krembgi,
Este ltimo ocupava, aos olhos dos Ach,. um lugar defi-
nido, se bem que paradoooal; e, num certo sentido despida
de toda a ambiguidade, a sua posio no grupo aca:bava por
resultar normal, mesmo se integrado na norma das mulhe;es.
Chachubutawachugi, pelo contrrio, constitua por si mesmo
uma espcie de escndalo lgico; no se sitUJaJldo em nenhum
espao visivelmente assinalvel, escapava ao sistema e intro-
duzia nele um elemento de desordem: o anormal, dum certo
ponto de vista, no era o outro, era ele. Da sem dvida a
agre,ssividade secreta dos Guay,aki a seu respeito, que se
adivinhava por vezes sob as atitudes de troa. Dai tam-
bm, provavelmente, as dificuldades psicolgicas que experi-
mentava, e um sentimento profundo de abandono: tal a
dificuldade em manter a conjuno a:bsurda de um homem
e de uma cesta. Chachubutawachugi pretendia pateticamente
continuar a ser um homem sem ser um caador: expunha-se
108
assim ao ridculo e portanto ao gow, pois era o ponto de con-
tacto entre duas regies normalmente separadas.
Pode:nws supor que estes dois homens mantinham ao
nvel da sua cesta a diferena dias relaes que mantinham
com a sua masculinidade. De facto, Krembgi trazia a: sua
cesta c,omo as mulheres, isto , com a faboa de transportar
sobre a testa. Quanto a Chachubutawachugi, usava essa
mesma faixa sobre o peito e nunca sobre a testJa. Essa era
uma maneira de transportar a cesta notoriamente mais des-
confortvel e muito mais fa:tigante que a outra; mas era tam-
bm para ele 0 nico meio de demonstrar que, mesmo sem
arco, continuava a ser um homem. .
Central pela sua posio e poderosa nos efe1tos,
a grande oposio dos homens e das mulheres 1mpoe
a sua marca a todos os aspectos da vida dos Guayak1. E ela
tambm que estabelece a diferena entre o canto dos homens e
0 canto das mulheres. Com efeito o prer masculino e o chen-
garnvara feminino opem-se totalmente s_:u . estilo e pelo
seu contedo; exprimem dois modos de ex1stenC1a, duas pre-
senas no mundo, dois sistemas de valores muito .
uns dos outros. E com pouco rigor, de resto, que falamos de
canto a propsito das mulheres; trata-se na realidade de
saudao lacrimejante generalizada: mesmo quando nao
sadam rituaimente um estrangeiro ou um parente ausente
desde h muito, as mulheres cantam chorando. Num tom
lamuriento, mas com uma voz forte, de c,aras e de cara escon-
dida entre as mos, pontuam cada f11ase da sua melopem com
soluos estridentes. As mulheres cantam frequentemente em
conjunto e o barulho dos seus gemidos conjugados
sobre .o auditor inadvertido uma impresso de mal-estar. Nao
se pode .ficar mais surpreendido do que quando se v, logo
que tudo termina, a cara calma das chorosas e os seus olhos per;._,
feitamente secos. Convm tambm sublinhar que o canto das
mulheres intervm sempre em circunstncias rituais: seja du-
rante as principais cerimnias da sociedade guayaki, seja no
decurso das mltipLas situaes que a vida quotidiana oferec'e.
109
Por exem,plo, um caador traz para o acampamento um
animal: uma mulher <<sada-o chorando, pois ele evoca-lhe
um parente desaparecido; ou ainda, se uma criana se magoa
ao brincar, a sua me imediatamente entoa um chengaruvara
exactamente semelhante a todos os outros. O canto das mulhe-
res nunca , como seria de esperar, feliz. Os seus temas so inva-
riavelmente a morte, a doena, a violncia dos Brancos e as
mulheres assumem assim na tristeza do seu canto todo o
sofrimento e toda a angstia dos Ach. ,
O contraste que ele forma com o canto dos homens sur ..
preendente. Parece haver entre os Guayaki como que uma
diviso sexual do trabalho lingustico segundo a qual todos
os aspectos negativos da existncia ficam a cargo das mulhe-
res, enquanto que os homens se dedicam sobretudo a cele-
brar seno os seus prazeres, pelo menos os valores que lha
tornam suportvel. Enquanto que nos seus prprios gestos a
mulher se esconde e parece humilhar-se para cantar, ou ante.>,
para chorar, o caador pelo contrrio, cabea levantada e corpo
direito, exalta-se no seu canto. A voz possante, quase brutal,
por vezes simulando a irritao. Na extrema virilidade de que
o caador investe o seu canto, afirma-se uma auto-confiana
sem falha alguma, um acordo consigo prprio que nada pode
desmentir. A linguagem do canto mascuiino , de resto, extre-
mamente deformada. medida que a soo improvisao se
torna mais fcil e rica, que as palavras emanam de si
prprias, o cantor impe-lhes uma transformao tal que
logo se 1acreditaria estar a ouvir uma outra lngua: para um
no-Ach estes cantos so rigorosamente incompreensveis.
--..
Quanto sua temtica, consiste essencialmente numa louva-
o enfitica que o cantor dirige a si mesmo. O contedo do
seu discurso , com efeito, estritamente pessoal e tudo nele
se diz na primeira pessoa. O homem fala quase exclusivamente
das suas proezas de caador, dos animais que encontrou, das
feridas de que foi vitima, da sua habilidade em manejar a
flecha. Ladainl:Jil- indefinidamente repetida, ouvimo-lo procia-
mar de modo quase obsessivo: cho .r bretete, cho r jyvondy,
110
cho r yma wachu, yma chija: Sou um grande caador, tenho
o hbitode matar com as minhas flechas, sou uma natureza
poderosa, uma natureza irritada e agressiva!. E muitas vezes,
como que para melhor evidenciar a que ponto indiscutvel
a sua glria, pontua a sua frase prolongando-a com um vigo-
roso Cho, cho, cho: Eu, eu, eu'.
A diferena dos cnticos traduz admiravelmente a oposi'
o dos sexos. O canto das mulheres uma lamentao habi-
tualmente coral, escutada a.penas durante o dia; o dos home.ns
explode quase sempre durante a noite, e se as suas vozes
por vezes simultneas podem dar a impresso de um cro, esta
uma falsa aparncia, dado que com efeito cada caador um
solista. Alm disso, o chenga:ruvara feminino parece consistir
em frmulas mecanicamente repetidas, adaptadas s diversas
circunstncias Pelo contrrio, o prer dos caadores
depende apenas da sua disposio e organiza-se unicamente
em funo da sua individua:lidade; ele uma pura improvisao
pessoal que autoriza, para alm disso, a p .. ocura de efeitos
artsticos no jogo da voz. Esta determinao colectiva do '.
camrto das mulheres, indivual do dos homens, remete-nos
assim para a oposio de que havamos partido: nico ele-
mento realmente <<produtor. da sociedade guayaki, o caQa.jor
experimenta no plano da lingua.gem uma liberdade de criaj
que a sua situao de grupo consumidor interdita s mulheres.
Ora esta liberdade que os hO!Illens vivem e dizem en-
quanto caadores no assinala apenas a natureza da relao
que enquanto grupo os liga s mulheres e delas os separa.
Pois atravs do canto dos homens se oculta, secretamente,
uma outra oposio, no menos poderosa que a primeira mas
inconsciente desta: a dos caadores entre si. E pare melhor
1 Como podemos imaginar, os dois homen,s pan de que acabamos
de falar tinham perante o canto uma atitude bem diferente: Chachubu-
tawachugi cantava apenas em certas cerimnias a que se encontrava
directamente ligado, o nascimento criana, por exemplo. Krem-
bgi no cantava nunca.
111
escutar o seu canto e compreender o que realmente nele dito,
necessrio que uma vez mais nos repoTtemos etnologia
dos Guayaki e s dimenses fundamentais da sua cultura.
Existe para o caador ach um tJabu alimentar. que o probe
formalmene .de consumir a carne das suas prprias 1presas:
br<i jyvombr ja umr: No devemos comer os a,nimais que
ns prprios matamos ... De m.odo que quando um homem chega
ao acampamento, partilha o produto da sua caa entre a sua
famlia (mulheres e crianas) e os outros membros do ban<l.o;
naturalmente, no provar a carne preparada pela sua mulher.
Ora, como vimos, a caa ocupa o lugar mais _importante na
alimentao dos Guayaki. Daqui resulta que cada homem
passa a sua vida a caar para os outros e a recebeT deles.
o seu prprio .alimento. Esta proibio_ estritamente res:-
peitada, mesmo pelos rapazes no inidados quando matam.
pssaros. Uma das suas consequncias mais importantes
impedir ipso facto a disperso dos lndios em famlias
tares: o homem morreria de fome, a menos que renunciasse
ao tabu. portanto necessra a deslocao em grupo. Os
Guayaki, pam. velarem pelo seu cumprimento, afirmam que
comer os animais que eles prprios matam o meio mais
. seguro pam. atrair o pa;n. Este temor maior dos caadores
chega para impor o respeito pela 1proibio que ele fundamenta:
se quiserem continuar a mataT animais, ento pveciso no
os comer. A teoria indgena apoia-se simplesmente na ideia
de que a conjuno entre o caador e os animais mortos, no
plano do consumo, acarretaria uma disjuno entre o caador
e os animais vivos, no plano da produo>>. Ela tem portanto
um alcamce explcito sobretudo negtivo, uma vez que se resolve
na inerdio desta conjuno.
Na realidade, esta proibio alimentar possui tambm
um valor positivo, pelo facto de opem.r como um princpio
estruturante que firma aomo tal a sociedade guayaki. Est.;::'\
belecendo urna relao negativa entre cada caador e o pro-\
duto da sua caa, ela coloca todos os homens na mesma posio '
uns em relao aos outros, e a reciprocidade da d\vida_ de ali-
112
mentos revela-se a partir da no mas neces-
sria: rodo o caador ao mesmo tempo um dado!r e -.nn
recebedor de carne. Portanto o tabu sobre a caa aparece
como o acto fundador da troca de alimentao entre os Guayaki,
quer dizer, como um fundamento da sua prpria sociedade.
Outras tribos conhecem sem dvida este mesmo tabu. Mas ele
reveste-se entre os Ach de uma importncia particularmente
grande, pelo facto de incidir justamente sobre a sua principal
fone de alimentao. o indivduo a seprura!r-se da
sua caa, fO!I:a-'O a ter COI!lfiallla nos outros, permitindo assim .
que o lao socal se desenvolva de .mmeiTa definiti"a,; a inter- :
I
dependncia dos caadores garante a solidez e a permanncia ;
deste lao, e a sociedade ganha em fora o que os indivdu()_s J
perdem em autonomia. A disjuno do caador e da sua caa
firma a conjuno dos caadores entre si, isto , o contrato
que !rege a sociedade guayaki. Alm disso, a disjuno no plano
do consumo entre caadores e a:nimais mo!l:tos asseguTa, ao
mesmo t:emjpo que os protege do pan, a repetio futura da
conjuno entre caadores e animais vivos, o que equivale a
dizer o sucesso na caa e porlanto a sobrevivncia da sociedade.
Rejeitando no campo da Natureza o contacto directo
entre o caador e a sua caa, o tabu alimentar situa-se no
prprio corao da Cultura: entre o caador e a sua alimen-
tao, ele impe a mediao dos outros caadores. Assim,
vemos a troca de caa, que em gTande parle circunscreve entre
os Guayaki o plano da vida econmica, transformar, pelo seu
carcter obrigatrio, cada caador individual numa relao.
Entre o caador e o seu produto a:bre-se o espao perigoso
da proibio e da transgresso; o temor do pan fundamenta a
troca privando o caador de todo o direito sobre a sua pr-
pria caa: ese direito s se exerce sobre a caa dias out!t"Os.
Ora, assinalvel constata!!: que essa mesma estrutura rel-'
ciona:l pela qual se definem rigorosamente os homens ao nvel
da circulao dos bens se repee no plano . das instituies
matrimoniais.
Desde o princpio do sc. XVII que os primeiros missio-
113
narws jesutas tinham tentado entrar em contacto com os
Guayaki, mas em vo. Puderam no entanto recolher inmeras
informaes sobre esta misteriosa tribo e dar-se assim conta,
espantados, que ao contrrio do que se passava com os outros
selvagens, havia entre os Guayaki um excesso de homens relati-
vamente ao nmero de muilleres. No se enganavam, pois
quase quatrocentos anos depois deles pudemos ns prprios
observrur o mesmo desequilibrio do sex ratio: num dos dois
grupos meridionais, por exemplo, havia exactamente uma mu-
lher ,para cada dois homens. No necessrio perspectivar
aqui as causas desta anomalia ', mas impo,rtante examinar-
-lhe as consequncias. Qualquer que seja o tipo de casamento
preferido por uma sociedade, h quase sempre um nmero
mais ou menos equivalente de esposas e maridos potenciais.
A sociedade guayaki podia escolher entre muitas solues
para igualar estes dois nmeros. J que era impossvel a solu-
o-suicdio que consistiria na renncia proibio do incesto,
ela teria podido antes do mais admitir o assassinato dos recm-
-nascidos do sexo masculino. Mas qualquer criana macho
um futuro caador, isto , um membro essencial da comuni-
dade: seria portanto contraditrio que esta se desembaraasse
deles. Podia-se tambm aceitar a existncia de um nmero
relativamente importante de celibatrios; mas esta escolha
seria ainda mais arriscada que a precedente, porque, em socie-
dades to reduzidas demograficamente, nada h de mais peri-
goso do que um celibatrio para o equilbrio do grupo. Em
vez de diminuir artificialmente o nmero de esposos poss-
veis, nada mais restava portanto seno aumentar, para cada
mulher, o nmero de maridos reais, isto , instituir um sis-
tema de casamento polindrico. E, de facto, todo o excedente
de homens absorvido pelas mulheres sob a forma de mari-
dos secundrios, de japty'IJ<a, que ocuparo junto da esposa
comum um lugar quase to desejvel como o do imt ou
marido principal.
1
Pierre Clastres, Chronique de& lndlens Gua.yaki, Parts, Plon, 1972.
U4
A sociedade guayaki soube preservar-se, portanto, de
um :perigo mortal, adaptando a famlia conjugal a esta demo-
gmj)ia oomplebamente desequilibrada, Qual do ponto de vista
dos homens o resultado disto? Praticamente nenhum deles
pode conjugar, por IISSim dizer, a sua mulher no singular, dado
que ele no o nico marido e que a partilha com um e por
vezes com dois outros homens. Poderamos ser levados a pensar
que por ser a norma da cultura na e pela qual eles se deter-
minam, esta situao no afecta os homens e que eles no
reagem a ela de maneira especialmente marcada. Na realidade,
no de modo lllgum mecnica a relao entre a cultura e os
indivduos em quem ela vive, e os maridos guayaki, ao aceitarem
a nica soluo possvel para o problema que lhes colocado,
resignam-se a ela, embora sem grande vontade. As famlias
polindricas levam sem dvida uma existncia tranquila e os
trs termos do tringulo conjugal vivem em boas relaes.
Isto no impede que quase sempre os homens experimentem
em segredo- uma vez que nunca abordam a questo entre
eles - sentimentos de irritao, mesmo de agressividade,
face ao co-proprietrio da sua esposa. No decurso da nossa
estadia entre os Guayaki, uma mulher casada envolveu-se
numa intriga amorosa com um jovem celibatrio. O marido,
furioso, primeiramente bateu no seu rival; depois, perante a
insistncia e a chantagem da sua mulher, aceitou finalmente
legalizar a situao deiJ<ando o amante clandestino tornar-se
o marido secundrio oficial da sua esposa. De resto, no tinha
outra escolha; se tivesse recusado esta soluo, a mulher t-lo-ia
talvez abandonado, conden:ando-o assim ao celibato, pois no
havia na tribo nenhuma outra mulher disponvel. Por outro
lado, a presso do grupo, preocupado em eliminar qualquer
factor de desordem, t-lo-ia mais cedo ou mais tarde obrigado
a conformar-se com uma instituio destinada precisamente
a resolver este gnero de problemas. Resignou-se, portanto,
a partilhar a st11a mulher com um outro, mas completamente
contra a sua prpria vontade. Mais ou menos pela mesma
altura, morreu o marido secundrio de uma outra mulher.
U5
As suas relaes com o marido principal tinham sido sempre
boas: marcadas, seno por extrema cordialidade, pelo menos
por constante delicadeza. Mas o imt sobrevivente no de-.
monstrou uma dor excessiva ao ver .des31parecer o .japtyva.
No dissimulou 1a sua satisfao: Estou contente, disse;
agora sou o nico marido da minha mulher.
r --- Poderamos multiplicar os exemplos .. Os dois casos que
I acabamos de invocar chegam no entanto para mostrar que se
! os homens guayaki aceitam a poliandria, esto longe de se
I sentir vontade na sua prtica. Existe uma espcie de
\_ ____
desnivelamento. entre esta instituio matrimonial que. pro-
tege- eficazmente - a integridade do grupo ' e os indivduos
a que ela diz respeito. Os homens aprovam a poliandria na ..
medida em que ela necessria por causa do dficit de mulhe- !
res, mas submetem-se a ela como a uma obrigao muito desa-j
gradvel. Numerosos. maridos .guayaki. devem partilhar a .sua
mulher com um outro homem, e, quanto queles que exercem
szinhos os seus direitos conjugais, arriscam-se a. todo o
momento a ver este raro e frgil monoplio suprimido pela
concorrncia de um celibatrio ou de um vivo. As esposas
gua,aki desempenham por conseguinte um papel mediador
entre receptores e dadores de mu:l.heres, e tambm ell!tre os
prprios receptores. A troca pela qual um homem d a um
outro a sua filha ou a sua irm, no detm a a circulao,
se assim podemos dizer, desta. mulher: o recebedor desta
men."'Sgem dever, a um prazo mais ou menos longo, partilhar
a sua leitura com um outro homem. A troca das mulheres
em si pr!IJ'ria criadora de alianas en<tre famlias: . mas a
' Urna dezena de anos antes, uma ciso tinha dividido a tribo
dos Ach Gatu. A mulher do chefe mantinha relaes censurve.ts
com um jovem. O marido, multo irritado, sepa:rou-se do grupo, levando
consigo uma parte dos Guayaki. Ameaou mesmo massacrar a golpes
de flecha aqueles que o no segui-ssem. Foi apenas ao fim de a:lguns
meses que o medo de perder a sua mulher e a presso colectiVa dos
Ach Gatu o levaram a reconhecer o amante da sua mulher como
seu japtyva.
116
poliandria na sua forma guayaki vem sobrepor-se troca das
mulhe,res para cumprir uma funo muito determinada: elia per-
mite preservar como cultura a vida social a que o grupo acede
por intermdio da troca das mulheres. Em ltima anlise, o ::a-
sarnento no pode ser entre os Guayaki seno polindrico, dado
que apenas sob essa forma que adquire o valor e o alcance
de uma instituio que cria e mantm em cada instante a
sociedade como t!. Se os Guayaki negassem a po!iandria,
a sua sociedade no sobreviveria; no podendo, por causa
da sua liraqueza numrica, arranjar mulheres atacando outras
tribos, encontrar-se-iam colocados frente perspectiva duma
guerra civil entre celibatrios e possuidores de mulheres, quer
dizer, frente a um suicdio colectivo da tribo. A poliandria
suprime deste modo a oposio suscitada entre os desejos dos
homens pela raridade dos bens que so as mulheres.
11: portanto uma espcie de razo de Estado que deter-
mina os maridos gua,aki a areitar a poliandria. Cada um
deles renuncia ao uso exclusivo da sua mulher em benefcio
de um qualquer celibatrio da tribo, a fim de que esta possa
subsistir como unidade social. A!iellJMldo metade dos seus
direitos matrimoniais, os maridos ach tornam possveis a vida
em comum e a sobrevivncia da sociedade. O que no impede,
como o demonstram os casos anteriormente evocados, sen-
timentos latentes de frustrao e descontentamento: no fim
de contas aceita-se partilhar a sua mulher oom um outro
porque no se pode proceder de outro modo, mas aceita-se com
um mau humor evidente. Qualquer homem guayaki , poten-
ciahnente, um recebedor e um dador de esposas, porque, muito
antes de compensar a mulher que tiver recebido pela filha que
esta lhe dar, dever oferecer a um outro homem a sua pr-
pria esposa, sem que se estabelea uma impossvel recipro-
cidade: antes de dar a filha tambm preciso dar a me. O
que quer dizer que; entre os Guayaki, um homem tornase
um marido apenas sob a condio de aceitar s-lo por metade,
e a superioridade do marido principal sobre o marido secun-
drio nada altera ao facto de que o primeiro deve ter em
11'1
1.
I
!
I
'
conta os direitos do segundo. No entre cunhados que as
relaes pessoais so mais marcadas, mas entre os maridos
duma mesma mulher e, as mais das vezes, como vimos,
negativamente.
Poderemos agora estabelecer uma analogia de estrutura
entre a relao do caador com a sll!a caa e a relao entre
marido e mulher? Constatamos primeiramente que em rela-
o ao homem como caador e como marido, os animais e as
mulheres ocupam uma posio equivalente. Num caso, o homem
v-se radicalmente separado do produto da sua caa, pois que
no deve consumi-la; no outro, no nunca completamente
um marido, mas, no melhor dos casos, apenas um meio-marido:
entre um homem e a sua mulher vem intei'por-se um terceiro
termo que o marido secundrio. Portanto, do mesmo modo
que um homem depende da caa dos outros para se alimentar,
um marido, para consumir a sua mulher ', depende do outro
marido, cujos desejos deve tambm respeitar, sob pena de
tornar a coexistncia impossvel. O sistema polindrico limita
portanto duplamente os direitos matrimoniais de cada marido:
ao nvel dos homens que, por assim dizer, se neutralizam um
ao outro, e ao nvel da mulher que, sabendo muito bem tirar
partido desta situao privilegiada, no se cobe, sempre que
necessrio, de dividir os seus maridos para melhor reinar
sobre eles.
Por conseguinte, dum :ponto de vista formal, a caa est
para o caador como a mulher pa.ra o marido, pelo :tiacto de
uma e outra manterem com o homem uma relao unicamente
mediatizada: para cada caador guayaki a relao com a ali- I,
mentao animal e com as mulheres passa pelos outros homens_)
As circunstncias muito particulares da vida dos caadores
guayak:i obrigam-nos a afectar a troca e a !reCiprocidade com
um coeficiente de rigor muito maior do que noutros lados,
e as exigncias desta hipertr<>ca so suficientemente desgas-
; .
No se trata. de um mero jogo de palavras: em guayakl, um
mesmo verbo designa a aco de se alimentai- e.a de fazer amor (tfku).
118
tamtes para surgirem conscincia dos ndios e suscitarem por
vezes conflitos ocasionados pela necessidade da poliandrta.
com efeito necessrio sublinha.r que, para os lndios, a obri-
gao de oferecer a caa no de modo algum vivida como
tal, enquanto que a de partilhar a mulher experimentada
como alienao. Mas a identidade fannal desta dupla relao
caador-caa, marido-mulher que aqui devemos reter. O tab!l
alimen>tar e o dficit de mulheres exercem, C'ada um no
seu prprio plano, funes paralelas: garantir o ser da
sociedade pela interdependncia dos caadores, assegurar
sua permanncia pela partilha das pe.:o \
facto de criarem e recriarem em cada mstante a propna estru- 1
tura social, estas funes possuem tambm uma dimenso \
ne@akiva por introduzirem entre o homem ,por um lado, e a sua ___)
caa e a sua mulher por outro, toda a distncia que vir pre-__
cisamente habitar o social. Aqui se determina a relao estru-
tural do homem com a essnda do grupo, isto , com a
!troca. Com efeito, a dvida da caa e a partilha das mu-
lheres remetem respectivamente para dois dos trs supor- 1
tes fundamentais sobre que repousa o edifcio da cultura: a
1
troca dos bens e a troca das mulheres. cJ
Esta dupla e idntica relao dos homens com a sua socie-
dade, mesmo se dela no toma conscincia, no no entanto
inerte. Pelo contrrio, mais activa ainda por subsistir incons-
ciente, ela que define a relao muito singular dos caadores
com a terceira ordem de realidade na qual e pela qual existe a
sociedade: a linguagem como troca das mensagens. Porque, no
seu canto, os homens exprimem ao mesmo tempo o saber impen-
sado do seu destino de caadores e de esposos e o protesto con-
tra esse destino. Assim se ordena a figura completa da tr;,pla
ligao dos homens com a troca: o caador individual ocupa
o seu centro enquanto que a simblica dos bens, das mulheres
e das palavras traa a sua periferia. Mas, enquanto que a rela-
o do homem com a caa e com as mulheres consiste numa
disjuno que funda a sociedade, a sua relao com a lingu:J.-
gem condensa-se pelo canto numa conjuno suficientemente
119
radical para negar justamente a funo de comunicao da
linguagem e, por esse meio, a prpria troca. Poc conseguinte,
o canto dos caadores ocupa uma posio simtrica e inversa
da do mb alimentar e da poliandria, ao marcar, pela sua
forma e pelo seu contedo, que os homens querem neg-los
como caadores e como maridos.
Oom efeito, lembremo-nos de que o contedo dos cantos
masculinos eminentemente pessoal, sempre articulado na
primeira pessoa e estritamente consagrado ao louvor do
cantor enquanto bom caador. Porque que isto se .passa
assim? O canto do..q homens, sendo linguagem, no toda-
via a Iinguagem corrente da vida quotidiana, aquela que per-
mite a troca dos sinais lingusticos. li: justamente o seu con-
trrio. Se fa}ar emitir uma mensagem destinada a nm
receptor, ento o canto dos homens ach situa-se no exte-
rior da linguagem. Porque, para alm do cantor, quem escuta
o canto de um caa;dor, e a quem destinada a
gem, seno ao prprio que a emite? Ele prprio objecto e
sujeito do seu ca;nto, o caador no dedica o recitativo lrico
seno a si prprio. Prisioneiros de uma troca que os deter-
mina apenas como elementos de um sistema, os Guayaki aspi-
ram a libertar-se das suas exigncias, mas sem poder
s-la no prprio plano em que a cumprem e a sofrem. Como
separar ento os termos sem quebrar as relaes? Apenas se
oferecia o recurso linguagem. Os caadores guayaki encon-
traram no seu canto o artifcio inocente e profundo que lhes
permite recusar no plano da linguagem a troca que no podem
a:bolir no dos bens e da.. mulheres.
No seguramente em vo que os homens escolhem
para hino da sua liberdade o nocturno solo do seu canto.
Apenas a se pode articular uma experincia sem a qual no
poderia:m talvez suportar a tenso permanente que as neces-
sidarles da vida social impem sua vida quotidiana. O canto
do caarlor, essa endo-linguagem, assim para ele o momento
do seu verdadeiro repouso pelo facto de nele se vir a:brigar a
liberdade da sua solido. Eis porque, uma vez cada a noite,
120
cada homem toma posse do prestigioso reino apenas a ele
reservado em que pode finalmente, reconciliado consigo pr-
prio, sonhar nas palavras o impossvel face a face consigo.
Mas os cantores ach, poetas nus e selvagens que do .ma
linguagem uma nova santidade, no sa;bem que quando todos
dominam uma igual magia das palavras -os seus cantos
simultneos no sero a mesma emocionante e ingnua can-
o do seu prprio gesto? -'- se dissipa ento para cada um
a esperana de chegar sua diferena. Que lhes importa isso
de resto? Quanto cantam , dizem eles, ury ywa, pare ficarem
contentes. E repetem assim, ao longo das horas, esses desa-
fios cem vezes declamrlos: Eu sou um grande caadorr, mato
muito com as minhas flechas, sou uma natureza forte. Desa-
fios la;nados rprura no serem reve}ados, e se o seu canto d
18JO caador o orgulho de uma vitria porque ele deseja o
esquecimenito de todo o combate. Precisemos que no se quer
sugerir aqui biologia alguma da cultura; a vida social no
a vida e a troca no uma luta. A observao de uma socie-
dade primitiva mostra-nos o contrrio; se a troca como essn-
cia do social pode tomar a forma dramtica de uma compe-
tio entre aqueles que trocam, esta est condenada a man-
ter-se esttica porque a permanncia do Contrato social
exige que no haja nem vencedor nem vencido e que os ganhos
e as perdas se equilibrem constantemente para carla um. Poder-
-se-ia dizer em resumo que a vida social um Combate que
exclui toda a vitria e que inversamente, quando se pode
falar de vitria, porque se est fora de qualquer combate,
isto , no e:>Oterior da vida social. Finrumente, o que nos lem-
bram os ca;ntos dos 1ndios Guayaki que no possvel ganhar
em todos os rplanos, que no se pode deixar de respeitar as
regras do jogo social, e que a fascinao de no participar
nele atrai para as niailhas de uma grande iluso.
Pela sua natureza e pela sua funo, estes cantos ilus-
tram de forma exemplar a relao geral do homem com a
linguagem naquilo em que essas vozes longnquas nos cha-
mam a meditar. Elas convidam-nos a tomar um caminho
121
''
I
''
quase apagado j, e o pensamento dos selvagens, sado do
repouso numa linguagem ainda primria, orienta-se rupenas em
dilreco = pensamento. Com efeito, vimos j que para l do
contentamento que lhes proporciona, o canto fornece aos
caadores- e sem que o sadibam- o meio de escapar vida so-
cial recusando a troca que a fundamenta. O mesmo movimento
pelo qual ele se separa do homem 80Cial que , leva o cantor
a sa;ber-se e a dizer-se enquanto individualidade concreta abso ..
luta;mente fechada selbre si. O mesmo homem existe pois como
pum relao sobre o plano da troca dos bens e das mulheres,
e oomo mnada, se assim se pode dizer, sobre o plano da
linguagem. :m pelo canto que ele acede conscincia de si
como Eu e ao uso a partir de ento legtimo desse pronome
pessoal. O homem existe para si em e pelo seu canto, ele o
seu prprio canto: canto, logo existo. Ora, bem evidente
que se a linguagem, na qualidade do canto, se designa ao homem
como o l.ugar verda;deiro do seu ser, no se trata mais da
linguagem como a;rqutipo da troca, dado que precisamente
d[sso que ele se quer libertlaJr. Por outras palavms, o pr-
prio modelo do universo da comunicao tambm o meio
para dela se evadir. Uma palavra pode ser ao mesmo tempo
uma mensagem trocada e, a negao de toda a mensagem,
e!Ja pode pronunciar-se como um sinal e como o contrrio de
Uin sinal. O canto dos Guayaki remete-nos portanto p'ava uma
dup!Ja e essencial natureza da linguagem que se desdobra quer
na ooa funo aberta de comunicao quer na sua funo
fechada de constituio de um Ego: esta capacidade da lin-
guagem pa.ra exercer funes inversas repousa sobre a possibi-
lidade do seu desdobramento em sinal e valur.
Longe de ser inocente como uma distrao ou um simples
reliaxa.menlto, o canto dos caa;dores guayaki deixa ouvir a
vigorosa inteno que o anima de escapa.r sujeio do homem
rede gera;! dos animais (de que as palavras no so aqui mais
do que a metfora privilegiada) por uma agresso contra a
linguagem sob a forma de uma transgresso da sua funo.
Em que que se torna uma palavra quando se deixa de a
122
utilizar como um meio de comunicao, quando ela des-
viada do seu fim natural, que a relao com o Outro?
Bepa;radas da sua natureza de sinais, as palavras no se des
tinam mais a escuta alguma, as palavras so em si mesmas o
seu prprio fim, elas convertem-se, paJra quem as pronuncia,
em valores. Por outro lado, ao tvansform:ar-se de sistema de
sinais mveis entre emissores e l'eceptores, em pura posio
de valor para um Ego, a linguagem no deixa por isso de ser
o lugar do sentido: o meta-social no de modo algum infra-
-individual, o canto solitrio do caador no o discurso de
um louco e as suas palavras no so gritos. O sentido subsiste,
despojado de toda mensagem, e na sua permanncia absoluta
que repousa o valor da palavra como valor. A linguagem pode
no ser mais a linguagem sem por isso se destruir no insen-
sato, e cada um pode compreender o canto dos Ach embora
nada de facto a seja dito. Ou antes, o que ele nos con-
vida a escutar que fallll!l' no sempre pr o outro em
jogo, 'que :a linguagem pode ser manejada por ela pr-
~ a e que no se reduz fuJno que exerce: o canto
guayaki a reflexo sobre si da linguagem rubolindo o uni-
verso social dos sinais para dar lugar ecloso do sen-
tido como valor absoluto. No h pois paradoxo algum no
facto de o mais inconsciente e o mais colectivo no homem -
a sua linguagem- poder ser igualmente a sua conscincia
mais transparente e a sua dimenso mais liberta. disjun-
o da palavra e do sin;al oo canto respande a disjuno do
1wmem e do social para o cantor, e a converso do sentido em
valor a de um individuo em su,ieito da sua solido.
O homem um animal poltico, a sociedade no se reduz
soma dos seus indivduos, e a diferena entre a adio que ela
no e o sistema que a define consiste na troca e na recipro-
cida;de pelas quais esto ligados os homens. Seria intil lembrr
essas trivialidades se no se quisesse acentuar que nelas se
indica o contrrio. A sruber, pl'ecisamente, que se o homem
um animal doente porque no apenas um animal
poltico>, e que da sua inquietao nasce o grande desejo
123
que o habita: o de escapar a uma necessidade praticamente
vivida como destino e de afastar para longe a obrigao da
troca, o de recusar o seu ser social para se libertar da sua
ccmdio. Porque justamente pelos homens se saberem atra-
vessados e conduzidos pela realidade do social que se originam
o desejo de no se reduzir a ela e a nostalgia de se evadir
dela. A escuta atenta do canto de lclguns selvagens ensina;,.
-nos que na verdade se trata de um canto geral e que nele
se acorda o sonho universal de no ser mais aquilo que se .
Situado no prprio corao da condio humana, o desejo
de o abolir realiza-se apenas como um sonho que pode tradu-
zir-se de maneiras, ora em mito ooa em canto como
'
entre os Guayaki. Talvez o canto dos caadores a.ch no seja
nada mais do que o seu mito individual. Em todo o caso, o
secreto desejo dos homens demonstra a sua impossibilidade
no facto de eles no poderem fazer mais do que sonh-lo, e
apenas no espao da linguagem que ele se vem realizar. Ora,
esta vizinhana entre sonho e pamvra, se marca o falhano dos
homens em renunciar quilo que so, significa ao mesmo
tempo o triunfo da linguagem. Oom efeito apenas ela rpode
preencher a dupla misso de juntar os homens e de quebrar
as ligaes que os unem. nica possibilidade para eles de
transcender a sua condio, a linguagem coloca-se ento como
o seu alm, e as palavras ditas por aquilo que valem so a
terra natal dos deuses.
A despeito das aparncias, ainda o canto guayaki que
ns escutamos. Se chegssemos a duvidar disso, no seria
justamente porque no compreendemos mais a sua lingua-
gem? Evidentemente, j no se trata aqui de traduo. No
fim de contas, o canto dos caadores ach designa-nos um
certo parentesco entre o homem e a sua linguagem: mais pre-
cisamente, um parentesco tal que rpa.rece subsistir apenas no
homem primitivo. O que quer dizer que, muito longe de todo o
exotismo, o discurso ingnuo dos selvagens obriga-nos a con-
siderar -o que poetas e pensadores so os nicos a n-o esquecer:
que a linguagem no um simples instrumento, que o homem
pode estar com ela lado a lado e que o Ocidente moderno perde
-o sentido do seu valor pelo excesso de uso ao qual a submete. A
linguagem do homem civilizado tornou-se-lhe completamente
exterior, porque para ele no mais do que um puro meio de
comunicao e de informao. A qualidade do sentido e a
quantidade dos sinais variam em sentido inverso. Pelo con-
trrio, as culturas primiltivas, mais preocupadaJS em celebrar
a linguagem do que em servir-se dela, souberem manter com
ela essa relao mterior que j em si prpria aliana com
o sagmdo. No h, para o homem primitivo, linguagem po-
tica, porque a sua linguagem j em si prpria um poema
natural em que repousa o valor das palavras. E se falamos
do canto dos Guayaki como de uma agresso contra a lingua-
gem, antes como o abrigo que o protege que dorava111te deve-
mos entend-la. Mas poderemos ainda escutar, da parte de
miserveis selvagens ermntes, a lio demasiado vigorosa sobre
o bom uso da linguagem?
Assim vo os ndios Guayaki. De dia caminham em
conjunto atravs da floresta, homens e mulheres, o arco
frente, a cesta atrs. Sepa.-a-os a chegada da noite, cada um
votado ao seu sonho. As mulheres dormem e os caadores
canJtam por vezes, solitrios. Pagos e bxbaros, apenas a morte
os saiva do resto .
* Estudo inicialmente pub.aicado em L'Homme VI (2), 1966.
125
I'
CAPITULO VI
DE QUE SE RIEM OS INDIOS?
Tomando decididamente a srio as narraes dos sel-
vagens, a anlise estrutural ensina-nos, desde h alguns anos,
que essas narraes so precisamente muito. srias e que
nelas .se articula um sistema de interrogaes que elevam
o pensamento mtico ao plano do ;pensamento propriamente
diJto. Sabendo docavante, graas s Mytlwlogiques de C ~ a u d e
Lvi-Strauss, que os mitos no falam para no di:rer nada,
eles adquirem um prestgio novo aos nossos olhos: e, se-
guramente, no fa:rer-lhes uma honra demasiado grande
investi-los de toda essa gravidade. No entanto, talvez que o
interesse muito recente que suscitam os mitos nos faa correr
o risco de os tomar agora demasiado a srio, por assim
dizer, e a avaliar mal a sua dimenso de pensamento. Em suma,
ao deixar na sombra os seus aspedos menos evidentes, ver-
-se-ia difundir uma espcie de mitomam.ia que .esquece uma
ooxacteristica no entanto comum a um grande nmero de
mitos, e que no exclui a sua gravidade: o seu humor.
No menos srios para aqueles que os contam (os ndios
por exemplo) do que para aqueles que os recolhem ou os lem.
podem contudo os mitos desenvolver uma inteno marcada
pelo cmico, por vezes preenchendo a funo explcita de diver-
tir os auditores, de dese'llcadear a sua hilotridade. Se tivermos
a preocupao de preservar integralmente a verdade dos mitos,
127
preciso no subestimar o alcance real do riso que eles pro-
vocam e considerar que um mito pode ao mesmo tempo falar
de coisas graves e fazer rir aqueles que o escutam. A vida
quotidiana dos primitivos>>, apesar da sua dureza, nem sem-
pre se desenvolve sob o signo do esforo ou da inquietao;
eles sabem tambm entregar-se a momentos de verdadeira
desconti18.JCo, e o seu sentido agudo do ridculo f-los diver-
tir-se frequentemente custa dos seus prprios temores. Ora
no raro estas culturas confiarem aos seus mitos a tarefa
de distrair os homens, ao desd=atizar, de algum modo, a
sua existncia.
Os dois mitos que nos para ler pertencem
a essa categoria. Foram recolhidos no ano passado, entre
os ndios Chulupi que vivem no sul do Chaco do Paraguai.
Estas narraes, umas vezes burlescas outras libertinas, mas
no desprovidas no entanto de alguma poesia, so bem conhe-
cidas de todos os membros da tribo, jovens e velhos: mas,
quando eles tm verdadeiramente vontade de rir, pedem a qual-
quer velho versado no saber tradicional para lhas contar uma
vez mais. O efeito nunca se desmente: os sorrisos do princpio
tornam-se contraces dificiimente reprimidas, o riso explode
francamente em gargalhadas, e no fim no se ouvem seno
gritos de alegria. Enquanto o gravador registava estes mitos,
o barulho das dezenas de ndios que escutavam cobria por
vezes a voz do narrador, ele prprio pronto em cada instante
a perder o seu sangue frio. No somos ndios, mas talvez encon-
tremos, ao escutar os seus mitos, alguma razo para oos dvBr-
tirmos com eles.
128
Primeiro mito
O homem a quem no se podia dizer nada '
A famlia desse velho possua apenas uma pequena quan-
tidade de abboras cozidas quando um da lhe pediram para
ir procurar alguns amigos e convid-los a comer essas ab-
boras. Mas ele chamou aos gritos as pessoas de todas as
casas da aldeia. Exclamava aos berros: Venham todos comer!
preciso que toda a gente venha comer!,
-J vamos! Toda a gente vai! respondiam as pes-
soas. E no entanto havia apenas um prato de abboras. Por
os dois ou rtrs primeiros a chegar comeram tudo e, para
31queles que continuavam a apresentar-se, j nada restava.
Toda a gente se encontrava reunida na casa do velho, e j
no. havia nada para comer. Como possvel?, espantava-se
ele. Por que diabo me pediram para convidar as pessoas a
vir comer? Eu fiz o que me disseram. Eu julguei que havia
uma grande quantidade de abboras. A culpa no minha!
So sempre os outros que me fazem dizer mentiras! E de-
pois ficam aborrecidos comigo, por que me fazem dizer o
que no ! A sua mulher explicou-lhe ento: Deves falar
suavemente! preciso que digas calmamente, e com voz muito
baixa: venham comer as abboras!.
- Mas porque que tu me disseste para convidar as
pessoas que estavam alm? Eu gritei, para que elas pudessem
ouvir! A velha resmungou: Que velho mais cretino este, ir
convidar toda esta gente!.
Algum tempo depois, ele foi convidar alguns parentes
para virem colher as suas plantaes de melancias. Tambm
dessa vez, toda a gente se apresentou, quando na verdade no
havia mais do que trs ps. Vamos apanhar a minha colheita
de melancias! H muitas, ltinhllJ ele proclamado em voz alta.
E todas as pessoas ali estavam, com os seus sacos nas mos,
1
:1: o prprio titulo que nos deram os !nd:los.
129
diante dos trs p. de melanctas. Eu julgava que havia mui-
tas!, desculpou-se o velho. Mas h abboras e ooda'i ':
podem fiCIIJl" com elas! As pesooi8S encheram os seus sacos
com abbm-as e com anda'i, em vez das melancras.
Depois da colheita, o velho ndio voltou a casa. Encon-
trou a neta : ela trazia..i)he o seu filho doente para que ele
o curasse, porque era um toie'h, um xamane.
-Av! Cuida do teu bisneto que tem febre! Cospe!
-Est bem! Vou cuidar dele
E comeou a cuspir sobre o rapazinho sem parar, cobrin-
do-o completamente de saliva. A me da criana exclamou:
- Mias no assim! :1!: preciso soprar! Sopra! Sopra
tambm! Ento, cuida melhor dele!
- Est bem, est bem! Mas por que que no me dis-
seste antes? Pediste-me para cuspir sobre o meu bisneto, mas
no para soprar. Ento eu cuspi!
Obedecendo sua neta, o velho ps-se ento a soprar
sobre a criana, soprava e sopmva sem parar. Passado um
momento, a mulher reteve-o e lembrou-lhe que era preciso
igualmente procurar o esprito do doente. O av levantou-se
imediatamente e ps-se procura, levantando os objectos em
todos os cantos e recantos da casa.
-Mas no av! Senta-te! Sopra! E canta!
-Mas por que que s mo dizes agora? Pedes-me para
procurar o meu bisneto! Ento levantei-me para o procurar!
Voltou a sentar-se e mandou chamar os outros feiticeiros
para que o assistissem na sua cura, [para que o ajudassem
a reeencontrar o esprito do seu bisneto. Juntaram-se pois
todos na sua casa. O velho arengou-lhes:
- O nosso bisneto est doente. Portanto vamos tentar
descobrir a causa da sua doena.
Como animal domstico do seu esprito, o velho tinha
uma burra. Os espritos dos xamanes empreenderam a via-
gem. O velho saltou sobre a sua burm e entoou o seu
1
Cucurbita moschata.
130
canto: Kuvduitach! Kuvduitach! Kuvo'uitach! ... B-urra!
b-urra! b-urra! ... Caminharam durante muito tempo.
A certa altura a burra enfiou uma pata na terra mole:
a, havia pevides de abbora. A burra parou. O velho xamane
assinalou o facto aos seus companheiros: A burra acaba de
parar. Deve haver aqui alguma coisa!> Eles observaram aten-
tamente e descobriram uma grande quantidade de abboras
cozidas: puseram-se a com-las. Quando terminaram tudo, o
velho declarou: Ora bem! Agora, podemos continuar a n<M<sa
viagem>.
Voltaram a pr-se em marcha, sempre ao trimo do mesmo
canto: Kuoo'uitach! Kuvo'uitach! Kuvo'uitach! B-urra!
b-urra! b-urra! ... Subitamente, a orelha do animal mexeu-se:
Chchuuuk!>, disse o velho. Nesse instante, lembrou-se que
muito prximo dali se encontrava uma colmeia que em tempos
ele tinha limpo, a fim de que as abelhas viessem de novo
fabricar a o seu mel. Para permitir burra chegar a esse
lugar, os xamanes abriram um caminho atravs da floresta.
Chegados prximo da colmeia, colocaram a burra com a garupa
CO!l!lra a rvore, e com a cauda ela ps-se a extrair o mel. O
velho dizia: Chupem o mel! Chupem rtodo o mel que houver nas
crinas da cauda! Vamos extrair ainda mais. O animal repe-
tiu a operao e extraiu ainda muito mel: Vamos! dizia o
velho. Comam todo o mel, homens de nariz idntico! Quereis
ainda mais, ou j estais satisfeitos? Os outros xamanes j no
tinhalm fome. Muito bem! Vamos ento continuar!. Voltaram
a pr-se em marcha, cantando sempre: B-urra! b-urra!
b-urra ... Caminharam por um momento. De repente, o velho
gritou: Chchuuk! H alguma coisa aqui frente! O que
que poder ser? Deve ser um ts'ich', um esprito maligno!.
Aproximaram-se e o velho assegurou: Oh! trata-se de um
ser muito rpido! No podemos alcan-lo!. E, no entanto, no
passava de uma tartaruga. Eu vou ficar no meio para a apa-
nhar, disse ele, porque sou mais velho e mais experimentado
do que vocs>. Disp-los em crculo e, a um sinal seu, ataca-
ram em conjunto a tarlairuga: B-urra! b-UJITa! b-urra! ...
131
Mas o animal no fez o menor movimento, porque era uma
tartaruga. Apanharam-na. O velho exclamou: Como bonita!
Que belo desenho! V ai passar a ser o meu animal domstico !
Levoua com ele e voltaram a andar, cantando sempre:
B-urra! ... :o.
Mas, logo a seguir, Chchuuuk!, voltaram a parar. <<A
buiTa no anda! H qualquer coisa aqui frente. Puse-
ram-se a observar e aperceberam-se de uma doninha: Pas-
ser a ser o nosso co!, decidiu o velho. muito bonito,
um co selvagem>>. Cerca11am-na, e ele prprio se colocou no
centro declarando: Eu sou mais velho e mais hbil do que
vocs! E, cantando b-UITa! b-urm.! ... , passaram ao
ataque. Mas a doninha \l)enetrou na sua toca: Entrou por ali!
Vou tentar faz-la sair. O velho feiticeiro introduziu a mo
na abertura, debruou-se quanto pde, e a doninha mijou-lhe
na cara' Miaaaa! gritava o velho. To mal aquilo cheirava
que era de desmaiar. Os outros xamanes dispersarem em de-
sordem, gritando: Que mau cheiro! Cheira horrivelmente!.
Prosseguiram ento o seu caminho, cantando em coro,
e logo sentirem o desejo de fumar. A orelha da burra mexeu
e o animal parou uma vez mais. Ora bem, agora vamos fumar
um pouco, decidiu o velho. TransportaVI8. com ele todo o seu
arsenal de fumador num pequeno saco; ps-se procum do
cachimbo e do tabaco. Ah! No julgava ter-me esquecido
do cachimbo! Procurou por todo o lado mas sem encontrar
nada. No se mexam!, ordenou aos outros. Vou a toda a
pressa busoor o meu cachimbo e o nreu tabaco. E partiu,
acompanhando-se com o seu prprio canto: <<B-urra, b-UTra,
b-urra ... . No fim do canto j estava de volta ao meio deles.
-Eis-me de volta!
- Ento j voltaste? Ento vamos poder fumar um
wouco.
1
,Na realidade, a doninha projecta um lquido nauseabundo c-on-
tido numa glndula anal.
132
Puseram-se a fumar.
Quando fumaram tudo, voltaram a pr-se a caminho;
cantavam sempre. Subitamente, a orelha do animal mexeu
e o velho alertou os seus companheiros: Chchuuuk! Dir-s,e-ia
que h dana ali frenltel Ouvia,.se com efeito um barulho
de tambores. Os :xoanumes apresentaram-se no lugar da festa
e puseram-se a danar. Oada um deles se juntou a um par de
danarinos. Danaram por algum tempo, combinaram
com as mulheres ir dar uma voltinha com elas. Deixaram o
!Jiugax das danas e todos os xamanes fizeram amor com as
mulheres. O velho chefe tambm copulou. Mas mai tinha aca-
bado desmaiou, porque era muito velho. Eich! eich! eich!
ofegava cada vez mais, e por fim, no cmulo do esforo, des-
faleceu. Passado um momento recuperou os sentidos: Eich!
eich! eich! fazia, dando grandes suspiros, muito mais calmo.
Pouco a pouco foi recuperando, juntou-se aos eeus companhei-
ros e perguntou-lhes:
-Ento? Vocs tambm se aliviaram?
-Ah sim! Agora estamos livres. Podemos partir, e
muito mais leves!
E entoando o seu canto, puseram-se de novo em marcha.
Ao fim de algum tempo, o caminho tornou-se muito estreito:
Vamos limpar esta trilha para que a buiTa no espete espi-
nhos nas patas. Havia apenas cactos. Ento puseram-se a
limpar e atingiram o lugar onde o caminho se alaJI"gava de
novo. Continuavam a cantar: B-urra, b-uiTa, b-uiTal. Um
movimento da orelha do animal f-los estacar: H qualquer
coisa ali frente! Vamos ver o que . Avanaram e o velho
XJamane ;apercebeuse de que eram os seus assistente.s.
Ele j os tinha IPTevenido do que procurava. Aproximou-se
deles e eles oounciaram-lhe:
- :m Faiko'ai, o esprito do carvo, que retm a alma
do teu bisneto. Quem o ajuda Op'etsukfai, o esprito do cacto.
- Ah! sim, sim! Perfeitamente! :misso! Conheo.os muito
bem, a esses espritos!
133
Havia outros, mas ele no os conhecia. Avisado de
tudo isto pelos seus espritos aMistcntes, sabia agora onde
se encontrava o seu bisneto: num celeiro '.
Encavalitado na sua burra, avanou cantando at chegar
ao lugar indicado. Mas uma vez ai; ficou preso nos ramos
espinhosos da construo. Teve medo e chamou os outro!'\
feiticeiros para o ajudarem, Mas, vendo que eles permaneciam
indiferentes, soltou um grito. S nessa altura que os seus
companheiros. xamanes o vieram ajudar e pde assim recu-
perar o esprito do doente. Levou-o consigo para casa e rein-
troduziu-<> no cor:po da criana. Ento a sua neta levantou-se,
pegou na criana curada e foi-se embora.
Este velho xamane tinha out:ms netas. Elas gostavam
muito de ir apanhar os frutos do algarrobo. Na manh seguinte,
ao romper do .dia, vieram procur"lo:
-O nosso av j se levantou?
-Oh, sim! H muito tempo j que estou acordado!
-Ora bem! Ento vamos!
E l se foi procura do algarrobo negro com uma das
suas netas que era ainda solteira. Conduziu-a a um lugar
em que havia muitas rvores e a rapariguinha ps-se a apa-
nhar os frutos. Quanto a ele, sentou-se para fumar. Mas eis
que, pouco a pouco, lhe dava o desejo de fazer qualquer coisa
com a neta, porque a sesso da vspera, com as mulheres
encontradas durante a viagem, tinha-o deixado excitado. Ps-se
pois a reflectir no8 meios para seduzir a rapariguinha.
!Apanhou um espinho de algarrobo e espetou-<> no p.
Depois simulou tentar levantar-se. Gemia queixoso:
-Ei! ei! ei!
-Oh! Meu pobre av! Que te aconteceu?
infelicidade! Tenho um espinho no p! E tenho
a impresso que me vai atingir o corao!
A rapariguinha, compadecid, aproximou-se e o av
disse lhe: Tira a que trazes cinta, para me ligares
Oubata de rama em que os tnc:'Mos MTeca.c:iam as suas provises.
134
a ferida! J no ,posso mais! Ela fez como ele lhe disse e o
av convidou-a a sentar-se: Levanta um pouco a tanga para
I E'' ., A''
que eu possa pousar o p sobre as tuas coxas. L eL L
ai! Gemidos medonhos! Sofria muito: Deixa-me rpr o p
sabre as tuas coxas! Ei! ei! ei! Como eu sofro! No suporto
mais! Afasta um bocadinho as coxas! Ai! ai! E a raparigui-
nha, condoda, obedeceu. O velho estava muito excitado, porque
ela agora estava completamente nua. Hum! Que belas pernas
que ela tem, a mmha neta! No poders pr o meu p um
rpouco mais para cima, minha netinha?.
Foi ento que se atirou sobre ela, exclamando:
-Ah, ah, agora vamos esquecer o teu futuro marido!
-Aaah! Meu av! disse a rapariga, que no queria.
-Eu no sou teu av!
-Av, eu vou contar tudo!
-Est bem! Eu tambm vou cO!lltar tudo.
Ele derrubou-a e introduziu-lhe o pnis. Uma vez sobre
ela, gritou: Tsu! Ests a ver! Agora ests a aproveitar os
meus restos! So na verdade os ltimos! Depois voltaram
para a aldeia. Ela no contou nad:a, de tal modo estava
envergonhada.
O velho xamane tinha ainda uma outra neta, tambm
ela solteira. De que tambm teria gostado de se aproveitar. Con-
portanto para ir apanhar frutos de algarrobo, e uma
vez no campo, repetiu a mesma comdia do espinho. Mas
desta vez, foi mais apressado, mostrou o espinnho neta e,
sem esperar mais, deitou-a por terra e estendeu-se sobre ela.
Comeou a penetr-la. Mas a rapariga teve um sobressalto
violento, e o pnis do velho foi-se espetar num tufo de ervas
das quais uma se enterrou no interior, ferindO-<> um pouco:
Ai! A minha neta picou-me o nariz!'. Uma vez mais se ati.rou
para cima dela. Lutaram por terra. No momento favorvel o
av recobrou foras, moas, desajeitadameiJJte, no conseguiu
Do ponto de vista da cortesia Chulupi, seria grosseiro chamar
o pnis pelo seu nome. ::Q portanto necessrio dizer: o nariz.
atingir o seu objretivo, e com o esforo aca:bou por ir arran-
car todo o tufo de ervas com o pnis. Comeou a sangrar
ensanguentando o ventre da neta.
Com grande esforo esta conseguiu escapar-se de de-
baixo do av. Agarrou-o pelos cabelos, puxou-o at junto dum
cacto e ps-se a esfregar-lhe o rosto contra os espinhos. O
velho suplicava:
-Tem piedade do teu av!
-No quero saber para nada do meu av!
-Vais perder o teu av!
-Estou-me nas tintas!
E continuava a mergulhar-lhe o rosto no cacto. Em
seguida voltou a pux-lo pelos cabelos e levou-o at ao meio
de um silvado de caraguata. O velho suportou por alguns
instantes, depois tentou levantar-se; mas ela impediu-o. Os
espinhos do caraguata arranhavam-lhe o ventre, os testculos
e o pnis. Os meus testculos! Os meus testculos vo ficar
despedaados!>, berrava o av. Crr! crr! :faziam os espi-
nhos medida que o rasgavam. Finalmente, a rapariga aban-
donou-o em cima da moita de caraguata. O velho tinha a
cabea j completamente empolada por causa de todos os
espinhos que nela se tinham cravado. A rapariguinha apanhou
ento o saco, voltou a casa e revelou av o que o seu av
tinha querido fazer. Quanto a ele, que j no via quase nada
por causa dos espinhos que lhe enchiam os olhos, fez o cami-
nho de volta tacteando e arrastou-se at sua casa.
Ai, a mulher tirou a sua tanga e fustigou-o com toda
a fora no rosto: Anda mexe-me aqui! gritava. E pegan-
do-lhe na mo, obrigou-o a tocar no seu hla8u, na sua vagina.
Gritava:
-Ah bom! Tu, tu gostas das coisas dos outros! Ma:s
aquilo que te pertence no queres tu!
- O teu hJJSu, no o quero eu! 1!: demasiado velho! AR
coisas velhas, ningum tem vontade de as usar!
136
Begundb mito
As aventuras do jaguar
Uma manh, o jaguar foi passear e encontrou o cama-
leo. Este, como todos sabem, pode atravessar o fogo sem
se queimar. O jaguar gritou:
- Ah como eu gostava de poder tambm brinClar com
o fogo!
-Se tu quiseres podes divertir-te! Mas no vais con-
seguir SUJ!lOrlar o calor e acabars por te queimar.
-Eh! eh! Por que que no havia de o suportar? Eu
tambm sou muito rpido!
-Ora bem! Ento vamos at alm: o braseiro l no
to forte.
E l se foram, mas na verdade as brasas ali queimavam
mais do que em qualquer outro stio. O camaleo explicou
ao jaguar como era preciso proceder e passou uma vez atravs
do fogo, para lhe mostrar: no lhe aconteceu nada. Bom!
Sai da! Vou fazer o mesmo. Se tu consegues, tambm hei-dP.
conseguir! O jaguar atirou-se ao fogo e imediatamente se
queimou: Ffff! Conseguiu atravessar, mas j estava meio Clal-
cinado e morreu, reduzido a cinzas.
Estavam as coisas neste p quando chegou o pssaro
ts'a;..ts'i, que se ps a chorar: Ah! Minha pobre criana! Nunca
me poderei habituar a cantar sobre os restos de um cabrito
mO'IIIts! Desceu da sua rvore; depois, com a prpria asa,
ps-se a juntar num montinho as cinzas do jaguar. Em seguid
deitou gua sobre as inzas e passou sobre o mantinha:
o jaguar voltou a levantar-se: Ai! que calor! exclamou. Por
que drabo me fui deitar assim ao sol? E retomou o seu
passeio.
Passado um momento, ouviu algum cantar: era o
cabrito monts que se encontrava na sua pl:iltao de batatas;
Na realidade, as batatas eram cactos. At'ona'i! at'cma'i! Sinto
sono sem razo! E, ao mesmo tempo que cantava, danava
137
sobre os cactos: como o cabrito monts tem as patas muito
finas podia facilmente evitar os espinhos. O jaguar observa-
va-o no seu manear:
- Ah como eu tambm gostava de danar a!
-No creio que tu possas caminhar sobre os cactos
sem espetar espinhos nas patas.
-E por que no? Se tu consegues, tambm eu posso
faz-lo!
- Est bem! Nesse caso vamos para alm: h menos
espinhos.
Mas, de facto, havia muitos mais. O cabrito monts
passou em primeiro lugar !para mostrar ao jaguar: danou
sobre os cactos, e depois voltou, sem um espinho. Hi! Hi!
Hi! Hi! exclamou o jaguar. Como tudo isto me agrada! Era
a sua wz. Entrou nos cactos e imediatamente os espinhos
se lhe cravaram nas patas. Em dois saltos, atingiu o meio
do campo de cactos. Sofria muito e no conseguia manter-se
em p: estatelou-se a todo o comprimento, com o corpo cri-
vado de espinhos.
De novo apareceu o t8'a-ts'i que tirou o jaguar dalli e lhe
at'l"lmcou todos os espinhos, um por um. Depois, com a asa,
empurrou-o para um pouco mais longe. Que calor! gri-
tou o jaguar. Porque diabo que terei adonnecido ao sol?>.
Retomou o caminho. Alguns instantes mais tarde encon-
trou um lagarto: este pode subir s rvores, at ponta dos
ramos, e voltar a descer rapidamente, sem cair. O jaguar, ao
v-lo proceder assim, logo sentiu vontade de se divertir tam-
bm. O lagarto conduziu-o ento at uma outra rvore e come-
ou por lhe mostrar como em preciso fazer: subiu ao cimo
da rvore e voltou a descer a toda a pressa. O jaguar tentou
por sua vez. Mas, chegado ao alto da rvore, caiu e um ramo
enfiou-se-lhe pelo nus saindo-lhe pela boca. Oh! exclamou
o jaguar. Isto lembra"llle mesmo as alturas em que estou
com diarrell!J! Uma vez mais ts'a-ts'i veio ajud-lo a sair
destes maus lenis, tratoulhe do nus e o jaguar pode vol-
tar a partir.
Encontrou ento um pssaro que se divertia brincando
com dois ramos que o vento fazia cruzar-se: divertia-se a pas-
sar entre eles rapidamente, no momento em que se cruzavam.
O que agradou imenso ao jaguar:
-Tambm quero brincar!
-Mas tu no vais conseguir! s muito grande, enquanto
que eu sou pequeno!
-E por que que eu no havia de conseguir?
O pssaro conduziu o jaguar a uma outra rvore e pas-
sou uma vez para lhe mostrar: os ramos quase lhe tocaram
no rabo no momento em que se cruzaram. Agora a tua vez.
O jaguaa- saltou: mas os :ramos apanharam-no pelo meio do
joorpo, cortando-o em dois. Ai! gritou o jaguar. Os dois
bocados caram e ele morreu.
T8'a-ts'i reapareceu e viu o seu menino morto. Ps-se
a chorar: Nunca conseguirei habituar-me a cantar sobre as
pegadas de um cabrito monts! Desceu e juntou os dois boca-
dos do jaguar. Com uma concha de caracol, poliu cuidadosa-
mente a juntura; depois passou sobre o jaguar, que se levan-
tou, vivo.
Voltou a pr-se em marcha. Foi a que se deu conta de
It'o, o abutre real, que se divertia a voar de cima para baixo e
de baixo para cima. Tambm isso agradou muito ao jaguar:
decilarou a lt'o que queria brincar como ele:
-Ah! meu amigo, como eu gostaria de brincar como tu!
-Bom, era uma boa ideia! Mas tu no tens asas.
-Est bem, certo que no tenho, mas tu podes-me
emprestaa- umas.
It'o aceitou. :Arranjou duas asas que fixou no corpo do
jaguar com cera. Feito isto, incitou o seu companheiro a voar.
Juntos, elevaram-se at um altura incrvel e divertiram-se
toda a manh. Mas por volta do meio-dia o sol queimava
e fundiu a cera: as duas asas soltaram-se. O jaguar estate-
lou-se no cho com todo o seu peso e morreu, quase reduzido a
migalhas. Ts'a-ts'i chegou, juntou os ossos do jaguar e levan-
tou-o. O jaguar voltou a andar.
139
No tardou a encontrar a doninha que se divertia com
o seu filho, partindo bocadinhos de madeira. O jaguar apro-
ximou-se para ver o que se passava: imedi!!Jtamente, atirou-se
sobre o filho da doninha, e depois tentou atacar o pai. Mas
este mijou"lhe nos olhos e o jaguar ficou cego . Caminhava
s cegas. Mas ts'a-ts'i surgiu de novo e lavou-lhe bem os olhos:
por isso que o jaguar tem uma vista to boa. Sem o pssaro
ts'a-ts'i o jaguar j no existiria.
O valor destes dois mitos no se limita intensidade do
riso que rprovocam. de compreender 'bem o que que
nestas histrias diverte os ndios; trata-se tambm de escla-
recer que a comicidade no a nica propriedade comum a
estes dois mitos, mas que eles constituem muito pelo contr-
rio um conjunto fundado sobre razes menos exteriores, razes
que permitem ver na sua juno outra coisa que no uma
justaposio arbitrria.
O' personagem !Principal do primeiro mito um velho
xamane. Antes do mais vmo--lo tomar tudo letra, confun-
dir a letra e o esprito (de tal modo que ?lo se lhe pode dizer
nada), e em seguida cobrir-se de ridculo aos olhos dos lnd.ios.
Seguimo-lo depois nas aventuras a que o expe a sua profis-
so de mdico. A expedio fanfarrona em que se envolve
mm os outros xamanes procura da 31ma do seu bisneto
pontuada por episdios qUJe revelam da parte dos mdicos
uma incompetncia total e uma capacidade prodigiosa para
esquecer o objectivo da sua misso: caam, comem, copulam,
arranjam o menor pretexto para esquecer que so mdicos.
O seu velho chefe, aps ter conseguido por um a cura,
d livre curso a uma devassido desenfreada: abusa da ino-.
cncia e da gentileza das suas prprias netas para as enrolar
na; floresta. Ou seja, um heri grotesco e possvel rir
sua custa. O segulldo mito fala do jaguar. sua viagem,
embora no passe de um simples passeio, no falta o im-
previsto. Este grande pateta, que decididamente encontra
Of. nota 3.
140
muita gente pelo caminho, cai sistematicamente nas arma-
dilhas que lhe estendem aqueles que ele destPIWJa com tanta
soberba. O jaguar grande, fol'1:e e estpido, nunca com-
preende nada do que lhe acontece e, no fossem as
es repetidas de um insignificante pssaro, h muito que
sucumbido. Cada um dos 'Seus passos testa a sua
e demonstra
0
rid.iculo do personagem. Em resumo, estes dois
miros apresentam xamanes e jaguares como vtimas da sua
prpria estupidez e da sua prpria vaidade, vtimas que, por
isso mesmo, merecem no a compaixo mas a gargalhada.
Chegou talvez a altura de colocar a questo: De quem
se troa? Uma primeira conjuno mostra-nos jaguar e
xamane ligados pelo riso que suscitam as suas desventuras.
Mas interrogando-nos sobre o estatuto real destes dois tipos
de sobre a relao vivida que os ndios mantm com
eles, des:x,brimo-los prximos numa segunda 8Jnalogia:
longe de serem personagens cmicos, eles so pelo
tanto um como outro seres perigosos, seres capazes de mspirar
0
terror, o respeicbo, o dio, mas dece:rto nunca a vontade
de rir.
Na maior parte das tribos sul-americanas os xamanes
partilham com os chefes- quru1do no preenchem eles
essa funo poltica- prestgio e autoridade. O xamane_ e
sempre uma figura muito importante das sociedades
e, como tal, ele ao mesmo tempo respeitado, admirado, temido.
Com efeito, o que se passa que ele o nico no grupo a
possuir poderes sobrenaturais, o nico a poder _o
mundo perigoso dos espritos e dos mortos. O xamane e pois
um sbio que pe o seu saber ao servio do grupo
dos doentes. Mas os mesmos poderes que :liazem dele um me-
dico, isto , um homem capaz de provocar a vida, permitem-
lhe tambm dominar a morte: um homem que pode matar.
A esse ttulo, ele perigoso, inquietante, eonstruJ.temente se
desconfia dele. Senhor da morte como da vida, ele tor-
nado imediatamente responsvel por todos os acontecimentos
extraordinrios e frequentemente morto, porque se tem medo
141
dele. Por conseguinte o mesmo que dizer que o xamane se
move num espao demasiado longnquo, demasiado exterior
ao do grupo, para que este sonhe em deixar, na vida real,
o seu riso aproximar-se dele.
E quanto ao jaguar? Este felino um caador muito
eficaz, porque (pOssante e astucioso. As presas que ataca
de preferncia (porcos, cervos, etc.) so tambm a caa
geralmente preferida dos ndios. Da resulta que o jaguar
visto por eles- e os mitos em que aparece confirmam fre-
quentemente estes dados de observao- mais como um con.
corrente a no menosprezar do que como um inimigo temvel.
No entanto cometeramos um erro se deduzssemos que o jaguar
no perigoso. Sem dvida que ele ataca raras vezes o
homem: mas conhecemos vrios casos de ndios atacados e
devorados (pOr esta fera, que sempre arriscado encontrar.
Por outro lado, as suas prprias qualidades de caador e a
que_ exerce na floresta, incitam os Indios a
Ci-lo _no seu valor e a evitarem subestini-lo: respeitam
o seu Igual no Jaguar e, em caso algum, se riem dele'. Na vida
real, o riso dos homens e o jaguar subsistem sempre na
disjuno.
Concluamos portanto a primeira etapa deste exame su-
mrio enunciando que:
1.'-Os dois mitos considenados fazem aparecer o xa-
mane e o jaguar como seres grotescos e objectos de
2.'-No plano das relaes efectivamente vividas entre
os hO"_D:ns por um. lado, os xamanes e os jaguares por outro,
a pos1ao destes ultinios exactamente o contrrio daquela
que apresentam os mitos: o jaguar e o xamane so seres peri-
gosos, portanto respeitveis, que por isso mesmo ocup1an1 um
lugar que est para l do riso;
t Chegamos ao ponto de constatar entre tribos de culturas muito
diferentes, como os Guayaki, os Guarani, os Chulupi, uma tendncia para
exagerar o risco que esse animal faz coiTe r: os tndios fingem ter medo
do jaguar, porque o temem deveras.
142
3.' -A contradio entre o inlaginrio do mito e o real
da vida quotidiana resolve-se quando se reconhece nos mitos
uma inteno de escrnio: os Chulupi fazem ao nitvel tk; mito
o que lhes interdito ao nvel tk; real. Ningum se ri dos
xamanes reais ou dos jaguares reais porque eles no so de
todo para rir. Trata-se pos para os lndios de pr em ques-
to, de desmistificar aos seus prprios olhos o temor e o res-
peito que lhes inspiram os jaguares e os xamanes. Esta ques-
tionao pode operar-se de duas maneiras: ou realmente,
e mata-se ento o xamane julgado demasiado perigoso ou o
jaguar encontrado na floresta; ou simbolicamente, atrav8
tk; riso, e o mito (a pa11tir desse momento instrumento de des-
mistifida.o) inventa uma tal variedade de xamanes e de
jaguares que possvel rir-se deles, uma vez despojados dos
seus atributos reais para se transformados em idiotas
da aldeia.
Consideremos por exemplo o primeiro mito. A sua parte
central consagrada descrio de uma cura xamanstica.
A tarefa de um mdico coisa grave porque, para curar um
doente, preciso descobrir e reintegrar no corpo do paciente
a alma cativa longe. O que quer dizer que, durante a expe-
dio que o seu esprito empreende, o Jrema.ne deve estar atento
apenas ao seu trabalho e no 1pode deixar-se distrair por nada.
Ora, o que que acontece no mito? Antes do mais, os xamanes
so numerosos ao passo que o caso que h para tratar
relativamente benigno: a criana tem febre. Um xamane no
apela para os seus colegas seno nos casos verdadeiramente
desesperados. Vemos em seguida os mdicos, como se fossem
crianas, a aproveitar-se da menor ocasio para fazer gazeta:
comem (primeiro as abboras cozidas, depois o mel extrado
pela cauda da burra), caam (uma tartaruga, depois uma
doninha); danam com mulheres (em lugar de danar szi-
nhos, como deviam), e apressam-se a seduzi-las para ir
copular com elas (justaniente aquilo de que um xamane se
deve abster durante o trabalho). Entret:JaJnto, o velho aper-
cebe-se de que se esqueceu da nica coisa que um ver-
143
diadeiro xama:ne nunca esquece, isto , o seu mbaco. Para
acabar, ele vai enfiar-se estupidamente num montte de esoi-
nhos onde os seus companheiros, que poderiam mostrar::ae
pela primeira vez teis, o deixariam tranquilamente a deba-
ter-se se ele no se pusesse aos gritos. Ou seja, o chefe dos
xarnanes faz exactamente o contrrio do que faria um autntico
mdico. No se poderia, sem tornar demasiado pesada a
o, evocar todos o.s traos que tornam objecto de zombaria
0
xamane do mito. 1!: preciso no entanto assinalar rapidamente
dois desses traos: o seu animal domstico e o seu canto.
Quando um xamane do Chaco empreende uma cura, ele envia
(imaginariwnente, entenda-se) o seu anttmal famHiar em exlplo-
mo. Todo o xama:ne senhor de um desses espritos-
"'llSSistenttes animal: trata-se vulgarmente de pequenos ps-
saros ou de serpentes, em todo o caso nunca de anmais to
ridculos (para os 1ndios) como uma burra. Ao escolher para
o xamane um animal domstico to incmodo e casmurro,
o mto indca de imedato que vai falar dum pobre diabo. Por
outro lado, os cantos dos xamanes chulupi so sempre sem
palavras. Consistem numa melopeia fracamente modulada.
indefinidamente repetida e pontuada, com pequenos intervalos
de uma nica palavra: o nome do animal familiar. Ora o
do nosso xamane compe-se .exclusivamente do nome do seu
anmal: assim, ele no cessa de lanar, como um grito de
triunfo, a confisso das suas Xamanarias.
Vemos !IIParecer aqui uma funo por assim dizer catr-
tica do mito: ele liberta no decorrer da sua narrao uma
paixo dos 1ndios, a obsesso secreta de rir daquilo que se
teme. Desvaloriza no plano da linguagem o que no poderia
s-lo na realidade e, revelando no riso um equivalente da
morte, ensina-nos que, entre o.s 1ndios, o ridculo mata.
Superficial at este momento, a nossa leitura dos mtos
basta no entanto para estabelecer que a analogia mitolgica
entre o jaguar e o xama;ne no mais do que a transforma-
o duma analogia real. Mas a equivalncia enttre eles detec-
tada mantm-se exterior, e as determinaes que os unem
144
remetem sempre para um terceiro termo: a atitude real dos
ndios face aos xamanes e aos jaguares, Penetremos pois antes
do mais no texto dos mitos, de modo a vermos se o parentesco
destes dois seres no ainda mais prximo do que parece.
Notaremos primeiramente que a parte central do pri-
meiro mito e o segund() no seu conjunto falam exactamente
da mesma coisa: nos dois casos, trata-se de . viagem
semeada de obstculos,. a dum xamane lanado procura do
esprito dum doente, e a do jaguar que, quanto a ele, se encon-
tra simplesmente em !Passeio. Ora, as aventums galhofeiras
ou burlescas dos nossos dois heris dissimulam na realidade,
sob a mscara de uma falsa inocncia, um empreendimento
milito srio, um gnero de viagem muito importante: aquela
que conduz os xamanes at ao Sol. Aqui preciso ll!pelar para o
contexto etnogrfico,
Os xamanes do Chaco no so apenas mdicos, mas
tambm adivinhos capazes de prever o futuro (por exemplo,
o resultado duma expedio guerreira). Por vezes, quando no
se sentem seguros do seu saber, vo consultar o Sol, que
um ser omnisciente. Mas. o Sol, que tem pouca vontade
de ser importunado, disps ao longo do trajecto que leva at
sua casa toda uma srie de obstculos, muito difceis de
transpor. Por isso s os melhores xamanes, os mais astu-
ciosos e os mais corajosos, . cnnseguem ultrapassar as pro-
V'as; o Sol aceita ento estender os seus raios e esclarecer
aqueles que se lhe apresentam. As expedies deste tipo so
sempre colectivas, justamente por causa da sua dificuldade,
e desenvolvem-se sob a direco do mais experimentado dos
feiticeiros. Ora, se compararmos as peripcias duma viagem
ao Sol com as aventlll'8s dq velho J<amane e do jaguar, aper-
cebemo-nos de que os dois mitos em questo descrevem; por
vezes com uma grande preciso, as etapas da Grande Viagem
dos xamanes. O primeiro mito conta uma cura: o mdico envia
o seu esprito procura do esprito do doente. Mas o facto
da viagem se fazer em grupo indica j que no se trata apenas
de uma deslocao rotineira, mas .de algo de mutto mais
---
lO
.145
solene: uma viagem em direco ao Sol. Por outro lado, alguns
dos obstculos que os xamanes encontram no mito corres-
pondem s armadilhas que o Sol semeou no seu caminho: as
diversas barreiras de espinhos por exemplo, e tambm o epi-
sdio da doninha. Esta, cegatruLo o xamane, repete um dos
momentos da viagem ao Sol: a travessia das trevas onde
nada se se v.
O que encontramos finalmente neste mito uma pardia
burlesca da viagem ao Sol, pardia que toma o pretexto de
um tema mais familiar aos ndios (o da cura xamanstica)
para troar duplamente dos seus feiticeiros. Quanto ao segundo
mito, retoma quase termo por termo a planificao da viagem
ao Sol, e os diversos jogos em que o jaguar perde corres:pon-
dem aos obstculos que o verdadeiro xamane sabe ultra-
passar: a dana nos espinhos, os ramos que se entrecruzam, a
doninha que mergulha o jaguar nas trevas e, finalmente, o voo
icrio em direco ao sol na companhh do abutre. Nada
de espantoso portanto no facto do sol fundir a cera que
prende as asas do jaguar, dado que, para que o Sol consinta
em estender os seus raios, o bom xamane deve ter passado
os obstculos anteriores.
Os nossos dois mitos utilizam assim o motivo da Grande
Viagem para caricaturar os xamanes e os jaguares, mostran-
do-os incapazes de a levar a cabo. No em vo que o pensa-
mento indgena escolhe a actividade mais estreitamente ligada
tarefa dos xamanes, o dramtico encontro com o Sol; o
que ele procura introduzir um espao desmesurado entre o
xamane e o jaguar do mito e o seu objectivo, espao que o
cmico vem preencher. E a queda do jaguar perdendo as soos
asas por imprudncia a metfora de uma desmistificao
desejada pelo mito.
Constata-se portanto que seguem uma mesma direco
os caminhos onde os mitos envolvem respectivamente o xamane
e o jaguar; vemos precisar-se pouco a pouco a eemelhana
que procuram reconhecer entre os dois heris. Mas estaro
estes paralelos destinados a juntar-se ? Poder-se-ia opor uma
146
objeco s observaes precedentes: se perfeitamente coe-
rente, e, dir-se-ia at, prevLvel que o oprimeiro mito evoque
a encenao da viagem ao Sol para troar daqueles que a
levam a cabo- os xamanes - no se compreende, em contra-
partida, a conjuno entre o jaguar enquanto jaguar e o
motivo da Grande Viagem, no se compreende porque que
o pensamento indgena apela para esse aspecto do xamanismo
para troar do jaguar. Os dois mitos examinados nada nos
ensinam a este propsito, preciso que uma vez mais nos
apoiemos sobre a etnografh do Chaco.
Oomo vimos, diversas tribos desta rea partilham a con-
vico de que os bons xamanes so capazes de aceder habi-
tao do Sol, o que lhes permite ao mesmo tempo demons-
trar o seu talento e enriquecer o seu saber questionando o
astro omnisciente. Mas existe para estes ndios um outro
critrio do poderio (e da maldade) dos melhores feiticeiros:
que estes podem transformar-se em jaguares. A aproxima-
o dos nossos dois mitos deixa doravante de ser arbitrria
e relao at aqui exterior E>ntre jaguares e xamanes subs-
titui-se uma identidade ma vez que; de um certo ponto de
vista, os iamanes so jaguares. A nossa demonstrao seria
completa se chegssemos a estabelecer o recproco desta pro-
posio : so os jaguares xamanes ?
Ora, um outro mito chulupi (demasiado longo para ser
aqui transcrito) d-nos a resposta: nos tempos antigos, os
jaguares eram efectivamente xamanes. Alis eram maus xama-
nes porque, em lugar do tabaco, fumavam os seus prprios
excrementos, e em lugar de curar os seus pacientes, procura-
vam de preferncia devor-los. Ao que parece, o crculo est
agora fechado, dado que esta ltima informao nos p e r m i t ~
confirmar a precedente: os jaguares so xamanes. Da mesma
maneira se esclarece um aspecto obscuro do segundo mito:
se ele faz do jaguar o heri de aventuras habitualmente reser-
vadas aos feiticeiros, porque no se trata do jaguar enquanto
jaguar mas do jaguar enquanto xamane.
14'1
Portanto, o facto de xamane e jaguar serem num certo
sentido intermutveis confere uma certa homogeneidade aos
nossos dois ~ i tos e torna verosmil a hiptese do incio:
eles constituem uma espcie de conjunto, de tal modo que
ooda. um dos dois elementos que o compem no pode ser
compreendido seno por. referncia ao outro. Sem dvida que
estamos longe agora do nosso ;ponto de partida. A analogia
dos dois mitos era-lhes ento exterior; fundamentava-se apenas
sobre a necessidade, para o pensamento indgena, de realizar
mUicamente uma conjuno impossvel na realidade: a do
riso por um lado, do jaguar e do xamane por outro. O comen-
t:rio .anterior (e que no , sublinhemo-lo, de modo algum
uma anlise, mas antes o preldio a um tal tratamento) ten-
tou estabelecer que esta conjuno dissimulava, sob a sua
inteno cmica, a identificao dos dois personagens.
Quando os ndios escutam estas histrias, naturalmente
que no pensam seno em rir-se. Mas o cmico dos mitos no
lhes retira, por essa ra;zo, a sua seriedade. No riso pro-
vocado aparece uma inteno iped.aggica: sem deixar de
divertir aqueles que os escutam, os mitos veiculam e trans-
mitem a cultura da tribo. Assim, eles constituem a sabedria
viva dos ndios .
* -Estudo inicialmente publicado em Les Temps Modernes (n.o 253,
Junho de 1967).
148
CAPTULO VII
O DEVER DA PALAVRA
Falar, antes do mais deter o poder de falar. Ou por
outras palavras, o exerccio do poder assegura o domnio
da palavra valada: s os senhores podem falar. QUJanto aos sb-
ditos, so obrigados ao silncio do <respeito, da venerao ou
do terror. Pa1avra e poder mantm relaes tais que o desejo
de um se realiza na conquista do outro. Principe, dspota ou
chefe de Estado, o homem de poder sempre no apenas o
homem que :lia1a, mas a nica fonte de palavra legtima: pa:Jac
vra empobrecida, palavra pobre, certo, mas rica de eficin-
cia, porque o seu nome caman4o e no quer seno a obedini.a
do executante. Extremos inertes cada um por si, poder e pala
vra no subsistem seno um no outro, cada um deles . subs-
tncia do outro e a permannda do par, se parece trans-
cender a Histria, alimenta-lhe no entanto o movimento: h
acontecimento histrico quando, abolido o que os separa e por-
tanto os vota inexistncia, poder e palavra se estabelecem
no prprio acto do seu encontro. Qualquer tomda de poder
tambm um ganho de palavra.
li: evidente que tudo isso tem a ver em primeiro lugar
com as sociedades fundadas sobre a diV'iso: amos-escravos,
senhores-sbditos, dirigentes-cidados, etc. A marca primoi""-
dial desta diviso, o seu lugar privilegiado de desdobramento,
o facto massivo, irredutvel, talvez irreversvel, de um poder
I
li
destacado da sociedade global pelo facto de apenas alguns
membros o deterem, de um poder que, separado da sociedade,
se exerce sobre ela e, se necessrio, contra ela. O que aqui
designado, o conjunto das sociedades de Estado, desde os
despotismos mais arcaicos at aos Estados totalitrios mais
modernos, passando pelas sociedades democrticas cujo apa-
re!bo de Estado, sendo liberal, nem por isso deixa de ser
o detentor longnquo da violncia legtima!.
Vi2:inbana, boa yinhana da palavra e do poder: eis
o que soa claro aos nossos ouvidos de h muito tempo acos-
tumados escuta dessa palavra. Ora, no se pode menospre-
zar esse ensinamento decisivo da etnologa: o mundo selvagem
das tribos, o universo das sociedades primitivos ou ainda-
o que vem dar ao mesmo - das sociedades sem Estado, ofe-
rece estranhamente nossa reflexo essa aliana j revelada,
mas para as sociedades comEstado, entre o poder e a palavra.
Sobre a tribo reina o seu chefe e este reina igualmente sobre
as palavras da tribo. Noutros termos, .e muito particularmente
no caso das sociedades primitivas americanas, os tndios, o
chefe- o homem de poder- detm tambm o monopli da
palavra. Entre esses selvagens, no se deve perguntar: quem
o vsso chefe?, mas antes: quem de entre vs aquele que
fala? Senhor das palavras: assim que um grande nmero
de grupos designa o seu chefe.
No se pode; ao que parece, pensar um sem o outro, o
poder e a palavra, dado que a sua ligao, claramente meta-
-histrica, no menos indissolvel nas sociedades primitivas
do que nas formaes esta>tais. Seria no entanto pouco rigo-
roso ficarmo-nos por uma determinao estrutural desta rela-
o; Com feito, o corte radical que divide as sociedades,
reais ou possveis, segundo o serem sociedades com Estado
ou sem Estado, esse corte n:o poderia deixar indiferente o
modo de ligao entre poder e palavra. Como que ele se
opera nas sociedades sem Estado? O exemplo das tribos ndias
ensina-no-lo.
Uma diferenciao revela-se a, ao mesmo tempo
150
mais aparente e a mais profunda, na conjugao da pala-
vra e do poder. :1!: que se nas sociedades com Esllado a
palavra o direito do poder, nas sociedades sem Estado,
<pelo contrrio, a palavra o dever do poder. Ou, para direr
de um outro modo, as sociedades ndias no reconhecem ao
chefe o direito palavra porque ele o chefe: elas exigem
do homem destinado a ser chefe que ele prove o seu dominio
sobre as palavras. Falar para. o chefe uma obrigao impe-
rativa, a tribo quer ouvi-lo: um chefe silencioso no. mais
um chefe.
E que ningum se engane a este .respeito. No se. trata
aqui do gosto, to vivo. entre tantos Selvagens, pelos belos
discursos, pelo talento oratrio, pelo bem flar. No a
esttica que est aqui em questo, mas a poltica. Na obri.
gao imposta ao c]:lefe de ser homem de palavra tr,.nsparece
com efeito toda a filosofia poltica da sociedade primitiva.
:1!: a que se desdobra o espao verdadeiro que nela o poder
ocupa, espao que no aquele que se poderia julgar. E a
natureza desse discurso, cuja re<petio a tribo viga escrupu-
losamente, a natureza dessa palavra jactante que nos indica
o lugar real do poder.
Que di2: o chefe? O que uma palavra de chefe? :1!:, antes
de mais, um acto ritualizado. Quase sempre, o lder dirige-se
quotidianamente ao grupo, ao alvorecer ou ao crepsculo.
Estirado na sua rede, ou sentado prximo da sua fogueira, ele
pronuncia com uma voz forte o discurso esperado. E eviden-
temente que a sua voz tem necessidde de ser potente, para
chegar a ~ a r e r - s e ouvir. Nenhum recolhimento, om efeito,
enquanto o chefe fala, nenhum silncio, cada um tranquila-
mente continua, como se nada fosse, a tratar das suas
ocupaes. A palavra do chefe no dita para ser escutado.
Paradoxo: ningum presta ateno ao discurso do chefe. Ou
melhor, simulada a inateno. Se o chefe deve, como tal,
submeter-se obrigao de falar, em co"ntrapartida aqueles
a quem se dirige no so obrigados, pelo que lhes .toca, seno
a paJrecer no o ouvir.
151
E eles no perdem por assim nada. Porqu:\?
PD't"que o chefe no diz, literalmente, nada. O seu discurso
consiste essencialmente numa celebraw, frequentes vezes
repetida, das normas de vida tra;dici=ais: S nossos ante-
passa;dos estav.am satisfeitos por viver como viviam. Siga-
mos o seu exemplo e, dessa . marreira, conseguiremos todos
uma existncia pacfica>>. Eis, . em breves aquilo a
que se reduz um discurso de chefe. Pode compreender-se a
partir da que ele no perturbe aqueles a quem destinado.
O que que neste caso quer dizer falar? Por que que
o chefe da tribo deve falar precisamente para no dizer nada?
A que solicitao da sociedade primitiva responde essa palavr:l
vazia que emana do lugar aparente do poder? Vazio o dis-
curso do chefe justamente por no ser discurso de poder: o
chefe est separado da palavra porque est separado do poder.
Na sociedade primitiva, na sociedade sem Estado, no do
lado do chefe que se encontra o poder: da resulta que a sua
palavra no pode ser palavra de poder, de autoridade, de
comando. Uma ordem: eis o que o chefe no seria capaz de
dar, justamente o gnero de plenitude que recusada sua
palavra. Para. l da recusa de. obedincia que no poderia
deixar de provocar uma tal tentativa da parte de um chefe
que se esquecesse do seu dever, no tardaria a colocar-se a
recusa de reconhecimento. Um chefe suficientemente louco
para sonhar, no tanto com o abuso de um poder que no
possui, como com o pr&prio uso do poder; o chefe que quer fazer
de chefe, abandonado: a socieda;de primitiva o lugar da
reusa de um poder separado, porque ela prpria, e no o
chefe, o lugar real do podei'.
A sociedade primitiva sabe, por natureza, que a violn-
cia a essncia do poder. Nesse sa;ber se enraza a preocupa-
o de manter cnsta;ntemente distnci um do outro o
poder e a: instituio, o comaodo e o chefe. E o prprio
campo da palavra que assegura 'a demarcao e traa a linha
de separao. Obrigando o chefe a mover-se apenas no ele'
152.
mento da palavra, isto , no extremo oposto da violncia, a
tribo assegura-se de que todas as coisas se mantm no seu
lugar, que o eixo do poder assenta exclusivamente sobre o
corpo da sociedade, e que nenhum deslocamento das foras
poder vir perturbar a ordem social. O dever de palavra do
chefe, esse fluxo constante de vazia que ele deve
tribo, a sua dvida infinita, a garantia que interdita ao
homem de palavra tornar-se homem de poder .
* Estudo inicialmente publicado em Nouvelle Revue de Psycha--
nalyse (8, Outono de 1973).
153
CAPITULO VIll
PROFETAS NA SELVA
A Amrica ndia no deixa de desconcertar aqueles
que tentam decifrar o seu vasto rosto. V-la conferir por vezes
sua verdade permanncias imprevistas, obriga-nos a recon-
siderar a quieta imagem que dela temos, e que, talvez por
artifcio, ela no desmente. A tradio legou-nos do conti-
nente sul-americano e dos povos que o habitam uma geografia
sumria e superficialmente verldica: por um :lado, as Alt.as
Cullturas andinas e todo o prestigio dos seus requintes, por
outro lado as culturas ditas da Floresta Tropical, tenebroso
treino de tribos errantes atravs de savan1as e se!lvas. H que
revelar aqui o etnocentrismo dessa ordem que faz com que
se oponha de modo familiar ao ocidente, a civilizao de um
lado, a barbrie do outro. Complementar com esse entendi-
mento se exprime em seguida a convico mais sbia de que
avida do esprito acede s suas formas nobres apenas quando
a sustenta o solo julgado mais rico de uma grande civilizao:
ou seja, que o esprito dos Selvagens se mantm ~ r i t o
selvagem.
Ora, que isso no seja verdadeiro e que o mundo ndio
se revele capaz de surpreender o auditor ocidental com uma lin-
guagem que outrora nunC!a ficou sem eco, o que nos ensi
nam os Mbya-GullJI"Mli. .Porque o pensamento religioso desses
lndios se carrega, ao desdobrarse na primeirn :frescurn de um
i;-
mundo em que so vizinhos ainda deuses e viventes, da den-
sidade de uma meditao rigorosa e liberta. Os Tupi-Guarani,
dos quais os Mbya so uma das ltimas tribos, propem
etnologia americanista o enigma de uma singularidade que,
desde aJntes da Conquista, os votaVIa inquietao de procurar
sem trguas o alm prometido pelos seus mitos, ywy mara ey,
a Terra sem Mal. Dessa procura maior e certamente excepcio-
nal entre os ndios sul-americ8illos, conhecemos a consequncia
mais espectacular: as grandes migraes religiosas de que
falam as relaes dos primeiros cronistas. Sob o comando de
xamanes inspirados, as t!l'ibos aJbalavam e, rwtravs de j e j u n . ~
e danas, tentavam aceder s ricas habitaes dos deuses,
situadas no levante. Mas ento apa!l'ecia o obstculo assus-
tador; o limite doloroso, o grande oceano, mais terrvel ainda
por confirmar aos ndios a sua certem de que na mar-
gem oposta se situava a terra eterna. Eis porque subsistia
por intei!I'O a esperana de a atingir algum dia e os xamanes,
ao atribuir o seu falhano falta de fervor e ao no respeito
das regras do jejum, esperavam sem impacincia a vinda de
um sinal ou de uma mensagem do alto para renovar a sua
tentativa.
Portanto, os xamanes tupi-gu,arani exerciam sobre as
tribos uma influncia considervel, sobretudo os maiores entre
eles, os karai, cuja palavra, queixavam-se os missionrios,
ocultava em si todo o poder do demnio. Os seus textos no
do infelizmente nenhuma indicao sobre o contedo dos dis-
cursos dos karai: pela simples razo sem dvida de que os
jesutas estavam pouco desejosos de se tornar cmplices do
diabo reprodzindo por escrito o que Sa.too.JS sugeria aos seus
subordinados ndios. Mas os Thevet, Nbrega, Anchieta, Mon-
toya, etc., traem sem querer o seu silncio censor, reconhe
cendo a capacidade sedutora da palavra dos feiticeiros, prin-
cipal obstculo, dizem, evangelizao dos Selvagens. Por a
resvalava, sem o sa;berem; a confisso de que o cristianismo
encontrava n universo espiritual dos Tupi-Guara;ni, isto , de
homens primitivos, alguma coisa suficientemente articulada
156
[l3.l1a se op!I' com xito, e como que sobre um prlano de igu:aildade,
inteno missionria. Surpreendidos e amargurados, os jesu-
tas zelosos descobriam sem o compreender, na dificu1dade .. da
sua predicao, a limitao do seu mundo e .o vazio da.sua
linguagem: constatavam com admirao. que as .. supe!l'sties
diablicas dos ndios .podiam exaltar-se at rao . plano supremo
do que quer ser chamado religio ..
Assim ocultado, todo esse antigo saber arriscava-se .a
ficar para sempre perdido se, atentos ao seu apelo e respei-
tadores da sua memria, o no tivessem silenciosamente. man-
tido vivo os ltimas ndios Gwarani. Poderosos povos de
outrora, no so hoje mais do que um pequeno nmero. os
que sobrevivem nas florestas do Este do Paraguai. Admirveis
na sua perseverana em no renunciar a si prprios, os Mbya,
que quatro sculos de ofensas no conseguiram forar a humi-
lhar-se, estranhamente persistem em habitar a sua velha terra
segundo o exemplo dos .antepassados, em acordo fiel com as
normas que os deuses promulgaram antes de abandonarem
a habitao que confiavam aos homens. Os Mbya conseguiram
conserva.t" a sua identidade tribal apesar das circunstncias e
provaes do seu passado. No sculo XVIII, os jesu'tas no con-
seguiram convenc-los a renunciar idolatria e a;, juntar-se aos
outros lndios nas misses. O que os Mbya sabiam e que os
fortificava na sua recusa, eram a vergonha e a dor de ver
aquilo que eles despre2lavam ameaar a sua prpria essncia,
o seru ponto de honra e a sua tica: os seus deuses e. o dis-
cu!l'so dos seus deuses, pouco a pouco negadas pelo dos
recm chegados. : nesta recusa que reside a originalidade dos
Guarani, que se delimita o lugar muito especial que eles ocu
rpam entre as outras culturas ndias, que se impe o interess.e
que eles apresentam rpara a etnologia. Com efeito, raro ver
uma cultura ndia continuar a existir segundo as normas
do seu p!rprio sistema de crenas, conseguindo oonse!I'Var
praticamente puro de influncias esse domnio particular. Do
contacto entre mundo branco e mundo ndio resulta a maior
parte das vezes um sincretismo empobrecedor onde, .. sob um
157
cristianismo sempre superficial, o pensamento indgena pro-
cura. apenas adiar a sua morte. Precisamente, isso foi o que
no se produziu com os Mbyoa que, at ao presente, conti-
nuam a votar ao fracasso todo o empreendimento missionrio.
Esta secular resistncia dos Guarani em se dobrar diante
da religio dos juru'a, dos Brancos, fia"ma-se na convico
dos ndios de que o seu destino regulado pela promessa dos
antigos deuses: que, continuando a viver sobre a terra mal-
dita, ywy. mba' rnegua, no respeilto das normas, eles rece-
bero deles os sinais favorveis abertura do caminho que,
prura l do te= do mar, os conduzir terra etema. Pode-
ramos surpreender-nos com aquilo que se afigura quase
como uma loucura: a constlncia dessa rgida certeza. capaz
de atraves..ar a H>tria sem por isso parecer afectada. O
que seria menosprezar a incidncia sociolgica do fervor
religioso. Com efeito, se os Mbya actuais se pensam ainda
como uma tribo, isto , como uma unidade social visando
preservar a sua diferena, essencialmente sobre fundo reli-
gioso que se projecta essa inteno: os Mbya so uma tribo
porque constituem uma minoria religiosa no crist, porque
o cimento da sua unidade a comunidade da f. O srs1temo.
das crenas e V13!lores constitui portanto o grupo como tal . e,
I'eciprocamente, esse encerramento decidido sobre si leva o
grupo, depositrio cioso de um saber honrado at vivncia
mais humilde, a manter-se o protector fiel dos seus deuses
e o guardio da sua lei.
Evidentemente que o conhecimento da temtica religiosa
se reparte desigualmente entre os membros da tribo. A maioria
dos ndios contenta-se, como normal, em pail'ticipar com
aplicao nas danas rituais, em respeitar as normas tradi-
cionais da vida e em escutar no recolhimento as exortaes
dos seus pa'i, dos seus xamanes. Porque eles so os verda-
deiros sbios que, tal como os kara4 dos te!!Dl)lOS antigos, e
habitados pela mesma paixo, se abandonam exaltao de
interrogar os seus deuses. A se redescobre o gosto dos ndios
pela palavra, ao mesmo tempo como oradores e como audi-
tores: senhores das palavras e ardentes a pronuncilas, o ~
caciques-xamanes encontram sempre no resto dos ndios um
pblico pronto a escut-los.
Quase sempre aquilo de que se trata nesses discursos
de abordar os temas que obsidi:a:m literalmeillte os Mbya:
o seu destino sobre a terra, a necessidade de prestar ateno
s normas fixadas pelos deuses, a esperana de conquistar
o estado de perfeio, o estado de aguyje, o nico que permite
ruos que a ele acedem verem abriT-se pelos habital!ltes do cu
o caminho da Terra sem Mal. A natureza das preocupaes dos
xoamanes, a sua significao, o seu alcance e o modo como as
expem, ensina-nos justamente que o termo xoamane qualifica
mal a verdadeira personalidade destes homens capazes de x-
tase verbal quando os toca o esprito dos deuses. Sendo por
vezes mdicos, mas no necessariamente, eles preocupa;m-se
muito menos em restitui<r a sade ao corpo doente do que em
alcanar, atravs de danas, discursos e medit:aes, essa fora
interior, essa firmeza do corao, nicas capazes de agradar a
Nhamandu, a Karai Ru Ete, a todas aJS figuras do panteo gua-
rani. Mais ainda do que praticantes, os pa'i mbya so medita-
tivos. Apoiados no slido ter<reno dos mitos e das tradies,
eles consagram-Re a fazer sobre esses textos, um a um, um V10lr-
dadeiro traba:lho de interpretao.
Encontramos pois entre os Mbya duas sedimentaes,
por assim dizer, da sua literatura oral: uma, profana, que
compreende o conjunto da mitologia e nomeadamente o grande
mito dos gmeos, a outra, .sagrada, isto ~ c r e t a para os
Bra;nCOR, que se compe das preces, dos cantos religiosos, de
todas as improvisaes enfim, que o seu fervor inflamado
quando sentem que neles um deus deooja fazer-se ouvir
arranca aos pa'i. surpreendente profundidade do seu discurso,
esses pa'i, que nos sentimos tentados a chamar profetas e no
mais xamanes, impem a forma de uma linguagem notvel
pela sua riqueza potica. Alis, a que se inscreve claramertte
a preocupao dos lndios em definir uma esfera do sagrado
de tal modo que a linguagem que a enuncia seja ela prpria
U9
uma negao da linguagem profana. A criao verbal que
emana da preocupao de nomear seres e coisas segundo a sua
dimenso mascarada, segundo o seu . ser divino, desemboca
assim numa transmutao lingustica do universo quotidiano,
i!lum Gro-Fal:a!r que se julgou ser uma lngua secreta.
assim que os Mbya falam da f1or do arco para designar
a . flecha, do esqueleto da bruma para nomear o cachimbo,
e das ramagens floridas para evocar os dedos de Nha.mrundu.
Traa:t..qfigurao admirvel para anular a desordem e (>
timento das aparncias !!lias quais no deseja reter-se a paixo
dos ltimos lwmens: assim se diz o verdadeiro nome dos Mbya,
ndios resolvidos a n;o sobreviver aos seus deuses.
O primeiro clarear da aurora recorta o cume das grandes
rvores. Ao mesmo tempo acorda-se no corao dos ndios
guarani o tormento, rebelde pacificao da noite, do seu
tekoachy, da existncia doente, que a luz do astro de novo
vem iluminar, lembrando-os assim da sua cO'Ildio de habi-
tantes da terra. No ento raro ver levantar-se um pa'i.
Voz inspirada pelos invisveis, lugar de espera do dilogo
entre os humanos e os deuses, ele concilia o rigor do seu
logos com o ardor da f que anima as bdas formas do saber.
Matinas selvagens na floresta, as palavras graves da sua lamen-
tao voltam-se para leste ao encontro do sol, mensageiro
visvel de Nhamandu, o poderoso senhor dos senhores do al-
tssimo: a ele se destina essa prece exemplar.
Desmentindo o primeiro e legtimo movimento de espe-
rana, as palia.vras que o movimento do astro inspira aJo reci-
tadorr fecham-no pouco a pouco no circulo da aflio em que
o abandona o silncio doq deuses. Os esforos dos homens
para se libertarem da sua permanncia parecem inteis, por-
que no comovem aqueles a quem solicitam. Mas, chegados
assim ao ponto extremo da sua dvida e da sua angstia,
a memria do passado e a recordao dos antepassados voltam
quele que as experimenta e as diz: as drunas, os jejuns e as
preces destes, no foram outrora recompensadas, e no lhes
.lterr sido concedido a;travressar o mar, desc.obrir-lhe .. a pas-
sagem? pois necessrio que os homens tenham influncia
sobre os deuses, e tudo ser ainda possvel. Manifesta-se ento
a confiana num destino semelhante para os homens de agora,
para os lltimos Jeguakava: a sua espera das Palavras no
ser desiludida, os deuses far-se-o ouvir por aqueles que
aspirem a escut-los.
assim que se constri o movimento da lenta splica
matinal. Nha.mandu, deixando brilhar de novo a sua luz, con-
sente pois em deixlaJr viver os homens: o seu sono nocturno
uma morte a que a aurora os arranca. Mas viver, para oq
Jeguakava, para os portadores do jeguaka, para aque1es
que o penteado ritual masculino adorna, no apenas des-
pertar-se para a neutralidade das coisas. Os Mbya habitam
a terra no espao do questionvel e o Pai aceita pootanto
ouvir a lamentao dos seus adornados. Mas, ao mesmo tempo
que surge a esperana em que a prpria possibilidade de ques-
tionar se enraza, a fadiga terrena trrubalha no sentido de tor-
nar mais lento o impulso dessa esperana: medem-na o sangue
e a carne, e pode ser ela a razo da prece e da druna, da dana
sobretudo, cujo ritmo exacto alivia o corpo da sua carga ter-
restre. De que aUISncia fala essa procura to premente que
inaugura o dia? Da dos fie' e por teoonde, as belas palavras ori-
ginais, linguagem divina onde se a salvao dos homens.
Pausa no -limiar da sua verdadeira morada: o habitar
dos Jeguakava sobre a terra m. A imperfeio dos corpo,;
e das a.:lmas impede a desero, 'apenas ela os mantm no para
c da fronteira, do metafrico mar, menos aterrorizante na
sua realidade, as mais das vezes desconhecida dos ndios, do
que o seria lev-los a pressentir a repartio talvez definitiva
do humano e do divino, cada um ancorado na sua prpria
margem. Agradar aos deuses, merecer deles as Palavras que
abrem o caminho da terra eterna, as Palavras que ensinam
aos homens as normas da sua futura existncia: tal todavia
o desejo dos Mbya. Que falem pois os deuses! Que reconhe-
am os esforos dos homens, os seus jejuns, as suas danas,
as suas preces! No menos ricos em mritos do que oo seus
11
161
pais, os Jegw:ikatva temmde porngue'i, os ltimos de entre
aqueles que foram os primeiros adornados, aspiram a deixar
a terra: o seu destino cumprir-se- ento.
Eis, trgica no silncio matinal de uma f!iOresta, a prece
melanclica de um ndio: a clareza do seu apelo no se altera
em nada pelo facto de nela se apontar subterraneamente o
sentido e o gosto da morte ; a extrema sa;bedoria dos Guarani
consiste justamente em saber encaminhar-se prura eles.
Meu pai! Nhamrundu! Tu fazes com que eu novamente me erga!
E, do mesmo modo, fazes com que novamente se ergam os
Jeguakava,
os adornados, na sua totalidade.
Quanto s Jachukava, as !adornadas, fazes com que novamente
elas se ergam, na sua <totalidade,
E quanto queles que no dotaste de jeguakava, tambm a eles
fazes com que se ergam, na sua totalidade.
E agora, acerca dos adornados,
acerca dos que no so teus adornados,
a.cerca de todos eles, eu inquiro.
Mas, no que a tudo isso se refere,
tais pa1avras no as pronuncias tu, Karai Ru Ete:
nem para meu bem, nem no de tens filboo destinados terr"
indestrutivel,
terra eterna, que nenhuma mesquinhez a;ltera.
No as pronum:ias, a essas palavras que encerram
as futuras nQII'nlas da nossa fora,
as futuras normas do nosso fervor.
Porque, rn:a verdade,
eu existo de forma imperfeita.
De natureza imperfeita o meu sangue;
de natureza imperfeitla a minha carne,
horrvel, desprovida de excelncia.
Estando ra;s coisas assim ordenadas,
a fim de que o meu sangue de natureza imperfeita,
a fim de que a minha c!lll'Ile de natureza imperfeita
se sacudam e lancem para bem longe a sua imperfeio:
162
flectindo os joelhos, eu me inclino, ' com vista a um corao
valoroso.
E contudo, vejamos: tu no PTonuncias as palavras.
Por via disto 'tudo,
No em vo que eu, que eu pela minha parte,
necessito dJa;s tuas pa1avras:
as das futuras normas da fora,
ras das futuras normas de um corao V1aaoroso,
as das futuras normas do fervor.
Nada I!lais, na totalidade das coisas, inspira nimo ao meu
corao.
Nada mais me aponta as futuras normas da minha existncia.
E o mar malfico, o mar malfico,
no quiseste tu que eu o llltraV1Cssasse.
por isso que, na verdade, eles s existem
em pequeno nmero, os meus 1rmos,
elas s existem em rpequeno nmero, ras minhas irms.
E acerca desses poucos que ficaram
que eu fao ouvir a minha lamentao.
Acerca. deles eu novamente interrogo:
pois Nlramandu f-los erguerem-se.
Estando as coisas assim ordenadas,
quan<bo a esses que, na sua totalidade, se erguem,
em seu alimento futoco se concentra toda a ateno do !'CU
olhar, do olh!lll' de todos;
e porque a aten:o do seu olhar se concentra no seu futuro
alimento,
que eles, todos eles, so os que existem.
Tu fazes com que ganhem asas as suas palavras,
tu inspiraslhes as suas interrogaes,
tu fazes que de todos eles se erga grande lamento.
Mas vejamos: eu ergo-me neste esforo,
e tu, contudo, no pronuncias as .palavras, no, na verdade.
tu no pronuncias as palavras.
1
Descrio do gesto da dana ritual.
163
1il por isso que eu sou levado a dizer,
Karai Ru Ete, Karai Chy Ete:
queles que no eram numerosos,
os destinados terra indestrutvel,
terra eterna que nenhuma mesquinhez altera,
a todos eles permitistes tu, outrora, que na verdade inquirissem,
sobre as futuras normas da sua prpria existncia,
E no h dvida de que eles as conheceram, outrora, em toda
a sua perfeio,
Se, quanto a mim, a minha natureza se libertar da sua habitual
imperfeio,
se o sangue se libertar da sua habitual imperfeio de anti-
gamente:
nada disso se deve s coi!li!IB ms que existem,
mas ao facto de o meu sangue de natureza imperfeita,
de a minha carne de natureza imperfeita
se terem sacudido e lanado para bem longe
a sua imperfeio.
Iii por isso que tu as pronunciars em abundncia, tais palavras,
palavras de alma excelsa,
para bem daquele cuja face nenhum sinal dividiu'.
Pronunci-l!as-s em abundncia, a es.'las palavras,
tu, Karai Ru Ete, e tu, Karai Chy Ete,
para bem de todos os destinados terra indestrutvel,
terra eterna que nenhuma mesquinhez altera,
Tu, Vs!
8
"
1
Isto , para aquele que recusa o baptismo cristo.
1
Este texto foi recolhido em Junho de 1966 no Este do Paraguai.
Foi gravado na lngua ind,gena traduzido pare francs com a ajuda
de Lon Cadogan, a quem deixo aqui os meus agradecimentos.
Na presente tmduo, a verso portuguesa de Luisa
Neto Jorge em O Gro-Falar, mitos e cantos sagrados dos ndios
Guarani, Editora Arcdia, 1977.
* Estudo inicialmente publicado em L'Ephmre 1972-73).
164
CAPTULO IX
DO UNO SEM O MLTIPLO
Era depois do dilvio. Um deus calculador e velhaco
ensinava ao seu filho como recompor o mundo: Eis o que
tu fars, meu filho. Dispe os fundamentos futuros da terra
imperfeita... Coloca uma boa como fundamento furtuM
da terra ... o pequeno porco selvagem que vai provocar a mul-
tiplicao da terra imperfeita... Quando ela .tiver atingido as
medidas que desejamos, prevenir-te-ei, meu filho ... Eu, Tupan,
sou aquele que vela pela proteco da terra ... Tupan, deus
do granizo, da chuva e dos ventos aborrecia-se, tinha que
brincar 'sOZinho, necessitava de companhia. Mas no de qual-
quer ,um nem em qualquer lugar. Os deuses gostam de esco-
lher os seus parceiros. E este queria que a nova terra fosse
uma terra imperfeita, uma terra m, capaz no entanto de
acolher os pequenos seres destinados a habit-la. Eis porque,
previdente, ele sabia de antemo que teria que afrontar
Nhande Ru Ete, o senhor de uma bruma que, pesada e tenebrosa,
se exala do cachimbo que fuma, tornando inabitvel a terra
imperfeita. Eu canto mais do que Nhande Ru Elte. Eu saberei
o que fazer, eu voltarei. Eu farei com que sobre a. terra
imperfeita a bruma seja ligeira. Apenas desse modo esses
pequenos seres que para l enviamos podero sentir-se reno-
165
vados, felizes. Aqueles que envramos sobre a terra, as nossas
crianas, esses bocados de ns, sero felizes. Aos
devemos engan-los. Um finrio, tal era o divino Tupan.
Quem fala assim em nome do deus? Que mortal sem
temor ousa igualar-se sem tremer a um dos poderosos do
altssimo? No entanto, esse modesto habitante da terra no
louco. lll um desses pequenos seres a quem, desde o alvore-
cer dos tempos, Tupan confiou os cuidados da sua prpria
distraco. lll um ndio Guarani. Rico em conhecimento das
coisa.q, ele reflecte sobre o destino dos seus, que a si prprios
se chamam com altiva e amarga certeza, os ltimos Homens.
Os deuses por vezes revelam os seus desigoios. E ele, o karai
hbil em escut-los e votado a dizer a verdade, revela-a aos
companheiros.
Tupan inspirava-o nessa noite, a sua boca estava por
isso divina, era ele prprio o deus e contava a gnese da terra
imperfeita, ywy mba'emegua, a mora.dla que foi maliciosa:mente
confiada felicida.de dos Guarani. Ele falou longamente, e a
luz das chamas revelava metamorfoses: ora o calmo rosto do
indiferente Tupan, e a consequente amplido da grande lingua-
gem, ora a tensiio mquieta de um demasiado humano caindo
em si, e palavras estranhas. Ao discurso do deus sucedia
a procura do seu sentido, o pensamento de um mortal exerci-
tava-se em traduzir a sua enganadora evidncia. Os divinos
no tm que reflectir. E os ltimos Homens, quanto a eles,
no se resiguam: ltimos, sem dvida, mas sabendo porqu.
E eis que os lbios inspirados do karai dissiparam o enigma
da interpretao inocente e fria constatao, de
que nenhum ressentimento vem alterar o brilho: As coioos
na sua totalidade so uma; e para ns, que no o desejamos,
elas siio ms.
Obscm-idade e profundida.de: niio so o que falta, decerto,
neste fragmento. O pensamento que ele exprime duplamente
mquietante: pela sua durem, pela sua origem. Povque um pen-
samento de Selvagem, autor annimo, velho xamane guarani,
166
no fundo de um bosque do Paraguai. E porque sentimos clara-
mente quanto ele niio nos completamente estranho.
Trata-se de fazer uma genealogia da infelicidade. As
coisas so ms, indica o texto, os homens so os habitantes
de uma terra imperfeita, de uma terra m. Sempre foi assim.
Os Guarani esto habituados infelicidade, ela no
nada de novo para eles, nem surpreendente. J o sabiam
muito antes da chega,da. dos ocidentais, que nada Ihes ensi-
naram a esse respeito. Os Guarani nunca foram bons sel-
vagens, eles a quem incessantemente assolava a convic-
o de no serem feitos para a infelicidade, e a certeza de
virem a alcanar um dia ywy mara- ey, a Terra sem Mal. E os
seus sbios, meditando constantemente sobre os meios de a
aloonar, reflectiam sobre o problema da origem. De onde
vem o facto de habitarmos uma terra imperfeita? grandeza
da interrogao faz eco o herosmo da resposta: se a exis-
tncia injusta, os homens niio so culpados; no temos
que nos culpar por existir de um modo imperfeito.
Mas oode ganha raiz esta imperfe,io que assola os
homens, e que ns ooo desejamos? Ela provm do facto de
as adisas IIU1. swa totailidade so uma. Articulao inesJ!le-
rada, de fazer estremecer at vevtigem a mais longn-
qua aurora do pensamento ocidental. No entanto justa-
mente nisso que consiste o que dizem, o que sempre procla-
maram-e at s mais rigorosas consequncias, e s mais' loucas
tambm- os pensadores guarani: a infelicidade engendra-se
na imperfeio do mundo, porque de todas as coisas que com-
pem o mUilldo imperfeito se pode dizer que elas so uma.
Ser uno: a propriedade das coisas do mundo: Uno: o nome
do Imperfeito. Em suma, concentrando a virulenta conciso
do seu discurso, o que diz o pensamento guarani? Ele diz que
o Uno o Mal.
Infelicidade da existncia humana, imperfeio do mundo,
unidade enquanto fenda inscrita no corao das coisas que
compem o mundo: eis o que recusam os ndios Guarani, e
167
o que os levou desde sempre a. procurar um outro espao, para
ai conhecer a felicidade de uma existncia curada da sua
ferida essencial, de uma existncia desdobrada sobre um h o ri-
zonte libertado do Uno. Mas qual esse no-Uno to obstina-
damente desejado pelos Guarani? Ser que a perfeio do
mundo se 1 no mltiplo, de acordo com uma diviso fami-
liar metafsica ocidental? E ser que os Guarani, ao con-
trrio dos antigos Gregos, afirmam o Bem onde eS'pO!ltanea-
menrte ns o desquB!lificamos? Mas se encontramos entre os
primeiros uma inssurreio activa contra o imprio do Uno, e
entre os outros pelo contrrio uma nostalgia ccmtemplativa
do Uno, no no entanto o Mltiplo que os !ndios Guarani
afirmam, eles no descobrem o Bem, o Perfeito, na dissoluo
mecnica do Uno.
Porque que as coisas ditas unas 'Caem por jsso mesmo
no campo malfico da imperfeio? Uma ilnterpretao, apa-
rentemente ,comida no texto do fragmento, deve ser afas-
tada: a do Uno como Todo. O sbio guarani declara que <<as
coisas na sua totalidade so uma ; mas ele no nomeia o
Todo, categoria talvez ausente desse pensamento. Ele explica
que cada uma das COL'las, tomada uma por uma, que com-
pem o mundo- o cu. e a terra, a gua e o fogo, os vegetais
e os ,animais, os homens enfim- est marca;oo, grava;da pelo
selo ma:lfico do Uno. O que uma coisa una? Em que
que se reconhece a marca do Uno sobre as coisas?
Una toda a coisa corruptvel. O modo de existncia
do Uno o transitrio, o passageiro, o efmero. O que nasce,
cresce e se desenvolve com vista somente a perecer, isso ser
dito Uno. O que que isto significa? Acede-se aqui, por via
de uma bizarra operao do princpio de identidade, ao funda-
mento do universo religioso guarani. Rejeitado pelo lado do
corruptvel, o Uno torna-se sinal do Finito. A terra dos
homens no oculta em si seno imperfeio, podrido, torpeza:
terra torpe, o outro nome da terra m. Ywy mba'emeg!!a
o reino da morte. De toda a coisa em movimento sobre uma
1 ~ 8
trajectria, de toda a coisa mortal, diremos -o pensamento
guarani diz- que ela una. O Uno: fixao da morte. A
morte: destino do que uno. Por que que as coisas que
compem o mundo imperfeito sero mortais? Porque elas so
finitas, rporque elas so incompletas. O que corruptvel
morre por ser incompleto, o Uno qualifica o incompleto.
Talvez agora estejamos a 'Compreender melhor. A terra
imperfeita onde as coisas na sua totalidade so uma c
reino do incompleto e o espao do finito o campo de
aplicao rigorosa do princpio da identidooe. Porque dizer
que A = A, que isto isto e que um homem um homem,
declarar ao mesmo tempo que A no no-A, que, o isto no
o aquilo, e que os homens no so deuses. Nomear a unidade
nas coisas, nomear as coisas segundo a sua unidade, tambm
consignar-ihes o limite, o finito, o incompleto. Jl: descobrir
tragicamente que esse poder de designar o mundo e de lhe
determinar os seres- isto isto e no outra coisa, os Gwarani
so homens e no outra coisa- no mais do que o escrnio
do verdooeiro poder, do poder secreto que pode silenciosa-
menJte enunciar que isto isto e ao mesmo tempo aquilo, que
os Guarani so homens e ao mesmo tempo deuses. Descoberta
trgica, porque ns no desejamos isso, ns que sabemos que
a nossa linguagem enganadora, ns que nunca economiza-
mos esforos com vista a atingir a ptria da verdooeira lin-
guagem, a morada incorruptvel dos deuses, a Terra sem Mal.
onde nada do que existe pode ser dito Uno.
Na regio do no-Uno, onde desa.parece a infelicidooe, o
milho cresce sozinho, a flecha traz a caa s mos :dos que
no tm mais necessidade de caar, o fluxo regulado dos casa-
mentos desconhecido, os homens, eternamente jovens, vivem
eternamente. Um habitante da Terra sem Mal no pode ser
qualificado univocamente: ele um homem, evidentemente.
mas tambm outro alm do homem, um deus. O Mar o Uno. O
Bem no o mltiplo, o dois, 'W mesmo tempo o uno e o
seu outro, o tZois que designa veridicamente os seres completos.
169
Ywy mara-ey, destino dos Oltimos Homens, no abriga mais
homens, no abriga mais deuses : apenas seres iguais, deuses-
-homens, homens-deuses, de tal modo que nenhum de entre
eles se diz segundo o Uno.
Povo entre todos religioso, atravs dos sculos preso na
sua recusa altiva da sujeio terra imperfeita, povo de loucos
orgulhosos que se aJprecrava suficientemente para desejar um
lugar na ordem dos divinos, os ndios Guarani vagabundea-
vam ainda, no h muito tempo, procura da .sua verdadeira
terra natal, que eles supunham, que eles sabiam situada l
longe, do lado do sol nascente, O lado do nosso rosto. E por
muitas vezes, chegados l, sobre as praias, nas fronteiras da
terra m, quase a atingir o seu objectivo, a mesma arma-
dilha dos deuses, a mesma dor, o mesmo falhano: obst:culo
eternidade, o mar de mos dadas com o sol.
J no so mais do qne um pequeno nmero, e pergun-
tam-se se no estariio em vias de viver a morte dos deuses,
de viver a sua prpria morte. Ns somos os ltimos Homens.
E no entanto no abdicam, rapidamente ultrapassam o seu
abatimento, os karO!i, os profetas. Donde lhes vem a fora de
no renunciar? Sero eles cegos, insensatos? que o peso
do fracasso, o silncio no azul, a repetio da infelicidade,
nunca eles a adquirem verdadeiramente. No verdade que
por vezes os deuses consentem em falar? No h sempre,
a1gures no fundo dos bosques, um Eleito escuta dos seus
discursos? Tupan, nessa noite, renovava a promessa antiga,
pela boca de um ndio que o esprito do deus habitava. Aqueles
que enviamos sobre a terra imperfeita, meu filho, faremos
com que eles prosperem. Eles encontraro as suas futuras
esposas, eles despos-las-o e delas tero filhos: a fim de que
possam atingir as palavras que surgem de ns. Se eles no
as atingirem, nada de bom lhes acontecer. E tudo isso ns
sabemo-lo bem.
Eis porque, indiferentes a tudo o resto- o conjunto
das coisas que so uma- preocupados apenas em afastar
170
uma in13elicidade que no desejaram, eis porque os ndios
Guarani se contentam sem alegria com ouvir uma vez ainda
a voz do deus: Eu, Tuipan, dou-vos estes conselhos. Se um
destes saberes ficar nas vossas orelhas, no vosso ouvido, conhe-
cereis os meus traos ... Apenas assim podereis atingir o termo
que vos foi indicado ... Eu vou para longe, eu vou para longe,
no me vero mais. Por conseguinte, no deveis perd-los, os
meus nomes "".
* Estudo inicialmente rpublicado em L'Ephmre (19-20, 1972--73).
'';,:,;
171
CAPTULO X
DA TORTURA NAS SOCIEDADES PRIMITIVAS
1 - A lei a escrita
A dureza da lei, ningum pode esquec-la. Dura lex
sed lex. Diversos meios foram inventados, segundo as pocas
e as sociedades, a fim de manter sempre fresca a memria
dessa dureza. O meio mais simples e o mais recente, entre ns.
foi a generalizao da escola'; gratuita e obrigatria. A partir do
momento em que a instruo se impunha universal, ningum
podia mais, sem mentira-sem transgresso-argumentar com
a sua ignorncia. Porque, dura, a lei ao mesmo tempo escrita.
A escrita a favor da lei, a lei habita a escrita; e conhecer uma
no mais poder desconhecer a outra. Toda a lei portanto
escrita, toda a escrita ndice de lei. Os grandes dspotaR
que povoam a histria no.J.o ensitnam, todos os reis, impera-
dores, faras, todos os Sis que souberam impor aos povoR
a sua Lei: por toda a parte e sempre, a escrita reinventada
diz de imediato o poder da lei, gravada sobre a pedra, pin-
tada sobre as paredes, desenhada sobre os papiros. Mesmo os
quilpu dos Incas, que no se podem considerar .como uma
escrita. Longe de se reduzir a simples meios mnemotcnicos
de contabilidade, os cordes entrelaados eram antes do mais,
neces801J'iamente, uma escrita que afirmava a legitimidade da
lei imperial e o terror que ela devia inspirar.
173
I
2- A escrita o corpo
Que a lei encontre para se inscrever espaos inespera-
dos, o que pode ensina:rnos esta ou aquela obra literria.
O oficial de La Colonie pnitentiaire ' explica detalhll!damente
ao viajamte o funcionamento da mqui= de es&rever a lei:
A nossa sentena no severa. Gravamos simplesmente
com a ajuda do ferro o pargrafo violado sobre a pele do cul-
pado. Vamos escrever por exemplo sobre o corpo deste conde-
nado- e o oficial indicou o homem-: Respeita o teu superior.
E, ao viajante espantado ao tomar co:J.hecimento que
o condenado ignora a sentena que o atinge, responde o
oficial, cheio de bom senso:
Serta intil fazer-lha saber, dado que ele vai conhec-h
sobre o seu prprio COI1p0.
E mais adiante:
Vistes que essa escrita no fcil de ler com os olhos;
ora hem, o homem decifra-a com as suas feridas. Certamente
que se trata de um enorme trabalho: vai durar seis horas.
designa aqui o corpo como superfcie de escrita,
como superfcie apta a receber o texto legvel da lei.
E se for objectada a impossibilidade de remeter para
o plano dos factos sociais o que apenas o imaginrio de escri-
tor, responderemos que o delrio kafkiano aparece, na ocor-
rncia, de um modo por assim dizer antecipador, e que a fico
literria anuncia a realidade mais contempornea. O teste-
munho de Martchenko ' ilustra sobriamente a tripla aliana,
adivinhada por Kafka, entre a lei, a escrita e o corpo;
1
F. Kafka, La Colonie pnitentiail'e, Paris, Le Livre de Pochet-,
1971. Traduo portuguesa: Editorial Inqurito.
:: Martchenko, Mon Tmoignage (trad. Franois Olivier), Paris,
ed. du Seul! ( Col. <Combata>), 1971.
174
E ento nascem as tatuagens.
COnheci dois antigos presos de delito comum tornados
polticos; um respondia pelo nome de Moussa, o outro de Mazai.
'Dinham a testa e as faces tatuadas: Comunistas = carrascos.
Os comunistas chupam o sangue do povo. Mais tarde, encontrei
muUos deportados com frases .semelhantes gravadas sobre o
rosto. As mais das vezes, traziam escrito em grossas letras na
sua testa: ESCRAVOS DE KHROUTCHEV, ESCRAVO DO
P.C.U.S..
Mas alguma coisa, na realidade dos campos da U.R.S.S.
no decurso do decnio 60-70, u1trapassa a prpria fico
da colnia penail. que 1aqui o sistema da lei tem neces-
sidade de uma mquina para escrever o seu texto sobre
o corpo do prisioneiro que sofre passivamente a prova,
enquanto que, no campo real, a tripla aliana, levada ao seu
ponto extremo de enclausuramento, abole a prpria necessi-
dade da mquina: ou antes, o prprio !p'l'isioneiro que se trams-
forma em mquina de es&rever a lei, e que a inscreve sobre o
seu prprio corpo. Nas colnias penitencirias da Mordvia,
a dureza da lei encontra pai'a se enunciar a prpria mo, o
prprio corpo do culpado-vtima. O limite atingido, o prisio-
neiro est absolutamente fora da lei: o seu corpo escrito di-lo.
3-O corpo o rito
Um grande nmero de sociedades primitivas marca a
importncia que conferem entrada dos jovens na idade ll!dulta
pela instituio dos ritos ditos de passagem. Estes rituais de
iniciao constituem frequentemente um eixo essencial rela-
tivamente ao qual se ordena, na sua totalidade, a vida social
e religiosa da comunidade. Ora, quase sempre, o rito de ini-
ciao passa pelo conhecimento do corpo dos iniciados.
o corpo que a sociedade imediatamente designa como nico
espao propcio a transportar o sinal de um tempo, a marca
de uma '[JQSsagem, o cumprimento de um destino. Em que
175
segredo inicia o rito que, por um momento, toma completa
posse do corpo do iniciado? Proximidade, cumplicidade do corpo
e do segredo, do corpo e da verdade que a iniciao revela:
reconhecer isso conduz a precisar a interrogao. Por que que
preciso que o corpo individual seja o ponto de unio do
etlws tribal, por que que o segredo no pode ser comunicado
seno atravs da qperao social d rito sobre o corpo dos
jovens? O corpo mediatiza a aquisio de um saber, esse
saber inscreve-se no corpo. A natureza desse saber transmi-
tido pelo rito, a funo do corpo no desenvolvimento do rito:
dupla questo em que se decompe aquela outra do sentido da
iniciao.
4 -O rito a tortura
Oh! horriblle visu, et mirabile dictu! Graas a Deus aca-
bou""'3e, e vou poder contar-vos tudo o que vi.
George Catlin' acaba de assistir, durante quatro dias,
grande cerimnia anual dos tndios Mandan. Na descrio
que nos oferece, exemplar, como os desenhos que a ilustram,
cheios de delicadeza, o testemunho no pode impedir-se, apesar
da admirao que experimenta por esses bravos guerreiros
das Piliancies, de exprimir o .seu pavor e o seu horror, rela-
tivamente ao espectculo do rito. 1!: que se o cerimonial a
tomada de posse do corpo pela sociedade, o que facto que
ela no o faz de qualquer maneira: quase constantemente, e
isso que aterroriza Catlin, o ritual submete o corpo tortura:
Um a um, os jovens, marcados; j por quatro dias de jejum
absoluto e trs noites sem sono, avanaram 'Para os seus carrascos.
Tinha chegado a hora.
G. Cathi.n, Les Indiens de la Prairi.e, trad. por France Francrl::
e Alain Gheerbrant, Club des Libraires de France, 1959.
176
Buracos escavados no corpo, agulhas atravessadas nas
feridas, enforcamento, amputao, a ltima carridd, carnes
despedaadas: os recursos da. crueldade parecem inesgotveis.
E no entanto: ..
A impassibilidade, diria mesmo a serenidade, com a qual
estes jovens suportava.m o seu martrio era mais extraordinria
ainda do que o prprio suplicio... Alguns, dando-se conta de que
eu desenhava, chegaram mesmo -a olhar-me nos olhos e a sorrir
quando, ouvindo- a faca- ranger na sua carne, eu no podia reter
as lgrimas:..
De uma tribo a outra, de uma regio a outra, as tcnicas.
os meios, os fins explicitamente afirmados da crueldade, dife-
rem; mas o objectivo permanece o mesmo: preciso fazer
sofrer. Nos prprios j descrevemos noutro lugar ' a iniciao
dos jovens guay:aki, aos quais .. tatuam as costas em toda
a sua superfcie. A dor acaba sempre por ser. insuportvel:
s>Iencioso, o torturado desmaia. Entre os. famosos Mbaya-
Guaycuru do Chaco paraguaio, os jovens em idade de ser
admitidos na classe dos guerreiros deviam tambm passar pela
prova do sofrimento. Com a ajuda de um osso de jaguar agu-
ado, atravessavam-lhes. o pnis e outras partes do corpo. O
preo da iniciao era, ainda nesse caso, o silncio.
Poder-se-iam multiplicar at ao .infinito os exemplos que
todos, nos ensinariam mna nica e .sempre a mesma coisa: naR
sociedades primitivas, a tortura a essncia do ritual de inicia-
o. Mrus esta crueldade imposta ao corpo no visar seno
medir a ca.pacidade de resistncia fsica dos jovens, iSto ,
tranquilizar a sociedade sobre a qualidade doo Seus membros?
Ser o objectivo da tortura no rito apenas o de demonstrar
um valw individual? Este .ponto de vista clssico expresBo
perfeitamente por Catlin:
4
P. Clastres, Cbronique des Indiens Guayaki, Paris, Plon,. 1972.
12
177
0 meu corao sofreu com tais espectculos, e tais abomi
nveis costumes encheram-me de pesar: mas estou no entant'J
-pronto, e de todo o corao, a desculpar os tndios, a perdoar-lhes
as supersties que os conduzem a actos de uma tal selvajaria,
pela coragem de que do provas, pelo seu admirvel poder de
resistncia, numa palavra, pelo seu excepcional estoicismo.
No entanto, a concordar com ele, condenamo-nos a no
conhecer a funo do sofrimento, a reduzir infinttamente o
alcance da sua dinmica, a esquecer que a tribo ensina nela
qua1quer coisa ao indivduo.
5 -A tortura a memria
Os miciJa.dores velam por que a intensidade do sofrimento
atinja o seu mximo. Uma faca de bamb seria mais do que
suficiente, entre os Guayaki, para trinchar a pele dos i!ntciados.
Mas no seria suficientemente dolar080. :m preciso pois uti!lizar
uma pedra, um pouco cortante, mas no demaJSiado, ulll!a.
pedra que, em lugar de cortar, rasgue. Para isso, um homem
de olho experiente vai explorar o leito de rios, onde
podem encontrar-se essas pedras prprias para torturar.
George Catlin constata entre os Mandan uma semelhante
preocupao de intensidade de sofrimento:
. .. o primeiro doutor levan.tava entre os dedos cerca de
doi-s centimetros de carne, que penetrava de lado a lado com a
sua faca de escalpelar, com mossas cuidadosamente feitas na
lmina de modo a tornar a operao maJ.s dolorosa.
E, tal como o sacrificador guayaki, o xamane Mandan
no manifesta a menor compaixo:
178
Os carrascos aproximavam-se; examinavam o seu corpo,
escrupulosamente. Para que o suplicio acabasse era necessrio que
ele estivesse, segundo a sua expre-sso, inteiral'ntmte morto, isto ,
Na medida exacta em que a , inegavelmente,
um pr prova da coragem pessoal, esta exprime-se, se assim
se pode dizer, pelo silncio oposto ao sofrimento. Mas, depois
da iniciao, e uma vez esquecido todo o sofrimento, subsiste
uma prova irrevogvel, as marcas que a operao da faca
ou da pedra deixa sobre o corpo, as cicatrizes das feridas
recebidas. Um homem inici!ado um. homem marcado. O objec-
tivo da iniciao, no seu momento torcionrio, marcar o corpo:
no ritual inicitico, a sociedade imprime a sua marca 'I1JO corpo
dos jovens. Ora, uma cicatriz, um trao, uma marca, so
mapagveis. lnscritas na !p'!"Ofundidade da pele, elas atestruro
sempre, eternamente, que se a dor pode no ser mais do que
uma m recol"ldao, ela no deixou de ser no entanto expe-
rimentada no temor e no tremor. A marca um obstculo
ao esquecimento, o proprio corpo transporta impressos sobre
si os !traos da recordao, o carpo uma memria.
Porque do que se trata de no perder a memria do
segredo confiado pela tribo, a memria deste saber de que
doraVIllalte so depositrios os jovens iniciados. Que sabem
eles agora, o jovem caador guayaki, o jovem guerreiro mam-
dan? A marca assegura que ele pertence ao grupo: Tu
s um dos nossos e no o esquecers. Faltam as pala-
vras ao missionrio jesuta Martin Dobrizhoffer ' para qua-
lificar o ritos dos Abipones,, que tatuam cruelmente o rosto
das raparigas quando da sua primeira menstruao. E a
uma delas, que no pode impedir-se de gemer ao ser picada,
eis que grita furiosa a velha mulher que a tol"ltum:
.:Basta de insolncia! !No s querida nossa raa! Monstro.
.para quem uma ligeira ccega do espinho se torna insuportvel'
'I1alvez no saibas que raa daqueles .que supor
tam feridas, e enfileiram entre os vencedores? Fazes vergonha
aos teus, fraca fmeazinha! Pareces mais mole que o algodo.
No tenho dvidas de ,que morrers -celibatria. fAlgum dos nossos
heris poderia julgar-te digna de te unir a ele, medrosa?
G M. Dobrizhoffer, Hi'storla de los Abipones, Universidad Nacional
del Nordeste, Facultad de Huma.Il!idades, Resistencia (Chaco), 3 vols., 1967.
179
E lembramo-nos oomo, num dia de 1963, os Guayaki
se asseguraram da verdadeira nacionalidade de uma jovem
parnguaia: MTancando completamente as suas vestes, des-
cobrirom sobre os braos tatuagens tribais. Os brancos ti-
nham-na capturado na infncia.
Medir a resistncia pessoal, significar uma pertena
social: estas so duas funes evidentes da iniciao como ins-
crio de marcas sobre o corpo. Mas ser verdaderramente
s isso o que a memria adquirida na dor deve reter?'
Ser preciso realmente passar pela tortura para se recordar
sempre o valor do eu e a conscincia tribal, tnica, nacio-
nal? Qual o segredo transmitido, qual o saber desvendado?
6-A memria a lei
O ritual inicitico uma pedagogia que vai do grupo
ao indivduo, da tribo aos jovens. Pedagogia de afirma-
o, e no dilogo: por isso os iniciados devem manter-se
silenciosos sob a tortUII"a. Quem !l1o fala consente. Elm que
consentem os jovens? Consentem em aceitar-se tal como
sero doravante: membros por inteiro da comunidade. Nem
mais nem me'IWS. E so irreversivelmente marcados como tal.
Eis pois o segredo que na iniciao o grupo revela aos jovens:
Vs sois dos nossos. Cada um de vs semelhronte a ns,
cada um de vs semelhante aos outros. Transportais o mesmo
nome e no o mudareis. Cada um de vs ocupa entre ns o
mesmo espao e o mesmo lugar: conserv-los-eis. Nenhum
de vs menos do que ns, nenhum de vs mais do que ns.
E niio podereis esquec-lo. Incessantemente, ,as mesmas marcas
que deixamos sobre o vosso corpo, lembrar-vo-lo-o.
Ou, por outras termos, a sociedade dita a sua lei oos
seus membros, ela inscreve o tex!to da lei sobre a superfde
dos corpos. Porque a ningum permitido esquecer a lei que
funda a vida social da tribo.
180
Os primeiros cronistas diziam, no sculo XVI, acerca
dos ndios brasileiros, que eram gente sem f, sem
rei, sem lei. Evidentemente, estas tribos ignoravam a dura
lei isolada, aquela que numa sociedade dividida impe o
poder de alguns sobre todos os outros. Essa lei, lei de
rei, Iei de Estado, os Mandan e os Guaycuru, os Guayaki
e os Abipones, ignoram-na. A lei que eles aprendem a
conhecer na dor a lei da sociedade primitiva, que diz
a cada um: tu miio vales menos de que qualquer outro,
nito vales mais do que qualquer outro. A lei, inscrita sobre
os corpos, diz da recusa da sociedade primitiva em correr
o risco da diviso, o risco de um poder separado dela mesmo,
de um poder que lhe escO!pO!ri.a. A lei primitiva, cruelmente
ensinada, uma interdio de desigualdade que cada um no
esquecer :mais. Sendo a tprpria substncia do grupo, a lei
primitiva faz-'Se substncia do indivduo, vontade pessoal de
cumprir a lei. Escutemos ainda uma vez George Catlin:
Nesse dia, parecia que uma das rondas nunca mais ia
acabar. Um infeliz, que tran'Portava um crnio de veado
chado numa perna, no parava de se arrastar em torno do
circulo, a carga parecia no querer cair, nem a carne rasgar-..<re.
O pobre rapaz corria um tal perigo, que clamores de piedade se
elevaram na multido. Mas a ronda continuava, e continuou at
que o mestre de cerimnias em pessoa deu ordem de paragem.
Esse jovem era particularmente belo. Rapidamente
perou os sentidos, e j no 1sei como, as foras voltaram-lhe.
Examinou calmamente a sua perna ensanguentada e rasgada
e a carga ainda ligada carne, depois, com um sorriso de desa-
fio, raatejou atravs da multido que se abria diante dele, at
Pradaria (em caso algum tm os iniciados .o direito de caminhar
enquanto os seus membros no tiverem sido libertados de todos
os objectos perfurantes). Conseguiu fazer mals de um quilmetro,
at um lugar afastado, onde se manteve durante trs dias e
trs noites sozinho, sem socorro nem alimento, -implorando o
Grande Esprito. No fim desse tempo, a supurao libertou-o do
espeto, e ele voltou aldeia, caminhando sobre as mos e os joelhos,
porque estavam num tal estado de .esgotamento que no podia
em p. Trataram dele, alimentaram-no, e rapidamente se res-
tabeleceu.
181
Que fora impelia o jovem Mandan? Concerteza que no
se tratava de nenhuma pulso masoquista, mas pelo con-
trrio do desejo da fidelidade lei, da vontade de ser, nem
mais nem menos, o igual dos outros iniciados.
Toda a lei, dizamos, escrita. Aqui est como se recons-
titui, de uma certa maneira, a tripla 'aliana j reconhecida:
corpo, escrita, lei. As cicatrizes desenhadas sobre o corpo
so o texto inscrtto da lei primitiva, so, nesse sentido, uma
escrita solrre o oarpo. As sociedades primitivas so, no se
cansam de o dizer os auto,res do Anti-P:dipo, sociedades do
testemunho. E nesta medida, ' 3 . . ~ sociedades primiltivas so com
efeito sociedades sem escrita, na medida em que a escrita
representa, antes do mais, a lei separada, longnqua, desptica,
a lei do Estado que os co-detidos de Martchenko escrevem sobre
o seu corpo. E, precisamente, nunca ser demais sublinhar
que para conjurar essa lei, lei fundadora e garante da
tle!tigualdade, contra a 'lei de Estado que se coloca a lei
primitiva. As sociedades arcaicas, sociedades da marca, ~ o
sociedades sem EstaJdo, sociedades contra o Estado. A marca
sobre o corpo, igu'al sobre todos os corpos, enuncia: tu no
ters o desejo do poder, tu 7100 ters o desejo da submisso.
E essa lei no separada no pode encontrar para se inscrever
seno um espao no separado: o prprio corpo.
Profundidade admirvel dos Selvagens, que de antemo
sa:biam tudo isso, e velavam, a preo de uma terrvel cruel-
dade, por impedir o advento de uma crueldade ainda mais
terrvel: a lei escriba sobre o corpo uma recordao ines-
quecivel .
* Estudo inicialmente publicado em L'Homme XIII (3), 1973.
182
CAPITULO XI
A SOCIEDADE CONTRA O ESTADO
As sociedades primitivas so sociedades sem Estado: eSJte
juzo de facto, em si prprio exacto, dissimula na verdade
uma opinio, um juzoo de valor que impede partida a pos-
sibilidade de constituir uma antropologia poltica como cin-
cia rigorosa. O que de facto enunciado que as sociedades
prmiltivas esto privadas de 'alguma coisa- o Estado - que
lhes , como para qualquer outra sociedade-a nossa por
exemplo- necessria. Estas sociedades so pois incampletas
Elas no so completamente verdadeiras sociedades- elas no
so policiadas - , subsistem na experincia ta:lvez dolorosa de
uma ca;rncia- carncia do Estado- que elas tentariam,
sempre em vo, preencher. De um modo mais ou menos confuso,
claramente isto que dizem as crnicas dos viajantes ou os
traba:lhos dos investigadores: no se pode pensar a sociedade
sem o Estado, o Estado o destino de toda a sociedade. De-
tecta-se nessa perspectiva uma fixao emocenrtrista tanto
mais slida quanto , as mais das vezes, inconsciente. A refe-
rncia imediata, espont-nea, , se no o que meLhor se conhece,
pelo menos o que mais familiar. Com efeito, cada um de ns
traz em si, interiorizada como a f do crente, essa certeza de
que a sociedade existe rpara o Estado. Como conceber ento a
prpria existncia das sociedades primitivas, seno como esp-
cies enjeitadas da histria universal, sobrevivncias anac1'-
183
nicas de um estdio longnquo h j muito ultrapassado por
toda a parte? Reconhece-se aqui o outro rosto do etnocen-
trismo, a convico complementar de que a histria tem um
nico sentido, que toda a sociedade est condenada a envolver-
-se nessa histria e a percorrer"lhe as etapas que, desde a
selvajaria, conduzem at civilizao. Todos os povos policia-
dos foram selvagens, escreve Raynal. Mas a constatao de
uma evoluo evidente no fundamenta de modo algum uma
doutrina que, ligando arbitrariamente o estado de civilizao
civilimo do Estado, designa este ltimo como fim neces-
srio destinado a qualquer sociedade. Podemos pois pergun-
tar-nos o que conservou os ltimos povos ainda selvagens.
Por trs das formulaes modernas, o velho evolucio-
nismo mantm-se, de facto; intacto. Mais subtil pelo facil:o de
se dissim:ulax na linguagem da antrorpologa, e no mais da
filosofia, ele aflora '!lO entanto ao nvel das categorias que
se querem cientficas. Jnos apercebemos de que, quase sem-
pre, as sociedades arcai<las so determinadas na negativa,
sob as inarcs da .carncia: osociedades sem Estado, sociedac
des sem escrita, sociedades sem histria. :m da mesma ordem
a determinao destoas sociedades no plano econmico : socie-
dades de economia de subsistncia. Se com isso queremos
significar que .as sociedades primitivas ignoram a economia
de mercado onde se escoam os ex<ledenrtes produzidos, no
dizemos estritamente nada, contentlamo.,nos em revelar mais
uma carn'Cia, e sempre por referncia ao nosso prprio mundo:
estas sociedades que existem sem Estado, sem escrita, sem his-
tria, existem iguahnente sem mercado. Mas, poderia objectar
o bom senso, para que. serve um mercado se '!lo h excedente?
Ora, a ideia de economia de subsistncia oculta em si a afirma-
o implicita de que, se a.S sociedades primitivas no produ-
zem eX!Cedentes, porque so incapazes de o fazer, inteirac
mente ocupadas que estariam a produzir o minimo necessrio
sobrevivncia; subsistncia. Imagem antiga, seinpre eficaz,
da misria dos Selvagens. E, p;ara explicar essa incapacidade
das sociedades primitivas de se subtrarem estagnao da
184
sua vida diria, a essa alienao permanente na procura de ali-
mentos, invoca"Se o tcnico, a inferioridade
tecnolgica.
O que se passa na realidade? Se .entendermos por tc-
nica o. conjunlto de procedimentos de que se dotam os homens,
no para se assegurar do domnio absoluto da nrutureza (e
isto no vale sen.o o nosso mundo e o seu demente
projecto cartesiano de que apenas se comeam a medir as
consequncias ecolgcas), mas para assegu!l'ar um domnio
do meio natural adaptado e relativo s suas necessidades, ento
no podemos mais falar de inferioridade tcnica das sociedades
primitivas: elas derilonstoca.rn. uma eapacidade de satisfazer
.s suas neeessidades pelo menos igua;l quela de que se orgulha
a sociedade industril e tcnica. O que quer dizer que todo o
grupo humano chega, forosamente, a exercer o mnimo neces-
srio de domin.io sobre o meio que ocupa. At ao presente,
no temos conhecimento de nenhuma sociedade que se tivesse
estabelecido, excepto por obrigao e violncia exterior, num
espao natural impossvel de dominar: ou desaparece, ou
muda de territrio. O que surpreende entre os Esquims
ou os Australianos justamente :a riquem, :a ima;ginao e a
delicadeza da actividade tcnica, o poder de inveno e de efi-
ccia que os utenslios utilizados por esses povos demonstram.
Alis hasta dar uma volta pelos museus etnogrficos: o rigor
de fabricao dos instrumentos da vida quotidiana faz quase
de cada instrumenJto uma obra de arte. No h poi. hierarquia
no campo da tcnica, no h portanto tecndoga superior
nem inferior; no se pode medir um equipamento tecnolgico
seno em funo da sua Clalpacidade de satisfazer, num dado
meio, as necessidades da sociedade. E, deste pooto de vista,
no parece de modo algum que as sociedades primitivas se
tenham mostrado incapazes de aceder aos meios para reali21ar
esse fim. Evidentemente que esse poder de inovao tcnica de
que do provas as sociedades primitivas se vai desenvolvendo
no tempo. Na;da dado de imediato, h sempre o .paciente tra-
alho de observao e de investigao, a longa sucesso dos
185
ensaios, erros, falhanos e sucessos. Os en-
sinam-nos o nmero de milnios que furam precisos aos homens
do paleoltico pam substituir os grosseiros bifaces do prin-
cpio pelas admirveis lminas do solutrense. De um outro
ponto de vista, damo-nos conta de que a descoberta da agri-
cultura e a domesticao das rplantas so quase contempo-
rneas na e no Mundo Antigo, E foroso constatar
que os Amerndios, a esse respeito, .no fi<lltiD nadla atrs,
muito pel1o contrrio, na arte de seleccionar e de diferenciar
as mltiplas variedades de ptantas lteis.
Detenhamo-nos por um i!lJSitarnte no interesse funesto
que induziu os ndios a querer instrumentos metlicos. Coro
efeiW, ele est directaroenJte ligado questo da economia
rntS sociedades primitivas, mas de modo a:lgum da maneira que
se poderia julgar. Essas sociedades estariam, diz-se, condenadas
economia de subsistncia por causa da sua inferioridade
tecnolgica. Este argumento niio fundamentado, como aca-
bamos de ver, nem de direito nem de facto. Nem de direito,
porque no h escala a:bstro.cta em que medir as in;bensida-
des tecnolgicas: o equipamento tcnico de uma sociedade
no comparvel directamente ao de uma. sociedade diferente,
e no serve de nada contrapor a espingarda ao arco. Nem de
facto, dado que a arqueologia, a etnografia, a botnica, etc ..
demonstram-nos pre'Cisamente a c31pacidade de rentwbilidade
e de eficcia dai< tecnologias selvagens. Portanto, se as socie-
dades primitivas repousam sobre uma economia de subsis-
tncia, niio por falta de habilidade tcnica. Est aqui a ver-
dadeira questo: a economva dessas sociedades ser realmente
uma economia de subsistncia? Se dermos um sentido s pala-
was, se por economia de subsistncia no nos contentannos
com entender economia sem mercado e sem excedentes- o que
seria um sirople.q trusroo, a pura constataiio d diferena-,
ento afil'lllamos com efeito que este tipo de economia per-
mite sociedade que sustent subsistir a;penas, wfirroamos
que essa sociedade mobi1iza permanentemente a Wbalidade
186
das suas foras produtivas com vista a fornecer aos seus
membros o mnimo necessrio subsistncia.
Aloja-se a um preconceito tenaz, curiosamente coexten-
sivo aldeia contraditria e no menos corrente de que o Sel-
vagem preguioso. Se na nossa linguagem popular dizemos
;,trabalhar como um negro, na Amrica do Sul, em contra-
partida. diz-se preguioso coroo um ndio. Ento, das duas
uma: ou o homem das sociedades lJrimitivas, americanas e
outras, vive em economia de subsistncia e lpaJSSa a maior
parte do seu tempo procura de 1a!iroento; ou ento no vive
em economia de subsistncia e pode pois pel'lllitir-se lazeres
prolongados fumando na sua cama de rede. Foi isso o que
espantou, sem duvida, os primeiros observadores europeus
dos ndios do Brasil. Foi grande a sua reprovao ao cons-
tatarem que rapazolas cheios de sade preferiam adornar-se
como mulheres com pinturas e plumas, em lugar de .transpimr
nas suas hortas. Gentes que ignoravam que preciso ganhar
o p:o coro o suor do !Seu rosto. Isso era demasiado, e nn
durou muito: rapidamente os 1ndios foram :postos a traba-
lhwr, e por isso pereceram. Com efeito, dois axiomas pare-
cem guiar a roareha da civilizao ocidental, desde a sua
aurora: o primeiro estipula que a verdadeira sociedade se
desenvolve sombra. protectora. do Estado; o segundo enuncia
um imperativo categrico: preciso tra:balhar.
Os 1ndios no consagravam erectiVIamente seno pouco
tempo quilo a que se chama tmbalho. E n:o morriam de fome,
no entanto. As crnicas da poca so unnimes em descre-
ver a bela aparncia dos adultos, a boa sade das numerosas
crianas, a abundncia e a variedade dos recursos alimentars.
Por conseguinte, a economia de subsistncia que era. a das tri-
bos ndias no implicava de modo algum a procura angustia:da,
a tempo inteiro, de alimento. 'Portanto, uma economia de sub-
sistncia compatvel com uma considervel limitao do
tempo consagrado s actividwdes produtivas. Veja-se o caso das
tribos suJ.americanas de agricuJ;tores, os Tupi-Guarand por
exemplo, ,cuja indolncia tanto irritava os franceses e os portu-
187
gueses. A vida econmica desses tndios fundava-se principal-
mente sobre a agricultura, acessoriamente sobre a caa, a pesca
e a recoleco. Uma mesma horta em utilizada durante quatro a
seis anos consecutivos. Depois era abandonada, por causa do
esgotamento do solo ou, o que parece mais vero,smil, por causa
da invaso desse espao por uma vegetao parasitria difcil
de O grosso do trabalho, efectuado pelos homens,
consistia em desbravar, com o :tnaJChado de pedra e pelo fogo,
a superfcie necessria. Esta tarefa, realizada no fim da esta-
o das chuvas, mobilizava os homens durante um ou dois
meses. Quase todo o resto do processo agrcola-plantar.
sachar, colher- em conformidade com ;a diviso sexual do
trabaJTho, era assumido pel.ru> mulheres. Da resulta portanto
esta engraada concluso: os hom'IIS, isto , metade da popu-
lao, 1rrabalhavam cerca de dois meses, de quatro em quatro
anos! QuaJilto ao resto do tempo, votavam-no a ocupaes
sentidas no como obrigao mas como prazer: caa, pesca;
festas e beberetes; finalmente, a satisfazer o seu gosto apai-
xonado pela guerra.
Ora estes darlos massivos, qualitativos, impressionistas,
encontram uma confirmao incontestvel nas investigaes
recentes, das quais algumas ainda em 'curso, de carcter rigo-
rosamente demonstrativo, dado que elas medem o tempo de
tro:balho nas sociedades com economia de subsistncia. Quer
se tmte de caadores nmadas do deserto do Kalahari, ou
de agricultores sedentrios amerndios, as cifras obtidas reve-
lam uma repartio mdia do tempo de trabalho dirio
inferior a quatro horas por dia. J. Lizot, instalado h
vrios anos entre os ndios Yanomami da Amaznia venezue
lana, estabeleceu CTO'Ilometricamente que a durao mdia do
tempo consagrado diariamente ao trabalho pelos adultos,
tendo em conta tOIUts as actividades, mal ultmpalssa trs
horas. Ns prprios no chegamos a efectuar medidas an-
logas entre os Guayaki, caadores nmadas da floresba para'
guaiana. Mas podemos assegurar que os lindios, homens e
mulheres, passavam pelo menos metade do dia numa ociosi-
188
dade quase completa, dado que caa e colecta se realizavam,
e no todos os dias, entre .as seis e as onze horas da manh
mais ou :menos. provvel que estudos semelhantes, leva
dos a cabo entre as ltimas popuiliaes primitivas, chegas
sem, tendo em conta as diferenas ecolgicas, a resultados
seme'hlta:ntes.
Eis-nos pois bem longe do miserabilismo que envolve a
ideia de de subsistncia. No s o homem das
sociedades primitivas no obrigado a essa existncia ani-
mal que seria a procura permanente para assegurar 1a sobre-
vivncia, como inclusivamente esse resulbado obtido pelo
preo de um tempo de actividade notavelmente reduzido.
Isso sigmifica que as sociedades primitivas dispem, se o
desejarem, de todo o tempo necessrio para aumentar a
produo dos bens materiais. O bom-senso pergunta ento:
porque que os homens dessas sociedades quererila:m tra-
'balhar e produzir mais, quando trs ou quatro horas quo-
tidianas de actividade pacfica bastam para assegurar as
necessidades do grupo? Para que lhes serviria isso ? Para que
serviriam os excedentes acumulados? Qual seria o seu destino"?
sempre pela fora que os homens trabalham para alm das
suas necessidades. E precisamente essa fora est ausel!te
do mundo primitivo, a ausncia dessa fora e:xoterna define
a prpria natureza da.q sociedades Doravante pode-
mos admitir, para qualificar a organizao econmica destas
sociedades, a e:xopresso de economia de subsistncia, desde
que se entenda por isso, no a implicao de uma carn-
cia, de uma incapacidade, inerentes a esse tipo de socie
dade e sua tecnologia, mas pelo contrrio a recusa de
um excesso intil, a vontade de adequar a actividade pro
dutiva satisfao das suas necessidades. E nada mai>.
'l1anto mais que, vendo as coisas mais de perto, h efectiva-
mente produo de excedentes nas sociedades primitivas: a
quantidade de plantas cultivadas produzidas (mandioca, milho,
babaco, algodo, ebc.) ulltrapassa sempre o que necessrio ao
consumo do grupo, estando esse suplemento de produo, enten-
da-se, incluido no tempo normal de trabalho. Esse excesso,
obtido sem sobretrabalho, usado, consumido, para fins
:propriamente polticos, quando das festas, convites, visitas
de estm.n.geiros, etc. A vantagem de um machado metlico
sobre um machado de pedra demasiado eviden!te para
que nos detenh:amos sobre ela: pode-se realiza:r com o pri-
meiro talvez dez vezes mais trabalho do que com o se-
gundo, num mesmo perodo de tempo; ou ento Iazer o
mesmo trabalho em dez vezes menos tempo. E quando os
ndios descobriram a superioridade produtiva dos machados
dos homens brancos, desejaram-nos, no para produzir mais
no mesmo tempo, mas para produzir a mesma coisa num
tempo dez vezes mai.q curto. :b:Oi exactamente o contrrio
que se produziu, porque com os machados metlicos fize-
ram irrupo no mundo primitivo dos ndios a violncia,
a fora, o rpoder que exerceram sobre os Selv:agens os recm-
"chegados civilizados.
As sociedades primitivas so, como escl'!lveu J. Lizot
a propsito dos Yanomami, sociedades de recusa do braba-
lho: 0 desprezo dos Yrunomami pelo trabalho e o seu desin-
teresse por um progresso tecnolgico autnomo evidente
1
Primeiras ,sociedades do lazer, primeiras sociedades da abun-
dncta, segundo a jus,ta e feliz elOpresso de M. Sahlins
Se o projecto de estabelecer uma antropologia econ-
mica das sociedades primitiv:as como disciplina autnoma
tem um sentido, este no pode advir da simples apreen-
so da vida econmica desms sociedades: ficamos por uma
etnologia descritiva, pela descrio de uma dimenso no
autrioma da vda social primHiV1a. 1!: pelo contrrio quando
essa dimenso do <<facto social total se constitui como esfera
autnoma que a ideia de uma antropologia econmica apa-
rece fundamentada: quando desaparece a recusa do trabalho,
1
J. Lizot, Slconomie ou Societ? Que}ques thmes propos
de l'tude d'une <:ommunaut d' Amri.ndiens, Journal de la SOOietl des
Amrica.nlwtes, 9, 1973, pp. 137-175.
190
quando ao sentido do <l.a.zer se substitui o gosto pela acumu-
ila.o, quando, numa palavra, aparece no corpo social essa
fora extez1Di3. que evocamos mais acima, essa fora sem a
qual os Selvagens no renunciariam 1a0 lazer e que destri
a sociedade enquanto sociedade primitiva: essa fora, o
poder de obrigar, a capacidade de coer,o, o poder pol-
tico. Mas tambm a antropologia deixa ento de ser econ-
mica e perde de algum modo o seu objecto no tnstante em
que julga apreend"lo, a econr:YI"nia t<mna-se poltica.
Para o homem das sociedades primitivas, a ,actividade
de produo exactamente medida, delintada, pelas necessi-
dades a subentendendo-se que se trata essencial-
mente das necessidades energticas: a produo assenta na
reconstituio do stock de energia dispendida. Noutros rtermos,
a vida como natureza que- excepo da produo dos
bens 'Consumidos socialmente na ocasio das festas - estrube-
lece e determina a quantidade de tempo consagrada a repro-
duzi-la. O que quer dizer que, uma vez ,assegurada a satisfao
global das necessidades energticas, nada poderia incitar .a
sociedade primitiva a desejar produzir mais, i!sto , a alienal'
o seu ,tempo num trabalho sem destino, uma vez que esse tempo
est disponvel para a ociosidade, o jogo, a guerm ou a festa.
Sob que condies pode transfo!l'!Ilar-se essa relao do homem
prim>tivo com 'a actividade da produo? Sob que condies
poder essa. actividade consignar um fim diferente da satisfa-
o das necessidades energticas? 1: nisso que consiste colocar
a questo da origem do trabalho como trabalho alienado.
Na 'SOCiedade primitiva, sociedade por essncia iguali-
tria, os homens so senhores da sua actividade, senhores
da circulao dos produtos dessa actividade: no agem seno
,para si prprios, mesmo quando a lei de troca dos bens media-
tiza a re'J:a.o directa do homem com o seu produto. Tudo
se encontra a1terado, por conseguinte, quando a ,actividade
de produo desviada do seu objectivo inictal, quando, em
lugrur de produzir apenas para si prprio, o homem primitivo
produz tambm para Ol< outros, sem troca e sem reciprwiiWde.
191
ento que se pode falar de trabalho: quando a regra igua-
litria de troca deixa de constituir o Cdigo civil>> da socie-
dade, quando a actividade de produo visa satisfazer as neces-
sidades dos outros, quando regra de troca se substitui o
teiTOr da dvida. Com efeito, justamente a que se inscreve
a diferena entre o Selvagem amaznico e o ndio do imprio
inca. O primeiro produz [Jara viver, enquanto que o segundo
trrub8!lha, alm disso, para fazer viver os outros, aqueles que
no :trabalb:am, os senhores que lhes dizem: preciso pagru
o que nos deves, preciso que eternamente reembolses a
tua dvida para connosco.
Quando, na sociedade primitiva, o ecoomico se deixa
referenciar como campo ;autnomo e definido, quando a acti-
vidade de produo se torna trabalho alienado, contrubilizado
e imposto por aqueles que vo gozar dos frutos desse trabalho,
a sociedade j no primitiva, :transformou-se numa sociedade
dividda em dominantes e dominados, em senhores e sbditos,
deixou de esconjurar o que se destiiJia a mat-la: o poder e o res-
peito pelo poder. A diviso maior da sociedade, aquela que
funda todas as outras, incluindo sem dvida a diviso do
trabalho, a nova disposio vertical entre a base e o cume,
o grande corte poltico entre detentores da fora, quer ela
seja guerreira ou religiosa, e sujeitos a essa fora. A rela
o poltica de poder precede e funda ,a relao econmica de
eX!plorao. Ante!'\ de ser econmica, a alienao politica,
o poder est antes do trruba;lho, o eCQillmico uma deriva-
o do poltico, a emergncia do Estado determina o apa-
recimento d:as classes.
J!nacabamento, incomplet1tude, carncia: concerteza que
no por a que se revela a natureza das sociedades prim i-
Uvas. E}la impe-se bem m:ais como positividade, como domnio
do meio natural e domnio do :projecto sociail, como vontade
livre de no deixar resv.alar para fora do seu ser nada do
que !POderia ,ru1ter-la, corrompla e dissolv-la. nisso que
nos devemos basear: as sociedarles primitivas n,o so em-
bries retard!l!trios das sociedarles ulteriores, coopos so-
192
ciais de evoluo normal interrompida .por qualquer doena
/bizarra, elas no se encontram no ponto de partida duma
lgica histrica que conduz directamente a . um fim mar-
cado partida, mas conhecido somente a posteriori, o
nosso prprio sistema social. (Se a histria essa lgh:a,
como poderiam existir ainda sociedarles primitiv:as ?) . Tudo
isso se traduz, no plano da vida econmica, pela recusa das
sociedarles primitivas em deixar que o tra;balho. e a produo
as a:bsorvam, pela deciso de limitar os stooks s necessidades
scio-polticas, pela impossibilidarle intrnseca da concorrn-
cia- prura que serviria, numa sociedarle primitiva, ser um
rico entre pobres?- numa palavra, pela interdio, no for-
mulada mas suposta, no entanto, da desigualdade.
O que que ~ a z com que numa sociedade !plrimitiva a
economia no seja poltica? Isso deve-se, como vimos, ao
faJcto da economia no funcionar nela de modo autnomo.
Poder-se-ia dizer que, neste sentido, as sociedades primitivas
.so sociedarles sem economia por recusa. da economia. Mas
deveremos ento determinar tambm como ausncia a existncia
do politico nestas sociedarles? Ser preciso admitir que, dado
que se tr!l!ta de sociedades Sem lei e sem rei, lhes falta
o campo do poltico? E no cairamos assim na rotina clsc
sica de um etnocentrismo para quem a carnda marc a
todos os nveis as sociedades diferentes?
Seja 'pois colocada a questo do politico 111as sociedades
primitivas. No se trata simplesmente de um problema inte-
ressa.nte, de um tema apenas reservado rel\lexo dos espe-
cialistas, porque a etnologia se desenvolve a nas dimenses
de uma teoria geral (a construir) da sociedade e da histria.
A extrema diversidade dos tipos de organizao social, o
desenvolvimento, no tempo e no espao, de sociedades disse-
melhantes, n,o impedem no entanto a possibilidade de uma
ordem no descontnuo, a possibilidade de uma reduo dessa
multiplicidade infinilt:a de diferenas. Reduo massiva, dado
que a histria n,o nos oferece, de facto, seno dois tipos
de sociedade absoLutamente irredutveis uma outra, duas
13
ma;cro-classes, cada uma agrll[)ando em si sociedta.des que, para
l das suas diferenas, tm em comum alguma coisa de fun-
damental. H 'fKYT' um lado as .sociedades primitivas, ou .socie-
dades sem Estado, par autro lado as sociedades com Estado.
:m a presena ou ausncia da formao estaJtal (susceptvel de
tomar m!Uplas formas) que destina a toda a sociedade o seu
'lugar lgico, que traa uma linha de irreversvel descontinui
da;de entre as sociedades. O aparecimento do Estado operou
a grande partilha tipolgica entre Selvagens e CivHizados,
gravou o indeLvel fosso para J do qual tudo mudou, por-
que o Tempo se faz Histria. Frequentemente, e com !'azo,
denunciamos no movimento da histria mundial duas ace-
leraes decisivas do. seu ritmo. O motoc da primeira. foi
o que se chama a revoluo neoltica (domesticao dos ani-
mails, agricultura, , descoben.ta .das artes da teceLagem e da.
olaria, sedentrurizao consecutiva dos grupos humanos, etc.).
Vivemos ainda, e cada vez mais (se assim se pode dizer), no
,prolongamento da segunda acE!lerao, a revoluo industrial
do sculo XIX.
Evidenrt:emente, no h dvida de que a ruptura neoltica
alterou consideravelmente as condies de existncia material
dos povos anteriormente paleolticos. Mas ter essa trans-
formao sido suficientemente fundamental para afectar na
sua mais extrema profundidade o ser das sociedades? Poder-
-se- falar dum funcionamento diferente dos sistemas sociais
por serem pr-neolticos ou ps-neolticos? A .experincid.
etnogrfica indica justamente o contrrio. A passagem do
nomadismo sedentarizao teria sido a consequncia mais
rica da revoluo neoltica, pelo fa;cto de ter permitido, pela
concentrao de uma populao estabilizada, a formao das
cidades e, para alm disso, dos a.parelhos estatais. Mas
concluiramos assim que todo o complexo tcnico-cultural
desprovido de agricultura est necessariamente votado ao
nomadismo. O que etnograficamente inexacto: uma eco-
nomia de caa, pesca e coledta no exige obrigatoriamente
um modo de vida nmada. Vrios exemplos, tanto na Am-
rica como noutros lugares, o atestam: a ausncia de agri-
cultura comprutivel com a sedentarizao, O que consequente-
mente deixaria supor que, se cel'tos povo.." no utilizaram .a
agricUltura quando ela -era ecologicamente possvel, no foi
por incapacidade, atraso tecnolgico, inferioridade cultural, mas
simplesmente porque no tinham necessidade dela.
A histria !ps-oolombiana da Amrica apresenta o caso
de populaes de agricultores sedentrios que, sob o efeito de
uma revoluo tcnica ( conquisQa. do cavalo .e acessoriamente
de 'ammas de fogo) escolheram -abandonar a agricmtura para
se consagrarem quase exclusivamente caa, cujo rendimento
crescia peita. mobilidade decuplicada que o cavalo assegul'ava.
A partir do momento em que se tovnaram equestres, as tribos
das plancies na Amrica do Norte ou as do Chaco na Amrica
do Sul intensificaram e alongaram as suas deslocaes: mas
ainda estamos muito !Longe do nomadismo -!Para que tenderam
geralmente 'OS bands de caadore&eolectores (tais como os
Guayalti do Paraguai) e o abandono da agricultura no se
traduziu, para os grupos em questo, pela disperso demogr-
fica, nem pela transforma:o da organizao social anterior.
O que que nos ensina este movimento, levado a cabo
pela maior .parte das sociedrudes, da 'Caa para a agricultura,
e o movimento inverso, de algumas outras, da agricultura- para
a caa? lll que ele parece sem que nada mude na
naturezada sociedade; que esta se mantm idnJtica a si prpria
quando se apenas as suas condies de existncia
materia;!; que a revoluo neoltica, se !afectou consideravel-
mente, e sem dvida mcilitou, a vida material dos grupos huma-
nos de ento, no conduziu mecanicamente a uma transforma-
o da ordem socia;!. Noutros termos, e no que toca s socieda-
des primitivas, a mudana ao nvel daquilo a que o marxismo
chama a infraestrutura econmica no dete:rmina de modo
algum o seu reflexo corolrio, a superstrutura poltica, dado
que esta aparece independente da sua base material. O con-
tinente americano ilu.'ltra claramente a anrt:onomia respectiva
da economia e da sociedade. Grupos de caadores-pescadores-
195
-colectores, nmadas ou no, apresentam as mesmas proprie-
dades scio-polticas que os seus vizinhos agricultores se-
dentrios: infraestruturas diferentes, Superstrutura idn-
tica. Inversamente, as sociedades meso-americanas- socieda-
des imperiais, sociedades com Estado- eram tributrias de
uma agricultura que, mais intensiva do que noutros lugares,
no rpor isso de ser, do ponto de vista do seu nvel
tcnico, muito semel.hante agricultura das tribos selvagens
da Floresta Tropical: infraestrutura idntica, superstru-
rtlll18.S diferer1tes, dado que num caso se trata de sociedades
sem Estado, no outro de Estados acabados.
Portanto craramente a ruptura poltica que deci-
siva, e no a mudana econmica. A verdadeira revoluo,
100. prato-histria da humanidade, no foi a do neoltico,
dado que pode deixar intacta a antiga ol'ganizao social, foi
a revoluo poltica, esse espectro misterioso, irreversvel.
mortal para as sociedades primitivas que ns conhecemos
sob o nome de Estado. E se quisermos conservar os con-
ceitos marxistas de infraestrutura e de superstrutura, pre-
ciso aceitarmos reconhecer que a infraestrutura o pol-
tico e que a superstrutura o econmico. Um nico abalo
estrutuml, abissal, pode transformar, deStruindo-a enquanto
tal, a sociedade !primitiva: o que faz surgir no seu seio,
ou do exterior, aquilo cuja ausncia define esta socie-
dade, a autoridade da hierarquia, a relao de poder, a
sujeio dos homens, o Estado. Seria vo procurar a sua
origem numa hipottica modificao das relaes de produ-
o na sociedade primitiva, modificao essa que, dividindo
pouco a pouco a sociedade em ricos e pobres, e
explorados, conduziria mecanicamente instaurao de um
rgo de exerccio do poder dos primeiros sobre os segundos,
ao aparecimento do Estado.
Hipottica, essa modificao da base econmica. , mais
ainda do que isso, impossvel. Para que numa dada sociedade
0
regime de produo .ge transforme no sentido de uma maior
intensidade de trabal!ho com vista ao aumento da produo
196
de bens, preciso ou que Os homens dessa sociedade desejem
essa transformao do seu gnero de vida tradicionail, OIU
ento que, no a desejando, a ela se vejam obrigados por uma
violncia exterior. No segundo caso nada resulta da prpria
sociedade, que sofre a agresso de uma fora externa em pro-
veito da qual se vai modificar o regime de produo: tra-
balhar e produzir mais para satis:liazer as necessidades dos
novos senhores do poder. A opresso poltica deternJ.ina, rupela,
permite a e><plorao. Mas a evocao de um tal <<cenrio
no serve para nada, dado que ela coloca uma origem exte-
rior, contingente, imediata, da violncia estatal e no a lenta
realizao das condies internas, scio-econmicas, do seu
aparecimento.
O Estado, diz-se, o instrumento qrue permite classe
domltllante exercer o seu domnio violento sobre as claBses
dominadas. Seja. Para que haja aparecimento do Estado ;
necessrio portanto que, antes dele, haja diviso da sociedade
em classes sociais antagnicas, ligadas entre si por relaes de
explorao. a estrutura da sociedade- a diviso em
classes- deveria preceder o aparecimento da mquina estatal.
Observemos de passagem a fmgilidade dessa 'concepo pura-
mente instrumental do Estado. Se a sociedade organizada
por opressores capazes de explorar os oprimidos porque
essa capacidade de impor a alienao repousa sobre o uso de
uma fora, isto , sobre a prpria essncia do Estado, mooop-
lio da violncia fsim legtima. A que necessidade responderi;t
ento a existncia de um Esta;do, dado que a sua essncia -
a violncia- imanente diviso da socieda;de, dado que
ele est antecipadamente presente na opresso que um grupo
social exerce sobre os outros? Ele no seria mais do que o
intil rgo de uma funo cPreCnchida antes e noutro lugar.
Articular o a!parecimento dia mquina estatal com a
transformao da estrutura social apenas conduz a afastar
o problema do seu aparecimento. Porque preciso ento per-
guntar.ge porque que acontece, no seio de uma sociedade
prinJ.itiva, isto , de uma sociedade no dividida, a nova repar-
197
tio dos homens em domina,ntes e dominados. Qual o motor
dessa transfonnao maior que culminaria na instalao do
Estado? A sua emergncila sancionaria a -legitimidade de uma
propriedadie privada previamente a(!Jarecida, o Estado seria
o representante e o protector dos proprietrios. Muito bem.
Mas por que que deveria aparecer a propriedade privada
num tipo de sociedade que ignora, porque a recusa, a proprie-
dade? Por que que alguns teriam desejado proclamar um dia:
isto meu, e como que os outros deixariam estabelecer-se
assim o germe daquilo que a sociedade primitiva ignora,
a autoridade, a opresso, o Estado? O que se swbe agora das
sociedades primitivas no pennite mais procurar ao nvel
do econmico a origem do poltico. No nesse solo que se
enraza a rvore genealgica do Estado. No h nada, no
funcionamento econmico de uma sociedade primitiva, de uma
sociedade .sem Estado; nada que pennita a introduo da dife-
rena entre mais ricos e maispobres, porque ningum a expe-
rimenta o desejo barroco de fazer, possuirr, ou parecer mais do
que o seu vizinho; A capaCidade, igual para todos, de satis-
fazer as necessidades materiais e a -troca dos bens e servios,
que impede constantemente a acumulao privada dos bens,
tornam simplesmente impossvel a ecloso de um tal desej.J,
desejo de posse que de facto desejo de poder. A sociedae
primitiva, primeira sociedade de abundncia., no deixa tugar
ao desejo de superabundJncia.
As sociedades primitivas so sociedades sem Estado por-
que o Estado impossvel entre elas. E no entanto todos o
povos civilizadOs foram no principio selvcagens: o que que
fez com que o Estado deixasse de ser impossvel? Porque
que os povos deixaram de ser selvagens? Que formidvel
acontecimento, que revoluo deixou surgir a figura do Ds-
pota, daquele que comanda aqueles que obedecem? De onde
vem o poder poltiCo? Mistrio, provisrio talvez, da origem.
Se parece ainda impossvel detenninar as condies do
aparecmoocto do Estado, podemos em contrapartida preCisar as
oondies do seu no wparecimento, e os textos que foram
198
aqui reunidos tentam perceber o espao do poltico nas socie-
dades sem Estado. Sem f, sem lei, sem rei: o que no sculo
XVI o Ocidente dizia dos ndios pode estender-se sem difi-
culdade a toda a sociedade primitiva. Pode ser mesmo esse
o critrio da distino: uma sociedade primitiva se lhe
fllillta o rei, como fonte legitima da -lei, isto , a mquina
estatal. Inversamente, toda a sociedade no primitiva uma
sociedade com Estado: pouco importa o regime scio-econ-
mico em vigor. I!: por isso que se pode reagrupar numa nica
classe os grandes despotismos arcaicos -reis, imperadores
da China ou dos Andes, faras -, as monarquilliS mais recentes
- L''Stat c'est moi- ou os sistemas sociais contemporneos,
quer o c.apita;lismo seja liberal, como na Europa ocidental,
ou de Estado com noutros lugares ...
No h pois rei na tribo, nias um chefe que no um chefe
de Estado. Que que isso significa? Simplesmmte que o chefe
no dispe de autoridade alguma, de qualquer poder de coero,
de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe nO um coman-
dante, .as pessoas da tribo no tm nenhum dever de obedecer.
O espao a chefia no o lugar do poder, e a figura (muito mal
designada) do C'hefe selvagem no prefigura em nada a de um
futuro dspota. No certamente da chefia primitiva que se
-pode deduzir o ,aparelho estatal em geral.
Em que que o chefe da tribo no prefigura o chefe de
Estado? Por que que uma tal antecipao do Estado impos-
svel no mmtdo dos selvagens? Esta descontinuidade radical
-que torna impensvel Ulia passagem progressiva da chefia
primitiva mquina estatal- funda-se naturalmente sobre
esta relao de exclus,o que coloca o poder poltico no exte-
rior da chefia. O que se trata de pensar um chefe sem poder,
numa instituio, a c h e f ~ . estranha essncia desse poder,
a autoridade. As funes do chefe, tais como foram analisadas
mais 8!Cima, mostram claramente que no se trata de funes
de autoridade. Essencialniente encarregado de resOilver os con-
flitos que podem surgir entre indivdoos, famlias, linhagens,
etc., ele no dispe, para restabelecer a ordem e a concrdia,
199
seno do prestigio que lhe reconhecido pela sociedade. Mas
prestgio no significa poder, bem entendido, e os meios que
o chefe detm para cumprir a sua tarefa de pacificador limi
tam-/Se ao uso exclusivo da pa1avra: nem sequer quando se
trata de arbitrar entre as partes opostas, uma vez que o ch8fe
no um juiz, ele se pode permitir tomar partido por uma
ou por outra; armaJdo apenas com a sua eloquncia, tenta
persuadir pessoas da necessidade de se acalmarem, de
renunciarem s injrias, de imitarem os seus .antepassados, que
sempre vive!'am no bom entendimento. Empresa que nunca
est segura do seu sucesso, aposta sempre incerta, porque
a palavra do chefe ru.o tem fora de lei. Se o esforo de per-
suaso falha, ento o conflito arriscase a ser resolvido na vio-
lncia, e o prestgio do chefe pode muito bem no lhe sobre-
!viver, dado que deu provas da sua impotncia em realizar
aquilo que se espera dele.
Em que que a tribo reconhece que tal homem digno
de ser um chefe? No fim de contas, na sua competncia
<<tcnica: dons oratrios; habilidade como caiador, capacidade
de cooroenar as actividades guerreiras, ofensivas ou defensivas.
E de modo algum a sociedade deixa o chefe passar para J
desse limite tcnico, ela nunca permite que uma superioridade
tcnioo se transforme em autoridade poltica. O chefe est
a;o servio da sociedade, a sociedaide em si mesma- ver-
dadeiro lugar do poder- que exerce como tal 1a sua autoridade
sobre o chefe. :e por isso que impossvel p.a11a o chefe in-
verter essa relao em seu proveito, pr a sociedade ao seu
.prprio servio, exercer sobre a tribo o que se chama poder:
nunca a .sociedade primitiva tolerar que o seu chefe se trens-
forme em dspota.
Alta vigilncia de algum modo, a que a tribo submete
o chefe, prisioneiro num espao donde ela no o deixa sair.
Mas ter ele realmente desejo de sair? Ser que a;contece
que um chefe deseje ser chefe? Que ele queira substituir
o servio e o interesse do grupo pela realizao do seu
prprio desejo? Qne a satisfao do seu interesse pessoal
200
ultmpasse a submisso ao projecto colectivo? Em vil'tude
do estreito controle a que a sociedade- pela sua natureza
de sociedade :primiJtiva e no, evidentemente, por preocupao
consciente e deliberada de vigilncia- submete, como a tudo
o resto, a prtica do lder, raros so os casos de chefes colo-
ca;dos em situao de .transgredir a lei primitiva: tu no s
mais do que os 'outros. So raros certo, ma;s no inexistentes:
acontece por vezes que um chefe quer fazer de chefe, e no
tanto por cJculo maquiavlico mws antes porque em defini-
tivo no tem escolha, no pode fazer de outro modo. Expli-
quemo-nos. Regra um chefe no tenta (nem sequer
pensa nisso) subverter a relao normal (conforme s normas)
que mantm com o seu grupo, subverso que, de servidor da
tribo, faria dele o seu senhor. Essa relao no=al, o grande
cacique Alaykin, chefe de guerra de uma itribo abipone do
Ohaco argentino, definiua perfeitamente na resposta que deu
a um oficirul espanhol que queria convenc..Qo a envolver "l
sua tribo numa guerra que ela no desejava: s Abipones,
por uma tradio herdada dos seus antepaJssados, fazem tudo
segundo a sua vontade, e nio segundo a do seu cacique. Eu
dirijo-os, mas no poderia prejudicar nenhum 'dos meus sem
me prejudicar a mim prprio; se utilizasse as ordens ou a
fora com os meus companheiros, ra-pidamente eles me vol-
tariam as costas. Prefiro ser a;mado a ser temido por eles.
E no tenhamos dvidas, a m:aior parte dos chefes lndios
teriam tido o mesmo discurso.
H no enta!nto excepes, quase sempre ligadas guerra.
SaJbe-se com efeito que a preparao e a conduo de uma expe-
diio militar so lllS nicas circunstncias em que o chefe
encontra possibilidade de exercer um mnimo de autoridade,
fundada apena;s, repitam(>'lo, na sua competncia tcnica de
guerreiro. Uma vez as coisas terminada;s, e qualquer que seja
o resu[tado do combate, o chefe de guerra torna a ser um
'Chefe sem poder, em caso algum o pl'estgio consecutivo
vitria se tra;nsforma em 1autoridade. Tudo se joga precisa-
mente sobre essa separao mantida pela. sociedade entre poder
201
e prestgio, entre a glria de um guerreiro veDJCedor e o
comando que lhe proibido exercer. A merhor fonte para
matar a sede de preSitgio a um guerreiro a guerra. Ao
mesmo tempo, um chefe cujo prestgio est ligado guerra
no pode conserv-lo e refor-lo seno na guerra: uma
espcie de empurro que faz com que ele queira organizar
incessantemente elOIJedies gUerreiras, das quais conta reti-
rar os benefcios (simblicos) inerentes vitria. Enquanto o
seu desejo de guerra corresponder vontade geral da tribo,
em palrticular dos jovens, para. quem a guerra tambm
o principal meio de adquirir prestgio, enquanto a VQilltade
do chefe no ultrapassar a d. sociedade, as relaes habi-
tuais entre a segunda e o primeiro mantm-se imutveis.
Mas o rtseo de u1trapassa;gem do desejo da sociedade pelo
do seu chefe, o risco para ele de ir alm diaquHo que deve,
de sair do estrito Umite que compete sua funo, esse risco
permanente. O chefe rpor vezes a:ceita corr-lo, tenta impr
tribo o seu projecto individual, tenta substituir o seu inte-
resse individual ao interesse colectivo. Irnvertendo a relao
normal que determina o Uder como um meio ao servio de um
fim socialmente definido, ele .tenta fazer da Sociedade o meio
de rea;lizar um fim puramente privado: a tribo ao servio do
chefe, e nJro mwis o chefe ao servio da tribo. Se isso funciO'-
nasse, ento seria essa a terra nattal do poder po.Jtico, como
obrigao e violncia, e ter-se-ia a primeira incarnao, a
figura mnima do Estado. Mias isso nunca acontece.
Na muito bela narrao dos vinte anos que passou entre
os Yanomami ', Elena Valero fala longamente do seu p!l'imeiro
marido, o Uder gUerreiro Fousiwe. A sua histria ilustra per-
feitamente o destino da chefia selvagem quando esta , pela
fora das circunstncias, levada a transgredir a lei da so'Cie-
dade primitiva que, verdadeiro lugar do poder, recusa sepa-
rar-se dele, recusa deleg-io, Fousiwe portanto reconhecido
Como chefe pela sua tribo por causa do prestgio que adqui-
' E. Blocoa, Yanoama., Plon, 1969.
202
riu como organizador e condutor de raids vitoriosos contra os
grupos inimigos. Ele dirige por conseguinte guerras desejadas
pela sua tribo, pe ao servio do seu grupo a sua competncia
tcnica de homem de guerra, a sua coragem, o seu dinamismo,
ele um instrumento eficaz da sua sociedade. Mas a infelicidade
do guerreiro selvagem quer que o prestgio adquirido na guerra
se perca rapidamente, se as sua:s fontes no forem constante-
mente renovadas. A tribo, para quem o chefe no mais do
que um instrumento a;pto rpa;ra realizaT a 'sua vontade, facil-
mente esquece as vitrias passadas do chefe. Para ele nada
est adquirido em definitivo, e se ele quer restituir s pessoas
a memra to facilmente perdida do seu prestgio e da sua
glria, no somente exa1tando a;s suas antigas proezas que
o conseguir, mas !antes suscita;ndo a ocasio de novos fei:tos
de armas. Um guerreiro no tem escolha: est condenado a
desejar a guer.-a. :m exactamente a que se encontra o con-
senso que o reconhece como chefe. Se o seu desejo de guerra
coincide com o desejo de guerra da sociedade, esta continua a
segui"lo. Mas, se o desejo de guerra do chefe tenta sobrepor-se
a uma sociedade animada pelo desejo de p a z ~ c o m efeito
nenhuma sociedade deseja estaa- Sl?ln'[YT"e em gUerra-, ento a
relao entre o chefe e a tribo inverte-se, o lder tenta utilizai
a sociedade como instrumento do seu objectivo individu!!il.
como meio do seu fim pessoal. Ora, preciso no o esqueceT,
o chefe primitivo um chefe sem poder: como poderia ele
impr a iei do seu desejo a uma sociedade que o recusa? Ele
simultaneamente prisioneiro do seu desejo de prestigio e
da sua impotncia para o rea;lizar. Que pode passar-se ento?
O gueneiro votado solido, a esse combate incerto que
no pode seno conduzi-lo morte. Foi esse o destino do
,guerreiro sul-americano Fousiwe. PoT ter querido impr aos
seus uma gtte11ra que n:o desejavam, viu-se aba;ndonado pela
tribo. Nada mais lhe restou do que levar a cabo sozinho essa
guena, e morreu crivado de flechas. A morte o destino d
guerreiro, porque a sociedade primitiva funciona de tal modo
que no .deixa substituir o desejo de '{YT"estgio pew 'f!Onta,de de
203
poder. Ou, por outras palaVTas, na sociedade primitiva, o chefe,
como poss]bilidade de vontade de poder, est partida conde-
nado morte. O poder poltico separado impossvel na
sociedade primitiva, no h lugar, no h vazio que o Estado
possa vir preencher.
Menos trgica na sua concluso, mas muito semelhante
no seu desenvolvimento, a histria de um outro lder indio,
infinitamente m1llis clebre do que o obscuro gueiTeiro ama-
znico, dado que se trata do famoso chefe a-pache Geronimo.
A leitura das suas memrias', se bem que recolhidas de um
modo muito ftil, revela-se muito mstrutiva. Geronimo no
passava de um jovem guerreiro como os outros quando os
soldados mexicanos atacaram o acampamento da sua tribo
e fizeram um massacre de mulheres e de crianas. A famlia
de Geronimo foi inteiramente exterminada. As diversas tribos
apaches fizeram uma aliana para se vingarem dos assassinos
e Geronimo foi encarregado de conduzir o combate. Sucesso
completo para os Apaches, que aniquilaram a guaJmio mexi-
cana. O prestgio guerreiro de Geronimo, principal respons-
vel pela vitria, foi imenso. E a partir desse momento as coisas
mudam, algo se passa com Geronimo, algo no corre bem.
Porque se, .para os Apaches, satisfeitos com uma vitria
que realiza perfeitamente o seu desejo de vingana, a ques-
to est de algum modo arrumada, Geronimo no v as
coisas da mesma maneira: quer continuar a vingar-se dos
Mexicmos, pensa que insuficiente a derrota sangrenta
imposta aos soLdados. Mas no pode, como evidente, ir ata-
car sozinho as aldeias mexicanas. Ento tenta convencer os
seus a voltar a partir em expedio. Em vo. A sociedade
apache, uma vez atingido o objectivo colectivo- a vingana
-laiSipira ao repouso. O objectivo de Geronimo pois um objec-
tivo individurul, para Cuja realizao quer encaminhar a tribo.
Quer fazer da tribo o instrumento do seu desejo, ele que
foi, algum tempo antes, em virtude da sua competncia como
1
Mmolres de GroniJno, Maspero, 1972.
guerreiro, o instrumento da tribo. Bem entendido, os Apaches
n=a quiseram seguir Geronimo, ml como os Yanomami se
recusaram a seguir Fousiwe. Quando muito o chefe apache
conseguia (por vezes custa de mentiras) convencer alguns
dos jovens da sua tribo vidos de glria e de despojos. Para
uma destas expedies o exrcito de Geronimo, herico e
irrisrio, compunha-se de dois homens! Os Apa:ches que, em
funo das circunstncias, ace]tavam a liderana de Geronimo
pela sua habilid8Jde de combatente, voltavam-lhe sistemati-
camente as costas quando ele queria levar a cabo a sua guerra
pessoal. Geronimo, ltimo grande chefe de guerra norte-
-americano, passou trinta anos da sua vida a querer fazer
de chefe, e nunca o conseguiu ...
A propriedade essencial (que diz respeito essncia)
da sociedade primitiva ela exercer um poder absoluto e
completo sobre tudo o que a compe, e proibir a auto-
nomia de qualquer um dos sub-conjuntos que a constituem,
manter todos os movimentOs internos, conscientes e in-
conscientes, que ailimentam a vida social nos limites e na
direco desejados pela soCiedade. A tribo manifesta entre
outras (e pela violncia se necessrio for) a sua vontade de
preservar esta ordem social primitiva, a emer-
gncia de um poder poltico individual, central e separado.
Porta-nto, sociedade a que nada esc31pa, que no deixa sair
nada para fora de si mesma, porque todas as sadas esto
fechadas. Sociedade que, por conseguinte, deveda eterna:me.'lte
reproduzir-se sem que nada de substancirul a afectasse atravs
dos tempos.
H no entanto um campo que, ao que parece, escwpa,
pelo menos em parte, oo controle da Rociedade, que um
fluxo ao qual ela parece no poder impr seno uma Codi-
ficao imperfeita: trata-se do domnio demogrfico, domlnio
regido por regras culturais, mas tambm por leis naturais,
espao de desenvolvimento de uma vida enraizada ,ao mesmo
tempo no social e no biolgico, lugar de uma <<mquina>> que
205
funciona talvez segundo uma mecnica prpria e que estaria,
por consegui.nrte, fora do alcance do sociaL
Sem pensar em substituir um determinismo econmico por
um determ!lli.smo demogrMico, . a inscrever nas causas- o
crescimento demogrfico- a necessidade dos efeitos- trans-
fonnao da organizao sociaJ -, foroso no entanto cons-
taltar, sobretudo na Amrica, o peso sociolgico do nmero
da populao, a Cll[lacidade que possui o aumento das densi-
dades em ruba:lar- e reparem que no dizemos destruir- a
sociedade primiltiva. muito provvel, com efeito, que uma
condio fundamental de existncia da sociedade primitiva
consista na fraqueza relativa da sua dimenso demogrfica
As coisrus no podem funcionar segundo o modelo primi-
tivo reno no caso de as pessoas serem pouco numerosas. Ou,
por outras palavras, para que uma sociedade seja [lrimitiva
preciso que ela seja pequena no nmero. E, de facto, o que
se constata no mundo dos Selvagens um exrt:raordinrio frac-
cionamento de naes, tribos, sociedades, em grupos locais
que velam cuidadosamente tpela conservao da sua autonomia
no seLo do conjurnto de que fazem parte, i.:ndependentemente
de conclurem aUanas proV"isrias com os vizinhos compac
triotas, se as circunstncias - guerreiras. em par<ticular -
o exigem. Esta atomizao do universo tribal certamente
um meio eficaz para impedir a constituio de conjuntos scio-
-polticos integrando os grupos locais e, para alm disso, um
meio de evitar o aparecimento do Estado que, na sua essncia,
unificrudor.
Ora, preocuprunte constatar que os Tupi-Guarani pare-
cem, na poca em que a Europa os descobre, afastar-se sen-
sivelmente do modelo primitivo hrubituaJ, e em dois pontos
essenciais: a ta:xa de densidade demogrfiow das suas tribos
ou grupos locais ultrapassa nitidamente a das populaes vizi-
nhas; e, por outro lado, a dimenso dos grupos locais no
tem comparao com a das unidades scio-polticas da Floresta
TropicaJ. Bem entendido, as aildeias tupinrumba por exemplo,
que agrwpavam vrios milhares de habitantes, no eram cida-
206
des; mas deixavam igwaimente de pertencer ao horizonte
Clssico da dimenso demogrfica das sociedrudes vizinhas.
Com. bruse na expanso demogrfica e na concentrao da
populao, destaca-se,..,.. facto igualmente pouco lmbitual na
Amrica dos Selvagens, seno na dos Imprios - a evidente
tendncia das chefias para adquirirem um poder desconhecido
nos outros lugares. Os chefE!s tupi-guarani no eram certa-
mente dspotru>, mas j no .eram completamente chefes sem
poder. No este o lugar prprio para empreender a longa e
complexa ta.-efa de analisar a chefia entre os Tupi-Guarani. Que
nos baste simplesmente detE!Ctar, numa ponta da sociedade, se
assim se pode dizer, o crescimento demogrfico, e, na outra
ponta, a Ie!!>ta emergncia qo poder politico. No pertence sem
dvida etnologia (ou pelo menos apenas a ela) o responder
questo das cau.sas da expanso demogrfica numa socie-
dade primitiva. Depende em. contrapartida dessa disciplina a
articulao do demogrfico .e do politico, a anlise da fora
que o primeiro exerce sobre o segundo por intermdio do
sociolgico.
Ao longo deste texto; no deixamos de proclamar a impos-
sibilidade interna do poder poltico seprurado numa sociedade.
rprimitiva, a impossibilidade de 11ma gnese do Estado a partir
do interior da sociedade primitiva. E eis que, segundo parece,
evocamos ns prprios, contraditoriamente, os Tupi-Guamni
como um caso de sociedade priinitiva de onde comearia a
surgir o que se poderia tornar o Estado. Incontestavelmente
desenvolvia-se nessas sociedades um iprocesso, que sem dvida
decorria desde h muito tempo, de constituio de uma
chefia cujo poder poJitico no seria de negligencir.Lr. No pr-
prio perodo em que os cronistas franceses e portugueses
da poca no hesitam em atribuir aos gra:ndes chefes de fede-
raes de tribos os ttulos de reis da. provncia ou Sobera-
nos. Este processo de transformao profunda da sociedade
tupi-guarani encontrou ,uma interrupo brutal com a chegad&
dos europeus. Significar isto que, se a descoberta do Novo
Mundo tivesse sido feita um sculo mais tarde por exemplo,
-;-
uma formao estatal se teria imposto s tribos indias do
lttoral <brasileiro? sempre fcil, e arriscado, reconstruir
uma histria hipottica. que nada poderta vir desmentir.
Mas, neste caso, pensamos poder responder categoricamente pela
negativa: no foi a chegada dos Ocidentais que cortou pela
raz a emergncia [JlOSBvel do Estado entre os Tupi-Guarani,
mas sim um sobressalto da prpria Sociedade enquanto so-
ciedade primitiva, um sobressalto, uma agitao de algum
modo dirigida, seno el<plicitamente contra as chefias, pelo
menos, pelos seus efeitos, destruidora do poder dos chefes.
Queremos falar deste estranho fenmeno que, desde os 1timos
decnios do sculo XV, agitava as tribos tupiguarani, a
pregao inflamada de certos homens que, de grupo em
grupo, chamavam os ndios a abandonarem tudo para se lan-
arem na procura da Terra. sem Mal, do paraso terrestre.
Na sociedade primitiva, chefia e linguagem esto intrin-
secamente 'ligadas, a pa<lavra o nico [>Oder reservado ao
chefe: mais do que isso ainda, fa1ar para ele um dever.
Mas h uma outra paLavra, um outro discurso, articula;do no
pelos chefes, mas por esses homens que nos sculos XV e XVI
levavam atrs de si os ndios, aos milhares, em loucas migra-
es em busca da ptria dos deuses: o discurso dos karai,
a palavra proftica, paJavra virulenrt,a, eminentemente sub-
versiva, que chamava os ndios a empreender aqui.ilo que
necessrio reconhecer como a destruio da sociedade. O apelo
dos profetas no sentido de se aJbandonar a terra maldita, isto
, a sociedade tal como ela era, para aceder . Terra sem Mal.
a sociedade da felicidade divina, implicava a condenao
morte da estrutura da socieda;de e do seu sistema de normas.
Ora, em relao a esta sociedade impunha-se de um modo
cada vez mais forte a marca da autoridade dos chefes, o peso
do seu poder poltico nascente. Talvez ento tenha algum fun-
damento dizer que se os profetas, surgidos do corao da
sociedade, proclamavam maldito o mundo em que viviam os
homens, porque detectavam a mfelicidade, o maJI, nessa
morte lenta qua;l a emergncia do .poder condenava, a maior
208
ou menor prazo, a sociedade tupi-guarani, enquanto socie-
dade !primitiva, enquaJnto sociedade sem Estado. Dominados
.pelo sentimento de que o velho mundo selvagem tremia nos
seus alicerces, preocupados com o pressentimento de uma
caJtstrofe sciocsmica, os profetas decidirem que era pre-
ciso mudar o mundo, que era preciso mudar de mundo, aban-
donar o dos homens e a;lcanar o dos deuses.
Pa;lavra proftica que permanece viva, tal como o tes-
temunham os rtel<tos Profetas na Selva e Do uno. sem o
mltiplo. Os trs ou quatro mil ndios Guarani que subsis-
tem miseravelmente nas florestas do Pruraguai gozam ainda
da riqueza incomparvel que Ihes oferecem os karai. Elstamos
em crer que estes j no so, como os seus antepassados do
sculo XVI, condutores de tribos, j no mals possvel a
procura da Terra sem Mal. Mas a falta de aco parece ter
permitido uma embriagus do pensa;mento, um aprmundamento
levado sempre mais longe da reflexo sobre a infelicidade
da condio humma. E esse pensamento selvagem, quase ofus-
caJnte pelo seu briiho exceSSivo, diz-nos que o lugar de nasci-
mento do Mal, da fonte da infelicidade, o Uno.
Talvez seja preciso ir um I]JIOUCO mais longe e interrogar-
-se sobre o que que o sbio guarani designa sob o nome
do Uno. Os temas favoritos do pensamento guarani contem-
porneo so os mesmos que inquietavam, h mais de quatro
sculos, 1aque!es a quem j na altuva chamav.am karai, profetas.
Por que que o mundo mau? Que podemos fazer para escapar
ao mal? Questes que ao longo das geraes estes ndios no
deixam de se colocar: os karm de agora obstinam-se pateti-
camente na repetio dos discursos dos profetas de antanho.
Estes sa;biam, portanto, que o Uno o mal, diziam.;no de
aJldeia em aldeia, e as gentes seguiam -nos na procura do Bem,
em busca do no-Uno. Temos portanto, entre os Tupi-Guarani
do tempo das Descobertas, por um lado uma prtica- a migra-
o religiosa- inexplicvel se no quisermos ver nela a recusa
do poder poltico separado, a recusa do Elstado; por outro lado,
um discurso proftico que identifica o Uno como a raz do
14 209
i;-
MaJ! e afil'ma a possibilidade de lhe es<:wpa;r, Em que condieo
ser possvel pensar o Uno? preciso que, de qualquer ma-
neira, a sua presena, odiwda ou desejada, seja visvel. Essa
a razo pela qual julgamos poder detectar, sob a equao
metafsica que iguala o Mal ao Uno, uma oua equao mais
secreta, e de ordem poltica, que diz que o Uno o
O profetismo tupiguarani a tentativa herica de uma soCie-
dade primitiva para abolir o infortnio na recusa, radical do
Uno como essncia universaJ! do Elstwdo. Elsta leitura poltica
de uma constatao metafsic:a deveria ento incitar a, colocar
uma questo, talvez sacrlega: no se,ria possvel submeter
a uma leitura semelhante toda a metafsica do Uno? O que
que se passa com o Uno como Bem, como objecto pre-
ferencial que, desde a sua aurora, a metafsica ocidental des-
tina ao desejo do homem? Fiquemo-nos por esta perturbante
evidnci!a: o pensamento dos profetas selvagens e o dos Gregos
antigos pensam a mesma coisa, o Uno; mas o ndio Guarani
diz que o Uno o Mal, enquanto Herclito diz que ele o
Bem. Em que condies pos8IIJ6l pensar o Uno <XJmo Bem?
Voltemos, para concluir, ao mundo exemplar dos Tupi-
-Guarani. Aqui est uma sociedwde primiti\'a que, atravessada,
ameaada p1a irresistvel ascenso dos chefes, ,suscita em si
prpria e lrberta foras capazes de, mesmo que ao preo de
um quase suDcdio oolectivo, rpr em cheque a dinmica da
chefia, ,cortar rente e pela .-az o movimento que a poderia
ter levado a transformar os chefes em !!'eis portadores de lei.
Por um lado os chefes, por outro e contra eles, os profetas:
tal , !traado segundo as suas linhas essenciais, o qurudro da
sociedade tupi-guarani no fim do sculo XV. E a mquina
proftica funcionava perfeitamente bem, dado que os kara;
eram capazes de levar atrs deles massas surpreendentes de
tndios fanatizados, como hoje se diria, pela voz desses homens,
ao ponto de os ,acompanharem at na morte.
Que quer isso dizer? Os profetas, armados apenas com
o seu logos, podiam determinar uma mobilizao dos ndios,
podiam realizar essa coisa impossvel na sociedade primitiva:
210
unificar na migrao religiosa a diversidade mltipla das tri-
bos. Conseguiam ,realizar, de uma vez s, o programa dos
chefes! 'Armadilha da histria? Fatalidade que apesar de tudo
conduz a prpria sociedade primitiva dependncia? No se
sabe. Mas, em todo o caso, o acto insurre,ccional dos profetas
contra os chefes conferia aos primeiros, por uma estranha
inverso das coisas, infinitamente mais poder do que aquele que
detinham os segundos. Ento, talvez seja preciso rectificar
a ideia da palavra como oposto da violncia. Se o chefe
selvagem obrigado a um dever de palavra inocente, a socie-
dade rprimitiva pode tambm, em 'condies certamente deter-
minwdas, ser levada a pr-se escuta de uma outra palavra,
esquecendo que essa palavra dita como uma voz de comando:
a palavra proftica. No discurso dos profetas repousa talvez
em germe o discurso do poder e, sob os traos exailtados do
condutor de homens que dita o desejo dos homens, dissimula-se
,talvez a figura silenciosa do Dspota.
Palavra proftica, poder dessa pabavra: teriamos a o lu-
gar originrio do poder, o ,comeo do Estado no Verbo? Pro-
fetas conquistadores das almas antes de serem senhores dos
homens? ll'alvez. Mas, at na experincia extrema do profetismo
(povque sem dvida a sociedade tupiguarani tinha atingido,
por 11azes demogrficas ou outras, os limDtes extremos que
determinam uma sociedade como sociedade primitiva), o que
'nos mostram os Selvagens o esforo permanente para impe-
dir os chefes de ser chefes, a recusa da unificao, o tra-
balho de conjurao do Uno, do Estado. A histria dos povos
que tm uma histria , segundo se diz, a histria da luta das
classes. A histria dos povos sem histria , dir-se- pelo
menos com a mesma verdade, a histria da sua luta contra
o Estado.
211
NDICE
CAPITULO I
Coprnico e os Selvagens . .
CAPITULO ll
Troca e Poder: Filosofia da Chefia ndia . .
CAPITULO m
Independncia e Exogamia .
CAPITULO IV
Elementos de Demografia Amerndia
CAPITULO V
O Arco e a Cesta .
CAPITULO VI
De que se Riem os ndios? .
5
25
47
77
99
127
CAPITULO VII
O Dever de Palavra
CAPITULO VIII
Profetas na Selva
CAPITULO IX
Do Uno Sem o Mltiplo
CAPITULO X
Da Tortura nas Sociedades Primitivas
CAPITULO XI
A Sociedade contra o Estado
149
155
165
173
183
Esta edio iof compost3 e impressa.
oa Gr,flc:a Firmeza com sede na
Rua da Boufsta, 302 -Porto, tendo
ficado concluda a Impresso de
3000 a. em 26 de Janeiro de 1979
Potrebbero piacerti anche
- Marketing de AtraçãoDocumento27 pagineMarketing de AtraçãoMarcos Araujo100% (1)
- Aconselhamento PsicologicoDocumento40 pagineAconselhamento Psicologicomaida lucas100% (3)
- MORGANA FIGUEIREDO MEDEIROS - (46726-11301-1-697050) MORGANA FIGUEIREDO MEDEIROS-46726-11300-3-697050TCC POS GRADUACAO - Gestao de PessoasDocumento16 pagineMORGANA FIGUEIREDO MEDEIROS - (46726-11301-1-697050) MORGANA FIGUEIREDO MEDEIROS-46726-11300-3-697050TCC POS GRADUACAO - Gestao de PessoasMiria CastilhoNessuna valutazione finora
- Livro - Os Oliveira Ledo e A Genealogia de Santa Rosa Vol 1Documento226 pagineLivro - Os Oliveira Ledo e A Genealogia de Santa Rosa Vol 1Reginaldo100% (1)
- Semeando o Amor em FamíliaDocumento38 pagineSemeando o Amor em FamílialucasgervasioNessuna valutazione finora
- Slide - TeaDocumento15 pagineSlide - TeaEric Lima100% (1)
- Núcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite Curso de Especialização em Engenharia de Segurança Do TrabalhoDocumento66 pagineNúcleo de Pós-Graduação Pitágoras Escola Satélite Curso de Especialização em Engenharia de Segurança Do TrabalhoWesley CoelhoNessuna valutazione finora
- Matemática AplicadaDocumento34 pagineMatemática AplicadaMaria Helena MacedoNessuna valutazione finora
- Catalago Moto Bomba Branco Bd705 e Bd710Documento4 pagineCatalago Moto Bomba Branco Bd705 e Bd710Fabio MeinerzNessuna valutazione finora
- Manometro de Tubo AbertoDocumento4 pagineManometro de Tubo AbertoLeonardo MardeganNessuna valutazione finora
- Avaliação DIAGNÓSTICA 6 Ano PDFDocumento3 pagineAvaliação DIAGNÓSTICA 6 Ano PDFDeise NavariniNessuna valutazione finora
- Portaria 61 - 2022 - Inutilização PPCIsDocumento3 paginePortaria 61 - 2022 - Inutilização PPCIsPatrick Dipp da SilvaNessuna valutazione finora
- Anexo - 1 - AP - O QUE É DESIGN ORGANIZACIONALDocumento5 pagineAnexo - 1 - AP - O QUE É DESIGN ORGANIZACIONALSaminhoNessuna valutazione finora
- Corpo Do Senhor Siva Composto de MantrasDocumento3 pagineCorpo Do Senhor Siva Composto de MantrasBenjahmin IrieNessuna valutazione finora
- Variação Da Aceleração Da Gravidade Com A Altitude e LatitudeDocumento8 pagineVariação Da Aceleração Da Gravidade Com A Altitude e LatitudeLatícia AraujoNessuna valutazione finora
- Normas Da ABNTDocumento29 pagineNormas Da ABNTCarolineMiguéisNessuna valutazione finora
- É Veneno Ou Remédio - FiocruzDocumento385 pagineÉ Veneno Ou Remédio - FiocruzMarco Aurélio Lessa Villela100% (1)
- Perguntas para Avaliação Do TocDocumento3 paginePerguntas para Avaliação Do TocElizangela LinsNessuna valutazione finora
- Teste de 8º Ano - Texto PoéticoDocumento12 pagineTeste de 8º Ano - Texto Poéticobruno venturaNessuna valutazione finora
- Manual n480d Portuguese PDFDocumento6 pagineManual n480d Portuguese PDFricardoNessuna valutazione finora
- Apostila Técnica Boas Práticas de Operação, Manutenção e Segurança de GuindautosDocumento18 pagineApostila Técnica Boas Práticas de Operação, Manutenção e Segurança de GuindautosArtur JardimNessuna valutazione finora
- O Efeito PênduloDocumento2 pagineO Efeito PênduloJhones ConradoNessuna valutazione finora
- O Que É Literatura Menor - Versão TeoriaDocumento14 pagineO Que É Literatura Menor - Versão TeoriaFábio Leonardo BritoNessuna valutazione finora
- Lei de FourierDocumento6 pagineLei de Fourierfrankfe1Nessuna valutazione finora
- Aula - 5Documento43 pagineAula - 5texugolokuNessuna valutazione finora
- Existencialismo de SartreDocumento2 pagineExistencialismo de SartrePaulo TylerNessuna valutazione finora
- Clube de Arquitetura - Lições de Arquitetura, de Herman HertzbergerDocumento4 pagineClube de Arquitetura - Lições de Arquitetura, de Herman HertzbergerKarliane MassariNessuna valutazione finora
- 39 Concordância Verbal e Nominal - 4Documento4 pagine39 Concordância Verbal e Nominal - 4priscila ribeiroNessuna valutazione finora
- Refrigerador Samsung R55Documento68 pagineRefrigerador Samsung R55Gustavo PaganiniNessuna valutazione finora
- Racismo estrutural e aquisição da propriedadeDa EverandRacismo estrutural e aquisição da propriedadeNessuna valutazione finora
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoDa EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNessuna valutazione finora
- Como ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralDa EverandComo ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralNessuna valutazione finora
- Direito Tributário Objetivo e DescomplicadoDa EverandDireito Tributário Objetivo e DescomplicadoNessuna valutazione finora
- O que é comunismo, capitalismo, esquerda e direita?Da EverandO que é comunismo, capitalismo, esquerda e direita?Valutazione: 4 su 5 stelle4/5 (40)
- Teoria do Direito Contemporânea: Uma análise das teorias jurídicas de Robert Alexy, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Klaus Günther e Robert BrandomDa EverandTeoria do Direito Contemporânea: Uma análise das teorias jurídicas de Robert Alexy, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Klaus Günther e Robert BrandomNessuna valutazione finora