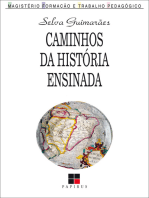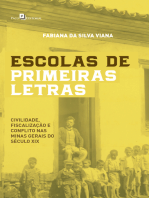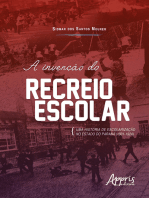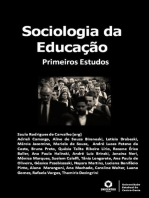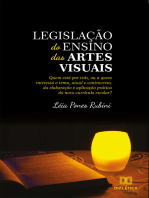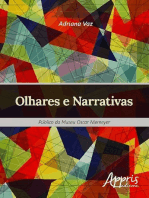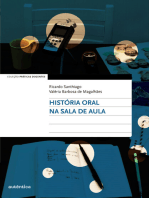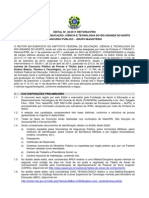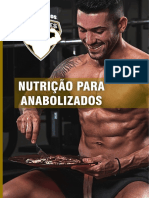Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Saber Historico em Sala de Aula
Caricato da
janioguga100%(2)Il 100% ha trovato utile questo documento (2 voti)
5K visualizzazioni9 pagineTitolo originale
Saber Historico Em Sala de Aula
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
100%(2)Il 100% ha trovato utile questo documento (2 voti)
5K visualizzazioni9 pagineSaber Historico em Sala de Aula
Caricato da
janiogugaCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
O livro O saber histórico na sala de aula (2a ed.
São Paulo, Contexto,
1998) apresenta análises e propostas de autores conceituados que pretendem
contribuir para a necessária reflexão dos professores e pesquisadores sobre
reformulação das políticas públicas de educação e da disciplina de História na
última década que envolvem a redefinição dos conteúdos e dos métodos de
ensino. Estes ensaios procuram, dentro de suas especificidades, identificar
parte dessa problemática – reforma curricular – e apontam para possibilidades
de modificação do fazer histórico na sala de aula na educação básica
brasileira.
A maioria dos artigos selecionados, organizados e publicados pela
pesquisadora na área de história do ensino Circe Maria Fernandes Bittencourt,
da Universidade de São Paulo, foi apresentada em forma de comunicações no
II Seminário Perspectivas do Ensino de História promovido pela Faculdade de
Educação da USP, com o suporte do Núcleo Regional da ANPUH de São
Paulo, realizado em fevereiro de 1996[i]. Devemos ressaltar que estes foram
selecionados dentre uma quantidade vasta e rica de outras produções
debatidas neste seminário[ii].
De acordo com a organizadora, a seleção dos trabalhos feita foi feita a
partir da sua relação com duas temáticas básicas que nortearam o evento:
propostas curriculares e linguagens no ensino de história. Na sua leitura, “a
produção historiográfica e a produção histórica escolar interligam-se em textos
distribuídos nas duas partes desta coletânea. A primeira parte trata da
permanência da disciplina no currículo e sobre sua relevância na formação
política e cultural das novas gerações. A temática da segunda parte refere-se
às necessidades e dificuldades na utilização de diferentes recursos no ensino,
considerando-se as linguagens escritas e iconografias do livro didático, da
literatura, dos objetos, do cinema, da televisão” (p. 08).
Sem almejar ser um guia prescritivo para professores do que se deve
ensinar na sala de aula, este livro apresenta-se com importante instrumento de
apoio para estes profissionais na criação de suas propostas de atividades para
a disciplina no ensino fundamental e médio. A linguagem dos ensaios é bem
clara e objetiva, o que colabora em muito na compreensão das idéias e
sugestões lançadas pelos autores.
O saber histórico na sala de aula dá continuidade e aprofunda uma
discussão muita intensa que remonta aos anos 1970 e 1980 no Brasil sobre a
necessidade de uma revisão nas práticas, métodos e conteúdos da história
ensinada. Neste período percebemos uma maior abertura para questões
ligadas à educação no país, especialmente após o fim da ditadura militar
instaurada desde 1964. Se percorrermos as estantes e prateleiras de livrarias e
bibliotecas, poderemos nos deparar com uma expressiva produção de livros e
artigos em revistas especializadas sobre o assunto. O próprio livro em questão
nos oferece exemplos na suas referências bibliográficas sobre esta produção
com quem dialoga, contrapõe-se, complementa, polemiza, concorda em
diversos aspectos.
Muitas das informações presentes neste livro ajudaram na leitura e
compreensão dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica
lançados pelo Ministério da Educação a partir de 1997. Até porque o referido
livro constitui referência significativa, junto com outras obras, para os autores
da referida proposta curricular[iii].
A primeira parte - Propostas Curriculares - é formada por quatro artigos
que se deterão sobre temáticas como currículos, cidadania, políticas públicas,
formação de professores e cotidiano da sala de aula. Temáticas fundamentais
para compreender as reformas curriculares desenvolvidas pelo governo
federal, de Estados e municípios nas últimas duas décadas no Brasil.
O primeiro artigo – “Capitalismo e cidadania nas atuais propostas
curriculares de História”, de autoria de Circe Bittencourt, com base na análise
de diferentes propostas curriculares elaboradas no país entre 1990 e 1995, tem
a finalidade de perceber o alcance das mudanças e continuidade do saber
histórico escolar contido nesta documentação oficial (currículo ideal) oriunda do
poder educacional e nas possíveis articulações com o chamado currículo real,
vivenciado por professores e alunos na sala de aula. Para nortear seu texto, a
autora destaca dois conceitos fundamentais para entender os currículos
elaborados neste período: capitalismo e cidadania.
Na primeira parte, a autora traz um breve histórico e caracterização
das propostas curriculares analisados, articulado com as transformações
políticas, sociais e culturais vividas pela sociedade brasileira neste momento.
Para Bittencourt, as propostas “caracterizam-se como um conjunto bastante
heterogêneo de textos, com acentuadas diversidades na forma como as
propostas foram elaboradas e apresentadas aos leitores, no elenco dos
conteúdos selecionados e nos métodos de ensino sugeridos” (p. 15).
Na diversidade das propostas analisadas, dois aspectos se destacaram ao
olhar da autora: os objetivos são semelhantes e, igualmente, possuem críticas
comuns quanto ao que denominam de ensino tradicional de História,
notadamente quanto às noções de tempo histórico baseadas em referenciais
considerados oriundos do positivismo. No que concerne aos objetivos do
ensino de história nas propostas curriculares, Bittencourt percebe, na segunda
parte do artigo, uma mudança nos paradigmas que pensam a idéia de
identidade nacional e cidadania no Brasil. Aliás, conceitos como identidade e
diferença parecem ocupar maior destaque no corpo dos referidos textos,
principalmente numa era de cultura globalizada e modificações no estatuto
político, econômico, social e cultural que edificavam o Estado-nação.
Ao propor a formação do “cidadão crítico” como principal meta do
ensino de História as propostas retomam presente nos currículos escolares
desde 1950, ou seja, no período pós-guerra. A inovação, segundo a autora, nas
propostas dos anos 1990 está na ênfase atual ao papel da História ensinada
para a compreensão do “sentir-se sujeito histórico” e em sua contribuição para
“formação de um cidadão crítico”. Devemos ter em mente que a preocupação
com a formação deste novo conceito de sujeito histórico, no caso do Brasil,
está muito influenciado pelas experiências desagradáveis vividas durante os
anos de exceção (1964 e 1984) e também pelas inovações historiográficas
lançadas pela historiografia francesa e britânica com novos problemas,
abordagens e temáticas. Embora abra espaço para a defesa da cidadania
como meta dos objetivos da disciplina, Bittencourt nota que “a explicitação do
conceito de cidadão que aparece nos conteúdos é limitada à cidadania política,
à formação do eleitor dentro das concepções democráticas do modelo liberal”
(p. 21-2). A cidadania social, que abarca conceitos de igualdades, de justiça, de
diferenças, de lutas e conquistas, de compromissos e de rupturas tem sido
pouco explorada e explicitada pela maioria das propostas analisadas. Neste
sentido, a autora sugere que se enfatize e amplie o conceito de cidadania no
interior das propostas curriculares de História.
Na última parte do artigo, a autora identifica que as propostas trazem,
em sua maioria, uma crítica de noções homogêneas do tempo histórico,
determinadas pelo eurocentrismo e sua lógica de periodização fundada no
sujeito histórico Estado-nação. E, nessa perspectiva, propõem-se a trabalhar
com as diferentes temporalidades e diferentes sujeitos. Contudo, há em muitas
delas, mesmo as que propõem uma história com eixos-temáticos, uma
periodização alicerçada e organizada pelo capitalismo.
Dessa maneira, “a questão que decorre desta constatação é, então, a
verificação de como o capitalismo tem se transformado em objeto de estudo no
ensino de História. E, a análise desse processo de produção do conhecimento
histórico escolar é significativo para revelar as clivagens entre os objetivos e a
seleção de conteúdos propostos” (p. 23).
Ao apresentar o tempo capitalismo como referencial para o estudo da
história, Bittencourt alerta para a necessidade de articulação problematizadora
entre o tempo vivido por alunos e professores e tempo histórico. Ao considerar
como pressuposto a afirmação de que toda história é história contemporânea,
“a cultura capitalista vivenciada por alunos e professores torna-se
necessariamente o referencial constante para se estabelecer a relação
presente-passado-presente. Ora, esta relação só se estabelece por intermédio
da compreensão do conceito de duração em seus variados ritmos” (p. 26).
Amparada nesta leitura atenta das propostas curriculares, Bittencourt
lança uma série de apontamentos que poderemos encontrar ecos na própria
estrutura e seleção temática dos PCNs de História. Talvez seja esta a razão do
demorar-se sobre o comentário deste artigo[iv].
No segundo artigo, “Currículo de História e políticas públicas”, Kátia
Abud, da Faculdade de Educação da USP, elabora uma história da disciplina
no Brasil desde os primórdios do Império, passando pela os vários momentos
do regime republicano (Primeira República, Era Vargas, Ditadura Militar entre
outros), até as recentes discussões sobre as reformas curriculares realizadas a
partir de 1980. Neste passeio pela história da História ensinada no país, a
referida autora traz-nos observações sobre debates e polêmicas envolvendo a
construção dos currículos desta disciplina envolvendo intelectuais, políticos,
autoridades governamentais e entidades representativas. Para Abud, os
currículos e programas compõem “o instrumento mais poderoso de intervenção
do Estado no ensino, o que significa sua interferência, em última instância, na
formação da clientela escolar para o exercício da cidadania, no sentido que
interessa aos grupos dominantes. Através dos programas divulgam-se as
concepções científicas de cada disciplina, o estado de desenvolvimento em
que as ciências de referência se encontram e, ainda, que direção devem tomar
ao se transformar em saber escolar. Nesse sentido, o discurso do poder se
pronuncia sobre a educação e define seu sentido, forma, finalidade e conteúdo
e estabelece, sobre cada disciplina, o controle da informação a ser transmitida
e da formação pretendida. Assim, a burocracia estatal legisla, regulamente e
controla o trabalho pedagógico” (p. 28).
Na fala da autora percebemos uma valorização do significado do
currículo dentro das políticas públicas do Estado. E embora ele seja produzido
considerando uma escola ideal, representa uma forma de produção de saber
que será acessível à maior parte da população escolarizada no ensino
fundamental e médio. Em linhas gerais, o currículo é “responsável, em grande
parte, pela formação e pelo conceito de história de todos os cidadãos
alfabetizados, estabelecendo, em cooperação com a mídia, a existência de um
discurso dominante, que formará a consciência e a memória coletiva da
sociedade” (p. 29).
Pautada nesta leitura do currículo, Abud irá se debruçar em
significativos momentos da história política da sociedade brasileira para
evidenciar o papel destes documentos na constituirão da história da disciplina.
Neste sentido, ela encerra sua análise afirmando que as novas propostas de
reformas curriculares, centradas nas instituições federais (MEC), representadas
por documentos como os parâmetros curriculares nacionais e conteúdos
mínimos para todo o país, são exemplos de alijamento dos debates sobre a
educação. Ou seja, os principais sujeitos (professores e alunos) são
“novamente vistos como objetos incapacitados de construir sua história e de
fazer, em cada momento de sua vida escolar, seu próprio saber” (p. 40).
O terceiro artigo - “História, Política e Ensino” – de Maria de Lourdes M.
Janotti, do Departamento de História da FFLCH da USP, alerta para
necessidade de se repensar o papel dos conceitos de política, passado e
memória dentro do ensino de História.
Segundo a autora, a desqualificação do passado, como experiência político-
social, tem sido absorvida até pelos intelectuais mais influentes na sociedade
contemporânea. Não se resumindo apenas ao espaço da sala de aula. Temas
recentes da História Imediata, na sua leitura, são mais privilegiados e acatados
do que o estudo dos acontecimentos passados por importantes setores da
pesquisa e ensino, que pensam, dessa forma, “reagir contra o racionalismo
positivista e marxista, ocultador das descontinuidades. Perigosamente a
memória vem se constituindo na própria História e o passado público tornou-se
objeto de trabalhos fora de moda. A singularidade desse fato é tanto mais
grave, se pensarmos, como Hannah Arendt, que “é na participação da esfera
do político e do público que se realiza nossa condição humana” (ARENDT)” (p.
43).
Em linhas gerais, Janotti desenvolve sua argumentação, num debate
intelectual com autores como Eric Hobsbawm, Hannah Arendt entre outros,
criticando a idéia do presente que se explica a partir de si mesmo. Para ela, o
perigo de ignorar o passado público pode também acarretar a perda de uma
visão dialética da História e da vontade política que leva à crítica e à
construção de projetos futuros. O artigo faz uma defesa da História não como
terreno do interessante, do pitoresco ou do mundo privado enquanto tal, pois
este “cresce em relação direta à redução das atividades da vida privada e á
consciência da cidadania, como tão bem explicou Hannah Arendt, podendo
levar, como o fez nos anos 20 e 30, à privatização do próprio Estado pelas
ditaduras nazi-fascistas. Tal experiência deu-se no Brasil num passado muito
próximo, durante a ditadura getulista e ditadura militar, por mais de quarenta e
cinco anos, neste século” (p. 43).
Contrariando esta tendência do presenteísmo e do esquecimento do
passado, a autora ponta a importância de revisões e estudos historiográficos
realizados no Brasil fundamentais para a mudança do ensino e a pesquisa no
Brasil: “introdução de novos personagens, crítica do saber tradicional e da
História ontológica, maior atenção aos movimentos sociais e à realidade vivida
pelos alunos, crítica ao discurso ideológico moralizante e triunfalista dos livros
didáticos etc.” (p. 45).
Estudos, tanto no âmbito nacional e internacional, têm apontado para
um retorno ao político nos estudos históricos e também uma ampliação do
conceito de política, principalmente no que concerne ao período da História do
Tempo Presente. “Os trabalhos de E. P. Thompson, Maurice Aguilhon, Jacques
Le Goff, Raymond Williams, François Furet e Marc Ferro, entre outros, já
vinham apontando para o alargamento da compreensão do domínio do político
(...) Essa conceituação, emergente da prática historiográfica contemporânea
interdisciplinarizada, procura compreender em um mesmo ato de conhecimento
a longa e a curta durações, bem como o lócus por excelência onde se realiza o
reconhecimento da essência do histórico” (p. 50).
Ao levantar tais preocupações em relação ao estudo da história na
sociedade contemporânea, Janotti parece acreditar que “talvez muito da
indiferença que se nota atualmente pela vida política de nosso país esteja
relacionado ao desprezo do assado de nossa vida pública institucional,
obscurecido pela prioridade da atualidade cotidiana. Sem um conhecimento
sólido do passado, voltado para a ação e para a participação democrática,
somos levados à ignorância e á omissão que permitem total liberdade aos
detentores do poder” (p. 52).
Maria Auxiliadora Schmidt, da Universidade Federal do Paraná, no
quarto artigo intitulado “A formação do professor de História e o cotidiano da
sala de aula” apresenta uma leitura apurada sobre a imagem do professor, sua
formação e prática cotidiana na sala de aula, dentro das discussões em
encontros, congressos, seminários e publicações especializadas. Para
Schmidt, os debates sobre o ensino de História no Brasil têm levado ao
enfrentamento das questões principalmente em duas linhas: modernização dos
currículos de 1o, 2o e 3o graus e a qualificação e atualização de professores de
História. Inúmeros esforços, recursos humanos e financeiros têm sido
dispendidos nesse sentido em diversos Estados brasileiros, por parte de
secretarias de Educação, instituições de ensino superior e de 1o e 2o graus.
Embora não negue os avanços obtidos nestes debates em diferentes espaços,
a autora observa que em termos da prática cotidiana do professor de 1o e
2o graus, ou seja, àquela instância denominada sala de aula, de uma maneira
geral, as mudanças ainda não foram satisfatoriamente sentidas. Um grande
conjunto de variáveis pode ser tido como responsáveis pelo relativo insucesso
da renovação do ensino de História, destacando-se, em especial, o pouco caso
a quem vem sendo submetida a educação por parte das autoridades brasileiras
da educação. É nesse contexto de falta de infra-estrutura e condições
adequadas de trabalho que a autora fala do significado da formação do
professor e do dia-a-dia da sala de aula, do seu dilaceramento, embate e fazer
histórico. As páginas deste artigo que fecham a primeira parte do livro são
inteiramente dedicadas sobre as imagens sobre o ofício do professor de
História principalmente os dilaceramentos vividos desde a formação até a sala
de aula e embates com as péssimas condições de trabalho e desvalorização
profissional. Para reverter este quadro desfavorável, a autora propõe uma
reforma não apenas estrutural do sistema educacional, mas também no que
concerne ao saber-fazer do profissional da História: “O professor de História
pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho necessárias; o
saber-fazer-bem, lançar os germes do histórico. Ele é o responsável por
ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de vista. Ao
professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e a reintegra-los num
conjunto mais vasto de outros problemas, procurando transformar, em cada
aula de História, temas em problemáticas” (p. 57).
A aula de História, nessa perspectiva, é o momento em que, consciente
do saber que possui, o professor pode oferecera seu aluno a aquisição do
saber histórico existente, por meio de um esforço e de uma atividade com a
qual ele retorne a atividade que edificou esse saber. A sala de aula é também
”o espaço em que um embate é travado diante do próprio saber: de um lado, a
necessidade do professor ser o produtor do saber, de ser partícipe da produção
do conhecimento histórico, de contribuir pessoalmente. De outro lado, a opção
de tornar-se apenas um eco do que os outros já disseram” (p. 57).
Para uma nova concepção de fazer do professor de História, a autora
propõe uma revisão e reforma na concepção de fazer histórico e fazer docente.
Um desafio fundamental a ser enfrentado pelos educadores na sala de aula e
na formação deste profissional. Uma formação que vai além dos cursos da
graduação.
A segunda parte – Linguagem e Ensino – é composta de sete ensaios
que abordam os usos de diferentes fontes, métodos e linguagens no ensino de
História. Devemos prestar especial atenção ao destaque dado pelos autores ao
uso de fontes como livros didáticos, pinturas, objetos e artefatos, fotografias,
programas de TV e filmes na sala de aula para a construção do conhecimento
histórico.
O primeiro artigo desta parte, “Livros didáticos entre textos e imagens”,
de Circe Bittencourt, realiza uma leitura apurada sobre o uso de ilustrações nos
livros didáticos de História do Brasil, dando ênfase para a análise de um
conjunto de imagens mais comuns no cotidiano escolar e as de mais fácil
acesso por alunos e professores. Embora a introdução de gravuras e mapas no
ensino de História há cerca de um século, e a multiplicação de imagens
apresentadas atualmente como material didático demonstre a relevância desse
recurso na cultura histórica escolar, a reflexão, segundo a autora, sobre o papel
que efetivamente exercem no processo de ensino aprendizagem é escassa. Ao
longo do artigo Bittencourt analisa as tendências, concepções e
caracterizações sobre os livros didáticos por pesquisadores sobre o assunto
nos últimos anos. Para ela, o interesse que o livro didático suscita e as
polêmicas e discussões que provoca em encontros e conferências tem
demonstrado que é um objeto de múltiplas facetas e possui uma natureza
muito complexa. Após esta reflexão sobre a natureza do objeto estudado, a
autora reconstrói a história da trajetória de algumas ilustrações nas páginas de
livros didáticos clássicos de História adotados no sistema escolar brasileiro no
final do século XIX e início do XX. No final, ela propõe uma leitura crítica sobre
as representações das populações indígenas nas ilustrações dos livros
didáticos. Este exercício de reflexão sobre imagens e texto na construção da
narrativa histórica nos livros didáticos de História constitui-se me fonte
riquíssima de pesquisa e de atividade para o professor realizar em sala de
aula. Segundo Bittencourt, “fazer os alunos refletirem sobre as imagens que
lhes são postas diante dos olhos é uma das tarefas urgentes da escola e cabe
ao professor criar as oportunidades, em todas as circunstâncias, sem esperar a
socialização de suportes tecnológicos mais sofisticados para as diferentes
escolas e condições de trabalho que enfrenta, considerando a manutenção das
enormes diferenças sociais, culturais e econômicas pela política vigente” (p.
89).
“História e Dialogismo”, de autoria de Antonio Terra, inspirado nas
proposições de Mikhail Bakhtin no campo da Lingüística, Filosofia e Literatura,
traz uma nova proposta de uso de diferentes fontes como a pintura nas aulas
de História, ou seja, uma outra possibilidade de estudo utilizando documentos
como recurso didático. Ao propor a leitura de um quadro ou pintura na sala de
aula, Terra defende que “não é apenas o conteúdo que faz uma obra, mas
fundamentalmente a forma como o autor reconstrói o conteúdo e o seu
enunciado (novo contexto), impingindo-lhe os múltiplos diálogos travados com
outros autores, com sua época e outras épocas e, principalmente, a sua
originalidade” (p. 102).
No terceiro artigo, “Por que visitar museus”, de Adriana M. Almeida e
Camilo de Mello Vasconcellos, discute-se as potencialidades educativas dos
museus para a História ensinada. Potencialidade presente no contato de
professores e alunos com a discussão histórica a partir dos objetos, da cultura
material. O artigo começa com uma breve explicação sobre algumas
características dos museus para que, a partir delas, possa perceber as
possibilidades pedagógicas de uma visita. No que diz respeito ao museu, os
autores consideram “o papel do educador e os serviços oferecidos pelo seu
setor educativo” (p. 105). Como exemplo para auxiliar sua argumentação, eles
analisam as atividades educativas desenvolvidas pelo Museu Arqueologia e
Etnologia e o Museu Paulista, ambos da Universidade de São Paulo. E, no
final, apresentam sugestões de como o professor pode proceder ao selecionar
um museu para visitação. Elias Thomé Saliba, do Departamento de História da
FFLCH da USP, analisa no quarto artigo – “Experiências e representações
sociais: reflexões sobre o uso e o consumo das imagens” – os usos e
apropriações das imagens de programas de TV e filmes no ensino de História.
Na era das inovações tecnológicas, o autor dedica especial atenção ao
significado e importância do visual – as imagens – têm na construção do saber
histórico. Este artigo traz reflexões sobre a indústria cultural, mídia, consumo
de imagens e recepção amparados em estudos desenvolvidos por pesquisas
na área nos últimos anos. Michel de Certeau, na sua leitura, configura-se entre
os mais destacados autores que se debruçaram sobre os usos cotidianos da
cultura na sociedade contemporânea. Sua maior contribuição está numa nova
leitura da idéia de recepção – como uma prática ativa e transformadora.
O quinto artigo, “Memória e ensino de História”, de Ricardo Oriá, trata da
importância dos patrimônios culturais (e ambientais) para o ensino de História.
O autor tem o objetivo de discutir questões relacionadas com a possibilidade de
se trabalhar com os bens culturais do patrimônio histórico no processo ensino-
aprendizagem de História, a fim de estimular, nos alunos, o senso de
preservação da memória social coletiva, como condição essencial para a
construção de uma nova cidadania e identidade nacional e plural.
Oriá considera que a escola e, em especial a aula de história, tem um
papel fundamenta nesse processo. É ela, na sua leitura, “o locus privilegiado
para o exercício e formação da cidadania, que se traduz, também, no
conhecimento e na valorização dos elementos que compõem o nosso
patrimônio cultural. Ao socializar o conhecimento historicamente produzido e
preparar as atuais e futuras gerações para construção de novos
conhecimentos, a escola está cumprindo seu papel social” (p. 130).
No sexto artigo, “A televisão como documento”, Marcos Napolitano, do
Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, apresenta uma
análise sobre a necessidade de encarar a TV como elemento chave para a
ampliação das fronteiras do conhecimento histórico.
Napolitano rompe as barreiras do preconceito e das demonizações
sobre a TV e lança um olhar de professor/historiador que a enxerga como rica
fonte de trabalho para as aulas de História e pesquisas acadêmicas. A TV faz
parte do cotidiano da sociedade contemporânea, constituindo num meio de
comunicação de massa extraordinário com alcance mundial. Algo que não deve
ser deixado de lado pelos que se preocupam em pensar o mundo
contemporâneo. Além de uma breve reflexão sobre o fenômeno da TV, o autor
elabora uma proposta bem detalhada de trabalho com programas de TV no
ensino de História.
No início do artigo, autor deixa uma importante observação a ser
levada em consideração para aqueles que se debruçarem sobre proposta de
utilizar este tipo de fonte no ensino de História: “Se o professor optar por
trabalhar com as ”novas” linguagens aplicadas ao ensino de História, ele deve
ter claro que esta “novidade” não vai resolver os problemas didático-
pedagógicos dos eu curso. A incorporação deste tipo de documento/linguagem
não deve ser tomada como panacéia para salvar o ensino de História e torna-lo
mais “moderno”. Muito menos deve ser vista como substituição dos conteúdos
de aprendizado por atividades pedagógicas fechadas em si mesmas. Todo o
cuidado com a incorporação de “novas linguagens” é pouco, principalmente
numa época de desvalorização do conteúdo socialmente acumulado pelo
conhecimento específico” (p. 149).
O último artigo, de autoria de Carlos Alberto Vesentini, intitulado
“História e Ensino: O tema do sistema de fábrica visto através de filmes”, trata
do uso do cinema como fonte para estudo da história da industrialização na
sala de aula.
O autor traz uma proposta de trabalho com filmes para compreender as
interpretações do cinema sobre sistema fabril. Entre os filmes selecionados
para atividades de reflexão com os alunos em sala de aula, Vesentini sugere
“Metrópolis”, de Fritz Lang (1926); “A Nós a Liberdade”, de René Clair (1931);
“Tempos Modernos”, de Charles Chaplin (1936); e “A Classe Operária Vai ao
Paraíso”, de Elio Petri. A partir destas fontes de pesquisa e amparado em
bibliografia de referência sobre o mundo trabalho fabril, ele propõe alguns
temas as serem abordados com os alunos: trabalho coletivo; a organização
espacial; corpo e trabalho; corpo e cotidiano; ciência, técnica, trabalho manual
e trabalho intelectual; alienação no processo de trabalho e proposta política.
Esta segunda parte do livro constitui um belo canteiro de várias
propostas de trabalho que podem ser apropriadas de acordo com os interesses
e necessidades de professores e alunos nas aulas de História. Estas propostas
representam uma parte das muitas experiências que podem ser elaboradas
para a produção do saber histórico na sala de aula.
Potrebbero piacerti anche
- Ensino de História - Tradicional X Emancipador: a quem serve o ensino positivista da história do Brasil?Da EverandEnsino de História - Tradicional X Emancipador: a quem serve o ensino positivista da história do Brasil?Nessuna valutazione finora
- Imprensa Pedagógica na Ibero-América: local, nacional e transnacionalDa EverandImprensa Pedagógica na Ibero-América: local, nacional e transnacionalNessuna valutazione finora
- Educação: do senso comum à consciência filosóficaDa EverandEducação: do senso comum à consciência filosóficaNessuna valutazione finora
- Escolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXDa EverandEscolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXNessuna valutazione finora
- Tempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalDa EverandTempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalNessuna valutazione finora
- Qualidade da educação superior: O Programa ReuniDa EverandQualidade da educação superior: O Programa ReuniNessuna valutazione finora
- Historiografia e história da educação brasileira: ensino, pesquisa e formação docenteDa EverandHistoriografia e história da educação brasileira: ensino, pesquisa e formação docenteNessuna valutazione finora
- Educação x Atraso: Uma análise do legado de Paulo Freire e as reestruturações promovidas no Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro em 2018/2019Da EverandEducação x Atraso: Uma análise do legado de Paulo Freire e as reestruturações promovidas no Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro em 2018/2019Nessuna valutazione finora
- A Invenção do Recreio Escolar: Uma História de Escolarização no Estado do Paraná (1901-1924)Da EverandA Invenção do Recreio Escolar: Uma História de Escolarização no Estado do Paraná (1901-1924)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Educação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaDa EverandEducação como conhecimento do ser humano na era do antropoceno: uma perspectiva antropológicaNessuna valutazione finora
- O Professor Brincante e a Cultura Popular – Saberes e Sabores na arte de ensinar!: A Cultura e o Teatro Popular como mapas para experiências criadoras em Arte e EducaçãoDa EverandO Professor Brincante e a Cultura Popular – Saberes e Sabores na arte de ensinar!: A Cultura e o Teatro Popular como mapas para experiências criadoras em Arte e EducaçãoNessuna valutazione finora
- Estágio Supervisionado E Prática De Ensino Em GeografiaDa EverandEstágio Supervisionado E Prática De Ensino Em GeografiaNessuna valutazione finora
- O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: o conhecimento e o poder (1838-1945)Da EverandO Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: o conhecimento e o poder (1838-1945)Nessuna valutazione finora
- A formação dos professores indígenas suruí no estado de RondôniaDa EverandA formação dos professores indígenas suruí no estado de RondôniaNessuna valutazione finora
- Ensino Médio na Bahia e o Ginásio Ruy Barbosa: Análise Sócio-Histórica da Criação e Consolidação de uma Instituição EscolarDa EverandEnsino Médio na Bahia e o Ginásio Ruy Barbosa: Análise Sócio-Histórica da Criação e Consolidação de uma Instituição EscolarNessuna valutazione finora
- Ensino de História na Escola Pública: Percursos e Práticas de Currículos no Ensino FundamentalDa EverandEnsino de História na Escola Pública: Percursos e Práticas de Currículos no Ensino FundamentalNessuna valutazione finora
- Evasão na EJA: sob o olhar dos alunos de três escolas do AmazonasDa EverandEvasão na EJA: sob o olhar dos alunos de três escolas do AmazonasNessuna valutazione finora
- O currículo e relações de saberes produzidos na Escola em Tempo IntegralDa EverandO currículo e relações de saberes produzidos na Escola em Tempo IntegralNessuna valutazione finora
- Legislação do Ensino das Artes Visuais: quem está por trás, ou a quem interessa o tema, atual e controverso da elaboração e aplicação prática do novo currículo escolar?Da EverandLegislação do Ensino das Artes Visuais: quem está por trás, ou a quem interessa o tema, atual e controverso da elaboração e aplicação prática do novo currículo escolar?Valutazione: 1 su 5 stelle1/5 (1)
- Saber, Poder e Resistência em Discursos Sobre o Professor no BrasilDa EverandSaber, Poder e Resistência em Discursos Sobre o Professor no BrasilNessuna valutazione finora
- Currículo e Prática Docente no Ensino Médio IntegradoDa EverandCurrículo e Prática Docente no Ensino Médio IntegradoNessuna valutazione finora
- Da Trajetória Escolar ao Sucesso Profissional: Narrativas de Professoras e Professores NegrosDa EverandDa Trajetória Escolar ao Sucesso Profissional: Narrativas de Professoras e Professores NegrosNessuna valutazione finora
- Martha Abreu - Ensino de HistóriaDocumento6 pagineMartha Abreu - Ensino de HistóriaRafael Zacca100% (1)
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasDa EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNessuna valutazione finora
- Território e Educação: Desconstruindo a Invisibilidade dos Sujeitos do CampoDa EverandTerritório e Educação: Desconstruindo a Invisibilidade dos Sujeitos do CampoNessuna valutazione finora
- A Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilDa EverandA Construção do Consenso Hegemônico sobre o Programa Nacional do Livro Didático (1995-2016): Estado, Mercado Editorial e Sociedade CivilNessuna valutazione finora
- Gestão do Ensino Religioso no Brasil: Uma Análise do Gênero OpinativoDa EverandGestão do Ensino Religioso no Brasil: Uma Análise do Gênero OpinativoNessuna valutazione finora
- Iniciação Científica em História: Pesquisas no Ensino Médio IntegradoDa EverandIniciação Científica em História: Pesquisas no Ensino Médio IntegradoValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Fernando de Azevedo em releituras: Sobre lutas travadas, investigações realizadas e documentos guardadosDa EverandFernando de Azevedo em releituras: Sobre lutas travadas, investigações realizadas e documentos guardadosNessuna valutazione finora
- A diáspora haitiana entre o local e o global: Territorialidades e reciprocidades na imigraçãoDa EverandA diáspora haitiana entre o local e o global: Territorialidades e reciprocidades na imigraçãoNessuna valutazione finora
- Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos: contribuição à teoria histórico-crítica do currículoDa EverandOs conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos: contribuição à teoria histórico-crítica do currículoNessuna valutazione finora
- Currículo crítico, educação transformadora: políticas e práticasDa EverandCurrículo crítico, educação transformadora: políticas e práticasNessuna valutazione finora
- Por Uma Geopoética da Paisagem na Prática DidáticaDa EverandPor Uma Geopoética da Paisagem na Prática DidáticaNessuna valutazione finora
- Resenha "Bases Da Formação Do Território Do Brasil"Documento3 pagineResenha "Bases Da Formação Do Território Do Brasil"Rodrigo ZimmerleNessuna valutazione finora
- Educação Do/no Campo: Demandas Da Contemporaneidade E Reflexões Sobre A Práxis DocenteDa EverandEducação Do/no Campo: Demandas Da Contemporaneidade E Reflexões Sobre A Práxis DocenteNessuna valutazione finora
- Experiência de ensino de história no estágio supervisionado (V. 4)Da EverandExperiência de ensino de história no estágio supervisionado (V. 4)Nessuna valutazione finora
- Povos indígenas e democratização da universidade no Brasil (2004-2016): a luta por "autonomia e protagonismoDa EverandPovos indígenas e democratização da universidade no Brasil (2004-2016): a luta por "autonomia e protagonismoNessuna valutazione finora
- Histórias românticas na Corte do Brasil Imperial: O romance urbano de José de Alencar (Rio de Janeiro – 1840-1870)Da EverandHistórias românticas na Corte do Brasil Imperial: O romance urbano de José de Alencar (Rio de Janeiro – 1840-1870)Nessuna valutazione finora
- História ensinada, Cultura e Saberes Escolares (Amazonas, 1930-1937)Da EverandHistória ensinada, Cultura e Saberes Escolares (Amazonas, 1930-1937)Nessuna valutazione finora
- As Vozes das Crianças à Luz da Palmeira de Urucuri: Caminhos para a Educação em Ciências na AmazôniaDa EverandAs Vozes das Crianças à Luz da Palmeira de Urucuri: Caminhos para a Educação em Ciências na AmazôniaNessuna valutazione finora
- Experiências da Educação: reflexões e propostas práticas: Volume 6Da EverandExperiências da Educação: reflexões e propostas práticas: Volume 6Nessuna valutazione finora
- Análise Do Livro Didatico.Documento9 pagineAnálise Do Livro Didatico.Nanda FrançaNessuna valutazione finora
- Políticas públicas educacionais no contexto brasileiroDa EverandPolíticas públicas educacionais no contexto brasileiroNessuna valutazione finora
- Educação de Mato Grosso orienta área de Ciências HumanasDocumento143 pagineEducação de Mato Grosso orienta área de Ciências HumanasMatthew HudsonNessuna valutazione finora
- O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos estágiosDa EverandO trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos estágiosNessuna valutazione finora
- Reflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaDa EverandReflexões sobre os modelos de seleção de gestor escolar: Escola públicaNessuna valutazione finora
- As Políticas Educacionais e o Agronegócio FrutícolaDa EverandAs Políticas Educacionais e o Agronegócio FrutícolaNessuna valutazione finora
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsDa EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNessuna valutazione finora
- O Futuro Do Pensamento Na Era Da InformáticaDocumento36 pagineO Futuro Do Pensamento Na Era Da InformáticajaniogugaNessuna valutazione finora
- Monografia de Conclusão Do Curso de Especialização em Audiologia Clínica SOBRE A POLUIÇÃO SONORADocumento25 pagineMonografia de Conclusão Do Curso de Especialização em Audiologia Clínica SOBRE A POLUIÇÃO SONORABobSilvaNessuna valutazione finora
- CONV RRHH (PT)Documento32 pagineCONV RRHH (PT)janiogugaNessuna valutazione finora
- Tipos de BackupDocumento1 paginaTipos de BackupjaniogugaNessuna valutazione finora
- Mendes Redes de AtencaoDocumento554 pagineMendes Redes de AtencaojaniogugaNessuna valutazione finora
- Plano Nacional de EducaçãoDocumento4 paginePlano Nacional de EducaçãojaniogugaNessuna valutazione finora
- Campos Obrigatórios Sinan-Net 07.11.2006Documento3 pagineCampos Obrigatórios Sinan-Net 07.11.2006janiogugaNessuna valutazione finora
- Edital 36 2011Documento52 pagineEdital 36 2011zecnot6227Nessuna valutazione finora
- Aspéctos Motivacionais Na Educação A DistânciaDocumento119 pagineAspéctos Motivacionais Na Educação A Distânciaapi-3748650100% (2)
- Anexo163 00110 3Documento2 pagineAnexo163 00110 3janiogugaNessuna valutazione finora
- Ver e Explorar Páginas Da WebDocumento2 pagineVer e Explorar Páginas Da WebjaniogugaNessuna valutazione finora
- CONV RRHH (PT)Documento32 pagineCONV RRHH (PT)janiogugaNessuna valutazione finora
- Plano Nacional Da EducaçãoDocumento2 paginePlano Nacional Da EducaçãojaniogugaNessuna valutazione finora
- Teclas de Atalhos GeraisDocumento3 pagineTeclas de Atalhos Geraisjanioguga0% (1)
- História Da ParaíbaDocumento106 pagineHistória Da Paraíbajanioguga100% (1)
- Historia Da Paraiba PDFDocumento23 pagineHistoria Da Paraiba PDFDeivison GustavoNessuna valutazione finora
- Flávia Eloisa CaimiDocumento9 pagineFlávia Eloisa CaimijaniogugaNessuna valutazione finora
- Plano Nacional de Educação - Educação - TecnologicaDocumento10 paginePlano Nacional de Educação - Educação - TecnologicajaniogugaNessuna valutazione finora
- Edital 03 Tecnico-SousaDocumento3 pagineEdital 03 Tecnico-SousajaniogugaNessuna valutazione finora
- Art. 37 A 41Documento19 pagineArt. 37 A 41jeffoarleyNessuna valutazione finora
- 107 Conhecimentos EspecificosDocumento3 pagine107 Conhecimentos EspecificosjaniogugaNessuna valutazione finora
- Título Xi Capítulo I Do Código Penal BrasileiroDocumento6 pagineTítulo Xi Capítulo I Do Código Penal BrasileiroMarcílio GuerreiroNessuna valutazione finora
- Históriacultural EducaçãoDocumento13 pagineHistóriacultural EducaçãojaniogugaNessuna valutazione finora
- AsconcepcoesteoricasDocumento5 pagineAsconcepcoesteoricasjaniogugaNessuna valutazione finora
- 055 Prog Provas AtualizadoDocumento11 pagine055 Prog Provas AtualizadojaniogugaNessuna valutazione finora
- Concepção Augusto ComteDocumento17 pagineConcepção Augusto Comtejanioguga100% (2)
- A história da historiografia e suas perspectivasDocumento8 pagineA história da historiografia e suas perspectivasSandra DonnerNessuna valutazione finora
- Moralidade e JustiçaDocumento19 pagineMoralidade e JustiçajaniogugaNessuna valutazione finora
- Ensino história diversidadeDocumento11 pagineEnsino história diversidadeCristiano Rios da SilvaNessuna valutazione finora
- DidaticahistoriaDocumento18 pagineDidaticahistoriaMauricio FragaNessuna valutazione finora
- 01 slides educaçãoDocumento80 pagine01 slides educaçãoRenato RochaNessuna valutazione finora
- Sociedade em rede e fatores-chave para o bem-estar humano segundo CastellsDocumento2 pagineSociedade em rede e fatores-chave para o bem-estar humano segundo CastellsVera OliveiraNessuna valutazione finora
- Alfabetizar Letrando: Relato de Estágio nos Anos IniciaisDocumento30 pagineAlfabetizar Letrando: Relato de Estágio nos Anos IniciaisGraciane Faria100% (1)
- Trigonometria em triângulos retângulosDocumento3 pagineTrigonometria em triângulos retânguloscacbarrosNessuna valutazione finora
- Improvisação para o Teatro PDFDocumento4 pagineImprovisação para o Teatro PDFclownmunidade100% (1)
- Plano de Aula Ing6 09und02Documento22 paginePlano de Aula Ing6 09und02Sil TeixeiraNessuna valutazione finora
- Filme Black ArtigoDocumento18 pagineFilme Black ArtigoTati CoccoNessuna valutazione finora
- Artigo BIS ESCALA DE IMPULSIVIDADEDocumento4 pagineArtigo BIS ESCALA DE IMPULSIVIDADEbarbara-claudiaNessuna valutazione finora
- Perguntas do Coaching para alcançar objetivosDocumento2 paginePerguntas do Coaching para alcançar objetivosRamath LinharesNessuna valutazione finora
- Calçado tipo botina para proteção de pés e pernasDocumento7 pagineCalçado tipo botina para proteção de pés e pernasFabio MachadoNessuna valutazione finora
- NeurontinDocumento84 pagineNeurontinAgostino BurlaNessuna valutazione finora
- Caderno Temático FundamentosDocumento18 pagineCaderno Temático FundamentosSandra GrasielleNessuna valutazione finora
- Contrato de Prestacao de Servico - Reforco EscolarDocumento3 pagineContrato de Prestacao de Servico - Reforco EscolarLeia Princesa100% (1)
- Análise dos dados do Inaf 2011 sobre letramento digital e uso de computadores no BrasilDocumento22 pagineAnálise dos dados do Inaf 2011 sobre letramento digital e uso de computadores no BrasilPolly FreitasNessuna valutazione finora
- Competências Da EBSERH 01Documento58 pagineCompetências Da EBSERH 01DayNessuna valutazione finora
- Atividade Remota 1 SérieDocumento3 pagineAtividade Remota 1 SérieProf Fernando 2EMNessuna valutazione finora
- Livro Do CursoDocumento318 pagineLivro Do CursoCosme SilvaNessuna valutazione finora
- Georg SimmelDocumento3 pagineGeorg SimmelLuciano EmanuelNessuna valutazione finora
- Avaliação Psicologica No Contexto HospitalarDocumento16 pagineAvaliação Psicologica No Contexto HospitalarYuri Martins Maranhão100% (1)
- Projetos PIBIC-EM contemplados bolsa IFGDocumento10 pagineProjetos PIBIC-EM contemplados bolsa IFGMariana PennaNessuna valutazione finora
- Termos estatísticos mais utilizados glossárioDocumento7 pagineTermos estatísticos mais utilizados glossárioDigno da MataNessuna valutazione finora
- Plano Diretor ENEFDocumento0 paginePlano Diretor ENEFFlávio Figueiredo VicenteNessuna valutazione finora
- Plano de Aula de Hidraulica e PneumaticaDocumento2 paginePlano de Aula de Hidraulica e PneumaticawillyanNessuna valutazione finora
- Rubem Alves - Por Uma Educação Romântica (2012, Papirus)Documento103 pagineRubem Alves - Por Uma Educação Romântica (2012, Papirus)Andressa Mayra NunesNessuna valutazione finora
- Normalizacao FAE UEMGDocumento23 pagineNormalizacao FAE UEMGAlessandra VieiraNessuna valutazione finora
- Sistema Braille inventado por Louis BrailleDocumento7 pagineSistema Braille inventado por Louis Brailleelianeferreiradesouz0% (1)
- Lideres de TurmaDocumento19 pagineLideres de TurmaLilian ChamaNessuna valutazione finora
- Nutrição para anabolizados - Necessidade calórica e macrosDocumento50 pagineNutrição para anabolizados - Necessidade calórica e macrosJose Luis SilvaNessuna valutazione finora
- AAP - Língua Portuguesa - 6º Ano Do Ensino FundamentalDocumento16 pagineAAP - Língua Portuguesa - 6º Ano Do Ensino FundamentalEdelvania FernandesNessuna valutazione finora
- A psicogênese da linguagem oral e escritaDocumento11 pagineA psicogênese da linguagem oral e escritaJunior John Erich Da SilvaNessuna valutazione finora