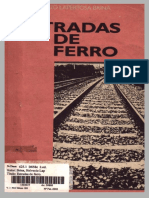Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Apostila Ferrovias
Caricato da
Alessandra RodriguesDescrizione originale:
Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Apostila Ferrovias
Caricato da
Alessandra RodriguesCopyright:
Formati disponibili
Universidade Anhembi Morumbi
Escola de Engenharia e Tecnologia
Engenharia Civil
F
e
r
r
o
v
i
a
s
Professor Celio Daroncho 2 semestre de 2011
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
A
t
e
n
o
2
Ateno
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
n
d
i
c
e
3
ndice
ATENO 2
NDICE 3
LISTA DE FIGURAS 5
LISTA DE TABELAS 6
LISTA DE EQUAES 7
UM BREVE HISTRICO SOBRE AS FERROVIAS 8
A INVENO DA LOCOMOTIVA 9
OS INCENTIVOS DO GOVERNO IMPERIAL 9
A FERROVIA NO BRASIL 10
A PRIMEIRA FERROVIA DO BRASIL 11
FERROVIAS HISTRICAS 11
AS FERROVIAS EM SO PAULO 12
OUTRAS FERROVIAS REGIONAIS 12
O SISTEMA FERROVIRIO NACIONAL 13
A REDE FERROVIRIA FEDERAL S.A. RFFSA 13
A CRIAO DA FEPASA 14
O PROCESSO DE DESESTATIZAO 14
GEOMETRIA DA VIA 16
TRAADO EM PLANTA 17
SUPERELEVAO E VELOCIDADE LIMITE 17
SUPERELEVAO TERICA 17
SUPERELEVAO MXIMA E VELOCIDADE MXIMA DE PROJETO 18
SOBRECARGA NOS TRILHOS 21
SUPERLARGURA 21
CONCORDNCIA HORIZONTAL 22
CONCORDNCIA VERTICAL 22
FUNO E CONSTITUIO DA SUPERESTRUTURA DAS ESTRADAS DE FERRO 23
BITOLAS 25
DISCUSSO SOBRE A BITOLA 27
SUBLASTRO 30
LASTRO 32
DORMENTES 39
DORMENTES DE MADEIRA 40
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
n
d
i
c
e
4
DORMENTES DE AO 41
DORMENTES DE CONCRETO 42
DORMENTES DE PLSTICO 43
TRILHOS 45
SEO TRANSVERSAL DOS TRILHOS 46
DILATAO DOS TRILHOS 48
TALAS DE JUNO ENTRE TRILHOS 49
PLACA DE APOIO 49
ACESSRIOS DE FIXAO 50
APARELHOS DE MUDANA DE VIA AMV 51
CARACTERSTICAS DO ASSENTAMENTO DA LINHA 52
ESFOROS QUE ATUAM SOBRE A VIA 54
COEFICIENTE DINMICO 57
CLCULO DOS MOMENTOS FLETORES 59
LOTAO DE TRENS 63
RESISTNCIA NORMAL (R
N
) 65
RESISTNCIA DE RAMPA (R
R
) 65
RESISTNCIA DE CURVA (R
C
) 66
RESISTNCIA DE INRCIA (R
I
) 66
ESFORO TRATOR 67
EXEMPLO 68
MATERIAL RODANTE E PTIOS FERROVIRIOS 70
MATERIAL RODANTE 71
PTIOS FERROVIRIOS 71
BIBLIOGRAFIA 72
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
i
s
t
a
d
e
F
i
g
u
r
a
s
5
Lista de Figuras
Figura 1 Elementos de uma curva circular sem transio _________________________________________ 17
Figura 2 Esquema fsico para o clculo da superelevao ________________________________________ 18
Figura 3 Esquema para o clculo da superelevao mxima ______________________________________ 19
Figura 4 Esquema para o clculo da velocidade mxima por conforto ________ Erro! I ndicador no definido.
Figura 5 Esquema para o clculo da velocidade mxima por segurana ______ Erro! I ndicador no definido.
Figura 6 Esquema para o clculo da velocidade mnima por segurana ____________________________ 21
Figura 7 Componentes bsicos da plataforma ferroviria. _________________________________________ 24
Figura 8 Detalhamento de alguns elementos da via frrea ________________________________________ 24
Figura 9 Local de medio da bitola ___________________________________________________________ 26
Figura 10 Gabarito do perfil mximo internacional _______________________________________________ 28
Figura 11 Faixa granulomtrica para construo do leito ferrovirio (AREA) _________________________ 35
Figura 12 Curvas de Talbot _________________________________________________________________ 36
Figura 13 localizao do medida c abaixo do dormente __________________________________________ 36
Figura 14 Diagrama para se encontrar a altura do lastro __________________________________________ 37
Figura 15 Seo de um trilho de ao ___________________________________________________________ 41
Figura 16 Viso longitudinal e fixao dos trilhos por castanhas ___________________________________ 41
Figura 17 Placa de fixao do tipo GEO ________________________________________________________ 41
Figura 18 Dormente em concreto protendido ____________________________________________________ 42
Figura 19 Dormente misto ____________________________________________________________________ 43
Figura 20 Dormente misto esquema interno - fixao ___________________________________________ 43
Figura 21 Detalhe da fixao em dormente misto ________________________________________________ 43
Figura 22 Dormente polibroco ________________________________________________________________ 43
Figura 23 Fixao por parafuso em dormente de concreto ________________________________________ 43
Figura 24 - Fixao por castanha em dormente de concreto _______________________________________ 43
Figura 25 Aparncia dos dormentes de plstico _________________________________________________ 44
Figura 26 Trilho duplo T criado por Stephenson _________________________________________________ 46
Figura 27 Trilho tipo Vignole __________________________________________________________________ 46
Figura 28 Determinao do ngulo | __________________________________________________________ 47
Figura 29 Nomenclatura das sees de um trilho ________________________________________________ 47
Figura 30 Esforos atuantes no trilho __________________________________________________________ 47
Figura 31 Dilatao nos trilhos e posio do primeiro furo na extremidade do trilho __________________ 49
Figura 32 Localizao e posicionamento das talas de juno e arruela tipo Grower __________________ 49
Figura 33 Placa de apoio _____________________________________________________________________ 49
Figura 34 Prego de linha, Tirefond e disposio do tirefond no dormente ___________________________ 50
Figura 35 Fixao tipo K ou GEO _____________________________________________________________ 50
Figura 36 Grampo elstico duplo ______________________________________________________________ 50
Figura 37 Grampo elstico simples e Fixao Pandrol ___________________________________________ 51
Figura 38 Funcionamento de um AMV _________________________________________________________ 51
Figura 39 hipteses de carregamento __________________________________________________________ 60
Figura 40 localizao de c e b para a rea de apoio sob o dormente _______________________________ 61
Figura 41 momento fletor 1 hiptese de carregamento de Zimmermann __________________________ 61
Figura 42 momento fletor 2 hiptese de carregamento de Zimmermann __________________________ 61
Figura 43 Esquema fsico de um veculo em uma rampa _________________________________________ 66
Figura 44 Esquema grfico entre Esforo Trator e Velocidade (Porto, 2004) ________________________ 67
Figura 45 Esquema de classificao das locomotivas (Porto, 2004) ________________________________ 68
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
i
s
t
a
d
e
T
a
b
e
l
a
s
6
Lista de Tabelas
Tabela 1 Crescimento da rede ferroviria Brasileira ______________________________________________ 10
Tabela 2 Primeiras ferrovias em bitola larga ____________________________________________________ 11
Tabela 3 Ferrovias concedidas na bitola mtrica ________________________________________________ 12
Tabela 4 A desestatizao das malhas da RFFSA _______________________________________________ 15
Tabela 5 Comparao entre dois vages de minrio. ____________________________________________ 29
Tabela 6 Especificaes da American Railway Engineering Association - AREA _____________________ 34
Tabela 7 Faixa granulomtrica para linha corrida (AREA) _________________________________________ 35
Tabela 8 Tipos e caractersticas dos trilhos utilizados no Brasil ____________________________________ 48
Tabela 9 Exemplos de equaes para clculo do Coeficiente dinmico _____________________________ 58
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
i
s
t
a
d
e
E
q
u
a
e
s
7
Lista de Equaes
Equao 1 Equao desenvolvida por Talbot ___________________________________________________ 35
Equao 2 Equao para clculo das variaes de tenso no lastro (sistema Ingls) _________________ 35
Equao 3 Equao para clculo das variaes de tenso no lastro (SI) ____________________________ 36
Equao 4 Equao para a determinao de P
O
________________________________________________ 36
Equao 5 Equao da AREA para determinao do valor de P ___________________________________ 37
Equao 6 Equao para determinao de C
d
__________________________________________________ 37
Equao 7 Presso admissvel _______________________________________________________________ 37
Equao 8 Transformao CBR_______________________________________________________________ 38
Equao 9 Frmula para clculo de p _________________________________________________________ 38
Equao 10 clculo da folga entre trilhos _______________________________________________________ 48
Equao 11 dimetro dos furos nas extremidades do trilho _______________________________________ 48
Equao 12 Procedimento para o clculo da posio do primeiro furo na extremidade do trilho ________ 48
Equao 13 equao para clculo da presso exercida no lastro __________________________________ 60
Equao 14 equao para o clculo da presso com carga total __________________________________ 60
Equao 15 carga nos dormentes _____________________________________________________________ 60
Equao 16 momento mximo para a 1 hiptese de carregamento ________________________________ 61
Equao 17 - momento mximo para a 2 hiptese de carregamento ________________________________ 62
Equao 18 Equao de equilbrio para lotao de trens (Porto, 2004) __________________________ 64
Equao 19 Equao genrica para clculo das resistncias individuais (Porto, 2004) ______________ 64
Equao 20 Equao de equilbrio para lotao de trens reorganizada (Porto, 2004) _______________ 64
Equao 21 Equao experimental de Davis para locomotivas (Porto, 2004) ________________________ 65
Equao 22 Equao experimental para vages genricos (Porto, 2004) ___________________________ 65
Equao 23 Equao para o clculo da resistncia genrica de rampa (Porto, 2004) _________________ 66
Equao 24 Equao para o clculo da resistncia de rampa (Porto, 2004) _________________________ 66
Equao 25 Equao para o clculo da resistncia de rampa locomotivas (Porto, 2004) ____________ 66
Equao 26 Equao para o clculo da resistncia de rampa vages (Porto, 2004) ________________ 66
Equao 27 Equao para o clculo da resistncia de rampa (Porto, 2004) _________________________ 66
Equao 28 Equao o clculo da potncia (Porto, 2004) ________________________________________ 67
Equao 29 Equao para determinao do esforo trator (Porto, 2004) ___________________________ 67
Equao 30 Equao para determinao da aderncia (Porto, 2004) ______________________________ 67
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
8
CAPTULO 1
Um breve histrico sobre as
ferrovias
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
9
A malha ferroviria brasileira foi implantada com o
objetivo de interligar vrios estados do Pas, principalmente
regies prximas aos portos de Parati, Angra dos Reis e porto de
Santos. Comparando as condies atuais da malha ferroviria
com o perodo anterior desestatizao, os ndices apontam um
crescimento na recuperao da atividade ferroviria no Pas, com
possibilidades de aumento de sua participao na matriz de
transporte, sobretudo a mdio e longo prazo, em funo dos
investimentos feitos pelas empresas concessionrias. Desde
1996, quando iniciou o processo de desestatizao, a quantidade
de carga movimentada nas ferrovias brasileiras aumentou em
cerca de 26%. Os investimentos permitiram um incremento da
produo de transportes em 68% entre 1996 e 2001. As melhorias
decorrentes da desestatizao tm contribudo para reduzir
acidentes nas malhas em funcionamento. No Brasil existem
ferrovias com padres de competitividade internacional, e a
qualidade das operaes permite, por exemplo, a agilidade
desejada para a integrao multimodal. O custo do frete, cobrado
pelas operadoras nas ferrovias, 50% mais barato em relao ao
transporte rodovirio. Alm disso as ferrovias oferecem rapidez e
resistncia a grandes cargas. A alternativa ferroviria, de fato,
importante para operadores que lidam com matrias-primas como
empresas petroqumicas, que alm de perigosas so
transportadas em grandes volumes.Atualmente o sistema
ferrovirio brasileiro apresenta um cenrio evolutivo favorvel. Os
constantes e progressivos investimentos nesse setor, tende a
elevar o potencial de atrao de novos clientes e de ampliao de
sua importncia nos transportes brasileiros (DNIT, 2008.).
A inveno da locomotiva
A Revoluo Industrial, que se processou na Europa e principalmente na Inglaterra a partir do
sculo XIX, surgiu quando os meios de produo, at ento dispersos em pequenas manufaturas, foram
concentrados em grandes fbricas, como decorrncia do emprego da mquina na produo de
mercadorias. Numerosos inventos, surgidos no sculo anterior, permitiram esse surto de progresso. Entre
eles, destacam-se a inveno do tear mecnico por Edmund Cartwright, em 1785, revolucionando a
fabricao de tecidos, e a mquina a vapor por James Watt, aperfeioando a descoberta de Newcomen,
em 1705.
O aumento do volume da produo de mercadorias e a necessidade de transport-las, com rapidez,
para os mercados consumidores, fizeram com que os empresrios ingleses dessem apoio a George
Stephenson (1781-1848), que apresentou sua primeira locomotiva em 1814.Foi o primeiro que obteve
resultados concretos com a construo de locomotivas, dando incio era das ferrovias.
Stephenson, engenheiro ingls, construiu a Locomotion, que, em 1825, tracionou uma composio
ferroviria trafegando entre Stockton e Darlington, num percurso de 15 quilmetros, a uma velocidade
prxima dos 20 quilmetros horrios. Em associao com seu filho, Robert Stephenson, fundou a primeira
fbrica de locomotivas do mundo. Foi ele considerado, ento, o inventor da locomotiva a vapor e construtor
da primeira estrada de ferro.
Ao iniciar-se a segunda metade do sculo XIX, a inveno de Stephenson j se desenvolvia na
Europa e na Amrica do Norte. Pelo menos 3.000 quilmetros de via frrea estendia-se no Velho
Continente e 5.000 nos Estados Unidos.
Os incentivos do governo imperial
No tardou muito para que estas questes relacionadas inveno da locomotiva e construo de
estradas de ferro, fossem conhecidas no Brasil. Pode-se dizer que as primeiras iniciativas nacionais,
relativas construo de ferrovias remontam ao ano de 1828, quando o Governo Imperial autorizou por
Carta de Lei a construo e explorao de estradas em geral. O propsito era a interligao das diversas
regies do Pas.
No que se refere especificamente construo de ferrovias no Brasil, o Governo Imperial
consubstanciou na Lei n. 101, de 31 de outubro de 1835, a concesso, com privilgio pelo prazo de 40
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
10
anos, s empresas que se propusessem a construir estradas de ferro, interligando o Rio de Janeiro, So
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. O incentivo no despertou o interesse desejado pois as
perspectivas de lucro no foram consideradas suficientes para atrair investimentos.
importante destacar que, at a chegada das ferrovias no Brasil, o transporte terrestre de
mercadorias se processava no lombo dos burros em estradas carroveis. Naquela poca, os portos
fluminenses de Parati e Angra dos Reis exportavam cerca de 100 mil sacas de caf, provenientes do Vale
do Paraba. Em So Paulo, anualmente, chegavam ao porto de Santos cerca de 200 mil bestas carregadas
com caf e outros produtos agrcolas.
Em 26 de julho de 1852, o Governo promulgou a Lei n. 641, na qual vantagens do tipo isenes e
garantia de juros sobre o capital investido, foram prometidas s empresas nacionais ou estrangeiras que se
interessassem em construir e explorar estradas de ferro em qualquer parte do Pas.
A ferrovia no Brasil
No Brasil, a primeira tentativa para implantao de uma Estrada de Ferro, deu-se em 1835, quando
o regente Diogo Antnio Feij promulgou uma lei, concedendo favores a quem quisesse construir e explorar
uma Estrada de Ferro ligando o Rio de Janeiro s capitais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. No
houve interesse na ocasio, em to arriscada empresa.
Em 1836, o Estado de So Paulo programou um "Plano de Viao" e concedeu o direito de
construo e explorao a uma companhia, tentativa esta, tambm frustrada.
Em 1840, o mdico ingls, Tomaz Cockrane, obteve concesso para fazer a ligao ferroviria Rio
de Janeiro - So Paulo, com diversos privilgios.
Tambm esta tentativa falhou, pois os capitalistas ingleses, convidados a participar do
empreendimento, no se animaram a investir capital numa empresa de xito duvidoso.
Em 1852, surgiu a figura intrpida de IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA, mais tarde Baro de
Mau, que, quase exclusivamente por sua conta, pois subscreveu a quase totalidade do capital necessrio,
construiu a ligao entre o Porto de Mau (no interior da Baa de Guanabara) e a raiz da Serra (Petrpolis).
Em 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira Estrada de Ferro no Brasil, com 14,5 km de extenso,
percorridos em 23 minutos, ou seja, com a velocidade mdia de 38 km/h. Esse trem foi rebocado pela
locomotiva "Baronesa", cujo nome constituiu uma homenagem a esposa do ento Baro de Mau.
Em 1855 foi organizada a Estrada de Ferro D. Pedro II, que deu origem Estrada de Ferro Central
do Brasil.
Depois da implantao da estrada de ferro no Brasil por Mau, a nossa Rede Ferroviria teve
crescimento conforme o mostrado na Tabela 1.
Tabela 1 Crescimento da rede ferroviria Brasileira
Perodo Extenso (km)
1854 a 1863 428
1864 a 1873 70
1874 a 1883 4.225
1884 a 1893 6.131
1894 a 1903 4.525
1904 a 1913 8.604
1914 a 1923 5.311
1924 a 1933 3.148
1934 a 1943 1.698
1944 a 1953 2.248
Total 36.388
Aps 1953, a Rede Ferroviria do Brasil atingiu 37 200 quilmetros, ficando por muitos anos
estacionada a sua extenso ferroviria.
Atualmente, aps a extino de vrias linhas consideradas anti-econmicas, possu o Brasil 30 550
quilmetros de estradas de ferro, sendo o quarto Pais das Amricas e o segundo da Amrica do Sul, em
extenso de linhas frreas (a Argentina possui cerca de 41 000 quilmetros de ferrovias).
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
11
A primeira ferrovia do Brasil
O grande empreendedor brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, (1813-1889), mais tarde Baro de
Mau, recebeu em 1852, a concesso do Governo Imperial para a construo e explorao de uma linha
frrea, no Rio de Janeiro, entre o Porto de Estrela, situado ao fundo da Baa da Guanabara e a localidade
de Raiz da Serra, em direo cidade de Petrpolis.
O Baro de Mau, patrono do Ministrio dos Transportes, nasceu de famlia humilde, em Arroio
Grande, Rio Grande do Sul. Em 1845, frente de ousado empreendimento construiu os estaleiros da
Companhia Ponta de Areia, em Niteri, iniciando a indstria naval brasileira. Em 11 anos, o estabelecimento
fabricou 72 navios a vapor e a vela. Entusiasta dos meios de transporte, especialmente das ferrovias, a ele
se devem os primeiros trilhos lanados em terra brasileira e a primeira locomotiva denominada Baroneza.
A primeira seo, de 14,5 km e bitola de 1,68m, foi inaugurada por D. Pedro II, no dia 30 de abril de 1854. A
estao de onde partiu a composio inaugural receberia mais tarde o nome de Baro de Mau.
A Estrada de Ferro Mau, permitiu a integrao das modalidades de transporte aquavirio e
ferrovirio, introduzindo a primeira operao intermodal do Brasil. Nesta condio, as embarcaes faziam o
trajeto inicial da Praa XV indo at ao fundo da Baa de Guanabara, no Porto de Estrela, e da, o trem se
encarregava do transporte terrestre at a Raiz da Serra, prximo a Petrpolis. A empresa de Mau, que
operava este servio, denominava-se Imperial Companhia de Navegao a Vapor e Estrada de Ferro
Petrpolis.
A locomotiva Baroneza, utilizada para tracionar a composio que inaugurou a Estrada de Ferro
Mau, continuou prestando seus servios ao longo do tempo e foi retirada de circulao aps 30 anos de
uso. Foi a primeira locomotiva a vapor a circular no Brasil e transformada, posteriormente, em monumento
cultural pelo Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional. Esta locomotiva, por seu importante papel,
como pioneira, constitui pedao da histria do ferroviarismo brasileiro. Foi construda em 1852 por Willian
Fair Bairns & Sons, em Manchester, Inglaterra, fazendo, atualmente, parte do acervo do Centro de
Preservao da Histria Ferroviria, situado no bairro de Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro.
Ferrovias histricas
Aps a inaugurao da Estrada de Ferro Mau, Outras foram construdas, a Tabela 2 mostra estas
ferrovias, todas em bitola de 1,60m.
A segunda ferrovia inaugurada no Brasil foi a Recife-So Francisco, no dia 8 de fevereiro de 1858,
quando correu o primeiro tem at a vila do Cabo, em Pernambuco. Esta ferrovia, apesar de no ter atingido
a sua finalidade o rio So Francisco ajudou a criar e desenvolver as cidades por onde passava e
constituiu o primeiro tronco da futura Great Western.
A Companhia Estrada de Ferro D. Pedro II, foi inaugurada em 29 de maro de 1858, com trecho
inicial de 47,21 km, da Estao da Corte a Queimados, no Rio de Janeiro. Esta ferrovia se constituiu em
uma das mais importantes obras da engenharia ferroviria do Pas, na ultrapassagem dos 412 metros de
altura da Serra do Mar, com a realizao de colossais cortes, aterros e perfuraes de tneis, entre os
quais, o Tnel Grande com 2.236 m de extenso, na poca, o maior do Brasil, aberto em 1864.
Tabela 2 Primeiras ferrovias em bitola larga
Ferrovia Data de Inaugurao
Recife ao So Francisco 08/02/1858
D. Pedro II 29/03/1858
Bahia ao So Francisco 28/06/1860
Santos a Jundia 16/02/1867
Companhia Paulista 11/08/1872
A Estrada de Ferro D. Pedro II, atravs do trabalho dinmico de seus operrios e tcnicos,
transformou-se, mais tarde (1889) na Estrada de Ferro Central do Brasil, um dos principais eixos de
desenvolvimento do pas.
Um dos fatos mais importantes na histria do desenvolvimento da ferrovia no Brasil foi a ligao
Rio-So Paulo, unindo as duas mais importantes cidades do pas, no dia 8 de julho de 1877, quando os
trilhos da Estrada de Ferro So Paulo(inaugurada em 1867) se uniram com os da E.F. D. Pedro II.
A poltica de incentivos construo de ferrovias, adotada pelo Governo Imperial, trouxe algumas
conseqncias ao sistema ferrovirio do pas, que perduram at hoje, tais como:
- Grande diversidade de bitolas que vem dificultando a integrao operacional entre as
ferrovias;
- Traados das estradas de ferro excessivamente sinuosos e extensos;
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
12
- Estradas de ferro localizadas no pas de forma dispersa e isolada.
At o final do sculo XIX, outras concesses foram outorgadas, na bitola mtrica, a Tabela 3
destaca as principais.
Tabela 3 Ferrovias concedidas na bitola mtrica
Ferrovia Data de Inaugurao
Companhia Mogiana 03/05/1875
Companhia Sorocabana 10/07/1875
Central da Bahia 02/02/1876
Santo Amaro 02/12/1880
Paranagu a Curitiba 19/12/1883
Porto Alegre a Novo Hamburgo 14/04/1884
Dona Tereza Cristina 04/09/1884
Corcovado 09/10/1884
Entre as bitolas menores, vale citar a Oeste de Minas, cujo primeiro trecho, de Stio (hoje Antnio
Carlos) a So Joo-Del-Rey, foi aberto a 28/08/1881, com a bitola de 0,76 m.
Dentre as ferrovias citadas, salienta-se a implantao da Paranagu Curitiba, que se constituiu
um marco de excelncia da engenharia ferroviria brasileira, considerado, poca, por muitos tcnicos
europeus, como irrealizvel. A sua construo durou menos de 5 anos, apesar das dificuldades enfrentadas
nos seus 110 km de extenso.Em 17 de novembro de 1883 foi inaugurado para trfeo regular o trecho
Paranagu-Morretes. Esta ferrovia possui 420 obras de arte, incluindo, hoje, 14 tneis, 30 pontes e vrios
viadutos de grande vo, estando o ponto mais elevado da linha a 955 m acima do nvel do mar. Ao trecho
pioneiro da ferrovia juntaram-se outras interligaes que possibilitaram o progresso dos atuais estados do
Paran e Santa Catarina.
Em 1884, concluiu-se a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, pioneira na Provncia de Santa
Catarina, com a extenso de 112 km, originria de uma concesso obtida pelo Visconde de Barbacena,
com o objetivo de trazer o carvo de pedra das minas para o Porto de Imbituba.
As ferrovias em So Paulo
importante salientar que em So Paulo, as estradas de ferro foram decorrncia natural das
exportaes agrcolas. Pode-se afirmar que existe uma relao natural entre a expanso da produo
cafeeira do Vale do Paraba e a construo de estradas de ferro naquela regio. A construo de ferrovias
em So Paulo, iniciou-se aps a primeira metade do sculo XIX, formando verdadeira rede de captao do
caf em direo ao Porto de Santos. De 1867 at a dcada de 1930 existiam 18 ferrovias, sendo que, deste
total, metade, com extenses inferiores a 100 km, serviam de ramais de captao de cargas para as
grandes e mdias companhias, a saber:
- Estrada de Ferro Sorocabana com 2.074 km;
- Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 1.954 km;
- Estrada de Ferro Noroeste do Brasil 1.539km;
- Companhia Paulista de Estradas de Ferro 1.536 km;
- Estrada de Ferro Araraquara com 379 km;
- So Paulo Railway com 246 km, que at a dcada de 1930, consistia na nica ligao
ferroviria do planalto paulista com o Porto de Santos.
Outras ferrovias regionais
Em 17 de novembro de 1903, foi assinado o Tratado de Petrpolis, entre o Brasil e a Bolvia, pelo
qual coube ao Brasil a obrigao de construir a Estrada de Ferro Madeira - Mamor para compensar a
cesso, pela Bolvia, da rea do atual Estado do Acre.
A funo da ferrovia era permitir o transporte em trecho terrestre paralelo s corredeiras do Rio
Madeira, as quais impediam a continuidade da navegao, utilizada para escoar o ltex de borracha,
produzido na regio norte da Bolvia. O traado da ferrovia com 344 km de linha, concluda em 1912, ligava
Porto Velho a Guajar-Mirim, margeando os rios Madeira e Mamor. Sua construo foi uma epopia face
s dificuldades encontradas na selva, pelos tcnicos e trabalhadores, milhares deles dizimados pela malria
e febre amarela.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
13
Outro destaque merece ser dado construo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, citada
anteriormente, iniciada em 16 de julho de 1905, que atingiu Porto Esperana em 1914. Partindo de Bauru,
esta ferrovia atravessava So Paulo e o atual Estado de Mato Grosso do Sul, chegando, at Corumb na
fronteira com a Bolvia, com a construo da ponte ferroviria sobre o Rio Paraguai, em 1947.
No Nordeste do pas, salientam-se dois grandes empreendimentos ferrovirios: a construo das
estradas de ferro Recife ao So Francisco, anteriormente citada, e Salvador ao So Francisco,
posteriormente interligadas e que passaram a integrar a malha ferroviria desta regio, tendo como uma de
suas finalidades o escoamento da produo da indstria canavieira e dos produtos manufaturados
importados.
No Rio Grande do Sul, construiu-se a primeira via frrea, por Lei Provincial de 1867, que autorizava
o Governo a abrir concorrncia para concesso de uma estrada de ferro entre Porto Alegre e So Leopoldo
ou Novo Hamburgo. A empresa concessionria foi autorizada a funcionar em 23 de novembro de 1871,
como Companhia Limitada Estradas de Ferro de Porto Alegre a Nova Hamburgo. Em 14 de abril de 1874
foi inaugurada a seo de Porto Alegre a So Leopoldo, com extenso de 33,75 km.
Em 1884, o pas contava com 6.116 km, alm de 1.650 km em construo. Em dezembro de 1888
existiam 9.200 km em explorao e 9.000 km em construo ou em estudo.
O sistema ferrovirio nacional
Em 1922, ao se celebrar o 1 Centenrio da Independncia do Brasil, existia no pas um sistema
ferrovirio com, aproximadamente, 29.000 km de extenso, cerca de 2.000 locomotivas a vapor e 30.000
vages em trfego.
Destacam-se alguns fatos relevantes para o sistema ferrovirio do pas, ocorridos no perodo de
1922 a 1954, tais como:
- Introduo da trao eltrica, em 1930, para substituir, em determinados, trechos a trao
a vapor;
- Em 1939 ocorreu o incio da substituio da trao a vapor pela diesel eltrica. Este
processo, interrompido durante a Segunda Guerra Mundial, foi intensificado na dcada de
1950.
- Em 1942 foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, que absorveu a Estrada de Ferro
Vitria a Minas (construda a partir de 1903). Esta ferrovia foi ento modernizada com o
objetivo de suportar o trfego pesado dos trens que transportavam minrio de ferro entre
as jazidas de Itabira, em Minas Gerais, e o Porto de Vitria, no Esprito Santo.
O Governo Vargas, no final da dcada de 1930, iniciou processo de saneamento e reorganizao
das estradas de ferro e promoo de investimentos, pela encampao de empresas estrangeiras e
nacionais, inclusive estaduais, que se encontravam em m situao financeira. Assim, foram incorporadas
ao patrimnio da Unio vrias estradas de ferro, cuja administrao ficou a cargo da Inspetoria Federal de
Estradas IFE, rgo do Ministrio da Viao e Obras Pblicas, encarregado de gerir as ferrovias e
rodovias federais.
Esta Inspetoria deu origem, posteriormente, ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER e Departamento Nacional de Estradas de Ferro - DNEF, sendo este ltimo, criado pelo Decreto Lei
n. 3.155, de 28 de maro de 1941. O DNEF foi extinto em dezembro de 1974 e suas funes foram
transferidas para a Secretaria-Geral do Ministrio dos Transportes e parte para a Rede Ferroviria Federal
S.A. RFFSA.
Dentre os objetivos da encampao das estradas de ferro pela Unio podem-se destacar: evitar a
brusca interrupo do trfego, prevenir o desemprego, propiciar a melhoria operacional, objetivando a
reorganizao administrativa e a recuperao de linhas e material rodante.
A Rede Ferroviria Federal S.A. RFFSA
No incio da dcada de 1950, o Governo Federal, com base em amplos estudos decidiu pela
unificao administrativa das 18 estradas de ferro pertencentes Unio, que totalizavam 37.000 km de
linhas espalhadas pelo pas.
Em 16 de maro de 1957 foi criada pela Lei n. 3.115 a sociedade annima Rede Ferroviria
Federal S.A. - RFFSA, com a finalidade de administrar, explorar, conservar, reequipar, ampliar e melhorar o
trfego das estradas de ferro da Unio a ela incorporadas, cujos trilhos atravessavam o Pas, servindo as
regies Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
Em 1969, as ferrovias que compunham a RFFSA foram agrupadas em quatro sistemas regionais:
- Sistema Regional Nordeste, com sede em Recife;
- Sistema Regional Centro, com sede no Rio de Janeiro;
- Sistema Regional Centro-Sul, com sede em So Paulo; e
- Sistema Regional Sul, com sede em Porto Alegre.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
14
No ano de 1976 foram criadas pela RFFSA as Superintendncias Regionais SRs, em nmero de
10, com atividades orientadas e coordenadas por uma Administrao Geral, sediada no Rio de Janeiro. At
sua privatizao e ou terceirizao, possua 23 083 quilmetros, divididos em suas regionais da seguinte
maneira:
a) SR 1
- Superintendncia Regional de Recife:
- Superintendncia de Produo de Fortaleza 1418 Km
- Superintendncia de Produo de Recife 2618 Km
- Diviso Operacional de So Luiz 807 Km
Total da 4843 Km
b) SR 7
- Superintendncia de Produo de Salvador
Total 1900 Km
C) SR 2
- Superintendncia Regional de Belo Horizonte:
Total 4364 Km
d) Subrbio da Grande Rio:
Total 432 Km
e) SR 3
- Superintendncia Regional de Juiz de Fora:
- Superintendncia de Produo de Juiz de Fora 1185 Km
- Diviso Operacional de Campos 1466 Km
Total 2651 km
f) SR 4
- Superintendncia Regional de So Paulo:
- Diviso Especial de Subrbios de So Paulo 177 Km
- Diviso Operacional de Santos 105 Km
- Superintendncia de Produo de Bauru 1613 Km
Total 1895 Km
g) SR 5
- Superintendncia Regional de Curitiba:
Total 3395 Km
h) Diviso operacional de Tubaro
Total 175 km
i) SR 6
- Superintendncia Regional de Porto Alegre:
Total 3430 km
Total da Rede Ferroviria Federal S.A. 23083 km
A criao da FEPASA
Cabe mencionar que, em novembro de 1971, pela Lei n. 10.410/SP, o Governo do Estado de So
Paulo, decidiu unificar em uma s empresa, as cinco estradas de ferro de sua propriedade. Naquela poca,
pertenciam ao Estado a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Sorocabana, Estradas
de Ferro Araraquara, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e Estrada de Ferro So Paulo-Minas. Assim,
em decorrncia dessa juno, foi criada a FEPASA Ferrovia Paulista S.A., para gerir, aproximadamente,
5.000 km de vias frreas.
O processo de desestatizao
De 1980 a 1992, os sistemas ferrovirios pertencentes Rede Ferroviria Federal S.A. RFFSA e
FEPASA Ferrovia Paulista S.A., foram afetados de forma dramtica, quando os investimentos
reduziram-se substancialmente, atingindo, na RFFSA em 1989, apenas 19% do valor aplicado na dcada
de 1980. Em 1984, a RFFSA, encontrava-se impossibilitada de gerar recursos suficientes cobertura dos
servios da dvida contrada. A empresa suportava srio desequilbrio tcnico-operacional, decorrente da
degradao da infra e da super estrutura dos seus principais segmentos de bitola mtrica e da postergao
da manuteno de material rodante, que ocasionaram expressiva perda de mercado para o modal
rodovirio.
Medida de ajustamento institucional foi tomada pelo Governo Federal, com o afastamento da
RFFSA dos transportes urbanos. O Decreto n. 89.396, de 22/02/84, constituiu a Companhia Brasileira de
Transporte Urbano CBTU que ficou responsvel pela prestao daqueles servios. Note-se que estes, na
maioria dos casos, so altamente deficitrios.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
U
m
b
r
e
v
e
h
i
s
t
r
i
c
o
s
o
b
r
e
a
s
f
e
r
r
o
v
i
a
s
15
Na impossibilidade de gerar os recursos necessrios para continuar financiando os investimentos, o
Governo Federal colocou em prtica aes voltadas concesso de servios pblicos de transporte de
carga iniciativa privada.
Foi editada a Lei n. 8.031/90 e suas alteraes posteriores, que instituram o Programa Nacional de
Desestatizao PND, sendo a RFFSA includa no referido Programa, em 10/03/92, por meio do Decreto
n. 473. Neste processo atuou como gestor o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social -
BNDES que, nos termos do Decreto n. 1.024/94, elaborou a forma e as condies gerais para concesso
das malhas da RFFSA.
O processo de desestatizao da RFFSA, foi realizado com base na Lei n. 8.987/95, (Lei das
Concesses). Esta lei estabeleceu os direitos e obrigaes para as partes envolvidas no processo de
concesso, definindo ainda, o princpio da manuteno do equilbrio econmico e financeiro e os direitos
dos usurios. O processo obedeceu cronologia conforme o expresso na Tabela 4
Tabela 4 A desestatizao das malhas da RFFSA
Malhas
Regionais
Data do
Leilo
Concessionrias
Incio da
Operao
Extenso
(Km)
Oeste 05.03.1996 Ferrovia Novoeste S.A. 01.07.1996 1.621
Centro-Leste 14.06.1996 Ferrovia Centro-Atlntica S.A. 01.09.1996 7.080
Sudeste 20.09.1996 MRS Logstica S.A. 01.12.1996 1.674
Tereza Cristina 22.11.1996 Ferrovia Tereza Cristina S.A. 01.02.1997 164
Nordeste 18.07.1997 Cia. Ferroviria do Nordeste 01.01.1998 4.534
Sul 13.12.1998
Ferrovia Sul-Atlntico S.A. atualmente
ALL-Amrica Latina Logstica S/A
01.03.1997 6.586
Paulista 10.11.1998 Ferrovias Bandeirantes S.A. 01.01.1999 4.236
Total 25.895
Fonte: RFFSA e BNDES.
Com o leilo da Malha Paulista (antiga FEPASA incorporada RFFSA pelo Decreto n.
o
2.502, em
18/02/98), concluiu-se o processo de desestatizao das malhas da RFFSA.
O Governo Federal outorgou, em 28/06/97, Companhia Vale do Rio Doce, no processo de sua
privatizao, a explorao da Estrada de Ferro Vitria a Minas e Estrada de Ferro Carajs.
Em 7 de dezembro de 1999, o Governo Federal, com base na Resoluo n. 12, de 11 de novembro
de 1999 do Conselho Nacional de Desestatizao e por intermdio do Decreto n. 3.277, dissolve, liquida e
extingue a Rede Ferroviria Federal S.A. - RFFSA.
Com essas informaes apresentadas de forma abreviada, relataram-se os fatos mais importantes
da histria ferroviria brasileira, desde as primeiras iniciativas do Governo Imperial, no sculo XIX, at os
dias atuais, ressalvando-se que se ocorreu alguma omisso deveu-se limitao do tempo disponvel para
sua exposio.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
16
CAPTULO 2
Geometria da Via
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
17
Quanto a Geometria, uma via frrea muito semelhante a uma rodovia, obviamente os limites so
diferentes, pois em uma ferrovia as curvas devem ser mais abertas e as rampas menos ngremes que em
uma rodovia. Quanto a superelevao, esta deve ser observada com muito mais cuidado em uma, pois na
ferrovia poder haver o tombamento dos trens, devido ao centro de gravidade e as dimenses do mesmo.
Traado em planta
O traado de uma ferrovia em planta segue os mesmos parmetros do traado de uma rodovia,
conforme pode ser visto na Figura 1. Para as curvas ferrovirias, na maioria das vezes, os raios utilizados
so de valores bastante elevados, o que acaba por eliminar a necessidade de uma transio na curva, mas
isso no uma regra geral.
Figura 1 Elementos de uma curva circular sem transio
Fonte: Porto, 2004
Todas as frmulas e asseres feitas em Estradas valem para ferrovias (uma ferrovia no deixa de
ser uma estrada, no caso, estrada de ferro). O que vai diferenciar aqui o raio mnimo, pois o mesmo ser
definido por normas que ponderam a inscrio da base rgida dos truques dos carros e locomotivas, alm,
de obviamente, limitar o escorregamento de ocorrer no contato metal-metal (roda e trilho).
Superelevao e Velocidade limite
Para uma ferrovia, a superelevao consiste na elevao do trilho externo da uma curva, ou seja, o
dormente ser girado, fazendo com que o trilho externo fique mais elevado que o interno. Este
procedimento diminui o desconforto gerado pela mudana brusca de direo, diminui o desgaste, tanto do
trilho quanto da roda, no contato metal-metal e o risco de tombamento devido a gerar fora centrpeta que
ir anular a fora centrfuga que existe nas curvas.
Para a determinao da velocidade mxima de projeto de um determinado segmento que,
possivelmente, possui mais de uma curva, deve-se utilizar o raio da menor curva encontrada, ou seja, da
pior situao possvel.
Superelevao terica
Esta superelevao a calculada com o uso simples das formulaes fsicas, sem levar em
considerao alguns detalhes referentes ao uso e a dinmica de uma linha frrea.
Conforme pode ser visto na Figura 2 ao elevarmos um dos trilhos, um dos lados (externo) ficar
mais alto que o outro, isso far com que as componentes de fora tenham de ser decompostas para gerar
uma nova resultante, lembrando que ao entrar em uma curva qualquer corpo sofre a ao de uma fora
centrfuga que tende a jogar o mesmo para fora da curva, ou seja, sair pela tangente da curva.
Nesta situao teremos a ao da fora centrfuga e da fora peso do veculo que devero ser
equilibradas com a superelevao da curva, isso tudo, obviamente, muito influenciado pela bitola da via
(distncia entre os trilhos uma melhor definio vista na parte especfica sobre bitola).
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
18
Figura 2 Esquema fsico para o clculo da superelevao
Fonte: Porto, 2004
No necessitamos solucionar tudo isso, e sim descobrir o valor da superelevao (h), ou seja, por
enquanto no necessitamos calcular a Fora Resultante (verde) e sim saber o que precisa acontecer para
que as componentes perpendiculares a Fora Resultante e paralelas a Bitola se anulem. Isso que dizer que
precisamos achar um valor que equilibre o veculo na via, conforme demonstrado abaixo.
Componente do peso = Componente da Fora Centrfuga
Sendo muito pequeno teremos
Sendo
Sendo
Sendo h, B e R em metros e V em km/h
Superelevao mxima e Velocidade mxima de projeto
Como a velocidade mxima de projeto de uma via pensada para a situao de trens de
passageiros, os trens de carga (mais lentos e pesados) e mesmo os veculos utilizados para a manuteno
podem ser prejudicados e at mesmo impedidos de circular na via, por questes de segurana, isso se
observarmos somente os trens de passageiros ao fazermos os clculos. Os problemas enfrentados por um
trem de carga (e pela via) em um via calculada com uma superelevao terica, vo desde risco de
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
19
tombamento para o lado interno da curva (pois com velocidade menor teremos um fora centrfuga menor)
at o problema do excesso de desgaste do trilho interno da curva (devido a ao do peso dos veculos)
Assim sendo teremos que a superelevao mxima aquela que impede o tombamento do veculo
para o lado interno da curva, se este estiver parado ou andando muito devagar nela. Desta mesma forma,
teremos que a velocidade de projeto ser aquela na qual o trem consiga transitar por esta via, com esta
superelevao sem ser jogada para o lado externo da curva.
Desta forma teremos de calcular qual a maior inclinao possvel de ser feita em uma via sem que
haja o tombamento do veculo para o lado interno quando este estiver parado, ou com uma velocidade
muito baixa. Para isso precisamos lanar mos dos dados do veculo, como peso, centro de gravidade (CG)
e altura.
Aps termos calculado o valor da superelevao mxima, devemos ento calcular a velocidade
mxima possvel para aquela superelevao. Neste ponto devemos pensar em duas premissas, uma de
conforto e outra de segurana, pois ambas so muito importantes, no devendo dar prioridade a nenhuma
delas e sim a menor dentre elas.
Superelevao Mxima
Por uma via (com exceo das vias dedicadas e exclusivas) costumam passar diversos tipos de
veculos, como veculos de carga, de passageiros, de manuteno e de turismo. Estes veculos podem
desenvolver as mais diferentes velocidades na via, inclusive podendo parar na mesma, desta forma
devemos calcular a maior superelevao possvel para cada veculo e adotamos a menor entre elas, ou, se
no fizermos isso, deveremos sinalizar que em determinada curva a velocidade mnima de transito
diferente de zero (e devemos dar o valor da mesma).
Para o clculo da superelevao mxima faremos uso da formulao abaixo, com base no expresso
na Figura 3. A altura do CG varivel conforme o tipo e as caractersticas do veculos, para locomotivas
diesel-eltricas fica em torno de 1,5 m e para vages fechados plenamente carregados fica em torno de 1,8
m.
Figura 3 Esquema para o clculo da superelevao mxima
Fonte: Porto, 2004
Devemos, neste caso, calcular os momentos (estabilizador e instabilizador) e igualar os dois para
obtermos o equilbrio do veculo.
Momento Estabilizador:
Momento Instabilizador:
Para obtermos o equilbrio, no basta igualar os dois momentos, pois temos de utilizar alguma
segurana, para isso lanamos mo do coeficiente de segurana (n).
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
20
Equilbrio:
Superelevao mxima absoluta:
Superelevao mxima para Conforto:
Superelevao mxima para Segurana:
Velocidade Mxima Conforto
O quesito conforto muito importante para a situao de trens de passageiros, este se deve ao fato
da diferena entre a superelevao terica ser maior que a prtica, ou seja, uma componente de acelerao
no compensada () recair sobre o veculo, componente esta que no deve causar desconforto aos
passageiros. Quanto maior for a diferena entre as superelevaes, pior ser a situao de desconforto.
Assim sendo, devemos encontrar a velocidade mxima que a curva pode ser percorrida com a
superelevao prtica encontrada.
Assim sendo, utilizando-se a frmula da elevao mxima para conforto, teremos:
Com esta frmula podemos obter o valor da maior velocidade possvel de se trafegar na via com
conforto, mas ficamos a merc da componente no compensada (). Esta componente experimental e seu
valor adotado por cada companhia. Alguns valores bsicos para este seriam:
Bitolas mtricas = 0,45 m/s
2
Bitola Internacional = 0,60 m/s
2
Bitola larga = 0,65 m/s
2
O Metr de So Paulo, por sua vez, utiliza valores especficos e obtidos para as suas condies,
que so:
Fixao direta do trilho a estrutura = 0,85 m/s
2
Lastro com dormentes de monobloco = 0,65 m/s
2
Velocidade Mxima Segurana
O quesito segurana importante tanto para trens de passageiros quanto para trens de carga, pois
verifica a possibilidade do veculo ser arremessado para o lado externo da curva, Isso tambm se deve a
uma componente no compensada da acelerao do veculo ().
Assim sendo, utilizando-se a frmula da elevao mxima para segurana, teremos:
B = Bitola
H = altura do CG
d = deslocamento do CG
n = coeficiente de segurana
V = velocidade
h = superelevao
g = acelerao da gravidade
= componente no compensada
R = raio da curva
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
21
Situao para as demais curvas do trecho (Velocidade e Superelevao)
Como teremos duas velocidades, uma por segurana e outra por conforto, utilizaremos sempre a
menor das duas, esta ser a velocidade limite da via, ou seja, nenhum veculo dever trafegar com
velocidade superior a velocidade mxima na via. Isso ocorrera por todas as outras curvas do segmento, ou
seja, curvas que possuem raio maior que o raio utilizado para os clculos. Isso far com que haja uma
diferena na acelerao centrpeta, ou seja, teremos de calcular uma superelevao para cada curva em
funo do raio da mesma pelo processo terico, sendo que o valor no pode ultrapassar a superelevao
mxima calculada aqui.
Velocidade Mnima Segurana
Como vimos anteriormente, existe a situao de um trem ter de trafegar com uma velocidade
bastante baixa em uma curva ou at mesmo de parar na mesma, para isso precisamos verificar se esta
velocidade possvel e se o trem no ir tombar para o lado interno da curva. Para isso utilizamos a Figura
4.
Figura 4 Esquema para o clculo da velocidade mnima por segurana
Fonte: Porto, 2004
Aqui devemos seguir os mesmos passos do clculo da velocidade mxima por segurana e
obteremos:
Sobrecarga nos trilhos
Nas curvas, se no equilibrarmos corretamente a fora centrfuga, acabaremos fazendo com que
um dos trilhos (externo ou interno) sofra sobrecarga. Esta sobrecarga no ocorrer se estivermos utilizando
a superelevao terica e a velocidade for a de projeto.Agora, se utilizarmos a superelevao prtica e o
veculo estiver na velocidade de projeto, o trilho externo ser sobrecarregado, e se estiver abaixo da
velocidade de projeto o trilho interno ser sobrecarregado.
Superlargura
Semelhante a situao rodoviria, mas aqui temos no o problema de projeo sobre a outra faixa,
mas sim de o truque ferrovirio no ficar inscrito nos trilhos. Esta superlargura varia de 1 a 2 cm e insere-se
a mesma com o deslocamento do trilho interno (o trilho externo serve de guia para a roda). A distribuio da
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
G
e
o
m
e
t
r
i
a
d
a
V
i
a
22
mesma pode ser feita antes da curva (circular simples) ou na transio (curva com transio), a taxa de
variao de 1 mm/m (convencional) ou 0,5 mm/m (alta velocidade).
Concordncia horizontal
Como vimos em rodovias as curvas horizontais devem ser concordadas com as tangentes de forma
segura, isso normalmente feito com a insero de uma transio. Para curvas com raios demasiado
grandes, a transio se faz desnecessria (teremos superelevaes muito baixas), para os outros casos, se
no formos inserir a transio teremos de distribuir a superelevao fora da mesma, e isso acarreta alguns
problemas, dependendo da forma como a distribuio feita:
Metade na tangente e metade na curva (problemas divididos)
Total na tangente (o carro ir girar antes da curva desconforto aos usurios)
Total da curva (ir limitar a velocidade)
Tecnicamente falando, nenhuma das hipteses acima vivel, a nica que resolve o problema a
contento a insero de uma transio para que haja a distribuio da superelevao antes da curva e
aps a tangente.
Concordncia vertical
Esta concordncia segue o mesmo princpio do visto para rodovias. O que diferencia aqui so os
tipos de curvas utilizadas par isso, podendo ser curvas circulares (Europa raios de 5.000 a 10.000
metros), elipses ou parbolas cbicas (Brasil e EUA). J nas tangentes, a inclinao no pode ser muito
elevada, pois os veculos so pesados e no venceriam as mesmas, desta forma a inclinao fica sempre
em torno de 1 a 2%.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
F
u
n
o
e
c
o
n
s
t
i
t
u
i
o
d
a
s
u
p
e
r
e
s
t
r
u
t
u
r
a
d
a
s
e
s
t
r
a
d
a
s
d
e
f
e
r
r
o
23
CAPTULO 3
Funo e constituio da
superestrutura das estradas de ferro
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
F
u
n
o
e
c
o
n
s
t
i
t
u
i
o
d
a
s
u
p
e
r
e
s
t
r
u
t
u
r
a
d
a
s
e
s
t
r
a
d
a
s
d
e
f
e
r
r
o
24
A infra-estrutura constituda pela terraplenagem e por todas as obras abaixo do greide de
terraplenagem, a superfcie final chama-se leito ou plataforma da estrada.
O corpo dos aterros a at um metro (1,0 m) abaixo do greide deve ser compactado em camadas,
devendo obter um peso especfico aparente de 95% do peso especifico obtido em laboratrio.
A superestrutura das estradas de ferro constituda pela via permanente, que esta sujeita a ao de
desgaste provocada pelos veculos e pelo tempo. Esta parte deve ser construda de modo a que possa ser
renovada conforme se fizer necessrio.
A via permanente , basicamente, composta por trs elementos, o lastro, os dormentes e os trilhos.
Mas pode, ainda, ser includo nesta composio o sublastro, que fica adjacente a camada fina da infra-
estrutura, mas tem caractersticas especiais que justificam a sua incluso como parte da superestrutura
ferroviria.
As dimenses da plataforma da estrada de ferro so fixadas por normais nacionais e internacionais
e so diretamente dependentes da bitola a ser empregada. Na Figura 5, podemos verificar os elementos
bsicos de uma plataforma ferroviria. Na Figura 6 podemos ter uma viso melhorada e majorada dos
elementos principais que compe a via frrea.
Figura 5 Componentes bsicos da plataforma ferroviria.
Fonte: Brina, 1983.
Figura 6 Detalhamento de alguns elementos da via frrea
Fonte: Porto, 2004.
Trilhos: Formam a superfcie de rolamento para as rodas dos veculos ferrovirios,
recebendo as cargas das rodas e transmitindo-as para os dormentes. Os trilhos so
fabricados em ao-carbono ou ao-liga.
Dormentes: Elementos que suportam os trilhos, permitindo a sua fixao e mantendo
constante a bitola. Os dormentes transmitem a carga recebida das rodas para o
lastro.
Lastro: Camada situada entre os dormentes e o sub-leito ou sub-lastro, que objetiva
distribuir as presses transmitidas pelos dormentes; forma um suporte quase-
elstico, atenuando as trepidaes causadas pela passagem dos veculos; forma
uma superfcie contnua e regular para os dormentes e trilhos; impede o
deslocamento transversal e longitudinal dos dormentes; facilita a drenagem da
superestrutura. O lastro construdo com pedra britada, cascalho, escria
metalrgica, areia ou terra.
Sublastro: a camada correspondente ao reforo do sub-leito e a sub-base dos
pavimentos flexveis, construda quando, por razoes econmicas, deseja-se reduzir
a espessura do lastro. construdo com solo escolhido, compactado, e serve para
impedir a penetrao dos lastro na plataforma, melhorar a drenagem e dar uma
certa elasticidade via permanente.
P
sublastr
o
Lastro
socado
dorment
e
P
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
B
i
t
o
l
a
s
25
CAPTULO 4
Bitolas
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
B
i
t
o
l
a
s
26
Chamamos de bitola a distncia entre as faces internas das duas fileiras de trilhos, esta medida
deve ser feita 12 mm abaixo do plano de rodagem (face superior dos trilhos), conforme demonstrado na
Figura 7.
Figura 7 Local de medio da bitola
Fonte: Brina, 1983.
Em 1907 foi realizada a Conferncia Internacional de Berna, onde foi definida a bitola de 1,435 m
como a bitola padro internacional. Nos dias de hoje, a maioria dos pases adotam esta bitola, mas existem
ainda alguns pases que utilizam bitolas diferentes, por problemas locais ou por questes econmicas e
histricas.
Em praticamente todos os pases que utilizam as ferrovias, diversas bitolas foram empregadas no
decorrer da histria, desde a mtrica (1,0 m) at a extralarga inglesa com 2,14 m. No incio todas as
vantagens eram a favor das maiores bitolas, mas estes detalhes tcnicos construtivos referentes ao material
rodante e propulsor, logo foram sanados.
Vrios destes pases passaram por complicados processos de adoo e converso de bitolas.
Nestes processos entraram interesses comerciais e financeiros tanto dos governos quanto da iniciativa
privada, que na maioria dos casos foi o grande motor da construo frrea.
Bitolas utilizadas (em predominncia) em alguns pases na atualidade:
Itlia 1,445 m
Frana 1,44 m
Espanha 1,674 m
Portugal 1,674 m
Argentina 1,676 m
Chile 1,676 m
EUA 1,435 m
Rssia 1,523 m
Austrlia 1,60 m
Alemanha 1,435 m
Inglaterra 1,435 m
UE 1,435 m
Todos estes pases tm particularidades em relao adoo de uma bitola para suas ferrovias.
Podemos descrever alguns fatos ocorridos.
Espanha: Adotou a bitola por questo de segurana nacional. Com essa bitola
argumentaram tanto a classe militar como a dos empreiteiros de obras pblicas , o
pas ficaria mais seguro. A bitola diferente impediria que foras invasoras
utilizassem seu prprio material rodante e de trao na invaso do pas.
Praticamente em toda a Espanha se adota a bitola de 1,674 m.
Portugal: Isolado pela Espanha do resto da Europa, Portugal s pde adotar a mesma bitola.
No havia alternativa.
Rssia: A Rssia adotou a bitola de 1,524 m pelos mesmos argumentos que a Espanha:
Segurana contra invases. Por influncia da Rssia, a Finlndia tambm adotou
esta bitola.
Unio Europia (EU): O restante da Europa (Inglaterra, Itlia, Frana, ustria, ...) refutou esta
afirmao por outra que dizia que a estrada de ferro era um meio de apoio
secundrio (estrategistas prussianos, franceses, italianos e austracos). Por isso, a
Europa central descartou o argumento militar, em que se apoiavam a Espanha e a
Rssia. E alm do mais o invasor poderia empregar o equipamento do prprio pas
invadido, como se verificou em diversas ocasies. E a invaso por terra,
propriamente dita, sempre se deu mediante o emprego da infantaria, cavalaria e
artilharia a cavalo.
Chile: No Chile, a metade sul da rede feita na bitola de 1,674 m (influncia Espanhola), e a
metade norte na de 1,000 m.
Argentina: Utiliza em sua maioria a bitola de 1,676 por influencia espanhola. Mas tambm utiliza
a bitola mtrica e a de 1,435 m.
Austrlia: A Austrlia tem 3 bitolas predominantes, a de 1,600 m, a de 1,435 m, e a de 1,067 m.
Alemanha: A Alemanha decidiu pela bitola-padro internacional (1,435 m) em 1865, na
Conferncia de Dresden. No convinha adotar o argumento militar, nem bitolas
largas difceis de serem construdas. A uniformidade era importante para a unidade
poltica dos Estados alemes.
Japo: A rede ferroviria japonesa no teve bitola uniforme desde o incio (A primeira ferrovia
japonesa foi inaugurada 18 anos depois da iniciativa pioneira do Baro de Mau no
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
B
i
t
o
l
a
s
27
Brasil). At o incio da primeira dcada do sculo XX, predominavam as bitolas de
1,067 m na prtica bitola "mtrica" , de 0,75 m, de 1,35 m, e uma ou outra linha
de 1,435 m. Na unificao, foi adotado um meio termo, ou seja, a bitola de 1,067 m
(por influencia das medidas inglesas e americanas ps e polegadas).
Estados Unidos: Varias e diversas bitolas foram adotadas no EUA desde a primeira construo
frrea. E vrios implementos foram tentados na hora de se uniformizar uma bitola
para o paises, desde rodas largas possveis de rodar em varias bitolas at sistemas
de rodas deslizantes, todos problemticos. Existiam bitolas de 2 ps, 3 ps, 4 ps e
8,5 polegadas, 4 ps e 10 polegadas, 5 ps dentre outras (em 1871 existiam 23
bitolas). Por determinao governamental foi adotada a bitola de 1,524 m (Abrao
Lincoln), mas na prtica as ferrovias foram construdas na bitola padro de 1,435 m.
Inglaterra: A bitola da primeira via frrea comercial interurbana do mundo com a imortal
locomotiva Rocket, de fabricao de George Stephenson no foi o resultado de
nenhuma investigao cientfica, nem de estudos de engenharia, ou de economia
dos transportes. Simplesmente foi adotada, para os trilhos, a distncia mais comum
encontrada entre as rodas das carruagens, diligncias e carroes ingleses: 1,435
m. Mas mesmo na Inglaterra, foram empregadas outras bitolas. As de maior
interesse comercial foram a bitola extralarga (7' 1/4'' 2,14 m); e aquela que ns
brasileiros denominamos bitola larga (1,6 m), l chamada de "bitola irlandesa".
Vrios fatores concorreram para a definio da melhor bitola dentre eles, a
percepo dos ingleses de que regies ficavam isoladas, ou seu potencial no podia
ser cabalmente aproveitado, no por falta de ferrovias que as servissem, mas por
deficincias decorrentes dos custos, demoras e inconvenientes das baldeaes
entre bitolas. Desta forma acabou-se por utilizar a bitola padro.
No Brasil como em todos os outros pases, diversas bitolas foram utilizadas desde a de 0,76 m at a
de 1,60 m. Sendo que a bitola de 1,60 a bitola padro para o Brasil (governo Mdici). Mas a mtrica a
mais encontrada.
Discusso sobre a Bitola
A utilizao de uma bitola para a construo de uma ferrovia um detalhe muito importante e
complicado, pois envolve fatores financeiros, tcnicos, tecnolgicos e polticos. Um dos pontos bsicos, no
caso especfico da economia dos sistemas ferrovirios de bitolas desiguais, a definio de qual bitola
dever ser adotada como padro dentro dos critrios econmicos.
Podemos citar algumas comparaes de situaes em que se utilizam diferentes bitolas.
A bitola mtrica pode operar trens to compridos e pesados como qualquer outra bitola mais larga.
No Brasil temos como exemplos a Estrada de Ferro Vitria a Minas (mtrica), que em nada fica a dever
sua irm a Estrada de Ferro de Carajs (1,600 m). O que parece que a economia operacional comparada
favorece, ligeiramente, a bitola mtrica.
A linha de Saldanha Bay, na frica do Sul (1,067 m), com seus trens de mais de 20.000 toneladas,
elevado peso por eixo e notvel economia operacional, briga em p de igualdade com as formidveis
Duluth, Missabe e you Range, a campe americana e mundial nessa categoria de transporte (1,435 m).
Nessas trs linhas, prepondera o escoamento de minrio de ferro.
No caso do carvo, os trens mais pesados fora de EUA (1,435 m), Canad (1,435 m) e Rssia
(1,520 m) circulam no Estado de Queensland, Austrlia (1,067 m).
O que mais interessa, em economia dos transportes, o gabarito til dos veculos. Por exemplo, o
gabarito til do material rodante de carga da bitola mtrica brasileira oferece maior capacidade de oferta de
espao e de peso que a maior parte das ferrovias europias, asiticas e africanas. O Japo (1,067 m) opera
vages-cegonha de dois andares, destinados ao transporte de automveis. Podemos ver na
Figura 8 o gabarito do perfil mximo admitido internacionalmente para vages de carga.
Em segundo lugar, o que mais contribui para a economia do xito comercial de um sistema
ferrovirio a uniformidade da bitola. No a bitola como tal. Mais interessa o escoamento fcil, rpido e
confivel do trfego, do que propriamente a bitola. Por isso, a uniformizao da bitola deve dar-se na
direo daquela bitola que oferece menores custos de uniformizao, manuteno e operao.
Nesses aspectos, a bitola mtrica concorre em p de igualdade com qualquer outra bitola.
mais barato simplesmente colocar um trilho interno para estreitar a bitola do que alargar
cortes, aterros, pontes etc., para alargar a bitola mediante um trilho externo.
Na manuteno, mais barato trabalhar com menor volume de lastro, menor desgaste de
trilhos (especialmente nas curvas), menores dimenses e peso dos dormentes etc.
Na operao, mais interessante economizar em termos de resistncias (e,
conseqentemente, em termos de energia).
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
B
i
t
o
l
a
s
28
No investimento, tanto inicial como de reposio, pode-se economizar tanto mais quanto
mais estreita a bitola.
Figura 8 Gabarito do perfil mximo internacional
Fonte: Brina, 1983.
O que, em sentido mercadolgico, torna eficiente o sistema ferrovirio americano-canadense,
ingls, europeu ocidental, sul-africano, japons (excluindo-se o Trem Bala), :
1. A cobertura espacial dos mercados nacionais e internacionais a que servem;
2. A uniformidade da bitola, e no a sua largura.
Uma das mais srias restries que se fazem bitola mtrica refere-se velocidade mxima que o
afastamento de 1 m admite. Nesse aspecto, devemos distinguir entre o passado e o presente. As linhas de
bitola mtrica sempre foram abertas tendo em vista velocidades baixas, reduzido custo de implantao,
trilhos leves e outros fatores tcnicos e econmicos restritivos.
No podia ser de outra maneira. Eram construdas em reas pobres, de reduzido trfego, ou de
perspectivas futuras incertas. Nunca devemos nos esquecer que as bitolas estreitas sempre foram
construdas em pases ou reas que, na poca, apresentavam baixos recursos de capital ou baixa
expectativa de expanso de trfego futuro. O Brasil foi um desses pases. A frica do Sul, a Austrlia e o
Japo, tambm.
Mais modernamente, com mudanas de traados e principalmente com mudanas tecnolgicas no
material rodante, velocidades elevadas podem ser atingidas, com segurana e conforto, em uma linha
construda em bitola mtrica.
A bitola mtrica admite, de acordo com o critrio de segurana, uma velocidade igual a 4,3 vezes a
raiz quadrada do raio da curva e para o critrio de conforto, uma velocidade de 4,1 vezes a raiz quadrada
do raio da curva.
A bitola larga (1,600 m) admite, de acordo com o critrio de segurana, uma velocidade igual a 4,8
vezes a raiz quadrada do raio da curva e para o critrio de conforto, uma velocidade de 4,5 vezes a raiz
quadrada do raio da curva.
Podemos ver ai que a bitola mtrica admite praticamente 90% da velocidade admitida pela bitola
larga.
Por exemplo, onde a bitola larga admite 144 km/h, a bitola mtrica admitir 129 km/h, segundo o
critrio de segurana. Essa diferena, em economia dos transportes, pode-se admitir e provar que
marginal, no podendo portanto ser tomada como definitiva para se determinar economia para a
implantao e operao de um trecho ferrovirio.
Podemos citar, resumidamente, as vantagens da bitola mtrica:
Curvas de menor raio
Menor largura da plataforma, terraplenos e obras
Perfil mximo internacional
3,15 m
4
,
2
8
m
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
B
i
t
o
l
a
s
29
Economia de lastro, dormentes e trilhos
Material rodante mais barato
Menor resistncia trao
Economia nas obras de arte
As desvantagens da mesma so:
Menor capacidade de trfego
Menor velocidade
Necessidade de baldeao nos trechos de entroncamento com outras bitolas
Estas vantagens e desvantagens, como visto anteriormente, so relativas demais.
A escolha de uma bitola para a construo de uma ferrovia um assunto sempre polemico.
Podemos ver a relao calculada na Tabela 5.
Tabela 5 Comparao entre dois vages de minrio.
Bitola larga (1,60 m) mtrica (1,00 m)
Lotao 95 toneladas 74 toneladas
Tara 24 toneladas 16 toneladas
Total 119 toneladas 90 toneladas
Relao lotao/peso total 0,798 0,822
Relao lotao/tara 3,958 4,625
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
S
u
b
l
a
s
t
r
o
30
CAPTULO 5
Sublastro
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
S
u
b
l
a
s
t
r
o
31
o elemento da superestrutura ferroviria que fica intimamente ligado infra-estrutura, tendo as
seguintes finalidades:
Aumentar a capacidade de suporte da plataforma, permitindo elevar a taxa de trabalho no
terreno, ao serem transmitidas as cargas do lastro e, por conseguinte, permitir menor altura do
lastro.
Evitar a penetrao do lastro na plataforma.
Aumentar a resistncia do leito eroso e a penetrao da gua, contribuindo assim, para uma
boa drenagem da via.
Permitir relativa elasticidade ao apoio do lastro, para que a via permanente no seja rgida.
O sublastro muito utilizado, devido ao alto valor e ao alto consumo do material utilizado para lastro
(por volta de 1,3 m
3
para cada metro linear), este material, s vezes, tambm de difcil obteno no local
onde se esta construindo a ferrovia. O sublastro, que pode ser construdo com material das proximidades do
local de construo da via frrea acaba acarretando em uma grande economia, at mesmo pelo fato de
baratear a manuteno da via.
Para a construo do sublastro, devemos obedecer a algumas normas que especificam algumas
caractersticas referentes aos materiais utilizados:
IG = 0 (ndice de grupo)
LL <= 35 (limite de liquidez)
IP <= 6 (ndice de plasticidade)
Material que, de preferncia, se enquadre no grupo A1 da classificao de solos HRB (Highway
Research Board)
Expanso mxima de 1%
CBR >= 30 (California Bearing Ratio ndice de Suporte Califrnia)
A compactao do sublastro dever ser feita de modo a se garantir uma correspondncia de 100%
do obtido em ensaios de laboratrio (Proctor).
Se no for encontrado in loco o material necessrio e o transporte de outras regies se mostrar
muito caro, outras alternativas podem ser empregadas, como por exemplo a mistura de dois solos do local,
ou de solo com areia, ou ainda a mistura de solo com cimento (deve-se observar as especificaes do
DNER).
Deve-se adicionar uma espessura de sublastro mnima para garantir que a distribuio de presses
para a base fique nos limites admitidos pelo material da mesma (capacidade de suporte da base -
plataforma). Normalmente uma espessura de 20,0 cm suficiente para tal feito.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
32
CAPTULO 6
Lastro
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
33
o elemento da superestrutura ferroviria que fica situado entre o sublastro e os dormentes, sendo
as suas funes principais:
Distribuir convenientemente sobre a plataforma (sublastro) os esforos resultantes das cargas
dos veculos, produzindo uma taxa de trabalho menor na plataforma..
Formar um suporte, ate certo limite elstico, atenuando as trepidaes resultantes da passagem
dos veculos.
Sobrepor-se plataforma, suprimindo assim suas irregularidades, formando uma superfcie
contnua e uniforme para os dormentes.
Impedir os deslocamentos dos dormentes, quer no sentido longitudinal, quer no sentido
transversal.
Facilitar a drenagem da superfcie.
Para que o lastro desempenhe suas funes a contento, o material empregado deve ter as
seguintes caracterstica:
Resistncia suficiente aos esforos transmitidos pelos dormentes.
Possuir elasticidade limitada, para abrandar os choques.
Ter dimenses que permitam sua interposio entre os dormentes e abaixo dos mesmos,
preenchendo as depresses da plataforma e permitindo um perfeito nivelamento dos trilhos.
Ser resistente aos agentes atmosfricos.
Deve ser permevel, para permitir uma tima drenagem.
No produzir p, caso contrrio, isso se tornaria um incomodo para os passageiros, alm de
prejudicar o material rodante.
Materiais utilizados para lastro:
Terra: o mais barato, mas tambm o pior dos materiais utilizados para lastro. A
gua satura o mesmo com certa facilidade, provocando desta maneira
desnivelamento da linha, podendo causar acidentes como descarrilamentos.
As ferrovias brasileiras, em geral, foram construdas com lastro em terra onde
eram assentados os dormentes e posteriormente se fazia o nivelamento
(enchimento) com material argiloso (muito raramente se utilizava brita) que era
compactado. Todo este material j foi substitudo em nossas ferrovias.
Areia: Tem a qualidade de ser pouco compressvel e permevel. Entretanto,
facilmente carregado pela gua e produz uma poeira com gros muito duros
(quartzo) que ao penetrar nas partes moveis do material rodante, causam
graves danos ao mesmo.
Cascalho: um timo tipo de lastro, principalmente quando quebrado, formando arestas
vivas. , geralmente, utilizado na maneira em que se encontra, mas para
linhas com maior trfego, o cascalho deve ser lavado para eliminar a terra.
Este material muito utilizado pois normalmente as ferrovias passam por
locais com depsito do mesmo em condies de explorao. Foi empregado
com grande sucesso e em grande escala nos Estados Unidos
Escria: Algumas escrias de usinas metalrgicas tm dureza e resistncia suficiente
para serem empregadas como lastro e so utilizadas nas linhas prximas das
usinas. O material deve ser britado, em modo geral. A dificuldade de uso esta
na possibilidade de processamento da britagem. O uso de escria resolve
tambm um problema da industria que muitas vezes paga caro para retira a
escoria e levar para local afastado e seguro.
Pedra britada: o melhor tipo de material empregado para lastro, por ser resistente,
inaltervel aos agentes atmosfricos, e permevel, permitindo ainda um
perfeito nivelamento do lastro. limitadamente elstico e no produz poeira.
Mas em determinadas regies este material no encontrado ou muito caro,
por isso tem-se o estudo e o uso dos outros materiais.
Para a utilizao dos materiais como lastro, qualquer que seja o material, algumas especificaes
tem que ser seguidas, no Brasil so utilizadas as especificaes da AREA (American Railway Engineering
Association).
Podemos resumir, de um modo geral, estas caractersticas:
Resistncia: Deve ser capaz de resistir ao atrito entre partculas quando sob ao das
altas cargas do material rodante. Um material quebradio que se
despedaa facilmente deve ser evitado.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
34
Durabilidade: Esta intimamente ligada abraso ou desgaste das partculas, com
formao de p. A abraso excessiva destri as partculas e produz
poeira que se acumula e acaba colmatando o material. Deve-se buscar
um ndice de Abraso Los Angeles menor que 40. nas obras de arte e
tneis, deve-se priorizar que este valor esteja abaixo de 30.
Estabilidade: Visto que o lastro deve ancorar a via longitudinal e transversalmente, ele
precisa possuir uma grande estabilidade. O cascalho, por exemplo, com
uma superfcie pouco rugosa, exige um cuidado muito grande no incio de
seu uso, pois sua acomodao durante o trfego lenta e impe
constante trabalho de nivelamento.
Drenabilidade: O lastro deve permitir uma perfeita drenagem. Os vos entre partculas
devem ser suficientemente amplos para minimizar qualquer ao de
capilaridade proveniente da parte inferior do lastro.
Limpeza: Muito da performance do material utilizado para lastro vem da correta e
salutar limpeza do mesmo, ou seja, de este estar livre de p fino, sujeira e
vegetao. Um bom lastro deve permitir limpeza com relativa facilidade.
Trabalhabilidade: O trabalho com o lastro sempre caro, com materiais que possam ser
movimentados com garfos e facilmente trabalhados pelo pessoal das
turmas. O cascalho atende bem a esta condio, j a escria de alto
formo so difceis de trabalhar.
Disponibilidade: O lastro usado em grande quantidade. Por isso deve-se sempre cogitar
o uso de matria que possa ser encontrado com facilidade ao longo da
estrada.
Custo: O mais baixo custo possvel deve ser tentado. Mas deve-se levar em
conta que um lastro muito barato no incio pode ser tornar muito
dispendioso quando da manuteno e j um lastro com investimento
inicial mais elevado pode se revelar muito econmico quando da
manuteno.
As especificaes da AREA so conforme mostrado na Tabela 6.
Tabela 6 Especificaes da American Railway Engineering Association - AREA
Ensaio Valor Descrio
Peso especfico mnimo 2,7
----
Resistncia ruptura 700 kg/cm
2
So confeccionados cubos com 5 centmetros de
lado, os mesmo so levados a uma mquina de
compresso.
Solubilidade ---
utilizado 7 litros (dm
3
) de pedra triturada e lavada. A
amostra colocada em um vaso e agitada por 48
horas, se houver descolorao a pedra considerada
solvel e imprpria.
Absoro 8 g/l
230 gramas de pedra (1/2 libra) so colocados em
submerso, o peso no pode aumentar mais que 8 g/l
(g/dm
3
).
Substancias nocivas 1 %
A quantidade de torres de argila e substancias
nocivas no pode ultrapassar 1% (determinado pelo
mtodo MB8 da ABNT).
Granulometria
3/4 e 2 (2
6 cm)
As pedras no podem ter grandes dimenses
(funcionamento de cunhas) e nem ser muito
pequenas (rpida colmatao).
Abraso Los Angeles 35%
Deve-se utilizar 5 kg do material para a realizao do
ensaio de abraso (conforme especificaes
prprias).
Em relao a granulometria, teremos que obedecer os limites estabelecidos pela AREA, estes
limites esto expressos na Tabela 7 e melhor visualizados na Figura 9.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
35
Tabela 7 Faixa granulomtrica para linha corrida (AREA)
Abertura da malha
(quadrada)
polegadas
mm
Porcentagem
passante
Porcentagem
acumulada retida
2 63,5 100 0
2 50,8 90 100 0 10
1 38 35 70 30 65
1 25,4 0 15 85 100
19 0 10 90 100
12,7 0 5 95 100
Figura 9 Faixa granulomtrica para construo do leito ferrovirio (AREA)
Desta forma, a granulometria do material que se pretende usar deve estar contida na faixa formada
pelas duas linhas (rosa e azul). Se os valores ficarem fora das mesmas, o material no pode ser utilizado
como lastro para a ferrovia.
Para se calcular a altura do lastro sob os dormentes, precisamos aplicar dois conceitos
fundamentais, o primeiro e determinar como se distribuem, no lastro, as presses transmitidas pelos
dormentes; o segundo a determinao de qual a presso admissvel no solo (sublastro).
Em relao a distribuio das presses no lastro, diversos estudos j foram realizados com a
inteno de se aplicar as teorias da mecnica dos solos para o caso do lastro de brita. Ser citado aqui
apenas o trabalho de Arthur N. Talbot por ser um dos mais aplicados no dimensionamento do lastro
ferrovirio.
Na Figura 10 podemos ver as curvas de distribuio de presses (bulbo de presses) feitas por
Talbot. As porcentagens se referem presso mdia na face inferior do dormente (P
O
), que esta em contato
com o lastro. Desta forma teremos que as curvas tero seus valores conforme definido pela Equao 1.
% 100
O
P
k
p
=
Equao 1 Equao desenvolvida por Talbot
Podemos verificar que as presses no tm uma distribuio uniforme, sendo superiores no centro
dos dormentes. Segundo o que estudou Talbot, a curva das variaes das presses mximas no lastro
(abaixo dos dormentes), em funo da variao da altura do lastro, dada pela Equao 2.
Equao 2 Equao para clculo das variaes de tenso no lastro (sistema Ingls)
Sendo assim, na equao temos que:
p
h
= presso a profundidade h
p
O
= presso na face inferior do dormente
h = altura do lastro em polegadas
Fazendo-se as devidas transformaes, teremos que esta equao, em unidade do Sistema
Internacional (SI), fica conforme o expresso na Equao 3.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10 20 30 40 50 60 70
abertura da peneira (mm)
p
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m
a
c
u
m
u
l
a
d
a
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
36
Equao 3 Equao para clculo das variaes de tenso no lastro (SI)
Nesta equao teremos:
p
O
e p
h
sero expressos em kg/cm
2
e h em cm.
Figura 10 Curvas de Talbot
Fonte: Brina, 1983.
E a determinao de p
O
ser feita conforme a Equao 4.
Equao 4 Equao para a determinao de P
O
Onde temos que b a largura do dormente e c a distncia de apoio no sentido longitudinal do
dormente, conforme mostrado na Figura 11. A carga P dever ser corrigida conforme visto na seqncia.
Figura 11 localizao do medida c abaixo do dormente
Fonte: Brina, 1983.
Esta dimenso (c) poderia ser considerada como a metade do tamanho do dormente, mas o efeito
da vibrao energtica do lastro sob o dormente faz com que este valor tenha mais sentido em ser medido
sob o local onde ficam apoiados os trilhos. Temos neste caso que os valores de c ficam compreendidos
entre 80 e 90 cm para bitola de 1,60 m e entre 70 e 80 para bitola de 1,00 m.
Para o valor de P no se deve tomar o peso descarregado pela roda mais pesada, pois h uma
distribuio de carga de todas as rodas para os dormentes vizinhos.
A AREA recomenda, para este clculo, a utilizao da Equao 5.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
37
Equao 5 Equao da AREA para determinao do valor de P
Sendo na equao:
P
C
= peso da roda mais pesada (corrigido); o P da Equao 4.
P
m
= peso da roda mais pesada
C
d
= coeficiente dinmico em virtude das cargas serem dinmicas
Vrias frmulas so propostas para o clculo do coeficiente dinmico, a AREA utiliza a Equao 6
para esta determinao.
2
1
30.000
d
V
C = + , sendo V a velocidade em km/h
Equao 6 Equao para determinao de C
d
Contudo, esta frmula acaba resultando em valores demasiadamente baixos para C
d
, e para corrigir
isto alguns estudos foram feitos, onde se verificou que os esforos estticos no solo aumentam em cerca de
50% para locomotivas a diesel (American Association Railway AAR), assim sendo, chegou-se a um valor
de 1,4 para o coeficiente de impacto a fim de se corrigir este problema. Desta forma, poderemos utilizar
sempre C
d
= 1,4.
Cabe aqui salientar que estes estudos so feitos e utilizados para ferrovias normais, ferrovias de
alta velocidade (trem bala) estas consideraes todas devem ser alteradas e revistas.
O valor de p
h
(presso a profundidade h) na Equao 2 dever ser compatvel com a capacidade de
suporte da plataforma , ou seja, p
h
s p , sendo p a presso admissvel no sublastro.
A determinao da altura do lastro pode ser obtida atravs de um diagrama elaborado por Talbot.
Figura 12 Diagrama para se encontrar a altura do lastro
Fonte: Brina, 1983.
O valor de p pode ser obtido em campo por prova de carga ou atravs dos clculos da Mecnica
dos Solos. Para este ultimo caso, utilizaremos as equaes a seguir.
Equao 7 Presso admissvel
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
a
s
t
r
o
38
Sendo p
r
a presso de ruptura no solo e n
2
o coeficiente de segurana, valor este que fica entre 2 e
3.
Na falta de valores para p , podemos utilizar o processo inverso ao CBR, pois utilizamos este
processo para a escolha e construo do sublastro. A Equao 8 nos mostra esta transformao.
, e logo teremos que
Equao 8 Transformao CBR
E desta forma teremos que o valor de p ser definido pela Equao 9.
Equao 9 Frmula para clculo de p
Sendo que n
3
ser o coeficiente de segurana com valor variando entre 5 e 6.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
D
o
r
m
e
n
t
e
s
39
CAPTULO 7
Dormentes
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
D
o
r
m
e
n
t
e
s
40
O dormente o elemento da superestrutura ferroviria que tem por funo receber e transmitir ao
lastro os esforos produzidos pelas cargas dos veculos, servindo de suporte para os trilhos, permitindo a
fixao destes e mantendo invarivel a bitola.
Para se garantir esta finalidade necessrio que os dormentes tenham determinadas condies
bsicas:
Dimenses (comprimento e largura) que forneam uma superfcie de apoio suficiente para que
a taxa de trabalho no lastro no ultrapasse certo limite,
Espessura que lhe de a necessria rigidez, permitindo entretanto alguma elasticidade,
Resistncia suficiente para receber os esforos,
Alta durabilidade
Permitir o melhor nivelamento possvel para o lastro em sua base,
Se opor, com eficcia, aos deslocamentos verticais e transversais da via,
Permitir uma boa fixao dos trilhos (firme sem excesso de rigidez).
Os dormentes podem ser de trs tipos (est em estudo um quarto tipo):
Madeira,
Ao,
Concreto,
Plstico ainda experimental.
Dormentes de Madeira
A madeira rene quase todos os requisitos e qualidades para servir como dormente e continua a ser
o dormente mais utilizado.
No podemos nos esquecer dos problemas causados com o uso discriminado da madeira
(desmatamento ostensivo), estes problemas ambientais vm atingindo tambm as ferrovias.
As madeiras de melhor qualidade (mais nobres e com preo elevado) tm um destino que no o
de se tornarem dormente, e desta forma a madeira utilizada como dormente de uma qualidade inferior, at
mesmo devido ao valor destas planejamento tcnico-econmico-financeiro da ferrovia.
Em certo tempo, na RFFSA, tentou-se o uso de dormentes de madeira laminada, que no teve
sucesso, pois as empresas que fabricavam os mesmo no tinham interesse comercial nesta rea.
Desta forma, madeiras mais comuns e com menor preo so empregadas como dormentes.
Para o uso da madeira como dormente, algumas especificaes foram feitas, estas especificaes
versam a respeito da qualidade, dimenso e tolerncia da madeira. Existem as normas P-CB-5, P-TB-139,
P-EB-101 E P-CB-6 da ABNT.
Quanto s dimenses, as normas estabelecem (comprimento, largura, altura):
1. bitola de 1,60 m 2,80 x 0,24 x 0,17 m
2. bitola de 1,00 m 2,00 x 0,22 x 0,16 m
3. dormentes com dimenses especiais para pontes e aparelhos de desvio.
Quanto espcie de madeira a ser utilizada, os dormentes so classificados em 1, 2 e 3 classe.
Tambm so especificados os dormentes com madeira tratada quimicamente.
Os dormentes de 1 classe so os feitos com madeira de aroeira, sucupira, jacarand, amoreira,
angico, ip, pereira, blsamo, etc. Os dormentes de 2 classe so feitos com madeira de Angelim, ararib,
amarelinho, brana, carvalho do Brasil, canela-preta, guarabu, jatob, massaranduba, peroba, pau-brasil,
baru, eucalipto, etc. Os dormentes de 3 classe, so dormentes com essncia de 1 ou 2 classes mas com
defeitos considerados tolerveis.
O melhor dormente de madeira o feito de sucupira, pois tem tima fixao do trilho, possui dureza
e peso especfico elevados e grande resistncia ao apodrecimento, podendo durar mais de 30 anos na
linha.
Alm da qualidade da madeira, outros fatores tm influncia na durabilidade, fatores este como
clima, drenagem da via, peso e velocidade dos trens, poca em que a madeira foi cortada, grau de
secagem, tipo de fixao dos trilhos, tipo de lastro, tipo de placa de apoio do trilho no dormente, etc.
O ponto mais vulnervel do dormente o ponto onde feita a fixao do trilho, apesar de poder ser
refeita esta fixao, na maioria das vezes o dormente substitudo se h ai algum problema.
Os fatores que condicionam a escolha de um dormente de madeira, so:
resistncia destruio mecnica, provocada pela circulao dos trens, isto , pela dureza e
coeso da madeira,
resistncia ao apodrecimento,
maior ou menor facilidade de obteno,
razes de ordem econmica.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
D
o
r
m
e
n
t
e
s
41
Para utilizarmos uma madeira como dormente, a mesma deve ser tratada quimicamente, para se
evitar a proliferao de fungos e insetos que podem acelerar o apodrecimento desta, os principais tipos de
tratamento so o de imerso a frio, o de imerso a quente e o de presso a vcuo.
Dormentes de Ao
Diversos tipos de dormentes de ao foram desenvolvidos, tm uma seo em U invertido curvado
nas extremidades, conforme pode ser visto na Figura 13, para facilitar a fixao e se opor ao deslocamento
transversal da via. relativamente leve (70 kg) e de fcil assentamento, mas esta sua leveza o torna
imprprio para o uso em linhas com trfego pesado. um trilho barulhento e tem como inconvenientes os
fatos de ser bom condutor de eletricidade e de a fixao do trilho neste ser mais complexa. No usado no
Brasil.
Figura 13 Seo de um trilho de ao
Fonte: Brina, 1983.
A fixao, normalmente, feita por meio de parafusos e castanhas (Figura 14) e necessita de
manuteno permanente. A fixao por parafuso, normalmente enfraquece o dormente devido aos furos.
Figura 14 Viso longitudinal e fixao dos trilhos por castanhas
Fonte: Brina, 1983.
Figura 15 Placa de fixao do tipo GEO
Fonte: Brina, 1983.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
D
o
r
m
e
n
t
e
s
42
Para sanar estes inconvenientes adotou-se o sistema de fixao com a soldagem de uma aplaca
com nervuras (fixao GEO), este dormente relativamente mais moderno com boa qualidade, durabilidade
mas com preo mais elevado. necessrio comentar aqui que a desvantagem deste sistema que em uma
possvel substituio de perfil de trilho, pode haver a necessidade da substituio do dormente, pois para
cada perfil de trilho tem-se um tamanho e tipo de placa de fixao GEO.
Estes tipos de dormente so excessivamente caros no Brasil, devido ao preo e usos do ao no
mercado internacional. Foi utilizado no Brasil h muito tempo atrs (antes mesmo de possuirmos industrias
siderrgicas).
Dormentes de Concreto
No incio estes dormentes tinham formas que imitavam os dormentes de madeira, mas os
resultados obtidos com o emprego destes, no foram em nada satisfatrios. Surgiam trincas (apesar da
armao) e normalmente estas trincas rompiam o dormente. Isso geralmente ocorria na parte mdia do
dormente, devido a um nivelamento irregular.
Havendo recalque ou instalao defeituosa, o dormente passa a se apoiar no lastro pela parte
mdia do mesmo, desta forma comeam a agir sobre este, momentos fletores extremamente elevados.
Foram bastante utilizados e experimentados na Frana, Blgica e Alemanha, surgindo ai os trs
principais tipos de dormentes de concreto. Sendo estes de:
Concreto Protendido
Desenvolvidos principalmente na Alemanha, os principais tipos so o B-55, B-58 e B-70. So
reforados para resistir a fortes impactos e a elevados momentos fletores. Podemos visualizar
estes na Figura 16,
Misto
Constitudo por dois blocos ligados por uma barra metlica, foi desenvolvido na Frana. O
principal dormente deste tipo o RS (Roger Soneville) e pode ser visto nas Figura 18 e Figura
17. O detalhe da fixao do trilho no dormente pode ser vista na Figura 19. Entre a sapata do
trilho e o dormente colocado uma almofada de borracha ranhurada com a finalidade de se
aumentar elasticidade.
Polibloco.
Desenvolvido na Blgica (modelo FB Franki Bargon), constitudo por dois blocos unidos por
uma pea intermediria de concreto. As peas so unidas por fios de ao com elevado limite
elstico. A Figura 20 traz um esquema deste dormente. A fixao do trilho neste dormente pode
ser feita por meio de parafusos fixados ao concreto ou por meio de castanhas.
Vantagens dos dormentes de concreto:
Maior estabilidade dada via
Economia de lastro
Pouca sensibilidade aos agentes atmosfricos
Maior durabilidade
Desvantagens dos dormentes de concreto:
Maior dificuldade de manejo (peso)
Garante uma maior rigidez via (comparado madeira)
S pode ser aplicado em linhas de padro elevado, onde raramente ocorre descarrilamento
(devido a estes inutilizarem o dormente)
A durabilidade dos dormentes de concreto gira em torno de mais ou menos 40 anos enquanto que a
durabilidade dos dormente de madeira fica em torno de 15 anos.
Figura 16 Dormente em concreto protendido
Fonte: Brina, 1983.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
D
o
r
m
e
n
t
e
s
43
Figura 17 Dormente misto
Fonte: Brina, 1983.
Figura 18 Dormente misto esquema interno - fixao
Fonte: Brina, 1983.
Figura 19 Detalhe da fixao em
dormente misto
Fonte: Brina, 1983.
Figura 20 Dormente polibroco
Fonte: Brina, 1983.
Figura 21 Fixao por parafuso
em dormente de concreto
Fonte: Brina, 1983.
Figura 22 - Fixao por castanha em dormente de concreto
Fonte: Brina, 1983.
Dormentes de Plstico
Segundo a U.S.Plastic Lumber Corporation (USPL), empresa pioneira em fabricao de dormentes
de plstico, em julho de 1994 um projeto cooperativo reuniu a Rutgers University, a Conrail Consolidated
Rail Corporation, a Norfolk & Southern Corporation e o Laboratrio de Pesquisa de Engenharia de
Construes do Corpo de Engenheiros do Exrcito dos Estados Unidos, para desenvolver um dormente de
um composto de plstico reciclado. Tecnicamente um composto de matriz polimrica dispersado com
fibras de vidro curtas. O grupo desenvolveu uma especificao, fabricou dormentes em conformidade ou
que excederam as propriedades mecnicas objetivadas, submetendo-os a testes em laboratrios
especializados nos EUA.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
D
o
r
m
e
n
t
e
s
44
De acordo com a USPL (2004), os dormentes de plstico instalados em 1997 possuam todas as
faces lisas, apresentando pouca resistncia a esforos laterais (40% menos que os de madeira), deslizando
no lastro. Aqueles instalados em 1998 j receberam rugosidades (quadrados de 1.1/4 x 1/4) nas faces
laterais e inferior, apresentando resistncia lateral 150% maior que os de madeira.
Segundo a USPL (2004), verificou-se, nos dormentes instalados em 1997, que furos para fixao
das placas de apoio feitos com broca de 5/8 apresentaram rachaduras; os dormentes instalados em 1998
foram furados com broca de 3/4", reduzindo bastante essas rachaduras. Concluiu-se que a utilizao de
brocas de 11/16 eliminar por completo as rachaduras, tendo em vista que um tirefond de 5/8" possui fundo
de rosca com dimetro de 5/8", mas a crista da rosca possui dimetro de 15/16".
Mantendo o perfil tradicional dos dormentes de madeira os dormentes de plstico possuem as
dimenses de 16 x 22 x 200 cm para bitola mtrica e 17 x 24 x 280 cm para bitola larga.
O primeiro passo para a viabilizao do dormente de plstico como alternativa madeira, dever
ser para a aplicao imediata em curvas, pontes, AMV's e tneis, locais muito crticos na exigncia
durabilidade e manuteno dos dormentes. Nas aplicaes em linha tangente, grande maioria da aplicao
dos dormentes, seu desenvolvimento apontar na direo da criao de novos perfis, que excedero as
especificaes existentes.
Na Figura 23 possvel ver que o dormente de plstico muito semelhante ao dormente de
madeira, as dimenses e a cor escura proporcionam esta semelhana.
Figura 23 Aparncia dos dormentes de plstico
Fonte: USPL, 2004.
Vantagens do dormente de plstico:
Maior estabilidade dada via,
bom isolante eltrico,
totalmente reciclvel.
Possui vida til de 50 anos ou mais, sem nenhuma perda de propriedades mecnicas com o
passar dos anos.
Sua instalao e manuteno so iguais ao de madeira, podendo se utilizar as mesmas
ferramentas.
inerte e impermevel, devido composio de 90% de plstico reciclado e 10% de fibra de
vidro, no contamina os trabalhadores e o meio ambiente.
Pode ser utilizado em conjunto com o dormente de madeira, semelhante nas dimenses e no
peso.
Possui resistncia lateral maior que o de madeira em 150%, desde que com rugosidade nas
trs faces.
incombustvel.
Desvantagem do dormente de plstico
Custo inicial ainda muito elevado.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
T
r
i
l
h
o
s
45
CAPTULO 8
Trilhos
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
T
r
i
l
h
o
s
46
O trilho o elemento que constitui a superfcie de rolamento para as rodas dos veculos. Seu
formato e composio vm sofrendo alteraes desde os primrdios das ferrovias, inicialmente as estradas
eram compostas por trilhos de madeira (mina de explorao de carvo), os trilhos metlicos surgiram mais
tarde.
A sua evoluo foi gradativa, mas sempre se teve a certeza de que o formato em duplo T seria o
mais sensato. Stepheson em 1838 imaginou e criou o trilho conforme o exposto na Figura 24. Devido s
dificuldades de fixao do mesmo, ele foi abandonado e passou-se a utilizar o trilho projetado por Vignole
(Engenheiro ingls). Este trilho composto por boleto (cabea), alma e patim conforme mostrado na
Figura 25.
Figura 24 Trilho duplo T criado por
Stephenson
Fonte: Brina, 1983.
Figura 25 Trilho tipo Vignole
Fonte: Brina, 1983.
Ainda temos os trilhos de fenda, usados para bonde e travessias urbanas. Este modelo tem uma
fenda para o encaixe dos frisos das rodas, este formato til para se permitir a pavimentao das vias
urbanas sem danificar a via frrea.
O trilho para poder ser usado em vias deve ter dureza, tenacidade, elasticidade e ser resistente a
flexo.
Os principais componentes do ao so:
Ferro principal componente do ao (~ 98%).
Carbono da uma maior dureza mas no pode ser utilizado em demasia.
Mangans aumenta a dureza do ao.
Silcio aumenta a resistncia ruptura do ao.
Fsforo elemento indesejado, pois torna o ao quebradio
Enxofre elemento indesejvel, pois segrega o ferro na liga.
Os trilhos, ainda, sofrem com o decorrer do seu uso as avarias de servio:
Deformao das pontas devido aos choques e flexes nas juntas ocasionadas pelo
desnivelamento dos dormentes.
Autotmpera superficial fenmeno ocasionado pela patinao das rodas das locomotivas e,
s vezes, provocado pelo efeito da frico energtica provocada pela frenagem.
Escoamento do metal da superfcie do boleto provocada pelo martelamento das cargas.
Desgaste da alma e do patim por ao qumica provocado por ataque de enxofre,, sal, salitre,
carvo com enxofre, etc, que eventualmente so transportados pela via.
Desgaste por atrito principalmente em curvas de pequeno raio devido ao atrito com os frisos
das rodas.
Desgaste ondulatrio o trilho tem um micro ondulao, mas esta pode atingir alguns
milmetros e, tudo indica, que isso originado pelas vibraes produzidas pela passagem das
rodas.
Fraturas dos trilhos originadas por defeitos internos ao trilho.
A durabilidade dos trilhos bastante varivel com o tempo e com o uso, para um controle, admite-
se um desgaste de 12 milmetros na superfcie dos mesmos nas vias principais e de 12 a 20 milmetros nas
vias secundrias.
Seo Transversal dos Trilhos
A seo transversal dos trilhos foi estuda com a finalidade de se garantir as melhores condies
possveis para o rolamento.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
T
r
i
l
h
o
s
47
O trilho colocado, inclinado de 1:20 sobre a vertical e oferece uma superfcie de rolamento
levemente boleada com a finalidade de reduzir o desgaste tanto do trilho quanto do aro.
A Figura 26 mostra como deve ser a relao entre o trilho e a roda com a composio do ngulo |
do friso da roda. Este ngulo deve ter um valor igual 60. Se | > 60 h uma maior facilidade da roda subir
nas juntas (quando no h uma concordncia muito boa no alinhamento dos trilhos) e se | < 60 h uma
maior facilidade de que a roda suba simplesmente no trilho e cause um descarrilamento.
Para se ter uma seo transversal mais econmica e segura, algumas relaes entre as dimenses
desta so necessrias. Sendo estas dimenses denotadas pelas letras conforme mostrado na Figura 27.
Devemos observa que o desgaste pode chegar a valores entre 12 e 15 mm e estes devem ser
considerados ao se especificar um trilho com segurana, pois a relao entre a largura e altura do boleto
deve guardar uma relao entre 1,6 e 1,8 (c/e) se for diferente disso o trilho deve ser substitudo.
A altura h deve ser tal que garanta o suporte elstico das cargas, mesmo aps o desgaste do boleto
ter ocorrido. A quantidade de metal deve ser tal que garanta um desgaste natural em igual proporo ao
desgaste proporcionado pelo uso.
Figura 26 Determinao do ngulo |
Fonte: Brina, 1983.
A relao entre a altura h e a largura do patim l tambm importante, pois o trilho esta sujeito a um
esforo vertical (P) e a um esforo lateral (Ft), conforme mostrado na Figura 28. Esta relao deve ficar
entre 1,0 e 1,1 (h/l).
Figura 27 Nomenclatura das sees de um trilho
Fonte: Brina, 1983.
Figura 28 Esforos atuantes no trilho
Fonte: Brina, 1983.
Tabela 8 Tipos e caractersticas dos trilhos utilizados no Brasil
Tipo Nominal Brasileiro (TR) 25 32 37 45 50 57 68
Peso (kg/m) 24,654 32,045 37,105 44,645 50,349 56,897 67,560
rea Total S (cm
2
) 31,42 40,84 47,29 56,90 64,19 72,58 86,12
Momento de Inrcia
I = 0,13 x S x h
2
(cm
4
)
413,7 703,4 951,5 1.610,8 2.203,95 2.730,5 3.950,0
Mdulo de Resistncia W =
0,26 x S x h (cm
3
)
Boleto 81,6 120,8 149,1 205,6 247,4 295,0 391,6
Patim 86,7 129,5 162,9 249,7 291,7 360,7 463,8
Para facilitar a fabricao e evitar defeitos devidos ao resfriamento desigual das diversas partes do
trilho, o metal deve ter uma boa distribuio, devendo esta ficar da seguinte forma:
Cabea 40 a 42%
Alma 22 a 18%
Patim 38 a 40%
Dilatao dos Trilhos
Ao se fazer colocao dos trilhos (que so fabricados com comprimento de 10, 12 ou 18 metros),
deve-se observar que entre uma pea e outra deve haver uma folga para garantir que o mesmo se dilate
(este assunto no vai ser abordado por ns pois a dilatao trmica j foi objeto de estudo em outras
disciplinas).
Esta dilatao deve ser controlada para evitar a descontinuidade da linha, para isso, os trilhos so
furados nas pontas, nos locais onde sero colocadas s talas de juno. Os furos so feitos com dimetro
superior ao dos parafusos, para permitir a dilatao.
Com o uso da Equao 10, podemos calcular o tamanho da junta (folga entre trilhos).
( ) 0, 002
m c
j l t t o = +
Equao 10 clculo da folga entre trilhos
Sendo:
j = junta de dilatao (folga entre trilhos)
o = coeficiente de dilatao do trilho (o = 0,0000115)
t
m
= temperatura mxima a que o trilho estar sujeito
t
c
= temperatura de assentamento do trilho
l = comprimento do trilho
0,002 = valor utilizado como segurana, ou correo, devido a dificuldade de se garantir a
folga no momento da colocao dos trilhos.
Na Equao 10 foi admitida a livre dilatao do trilho, o que nem sempre ocorre.
O dimetro dos orifcios d feitos nas extremidades do trilho deve ser conforme o expresso na
Equao 11.
max
1
2
d b j = +
Equao 11 dimetro dos furos nas extremidades do trilho
Sendo:
b = dimetro do parafuso
j
max
= folga mxima (calculada para a maior variao de temperatura)
Para se saber a posio do primeiro furo, na ponta do trilho, devemos proceder conforme explicado
na seqncia e mostrado na Figura 29.
2
a
c x = , sendo ( )
1
2 2 2
d b
x d b = = teremos ( ) ( )
1 1
2 2 2
a
c d b a b d = = +
Equao 12 Procedimento para o clculo da posio do primeiro furo na extremidade do trilho
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
T
r
i
l
h
o
s
49
Figura 29 Dilatao nos trilhos e posio do primeiro furo na extremidade do trilho
Fonte: Brina, 1983.
Conforme clculo expresso na Equao 12 e visualizado na Figura 29, temos as seguintes
variveis:
d dimetro do furo feito no trilho
b dimetro do parafuso a ser usado
a distancia dos furos das talas (entre os centros dos parafusos)
x distancia entre o centro do furo do trilho e o centro do parafuso
Talas de Juno entre Trilhos
So chapas de ao que fazem a ligao entre as peas e so posicionadas no dois lados do trilho
sendo apertado contra o boleto e o patim.
Os parafusos que apertam as talas de juno so parafusos simples com porcas. H uma gola no
parafuso para que este se encaixe na tala com a finalidade de no permitir giro. O dimetro dos mesmos
depende do tipo de trilho.
Para impedir o afrouxamento do parafuso com a trepidao, so utilizadas arruelas que so
colocadas entre a tala e a porca.
Na Figura 30 podemos ver melhor estes detalhes.
Estas talas tm as seguintes denominaes (AREA): TJ 25, TJ 32, TJ 37, TJ 45, TJ 57 E TJ 68
(onde o nmero significa o tipo de trilo).
Figura 30 Localizao e posicionamento das talas de juno e arruela tipo Grower
Fonte: Brina, 1983.
Placa de Apoio
uma placa introduzida entre o trilho e o dormente, sua finalidade de prolongar a vida do
dormente, pois alm de melhorar a distribuio de cargas evita que o patim do trilho corte o dormente. As
placas de fixao so conforme mostrado na Figura 31 em vista, corte e perfil.
Figura 31 Placa de apoio
Fonte: Brina, 1983.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
T
r
i
l
h
o
s
50
Acessrios de Fixao
So acessrios que visam garantir a fixao dos trilhos ao dormente ou placa de apoio do trilho.
Prego de linha ou grampo de linha: o tipo mais comum de aparelho de fixao, geralmente
com seo retangular, terminando em cunha e cravado a golpes de marreta em furo
previamente preparado com um dimetro menor que o prego. o aparelho menos usado e
menos eficiente pois oferece pouca resistncia ao arrancamento e cria a tendncia de rachar o
dormente. Este dispositivo mostrado na Figura 32.
Tirefond: Espcie de parafuso de rosca-soberba que parafusado em furo previamente
preparado. Para se fazer um melhor aproveitamento do dormente os tirefonds so colocados de
forma desencontrada no dormente (dentro e fora), isso para permitir que uma nova fixao
venha a ser feita se a primeira afrouxar. Este dispositivo mostrado na Figura 32
GEO (fixao tipo K): um dos melhores tipos de fixao. Consiste em uma placa de ao
fixada ao dormente por meio de tyrefonds e composta de nervuras. Nestas placas, se encaixam
parafusos que apertam a castanha contra o patim. Este dispositivo mostrado na Figura 33.
Grampo elstico duplo: Usado principalmente na Alemanha, possui duas hastes cravadas no
dormente ou encaixadas na placa de apoio. Este dispositivo mostrado na Figura 34.
Grampo elstico simples: um tipo de grampo fabricado com ao de mola, que tem uma haste
que penetra na madeira formando uma mola que fixa o patim do trilho no dormente. Este
dispositivo mostrado na Figura 35.
Fixao Pandrol: um tipo de fixao mais moderna, fabricado na Inglaterra, que consiste em
um grampo fabricado com ao de mola. Este se encaixa nos furos da placa de apoio. Este
dispositivo mostrado na Figura 35.
Figura 32 Prego de linha, Tirefond e disposio do tirefond no dormente
Fonte: Brina, 1983.
Figura 33 Fixao tipo K ou GEO
Fonte: Brina, 1983.
Figura 34 Grampo elstico duplo
Fonte: Brina, 1983.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
T
r
i
l
h
o
s
51
Figura 35 Grampo elstico simples e Fixao Pandrol
Fonte: Brina, 1983.
Aparelhos de Mudana de Via AMV
Os AMVs tem a funo de desviar os veculos de uma via para outra (como se fossem um
cruzamento rodovirio) com segurana e velocidade comercialmente compatvel. Estes elementos do
flexibilidade ao traado, mas por serem elementos mveis da via (nico) so pea-chave na segurana da
operao. Possuem alto custo de aquisio (dormentes especiais, etc.) e de manuteno. A Figura 36
ilustra o funcionamento de um destes elementos.
Figura 36 Funcionamento de um AMV
Fonte: Porto, 2004
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
d
o
a
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
o
d
a
l
i
n
h
a
52
CAPTULO 9
Caractersticas do assentamento da
linha
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
d
o
a
s
s
e
n
t
a
m
e
n
t
o
d
a
l
i
n
h
a
53
Em relao bitola, devemos garantir em toda a linha a bitola nominal da mesma, mas devemos
lembrar, que nas curvas a mesma pode, e deve, ter uma certa variao. Esta variao da bitola nas curvas
chamada de superlargura.
Nas curvas, os trilhos so colocados com uma pequena inclinao em relao a vertical (para
acompanhar a inclinao das rodas). Esta inclinao de 1:20 (5%).
Tolerncia na bitola
Existe uma certa tolerncia admitida para a bitola, pois com a passagem dos veculos, observa-se
que a via adquire pequenos defeitos que alteram a bitola, alongando ou estreitando esta.
A tolerncia nas bitolas varia entre -3 a +6 mm nas tangentes, podendo atingir +10 mm nas curvas.
Se estes valores forem ultrapassados, deve ser feita a manuteno da linha.
J ogo da via
Existe uma folga natural admitida (jogo da via) entre a face lateral interna do trilho e a face lateral
externa da roda.
Esta folga, como j vimos, fica entre 9 e 15 mm (usualmente admitido 12 mm). Nas curvas, o valor
da superlargura somado ao valor do jogo da via.
Esquema de distribuio de dormentes
Os dormentes, sempre, devem ser colocados em posio perpendicular aos trilhos, inclusive nas
curvas.
O espaamento entre um dormente e outro dependente de vrios fatores, tais como:
Carga dos veculos
Velocidade dos trens
Densidade de trfego
Natureza da plataforma
Raio das curvas
A quantidade de dormentes colocados por quilmetros chamada de dormentao.
1.500 a 1.700 dormentes/km para vias com circulao de trens mais leves
1.600 a 1.800 dormentes/km para vias com circulao de trens mais pesados
acima de 2.000 dormentes/km vias especiais (inclusive na construo)
J untas
Muito se tem discutido sobre a melhor posio para a colocao e apoio das juntas.
No sentido longitudinal, existem duas maneiras usuais de se posicionar as juntas, a primeira
chamada de juntas concordante ou paralelas, a segunda chamada de junta alternada.
No primeiro tipo, as juntas so dispostas na mesma perpendicular aos trilhos neste caso, ao
passar o trem, tem-se o chamado movimento de galope.
No segundo tipo, as juntas so dispostas em posio alternada uma em relao a outra, neste caso,
deve-se procurar a colocao de uma junta prxima ao centro do trilho paralelo a ela neste caso, ao
passar o trem, tem-se o chamado movimento de balano.
Em relao ao apoio das juntas, existem duas maneiras de se proceder, podemos apoiar as
extremidades dos trilhos sobre um dormente (junta apoiada) ou deixar as extremidades fora do dormente
(juntas em balano).
Junta apoiada (no a melhor opo) o trilho que recebe a carga da roda tende a se deformar
provocando assim uma pancada da roda na face do outro trilho, desgastando assim o boleto e ferindo a
roda, alem de provar um solavanco maior.
Junta em balano (melhor opo) como no h o apoio, as duas extremidades dos trilhos tendem
a se flexionar (devido tala de juno) fazendo, assim, que o solavanco seja menor.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
E
s
f
o
r
o
s
q
u
e
a
t
u
a
m
s
o
b
r
e
a
v
i
a
54
CAPTULO 10
Esforos que atuam sobre a via
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
E
s
f
o
r
o
s
q
u
e
a
t
u
a
m
s
o
b
r
e
a
v
i
a
55
Teoricamente a via frrea deveria suportar somente os esforos resultantes dos pesos dos veculos
e a fora centrfuga exercida por estes nas curvas. Porm, a ao dos esforos normais modificada pela
ao dos esforos anormais, que desempenham um papel importante na resistncia da via e derivam das
caractersticas inerentes mesma e das particularidades dos veculos.
Desta forma, podemos definir estes esforos como sendo:
Normais cargas verticais. Anormais devidos prpria via.
fora centrfuga. devidos ao material rodante.
Uma via de maior resistncia necessria por vrios fatores:
Garantir as condies mnimas de segurana,
Projetar uma via com economia,
Aumentar o tempo de durao da mesma
O perfeito conhecimento dos esforos que atuaro sobre a via muito til, no s para o melhor
dimensionamento dos elementos que a comporo, como tambm para identificar os defeitos, conforme os
mesmo aparecem, e poder corrigi-los imediatamente, mediante um correto e bem programado servio de
manuteno e conservao da via.
Podemos, ainda, dividir estes esforos em:
Esforos verticais
So aqueles com direo normal ao plano dos trilhos.
Carga esttica carga originada pelo peso dos veculos, existe somente com os veculos
parados, pois em movimento estas cargas sero dinmicas.
Fora centrfuga vertical qualquer massa excntrica do material rodante e dotada de
movimento de rotao vai gerar uma fora centrfuga vertical que, com as variaes de
posio, ora aumenta ora diminui a carga, ocasionando choques cuja intensidade
proporcional ao quadrado da velocidade.
Movimento de galope em virtude das irregularidades da via, principalmente no caso de
juntas paralelas e defeituosas, origina-se um movimento em um plano vertical paralelo
aos trilhos, que sobrecarrega ora um eixo dianteiro, ora um traseiro.
Movimento de trepidao um movimento semelhante ao anterior, ocasionado por
irregularidades da via, mas no qual as molas dos truques dianteiro e traseiro so
comprimidas ao mesmo tempo, ocasionando uma trepidao que sobrecarrega todos
os eixos.
Movimento de balano ou roulis tambm devido s irregularidades da via, comum
desenvolver-se um movimento no sentido perpendicular via, sobrecarregando ora as
rodas de um lado ora as do outro lado.
Repartio desigual do peso nas curvas como a superelevao no trilho externo dada
para uma determinada velocidade, quando os trens percorrem uma curva com
velocidade maior ou menor do que a de projeto, a resultante das foras deixa de passar
pelo centro da via, aproximando-se mais para um dos lados, no qual o trilho recebe uma
sobrecarga.
Defeitos da linha de um modo geral, qualquer defeito na linha gera uma sobrecarga na
distribuio das cargas.
Defeitos do material rodante tambm o material rodante defeituoso ocasiona choques na
via, que aumentam a carga esttica como por exemplo, calos nas rodas, gerando um
martelamento nos trilhos.
Esforos longitudinais,
Dilatao o aumento ou diminuio da temperatura dos trilhos pode gerar tenses de
compresso e trao nos trilhos.
Movimento de reptao com a passagem das rodas, o trilho sofre uma deformao
elstica, que o flexiona, gerando tenses de compresso e trao no mesmo.
Golpes das rodas nos topos dos trilhos as rodas dos veculos ao encontrarem o topo dos
trilhos, principalmente em juntas defeituosas, pode gerar um componente de fora cuja
tendncia deslocar o trilho para frente.
Esforo trator o esforo trator na roda, em funo da aderncia (atrito elstico) gera uma
fora paralela ao trilho.
Frenagem a frenagem dos trens produz no boleto dos trilhos uma fora de atrito longitudinal
e no sentido do movimento.
Atrito dos frisos das rodas nos trilhos tambm pode gerar uma componente de fora
longitudinal via.
Esforos transversais.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
E
s
f
o
r
o
s
q
u
e
a
t
u
a
m
s
o
b
r
e
a
v
i
a
56
Fora centrfuga nas curvas, a fora centrfuga, no compensada pela superelevao do
trilho externo, produz um esforo transversal no referido trilho.
Movimento de lacet nas retas, devido irregularidade na via ou defeitos no material
rodante, surge um movimento do veculo, em torno de um eixo normal ao plano dos
trilhos, fazendo com que ora a roda externa de um lado, ora do outro, se choque
transversalmente ao trilho, no sentido de alargar a bitola.
Vento como o material rodante oferece uma superfcie exposta considervel, um forte vento
pode criar um esforo dos frisos das rodas, no sentido transversal linha.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
e
d
i
n
m
i
c
o
57
CAPTULO 11
Coeficiente dinmico
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
e
d
i
n
m
i
c
o
58
Devido aos diversos esforos resultantes do movimento dos veculos, devemos considerar as
cargas como dinmicas e no estticas. Assim sendo, temos que multiplicar um coeficiente pela carga
esttica para termos a carga dinmica, este coeficiente chamaremos de coeficiente dinmico ou coeficiente
de impacto.
Vrios estudos foram feitos para se determinar este coeficiente:
Barlow 40% a mais na velocidade de 30 km/h
Henry 50% a mais que a carga esttica (sem indicao de velocidade)
Wohler esforos laterais iguais a 35% da carga vertical
Loewe o dobro da carga em repouso
Guide 1,85 da carga esttica
Dudley suas concluses foram:
1 a 14 km/h as cargas dinmicas variam de 1 a 1,153 da carga esttica
64 km/h a carga dinmica atinge o dobro da carga esttica
100 km/h a carga dinmica atinge o triplo da carga esttica
Carlos Stevenson trabalhou com os dados de Dudley fazendo a suposio de que o
coeficiente varia conforme uma expresso do segundo grau (C
d
= A + BV + CV
2
).
Tabela 9 Exemplos de equaes para clculo do Coeficiente dinmico
Velocidade
Km/h
Stevenson AREA G. Scharamm
2
1
100 100
d
V V
C
| |
= + +
|
\ .
2
1
30.000
d
V
C = +
2 3
4, 5 1, 5
1
100.000 10.000.000
d
V V
C
= +
20 1,24 1,01 1,02
40 1,56 1,05 1,07
60 1,96 1,12 1,13
80 2,44 1,21 1,21
100 3,00 1,33 1,30
120 3,64 1,48 1,39
140 4,36 1,65 1,47
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
l
c
u
l
o
d
o
s
m
o
m
e
n
t
o
s
f
l
e
t
o
r
e
s
59
CAPTULO 12
Clculo dos momentos fletores
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
l
c
u
l
o
d
o
s
m
o
m
e
n
t
o
s
f
l
e
t
o
r
e
s
60
Vrios engenheiros estudaram este assunto, vamos aqui discutir somente o estudo feito por
Zimmermann, pois o que mais se aproxima da realidade.
O mtodo de zimmermann se baseia em duas hipteses:
1 hiptese:
Considerando-se a flexibilidade da via, pode-se admitir que a influncia de uma carga venha a
desaparecer poucos vos alm do seu ponto de aplicao. A partir da teremos duas situaes possveis,
conforme podemos ver na
Figura 37.
Figura 37 hipteses de carregamento
2 hiptese:
Considerando a elasticidade da plataforma, do lastro e dos dormentes, admite-se que o
abaixamento de um ponto do dormente (recalque) proporcional presso unitria exercida no contato do
dormente com o lastro, desta forma teremos a Equao 13.
p C y =
Equao 13 equao para clculo da presso exercida no lastro
sendo:
p presso exercida pelo dormente no lastro (kg/cm
2
)
y recalque (cm)
C coeficiente de proporcionalidade coeficiente de lastro, experimental (kgf/cm
3
)
Se utilizarmos esta hiptese e considerarmos a carga total R em cada dormente, ao invs da carga
unitria p, podemos escrever a Equao 14.
R
D
y
=
Equao 14 equao para o clculo da presso com carga total
Sendo:
D coeficiente de dormente (kg/cm).
Isso quer dizer que as cargas (reaes) em cada dormente so proporcionais aos recalques e
ento teremos a Equao 15.
R D y =
Equao 15 carga nos dormentes
Com a finalidade de verificarmos o que representam os valores de C e D, vamos imaginar que y = 1
(recalque unitrio) e vamos aplicar na Equao 13 e na Equao 15.
Desta forma teremos que:
p C = e R D =
Assim sendo, podemos dizer que C a carga unitria (presso no lastro) que acarreta o recalque
unitrio y e D a carga em cada dormente (reao de apoio) que produz o recalque unitrio y.
Sabemos tambm que
R
p
S
= , sendo S a rea de apoio sob o dormente, em cada trilho. Desta
forma teremos que
R D
p C
S S
= = = D C S = .
Sendo que S b c = , onde: b a largura do dormente e c a distncia de apoio (faixa de socaria),
conforme mostrado na Figura 38, teremos D C S = D C b c =
Como a uma deformabilidade do dormente (madeira), utilizamos ainda uma correo na expresso,
desta forma teremos 0, 9 D C b c =
P P
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
l
c
u
l
o
d
o
s
m
o
m
e
n
t
o
s
f
l
e
t
o
r
e
s
61
Figura 38 localizao de c e b para a rea de apoio sob o dormente
Alguns valores de C (kg/cm
3
) com lastro de pedra brita sobre diferentes plataformas
Saibro 2,6 a 3,3
Areia 5,3 a 7,2
Argila compactada 6,8 a 7,5
Rocha 7,6 a 8,9
Fundao 15
Seguindo as hipteses de carregamento de Zimmermann, teremos
Figura 39 momento fletor 1 hiptese de carregamento de Zimmermann
Figura 40 momento fletor 2 hiptese de carregamento de Zimmermann
Os recalques nos apoios para a 1 hiptese sero y
1
= y
4
e y
2
= y
3
, e para a 2 hiptese sero y
1
=
y
3
.
Teremos:
3
6 E I
D a
Sendo:
E mdulo de elasticidade do ao (kg/cm
2
)
I mdulo de inrcia do trilho (cm
4
)
D coeficiente de dormente (kg/cm)
a distancia entre os centros dos dormentes (cm)
coeficiente da superestrutura (adimensional)
Aplicamos ento para 1 hiptese de carregamento a Equao 16 e para a 2 hiptese de
carregamento a Equao 17.
( )
max
7 8
8 5 2
d
M P C a
+
=
+
Equao 16 momento mximo para a 1 hiptese de carregamento
P
M1 M2 M3
a a
R1 R2 R3
P
M1 M2 M3 M4
a a a
R1 R2 R3 R4
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
C
l
c
u
l
o
d
o
s
m
o
m
e
n
t
o
s
f
l
e
t
o
r
e
s
62
max
2 3
d
M P C a
=
+
Equao 17 - momento mximo para a 2 hiptese de carregamento
Adotamos sempre o maior entre os dois valores calculados para o M
max
..
Devemos, na seqncia, fazer a verificao do valor para podermos escolher o trilho a ser usado.
max
adm
M
W
o o = s
Sendo:
o = tenso de trao ou compresso
W = mdulo resistente do boleto conforme expresso na Tabela 8.
o
adm
= 1.500 kg/cm
2
(adotado em funo da segurana)
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
63
CAPTULO 13
Lotao de trens
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
64
A lotao de trens nada mais que o clculo de quantos vages podero ser tracionados e de
quantas, e quais, locomotivas sero necessrias para esta tarefa, pois diferente do transporte rodovirio em
uma ferrovia pode-se ir adicionando vages e locomotivas a composio, quase que, indefinidamente,
obviamente que isso depende muito do traado a ser utilizado pela composio.
A princpio, o clculo do nmero de vages e locomotivas que compem a configurao de um trem
leva em considerao a fora de trao das locomotivas e a resistncia ao movimento que todos os veculos
oferecem. A resistncia ao movimento pode ser dividida da seguinte forma:
- Resistncia Normal: aquela que atua sempre em qualquer tipo de composio e devida as
caractersticas da via e do veculo, composta pelo atrito do ar e das peas mveis;
- Resistncia Acidental: aquela que ir aparecer algumas vezes em algumas situaes
especficas e quando surgirem devem ser consideradas, estas podem ser a resistncia de
rampa (componente do peso do veculo que atua no sentido oposto ao movimento), a
resistncia de curva (denotada pela dificuldade de inscrio dos truques a via) e resistncia
de inrcia (potncia necessria para aceleraes iniciais).
Para haver trao do veculo sobre a via alguns itens so necessrios (assim como no transporte
rodovirio), de haver um peso suficiente do equipamento e uma potncia condizente com isso, ou seja,
veculos muito leves e potentes iro patinar ao tentarem tracionar uma carga muito elevada, na situao
contrria, o veculo no ter potncia para arrastar o seu peso prprio.
O clculo da lotao nada mais que equilibrar todos estes fatores, encontrando a locomotiva certa
e quantidade adequada de vages a serem tracionados, isso deve ser feito para o pior trecho do traado, ou
seja, aquele que apresenta maior somatria de resistncias e onde o trem desenvolve velocidade crtica
(velocidade baixa, com elevado torque nos eixos).
Este equilbrio obtido ao se igualar o esforo trator a resistncia total enfrentada pela composio.
Nesta resistncia, pode estar embutida uma parcela de potncia reservada para eventual acelerao em
momentos crticos (resistncia de inrcia). Para isso devemos fazer uso da Equao 18.
Equao 18 Equao de equilbrio para lotao de trens (Porto, 2004)
Na Equao 18 temos que:
n
locomotivas
= nmero de locomotivas da composio
F = esforo tratos de cada locomotiva
n
vago
= nmero de vages da composio
R
total.loomotiva
= resistncia total sofrida por cada locomotiva
R
total.vago
= resistncia total sofrida por cada vago
A resistncia total (R
total.
), tanto para vages quanto para locomotivas, composta por diversas
outras resistncias, e estas dependem totalmente das caractersticas individuais de cada veculo (tipo, peso,
etc) e estes so bastante variveis de veculo para veculo devemos determinar as resistncias individual de
cada veculo e ento proceder a soma das mesmas, a determinao das resistncias pode ser feita com o
uso da Equao 19.
Equao 19 Equao genrica para clculo das resistncias individuais (Porto, 2004)
Na Equao 19 temos que:
R
x
= resistncia especfica a ser calculada
F
resist.
= fora resistente
P
vecul
= peso do veculo
Como as resistncias individuais so expressas em kgf/tf,podemos reescrever a Equao 19
considerando os diversos tidos de veculos que compem a referida composio (k tipos de vages e m
tipos de locomotivas), desta forma obteremos a Equao 20.
Equao 20 Equao de equilbrio para lotao de trens reorganizada (Porto, 2004)
Na Equao 20 temos que:
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
65
m = locomotiva que se esta calculando
n
lj
= quantidade de locomotiva do tipo j
F
j
= Esforo trator da locomotiva j (kgf)
P
lj
= Peso da locomotiva j (tf)
R
nj
= Resistncia normal da locomotiva j (kgf/tf)
R
cj
= Resistncia de curva da locomotiva j (kgf/tf)
R
rj
= Resistncia de rampa da locomotiva j (kgf/tf)
R
ij
= Resistncia de inrcia da locomotiva j (kgf/tf)
k = vago que se esta calculando
n
vi
= quantidade de vages do tipo i
P
vi
= Peso do vago i (tf)
R
ni
= Resistncia normal do vago i (kgf/tf)
R
ci
= Resistncia de curva do vago i (kgf/tf)
R
ri
= Resistncia de rampa do vago i (kgf/tf)
R
ii
= Resistncia de inrcia do vago i (kgf/tf)
Dos itens vistos na Equao 20, o nmero de vages e locomotivas e o peso dos mesmos so
facilmente encontrados, precisamos ento obter o valor de cada uma das resistncias.
Resistncia Normal (R
n
)
Esta resistncia aquela que atua sempre e em todos os casos sobre um veculo qualquer,
advinda da resistncia do ar e do atrito entre as partes mveis do veculo, sendo por isso, de muito difcil
medio. Desta forma o valor da mesma obtido com o uso de frmulas experimentais, um exemplo a
frmula de Davis. Esta frmula especifica para cada tipo de veculo. A Equao 21 ilustra a formulao
para locomotivas com peso por eixo acima de 5 ton e a Equao 22 ilustra a formulao para vages
genricos.
Equao 21 Equao experimental de Davis para locomotivas (Porto, 2004)
Equao 22 Equao experimental para vages genricos (Porto, 2004)
Na Equao 21 e Equao 22 na temos que:
R
n
= resistncia normal em libras por short-ton (1 ls/s-ton = 0,5 kgf/tf)
w = peso mdio por eixo em short-ton (1 ton = 1,1 shor-ton)
V = Velocidade em milhas por horas (mph)
A = Projeo da rea frontal em ps quadrados (sqf)
Resistncia de Rampa (R
r
)
Esta resistncia atua somente quando os veculos esto em rampas, ou seja, uma parte adicional
de potencia que deve ser deixada como segurana para o momento em que o veculo esta em uma subida.
Esta componente muito importante, pois sempre que a composio se deparar com uma subida ela
precisa de fora extra para venc-la, ou seja, a incorporao desta s vital para o transito na referida via.
Para o clculo desta resistncia, utilizamos a fsica bsica, conforme o demonstrado na Figura 41 e
desta ir resultar o exposto na Equao 23. Nesta situao, para i em m/m, obteremos a resistncia em
m/m, para obter a mesma em kgf/tf, precisamos ter F em kgf e P em tf, e desta foram precisaremos ajustar i,
conforme o demonstrado na Equao 24.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
66
Figura 41 Esquema fsico de um veculo em uma rampa
Equao 23 Equao para o clculo da resistncia genrica de rampa (Porto, 2004)
Equao 24 Equao para o clculo da resistncia de rampa (Porto, 2004)
Resistncia de Curva (R
c
)
Esta resistncia se refere a dificuldade de inscrio de um truque ferrovirio em uma curva e
diretamente dependente da distncia entre os eixos no truque, da bitola da via e do raio da curva. Assim
como a resistncia normal bastante complexa de ser obtida e para a sua estimativa utilizamos uma
frmula emprica, neste caso a frmula de Stevenson (para locomotivas), que pode ser vista na Equao 25.
J a Equao 26 demonstra a frmula para clculo da mesma em vages genricos.
Equao 25 Equao para o clculo da resistncia de rampa locomotivas (Porto, 2004)
Equao 26 Equao para o clculo da resistncia de rampa vages (Porto, 2004)
Na Equao 25 temos que:
R
c
= resistncia de curva (kgf/tf)
R = raio da curva (m)
p = distncia entre os eixos do truque base rgida (m)
b = bitola da via (m)
Resistncia de Inrcia (R
i
)
Esta resistncia se refere a uma potncia extra para possveis aceleraes da composio no meio
do percurso, ou mesmo para iniciar um percurso, ou seja, tirar a composio do repouso e coloc-la em
movimento. Esta formulao sai do trabalho necessrio para se vencer um determinado obstculo e pode
ser obtido, diretamente, pela Equao 27.
Equao 27 Equao para o clculo da resistncia de rampa (Porto, 2004)
Na Equao 27 temos que:
R
i
= resistncia de inrcia (kgf/tf)
V
i
= velocidade inicial (km/h)
V
f
= velocidade final (km/h)
l = comprimento do trecho em acelerao (m)
V
P
F
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
67
Esforo trator
O esforo trator de um veculo, devido a velocidade constante, igualado a soma das resistncias
ao movimento, pois tem de venc-las para poder se locomover. Este esforo depende, diretamente, dos
equipamentos, da potncia dos mesmos, e limitado pela aderncia que os mesmos tm sobre os trilhos,
ou seja, no adianta ter potncia de sobra se a aderncia no suportar tudo isso o excesso de potncia far
o veculo patinar na via.
Para isso precisamos saber o torque transferido pelo equipamento aos eixos, que inversamente
proporcional velocidade desenvolvida pelo mesmo (Figura 42). Devemos lembrar que sempre teremos
que considerar o pior trecho do segmento em estudo, pois ser nele que teremos de proporcionar o maior
torque. Temos ento o exposto na Equao 28. A curva ideal (determinada pelo fabricante do equipamento)
pode ser obtida com o uso da Equao 29, que mostra que o esforo diretamente dependente da potncia
do motor a ser utilizado pelo equipamento.
Equao 28 Equao o clculo da potncia (Porto, 2004)
Equao 29 Equao para determinao do esforo trator (Porto, 2004)
Na Equao 29 temos que:
F = esforo trator do veculo (kgf)
V = velocidade do veculo (km/h)
W
nom
= potencia nominal do veculo (HP)
= rendimento do motor a ser utilizado
Figura 42 Esquema grfico entre Esforo Trator e Velocidade (Porto, 2004)
Como visto, este esforo calculado ser limitando pela aderncia do equipamento a via, no caso,
das rodas aos trilhos. Isso tudo para garantir que no ocorra derrapagem do veculo, ou seja, deve-se evitar
que o mesmo patine nos trilhos. Este limitador pode ser obtido com o uso da Equao 30.
Equao 30 Equao para determinao da aderncia (Porto, 2004)
Na Equao 30 temos que:
F
ad
= fora de atrito aderente (tf)
P
ad
= peso aderente (kgf)
f = coeficiente de atrito roda-trilho
O peso aderente aquele que tem uma real contribuio para a solicitao advinda do atrito nas
rodas com ao da trao, ou seja, ser o peso do equipamento dividido pela quantidade de eixos tratores
disponveis. J o coeficiente de atrito uma constate de aplicao entre a roda e o trilho e seu valor
costuma variar entre 0,18 e 0,22, isso dependendo das condies encontradas na superfcie dos trilhos.
Para podermos obter o peso aderente, precisamos saber quantos eixos tratores cada locomotiva
possui, e para isso fazemos uso da classificao das mesmas que dada por uma notao N-A-A-N, onde
temos que N corresponde a um nmero que indica quantos eixos sem trao so encontrados na
locomotiva e A, que representado por uma letra, indica quantos eixos tracionveis existem na locomotiva.
A letra A ser substituda por uma letra B se o equipamento tiver 2 eixos tratores e por uma C se possuir 3
eixos tratores. A Figura 43 ilustra a classificao de algumas locomotivas. Os eixos sem trao tm como
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
68
nica funo auxiliar na distribuio do peso da locomotiva, para no sobrecarregar demais uma pequena
regio dos trilhos.
Figura 43 Esquema de classificao das locomotivas (Porto, 2004)
Exemplo
Este exemplo foi retirado na integra Porto, 2004.
Um comboio ferrovirio, com trao dupla, formado por 40 vages. Considerando-se os dados
abaixo, responda:
a) Qual o valor da rampa mais ngreme que o comboio pode subir?
b) Qual o esforo trator adicional necessrio para elevar a velocidade at 40 km/h num percurso
de 1000 m nesta mesma rampa?
c) Este mesmo comboio (sem esforo trator adicional) conseguiria descrever adequadamente uma
curva com raio de 200 m, numa via de bitola larga?
Dados do problema:
- Velocidade crtica: 15 km/h;
- Locomotiva:
o Classe 1-B-B-1;
o Potncia: 2000 HP
ef
;
o Peso: 150 tf;
o Atrito roda-trilho: 0,2;
o Base rgida: 3,5 m;
o rea frontal: 120 sqf;
- Vago:
o Peso: 80 tf;
o rea frontal: 100 sqf;
Soluo para o problema:
a) Qual o valor da rampa mais ngreme que o comboio pode subir?
Esforo trator de cada locomotiva:
Limitao de aderncia:
Desta forma o esforo trator necessrio para cada locomotiva ser definido pela aderncia.
Equilbrio:
Resistncias da locomotiva:
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
L
o
t
a
o
d
e
t
r
e
n
s
69
Resistncias do vago:
Desta forma teremos para o equilbrio a rampa mxima de 1%
b) Qual o esforo trator adicional necessrio para elevar a velocidade at 40 km/h num percurso
de 1000 m nesta mesma rampa?
c) Este mesmo comboio (sem esforo trator adicional) conseguiria descrever adequadamente uma
curva com raio de 200 m, numa via de bitola larga?
Para a locomotiva
Para o vago
Desta forma teremos para o equilbrio a rampa mxima de 1%
Cada locomotiva dispem de 20.000 kgf de esforo trator e nesta curva necessitamos
somente de 9.770 kgf, o que permite que a composio faa a curva sem maiores problemas.
Obviamente estamos considerando uma curva fora de uma subida, ou seja, desprezamos a
componente advinda da inclinao.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
M
a
t
e
r
i
a
l
R
o
d
a
n
t
e
e
P
t
i
o
s
F
e
r
r
o
v
i
r
i
o
s
70
CAPTULO 14
Material Rodante e Ptios
Ferrovirios
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
M
a
t
e
r
i
a
l
R
o
d
a
n
t
e
e
P
t
i
o
s
F
e
r
r
o
v
i
r
i
o
s
71
Esta parte da matria ser vista de forma ilustrativa em sala de aula, devido a complexidade dos
clculos para ptios ferrovirios e aos excesso ilustrativo do material rodante.
Material rodante
O material rodante dividido em dois grupos, os de trao e os que so tracionados. Cada um
destes tem suas prprias caractersticas e classificaes. Os equipamentos de trao so as locomotivas
(trens unidades e os carros-motores), j os equipamentos tracionados tm diversas classificaes e
caractersticas que diferenciam muito uns dos outros.
Locomotivas so os equipamentos que do trao a composio estas podem ser trens unidades,
ou seja, o veculo carrega exclusivamente o motor (locomotivas de carga), ou trens-unidade, que so
veculos que alm do motor levam carga tambm (Trens do metr).
Os equipamentos tracionados so muito diversos e particulares, sendo, basicamente, divididos em
carros (transportam passageiros) e vago (transportam carga). Cada um destes pode aparecer das mais
variadas formas e os mesmo so classificados segundo algumas composies bsicas, mas a qualquer
momento algo novo pode surgir, alterando uma categoria ou at mesmo criando uma nova categoria.
Ptios ferrovirios
OS ptios ferrovirios so os locais de manobras das composies, ou seja, so os locais
reservados para os veculos mudarem de via, de sentido, estacionarem e carregarem e descarregarem.
Nestes locais diversos cuidados devem ser tomados, como por exemplo, garantir o afastamento lateral entre
veculos, Garantir o espaamento longitudinal na via que comporte uma composio, dentre outros.
Escola de Engenharia e Tecnologia 2010
C
a
p
t
u
l
o
:
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
i
a
72
Bibliografia
Brina, Helvcio Lapertosa. Estradas de Ferro. Volume 1. LTC, 1983.
Brina, Helvcio Lapertosa. Estradas de Ferro. Volume 2. LTC, 1983.
Castello Branco, Jos Eduardo Saboia & Ferreira, Ronaldo (editores) e outros. Tratado de Estradas de
Ferro - Material Rodante, Os editores, Rio de Janeiro, 2000.
Castello Branco, Jos Eduardo Saboia & Ferreira, Ronaldo (editores) e outros. Tratado de Estradas de
Ferro - Preveno e Investigao de Descarrilamentos, Os editores, Rio de Janeiro, 2002.
DNIT Departamento Nacional de Infra-estrutura em Transportes. Ferrovias. 2008. Disponvel em:
http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/apresentacao.asp, Acessado em 2 de julho de 2008.
Porto, Telmo Giolito. Ferrovias (apostila). USP, 2004.
Schoppa, Ren Fernandes. Cento e cinqenta anos do trem no Brasil. O autor, 2004.
Potrebbero piacerti anche
- Traçagem e caldeiraria básicaDocumento75 pagineTraçagem e caldeiraria básicaHudson Saldanha100% (2)
- Manual Didático de Ferrovias - Ufpr 2017Documento203 pagineManual Didático de Ferrovias - Ufpr 2017Marcio Fialho100% (6)
- 1civ 259 Trem Tipo Locomotiva Vagoes SL 2022.1Documento163 pagine1civ 259 Trem Tipo Locomotiva Vagoes SL 2022.1MARCO TULIO OLIVEIRA SILVANessuna valutazione finora
- Estradas de Ferro - Brina - Volume 1Documento265 pagineEstradas de Ferro - Brina - Volume 1Luqman Khan100% (2)
- TTMF-008-03 Manutenção de Fixações PDFDocumento32 pagineTTMF-008-03 Manutenção de Fixações PDFAnderson JuniorNessuna valutazione finora
- Segurança Operacional de Trens de CargaDocumento458 pagineSegurança Operacional de Trens de CargaJuniorSoloforte100% (1)
- Apostila Sistema de Freios - UNIVIXDocumento274 pagineApostila Sistema de Freios - UNIVIXAlfredo Perazzo Morillo100% (12)
- 04 - Elementos de Via PermanenteDocumento61 pagine04 - Elementos de Via Permanentejonas luz100% (2)
- Regras de segurança para operação ferroviáriaDocumento166 pagineRegras de segurança para operação ferroviáriaThiago Neres100% (2)
- TTMF 005 03 Inspeção VisualDocumento46 pagineTTMF 005 03 Inspeção VisualAnderson JuniorNessuna valutazione finora
- Sistema de Sinalizacao Tarja Baixa 02-04-09Documento96 pagineSistema de Sinalizacao Tarja Baixa 02-04-09Thiago Neres100% (1)
- CBTC HeadwayDocumento56 pagineCBTC HeadwaymarcelotoNessuna valutazione finora
- TTMF-007-03 Manutenção de DormentesDocumento88 pagineTTMF-007-03 Manutenção de DormentesAnderson Junior100% (1)
- Apostila CCTDocumento197 pagineApostila CCTJosé Júnior Dias Eleutério100% (1)
- TTMF 017 03 Sinalização BásicaDocumento68 pagineTTMF 017 03 Sinalização BásicaAnderson Junior100% (2)
- Execução e manutenção da superestrutura ferroviáriaDocumento49 pagineExecução e manutenção da superestrutura ferroviáriaMarcelo Morais100% (2)
- Sistema de Transmissão Elétrica PUCDocumento242 pagineSistema de Transmissão Elétrica PUCSergio Luis Brockveld Jr.100% (1)
- Curso - Manut AMV's (Rev-8)Documento88 pagineCurso - Manut AMV's (Rev-8)Carlos Eduardo83% (6)
- Sistema multiporta com controle droop destinado à regeneração de energia em locomotivas diesel-elétricasDa EverandSistema multiporta com controle droop destinado à regeneração de energia em locomotivas diesel-elétricasNessuna valutazione finora
- Amv - Aparelho de Mudança de ViaDocumento47 pagineAmv - Aparelho de Mudança de ViaJeanfavaretto100% (7)
- Inspeção de via permanente: manutenção da ferroviaDocumento17 pagineInspeção de via permanente: manutenção da ferroviaAntonio Estevam100% (5)
- A Dinâmica Ferroviária PDFDocumento188 pagineA Dinâmica Ferroviária PDFRafaelDutilNessuna valutazione finora
- Tecnologias ferroviárias: evolução do material rodanteDocumento64 pagineTecnologias ferroviárias: evolução do material rodanteJoao Paulo Lima75% (4)
- Transportes: História, crises e caminhosDa EverandTransportes: História, crises e caminhosValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Sinalização Ferroviária: Sistemas e FuncionamentoDocumento83 pagineSinalização Ferroviária: Sistemas e FuncionamentoMarcus Vinícius de Paiva86% (7)
- Tri LhosDocumento31 pagineTri Lhoscomando100% (1)
- Classificacao de Vagões - Gdu e GDTDocumento11 pagineClassificacao de Vagões - Gdu e GDTJoão Carlos Ferreira MilagresNessuna valutazione finora
- IME - Superestrutura Ferroviária (Completo) Revisão 2011-1Documento64 pagineIME - Superestrutura Ferroviária (Completo) Revisão 2011-1Anderson Wesley100% (3)
- Manual Técnico de Manutenção Da Via Permanente - Apostilas - Engenharia de Transportes Part2Documento121 pagineManual Técnico de Manutenção Da Via Permanente - Apostilas - Engenharia de Transportes Part2igorfernandess100% (4)
- Ferrovias da SADC: Interoperabilidade e IntegraçãoDocumento22 pagineFerrovias da SADC: Interoperabilidade e IntegraçãoNei CumbaneNessuna valutazione finora
- Transporte ferroviário: características físicas e econômicasDocumento35 pagineTransporte ferroviário: características físicas e econômicasVanilson Maques Vanin100% (2)
- Via PermanenteDocumento128 pagineVia PermanenteReinaldo Almeida100% (9)
- TransportesDocumento5 pagineTransportesRenatoNessuna valutazione finora
- Alarme CWDB para detecção de deficiência de frenagem em vagõesDocumento41 pagineAlarme CWDB para detecção de deficiência de frenagem em vagõessistemaxpNessuna valutazione finora
- Estratégia de manutenção de vagões na VLIDocumento169 pagineEstratégia de manutenção de vagões na VLIJosé Júnior Dias Eleutério100% (2)
- Gestao e Manut Infraest FerroviariaDocumento143 pagineGestao e Manut Infraest Ferroviariajoaonunes.4054430% (1)
- TTMF 003 03 DinâmicaDocumento102 pagineTTMF 003 03 DinâmicaAnderson Junior100% (2)
- Manual de Ferrovias UFPRDocumento202 pagineManual de Ferrovias UFPRNumismática OliveiraNessuna valutazione finora
- TCCDocumento21 pagineTCCMoisés JúniorNessuna valutazione finora
- TTMF 006 03 Manutenção SuperestruturaDocumento140 pagineTTMF 006 03 Manutenção SuperestruturaAnderson Junior100% (1)
- Normas ferroviárias brasileiras e internacionaisDocumento6 pagineNormas ferroviárias brasileiras e internacionaisclaudenirrios100% (1)
- Modos transporte PortugalDocumento27 pagineModos transporte PortugalAngus Mcgill100% (1)
- Sistema de HidrantesDocumento3 pagineSistema de HidrantesAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- MANUAL DIDATICO DE FERROVIAS 2010 (p.91-193) SEGUNDA PARTEDocumento103 pagineMANUAL DIDATICO DE FERROVIAS 2010 (p.91-193) SEGUNDA PARTEDfl7100% (2)
- Material Rodante LocomotivaDocumento28 pagineMaterial Rodante LocomotivaElielton Costa100% (1)
- Módulo Maquinista Ferroviário - 1Documento284 pagineMódulo Maquinista Ferroviário - 1washington inacio100% (1)
- Ferrovias brasileiras: características e tipos de veículos sobre trilhoDocumento30 pagineFerrovias brasileiras: características e tipos de veículos sobre trilhopercy f.f100% (1)
- Desafios e perspectivas do setor ferroviário brasileiro:: novos corredores e a proposta de shortlinesDa EverandDesafios e perspectivas do setor ferroviário brasileiro:: novos corredores e a proposta de shortlinesValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- A Elasticidade Da Via PermanenteDocumento22 pagineA Elasticidade Da Via PermanenteJonathan Spindola MexiasNessuna valutazione finora
- Inspeção visual da via ferroviáriaDocumento30 pagineInspeção visual da via ferroviáriaThiago Neres100% (1)
- Dinâmica FerroviáriaDocumento47 pagineDinâmica Ferroviáriarenato100% (8)
- A Visão Sistêmica Dos Transportes - Eng. Fernando Mac DowellDocumento43 pagineA Visão Sistêmica Dos Transportes - Eng. Fernando Mac DowellFórum de Desenvolvimento do Rio100% (2)
- Aparelhos de Mudança de ViaDocumento38 pagineAparelhos de Mudança de ViaThiago Nunes Viana100% (3)
- Elementos Básicos da Via PermanenteDocumento87 pagineElementos Básicos da Via Permanentetonisilver100% (1)
- Geometria de Via Ferroviária: Superelevação, Raio de Curva e Velocidade MáximaDocumento47 pagineGeometria de Via Ferroviária: Superelevação, Raio de Curva e Velocidade MáximaJonelso Fernandes100% (2)
- Formulario Fenômenos de TransporteDocumento2 pagineFormulario Fenômenos de TransporteAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- WS IHHA - Via Permanente - Jun2012 - Port FinalDocumento150 pagineWS IHHA - Via Permanente - Jun2012 - Port FinalRodrigo Franco100% (2)
- Elementos da via permanente ferroviáriaDocumento56 pagineElementos da via permanente ferroviáriaigorfernandessNessuna valutazione finora
- Defeitos em vias permanentes e soluçõesDocumento39 pagineDefeitos em vias permanentes e soluçõesnonatomartins100% (1)
- Sensores industriais: termopares, medidores de vazão e níveisDocumento57 pagineSensores industriais: termopares, medidores de vazão e níveislarissa CardosoNessuna valutazione finora
- Mecanica Dos Solos Vol 02Documento171 pagineMecanica Dos Solos Vol 02mayra.msp2Nessuna valutazione finora
- RotundasDocumento98 pagineRotundasFluke2Nessuna valutazione finora
- Propriedase Mecanicas ArgilaDocumento140 paginePropriedase Mecanicas ArgilaTimothy CaldwellNessuna valutazione finora
- 3a Avaliação Bimestral 1ºDocumento2 pagine3a Avaliação Bimestral 1ºDerek BjarkassonNessuna valutazione finora
- Lajes Pré-Moldadas DiegoDocumento91 pagineLajes Pré-Moldadas DiegoDiego SchneiderNessuna valutazione finora
- TCC - Ricardo Vinicius ZinDocumento82 pagineTCC - Ricardo Vinicius ZinFabio PradoNessuna valutazione finora
- Mdescritiva e Pdesenhadas de Projeto2023523154636Documento90 pagineMdescritiva e Pdesenhadas de Projeto2023523154636Rui PereiraNessuna valutazione finora
- Molhos FondueDocumento2 pagineMolhos FondueAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- Allan Eckert - Aconteceu em Hawk's HillDocumento67 pagineAllan Eckert - Aconteceu em Hawk's HillAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- GerarPDF 3102013125940Documento1 paginaGerarPDF 3102013125940Alessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- 01 OrtografiaDocumento11 pagine01 OrtografiaAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- (26-02) Comunicação e Expressão - Conceito de TextoDocumento2 pagine(26-02) Comunicação e Expressão - Conceito de TextoAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- Planejamento e Segurança ConstruçõesDocumento5 paginePlanejamento e Segurança ConstruçõesAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- AULA 1 - TudoDocumento55 pagineAULA 1 - Tudowssouza123Nessuna valutazione finora
- Rosca de GeléiaDocumento1 paginaRosca de GeléiaAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- Aula 1Documento7 pagineAula 1Alessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- O que é um heliponto e suas principais característicasDocumento72 pagineO que é um heliponto e suas principais característicasNeemias Gomes Do NascimentoNessuna valutazione finora
- 05 RegenciaDocumento11 pagine05 RegenciaAlessandra RodriguesNessuna valutazione finora
- Regulação de Transportes TerrestresDocumento21 pagineRegulação de Transportes Terrestresluanafreitas11Nessuna valutazione finora
- Glossário de termos ferroviáriosDocumento11 pagineGlossário de termos ferroviáriosHugo PollokNessuna valutazione finora
- Passagem: 12383924-1 - Localizador: SGP3242671WF Passageiro: DOC: 14722417 - Rodrigo Queiroz Seixas CostalongaDocumento8 paginePassagem: 12383924-1 - Localizador: SGP3242671WF Passageiro: DOC: 14722417 - Rodrigo Queiroz Seixas CostalongaRodrigoNessuna valutazione finora
- Ma091 Ex4Documento8 pagineMa091 Ex4jamisialoboNessuna valutazione finora
- Transporte Dist Fisica e Prog Linear 1 PDFDocumento12 pagineTransporte Dist Fisica e Prog Linear 1 PDFDavid TavaresNessuna valutazione finora
- 3 o Transporte Ferroviario No Est Do Rio de Janeiro PDFDocumento36 pagine3 o Transporte Ferroviario No Est Do Rio de Janeiro PDFcarlosgiganteuolcombrNessuna valutazione finora
- Atividade Dia 23-03Documento4 pagineAtividade Dia 23-03Gabriel Rocha MelloNessuna valutazione finora
- Superestrutura Ferroviária - Rev 13-08-2018Documento70 pagineSuperestrutura Ferroviária - Rev 13-08-2018Luiza PinattiNessuna valutazione finora
- Ueg 2014-1 - Prova InglׂsDocumento34 pagineUeg 2014-1 - Prova InglׂsGrabriella SoaresNessuna valutazione finora
- Exerci CioDocumento4 pagineExerci CioEduardo GarciaNessuna valutazione finora
- Plano Estrategico Economico BragaDocumento84 paginePlano Estrategico Economico BragaJoséNessuna valutazione finora
- Catálogo de Trilhos 1Documento8 pagineCatálogo de Trilhos 1Cleiton Coelho de ResendeNessuna valutazione finora
- Aplicação Da Electronica Analogica Na Engenharia FerroviáriaDocumento10 pagineAplicação Da Electronica Analogica Na Engenharia FerroviáriaHercilio AlbertoNessuna valutazione finora
- A Cabotagem no Brasil: um modal promissor e sustentávelDocumento25 pagineA Cabotagem no Brasil: um modal promissor e sustentávelLeh Rodrigues100% (1)
- Avaliação da incomodidade por ruído ambientalDocumento15 pagineAvaliação da incomodidade por ruído ambientalGonçalo AntunesNessuna valutazione finora
- Avaliação individual de Engenharia de Transportes I (IFALDocumento11 pagineAvaliação individual de Engenharia de Transportes I (IFALVALDILEIA OLIVEIRA DOS SANTOSNessuna valutazione finora
- Av2 - Infraestrutura de TransporteDocumento21 pagineAv2 - Infraestrutura de TransporteJúlia VelosoNessuna valutazione finora
- Trabalho de Conclusão de Curso - Lucas KummerDocumento47 pagineTrabalho de Conclusão de Curso - Lucas KummerArquimedes Diógenes CiloniNessuna valutazione finora
- Imagem Da Estação de Lamego Pág. 22 PDFDocumento52 pagineImagem Da Estação de Lamego Pág. 22 PDFRoberto AlbuquerqueNessuna valutazione finora
- JulietDocumento11 pagineJulietZALINONessuna valutazione finora
- CFN - TransnordestinaDocumento44 pagineCFN - TransnordestinaCajunior RejexNessuna valutazione finora
- Steam headers equipment listDocumento1 paginaSteam headers equipment listClerder CardosoNessuna valutazione finora
- DL 257-2007 (Consolidado)Documento14 pagineDL 257-2007 (Consolidado)Isabel CardosoNessuna valutazione finora
- Redes transporte e telecomunicaçõesDocumento7 pagineRedes transporte e telecomunicaçõesmf1963Nessuna valutazione finora