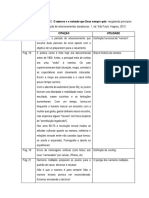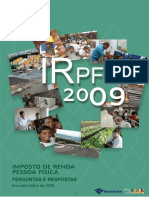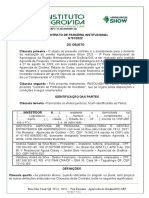Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Apostila de Filosofia - 2da Parte - Prof. Laerte Moreira Dos Santos
Caricato da
Mauricio SabinoCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Apostila de Filosofia - 2da Parte - Prof. Laerte Moreira Dos Santos
Caricato da
Mauricio SabinoCopyright:
Formati disponibili
TICA E POLTICA
- Apostila de Filosofia para o 2 semestre de 2001 -
Prof. Laerte Moreira dos Santos
Agosto de 2001
TICA E POLTICA
1 - MAQUIAVEL: A POLTICA COMO ELA (Do livro: Maquiavel: a poltica como ela , Maria Tereza Sadek, FTD, 1996) 1.1 Voc sabe com quem est falando? As cenas a seguir no tm um cenrio fixo. Podem se passar no Brasil, nos Estados Unidos, na Frana, no Japo ou em qualquer outra parte. Tambm no tm ou no precisam ter um tempo previamente demarcado; podem ter ocorrido em 1930, 1950, 1980, 1990, ou ainda estar por acontecer. O que importa, independentemente do lugar ou do tempo, que descrevem fatos familiares. A carapua pode ser vestida por polticos existentes ou fictcios. Mas a mscara , de toda forma, reconhecvel. Ela personifica uma imagem bastante difundida da atividade poltica. A plausibilidade e freqncia com que se repte tm levado muitas pessoas a se afastar da vida pblica e muitas outras a dizer que no tm interesse pela poltica, considerando esta atividade quase desprezvel. Alguns, imersos numa viso realista, mas no menos influenciada pelo comportamento de tantos polticos, podero chegar a sustentar: "ora, isso a poltica!". Valem quaisquer meios apra obter ou apra permanecer no poder. CENA 1 Vspera de eleies. Dois candidatos disputam voto a voto a preferncia do eleitorado. Pesquisas de opinio indicam um empate tcnico. De repente, uma notcia explode nos meios de comunicao: um dos concorrentes acusado de ter forado sua ex-companheira a fazer um aborto e de ter uma filha ilegtima. Esse poltico, visto at ento como de reputao ilibada, perde votos. Sabe-se depois que a cena foi montada, que a mulher recebeu dinheiro para sustentar tais acusaes. CENA 2 A equipe governante perde apoio popular. A cada dia surgem novas acusaes de verbas desviadas, a inflao cresce e o desemprego atinge altos ndices. A oposio, ao contrrio, cresce em prestgio. Quando tudo indicava que o grupo do governo vivia seus ltimos dias, revelado um plano de golpe, encabeado pelos crticos do governo. Evoca-se, inclusive, a descoberta de documentos secretos, nos quais estariam traadas aes para assassinar os principais membros do governo. Com essa justificativa, so tomadas vrias medidas de exceo que reforam o poder dos governantes: o Congresso fechado e as prximas eleies so adiadas; lideranas de oposio so perseguidas e presas; a imprensa censurada; intervm-se em sindicatos, substituindo-se as lideranas mais ativas; entidades estudantis so vigiadas, atividades poltico-partidrias so estritamente controladas. Tudo isso com o apoio da populao, que passa a sustentar o governo e seus atos de fora. Algum tempo depois, toda a maquinao descoberta - o suposto golpe havia sido planejado no interior do prprio governo, com a inteno de garantir o apoio popular e de enfraquecer a oposio. CENA 3 Vrios polticos so focalizados, num jogo de flashes. Um, para conseguir obter apoio para suas propostas, passa a cortejar seus adversrios e a menosprezar seus tradicionais amigos. Seus discursos e seu comportamento so irreconhecveis se comparados com os do passado, quando iniciou sua carreira poltica. Outro poltico, sem formao religiosa, mas sabedor de quanto os eleitores prezam prticas religiosas, passa a freqentar missas e a comungar, dizendo-se fervoroso devoto da padroeira da cidade.
Um terceiro poltico abraa desconhecidos, distribui ambulncias, manda telegramas parabenizando por aniversrios, freqenta festas populares. Na intimidade, longe dos refletores, sabido seu desprezo e desconforto no contato com polticos do interior e com o povo. Outro garante em seus discursos ser um defensor dos pobres e oprimidos e que sua honestidade habilitao como o verdadeiro representante das causas populares. Entretanto, descobre-se que, desviando verbas destinadas construo de escolas e hospitais, comprou fazendas, uma bela manso, construiu poos em suas propriedades, adquiriu iates e avies. CENA 4 Uma conveno partidria convocada com o objetivo de escolher o prximo candidato da agremiao s eleies gerais. Um dos postulantes, para garantir a sua indicao, manda elaborar dossis contra os concorrentes e impede a chegada de convencionais que votaro contra a sua indicao.
1.2 O importante levar vantagem? Desta vez as personagens so homens e mulheres em situaes tpicas do mundo do trabalho, do dia-adia ou da vida domstica. A condio sexual pouco importa. Os papis so intercambiveis, podendo ser desempenhados por homens ou mulheres. O que conta o comportamento. A poca - passado, presente ou futuro - em que os fatos ocorrem tambm irrelevante. As cenas podem ser ambientadas como preferir. CENA 1 Uma pessoa, para conseguir uma alta posio em uma empresa, comporta-se de forma desleal em relao a seus colegas de trabalho. Desvia a correspondncia de seu chefe imediato, altera propostas discutidas, revela segredos, levando-o a crer que tais atos devem-se irresponsabilidade ou fraqueza de carter dos que o cercam. CENA 2 Um homem, para conquistar a mulher de seu amigo, faz com que ela acredita que trada, deixando, assim, o terreno livre para suas incurses amorosas. CENA 3 Uma mulher, para conquistar o marido de sua amiga, faz com que ele acredite que trado, deixando, assim, o caminho aberto para seduzi-lo. CENA 4 Uma outra pessoa, para que os filhos permaneam ao seu lado, monta uma srie de artimanhas para afast-los de situaes que os levariam a abandon-la. CENA 5 Vrias gangues controlam a distribuio de drogas na cidade. A luta entre elas provoca uma srie de atos de violncia. Membros so mortos, pairam ameaas no ar. Depois de uma longa seqncia de ataques, todos se sentem intranqilos e a violncia multiplica-se. Ciladas e armadilhas no poupam nem mesmo aqueles que nada tm a ver com o mundo do trfico. Diante de tanto terror, o chefe de uma das
gangues convida os principais participantes das demais apra um encontro em sua casa, onde deveriam fazer um pacto de respeito mtuo. Segundo a sua proposta, a cidade seria dividida em reas, e cada um dos grupos teria o controle de determinadas zonas. O acordo parecia por um ponto final na violncia, garantindo uma razovel parcela de poder para cada uma das gangues. Quando todos concordam com os termos da diviso e comemoram, o dono da casa faz um sinal e entram seus homens. Armados, num s golpe, liquidam todos os visitantes e com eles o suposto pacto de no-agresso mtua. --------------------Diante dessas cenas, poucos fugiram indignao. Alguns, talvez mais calejados, concluiriam: "ora, essa a vida!". Valem quaisquer meios quando se deseja ardentemente um determinado objetivo. Esses procedimentos - retratados no primeiro e no segundo conjunto de cenas - so, no mnimo, prfidos. S um alto senso de realismo permitiria v-los com naturalidade. Naturalidade que decorre muito mais do nmero de vezes em que so praticados do que de qualquer julgamento baseado em princpios. A artimanha, a falsidade, a astcia, o ardil que caracterizam tais tos encontram no linguajar comum um termo que os sintetiza: maquiavlico. Maquiavelismo e maquiavlico so termos que nasceram do nome de um florentino que viveu na segunda metade do sculo XV e primeiras dcadas do XVI, Niccol Machiavelli. Quem foi este homem e por que teve seu nome perpetuado atravs de prticas perversas? RESPONDA A ESTAS PERGUNTAS 1. Entreviste pelo menos 3 pessoas, indagando o que entendem por maquiavelismo e pea que exemplifiquem esse tipo de comportamento. De posse das entrevistas, organize o material em funo do tipo de resposta obtida, distinguindo as que se referem a comportamentos de polticos e as que dizem respeito a comportamentos do universo das relaes privadas. 2. Como voc se posiciona diante da idia expressa na frase: "os fins justificam os meios"? Para se alcanar um determinado objetivo, todos os meios so vlidos? E na poltica? 3. A poltica pode ser regida por valores distintos daqueles que regem a vida privada? Ou, ao contrrio, os mesmos valores deveriam nortear os comportamentos dos homens quer quando eles esto fazendo poltica, quer quando esto em atividades tpicas da vida privada?
1.3 Quem foi Maquiavel e qual a sua filosofia Marilena Chau (Do livro: Filosofia, Marilena Chau, Ed. tica, ano 2000, SP, pg. 200-204) volta dos castelos feudais, durante a Idade Mdia, formaram-se aldeias ou burgos. Enquanto na sociedade como um todo prevalecia a relao de vassalagem - juramento de fidelidade prestado por um inferior a um superior que prometia proteger o vassalo -, nos burgos, a diviso social do trabalho fez aparecer uma outra organizao social, a corporao de ofcio. Teceles, pedreiros, ferreiros, mdicos, arquitetos, comerciantes, etc. organizavam-se em confrarias, em que os membros estavam ligados por um juramento de confiana recproca. Embora internamente as corporaes tambm fossem hierrquicas, era possvel, a partir de regras convencionadas entre seus membros, ascender na hierarquia e, externamente, nas relaes com outras corporaes, todos eram considerados livres e iguais. As corporaes fazem surgir uma nova classe social que, nos sculos seguintes, ir tomar-se economicamente dominante e buscar tambm o domnio poltico: a burguesia, nascida dos burgos. Desde o incio do sculo XV, em certas regies da Europa, as antigas cidades do Imprio Romano e as novas cidades surgidas dos burgos medievais entram em desenvolvimento econmico e social. Grandes rotas comerciais tomam poderosas as corporaes e as famlias de comerciantes enquanto o poderio agrrio dos bares comerciantes, enquanto o poderio agrrio dos bares comea a diminuir.
As cidades esto iniciando o que viria a ser conhecido como capitalismo comercial ou mercantil. Para desenvolv-lo, no podem continuar submetidas aos padres, s regras e aos tributos da economia feudal agrria e iniciam lutas por franquias econmicas. As lutas econmicas da burguesia nascente contra a nobreza feudal prosseguem sob a forma de reivindicaes polticas: as cidades desejam independncia diante dos bares, reis, papas e imperadores. Na Itlia, a redescoberta das obras de pensadores, artistas e tcnicos da cultura greco-romana, particularmente das antigas teorias polticas, suscita um ideal poltico novo: o da liberdade republicana contra o poder teolgico-poltico de papas e imperadores. Estamos no perodo conhecido como Renascimento, no qual se espera reencontrar o pensamento, as artes, a tica, as tcnicas e a poltica existentes antes que o saber tivesse sido considerado privilgio da Igreja e os telogos houvessem adquirido autoridade para decidir o que poderia e o que no poderia ser pensado, dito e feito. Filsofos, historiadores, dramaturgos, retricas, tratados de medicina, biologia, arquitetura, matemtica, enfim, tudo o que fora criado pela cultura antiga lido, traduzido, comentado e aplicado, Esparta, Atenas e Roma so tornadas como exemplos da liberdade republicana. imit-las valorizar a prtica poltica, a vita activa, contra o ideal da vida espiritual contemplativa imposto pela Igreja. Falase, agora, na liberdade republicana e na vida poltica como as formas mais altas da dignidade humana. Nesse ambiente, entre 1513 e 1514, em Florena, escrita a obra que inaugura o pensamento poltico moderno: O prncipe, de Maquiavel. Antes de "O Prncipe" Embora diferentes e, muitas vezes, contrrias, as obras polticas medievais e renascentistas operam num mundo cristo. Isso significa que, para todas elas, a relao entre poltica e religio um dado de que no podem escapar. verdade que as teorias medievais so teocrticas, enquanto as renascentistas procuram evitar a idia de que o poder seria uma graa ou um favor divino; no entanto, embora recusem a teocracia, no podem recusar uma outra idia qual seja, a de que o poder poltico s legtimo se for justo e s ser justo se estiver de acordo com a vontade de Deus e a Providncia divina. Assim, elementos de teologia continuam presentes nas formulaes tericas da poltica. Se deixarmos de lado as diferenas entre medievais e renascentistas e considerarmos suas obras polticas como crists, poderemos perceber certos traos comuns a todas elas: 1. encontram um fundamento para a poltica anterior e exterior prpria poltica. Em outras palavras, para alguns, o fundamento da poltica encontra-se em Deus (seja na vontade divina, que doa o poder aos homens, seja na Providncia divina, que favorece o poder de alguns homens); para outros, encontra-se na Natureza, isto , na ordem natural, que fez o homem um ser naturalmente poltico; e, para alguns, encontra-se na razo, isto , na idia de que existe uma racionalidade que governa o mundo e os homens, torna-os racionais e os faz instituir a vida poltica. H, pois, algo - Deus, Natureza ou razo - anterior e exterior poltica, servindo de fundamento a ela; 2. afirmam que a poltica instituio de uma comunidade una e indivisa, cuja finalidade realizar o bem comum ou justia. A boa poltica feita pela boa comunidade harmoniosa, pacfica e ordeira. Lutas, conflitos e divises so vistos como perigos, frutos de homens perversos e sediciosos, que devem a qualquer preo, ser afastados da comunidade e do poder; 3. assentam a boa comunidade e a boa poltica na figura do bom governo, isto , no prncipe virtuoso e racional, portador da justia, da harmonia e da indiviso da comunidade; 4. classificam os regimes polticos em justos-legtimos e injustos-ilegtimos, colocando a monarquia e a aristocracia hereditrias entre os primeiros e identificando com o os segundos o poder obtido por conquista e usurpao, denominando-o tirnico. Este considerado antinatural, irracional, contrrio vontade de Deus e justia, obra de um governante vicioso e perverso. Em relao tradio do pensamento poltico, a obra de Maquiavel demolidora e revolucionria.
Maquiavlico, maquiavelismo Estamos acostumados a ouvir as expresses maquiavlico e maquiavelismo.. So usadas quando algum deseja referir-se tanto poltica como aos polticos, e a certas atitudes das pessoas, mesmo quando no ligadas diretamente a uma ao poltica (fala-se, por exemplo, num comerciante maquiavlico, numa professora maquiavlica, no maquiavelismo de certos jornais, etc... ). Quando ouvimos ou empregamos essas expresses? Sempre que pretendemos julgar a ao ou a conduta de algum desleal, hipcrita, fingidor, poderosamente malvolo, que brinca com sentimentos e desejos dos outros, mente-lhes, faz a eles promessas que sabe que no cumprir, usa a boa-f alheia em seu prprio proveito. Falamos num "poder maquiavlico" para nos referirmos a um poder que age secretamente nos bastidores, mantendo suas intenes e finalidades desconhecidas para os cidados; que afirma que os fins justificam os meios e usa meios imorais, violentos e perversos para conseguir o que quer; que d as regras do jogo, mas fica s escondidas, esperando que os jogadores causem a si mesmos sua prpria runa e destruio. Maquiavlico e maquiavelismo fazem pensar em algum extremamente poderoso e perverso, sedutor e enganador, que sabe levar as pessoas a fazer exatamente o que ele deseja, mesmo que sejam aniquiladas por isso. Como se nota, maquiavlico e maquiavelismo correspondem quilo que, em nossa cultura, considerado diablico. Que teria escrito Maquiavel para que gente que nunca leu sua obra e que nem mesmo sabe que existiu, um dia, em Florena, uma pessoa com esse nome, fale em maquiavlico e maquiavelismo? A revoluo maquiaveliana Diferentemente dos telogos, que partiam da Bblia e do Direito Romano para formular teorias polticas, e diferentemente dos contemporneos renascentistas, que partiam das obras dos filsofos clssicos para construir suas teorias polticas, Maquiavel parte da experincia real de seu tempo. Foi diplomata e conselheiro dos governantes de Florena, viu as lutas europias de centralizao monrquica (Frana, Inglaterra, Espanha, Portugal), viu a ascenso da burguesia comercial das grandes cidades e sobretudo via a fragmentao da Itlia, dividida em reinos, ducados, repblicas e Igreja. A compreenso dessas experincias histricas e a interpretao do sentido delas o conduziram idia de que uma nova concepo da sociedade e da poltica tornara-se necessria, sobretudo para a Itlia e para Florena. Sua obra funda o pensamento poltico moderno porque busca oferecer respostas novas a uma situao histrica nova, que seus contemporneos tentavam compreender lendo os autores antigos, deixando escapar a observao dos acontecimentos que ocorriam diante de seus olhos. Se compararmos o pensamento poltico de Maquiavel com os quatro pontos nos quais resumimos a tradio poltica, observaremos por onde passa a ruptura maquiaveliana: 1. Maquiavel no admite um fundamento anterior e exterior poltica (Deus, Natureza ou razo). Toda Cidade, diz ele em O prncipe, est originariamente dividida por dois desejos opostos: o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de no ser oprimido nem comandado. Essa diviso evidencia que a Cidade no uma comunidade homognea nascida da vontade divina, da ordem natural ou da razo humana. Na realidade, a Cidade tecida por lutas internas que a obrigam a instituir um plo superior que possa unific-la e dar-lhe identidade. Esse plo o poder poltico. Assim, a poltica nasce das lutas sociais e obra da prpria sociedade para dar a si mesma unidade e identidade. A poltica resulta da ao social a partir das divises sociais; 2. Maquiavel no aceita a idia da boa comunidade poltica constituda para o bem comum e a justia. Como vimos, o ponto de partida da poltica para ele a diviso social entre os grandes e o povo. A sociedade originariamente dividida e jamais pode ser vista como uma
comunidade una, indivisa, homognea, voltada para o bem comum. Essa imagem da unidade e da indiviso, diz Maquiavel, uma mscara com que os grandes recobrem a realidade social para enganar, oprimir e comandar o povo, como se os interesses dos grandes e dos populares fossem os mesmos e todos fossem irmos e iguais numa bela comunidade. A finalidade da poltica no , como diziam os pensadores gregos, romanos e cristos, a justia e o bem comum, mas, como sempre souberam os polticos, a tomada e manuteno do poder. O verdadeiro prncipe aquele que sabe tomar e conservar o poder e que, para isso, jamais deve aliar-se aos grandes, pois estes so seus rivais e querem o poder para si, mas deve aliar-se ao povo, que espera do governante a imposio de limites ao desejo de opresso e mando dos grandes. A poltica no a lgica racional da justia e da tica, mas a lgica da fora transformada em lgica do poder e da lei; 3. Maquiavel recusa a figura do bom governo encarnada no prncipe virtuoso, portador das virtudes crists, das virtudes morais e das virtudes principescas. O prncipe precisa ter virt, mas esta propriamente poltica, referindo-se s qualidades do dirigente para tomar e manter o poder, mesmo que para isso deva usar a violncia, a mentira, a astcia e a fora. A tradio afirmava que o governante devia ser amado e respeitado pelos governados. Maquiavel afirma que o prncipe no pode ser odiado. Isso significa, em primeiro lugar, que deve ser respeitado e temido - o que s possvel se no for odiado. Significa, em segundo lugar, que no precisa ser amado, por isso o faria um pai para a sociedade e, sabemos, um pai conhece apenas um tipo de poder, o desptico. A virtude poltica do prncipe aparecer na qualidade das instituies que souber criar e manter e na capacidade que tiver para enfrentar as ocasies adversas, isto , a fortuna ou sorte; 4. Maquiavel no aceita a diviso clssica dos trs regimes polticos (monarquia, aristocracia, democracia) e suas formas corruptas ou ilegtimas (tirania, oligarquia, demagogia/anarquia), como no aceita que o regime legtimo seja o hereditrio e o ilegtimo, o usurpado por conquista. Qualquer regime poltico - tenha a forma que tiver e tenha a origem que tiver poder ser legtimo ou ilegtimo. O critrio de avaliao, ou o valor que mede a legitimidade e a ilegitimidade, a liberdade. Todo regime poltico em que o poderio de opresso e comando dos grandes maior do que o poder do prncipe e esmaga o povo ilegtimo; caso contrrio, legtimo. Assim, legitimidade e ilegitimidade dependem do modo como as lutas sociais encontram respostas polticas capazes de garantir o nico princpio que rege a poltica: o poder do prncipe deve ser superior ao dos grandes e estar a servio do povo. O prncipe pode ser monarca hereditrio ou por conquista; pode ser todo um povo que conquista, pela fora, o poder. Qualquer desses regimes polticos ser legtimo se for se for uma repblica e no despotismo ou tirania, isto , s legtimo o regime no qual o poder no est a servio dos desejos e interesses de um particular ou de um grupo de particulares. A tradio grega tornou tica e poltica inseparveis, a tradio romana colocou nessa identidade da tica e da poltica na pessoa virtuosa do governante e a tradio crist transformou a pessoa poltica num corpo mstico sacralizado que encarnava a vontade de Deus e a comunidade humana. Hereditariedade, personalidade e virtude formavam o centro da poltica, orientada pela idia de justia e bem comum. Esse conjunto de idias e imagens demolido por Maquiavel. Um dos aspectos da concepo rnaquiaveliana que melhor revela essa demolio encontra-se na figura do prncipe virtuoso. No estudo da tica, a questo central posta pelos filsofos sempre foi: O que est e o que no est em nosso poder? "Estar em nosso poder" significava a ao voluntria racional livre, prpria da virtude, e "no estar em nosso poder" significava o conjunto de circunstncias externas que agem sobre ns e determinam nossa vontade e nossa ao. Esse conjunto de circunstncias que no dependem de ns nem de nossa vontade foi chamado pela tradio filosfica de fortuna.
A oposio virtude-fortuna jamais abandonou a tica e, como esta surgia inseparvel da poltica, a mesma oposio se fez presente no pensamento poltico. Neste, o governante virtuoso aquele cujas virtudes no sucumbem ao poderio da caprichosa e inconstante fortuna. Maquiavel retoma essa oposio, mas lhe imprime um sentido Inteiramente novo. A virt do prncipe no consiste num conjunto fixo de qualidades morais que ele opor fortuna, lutando contra ela. A virt a capacidade do prncipe para ser flexvel s circunstncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. Em outras palavras, um prncipe que agir sempre da mesma maneira e de acordo com os mesmos princpios em todas as circunstncias fracassar e no ter virt alguma. Para ser senhor da sorte ou das circunstncias, deve mudar com elas e, como elas, ser volvel e inconstante, pois somente assim saber agarr-las e venc-las. Em certas circunstncias, dever ser cruel, em outras, generoso; em certas ocasies dever mentir, em outras, ser honrado; em certos momentos, dever ceder vontade dos outros, em alguns, ser inflexvel. O ethos ou carter do prncipe deve variar com as circunstncias, para que sempre seja senhor delas. A fortuna, diz Maquiavel, sempre favorvel a quem desejar agarr-la. Oferece-se como um presente a todo aquele que tiver ousadia para dobr-la e venc-la. Assim, em lugar da tradicional oposio entre a constncia do carter virtuoso e a inconstncia da fortuna, Maquiavel introduz a virtude poltica como astcia e capacidade para adaptar-se s circunstncias e aos tempos, como ousadia para agarrar a boa ocasio e fora para no ser arrastado pelas ms. A lgica poltica nada tem a ver com as virtudes ticas dos indivduos em sua vida privada. O que poderia ser imoral do ponto de vista da tica privada pode ser virt poltica. Em outras palavras, Maquiavel inaugura a idia de valores polticos medidos pela eficcia prtica e pela utilidade social, afastados dos padres que regulam a moralidade privada dos indivduos. O ethos poltico e o ethos moral so diferentes e no h fraqueza poltica maior do que o moralismo que mascara a lgica real do poder. Por ter inaugurado a teoria moderna da lgica do poder como independente da religio, da tica e da ordem natural, Maquiavel s poderia ter sido visto como "maquiavlico". As palavras maquiavlico e maquiavelismo, criadas no sculo XVI e conservadas at hoje, exprimem o medo que se tem da poltica quando esta simplesmente poltica, isto , sem as mscaras da religio, da moral, da razo e da Natureza. Para o Ocidente cristo do sculo XVI, O Prncipe maquiaveliano, no sendo o bom governo sob Deus e a razo, s poderia ser diablico. sacralizao do poder, feita pela teologia poltica, s poderia opor-se a demonizao. essa imagem satnica da poltica como ao social puramente humana que os termos maquiavlico e maquiavelismo designam. 2 - TICA E POLTICA (de Marilena Chau - Extrado de um programa da TV Cultura de So Paulo intitulado: TICA - Anos 90) A Poltica foi uma coisa inventada pelos gregos. Isto no quer dizer que antes dos gregos, antes dos romanos no houvesse o exerccio do poder, no houvesse governo, no houvesse autoridade. Claro que havia, nos grandes imprios que existiram antes e depois do mundo grego e do mundo romano. Mas qual era a marca do poder nestes grandes imprios antigos. A marca era a identidade entre o poder e a figura do governante. O governante era a encarnao do poder. Como pessoa encarnava nele a autoridade inteira, o poder inteiro. Ele era o autor da lei, o autor da recompensa, o autor do castigo, o autor da justia. Ou seja, a vontade do governante, a vontade pessoal, individual dele era a nica lei existente.
O que ns podemos dizer no que no houvesse o poder, a autoridade antes dos gregos e dos romanos. Pelo contrrio, a imensido dos grandes imprios antigos mostra que o poder estava l. Qual a diferena entretanto dos gregos e romanos face a estes grandes imprios, a este grande poder que havia na antigidade? Antes dos gregos e dos romanos, a caracterstica do poder era a identificao entre o ocupante do poder e o prprio poder. Ou seja, o governante era o prprio poder. Isto quer dizer uma coisa muito simples: a vontade do governante, a sua vontade privada, pessoal, sua vontade arbitrria, caprichosa, o que lhe desse na telha, era a lei. E era ela o critrio para a guerra, para a paz, para a vida, para a morte, para a justia, para a injustia. Que fizeram os gregos e os romanos? Eles inventaram a Poltica. Ou seja, eles criaram a idia de um espao onde o poder existe atravs das leis. As leis no se identificam com a vontade dos governantes, elas exprimem uma vontade coletiva. Essa vontade coletiva se exprimia em pblico, nas assemblias, atravs da deliberao, da discusso e do voto. Ou seja, os gregos e os romanos submeteram o poder a um conjunto de instituies e a um conjunto de prticas que fizeram dele algo pblico, que concernia totalidade dos cidados, e que era discutida, deliberada e votada por eles. E, portanto, eles criaram a esfera pblica. Aquilo que ns chamamos de esfera pblica. Ou seja, ningum se identifica com o poder, a vontade de ningum lei, e portanto a autoridade coletiva, pblica, aquilo que constitui o cidado. Os gregos puderam e depois deles os romanos distinguir com muita clareza a autoridade poltica ou autoridade pblica e a autoridade privada. No por acaso a autoridade privada tem um nome muito especial. Em grego o chefe de famlia, que aquele que detm a autoridade do espao privado (e detm esta autoridade exclusivamente por sua vontade - a vontade dele a lei), o chefe de famlia se chama "despotes". E porque a autoridade privada do espao privada da famlia a autoridade do "despotes" (a autoridade absoluta de vida e morte sobre todos os membros da famlia), que a autoridade no espao privado se chama desptica. E os gregos diziam: quando a autoridade for desptica, o espao pblico foi tomado pelo espao privado e a Poltica acabou. A condio da Poltica que no haja despotismo. 2.1 Cristianismo: pblico x privado O cristianismo vai criar um problema no campo da Poltica. Por que? Porque se para os antigos era no espao pblico que a tica melhor se realizava, no momento em que com o Cristianismo o espao pblico recusado em nome do espao privado, do recinto, do corao e da conscincia, o que acontece? O que acontece no momento em que surgem as autoridades crists? Ou seja, como que vai haver um espao pblico cristo? J que a autoridade e a tica so pensadas de maneira privada? Ou seja, Deus o Pai, Deus o Senhor, os cristos so a sua famlia. Ele o pastor de um s rebanho. Todas as metforas e todas as palavras que indicam a autoridade no mundo cristo pertencem ao espao privado: o pai, o senhor, o pastor, o rebanho. Como que isto vai se constituir como um espao pblico? No h como constituir como espao pblico. Ns poderamos ir enumerando uma srie de caractersticas do poder medieval e portanto do poder cristo ou daquilo que agente pode chamar o poder teolgico-poltico pelo qual o governante uma figura privada. O espao do poder um espao privado. E a tica a tica da pessoa do governante. ele que tem que ser educado para as virtudes. ele que no pode ter vcios. ele que tem que cumprir o dever porque das qualidades dele dependem as virtudes ou os vcios, a felicidade ou a corrupo do rei. No existe portanto a esfera Poltica propriamente dita. Existe a esfera do poder mas no a esfera da Poltica.
10
2.2 Modernidade, tica e Poltica esta esfera que a modernidade vai constituir. A partir da queda do antigo regime, da queda das monarquias por direito divino, da desmontagem do poder teolgico-poltico e do ressurgimento da idia de Repblica, (primeiro a Repblica oligrquica, depois a Repblica representativa, depois a Repblica Democrtica), que se reconfigura o campo pblico, da Poltica. Como o poder estava marcado pela tica da esfera privada, como o poder estava marcado pela idia de que o governante que tinha que ser virtuoso, o que acontece com os pensadores que vo criar a nova idia de Poltica, que vo dizer que existe sim a "res publica"(coisa pblica, o espao pblico)?. O que que eles vo fazer? Eles vo dizer que o espao pblico, a "res publica", o poder poltico, no pode ser regido pelos valores do espao privado. Portanto pelos valores da tica. Pelos valores da virtude. E eles vo separar, e esta grande separao feita por Maquiavel, eles vo separar o pblico e o privado dizendo que o privado campo da tica, o pblico o campo da Poltica. E a Poltica e a tica no tem mais nada em comum. O que vai ser dito que o campo da poltica no regido pelas virtudes do governante. O campo da Poltica regido por uma lgica que a lgica das relaes de fora. E para que o campo da Poltica no seja o campo da violncia e da guerra preciso lidar com esse campo de foras, e portanto com os conflitos, com as divises que caracterizam a sociedade, com essas diferenas, de um modo tal que a Poltica no seja a guerra. Que a Poltica no seja a pura fora, a pura violncia, mas que ela tenha uma lgica das foras que encarnada no poder poltico como um polo que simboliza para o todo da sociedade uma unidade que ela prpria no tem. E que se realiza atravs das instituies e atravs da lei. E portanto o importante a qualidade da lei e a qualidade das instituies, a qualidade do direito e da justia, a qualidade das decises. E no mais se a pessoa ou as pessoas que ocupam o campo poltico so ou no virtuosas. E a virtude e portanto com ela a tica se tornam uma coisa prpria da vida privada. 2.3 Sociedade Civil e Estado A esfera da sociedade civil que onde os indivduos existem, a esfera da vida privada. Ora, se a sociedade civil a esfera da vida privada como que o Estado se constitui como esfera pblica. Se o Estado surge a partir da sociedade Civil para regulamentar a Sociedade Civil e comand-la? Ou seja, a base do Estado so as relaes privadas do mercado, baseadas, por exemplo, na lgica da competio. Ento o que se quer dizer o seguinte: a sociedade moderna ao criar a Sociedade Civil como o mercado dos contratos de trabalho, da produo de mercadorias e da acumulao do capital, e da propriedade privada, faz com que a esfera pblica, que uma esfera social, seja uma esfera privada. A esfera dos proprietrios privados. E portanto ns no sabemos onde o Estado vai nascer para ser propriamente esfera pblica. Assim a separao que dizia: na esfera pblica eu tenho a lgica Poltica e na esfera privada eu tenho a lgica tica, se complica. Porque eu tenho a uma esfera que pblica, que a esfera social, na qual os elementos da vida privada esto presentes. Ns podemos dizer que h dois motivos principais para essa enorme dificuldade que existe no nosso mundo contemporneo para separar o pblico do privado e deixar a tica em um dos lugares e a Poltica em outro. 2.4 tica, Poltica, Liberdade, Igualdade A primeira dificuldade a seguinte: o homem, os seres humanos, so diferentes de todas as outras coisas que existem. Que diferena esta?
11
Todas as coisas que existem esto submetidas s leis necessrias da natureza. A natureza um enorme sistema de causas e efeitos. Aquilo que a gente chama de Determinismo. Na natureza tudo tem causa, tudo produz um efeito, e a relao entre a causa e o efeito uma relao necessria. Na natureza no existe acaso. Na natureza no existe jogo. Na natureza no existe Liberdade. Ao contrrio, a marca dos seres humanos a Liberdade. Os seres humanos no pensam, no agem segundo relaes de causa e efeito. Eles agem por escolha. Por deliberao. Por deciso. Eles agem por Liberdade. Eles agem escolhendo os Fins. Fins das aes que eles realizam. Eles agem escolhendo os Fins das aes que eles realizam, das prticas que eles tem, dos comportamentos que eles tem. E portanto o reino humano ou a esfera humana diferente do resto da natureza. Esta separao entre a natureza e os humanos se deu a partir de um critrio que fundamental na tica: que a liberdade, e a Finalidade. Se a Poltica vai operar com o critrio da Liberdade, da Justia, das Finalidades Humanas, ento h na raiz da Poltica um valor que tico. Este valor pode ser chamado de liberdade. Pode ser chamado de Justia, ele pode ser chamado de responsabilidade. Mas este valor tico. Ento ao mesmo tempo em que h todo este trabalho para separar a tica e a Poltica, h toda uma elaborao terica de separao entre o homem e a natureza que coloca para a tica e para a Poltica os mesmos fundamentos. Ou seja elas esto baseadas, as duas, nas mesmas coisas. Elas esto baseadas na Liberdade, na Finalidade, na Temporalidade Humana, no fato de o homem ser um Ser Cultural. Ento, a Poltica vai ter que se dar no interior deste campo comum, que o campo da cultura, o campo da histria, o campo da civilizao. Essa a primeira dificuldade para separar tica e Poltica j que elas possuem o mesmo fundamento. S que o aparecimento deste fundamento comum entre a tica e a Poltica que a Liberdade vai ao mesmo tempo introduzir um complicador. Que vai explicar afinal porque to difcil esta relao entre a tica e a Poltica. E este complicador um complicador para a tica, para a Poltica, e para relao entre elas. Que complicador este? o seguinte: ao afirmar que todos os homens, todos os seres humanos so livres afirmado simultaneamente que por causa disto todos eles so iguais. A igualdade deles a liberdade. Mas de fato, na prtica, esta igualdade no existe muito. Pelo contrrio, a sociedade feita por uma diviso social entre os desiguais. E esta desigualdade, ferindo portanto a liberdade, ferindo aquilo que seria a igualdade, introduz para a tica e para a Poltica o problema da Violncia. Ou seja a desigualdade real faz com que falar da liberdade como o critrio da vida tica torna a tica uma coisa irreal porque a igualdade pela qual ela poderia funcionar no existe e torna a Poltica incapaz tambm de realizar a liberdade. (chamo de Violncia todo ato pelo qual um ser humano tratado desprovido de sua humanidade e tratado como se ele fosse uma coisa). E assim que ns podemos dizer que h pelo imenso trs critrios pelos quais ns podemos dizer que a tica e a Poltica se relacionam uma sendo subsdio para a realizao da outra. Primeiro critrio: a relao entre meios e fins na tica uma relao na qual no h exerccio da violncia. Que a violncia? tratar um ser humano como se ele fosse uma coisa. Como se ele fosse um objeto. Tratar um ser humano como um sujeito e no como um objeto trat-lo eticamente. Se a Poltica na esfera pblica for capaz de tratar os fins polticos atravs de meios no violentos, no tratando os seres humanos como coisa ns temos uma Poltica tica. Segundo critrio - embora a tica se realize no campo da vida privada, o que a tica busca nesta esfera que lhe prpria a idia de que nenhuma autoridade legtima se ela for desptica, se ela for arbitrria, se ela se realizar como expresso da vontade individual, injustificada de algum. Neste caso a Poltica que vai ajudar a tica na medida em que o prprio da esfera pblica afastar a autoridade
12
desptica, isto , aquela autoridade que se exerce como um vontade pessoal, individual, arbitrria, acima de todas as outras. Assim agora a relao vem da Poltica para a tica em que a Poltica auxilia na luta contra as formas arbitrrias de autoridade no interior da vida privada. Isto significa por exemplo que a posio do pai, da me, do av, da av, do patro, do chefe, no to simples. No basta a vontade deles para que a autoridade deles seja eticamente legtima. A Poltica nos ajuda portanto a melhorar a prpria tica. Terceiro critrio: o critrio que pode valer para a tica e para a Poltica que a redefinio da idia de liberdade. Em vez de pensarmos a liberdade como o direito de escolha vale a pena pensar a liberdade como o poder de criar o possvel. Ou seja, a liberdade esta capacidade dos seres humanos de fazer existir o que no existia. De inventar o possvel. De inventar o novo. E se a liberdade for pensada desta maneira, a relao entre a tica e a Poltica pode se dar como criao histrica na esfera privada e na esfera pblica. Estou convencida de que h uma nica forma da Poltica compatvel com a tica e uma nica modalidade da tica compatvel com a Poltica. Essa forma Poltica a democracia. E esta forma tica a liberdade atravs dos direitos. Ento como a democracia o campo da criao dos direitos e como a tica a afirmao de direitos atravs do direito fundamental que o direito vida e liberdade, a compatibilidade entre a tica e a Poltica s pode ocorrer quando o campo da Poltica permite o tratamento dos conflitos e quando o campo da tica permite a divulgao dos seus princpios. Ento eu diria que a possibilidade de dar tica um contedo pblico e de dar Poltica um contedo moral que ocorre na democracia. Acho que no foi por acaso, indo l no meu ponto de partida, no foi por acaso que os inventores da Poltica, os gregos, considerassem que era s na Poltica que a tica se realizava e por Poltica eles entendiam a democracia como igualdade perante a lei, (a isonomia). E o direito a expor, a discutir e votar a opinio em pbico que a isegoria. Ento se ns considerarmos que o campo da tica o campo da liberdade e o campo da Poltica tambm o campo da liberdade, s uma forma Poltica na qual esse princpio possa se realizar que torna vivel uma relao entre a tica e a Poltica. O que significa que o ideal tico da visibilidade s pode se realizar na prtica Poltica da democracia, e vice-versa. Evidentemente isto seria um ponto de partida. Isto no uma concluso. Pelo contrrio se assim for ns precisaremos comear tudo de novo. Pois ns temos que recomear a discutir a desigualdade, a violncia, a mentira, a corrupo, a privatizao e a oficializao estatal de nossa vidas.
2.5 Textos de Maquiavel 1. "Saiba-se que existem dois modos de combater: com as leis, outro com a fora. O primeiro prprio do homem, o segundo dos animais. No sendo, porm, muitas vezes suficiente o primeiro, convm recorrer ao segundo. Por conseguinte, a um prncipe mister saber comportar-se como homem e como animal. (....) A um prncipe incube saber usar dessas duas naturezas, nenhuma das quais subsiste sem a outra. Tendo, portanto, necessidade de proceder como animal, deve um prncipe adotar a ndole ao mesmo tempo do leo e da raposa; porque o leo no sabe fugir das armadilhas e a raposa no sabe defender-se dos lobos. Assim, cumpre ser raposa para conhecer as armadilhas e leo para amedrontar os lobos. Quem se contenta de ser leo demonstra no conhecer o assunto." (Captulo XVIII de "O Prncipe) 2. "Digo que os que censuram as dissenses contnuas dos grandes e do povo parecem desaprovar as prprias causas que conservaram a liberdade de Roma, e que eles prestam mais ateno aos gritos e aos rumores que essas dissenses faziam nascer, do que aos efeitos salutares que produziam. (...)
13
3.
4.
5.
6.
7.
Todas as leis que se fazem a favor da liberdade nascem da desunio entre os grandes e o povo, como o prova tudo quanto se passou em Roma, onde, durante os trezentos anos e mais que decorreram entre os Tarqunios e os Gracos, as desordens que irromperam entre os muros de Roma produziram poucos exlios e ainda menos derramamentos de sangue. No se pode, pois, julgar essas dissenses como funestas, nem o Estado como inteiramente dividido, quando, durante um to longo decorrer de anos, essas dissenses no causaram exlio seno de oito ou dez indivduos, condenaes multa de poucos cidados e morte dum nmero menor ainda. No se pode, de modo algum, chamar de desordenada uma Repblica onde brilharam tantos exemplos de virtude; pois os bons exemplos nascem da boa educao, a boa educao das boas leis, e as boas leis dessas mesmas desordens, que a maior parte condena inconsideradamente. (...) Essas desordens fizeram nascer leis e regras favorveis liberdade de todos. (captulo IV dos "Discursos") " mister que o prncipe tenha um esprito pronto a se adaptar s variaes das circunstncias e da fortuna e a manter-se tanto quanto possvel no caminho do bem, mas pronto igualmente a enveredar pelo do mal, quando for necessrio." (Captulo XVIII de "O Prncipe") "Um prncipe sbio no pode, pois, nem deve manter-se fiel s suas promessas quando, extinta a causa que o levou a faz-las, o cumprimento deles lhe traz prejuzo. Este preceito no seria bom se os homens fossem todos bons. Como, porm, so maus e, por isso mesmo, faltariam palavra que acaso nos dessem, nada impede venhamos ns a faltar tambm nossa. Razes legtimas para encobrir esta inobservncia, t-las- sempre o prncipe, e de sobra. Disto se poderiam dar infinitos exemplos modernos para mostrar quantos tratados de paz, quantas promessas de tornaram nulas e sem valor unicamente pela deslealdade dos prncipes. O que dentre estes melhor soube imitar a raposa, mais proveito tirou. Mas preciso saber mascarar bem esta ndole astuciosa, e ser grande dissimulador. Os homens so to simplrios e obedecem de tal forma s necessidades presentes, que aquele que engana encontrar sempre quem se deixe enganar." (Captulo XVIII de "O Prncipe") "No necessrio a um prncipe ter todas as qualidades mencionadas, mas indispensvel que parea t-las. Direi, at, que, se as possuir, o uso constante deles resultar em detrimento seu, e que ao contrrio, se no as possuir, mas afetar possu-las, colher benefcios. Da a convenincia de parecer clemente, leal, humano, religioso, ntegro e, ainda de ser tudo isso, contanto que, em caso de necessidade, saiba tornar-se o inverso.... Por isso, mister que ele tenha um esprito pronto a se adaptar s variaes das circunstncias e da fortuna e, como disse antes, a manter-se tanto quanto possvel no caminho do bem, mas pronto igualmente a enveredar pelo do mal, quando for necessrio." (Captulo XVIII de "O Prncipe") "No observar uma lei dar mau exemplo, sobretudo quando quem a desrespeita o seu autor; muito perigoso para os governantes repetir a cada dia novas ofensas ordem pblica" (Comentrios sobre a primeira dcada de Tito Lvio) "O principado origina-se da vontade do povo ou da dos grandes, conforme a oportunidade se apresente a uma ou outra dessas duas categorias de indivduos: os grandes certos de no poderem resistir ao povo, comear a dar fora a um de seus pares, fazem-no prncipe, apra, sombra dele, terem ensejo de dar largas aos seus apetites; o povo, por sua vez, vendo que no pode fazer frente aos grandes, procede pela mesma forma em relao a um deles para que esse o proteja com a sua autoridade. Quem chega condio de prncipe com o auxlio dos magnatas conserva-a com maiores dificuldades do que quem chega com o auxlio do vulgo, porque no seu cargo est rodeado de muitos que se julgam da iguala, e aos quais, por isso, no pode manejar a seu talante. Aquele, porm que sobe ao poder com o favor popular no encontra em torno de si ningum ou quase ningum que no esteja disposto a obedecer-lhe. Demais, no se pode honestamente satisfazer os poderosos sem lesar os outros, mas pode-se fazer isso em relao aos pequenos; porque o intento dos pequenos mais honesto que o dos grandes; enquanto estes desejam oprimir, aqueles no querem se oprimidos. Acresce ainda que diante de um povo hostil jamais um prncipe poder sentirse em segurana, por serem os inimigos demasiado numerosos. O inverso acontece com os grandes pelo motivo mesmo de serem poucos. De uma plebe adversa, o mximo que um prncipe pode esperar ser por ela abandonado. Dos magnatas, porm, deve recear no s o abandono, seno
14
tambm a revolta. que eles, sendo mais perspicazes e astutos, ao pressentirem a tempestade, tm sempre tempo de se por a salvo, lisonjeando aquele que julgam venha a triunfar. Por outro lado, o prncipe obrigado a viver sempre com o mesmo povo; mas pode muito bem prescindir dos poderosos do momento, dada a faculdade que tem de fazer outros novos e desfaz-los todos os dias, de tirar-lhes ou dar-lhes autoridade conforme as suas prprias convenincias." (Captulo IX de "O Prncipe") 8. " melhor ser amado que temido ou o contrrio? Responder-se- que se desejaria ser uma e outra coisa; mas, como difcil cas-las, muito mais seguro ser temido que amado, quando se haja de optar por uma das alternativas." (Captulo V de "O prncipe") 9. "... o prncipe deve em geral abster-se de praticar o que quer que o torne malquisto ou desprezvel. Assim fazendo, cumprir a sua misso e eliminar o risco porventura resultante dos seus outros defeitos. O que acima de tudo acarreta dio ao prncipe , como disse, ser ele rapace, usurpar os bens e as mulheres dos sditos. Como a maioria dos homens vive contente enquanto ningum lhes toca nos haveres e na honra, o prncipe que de tal se abstiver s ter de arrostar a ambio de poucos, e esta ele reprimir facilmente e de muitos modo. No desprezo incorre quando os seus governados o julgam inconstante, leviano, pusilnime, irresoluto. Ponha o mximo cuidado, pois, em preservar-se de semelhante reputao, extremamente perigosa, e em proceder de forma que as suas aes se revistam de grandeza, de coragem, de austeridade e vigor." (Captulo XIX de "O Prncipe")
3. NIETZSCHE: ESTE NOSSO MUNDO DOS FRACOS (Do livro: Nietzsche: a vida como valor maior, Alfredo Naffah Neto, FTD, So Paulo, 1996) 3.1 Um pensamento distorcido Apenas os medocres tm perspectivas de prosseguir, procriar - eles so os homens do futuro, os nico sobreviventes: "sejam como eles! Tornem-se medocres!", diz a nica moral que agora tem sentido, que ainda encontra ouvidos. (Friedrich Nietzsche, Alm do bem e do mal, 262) No dia 15 de outubro de 1844, na cidade de Rocken (antiga Prssia, atual Alemanha), nascia aquele que se tornaria um dos pensadores mais importantes da contemporaneidade: Friedrich Wilhelm Nietzsche. Desprezado e incompreendido em sua poca, seu pensamento acabaria por ser distorcido, utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial como justificativa para "a purificao de uma suposta "raa ariana". A que levou essa ideologia racista o mundo todo soube atravs do massacre de milhes de judeus, comunistas, homossexuais, deficientes fsicos e mentais, considerados pelos nazistas como a escria da humanidade. Infelizmente, Nietzsche permaneceu confundido com o pensamento nazista at h pouco tempo. S muito recentemente - e por iniciativa de alguns pensadores franceses, como Michel Foucault, Gilles Deleuze e Pierre Klossowski, entre outros - iniciou-se um processo de releitura dos textos nietzschianos. Descobriu-se, ento, que Nietzsche havia sido um dos mais contundentes crticos do anti-semitismo apregoado pelos nazistas. Em 1885/1886, no aforismo 251 de Alm do bem e do mal, ele escrevera: Os judeus so, sem qualquer dvida, a raa mais forte, mais tenaz e rnais pura que atualmente vive na Europa; eles sabem se impor mesmo nas Piores condies (at mais que nas favorveis), merc de virtudes que hoje se prefere rotular de vcios. [...] O que eles desejam e anseiam, com insistncia quase importuna, serem absorvidos e assimilados na Europa, pela Europa; querem finalmente se tornar estabelecidos, admitidos, respeitados em algum lugar, pondo um fim sua vida nmade, ao "judeu errante"; esse mpeto e pendor (que talvez j indique um abrandamento dos instintos judaicos) deveria ser considerado e bem acolhido: para isso talvez fosse til e razovel expulsar do pas os agitadores anti-semitas.
15
A origem do mal-entendido deveu-se a dois fatos distintos. O primeiro deles que a nica irm de Nietzsche, Elizabeth - ela sim, claramente anti-semita -, deturpou vrios dos seus textos, chegando mesmo a forjar cartas inexistentes. Nietzsche no pde evitar tal usurpao porque estava fora de seu juzo e sob tutela familiar desde 1890. Foi Elizabeth quem publicou, por exemplo, uma suposta obra indita de Nietzsche denominada Vontade de potncia, composta de textos escolhidos a dedo no caos de notas redigidas pelo filsofo e organizados desrespeitando a cronologia dos escritos. Foi ela, tambm, quem possibilitou a utilizao de seus textos pelos nazistas e quem foi enterrada, em 1935, com honras nacionais pelo III Reich. O segundo motivo do mal-entendido deveu-se a incompreenses do prprio pensamento de Nietzsche, notadamente de suas crticas aos rumos que havia tomado o mundo ocidental. Autor de uma obra assistemtica por natureza, ou, mais do que isso, avessa idia de sistema, escrevia por meio de aforismos, o que d margem a diferentes leituras, articulaes, ngulos de viso. Isso contribui para que cada qual a utilize do jeito que bem entender. Alm disso, as noes controvertidas de nobre e de escravo ajudariam a "colocar mais lenha na fogueira". Embora seja muito difcil sintetizar seu pensamento, convm, pelo menos, tentar esclarecer os mal-entendidos que cercam essas noes bsicas. Nietzsche via na cultura judaico-crist, dominante no mundo ocidental, uma preponderncia de valores fracos, escravos, em oposio aos valores fortes, nobres, que haviam vigorado em pocas passadas, notadamente na Grcia arcaica, na cultura trgica. Mas, para ele, nobre e escravo compunham dois tipos bastante caractersticos, bem diferentes dos que comumente se entendem por esses termos. O tipo nobre define uma forma de existir capaz de dizer "sim" vida integralmente, em todos os seus aspectos, afirmando-a, criando valores e participando ativamente da produo de sentido do mundo. Isso caracteriza uma maneira de viver expandida, potente, onde estar-a significa acolher e amar a existncia, com tudo o que ela traz de prazer, alegria, mas tambm de dor, sofrimento, pois nessa perspectiva as imperfeies da vida - geradoras de infelicidade - so a prpria condio de o homem crescer, potencializar-se, tornar-se capaz de se vergar sem se despedaar. Por isso, esse tipo de vida implica fundamentalmente uma capacidade de esquecer: metabolizar as injrias, ofensas, transformando-as em proveito desse existir exuberante, que se quer pleno de riscos, de aventura, sabendo-se habitar em um mundo que no feito de permanncia, mas de movimentos perenes de transformao. , pois, uma vida que se desdobra em morte e renascimento contnuos, em movimentos de destruio e de construo, como parte do mesmo devir criador. 3.2 A vida denegrida Dominncia de valores escravos queria dizer a propagao de uma forma de ser, ocupada apenas com a sobrevivncia, sem qualquer ambio de dar forma ao mundo. Por estar atravessado por uma impotncia paralisante, aprisionado por um passado no-digerido, no-metabolizado, o tipo escravo vive perdido no tempo, incapaz de viver no presente e de criar qualquer coisa que seja. Cultua uma memria prodigiosa que- no lhe permite superar as amarguras, as humilhaes, os ultrajes vividos, vivendo amarrado a essas experincias. , pois, incapaz de acolher e aceitar as imperfeies da vida. Est permanentemente buscando culpados por seus infortnios, puro ressentimento e desejo de vingana. Assim, incapaz de caminhar por seus prprios ps. Vive deriva, espera de uma redeno vinda de fora, de um Outro, concebido como Poderoso, Absoluto e Perfeito, seja ele Deus, uma Sociedade Irrepreensvel ou uma Outra Vida, de preferncia Eterna, pois o escravo no tolera a fatalidade da morte. Resumindo, trata-se de uma forma de vida alienada de sua potncia criadora e culpada de existir. Essa alienao-tornada-impotncia que, ao se perpetuar como memria, envenena o mundo real para depois rejeit-lo; esse veneno que cresce e que se nutre com a iluso de recompensas em mundos imaginrios, Nietzsche os via corno uma criao da sociedade de massas e de seus valores morais corporificados especialmente nos valores cristos (tais quais expressos pelas mximas de So Paulo).
16
Se o cristianismo no inventou os valores escravos, sem dvida trouxe-lhes novo sangue, novas justificativas, universalizando-os e refundando-os na idia de Eternidade; com isso, eles cresceram, alastraram-se, tornando-se os valores dominantes no mundo ocidental. E por essa razo que Nietzsche foi um dos mais contundentes crticos do cristianismo, embora se preocupasse, em seus ltimos escritos, em discriminar o cristianismo como doutrina instituda, da figura de Jesus, por quem at sentia alguma simpatia pois o considerava um homem adiante de sua poca, tendo sido capaz de ensinar aos homens como morrer com serenidade. A utilizao de Nietzsche pelos nazistas imprimiu aos termos escravo e nobre, fraco e forte conotaes de cunho racial e poltico que eles jamais tiveram. Ao se identificar a fora nobre com os valores arianos e com os poderes nazistas institudos, invertia-se totalmente o sentido que Nietzsche lhes dera, j que, em vez do amor incondicional vida que definia o nobre nietzschiano, o "nobre" nazista fazia a apologia do dio, do ressentimento, da busca de bodes expiatrios para os infortnios da humanidade, massacrando judeus, comunistas, homossexuais, deficientes fsicos e mentais. Mas na poca, e durante muito tempo, essa deturpao no se fez visvel. Isso veio lanar uma maldio sobre o filsofo, somente revista a partir dos anos 60, quando se voltou a ler sua obra. Ainda assim, essas questes esto longe de qualquer consenso no moldo da filosofia. Nietzsche continua at hoje louvado por uns, execrado por outros. Uma coisa, entretanto, ningum pode negar: desde que seu nome voltou baila, no cessam de proliferar admirao e espanto diante de um pensamento cuja fora demolidora s encontra equivalentes, desde a Segunda metade do sculo XIX, na obra de um Marx e de um Freud. Uma filosofia a marteladas, como ele costuma dizer. Na mira: os valores ocidentais dominantes, que ele descreveu como valores escravos. 3.3 Resumo da filosofia de Nietzsche (Marilena Chau, Livro "Filosofando", pg. 177) Tendo como referncia a obra nietzschiana "A genealogia da moral" podemos resumi-la em: 1. A moral racionalista foi erguida com finalidade repressora e no para garantir o exerccio da liberdade; 2. A moral racionalista transformou tudo o que natural e espontneo nos seres humanos em vcio, falta, culpa, e imps a eles, com os nomes de virtude e dever, tudo o que oprime a natureza humana; 3. Paixes, desejos e vontade referem-se vida e expanso de nossa fora vital; portanto, no se referem, espontaneamente, ao bem e ao mal, pois estes so uma inveno da moral racionalista; 4. A moral racionalista foi inventada pelos fracos para controlar e dominar os fortes, cujos desejos, paixes e vontade afirmam a vida, mesmo na crueldade e na agressividade. Por medo da fora vital dos fortes, os fracos condenaram paixes e desejos, submeteram a vontade razo, inventaram o dever e impuseram castigos apra os transgressores; 5. Transgredir normas e regras estabelecidas a verdadeira expresso da liberdade e somente os fortes so capazes dessa ousadia. Par disciplinar e dobrar a vontade dos fortes, amoral racionalista, inventada pelos fracos, transformou a transgresso em falta, culpa e castigo; 6. A fora vital se manifesta como sade do corpo e da alma, como fora da imaginao criadora. Por isso, os fortes desconhecem angstia, medo, remorso, humildade, inveja. A moral dos fracos, porm, atitude preconceituosa e covarde dos que temem a sade e a vida, invejam os fortes e procuram, pela mortificao do corpo e pelo sacrifcio do esprito, vingar-se da fora vital; 7. A moral dos fracos produto do ressentimento, que odeia e teme a vida, envenenando-a com a culpa e o pecado, voltando contra si mesma o dio vida; 8. A moral dos ressentidos, baseada no medo e no dio vida (s paixes, aos desejos, vontade forte), inventa uma outra vida, futura, eterna, incorprea, que ser dada como recompensa aos que sacrificarem seus impulsos vitais e aceitarem os valores dos fracos; 9. A sociedade, governada por fracos hipcritas, impe aos fortes modelos ticos que os enfraqueam e os tornem prisioneiros dceis da hipocrisia da moral vigente;
17
10. preciso manter os fortes, dizendo-lhes que o bem tudo o que fortalece o desejo da vida e mal tudo o que contrrio a esse desejo. A moral racionalista ou dos fracos e ressentidos que temem a vida, o corpo, o desejo e as paixes a moral dos escravos, dos que renunciam verdadeira liberdade tica. So exemplo dessa moral de escravos: a tica socrtica, a moral kantiana, a moral judaico-crist, a tica da utopia socialista, a tica democrtica, em suma, toda moral que afirme que os humanos so iguais, seja por serem racionais (Scrates, Kant), seja por serem irmos (religio judaico-crist), seja por possurem os mesmo direitos (tica socialista e democrtica). Contra a concepo dos escravos, afirma-se a moral dos senhores ou a tica dos melhores, dos aristoi, a moral aristocrtica, fundada nos instintos vitais, nos desejos e naquilo que Nietzsche chama de vontade de potncia, cujo modelo se encontra nos guerreiros belos e bons das sociedades antigas, baseadas na guerra, nos combates e nos jogos, nas disputas pela glria e pela fama, na busca da honra e da coragem. Essa concepo da tica suscita duas observaes: Em primeiro lugar, lembremos que a tica nasce como trabalho de uma sociedade para delimitar e controlar a violncia, isto , o uso da fora contra outrem. A filosofia moral se ergue como reflexo contra a violncia, em nome de um ser humano concebido como racional, desejante, voluntrio e livre, que, sendo sujeito, no pode ser tratado como coisa. A violncia era localizada tanto nas aes contra outrem - assassinato, tortura, suplcio, escravido, crueldade, mentira, etc. - como nas aes contra ns mesmos - passividade, covardia, dio, medo, adulao, inveja, remorso, etc. A tica se propunha assim, a instituir valores, meios e fins que nos liberassem dessa dupla violncia. Os crticos da moral racionalista, porm, afirmam que a prpria tica, transformada em costumes, preconceitos cristalizados e sobretudo em confiana na capacidade apaziguadora da razo, tornou-se a forma perfeita da violncia. Contra ela, os anti-racionalistas defendem o valor de uma violncia nova e purificadora - a potncia ou a fora dos instintos -, considerada liberadora. O problema consiste em saber se tal violncia pode ter um papel liberador e suscitar uma nova tica. Em segundo lugar, curioso observar que muitos dos chamados irracionalistas contemporneos baseiam-se na psicanlise e na teoria freudiana da represso do desejo (fundamentalmente, do desejo sexual). Propem uma tica que libere o desejo da represso a que a sociedade o submeteu, represso causadora de psicoses, neuroses, angstias e desesperos. O aspecto curioso est no fato de que Freud considerava extremamente perigoso liberar o "id", as pulses e o desejo, porque a psicanlise havia descoberto uma ligao profunda entre o desejo de prazer e o desejo de morte, a violncia incontrolvel do desejo, se no for orientado e controlado pelos valores ticos propostos pela razo e por uma sociedade racional. Essas duas observaes no devem, porm, esconder os mritos e as dificuldades da proposta moral anti-racionalista. o seu grande mrito desnudar a hipocrisia e a violncia da moral vigente, trazer de volta o antigo ideal de felicidade que nossa sociedade destruiu por meio da represso e dos preconceitos. Porm, a dificuldade est em saber se o que devemos criticar e abandonar a razo ou a racionalidade repressora e violenta, inventada por nossa sociedade, que precisa ser destruda por uma nova sociedade e uma nova racionalidade. Sob esse aspecto, interessante observar que no s Freud e Nietzsche criticaram a violncia escondida sob a moral vigente em nossa cultura, mas a mesma crtica foi feita por Bergson (quando descreveu a moral fechada e por Mar, quando criticou a ideologia burguesa. Marx afirmava que os valores da moral vigente - liberdade, felicidade, racionalidade, respeito subjetividade e humanidade de cada um, etc. - eram hipcritas no em si mesmos (como julgava Nietzsche), mas porque eram irrealizveis e impossveis numa sociedade violenta como a nossa, baseada na explorao do trabalho, na desigualdade social e econmica, na excluso de uma parte da sociedade dos direitos polticos e culturais. A moral burguesa, dizia Marx, pretende ser um racionalismo humanista, mas as condies materiais concretas em que vive a maioria da sociedade
18
impedem a existncia plena de um ser humano que realize os valores ticos. Para Marx, portanto, tratava-se de mudar a sociedade para que a tica pudesse concretizar-se. Crticas semelhantes foram feitas por pensadores socialistas, anarquistas, utpicos, apra os quais o problema no se encontrava na razo como poderio dos fracos ressentidos contra os fortes, mas no modo como a sociedade est organizada, pois nela o imperativo categrico kantiano, por exemplo, no pode ser respeitado, uma vez que a organizao social coloca uma parte da sociedade como coisa, instrumento ou meio apra a outra parte. 3.4 Textos selecionados de Nietzsche Aqui, Nietzsche traa, com seu estilo direto e irreverente, as caractersticas que demarcam os dois tipos de vida, representados pelas duas morais: a nobre (ou dos senhores) e a escrava. Texto I - Moral nobre e moral escrava - "Numa perambulao pelas muitas morais, as mais finas e as mais grosseiras, que at agora dominaram e continuam dominando na terra, encontrei certos traos que regularmente retornam juntos e ligados entre si: at que finalmente se revelaram dois tipos bsicos, e uma diferena fundamental sobressaiu. H uma moral dos senhores e uma moral de escravos; acrescento de imediato que em todas as culturas superiores e mais misturadas aparecem tambm tentativas de mediao entre as duas morais, e, com ainda maior freqncia, confuso das mesmas e incompreenso mtua, por vezes inclusive dura coexistncia at mesmo num homem, no interior de uma s alma. As diferenciaes morais de valor se originaram ou dentro de uma espcie dominante, que se tornou agradavelmente cnscia da sua diferena em relao dominada, ou entre os dominados, os escravos e dependentes de qualquer grau. No primeiro caso, quando os dominantes determinam o conceito de "bom", so os estados de alma elevados e orgulhosos que so considerados distintivos e determinantes da hierarquia. O homem nobre afasta de si os seres nos quais se exprime o contrrio desses estados de elevao e orgulho: ele os despreza. Note-se que, nessa primeira espcie de moral, a oposio "bom" e "ruim" significa tanto quanto "nobre" e "desprezvel"; a oposio "bom" e "mau" tem outra origem. Despreza-se o covarde, o medroso, o mesquinho, o que pensa na estreita utilidade; assim como o desconfiado, com seu olhar obstrudo, o que rebaixa a si mesmo, a espcie canina de homem, que se deixa maltratar, o adulador que mendiga, e, sobretudo, o mentiroso - crena bsica de todos os aristocratas que o povo comum mentiroso. "Ns , verdadeiros" - assim se denominavam os nobres da Grcia antiga. bvio que as designaes morais de valor, em toda parte, foram aplicadas primeiro a homens, e somente depois, de forma derivada, a aes: por isso um grande equvoco, quando historiadores da moral partem de questes como "por que foi louvada a ao compassiva?". O homem de espcie nobre se sente como aquele que determina valores, ele no tem necessidade de ser abonado, ele julga: "o que me prejudicial prejudicial em si", sabe-se como o nico que empresta honra s coisas, que cria valores. Tudo o que conhece de si, ele honra: uma semelhante moral glorificao de si. Em primeiro plano est a sensao de plenitude, de poder que quer elevada, a conscincia de uma riqueza que gostaria de ceder e presentear - tambm o homem nobre ajuda o infeliz, mas no ou quase no por compaixo, antes por um mpeto gerado pela abundncia de poder. O homem nobre honra em si o poderoso, e o que tem poder sobre si mesmo, que entende de falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e venera tudo que seja rigoroso e duro. "Um corao duro me colocou Wotan no peito", diz uma velha saga escandinava: uma justa expresso potica da alma de um orgulhoso viking. Uma tal espcie de homem se orgulha justamente de no ser feito para a compaixo: da o heri da saga acrescentar, em tom de aviso, que "quem quando jovem no tem o corao duro, jamais o ter". Os nobres e bravos que assim pensam esto longe da moral que v o sinal distintivo do que moral na compaixo, na ao altrusta ou no desintressement [desinteresse]; a f em si mesmo, o orgulho de si mesmo, uma radical hostilidade e ironia face "abnegao" pertencem to claramente moral nobre quanto um leve desprezo e cuidado ante as simpatias e o "corao quente". So os poderosos que entendem de venerar, esta sua arte, o reino de sua inveno. A profunda reverncia pela idade e pela origem - todo o direito se baseia nessa dupla reverncia -, a f e o
19
preconceito em favor dos ancestrais e contra os vindouros so algo tpico da moral dos poderosos; e quando, inversamente, os homens das "idias modernas" crem quase instintivamente no progresso" e no "porvir", e cada vez mais carecem do respeito pela idade, ia se acusa em tudo isso a origem nonobre dessas "idias" O que faz uma moral dos dominantes parecer mais estranha e penosa para o gosto atual, no entanto, o rigor do seu princpio bsico de que apenas frente aos iguais existem deveres; de que frente aos seres de categoria inferior, a tudo estranho-alheio, pode-se agir ao bel-prazer ou como quiser o corao", e em todo caso "alm do bem e do mal": aqui pode entrar a compaixo, e coisas do gnero. A capacidade e o dever da longa gratido e da longa vingana - as duas somente com os iguais -, a finura na retribuio, o refinamento no conceito de amizade, de uma certa necessidade de ter inimigos (como canais de escoamento, por assim dizer, para os afetos de inveja, agressividade, petulncia - no fundo, para poder ser bem amigo): todas essas so caractersticas da moral nobre, que, como foi indicado, no a moral das "idias modernas", sendo hoje difcil perceb-la, portanto, e tambm desenterr-la e descobri-la. diferente com o segundo tipo de moral, a moral dos escravos. Supondo que os violentados, oprimidos, prisioneiros, sofredores, inseguros e cansados de si moralizem: o que tero em comum suas valoraes morais? Provavelmente uma suspeita pessimista face a toda a situao do homem achar expresso, talvez uma condenao do homem e da sua situao. O olhar do escravo no favorvel s virtudes do poderoso: ctico e desconfiado, tem finura na desconfiana frente a tudo "bom" que honrado por ele gostaria de convencer-se de que nele a prpria felicidade no genuna. Inversamente, as propriedades que servem para aliviar a existncia dos que sofrem so postas em relevo e inundadas de luz: a compaixo, a mo solcita e afvel, o corao clido, a pacincia, a diligncia, a humildade, a amabilidade recebem todas as honras - pois so as propriedades mais teis no caso, e praticamente todos os nicos meios de suportar a presso da existncia. A moral dos escravos essencialmente uma moral de utilidade. Aqui est o foco de origem da famosa oposio "bom" e "mau" - no que mau se sente poder e periculosidade, uma certa terribilidade, sutileza e fora que no permite o desprezo. Logo segundo a moral dos escravos o "mau" inspira medo; segundo a moral dos senhores e precisamente o "bom" que desperta e quer despertar medo, enquanto o homem "ruim" sentido como desprezvel. A opresso chega ao auge quando, de modo conseqente moral dos escravos, um leve aro de menosprezo envolve tambm o "bom" dessa moral - ele pode ser ligeiro e benvolo porque em todo caso o bom tem de ser, no modo de pensar escravo, um homem inofensivo: de boa ndole, fcil de enganar, talvez um pouco estpido, ou seja, un bonhomme [um bom homem]. Onde quer que a moral dos escravos se torne preponderante, a linguagem tende a aproximar as palavras "bom" e "estpido". Uma ltima diferena bsica: o ser, no modo de pensar escravo, um homem inofensivo: de boa ndole, fcil de enganar, talvez um pouco estpido, ou seja, un bonhomme [um bom homem]. Onde quer que a moral dos escravos se torne preponderante, a linguagem tende a aproximar as palavras "bom" e "estpido". Uma ltima diferena bsica: o anseio de liberdade, o instinto para a felicidade e as sutilezas do sentimento de liberdade pertencem to necessariamente moral e moralidade escrava quanto a arte e entusiasmo da venerao, da dedicao, sintoma regular do modo aristocrtico de pensamento e valorao. Com isso, pode-se compreender por que o amor-paixo - nossa especialidade europia - deve absolutamente ter uma procedncia nobre: notrio que ele foi inveno dos cavaleiros-poetas provenais, aqueles magnficos, inventivas homens do gai saber [gaia cincia], aos quais a Europa tanto deve, se no deve ela mesma." (NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal, 260. Trad. Paulo Csar de Souza. So Paulo, Companhia das Letras, 1992, p, 172-5) Texto II - Os animais e a moral. - "As prticas que so exigidas na sociedade refinada, o evitar cuidadosamente o ridculo, o que d na vista, o pretensioso, o preterir suas virtudes assim como seus desejos mais veementes, o fazer-se igual, pr-se na ordem, diminuir-se - tudo isso, como moral social, se encontra, a grosso modo, por toda parte at o mais profundo do mundo animal - e somente nessa
20
profundeza vemos o propsito que est por trs de todas essas amveis precaues: quer-se escapar de seus perseguidores e ser favorecido na busca de sua presa. Por isso os animais aprendem a se dominar e disfarar de tal maneira que muitos adaptam suas cores cor do ambiente (em virtude da assim chamada funo cromtica"), fazem-se de mortos ou adotam formas e cores de um outro animal ou de areia, folhas, algas, esponjas (aquilo que os pesquisadores ingleses designam como "mimicry"). Assim se oculta o indivduo sob a generalidade do conceito "homem ou sob a sociedade, ou se adapta a prncipes, classes, partidos, opinies do tempo ou do ambiente: e para todos os refinados modos de nos fazermos de felizes, gratos, poderosos, amados, se encontrar facilmente o equivalente animal. Tambm aquele sentido de verdade, que no fundo o sentido de segurana, o homem o tem em comum com o animal: no quer deixar-se enganar, no quer deixar-se induzir em erro por si prprio, ouve com desconfiana a voz persuasiva de suas prprias paixes, reprime-se e permanece em guarda contra si; isso tudo o animal sabe igual ao homem, tambm nele o autodomnio brota do sentido do efetivo (da prudncia). Ele observa, igualmente, os efeitos que exerce sobre a representao de outros animais, aprende a voltar o olhar sobre si mesmo a partir dali, a se tomar "objetivamente", tem seu grau de autoconhecimento. O animal julga os movimentos de seus adversrios e amigos, aprende de cor suas peculiaridades, orienta-se por elas: contra indivduos de uma espcie determinada ele renuncia de uma vez por todas ao combate e, do mesmo modo, adivinha na aproximao de muitas espcies de animais o propsito de paz e acordo. Os incios da justia, assim como os da prudncia, comedimento, bravura ,em suma, de tudo o que designamos com o nome de virtudes socrticas, animal: uma conseqncia daqueles impulsos que ensinam a procurar por alimento e escapar dos inimigos. Se ponderamos agora que tambm o mais elevado dos homens s se elevou e refinou justamente no modo de sua alimentao e no conceito de tudo aquilo que lhe hostil, no deixar de ser permitido designar todo fenmeno moral como animal." ("Aurora", pargrafo 26) Texto III - "Onde um homem chega convica fundamental de que preciso que mandem nele, ele se torna "crente"; inversamente seria pensvel um prazer e uma fora de autodeterminao, uma liberdade de vontade, em que um esprito se despede de toda crena, de todo desejo de certeza, exercitado, como ele est, em poder manter-se sobre leves cordas e possibilidades, e mesmo diante de abismos danar ainda. Um tal esprito seria o esprito livre par excellence" ("A Gaia Cincia", quinto livro, pargrafo 347) Texto IV - "O homem do ressentimento traveste sua impotncia em bondade, a baixeza temerosa em humildade, a submisso aos que odeia em obedincia, a covardia em pacincia, o no poder vingar-se em no querer vingar-se e at perdoar, sua prpria misria em aprendizagem para a beatitude, o desejo de represlia em triunfo da justia divina sobre os mpios. O reino de Deus aparece como produto do dio e da vingana dos fracos. Incapaz de enfrentar o que o cerca, o homem do ressentimento inventa, para seu consolo, o outro mundo. Assim tambm procede o "filisteu da cultura, que s pode afirmar-se atravs da negao do que considera seu oposto: a prpria cultura. Ou ento, o homem da cincia, que a si mesmo ope um outro: o pesquisador, que pretende comportar-se de maneira impessoal, desinteressada e neutra diante do mundo, para chegar a abord-lo com objetividade. E ainda o filsofo que, na elaborao de suas idias, acredita poder desvincul-las da prpria vida, no se reconhecendo como advogado de seus preconceitos." ("Para alm de Bem e Mal", pargrafo 2) Texto V - "O esprito livre revolta-se contra toda crena. Para tanto, passa por um longo processo de libertao. preciso disciplina para desfazer-se de hbitos, abandonar comodidades, renunciar segurana. "torna-se possvel... traar um dupla histria dos valores "Bem" e "mal". O fraco concebe primeiro a idia de "mau", com que designa os nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele - e ento a partir da idia de "mau", chega, como anttese, concepo de "bom", que se atribui a si mesmo. O forte, por outro lado, concebe espontaneamente o princpio "bom" a partir de si mesmo e s depois cria a idia de "ruim". Do ponto de vista do forte, "ruim" apenas uma criao secundria, enquanto para o fraco
21
"mau" a criao primeira, o ato fundador da sua moral, a moral dos ressentidos. O forte s procede por afirmao e, mais, por auto-afirmao; o fraco s pode firmar-se negando o que considera ser o seu oposto. "O levante dos escravos na moral comea quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores: o ressentimento de seres tais, aos quais est vedada a reao propriamente dita, o ato, e que somente por uma vingana imaginria ficam quites. Enquanto doa moral nobre brota de um triunfante dizer-sim a si prprio, a moral de escravos diz no, logo de incio, a um "forra", a um "outro", a um "no-mesmo". E esse no seu ato criador. Essa inverso do olhar que pe valores, essa direo necessria para for, em vez de voltar-se para si prprio - pertence, justamente, ao ressentimento: a moral de escravos precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior, precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior, precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior, precisa, dito fisiologicamente, de estmulos externos para em geral agir - sua ao , desde o fundamento, por reao."("Para a Genealogia da Moral", Primeira dissertao, pargrafo 10) 3.5 Atividades 1. Procure, em um bom dicionrio, o significado dos verbetes nobre e escravo e compare os seus sentidos correntes com os que Nietzsche lhes deu. 2. Assista a um captulo de uma novela de televiso e identifique, nas falas das personagens, valores escravos e valores nobres. 3.6 Vamos refletir 1. Pelo que entendeu do texto, voc acha que os valores escravos e os valores nobres tm a ver com o poder aquisitivo das pessoas, com as classes sociais, ou independem disso? Explique. 2. Descreva as ressonncias que estas afirmaes de Nietzsche encontram em voc, sem sua vida: "quem chegou, ainda que apenas em certa medida, liberdade da razo, s pode sentir-se sobre a terra como um andarilho. [...] Bem que ele quer ver e ter os olhos abertos para tudo o que propriamente se passa no mundo; por isso no pode prender o seu corao com demasiada firmeza em nada de singular; tem de haver nele prprio algo de errante, que encontra sua alegria na mudana e na transitoriedade" (Humano, demasiado humano 638) 3. Nos eu modo de ver, difcil viver segundo os valores nobres apresentados por Nietzsche?
4. A TICA DE KANT Marilena Chau (Fonte: Filosofia, Marilena Chau, Ed. tica, So Paulo, ano 2000, pg. 170-172) Opondo-se moral do corao de Rousseau, Kant volta a afirmar o papel da razo na tica. No existe bondade natural. Por natureza, diz Kant, somos egostas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruis, vidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos, roubamos. justamente por isso que precisamos do dever para nos tornarmos seres morais. A exposio kantiana parte de duas distines: 1. a distino entre razo pura terica ou especulativa e razo pura prtica; 2. a distino entre ao por causalidade ou necessidade e ao por finalidade ou liberdade.
22
Razo pura terica e prtica so universais, isto , as mesmas para todos os homens em todos os tempos e lugares - podem variar no tempo e no espao os contedos dos conhecimentos e das aes, mas as formas da atividade racional de conhecimento e da ao so universais..... A diferena entre razo terica e prtica encontra-se em seus objetos. A razo terica ou especulativa tem como matria ou contedo a realidade exterior a ns, um sistema de objetos que opera segundo leis necessrias de causa e efeito, independentes de nossa interveno; a razo prtica no contempla uma causalidade externa necessria, mas cria sua prpria realidade, na qual se exerce. Essa diferena decorre da distino entre necessidade e finalidade/ liberdade. A Natureza o reino da necessidade, isto , de acontecimentos regidos por seqncias necessrias de causa e efeito - o reino da fsica, da astronomia, da qumica, da psicologia. Diferentemente do reino da Natureza, h o reino humano da na qual as aes so realizadas racionalmente no por necessidade causal, mas por finalidade e liberdade A razo prtica a liberdade como instaurao de normas e fins ticos. Se a razo prtica tem o poder para criar normas e fins morais, tem tambm o poder para imp-los a si mesma. Essa imposio que a razo prtica faz a si mesma daquilo que ela prpria criou o dever. Este, portanto, longe de ser uma imposio externa feita nossa vontade e nossa conscincia, a expresso da lei moral em ns, manifestao mais alta da humanidade em ns. Obedec-lo obedecer a si mesmo. Por dever, damos a ns mesmos os valores, os fins e as leis de nossa ao moral e por isso somos autnomos. Resta, porm, uma questo: se somos racionais e livres por que valores, fins e leis morais no so espontneos em ns, mas precisam assumir a forma do dever? Responde Kant: porque no somos seres morais apenas. Tambm somos seres naturais, submetidos causalidade necessria da Natureza. Nosso corpo e nossa psique so feitos de apetites, impulsos, desejos e paixes. Nossos sentimentos, nossas emoes e nossos comportamentos so a parte da Natureza em ns, exercendo domnio sobre ns, submetendo-se causalidade natural inexorvel. Quem se submete a eles no pode possuir a autonomia tica. A Natureza nos impele a agir por interesse. Este a forma natural do egosmo que nos leva a usar coisas e pessoas como meios e instrumentos para o que desejamos. Alm disso, o interesse nos faz viver na iluso de que somos livres e racionais por realizarmos aes que julgamos terem sido decididas livremente por ns, quando, na verdade, so um impulso cego determinado pela causalidade natural. Agir por interesse agir determinado por motivaes fsicas, psquicas, vitais, maneira dos animais. Visto que apetites, impulsos, desejos, tendncias, comportamentos naturais costumam ser muito mais fortes do que a razo, a razo prtica e a verdadeira liberdade precisam dobrar nossa parte natural e impor-nos nosso ser moral. Elas o fazem obrigando-nos a passar das motivaes do interesse para o dever. Para sermos livres, precisamos ser obrigados pelo dever de sermos livres. Assim, colocao sobre o perigo de a educao tica constituir-se em violncia contra nossa natureza espontaneamente passional, Kant responder que pelo contrrio, a violncia estar em no compreendermos nossa destinao racional e em confundirmos nossa liberdade com a satisfao irracional de todos os nossos apetites e impulsos. O dever revela nossa verdadeira natureza. O dever, afirma Kant, no se apresenta atravs de um conjunto de contedos fixos, que definiriam a essncia de cada virtude e diriam que atos deveriam ser praticados e evitados em cada circunstncia de nossa vida. O dever no um catlogo de virtudes nem uma lista de "faa isto" e "no faa aquilo". O dever uma forma que deve valer para toda e qualquer ao moral. Essa forma no indicativa, mas imperativa. O imperativo no admite hipteses ("se... ento") nem condies que o fariam valer em certas situaes e no valer em outras, mas vale incondicionalmente e
23
sem excees para todas as circunstncias de todas as aes morais. Por isso, o dever um imperativo categrico. Ordena incondicionalmente. No uma motivao psicolgica, mas a lei moral interior. O imperativo categrico exprime-se numa frmula geral: Age em conformidade apenas com a mxima que possas querer que se torne uma lei universal. Em outras palavras, o ato moral aquele que se realiza como acordo entre a vontade e as leis universais que ela d a si mesma. Essa frmula permite a Kant deduzir as trs mximas morais que exprimem a incondicionalidade dos atos realizados por dever. So elas: 1. Age como se a mxima de tua ao devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da Natureza; 2. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio; 3. Age como se a mxima de tua ao devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. A primeira mxima afirma a universalidade da conduta tica, isto , aquilo que todo e qualquer ser humano racional deve fazer como se fosse uma lei inquestionvel, vlida para todos em todo tempo e lugar. A ao por dever uma lei moral para o agente. A segunda mxima afirma a dignidade dos seres humanos como pessoas e, portanto, a exigncia de que sejam tratados como fim da ao e jamais como meio ou como instrumento para nossos interesses. A terceira mxima afirma que a vontade que age por dever institui um reino humano de seres morais porque racionais e, portanto, dotados de uma vontade legisladora livre ou autnoma. A terceira mxima exprime a diferena ou separao entre o reino natural das causas e o reino humano dos fins. O imperativo categrico no enuncia o contedo particular de uma ao, mas a forma geral das aes morais. As mximas deixam clara a interiorizao do dever, pois este nasce da razo e da vontade legisladora universal do agente moral. O acordo entre vontade e dever o que Kant designa como vontade boa que quer o bem. O motivo moral da vontade boa agir por dever. O mvel moral da vontade boa o respeito pelo dever, produzido em ns pela razo. Obedincia lei moral, respeito pelo dever e pelos outros constituem a bondade da vontade tica. O imperativo categrico no nos diz para sermos honestos, oferecendo-nos a essncia da honestidade; nem para sermos justos, verazes, generosos ou corajosos a partir da definio da essncia da justia, da verdade, da generosidade ou da coragem. No nos diz para praticarmos esta ou aquela ao determinada, mas nos diz para sermos ticos cumprindo o dever (as trs mximas morais). este que determina por que uma ao moral dever ser sempre honesta, justa, veraz, generosa, ou corajosa. Ao agir, devemos indagar se nossa ao est em conformidade com os fins morais, isto , com as mximas do dever. Por que, por exemplo, mentir imoral? Por que o mentirosos transgride as trs mximas morais. Ao mentir, no respeita em sua pessoa e na do outro a humanidade (conscincia, racionalidade e liberdade), pratica uma violncia escondendo de um outro ser humano uma informao verdadeira e, por meio do engano, usa a boa-f do outro. Tambm no respeita a Segunda mxima, pois se a mentira pudesse universalizar-se, o gnero humano deveria abdicar da razo e do conhecimento, da reflexo e da crtica, da capacidade arpa deliberar e escolher, vivendo na mais completa ignorncia, no erro e na iluso.
24
Por que um poltica corrupto imoral? Por que transgride as trs mximas. Por que o homicdio imoral? Porque transgride as trs mximas. As respostas de Rousseau e de Kant, embora diferentes, procuram resolver a mesma dificuldade, qual seja, explicar por que o dever e a liberdade da conscincia moral so inseparveis e compatveis. A soluo de ambos consiste em colocar o dever em nosso interior, desfazendo a impresso de que nos seria imposto de fora por uma vontade estranha nossa.
5 - A FILOSOFIA DE JEAN PAUL SARTRE (Do Livro " proibido Proibir - Sartre", Fernando Jos de Almeida, FTD, 1988, pg. 29-54) 5.1 Ser que eu existo? Sou um latino-americano entre 5 bilhes de habitantes de nosso ameaado planeta - imenso paiol atmico. Sou classificado pelo nmero de minha Carteira de Identidade, filho de pais que eu no escolhi. Par os polticos ou um reles voto annimo. Serei eu apenas uma estatstica que assiste TV, consome e respira ? Serei, como dizia Roquentin, aquele personagem de Sartre, "um existente que nasce sem motivo, dura por fraqueza e morre por acaso"? Afinal quem sou eu? Quem o ser humano? Sei apenas que me recuso a ser olhado como mero objeto de estatsticas. Existo cheio de desejos, de medos, de sentimentos, de sonhos. Pode ocorrer, no meio de uma festa, vendo tantas pessoas falando, bebendo, danando, de eu me perceber mais s do que nunca. E pergunto: Quem sou eu? Ser que eu existo? Os outros existem? olho minhas espinhas ou minhas rugas a conscincia de que eu existo s vezes me assalta. Diante da perda de um amigo num acidente estpido, ou diante da notcia de jovens que se suicidam, sou empurrado Para encontrar-me comigo mesmo. Estou aqui neste mundo. Eu existo. Mas o que existir? mais que o simples ser. As pedras so, as flores so, as nuvens so. Elas tm ser. Mas elas no sabem disso. No se aborrecem, no se alegra, no criticam o chefe, No tm dor-decotovelo. S o homem existe. Quer dizer: existir ter conscincia do prprio ser. Mas tomar conscincia da prpria existncia coisa rara. Em geral tenho espao para consumir, tenho tempo para gostar daquilo que todos gostam... 5.2 O espanto de existir Aqueles que descobrem o prprio existir so tomados de uma sensao de enorme e espantosa aventura. "Eu existo!", admiram-se. Mas como entro nesta aventura filosfica? Os gregos diziam que ela comea a partir da admirao e do espanto. O existencialismo tambm partiu desse espanto e admirao para perceber e mergulhar na aventura do existir. bom explicar o que "existir" num sentido filosfico. O existir tem sua origem etimolgica na palavra latina "ex-sistere", que quer dizer "estar em p, fora de". Isto , poder observar o prprio ser como se estivesse fora dele. Assim, pode-se dizer que s o homem existe, porque somente ele capaz de distanciar-se de si mesmo e de seus atos para examin-los, critic-los ou valoriz-los.
25
por isto que apenas os homens batem recordes. Os animais no superam suas marcas. Exatamente porque o atleta - que aqui comparamos ao ser humano - no se contenta com o que consegue que ele sempre quer ir alm do que j alcanou. Quando ligamos a TV, quase sempre ouvimos que um recorde foi batido e vemos a alegria do atleta quando recebe o resultado. a humanidade que existe nele que se supera a cada xito. Esta a posio do existir: sou assim, mas posso ser mais, ou de um outro jeito. Mas meu questionar sobre mim e minha conscincia no pra por a. Vou mais longe. O meu prprio ser: por que existe? Por que, entre milhes de possibilidades de arranjos genticos que fariam nascer irms ou irmos meus, logo eu fui ser o escolhido ao fim dessa longa cadeia de acasos? Que fora, ou que jogo de azar, levou aquele espermatozide - um entre milhes - a chegar milsimos de segundos na frente? A mais nfima diferena na srie em que sou o ponto final: em vez de mim, vido de ser eu, haveria apenas outro. Quanto a mim, seria apenas o nada, como se eu estivesse morto. (Foulqui, Pierre. O existencialismo. So Paulo, Difel, 1961, p. 42) Cenas de violncia que presencio na rua, a perda de companheiros queridos ou a traio de um amigo me empurram a pensar no meu existir. Por qu? Quando me pergunto sobre meu existir, tomo conscincia dele. uma situao parecida com a daqueles momentos em que estou sozinho dentro de um elevador e me deparo com um enorme espelho. Ajeito meu cabelo, aprumo meus ombros... Eu ali, comigo mesmo, tendo de me olhar.. Mais ou menos raros, ocorrem em minha vida momentos fortes - doces ou violentos - doces ou violentos - em que tenho de me olhar de "corpo inteiro". Busco o sentido de tudo. Penso em mim, nos meus projetos, no mundo que vai me fazendo, neste meu corpo que sou eu. Pensar importante. Mas no basta. O pensar no faz o existir. Os textos de Sartre trouxeram-me memria algumas de minhas idias de criana. Morria de modo de que as coisas desaparecessem: acreditava que isto aconteceria se eu no pensasse mais nelas. Sumiria tudo do meu mundo: meus pais, minha cidade de Friburgo, minha escola, meu Fluminense. No esta a viso existencialista. Meu pensar no d o ser s coisas, mas as faz existirem com caractersticas boas, ms, agradveis ou inteis. Eu as transformo em objetos para serem conhecidas, ou para serem motivo de agresso ou de construo. Misturando-me realidade, eu mesmo passo a me reconhecer como til, agradvel, triste ou falso. 5.3 Essncia ou existncia. O que isto? Aristteles, filsofo grego que viveu no sculo 4 a . C., ensinou que a essncia aquilo que define ou fornece as caractersticas fundamentais de um ser. Dito de outro modo, essncia o que faz com que uma coisa seja o que e no outra coisa qualquer. Da essncia no fazem parte qualidades acidentais. Por exemplo: o fato de a caneta ser azul ou verde, pequena ou grande, cara ou barata no diz respeito sua essncia. O fato de ser um instrumento usado para escrever, ser tinta e de formato adaptvel mo humana que dita a essncia da caneta. Vamos ver como isto acontece ao ser humano, segundo a corrente aristotlica e segundo o existencialismo.
26
Para muitos pensadores aristotlicos, o homem tem uma essncia - animal racional - que pertence a toda a humanidade e pode ou no ter existncia individual. J os existencialistas afirmam que a essncia humana no existe nas idias nem dada gratuitamente ao homem. A essncia humana construda por cada um de ns no prprio existir. Quando penso em minha vida, vejo que h mil direes para se seguir. medida que vou existindo, decido-me por um caminho. Ando nele. Com meu caminhar, abro a trilha. Sou como o trator, que faz seu caminho enquanto avana, mais do que o automvel, que s corre por estradas que foram feitas por outros. O homem um ser apenas possvel. Existo medida que transformo esse possvel em real. Esta passagem do possvel para o real a vida. E mais que a passagem, o modo como o fao. "- Que profisso seguir nesta sociedade to complicada?" Meus pais me pressionam para profisses rentveis e que dem nome e status. Vibro com arte, msica. Acho que tenho compromissos para fazer desta sociedade, louca e injusta, algo mais humano. Mas isto no d dinheiro nem aprovao dentro da "boa sociedade". Como sobreviver dignamente e ser coerente com o que eu sinto e penso? Os alunos da escola em que eu trabalho sempre trazem questes desse tipo. Provavelmente elas apareceram tambm para voc. Depois de muita conversa, alguns estudos e bastante reflexo, a gente tem chegado seguinte concluso: mais importante do que a profisso escolhida a maneira como cada um de ns escolhe viv-la. Essa maneira aparece seja no empenho com que nos preparamos para exercer essa profisso, seja na dimenso de arte e beleza ou no contedo poltico que pretendemos dar a ela. O mundo da justia ou da verdade, da liberdade ou da democracia, quem vai construir nesta profisso cada um de ns. Temos o poder de escolher livremente nosso modo de ser profissional. Disto no podemos abrir mo! O que vimos que ocorre na escolha de um projeto profissional, segundo Sartre, tambm se aplica destinao de um significado para a vida toda. Mas este existir, escolhido e criado - ou a passagem do possvel realidade -, feito usando-se a liberdade. Est nas mos de cada um. seu privilgio. Isto no quer dizer que todos tenhamos uma existncia autntica s pelo fato de sermos homens. Ser autntico sempre buscar a identidade entre nossos valores e nossa atividade: fazer aquilo em que acreditamos. no processo livre de escolha, a cada dia, de nossa essncia que construmos a existncia humana. Escolhemos a nossa essncia o procedermos escolha do personagem que pretendemos ser. Essa escolha serve para ns, mas serve sobretudo para a humanidade toda. Deixamos nossa marca na histria de toda a humanidade mesmo quadro fazemos um ato bem no fundo da nossa morada interior. 5.4 Escolho por todo o mundo Os existencialistas forma particularmente sensveis questo da angstia humana. Seus romances batem e rebatem nesse tema. Eles destacam que ficamos cada dia mais angustiados quando aceitamos o fato de que pertence a cada um a liberdade de construir, pedra a pedra, a essncia do prprio edifcio. Toda a responsabilidade ser minha pelo xito ou pelo fracasso desta minha cosntruo. Exclusivamente minha. A est a angstia que sentimos por nossas vidas, tantas vezes absurdas e marcadas para a morte. As experincias vividas por Sartre durante as duas guerras mundiais, as perdas, as dores, as destruies, as incertezas, certamente tero contribudo para a formao da sua filosofia explicativa As conseqncias das guerra, das traies, do colaboracionismo de alguns franceses com os alemes invasores, da resistncia de mulheres e crianas, das torturas, da vitria, vo tambm faz-lo sentir vivamente a questo da responsabilidade. Voc, eu, cada um de ns contribui para os problemas da sociedade e para sua soluo.
27
Voc j imaginou se cada um dos proprietrios de automveis de uma cidade grande como So Paulo ou Rio resolvesse, ao mesmo tempo, sair de carro? Ningum sairia. No h suficientes metros quadrados de ruas para comportar tantos automveis. Moral da histria: os interesses individuais devem responder ao interesse do conjunto. Da que ser responsvel ter de responder ao conjunto da sociedade pelas prprias aes. Essa responsabilidade no advm do fato de termos de responder a um Deus pelos nossos atos, mas de termos de responder perante a valores que ns mesmos construmos. E responder a todos os homens: Se o homem no , mas se faz, e se, em se fazendo, assume a responsabilidade por toda a espcie humana, se no h valor ou moral dados a priori, mas se, em cada caso, precisamos resolver sozinhos, sem ponto de apoio e, no entanto, para todos, como haveramos de no sentir ansiedade quando temos de agir? (Sartre, J. P. O existencialismo um humanismo. Lisboa, Presena, s/d, p. 221) Tal responsabilidade est apoiada na prpria escolha que o homem faz, no do seu ser, mas da sua maneira de ser. A atitude que cada um assume em face daquilo que ele contribui para a prpria transformao. Essa idia to poderosa que Sartre afirma que ns temos condies at de interferir em nosso passado. Os dias que j vivi no so imutveis, nem fixos. Posso fazer, atravs de minha atitude, com que o passado mude de significado. Passado feliz ou triste, saudoso ou melanclico, meu "projeto" futuro que vai determinar se foi bem ou mal sucedido. "Tudo bom quando acaba bem", ensina o povo. O significado de cada ato meu dado por uma deciso consciente e livre, toda minha. Aqui Sartre combate duramente Freud (aquele que - dizem explica tudo). O Pai da Psicanlise coloca no passado uma fora to poderosa quanto um destino. Segundo ele, nossa histria psicolgica anterior determina nosso presente a ponto de no podermos escapar dele: sobretudo de nossos traumas de origem sexual. Sartre no concorda com Freud e diz que o ser humano pode reconstruir o prprio passado e dar-lhe um novo significado. Se sou estudante numa certa escola, sou eu que escolho como serei estudante nela. Poder ser algo intolervel, humilhante, carregado de responsabilidade, objeto de orgulho ou justificativa para meus fracassos. Digo-me ento: "Minha vida infeliz, ou realizada, por causa de meus pais, ou dos professores bons que no tive, ou pela frieza de meus amigos, pelo amor que me envolveu...". Freqentemente esqueo que eu mesmo escolhi livremente construir os amores, esquecer-me dos amigos ou curtir meus pais. Mas o mais saboroso, e quase fantstico, desta aventura humana que cada um vai fazendo sua libertao ao longo deste caminhar. E no s a sua vida, mas de toda a humanidade, pois, com sua vida, est construindo sua essncia humana: Queremos a liberdade pela liberdade atravs de cada circunstncia em particular E, ao querermos a liberdade, descobrimos que ela depende inteiramente da liberdade dos outros e que a liberdade dos outros depende da nossa (..) (Sartre, J. P. O existencialismo um humanismo. Lisboa, Presena, s/d, p. 260) O homem um ser que no pode querer seno a sua liberdade e que reconhece tambm que no pode querer seno a liberdade dos outros. Da que ningum livre sozinho... 5.5 O outro e minha identidade Quem de ns, quando criana, ou nos momentos de decepo cm este mundo cheio de loucuras, no desejou ser um nufrago, na solido de uma ilha do Pacfico, tal como Robinson Cruso?
28
O escritor Michel Tournier d sua verso da vida solitria de Robinson sob a tica existencialista. Coisa bonita! O pensamento sartriano sobre o Outro aparece muito claro num trecho do livro. Que "outro" este? aquele que se depara minha frente, diferente de mim. L pelas tantas, depois de viver muitos anos na ilha, Robinson esquece o que so os corpos dos outros seres humanos. Corpo da mulher, em especial. Percebe, ento, que estava perdendo a prpria identidade. Esquecia-se de quem era. Sente nesse momento o desejo de ter relaes ntimas com um outro diferente de si, no qual possa mergulhar e cujo interior possa conhecer. No outro, poderia se olhar e conhecer. Enfim, recuperar soa identidade. O grande Outro, para Robinson, aquela ilha, a terra. Terra que veste o homem, que bebe seu sangue, come sua carne, mas que tambm o alimenta. Robinson descobre a terra. Dorme com ela, amando-a sexualmente. Dessa relao com a terra, desse abrao com as rvores, nasce uma flor at ento inexistente na ilha. Ao v-la, Robinson tira-a cuidadosamente da terra e v, com espanto, que suas razes tm forma de corpos humanos. Forma do seu corpo. Reconhece-se nas razes. Essa flor o ajuda a entender quem ele e o que a ilha. apenas o outro que permite o conhecimento de mim e o sentido de minha Existncia. Lutando desesperadamente para encontrar sua identidade, Robinson - no convivendo com seres humanos - deve buscar no "outro", vegetal e telrico, uma referncia mnima, um espelho para seu eu. 5.6 O inferno so os outros? Quando vou ao cinema, vejo filas, esbarro em pessoas que compram balas, que disputam lugares ou que riem na sesso que ainda no terminou. Todas elas so objetos para mim: filas, quantidades, multido annirna que ri, massa que briga por um lugar. S eu me sinto sujeito. Eu os meo, classifico, analiso. Eu que tenho projetos, tenho conscincia. No sou uma coisa entre as coisas. J sentado, esperando a prxima sesso de cinema, de repente meu olhar encontra um olhar que me observa (porque minha meia no combina com a minha roupa? Ou porque tenho uma mancha na camisa? Ou porque no sou bonito como o ator daquele fume?). Nesse momento, como por mgica, esse olhar me transforma num objeto. Esse olhar me escapa. Pelo olhar, seu (sua) dono (a) se recusa a tornar-se objeto do meu olhar. como um duelo. Tomo, assim, conscincia, pelo olhar do outro, de que ele tambm conscincia. Tal o cerne da vergonha e do pudor: sinto-me olhado e considerado um objeto. Apenas minha "casca", meu corpo olhado e no o meu ser consciente, o meu universo interior. por isso que muitas meninas, mesmo que estejam vestidas dos ps ao alto do pescoo, se sentem desnudadas por um olhar que as enche de vergonha. Por outro lado, pode ser que, mesmo usando o biquni mais sumrio, a jovem se sinta perfeitamente dona de seu corpo conforme o tipo do olhar que se dirige a ela. O olhar do outro me rouba o mundo que era meu e rouba a minha intimidade. 5.7 Olhar e amor Essa "objetivao!" - o fato de tentar transformar o outro em objeto - que se faz com o olhar tende a ser uma caracterstica de todas as relaes efetivas. Quantas vezes voc j sentiu que sua relao mais complicada e conflituosa acontece exatamente com quem voc mais gosta? Mas por que complicada essa relao? Voc quer amar: a d presentes, faz poesia, sonha com a outra pessoa. S que voc vai agindo e pensando de tal forma que aos poucos ela se toma objeto para voc. Voc quer ser amada: a vem a sua vez de querer ser acarinhada, receber atenes, ser objeto de atenes.
29
A o n do conflito entre duas pessoas. Ora uma, ora outra tende a ser transformada em objeto; ao mesmo tempo, nenhuma das duas quer e pode deixar de ser sujeito. Voc j deve estar com uma pergunta na ponta da lngua: ento no existe o amor? Quase, diz Sartre. Para ele, o ato de amor uma tnue conquista, que se refaz a cada momento. De um lado, o amor uma histria de respeito liberdade do outro. De outro lado, uma busca contnua de fazer respeitar a prpria liberdade. A relao entre pessoas que no consideram essas delicadezas leva Sartre a dizer, pela boca do personagem Garcin: Vocs se lembram o enxofre, a fogueira, as grelhas.. do inferno? Ah! que brincadeira. No h necessidade de grelhas: o inferno so os outros! (Foulqui, Pierre. O existencialismo. So Paulo, Difel, 1961, p. 42) Contudo essa viso pessimista no representa o conjunto da obra do filsofo: foi uma fase. Sartre percebe que querer ser amado tentar assimilar a liberdade de outrem, sujeitando-a prpria liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ningum quer ser amado s porque um outro lhe fez um dia uma promessa: "Amo voc porque me comprometi e no quero voltar atrs na minha palavra". Do mesmo modo, ningum admite ser verdadeira uma relao semelhante quela que se teria com aquelas bonecas inflveis que aparecem no cinema. So usadas e depois vo para a caixa. Esvaziadas. Todos queremos tambm o risco renovado da possibilidade de no ser amado. Ns somos assim mesmo. Gostamos do risco e da ambigidade. Tendemos a rejeitar aquele amor que admite ser sempre um objeto passivo para ns. Por isso ningum constri uma relao saudvel com aquele amor que o quer seu escravo. Alm de tudo, ficamos sempre no sobressalto de que esse amor pode tambm escapar de ns. No amor inevitvel esse conflito entre a tendncia de transformar o outro em objeto e a de se deixar ser objeto. Esse conflito saudvel, pois mantm o equilbrio da relao afetiva. 5.8 O tropicalismo chega Frana Numa entrevista TV, Caetano Veloso confessou que tinha dois desejos em sua infncia l em Santo Amaro da Purificao, interior da Bahia: o primeiro desejo era ser artista, pintor. O outro era ser pensador, "como aqueles existencialistas de Paris". Consciente ou no disso, que Caetano foi uma das mais notveis expresses do tropicalismo, espcie de existencialismo brasileira "Sem leno, sem documento, nada no bolso ou nas mos, eu quero seguir vivendo, amor! Eu vou! Por que no? Por que no?" (msica: "Alegria, alegria") Assim como um mgico que tira tudo - suas iluses, seus sonhos, sua vida - do vazio da cartola, tambm Sartre e os existencialistas partem do nada que o homem para construir tudo: a trgica, bela, derrotada, sutil e absurda existncia humana. Cada um de ns inicia essa aventura sem nenhum documento, sem nenhuma certeza de onde veio ou onde vai. O nosso passado nada, no temos leno nem documento. Nosso destino desconhecido mas queremos seguir dizendo: "Eu vou! Por que no"" Damo-nos conta de que h um nada em nosso interior. Esse nada o futuro. O futuro aparece como uma srie de aes possveis em que um Eu (que ainda no ) deve decidir com autonomia. Sartre formula seu conceito de liberdade mergulhado nesse sentimento de angstia advindo do "nada"' que nossa existncia. Torna-se apaixonado pela liberdade e vai fazer dela uma das bases de seu
30
sistema filosfico. No entanto d liberdade um significado diferente do que habitualmente se d palavra. 1. Numa primeira e mais simples viso, uma pessoa considerada livre medida que pode alcanar seus objetivos sem encontrar obstculos, ou com um mnimo de esforo. Se algum encontra dificuldades, ou lhe falta capacidade, ento no tida como livre. 2. No sentido Poltico, a liberdade pode significar no encontrar obstculos - legais ou policiais - sua ao ou expresso. 3. H muitos sculos, uma corrente do pensamento ocidental vem fundamentado seu conceito de liberdade em Deus. Ao criar o homem, Deus faz um plano para a realizao dessa criatura. Esse plano - de bondade, justia, verdade... - pode ou no ser cumprido pelo homem. Na realizao (ou no) desse plano est sua "autodeterminao". Chama-se liberdade de autodeterminao. um outro modo de v-la. Somos livres, mas para seguir um plano que nos foi dado por Deus. Sartre situou a liberdade num outro patamar. 5.9 O homem mata Deus e se condena... a ser livre! O existencialismo ateu, defendido por Sartre, partir de um pressuposto radicalmente contrrio quele que situa a liberdade como um espao de "autodeterminao". No h mais a dependncia de um sujeito com relao a um plano divino. Deus no existe para Sartre. Este o seu fundamento: Com efeito, tudo permitido se Deus no existe, fica o homem, por conseguinte, abandonado, j que no encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade a que se apegue. Antes de mais nada, no h desculpas para ele. (Sartre, J. P. O existencialismo um humanismo. Lisboa, Presena, s/d, p. 226)
H uma agravante para a solido de sua liberdade: na realizao da prpria vida (existncia) concreta, na sua histria pessoal, que o homem constri suas caractersticas, sua essncia. tambm nessa mesma histria que cada um de ns as remodela, aperfeioa, cria... Para nosso filsofo, a pessoa no tem nenhuma natureza humana que a revista de determinados valores e deva ser realizada. No nascemos com uma receita de bolo embutida em nossa personalidade dizendo que ingredientes a compem. Sartre diz que, se Ado existisse, no teria uma natureza j dada, com essas ou aquelas caratersticas. Se assim fosse, ele no teria nenhuma responsabilidade pelo seu ser. Nem mrito: Para ns, pelo contrrio, Ado no se define por uma essncia, pois a essncia , para a realidade humana, posterior existncia (...) Se, com efeito, a existncia precede a essncia, no ser nunca possvel referir uma explicao a uma natureza humana dada e imutvel; por outras palavras, no h determinismo (...) (Sartre, J. P. O existencialismo um humanismo. Lisboa, Presena, s/d, p. 214) Quando se diz que o homem est sujeito a determinismos, significa que se acredita que qualquer fora, seja econmica, social, ou biolgica, obrigam de tal forma que ele nada pode escolher por si mesmo e com liberdade. No fundo, os defensores do determinismo afirmam que o homem um prisioneiro de sua herana gentica e um rob das presses econmicas, que o levam a escolher a profisso, o amor, a amizade, o
31
partido, ou uma viagem, sem nenhuma autonomia. Homens, em suas reaes, seriam pouco diferentes de cobaias de laboratrio. Sartre props e defendeu a soberania da subjetividade humana, que permite ao homem escolher a cada passo o seu caminho. O indivduo livre. Ele no apenas tem liberdade, mas liberdade. A inexistncia de um Deus que vive a nos indicar caminhos e valores faz com que nada fora de ns legitime nosso comportamento. Ns construmos tudo: at mesmo os nossos valores, regras e imposies.. Assim, no temos nem atrs de ns, nem diante de ns, no domnio luminoso dos valores justificaes ou desculpas (...) o homem est condenado a ser livre. Condenado, porque no criou a si prprio; e no entanto livre, porque uma vez lanado ao mundo responsvel por tudo quanto fizer... (J.-P. Sartre. O Existencialismo um humanismo. Lisboa, Presena, s/d, p. 226) 5.10 Vamos Refletir 1. Comente em duplas, e depois com a classe toda, a seguinte proposio de Sartre, levantando situaes concretas em que se aplique: "A existncia precede a essncia" O poema de Fernando Pessoa (anexo) reproduz muito bem o clima existencialista. Destaque os versos que explicitam o pensamento de Sartre, No texto A Repblica do Silncio (anexo) destaque as idias de Sartre sobre os temas: liberdade; responsabilidade; compromisso indivduo-sociedade Tambm anexos trechos de O existencialismo um humanismo, de Sartre. Discuta estes textos, levante suas concordncias e discordncias. Irmos, de Lus Fernando Verssimo (anexo), retrata bem a questo da gratuidade da nossa existncia. Compare o texto com as idias de Sartre. 5.11 Proposta de Atividade I. Faa entrevista sobre a idia de liberdade com trs pessoas de grupos sociais e instruo diferentes. Veja com qual das quatro definies de liberdade apresentadas neste captulo o entrevistado mais se identifica. Anexos Dizes-me: tu s mais alguma cousa pedra ou uma planta. Dizes-me: sente, pensas e sabes Que pensas e sentes. Ento as pedras escrevem versos? Ento as plantas tm idias sobre o mundo? Sim: h diferena. Mas no a diferena que encontras; Porque o ter conscincia no me obriga a ter teorias sobre as cousas:
2.
3.
4.
5.
32
S me obriga a ser consciente.. Se sou mais que uma pedra ou uma planta? No sei. Sou diferente. No sei o que mais ou menos. Ter conscincia mais que ter cor? Pode ser e pode no ser. Sei que diferente apenas. Ningum pode provar que mais que s diferente. Se que a pedra a real, e que a planta Sei isto porque elas custem. Sei isto porque os meus sentidos mo mostram. Sei que sou real tambm. Sei isto porque os meus sentidos mo mostram. Embora com menos clareza que me mostram a pedra e a planta. No sei mais nada. Sim, escrevo versos, e a pedra no escreve versos. Sim, fao idias sobre o mundo, e a planta nenhumas. Mas que as pedras no so poetas, so pedras; E as plantas so plantas s, e no pensadores. Tanto posso dizer que sou superior a elas por isto, Como que sou inferior. Mas no digo isso: digo da pedra, " urna pedra" Digo da planta, " uma planta", Digo de mim, "sou eu" E no digo mais nada. Que mais h a dizer? ( Fernando Pessoa. Obra potica, Rio de Janeiro, Cia. Jos Aguilar Editora, 1969, p. 234) 5.12 Textos de Sartre e de outros a) A Repblica do Silncio J.-P. Sartre Nunca fomos to livres como sob a ocupao alem. Tnhamos perdido todos os direitos e, antes de todos os outros, o direito de falar; insultavam-nos na cara todos os dias e tnhamos de ficar calados; deportavam-nos em massa, como judeus, como prisioneiros polticos; em toda a parte, nas paredes, nos jornais, nos cinemas, reencontrvamos o imundo e desenxabido rosto que os opressores nos apresentavam de ns mesmos; por tudo isso, ramos livres. Dado que o veneno nazi se infiltrava at no nosso pensamento, cada pensamento era uma conquista; dado que uma poltica prepotente procurava reduzir-nos ao silncio, cada palavra se tornava preciosa como uma declarao de princpio dado que ramos perseguidos, cada um dos nossos gestos tinha o peso dum compromisso. As circunstncias tantas vezes atrozes do nosso combate punham-nos a viver, sem fingimento nem vus nem vus, a situao atormentada, insuportvel, a que se chama condio humana. O exlio, o cativeiro e principalmente a morte, que habilmente disfarada nas pocas felizes, tornavam-se os objetos perptuos das nossas preocupaes, aprendamos que no so acidentes inevitveis, nem mesmo ameaas constantes, mas exteriores: era preciso ver nisso o nosso quinho, o nosso destino, a origem profunda da nossa realidade de homens; em cada segundo vivamos plenamente o sentido da pequenina frase banal: "todos os homens so mortais".
33
E a escolha, que cada um de ns fazia de si prprio, era autntica, pois era em presena da morte, pois teria sempre podido exprimir-se sob a forma "Antes a morte do que...." E no me refiro aqui a essa elite que foram os verdadeiros resistentes mas a todos os franceses que, em todas as horas do dia e da noite, durante quatro anos, disseram no. A prpria crueldade do inimigo levava-nos at extremos da nossa condio, obrigando-nos a fazer a ns prprios perguntas que so iludidas em tempos de paz: aqueles de ns - e que francs no esteve uma vez ou outra neste caso? - que conheciam alguns pormenores relativos Resistncia interrogavam-se angustiosamente: "Se me torturarem, agentarei?". Assim se punha o prprio problema da liberdade e estvamos beira do conhecimento mais profundo que o homem pode ter de si prprio. Porque o segredo dum homem no o seu complexo de dipo ou de inferioridade, o prprio limite da sua liberdade, o poder da resistncia aos suplcios e morte. Aos que tiveram uma atividade clandestina, as circunstncias da luta traziam uma experincia nova: no combatiam luz do dia, como soldados; perseguidos na solido, prisioneiros na solido, era no abandono, na misria mais completa, que resistiam s torturas: ss e nus diante de carrascos bem barbeados, bem alimentados, bem vestidos, que troavam da carne miservel e a quem uma conscincia satisfeita e um poderio social desmesurado davam todas as aparncias de ter razo. Contudo, no mais profundo dessa solido, eram os outros, todos os outros, todos os camaradas de que defendiam; uma s palavra era bastante Para causar dez, cem prises. Essa responsabilidade total na solido total no ser o prprio desvendamento da nossa liberdade? Esse abandono, essa solido e esse risco enorme eram os mesmos para todos, para os chefes e para os homens; para os que levavam mensagens de que desconheciam o contedo como para os que comandavam toda a Resistncia, a mesma sano: a priso, a deportao, a morte. No h exrcito no mundo em que se encontre tal igualdade de riscos para o soldado e o generalssimo. E por isso que a resistncia foi uma verdadeira democracia: tanto para o soldado como para o chefe, o mesmo perigo, a mesma responsabilidade, a mesma absoluta liberdade na disciplina. Assim, na sombra e no sangue, constituiu-se a mais forte das repblicas. Cada cidado sabia que tinha obrigaes para com todos e que no podia contar seno consigo prprio; ao abandono mais total, cada um deles estava ciente do seu papel histrico. Cada um deles, contra os opressores, se propunha ser ele prprio, irremediavelmente, e, ao escolher-se a si prprio na sua liberdade, escolhia a liberdade de todos. Essa Repblica sem instituies, sem exrcito, sem poltica, era preciso que cada francs a conquistasse e a afirmasse em todos os instantes contra o nazismo. Estamos agora beira duma outra Repblica: deseja-se que conserve luz do dia as austeras virtudes da Repblica do Silncio e da Noite. (Situaes III. Braga, Publicaes Europa-Amrica, 1971, p. 11-14) b) O existencialismo um humanismo (trechos) J.-P. Sartre O existencialista, pelo contrrio, pensa que muito incomodativo que Deus no exista, porque desaparece com ele toda a possibilidade de achar valores num cu inteligvel; no pode existir j o bem a priori, visto no haver j uma conscincia infinita e perfeita para pens-lo; no est escrito em parte alguma que o bem existe, que preciso ser honesto, que no devemos mentir, j que precisamente estamos agora num plano em que h somente homens. Dostoivsky escreveu: "Se Deus no existisse, tudo seria permitido". A se situa o ponto de partida do existencialismo. Com efeito, tudo permitido se Deus no existe, fica o homem, por conseguinte, abandonado, j que no encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade a que se apegue. Antes de mais nada, no h desculpas para ele. Se, com efeito, a existncia precede a essncia, no ser nunca possvel referir uma explicao a uma natureza humana dada e imutvel; por outras palavras, no h determinismo, o homem livre, o homem liberdade.
34
Se, por outro lado, Deus no existe, no encontramos diante de ns valores ou imposies que nos legitimem o comportamento. Assim no temos nem atrs de ns, nem diante de ns, no domnio luminoso dos valores, justificaes ou desculpas. Estamos ss e sem desculpas. o que traduzirei dizendo que o homem est condenado a ser livre. Condenado, porque no se criou a si prprio; e no entanto livre, porque uma vez lanado ao mundo responsvel por tudo quanto fizer. (...) O existencialista no pensar tambm que o homem pode encontrar auxlio num sinal dado sobre a terra, e que o h de orientar; Porque pensa que o homem decifra ele mesmo esse sinal como lhe aprouver. Pensa portanto que o homem, sem qualquer apoio e sem qualquer auxlio, est condenado a cada instante a inventar o homem. Disse Ponge num belo artigo: "O homem o futuro do homem". perfeitamente exato. Somente, se se entende por isso que tal futuro est inscrito no cu, que Deus o v, nesse caso um erro, at porque nem isso seria um futuro. Mas se se entender por isso que, seja qual for o homem, tem um futuro virgem que o espera, ento essa frase est certa. Mas em tal caso o homem est desamparado. O quietismo a atitude das pessoas que dizem: os outros podem fazer aquilo eu no posso fazer. A doutrina que vos apresento justamente a oposta ao quietismo visto que ela declara: s h realidade na ao; e vai alis mais longe, visto que acrescenta: o homem no seno o seu projeto, s existe na medida em que se portanto nada mais do que o conjunto dos seus atos, nada mais do que a sua vida. De acordo com isto podemos compreender por que a nossa doutrina causa horror a um certo nmero de pessoas. Porque muitas vezes no tm seno uma nica de suportar a sua misria, isto , pensar "as circunstncias foram contra mim, eu muito mais do que aquilo que fui; certo que no tive um grande amor, ou uma grande amizade, mas foi porque no encontrei um homem ou uma mulher que fossem dignos disso, no escrevi livros muito bons, mas foi porque no tive tempo livre para o fazer; no tive filhos a quem me dedicasse, mas foi porque no encontrei o homem com quem pudesse realizar a minha vida. Permaneceram, portanto, em mim e inteiramente viveis, inmeras disposies, inclinaes, possibilidades que me do um valor que da simples srie dos meus atos se no pode deduzir". Ora, na realidade, para o existencialista no h amor diferente daquele que se constri; no h possibilidade de amor seno a que se manifesta no amor, no h gnio seno o que se exprime nas obras de arte; o gnio de Proust a totalidade das obras de Proust; o gnio de Racine a srie das suas tragdias, e fora disso no h nada; por que atribuir a Racine a possibilidade de escrever uma nova tragdia, j que precisamente ele a no escreveu? Um homem embrenha-se na sua vida, desenha o seu retrato, e para l desse retrato no h nada. Que significa aqui o fato de a existncia preceder a essncia? Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo, e que s depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se no definvel, porque primeiramente no nada. S depois ser alguma coisa e tal como a si prprio se fizer. Assim, no h natureza, visto que no h Deus para a conceber. O homem , no s como ele se concebe, mas como ele quer ser; como ele se concebe depois da existncia, como ele se deseja aps este impulso para a existncia, o homem no mais do que o que ele faz de si mesmo. Tal o primeiro princpio do existencialismo. tambm a isto que chamamos subjetividade e pelo que somos censurados sob o mesmo nome. Mas que queremos dizer com isso, seno que o homem tem uma dignidade maior do que uma pedra ou uma mesa? Pois o que ns queremos dizer que o homem primeiro existe, ou seja, que o homem, antes de mais nada, se lana para um futuro, e que consciente de se projetar no futuro. O homem , antes de mais nada, um projeto vivido subjetivamente, ao invs de ser um creme, qualquer coisa podre, ou uma couve-flor; nada existe anteriormente a este projeto; nada h no cu inteligvel, e o homem ser antes de tudo o que ele houver projetado ser. No o que ele quiser ser. Pois o que vulgarmente entendemos por querer uma deciso consciente que, para a maior parte de ns, posterior ao que algum fez de si mesmo. Posso querer aderir a um partido, escrever um livro, casar-me; tudo isso no mais do que a manifestao duma escolha mais original, mais espontnea daquilo que se chama vontade.
35
Mas se verdadeiramente a existncia precede a essncia, o homem responsvel por aquilo que . Assim, o primeiro esforo do existencialismo o de pr todo homem de posse do que ele e atribuirlhe a responsabilidade total por sua existncia. E, quando dizemos que o homem responsvel por si prprio, no queremos dizer que o homem responsvel por sua estrita individualidade, mas que responsvel por todos os homens. H dois sentidos para a palavra subjetivismo, e com isso que jogam nossos adversrios. Subjetivismo quer dizer, de um lado, escolha do sujeito individual por si prprio; e, por outro, impossibilidade do homem em superar a subjetividade humana. O segundo que o sentido profundo do existencialismo. Quando dizemos que o homem se escolhe, queremos dizer que cada um de ns se escolhe; mas, com isso, tambm queremos dizer que, ao se escolher, ele escolhe todos os homens. Com efeito, no existe um ato nosso que, ao criar o homem que desejamos ser, no crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Escolher ser isto ou aquilo afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, pois nunca podemos escolher o mal; o que escolhemos sempre o bem e nada pode ser bom para ns sem que o seja para todos. Se a existncia, por outro lado, precede a essncia e se quisermos existir, ao mesmo tempo em que construmos a nossa imagem, esta imagem vlida para todos e para toda a nossa poca. Assim, a nossa responsabilidade muito maior do que poderamos supor, porque ela envolve a humanidade. (O existencialismo um Humanismo. Lisboa, Presena, s/d/, p. 241) c) Irmos (de Lus Fernando Verssimo) - De vez em quando eu penso neles, - Quem? - Nos espermatozides... - De vez em quando voc pensa nos seus espermatozides? - Nos meus no. Nos do meu pai. - Voc est bbado. - Na noite em que eu fui concebido - suponho que tenha sido um noite - eu era um entre milhes de espermatozides, Mas s eu cheguei ao vulo de mame. Ou ser bilhes? - Acho que vulo mesmo. - No. Os espermatozides. milhes ou bilhes? - Ahn... No sei. - No importa. Milhes, bilhes. S eu me criei, entende? Por acaso. Isto mais assombroso. A gratuidade da coisa. Havia milhes, bilhes de espermatozide junto comigo e s eu, entende? S eu fecundei o vulo. No assombroso? - . - Voc acha mesmo? - Acho. - Podia ser qualquer um, mas fui eu. Por acaso. - Amendoim? - Hein? Obrigado. Agora, me diga. Por que eu? A gratuidade da coisa. S eu fecundei o vulo, virei feto, nasci, me criei e estou aqui, neste bar, de gravata, bebendo. Agora me diga, o que isto? - como voc diz. A gratuidade da coisa. No, no. Isto que eu estou bebendo. , ahn, usque. - Usque. Pois ento. A est. - Moacir, v outro aqui. O rapaz est precisando. - Um brinde! - Um brinde. - A eles! - Quem?
36
- Aos espermatozides que no chegaram ao vulo de mame. Aos companheiros. Aos bravos que cumpriram sua misso e no viveram para comemorar. Aos que perderam a viagem. Aos meus irmos! - Aos meus irmos! - Meus irmos. Voc no estava l. - Aos seus irmos! - Aos milhes, bilhes que se sacrificaram para que eu pudesse viver. - Salve. - Agora me diga uma coisa. - Duas. Digo duas. - Cada espermatozide uma pessoa diferente, certo? Quer dizer. Em outras palavras. Se outro espermatozide tivesse completado a viagem, no seria eu aqui. Ou seria? - Depende. - No seria. Seria outra pessoa. Outro nariz, outras idias. Talvez at torcesse pelo Amrica. Uma mulher! Podia ser uma mulher. Certo? - No vamos exagerar.. - E outra coisa. O que passou, passou. No pense mais nisso. - Mas eu penso. De vez em quando eu penso. Os meus irmos que no nasceram. Que nomes eles teriam? Eduardo, Gilson, Amaury, Jessica... - Marco Antnio... - Marco Antnio... Imagine, um deles podia ser o ponta-direita que o Brasil precisava em 74. Eu me sinto culpado. Voc no se sente culpado? - Bom, eu tenho 11 irmos. - A diferente. - Por qu? - No sei. S sei que entre milhes, bilhes de espermatozides, todos com os mesmos direitos, s eu me criei. Por acaso. Agora me diga, o que isso? - usque. - No. a gratuidade da coisa. - No sei... - Voc est bbado. (O analista de Porto Alegre. L&PM Editores, 1981, p. 19-22)
6. Freud: A conscincia pode conhecer tudo? Marilena Chau (Fonte: Filosofia, Ed. tica, So Paulo, ano 2000, pg. 83-87) Freud escreveu que, no transcorrer da modernidade, os humanos foram feridos trs vezes e que as feridas atingiram o nosso narcisismo, isto , a bela imagem que possuamos de ns mesmos como seres conscientes racionais e com a qual, durante sculos, estivemos encantados. Que feridas foram essas? A primeira foi a que nos infligiu Coprnico, ao provar que a Terra no estava no centro do Universo e que os homens no eram o centro do mundo. A segunda foi causada por Darwin, ao provar que os homens descendem de um primata, que so apenas um elo na evoluo das espcies e no seres especiais, criados por Deus para dominar a Natureza. A terceira foi causada por Freud com a psicanlise, ao mostrar que a conscincia a menor parte e a mais fraca de nossa vida psquica. Na obra Cinco ensaios sobre a psicanlise, Freud escreve: A Psicanlise prope mostrar que o Eu no somente no senhor na sua prpria casa, mas tambm est reduzido a contentar-se com informaes raras e fragmentadas daquilo que se passa fora da conscincia, no restante da vida psquica... A diviso do psquico num psquico consciente e num
37
psquico inconsciente constitui a premissa fundamental da psicanlise, sem a qual ela seria incapaz de compreender os processos patolgicos, to freqentes quanto graves, da vida psquica e faz-los entrar no quadro da cincia... A psicanlise se recusa a considerar a conscincia como constituindo a essncia da vida psquica, mas nela v apenas uma qualidade desta, podendo coexistir com outras qualidades e at mesmo faltar. 6.1 A psicanlise Freud era mdico psiquiatra. Seguindo os mdicos de sua poca, usava a hipnose e a sugesto no tratamento dos doentes mentais, mas sentia-se insatisfeito com os resultados obtidos. Certa vez, recebeu uma paciente, Ana O., que apresentava sintomas de histeria, isto , apresentava distrbios fsicos (paralisias, enxaquecas, dores de estmago) sem que houvesse causas fsicas para eles, pois eram manifestaes corporais de problemas psquicos. Em lugar de usar a hipnose e a sugesto, Freud usou um procedimento novo: fazia com que Anna relaxasse num div e falasse. Dizia a ela palavras soltas e pedia-lhe que dissesse a primeira palavra que lhe viesse cabea ao ouvir a que ele dissera - posteriormente, Freud denominaria esse procedimento de "tcnica de associao livre". Freud percebeu que, em certos momentos, Anna reagia a certas palavras e no pronunciava aquela que lhe viera cabea, censurando-a por algum motivo ignorado por ela e por ele. Notou tambm que, em outras ocasies, depois de fazer a associao livre de palavras, Anna ficava muito agitada e falava muito. Observou que, certas vezes, algumas palavras a faziam chorar sem motivo aparente e, outras vezes, a faziam lembrar-se de fatos da infncia, narrar um sonho que tivera na noite anterior. Pela conversa, pelas reaes da paciente, pelos sonhos narrados e pelas lembranas infantis, Freud descobriu que a vida consciente de Anna era determinada por uma vida inconsciente, que tanto ela quanto ele desconheciam. Compreendeu tambm que somente interpretando as palavras, os sonhos, as lembranas e os gestos de Anna chegaria a essa vida inconsciente. Freud descobriu, finalmente, que os sintomas histricos tinham trs finalidades: 1. contar indiretamente aos outros e a si mesma os sentimentos inconscientes; 2. punir-se por ter tais sentimentos; 3. realizar, pela doena e pelo sofrimento, um desejo inconsciente intolervel. Tratando de outros pacientes, Freud descobriu que, embora conscientemente quisessem a cura, algo neles criava uma barreira, uma resistncia inconsciente cura. Por qu? Porque os pacientes sentiam-se interiormente ameaados por alguma coisa dolorosa e temida, algo que haviam penosamente esquecido e que no suportavam lembrar. Freud descobriu, assim, que o esquecimento consciente operava simultaneamente de duas maneiras: 1. como resistncia terapia; 2. sob a forma da doena psquica, pois o inconsciente no esquece e obriga o esquecido a reaparecer sob a forma dos sintomas da neurose e da psicose. Desenvolvendo com outros pacientes e consigo mesmo esses procedimentos e novas tcnicas de interpretao de sintomas, sonhos, lembranas, esquecimentos, Freud foi criando o que chamou de anlise da vida psquica ou psicanlise, cujo objeto central era o estudo do inconsciente e cuja finalidade era a cura de neuroses e psicoses, tendo como mtodo a interpretao e como instrumento a linguagem (tanto a linguagem verbal das palavras quanto a linguagem corporal dos sintomas e dos gestos).
38
6.2 A vida psquica Durante toda sua vida, Freud no cessou de reformular a teoria psicanaltica, abandonando alguns conceitos, criando outros, abandonando algumas tcnicas teraputicas e criando outras. No vamos, aqui, acompanhar a histria da formao da psicanlise, mas apresentar algumas de suas principais idias e inovaes. A vida psquica constituda por trs instncias, duas delas inconscientes e apenas uma consciente: o id, o superego e o ego (ou o isso, o super-eu e o eu). Os dois primeiros so inconscientes; o terceiro, consciente. O id formado por instintos, impulsos orgnicos e desejos inconscientes, ou seja, pelo que Freud designa como pulses. Estas so regidas pelo princpio do prazer, que exige satisfao imediata. O id a energia dos instintos e dos desejos em busca da realizao desse princpio do prazer. a libido. Instintos, impulsos e desejos, em suma, as pulses, so de natureza sexual e a sexualidade no se reduz ao ato sexual genital, mas a todos os desejos que pedem e encontram satisfao na totalidade de nosso corpo. Freud descobriu trs fases da sexualidade humana que se diferenciam pelos rgos que sentem prazer e pelos objetos ou seres que do prazer. Essas fases se desenvolvem entre os primeiros meses de vida e os 5 ou 6 anos, ligadas ao desenvolvimento do id: 1. a fase oral, quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente na boca e na ingesto de alimentos e o seio materno, a mamadeira, a chupeta, os dedos so objetos do prazer; 2. a fase anal, quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente nas excrees e as fezes, brincar com massas e com tintas, amassar barro ou argila, comer coisas cremosas, sujar-se so os objetos do prazer; 3. e a fase genital ou fase flica, quando o desejo e o prazer localizam-se primordialmente nos rgos genitais e nas partes do corpo que excitam tais rgos. Nessa fase, para os meninos, a me o objeto do desejo e do prazer; para as meninas, o pai. No centro do id, determinando toda a vida psquica, encontra-se o que Freud denominou de complexo de dipo, isto , o desejo incestuoso pelo pai ou pela me. esse o desejo fundamental que organiza a totalidade da vida psquica e determina o sentido de nossas vidas. O superego, tambm inconsciente, a censura das pulses que a sociedade e a cultura impem ao id, impedindo-o de satisfazer plenamente seus instintos e desejos. a represso, particularmente a sexual. Manifesta-se conscincia indiretamente, sob a forma da moral, como um conjunto de interdies e de deveres, e por meio da educao, pela produo da imagem do "eu ideal" isto , da pessoa moral, boa o virtuosa. O superego ou censura desenvolve-se num perodo que Freud designa como perodo de latncia, situado entre os 6 ou 7 anos e o incio da puberdade ou adolescncia. Nesse perodo, forma-se nossa personalidade moral e social, de maneira que, quando a sexualidade genital ressurgir, estar obrigada a seguir o caminho traado pelo superego. O ego ou o eu a conscincia, pequena parte da vida psquica, submetida aos desejos do id e represso do superego. Obedece ao princpio da realidade, ou seja, necessidade de encontrar objetos que possam satisfazer ao id sem transgredir as exigncias do superego. O ego, diz Freud, "um pobre coitado", espremido entre trs escravides: 1. os desejos insaciveis do id, 2. a severidade repressiva do superego 3. e os perigos do mundo exterior.
39
Por esse motivo, a forma fundamental da existncia para o ego a angstia. Se se submeter ao id, torna-se imoral e destrutivo; se se submeter ao superego, enlouquece de desespero, pois viver numa insatisfao insuportvel; se no se submeter realidade do mundo, ser destrudo por ele. Cabe ao ego encontrar caminhos para a angstia existencial. Estamos divididos entre o princpio do prazer (que no conhece limites) e o princpio da realidade (que nos impe limites externos e internos). Ao ego-eu, ou seja, conscincia, dada uma funo dupla: ao mesmo tempo recalcar o id, satisfazendo o superego, e satisfazer o id, limitando o poderio do superego. A vida consciente normal o equilbrio encontrado pela conscincia para realizar sua dupla funo. A loucura (neuroses e psicoses) a incapacidade do ego para realizar sua dupla funo, seja porque o id ou o superego so excessivamente fortes, seja porque o ego excessivamente fraco. O inconsciente, em suas duas formas, est impedido de manifestar-se diretamente conscincia, mas consegue faz-lo indiretamente. A maneira mais eficaz para a manifestao a substituio, isto , o inconsciente oferece conscincia um substituto aceitvel por ela e por meio do qual ela pode satisfazer o id ou o superego. Os substitutos so imagens (isto , representaes analgicas dos objetos do desejo) e formam o imaginrio psquico, que, ao ocultar e dissimular o verdadeiro desejo, o satisfaz indiretamente por meio de objetos substitutos (a chupeta e o dedo, para o seio materno; tintas e pintura ou argila e escultura para as fezes, uma pessoa amada no lugar do pai ou da me). Alm dos substitutos reais (chupeta, argila, pessoa amada), o imaginrio inconsciente tambm oferece outros substitutos, os mais freqentes sendo os sonhos, os lapsos e os atos falhos. Neles, realizamos desejos inconscientes, de natureza sexual. So a satisfao imaginria do desejo. Algum sonha, por exemplo, que sobe uma escada, est num naufrgio ou num incndio. Na realidade, sonhou com uma relao sexual proibida. Algum quer dizer uma palavra, esquece-a ou se engana, comete um lapso e diz uma outra que nos surpreende, pois nada tem a ver com aquela que se queria dizer. Realizou um desejo proibido. Algum vai andando por uma rua e, sem querer, torce o p e quebra o objeto que estava carregando. Realizou um desejo proibido. A vida psquica d sentido e colorao afetivo sexual a todos os objetos e a todas as pessoas que nos rodeiam e entre os quais vivemos. Por isso, sem que saibamos por que, desejamos e amamos certas coisas e pessoas, odiamos e tememos outras. As coisas e os outros so investidos por nosso inconsciente com cargas afetivas de libido. por esse motivo que certas coisas, certos sons, certas cores, certos animais, certas situaes nos enchem de pavor, enquanto outros nos enchem de bem-estar, sem que o possamos explicar. A origem das simpatias e antipatias, amores e dios, medos e prazeres est em nossa mais tenra infncia, em geral nos primeiros meses e anos de nossa vida, quando se formam as relaes afetivas fundamentais e o complexo de dipo. Essa dimenso imaginria de nossa vida psquica - substituies, sonhos, lapsos, atos falhos, prazer e desprazer com objetos e pessoas, medo ou bem-estar com objetos ou pessoas - indica que os recursos inconscientes para surgir indiretamente conscincia possuem dois nveis: o nvel do contedo manifesto (escada, mar e incndio, no sonho; a palavra esquecida e a pronunciada, no lapso; p torcido ou objeto partido, no ato falho; afetos contrrios por coisas e pessoas) e o nvel do contedo latente, que o contedo inconsciente real e oculto (os desejos sexuais).
Nossa vida normal se passa no plano dos contedos manifestos e, portanto, no imaginrio. Somente uma anlise psquica e psicolgica desses contedos, por meio de tcnicas especiais (trazidas pela psicanlise), nos permite decifrar o contedo latente que se dissimula sob o contedo manifesto. Alm dos recursos individuais cotidianos; que nosso inconsciente usa para manifestar-se, e alm dos recursos extremos e dolorosos usados na loucura (nela, os recursos so os sintomas), existe um outro
40
recurso, de enorme importncia para a vida cultural e social, isto , para a existncia coletiva. Tratase do que Freud designa com o nome de sublimao. Na sublimao, os desejos inconscientes so transformados em uma outra coisa, exprimem-se pela criao de uma outra coisa: as obras de arte, as cincias, a religio, a filosofia, as tcnicas, as instituies sociais e as aes polticas. Artistas, msticos, pensadores, escritores, cientistas, lderes polticos satisfazem seus desejos pela sublimao e, portanto, pela realizao de obras e pela criao de instituies religiosas, sociais, polticas, etc. Porm, assim como a loucura a impossibilidade do ego para realizar sua dupla funo, tambm a sublimao pode no ser alcanada e, em seu lugar, surgir uma perverso social ou coletiva, uma loucura social ou coletiva. O nazismo um exemplo de perverso, em vez de sublimao. A propaganda, que induz em ns falsos desejos sexuais pela multiplicao das imagens de prazer, outro exemplo de perverso ou de incapacidade para a sublimao. O inconsciente, diz Freud, no o subconsciente. Este aquele grau da conscincia como conscincia passiva e conscincia vivida no-reflexiva, podendo tornar-se plenamente consciente. O inconsciente, ao contrrio, jamais ser consciente diretamente, podendo ser captado apenas indiretamente e por meio de tcnicas especiais de interpretao desenvolvidas pela psicanlise. A psicanlise descobriu, assim, uma poderosa limitao s pretenses da conscincia para dominar e controlar a realidade e o conhecimento. Paradoxalmente, porm, nos revelou a capacidade fantstica da razo e do pensamento para ousar atravessar proibies e represses e buscar a verdade, mesmo que para isso seja preciso desmontar a bela imagem que os seres humanos tm de si mesmos. Longe de desvalorizar a teoria do conhecimento, a psicanlise exige do pensamento que no faa concesses s idias estabelecidas, moral vigente, aos preconceitos e s opinies de nossa sociedade, mas que os enfrente em nome da prpria razo e do pensamento. A conscincia frgil, mas ela que decide e aceita correr o risco da angstia e o risco de desvendar e decifrar o inconsciente. Aceita e decide enfrentar a angstia para chegar ao conhecimento de que somos um canio pensante, como disse o filsofo Pascal. 6.3 PERGUNTAS 1. 2. 3. 4. 5. Por que a descoberta freudiana do inconsciente foi mais uma ferida no narcisismo ocidental? Como Freud chegou ao conceito de inconsciente? Como ele descreve a vida psquica? Por que o ego (conscincia) um "pobre coitado"? Como opera o inconsciente (id e superego)? Qual a funo dos sonhos, dos sintomas e da sublimao? ----------------------------------------* Conta o mito que o jovem Narciso, belssimo, nunca tinha visto sua prpria imagem. Um dia, passeando por um bosque, viu um lago. Aproximou-se e viu nas guas um jovem de extraordinria beleza e pelo qual apaixonou-se perdidamente. Desejava que o outro sasse das guas e viesse ao seu encontro, mas como o outro parecei recusar-se a sair do lago, Narciso mergulhou nas guas, foi s profundezas procura do outro que fugia, morrendo afogado. Narciso morreu de amor por si mesmo, ou melhor, de amor por sua prpria imagem ou pela auto-imagem. O narcisismo o encantamento e a paixo que sentimos por nossa prpria imagem ou por ns mesmos porque no conseguimos diferenciar o eu e o outro. 7. FREUD - .... um desejo terrvel, egosta, veio tona dentro dela...
41
(Do livro: "O mundo de Sofia", Jostein Gaarder, Cia de Letras,1995, pg. 458-475) Alberto - Hoje vou contar a voc sobre Freud e sua teoria do inconsciente. Sentaram-se janela. Sofia olhou para o relgio e disse: Sofia - J so duas e meia e eu ainda preciso providenciar algumas coisas para a festa. Alberto - Eu tambm. Vamos falar rapidamente sobre Sigmund Freud. Sofia - Ele foi um filsofo? Alberto - Podemos cham-lo de um filsofo da cultura. Freud nasceu em 1856 e estudou medicina na Universidade de Viena. Passou a maior parte de sua vida naquela cidade, justamente durante um perodo em que a vida cultural vienense experimentou uma fase de apogeu. Desde cedo, Freud se especializou num ramo da medicina que chamamos de neurologia. De fins do sculo passado at quase meados do nosso sculo, ele trabalhou na elaborao de sua psicologia profunda ou psicanlise. Sofia - Explique melhor. Alberto - Por psicanlise entende-se tanto a descrio da mente, da psique humana em geral, quanto um mtodo de tratamento para distrbios nervosos e psquicos. No pretendo fazer uma explanao detalhada sobre Freud e sua obra, mas preciso conhecer um pouco de sua teoria do inconsciente, se quisermos entender o que o ser humano. Sofia - Voc j conseguiu despertar meu interesse. Vamos l! Alberto - Freud achava que sempre havia uma tenso entre o homem e o seu meio. Para ser mais exato, uma tenso, ou um conflito, entre o prprio homem e aquilo que seu meio exigia dele. No seria exagerado dizer que Freud descobriu o universo dos impulsos que regem a vida do homem. E isto faz dele um legtimo representante das correntes naturalistas, to importantes em fins do sculo passado. Sofia - O que se entende por "impulso" do homem? Alberto - Nem sempre a razo que governa nossas aes. Consequentemente, o homem no apenas o ser racional to defendido pelos racionalistas do sculo XVIII. Com freqncia, impulsos irracionais determinam nossos pensamentos, nossos sonhos e nossas aes. Tais impulsos irracionais so capazes de trazer luz instintos e necessidades que esto profundamente enraizados dentro de ns. To bsico quanto a necessidade que um beb tem de mamar seria, por exemplo, o impulso sexual do homem. Sofia - Entendo. Alberto - Talvez tudo isto no tivesse nada de novo em si. Mas Freud mostrou que essas necessidades bsicas podiam vir tona disfaradas e to modificadas que no seramos capazes de reconhecer sua origem. Assim disfaradas, elas governariam nossas aes, sem que tivssemos conscincia disso. Alm disso, Freud mostrou que as crianas tambm tm uma espcie de sexualidade. A afirmao da existncia de uma sexualidade infantil causou repulsa entre os refinados cidados de Viena e fez de Freud um homem extremamente impopular. Sofia - No me surpreende. Alberto - Estamos falando de uma poca na qual tudo o que tinha a ver com a sexualidade era tabu. Freud chegara concluso da existncia de uma sexualidade infantil por meio de sua prtica como psicoterapeuta. Ele tinha, portanto, uma slida base emprica para fundamentar suas afirmaes. Freud tambm constatou que muitas formas de distrbios psquicos eram devidas a conflitos ocorridos na infncia. Aos poucos, ento, Freud foi desenvolvendo um mtodo de tratamento que podemos chamar de uma espcie de "arqueologia da alma". Sofia - O que voc quer dizer com isso? Alberto - O psicanalista pode "cavoucar" a mente do paciente, com a ajuda dele, claro, a fim de trazer luz as experincias e vivncias que, em algum momento da vida passada, provocaram seu distrbio psquico. Para Freud, portanto, guardamos bem no fundo de ns todas as lembranas do passado. Sofia - Agora estou entendendo. Alberto - E pode ser que neste processo o terapeuta encontre uma experincia ruim que o paciente sempre tentou esquecer, mas que est bem viva e presente dentro dele e lhe rouba as foras. No
42
momento em que tal "experincia traumtica" trazida ao consciente e o paciente tem a chance de encar-la de frente, por assim dizer, ele pode "se entender" com ela e se curar. Sofia - Isto parece lgico. Alberto - Mas estou avanando rpido demais. Vamos ver primeiro como Freud descreve a psique humana. Voc j viu um recm-nascido? Sofia - Tenho um primo de quatro anos. Alberto - Quando vm ao mundo, os bebs satisfazem suas necessidades fsicas e psquicas de forma bastante direta e desinibida. Se esto com fome, choram. E tambm choram quando esto com a fralda molhada ou quando querem deixar bem claro que querem um pouco de calor humano e contato fsico. Freud chama de id este "princpio do prazer" que existe em ns. Quando somos recm-nascidos, quase todo o nosso ser apenas um id. Sofia - Prossiga. Alberto - O id continua conosco na idade adulta e nos acompanha a vida toda. S que aos poucos vamos aprendendo a controlar nossos desejos a fim de nos adaptarmos ao nosso meio. Em outras palavras, aprendemos a afinar nosso princpio de prazer com o princpio da realidade. Freud diz que construmos um ego e que este ego assume esta funo reguladora. A partir de certa idade, embora tenhamos prazer em alguma coisa, no podemos simplesmente sentar e abrir o berreiro at que nossos desejos ou necessidades sejam satisfeitos. Sofia - claro que no. Alberto - Mas pode acontecer de ns desejarmos intensamente alguma coisa que nosso meio no aceita. O que acontece que muitas vezes reprimimos nossos desejos. Quer dizer, tentamos coloc-los de lado e esquec-los. Sofia - Entendo. Alberto - Mas Freud aponta tambm uma terceira instncia na psique humana: ainda crianas, somos confrontados com os padres morais de nossos pais e de nosso meio. Quando fazemos alguma coisa de errado, nossos pais dizem "No faa isto!", ou ento "Que vergonha!". E mesmo depois de adultos podemos ouvir o eco de tais repreenses e julgamentos morais. As expectativas de nosso meio no plano da moral parecem ter se alojado dentro de ns e passado a constituir uma parte de ns mesmos. isto que Freud chama de superego. Sofia - Superego seria para ele sinnimo de conscincia? Alberto - Numa passagem, Freud chega a dizer textualmente que o superego se ope ao ego como uma espcie de conscincia. Na verdade, porm, trata-se do seguinte: o superego nos informa, por sim dizer, quando nossos desejos so "sujos" ou "imprprios", e vale especialmente para os desejos erticos ou sexuais. Como eu j disse, Freud constatou que tais desejos surgem bem cedo na infncia. Sofia - Me explique melhor, por favor. Alberto - Hoje em dia sabemos e vemos que os bebs gostam de brincar com seus rgos genitais. Podemos ver isto, por exemplo, quando vamos praia ou piscina. Na poca de Freud, a criana de dois ou trs anos que fizesse isto na frente dos outros ganhava um belo tapa na mo. Naquela poca, era comum as crianas ouvirem frases tais como: "Que coisa mais feia!", ou "No faa isso!", ou ainda "Deixe as mos para fora das cobertas!". Sofia - Revoltante... Alberto - Dessa forma, as pessoas desenvolvem um sentimento de culpa. E como este sentimento de culpa armazenado no superego, para muitas pessoas, e Freud acreditava que para a maioria delas, ele fica indissociavelmente atrelado a tudo o que diz respeito ao sexo. Ao mesmo tempo, Freud chamava a ateno para o fato de os desejos e necessidades sexuais serem uma parte natural e importante da natureza humana. E assim, minha cara Sofia, temos aqui todos os elementos de que necessitamos para um conflito entre prazer e culpa que pode nos acompanhar por toda a vida. Sofia - Voc no acha que este conflito diminuiu um pouco desde a poca de Freud? Alberto - Certamente. Mas muitos dos pacientes de Freud viviam este conflito de forma to intensa que chegaram a desenvolver o que Freud chamou de neuroses. Uma de suas pacientes, por exemplo, apaixonou-se por seu cunhado. Quando sua irm morreu ainda jovem, vtima de uma enfermidade, ela
43
pensou junto ao leito de morte da irm: "Agora ele est livre e pode se casar comigo!". Este pensamento naturalmente entrou em conflito direto com o seu superego. Era um pensamento to hediondo que ela o reprimiu, como Freud diz. Quer dizer, ela o enterrou no inconsciente. Depois, aquela jovem senhora ficou doente e passou a apresentar srios sintomas de histeria. E quando Freud assumiu o tratamento dela, ficou claro que ela tinha se esquecido completamente da cena junto ao leito de morte de sua irm e do desejo terrvel, egosta, que sentira vir tona dentro de si. Durante o tratamento, a paciente voltou a se lembrar da cena, reviveu aquele momento que era a causa de sua enfermidade e ficou curada. Sofia - Agora eu estou comeando a entender o que voc queria dizer com "arqueologia da alma". Alberto - Ento vamos arriscar uma descrio bem genrica da psique humana. Aps um longo perodo de experincia com pacientes, Freud chegou concluso de que a conscincia humana era apenas uma pequena parte da psique. A conscincia seria mais ou menos como a ponta de um iceberg que se eleva para alm da superfcie da gua. Sob a superfcie, ou sob o limiar da conscincia, est o subconsciente, ou o inconsciente. Sofia - Quer dizer que o inconsciente tudo de que ns nos esquecemos, mas que continua dentro de ns? Alberto - No podemos ter presente em nossa conscincia, o tempo todo, todas as experincias que vivemos. Mas tudo o que pensamos ou vivemos e tudo de que nos lembramos quando pomos a cabea para funcionar Freud chama de "pr-consciente". A expresso "inconsciente" significa, para Freud, tudo o que reprimimos. Quer dizer, tudo de que ns queremos nos esquecer a qualquer preo porque consideramos desagradvel, indecoroso ou repulsivo. Quando temos desejos e prazeres que para nossa conscincia, ou para nosso superego, so insuportveis, ns simplesmente as enfiamos no poro do inconsciente e assim nos livramos deles. Sofia - Entendo. Alberto - Este mecanismo funciona em todas as pessoas sadias. Para algumas pessoas, porm, o ato de banir tais pensamentos desagradveis ou proibidos algo to estressante que elas ficam doentes. que aquilo que foi reprimido desta forma continua tentando emergir para o nvel da conscincia, de sorte que cada vez mais energia despendida para se manter tais impulsos longe da crtica do consciente. Em 1909, quando Freud proferiu algumas palestras nos Estados Unidos sobre a psicanlise, ele ilustrou com um exemplo muito simples o funcionamento desse mecanismo de represso. Sofia - Que exemplo foi este? Alberto - Ele pediu aos ouvintes que imaginassem que no auditrio havia um indivduo que perturbava a ordem e desconcentrava o orador rindo s gargalhadas, conversando com seus vizinhos e arrastando e batendo os ps no cho. Chegaria, ento, um momento em que o orador no poderia continuar a falar. Nesse momento, alguns homens fortes provavelmente se levantariam e, depois de uma breve discusso, colocariam o elemento perturbador porta afora, no corredor. O indivduo seria "reprimido", portanto, e o orador poderia continuar com sua palestra. Mas para evitar que o elemento perturbador tentasse forar sua entrada de novo no auditrio, os mesmos homens que o tinham colocado para fora levariam suas cadeiras at porta e funcionariam como uma espcie de resistncia para garantir a represso. Freud concluiu dizendo que se os ouvintes imaginassem o auditrio como o "consciente" e o corredor como o "inconsciente", teriam uma boa imagem de como funciona o processo de represso. Sofia - Tambm acho que a imagem boa. Alberto - Uma coisa certa: o elemento perturbador vai querer entrar novamente na sala de conferncias, Sofia. Em todo caso, isto o que querem nossos pensamentos e impulsos reprimidos. Vivemos sob a constante presso de pensamentos reprimidos, que tentam se libertar do inconsciente. Por isso que muitas vezes dizemos e fazemos coisas que na verdade "no tnhamos a inteno de fazer". Dessa forma, o inconsciente tambm pode guiar nossos sentimentos e aes. Sofia - Voc poderia me dar um exemplo? Alberto - Freud descreve vrios desses mecanismos. Um deles o chamado ato falho, ou seja, algo que dizemos ou fazemos espontaneamente e que um dia tnhamos reprimido. Ele faia, por exemplo, de um empregado que foi escolhido para fazer um brinde ao seu chefe, de quem ningum gostava.
44
Sofia - Sim? Alberto - O empregado se levantou, ergueu o copo e disse: "Convido todos a arrotarem em homenagem a nosso chefe!". Sofia - Legal! Alberto - No foi o que o chefe achou. Ao dizer isto, o empregado simplesmente tinha expressado o que realmente achava de seu chefe. Talvez nunca tivesse ousado diz-lo abertamente a ele. Voc quer mais um exemplo? Sofia - Sim. Alberto - Certo dia, o bispo foi visitar a famlia de um pastor, que era pai de umas meninas adorveis e muito comportadas. Este bispo tinha um nariz enorme, fora do comum. O pastor teve o cuidado, ento, de pedir s suas filhas que no mencionassem nada a respeito do nariz do bispo. que as crianas geralmente comeam a rir quando percebem essas coisas, pois ainda no tm o mecanismo de represso muito bem desenvolvido. Sofia - E o que aconteceu? Alberto - O bispo veio at parquia e as meninas, absolutamente deliciadas com a situao, faziam todo o esforo possvel para no dizer nada a respeito do nariz. E mais: elas no podiam sequer ficar olhando para o nariz. Tinham de esquec-lo completamente. S que elas ficavam pensando no nariz do bispo o tempo todo. E quando chegou a hora de a menorzinha oferecer ao honorvel bispo acar para o caf, ela disse: "O senhor aceita um pouco de acar no nariz?". Sofia - Putz! Alberto - s vezes ns tambm racionalizamos, quer dizer, tentamos mostrar a ns mesmos, e aos outros, que temos outros motivos para fazer o que fazemos em certas situaes, e no revelamos os reais motivos que nos levaram a agir de certa maneira, simplesmente porque eles so constrangedores demais. Sofia - Um exemplo, por favor. Alberto - Posso hipnotizar voc e induzi-la a abrir a janela. Para tanto, ordeno a voc que se levante e abra a janela quando eu tamborilar com os dedos sobre a mesa, por exemplo. Quando eu fao isto, voc se levanta e abre a janela. Depois pergunto a voc por que voc abriu a janela. Talvez voc me responda que o fez porque estava muito quente aqui dentro. Mas este no o verdadeiro motivo. Voc no quer admitir para si mesma que obedeceu minha ordem enquanto estava hipnotizada. E o que voc faz? Voc "racionaliza", Sofia. Sofia - Entendo. Alberto - Coisas como esta acontecem quase todos os dias quando nos relacionamos com os outros. Sofia - Eu j disse a voc que tenho um priminho de quatro anos. Acho que ele no tm muitos amigos para brincar, pois ele sempre fica muito contente quando eu vou visit-lo. Certa vez eu disse que precisava voltar logo para casa, pois minha me estava me esperando. E sabe o que ele me disse? Alberto - No. Sofia - "Sua me uma chata", foi isso o que disse. Alberto - Sim, este um bom exemplo para o que entendemos por racionalizar. O menino realmente no quis dizer que sua me uma chata. Ele quis dizer que achava chato que voc tivesse de ir embora. S que para ele no era muito fcil verbalizar isto. Outra coisa que pode acontecer que ns projetamos. Sofia - Traduza, por favor. Alberto - Quando projetamos alguma coisa estamos transferindo a outros as caractersticas que tentamos reprimir em ns mesmos. Uma pessoa avarenta, por exemplo, gosta de ficar dizendo que os outros so avarentos. Algum que no quer admitir que pensa muito em sexo geralmente o primeiro a se irritar quando encontra outras pessoas fissuradas por sexo. Sofia - Entendo. Alberto - Freud dizia que nossa vida cotidiana est repleta de tais aes inconscientes. Muitas vezes nos esquecemos do nome de certa pessoa, ficamos mexendo numa pontinha de nossa roupa enquanto estamos falando ou ento ficamos mudando de posio objetos aparentemente sem importncia. Ou
45
podemos tropear em nossas prprias palavras e acabar trocando letras e nomes, que primeira vista podem parecer totalmente inocentes, mas que na verdade no so. Freud pelo menos no considera essas coisas to inocentes e casuais como podemos achar. Ele acha que elas deveriam ser encaradas como sintomas. Para ele, esses atos falhos podem nos revelar segredos os mais ntimos. Sofia - Daqui para a frente, vou prestar bastante ateno em cada palavra que disser. Alberto - Mesmo assim, voc no poder escapar de seus impulsos inconscientes. O segredo est em no se desgastar demais ao se empurrar as coisas desagradveis para o subconsciente. como querer tapar o buraco de uma toupeira. Voc pode at conseguir, mas com certeza ela vir superfcie em algum outro ponto. O mais sadio deixar s encostada a porta entre o consciente e o subconsciente. Sofia - Se trancarmos a porta chave podemos provocar distrbios psquicos em ns mesmos? Alberto - Sim. Um neurtico justamente algum que despende energia demais na tentativa de banir de seu consciente tudo aquilo que o incomoda. Com freqncia trata-se de reprimir experincias bem especficas. So as chamadas "experincias traumticas", que eu j mencionei no incio da nossa conversa, talvez um pouco cedo demais. Freud as chama de traumas. A palavra "trauma" grega e significa "ferida". Sofia - Entendo. Alberto - Em seus tratamentos, s vezes Freud tentava abrir cuidadosamente estas portas tranadas; outras vezes, procurava abrir outra porta. Com a colaborao do paciente, ele tentava trazer tona novamente as experincias reprimidas. Isto porque o paciente no tem conscincia de que as reprimiu. No obstante, ele deseja que o mdico, ou o analista, como se diz em psicanlise, o ajude a encontrar um caminho que o leve a seus traumas escondidos. Sofia - E como o mdico procede neste caso? Alberto - Freud chamava este procedimento de tcnica da livre associao. Isto significa que ele deixava o paciente deitado, bem relaxado, falando apenas sobre coisas que lhe viessem cabea, por mais irrelevantes, casuais, desagradveis ou penosas que elas lhe fossem. Para o analista, as associaes do paciente no div trazem indcios de seus traumas e das resistncias que impedem a conscientizao. Pois so exatamente os traumas que ocupam os pacientes o tempo todo, s que no de forma consciente. Sofia - Quer dizer que quanto mais a gente se esfora para esquecer uma coisa, mais a gente pensa inconscientemente nela? Alberto - Exatamente. Por isso importante prestar ateno aos sinais do inconsciente. Para Freud, o "caminho real" que leva para o inconsciente passa pelos sonhos. Por esta razo, uma de suas mais importantes obras o livro A interpretao dos sonhos, publicado em 1900. Nele, Freud mostra que nossos sonhos no so meros acasos. Por meio dos sonhos, nossos pensamentos inconscientes tentam se comunicar com nosso consciente. Sofia - Continue. Alberto - Aps longos anos de experincias acumuladas no trabalho corri seus pacientes, e tambm depois de ter analisado os seus prprios sonhos, Freud afirmou que todos os sonhos so a realizao de desejos. Ele dizia que podemos observar isto claramente nas crianas: elas sonham com sorvetes e cerejas, por exemplo. Em adultos, porm, acontece com freqncia de os desejos a serem satisfeitos no sonho aparecerem disfarados. Isto acontece porque mesmo quando estamos dormindo uma censura severa continua a determinar o que podemos nos permitir ou no. Quando estamos dormindo, esta censura, ou mecanismo de represso, mais fraca do que quando acordados, mas ainda forte o bastante para desfigurar no sonho os desejos que no queremos confessar nem a ns mesmos. Sofia - E por isso que os sonhos tm de ser interpretados? Alberto - Freud mostra que precisamos distinguir entre o sonho, tal como ele nos vem lembrana na manh seguinte, e o seu verdadeiro significado. As prprias imagens onricas, quer dizer, o filme ou o vdeo a que assistimos quando sonhamos, ele as chamou de contedo manifesto do sonho. Mas o sonho tambm tem um significado mais profundo, que permanece inacessvel ao consciente. E este significado, Freud o chamou de pensamentos latentes do sonho. As imagens onricas e seus requisitos so geralmente tiradas do passado mais prximo, com freqncia dos acontecimentos que vivemos no
46
dia anterior. Os pensamentos ocultos, porm, vm de um passado mais remoto; por exemplo, das primeiras fases de nossa infncia. Sofia - Quer dizer que precisamos analisar o sonho para entender do que ele trata realmente. Alberto - Sim. E os enfermos precisam fazer isto junto com um terapeuta. Mas no o mdico quem interpreta os sonhos. Ele s pode fazer isto com a ajuda do paciente. O mdico entra nessa situao apenas corno urna parteira socrtica que ajuda na interpretao. Sofia - Entendo. Alberto - O ato de reformular, de converter os "pensamentos latentes do sonho" em "contedo manifesto do sonho" chamado por Freud de trabalhar o sonho. Podemos falar de um "mascaramento" ou de uma "codificao" da verdadeira ao que se desenrola no do sonho. Na interpretao do sonho temos de passar por um processo inverso. Temos de desmascarar ou decodificar o verdadeiro "motivo" do sonho, a fim de podermos descobrir o verdadeiro "tema" do sonho. Sofia - Voc poderia me dar um exemplo? Alberto - Os livros de Freud esto cheios desses exemplos. Mas ns mesmos podemos inventar um exemplo bem simples e bem freudiano. Quando um rapaz sonha que sua prima lhe deu dois bales de ar... Sofia - Sim? Alberto - No espere que eu continue. Voc mesma deve tentar interpretar este sonho agora. Sofia - Hmrn.... Neste caso, o "contedo manifesto do sonho" exatamente isto que voc disse: a prima dele lhe d dois bales de ar. Alberto - Continue. Sofia - E voc tambm disse que os requisitos de nossos sonhos geralmente so tirados das experincias vividas no dia anterior. Portanto, ele deve ter ido a um parque de diverses no dia anterior, ou ento viu no jornal a foto de dois bales de ar. Alberto - Sim, pode ser. Mas tambm pode ser que ele tenha apenas ouvido a palavra "balo" ou visto alguma coisa que o tenha feito lembrar de um balo. Sofia - Mas o que so os "pensamentos latentes do sonho"? Eles no so aquilo de que o sonho realmente trata? Alberto - Quem est interpretando sonhos aqui voc. Sofia - Ser que ele simplesmente no estaria querendo dois bales? Alberto - No, isto pouco provvel. Num ponto, porm, voc tem razo: ele quer satisfazer um desejo no sonho. S que dificilmente um rapaz adulto desejaria assim to ardentemente dois bales de ar. E, se quisesse, no seria necessrio sonhar com isto. Sofia - Ento... acho que na verdade ele deseja a sua prima. E os dois bales so os seios dela. Alberto - Sim, esta uma explicao provvel, sobretudo porque este desejo lhe causa certo embarao, de modo que ele no gosta de admiti-lo quando est acordado. Sofia - Quer dizer que nossos sonhos do umas voltas e passam por coisas como bales etc.? Alberto - Sim. Freud considerava o sonho a realizao disfarada de desejos disfarados. Pode ser que o que disfaramos tenha se modificado consideravelmente desde que Freud conversava com seus pacientes em seu consultrio em Viena. Apesar disso, possvel que o mecanismo de disfarce continue intato. Sofia - Entendo. Alberto - Nos anos 20, a psicanlise de Freud se tornou muito importante, sobretudo no tratamento das neuroses. Alm disso, sua teoria do Inconsciente foi muito importante para a arte e a literatura. Sofia - Voc est querendo dizer que os artistas passaram a se ocupar mais da vida mental inconsciente do homem? Alberto - Exatamente, embora isto j estivesse presente na literatura da ltima dcada do sculo passado, quando a psicanlise de Freud ainda no era conhecida. S estou querendo dizer que no por acaso que a psicanlise de Freud surgiu exatamente nesta poca. Sofia - Voc quer dizer que ela j estava embutida no esprito da poca?
47
Alberto - Freud no acreditava ter descoberto, por assim dizer, fenmenos como a represso, os atos falhos ou a racionalizao. Mas ele foi o primeiro a trazer para dentro da psiquiatria tais experincias humanas. Ele tambm soube ilustrar muito bem sua teoria com exemplos extrados da literatura. Mas, como eu disse, a psicanlise de Freud passou a influenciar diretamente a arte e a literatura a partir dos anos 20. Sofia - De que forma? Alberto - Escritores e pintores passaram a tentar aplicar as foras inconscientes em seus trabalhos de criao. E isto vale sobretudo para os chamados surrealistas. Sofia - O que significa isto? Alberto - A expresso "surrealismo" francesa e significa algo como aquilo que est alm do realismo". Em 1924, Andr Breton publicou seu Manifesto surrealista. Nele, Breton declara que a arte deveria ser criada a partir do inconsciente, pois s assim a inspirao do artista estaria livre para produzir suas imagens onricas e o artista poderia buscar um "super-realismo", no qual as barreiras entre sonho e realidade fossem abolidas. De fato, pode ser muito importante para um artista eliminar a censura do consciente, a fim de que palavras e imagens possam fluir livremente. Sofia - Entendo. Alberto - De certa forma, Freud tinha dado a prova de que todas as pessoas so artistas. Afinal, um sonho uma pequena obra de arte e a cada noite criamos novos sonhos. Para interpretar os sonhos de seus pacientes, Freud freqentemente tinha de abrir caminho atravs de um denso emaranhado de smbolos, mais ou menos como fazemos quando interpretamos um quadro ou um texto literrio. Sofia - E ns sonhamos todas as noites? Alberto - Pesquisas recentes demonstraram que vinte por cento do tempo que passamos dormindo preenchido por sonhos. Isto significa que sonhamos de duas a trs horas por noite. Quando somos perturbados durante essas fases, reagimos com nervosismo e irritao. Isto significa nada mais e nada menos que todas as pessoas tm uma necessidade inata de dar sua situao existencial uma expresso artstica. O sonho trata de ns mesmos. Somos ns quem dirigimos este "filme", juntamos tudo o que compe os seus cenrios e requisitos e desempenhamos todos os papis. As pessoas que dizem que no entendem nada de arte so pessoas que se conhecem mal. Sofia - Entendo. Alberto - Alm disso, Freud deu uma prova impressionante de como fantstica a mente humana. Seu trabalho com pacientes convenceu-o de que guardamos no fundo de nossa mente tudo o que vimos e vivemos. E todas essas impresses podem ser trazidas tona novamente. Todas as vezes em que nos d "um branco" e, pouco depois, ficamos com o que queremos lembrar "na ponta da lngua", e quando, um pouco mais tarde ainda, a coisa "subitamente nos ocorre", estamos falando de algo que estava no inconsciente e, de repente, encontrou uma porta entreaberta e conseguiu escapar para o consciente. Sofia - Mas s vezes isto demora muito. Alberto - Sim, todos os artistas sabem disso. S que de repente todas as portas e gavetas do arquivo parecem se abrir. Tudo flui espontaneamente e ento podemos escolher exatamente as palavras e as imagens de que precisamos. Isto acontece quando deixamos a porta do inconsciente entreaberta. Podemos chamar isto de inspirao, Sofia. E ento temos a sensao de que aquilo que desenhamos ou escrevemos no veio de ns. Sofia - Deve ser um sentimento maravilhoso. Alberto - Mas com certeza voc mesma j o experimentou. Podemos observar facilmente este estado inspirado em crianas que esto supercansadas. Neste estado, as crianas parecem mais acordadas do que nunca e comeam a falar sem parar, tirando da memria palavras que elas ainda nem aprenderam. S que claro que elas j aprenderam. Acontece que essas palavras estavam "latentes" no seu consciente e s agora, quando o cansao relaxa o policiamento e abole a censura, elas podem vir tona. Para o artista, a situao diferente. Mas tambm para ele pode ser importante que a razo e a reflexo no exeram um controle to rigoroso sobre aquilo que melhor pode se desenvolver espontnea, livre e inconscientemente. Posso contar uma fbula que ilustra muito bem o que estou dizendo? Sofia - Claro!
48
Alberto - uma fbula muito sria e muito triste. Sofia - Pode comear. Alberto - Era uma vez uma centopia que sabia danar excepcionalmente bem com suas cem perninhas. Quando ela danava, os outros animais da floresta reuniam-se para v-la e ficavam muito impressionados com sua arte. S um bicho no gostava de assistir dana da centopia: uma tartaruga. Sofia - Na certa porque tinha inveja. Alberto - "Como ser que eu posso conseguir fazer a centopia parar de danar?", pensava ela. Ela no podia simplesmente dizer que a dana da centopia no lhe agradava. E tambm no podia dizer que sabia danar melhor que a centopia, pois ningum iria acreditar. Ento ela comeou a bolar um plano diablico. Sofia - Que plano era esse? Alberto - A tartaruga ps-se, ento, a escrever uma carta endereada centopia: "Oh, incomparvel centopia! Sou uma devota admiradora de sua dana singular e gostaria muito de saber como voc faz para danar. Voc levanta primeiro a perna esquerda nmero 28 e depois a perna direita nmero 59, ou comea a danar erguendo a perna direita nmero 26 e depois a perna esquerda nmero 49? Espero ansiosa por sua resposta. Cordiais saudaes, a tartaruga". Sofia - Que coisa de doido! Alberto - Quando a centopia recebeu esta carta, refletiu pela primeira vez na sua vida sobre o que fazia de fato quando danava. Que perna ela movia primeiro? E qual perna vinha depois? E voc sabe, Sofia, o que aconteceu? Sofia - Acho que a centopia nunca mais danou. Alberto - Foi isso mesmo. E exatamente isto que pode acontecer quando o pensamento sufoca a imaginao. Sofia - triste mesmo esta histria. Alberto - Para um artista, portanto, pode ser muito importante "se deixar levar". Os surrealistas tentavam se aproveitar disso e buscavam um estado em que tudo parecia brotar espontaneamente. Eles sentavam-se frente de uma folha de papel em branco e comeavam a escrever, sem pensar no que estavam escrevendo. Era isto o que chamavam de escrita automtica. Na verdade, a expresso vem do espiritismo, em que um "mdium" acredita que o esprito de algum que j morreu est dirigindo sua mo ao escrever... Mas acho melhor continuarmos falando amanh sobre essas coisas. Sofia - Tudo bem. Alberto - O artista surrealista tambm , de certa maneira, um mdium. Ele um mdium de seu prprio subconsciente. Contudo, possvel que haja uma pontinha de inconsciente em todo processo criativo. Pois o que seria isto que chamamos de "criatividade"? Sofia - Ser criativo no significa criar algo de novo e de nico? Alberto - Mais ou menos. E isto ocorre por meio de uma delicada interao entre imaginao e razo. Na maioria das vezes, a razo sufoca a imaginao; e isto ruim, pois sem imaginao no possvel produzir nada de novo. Eu vejo a imaginao como um sistema darwinista. Sofia - Desculpe, mas esta eu no entendi. Alberto - O Darwinismo explica que a natureza produz um mutante atrs do outro. Mas a natureza s precisa de alguns poucos desses mutantes. S alguns poucos tm a chance de viver. Sofia - E ento? Alberto - O mesmo acontece quando pensamos, quando estamos inspirados e temos muitas e novas idias. Nesse caso, nossa cabea produz um "pensamento mutante" atrs do outro. Quer dizer, isto se ns no nos impusermos uma censura muito severa. Acontece que s vamos usar realmente alguns desses pensamentos. E aqui que entra a razo, pois ela tambm tem uma funo importante. Quando temos sobre a mesa o resultado da pesca, no podemos esquecer de escolher os peixes. Sofia - Esta uma tima comparao. Alberto - Imagine se tudo o que nos "ocorre", se cada lampejo de pensamento tivesse autorizao para sair da nossa boca! Ou ento para saltar do bloco de apontamentos ou sair das gavetas da escrivaninha!
49
O mundo se afogaria bem depressa num mar de idias e lembranas casuais. E no haveria uma "seleo", Sofia. Sofia - E a razo escolhe as melhores entre todas as idias e lembranas? Alberto - Sim, ou voc no acha? A imaginao pode criar coisas novas, mas no ela que realmente escolhe. No a imaginao que "compe". Uma composio, e toda obra de arte uma composio, surge de uma admirvel interao entre imaginao e razo, ou entre sentimentos e pensamentos. O processo artstico tem sempre um elemento de casualidade. Em certa fase pode ser importante no represar essas idias e lembranas casuais. As ovelhas precisam ser soltas primeiro para s depois o pastor poder vigi-las. Alberto calou-se por algum tempo e olhou pela janela. Sofia acompanhou o olhar de seu professor e viu uma confuso l embaixo, s margens do lago. Era uma verdadeira festa envolvendo personagens de Walt Disney de todas as cores, formas e tamanhos. Sofia - Veja! L esto Donald e seus sobrinhos... e tambm Margarida... e o Tio Patinhas. Voc est vendo o Tico e o Teco? Voc no est ouvindo o que estou dizendo, Alberto? L esto Mickey Mouse e... Alberto virou-se para ela e disse: Alberto - Sim, triste, minha filha. Sofia - Do que voc est falando? Alberto - Ns nos transformamos em vtimas indefesas quando o major solta o seu rebanho de ovelhas. Mas claro que o erro foi meu. Afinal, fui eu quem comeou com este jogo de imaginao. Sofia - Voc no precisa se penitenciar. Alberto - Eu s queria dizer que a imaginao tambm importante para ns, filsofos. Para chegarmos a pensar alguma coisa nova, tambm precisamos ter coragem de nos deixar levar. Bem, acho que me expressei de forma muito vaga. Sofia - No seja to implacvel consigo mesmo. Alberto - Eu queria dizer alguma coisa sobre a importncia de se refletir em silncio. E a ele me vem com esses loucos pulando daqui para l com suas roupinhas coloridas. Ele devia ter vergonha! Sofia - Voc est sendo irnico agora? Alberto - Ele que est sendo irnico, no eu. Mas ainda me resta um consolo, e este consolo a pedra fundamental do meu plano. Sofia - No estou entendendo mais nada. Alberto - H pouco falamos sobre os sonhos. E aqui tambm h um toque de ironia! Afinal, o que somos ns seno imagens onricas do major? Sofia - Mas ele se esqueceu de uma coisa. Alberto Do qu? Sofia - Talvez tambm seja penoso para ele conscientizar-se de seus prprios sonhos. Ele sabe de tudo o que dizemos e fazemos, do mesmo modo como aquele que sonha se lembra do contedo Alberto Mas e se esqueceu e uma coisa. Sofia - Do qu? Alberto - Talvez tambm seja penoso para ele conscientizar-se de seus prprios sonhos. Ele sabe de tudo o que dizemos e fazemos, do mesmo modo como aquele que sonha se lembra do contedo manifesto de seus sonhos. Afinal, ele quem move a pena. Mas mesmo quando se lembra de tudo o que dizemos um ao outro, ele ainda no est realmente acordado. Sofia - O que voc quer dizer com isto? Alberto - Ele desconhece os pensamentos latentes do sonho, Sofia. Ele se esquece de que isto aqui tambm um sonho disfarado. Sofia - Tudo isso me parece to estranho!
50
Alberto - O major acha a mesma coisa, pois ele no entende a linguagem de seus prprios sonhos. E ns deveramos ficar muito felizes com isto, pois isto o que nos garante um pouquinho de liberdade. Com esta liberdade conseguiremos em breve batalhar nossa sada da mente lamacenta do major. E o faremos como toupeiras corajosas que saem de suas tocas para aproveitar o sol quente de um dia de vero. Sofia - Voc acha que vamos conseguir? Alberto - Ns temos de conseguir. Daqui a dois dias eu vou lhe mostrar um novo horizonte. E ento o major no saber mais onde esto as toupeiras ou quando vo aparecer novamente. Sofia - Bem no sei se somos imagens onricas ou no. Sei que tenho uma mime me esperando, que j so cinco horas e que tenho de ir para casa preparar a festa ao ar livre. Alberto - Mmmm... ser que voc poderia me fazer um favor no caminho de volta para casa? Sofia - Que favor? Alberto - Tente chamar rnais a ateno do major sobre voc. Faa um esforo nesse sentido, para que ele no tire os olhos e a ateno de voc durante todo o trajeto de volta para casa. Tente pensar nele quando chegar em casa. E ento ele tambm estar pensando em voc. Sofia - E para qu? Alberto - que assim eu vou poder continuar trabalhando tranqilamente no meu plano secreto. Vou mergulhar bem fundo no subconsciente do major, Sofia. E ficarei l at que nos encontremos de novo.
7. Marx ... Um fantasma ronda a Europa (de Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia, Cia das Letras, 1995, pg. 417-429) Alberto - Em 1841, quando Kierkegaard foi a Berlim, provvel que ele tenha se sentado ao lado de Karl Marx nas palestras de Schelling. Kierkegaard tinha escrito uma tese sobre Scrates, e Karl Marx, na mesma poca, tinha defendido o seu doutorado sobre Demcrito e Epicuro. Sobre o materialismo na Antigidade, portanto. Nos trabalhos dos dois j estava embutido o rumo que suas reflexes filosficas iriam tomar. Sofia - Quer dizer, Kierkegaard se tornou um filsofo existencialista e Marx um materialista. Alberto - chamamos Marx de um materialista histrico. Voltaremos a isto mais adiante. Sofia - Continue! Alberto - Tanto Kierkegaard quanto Marx tomaram como ponto de partida a filosofia de Hegel. Ambos foram influenciados pela forma de pensar hegeliana, mas ambos tambm se distanciaram da noo hegeliana de esprito universal, ou daquilo que chamamos do idealismo de Hegel. Sofia - Na certa Hegel era um tanto vago para eles. Alberto - Exatamente. De modo muito geral, podemos dizer que a era dos grandes sistemas filosficos terminou com Hegel. Depois dele, a filosofia toma um novo rumo. Os grandes sistemas especulativos do lugar s "filosofias da existncia" ou "filosofias da ao", como tambm podemos cham-las. a isto que Marx se refere quando diz que at ento os filsofos sempre tinham tentado interpretar o mundo, em vez de tentar modific-lo. E so exatamente essas palavras que determinam uma virada importante na histria da filosofia. Sofia - Depois de ter me encontrado com Scrooge e com a menina da caixa de fsforos, posso entender tranqilamente o que Marx quis dizer. Alberto - O pensamento de Marx tem, portanto, um objetivo prtico e poltico. preciso salientar que ele no era apenas filsofo. Marx foi tambm historiador, socilogo e economista. Sofia - E ele foi pioneiro em todas essas reas? Alberto - De qualquer forma, nenhum outro filsofo foi mais importante para a prtica poltica. Por outro lado, precisamos ter cuidado para no identificarmos com seu pensamento tudo o que depois dele se chamou de "marxista". Dizem que o prprio Marx se tornou "marxista" por volta de 1845, mas que durante toda a sua vida ele manifestou seu desconforto quanto a essa designao. Sofia - Jesus tambm no foi cristo?
51
Alberto - Tambm isto discutvel. Sofia - Continue. Alberto - Desde o incio, seu amigo e colega Friedrich Engels contribuiu para o que mais tarde foi chamado de marxismo. Em nosso sculo (sculo XX), Lenin, Stalin, Mao e muitos outros reivindicaram o reconhecimento pbico por terem levado o marxismo mais adiante. Nos pases do Leste, depois de Lenin, apareceu o conceito de "marxismo-leninismo". Sofia - Acho melhor a gente se concentrar no prprio Marx. Voc o chamou de "materialista histrico", no foi? Alberto - Ele no foi um filsofo materialista como os atomistas da Antigidade ou como os materialistas mecanicistas dos sculo XVII e XVIII. Mas ele achava que eram as condies materiais de vida numa sociedade que determinavam nosso pensamento e nossa conscincia. Para ele, tais condies materiais eram decisivas tambm para a evoluo da histria. Sofia - Isto soa verdadeiramente diferente de Hegel e de seu esprito universal. Alberto - Hegel havia explicado que a evoluo histrica surgia da tenso entre opostos, que eram resolvidos numa mudana repentina. Desaparecidos os opostos, desaparecia tambm a tenso, claro. Marx concordava com este pensamento. Ele achava apenas que o pobre Hegel tinha colocado tudo de cabea para baixo. Sofia - Mas no o tempo todo, espero. Alberto - Hegel chamava de "esprito universal" ou "razo universal" a fora que impelia a histria para a frente. Marx achava que este ponto de vista colocava a realidade de cabea para baixo. Ele queria mostrar que as condies materiais de vida eram decisivas para a histria. Nesse sentido, Marx dizia que no eram o pressupostos espirituais numa sociedade que levavam a modificaes materiais, mas exatamente o oposto: as condies materiais determinavam, em ltima instncia, tambm as espirituais. Alm disso, Marx achava que as foras econmicas numa sociedade eram as principais responsveis pelas modificaes em todos os outros setores e, consequentemente, pelos rumos do curso da histria. Sofia - Voc poderia me dar um exemplo? Alberto - A filosofia e a cincia na Antigidade tinham sido cultivadas quase como algo completamente desvinculado da realidade prtica. Os antigos filsofos no estavam muito interessados em saber se os seus conhecimentos tericos poderiam modificar para melhor as coisas na prtica. Sofia - No? Alberto - Isto se explica pelo modo como eram organizadas as sociedades em que eles viviam. A vida e a produo de alimentos nas sociedades da Antigidade tinham por base sobretudo o trabalho escravo. Por esta razo, os cidados no tinham a menor necessidade de melhorar a produo com novidades prticas. Temos a um exemplo de como o pensamento pode ser influenciado pelas relaes materiais numa sociedade. Sofia - Entendo. Alberto - As relaes materiais, econmicas e sociais numa sociedade so chamadas por Marx de bases desta sociedade. O modo de pensar de uma sociedade, suas instituies polticas, suas leis e tambm sua religio, moral, arte, filosofia e cincia so por ele chamados de superestrutura. Sofia - Base e superestrutura, portanto. Alberto - E talvez agora voc possa me passar o templo grego. Sofia - Com todo o prazer. Alberto - Isto uma cpia em miniatura do antigo Partenon, na Acrpole. Voc chegou a v-lo como ele realmente . Sofia - Na fita de vdeo, voc quer dizer. Alberto - Observe que o templo possui um telhado realmente elegante e ricamente ornamentado. Talvez sejam o telhado e o fronto os dois elementos que mais nos chamam a ateno primeira vista. E exatamente isto que podemos chamar de superestrutura. S que o telhado no pode pairar sozinho no ar. Sofia - Ele sustentado por colunas.
52
Alberto - A construo inteira precisa de um alicerce slido, uma base que a sustenta como um todo. Para Marx, as condies materiais "sustentam", por assim dizer, todos os pensamentos e idias de uma sociedade. Isto significa que a superestrutura de uma sociedade o reflexo de sua base material. Sofia - Voc est querendo dizer que a teoria das idias de Plato era apenas um reflexo das olarias e da viticultura de Atenas? Alberto - No, no to simples assim. O prprio Marx chamou expressamente a ateno para isto. claro que a base e a superestrutura de uma sociedade se condicionam reciprocamente. Se Marx tivesse negado isto, ele teria sido um "materialista mecanicista". Mas por ele ter reconhecido que entre a base e a superestrutura de uma sociedade tambm existe uma interao, uma tenso, ns o chamamos de materialista dialtico. Voc deve estar lembrada do que Hegel entendia por uma evoluo dialtica. E, a propsito, bom dizer que Plato no trabalhou nem como oleiro, nem como viticultor. Sofia - Entendo. Voc ainda vai falar mais um pouco sobre o templo? Alberto - Sim. Observe cuidadosamente a base dele. Ser que voc poderia descrev-la para mim? Sofia - As colunas esto apoiadas numa fundao composta por trs camadas, ou degraus. Alberto - Da mesma forma, podemos distinguir numa sociedade trs camadas. Embaixo de tudo est o que Marx chama de as condies naturais de produo de uma sociedade. Nela esto compreendidas as condies naturais, ou recursos naturais que preexistem, por assim dizer, prpria sociedade: o tipo de vegetao, as matrias-primas, as riquezas do solo, entre outros. Tais condies constituem os verdadeiros muros de arrimo na fundao de uma sociedade; e estes muros de arrimo estabelecem claras restries quanto ao tipo de produo possvel e, por extenso, quanto ao prprio tipo de sociedade e de cultura que podem florescer em determinado lugar. Sofia - No se pode pescar arenque no Saara, nem plantar tmaras na Lapnia. Alberto - Isto mesmo. Numa cultura nmade, porm, as pessoas pensam de forma completamente diferente do que, por exemplo, num povoado de pescadores na Noruega. A prxima camada formada, ento, pelas foras de produo de uma sociedade. Aqui, Marx est pensando na fora de trabalho do prprio homem, mas tambm nos tipos de equipamentos, ferramentas e mquinas, os chamados meios de produo. Sofia - Antigamente, as pessoas saam remando para apanhar os peixes. Hoje em dia eles so apanhados em traineiras gigantescas. Alberto - E com isto voc j est passando para a terceira camada da base de uma sociedade. A coisa aqui se complica um pouco, pois se trata de quem detm os meios de produo numa sociedade e de como o trabalho organizado no interior da sociedade. Trata-se , portanto, das relaes de posse e da diviso de trabalho. Marx chama isto de relaes de produo de uma sociedade. Elas so, portanto, a terceira camada da base social. Sofia - Entendo. Alberto - At aqui podemos concluir, portanto, que para Marx o modo de produo numa sociedade determina que relaes polticas e ideolgicas podemos encontrar nela. No por acaso que hoje em dia pensamos diferente, e possumos uma moral diferente, das pessoas que viviam numa sociedade feudal antiga. Sofia - Quer dizer que Marx no acreditava num direito natural vlido para qualquer poca. Alberto - No. Para Marx, a resposta pergunta sobre o que moralmente correto era um produto da base social. De fato, no por acaso que nas antigas comunidades de camponeses os pais determinavam com quem seus filhos deviam se casar. Afinal, tratava-se tambm de saber quem herdaria as terras. Numa grande cidade moderna, as relaes sociais so outras; consequentemente, tambm so outras as formas pelas quais as pessoas buscam seus parceiros. Podemos conhecer nossos companheiros ou companheiras numa festa, ou ento numa discoteca, e, se nos sentimos suficientemente apaixonados um pelo outro, podemos passar a dividir uma casa ou um apartamento. Sofia - Eu no ia gostar nada se meus pais escolhessem meu futuro marido. Alberto - No, pois voc fruto de sua poca. Marx tambm afirmava que em geral era a classe dominante numa sociedade que determinava o que certo e o que errado. Pois, para ele, toda a
53
histria era a histria das lutas de classes, ou seja, das discusses sobre a quem deveriam pertencer os meios de produo. Sofia - Mas os pensamentos e as idias das pessoas tambm no contribuem para as mudanas da histria? Alberto - Sim e no. Marx tinha conscincia de que as relaes na superestrutura de uma sociedade tinham algum efeito sobre a sua base. S que ele negava que a superestrutura tivesse uma histria s sua, independente do resto. Para ele, o que tinha feito a histria avanar da sociedade escravocrata da Antigidade at a sociedade industrial eram sobretudo as modificaes na base da sociedade. Sofia - Sim, voc j disse isso. Alberto - Em todas as fases da histria existe, segundo Marx, um conflito entre duas classes dominantes da sociedade. Na sociedade escravocrata da Antigidade havia um conflito entre os cidados livres e os escravos; na sociedade feudal da Idade Mdia, um conflito entre os senhores feudais e os vassalos e, mais tarde entre nobres e plebeus. Mas no tempo de Marx, numa sociedade burguesa ou, como dissemos, capitalista, ele via este conflito sobretudo entre capitalistas e trabalhadores ou entre capitalistas e o proletariado, quer dizer, entre os que possuam e os que no possuam os meios de produo. E como a classe "que estava por cima" jamais abriria mo voluntariamente de sua posio de dominncia, s uma revoluo seria capaz de provocar uma modificao nesse estado de coisas. Sofia - E a sociedade comunista? Alberto - Marx dedicou-se especialmente questo da transio de uma sociedade capitalista para uma sociedade comunista. Para tanto, ele fez uma anlise detalhada do modo de produo capitalista. S que antes de abordarmos esta questo, vamos falar um pouco sobre o que Marx pensava a respeito do trabalho humano. Sofia - Vamos l. Alberto - Antes de se tornar comunista, o jovem Marx interessava-se pelo que realmente acontece com o homem quando ele trabalha. Hegel tambm analisou este aspecto e constatou uma relao de troca mtua, uma relao "dialtica" entre o homem e a natureza. O jovem Marx chegou mesma concluso: quando o homem altera a natureza, ele mesmo tambm se altera. Ou, em outras palavras: quando o homem trabalha, ele interfere na natureza e deixa nela suas marcas; mas neste processo de trabalho tambm a natureza interfere no homem e deixa marcas em sua conscincia. Sofia - Diga-me com que trabalhas e te direi quem s. Alberto - Exatamente. Marx dizia que o modo como trabalhamos marca a nossa conscincia, mas a nossa conscincia tambm marca o modo como trabalhamos. Podemos dizer que existe uma interao entre "mo" e "cabea". Desta forma, o conhecimento do homem est intimamente relacionado ao seu trabalho. Sofia - Ento deve ser horrvel ficar desempregado. Alberto - Sim. De certa forma, quem no tem um trabalho est solto no ar. Hegel j havia dito isso. Para Hegel e Marx o trabalho uma coisa positiva; uma coisa que pertence condio humana. Sofia - Ento tambm deve ser positivo ser um trabalhador. Alberto - Fundamentalmente, sim. Mas exatamente sobre este ponto que Marx constri sua crtica avassaladora do modo de produo capitalista. Sofia - Estou curiosa! Alberto - No sistema capitalista, o trabalhador trabalha para outra pessoa. Dessa forma, seu trabalho algo externo a ele mesmo; em outras palavras, seu trabalho no lhe pertence. O trabalhador se aliena em relao ao seu trabalho e, ao mesmo tempo, em relao a si mesmo. Ele perde sua dignidade humana. Usando uma expresso hegeliana, Marx fala de alienao. Sofia - Entendo o que voc est dizendo. Eu tenho uma tia que embrulha bombons h mais de vinte anos numa fbrica. Ela diz que odeia ir para o trabalho todos os dias. Alberto - E se ela odeia seu trabalho, Sofia, de alguma forma ela tambm se odeia. Sofia - De qualquer forma ela odeia bombons.
54
Alberto - Na sociedade capitalista, o trabalho organizado de modo a que um trabalhador realize um trabalho escravo para outra classe social. Desta forma, o trabalhador "cede" no apenas sua prpria fora de trabalho, como tambm toda a sua existncia humana. Sofia - Mas to ruim assim mesmo? Alberto - Estamos falando de como Marx via as coisas. Por isso precisamos tomar como ponto de partida as condies sociais vigentes na Europa por volta de 1850. E nesse caso, a resposta sua pergunta "SIM", em alto e bom som. Na grande maioria dos casos, os trabalhadores cumpriam uma jornada de trabalho de catorze horas dentro de fbricas geladas. E o que ganhavam era to pouco, que at crianas e mulheres grvidas tinham de trabalhar. Tudo isto levou a condies sociais indescritveis. Muitas vezes, parte do salrio era paga em forma de aguardente barata e muitas mulheres tinham de se prostituir. Seus clientes eram os respeitveis cidados da cidade. Em poucas palavras: o trabalho, que deveria ser um smbolo da dignidade humana, transformara o trabalhador num verdadeiro animal. Sofia - Fico furiosa com essas coisas. Alberto - Marx tambm ficava. Ao mesmo tempo, os filhos dos burgueses podiam tocar violinos em sales amplos, aquecidos, depois de terem tomado um banho reconfortante. Ou ento podiam sentar-se ao piano, antes de saborear um delicioso almoo com quatro pratos principais. Muitas vezes eles tambm tocavam violino ou piano tardinha, depois de um longo passeio a cavalo. Sofia - Que injustia! Alberto - Marx tambm achava. Em 1848, ele publicou junto com Friedrich Engels o famoso Manifesto Comunista. A primeira frase desse manifesto a seguinte: "Um fantasma ronda a Europa: o fantasma do comunismo". Sofia - Puxa... me d at medo. Alberto - Pois os burgueses sentiram a mesma coisa. E foi ento que o proletariado comeou a se rebelar. Voc quer ouvir como termina o manifesto? Sofia - Quero. Alberto - Ento vamos l: "Os comunistas no se importam de revelar suas idias e intenes. Eles declaram abertamente que seus objetivos s podem ser alcanados por meio de uma violenta revoluo de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam diante da revoluo comunista. Os proletrios no tm nada a perder alm de seus grilhes. Eles tm um mundo a ganhar! Proletrios de todo o mundo, uni-vos!" Sofia - Se as condies de vida eram to ruins quanto voc falou, eu tambm teria assinado este manifesto. Mas hoje em dia as coisas mudaram, no mesmo? Alberto - Na Noruega sim, mas no em todos os lugares. Ainda h milhes de pessoas vivendo em condies subumanas. Ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas fabricam coisas que deixam cada vez mais ricos os capitalistas. isto que Marx chama de explorao. Sofia - Voc poderia explicar um pouco melhor esta palavra? Alberto - Quando o trabalhador fabrica uma mercadoria, ela tem certo valor de venda. Sofia - Sim. Alberto - Se voc descontar do preo de venda da mercadoria o salrio do trabalhador e outros custos de produo, sempre acaba sobrando certa quantia. Esta quantia Marx a chama de mais-valia, ou lucro. Isto significa que o capitalista toma para si um valor que na verdade foi gerado pelo trabalhador. E isto que Marx chama de explorao. Sofia - Entendo. Alberto - Pode acontecer, ento, de o capitalista aplicar uma parte do lucro em novo capital, por exemplo, na modernizao das instalaes de produo. Ele o faz porque quer produzir as mercadorias a preos mais baixos e espera que, com isto, seus lucros aumentem. Sofia - Sim, isso lgico. Alberto - Sim, isso parece lgico. Mas Marx dizia que nesse caso, como em muitos outros, as coisas no aconteciam no longo prazo exatamente como o capitalista tinha imaginado. Sofia - O que ele queria dizer com isso?
55
Alberto - Marx achava o modo de produo capitalista contraditrio em si. Para ele, o capitalismo era um sistema econmico autodestrutivo, sobretudo porque lhe faltava um controle racional. Sofia - Quer dizer que no fundo isto era bom para os oprimidos, no era? Alberto - Podemos dizer que sim. Para Marx, em todo caso, era certo que o sistema capitalista acabaria perecendo vtima de suas prprias contradies. Ele considerava o capitalismo "progressivo", isto , algo que aponta para o futuro, mas s porque via nele um estgio necessrio a caminho do comunismo. Sofia - Voc pode me dar um exemplo de como o capitalismo seria autodestrutivo? Alberto - Sim. Dissemos que o capitalista fica com um excedente de dinheiro e aplica uma parte deste lucro na modernizao de sua empresa. claro que paralelamente a isto ele tem de pagar as aulas de violino e tambm arcar com os custos de certos hbitos caros de sua esposa. Sofia - Sem dvida. Alberto - Mas isto no to importante nesse contexto. O capitalista se moderniza, portanto; quer dizer, compra novas mquinas e por isso no precisa mas de tantos empregados. E o faz para aumentar sua competitividade em relao s outras empresas. Sofia - Entendo. Alberto - Mas ele no o nico que pensa assim. Isto significa que toda a produo de um setor vai sendo aos poucos racionalizada e se tornando mais efetiva. As fbricas ficam cada vez maiores e vo caindo nas mos de uns poucos. E o que acontece depois, Sofia? Sofia - Humm... Alberto - Cada vez se precisa de menos mo de outra e cada vez mais trabalhadores ficam desempregados. Em decorrncia disso agravam-se os problemas sociais. Tais crises, nos diz Marx, seriam o sinal de que o capitalismo estaria se aproximando de seu fim. Mas Marx v ainda outros traos autodestrutivos no capitalismo. Para aumentar a margem de lucro ligada aos meios de produo, sem diminuir a mais-valia que garante a produo a preos competitivos... o que faz o capitalista, hein? Ser que voc sabe me dizer? Sofia - No, no sei. Alberto - Imagine que voc possui uma fbrica, as finanas no vo muito bem e voc corre perigo de abrir falncia. O que voc pode fazer para economizar dinheiro? Sofia - Posso baixar os salrios, por exemplo. Alberto - Muito inteligente! Isto seria realmente a coisa mais inteligente que voc poderia fazer. Mas se todos os capitalistas forem to espertos quanto voc, e eles so, os trabalhadores vo ficar to empobrecidos que no tero dinheiro para comprar mais nada. Falamos, neste caso, de uma queda do poder aquisitivo de uma sociedade. E ento entramos num crculo vicioso. Marx achava que a propriedade privada capitalista estava com os dias contados e que a situao descrita acima estava bem prxima de uma situao revolucionria. Sofia - Entendo. Alberto - Para resumir: Marx acreditava que, no fim, os proletrios iam acabar se rebelando para tomar o poder sobre os meios de produo. Sofia - E depois? Alberto - Segundo Marx, o resultado disso seria o surgimento de uma nova sociedade de classes, na qual o proletariado subjugaria fora a burguesia. Esta fase de transio Marx a chama de ditadura do proletariado. Depois disso, acreditava ele, a ditadura do proletariado daria lugar a uma sociedade sem classes, o comunismo. E esta seria uma sociedade na qual os meios de produo pertenceriam "a todos', isto , ao povo. Em tal sociedade, "cada um trabalharia de acordo com sua capacidade e ganharia de acordo com suas necessidades". O trabalho pertenceria ao prprio povo e terminaria, assim, a alienao. Sofia - Isto soa muito bonito. Mas foi mesmo o que aconteceu? No houve uma revoluo? Alberto - Sim e no. Os cientistas econmicos de hoje provam que Marx estava enganado em vrios pontos importantes, inclusive em suas anlises das crises do capitalismo. Marx tambm no prestou a devida ateno explorao da natureza, que apra ns cada vez mais ameaadora. Apesar disso... Sofia - Sim?
56
Alberto - Apesar disso, o marxismo provocou grandes transformaes. No h dvida de que o socialismo, que se baseia em Marx em sua luta pela igualdade social, apesar de no concordar com tudo o que ele disse e apesar de rejeitar a ditadura do proletariado, pro exemplo, conseguiu a muito custo chegar a uma sociedade mais humana. Na Europa, pelo menos, vivemos hoje numa sociedade mais justa e mais solidria do que vivam as pessoas na poca de Marx. E no podemos negar que devemos isso ao movimento socialista como um todo. Sofia - D para explicar um pouco melhor este movimento socialista? Alberto - Depois de Marx, o movimento socialista dividiu-se em duas correntes principais: de um lado, a democracia social; de outro, o leninismo. A democracia social, cujo objetivo era encontrar um caminho paulatino e pacfico para uma ordem social mais justa, prevaleceu na Europa ocidental. Podemos chamar o caminho por ela percorrido de uma lenta revoluo. O leninismo, por sua vez, que continuou a acreditar que s uma revoluo seria capaz de combater a antiga sociedade de classes, ganhou importncia na Europa oriental, na sia e na frica. Cada uma dessa ramificaes procurou lutar a seu modo contra a penria e a opresso. Sofia - Mas o resultado disso no acabou sendo uma nova forma de opresso? Por exemplo, na Unio sovitica e no Leste europeu? Alberto - Sem dvida. E aqui temos mais uma vez a prova de que tudo o que o homem toca se transforma numa mistura de bem e de mal. Seria totalmente errneo responsabilizar Marx pelos descaminhos e pelo lado negro dos chamados pases socialistas cinqenta ou cem anos depois de sua morte. O que podemos dizer que ele poderia ter pensado que at mesmo o comunismo, se que um dia existiria, no poderia ser administrado seno por pessoas. E as pessoas cometem erros. No possvel querer ter o cu na terra. As pessoas sempre criaro novos problemas. Sofia - Com toda a certeza. Alberto - Bem, acho que podemos ir colocando um ponto final por aqui, Sofia. Sofia - Espere um pouco! Voc no disse alguma coisa parecida com "s existe justia entre iguais"? Alberto - No. Foi Scrooge quem disse isto. Sofia - como que voc sabe que foi ele quem disse isto? Alberto - Bem, ns dois somos frutos da imaginao do mesmo autor. Deste modo estamos muito mais ligados um ao outro do que pode parecer primeira vista. Sofia - Voc e sua ironia incorrigvel! Alberto - Ironia em dose dupla, Sofia. Sofia - Mas vamos voltar um pouquinho a esta questo da injustia. Voc disse que Marx considerava o capitalismo uma sociedade injusta. Como voc definiria uma sociedade justa? Alberto - John Rawls, um filsofo da moral de inspirao marxista, sugeriu uma interessante situao hipottica para ilustra este problema: imagine que voc fosse membro de um Alto Conselho, cuja tarefa fosse elaborar todas as leis e uma sociedade do futuro. Sofia - Eu bem que gostaria de fazer parte deste Conselho. Alberto - Os membros do Conselho teriam de pensar em absolutamente tudo, pois assim que estivessem de acordo sobre todas as questes e assinassem as leis, cairiam mortos. Sofia - Deus meu! Alberto - E alguns segundos depois voltariam vida exatamente na sociedade cujas leis tinham elaborado. E agora vem o mais importante: nenhum deles saberia onde acordaria nesta sociedade, quer dizer, ningum saberia qual seria a posio que iria ocupar dentro dela. Sofia - entendo. Alberto - Tal sociedade seria uma sociedade justa, pois cada um estaria entre seus iguais. Sofia - E cada uma entre suas iguais! Alberto - Claro. Isto porque no jogo proposto por Rawls ningum saberia se acordaria homem ou mulher nesta nova sociedade. E como as chances eram de cinqenta por cento para cada probabilidade, a sociedade seria igualmente atrativa tanto para homens quanto para mulheres. Sofia - Isto me soa muito atraente. Alberto - Agora, diga-me: a Europa era uma sociedade assim nos tempos de Marx?
57
Sofia - o! Sofia - Talvez voc possa me dar um exemplo de uma sociedade assim em nossos dias... Alberto - Bem... boa pergunta. Sofia - Pense sobre o assunto. Por ora chega de Marx.....
Potrebbero piacerti anche
- Tabela Atividade Etapa 1Documento1 paginaTabela Atividade Etapa 1TatilipeTP67% (3)
- Anthony Kenny Historia Concisa Da Filosofia OcidentalDocumento248 pagineAnthony Kenny Historia Concisa Da Filosofia OcidentalMauricio Sabino100% (3)
- Molde Jose 1Documento5 pagineMolde Jose 1Fredy frinhani100% (2)
- E-Folder 18 de Maio - 2020 PDFDocumento6 pagineE-Folder 18 de Maio - 2020 PDFEducacastelo Rede de SucessoNessuna valutazione finora
- O Positivismo Perante As Propostas Marxista e Demo LiberalDocumento17 pagineO Positivismo Perante As Propostas Marxista e Demo LiberalPaulo FerreiraNessuna valutazione finora
- Gnosiologia Versus Epistemologia - Distinção Entre Os Fundamentos PsicológicosDocumento7 pagineGnosiologia Versus Epistemologia - Distinção Entre Os Fundamentos PsicológicosMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- Aula 12 - EvoluçãoDocumento42 pagineAula 12 - EvoluçãoMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- Evolucao e Especiacao PDFDocumento10 pagineEvolucao e Especiacao PDFmausabNessuna valutazione finora
- Sobre Lénine e A Dialéctica MaterialistaDocumento10 pagineSobre Lénine e A Dialéctica MaterialistaMauricio Sabino100% (1)
- Evolução Do HomemDocumento40 pagineEvolução Do HomemEnio Silva De Lima100% (1)
- Crise e Revisão Do Conceito de GeneDocumento36 pagineCrise e Revisão Do Conceito de GenePatrícia Sérvulo TéuNessuna valutazione finora
- Evolução - 100nexosDocumento8 pagineEvolução - 100nexosMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- Evolucionismo - Dogma Científico Ou Tese TeosóficaDocumento62 pagineEvolucionismo - Dogma Científico Ou Tese TeosóficaMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- A Totalidade Como Categoria Central Na Dialética MarxistaDocumento40 pagineA Totalidade Como Categoria Central Na Dialética MarxistaMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- Evolucao Diversidade PDFDocumento1 paginaEvolucao Diversidade PDFmausabNessuna valutazione finora
- A História Da Ciência e o Uso Dos Mapas ConceituaisDocumento24 pagineA História Da Ciência e o Uso Dos Mapas ConceituaisMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- Anthony Kenny Historia Concisa Da Filosofia Ocidental 011Documento250 pagineAnthony Kenny Historia Concisa Da Filosofia Ocidental 011Mauricio SabinoNessuna valutazione finora
- Apostila de Filosofia - 2da Parte - Prof. Laerte Moreira Dos SantosDocumento57 pagineApostila de Filosofia - 2da Parte - Prof. Laerte Moreira Dos SantosMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- A Filosofia Da Mente de HegelDocumento9 pagineA Filosofia Da Mente de HegelMauricio SabinoNessuna valutazione finora
- A Máquina Do Mundo NewtonianaDocumento18 pagineA Máquina Do Mundo NewtoniananoratromaniniNessuna valutazione finora
- Slide - 16 - MankiwDocumento25 pagineSlide - 16 - MankiwMarcelo ReisNessuna valutazione finora
- Id - 4Documento29 pagineId - 4dzf6dvNessuna valutazione finora
- Google Chrome 1fdxgTDocumento8 pagineGoogle Chrome 1fdxgTMatheus LimaNessuna valutazione finora
- O Namoro e o Noivado Que Deus Sempre Quis (Fichamento)Documento10 pagineO Namoro e o Noivado Que Deus Sempre Quis (Fichamento)Luciano456Nessuna valutazione finora
- Max Weber SLIDEDocumento8 pagineMax Weber SLIDEdalvanmandelaNessuna valutazione finora
- Atividade de RevisãoDocumento2 pagineAtividade de RevisãoCaio Vila NovaNessuna valutazione finora
- Serviço Social e Consultório Na RuaDocumento40 pagineServiço Social e Consultório Na RuaminhapicaNessuna valutazione finora
- Edital Processo Seletivo N 04.2023Documento1 paginaEdital Processo Seletivo N 04.2023Cau VieiraNessuna valutazione finora
- Wa0052Documento1 paginaWa0052Lair MorissonNessuna valutazione finora
- Nota de Aula 9 - Aplicacoes EDO 2ordemDocumento10 pagineNota de Aula 9 - Aplicacoes EDO 2ordemCélio UchôaNessuna valutazione finora
- 10 de Março de 2023: Sexta-Feira - Edição #2353Documento36 pagine10 de Março de 2023: Sexta-Feira - Edição #2353Luana PeixotoNessuna valutazione finora
- Férias Previstas (9) .Pdfnovembro2018Documento2 pagineFérias Previstas (9) .Pdfnovembro2018Tiago PristerNessuna valutazione finora
- Regimento Interno de Ensino - REPMGO 2018Documento37 pagineRegimento Interno de Ensino - REPMGO 2018Capitão PM Roger MisaelNessuna valutazione finora
- Perguntao IRPFDocumento257 paginePerguntao IRPFAnděl Krall ČerníkNessuna valutazione finora
- Lei Organica Municipal - 001 - 2021Documento37 pagineLei Organica Municipal - 001 - 2021marcos limaNessuna valutazione finora
- Penal Geral - Parte 2 - 1º SemestreDocumento14 paginePenal Geral - Parte 2 - 1º SemestreSaloman Da SilvaNessuna valutazione finora
- ESTUDO DIRIGIDO GRECIA Parte 2Documento3 pagineESTUDO DIRIGIDO GRECIA Parte 2Felipe OliveiraNessuna valutazione finora
- RelatorioDocumento13 pagineRelatorioRita PardiniNessuna valutazione finora
- ARTIGO JULGAR O Direito Da UE e o Princípio Da Efectividade Hugo Luz Dos SantosDocumento39 pagineARTIGO JULGAR O Direito Da UE e o Princípio Da Efectividade Hugo Luz Dos SantoscarolinaNessuna valutazione finora
- As Declarações de HavanaDocumento14 pagineAs Declarações de HavanaRicardoOliveira100% (1)
- Modelo de Contrato - Investimento ABS23Documento5 pagineModelo de Contrato - Investimento ABS23andresilva1Nessuna valutazione finora
- Edital 02 2022 - Acs AP 3.3 - Resultado Da Prova Cms Flavio Do Couto VieiraDocumento13 pagineEdital 02 2022 - Acs AP 3.3 - Resultado Da Prova Cms Flavio Do Couto Vieirapriscila SiqueiraNessuna valutazione finora
- Template Planilha de PrecificacaoDocumento9 pagineTemplate Planilha de PrecificacaoLIDIANE ORTIZNessuna valutazione finora
- Cartorio SP - Edital - de - Abertura - N - 001 - 2021Documento25 pagineCartorio SP - Edital - de - Abertura - N - 001 - 2021Geovani MenezesNessuna valutazione finora
- CNJ - Pedido de Providencias - Alvara - Comprovante ResidenciaDocumento7 pagineCNJ - Pedido de Providencias - Alvara - Comprovante ResidenciaAmafavv AmafavvNessuna valutazione finora
- Caso Concreto 11 Pratica Simulada I RDocumento5 pagineCaso Concreto 11 Pratica Simulada I RVitória MendesNessuna valutazione finora
- Danfe (L50D) Akzo Nobel Ltda. 551 Maua Distribution: Maua Av. Papa Joao XXIII, 2100 - Vila Carlina SPDocumento2 pagineDanfe (L50D) Akzo Nobel Ltda. 551 Maua Distribution: Maua Av. Papa Joao XXIII, 2100 - Vila Carlina SPGabriel passosNessuna valutazione finora