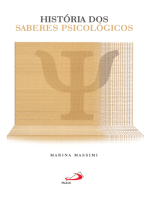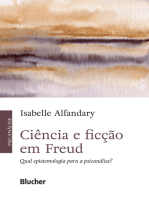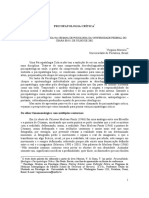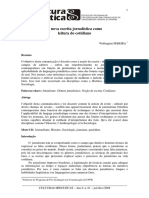Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Perrusi, Artur. Imagens Da Loucura
Caricato da
Artur PerrusiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Perrusi, Artur. Imagens Da Loucura
Caricato da
Artur PerrusiCopyright:
Formati disponibili
A R T U R
P E R R U S I
I M A G E N S
DA
L O U C U R A
(Um estudo sobre representao social da doena mental entre psiquiatras do Recife)
RECIFE, 1995.
S U M R I O RESUMO PREFCIO APRESENTAO CAPTULO I 07 05 04
REPRESENTAO, FILOSOFIA E CINCIAS SOCIAIS 1) Aspectos epistemolgicos e filosficos da representao 2) Representao e Cincias Sociais CAPTULO II PARA UM CONCEITO DE REPRESENTAO SOCIAL 1) Representao e Psicologia: o conceito de representao social 2) Ideologia e representao CAPTULO III
07 18
33
33 47
PROBLEMATIZAO E METODOLOGIA 1) Trabalho de Ssifo a) b) c) d) e) f) O "senso comum" Representao social e cotidiano Cincia, "senso comum" e paradigma Saber mdico e cincia Saber mdico e paradigma Doena e paradigma
61 61 61 65 67 71 75 77 80 80 81 86 87
2) Discusso metodolgica a) b) c) d) O campo da Sociologia O socilogo e seu objeto O socilogo e seu objeto Interpretao e objeto
I II
e) Indivduo e discurso f) Tcnicas e campo de pesquisa CAPTULO IV
90 91
ANLISE DA REPRESENTAO SOCIAL 1) Introduo 2) Fenomenologia do pensamento representativo 3) O estilo do pensamento representativo CAPTULO V
96 96 101 117
CONSTRUO DA REPRESENTAO SOCIAL: OBJETIVAO E ANCORAGEM CONSIDERAES FINAIS BIBLIOGRAFIA
132 154 158
RESUMO O presente estudo tem como objetivo analisar a representao social da doena mental entre psiquiatras do Recife. O conceito nodal que alicera este trabalho o de representao social, que est fundamentado por outros conceitos, tais como ideologia, cotidiano, paradigma, saber profissional, etc. Tais conceitos auxiliam o entendimento da representao e sustentam a anlise de um discurso especfico como o saber psiquitrico. Assim, transitando de categoria em categoria, tentamos mostrar a rede de interdependncia que permeia a representao. A representao social da doena mental entre os psiquiatras entendida como uma construo profissional da doena e expressa uma representao biomdica de doena mental. Tal representao sofre interferncias e uma instabilidade crnica proveniente da dificuldade de enquadramento biomdico da doena mental. A especificidade epistemolgica da doena mental e a clnica psiquitrica esto sustentadas pela identificao doena/sintoma, caracterizando uma Medicina de sintomas e classificatria, isto , uma clnica baseada na representao. Em suma, sustenta-se, aqui, que o discurso dos psiquiatras um discurso ambguo, no qual percebemos elementos lgico-formais originrios de uma formao terico-universitria e elementos anlogos queles encontrados no chamado "pensamento natural". O material de pesquisa foi colhido de oito (8) entrevistas do tipo focalizada com psiquiatras recifenses e o mtodo de anlise , basicamente, calcado na compreenso e na interpretao.
APRESENTAO. "... a representao no simplesmente um objeto para as Cincias Humanas, ela o campo mesmo das Cincias Humanas..." As Palavras e as Coisas (Foucault)
Nossa pesquisa tem como meta examinar a representao da doena mental no meio profissional mdico, em particular no meio psiquitrico do Recife. Faremos uma anlise interpretativa de um material emprico colhido de oito (8) entrevistas com psiquiatras recifenses. Os psiquiatras so profissionais mdicos, e parece natural que as "imagens" da doena mental se formem por dentro do seu cotidiano profissional. Em conseqncia, levanta-se a necessidade de analisar a representao da doena mental, no meio mdico-psiquitrico, em sua especificidade, isto , como uma construo profissional. O conceito nodal que alicera nosso trabalho o de representao social, mas devemos assumir que ele por si s no basta. Teremos de coloc-lo numa "ciranda" conceitual em que, sem qualquer hierarquia fixa, diversos conceitos como ideologia, cotidiano, paradigma, saber profissional, etc. auxiliam o entendimento da representao. Assim, o presente trabalho, de categoria em categoria, tenta mostrar a sua rede de interdependncia. Igualmente, faremos um rastreamento terico do conceito de representao, baseando-nos, inicialmente, em Foucault (FOUCAULT, 1967); em seguida, examinaremos o conceito de representao nas Cincias Sociais e, por ltimo, na Psicologia Social. Evidentemente, durante esse percurso, analisaremos as diversas categorias citadas acima, que ajudaro a precisar o conceito de representao social, bem como tornaro mais consistente o conhecimento do nosso objeto de pesquisa. No estudo do discurso dos psiquiatras, necessitaremos de apreender as determinaes do seu componente representativo,
utilizando como instrumento analtico o modelo de "pensamento natural" elaborado por Moscovici (MOSCOVICI, 1978), enquanto que nossos procedimentos estaro calcados, fundamentalmente, num mtodo "compreensivo" e interpretativo. Usaremos o conceito de representao, alicerado, principalmente, nos estudos de Moscovici (MOSCOVICI, 1978; 1989A; 1991) e Jodelet (JODELET, 1986; 1989-A; 1991); para a questo do saber mdico, inspirar-nos-emos nas anlises de Foucault (FOUCAULT, 1967; 1972; 1984), de Canguilhem (CANGUILHEM, 1982), de Roberto Machado (MACHADO, 1982) e de Eliot Freidson (FREIDSON, 1984). Para o conceito de paradigma, usaremos o estudo de Kuhn (KUHN, 1975); quanto ao conceito de ideologia, inspirar-nos-emos em Gramsci (GRAMSCI, 1966), em E. Veron (VERON, s/d; 1981) e em Habermas (HABERMAS, 1987-Tomos I e II). E, por fim, em relao ao conceito de cotidiano, utilizaremos os estudos de Jos Paulo Netto & Maria do Carmo Falco (NETTO & FALCO, 1987) e de Agnes Heller (HELLER, 1985). Gostaria, no final desta Apresentao, de agradecer a todos os que contriburam para o presente trabalho, inclusive ao corpo de professores do Mestrado em Sociologia da UFPE-PIMES, e ao CNPq, que me adjudicou uma bolsa de estudos durante dois anos e meio, bem como aos mdicos psiquiatras entrevistados que, amavelmente, colocaram-se minha disposio. A Enaide que, com amor, pacincia e cuidados, mostrou-me que uma dissertao furor brevis est. A Taciana, Snia, Luza e Joo , amigos fraternos, com quem partilhei dvidas e dos quais recebi apoios decisivos. A Fernando Navarro, colega e amigo desde o Colgio de Aplicao da UFPE, com quem pude discutir o encaminhamento deste trabalho e com o qual passei grandes momentos de fraterna alegria intelectual. A Marta, amiga e revisora do texto, que me incentivou at o fim desta Dissertao. A Maud, me e amiga cuidadosa, que encaminhou a presente publicao. A Gadiel, fugitivo da mosca Ts-Ts, que revisou os originais do manuscrito, mesmo sem sair do seu exlio voluntrio, em Candeias. A Professora Dra. Silke Weber, do Curso de Mestrado em Sociologia da UFPE-PIMES, que me transmitiu um pouco da sua alta capacidade intelectual e que soube me conduzir pelos caminhos difceis da pesquisa, sem fazer concesses, mas com uma dedicao que, seguramente, ultrapassou os padres mais srios da competncia profissional.
Captulo I - REPRESENTAO, FILOSOFIA E CINCIAS SOCIAIS. 1 - ASPECTOS EPISTEMOLGICOS E FILOSFICOS DA REPRESENTAO. Discutir sobre representao to antigo quanto o ato de filosofar. A representao, como via de acesso ao real ou ao verdadeiro, teve no somente grandes defensores, como tambm inimigos ferrenhos. Foi na antiga Grcia que se esboaram os fundamentos de tal discusso, sinalizada pela referncia ao papel da percepo. Protgoras, por exemplo, afirmava que " a percepo consiste num duplo movimento, das coisas at o esprito, mas tambm do esprito at as coisas e, por isso, os contedos percebidos tm sempre um ingrediente subjetivo que nos impede de alcanar qualquer certeza sobre a realidade". (ROUANET,1987:36). Por si s, tal citao ainda no est no campo da representao. Contudo, tal posio ctica funda uma das grandes polmicas da filosofia grega, dos pr-socrticos at Demcrito, Plato e Aristteles. O relativismo sofstico, na verdade, levou s ltimas conseqncias a desconfiana quanto veracidade das percepes, declinando praticamente da noo de verdade e afirmando, inclusive, que duas opinies opostas e antagnicas poderiam ser igualmente legtimas e verdicas. Os pr-socrticos desautorizaram o acesso ao ente ou ao ser via representao ou percepo, mas o mundo tal como seria desvendado pela diania, isto , o pensamento (ROUANET, 1987:36). Por sua vez, os clssicos admitiam a relatividade da percepo, embora no a considerassem completamente ilusria ou fugaz, pois a percepo geraria um conhecimento - vlido dentro dos seus parmetros - relacionado doxa, isto , opinio. A percepo, nesse sentido, teria como caracterstica a variabilidade, mas no impediria o saber. Para Aristteles, "a variabilidade da percepo deixa de ser um argumento contra a objetividade do conhecimento: ela funo de um objeto ainda no compreendido em sua essncia" (ROUANET, 1987:37). Mas tal essncia pode ser descortinada via representao, uma vez que esta prolonga a percepo, de uma forma encadeada, at atingir o conceito; assim, para Aristteles, a representao seria uma forma de conhecimento intermediria entre a percepo e o conceito (AMERIO, 1991:100). De qualquer clssica, foi a forma, a filosofia primeira a esboar grega, principalmente a um caminho que, embora
sinuoso, redundou na cincia moderna: um caminho que passa pela primazia do pensamento, pois, se antes respeitava-se a fora da natureza, agora o incontrolvel o poder do pensamento. E se, antes, o "objeto" era o duplo do pensado, como o na mentalidade primitiva, a partir de ento o segundo passa a ser o duplo do primeiro. A filosofia grega, assim, esboa uma filosofia da conscincia, ou melhor, prepara, com Plato, o convocador de cpias, uma filosofia da representao. Todavia, para um filsofo como Heidegger, a representao surgiu apenas no sc. XVIII, e no na Grcia, porque "l'homme grec est en tant qu'il est l'entendeur de l'tant; voil pourquoi le monde, pour les Grecs (en dehors de Platon qui l'amorce), ne saurait devenir image conue" (HEIDEGGER, apud OSTROWETSKY, s/d:325). No entanto, tal afirmao pode, at certo ponto, ser vlida para o mundo grego pr-socrtico, no qual Heidegger foi recuperar a discusso sobre o Ser. Mas questionamos a sua validade para o mundo grego clssico, onde, segundo o filsofo, ter-se-ia iniciado, com Scrates e Plato, o "esquecimento do Ser". Em outras palavras, a diluio do ser no ente (existncia) ou, em nossa pesquisa, a autonomia da representao e sua viabilidade como via de acesso ao ser ou ao ente. Na busca do "ser do Ser", Heidegger arremessa-se contra qualquer acesso, via representao, ao "real", de tal modo que ele ir valorizar menos Plato do que Herclito ou Parmnides, que "pertenceram a uma dimenso ou experincia de pensar primordial, por conseguinte `mais autntica', na qual a essncia do ser estava presente de modo imediato linguagem, ao logos" (STEINER, 1990:33). Mesmo que Heidegger tenha razo, fica-nos a sensao estranha e pouco razovel de visualizar um mundo grego, principalmente o clssico, sem representao. Poder-se-ia inferir que, na filosofia grega, a representao teria sido apenas sinalizada, embora na vida grega antiga, provavelmente ela tenha tido algum papel. Afinal, o que foi o teatro na Grcia, to importante para a paidia, isto , a formao do homem grego? O que foi Helena, a nica, que "encerra em si a cpia, o simulacro"(CALASSO, 1990:33) e, portanto, a substituio?
Desconfiamos que uma filosofia da origem, como prope Heidegger, desemboca sempre no mito. A Grcia sem representao, que ele procura, provavelmente a aquela em que predominam as imagens mticas de mundo, pois o mito, no mximo, uma m representao ou, pelo menos, no aspira a tal coisa. As imagens de mundo mticas produzem uma confuso entre a cultura e a natureza, entre coisas e pessoas, e uma diferenciao opaca entre a linguagem e o mundo, bem como impede uma distino entre os "trs mundos", isto , o mundo objetivo de estados de coisas existentes, o mundo social normativo e o mundo subjetivo das manifestaes expressivas (Cf. HABERMAS, 1987-Tomo I). Assim, numa sociedade em que as palavras e as coisas no precisam de mediao, no haveria a necessidade da representao, uma vez que a imagem do mundo seria o prprio mundo, ou seja, no existiria uma imagem enquanto tal, mas, sim, uma reificao dela. Em suma, numa sociedade em que no ocorre o descentramento da compreenso do mundo, que levaria a uma diferenciao entre sujeito e objeto, a representao aparece subsumida, visto que a sua existncia est condicionada gentica da constituio da relao sujeito-objeto. Preferimos defender, aqui, a tese de que a representao inseparvel do problema das estruturas de conscincia, como tambm est inscrita na problemtica do acesso ao ser ou ao real, isto , negar ou defender a representao discutir as vicissitudes (da razo) do sujeito. No entanto, Heidegger no o nico filsofo a afirmar que a representao surgiu no mundo moderno. Foucault, por exemplo, escreve que a era clssica comea com o Quixote, cujas aventuras "traam o limite onde acabam os jogos antigos da semelhana e dos signos" (FOUCAULT, 1967:70), inaugurando um mundo no qual "os signos (legveis) j no so semelhantes aos seres (visveis)" (FOUCAULT, 1967:71). E, realmente, no mundo clssico que o acesso ao mundo necessitar da imagem desse mundo, isto , da representao como intermediria entre as palavras e as coisas. A representao, ento, aparece como manifestao do mundo no pensamento ou como a to procurada articulao entre o ideal e o material, perfazendo a ligao entre o indivduo e o mundo. "Nesse sentido, ela dupla, mas tambm reduplicada, substituio (pela imagem, pela idia) do mundo" (OSTROWETSKY, s/d:328).
Para Foucault, a categoria esclarecedora do saber clssico a representao: "relao do significante com o significado a ligao estabelecida entre a idia de uma coisa e a idia de uma outra" (MACHADO, 1982:143). Um saber baseado na anlise dos seres vivos, das palavras e das riquezas, expressado respectivamente pela histria natural, pela gramtica geral e pela anlise da riqueza, e alicerado num solo epistemolgico que ilumina toda possibilidade de saber, inclusive a Medicina. Em outros termos, um terreno gnoseolgico que constitui "uma cincia universal da ordem, tendo como instrumento o sistema de signos e efetuando uma anlise em termos de identidade e diferenas, em que o quadro dos signos a prpria imagem das coisas" (MACHADO, 1982:143). O paradigma clssico um sistema de signos ordenados, em que predomina a compulso classificatria e pululam as ordens taxonmicas. O conhecimento , ento, ordenao do visvel pelo sentido dos sentidos, a viso. No ocorre a penetrao na profundidade e sim o privilgio da superfcie essencial de um ser: linhas, volumes e superfcies ou, em outras palavras, o que essencial naquele a sua estrutura. No sem sentido, pois, afirmar que o conhecimento clssico no deixa de ser um protoestruturalismo (HABERMAS, 1985:322). O discurso clssico, desse modo, aparece como uma anlise espontnea da representao e, como tal, entender-se-ia por si mesmo, sobrevoando as prticas que o aliceram. Assim, "para Descartes, Hobbes e Leibniz, a natureza se transforma na totalidade daquilo que pode ser `representado' em um duplo sentido, isto , representado e tambm exposto, como representao, mediante signos convencionais" (HABERMAS, 1985:308). A linguagem passa a ser uma fina membrana que envolve o real e permite a representao se conectar com o representado. Ela efetua uma coordenao entre as coisas e as representaes de forma transparente, formando uma rede em que estas se ordenam (HABERMAS, 1985:310). A linguagem se torna um "tableau" em que as ordenaes so niveladas num mesmo plano, e qualquer representao pode e deve ser ordenada, no existindo hierarquia alguma de valor entre elas. O saber depende praticamente da funo representativa da linguagem, demonstrando uma limitao, atravs da qual no seria possvel apreender a anterioridade do processo de representao, ou, em ltima anlise, problematizar o portador das representaes enquanto sujeito. Na forma, portanto, de ordenar, o homem se nivela a uma planta, dela no se distinguindo enquanto ordem. No que ele no seja percebido; afinal, "a
gramtica geral, a histria natural, a anlise das riquezas eram, em certo sentido, maneiras de reconhecer o homem" (FOUCAULT, 1967:402). O que o saber clssico no tem, na verdade, uma "conscincia epistemolgica do homem como tal" (FOUCAULT, 1967:402). A partir de uma anlise, extremamente original, de um quadro de Velasquez, As Meninas, em que a representao aparece em cada um dos seus momentos, exceto como sujeito capaz de autorepresentao, Foucault conclui: "no pensamento clssico, para o qual a representao existe, e que se representa ele mesmo nela, nela se reconhecendo como imagem ou reflexo, aquele que tece todos os fios entrecruzados da `representao em quadro' - esse jamais se encontra l presente. Antes do fim do sculo XVIII, o homem no existia" (FOUCAULT, 1967:402). O sujeito portador da representao, pois, no aparece, porque no se converte a si mesmo como objeto de representao. Mesmo com as primeiras luzes da Modernidade aparecendo no horizonte, a representao continua, no obstante, no terreno da conscincia e ainda apropriada, fundamentalmente, por uma filosofia "idealista", ainda que esta ltima questione uma produo simblica reduzida a um fato de conscincia. Assim, ela no est na esfera mitigada da compreenso e nem um acontecimento contemplativo, bem como no pode ser considerada o suporte de uma funo simblica. A representao, entre as palavras e as coisas, torna-se uma "realidade" que produz e produzida por uma ao, realizada por um agente. A representao, desse modo, faz entrar na histria o sujeito, que se percebe por ela e atravs dela. Trata-se de "um princpio ativo de produo no somente do saber sobre o social, mas do social ele mesmo" (MACHADO,1982:326). Surge, assim, a necessidade de o sujeito portador das representaes se perceber como objeto de si mesmo para apreender o processo de representao. Num tempo de crescente racionalizao das imagens de mundo, em que o mundo externo (mundo objetivo e mundo social) pode ser visto de fora do mundo interno (subjetividade e expressividade) e em que a prpria subjetividade vai-se tornando autnoma, criase a necessidade da auto-reflexo e de problematizar o homem como objeto de conhecimento. Paralelamente, na Modernidade, surge uma nova srie de saber, articulando-se com o antigo mas sobrepondo-o, baseado na
vida, na linguagem e no trabalho (biologia, filologia e economia), que prioriza a anlise do emprico, isto , descarta a representao e releva o objeto emprico; o nascimento, segundo Foucault, do que ele chama de "cincias empricas", e o acesso ao real, ento, no seria mais pela via da representao. Mas, em ltima instncia, o que esse objeto emprico? Ora, problematizar a vida, a linguagem e o trabalho transformar o homem no objeto do saber. Ou seja, "estudar esses objetos estudar o homem. Eles o requerem, na medida em que o homem meio de produo, se situa entre os animais e possui a linguagem. Eles o determinam, na medida em que a nica maneira de conhec-lo empiricamente atravs desses contedos do saber" (MACHADO, 1982:133), tornando-se o homem, ento, no objeto central da filosofia moderna. Esta, por sua vez, tanto como as cincias empricas, questiona o enclausuramento do saber no espao da representao, embora a viso foucaultiana, de que a Filosofia de Kant tenha abadonado o espao da representao, seja polmica. Assim, por exemplo, Loparic afirma que, em Kant, existe "o reconhecimento do dualismo, por um lado, entre o pensar e o ser (entre a representao e a existncia) e, por outro, entre o dever e o ser (...) a filosofia terica kantiana uma filosofia da representao, que consagra a diferena entre a razo e o seu objeto" (LOPARIC, 1990:89-90). De qualquer modo, parece que a crtica filosfica moderna tenha sido inaugurada por Kant, contra a filosofia clssica (baseada numa metafsica da representao e do ser) de Descartes aos Idelogos. Tal crtica analisa, portanto, " possibilidade a de conhecer a priori os objetos atravs de uma submisso necessria do objeto ao sujeito. Kant explica a possibilidade do conhecimento a partir de uma investigao sobre as faculdades de conhecimento. No procura mais uma correspondncia, um acordo, uma harmonia entre o sujeito e o objeto, na medida em que o prprio sujeito que legisla e que constitui o objeto" (MACHADO, 1982:137). Kant funda, assim, uma Razo centrada no sujeito, que transforma o seu mundo e o Outro em objetos, com o propsito de represent-los como so ou para intervir neles, buscando, dessa forma, torn-los como deveriam ser. Uma filosofia do sujeito, pois, que tem como modelo uma prxis, baseada na relao sujeito-objeto, na adequao entre o fins e os meios, e um espelho na racionalidade instrumental.
O homem, desse modo, torna-se um sujeito que, agora, fala e trabalha, e se transforma em objeto das cincias empricas; um objeto, como todo objeto alis, singular e circunscrito e, portanto, com limites. Assim, para a Filosofia, a reificao do homem em objeto assume uma ironia amarga, desde que se cria uma aporia em que "o sujeito cognoscitivo se levanta por cima das runas da metafsica para, com a conscincia da finitude de suas foras, resolver uma tarefa que requereria uma fora infinita" (HABERMAS,1985:312). E, justo, no momento em que o homem, este ser autoconsciente, concebe a tarefa divina de construir um mundo e ordenar as coisas, surge a percepo de si mesmo como ser finito e limitado! Kant, porm, no contorna tal aporia. Simplesmente a utiliza para fundar a sua teoria do conhecimento em que se separam o emprico e o transcendental, afirmando o sujeito como condio de possibilidade do saber emprico. A limitao cognitiva do sujeito, ento, a base transcendental de um conhecimento de progresso infinito. Mas, se as conquistas da filosofia e das cincias empricas foram produtos de um abandono do espao da representao, como as cincias humanas o recuperaram? A resposta de Foucault polmica e, de um certo modo, insuficiente para caracterizar exaustivamente o que so "cincias humanas", desde que existem muitas classificaes das cincias que no esto relacionadas representao, a exemplo do que expe Piaget (PIAGET, 1967). Porm, pelo menos como vem apresentada em As Palavras e as Coisas, a classificao de Foucault bastante original e relaciona-se com o nosso tema, desde que sua argumentao passa pela representao e nos ser til, posteriormente. Esquematicamente, as idias de Foucault podem ser, assim, comentadas: 1) Para ele, o surgimento das cincias humanas no foi produto de uma herana de problemas cientficos, em que elas aparecem para preencher uma lacuna, ou mesmo de uma evoluo epistemolgica que redundou no seu aparecimento. Segundo ele, "... as cincias humanas no apareceram quando, sob o efeito de algum racionalismo premente, de algum problema cientfico no
resolvido, de algum interesse prtico, se decidiu fazer passar o homem (bem ou mal, e com mais ou menos xito) para o campo dos objetos cientficos (...). As cincias humanas apareceram no dia em que o homem se constituiu na cultura ocidental ao mesmo tempo como o que necessrio pensar e o que h a saber" (FOUCAULT, 1967:448). A relao gentica das cincias humanas com as cincias empricas ocorre "apenas" no sentido em que estas so o "a priori histrico" daquelas. O surgimento das cincias humanas foi um acontecimento da ordem do saber (FOUCAULT, 1967:448), relacionado a uma transformao geral na episteme, ou do solo epistemolgico, em que o espao da representao foi abandonado pelas cincias empricas e, assim, ocupado pelas cincias humanas, desde que estas no estudam "o homem no que ele por natureza, objeto das cincias empricas, nem o homem enquanto condio de possibilidade deste saber sobre o homem" (MACHADO, 1982:142) mas, sim, analisam as objetivaes criadas por um homem que vive, trabalha e fala. Mesmo, assim, as cincias humanas ocupam um lugar um tanto paradoxal na episteme moderna. Enquanto, segundo Foucault, as cincias matemticas, a Fsica - numa primeira dimenso -, as cincias empricas - numa segunda - e a Filosofia - numa terceira - formam um triedro epistemolgico, as cincias humanas no esto neste includas, porque "... no se pode encontr-las em nenhuma das dimenses nem superfcie de nenhum dos planos assim desenhados, mas pode dizer-se igualmente que elas so includas por ele, pois no exerccio destes saberes, mais exatamente no volume definido pelas suas trs dimenses, que elas encontram o seu lugar" (FOUCAULT, 1967:451). Em suma, situar as cincias humanas extremamente difcil e vago. Elas percorrem todo o triedro, numa procura bastarda por uma identidade, tentando formalizar-se ou se matematizar, imitando modelos biolgicos, econmicos ou lingsticos, negando o seu perigoso lugar de intermedirio no espao do saber. As cincias humanas, contudo, teriam uma contradio maior do que a Filosofia, porque "no podem fomentar diretamente aquela dinmica autodestruidora do sujeito que se pe a si mesmo, seno so inconscientemente instrumentalizadas por ela (...), porque no podem penetrar a coao que as empurra ao aportico redobramento do sujeito que se refere a si mesmo e so incapazes de reconhecer a vontade de autoconhecimento e autocoisificao, que estruturalmente geram"(HABERMAS, 1985:317).
Posio difcil numa sociedade em que as relaes humanas so relaes entre funes sociais; como apreender, pois, um sujeito sem torn-lo objeto, e como analisar um objeto que um sujeito? possvel, num movimento interno, por si mesmo, impedir a reificao patrocinada pelas cincias humanas? (Cf. HELLER, 1991:204-216). 2) As cincias humanas comeam onde terminam as cincias empricas, isto , elas no esto por dentro destas e no as interiorizam. Na verdade, elas no so um prolongamento, por exemplo, do funcionamento biolgico do homem e, sim, esto interessadas no momento em que cessa esse funcionamento, "l onde se libertam representaes verdadeiras ou falsas, claras ou obscuras, perfeitamente conscientes ou embrenhadas (...) oferecidas no que o homem enuncia, ou localizveis apenas do exterior" (FOUCAULT, 1967:457). Assim, em relao Economia, somente existir cincia do homem quando "nos dirigirmos maneira como os indivduos ou os grupos se vem uns aos outros, na produo e na troca, o modo como iluminam ou ignoram ou disfaram esse funcionamento e a posio que nele ocupam, a maneira como se representam a sociedade em que se realiza essa atividade" (FOUCAULT, 1967:458). Ou seja, apenas a partir do momento em que surgem representaes das necessidades humanas e da sociedade e, assim, do prprio espao econmico, que, sem dvida, podemos falar de cincia humana. Alm disso, somente podemos falar de cincia humana, quanto linguagem, quando analisamos "a maneira como os indivduos ou os grupos concebem as palavras, utilizam a sua forma e o seu sentido, compem discursos reais, neles mostram e ocultam o que pensam " (FOUCAULT, 1967:459), isto , o objeto referido no a linguagem, mas, sim, "esse ser que, no interior da linguagem pela qual est cercado, possui a falar o sentido das palavras o ou das proposies que enuncia e obtm finalmente a representao da prpria linguagem" (FOUCAULT, 1967:459). Enfim, as cincias humanas tratam a representao porque ela tornou-se um fenmeno e, portanto, mantm com o sujeito uma relao de exterioridade. Para atingir, de agora em diante, as objetivaes humanas, j que os objetos de troca, os seres vivos e as palavras abandonaram o espao representativo, precisamos passar pelas representaes. De certa forma, a representao no est mais, necessariamente, localizada na esfera da conscincia e, por isso, ela pode ser apreendida como um produto social e como uma forma de produo social, transformando, no seu retorno
conscincia, esta em um fato sociolgico. E, mesmo quando ela est na conscincia, ainda aparece como fenmeno, sendo estudada tanto por uma Psicologia cognitiva como pela Psicanlise. Porm, se o objeto das cincias humanas a representao, como seria um estudo concreto de uma instituio, por exemplo? Ora, quando um socilogo analisa uma instituio, mesmo que ele a defina como um fato social objetivo, ele s poder atingi-la, como objeto de conhecimento, atravs das representaes da instituio, isto , das representaes que fazem dela os sujeitos que a compem. dessas representaes que ele derivar a estrutura e a organizao da instituio como tal. Mas tais representaes, por outro lado, s existem quando produzidas por interaes e aes sociais dos sujeitos. E tais aes e interaes, por sua vez, s podem ser apreendidas pelas suas prprias representaes. Estamos, portanto, num crculo que se desdobra de forma constante. A sensao produzida a de que, a cada aproximao do objeto, sempre existe um "em si" inabordvel. A mediao entre o objeto de conhecimento e o objeto real feita pela representao, que impossibilita realizar uma identidade entre ambos, ratificando, desse modo, uma separao intransponvel. Na medida em que toda representao representao de alguma coisa, guardando, ento, uma intencionalidade, sublinhamse os modos atravs dos quais a representao se relaciona com o objeto, ou como este se d representao. Mas, como a representao de uma mesa no o objeto "mesa" e, tampouco, o representado (a mesa), o objeto transcendente conscincia. A representao seria um ato da conscincia para se relacionar com o mundo, e o representado, o conjunto dos modos de ser (da mesa) dados nossa experincia, enquanto que o objeto seria um foco para onde se dirigiriam e se reagrupariam as representaes de um sujeito. Por outro lado, pode-se colocar a representao como a parte "ideal" do real, introduzindo-a para uma definio mais abrangente do objeto social e percebendo-a como uma forma primeira de atingi-lo. A representao faria parte simultaneamente do objeto e do seu prprio conceito, embora no constitusse a nica e exclusiva via de acesso ao real. No concordamos, na verdade, com a idia de que o objeto das cincias humanas seja a representao - pelo menos, quanto Sociologia; somente quando a Sociologia alicerada, implcita ou explicitamente, por uma filosofia da representao, que
poderamos afirmar que a representao o seu verdadeiro objeto como, por exemplo, nas sociologias de Durkheim e de Parsons. Contudo, quando isso no acontece, a exemplo de uma sociologia alicerada no marxismo, o objeto no mais a representao e, neste ltimo caso, tal Sociologia, quando analisa as classes sociais, por exemplo, percebe-as como objetos empricos e no como representaes, procurando, ento, entendlas a partir de sua prxis objetiva; somente depois, do ponto de vista analtico, que se apreendem as "representaes" de classe. Ora, se o marxismo uma filosofia que tenta criticar a representao, como via de acesso ao ser ou ao real, afirmando em troca um acesso pela prxis, uma Sociologia fundada sobre tal paradigma no ficar por menos. Assim, se a mediao entre o objeto de conhecimento e o objeto real feito pela prxis, possvel, conseqentemente, pensar na identidade de ambos. Do mesmo modo, a teoria de sistemas de Luhmann prescinde da representao ou, pelo menos, tenta faz-lo, quando postula sobrepujar as bases de uma filosofia da conscincia (HABERMAS, 1985:434). Por seu turno, a filosofia analtica da linguagem tambm procura escapar da representao e da filosofia da conscincia ao procurar partir, nas suas anlises, das expresses lingsticas, utilizando procedimentos provenientes da Lgica e da Lingstica; a Psicologia comportamental, por sua vez, evade-se da representao ao utilizar os mtodos de observao para enquadrar o comportamento num esquema, seja estreito ou mais amplo, de estmulo e resposta. Afirmar a representao como objeto nico das cincias humanas talvez derive de uma profunda tradio francesa, alicerada em Durkheim. A crtica de Foucault s cincias humanas no seria, sobretudo, uma crtica s cincias sociais de colorido gauls? Ao colocar o conceito de representao social como fundante da Psicologia Social e seu objeto nico, Moscovici no estaria atualizando tal tradio? Concordamos, no obstante, com a valorizao do conceito de representao nas cincias humanas. Ele no est, porm, no topo de uma hierarquia conceitual e coexiste "democraticamente" com vrios outros conceitos, bem como no constituinte de uma epistemologia especfica. um conceito unificador, pois a sua transversalidade e, principalmente, a sua localizao entre o psicolgico e o social, tornam-no no s polissmico, mas fundamentalmente multidisciplinar; e permite, assim, um dilogo
aberto e fecundo, baseado nas disciplinares com o seu manuseio, Antropologia e a Psicologia.
diversas experincias entre a Sociologia, a
Enquanto isso, a representao continuou o seu eterno debate na Filosofia. O divisor de guas dessa discusso, na atualidade, foi, sem dvida, Heidegger, inimigo ferrenho, como j dissemos, do acesso ao real ou ao ser via representao. Suas postulaes influenciaram nossa contemporaneidade filosfica (o debate continua sendo travado de uma maneira intensa e profunda), desde Sartre at Derrida, tanto no mbito de uma proposta de "enterro" da representao, como quer Deleuze, como numa defesa desesperada dela, como fez H. Lefebvre, que chega a sublinhar: "Como, sem represent-la, compreender e viver uma situao? E como mud-la? Como perceber o possvel? A fora de certas representaes no viria do fato de elas trazerem em si uma `fico real', anunciarem um devir, que elas parecem, ao mesmo tempo, realizar?... Se abolimos as representaes, as nicas certezas que persistem so a morte e o nada" (LEFEBVRE, apud OSTROWESTSKY, s/d:340). O inquietante em tal debate que, comumente, as posies (incluindo Foucault e Derrida) contra a representao se vinculam a uma crtica total da razo, distante e diferente de uma auto-crtica da razo, e tambm de "uma crtica da forma de racionalidade cientfica dominante na idade moderna - na modernidade - europia"(APEL, 1989:67). Na verdade, criticar a representao como crtica total d a razo significa a crtica do logocentrismo, no sentido de Derrida e do ps-modernismo, e do sujeito, bem como a crtica do logos da metafsica que preconcebeu a relao sujeito-objeto da cincia moderna; isto , "a objetificao e a disponibilidade do mundo e do ser humano para a conscincia (transcendental), que passa por sua ltima transformao no presente - por exemplo, na microfsica `invisvel' -: a passagem do `representar' dos `objetos' ao simples `clculo' e `constituio' (Bestellen) do `fundo' (Bestnde)"(APEL, 1989:72). Nesse sentido, a razo seria, como afirmou Foucault, via Nietzsche, uma vontade de verdade identificada a uma vontade de poder e, conseqentemente, o argumentar no passaria de uma "prtica retrica de auto-afirmao por meio do exerccio da violncia(...); assim como, a (...)formao de consenso atravs do discurso argumentativo no seria, com isso, nada mais que a sujeio da espontaneidade e autonomia individuais exigncia
de poder de um sistema social alienao de si" (APEL, 1989:68).
e,
nessa
medida,
algo
como
A auto-crtica da razo, por outro lado, iniciada por Kant, pode fundar uma filosofia da conscincia - afirmando a representao - ou tentar desmistific-la, como fez Marx e Freud, mesmo que os seus trabalhos no tenham surtido grandes efeitos. De fato, "ao invs de desmistificar a filosofia da conscincia, eles (Marx, Freud e Darwin) a radicalizaram ainda mais, ao inserirem as relaes entre sujeito e objeto no processo de auto-conservao da espcie, o que se desdobra em dois modos bsicos: o conhecer e o agir. No fundo, portanto, o que comanda o desenvolvimento do mundo e da sociedade o conhecimento de objetos e o poder que resulta deste conhecimento" (SIEBENEICHIER, 1989:61-62). Ou, ainda, retomar a representao por fora de uma razo centrada no sujeito, fugindo assim da filosofia da conscincia e do paradigma sujeito-objeto, e coloc-la no espao da "intersubjetividade" e no de uma teoria da ao comunicativa. Ou, talvez, quem sabe, o problema da filosofia seja confundir os processos sociais com as formas do saber, no escapando do universo representativo...mesmo que ela o negue (Cf. OSTROWESKY, s/d).
2 - REPRESENTAO E CINCIAS SOCIAIS. A representao, no incio, fazia parte de uma reflexo cognitiva imanente, relacionada subjetividade interna da conscincia. Aos poucos, ela vai se deslocando e desgua naquele espao que Cassirer denominou de "a distncia entre o signo e seu objeto". Depois, principalmente com Durkheim, a representao vira um "fato social", ancorada numa reflexo objetiva, que tenta encontrar a sua razo de ser na histria, na vida material e na sociedade, para, finalmente, retornar conscincia, menos para centrar-se num sujeito do que para reclamar um espao na intersubjetividade. A noo de representao, deste modo, adquiriu, durante o seu longo percurso histrico, uma polissemia confusa e intrincada, consumando diversas apreenses que a levaram a ser identificada com todo o processo cerebral, com o prprio pensamento, com a idia de ideologia, com o teatro, etc. Ela invade o territrio intelectual, deixa a sua marca e desaparece de repente, para reaparecer em outro lugar, tornando-se
importante aqui, e combatida ali. Ela vive nos interstcios das cincias humanas, desembarcando seja na Sociologia, para depois ser esquecida, seja na Psicologia, mitigada no incio para depois deslanchar, e mesmo na Antropologia, com um visual mais simbolista. Noo, sem dvida, disputada: no incio, a Filosofia tinha primazia, depois foi reivindicada pela Sociologia e, hoje, a Psicologia Social a toma como um dos seus conceitos fundamentais. De qualquer forma, assim que a representao tornou-se fenmeno, ficou passvel de ser transformada em objeto emprico. Abandonou a esfera do sentido, domnio filosfico, e passou, atravs do significante, para as cincias sociais. O real passou a ser visto como construdo e a representao deixou de ser, em relao ao objeto, sua parte ideal, oposta ao seu referente material, ou, ao inverso, um elemento material (imagem ou som) do ideal. Tornou-se, na verdade, um processo de encadeamento produo do sentido e, com isso, abriu-se a possibilidade de conhecimento emprico da experincia humana, em que investigariam as relaes entre o mental e o real, o domnio conscincia, o processo de criao do conhecimento, determinao do significado, as diferentes manifestaes social, etc. na um se da a do
A representao, nesse sentido, bem mais ampla, do ponto de vista da sua utilizao, do que, por exemplo, o conceito de ideologia. Ela pode ser utilizada para particularizar uma ordem cultural; percebida como constitutiva do real e da organizao social; manuseada para dar conta do comportamento poltico e religioso; entendida como um fator de transformao social e identificada com o signo, com o significado, com uma forma de conhecimento e de conhecer, com o conceito de mentalidade, com o de imagem de mundo e, evidentemente, com a prpria ideologia. Em suma, a noo de representao se relaciona com o estudo das estruturas de conscincia e, da, decorre o seu uso amplo e plural por diversas disciplinas das cincias sociais. Quando se colocou, para a cincia social, a necessidade de se investigar a forma e em que medida articula-se o signo com o psiquismo, a representao tornou-se um conceito importante, principalmente no que se refere ao estudo antropolgico das representaes culturais. Tal estudo tornou a Antropologia uma
espcie de Psicologia Social das sociedades arcaicas, manifestada na anlise da "mentalidade primitiva", como, tambm, numa parfrase, a Psicologia Social, para Moscovici, no deixaria de ser uma Antropologia da cultura moderna (Cf. MOSCOVICI, 1989-A:83). Alm disso, o conceito de "mentalidade" ou, em ltima anlise, o estudo de "representaes culturais" no aparece apenas na Antropologia mas, tambm, num territrio conhecido como "histria das mentalidades", de cunho nitidamente etnogrfico. Uma Histria que tentaria "mostrar no apenas o que as pessoas pensavam, mas como pensavam - como interpretavam o mundo, conferiam-lhe significado e lhe infundiam emoo" (DARNTON, 1986:XII), isto , uma espcie de histria cultural, tratando "nossa prpria civilizao da mesma maneira como os antroplogos estudam as culturas exticas" (DARNTON, 1986:XII). Contudo, os estudos das representaes culturais produzidos pela "histria das mentalidades" foram circunscritos a uma determinada tradio historiogrfica francesa, conhecida como cole des Annales, e apresentaram, apesar das repercusses importantes das suas anlises, um leque limitado de desafios. Na verdade, a prosperidade dos estudos de mentalidades teve uma maior projeo na Antropologia, principalmente com LvyBruhl, estudioso das imagens mticas de mundo nas socieddes arcaicas, e que, por isso mesmo, no deixa de ser um precursor do conceito de representao social como, igualmente, um ponto de referncia importante para Moscovici. Podemos entender, de uma maneira geral, uma mentalidade como "uma condensao interiorizada da vida social" (CUVILLIER, 1975:82), revelando a inscrio psquica das crenas e das idias sociais no indivduo. Levy-Bruhl afirma que tais crenas e idias devem ser analisadas como um conjunto que possui uma coerncia prpria e que impossvel estud-las a partir do pensamento individual, sendo, portanto, no quadro das representaes coletivas, que o indivduo expressar seus pensamentos e seus sentimentos (MOSCOVICI, 1989-A:67). E tais representaes diferem entre si, dependendo do grupo ou sociedade em que esto inscritas, ou seja, "cada tipo de mentalidade distinta e corresponde a um tipo de sociedade, s instituies e s prticas que lhe so prprias" (MOSCOVICI, 1989-A:67). Levy-Bruhl refuta, a partir disso, que exista um tipo nico de operao mental aplicvel a toda mentalidade humana. Ele no
encontra, no entanto, uma pluralidade de mentalidades nas sociedades humanas, mas, sim, dois tipos principais, que so a mentalidade primitiva e a civilizada, diferentes entre si na qualidade e na sua oposio mtua. As representaes coletivas modernas basear-se-iam em sculos de exerccio rigoroso de pensamento lgico e de reflexo, enquanto que a mentalidade primitiva se fundaria, sobretudo, no sobrenatural e numa cognio pr-lgica. Assim, "os primitivos no percebem nada como ns, do mesmo modo que o meio social em que eles vivem diferente do nosso e, precisamente porque o seu meio diferente, o mundo exterior que percebem tambm difere daquele que percebemos" (LVY-BRUHL, apud CUVILLIER, 1975:83). Sua mentalidade pr-lgica menos por inferioridade face ao homem civilizado ou por um pensamento evolutivamente anterior ao lgico, isto , antilgico ou algico, do que por um modo de pensar impermevel contradio e a uma viso cientfica do mundo (CUVILLIER, 1975:83). Sua noo de causalidade, por exemplo, "ignora as cadeias de causas intermedirias e s concebe uma causalidade 'mstica e imediata', que implica uma representao completamente diferente do tempo e do espao'" (CUVILLIER, 1975:84). O homem selvagem no obedece ao princpio da identidade, mas, sim, ao que Levy-Bruhl chamou de "lei da participao": "Sob uma forma e em degraus diversos, tudo implica uma 'participao' entre os seres e os objetos numa representao coletiva. por isso, na falta de um termo melhor, que chamarei de lei de participao ao princpio especfico da mentalidade 'primitiva' que rege as ligaes e as pr-ligaes dessas representaes (...). Eu diria que, nas representaes coletivas da mentalidade primitiva, os objetos, os seres, os fenmenos podem ser, de uma forma incompreensvel para ns, simultaneamente eles prprios e outra coisa diferente deles mesmos" (LVY-BRUHL, apud MOSCOVICI, 1989-A:68). Os bororos do Brasil, desse modo, por mais estranho que parea nossa lgica, consideram-se araras! Entretanto, j nos seus Carnets pstumos, Levy-Bruhl abandonou a concepo pr-lgica da mentalidade "selvagem", subsumindo tal questo ao carter mstico ou sobrenatural do pensamento arcaico (CUVILLIER, 1975:86), ao ponto de condenar qualquer pretenso de uma teoria explicativa para a "lei de participao", reduzindo o papel da teoria a uma mera descrio. Levy-Bruhl, acertadamente, atenua um critrio cognitivoinstrumental de comparao entre as representaes arcaicas e
modernas, mas pra no meio do caminho, quando subestima explicaes sociolgicas sobre a origem social da "lei participao".
as de
Na verdade, no podemos postular uma etapa pr-lgica para o pensamento selvagem, quanto ao conhecimento e ao, pois "as diferenas entre o pensamento mtico e o pensamento moderno no radicam no plano das operaes lgicas" (HABERMAS, 1987-Tomo II:72). Lvi-Strauss, por exemplo, nega uma oposio entre o pensamento arcaico e o moderno, visto no existir um antagonismo entre o primeiro e um pensamento lgico. Assim, encontramos no pensamento selvagem "uma atitude de esprito verdadeiramente cientfica"(...) em que "(...) a imagem, o smbolo um ser concreto, mas assemelha-se ao conceito pelo seu poder referencial" (LVI STRAUSS, apud CUVILIER, 1975:94). As imagens mticas do mundo, igualmente, podem ser explicadas de forma sociolgica, isto , as estruturas sociais interiorizadas no psiquismo oferecem um esquema de interpretao do mundo. Isso no quer dizer, no entanto, que o concretismo do pensamento selvagem no possa ser comparado com etapas ontogenticas do desenvolvimento cognitivo humano como faz, por exemplo, Moscovici, quando compara a mentalidade primitiva com a da criana e a do "senso comum", discusso que ser retomada mais adiante. As imagens mticas de mundo, com suas figuras mitolgicas vivendo, morrendo, nascendo e reproduzindo uma organizao que descansa sobre relaes de sangue e aliana, no podem "ter sua origem nem nos 'princpios puros' do pensamento nem tampouco em nenhum modelo existente na natureza" (GODELIER, apud HABERMAS, 1987-Tomo II:75). Sendo assim, o pensamento mtico pode utilizar, atravs de usos diversos, o esquema de interpretaes oferecido pela sua estrutura social - relaes de parentesco, sexuais, de troca de mulheres, etc. No podemos negar a Levy-Bruhl, contudo, no s a sua mudana de posio nos seus ltimos trabalhos, mas tambm, seus avanos na noo de representao coletiva. Seus estudos, sem dvida, analisam menos a sociedade do que o tecido sciopsquico e as formas mentais que a cimentam. Ele, igualmente, est menos interessado em encontrar analogias do pensamento cientfico na mentalidade primitiva do que os sentimentos, as razes e os movimentos que fazem a conscincia selvagem. Com
isso, facilitou, pioneiramente, um exame original dos mecanismos psquicos e lgicos das estruturas de conscincia. Seu conceito de representao coletiva incorpora elementos expressivos e normativos, no sendo constitudo, portanto, de elementos puramente intelectuais. As representaes coletivas dos selvagens so "estados complexos em que os elementos emocionais e motores so partes integrantes das representaes" (LVY-BRUHL, apud CUVULLIER, 1975:84). Conseqentemente, permite uma anlise imanente da mentalidade arcaica que leve em conta as derivaes cognitivas e afetivas, e, ao mesmo tempo, perceba a sua dimenso social respectiva. Estamos, aqui, a um passo da conceituao de Moscovici da representao social como geradora de comportamentos e estmulos expressivos e normativos. LevyBruhl, por isso, "abriu um caminho com uma perspectiva nova, um caminho mais concreto e mais praticvel que os socilogos de sua poca" (MOSCOVICI, 1989-A:70). No entanto, foi Durkheim o verdadeiro "inventor" do conceito de representao coletiva, na medida em que fixou o lugar e os objetos a serem por ele apreendidos, embora tal opinio seja secundarizada por alguns autores (Cf. AMERIO, 1991:100; ORTIZ, 1989). Pela sua importncia, vamos, embora esquematicamente e por pontos, discutir a concepo de representao de Durkheim. a) Por detrs de todo os conceitos de Durkheim, parece existir o desejo obsessivo de implementar a Sociologia como a cincia do social. Para isso, Durkheim, de um lado, ir implantar um mtodo positivo de anlise do social, inspirado em Comte e, de outro, via Kant, ir considerar o fenmeno social no plano da moralidade. No de causar espanto, pois, sua preocupao, durante a vida inteira, em elucidar "a validez normativa das instituies e dos valores" (HABERMAS, 1978-Tomo II:70), bem como em salientar, nos seus estudos das sociedades arcaicas, "as razes sacras da autoridade moral das normas sociais"(HABERMAS, 1987-Tomo II:70). Por outro lado, sua vinculao a Kant diz respeito ao carter obrigatrio que possui a atividade moral: " Mostraremos que as regras morais esto investidas de uma autoridade especial, em virtude da qual so obedecidas pelo fato de mandar. Encontraremos, ainda que por meio de uma anlise puramente emprica, uma noo de dever, na qual daremos uma definio que se acerca muito da de Kant. A obrigao constitui, pois, uma das
primeiras caractersticas da HABERMAS, 1987-Tomo II:71).
regra
moral"
(DURKHEIM,
apud
A nfase no carter obrigatrio e coercitivo da moral e, conseqentemente, das normas sociais e dos fenmenos sociais em geral, faz parte da estratgia de Durkheim em delimitar e especificar o espao prprio da Sociologia. A coero social uma caracterstica do fenmeno social e, enquanto tal, faz parte de um quadro referencial preciso, em que o cientista aproxima do seu olhar o que ele define como objeto da Sociologia e afasta os fenmenos excludos dessa definio (DURKHEIM, 1960:33). Somente assim poderemos neutralizar e superar o caos, gerado pela multiplicidade de fenmenos ainda indiferenciados, no e pelo pensamento. Faz-se necessria, portanto, a delimitao dos fenmenos em um campo especfico de anlise, que os aglutine num mesmo conjunto e retire, atravs do estudo comparativo, invariantes formulados numa lei geral. Um modo de proceder que, sem dvida, afasta o sujeito do objeto, permitindo ao primeiro uma distncia para observar o segundo, mas que impede uma imbricao ou identidade entre ambos. O cientista separa o sujeito e o objeto em unidades autnomas, uma representando a outra, em que o sujeito o representante que se liga ao representado, via uma reao especular. Ora, se existe uma separao entre o sujeito e o objeto, como lig-los de volta? Atravs de representaes comuns que preencham esse espao vazio? A resposta provvel que deveramos atingir o real atravs dos seus sinais exteriores, sendo o real encontrado na sociedade, onde existem representaes, transfiguradas pela ideao coletiva, que levam ao seu substrato. A sociedade, por isso, menos um ponto de chegada do que, propriamente, o meio para se alcanar a realidade. As representaes podem ser o objeto da Sociologia, mas tambm so verdadeiras mediaes para se atingir a realidade social. No fundo, so metamorfoses da realidade, revelando o sentido de um mundo invisvel, projetado feito sombra em nossas mentes. So, igualmente, fatos sociais e, por isso, podem ser tratadas como "coisas", passveis de observao exterior e de experimentao. E fatos sociais, para Durkheim, no precisam de um contedo material ou fsico para serem considerados como coisas, pois eles "constituem coisas ao mesmo ttulo que as coisas materiais,
embora de maneira diferente" (DURKHEIM, 1960:XIX). Desse modo, " coisa todo objeto do conhecimento que a inteligncia no penetra de maneira natural, tudo aquilo de que no podemos formular uma noo adequada por simples processo de anlise mental, tudo o que o esprito no pode chegar a compreender seno sob condio de sair de si mesmo, por meio da observao e da experimentao, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessveis para os menos visveis e mais profundos" (DURKHEIM, 1960:XIX). A proposta de Durkheim, nesse sentido, aproxima-se do mtodo clnico, no sentido de tornar visvel o invisvel e de descer da superfcie para alcanar o nvel mais profundo. A Sociologia no se esgota, assim, numa mera taxonomia que agrupasse os fenmenos em classes de equivalentes. O agrupamento, na verdade, apenas um ndice ou um sintoma - para continuarmos com a analogia clnica - de algo oculto e latente. Nos fenmenos, existiriam relaes objetivas de semelhana indicando sintomas de uma etiologia oculta. A definio da representao coletiva como fato social, e deste como coisa, permite a Durkheim fazer uma separao de direito com a Psicologia. O fato social exterior - assinalando uma incompatibilidade com uma psicologia introspectiva - e coercitivo o que revela uma causalidade mecnica. As representaes coletivas fazem parte de uma natureza sui generis, que o social, e seus contedos (regras jurdicas e morais, crenas, dogmas religiosos, mito, cincia, etc.) pressionam o indivduo como uma fora fsica, mas de uma natureza especfica e necessria. Elas devem ser explicadas por causas profundas que escapam conscincia. As representaes coletivas so objetivas e personificam fenmenos de "uma ordem de fatos que apresenta caracteres muito especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivduo, dotadas de um poder de coero em virtude do qual se lhe impem. Por conseguinte, no poderiam se confundir com os fenmenos orgnicos, pois consistem em representaes e em aes; nem com os fenmenos psquicos, que no existem seno na conscincia individual e por meio dela. Constituem, pois, uma espcie nova e a eles que deve ser dada e reservada a qualificao de sociais" (DURKHEIM, 1960:3). Durkheim implementa uma diferena geral em trs nveis: orgnico, psquico e social. O individual, identificado com o psquico, possui uma natureza diversa da do social, mas no porque este comum a todos os indivduos, visto a generalidade
no servir para caracterizar os fenmenos sociolgicos. Logo, "um pensamento encontrado em todas as conscincias particulares, um movimento que todos os indivduos repetem, no so por isso fatos sociais. (...) Crenas, tendncias, prticas do grupo tomadas coletivamente que constituem os fatos sociais" (DURKHEIM, 1960:6). preciso ter uma forma cristalizada para ser considerado um fato social, e no apenas um alicerce numa organizao definida. Em suma, " fato social toda maneira de agir, fixa ou no, suscetvel de exercer sobre o indivduo uma coero exterior; ou ento, ainda, que geral na extenso de uma sociedade dada, apresentando uma existncia prpria, independente das manifestaes individuais que possa ter" (DURKHEIM, 1960:12). b) Durkheim no percebeu as representaes coletivas como um absoluto, a flutuar no vcuo, e tentou definir o seu substrato. Em A diviso do trabalho social, a noo de um substrato, identificada a uma morfologia social, teve um papel importante, demonstrando que "so as variaes de estrutura do meio social que explicam as variaes do psiquismo humano" (CUVILLIER, 1975:30). Sendo assim, "a matria-prima de toda conscincia social est em estreita relao com o nmero dos elementos sociais, a maneira como estes se agrupam e se distribuem, etc; em outras palavras, com a natureza do substrato" (CUVILLIER, 1975:33). Quando comenta, por exemplo, o livro do marxista Labriola, A concepo Materialista da Histria, Durkheim chega a afirmar que o substrato da ideao coletiva so os indivduos associados. Os estados de conscincia no so produzidos isoladamente, em seres individuais, e, sim, derivam "no da natureza psicolgica do homem em geral, mas da forma pela qual os homens, uma vez associados, se afetam mutuamente, conforme sejam mais ou menos numerosos e estejam mais ou menos aproximados" (DURKHEIM, apud CUVILLIER, 1975:31). Contudo, aos poucos, Durkheim vai assumindo uma posio mais idealista. Afirma que a conscincia coletiva no um epifenmeno em relao sua base morfolgica e que, uma vez "constitudo um fundo inicial de representaes, estas se tornam realidades parcialmente autnomas e dotadas de vida prpria" (DURKHEIM, apud CUVILLIER, 1975:31). Mas a produo de uma nova representao est menos relacionada estrutura social do que, propriamente, a uma outra representao, isto , o surgimento de uma representao inferido, praticamente, do processo interno da ideao coletiva.
Durkheim, em conseqncia, defender uma hiperespiritualidade e uma identificao da Sociologia com a Psicologia Social. Dir, tambm, que a sociedade "no pode constituir-se sem criar ideal (...). Ns a diminumos quando no vemos nela mais do que um corpo organizado com a mira em certas funes vitais. Nesse corpo vive uma alma, que o conjunto dos ideais coletivos(...) Em razo disso, (...) a Sociologia se coloca de imediato no ideal (...), no chegando a este, (...) lentamente, ao termo de suas pesquisas, mas dele partindo. O ideal o seu domnio prprio" (DURKHEIM, apud CUVILLIER, 1975:32). Chegamos, assim, finalmente, tese foucaultiana de que o objeto nico da Sociologia a representao. A Sociologia analisa o social pelo social, mas, agora, as representaes coletivas sero inferidas das representaes coletivas; isto , distingue-se a sociedade de outros nveis, como o psicolgico e, depois, dentro do nvel social, especifica-se uma dimenso prpria e com leis singulares, sem uma relao determinada com a estrutura do seu nvel. Tal raciocnio somente estaria correto, entretanto, se a posio de Durkheim no fosse mais complexa e mais sutil, restando-lhe, talvez, uma ambigidade, pois no abandonar a noo de substrato social e tentar sempre estabelecer relaes determinadas entre as representaes coletivas e a estrutura social, principalmente no que se refere ao estudo das representaes religiosas nas sociedades arcaicas. Nas suas anlises, porm, a determinao social explica menos o contedo do que a forma da representao coletiva; a fixidez, a perdurao, a universalidade, a impersonalidade e a estabilidade sero os aspectos formais, condicionados socialmente, das representaes coletivas. c) A representao coletiva homognea e partilhada por todos os membros de um grupo, e suas manifestaes singulares (mito, cincia, folclore, etc.) guardam uma articulao comum, permitindo uma anlise de conjunto dos fenmenos, mas sem uma diferenciao interna especfica. Durkheim, desse modo, concebe a representao coletiva como um tecido social vivo de onde nasce uma vasta classe de formas mentais, de opinies e de saberes sem distino: "elas constituem a herana secular de uma civilizao, tudo que a coletividade acumulou de conhecimentos e de cincia no curso de sua existncia. Atravs delas, os homens se unem e se formam, as
inteligncias se penetram umas nas outras. Da sua origem, as representaes coletivas tiram uma fora e uma ascendncia que lhe permite se impor nos indivduos" (LIPIANSKY, 1991:42). Nesse sentido, as representaes coletivas so distintas das individuais, uma vez que as primeiras esto situadas numa dimenso diferente das segundas, conferindo-lhes uma natureza especfica. Elas se separam das representaes individuais, da mesma forma como o conceito, das sensaes e das imagens. Para Durkheim, as sensaes so um fenmeno de frum ntimo e se explicam pelas cicatrizes deixadas pelos objetos quando lanados contra a mente. Normalmente, esto mergulhadas num fluxo incessante de ir e vir crebro/ambiente, com uma sobrevida instantnea, bem como so variveis, instveis e incomunicveis entre si. Na verdade, o conceito tem como caraterstica a sua perdurao; ele universal, fora do devir e impessoal. A natureza do conceito distinta da natureza da sensao e da imagem; sua origem explicita sua diferena, ou seja, ele s pode ser explicado do ponto de vista da totalidade social. O conceito est alm da sensao, assim como a representao coletiva, da individual. Enquanto as representaes individuais emergem do sistema nervoso num nvel de complexidade e autonomia que o ultrapassa, as representaes coletivas, "produzidas pelas aes e reaes trocadas entre as conscincias elementares que constituem a sociedade (...), derivam (...)destas ltimas e, por conseguinte, as ultrapassam" (DURKHEIM, apud FORACCHI & MARTINS, 1977:42). Na verdade, depois de estabelecidas as diferenas, as representaes coletivas podem ser comparadas com as individuais pelo simples fato de que elas "so, igualmente, representaes" (MOSCOVICI, 1989-A:78) e, por isso, possivelmente, existam leis abstratas comuns s duas dimenses. A comparao, desse modo, basear-se-ia numa anlise que focalizasse menos o contedo do que a forma das representaes, indicando, provavelmente, a necessidade de uma Psicologia formal que estabelecesse uma teoria geral das representaes. d) O conceito uma representao coletiva que, por sua vez, possui sempre um fundo conceitual; em conseqncia, ela pode ser uma forma de conhecimento social. As representaes coletivas religiosas so consideradas, por exemplo, como "os primeiros sistemas de representaes que o homem fez do mundo, como a me da filosofia e das cincias e como a fonte da qual emanam as categorias do entendimento" (CUVILLIER, 1975:32). Durkheim chega
a perceber as representaes coletivas como "um mundo de 'noes-tipos' que assimila s idias platnicas: o indivduo, acrescenta ele, entrev desde logo 'todo um reino intelectual de que participa, mas que o ultrapassa; essa uma primeira intuio do reino da verdade" (DURKHEIM, apud CUVILLIER, 1975:34). A verdade da representao coletiva vem da sua aceitao social pelos indivduos, isto , a condio de ser coletiva passa pela condio de ser verdadeira. E se, de um lado, um conceito submete-se a critrios de veracidade, postulados por uma comunidade de cientistas, do outro, a representao coletiva , por necessidade, submetida a um controle indefinidamente repetido: os homens que aderem a ela verificam-na por experincia prpria; no seria possvel, pois, que fosse completamente inadequada ao seu objeto, isto , "as idias, as representaes, no podem tornar-se coletivas se no corresponderem a nada de real" (DURKHEIM, apud CUVILLIER, 1975:35). Durkheim se interessa pelas representaes coletivas religiosas no s porque o fenmeno religioso revela uma "cincia incipiente", mas, sobretudo, por ele ser uma atividade moral. Assim, ele vai estudar as sociedades arcaicas e, conseqentemente, as normas pr-estatais, visto elas gozarem de uma autoridade moral de per si. Tais normas tm uma fora obrigatria, em que se baseiam as sanes, ou seja, elas so sociais por natureza. So regras "que apresentam esse carter peculiar: nos incitam a no realizar os atos que nos probem simplesmente porque eles nos so proibidos. Eis o que se chama carter obrigatrio da regra moral" (DURKHEIM, apud HABERMAS, 1975:35). Deste modo, as atividades sociais possuem uma coero moral interna s suas manifestaes, no sendo a moral um produto dos indivduos mas, sim, da sociedade. Possuindo um carter impessoal e impositivo, e no sendo a moral a soma das condutas individuais, os indivduos tm que, necessariamente, reportar-se a uma moralidade superior que se chama sociedade. O sacro e o santo, alis, tambm possuem esse carter; na verdade, a moral, na sociedade arcaica, sempre sacrossanta. Ao mesmo tempo, o profano tem um valor inferior e uma dimenso separada da do sacro, semelhante dualidade coletivo x individual.
A moral tem a sua base no sacro e ambas as origens vm da sociedade, enquanto expresso de uma conscincia coletiva. Ora, como tal conscincia supra individual, sendo os sujeitos individuais subsumidos por ela, "no nos resta outro objetivo possvel para a atividade moral do que o sujeito sui-generis formado pela pluralidade de sujeitos individuais associados de maneira a formar um grupo; resta apenas o sujeito coletivo" (DURKHEIM, apud FORACCHI & MARTINS, 1977:49). As representaes coletivas, assim, "correspondem maneira na qual esse ser especial, que a sociedade, pensa as coisas de sua prpria experincia" (DURKHEIM, apud LIPIANSKY, 1991:42). A sociedade, portanto, postulada como uma pessoa coletiva que tem uma estrutura transcendente s conscincias individuais, e tal personificao foi o preo que Durkheim pagou na sua concepo de "conscincia coletiva" e de "representao coletiva". Igualmente, cria-se um crculo vicioso em que a moral se baseia no sacro, que se alicera nas representaes coletivas de um macro-sujeito, que produz um sistema de normas obrigatrias... ad nauseum (Cf. HABERMAS, 1987-Tomo II:76). Aquele mtodo objetivo e positivo, que Durkheim desenhou como fundador da Sociologia, fica, portanto, comprometido. A Sociologia se ajoelha, ento, diante de uma Filosofia da qual Durkheim tentava tanto se afastar. Uma sociedade postulada como um sujeito coletivo, que pensa sobre a sua prpria experincia, atravs de suas prprias representaes, isto , com uma capacidade de reflexo, nada mais do que o Eu transcendental ou Deus, numa linguagem mais coloquial - da filosofia da representao, fundada por Kant. A sociedade se torna o a priori histrico do ser humano, e o objetivismo, ento, trocado por uma ontologia do social. e) A representao coletiva nas sociedades arcaicas , fundamentalmente, uma representao simblica. O Totem sagrado uma cristalizao de uma representao coletiva; ele o smbolo da reproduo do grupo social. A representao simblica fixa, nas representaes individuais e nas aes, a continuidade social e constitui, tambm, o poder de inrcia e de perdurao que mantm acesa, durante o desenrolar das geraes, a ideao coletiva.
Mas tal poder de inrcia somente pode atualizar-se atravs da figurao simblica do Totem, sob o risco de se volatilizar no ter, visto o smbolo no possuir massa ou matria - a sua substncia decorre da sua figurao. Com este ltimo, a representao simblica assume as propriedades do representado e, assim, ela se torna a mediao entre os indivduos e as coisas, como tambm constitutiva da realidade . Fabrica-se, igualmente, uma duplicao de mundos: "Numa palavra, ao mundo real em que se escoa sua vida profana superpe outro que, num sentido, existe apenas em seu pensamento, mas ao qual atribui em relao ao primeiro uma espcie de dignidade mais alta. , pois, a um duplo (grifo nosso) ttulo, um mundo ideal" (DURKHEIM, 1994:603). No deixa de ser interessante encontrar, novamente, a duplicao do ato representativo, tanto do mundo como do indivduo. A representao coletiva fixa e cristaliza, atravs da figurao, a ideao coletiva. Sua inrcia a da repetio, isto , um martelar constante em eternos instantes, como msica minimalista. Do ponto de vista dos indivduos, ela se fixa na memria, lugar onde possvel o passado tornar-se presente. A representao de Durkheim, nesse sentido, menos criadora do que reprodutora. Ela se aloja na memria, na reteno dos fatos, na tradio e na perpetuao de um status quo. Uma ao, assim, sempre se reporta a uma ao anterior, visto que ela se alicera numa experincia acontecida. Ela se relaciona a uma representao apontada menos para a inovao do que para a tradio, menos para uma vida social em vias de se fazer do que para uma j feita. A ao, para ser verdadeiramente uma ao, tem que se posicionar na regio entre o j acontecido e o que vai acontecer. Em Durkheim, a representao causa da ao, estando a segunda localizada na regio entre o passado e o presente. Por isso, talvez, seja impossvel, para Durkheim,
Devemos nos lembrar da conceituao de Moscovici sobre
representao social, isto : representao = figura/significao. Para LIPIANSKY (1991:44), a interpretao de tal equao seria freudiana: figura = representao de coisa e significao = representao da palavra. Mesmo concordando com o ltimo autor, preferimos a seguinte formulao: figura = Durkheim (processo de figurao da representao coletiva) e significao = Freud (processo do inconsciente)
postular uma sociologia da ao, uma vez que a representao estaria numa relao de anterioridade com a ao. Nesse sentido, para criar uma teoria da ao, Durkheim teria de abandonar a tese de uma ontologia do social, pois toda ao uma ao de sujeitos; "mais do que isso, de sujeitos individuais. A ao coletiva apenas o 'resultado' ou o 'conjunto' das decises de sujeitos individuais. E mesmo que as normas e estratgias de ao sejam constitudas intersubjetivamente, o consenso resulta da anuncia de cada um e de todos os sujeitos individuais" (HELLER, 1991:212; HABERMAS, 1987-Tomo II). Assim, a nica ao possvel, para Durkheim, seria aquela de um sujeito transcendente - a sociedade - sobre si mesmo; e, mesmo assim, uma ao, tambm transcendente, que estaria fundada numa representao primeva, anterior no tempo e na histria. Do mesmo modo, com a separao ontolgica entre o social e o psquico, a representao coletiva ficou alm de uma apropriao cognitiva, em que se examinariam as relaes entre o sujeito e as idias e entre estas e suas condies sociais de produo. No possvel discutir sobre a cognio de um sujeito transcendental, pois no existe um crebro transcendente e uma intersubjetividade a examinar, visto ele se relacionar sempre consigo mesmo. Definitivamente, quem pensa, chora e come o homem concreto da vida. Entretanto, impossvel negar os avanos do conceito de representao coletiva em Durkheim e o parentesco direto de seu conceito com o de Moscovici. Existe, tambm, a nfase nos aspectos, por assim dizer, "dramatrgicos" da representao coletiva, isto , ela no apenas cristaliza formas de conhecer, mas tambm simboliza e dramatiza as relaes sociais. A representao coletiva incorpora elementos cognitivos e intelectuais, bem como elementos ldicos e estticos da vida social. Os elementos expressivos seriam, para Durkheim, subprodutos das determinaes cognitivas da representao, que, expressando "intelectualmente" relaes sociais, abrem espao para a dimenso imaginria e, conseqentemente, para a dimenso ldicoesttica - os elementos expressivos so inerentes s operaes mentais. Em suma, as representaes coletivas condensam no seu mago elementos cognitivos-instrumentais, normativos e expressivos, sendo, praticamente, uma espcie de "forma de vida".
CAPTULO II - PARA UM CONCEITO DE REPRESENTAO SOCIAL.
1 - REPRESENTAO E PSICOLOGIA: O CONCEITO DE REPRESENTAO SOCIAL. Se Durkheim tinha o objetivo supremo de fundar uma Sociologia cientfica, independente da Filosofia e distinta dos objetos da Psicologia, esta ltima no ficou por menos. O sc. XIX, praticamente, foi uma luta para diferenciar a Psicologia,
via construo de uma Psicologia emprica, da Metafsica. Tal luta no foi fcil, pois a Metafsica, via Kant e a filosofia da representao, colocou um veto possibilidade de se fundar uma cincia como a Psicologia. Na Crtica da Razo Pura, Kant rejeita uma Psicologia racional, porque esta repousa sobre um conceito sem intuio, e retira a possibilidade de uma Psicologia emprica, visto ser impossvel "medir um 'fato' psquico, enquanto tal, vari-lo sistematicamente, e a simples observao direta o altera"(GRECO, 1969:934). Uma epistemologia da Psicologia, portanto, que postulasse o estudo de representaes do sujeito cognoscitivo para fundar uma Psicologia do conhecimento em geral, estava vetada, irnica e justamente, por uma filosofia da representao. Mesmo assim, apesar do veto, vrios pensadores tentaram, entre o empirismo e o racionalismo, fundar, com o conceito de representao, uma Psicologia emprica e racional. Wundt, por exemplo, "salientava que uma parte importante da atividade psquica reside 'no inconsciente profundo da alma': este ltimo 'o palco dos mais importantes processos psquicos', atravs dos quais encontram-se os processos indutivos que presidem construo complexa das 'representaes gerais'. So estas ltimas que chegam conscincia: esta capaz no apenas 'de reunir uma grande quantidade' de acontecimentos psquicos, mas igualmente de exercer um controle crtico sobre as produes do esprito. A representao desempenha assim um papel central na continuidade do processo de conhecimento, que a nica base possvel para uma cincia da experincia enquanto cincia emprica do sujeito cognoscitivo" (AMERIO, 1991:101). Wundt, provavelmente, centrou-se mais no aspecto criativo do sujeito cognoscitivo do que, propriamente, na capacidade criativa da representao. Foram outros pensadores, como Brentano, Husserl, Schutz e talvez Freud, que ressaltaram a capacidade criativa da representao. A nfase nesse aspecto permitiu, inclusive a Moscovici, vislumbrar seu papel constitutivo na produo da realidade social. A representao, nesse sentido, teria uma capacidade de "negar o seu objeto e de se colocar atravs desta negao alm dela" (AMERIO, 1991:101), isto , ela no seria uma mera fotografia do objeto e, sim, uma negao que produziria um outro objeto, uma outra realidade.
Se a representao continuou sendo um conceito importante na Filosofia e em ramos isolados da Psicologia, como a Psicanlise, ela desapareceu quase por completo das cincias sociais aps Durkheim. Pode-se, nesse caso, ventilar trs hipteses para explicar tal eclipse: 1) O conceito de representao entrou num estado de hibernao ou de latncia, desde que no se tinha, ainda, conseguido apreender o seu processo de enraizamento no social e nas relaes intersubjetivas. Tal lacuna foi preenchida com o advento de novas correntes cientficas como o Estruturalismo, a Lingstica, a Semiologia e mesmo a Psicanlise, a partir do momento de seu reconhecimento cientfico e de uma incorporao s cincias sociais. Tais correntes tericas, assim, permitiram representao uma base concreta em que se apoiar; 2) O conceito de representao social sofreu, segundo Jodelet, obstculos epistemolgicos provenientes da Psicologia e da cincia social. Na primeira, o domnio do modelo behaviorista impediu a apreenso da especificidade cognitiva dos fenmenos mentais, e, na segunda, um tipo mecanicista de marxismo, que considerava os fenmenos superestruturais como um epifenmeno da base material da sociedade, rejeitou a teoria da representao como um idealismo da Sociologia burguesa (JODELET, 1991:16); 3) A terceira hiptese seria mais complexa e teria uma explicao de fundo scio-epistemolgico, merecendo ser apresentada de forma mais longa, embora esquemtica. Marx, Durkheim e Weber, fundadores da Sociologia clssica, compartilhavam o mesmo ponto de vista de que o trabalho , no capitalismo, o fato social principal. A interao social e o mundo intersubjetivo, reino da representao, estariam subsumidos conceitualmente na "sociedade do trabalho". A prioridade da Sociologia seria, ento, decifrar o papel determinante que o trabalho (diviso do trabalho, classes trabalhadoras, normas de trabalho e organizao do trabalho) e a sua racionalidade teriam na sociedade moderna. Assim, como afirmou Claus Offe, "o objetivo da teorizao sociolgica pode, de maneira geral, ser resumido como a anlise dos princpios que formam a estrutura da sociedade, programam sua integrao ou seus conflitos e regulam seu desenvolvimento objetivo, sua auto-imagem e seu futuro. Se considerarmos as respostas dadas entre o final do sculo XVIII e o trmino da Primeira Guerra Mundial s questes que se referem aos
princpios de organizao da dinmica das estruturas sociais, podemos certamente concluir que ao trabalho foi atribuda uma posio chave na teorizao sociolgica. O modelo de uma sociedade burguesa consumista preocupada com o trabalho, movida por sua racionalidade e abalada pelos conflitos trabalhistas, apesar de suas abordagens metodolgicas e construes tericas diferentes, o foco da produo terica de Marx, Weber e Durkheim"(OFFE, 1989:168). Um modelo de sociedade baseado numa praxis da produo desconsidera ou, pelo menos, atenua uma prxis alicerada na interao social e na comunicao, na qual seria possvel realar a importncia de um conceito como o de representao social. Os problemas de uma "sociedade do trabalho" favorecem mais, do ponto de vista sociolgico, uma teoria social da integrao sistmica que englobe a integrao social, do que, propriamente, uma teoria social da integrao social que englobasse a integrao sistmica. As mudanas estruturais no modo de produo capitalista nos ltimos 50 anos diminuram, paradoxalmente, a importncia de uma sociedade fundada na prxis da produo. Tais transformaes repercutiram, e muito, nas cincias sociais. Assim, pode-se dizer que, na Sociologia contempornea, "o trabalho e a posio dos trabalhadores no processo de produo no so tratados como o princpio bsico da organizao das estruturas sociais; que a dinmica do desenvolvimento social no concebida como emergente dos conflitos a respeito de quem controla a empresa industrial; e que a otimizao das relaes entre meios e fins tcnico-organizacionais no compreendida como a forma de racionalidade precursora de mais desenvolvimento social" (OFFE, 1989:171). Desse modo, aos poucos, a categoria "trabalho" foi perdendo a prioridade em relao ao papel determinante, que possua no passado, confinando-se a reas mais especficas da Sociologia. Foi diminuindo, tambm, o seu papel determinante na formao da conscincia e da ao social. Em seu lugar, como fundamentos para uma teoria da ao e da conscincia, foram surgindo categorias como socializao, interao, comunicao, etc. O campo central do interesse sociolgico se deslocou da esfera do trabalho para os problemas da vida cotidiana e do "mundo vivido", realando a importncia de dimenses sociais que ficam margem do mundo da produo, isto , instncias como "a famlia, papis sexuais, sade, comportamento `desviante', interao entre a administrao do Estado e seus clientes, etc" (OFFE, 1989:173).
Os estudos de Foucault, Touraine (Cf. TOURAINE, 1984), Gorz, Heller e, principalmente, os de Habermas tomaram um trilho, por assim dizer, "antiprodutivista" e valorizaram a esfera do cotidiano e as anlises de "modos de vida", percebendo novos campos de ao e novas formas de racionalidade. Surgiram, em conseqncia, novas dicotomias na Sociologia, tais como modo de produo x modo de vida, ao racional intencional ou instrumental x ao comunicativa, sociedade industrial x sociedade ps-industrial, integrao sistmica x integrao social, mundo sistmico (poder e dinheiro) x mundo vivido (interao e comunicao), etc; dicotomias, de fato, que representam uma das maiores dificuldades para uma teoria integrada da mudana social. No foi surpreendente, pois, o deslocamento da Psicologia Social, a partir da dcada de 60, para o estudo do "conhecimento prtico", isto , o conhecimento "espontneo", "ingnuo", "natural" do "senso comum". A Psicologia Social, que sempre procurou uma definio do seu objeto de conhecimento, encontrava na dimenso do cotidiano as formas de conhecimento adequadas s suas categorias de anlise. O "senso comum" estaria inscrito na realidade cotidiana do "mundo vivido" e ancorado no mundo da intersubjetividade e da integrao social. Podemos afirmar, nesse sentido, que o conceito de representao social foi forjado para o entendimento das formas de racionalidade existentes na vida cotidiana. Desse modo, surgiu uma nova dicotomia nas cincias sociais fundada na oposio saber cientfico x "senso comum", isto , o saber cientfico seria um conhecimento institucionalizado, inscrito no mundo sistmico, e o "senso comum", um saber do "mundo vivido". A representao social, segundo Moscovici, seria produto dos movimentos sociais - agentes tpicos do "mundo vivido" - que esto inscritos numa "socialidade vivida", possuindo uma ao anti-institucionalizadora na cultura e anticonvencional na poltica (MOSCOVICI, 1991:82). Em suma, sustentamos que, alm de motivos epistemolgicos, existiram, tambm, determinaes de natureza sociolgica no renascimento do conceito de representao. Moscovici se apropriou do conceito de representao coletiva de Durkheim, utilizando-o como um conceito fundador de um novo continente de pesquisas. Primeiro, retirou do conceito durkheiminiano o peso da ontologia social, mudando, conseqentemente, o seu campo de aplicao, agora situado a meio
caminho entre o social e o psicolgico; segundo, inscreveu no conceito uma consistncia cognitiva bastante acentuada; terceiro, delimitou-o, especificando o seu campo de ao, ou seja, o cotidiano; e quarto, especificou a representao como uma forma de conhecimento particular, relacionada comunicao, interao social e socializao. Moscovici, igualmente, trocou o termo "coletivo" por "social", no devido a uma mera originalidade nominal, nem por oposio s representaes individuais mas, sim, para realar o dinamismo social que existe no mago da representao, impregnando a vida afetiva e intelectual dos indivduos de uma sociedade. O termo "coletivo" insinua apenas uma diferena face ao termo "individual", fixando, na verdade, uma ontologia distinta, ao passo que "social" bidirecional, isto , afirma, por um lado, a representao como uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada e, por outro, percebe a sua realidade psicolgica, afetiva e axiolgica, inscrita no comportamento do indivduo. As representaes seriam sociais, desde que produzidas nos processos de mudana e de interao social. Assim, a representao pode ser considerada como um sistema de interpretao da realidade, organizando as relaes do indivduo com o mundo e orientando as suas condutas e comportamentos no meio social. Tal sistema de interpretao se enraza nas formas de comunicao social, permitindo ao indivduo interiorizar as experincias, as prticas sociais e os modelos de conduta. O indivduo consegue, atravs das representaes sociais, construir e se apropriar de objetos socializados. Nesse sentido, as representaes sociais "so abordadas ao mesmo tempo como o produto e o processo de uma atividade de apropriao da realidade exterior ao pensamento, e de elaborao psicolgica e social desta realidade" (JODELET, 1989-A:37). O mistrio das relaes entre a esfera individual e a social seria desvendado pelo conceito de representao social, que retoma essas relaes e as torna menos ontolgicas do que orgnicas. No surpresa, assim, a necessidade de uma reavaliao dos conceitos de comportamento, atitude e conduta esclarecidos por uma teoria da comunicao social - os quais seriam a fora dinmica e propulsora da representao. Por isso, uma teoria comportamental, nutrida pelo conceito de representao social, seria, fundamentalmente, psico-social. A representao social, assim, constituiria uma "modalidade de conhecimento particular que tem por funo a elaborao de
comportamentos 1978:26).
comunicao
entre
indivduos"
(MOSCOVICI,
A representao, ao substituir mentalmente um determinado objeto (uma pessoa, uma coisa, uma idia, etc), reconstri as cadeias de significaes que o formam, restituindo-o simbolicamente e, tambm, inscreve no significante novos significados. Na verdade, a reconstruo do objeto da representao forma um novo objeto que tem uma certa independncia do original - se que se pode falar em objeto "original", porque, geralmente, as representaes so representaes de representaes. O objeto, assim, seria reconstrudo, interpretado e expressado pelo sujeito (JODELET, 1989-A:37). O conceito de representao social instrumentalizou a Psicologia Social para superar os limites do modelo behaviorista que impe uma teoria comportamental estreita, baseada no modelo estmulo-resposta, e que abstrai completamente a composio social do comportamento humano. As crticas de Moscovici, contudo, foram direcionadas a um modelo comportamental arcaico e estreito que se traduzia na frmula S-R dos primrdios do behaviorismo waltsoniano. A partir das dcadas de 40 e 50, o modelo evoluiu e foi enriquecido por um "O", situado entre o "S" e o "R", e que se refere "s condies de manuteno do organismo, sejam elas motivacionais (estados de privao), cognitivas (sistemas de crenas e valores), variveis de personalidade (introverso/extroverso) etc"(RANGE, 1991:405). O esquema atual parece ter a seguinte conformao: *cognies _______ O_____R *emoes S *aes
________ C __________ K
Nesse caso, C "refere-se s conseqncias positivas, negativas, mistas ou nulas que as aes do organismo podem provocar(...) e K, (...)aos esquemas de reforamento (contnuo, intermitente etc.) que esto atuando sobre R que produziu C" (RANGE, 1991:405). No existiria, portanto, no esquema atual, uma ruptura entre os universos exterior e interior do indivduo, como no modelo antigo. A representao determinaria, ao mesmo tempo, S e R, perpassando por todo o modelo. Assim, o neobehaviorismo coincidiria com as elaboraes de Moscovici, possibilitando um novo intercmbio entre um modelo estritamente comportamental e o da representao social
A representao est presente no estmulo e na resposta de uma determinada ao, enquanto que a atitude e a opinio estariam localizadas unicamente na resposta ao estmulo. A opinio de um indivduo, por si s, no esclarece o contexto em que foi dada, nem os critrios de valor e as categorias que a sustentam. Ela seria, de um certo modo, passiva e no criativa, caracterizando uma "fotografia" do momento. A opinio, no mximo, revela uma preparao de uma ao, embora baseada na simulao verbal de uma conduta conhecida, enquanto que a representao ultrapassa tal aspecto "na medida em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter lugar"(MOSCOVICI, 1978:49). As imagens, por sua vez, serviriam de filtros para a percepo, selecionando e controlando percepes e interpretaes de objetos que nem so rejeitados, nem reprimidos. Desse modo, as imagens " desempenham o papel de uma tela seletiva que serve para receber novas mensagens, e controlam freqentemente a percepo e a interpretao daquelas mensagens que no forem inteiramente ignoradas, rejeitadas ou recalcadas"(MOSCOVICI, 1978:48). As representaes no seriam imagens no sentido de cpias da realidade, pois no "respeitam" a realidade, combinando e engendrando novas imagens e, com isso, criando novos objetos. De forma geral, a representao teria cinco caractersticas essenciais: " - sempre a representao de um objeto; - possui um carter de imagem e a propriedade de poder intercambiar o sensvel e a idia, a percepo e o conceito; - possui um carter simblico e significante; - possui um carter construtivo; - possui um carter autnomo e criativo"(JODELET, 1986:478). A representao seria, sobretudo, uma forma de conhecimento, modelando o objeto com diversos suportes lingsticos, de comportamento e materiais (JODELET, 1989-A:43) mas, tambm, um saber prtico intrinsecamente relacionado experincia social e possuindo um alto grau de interveno social. A inscrio social da representao, por outro lado, seria determinada pela comunicao social, que possui um papel
fundamental nas mudanas e nas interaes formadoras do consenso social. A comunicao social determinaria os nveis de apropriao e de criao da representao social e seria um processo com trs nveis estruturais: 1) aspectos cognitivos; 2) formao da representao (objetivao e ancoragem); e 3) edificao da conduta (opinio, atitude, esteretipos) (JODELET, 1989-A:47). Examinaremos, neste trabalho, apenas os dois primeiros nveis, visto que o terceiro estaria relacionado ao processo de difuso e propagao da representao social, sendo, portanto, secundrio aos outros processos. O primeiro nvel caracterizaria o modo cognitivo da representao social, que se expressaria como um "pensamento natural" ou pensamento representativo. Essa conceituao seria construda em oposio ao modo cognitivo da cincia, visto que o "pensamento natural" seria o modo cognitivo do "senso comum". A cognio cientfica seria representada pelo pensamento informativo, que teria as seguintes caractersticas: 1) formado por conceitos e signos; 2) possui validade emprica; 3) dominado pelo "como"; 4) apresenta tipos de inferncia fixos; 5) limitado nas sucesses dos atos mentais; e 6) possui apenas algumas formas sintticas disponveis (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:558). O pensamento representativo seria, praticamente, o oposto do informativo, isto , teria as seguintes caractersticas: 1) formado por imagens e smbolos; 2) possui validade consensual; 3) dominado pelo "por qu"; 4) tem uma pluralidade de tipos de inferncia; 5) apresneta uma flexibilidade na sucesso de atos mentais; e 6) possui vrias formas sintticas disponveis. O "pensamento natural" seria determinado por vrios fatores, tais como: disperso da informao; focalizao dos sujeitos sobre uma relao social; presso para a inferncia; personificao dos conceitos e dos fenmenos; figurao de imagens e conceitos; e ontologizao das relaes lgicas ou empricas. Tais fatores expressariam uma fenomenologia do pensamento natural, ilustrando as condies em que as representaes so pensadas e constitudas. O segundo nvel estrutural da comunicao social estaria relacionado aos dois processos de formao da representao: a objetivao e a ancoragem.
A objetivao consiste em um processo de seleo em que o objeto social representado apropriado e so retidos, por constries afetivas, axiolgicas e ideolgicas, os elementos que lhe convm, com os quais constri a sua representao (Cf. LIPIANSKY, 1991:39). Formar-se-ia a imagem mais adequada ao campo cognitivo do sujeito, focalizando e reconhecendo o objeto mas, tambm, opacificando e desconhecendo o mesmo. Em suma, a objetivao desvia os elementos do objeto representado da sua totalidade em funo de critrios culturais e normativos. Na verdade, o processo de objetivao seria comum a todas as produes simblicas e no, apenas, especfico representao social. A expresso simblica o denominador comum de todas as atividades culturais, que individualmente so diferentes, embora preencham a mesma tarefa: a objetivao. Sendo assim, a prpria linguagem se objetifica em expresses sensoriais, isto , "no prprio ato da expresso lingstica as nossas percepes revestem-se de uma nova forma. Deixam de ser dados isolados; abandonam o seu carter individual; so reduzidas a conceitos que so designados por `termos' gerais. O ato de `designar por um termo' no se limita a acrescentar um sinal meramente convencional a uma coisa j existente - a um objeto anteriormente conhecido. , antes um pr-requisito da verdadeira concepo dos objetos; da idia de uma realidade emprica objetiva" (CASSIRER, 1961:66). O mito seria um exemplo relevante da objetivao; nele, as emoes "no esto simplesmente transformadas em meros atos; esto transformadas em 'obras" (CASSIRER, 1961:68). A objetivao tambm est presente na arte e na poesia, tendo sido ressaltada, metaforicamente, por Goethe: "E assim comeou (...) aquela tendncia de que eu no me pude desviar atravs de toda a minha vida; nomeadamente a tendncia para transformar numa imagem, num poema, tudo quanto me encantava ou me perturbava, ou de qualquer maneira me preocupava, e para chegar comigo mesmo a uma certa compreenso desse fatos, podendo depois corrigir a minha concepo das coisas exteriores e conseguir que a minha inteligncia satisfeita deixasse de se ocupar delas. Esta faculdade era-me mais necessria do que a ningum, pois a minha natureza impeliame de um extremo a outro. De resto, todas as minhas obras que chegaram ao pblico so somente fragmentos de uma grande confisso" (GOETHE, apud CASSIRER, 1961:68).
Na representao social, no encontramos, propriamente, confisses individuais e, sim, psicossociais, com as quais o indivduo crava no social a sua especificidade, aps ter sido alvejado por ele. Assim como o mito, a representao social uma objetivao da experincia humana, e no de uma experincia individual. Pode-se, sem dvida, construir uma representao individualmente; contudo, ela seria conhecida e percebida como imagens e no como realidade. A representao social de um objeto seria percebida menos como um smbolo do que como "algo" real, isto , ela no seria intuda e, sim, transformada em imagens - "reais" o suficiente para determinar orientaes de conduta e interpretaes de mundo. O processo de objetivao "materializa" idias e conceitos em um ncleo figurativo ou em uma esquematizao estruturante. Desse modo, a objetivao "faz com que se torne real um esquema conceitual, com que se d a uma imagem uma contrapartida material, resultado que tem, em primeiro lugar, flexibilidade cognitiva: o estoque de indcios e de significantes que uma pessoa recebe, emite e movimenta no ciclo das infracomunicaes pode tornar-se superabundante. Para reduzir a defasagem entre a massa de palavras que circulam e os objetos que os acompanham, e como no se poderia falar de 'nada', os 'signos lingsticos' esto ligados a 'estruturas materiais' (tenta-se acoplar a palavra coisa)" (MOSCOVICI, 1978:111). Alm da naturalizao, que o ncleo figurativo engendra, a objetivao tambm tem, como uma de suas caractersticas fundamentais, a classificao, "que coloca e organiza as partes do meio ambiente e, mediante seus cortes, introduz uma ordem que se adapta ordem preexistente, atenuando assim o choque de toda e qualquer nova concepo. Quer seja adaptada aos seres, aos gestos ou aos fenmenos, a classificao responde a uma necessidade fisiolgica. Trata-se de cortar o fluxo incessante de estimulaes para se conseguir chegar a uma orientao e uma deciso sobre quais os elementos que nos so sensoriais ou intelectualmente acessveis. imposta uma grade que permite denominar os diferentes aspectos do real e, por seu intermdio, defini-lo. Se aparece uma grade diferente, suas novas denominaes so associadas s entidades existentes, que elas ajudam a redefinir" (MOSCOVICI, 1978:113). A classificao, de certo modo, seria um verdadeiro processo de ordenao ideolgica, em que se opacificam partes do real e se iluminam outras que sejam adequadas ao campo de interesses do indivduo. Contudo, a classificao um processo encontrado de forma geral nas representaes. Podemos lembrar a compulso
classificatria do saber clssico, estudado por Foucault, em que a base epistmica fundamental era a representao; ou, ainda, mencionar as necessidades taxonmicas de uma clnica mdica, baseada tambm na representao, ainda no alicerada na antomo-fisiologia. A classificao, desse modo, seria um processo conservador de transformao do novo e do proibido. A objetivao, em linhas gerais, poderia ser decomposta em trs processos: construo seletiva, esquematizao estruturante e naturalizao (JODELET, 1986:483). Tais processos so fundamentais para o pesquisador perceber o contedo das representaes sociais, que comumente apreendido de duas formas: a primeira seria o tratamento do contedo representativo como um campo estruturado, em que se perceberiam os elementos constitutivos das representaes, ou seja, informaes, imagens, crenas, valores, opinies, elementos culturais, ideolgicos, etc (Cf. JODELET, 1989-A:55); a segunda forma estaria relacionada a um ncleo estruturante, em que os elementos centrais seriam atitudes, modelos normativos e esquemas cognitivos (JODELET, 1989-A:55). O segundo processo de formao das representaes sociais seria a ancoragem, que, sem dvida, revela uma originalidade bem mais acentuada do que a objetivao. Poder-se-ia dizer que a ancoragem a grande descoberta de Moscovici, pois ela "designa a forma na qual os elementos representados contribuem para expressar e constituir as relaes sociais" (LIPIANSKY, 1991:40). bem verdade que, mesmo sem negar a originalidade de Moscovici, poder-se-ia encontrar a ancoragem j em textos de Piaget, quando estuda o mecanismo da aprendizagem; em Freud, no seu conceito de super-ego e na anlise das relaes objetuais; e, ainda, em Mead, no seu estudo do mecanismo da formao das normas e papis sociais. A ancoragem fixa " representao e o seu objeto numa rede a de significaes que os permite adequarem-se aos valores sociais, dando-lhes coerncia" (JODELET, 1989-A:56). Ela interioriza - no sentido de trazer para dentro - esquemas de ao e, ao mesmo tempo, inscreve o objeto, enquanto novidade, numa determinada estrutura de valores atravs de um processo de familiarizao. Ocorre, tambm, uma internao - no sentido de tornar intrnseco - das relaes com o objeto, isto , transforma-se a representao em smbolos utilizveis que permitem a interpretao e a ao no meio social.
Os processos de interiorizao e internao constituem a "integrao cognitiva do objeto representado dentro do sistema de pensamento preexistente e as tramsformaes derivadas deste sistema, tanto de uma parte como de outra. J no se trata, como no caso da objetivao, da constituio formal de um conhecimento mas, sim, de sua insero orgnica dentro de um pensamento constitudo" (JODELET, 1986:486). Assim, a ancoragem acumula "as trs funes bsicas da representao: funo cognitiva de integrao do novo, funo de interpretao da realidade e funo de orientao das condutas e das relaes sociais"(JODELET, 1986:486). A ancoragem atua numa rede de significados, jogando e intercambiando, de forma comunicativa, valores intrnsecos e extrnsecos do indivduo para equilibr-los de forma nocontraditria. Na verdade, tal equilbrio se alicera superficial e no profundamente na latncia do esprito. A ancoragem patrocina, devido integrao cognitiva, a fuso de elementos dspares, ocasionando o que Moscovici chamou de polifasia cognitiva (MOSCOVICI, 1989-B:16). O equilbrio se fundamenta na capacidade da representao em negociar com a realidade, isto , aqui vale menos a pretenso verdade do que a realizao do consenso. A representao induz a uma ao visando ao entendimento, mas a pretenso de validez postulada frgil e intercambivel. A representao social transforma-se, atravs do processo de ancoragem, num sistema de interpretao, que "possui uma funo de mediao entre o indivduo e o seu meio, assim como entre os membros de um mesmo grupo. Capaz de resolver e expressar problemas comuns, transformados em cdigo, em linguagem comum, este sistema servir para classificar os indivduos e os fatos, para constituir tipos em relao aos quais os outros indivduos e grupos se avaliam e se classificam. Converte-se em instrumento de referncia que permite a comunicao numa mesma linguagem e, por conseqncia, a influncia recproca" (JODELET, 1986:488). Vale salientar, contudo, que a conceituao da representao social, como uma forma de conhecimento, no nos diz muita coisa, uma vez que "s percebemos o real atravs da representao" (MORIN, 1986:105). Uma representao mental, por exemplo, tambm seria uma forma de conhecimento e poderia estar relacionada ao "senso comum", embora no fosse uma representao social. Assim, cada indivduo de um determinado grupo social possui "no seu crebro milhes de representaes mentais, umas efmeras, outras conservadas na memria de longo prazo,
constituindo o `saber' do indivduo" (SPERBER, 1989:116). Uma parte dessas representaes mentais so pblicas, isto , foram apropriadas pelo indivduo como objetos socializados, vertendose em representaes mentais para, depois, atravs da comunicao social, transformarem-se, novamente, em representaes sociais. A comunicao social permite que uma representao social seja traduzida em uma mental. Uma representao seria social a partir do momento em que foi largamente distribuda, permanecendo de forma durvel em um grupo social. Existiria, assim, um processo social dialtico intenso na traduo e na transformao de representaes sociais em mentais e vice-versa. No entanto, a representao social continua social, mesmo traduzida em uma mental, desde que o seu carter social esteja mais relacionado sua funo de formao de condutas e de orientao das comunicaes sociais do que a uma dicotomia simples do tipo mental x social. De qualquer forma, percebem-se, comumente, algumas caractersticas gerais da representao como se fossem especificidades da representao social, isto , identifica-se uma generalidade com uma particularidade. Vimos, inclusive, que objetivao, classificao e, mesmo, naturalizao seriam menos uma especificidade da representao social do que uma generalidade das representaes. As diferenas, na verdade, entre os tipos de representao seriam bem mais iluminadas por uma teoria geral da representao, em que se distinguissem os diversos "tipos de conhecimento" engendrados pelas representaes. A representao, como j dissemos, no uma cpia da realidade e, sim, uma espcie de analagon, isto , uma traduo construtiva da realidade percebida (SPERBER, 1989:104). Um analagon que seria menos "realista" do que, propriamente, tradutor e transformador do objeto representado. A representao, como diria Husserl, "presentifica" a realidade. A percepo de um objeto (idia, coisa, outra representao, etc.) implica na sua apropriao neuro-sensorial, transformando os "proto-signos" em informaes codificadas "que, por sua vez, sero objeto de novas tradues, at uma ltima e maior transformao que a representao" (SPERBER, 1989:104). Produz-se, desse modo, uma imagem que no deixa de ser uma apropriao subjetiva do mundo, embora seja sentida como uma presena objetiva da realidade. A representao seria, ao mesmo tempo, uma construo do objeto afastada do original e um analagon, isto , uma presena do mundo exterior na mente do
indivduo. Podemos perceber, nessa aparente dicotomia, a constituio imaginativa da representao, por um lado, e a sua relao umbilical com a realidade, por outro. Na verdade, no existe uma irredutibilidade entre estas duas facetas da representao, uma vez que ela " o ato constitutivo idntico e radical do real e do imaginrio" (MORIN, 1986:106). A representao seria uma forma de conhecimento compreensivo "porque transmite um conhecimento no prprio ato que faz surgir um analogon do fenmeno percebido" (MORIN, 1986:135). A representao, de fato, funciona por reduo analgica, ou seja, ela "um conhecimento do semelhante pelo semelhante que detecta, utiliza, produz similitudes de maneira a identificar os objetos ou fenmenos que percebe ou concebe" (MORIN, 1986:131). A reduo analgica foi percebida, tambm, por Boltansky, na sua anlise da passagem da linguagem mdica para a leiga: "A reduo analgica que permite a passagem das categorias da Medicina s categorias da Medicina popular, efetua-se na maior parte dos casos em funo, ou da sinonmia, ou da homonmia do termo emprestado e desconhecido, com outros termos conhecidos" (BOLTANSKY, 1989:76). O prprio Moscovici, inclusive, inferiu a reduo analgica, quando conceituou a representao social como uma forma de familiarizar o estranho e a novidade (MOSCOVICI, 1978:56). Por outro lado, a representao seria uma forma de conhecimento " que torna o conceito e a percepo de certo modo intercambiveis, uma vez que se engendram reciprocamente" (MOSCOVICI, 1978:57). Estranho intercmbio, pois o conceito prescinde do objeto para existir, enquanto que a sua ausncia impossibilita a percepo. A representao, no entanto, "mantm essa oposio e desenvolve-se a partir dela; ela re-presenta um ser, uma qualidade, conscincia, quer dizer, presente uma vez mais, atualiza esse ser ou essa qualidade, apesar de sua ausncia ou at de sua eventual inexistncia. Ao mesmo tempo, distancia-os suficientemente do seu contexto material para que o conceito possa intervir e model-los a seu jeito" (MOSCOVICI, 1978:57). O objeto, assim, no coincide, necessariamente, com a sua representao. Tal independncia da representao em relao ao objeto determina algumas repercusses no seu contedo representativo. Ora, como o contedo de uma representao depende da sua relao com o objeto, podem-se produzir trs
tipos de efeitos diferentes no contedo representativo de uma representao (Cf. JODELET, 1989-A:53-54). O primeiro deles seria o de distoro, em que todas as caractersticas do objeto estariam presentes, embora algumas mais exageradas ou minimizadas do que outras. O segundo efeito seria a suplementao, isto , seriam investidos aspectos inexistentes e imaginrios ao objeto, com a finalidade de tornlo adaptado aos valores dominantes. E, enfim, o terceiro efeito diz respeito supresso em que parte dos aspectos que formam o objeto eliminada por critrios normativos. Fica evidente, nesse sentido, a semelhana entre tais formulaes e o conceito de ideologia, principalmente aqueles derivados da matriz marxiana da "falsa conscincia"; de fato, o prprio conceito de representao possui uma grande semelhana com o de ideologia. Denise Jodelet, atentando para o perigo, prope uma definio de representao social que no sofreria tais indeterminaes: "O conceito de representao social designa uma forma de conhecimento especfico (...) as representaes sociais constituem modalidades de pensamento prtico orientados para a comunicao, a compreenso e o domnio do ambiente social, material e ideal. Como tais, apresentam caractersticas especficas a nivel de organizao dos contedos, das operaes mentais e da lgica" (JODELET, 1986:474). Contudo, a definio de Jodelet, apesar de extremamente til, funciona muito mais como uma indicao geral e, em nossa opinio, insuficiente para visualizar a diferena entre ideologia e representao. Com efeito, existem teorias, como a de Althusser, que postulam a ideologia como um sistema de representaes, e outras que identificam o "senso comum" como uma elaborao ideolgica (Gramsci), quando no surgem noes embaraosas como a de "representao ideolgica" (Cf. ALTHUSSER, 1983:85). Ou, ainda, autores, como Maria Luisa Nunes de Moura e Silva, que afirmam que "o estudo das representaes sociais deve ser remetido para o estudo da ideologia; porque no seio desta instncia social e de suas determinaes materiais que se definem, de fato, para os indivduos e/ou grupos, as possibilidades do conhecimento e representao de `objetos' sociais" (SILVA, 1978:224). Sem dvida, tal fato cria uma grande confuso conceitual. Mesmo admitindo a polissemia dos termos ideologia e
representao, bem como o seu parentesco terico, achamos conveniente a tentativa de diferenci-los, para evitar uma perda de foco na anlise de nosso objeto de estudo.
2 - IDEOLOGIA E REPRESENTAO. Se julgarmos a ideologia sobre a tica de expoentes da teoria da representao social, como Jodelet e Moscovici, o resultado ser extremamente negativo (Cf. JODELET, 1991; MOSCOVICI, 1991). "A noo de ideologia uma noo ideolgica" afirma, de forma peremptria, Moscovici (MOSCOVICI, 1991:67). Sectarismos parte, a diferena entre a ideologia e o conceito de representao seria um tanto arbitrria. Com efeito, a ideologia pode ser um sistema de representaes, mas, tambm, pode ser uma dimenso substantiva da sociedade ou, ainda, uma "falsa conscincia". Teoricamente, as relaes entre representao social e ideologia podem ser as seguintes: 1) os conceitos so semelhantes e complementares; 2) a representao um elemento constitutivo da ideologia; 3) a representao social faz parte da dimenso ideolgica (esta como uma instncia social); e 4), o conceito de representao social distinto do de ideologia (JODELET, 1991:22). Examinaremos, ao longo da anlise, trs posies sobre a ideologia e suas relaes com a representao social. Elas estariam enquadradas na formulao, acima, do seguinte modo: a primeira e a segunda posies estariam enquadradas em 3), e a ltima, um tanto arbitrariamente, como veremos, em 1). Faremos, aqui, uma breve discusso sobre as conceituaes marxistas de ideologia, uma vez que todas as posies examinadas tm uma filiao explcita ou implcita com o marxismo. Os elementos para uma teoria da ideologia esto espalhados difusamente na obra de Marx. Desse modo, as posies marxianas nem sempre so sistemticas e, por isso, levam invariavelmente a interpretaes, no mnimo conflituosas. Podemos inferir, assim, num espectro de interpretaes marxistas sobre a ideologia, trs parmetros gerais, como prope Raymond Williams: "1) um sistema de crenas caratcerstico de uma classe ou grupo;
2) um sistema de crenas ilusrias - idias falsas ou conscincia falsa - que se pode contrastar com o conhecimento verdadeiro ou cientfico; 3) o processo geral da produo de significados e idias" (WILLIAMS, 1979:60). Na verso lukacsiana, por exemplo, os parmetros 1) e 2) esto combinados numa viso que infere as ideologias fundamentadas em posies de classe mas, excetuando a ideologia revolucionria do proletariado, elas so percepes ilusrias ou falsas da realidade. O parmetro 1) encontrado isoladamente em Lnin, assim como o 2) foi trabalhado por Althusser. O parmetro 3) foi usado, preferencialmente, por marxistas semilogos (Volosinov, Medvedev e Baktin). J Gramsci, a nosso ver, combinaria de uma forma original o parmetro 1) com o 3): a ideologia seria, assim, o "campo do significante" por excelncia e, ao mesmo tempo, particularizada pelas relaes de classe. Examinaremos agora a posio gramsciana de ideologia e, depois, uma de carter semiolgico que, de certa maneira, possui um parentesco com a primeira. No Cadernos do Crcere, a ideologia aparece determinada pelas foras materiais, com um acento pronunciado na sua dialtica e nas suas interpenetraes (GRAMSCI, 1966:63). Ao mesmo tempo, afirma-se o papel positivo da ideologia, colocandoa como "forma" da estrutura material da sociedade, alm de inferi-la como uma dimenso ontolgica que reproduz, no plano das suas instncias e discursos especficos, o "formato" da totalidade social. Embora, em vrias passagens, Gramsci ressalte o carter negativo da ideologia, o sentido conceitual de ideologia mais presente em sua obra parece ser o acima referido. Desse modo, a ideologia pensada como uma dimenso ontolgica da estrutura social, e tal dimenso, inclusive, larga o suficiente para que nela se incluam a instncia cognitiva e as representaes sociais. Gramsci, com efeito, deduz que a "proposio contida na Introduo Crtica da Economia Poltica, segundo a qual os homens tomam conhecimento dos conflitos de estrutura no terreno das ideologias, deve ser considerada como uma afirmao de valor gnoseolgico e no puramente psicolgico e moral" (GRAMSCI, 1966:52). Assim, a criao de um novo terreno ideolgico, isto , "uma reforma das conscincias e dos mtodos de conhecimento, um fato de conhecimento, um fato filosfico" (GRAMSCI, 1966:52).
O conhecimento, aqui, seria entendido no sentido mais "largo" possvel, ou seja, ele no seria monopolizado pela cincia, que seria, apenas, uma de suas modalidades. Tal noo de conhecimento, transcendendo o saber cientfico, baseia-se numa leitura bastante original da Introduo de Marx, que no coloca a cincia como uma forma ideolgica (Cf. MARX, 1978:30). Para Gramsci, em conseqncia, a ideologia seria, tambm, uma forma de conhecimento, assim como as representaes sociais. Por outro lado, o conceito gramsciano de ideologia possui uma afinidade com o conceito croceano de religio, isto , a religio como uma "weltanschauung". Dessa forma, a ideologia como uma concepo de mundo teria no seu ncleo "normas de vida", realizando uma dimenso tica e normativa que interpela o sujeito para a ao prtica; a ideologia, pois, seria uma "relao vivida". Assim, o conceito gramsciano de ideologia teria "uma tripla dimenso positiva: uma dimenso cognitiva, enquanto esfera na qual os homens tomam conscincia das contradies do real; uma dimenso ontolgica, enquanto nvel superestrutural da totalidade social e `forma' da estrutura econmica; e uma dimenso axiolgica-normativa, enquanto horizonte de valores que apelam ao, prtica" (SANTOS, 1980:44). Contudo, mesmo concordando que a ideologia fundamenta um nvel superestrutural, ficamos na dvida se, em Gramsci, o conceito de ideologia seria to largo ao ponto de constituir a prpria superestrutura. De fato, Gramsci chega a indagar " onde encontrar o limite entre o que deve ser entendido como ideologia, no limitado sentido croceano, e a ideologia no sentido da filosofia da praxis" (GRAMSCI,1966:262), isto , todo o conjunto das superestruturas. Ora, se a ideologia to "ampla", ela englobaria a cincia, que seria tambm "uma superestrutura, uma ideologia" (GRAMSCI, 1966:71). Com tal afirmao, poder-se-ia cair nas garras do ideologismo, ou seja, reduzir todas as formas de conhecimento ideologia. Ou, ento, como uma soluo provisria, poderamos supor que a cincia tenha sido uma "regio" da ideologia que, com o desenvolvimento histrico, tornou-se autnoma e com uma "eficcia prpria", no se separando da sua "origem" ideolgica mas, sim, apenas, distinguindo-se dela. Por conseguinte, a cincia, a filosofia e o "senso-comum", certamente, fariam parte da superestrutura ideolgica da sociedade; mas, afinal de contas, qual a diferena entre eles?
A diferena, por exemplo, entre a Filosofia e o "sensocomum" seria a quantidade de atributos qualitativos (coerncia, elaborao individual, etc) que a primeira possui em relao ao segundo (GRAMSCI, 1966:18), no existindo, em suma, uma descontinuidade entre ambos, mas sim uma continuidade. A Filosofia constituiria, ainda, o nvel superior da ideologia, enquanto que a diferena entre a cincia e os outros ficaria um tanto obscura, talvez centrada na natureza do seu objeto e de seus procedimentos analticos. Gramsci propicia grandes avanos no conceito de perceber a sua dimenso axiolgico-normativa, assim, apreender a sua estrutura institucional, sem equvoco de localizar a ideologia na conscincia, como um mero sistema de idias. ideologia ao conseguindo, incorrer no postulando-a
A ideologia, desse modo, no estaria separada da sua realidade material, no existindo um mundo parte de idias e pensamentos puros. Na verdade, os produtos ideolgicos seriam formados na e com a realidade social material; teriam uma expresso material acessvel objetivamente - desde expresses como a palavra, o som, um gesto, a escrita, a imprensa, etc, at a sua objetivao institucional e, neste ltimo sentido, a ideologia seria um conjunto de prticas que institui normas de conduta e formas de conhecimento. Gramsci, mesmo ampliando e dando uma positividade ao conceito de ideologia, no perde de vista o seu carter de classe. A ideologia pensada como uma estrutura, de um todo contraditoriamente integrado, e no como a de um todo integrado sem contradies. Por sua vez, a unidade contraditria da estrutura ideolgica formada por vrias ideologias, nas quais se distingue, como determinante, o antagonismo entre a ideologia dominante e a dominada. As ideologias so diferentes e os sujeitos interpelados por elas vivem em realidades dspares, existindo, contudo, um terreno comum a todos: a realidade da dominao de classe. Ora, a partir do momento em que colocamos como premissa a existncia de uma ideologia dominante, baseada numa dominao de classe, podemos, em decorrncia, supor que as ideologias subalternas se formam em relao a esta dominao, incorporando no seu seio elementos que conformam a sua sujeio ideologia dominante.
Em todo caso, no existe apenas uma dicotomia entre a ideologia dominante e a dominada mas, tambm, uma circulao entre ambas. Desse modo, existe uma influncia recproca entre as ideologias das classes subalternas e a ideologia dominante. No existiria, nesse sentido, uma adequao passiva das classes subalternas s interpelaes ideolgicas dominantes, bem como seria uma ingenuidade supor uma ideologia popular "pura" e independente, incorruptvel por natureza. Neste momento, porm, no incorporaremos a conceituao gramsciana de ideologia, embora ela nos sirva para sustentar ou inspirar, mais adiante, a discusso sobre o "senso comum" e suas relaes com os saberes institucionalizados. Com Gramsci, tambm, no perderemos de vista as relaes de poder, to subestimadas na teoria da representao social, que esto inscritas em toda atividade simblica. Por outro lado, em diversos pontos, o conceito de representao social se identifica com o gramsciano de ideologia e, at, prolonga-o teoricamente. Pode-se especular, aqui, sobre a possibilidade de uma apropriao marxista da teoria da representao social, transformada em uma teoria...da ideologia. Do ponto de vista semiolgico, a ideologia no seria uma instncia ou um nvel da totalidade social, mas uma dimenso ou estrutura substancial que atravessaria a sociedade por inteira e pelo interior de todo e qualquer material significante. No que tudo seja ideolgico, mas que a ideologia seja parte constituinte de todo fenmeno social. Alm disso, a ideologia no pode ser identificada com a conscincia, pois ela no deve ser "divorciada da realidade material dos signos" (MEDVEDEV, apud BRAGA, 1980:57); por outro lado, "localizar ideologia na conscincia transformar o estudo das ideologias num estudo da conscincia e suas leis; e no faz diferena se isto feito em termos transcendentais ou em termos emprico-psicolgicos" (VOLOSINOV, apud BRAGA, 1980:58). Em conseqncia, "todo produto ideolgico e todos os seus sentidos ideais no esto na alma, nem no mundo interior, nem num mundo parte das idias e puros pensamentos, mas no material ideolgico acessvel objetivamente - na palavra, no som, gesto, combinao de massas, linhas, cores, corpos vivos, etc. Todo produto ideolgico uma parte da realidade social material em torno do homem, um aspecto do horizonte materializado. Qualquer coisa que uma palavra possa significar, ela est antes de mais nada materialmente presente, como coisa enunciada, escrita, impressa, sussurrada ou pensada. Ela
estabelece uma relao entre indivduos, que objetivamente expressa nas reaes combinadas das pessoas: reaes em palavras, gestos, atos, organizaes, etc. O intercurso social o `medium' no qual o fenmeno ideolgico primeiro adquire sua existncia especfica, seu significado ideolgico, sua natureza semitica" (MEDVEDEV, apud BRAGA, 1980:58). Nesse sentido, ideologia no seria um sistema de representaes, pois ela "no designa um conjunto finito de mensagens" (VERON, s/d:53). Tal designao no pode ocorrer porque "o conjunto de mensagens identificveis, como pertencentes a um sistema ideolgico dado, tal como o conjunto de frases que podem ser produzidas em uma dada lngua, infinito" (VERON, s/d:53). Em conseqncia, "uma ideologia no um conjunto de elementos (representaes, conceitos, idias) que foram produzidos na sociedade: ela um conjunto de regras de produo (...) uma ideologia no um conjunto de mensagens, mas um sistema (acabado) de regras semnticas para produzir uma quantidade infinita de mensagens. Em outros termos, a noo de ideologia designa uma competncia social e no um `paquet' de performances" (VERON, s/d:53). Assim, a ideologia estaria situada no nvel da competncia, e a representao, no da performance, ou, ainda, para utilizar uma linguagem saussuriana, a ideologia estaria no campo da lngua, e a representao, no da fala (Cf SAUSSURE, 1974). O sistema ideolgico no teria um contedo, mas, sendo um sistema de regras de produo de sentido, seria um campo em que se poderia investir no importa qual contedo. J a representao, mais relacionada com a fala, a temtica e seu objeto, teria um processo e um contedo evidenciveis. A passagem da ideologia representao no seria direta e sem mediaes, como poderamos pensar. Se a ideologia est inscrita no material significante, a sua expresso como representao precisa de um canal adequado. Tal intermediao seria realizada pelo discurso que, apesar disso, no se esgota como mero lugar de passagem de sentido do campo ideolgico para o da representao. O discurso, num contexto mais amplo, seria uma realidade intermediria situada entre a lngua e a fala (REBOUL, 1980:39). Contudo, no incorporaremos, de forma completa, tal conceituao de ideologia, que, de certo modo, torna a representao social um epifenmeno da instncia ideolgica. Aproximaremos, isto sim, tal conceituao de episteme de Foucault (Cf. FOUCAULT, 1967), que, por sua vez, ser
particularizada e aproximada de um conceito alargado de paradigma (Cf. KUHN, 1975), para entendermos o modo de pensar mdico-psiquitrico. Assim, as ideologia sero nosso trabalho. conceituaes gramsciana e semiolgica de utilizadas, embora no de todas aplicadas, em
A partir de algumas propostas de Moscovici e Habermas (Cf. MOSCOVICI, 1991; HABERMAS, 1987-Tomo II), tentaremos construir, em primeiro lugar, uma noo mais negativa de ideologia, identificando-a como "falsa conscincia", o que no impede, como se poderia pensar, de inferir a ideologia, tambm, como uma forma de conhecimento, desde que a "falsa conscincia", tornando ambivalente o conhecimento, no impede a sua pretenso de validez e de verdade. Marx, por exemplo, realizou uma crtica ideolgica da cultura burguesa do sculo XIX, sublinhando as suas conquistas tericas, embora criticasse a sua profunda ambivalncia. Assim, a crtica marxiana desmascara a ambivalncia de uma cultura que tem pretenses de "autonomia e de cientificidade, de liberdade individual e de universalismo, de auto-exame radical sem circunspeco" (HABERMAS, 1987-Tomo II:498), mas que, ao mesmo tempo, produz uma heteronomia e uma racionalizao cultural, uma fragmentao da personalidade humana e uma defesa do status quo, uma profunda desigualdade e um embotamento da percepo da alteridade. Em suma, uma crtica ideolgica da cincia, por exemplo, no diminui suas conquistas gnoseolgicas e, sim, ressalta apenas "o gigantesco problema dos erros e iluses que no cessaram (e no cessam) de impor-se como verdades ao longo da histria humana" (MORIN, 1986:13). A verdade, como disse Bachelard, a retificao do erro (Cf. BACHELAR, 1978). A ideologia, enquanto tal, histrica e historiada, e na modernidade pode servir a uma prtica criticamente transformadora, embora sirva, principalmente, a uma "transfigurao idealista de uma prtica afirmativa, reforadora do existente" (HABERMAS, 1987-Tomo II:498). A ideologia teria, assim, uma dupla natureza de conhecimento e desconhecimento. Em segundo lugar, tentaremos deslocar o conceito de ideologia para o campo institucional, inferindo-o menos como uma dimenso substantiva da sociedade do que como um fetichismo
institucional. Tal deslocamento ter como premissa fundamental a impossibilidade da existncia da ideologia no "mundo vivido". A ideologia, nesse sentido, participa dos fatos objetivados pelas instituies e, em geral, "apresenta-se como uma construo altamente intelectual da qual eliminam-se todas as proposies e tonalidades que no se deixam inserir na nica linguagem autorizada a reproduzir os valores e as intenes de um grupo. Ela parece conduzida a um prottipo ideal da cognio e ajusta todas as outras cognies no interior desse prottipo que , a cada vez, determinado do exterior. Nesse sentido, ela rompe com o pensamento e a linguagem habituais que ns utilizamos e com os quais nos relacionamos" (MOSCOVICI, 1991:72). A ideologia torna um saber institucionalizado num saber que se cristaliza em aparelhos de poder, realizando a sua estabilidade e homeostase na consolidao de uma ortodoxia inquestionvel. Ela transforma o saber em um universo reificado e institucionalmente autnomo, bem como desacoplado do resto da sociedade. Produz-se um saber desumanizado e indiferente que imobiliza as significaes sociais, delas apropriando-se e tornando-as monoplio seu. Um saber ideologizado, assim, monopoliza um determinado objeto social e legitima o seu conhecimento como o nico vivel e verdadeiro. Surge, desse modo, uma "cultura de especialistas", em que o profissional estaria dominado pelo clculo utilitarista de seus prprios interesses e por atitudes cognitivas instrumentais frente a si mesmo e aos demais. A profisso perderia o seu carter vocacional (Cf. WEBER, 1970), adquirindo um carter individualista baseado na competitividade de cargos e no desejo de ascender na carreira. Esse estilo utilitarista e unilateral de vida profissional perfaria o que Weber chamou de "especialista sem corao" (Cf. HABERMAS, 1987-Tomo II). A comunicao entre sujeitos seria permeada por relaes de subordinao e de domnio, acarretando, com isso, uma assimetria comunicativa. O "especialista sem corao" e o seu cliente, por exemplo, no falariam a mesma linguagem, pois esto numa relao de "super-ordenao no interior da diviso social do trabalho ou do sistema de instituies" (HELLER, 1983:114) ou, mesmo, numa relao de subordinao. A reificao de uma saber institucionalizado corresponde ao fetichismo de uma instituio, que se tornou separada do resto da sociedade de onde surgiu. A instituio aparece como uma realidade objetivada e assptica frente s estruturas simblicas
do cotidiano. Uma das conseqncias, desse fato, a separao entre a organizao da instituio e a estrutura de personalidade do indivduo. Uma anlise do efeito da reificao institucional nos indivduos, por exemplo, pode ser encontrada, com certas reservas, em Gramsci, que definiu o fetichismo da seguinte maneira: "Como se pode descrever o fetichismo? O organismo coletivo constitui-se de indivduos singulares, os quais formam o organismo na medida em que se entregam e aceitam ativamente uma hierarquia e uma direo determinadas. Se cada um dos membros individuais pensa o organismo coletivo como uma entidade estranha a si mesmo, evidente que este organismo no existe mais de fato, transforma-se num fantasma do intelecto, num fetiche. preciso ver se este modo de pensar muito difundido, no um resduo da transcendncia catlica e dos velhos regimes paternalistas. Ele comum a uma srie de organismos, ao Estado, Nao, aos partidos polticos, etc. (...) O que espanta, e caracterstico, que o fetichismo desta espcie reproduz-se em organismos `voluntrios', de tipo no `pblico' ou estatal, como os partidos e os sindicatos. Somos levados a imaginar as relaes entre o indivduo e o organismo como um dualismo e a pensar numa atitude crtica exterior do indivduo ao organismo (se a atitude no de uma admirao entusistica acrtica). Nos dois casos uma relao fetichista" (GRAMSCI, 1984:177). O fetichismo institucional determina um estranhamento nos indivduos que fazem parte da instituio. No entanto, o fetichismo ocorre, tambm, em relao sociedade. A instituio se transforma num sistema auto-regulado que luta para a conservao de seus limites e se torna um fragmento reificado do mundo social (Cf. HABERMAS, 1978-Tomo II:213). Contudo, o fetichismo institucional menos o produto de "resduos transcendentais catlicos" ou de uma iluso institucional do que de uma iluso constitutiva do real. A reificao institucional no um no-saber da conscincia dos indivduos e, sim, um produto social, isto , faz parte do prprio funcionamento da sociedade. Um saber ideologizado um discurso fetichista que " no nem sequer um discurso ilusrio sobre a realidade; mas o discurso da prpria realidade: a ideologia um momento da realidade" (ROUANET, 1987:105). Assim, o fetichismo institucional, de cuja anlise Marx pioneiro, possvel historicamente a partir do momento em que os complexos
institucionais adquirem uma autonomia e os mbitos de ao institucional, formalmente organizados, prescindem da reproduo simblico-cultural do mundo da vida (Cf. MARX, 1975). Ocorre, ento, o que Habermas chama de desengate entre o mundo sistmico e o mundo da vida, isto , "com os subsistemas diferenciados atravs dos meios de controle, os mecanismos sistmicos criam as suas prprias estruturas sociais isentas de contedo normativo, que se erguem por cima do mundo da vida" (HABERMAS, 1978-Tomo II:261). Uma ao institucional formalmente organizada significa, na sociedade capitalista, uma ao baseada no burocratismo (Cf. WEBER, 1969-Tomo I), que seria "um sistema racional em que a diviso do trabalho se d racionalmente com vista a fins" (TRAGTENBERG, 1974:139). A modernizao capitalista segue este padro burocrtico de institucionalizao, baseado numa racionalidade cognitivo-instrumental, que penetra por entre os respiradouros da vida cotidiana, subsumindo a racionalidade prtico-moral e prtico-esttica sua lgica depauperadora. O mundo vivido, reino da razo comunicativa e celeiro cultural, sofre um processo de racionalizao (instrumental) e torna-se dependente de uma mediao dos mecanismos sistmicos. A penetrao da racionalidade sistmica no mundo vivido adota, ento, "a forma patolgica de uma colonizao interna medida que os desequilbrios crticos na reproduo material (isto , as crises de controle analisveis em termos de teoria de sistema) s podem ser evitado ao preo de perturbaes na reproduo simblica do mundo da vida (ao preo de crises, posto que `subjetivamente' so vivenciadas como ameaas identidade, ou de patologias)" (HABERMAS, 1987-Tomo II:432). A colonizao do mundo da vida, atravs da mercantilizao das prticas morais e do burocratismo das normas sociais, produz a sua fragmentao, "o esvaziamento cultural e a coisificao, a perda de sentido e de liberdade, a subsuno patognica da esfera pblica e privada" (SIEBENEICHIER, 1989:153), etc. Assim, a racionalizao progressiva do mundo da vida determinou o "desencanto" do mundo e uma perda de sentido geral das coisas, isto , o mundo da vida se torna cada vez mais dominado pelo tecnicismo. Por outro lado, com a profanao completa da cultura moderna, ocorre uma "nivelao de racionalidade entre o mbito de ao profano e uma cultura definitivamente desencantada, esta
ltima perdendo aquelas propriedades que a capacitavam assumir funes ideolgicas" (HABERMAS, 1987-TomoII:499).
para
Na verdade, podemos encontrar trs determinaes para a impossibilidade da existncia da ideologia no mundo da vida. A primeira, e mais bsica, estaria relacionada subsuno do sacro na vida cotidiana moderna (HABERMAS, 1987-Tomo II:499), na qual vem se perdendo a aura do sacro e volatizando-se "esse tipo de produo da imaginao criadora que foram as imagens de mundo" (HABERMAS, 1987-Tomo II:500). Desaparece, assim, a possibilidade de representaes globais, totalizadoras e integradas, como so as ideologias, isto , impossibilita-se a existncia daquelas vises de mundo que Gramsci identificou com o conceito croceano de religio (Cf. GRAMSCI,1966). A segunda determinao para o "fim das ideologias" no mundo da vida se refere institucionalizao e profissionalizao das esferas de conhecimento do cotidiano, produzindo uma autonomizao da cincia, da moral e da esttica. Tais instncias, separadas uma das outras e da sociedade, normatizamse como uma "cultura de especialistas" - distante do pblico e incapaz estruturalmente de socializar os seus conhecimentos. O fetichismo institucional do saber instrumentaliza as estruturas comunicativas e de conhecimento do cotidiano, empobrecendo-o culturalmente e esvaziando a capacidade reflexiva das produes ideativas dos indivduos. O modo de vida do cotidiano se torna um tanto naturalizado e automtico, submetendo-se s interpelaes estandardizadas dos saberes dos especialistas. A racionalizao progressiva do mundo da vida se exerce atravs de uma restrio sistemtica da comunicao (HABERMAS, 1987-Tomo II:264). Assim, o saber cristalizado no fetiche institucional se apropria da capacidade de refletir sobre a realidade e, ao mesmo tempo, torna-se o nico capaz de produzir representaes totalizadoras e integradas, ou seja, monopoliza a produo de ideologias. O mundo da vida, desse modo, recebe de fora as construes ideolgicas, que instrumentalizam os significados, as condutas e os comportamentos da vida cotidiana. O cotidiano, ironicamente, perde a capacidade de produzir ideologias, mas ganha em alienao. As instrumentalizaes sistmicas das estruturas comunicativas do mundo da vida no so percebidas enquanto tais,
possuindo um carter ilusrio alicerado numa conscincia objetivamente falsa. Assim, " os ataques do sistema no mundo da vida, que alteram a estrutura dos plexos de ao de grupos socialmente integrados, tm de permanecer ocultos. As coaes dominantes da reproduo que instrumentalizam o mundo da vida, sem diminurem a aparncia de autarquia desse mundo, tm, digamos assim, de se ocultar nos poros da ao comunicativa" (HABERMAS, 1987-Tomo II:264). A "falsa conscincia" no se expressaria como ideologia, isto , como interpretaes globais e totalizadoras, uma vez que o mundo da vida teria perdido a capacidade de produzir ideologias. A camuflagem das contradies da realidade se efetua, justamente, pela incapacidade da conscincia de evitar a sua fragmentao. A "falsa conscincia" no mundo da vida, assim, realiza-se como uma conscincia fragmentada (Cf. DEVEREUX, apud PELBART, 1989:199). A hipopercepo da alienao no mais realizada por um discurso integrado e totalizador, que produza um silncio sobre as contradies da realidade social, e, sim, pela ausncia de qualquer discurso ou, pelo menos, por um discurso estilhaado em mil pedaos. Ora, "o mundo da vida se constitui sempre na forma de um saber global intersubjetivamente compartilhado por seus membros; e sendo assim, o equivalente funcional da ideologias, do qual j no se pode dispor, poderia simplesmente consistir em que o saber cotidiano que se apresenta sempre na forma totalizadora permanece difuso (...). A conscincia cotidiana fica despojada de sua fora sinttica, fica fragmentada" (HABERMAS, 1987-Tomo II:501). Desse modo, as duas condies que determinam a inexistncia da ideologia no mundo da vida so extremamente alienantes, embora a terceira determinao seja positiva. O advento da modernidade, nesse sentido, patrocinou o surgimento de uma racionalidade comunicativa "que emancipou o homem do jugo da tradio e da autoridade, e permitiu que ele prprio decidisse, sujeito unicamente fora do melhor argumento, que proposies so ou no aceitveis, na trplice dimenso da verdade (mundo objetivo), da justia (mundo social) e da veracidade (mundo subjetivo)" (ROUANET, 1989:14). A modernidade, como toda produo histrica humana, possui uma ambivalncia estrutural, isto , produz um potencial de emancipao, de um lado, e um potencial de alienao, de outro. A modernidade, do ponto de vista da emancipao, tem como uma das suas caractersticas fundamentais o pluralismo, uma vez que
o processo de racionalizao cultural foi tornando relativas as bases de produo de imagens de mundo, calcadas no dogmatismo. Assim, a verdade tornou-se relativa, pois, agora, ela "no pode encontrar-se em uma s teoria ou ponto de vista, mas distribui-se necessariamente pelas diversas teorias e pontos de vista, s podendo portanto ser recuperada atravs da plena considerao do conjunto das teorias e pontos de vista, tanto existentes como possveis" (DASCAL, 1989:221). Por outro lado, uma pluralidade de verdades implica necessariamente uma pluralizao de interpretaes do mundo, isto , no existiria uma ideologia que esgotasse todo o contedo normo-axiolgico da sociedade. Pois, "o moralmente bom, como Aristteles j advertira, acertadamente, no um ponto mas, sim, um campo com diversos pontos possveis de deciso correta, ora igual, ora aproximadamente" (HELLER & FEHER, 1985:123). A verdade, assim, no seria a condensao do nico, mas um largo espectro de possibilidades onde se alojaria o diverso. No mais existiriam, em conseqncia, interpretaes globais que pudessem totalizar universalmente e subordinar todas as interpretaes de mundo existentes; se tal fato pudesse ocorrer, como parece j ter acontecido, isso nada mais seria do que o produto de uma reificao do mundo da vida, como, por exemplo, o nazi-fascismo e o comunismo totalitrio. Enfim, a concepo de ideologia, aqui sustentada, muito "negativa". Devemos ressaltar, porm, que construmos tal conceito em funo do fetichismo institucional, isto , em funo de um processo de alienao. O conceito de ideologia pode ser visto, tambm, do ponto de vista da emancipao, isto , ele reproduz o jogo dicotmico da modernidade entre a alienao e a emancipao. Assim, na verdade, a distino entre um momento alienado e outro emancipativo seria de contedo metodolgico. Com efeito, a alienao e a emancipao so momentos de um mesmo processo histrico, contraditrio e ambguo, como a modernidade, que, para Habermas, se dicotomizaria numa modernidade cultural e noutra sistmica (Cf. HABERMAS, 1985). Assim, entenderamos o fetichismo institucional como uma tendncia estrutural da sociedade tardo-capitalista, embora percebamos, tambm, uma contra-tendncia de encontro ao fetichismo na cincia, na moral e na esttica, expressada, por
exemplo, pelos movimentos de espao pblico e poltico e conquistas cientficas.
renovao moral de socializao
e esttica do pedaggica das
O conceito de ideologia, do ponto de vista da emancipao, poderia ser apropriado de forma "positiva". Um saber institucionalizado como, por exemplo, a cincia, poderia representar uma reintegrao da conscincia fragmentada do cotidiano e, ao ser socializado no mundo da vida, ao invs de coloniz-lo com uma racionalidade instrumental, libert-lo-ia do seu estado hipoblico atravs de uma razo libertria, susceptvel de brotar de novos espaos pblicos, mediada pela intelectualidade. A ideologia, nesse caso, seria o que chamamos de "ideologia reconstrutora", isto , uma interpretao global do mundo suficientemente relativa para ser pluralista - uma espcie de unidade do diverso. Mas, afinal de contas, quais seriam o papel e a localizao da representao social nessa concepo de ideologia? A representao social constitui um dos conceitos fundamentais do mundo da vida e do cotidiano, possuindo uma homologia funcional com a ideologia. Por um lado, expressa a fragmentao da conscincia cotidiana; por outro, expressa o poder simblico de constituio da realidade social. Assim, existiria um intercmbio incessante entre a representao social e a ideologia. O discurso fetichista colonizaria o mundo vivido com uma racionalidade instrumental, enquanto que a representao social impediria o fetichismo das instituies e dos saberes institucionalizados (Cf. MOSCOVICI, 1991:82); a ideologia como razo que emancipa, por sua vez, reintegraria a conscincia fragmentada do cotidiano, ao passo que a representao social expressaria a fragmentao da conscincia cotidiana.
Captulo III - PROBLEMATIZAO E METODOLOGIA 1. TRABALHO DE SSIFO a) O "senso comum" Segundo Moscovici, a representao social um conceito fundamental para o entendimento do "senso comum"; atravs dele, pode-se construir uma epistemologia "popular" em contraposio a uma epistemologia cientfica. O mundo moderno reproduziria uma bifurcao ou uma divergncia radical "entre os dois modos de conhecimento ou de aquisio de conhecimentos, um padronizado e o outro no padronizado" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:540). Uma dicotomia que, inclusive, vem-se reproduzindo com vrias etiquetagens: "lgica e mito, pensamento domstico e pensamento selvagem, mentalidade lgica e mentalidade pr-lgica, pensamento crtico e pensamento automtico" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:540). O "senso comum", ou conhecimento corresponderia a uma forma de pensamento no mais padronizado, "natural" e
espontneo, tpico da conversao cotidiana. As pessoas comuns procurariam articular o conhecimento sua vida, sem pretenso alguma de transcendncia e sem necessitar de regras e convenes para pensar. Seria um pensamento "livre", embora fortemente influenciado pela tradio e pelos esteretipos de linguagem (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:541). A bifurcao entre a cincia e o "senso comum" foi produzida por uma sociedade bifurcada: "uma minoria de especialistas e uma maioria de amadores, consumidores de conhecimento adquirido atravs de uma educao sucinta ou atravs dos meios de comunicao" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:541). Tal diviso, segundo Moscovici, representa a grande diferenciao do mundo moderno, qual seja, a separao da cincia e da tcnica da vida cotidiana. Assim, teria ocorrido uma absoro das tradies culturais pelos "especialistas", produzindo uma "cultura de especialistas", encapsulados nas suas instituies e nas suas disciplinas; ao passo que o conhecimento "profano" teria ficado entregue a si mesmo, fragmentado e esvaziado na cultura de massas (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:541). Em conseqncia, a oposio entre o "senso comum" e a cincia seria menos de ordem lgica ou orgnica do que de ordem social. O "senso comum" seria "um corpo de conhecimentos fundado na tradio e enriquecido por milhares de observaes e de experincias, sancionadas pela prtica" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:542). A cincia, inicialmente, evoluiu desse "corpo de conhecimentos", mas, depois, no mundo moderno, apartou-se do "senso comum", chegando a uma ruptura completa; ela destri e desmonta, pea por pea, o conhecimento no cientfico que foi produzido, atravs das geraes, pelos homens comuns (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:543). De tal perspectiva, o "senso comum" possuiria um conhecimento de "primeira mo", baseado na experincia social comum, e outro, de "segunda mo", dominante no mundo moderno, proveniente da absoro do conhecimento cientfico (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:544). As representaes sociais, nesse sentido, seriam produzidas pelos agentes formadores de opinio, atravs da difuso, da propagao e da propaganda. A partir do exposto, podemos tecer, observaes crticas noo de "senso comum". agora, algumas
O "senso comum" visto como um modelo cognitivo semelhante s estruturas mentais da mentalidade pr-lgica de Lvy-Bruhl e da criana sociocntrica de Piaget (Cf. MOSCOVICI, 1989-A).
Certamente, o "senso comum" pode ser considerado uma "estrutura mental", embora seja prudente evitar paralelismos precipitados entre "imagens de mundo" e o desenvolvimento cognitivo do Eu. Assim, devemos ter os seguintes cuidados neste tipo de comparao: " - fcil se deixar desviar pela confuso entre estruturas e contedos: a conscincia individual e a tradio cultural podem coincidir no contedo, sem por isso expressarem as mesmas estruturas de conscincia. - Nem todos os indivduos so igualmente representativos do grau de desenvolvimento de sua sociedade: nas sociedades modernas, por exemplo, o direito tem uma estrutura universalista, ainda que muitos membros dessas sociedades no sejam capazes de julgar, deixando-se guiar por princpios. Ao contrrio, nas sociedades arcaicas, houve indivduos que dominavam operaes formais de pensamento, embora a imagem mtica do mundo coletivamente partilhada correspondesse a um estgio inferior do desenvolvimento cognoscitivo. - O modelo ontogentico de desenvolvimento no pode refletir as estruturas da histria do gnero, pelo simples fato de que as estruturas coletivas de conscincia valem to-somente para os membros adultos da sociedade: os estgios de interao incompleta, que surgem ontogeneticamente em primeiro lugar, no encontram correspondncia nem mesmo nas sociedades mais antigas, j que as relaes sociais como a organizao familiar tiveram desde o incio a forma de expectativas generalizadas de comportamento, ligadas de modo complementar (ou seja, a forma de interao incompleta). - Finalmente, so diversos os pontos de referncia, na histria individual e na histria do gnero, com base nos quais so avaliadas as mesmas estruturas de conscincia: a conservao do sistema de personalidade coloca imperativos inteiramente diversos dos que so colocados pelo sistema social" (HABERMAS, 1983:18). Seria prefervel, assim, produzir homologias abstratas entre modelos cognoscitivos e o desenvolvimento do Eu. Temos a impresso de que a teoria da representao social, em alguns momentos, possui o objetivo de encontrar invariantes cognitivos no "senso comum" e, com isso, conceb-lo como uma categoria atemporal. Vale a pena repetir as informativo (cientfico) e o seguintes: diferenas entre o representativo, que pensamento seriam as
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Pensamento informativo: formado por conceitos e signos; possui validade emprica; dominado pelo "como"; apresenta tipos de inferncia fixos; limitado nas sucesses dos atos mentais; possui apenas algumas formas sintticas disponveis.
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Pensamento representativo: formado por imagens e smbolos; possui validade consensual; dominado pelo "porqu"; pluralidade de tipos de inferncia; flexibilidade na sucesso de atos mentais; vrias formas sintticas disponveis.
Ora, M. Bloch encontrou as seguintes diferenas entre os atos de fala, formalizados pela prxis ritual, e os do cotidiano, na organizao tribal: "Atos de fala formalizados: 1) padres fixos na tonalidade da voz; 2) limitao na eleio da entonao; 3) excluem-se algumas formas sintticas; 4) vocabulrio parcial; 5) rigidez na seqncia dos atos de fala; 6) as ilustraes tm fontes limitadas (escrituras, provrbios, etc); 7) aplicam-se conscientemente regras estilsticas em todos os nveis. "Atos de fala cotidianos: 1) eleio da tonalidade da voz; 2) eleio da entonao; 3) possibilidade do uso de todas as formas sintticas; 4) uso indiscriminado do vocabulrio; 5) flexibilidade na seqncia dos atos de fala; 6) no so muitas as ilustraes que se tomam de um corpo fixo de analogias aceitveis; 7) no se adotam conscientemente regras estilsticas" (BLOCH, apud HABERMAS, 1987-Tomo II:268). As semelhanas dos modelos so conseqentemente, poderamos relacionar representativo com os atos de fala do cotidiano, pensamento informativo com os atos de fala prxis ritual, de outro. gritantes e, o pensamento de um lado, e o formalizados da
Na verdade, no somos contra a procura de invariantes cognitivos entre o "senso comum" primitivo e o moderno, mas sim, a produo de um modelo atemporal reproduzvel em qualquer sociedade histrica. Em suma, contestamos a suposio de que exista na histria cognitiva humana uma dicotomia eterna e invarivel entre um pensamento padronizado e um no padronizado. Outrossim, no existiu um "senso comum", enquanto tal, nas sociedades primitivas, uma vez que ele s comeou a existir a partir do surgimento histrico do seu oposto, a cincia. Situar o "senso comum" historicamente significa, desse modo, examin-lo como uma percepo social e, ao mesmo tempo, priorizar na anlise o seu contedo e no a sua forma cognitiva. O perigo de cair num "cognitivismo" seria o de tornar o conceito de "senso comum" to formal que passaria por cima de suas especificidades histricas e das diferenas de percepo em cada segmento social - no parece existir apenas um "senso comum", mas vrios. Alm disso, a formalizao do conceito de "senso comum" pode transform-lo num conceito empirista, em que se perderiam de vista a sua histria, as suas determinaes culturais, etc. Moscovici compreende a cincia e o seu saber como o universo da desumanizao e da indiferenciao, isto , como um universo reificado (AMERIO, 1991:104). Ele transforma, de forma polmica, uma tendncia da sociedade moderna num fato irredutvel. Assim, no universo reificado da cincia, "as coisas so a medida do homem, e a sociedade vista como um sistema de classes e de papis na qual os membros so desiguais" (AMERIO, 1991:104), enquanto que, no universo consensual da representao social e do "senso comum", "o homem a medida de todas as coisas e a sociedade vista como um grupo de indivduos iguais e livre" (AMERIO, 1991:104). O problema de tal formulao que vivemos concretamente num sistema de classes e de papis sociais distintos, em que a reproduo material e simblica produz uma evidente desigualdade entre os indivduos, o que diminuiria bastante o papel da representao social (AMERIO, 1991:104). Ou, ainda, no fica claro quem so, afinal, os agentes produtores, de fato, das representaes sociais, problema, alis, no muito bem resolvido por Moscovici (Cf. MOSCOVICI, 1986). Nesse sentido, tanto o "senso comum" como os agentes formadores de opinio no dariam conta da criatividade e do papel constituinte do real que a representao social possui e que tanto foi ressaltado por Moscovici.
Ademais, a noo de cincia empregada por Moscovici identifica-se mais com a cincia natural do que com a cincia social. Ora, se considerarmos o fetichismo institucional como uma tendncia, e no como um fato irredutvel, poderemos inferir que, em situaes de no reificao do saber, seria possvel uma dialtica mais fecunda entre a cincia e as formas de conhecimento do "senso comum". E, se considerarmos que a cincia social sofre mais interpelaes do "senso comum" do que a cincia natural, uma vez que os seus objetos j so previamente estruturados simbolicamente pelos indivduos na sociedade, poderemos perceber interpelaes axiolgicas e cognoscitivas do "senso comum" na cincia social. b) Representao social e cotidiano Para tentar resolver alguns problemas abordados na discusso, acima iniciada, pretendemos aproximar o conceito de representao social ao de cotidiano. Achamos necessrio, assim, um "alargamento" do primeiro, relacionando-o com o segundo, sendo este ltimo considerado como a dimenso constitutiva do mundo da vida e que realiza a reproduo social atravs da reproduo dos prprios indivduos. O cotidiano uma dimenso constitutiva da sociedade e, num certo sentido, uma correia de transmisso da intersubjetividade do mundo da vida. Se, anteriormente, analisamos a colonizao sistmica como um modo de penetrao do mundo sistmico no mundo da vida, afirmamos, agora, que o cotidiano a forma atravs da qual o ltimo penetra no primeiro. Assim, mesmo que o sistema prescinda de mecanismos normativos, no seria possvel a sua sustentao num vazio intersubjetivo, uma vez que, por mais reificados que sejam o poder e o dinheiro (mecanismos sistmicos), eles no deixam de ser relaes sociais. Acreditamos, dessa forma, que a representao social uma modalidade de produo ideativa tpica da cotidianidade. O conceito de cotidiano eliminaria qualquer iluso idealista sobre a produo da representao social, pois esta teria a sua inscrio material na cotidianidade. Somente, assim, podemos afirmar que a representao social uma construo do real que "diz respeito elaborao mesma de um objeto social pelos membros de nossa sociedade" (HERZLICH, 1975:24). O cotidiano um conceito de totalidade e envolve toda e qualquer atividade humana. Assim, "a vida cotidiana a vida de
todo homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceo, qualquer que seja seu posto na diviso do trabalho intelectual e fsico. Ningum consegue identificar-se com sua atividade humanogenrica a ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E, ao contrrio, no h nenhum homem, por mais 'insubstancial' que seja, que viva to-somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente" (HELLER, 1985:17). A cotidianidade se expressa pela heterogeneidade, o imediatismo e a superficialidade extensiva (NETTO & FALCO, 1987:65), perpassando atividades como "a organizao do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada, o intercmbio e a purificao" (HELLER, 1985:18). Nesse sentido, a relao entre o pensamento e a ao direta e espontnea, pois o sujeito necessita de respostas funcionais aos conjuntos de fenmenos que o rodeiam, isto , no necessita de um conhecimento da estrutura das relaes em que est inserido, mas sim de uma capacidade de manipular as diversas variaes que surgem no seu ambiente. Ora, a realidade se apresenta aos homens " como o campo em que se exercita a sua atividade prtico-sensvel, sobre cujo fundamento surgir a imediata intuio prtica da realidade" (KOSIK, 1976:10). No mundo vivido e cotidiano, o sujeito no percebe a realidade "sob o aspecto de um objeto que cumpre intuir, analisar e compreender teoricamente" (...); ao contrrio, "o indivduo 'em situao' cria suas prprias representaes das coisas e elabora todo um sistema correlativo de noes que capta e fixa o aspecto fenomnico da realidade" (KOSIK, 1976:10). O cotidiano o mundo da rotina, em que a repetio das atividades do "dia-a-dia" permite a recriao permanente da vida social. A rotina basicamente expressa, na conscincia dos indivduos, como uma conscincia prtica ou seja, a vida cotidiana engaja, constantemente, a capacidade reflexiva dos indivduos; mas, "a reflexo somente opera, em parte, ao nvel discursivo: o que os agentes sabem sobre o que fazem e por que o fazem - sua competncia enquanto agentes - depende da conscincia prtica, a qual tudo aquilo que os atores conhecem de forma tcita, tudo aquilo que sabem fazer na vida social sem que, no entanto, possam exprimi-lo diretamente de forma discursiva" (GIDDENS, 1987:33). Em suma, ao percebermos a representao social como uma modalidade expressiva da conscincia prtica e como o modo de
produo ideativo tpico da cotidianidade, podemos alargar, com isso, o conceito de representao social, cujo movimento, nesse sentido, transcenderia a uma mera tipicidade cognitiva do "senso comum" e estaria inscrito, de vez, na prxis social. c) Cincia, "senso comum" e paradigma Analisaremos, aqui, embora por tentativas e experimentando alguns conceitos, as relaes entre o saber cientfico e as formas de conhecimento do cotidiano. Vale frisar que nosso intuito no definir a natureza da cincia e nem esclarecer, de uma vez por todas, as suas relaes com as formas de conhecimento do cotidiano. Estamos bem longe disso! No fundo, nosso movimento parecer, muito mais, com o jogador que, aps driblar vrios adversrios (conceitos), chuta a bola para fora diante do gol escancarado (verdade). Esperamos que o simples fato de termos conseguido chegar na pequena rea represente, ao menos, alguma coisa. Numa primeira aproximao do problema, diramos que no existe uma ruptura entre o "senso comum" - identificado com as formas de conhecimento cotidiano - e a cincia. Esta, inserida num conceito "alargado" de ideologia, restaria como uma espcie de "regio", surgida e desenvolvida historicamente no solo ideolgico, e que teria alcanado, aos poucos, a sua autonomia relativa. O conhecimento cientfico, assim, no deve ser visto como algo externo prxis social; uma cincia pela cincia, por exemplo. Na verdade, compreender a natureza da cincia exige o conhecimento de sua inscrio especfica e de sua eficcia prpria na prxis social. As relaes entre o "senso comum" e a cincia seriam entendidas como uma circularidade, em que o ponto de partida estaria em algum lugar indefinido do crculo, talvez numa regio disforme onde no poderamos distinguir cincia de "senso comum". Tal concepo teria semelhana com a formulao de Bakhtin sobre a circularidade da cultura, na qual existe uma influncia recproca entre a cultura das classes subalternas e a cultura hegemnica (Cf. BAKHTIN, 1986). Dessa forma, a cincia e o "senso comum" seriam as duas metades de uma totalidade cindida, que sempre se recompe na linha de fuga da produo social do conhecimento humano.
Podemos, de forma geral, concordar sobre a gnese da cincia como uma regio surgida do "continente ideolgico". Entretanto, fica-nos a dvida quanto ao seu processo de expanso e independncia, pois, com o seu desenvolvimento e sua "regionalizao", a cincia se destacou, por assim dizer, da ideologia e, evidentemente, do "senso comum". Tal posio, contudo, no consegue explicar qual , afinal de contas, a diferena entre o "senso comum" e a cincia. Seria a diferena apenas quantitativa? Existiriam somente continuidades entre o "senso comum" e a cincia? Ora, os dois lidam com "fatos". Um empirista diria que a cincia sistematiza, cataloga e que sua teoria da causalidade mais abrangente do que a do "senso comum"; no haveria, pois, uma diferena qualitativa entre o conhecimento em geral e o cientfico. Desse modo, o conhecimento surgiria da sensao para, depois, tornar-se racional. Essa ligao entre o sentir (percepo) e o racional se manteria pela ditadura dos fatos imprio da intuio e da percepo. Uma posio anti-empirista, ao contrrio, afirmaria que o conhecimento cientfico no tem origem no sensvel, mas sim, no racional. Ou seja, a origem do conhecimento no o real, pois o conceito no se produz a partir do dado e, sim, em direo ao fato. Desse modo, o conhecimento da realidade seria um processo comandado pelo conhecimento e condicionado pela realidade. Onde estaria o "senso comum" nesse processo? Simplesmente no "est", pois o objeto do conhecimento construdo e o movimento dessa construo terico. Contudo, tal posio bastante centrada no processo interno da produo cientfica e no causa espanto que, em linhas gerais, ela seja sustentada por Bachelar (Cf. BACHELAR, 1978). Vejamos, por exemplo, um seu "discpulo", Canguilhem, para quem a epistemologia sempre histria e histrica, embora se trate de uma histria conceitual: o conceito tem um privilgio original, pois ele o que melhor exprime a racionalidade cientfica. Uma histria interna cincia que rompe com as verses contnuas e factuais do positivismo, mas que no problematiza as relaes do conhecimento cientfico com o seu Outro, isto , os conhecimentos no cientficos, embora, em diversas passagens, Canguilhem relacione a histria conceitual com as condies sociais e polticas da poca.
Precisaramos, na verdade, de um conceito que problematizasse as relaes entre o conhecimento cientfico e os outros modos de conhecer. Talvez a soluo esteja na utilizao do conceito de paradigma de Kuhn, entendido, aqui, como um complexo "sui generis" de dados nocionais, de predisposies, de atitudes e de valores (Cf. KUHN, 1975). Nesse sentido, o paradigma no seria um sistema fechado, incomunicvel com o mundo externo, mas estaria inscrito num determinado solo "epistemolgico" e cultural e inserido, desta forma, numa totalidade mais vasta, em que no existiria uma dicotomia entre "internos e externos" ou uma hierarquia que colocasse a cincia num trono emoldurado. Em qualquer situao, os valores perpassariam longitudinalmente o conhecimento cientfico, resgatando o dilogo com o "mundo vivido" e as "representaes sociais". Mesmo assim, como escolher, dentro da formulao de Kuhn, um conceito de paradigma? Margaret Masterman, por exemplo, recenseou 21 sentidos diferentes para o termo "paradigma" no livro de Kuhn, dentre os quais: "designar uma realizao cientfica universalmente reconhecida que fornece modelos e solues para uma comunidade de profissionais; significa um mito; aparecer como 'constelao de perguntas' ou como `tradio' ou ainda como 'modelo'; aparecer como analogia; como especulao metafsica com capacidade produtiva no domnio da cincia; como dispositivo aceite por uma lei comum; como fonte de instrumentos; como figura de 'gestalt' determinando mundos autnomos de percepo; como ponto de vista epistemolgico geral; como definio de um campo especfico da realidade..." (MASTERMAN, apud COELHO, 1982:42). Outra dificuldade quanto utilizao do conceito de paradigma, em Kuhn, consiste tanto na sua tendncia a ser fechado, interno produo cientfica, e no "aberto" s influncias do exterior - existe o "interno" e o "externo" em Kuhn -, como na problematizao de valores da comunidade cientfica e, no, do "mundo vivido". Assim, ele , antes, aplicado s cincias naturais do que s cincias sociais, estas, como parece entender Kuhn maneira de um positivista, sendo pr-paradigmticas, isto , pr-cientficas; contudo, isso no parece to conclusivo para ele, quando se refere, por exemplo, a paradigmas filosficos ao analisar Descartes. Alm disso, usa-se, atualmente, o conceito de paradigma em literatura , bem como, no seu "Novas regras do mtodo sociolgico", Giddens se apropria - apesar de fazer algumas modificaes no conceito - do uso do paradigma em Sociologia,
interpretando-o como "quadros de significncia" (GIDDENS, 1978:56). Para ele, no existiria, num dado momento, apenas o monoplio de um paradigma, mas, sobretudo em cincia social, seria comum existir uma situao multi-paradigmtica, concordando, assim, com a crtica de Bourdieu a Kuhn (Cf. COELHO, 1982:42). No somente os paradigmas no so incomunicveis, bem como "conhecer um novo paradigma abarcar um novo quadro de significncia no qual as premissas familiares so alteradas: os elementos do novo esquema so aprendidos atravs da aluso metafrica ao velho" (GIDDENS, 1978:56). Mesmo assim, toda essa discusso percorre somente os caminhos sinuosos da cincia, de modo que a "metfora" tem um duplo papel na evoluo cientfica, explicando, por um lado, a passagem de um paradigma para um outro, atravs de mecanismos de transposio que permitem velhas palavras dizerem coisas novas, e, por outro, explicando a persistncia "irracional" de alguns cenrios conceituais num determinado ambiente cientfico. Aplicar a funo metafrica para compreender a dialtica entre a cincia e o "senso comum" exigiria, no caso, fazer algumas modificaes no conceito de paradigma para adequ-lo aos nossos objetivos, embora pagando o preo de descaracterizar o mesmo. Tal descaracterizao ocorreria, fundamentalmente, pela sua migrao de uma teoria a outra e de um campo epistemolgico a outro; contudo, sofrer modificaes no significa eliminar necessariamente a sua utilidade. Assim, o conceito de paradigma, quando de sua transposio, precisar incorporar a interferncia do axiolgico na produo cientfica. A aproximao, nesse sentido, do conceito de paradigma em relao ao conceito de episteme, de Foucault, seria pertinente, posto que o primeiro, assim como o segundo, no deixa de ser um sistema de regras de formao do discurso. Por outro lado, o que o conceito de episteme traria de interessante para o paradigma a diferena que postula entre o saber, conhecimento do Homem, e a cincia, conhecimento da Natureza. Ao mesmo tempo, o conceito de episteme tenta descobrir as condies histricas de possibilidade dos discursos e das prticas que dizem respeito a um determinado saber. Foucault, por exemplo, ao analisar o saber psiquitrico, no se restringe ao saber mdico, mas amplia a anlise para as prticas de internamento e as instncias sociais - Igreja, Medicina, Justia, etc; no apenas analisa o saber mdico sobre
a doena mental mas, tambm, a sua percepo social (Cf. FOUCAULT, 1978), postulando, inclusive, que a ltima foi fundamental para o surgimento da Psiquiatria, polemizando, conseqentemente, com as histrias oficiais dessa disciplina, que a consideram como uma conquista da razo mdica. A discusso sobre a percepo social permite recuperar, tambm, as influncias do "senso comum". A formao social da conscincia no seria algo inerte e submisso; ao contrrio, ela agita-se, lana-se, transborda nos saberes estabelecidos. Tal "agitao" prope novos problemas para o saber, bem como, e isso fundamental, traz baila o que Thompson chama de experincia (Cf. THOMPSON, 1981). Em outros termos, a experincia consubstanciaria as respostas mentais e emocionais de um indivduo ou de um grupo social - nesse caso, podemos falar, tambm, de respostas institucionais -, aos acontecimentos e objetos sociais relevantes. A doena, por exemplo, um objeto social relevante; ora, se ela um monoplio oficial da Medicina, isto no impede a produo de conhecimentos sobre a doena por fora do saber mdico ou, mesmo, a formao de uma experincia social a respeito do processo mrbido. A doena percebida e experimentada por qualquer ser humano e, como seres racionais, os homens e as mulheres refletem sobre o que lhes acontece e ao seu mundo. Suas experincias exercem presso sobre a conscincia social, bem como propem novas questes e proporcionam " grande parte do material sobre o qual se desenvolvem os exerccios intelectuais mais elaborados" (THOMPSON, 1981:16). O paradigma, assim, estaria acima da teoria, enquanto conceito mais amplo e difuso; mas, tambm, abaixo dela, na medida em que seu alcance cognitivo no est conscientizado ou explicitado. De fato, a vivncia de um paradigma, segundo Thomas S. Kuhn, acrtica: "A cincia normal no tem como objetivo trazer tona novas espcies de fenmenos; na verdade, aqueles que no se ajustam aos limites do paradigma freqentemente nem so vistos" (KUHN, 1975:45). O paradigma, portanto, no se identifica propriamente com uma teoria - ele existe, inclusive, revelia de qualquer teoria - e, sim, com um conjunto de procedimentos, hbitos e instrumentos metodolgicos. Determinados contedos do paradigma possuem, de certa maneira, algumas analogias com os contedos da representao social, que tem, inclusive, um aspecto cognitivo bastante atuante, revelando-se como uma forma de conhecimento,
ao passo que, no paradigma, o elemento cognitivo atua de forma especfica, relacionado a um discurso lgico-formal e racionalista da realidade. d) Saber mdico e cincia Do ponto de vista do conhecimento, a Medicina possui, internamente, uma diviso que confunde a anlise. Na maioria das vezes, ela negada e, apenas, uma forma de interpretao mantida; justamente aquela que afirma a exclusividade de um de seus plos. Alguns, desse modo, realam somente o seu carter cientfico, enquanto outros, simplesmente, o negam, percebendo a Medicina unicamente como uma prtica profissional e tendo, como mtodo de conhecimento, a clnica. Na verdade, no podemos negar Medicina o seu carter cientfico, bem como a sua especificidade de saber profissional . Vale dizer que a segmentao do conhecimento mdico pode, em determinadas circunstncias histricas, transformar-se num autntico conflito institucional, quando, por exemplo, o aparelho de formao (sistema hospitalo-universitrio), fundamentado na "cincia mdica", contrape-se ao cotidiano profissional, alicerado na clnica. Na verdade, desde a "revoluo epistemolgica" dos meados do sculo XIX, dentro da qual podemos mencionar o darwinismo, a teoria celular e, principalmente, a medicina experimental (Cf. GRMEK, 1990), a "clnica mdica" vem, paulatinamente, sendo subsumida "cincia mdica". Isto , cada vez mais o diagnstico clnico, fundado na observao e na escuta do paciente, subordinado ao "diagnstico instrumental", assentado na mensurao de fatores etiolgicos e no desenvolvimento tecnolgico, tais como: gastroscopias, broncoscopias, eletro-encefalogramas,
Aparentemente, tal diviso surge, processualmente, a partir do XVII, afirmando-se no sculo XIX com a Medicina experimental e,
sculo
depois, com a profissionalizao dos mdicos. Hoje, esse processo visvel nas atuais tenses (conflito e adequao) entre a prtica mdica e as conseqncias das descobertas da Biologia celular. Os dois plos (cientfico e profissional) da Medicina podem, pontualmente, assumir relaes de complementariedade. Na verdade, dividir a Medicina em "cincia" e "profisso" no nem um pouco original. Claude BERNARD (1966), por exemplo, j falava, no sculo XIX, numa Medicina "experimental" e noutra como "arte".
cardiogramas, anlises de laboratrio, o scanner, a ressonncia magntica nuclear, etc . De qualquer forma, o mtodo clnico no pode ser identificado ao mtodo cientfico. O mdico, na rotina profissional, examina o paciente baseando-se em informaes que indicam os mecanismos pelos quais so gerados os sintomas. Nesse sentido, o mdico aplica um conhecimento cientfico, embora no esteja interessado, primariamente, em desenvolver, ou transformar, as teorias empregadas na atividade clnica. Em vez disso, ele usa as teorias existentes para explicar as doenas e curar ou tratar os pacientes. A clnica, certo, pode descobrir novas doenas, isto , um conjunto articulado de sintomas (novos ou articulados de forma original) e que, inicialmente, tem o status de "sndrome". Mas, ela incapaz de descobrir os mecanismos causais que geram os sintomas e explicam a doena. E, sem dvida, tais situaes, como a descoberta de novas doenas, criam uma motivao poderosa na direo de novas pesquisas em Medicina. Contudo, a clnica mdica, por si mesma, no tem como objetivo a gerao de novos conhecimentos. Ela parece ser, na verdade, um sistema interpretativo que relaciona, de forma causal, um ou vrios sintomas a uma ou mais leses ou disfunes, mas sempre a posteriori, isto , os mecanismos causais j foram descobertos e inseridos no conhecimento clnico, via "cincia mdica". O mdico, mesmo o especialista, no um cientista e, sim, um profissional que aplica o seu conhecimento na vida cotidiana, mantendo um contato dirio com as pessoas, suas vidas e concepes. O mdico seria formado para uma vida prtica e, no, para uma reflexo crtica sobre o seu saber e o seu objeto. raro um mdico se perguntar sobre o que doena; na verdade, ele no precisa "saber" e, sim, "detectar", "procurar", "examinar", "olhar", "diagnosticar", etc. O paradoxal que o mdico "luta" o tempo todo com os seus doentes para legitimar o seu conhecimento, bem como isolar as vises "profanas" de doena. Tal luta no propriamente persuasiva - pelo menos no cotidiano e excetuando a "sade pblica" -, baseada no confronto entre noes de doena, mas, sim, "tcnica", alicerada na eficcia, na produtividade e na tecnologia de tratamento dos mdicos. Estes no precisam propriamente "pensar" sobre a doena, desde que a imensa fora
da legitimidade social da sua profisso nosolgica, a priori, verdadeira.
torna
sua
viso
O trabalho profissional mdico exige, por natureza, pouca reflexo terica, sendo, basicamente, um trabalho de aplicao que difere marcadamente, por exemplo, do trabalho do pesquisador. Assim, " na medida em que a prtica mdica faz to pouco uso da cincia, esse uso obedece a uma orientao caracterstica: ele se esfora mais em aplic-la do que em crila ou nela contribuir. Dado que esse trabalho se concentra em problemas concretos e sua soluo prtica, preciso que ele continue, mesmo se faltando-lhe um fundamento cientfico: baseado na interveno, ele independente da existncia de conhecimentos atestados" (FREIDSON, 1984:172). O mdico baseia a sua prtica menos no saber do que na ao, realizando-a como um fim em si mesmo. Nesse sentido, ele um pragmtico, que confia nos "resultados" aparentes de sua ao e, assim, acumula o seu conhecimento menos a partir de um saber existente do que de sua experincia direta e pessoal; da, inclusive, a gigantesca importncia que o mdico projeta no tratamento. Sua tcnica toda baseada na racionalidade clnica, que no , como a cientfica, um instrumento destinado a explorar ou a descobrir princpios gerais e, sim, um mtodo de triagem e de estabelecimento das interconexes entre os fatos ou sintomas visveis e as hipteses diagnsticas. Em conseqncia, a "teoria" do mdico se constri em funo de sua prtica mdica, no sendo nada mais do que generalizaes da sua experincia clnica, isto , "de uma experincia pessoal necessariamente marcada pelas prevenes do indivduo. Como muito bem o disse Oken, a 'experincia clnica se reduz freqentemente a uma mitologia pessoal sustentada por um ou dois incidentes ou pelas histrias de colegas" (FREIDSON, 1984:180).O conhecimento do mdico, assim, possui um parentesco com o "conhecimento prtico"; isto , pode ser visto, lato sensu, como uma representao social. Posto isto, como possvel pensar a Medicina Clnica e Profissional? Talvez, a Medicina Clnica seja um tipo de saber, e no propriamente uma cincia, isto , seria, provavelmente, um conjunto de elementos que caracterizaria uma prtica discursiva. Assim, segundo Foucault, "a este conjunto de elementos, formados de maneira regular por uma prtica discursiva e que so indispensveis constituio de uma cincia, apesar de no se
destinarem necessariamente a saber" (FOUCAULT, 1967:220).
lhe
dar
lugar,
pode-se
chamar
Desse modo, "um saber aquele de que podemos falar em uma prtica discursiva que se encontra assim especificada: o domnio constitudo pelos diferentes objetos que adquiriro ou no um estatuto cientfico (o saber da Psiquiatria, no sculo XIX, no a soma do que se acreditava verdadeiro, o conjunto das condutas, das singularidades, dos desvios de que se pode falar no discurso psiquitrico); um saber tambm o espao em que o sujeito pode tomar posio para falar dos objetos de que se ocupa em seu discurso (neste sentido, o saber da Medicina clnica o conjunto das funes de observao, integrao, deciframento, registro, deciso, que pode exercer o sujeito do discurso mdico); um saber tambm o campo de coordenao e de subordinao dos enunciados em que os conceitos aparecem, se definem, so aplicados e se transformam (...); finalmente, um saber se define por possibilidades de utilizao e de apropriao oferecidas pelo discurso (...). H saberes que so independentes das cincias (...), mas no h saber sem uma prtica discursiva definida, e toda prtica discursiva pode-se definir pelo saber que ela forma" (FOUCAULT, 1967:221). Por outro lado, definindo-a como um saber e no como uma cincia, permite-se a entrada das "influncias axiolgicas"; referindo-a como um saber profissional, diminui-se a sua "objetividade" ou pretenso verdade (ou cincia) - de fato, o mdico tem como meta principal o tratamento. Afirmando a Medicina como uma "profisso de interveno", ao invs de uma "profisso de saber", sustentamos que ela tem uma aplicao prtica evidente num setor importante da populao e, conseqentemente, impe-se a necessidade de um "controle oficial" sobre a formao profissional e uma proteo contra mdicos incompetentes e indivduos no-mdicos. Cria-se, desse modo, uma situao em que os mdicos possuem um monoplio legal sobre o seu trabalho - a Medicina um "mercado fechado" -, formando uma fronteira ntida entre profissionais e no-profissionais, ao mesmo tempo em que, pela aplicao prtica de seu saber na vida cotidiana, a Medicina mantm um contato dirio com as pessoas comuns, sua vida e suas concepes. e) Saber mdico e paradigma
Segundo Laplantine, "o pensamento mdico oficial de nossa sociedade, justamente aquele que se beneficia da maior legitimao social, no seria compreensvel sem seu modelo epistemolgico de referncia, as cincias exatas. Mais precisamente, ele se constitui ele mesmo como sendo o intermedirio prtico da biologia. Seu discurso, coextensivo ao seu objeto, o biomdico, no conhecendo e nem reconhecendo nenhum outro. E tudo aquilo que no entra no seu campo de saber ou abandonado s elocubraes do pensamento no cientfico ou submetido aos seus ditames" (LAPLANTINE, 1992:266). O mdico aparece, em conseqncia, inscrito na particularizao de um conhecimento especializado e formado por dentro de um paradigma epistemolgico advindo das cincias naturais, embora o contato com estas (Biologia, principalmente) tenha sido muito proveitoso na histria da Medicina. De fato, podemos entender porque a Anatomia, a Fisiologia, a Histologia, a Embriologia, a Neurologia, etc., prescindiram epistemologicamente das cincias sociais, ainda que nas reas mais "permeveis" da Medicina (Medicina Social, Epidemiologia, Psiquiatria, predominantemente) sempre existisse - seja de forma explcita ou implcita - a necessidade de introduzir fatores sociais, culturais e psicolgicos para o esclarecimento da etiologia, do diagnstico e da teraputica da doena. O paradigma biomdico, em conseqncia, identifica-se ou se expressa num discurso naturalista, que sempre teve dificuldades de se apossar da determinao scio-cultural-psicolgica de certas doenas, entre as quais, a doena mental. No trabalho cotidiano do mdico, o seu saber, enquanto paradigma biomdico, raramente questionado, e as regras que "informam" a prtica mdica (inclusive a sua teoria) no so transparentes para o mdico. A subordinao deste ao paradigma ocorre passivamente, bem como os "produtos" da atividade mdica so imunes (pelo menos em parte) crtica. O paradigma visto, deste modo, como "natural" - a nica viso possvel - e absorvido, por assim dizer, "inconscientemente", levando os mdicos a se comportarem como o peixe do provrbio chins: "o ltimo a saber da existncia da gua". Devemos lembrar, ainda, que a formao de um mdico est baseada na aquisio de uma "base tcnica" - fundamentalmente, na manipulao de meios para combater as doenas - e, no, de uma reflexo (crtica) prtico-terica a nvel profissional; portanto, mais suscetvel para absorver acriticamente conjuntos de procedimentos, hbitos e tcnicas.
Os psiquiatras, diante de uma pergunta cortante como "o que doena mental?", responderiam menos de acordo com a sua formao universitria do que com a sua experincia profissional, adquirida na aplicao cotidiana do seu saber. O psiquiatra no "recitaria" a resposta, trazida pelo seu aprendizado universitrio, mas, sim, elabor-la-ia, tambm, a partir do imediatismo de seu cotidiano profissional, ou seja, produzir-se-ia uma construo profissional da doena mental, que seria nada mais nada menos do que uma representao social especfica que inscreveria, no seu mago, determinaes, provenientes do "senso comum" (contato com as diversas representaes existentes na sociedade) e do seu prprio meio ambiente. Podemos aventar, portanto, que a prtica discursiva da Medicina realiza-se enquanto um saber profissional e possui diversas caractersticas que a distinguem de outros saberes. Mas, como identificar o conhecimento do representao social, mesmo que especfica, identificao desta com o "senso comum"? mdico com se existe uma uma
Ora, segundo o prprio Moscovici, menos importante, na qualificao da representao social, definir o seu agente ou a sua fonte do que a sua funo (MOSCOVICI, 1978:76-77). A representao social teria como funo especfica a contribuio "para os processos de formao de condutas e de orientao das comunicaes sociais" (MOSCOVICI, 1978:77). Em conseqncia, no existe motivo para procurar a representao social num "locus" externo profisso, desde que o prprio cotidiano profissional do psiquiatra produz as suas representaes sociais sobre o objeto de sua prtica: a doena mental. Alm disso, uma representao social surge onde houver perigo para a identidade do grupo social, " quando a comunicao de conhecimentos submerge as regras" (MOSCOVICI, 1978:174) que o grupo se outorgou. Assim, uma pergunta como "o que doena mental?" atinge diretamente as premissas do saber psiquitrico, fazendo com que, no fundo, o psiquiatra responda, defendendo-se. f) Doena e paradigma As doenas e, especialmente, a doena mental podem ser consideradas como "desvios sociais", e as normas, as regras e o sistema axiolgico que "produzem" e "imputam" - o desvio nunca est simplesmente "l" - tais desvios so construdos, na sociedade moderna, por grupos sociais especficos, relacionados gesto do controle social; o desvio social, em particular a
doena, construdo socialmente. O problema, conseqentemente, elucidar as caractersticas dessa construo: as concepes, as hipteses, os modos de proceder que modelam a significao do desvio entre os agentes de controle (Cf. FREIDSON, 1984). Os mdicos, na sociedade moderna, so o grupo social especfico encarregado de "atribuir" o desvio doena. Tal "atribuio" ocorre atravs, principalmente, da construo profissional da doena, que, a nosso ver, pode ser elucidada pelo estudo das representaes da doena entre os mdicos. Uma coisa, assim, analisar a doena na sua realidade fsica; outra, apreender a relao entre a doena e a sociedade. Quem produz os "sentidos da doena" o meio social, com a nossa sociedade reservando um lugar privilegiado, nesse processo semitico, para a Medicina. Dessa forma, doena, do ponto de vista histrico, o seu status fsico + sua significao social. O mdico suprime a segunda parcela da soma e, por isso, minimiza a significao social da doena. O mdico, em conseqncia, no apenas trata uma entidade fsica chamada de doena, mas tambm a impregna, mesmo involuntariamente, de significao social. Como o mdico percebe a doena apenas do ponto de vista do paradigma biomdico, calcado principalmente na Biologia, ele subsume a significao social da doena ao seu status fsico; ou melhor, o mdico atribui significao social da doena um carimbo completamente biolgico. A significao social da doena a sua apreenso como uma entidade biolgica. O efeito maior dessa atribuio pensar que a doena no tem um significado social e esquecer, assim, que o prprio fato dela ser compreendida socialmente como um fenmeno meramente biolgico representa, pari passu, uma atribuio social de um significado. A naturalizao da doena impede que o ato mesmo de atribuio de significado seja percebido como social. O papel social da doena e do doente , consequentemente, mitigado. De todo modo, o problema se torna dramtico no que diz respeito Psiquiatria, face dificuldade e ambigidade na definio do "status" fsico da doena mental. Ora, podemos, de uma certa maneira, diferenciar os limites entre o componente orgnico ou funcional de uma doena e a sua significao social; entretanto, no caso da doena mental, no sabemos como os limites se realizam. O problema no de insuficincia cientfica e, sim, de abordagem epistemolgica. Quando encontramos uma patologia
orgnica, "naturalmente" isolamos a totalidade fisiolgica do indivduo; porm, face a uma psicopatologia, necessitamos coloc-la na dinmica das relaes inter-pessoais e sociais em que est inscrita. O "modo de estar" do doente na sociedade condicionado pela dinmica social e histrica que a modela e lhe d forma, fazendo com que a psicopatologia de um sujeito seja incompreensvel fora das prticas do meio em relao a ele. A doena mental desestabiliza, assim, o modelo mdico de percepo da doena calcado na clnica. A Psiquiatria no pode basear a sua prtica mdica no olhar antomo-clnico da Medicina moderna, uma vez que no existem referenciais orgnicos em que se apoiar. A clnica psiquitrica no torna visvel o invisvel, porque este ltimo, simplesmente, no existe; a doena, portanto, estaria na superfcie e se identificaria com o sintoma que seria, geralmente, o comportamento desviante; ou seja, comportamento desviante-sintoma-doena tem sido o caminho clnico da Psiquiatria. A Psiquiatria, em conseqncia, no conseguiu desvencilharse da clnica mdica do final do sculo XVIII, quando "desaparece a diferena total entre sintoma e doena. A doena no mais uma natureza oculta e incognoscvel; sua natureza, sua essncia a sua prpria manifestao sensvel enquanto fenmeno, ao nvel dos sintomas: uma doena um conjunto de sintomas capazes de serem percebidos pelo olhar. M as desaparece tambm a diferena absoluta entre sintoma e signo. Na medida em que o sintoma permite distinguir um fenmeno patolgico de um estado de sade ele tambm signo da doena, o que significa dizer signo de si mesmo pois a essncia da doena ser um conjunto de sintomas" (MACHADO, 1982:104). A Psiquiatria, pois, uma Medicina de sintomas. Pode-se comprovar tal afirmao examinando o mais famoso e atual cdigo de classificao de doenas mentais do mundo, a saber, o DSM-III, lanado pela APA (Associao Psiquitrica Americana). O objetivo principal do DSM-III "... obter concordncia diagnstica entre os autores. Postulando-se 'a-terico', o DSMIII quer evitar assumir uma teoria ou outra, justamente para tentar a adoo de vrias correntes, pois no campo da etiologia que as teorias tornam evidentes suas caractersticas, de modo que, em Psiquiatria, nenhuma das hipteses etiolgicas foi realmente provada; o DSM-III (e DSM-III-R) no se preocupa com a etiologia" (SONENREICH & KERR-CORREIA, 1990:8).
Como se afirma no prprio DMS-III: "dada a posio a-terica do DMS-III com respeito etiologia, tentamos descrever de maneira exaustiva as manifestaes de transtornos mentais e, somente em casos raros, como apareceram esses transtornos. Tal aproximao pode ser qualificada de ` descritiva', na medida em que as definies de transtornos mentais consistem geralmente de descries das caractersticas clnicas dos mesmos" (SONENREICH & KERR-CORREIA, 1990:8. Grifos nossos). O DSM-III, desse modo, pretende ser cientfico e postula como mtodo a observao e a experimentao. Contudo, a Psiquiatria clnica s pode adequar-se ao mtodo cientfico pela metade, isto , ela incorpora to somente a observao, uma vez que no se baseia em experimentos. Assim, entende-se a nfase na descrio das caractersticas clnicas dos transtornos mentais. Os prprios autores do DSM-III, nesse sentido, reconhecem as dificuldades encontradas, lanando uma esperana baseada na f: "...nossa opinio a de que progressos reais podem vir com os novos dados obtidos, testando hipteses alternativas promissoras, sobre como definir e classificar os transtornos mentais. Este o nosso sonho" (SONENREICH & KERR-CORREIA, 1990:12. Grifo nosso). Um sonho que, na verdade, pode transformar-se em pesadelo, pois a Medicina, baseada na antomo-clnica, tem como fundamento o seu consenso etiolgico e, enquanto a Psiquiatria no conseguir um mnimo de coerncia nas suas referncias etiolgicas, ela continuar fadada a ser apenas "descritiva". No causa espanto, pois, tanta preocupao compulsiva dos psiquiatras com a descrio dos sintomas da doena mental. Ademais, descrever sintomas envolve a necessidade de classificlos e enquadr-los numa taxonomia nosolgica, o que corresponde grande ambio do DMS-III de tornar a Psiquiatria uma Medicina taxonmica e sintomatolgica coerente e padronizada. A Psiquiatria, portanto, jamais escapou das rdeas de uma Medicina classificatria (Cf. FOUCAULT, 1967), isto , a Psiquiatria jamsis conseguiu exorcizar a representao.
2 - DISCUSSO METODOLGICA a) O campo da sociologia
Durante o seu desenvolvimento, a Sociologia no engendrou um processo de diferenciao comparvel Economia e, mesmo, Cincia Poltica. Ela acompanhou o processo de demarcao das esferas de conhecimento especializado, embora se tenha mantido ambgua em relao sua prpria discriminao num campo de anlise especfico. Ora, se o conhecimento sociolgico se tornasse um domnio completamente especializado e autnomo, provavelmente perderia de vista o seu objeto, bem como o seu campo de anlise ficaria to restrito que subverteria a sua identidade. Tal ambiguidade, no seu processo de diferenciao enquanto conhecimento especfico, deve-se natureza de seu objeto de anlise que, como veremos, no pode ser pensado como uma especificidade desacoplada da totalidade social. A Economia, por exemplo, ao contrrio da Sociologia, pode se apropriar do seu objeto, a atividade econmica, como um subsistema de aes, cuja autonomia e eficcia prpria produz a impresso de um "sistema sem sujeito". O objeto da Economia pode se "destacar" do todo social e ser reduzido analiticamente a uma ao racional com relao a fins ou seja, um subsistema de ao racional, fundamentalmente instrumental, que prescinde de uma legitimao axiolgica (Cf. HABERMAS, 1987-Tomo I; WEBER, 1964; MARX, 1975). Ao mesmo tempo, a atividade econmica no capitalismo, devido sua extraordinria complexidade, tem como forma bsica de constituio a integrao sistmica, perfazendo assim um sistema de relaes, distanciado histrico e espacialmente, no qual indivduos ou coletividades so vinculados a outros, sem que ocorra uma interao face a face ou uma co-presena fsica no tempo e no espao (GIDDENS, 1987:77). A integrao sistmica um lugar comum, e inevitvel, na Sociologia , se ela deseja analisar a sociedade capitalista, como tambm inegvel que, no capitalismo, o processo de racionalizao social privilegia uma racionalidade do tipo cognitivo-instrumental (Cf. WEBER, 1964). Contudo, para a Sociologia, a constituio social no se resume integrao sistmica, como tambm a ao social no se subsume racionalidade cognitivo instrumental. Na verdade, quando a Sociologia examina a ao, a integrao, a reproduo, a socializao e a interao social, ela no pode, por exemplo, considerar a ao social como um subsistema, porque do contrrio seramos levados a pens-la como uma especificidade e no como uma dimenso substantiva da sociedade.
A integrao social, por sua vez, baseada no processo de interao social (co-presena), consolida as integraes sistmicas de cada subsistema; mas, se fosse desconectada da sociedade, perder-se-ia a malha fundamental em que se baseiam todas as atividades humanas e o cotidiano se tornaria um subsistema especializado, no se sabe em qu. O cotidiano, por certo, ficaria, de forma paradoxal, homogneo, diferenciado e subordinado a uma funcionalidade instrumental, opacificando as manifestaes expressivas e as questes prtico-morais da vida cotidiana. b) O socilogo e seu objeto - I O mbito da ao social, base das prticas cotidianas, condensa um amplo espectro de fenmenos e vrias formas de racionalidade, inclusive aquela em relao a fins. A Sociologia, ao problematizar a ao social, analisa as estruturas do "mundo da vida", que aliceram e iluminam, como um espectro de luz banhando todas as cores, os subsistemas da Economia e da Poltica. Os contextos, assim, da socializao, da integrao e da interao sociais so apreendidos sociologicamente a partir das estruturas da prtica cotidiana, levando "em considerao todas as formas de orientao simblica da ao" (HABERMAS, 1987Tomo I:21). Os constructos sociais (instituies, documentos, proferimentos verbais e no-verbais, utenslios, etc.) no so inteligveis sem o seu sentido e o seu significado, uma vez que estes participam da sua prpria constituio. Pode-se, evidentemente, observar um proferimento verbal como um som, descartando o seu significado implcito, mas, para uma leitura sociolgica, precisar-se-ia recompor o proferimento no que ele tem de mais importante, ou seja, a sua produo de sentido. Por certo, quando examinamos uma estrela no firmamento, projetamos um sentido "estrela" nesse objeto e, desse modo, somos sujeitos dessa significao. Aparentemente, uma estrela s existe, para ns, a partir do momento em que ela tem um significado. Para Marx, a natureza, considerada abstratamente e fora de um contexto humano, no existe, afirmao que no deixou de gerar uma certa confuso. Ela foi interpretada, por exemplo, por Mach e Avenarius, como uma frmula idealista. Sem dvida, eliminando-se o conceito de prxis, ou simplesmente ignorando-o, poder-se-ia, de fato, interpretar a frase de Marx la Berkeley - no h objeto sem sujeito - ou, ainda, de forma kantiana - o sujeito conhece o objeto que ele mesmo produz.
Contudo, Marx no estava negando a anterioridade ontolgica da natureza, mas apenas ressaltava que ela no nada enquanto o homem dela no se apropria ou a transforma, embora, claro, ainda no possamos "transformar" uma estrela em um objeto humano, salvo como objeto de conhecimento ou numa obra potica. Mas, quando analisamos um constructo social, alm de sermos sujeitos de uma significao, pois projetamos um sentido para o constructo, somos tambm afetados pelo seu significado, que prexiste a toda e qualquer projeo nossa. Assim, ao entrarmos em relao com um constructo social, somos tambm objeto de suas significaes, independente de querermos ou no transform-las em nossos objetos de conhecimento. Quando, por exemplo, um socilogo vai a campo para reunir informaes relevantes sobre uma instituio, ele supe que os seus membros "so capazes de lhe fornecer informaes que ele no pode obter de outra forma e que as idias, opinies e intuies dos membros do grupo diferem das suas" (HELLER, 1991:208). Os membros da instituio so sujeitos de suas aes e de suas significaes, fazendo parte de um espao social diferente daquele do socilogo; este no pode intuir, isoladamente, sobre o significado da instituio abordada, porque no faz parte dela, ou seja, ele precisa de uma metodologia de abordagem que o possibilite apreender as informaes sobre a instituio. O socilogo, igualmente, no aborda, de forma direta, o que a instituio, mas, sim, a interseco do que nela dito e feito. Ele precisa, ento, compreender o que foi dito sobre e feito na instituio e, conseqentemente, necessita interagir, de uma forma ou de outra, com os sujeitos da informao prestada. Um problema de tal interao que os sujeitos das opinies colhidas so vistos pelo socilogo como objetos; o socilogo necessita reific-los para entend-los. Alm disso, "os sujeitos pesquisados no so interlocutores: eles respondem a perguntas, mas no as formulam. Eles respondem a perguntas especficas tidas como relevantes da perspectiva do socilogo, membro de uma outra instituio. Responder a questionrios uma situao `anormal' para os membros das instituies pesquisadas. A `anormalidade' da situao exerce influncia sobre o sujeitoobjeto em maior ou menor medida. Em parte, como resultado da anormalidade da situao, em parte, como resultado da rigidez das perguntas e da impossibilidade de um dilogo real, as respostas no expressam completamente as opinies, idias,
intuies dos sujeitos interrogados. Aquilo que na Fsica recebe o nome de `relao de incerteza' est evidentemente presente na Sociologia emprica: os meios de obteno da informao exercem influncia sobre o sujeito-objeto que fornece a informao" (HELLER, 1991:209). Pode-se pensar em resolver toda essa problemtica melhorando as tcnicas de entrevista e de pesquisa; e, sem dvida, elas so importantes para melhorar a interao entre o sujeito pesquisador e o pesquisado, embora o problema de fundo no possa ser solucionado, desde que "a reificao do sujeito pode ser contrabalanada mas no completamente superada" (HELLER, 1991:209). A reificao, todavia, no apenas um privilgio da Sociologia, caracterizando tambm os processos de interao da vida cotidiana, pois, num mundo diferenciado em uma multiplicidade de papis sociais, a intuio no o bastante para as exigncias cognitivas do dia-a-dia. Desse modo, "as formas de vida na modernidade, se que existem, so mltiplas e fragmentadas, o que nos impede de compreend-las atravs de puro insight" (HELLER, 1991:214). Por outro lado, os sujeitos informantes da instituio pesquisada so produtores de um saber pr-terico, que , justamente, o mbito do objeto da pesquisa. Os sujeitos pesquisados produzem conhecimentos sobre a instituio, porque a fazem e a vivem, enquanto o socilogo, antes da pesquisa, um mero leigo e no um terico sobre o assunto. O saber dos entrevistados pr-existe ao saber do socilogo e a condio sine qua non para o seu prprio conhecimento. O pesquisador encontra, assim, o seu objeto de conhecimento j estruturado simbolicamente e constituindo uma parte vital da reproduo da vida dos sujeitos da instituio. Na verdade, esse campo da Sociologia sempre tem seus objetos estruturados simbolicamente, porquanto o seu campo objetual tudo aquilo que se pode perceber como elemento de um mundo da vida; a saber: "... desde as manifestaes imediatas (como so os atos de fala, as atividades teleolgicas, etc.), passando pelos sedimentos de tais manifestaes (como so os textos, as tradies, os documentos, as obras de arte, as teorias, os objetos da cultura material, os bens, as tcnicas, etc.), at os produtos gerados indiretamente, suscetveis de organizao e capazes de se estabilizar a si mesmos (como so as instituies, os sistemas sociais e as estruturas de personalidade)" (HABERMAS, 1987-Tomo I:154).
Se o socilogo do nosso exemplo entra em contato com um saber pr-existente produzido pelos entrevistados, ele no pode ter acesso a essa realidade, j estruturada simbolicamente, apenas pela observao; de fato, ele precisa compreender o que foi dito e, em conseqncia, participar, ainda que virtualmente, de um processo de comunicao. Nesse caso, necessrio como premissa, na interao entre o socilogo e os entrevistados, a insero de ambos num mundo comum, onde seja possvel o processo comunicativo mediado pela linguagem, que tem "a funo da integrao social e da coordenao dos planos de diferentes atores na interao social" (HABERMAS, 1989:41). O contato interativo entre o socilogo e os entrevistados baseado numa ao que visa comunicao, bem como as manifestaes simblicas, produzidas pelos ltimos, no tm apenas um significado, mas tambm uma pretenso validez. Por isso, o socilogo no pode separar, na leitura das informaes obtidas, as questes de significado das de validez, se deseja escapar de uma anlise meramente descritiva do objeto. O problema, na verdade, muito mais complexo e envolve dois nveis: o primeiro se refere obteno dos dados, e o segundo, descrio terica dos mesmos. De um lado, o socilogo obtm dados de um mundo (no caso, a instituio) j estruturado simbolicamente, ao qual no se pode ter acesso direto pela observao; de outro, os dados no podem ser descritos independentemente do seu marco terico, uma vez que eles no so separados da teoria utilizada e sua formulao est contaminada de categorias tericas (Cf. HABERMAS, 1987-Tomo I:156; MOLES, 1971; KUHN, 1975). O socilogo, nesse sentido, primeiro, vai "se servir, como participante dos processos de entendimento, das linguagens que encontra em seu campo objetual, pois somente atravs desses processos pode ter acesso aos dados" (HABERMAS, 1987-Tomo I:158); e,depois, reconstruir estes ltimos de acordo com o seu paradigma terico. Os problemas do socilogo, para a obteno de dados relativos vida cotidiana, no so diferentes, a priori, daqueles das pessoas comuns. Poder-se-ia, de certa forma, deduzir que o socilogo, como participante de um processo comunicativo, no tem um acesso ao mundo vivido distinto dos sujeitos pesquisados. E se tal acesso no distinto, o socilogo no pode utilizar a linguagem de forma neutra, pois "no pode 'montar' nessa linguagem sem recorrer ao saber prterico que possui como membro de um mundo da vida, de seu prprio mundo da vida, saber que ele domina intuitivamente como
leigo e que introduz sem analisar em entendimento" (HABERMAS, 1987-Tomo I:158).
todo
processo
de
O socilogo, depois de todo esse trajeto, comea ento a se perguntar qual , afinal, a diferena entre o seu conhecimento e o dos seus entrevistados. Mesmo sabendo que no fulcro da ao gerada para o entendimento onde se encontra a matriz das pretenses de validez e, assim, as possibilidades de crtica, ele tem de admitir que qualquer um, em princpio, pode ter uma conscincia reflexiva e crtica das pretenses de validez. Nesse momento, ele ter duas opes: 1) assume como premissa uma etnometodologia radical e afirma a identidade entre o seu conhecimento e o saber comum. O que o socilogo deseja, aqui, um aprofundamento etnogrfico, em que ocorra "um esforo hermenutico de 'fuso de horizontes" (GIDDENS, 1987:402). Seguindo esse raciocnio, ele pode negar ou, simplesmente, depreciar a verdade e a objetividade do seu saber e se tornar um adepto de um "pragmatismo radical" ou, ento, de um "kuhnisianismo de esquerda" (Cf. RORTY, 1990). 2) assume um discurso moderado, enfatizando que possvel superar o particularismo do contexto do cotidiano, uma vez que o socilogo possui uma "atitude teortica" diante do mundo e, assim, pode destacar-se do contexto do "mundo da vida" e de sua prpria prtica individual. A crtica das pretenses de validez teria como alicerce uma reserva de conhecimento que o homem comum no possui, pois "esta reserva de conhecimento estruturada de forma diferente daquela na qual cada um dispe na sua vida cotidiana" (SCHUTZ, 1984:48). Tal estruturao diferente do conhecimento "extramundano" pode ser inferida a partir de uma posio institucional, identificando a cincia como o meio e o lugar dessa "reserva de conhecimento". O pesquisador conseguiria uma atitude teortica e, desse modo, uma superao dos limites cognitivos do saber comum, ao substituir o sistema de valores do cotidiano pelo do mundo cientfico. Isso significa que o socilogo interage com o entrevistado, embora no siga as intenes de ao deste ltimo, uma vez que o seu sistema de aes se encontra alhures, no mundo cientfico. Despojando-se de seu papel de ator e no se subsumindo s aes do entrevistado, ele tem condies de compreender estas ltimas, o que, no fundo, significa um retorno ao problema da objetivao, pois, compreender uma ao a partir de outro sistema de aes, representa corporificar as intenes de ao, a subjetividade e a conscincia em produtos avaliveis.
O socilogo assume uma posio hermenutica (Cf. GADAMER, 1976) partir do momento em que se baseia na compreenso das razes do entrevistado e faz destas a melhor forma de entender as suas aes. Assim, existe um primeiro instante, tico e cognitivo, em que o pesquisador reivindica um "critrio de credibilidade" (Cf. GIDDENS, 1987:404), salvaguardando a dignidade das proposies do entrevistado (Cf. BOUDON, 1990:229; STEINER, 1991:27); um segundo instante, no qual se reconstri o significado das proposies, como um "contedo objetivo de uma emisso ou manifestao susceptvel de crtica" (HABERMAS, 1987-Tomo I:188); um terceiro, em que ocorre uma avaliao crtica das proposies de acordo com os parmetros empricos e tericos do pesquisador e os resultados do seu mundo cientfico (critrios externos de validao) e, enfim, um quarto momento, cuja caracterstica a utilizao dos "critrios internos" (GIDDENS, 1987:406) de validao inerente ao mundo do socilogo. c) O socilogo e seu objeto II Podemos esclarecer melhor toda essa discusso, abandonando o nosso querido socilogo e recorrendo ao nosso prprio exemplo. Nossa pesquisa consistiu em analisar as representaes da doena mental entre os psiquiatras. Afora essa situao banal, soma-se a particularidade de sermos, tambm, psiquiatra. Assim, obtivemos informaes de pessoas que compartilham conosco, alm do mesmo "mundo vivido", um meio profissional anlogo. Assim, entramos em contato com um saber j estabelecido, numa interao de pesquisa em que foi impossvel no levar em conta no somente o significado do que foi dito, mas tambm sua pretenso de validez. Os dados que obtivemos foram, justamente, os significados das palavras faladas na entrevista. A compreenso de tais dados, por sua vez, exigiu-nos uma relao intersubjetiva com os entrevistados produtores de nossas informaes. Devido a nossa prpria participao no processo de interao e comunicao com os entrevistados, no poderamos exigir-nos uma atitude objetivada em relao aos dados obtidos, desde que a compreenso de "um significado uma experincia impossvel de se fazer solipsisticamente, por se tratar de uma experincia comunicativa" (HABERMAS, 1987-Tomo I:159).
Se fssemos, pelo menos, um astrnomo, poderamos analisar uma estrela, assumindo, em relao a ela, uma atitude objetivada, mas, numa pesquisa com sujeitos entrevistados, impossvel, "ao compreender o que dito - quer se trate de uma opinio que relatada, uma constatao que feita, de uma promessa ou ordem que dada; quer se trate de intenes, desejos, sentimentos ou estados de nimo que so expressos" (HABERMAS, 1989:42)-, no deixarmos de entrar num processo de comunicao e assumir uma atitude performativa. Habermas define, de forma peremptria, a nossa situao: "a compreenso de uma manifestao simblica exige essencialmente a participao em um processo de entendimento. Os significados, que se encarnam em aes, em instituies, em produtos do trabalho, em contexto de cooperao ou em documentos, somente podem ser iluminados a partir de dentro. A realidade simbolicamente pr-estruturada constitui um universo que pode ser incompreensvel apenas se for enxergada com os olhos de um observador incapaz de comunicao. O mundo da vida s se abre a um sujeito que faz uso de sua competncia lingstica e de sua competncia de ao. O sujeito somente pode ter acesso quele participando, ao menos virtualmente, nas comunicaes de seus membros e, portanto, convertendo-se a si mesmo em um membro pelo menos potencial" (HABERMAS, 1987-Tomo I:160). No entanto, a nossa participao num processo interativo de pesquisa no se identifica com as intenes de ao dos sujeitos entrevistados. Nossa atuao se passa em outro nvel: como socilogo, nosso papel de ator se inscreve na atividade da "instituio" Sociologia. Assim, nossa atuao no corresponde quela dos entrevistados, ou seja, no atuamos na interao de pesquisa e, sim, concentramo-nos na escuta e na compreenso dos significados encontrados no processo de entendimento. Nesse sentido, se no atuamos no processo interativo de pesquisa, pelo menos participamos nele virtualmente. Tal situao no nos impede de reconhecer e levar a srio as pretenses de validez proferidas pelos entrevistados durante o processo de entendimento somente podemos entender um proferimento se soubermos as condies de sua validade. d) Interpretao e objeto Tivemos, portanto, de nos posicionar em relao ao material simblico produzido pelos entrevistados, bem como de problematizar as suas manifestaes, produzidas numa ao
orientada para o entendimento. Somente, assim, foi possvel saber as razes por que tal entrevistado disse isso ou aquilo. Foi preciso, portanto, interpretar racionalmente o nosso material emprico. Por outro lado, nossa situao possui ainda outro agravante, isto , a nossa pesquisa consistiu em analisar, nos entrevistados, as representaes da doena mental. Ora, s podemos apreender o contedo de uma representao atravs de uma outra de contedo similar. Uma representao de uma representao no se adquire descrevendo e, sim, interpretando o contedo representativo (Cf. SPERBER, 1989:118). O socilogo se torna, portanto, um intrprete do material colhido na entrevista, o que no surpreendente, pois compreender j interpretar, de forma mais ou menos implcita. Contudo, os problemas da decorrentes so complexos e de difcil resoluo. A melhor interpretao no aquela que se parece mais com o contedo da representao interpretada (SPERBER, 1989:123). Se assim fosse, a melhor interpretao seria a traduo literal do contedo representativo. A interpretao no pode ser um retrato fiel do contedo da representao. Ela depende da intuio do intrprete e obedece s implicaes do seu posicionamento. As interpretaes vo do manifesto ao latente, isto , o intrprete tem que ultrapassar a superfcie do "texto" para encontrar os seus significados ocultos. Uma interpretao jamais esgota o material colhido de uma entrevista e pode ser sempre suplantada por uma outra mais abrangente. Na verdade, o objetivo de uma interpretao , justamente, produzir uma base para futuras outras interpretaes. O efeito do encadeamento das interpretaes anlogo ao que Freud chamou de superinterpretao, isto , designa "uma interpretao que se destaca secundariamente, quando j foi fornecida uma primeira interpretao, coerente e aparentemente completa" (LAPLANCHE & PONTALIS, 1980:647). Mas, por que isso acontece? Ora, o material colhido uma formao racional-simblica que no se esgota em apenas uma determinao, ou seja, tal formao resultante de um complexo de determinaes. Desse modo, as manifestaes simblicas dos entrevistados se organizam em seqncias significativas diferentes, cada uma correspondendo a uma etapa de interpretao. Em suma, a super-interpretao
esclarecida pela existncia de uma superdeterminao & PONTALIS, 1980:647).
(LAPLANCHE
Neste momento, podemos questionar se possvel evitar explicao interpretativa como um fim em si mesmo conseqentemente, uma cadeia sem fim de interpretaes nauseum. Acreditamos que, aqui, devemos evitar tanto "compulso talmudiana" como o pragamatismo analtico.
a e, ad a
Na interpretao talmudiana, o material interpretativo um texto sagrado, imutvel e eterno, cuja caracterstica maior seria "o comentrio sem fim e o comentrio do comentrio..." (STEINER, 1991:63). As interpretaes seriam crculos concntricos em torno do Livro e seus desenhos semnticos interminveis. Elas no descortinariam o latente, pois as profundezas so invisveis e ilegveis e seu "princpio de realidade" seria a sua ligao de origem, o texto sagrado. J na interpretao analtica, "a lgica e o princpio motor da associao livre, sobre os quais so fundadas a teoria e a prtica da Psicanlise, colocam em cena sries infinitas. No somente cada unidade da cadeia associativa entra em relao linear e horizontal com a seguinte, mas tambm, ela pode se constituir como o ponto de partida de uma nova srie ilimitada de conotaes, associaes e reminiscncias ligadas entre si. A deciso do analista em interromper o desenvolvimento da anlise, de pr um fim naquilo que , no sentido mais manifesto, uma frase sem fim, aps sessenta minutos, ou antes das frias de vero, totalmente arbitrria (...). Freud (...) reconhece que determinados sintomas e manifestaes neurticas podem ressurgir tempos depois do final da terapia. Ele admite que a noo de fim, no processo analtico de associaes verbais, sem fundamento terico" (STEINER, 1991:68). A interpretao na Psicanlise seria contingente e convencional, o que significa, entre outras coisas, que no h uma hierarquia de valor entre uma e outra interpretao. O fim do processo de interpretao e, mesmo, a escolha entre duas interpretaes so determinados de maneira pragmtica. difcil dizer que a Psicanlise tenha critrios de validade, embora possua, devido relao teraputica, critrios de credibilidade, porque o que importa menos a verdade da interpretao do que o seu potencial significativo enquanto tal - no existe, nesse sentido, a necessidade de uma referncia emprica ou factual. A interpretao analtica heurstica, por natureza.
A interpretao na cincia social contextualizada, no se limitando ao espao do texto e nem relao interativa, pois conectada aos contextos no semnticos da interao. Significa uma combinao especial entre fato e conveno, possuindo um condicionamento realista e, assim, sendo passvel de verificao emprica. A interpretao sociolgica sofre o crivo dos critrios de validade (externo e interno) comuns s cincias sociais, reproduzindo uma hierarquia entre as representaes em termos de complexidade e poder explicativo - nesse sentido, elas so menos contingentes do que seletivas. Todavia, os critrios de avaliao do intrprete, baseados na sua intuio e no seu ponto de vista, so, no mnimo, limitados. A limitao da interpretao se acentua a partir do momento em que se descobre que uma significao no uma causa e que uma atribuio desta no implica numa explicao. Assim, as generalizaes surgidas das interpretaes do socilogo so, antes, modelos interpretativos que explicariam situaes particulares, do que, propriamente, uma teoria. Generalizar uma interpretao, decididamente, no produz uma teoria (SPERBER, 1989:126), porque a interpretao depende do seu contexto particular - a questo para o intrprete como transcender a singularidade da produo interpretativa. Como, ento, resolver esse problema? Poder-se-ia propor duas solues: 1) produzir uma epidemiologia da representao, descartada de antemo por causa de nossa minscula amostra; 2) supor, heuristicamente, que cada entrevistado uma aplicao particular da cultura ou subcultura de seu grupo social ou, em sentido amplo, supor que um indivduo "... um portador passivo de tradies ou, em termos mais dinmicos, aquele que concretiza, sob mil formas possveis, idias e modos de comportamento implicitamente inerentes s estruturas ou s tradies de uma sociedade dada" (SAPIR, apud MICHELAT, 1980:194). e) Indivduo e discurso O material colhido na entrevista seria uma expresso sintomtica, complexa e contraditria do grupo social analisado. O entrevistado, vetor da sua cultura, internaria estruturas objetivas de sentido e apropriar-se-ia de relaes sociais, reconhecendo-se nelas, bem como interiorizaria esquemas de ao e condutas coletivas. Para a Sociologia - utilizando uma
linguagem metafrica trnsito, para o social.
indivduo
seria
uma
passagem,
um
Nesse sentido, as manifestaes simblicas dos entrevistados, pela necessidade metodolgica de problematizao, seriam entendidas como discursos. Tal procedimento tem pertinncia, pois os discursos no podem ser analisados de forma auto-referente, sem se levar em considerao outros contextos que no sejam os lingsticos. O discurso, de forma geral, pode ser entendido como um texto situado dentro de "... suas condies sociais de produo, (...) como um elemento a mais da realidade" (NASSIF, 1982:23). O discurso, desse modo, seria toda prtica enunciativa considerada "em funo de suas condies sociais de produo, que so fundamentalmente (...) institucionais, ideolgico-culturais e histrico-conjunturais" (ROBIN, apud NASSIF, 1982:23). Tal conceito de discurso se aproxima do foucaultiano de formao discursiva, definido como "(...) o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma alocuo, um sermo, um panfleto, uma exposio, um programa, etc.) a partir de uma posio dada em uma conjuntura determinada" (FOUCAULT, apud MAINGUENEAU, 1989:14). Assim, o discurso pode ser considerado como uma prtica social que expressa representaes e valores dominantes ou subalternos. O discurso seria inseparvel do seu contexto no discursivo e de seu lugar de enunciao. Ele incorporaria a dissonncia entre o lugar da enunciao e o enunciado, atravs de trs registros estreitamente articulados: "- a formao discursiva confere `corporalidade' figura do enunciador e, correlativamente, quela destinatrio, ela lhes d `corpo' textualmente; - esta corporalidade possibilita aos sujeitos a `incorporao' de esquemas que definem uma maneira especfica de habitar o mundo, a sociedade; - estes dois primeiros aspectos constituem uma condio da `incorporao' imaginria dos destinatrios ao corpo, o grupo dos adeptos do discurso" (MAINGUENEAU, 1989:48). Desse modo, com o conceito de discurso, seria possvel realizar o nosso objetivo de transcender a mera singularidade dos sujeitos entrevistados, desde que o discurso incorpora, na sua definio, as determinaes sociais e textuais, encaminhando-nos para a comunidade discursiva dos entrevistados. f) Tcnicas e campo de pesquisa
Diante de toda essa problemtica, achamos natural utilizar como tcnica de pesquisa a chamada "entrevista de profundidade" ou "focalizada", que teria as seguintes utilidades para o nosso trabalho: 1) a nossa amostra pequena e a "entrevista focalizada" uma tcnica adequada para suprir a ausncia quantitativa de dados, permitindo uma apreenso qualitativa destes ltimos; 2) permite uma "liberdade" e uma "abertura" para o entrevistado aprofundar o tema proposto; 3) facilita a coleta do material, adequando-o ao processo interpretativo; 4) permite a reconstituio de modelos cultural-simblicos, interiorizados pelo entrevistado; 5) o material colhido do entrevistado abrange no s proposies de verdade, como tambm contedos normativos e expressivos; 6) e, enfim, a "entrevista focalizada" uma tcnica de pesquisa vivel para o estudo de representaes, principalmente porque permite dar conta de pensamentos ou verbalizaes, condicionados oralidade e produzidos como comunicaes informais. O procedimento tcnico adotado se caracteriza, tambm, "pelo emprego de frmulas e clichs convencionais e lineares que tanto facilitam para o indivduo a comunicao como substituem uma reflexo, necessria mas impossvel, no momento do estmulo" (SILVA, 1978:28). Ora, essa "espontaneidade discursiva" revela, justamente, o estilo expressivo da representao social. Fizemos, ao todo, oito (8) entrevistas, utilizando um gravador (tempo mdio de uma hora, para cada entrevista) e dividindo os psiquiatras entrevistados em dois grupos, isto , o primeiro consistindo de psiquiatras professores ("psiquiatraprofessor"), e o segundo, de psiquiatras comuns ("psiquiatra"). Tal diviso tem como objetivo observar as possveis diferenas entre psiquiatras que, por serem professores, refletem mais freqentemente sobre a doena mental e psiquiatras simplesmente mdicos, que trabalham em asilos, consultrios e ambulatrios, "desacostumados" a refletir sobre a doena mental. Enfim, queramos investigar, tambm, se tal diviso repercutiria na representao de doena mental. Paralelamente a uma anlise interpretativa do material colhido nas entrevistas, fizemos uma anlise temtica do contedo das entrevistas. Assim, fizemos uma decomposio do "texto" em significado, atravs de um sistema taxonmico unidades de baseado em
categorias circunscritas e definidas. Procuramos, ento, reunir tais unidades de uma maneira nem ambgua e nem contraditria. Tal mtodo nos permitiu quantificar e realizar cruzamentos dos temas encontrados nas entrevistas. Assim, pudemos controlar as ocorrncias de certas noes e temas, obtendo uma primeira imagem mais unificada do material colhido, bem como as grandes linhas de diferenciao do seu contedo; igualmente, pudemos relacionar os significados entre si e organiz-los em unidades temticas. Contudo, no nosso trabalho, a anlise temtica ter apenas um valor indicativo e secundrio em relao anlise interpretativa. A justificativa para tal procedimento tem a sua razo de ser nas limitaes de uma anlise temtica dentro de uma amostra to pequena como a nossa. Nesse sentido, a anlise temtica produziria, principalmente, limitaes no processo interpretativo: 1) a composio de temas em unidades de significado isola os mesmos e dificulta a passagem do contedo manifesto para o latente; 2) a quantificao encontrada numa amostra to pequena no representativa e no tem valor estatstico algum; 3) os resultados encontrados no material, colhido atravs da quantificao gerada pela anlise temtica, no indicam que o mais freqente seja o mais determinante, pois diversos contedos latentes e determinantes de um material simblico podem aparecer mitigados, mascarados e com uma freqncia pouco significativa; 4) enfim, a anlise temtica pode significar apenas um retrato sistematizado e organizado do material colhido nas entrevistas, isto , a linguagem interpretativa se identificaria com a linguagem interpretada. Nosso estudo de representao, pelas suas limitaes especficas, no comparativo, ou seja, no fizemos comparao alguma entre as representaes da doena mental entre os psiquiatras com as do "senso comum", bem como qualquer comparao das primeiras com as dos mdicos no-psiquiatras. Por isso, tivemos de realizar uma anlise, digamos assim, "formalista" da representao: 1) para identificar o contedo das enunciaes dos entrevistados com o "pensamento natural", locus da representao social, aplicamos literalmente as categorias encontradas por Moscovici: a) a disperso da informao; b) focalizao dos sujeitos sobre uma relao social ou um determinado ponto de vista; c) presso para a inferncia; d) a personificao dos conhecimentos e dos fenmenos; e) a figurao de imagens ou
conceitos; f) e, finalmente, a ontologizao das relaes lgicas ou empricas; 2) para identificar o estilo de pensamento dos entrevistados, procuramos: a) seu sistema lgico e seu metassistema normativo; b) evidncias de repetio informal ou formalismo espontneo; c) evidncias de causalidade fenomenal; d) evidncias de argumentao conclusiva e no analtica; 3) para identificar, no discurso dos entrevistados, caractersticas de uma produo representativa, procuramos: a) imagens e smbolos; b) validade consensual; c) dominncia do "por qu"; d) diversidade nos tipos de inferncia; e) flexibilidade na sucesso de atos mentais; f) diversidade no uso das formas sintticas disponveis. Quanto aos processos constitutivos da representao social a objetivao e a ancoragem -, tivemos algumas dificuldades metodolgicas devido ao fato de nosso trabalho no ser comparativo. Apesar disso, procuramos detectar o processo de objetivao, no material colhido nas entrevistas, atravs da utilizao de um esquema de estruturao em que pontuam os pares sade/doena e normal/anormal. Quanto ao processo de ancoragem, analisamos como o esquema de estruturao adquiriu uma significao para os atores implicados, isto , de que forma os pares citados acima sofreram uma operao complexa de redefinio, permitindo uma compatibilidade com o sistema simblico prprio dos psiquiatras entrevistados. Devemos frisar, ainda, que o esquema de estruturao foi construdo, fundamentalmente, pela anlise de contedo, enquanto que a ancoragem foi revelada pelo processo interpretativo. Para terminar, um ltimo posicionamento relao ao material colhido nas entrevistas. metodolgico com
De certa forma, existe uma dificuldade em compreender representaes de determinado objeto (doena) em indivduos que possuem um conhecimento terico do assunto, pois estudar a representao social da doena mental entre os psiquiatras bem diferente de estud-la no pblico em geral. Ora, a Psiquiatria faz parte de uma profisso e, como tal, possui o seu espao institucional sancionado socialmente, bem como um discurso sobre o seu modo de ser e sobre o objeto de sua ao, a doena mental. Sendo assim, a representao do psiquiatra sobre o seu objeto no pode ser separada do seu discurso informativo: o psiquiatra se constitui num meio social em que a sua prtica est informada por um discurso racional lgico-formal.
Isso pode trazer complicaes se assumirmos uma posio que necessite de uma distino entre o discurso informativo e o representativo. Se colocarmos, por exemplo, uma descontinuidade entre ambos, como classificar o que o psiquiatra refere sobre a doena mental? Afinal, da sua fala, o que cincia e o que representao? Na verdade, uma distino de fato entre discurso informativo e representativo seria conseguida atravs de uma crtica racionalista deste ltimo, com todos os perigos da decorrentes. Assim, qual a funo da representao nesse caso? Teria ela alguma funo positiva no surgimento da noo de doena mental entre os psiquiatras? Ou seria ela pura mistificao, uma falsa conscincia que atrapalharia o saber psiquitrico? Provavelmente, teramos a necessidade de averiguar o conceito mais "adequado" de doena mental para aplic-lo no discurso psiquitrico. De qualquer maneira, seria um conceito que, ao definir analiticamente a doena mental, faria uma distino entre duas abordagens sobre um mesmo objeto, isto , a cientfica e a representacional. Assim, atravs desse conceito, far-se-ia uma investigao racionalista a fim de separar, na fala do psiquiatra, a representao do discurso cientfico. Mas, como defender um determinado conceito em detrimento de outros? Certamente, uma crtica racionalista, ao separar o discurso informativo do representativo, tornaria o problema da "verdade" da doena mental um monoplio da cincia. No perceberamos, dessa forma, o discurso psiquitrico sobre a doena mental de uma maneira mais abrangente, em que entrariam, na sua formao, tanto um saber racional e lgico-formal, quanto valores e determinaes de natureza ideolgica. Em suma, para apreendermos a representao da doena mental entre os psiquiatras, tivemos de analisar discursos que possuem determinaes provenientes do imaginrio social e do saber mdico propriamente dito.
Captulo IV - ANLISE DA REPRESENTAO SOCIAL
1 - INTRODUO Dividimos este captulo em dois momentos para organizar a anlise e a exposio do processo de pesquisa. melhor
O primeiro momento diz respeito aplicao do modelo do "pensamento natural" ao material emprico e o segundo refere-se constituio dos processos de objetivao, elucidada por um esquema de estruturao e de ancoragem.
Segundo Moscovici, "os dados de que a maioria das pessoas dispe para responder a uma pergunta so, em geral, simultaneamente insuficientes e superabundantes" (MOSCOVICI, 1978:250), isto , os indivduos podem conhecer pouco um determinado assunto, embora possam produzir referncias abundantes sobre o mesmo em relao a outros assuntos. Pode-se, por exemplo, saber pouco sobre a Psicanlise, mas isso no impede que se faam diversas referncias ao seu papel poltico, etc. Tal situao revela uma defasagem "(...) entre a informao efetivamente presente e aquela que teria sido necessria para dominar todos os elementos de que depende a seqncia de raciocnios" (MOSCOVICI, 1978:250); ou seja, existiria, aqui, uma defasagem constitutiva. Ora, a constituio dessa defasagem ocorre menos da quantidade de informao possuda do que da determinao do campo de interesses do sujeito. Evidentemente, o acesso s informaes e o nvel de conhecimento do indivduo so fatores importantes para a apropriao e apreenso cognitiva de objetos sociais, embora a variao quantitativa e qualitativa da informao dependa, fundamentalmente, do campo de interesses e do lugar que ele ocupa na sociedade. Assim, "a distino entre o homem inculto e o homem culto, este ltimo utilizando modos de raciocnio mais cientficos, perde seu valor. Com efeito, diante de certos problemas, todo indivduo inculto. A educao escolar e universitria cria maior capacidade de compreenso dos conhecimentos que circulam na sociedade. Entretanto, com muita freqncia, as diferenas esfumam-se e, seja qual for o nvel de educao atingido, os indivduos esto armados de maneira idntica para comunicar ou emitir uma opinio" (MOSCOVICI, 1978:251). Um fsico e um operrio, por exemplo, estariam "armados de maneira idntica para comunicar ou emitir uma opinio" sobre um objeto social como a doena mental, embora o contedo de suas respostas pudesse apresentar diferenas, principalmente quanto aos campos de interesses existentes. As variveis sexo, idade, profisso, classe social, contexto cultural teriam, certamente, uma influncia nas opinies do fsico e do operrio, porm suas vises de doena mental viriam de um fundo bsico comum ou, digamos assim, de um padro primrio de representaes, alicerado na prtica natural da vida e na experincia do mundo. Tal fundo bsico comum se inscreve na prtica cotidiana da comunicao, ficando impermevel toda tentativa de problematizao.
Na verdade, as informaes sobre um determinado objeto social, no caso, a doena mental, tm como base uma experincia social primria com o dito objeto, ou seja, essa experincia determinaria um modelo bsico de apreenso que permitiria uma validade pr-reflexiva em torno dele. Tal modelo seria a estrutura de um campo de representao de um objeto social determinado, em que suas diversas e diferentes representaes sociais, produzidas pelos grupos sociais, reportar-se-iam. O campo de representao seria "primrio" porque constitui uma camada profunda de saber no problematizado no qual no existe, como para as outras formas de saber, uma conscincia intencional. O campo de representao teria uma estabilidade e uma resistncia contra as mudanas simblicas que, por acaso, aparecem historicamente no mundo vivido, e, tambm, um imediatismo que lhe daria uma caracterstica um tanto paradoxal: um saber ao mesmo tempo intenso e deficiente. O campo de representao primrio teria uma fora totalizante, constituindo uma totalidade que possui um centro e vrias periferias disformes e porosas que se misturam com outros campos de representao tais campos possuem um carter holista formando uma rede larga de ramificaes semnticas ( imagem de um arbusto) em que as unidades de significao somente poderiam ser compreendidas a partir de sua totalidade. Existiria, assim, um solo sciocultural frtil do qual brotariam abundantemente representaes e "vises de mundo". As diferenas, por exemplo, nas diversas representaes sociais da doena mental, quanto sua significao, s estratgias e finalidades teraputicas, etc., seriam produzidas menos por uma distino substantiva nas representaes do que por uma diferenciao social, ocorrida no processo simblico de constituio do objeto-doena. Ocorreria, assim, uma emancipao de modelos secundrios do campo de representao primrio do objeto-doena, transbordando no meio social diversas e diferentes percepes da doena mental, que, por assim dizer, possuem uma origem comum. Os modelos secundrios de doena mental se emancipam do campo de representao primrio devido existncia de uma profuso de papis e lugares sociais, construdos pela diferenciao e pela estratificao social, que produzem uma variedade de representaes sociais. Numa sociedade pouco diferenciada e estratificada, por exemplo, poder-se-ia especular que os modelos secundrios de objetos sociais no se distinguiriam, praticamente, do seu modelo primrio e, portanto, o campo de informaes sobre um determinado objeto social seria bem mais homogneo e linear.
Os modelos secundrios constituiriam um horizonte de percepes, permevel s mudanas e vicissitudes do tempo e, portanto, enraizado na situao histrica do momento. Formariam representaes frgeis e instveis, porque dependente do contexto e, principalmente, do consenso social existente. Elas flutuariam ao sabor da estratificao social, bem como estariam relacionadas a conhecimentos temticos inscritos nessa dimenso espaotemporal chamada de atualidade. A estruturao simblica primria da realidade aparece, geralmente, direcionada por categorias bipolares do tipo bom/mau, verdadeiro/falso, bem/mal, belo/feio, justo/injusto, eficaz/ineficaz, agradvel/desagradvel, sagrado/profano e, no caso particular da doena mental, sade/doena e normal/desviante (Cf. AEBISCHER, 1991; LAPLANTINE, 1989). Tais categorias so orientadoras de valor e circunscrevem o campo normativo, prtico, cognitivo e axiolgico em que se move o sujeito no meio social. As categorias orientadoras de valor tm uma validade consensual numa dimenso que, de certo modo, est subjacente diferenciao e estratificao social, isto , tal consenso se encontra na dimenso do cotidiano em que os fenmenos aparecem com um carter multidimensional. A prtica cotidiana condensa interpelaes normativas, afetivas e proposicionais que permitem s categorias orientadoras de valor serem uma produo axiolgica, uma forma de conhecimento e um campo de ao. Tais categorias, dessa forma, pertencem ao fulcro de nossa socialidade ou, em outros termos, esto inscritas numa formao mais primeva, indistinta e caleidoscpica, de natureza antropolgica. O seu carter indiferenciado lhe permite estar em todas as atividades humanas, uma vez que, segundo Agnes Heller, "pensamos, agimos, experimentamos sentimentos e sensaes com orientaes de valor e atravs delas. S se assumssemos uma perspectiva exterior sociedade, essas categorias poderiam ser puro objeto de nosso pensamento. Quando afirmo ou nego, convido, probo ou aconselho, amo ou odeio, desejo ou abomino, quando quero obter ou evitar alguma coisa, quando rio, choro, trabalho, descanso, julgo ou tenho remorsos, sou sempre guiado por alguma categoria orientadora de valor, freqentemente por mais de uma. Portanto, evidente que toda categoria orientadora de valor um conceito da linguagem corrente. E igualmente bvio que toda pessoa tambm sabe o que significam esses conceitos e, por isso, utiliza-os adequadamente" (HELLER, 1983:58).
Nesse sentido, sade e doena, do ponto de vista da sua significao social, so categorias orientadoras de valor, porque suas significaes sociais influenciam as nossas atividades, os nossos comportamentos e orientam, de forma normativa, nossas decises quanto ao proibido, ao evitado, ao escolhido e ao preferido. A doena, sem dvida, uma orientao de valor que tentamos evitar e que possui um enquadramento scio-cultural diferente em cada sociedade determinada. A doena, de tal perspectiva, pode ser vista como um constructo social e, ao mesmo tempo, como uma categoria orientadora de valor (Cf. FREIDSON, 1984). As pessoas, desse modo, sabem o que doena e, na verdade, elas precisam saber, uma vez que no existe um indivduo que no tenha tido uma experincia mrbida e necessitado de lhe atribuir, e de lhe acolher, uma significao. O processo de significao da doena envolve indivduos e coletividades em situaes histricas determinadas, em que as diversas representaes sociais da doena mental, surgidas dessa experincia comum, no esto numa hierarquia que vai da mais falsa mais verdadeira, pois o que est em jogo, aqui, menos a verdade de uma representao social do que, propriamente, a sua significao. A representao social da doena entre os mdicos seria, do ponto de vista de sua significao social, um modelo secundrio, construdo, como todos os outros modelos, a partir da experincia social com a doena. O modelo mdico de doena, assim, um modelo secundrio que se reporta doena enquanto categoria orientadora de valor. O universo de informaes do mdico sobre a doena orientado pelo seu modelo, que, por sua vez, no elimina as influncias do campo de representao primrio da doena, ou seja, seu modelo de doena codifica as questes levantadas pela experincia social com a doena e faz de sua representao uma unidade de ao e conhecimento incontestvel na sua vida cotidiana. Contudo, inegvel o poder consensual do modelo mdico de doena que, praticamente, no mundo moderno, subsume todos os outros modelos sua hegemonia. Assim, no seria surpresa que, atualmente, o modelo mdico de doena fosse o espelho em que se refletem todos os outros modelos secundrios, isto , o modelo mdico hegemonizaria os modelos secundrios existentes, no "senso comum", ao sobredeterminar o prprio campo de representao primrio. De qualquer forma, o fsico e o operrio, de nosso exemplo, produzem, tambm, representaes sociais da doena, codificadas a
partir do campo de representao primrio da doena e do modelo mdico. Os seus modelos secundrios de doena so marcados, certamente, pelos papis e lugares que eles ocupam na sociedade, mas, apesar disso, no revelam uma distncia especfica com o padro primrio de representao da doena. Suas representaes, em ltima instncia, no tm uma diferena essencial entre si, porque eles no se apropriam da doena enquanto um grupo social especfico e, sim, como indivduos singulares, que vivenciam as suas experincias mrbidas num mundo da vida comum a todos. O fsico e o operrio no se apropriam da doena como um objeto de conhecimento - seus objetos especficos so outros - e, sim, vivenciam-na como uma experincia existencial e como uma relao social. Os seus modelos de doena, portanto, esto num universo um tanto indefinido, chamado de "senso comum", que estrutura o seu campo de informaes sobre a doena. Os mdicos se tornaram um grupo social especfico encarregado de apropriar a doena como seu objeto e, com isso, impuseram fronteiras ntidas com outras formas de percepo do fenmeno mrbido, adquirindo uma autonomia relativa em relao ao "senso comum" e ao prprio campo de representao primrio da doena. De fato, quando um grupo social se especializa na apropriao de um determinado objeto social, ele se distancia de outros grupos e da experincia social, comum a todos, com o dito objeto. A especialidade de um grupo envolve, geralmente, a aquisio de uma legitimidade no exerccio do seu saber e uma posio de ilegitimidade para concepes concorrentes. A Medicina personifica muito bem todo esse processo, ao ponto de deter legitimamente o monoplio do conhecimento sobre a doena, podendo, assim, sobredeterminar os campos representacionais, seja o primrio ou os secundrios, da doena. A forma de organizao intelectual que subjaz no "senso comum" chamada por Moscovici de "pensamento natural" ou "pensamento representativo", perfazendo uma diferena com a forma intelectual organizativa da cincia: "os quadros onde se elaboram as cincias - homogeneidade da informao, especializao dos grupos, busca de originalidade, etc. - concorrem para mostrar que seus mtodos intelectuais correspondem a imperativos coletivos definidos. Pode-se supor que outras organizaes intelectuais recorram a mtodos e princpios lgicos diferentes, dependendo de relaes ou funes sociais diferentes" (MOSCOVICI, 1978:250).
Mas, qual seria a forma de organizao intelectual de indivduos que fazem parte de um grupo social especfico e que mantm com a doena mental uma relao especial? Em suma, queremos, aqui, penetrar na "forma" em que ocorrem os discursos dos psiquiatras entrevistados, para, inicialmente, encontrar sinais de uma linguagem especfica, como a da "representao social", que tem o seu locus no chamado "pensamento natural". Assim, analisaremos, um por um, cada elemento do modelo de "pensamento natural", verificando se ocorre ou no a sua manifestao nos discursos dos entrevistados.
2 - FENOMENOLOGIA DO PENSAMENTO REPRESENTATIVO. Aparentemente, a resposta de um psiquiatra a uma pergunta como "o que doena?" teria um campo informativo alicerado na sua formao cientfica e na sua experincia clnica. No haveria, desse modo, uma disperso de informaes e, sim, uma concentrao de informaes sobre o tema. Contudo, o que encontramos no material pesquisado demonstrou uma dificuldade, por parte dos entrevistados, em definir o que doena, doena mental, etc. As respostas, na maioria das vezes, comeavam vacilantes, como se existisse um esforo cognitivo para unificar, num todo coerente, a definio dos assuntos tratados. Geralmente, a resposta vinha acompanhada de uma tergiversao e, ao mesmo tempo, de uma tentativa de "negociao" com o assunto, visando a um consenso que mostrasse que a definio de doena, decididamente, vaga. Assim, para alguns entrevistados: "Doena uma situao que pode ser definida de vrias maneiras (...) uma coisa assim muito v asta"; ("psiquiatraprofessor") "doena... olhe, doena eu entendo como voc ter um... como que eu poderia definir?... Voc tem um... voc tem um curso de vida normal... doena... em Psiquiatria, n? Ou qualquer doena?"; ("psiquiatra") " ah, isso a at uma coisa meio difcil da gente conversar (...) eu no sou muito bom em definir"; ("psiquiatra-professor")
"doena mental ... a ausncia de sade em termos mais especficos, n? Assim, incapacidade da pessoa julgar e..."; ("psiquiatra") "ento isso um conceito que tem assim muito mais, uma fluidez muito maior..." ("psiquiatra-professor"), etc. A performance claudicante demonstra um tempo de adaptao cognitiva situao de interpelao e ao assunto proposto, porm mostra, principalmente, um aspecto do "pensamento natural", ressaltado por Moscovici, e que aparece, aqui, de maneira ntida: a presso para a inferncia. Ora, todo indivduo na sua vida cotidiana sofre diversas presses para assumir posies prticas e normativas sobre os mais diversos assuntos, isto , ele deve sempre estar em condio de responder. O mdico-psiquiatra, numa entrevista, no foge a essa regra - mais ainda quando o assunto doena, pois socialmente ele o indicado para responder sobre tal assunto. Uma pessoa no mdica pode negociar, livremente, a sua definio de doena, ou seja, no se exige dela uma definio precisa, uma vez que no est socialmente "compromissada" a uma resposta necessria. Um mdico, contudo, que no consegue definir uma doena, seguramente gera para consigo mesmo e para os leigos um certo constrangimento. Diante da pergunta "o que doena?", a primeira coisa notvel que aparece, nos discursos analisados, um sentido de defesa, baseado em reticncias, evasivas e vacilaes, que, inicialmente, servem para arrumar no pensamento a resposta mais abalizada. Na verdade, precisa-se de um certo flego para iniciar a comunicao, pois, para o entrevistado, " cumpre-lhe optar entre os termos de uma alternativa, tornar estveis e permanentes opinies que possuem um alto grau de incerteza, encurtar os possveis desvios e ligar, a esse respeito, as premissas s concluses que, por outro lado, no so diretas. Mas tudo isso resultado de presses que se observam e que requerem a construo de um cdigo comum e estvel, obrigando os participantes a um dilogo, a uma troca de idias, a fim de adaptarem suas mensagens a esse cdigo (...) os indivduos que esperam reemitir imediatamente as mensagens recebidas reduzem o nmero de categorias de julgamento empregadas para as interpretar e unificam, talvez prematuramente, seu campo intelectual. Antecipaes precipitadas, adeso estrita ao consenso, a um cdigo, respondem obrigao que se impe aos membros de um
grupo social de estabilizarem o seu universo e de restabelecerem uma significao que estava ameaada ou era contestada" (MOSCOVICI, 1978:252-253). As "antecipaes" aparecem, com freqncia, nas entrevistas, manifestadas em respostas prontas, em definies lacnicas e tautolgicas, bem como fixando a validade do argumento na autoridade de alguma entidade ou pessoa, como no exemplo abaixo. Perguntado sobre o que sade, um entrevistado afirmou: " a falta de doena. A inexistncia da doena. Bom, brincadeira parte, n, seria o bem-estar fsico e psquico, n, a aceitao dessa definio das Naes Unidas e ponto final, no se pode discutir mais" ("psiquiatra"). O "argumento da autoridade" pode ser considerado como uma "antecipao", no sentido de que a autoridade oferece ao argumento uma legitimidade que no existiria se ela no fosse referida e, ao mesmo tempo, "esgota" a definio - "no se pode discutir mais". Referir a definies j dadas e consensuais permite que o entrevistado oferea ao interlocutor "(...) as respostas `dominantes', aquelas que so mais compartilhadas, as mais esperadas e que tm maiores probabilidades de ser entendidas e aprovadas por todos, para que possam ser simultnea e reciprocamente dirigidas e validadas" (MOSCOVICI, 1978:253). Um exemplo de frmulas consensuais, alis, aparece na velha mxima, repetida por, pelo menos, dois entrevistados, de que "doena no tem, tem doentes". Consideramos, tambm, como um fenmeno da presso para a inferncia, o recurso definio negativa ("ausncia", "falta", "no ...", "inexistncia", etc.), isto , explica-se uma coisa negando-se outra. Esse recurso pode ser utilizado para ajudar no desenvolvimento da resposta como, por exemplo, no dizer de um entrevistado: "Doena ... doena no apenas, no apenas sinal e sintoma no (...) a ausncia de um conforto no sentido amplo, a ausncia de um bem-estar em sentido amplo (...) fundamentalmente uma falta de possibilidades... uma falta de possibilidades de gerenciar bem a vida..." ("psiquiatraprofessor") Ou, ento, simplesmente ocasionar definies circulares e tautolgicas. A resposta, por exemplo, "doena a ausncia de sade" j contm a definio de sade como "ausncia de doena", ou seja, centra-se num plo que somente existe enquanto negao
do seu oposto que, por sua vez, aparece definido da mesma forma; em suma, no se define absolutamente nada. Por outro lado, as fontes de informao dos entrevistados, sobre a doena mental, so menos dispersas do que de pessoas no mdicas (Cf. HERZLICH, 1975; JODELET, 1989-B), isto , o campo informativo dos psiquiatras entrevistados provm de uma configurao que vai do modelo biomdico at o modelo desviante da doena mental. Se no ocorre completamente uma disperso de informao (MOSCOVICI, 1978:250), pode-se mostrar, pelo menos, o amplo espectro do campo informativo, principalmente no que se refere ao modelo desviante da doena mental, uma vez que este se fundamenta menos no desvio funcional do modelo biomdico do que no desvio social baseado no comportamento, mais prximo de padres primrios de representaes sociais. Todavia, verificamos que o fenmeno da disperso de informao ocorre com a passagem da pergunta "o que doena mental?" para "o que loucura?" e "o que normalidade?", isto , para assuntos de difcil enquadramento no modelo biomdico de doena e que necessitam de fontes de informao mais amplas e menos precisas. Por um lado, a concentrao de informao ocorre, sobremaneira, em assuntos como a etiologia da doena - o termo etiologia mais utilizado em medicina, portanto, mais "tranquilizador" - e a doena neurolgica, infinitamente mais "enquadrada" no modelo biomdico do que a doena mental; de outro, a disperso se torna presente em assuntos como a periculosidade do paciente, a relao entre o saber psiquitrico e o "senso comum", o preconceito contra o doente mental, etc. A disperso de informaes ocorre toda vez que no possvel enquadrar um objeto, de forma estvel, na sua representao, enquanto que a concentrao de informaes demonstra uma relao mais estvel entre ambos. Os dois fenmenos estariam, assim, relacionados com a zona de interesses do indivduo e com a adequao do objeto social sua representao. No nosso caso especfico, poder-se-ia afirmar que a concentrao de informaes ocorre, tambm, quando aparece na resposta um jargo prprio do vocabulrio mdico. Como exemplo paradigmtico, observe-se este pequeno trecho do depoimento de um entrevistado: "Veja, doena neurolgica tem sinais, sintomas e substratos antomo-patolgicos claros e definidos, n?.
Doena mental no, salvo algumas doenas especficas, salvo algumas doenas facilmente identificveis, sobretudo as doenas de carter neurolgico, ou as doenas decorrentes de agresses externas, ou de alterao metablica, ou de modificao bioqumica...". ("psiquiatra-professor") Ou, ainda, neste outro depoimento: "Veja! A doena mental existe quando existe um desequilbrio de neurotransmissores, com certeza. A voc fica ansioso, voc fica deprimido, voc... com medos patolgicos, voc fica esquizofrnico, voc delira, voc est intoxicado, voc est alcoolizado, voc tomou cocana, bebeu demais, falta serotonina, falta de sistema-GABA, voc tem uma depresso endgena at uma depresso endoreativa, que um estado manaco. Manaco, voc est excitado, tudo isso corresponde a alteraes de uma bioqumica, uma neuroqumica, que corresponde ao sistema de neurotransmisso" ("psiquiatra-professor"). Podemos perceber, sem dvida, a presena de um jargo mdico no emprego de palavras como sinais, sintomas, substratos antomopatolgicos, alteraes metablicas, neurotransmissores, depresso endgena, etc. Por outro lado, a disperso de informaes pode ser visualizada, tambm, atravs da utilizao de um jargo nomdico ou, pelo menos, derivado do vocabulrio mdico. Assim, para um entrevistado, "Loucura ... quer dizer; loucura, p, loucura uma poro de coisas... loucura gria; pra algumas pessoas, loucura um estado de bem-estar (...) e, do ponto de vista mdico, formal, no uma palavra que passe muito sentido, n, porque... popularmente uma desorganizao muito grande..." ("psiquiatra") Ou, ainda, para outro entrevistado: "Loucura um termo mais histrico (...) com o qual o indivduo mostra uma perturbao no seu comportamento, no seu convvio social (...) algo que subleva os padres, as convenes, as normas de conduta social" ("psquiatraprofessor") E, finalmente, como se v noutro depoimento:
"Olha, amigo, seguindo o conceito moderno, quer dizer, normal aquilo que existe com maior freqncia em termos de comportamento. Ento, normal seria isso. Isso pode mudar de regio para regio, de sociedade para sociedade. Quer dizer, o que normal na nossa sociedade pode ser anormal na sociedade norte-americana, na sociedade japonesa" ("psiquiatra") Por outro lado, a disperso de informaes ocorre mais acentuadamente entre os "psiquiatras" do que entre os "psiquiatras-professores". Os primeiros, por exemplo, so mais objetivos e lacnicos, sintticos e evasivos, apresentando respostas do tipo: "doena uma falta de sade"; "(doena mental) o afastamento da realidade"; "doena uma ausncia de sade"; "doena a alterao de estado fsico e mental e social de um paciente"; "(doena) quando o seu organismo deixa de funcionar normalmente". ("psiquiatras") Os segundos, por sua vez, so mais prolixos, ilustrativos e, na maioria das vezes, so polissmicos na definio de doena e de outras noes, como um deles, por exemplo, que afirma que a doena " sofrimento, dor, desconforto, perda da liberdade; de uma maneira global, sistmica, corpo-mente". ("psiquiatra-professor") Provavelmente, isso ocorre porque os "psiquiatrasprofessores", pela natureza da sua atividade intelectual, refletem sobre o objeto-doena, e os "psiquiatras" nem tanto, embora a polissemia dos primeiros possa significar, tambm, uma disperso de informaes. A disperso de informaes acompanhada de uma dificuldade de enquadramento, ocorrendo, ento, uma maior presso para a inferncia. Mas a determinao maior para o campo informativo "a focalizao dos sujeitos sobre uma relao social ou um determinado ponto de vista (...). Espontaneamente, um indivduo ou um grupo concede ateno especfica a algumas zonas muito particulares do meio ambiente e mantm certa distncia em relao a outras zonas do mesmo meio ambiente. A distncia e o grau de implicao em relao ao objeto social variam, necessariamente" (MOSCOVICI, 1978:251-252). Ora, um indivduo, ao se apropriar de um objeto social, focaliza-o de maneira seletiva, sob o ditame e as regras de sua
representao; o que no "entra" no modelo precisa, ento, ser codificado e apropriado de um jeito que no entre em contradio flagrante com os outros elementos da representao. A focalizao seletiva representa uma reapropriao do objeto social ou a sua "neutralizao", para eliminar uma possvel ameaa a uma unidade de ao e conhecimento. A loucura, nos exemplos citados, um exemplo dessa focalizao seletiva, desde que ela precisa ser enquadrada ou expulsa do modelo vigente. A loucura pode ser expulsa do modelo vigente por sua incompreensibilidade. Como j vimos, para um psiquiatra entrevistado, a loucura, do ponto de vista mdico, "no passa muito sentido". Ou, ento, numa exclamao muito mais peremptria, ela no , simplesmente, aceitvel. Como afirma outro entrevistado: "a terminologia pode no ser adequada, mas se for levado a srio, o termo loucura no muito bem aceito, no um termo mdico" ("psiquiatra-professor"). Entretanto, a melhor soluo parece ser a do compromisso, isto , enquadrar a loucura no modelo vigente; assim, a loucura ser reconhecida como uma viso vulgar da doena mental. Desse modo, para um entrevistado, "A loucura seria principalmente os quadros clssicos de psicose, ditas endgenas (...). O louco seria o psictico, o nervoso seria o neurtico e o desajustado seria o psicopata". ("psiquiatra-professor") Ou, ainda, noutro depoimento, "a loucura existe, ento, como a alienao, como a perda do senso da realidade. Em suma, loucura no senso estrito da palavra o delirante, a esquizofrenia, o comportamento bizarro, a incompreensibilidade, a sim, essa a loucura (...), mas deixa bem claro, loucura uma das coisas, uma pequena coisa dentro do maior que a doena. Loucura uma das formas do adoecer psquico (...), a loucura seria a esquizofrenia". ("psiquiatra-professor") E, finalmente, para um terceiro entrevistado, "na minha opinio o nome vulgar da doena mental. A, caso, quando se fala assim uma coisa mais
nesse
abrangente, mais ("psiquiatra")
pra
outro
lado,
menos
profunda."
A loucura capturada nosologicamente por uma projeo do modelo de doena mental da Psiquiatria no "senso comum". Ela reintegrada no discurso, quando ela tomada como a viso "vulgar" da doena mental. amenizado, de certa maneira, a carga desviante que possui o termo "loucura", visto como doena, isto , o enquadramento nosolgico "abafa" as conseqncias malficas de um desvio social, como a loucura. Uma caracterstica marcante da fenomenologia da representao social a personificao dos conhecimentos e dos fenmenos. Podemos notar, com efeito, que, comumente, as teorias vm acompanhadas com o nome de seu fundador, bem como muitas descobertas anatmicas em Medicina ou terapias vm, tambm, personificadas e, at mesmo, fenmenos naturais so tratados com nomes de pessoas. Assim, possvel projetar, sobre uma existncia concreta, uma teoria abstrata e obter uma familiaridade com fenmenos impessoais, bem como trat-los como se eles tivessem uma realidade social perceptvel ou, melhor, como se fossem personalidades definidas (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:553). Associar coisas com nomes, desse modo, tem uma funo cognitiva de tornar um determinado objeto social adequado aos problemas do cotidiano, como tambm permite, num certo sentido, "materializar" uma representao, facilitando a ao e as inferncias cognitivas do sujeito. Entretanto, no encontramos, no universo das entrevistas, a personificao dos conhecimentos e dos fenmenos; como se fosse por conveno e por formao, os psiquiatras no utilizaram fatores personativos de significao. O interessante desta situao que a despersonalizao dos conhecimentos e dos fenmenos uma caracterstica do pensamento cientfico: "os participantes de um discurso cientfico aprendem com afinco a negligenciar todos os fatores pessoais de significao, os traos lexicais, gramaticais e estilsticos de seu discurso informal devero ser diferentes; cada cientista reage a cada discurso unicamente por meio das operaes pertinentes de seus substitutos lingsticos" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:553). Se no possvel aplicar essa formulao, literalmente, no nosso material emprico, ela no deixa, contudo, de ser pertinente quando acusa a despersonalizao dos discursos encontrados. Porm, resta ainda a explicao do porqu dessa
despersonalizao, encontrada em conjunto com outras caractersticas fenomenolgicas da representao social (presso para a inferncia, focalizao e disperso de informao). Pode-se levantar, aqui, algumas hipteses: 1) a despersonalizao seria causada pela formao mdica do psiquiatra, que implementaria um discurso similar ao do cientfico; 2) o discurso biomdico despersonalizado em essncia, pois naturaliza o doente em doena, influenciando, portanto, a prpria expresso cognitiva desse discurso; 3) o discurso dos psiquiatras ambguo, incorporando elementos fenomenolgicos do discurso do "senso comum" e da cincia. Desse modo, seguindo o desenvolvimento de nossas anlises ao longo do trabalho, concordaramos com a combinao das hipteses 1) e 3). Mas, se no aparece uma personificao do conhecimento e dos fenmenos nos discursos analisados, certamente no o caso do processo de figurao, isto , os discursos apresentam, com freqncia, a substituio dos conceitos e das argumentaes por imagens construdas atravs de uma linguagem metafrica e cheia de hiprboles. Como exemplo, transcrevemos resposta de um entrevistado sobre a existncia ou no de periculosidade no paciente psiquitrico: "Ah, existe! Existe! (...) um paciente arrancou dois olhos de um outro e um olho extra de um outro paciente, ficando trs olhos no cho, dentro de um hospital superlotado de pacientes antigos e crnicos (...) houve uma cena horrenda, em que um paciente, fortssimo, espancou um paciente que ficou muito mal, e um outro que teve um traumatismo craniano, com exposio de massa enceflica (...), esse homem no foi tolhido nem com a chegada da rdio-patrulha; s o foi com uma massa de pacientes, com os enfermeiros e a rdio-patrulha (...). Evidentemente, que essa periculosidade era n vezes maior no tempo de Pinel, no sei como ele teve coragem de cortar as cadeias..." ("psiquiatra-professor") Realmente, no se pode imagem fortssima, que foi defender a existncia de psiquitrico, estimulada pelo pelo uso de psicofrmacos. negar o impacto persuasivo dessa utilizada, na argumentao, para uma periculosidade do paciente ambiente do asilo mas controlada
Diz, ainda, o mesmo entrevistado: "Eu, na minha clnica privada, no tenho qualquer tipo de problema, nunca tive qualquer tipo de problema com nenhum doente bem medicado, sobretudo, atualmente, porque voc sabe que a periculosidade maior est naquele paciente esquizofrnico retardo; (...) esse tipo de paciente pode ser beneficiado com as medicaes; basta uma injeozinha intramuscular uma vez por ms feita em ambulatrio (...). Esse paciente, provavelmente, um excelente candidato pra viver na sociedade. Periculosidade existe, mas pode ser trabalhada, isso o que eu quero dizer. Eu no posso negar que a periculosidade existe, como existe o risco de suicdio. Mas isso no justifica a criao do asilo. O asilo muito mais grave para o prejuzo humano do que a eventual ecloso..." ("psiquiatra-professor") Portanto, a argumentao no desenvolvida com argumentos "neutros", que defendam o uso de psicofrmacos e o fim do asilo, e, sim, pelo uso de imagens expressivas de contedo violento, que tm o objetivo de persuadir de uma forma mais "emocional" do que, propriamente, racional e lgica. A imagem de violncia, construda pelo entrevistado, leva-nos a uma outra que se refere agressividade do doente mental. O uso de imagens e metforas no lugar de conceitos denota uma tentativa de simplificar a comunicao. Na verdade, o emprego de tais recursos no exclusivo do "senso comum", mas de toda tentativa de comunicao em situaes, por assim dizer, informais. Assim, o conceito de "fora", por exemplo, que na Fsica se traduz por uma relao entre a massa e a acelerao, adquire, no "senso comum", um sentido de esforo, anlogo a desempenho e a trao muscular (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:555). Se um indivduo conhece Fsica e emprega a imagem da trao muscular para entender o que seja fora em mecnica, ele estar usando o processo de figurao para ilustrar o seu argumento e torn-lo mais fcil de aceitao, como usual, por exemplo, na vulgarizao da teoria da relatividade, que no feita pela demonstrao de clculos complexos e, sim, por exemplos tirados do cotidiano. Outra situao, sem dvida, um indivduo, desconhecedor da mecnica, que utiliza o termo na frase "a fora a lei", numa conversao cotidiana. Provavelmente, os dois exemplos acima demonstram um processo de figurao, embora o primeiro indivduo saiba o que "fora", do ponto de vista mecnico, e empregue imagens com fins didticos
e ilustrativos; enquanto o segundo pensa que "fora" o que ele diz. Pode-se demonstrar, no segundo caso, que o termo "fora" vem da fsica mecnica; contudo, o termo atualizado no "senso comum" passou por tantos processos de filtragens e de elaboraes, que se encontra numa cadeia sinonmica, indiferenciado e imerso, em companhia de outros termos, tais como: robustez, vigor, energia, autoridade, poder, prestgio, influncia, valor, esforo, nimo, coragem, veemncia, intensidade, violncia, violao, impulso, estmulo, incitamento, potncia, ao, etc. Desse modo, podemos entender o processo de figurao de dois modos: o primeiro, no sentido de uma substituio de conceitos por imagens, metforas, etc; o segundo, como um processo de substituio de conceitos cientficos - que foram apropriados e elaborados - por imagens "equivalentes" no "senso comum". Acreditamos que a segunda conceituao seja a mais prxima de Moscovici, embora encontremos, nos seus exemplos, uma ambigidade suficiente que permita uma utilizao da primeira conceituao. De qualquer forma, o processo de figurao, que encontramos nas entrevistas, teve, como caracterstica principal, a substituio de conceitos e argumentaes por imagens e ilustraes de exemplos, muitos dos quais com conotaes afetivas, com a funo aparente de tornar o argumento o mais persuasivo possvel. Nesse sentido, sobre a razo do preconceito paciente psiquitrico, um entrevistado afirma: contra o
"Uma razo que se deve entender a decantada agressividade. O louco pode agredir algum, matar algum de alguma maneira. Voc pode ser agredido por ele dentro de casa, voc est dormindo, ele lhe mata voc dormindo (...) quando traziam o doente, a coisa mais interessante de voc ver, que a famlia chega, traz o doente pra internar, porque ningum suporta algum agredindo, ou o pai, ou a me, a sogra, o papagaio... quebrou tudo dentro de casa (...) quer dizer, eu acho (o preconceito) muito ligado agressividade, ao potencial de risco que ele (paciente) ofereceria, e isso decantado durante `n' geraes. Eu acho que fica alguma coisa disso e, principalmente, o medo do desconhecido que est dentro de todos ns". ("psiquiatra") Na verdade, a figurao, nesse caso, no apenas a substituio de um conceito por uma imagem e, sim, a substituio de uma argumentao, baseada num estilo mdico, cientfico e
quase "abstrato", por uma outra prxima baseado num estilo expressivo e concreto.
do
"senso
comum",
De fato, poder-se-ia afirmar a periculosidade do paciente psiquitrico e formular uma resposta ao preconceito social existente sob uma linha de argumentao "conceitual". interessante verificar que o entrevistado, autor da argumentao, afirmara anteriormente que a loucura no era um termo mdico, embora, no caso acima, tenha substitudo, em um momento (ato falho?), os termos mdicos "paciente psiquitrico" e "doente mental" por um termo do "senso comum": "louco". Mas, "louco" no uma imagem, embora possa contribuir para formar uma que, nesse caso, reforce o ncleo central da argumentao, isto , a agressividade. O ltimo elemento fenomenolgico da representao social a ontologizao das relaes lgicas ou empricas, que se refere passagem do contedo prprio da cincia ao do "senso comum". Ora, a lgica da cincia uma lgica de relaes. Se, por um lado, "ela tenta diminuir ao mximo a possibilidade de passar um status de substncias e de coisas aos resultados de suas anlises e de suas observaes (...), por outro, (...) as representaes tm uma propenso a corresponder s idias e s palavras coisas, qualidades e foras (...), isto , (...)a representao ontologiza um ser lgico e mesmo verbal" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:555). Um exemplo clssico de ontologizao foi proposto, por Moscovici, na sua obra A representao social da psicanlise, em que verifica a transformao de um conceito abstrato, como o analtico de complexo, numa coisa biolgica existente nas pessoas. Em nossa pesquisa, encontramos, sem dvida, alguns exemplos de ontologizao nos discursos analisados, sendo o mais evidente a declarao, abaixo, de um entrevistado: "Doena mental? Olhe, doena mental, como eu entendo, o seguinte, quando existe uma quebra... no... seu psiquismo, tem uma certa anormalidade e de repente ele comea a ter alteraes..." ("psiquiatra") Nesta formulao, o psiquismo visto como uma coisa que se "quebra", gerando alteraes e anormalidades na pessoa. O recurso ontologizao, nesse caso, tem uma clara funo de
simplificao da representao intelectual. De fato, ao relacionar a cada noo um fenmeno e a cada palavra uma coisa, "... possvel diminuir o nmero de associaes mentais e encurtar as cadeias lgicas" (MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:556), isto , reintroduz-se a problemtica num contexto geral mais simplificado e mais acessvel. Contudo, existe um processo de ontologizao, que ocorre comumente no discurso mdico-psiquitrico, distinto daquele que acontece no "senso comum", isto , a ontologizao mais freqente no discurso analisado a ontologizao da prpria doena. Nesse sentido, um entrevistado afirma que "A percepo mdica aquela que ns aprendemos na Faculdade, n? Seria aquela percepo acadmica da doena em si" ("psiquiatra"); Ou, ainda, como afirma outro depoente: "... o psiquiatra, como mdico, tenta colocar a doena mental como alguma coisa que esteja desorganizada dentro do seu psiquismo, do seu corpo, da sua mente. Ento, ele procura alguma coisa que est errada no sistema neurocentral, alguma coisa que est errada no crebro, que est provocando isso..." ("psiquiatra"); Ou, enfim, na afirmao de um terceiro entrevistado: "doena neurolgica aquela que se exterioriza atravs de sinais e sintomas eminentemente orgnicos" ("psiquiatraprofessor"); Igualmente, consideramos a afirmao "doena a ausncia de sade", comum nas entrevistas, como uma ontologizao, uma vez que a ausncia de sade a presena da doena, significando uma oposio radical entre ambos. Ora, "o estado patolgico no uma alterao da normalidade, mas a presena ou ausncia de um princpio definido. Entre sade e doena no pode haver continuidade ou comunicao: o abismo que as separa qualitativo" (PELBART, 1989:207) . A Medicina ontolgica antiga e predominou cientificamente at o incio do sculo XIX, quando surgiu, segundo Foucault, a medicina dos sintomas e a anatomia patolgica (Cf. FOUCAULT, 1987). A Medicina, desse modo, apresentou um novo olhar, em que "... o significante sintoma e o significado doena fundem-se num
nico registro, tomando a totalidade da cena mdica: no h mais essncia patolgica" (PELBART, 1989:208). A doena mental, em particular, caiu nas rdeas do par bipolar normal/patolgico, tornando-se um tipo especfico de comportamento desviante. Porm, se a ontologia da doena foi destruda cientificamente, ela continuou a predominar profissionalmente. Segundo Jean Clavreul, "no sculo XIX, o combate antiontolgico e antinosolgico foi mais obra dos bilogos e filsofos q ue dos mdicos. (...) Mesmo hoje, o retorno ao conceito de doena inevitvel. Qualquer que seja o interesse de estudo das modificaes quantitativas que possam sofrer as constantes biolgicas, a doena permanece um fato qualitativo" (CLAVREUL, 1983:135). A ontologizao da doena, portanto, um fato epistemolgico, relacionado hegemonia de um paradigma, baseado nas cincias naturais, na profisso mdica. A reificao do fato patolgico passa por uma necessria naturalizao do doente e a imposio da a usncia de qualquer discurso por parte do doente. Ou, como diria Leriche: "Se se quer definir a doena, preciso desumaniz-la" (CLAVREUL, 1983:136). Assim, a ontologizao da doena verificada nas entrevistas no indica, necessariamente, um elemento do "senso comum" no discurso dos psiquiatras e, sim, um elemento original do prprio saber psiquitrico. A ontologizao da doena no "senso comum", por sua vez, percebida pelos trabalhos da Psicologia Social, pode ser produto no apenas de uma reificao de um ser abstrato, como a doena, mas, sim, uma cristalizao de um fenmeno que j vem da prpria Medicina. Devemos enfatizar, ainda, que a ontologizao da doena predominou entre os "psiquiatras", enquanto que os "psiquiatrasprofessores", com exceo de um, enfatizaram a doena como um desvio patolgico da normalidade, embora vises ontolgicas, tambm, permeassem as suas respostas. De qualquer forma, como bem alertou Jodelet, "a tendncia a dotar de realidade um esquema conceitual no privativa do 'senso comum'. P. Roqueplo destaca a tentao, entre os prprios cientistas, de ontologicizar os modelos que familiarizam o aspecto terico do seu saber. O modelo 'coisificante' do tomo levou os fsicos a considerar que o eletron 'algo'que gira ao redor de 'outra coisa', o ncleo" (JODELET, 1986:483).
Por fim, vale a pena, neste momento, fazer um pequeno parntese e examinar mais de perto o seguinte problema: durante as entrevistas e sua anlise, ficamos diante de uma questo que precisava de um exame mais atento, ou seja, explicar o motivo da grande dificuldade da maior parte dos entrevistados em definir o objeto da sua disciplina, a doena mental. Como a relao entre o psiquiatra e o seu objeto clnico fundamental na discusso sobre a representao social da doena mental, achamos pertinente investigar, com mais ateno, esse problema. Acreditamos que a fenomenologia da representao discutida, acima, em pormenor - explica, em parte, o motivo da dificuldade de resposta dos entrevistados. De fato, eles tambm ficaram em apuros para responder, com preciso, ao que seriam normalidade e loucura, por exemplo. Pode-se argumentar, aqui, que tais termos no so propriamente "mdicos" ou que ultrapassam as noes habituais da Medicina, tendo por isso causado um quase tormento para a resposta. E, realmente, os entrevistados, na maioria, no tiveram trabalho em responder sobre o tratamento, a etiologia - mesmo se argumentando que no existe, ainda, consenso na matria - e, principalmente, sobre a doena neurolgica. Se a confuso para responder "o que a doena mental?" fosse determinada pela condio mesma do discurso expresso oralmente, haveramos de supor que, em todas as perguntas, os entrevistados teriam tido dificuldade em dar uma resposta - o que no foi o caso. A ttulo de hiptese, podemos insinuar duas outras explicaes diferentes, embora complementares, para a dificuldade dos psiquiatras em responderem, por exemplo, "o que doena?", que saem do mbito da "fenomenologia da representao". Podemos explicar a dificuldade dos entrevistados em definir a doena mental, demonstrando que tal noo "polittica". Tal termo foi forjado, segundo Boudon, pelo antroplogo R. Needham, influenciado pelas anlises de Wittgenstein nas "Investigaes Filosficas". Assim, "ele designa precisamente essas palavras que evoca Wittgenstein, nas quais o sentido determinado pelas semelhanas de famlia que ligam os seus diversos usos" (BOUDON, 1990:328). Podemos perceber melhor isso, na anlise da palavra "jogo", realizada pelo filsofo austraco: "66 - Considere, por exemplo, os processos que chamamos de 'jogos'. Refiro-me a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. O que comum a todos eles? No diga: "Algo deve ser comum a eles, seno no se chamariam 'jogos'",-
mas veja se algo comum a eles todos. - Pois, se voc os contempla, no ver na verdade algo que fosse comum a todos, mas ver semelhanas, parentescos, e at toda uma srie deles. (...) Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus mltiplos parentescos. Agora passe para os jogos de cartas: aqui voc encontra muitas correspondncias com aqueles da primeira classe, mas muitos traos comuns desaparecem e outros surgem. (...) E assim podemos percorrer muitos, muitos outros grupos de jogos e ver semelhanas surgirem e desaparecerem E tal o resultado desta considerao: vemos uma rede complicada de semelhanas, que se envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanas de conjunto e de pormenor. 67 - No posso caracterizar melhor essas semelhanas do que com a expresso "semelhanas de famlia"; pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes semelhanas que existem entre os membros de uma famlia: estatura, traos fisionmicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento, etc., etc" (WITTGENSTEIN, 1979:3839). A expresso doena mental seria como o termo jogo; no teria uma definio precisa, pois recobriria, nos seus diversos sentidos, toda uma gama de semelhanas e assim conservaria uma impreciso crnica. A doena mental um constructo social, ou seja, ela construda socialmente como uma experincia individual e coletiva. A sua significao social gera uma polissemia, porque todos os indivduos e os grupos sociais podem, em ltima anlise, proferir-lhe um sentido, embora, na sociedade moderna, a Medicina tenha, para isso, uma maior legitimidade. Existiria, portanto, uma distribuio social comumente assimtrica de significaes da doena mental, cada uma com a sua pretenso de validade. Tal raciocnio perfeitamente aplicvel doena em geral, tanto sua construo social como sua polissemia. Dessa forma, a dificuldade de definir a doena reconhecida por vrios autores; Jaspers, por exemplo, afirma que o mdico aquele "que menos procura o sentido das palavras 'sade e doena'. Do ponto de vista cientfico, ele trata dos fenmenos vitais. Mais do que a opinio dos mdicos, a apreciao dos pacientes e das idias dominantes do meio social que determina o que se chama 'doena'" (JASPERS, apud GANGUILHEM, 1982:93). Giovanni Berlinguer, por sua vez, escreve que "tudo se complica quando se procura definir o que a doena" (BERLINGUER, 1985:19).
A hiptese de que a doena mental uma expresso "polittica" e, tambm, polissmica tem sua validade, embora continue no explicando porque foi mais fcil, aos entrevistados, responder sobre a doena neurolgica do que sobre a enfermidade mental. Podemos responder a essa questo, discutindo a segunda explicao, que pode ser considerada uma continuao da problemtica discutida acima. Quando um m dico precisa definir o que uma doena, pode utilizar, entre outros, o recurso de defini-la, tomando como referncia a sua etiologia. Tal recurso interessante porque permite ao mdico discernir o elemento comum das doenas. Ainda que vrias doenas tenham etiologias diferentes, tal fato no impede de serem definidas a partir de um critrio geral, fundado na anatomia patolgica. Acreditamos, assim, que o recurso etiologia, como critrio definidor da doena, permite um esvaziamento da presso polissmica, quanto aos significados da doena, proveniente do meio social. Ela no seria mais, na aparncia, um termo "polittico" e permitiria uma definio mais precisa e menos ambgua. Pode-se argumentar, aqui, que a transformao, para um determinado pblico, de um termo "polittico" a um "no polittico", significaria que ele foi, enfim, apropriado cientificamente; ou, ento - esse argumento no exclui o anterior -, que o critrio etiolgico tem uma slida ancoragem institucional na Medicina, demarcando-se naturalmente como o verdadeiro princpio definidor da doena (Cf. BOUDON, 1990:354). A definio de doena fica subordinada, assim, definio de sua etiologia, embora isso no signifique, necessariamente, responder pergunta "o que doena?" e, sim, "qual a etiologia de tal ou qual doena?", fato que, no fundo, mascara a polissemia inerente ao termo "doena". Na verdade, a Psiquiatria no tem um consenso etiolgico e, sim, um conjunto de tendncias nosolgicas, que propem essa ou aquela etiologia. Definir a doena mental a partir de um critrio etiolgico marcar posio e, em suma, polemizar. Assim, sem consenso etiolgico, a significao de doena mental, do ponto de vista da Medicina, fica "livre", excessivamente livre, da definio de sua etiologia e de toda normatizao - et pour cause, a "doena mental" permanece como uma expresso "polittica". Assim, a dificuldade dos entrevistados em definir a doena mental se deve, basicamente, a um problema particular de sua
disciplina: a falta de um consenso etiolgico. Por isso, pde-se definir a doena neurolgica de uma maneira mais fcil, porque esta possui critrios etiolgicos consensuais, permitindo uma definio a partir de uma causalidade reconhecida. No entanto, essa hiptese se alicera numa outra anterior: os entrevistados aceitam que a definio de doena necessita de uma etiologia reconhecida. E, tal hiptese, no de todo evidente, pois um dos entrevistados defendeu que a doena mental ultrapassa o paradigma mdico, afirmando assim um dualismo nosolgico. Mas no sabemos se esse dualismo se prope a sustentar um outro tipo de causalidade para a doena mental ou se exclui a necessidade mesma de uma etiologia definidora.
3) O ESTILO DO PENSAMENTO REPRESENTATIVO Uma situao de conversao impe elementos cognitivos e expressivos, podendo refletir-se no contedo e na forma do discurso de um sujeito. Se os nossos entrevistados tivessem escrito as suas opinies, teramos, certamente, encontrado diversas mudanas significativas na anlise; as vacilaes, as tergiversaes, a presso para a inferncia, por exemplo, provavelmente no teriam aparecido com tanta nitidez. Haveria, nesse caso, uma presso para evitar as contradies e um investimento na apreenso das categorias, evitando superposies de noes antagnicas entre si - o discurso apareceria bem mais "mdico". Um texto escrito oferece menor poder de negociao para um possvel consenso entre interlocutores, mas, em compensao, ele tem um tempo duradouro e um espao contnuo para conseguir tal intento. Um texto escrito por um mdico, por exemplo, sobre um assunto mdico, um trabalho reflexivo que exige dois sistemas cognitivos: "um que procede s associaes, incluses, discriminaes e dedues, ou seja, o sistema operatrio, e o outro que controla, verifica e seleciona com a ajuda de regras, lgicas ou no; trata-se de uma espcie de metassistema que reelabora a matria produzida pelo primeiro" (MOSCOVICI, 1978:255256). Por outro lado, a situao de conversao uma comunicao de idias, em que os interlocutores, face a face, tentam forjar as suas idias e reflexes no desenrolar dessa interao. Os objetivos da interao comunicativa so produzir uma influncia ou uma aprovao, pois "nenhum outro produto esperado, nem dela resulta" (MOSCOVICI, 1978:255).
Desse modo, "tal pensamento o seu prprio fim, e se visa persuaso, aprovao, tambm visa simplesmente possibilidade do indivduo ou do grupo poder orientar-se, poder compreender, e no constituir um discurso que seja duradouro e transmissvel como obra acabada, livro ou artigo. Por conseguinte, a comunicao , por um lado, direta e, por outro, transitria, limitada no tempo. Tudo se passa como se o nico registro possvel de opinies, de produtos intelectuais, estivesse no crebro e no corpo humanos" (MOSCOVICI, 1978:255). O "pensamento natural" exige, tambm, um sistema operatrio que comande as associaes, incluses, etc.; mas ele se diferencia quanto ao metassistema, que possui um carter normativo. Moscovici entende que, com isso, "a) o pensamento natural est orientado para a comunicao direcional e "controvertvel"; b) o pensamento natural implica, como todo pensamento, um sistema de relaes operatrias e um metassistema de relaes de controle, de validao e de manuteno da coerncia. Entretanto, neste caso, as ltimas relaes so normativas. Isso basta para explicar por que se trata de um pensamento que utiliza regras lgicas, mas no as aplica conscientemente" (MOSCOVICI, 1978:257). Moscovici afirma, com razo, que toda pessoa no cotidiano baseia suas reflexes num mundo bastante hierarquizado, "onde existem regies preferenciais, tendncias mais para um modo de reflexo do que para um outro e significaes estveis. Estas indicam as combinaes permitidas e as combinaes proibidas de proposies disponveis. Buscando quais sejam os critrios de combinaes permitidas e interditas, verifica-se que as primeiras so as que esto associadas, direta ou indiretamente, ao grupo do sujeito, e as segundas as que se associam a um outro grupo. Quanto mais esses grupos forem definidos, mais claras so as permisses e interdies" (MOSCOVICI, 1978:256). As opinies, desse modo, constroem-se em referncia ao outro do grupo e, provavelmente, "um catlico ir recusar-se a reter certo nmero de opinies e juzos que ele mesmo formulou se souber que, por outro lado, tais opinies ou juzos so aprovados ou emitidos por um comunista. Nesse contexto, os semelhantes se repelem e os contrrios se atraem" (MOSCOVICI, 1978:256). Tudo indica que, para Moscovici, a existncia de um metassistema normativo monoplio do "senso comum". O metassistema da cincia, como foi dito acima, "controla, verifica e seleciona com a ajuda de regras, lgicas ou no" o sistema operatrio, porm no o normatiza.
Mas, o que significa "regras lgicas ou no"? "Ou no" pode significar regras normativas? Difcil saber! Contudo, e para usar a mesma linguagem de Moscovici, o conhecimento cientfico pode ter um metassistema de carter normativo, bem como o mdico profissional, geralmente, busca critrios de "combinaes permitidas e interditas", em que "as primeiras so as que esto associadas, direta ou indiretamente, ao grupo do sujeito, e as segundas as que associam a um outro grupo" ou, tambm, a algo que no possa ser inscrito nas possibilidades do seu saber. O conhecimento cientfico tem um metassistema normativo, porque, antes de tudo, um discurso ou, como diria Granger, " a cincia um discurso e quem silencia sobre esta condio arrisca a no mais encontr-la" (GRANGER, apud EPSTEIN, 1990:103). Um discurso que, certamente, possui uma sintaxe que sofre "(...) as constries que interligam os fenmenos e representam as chamadas `leis cientficas'. Mas, e a sua semntica? Por quais `significados' esto estes significantes?" (EPSTEIN, 1990:7). O "empirismo lgico" (Cf. ABBAGNANO, 1984:7), por exemplo, props, entre outras coisas, um metassistema normativo que controlasse a "semntica" do discurso cientfico e que funcionasse como uma vacina para qualquer tipo de discurso especulativo. Tal metassistema estaria encarregado de "determinar prescries sobre como os cientistas `devem' praticar a cincia" (EPSTEIN, 1990:105). O falsificacionismo de Popper, por sua vez, exigiu o estabelecimento de "(...) normas que permitam distinguir os enunciados cientficos dos no cientficos" (EPSTEIN, 1990:105). Pode-se dizer que, nesse caso, existiria a necessidade de um especfico metassistema normativo interno s cincias e que "norma", aqui, no se refere ao campo das normas sociais. Mas, sociais? e as influncias externas, as normas e os valores
Um famoso paleontlogo e historiador da cincia, uma vez, nos avisou de que " a maioria de ns no somos suficientemente ingnuos para acreditar no velho mito de que os cientistas so modelos de objetividade isenta de preconceitos, igualmente abertos a todas as possibilidades e chegando s suas concluses apenas atravs do peso dos indcios e dos argumentos lgicos. Ns temos a compreenso de que nossas predisposies, preferncias,
valores sociais e atitudes psicolgicas desempenham importante papel no processo de descoberta" (GOULD, 1990:281). Pode-se dizer, tambm, que a situao, supracitada, no se relaciona com um metassistema propriamente dito e que o metassistema do "senso comum", que se utliza, igualmente, de regras lgicas, embora no as aplique conscientemente, de natureza diferente daquele da cincia. Tudo bem! Mas isso no impede a existncia do "senso comum"! O problema, talvez, fique mais ntido com a aplicao do conceito de paradigma na produo cientfica. Desse ponto de vista, "as prticas tericas e experimentais so regidas pelas regras ou princpios do paradigma vigente. As leis ou teorias estabelecidas no podem contradizer estes princpios ou regras. Estes tm alguma semelhana com as regras de um jogo. Neste ltimo caso, todavia, as regras so explcitas e o seu carter arbitrrio e convencional bvio. Nos paradigmas, o fator convencional e arbitrrio de suas regras, que so implcitas e nem sempre totalmente conscientes, fica, de algum modo, oculto, (...), o resultado dos experimentos cientficos testam menos a validade dos princpios do paradigma do que a capacidade dos cientistas em resolver quebra-cabeas com soluo mais ou menos garantida por estas regras, mas que, de qualquer forma, no podem infringi-las" (EPSTEIN, 1990:108-109). Por outro lado, quando um catlico, para utilizar o exemplo de Moscovici, recusa as opinies de outro grupo, como o comunista, ele est seguindo os seus valores e suas supostas regras de convivncia; mas, quando ele aceita as opinies comunistas voluntariamente, supe-se que ocorreu uma negao das suas antigas opinies e uma adeso ao comunismo. Pois bem, como diria Kuhn, "decidir rejeitar um paradigma sempre decidir simultaneamente aceitar outro..." (KUHN, 1975:108). Um mdico tem a tendncia de raciocinar conforme seu modelo biomdico de doena e rejeitar proposies estranhas ao mesmo. Seu raciocnio clnico pode ser, sem dvida, extremamente lgico, mas a projeo de um significado a uma doena depende menos da clnica do que do modelo de doena do mdico. inevitvel que sua representao de doena imponha uma normalizao na sua conduta profissional, para que ele possa reconhecer socialmente o que so sade e doena. Rejeitar ou aceitar uma representao de doena mental no significa, necessariamente, que foram utilizados critrios
"cientficos", mas, tambm, critrios viso de doena mental do sujeito.
normativos,
advindos
da
Se existem normas a guiar as escolhas dos psiquiatras entrevistados, podemos supor que elas estejam relacionadas identidade profissional e do seu saber, inscritas na sua representao de doena mental, o que, alis, foi possvel perceber nas respostas relacionadas com a viso de doena e de tratamento dos no-mdicos. Quando, por exemplo, perguntamos sobre a diferena entre a percepo leiga da doena mental e a mdica, surgiram respostas como a que segue: "Eu acho que a mdica mais restrita, porque a gente vai seguindo critrios e o que a maioria das pessoas pode pensar de doena mental, s vezes, no necessariamente isso no. Um pequeno desvio pode fugir um pouco da normalidade; uma pessoa assim mais excntrica, s vezes, as pessoas pensam ser um doente mental, que, na realidade... a gente, como psiquiatra, no percebe isso. No caso da doena mental, para o psiquiatra deve haver alguns critrios, pelo menos para mim. Eu sigo os critrios..." ("psiquiatra") A Psiquiatria, por esse ponto de vista, diferencia-se do "senso comum" por possuir critrios (no sabemos ainda de qual natureza) que lhe permitem, por exemplo, no confundir um pequeno desvio com uma doena mental. Insistimos, ento, no tema, perguntando qual seria a superioridade da Medicina em relao ao "senso comum". Ainda, segundo o mesmo entrevistado, por exemplo, "Seria, a partir do momento que a gente entra em contato com o ser, em contato com a pessoa, ... j seria... ... com a inteno assim de tratar ou, pelo menos, de ter alguma conduta em relao a isso". ("psiquiatra") O psiquiatra, assim, teria um contato mais profundo com a pessoa - "com o ser" -, provavelmente com uma pessoa com algum problema ou desvio, e esse contato j seria com uma inteno de tratar ou, segundo o entrevistado acima, "pelo menos, de ter alguma conduta em relao a isso". Poder-se-ia interpretar tal afirmao supondo que o contato mais profundo tenha uma relao direta com a inteno de tratar, no ficando o psiquiatra passivo diante de um desvio ou de um "problema" de uma pessoa.
No entanto, nossa insistncia no tema continuou, afirmando o mesmo entrevistado que: "Eu acho que a gente (os psiquiatras) v, observando com mais exatido e... e... vou citar mais um exemplo: no caso das pessoas achar algum diferente, ficam comentando, s comentando, e a gente (os psiquiatras) quando percebe alguma coisa no vai ridicularizando, no vai... Pode, at, levar em conta determinada conduta dessa pessoa, orientar se for o caso... Uma pessoa... um amigo que t com alguma coisa, e a gente percebe e orienta um tratamento... ("psiquiatra") O psiquiatra, assim, teria critrios para distinguir uma doena de um simples desvio, pois ele tem um "olhar" que permite uma observao mais precisa. Ele no ridiculariza o desvio ou a doena mental, isto , ele desestigmatiza, orientando e tratando; o psiquiatra "v" melhor, porque tem melhores critrios, embora tais critrios no tenham sido esclarecidos pelo entrevistado. Contudo, nas duas ltimas respostas, ressaltam-se a inteno e a orientao de tratamento. Ora, o tratamento da doena um mandato social do mdico e significa uma renormalizao da pessoa "problemtica ou desviante" no meio social-afetivo. Trata-se, pois, de uma questo menos cientfica do que normativa o imperativo psiquitrico de tratar o comportamento desviante patolgico. "Ver" um desvio - mesmo que seja uma doena e que a nossa percepo seja melhor do que as outras - significa a produo de uma avaliao, conforme um condicionamento social e critrios normativos, desde que avaliar uma doena somente possvel atravs de uma concepo da mesma. Ora, uma "concepo de doena muito diferente das concepes ou realidades cientficas neutras, tal como o `vrus' ou as `molculas', visto que, por natureza, ela avaliativa. A Medicina um empreendimento moral como o direito e a religio, no qual o objetivo descobrir e enquadrar as coisas que ela considera como indesejveis" (FREIDSON, 1984:214). Isso no quer dizer que no exista um fundamento cientfico na Medicina e que no se reconhea a realidade biolgica da doena. O problema que, quando se chama alguma coisa de "doena", as conseqncias desse ato so independentes do estado biolgico do organismo.
Na verdade, podemos perceber, de novo, a excluso de uma viso de doena mental, que compete com a psiquitrica, no depoimento abaixo: " muito difcil, muito difcil diagnosticar loucura. Eu no aceito essa terminologia `loucura'. Eu sou mais pela definio de doena mental, certo? Porque loucura tornou-se pejorativo atualmente; porque no incio ela englobava s as psicoses e hoje qualquer indivduo que altere um pouco o seu comportamento louco. Ento, na minha concepo, loucura apenas um adjetivo e no sinnimo de doena mental" ("psiquiatra") Reafirma-se, aqui, a nosologia mdica ("eu sou mais pela definio de doena mental"), ao ponto de se reconhecer a dificuldade de "diagnosticar" a loucura, e, ao mesmo tempo, recusa-se este termo, porque pejorativo, visando a uma despreconceitualizao da doena mental. Mas a recusa da noo de loucura tem como motivo, tambm, o fato de ela pertencer a uma viso do "senso comum", como bem parece mostrar o depoimento abaixo, do mesmo entrevistado: "Olha (...) a percepo mdica (da doena mental) aquela que ns aprendemos em termos de faculdade, n? Seria aquela percepo acadmica da doena em si. Enquanto que a percepo vista pelas pessoas leigas diz muito respeito quela definio que eu te falei sobre loucura, anteriormente, que quase no aspecto pejorativo. Quer dizer, qualquer indivduo, pelo simples fato de ter um distrbio mental taxado como doente mental ou louco. Eu acho que essa percepo do leigo se choca frontalmente com a percepo que eu tenho como profissional mdico. Ento, fica difcil para mim chegar a uma concluso do que a percepo vista pelo leigo (...) fico sem meios para definir realmente o que significa isso, essa diferena um do outro". ("psiquiatra") Novamente, a nfase em "despreconceitualizar" a doena mental, via rejeio do termo loucura, reconhecido como um termo leigo, sugere um choque entre as duas percepes de tal magnitude que impede, at mesmo, o entendimento de uma pela outra. Na verdade, enquanto no primeiro exemplo a diferena, basicamente, residia nos critrios de doena e na inteno de tratamento, o segundo se relaciona com a capacidade de diagnosticar. Ora, "o diagnstico e o tratamento no so atos biolgicos aos ratos, aos macacos e aos homens, mas atos sociais
particulares aos homens" (FREIDSON, 1984:215), isto , diagnosticar e tratar uma doena significa ter uma idia dela e uma maneira de responder s mudanas que ocasiona. Os dois exemplos acima, contudo, no so paradigmticos do material colhido nas entrevistas. Alguns entrevistados no rejeitaram a percepo leiga da doena e reconheceram, inclusive, o seu papel autnomo e complementar, no tratamento da doena mental. Como afirma, por exemplo, um entrevistado: "... Veja, o instrumental mdico no garantia de superioridade, porque em muitas situaes as pessoas do solues problemticas, tidas como mentais, s vezes sem instrumental mdico. Curandeiras um fato, rezadeira um fato (...). inegvel, muitas situaes so melhor resolvidas fora do hospital, fora do ambulatrio, fora da clnica psiquitrica, do que dentro do meio mdico" ("psiquiatra-professor"). Mas todos tiveram a preocupao de mostrar a necessidade da prtica mdica e de um lugar diferenciado da representao mdica de doena mental na sociedade. Igualmente, alguns defenderam o monoplio mdico do tratamento da doena mental, enquanto outros procuraram uma diviso de trabalho teraputico com outras disciplinas. Por outro lado, a existncia e a necessidade de um complexo de normas e valores, que controla e valida o modelo mdico de doena, podem relacionar-se com a natureza profissional do saber mdico, que precisa se apropriar da doena e reconstru-la segundo os ditames de sua legitimidade social. O nosso objetivo, de qualquer forma, foi desnudar a presena de um metassistema normativo na representao de doena mental, acoplado, evidentemente, a um sistema de regras lgicas e classificatrio, que caracteriza a clnica mdica. Tal metassistema teria as seguintes funes: 1) funo interna: controle, validao e manuteno do processo de construo profissional da doena mental, cujas conseqncias diretas seriam a autolegitimao profissional, a manuteno da identidade de grupo e um enquadramento da doena mental como objeto mdico; 2) funo externa: absorver, neutralizar, isolar ou, sendo o caso, excluir representaes de doena mental nomdicas.
Uma caracterstica marcante do estilo do pensamento representativo o que Moscovici chama de formalismo espontneo, isto , "a existncia e o emprego de um estoque de lugares, de juzos e expresses que traduzem a confiana nas frmulas consagradas" (MOSCOVICI, 1978:257); um recurso retrico e econmico que facilitaria a comunicao e o esforo de integrar as noes verbalizadas num todo coerente. O entrevistado, durante a comunicao, necessita traduzir suas reflexes em um esquema comum e, diante da presso para a inferncia, precisa definir a doena, formulando uma opinio. Contudo, "passado o primeiro momento, o do questionamento, ele v-se colhido numa srie de solues, de fragmentos de modelos debilmente encadeados. Alm disso, nada o obriga a explicitar esse encadeamento. Ele tem apenas que fornecer, ento, algumas indicaes desses modelos, calculando que o interlocutor reconstituir ele mesmo os contextos e as relaes necessrias. Pensamento e comunicao desenrolam-se assim de um modo econmico. A economia deve-se ao fato das palavras pertencerem linguagem aceita do grupo e s suas conotaes convencionais" (MOSCOVICI, 1978:258). Assim, pensar, para o entrevistado, identifica-se com a sua verbalizao. As paradas, os subentendidos, as semi-afirmaes no precisam ser esmiuados e o pensamento passa, rapidamente, para a esfera da linguagem. O que foi dito se caracterizaria pela repetio de palavras e argumentaes, isto , "no se exagera dizendo que o pensamento natural se distingue pela iterao, a redundncia" (MOSCOVICI, 1978:258). Nesse sentido, alis, um entrevistado afirma: "O que seria anormal? Rapaz, olhe, falando honestamente muito... na minha clnica, na minha experincia clnica essa coisa de normalidade e anormalidade relativssimo, entendeu? Completamente relativo. Seguramente no um padro estatstico, seguramente no apenas um padro estatstico. Pra algumas situaes especficas da clnica, da clnica psiquitrica e da clnica psicanaltica desconforto. Ele no estaria numa situao de sade, conseqentemente no estaria nas condies de sua normalidade se ele est desconfortvel, se o sujeito est desconfortvel. Ento, nesse sentido, o anormal extremamente varivel, extremamente varivel. Varivel no tempo, varivel na idade do sujeito, na fase de vida. Sujeito homem ou mulher, quer dizer, a pessoa na fase de vida, momento, situao que t atravessando, condio
econmica que t vivendo. No acho que to fcil definir assim, sabe, rigorosamente falando, eu no posso dizer a voc dois ou trs padres de anormalidade, que eu considere satisfatrio plenamente, a no ser que fosse uma aula acadmica, puramente acadmica. Mas, na prtica, num consultrio do psiquiatra, ou do psicanalista isso relativssimo, relativssimo". ("psiquiatra-professor") O entrevistado repete sem cessar, durante toda o discurso, a dificuldade de definir a anormalidade, a sua relatividade e sua intensa variao. Toda a sua argumentao orbita em torno da relatividade da anormalidade, afirmando que a anormalidade e a normalidade no so padres estatsticos, para reiterar a relatividade. Mais, ainda, a anormalidade pode ser um desconforto, iterando a sua variabilidade e afirmando que se pode definir a anormalidade numa aula acadmica, mas que, na prtica, "isso relativssimo". Por outro lado, no fica muito claro, algumas vezes, se Moscovici identifica o "pensamento natural" com o do "senso comum" ou com o expressado oralmente. Se o primeiro for identificado com o terceiro, ento o pensamento natural pode ser encontrado no discurso cientfico, uma vez que este pode ser expressado oralmente. E se o pensamento natural identifica-se com o "senso comum", o formalismo espontneo no seria uma caracterstica nica desse tipo de expresso ideativa, pois aparece, tambm, como elemento secundrio na comunicao oral de contedos cientficos. O formalismo espontneo pode ser, isto sim, considerado como um elemento formal do pensamento expressado oralmente, seja cientfico ou do "senso comum", embora se sobressaia mais neste do que naquele, tendo em vista as caractersticas particulares (formalizao lgico-racional) do discurso cientfico que impedem a predominncia do formalismo espontneo. Assim, encontramos o formalismo espontneo tanto no discurso dos "psiquiatras-professores" como no dos "psiquiatras" , embora a sua presena denote menos no primeiro do que no segundo. Podese argumentar que tal descoberta revela um indcio da presena do pensamento natural no discurso dos entrevistados; porm, pode-se dizer, tambm, que isso no significa muita coisa, a no ser uma caracterstica formal do pensamento expressado oralmente. Segundo Moscovici, outra caracterstica importante do estilo do pensamento representativo a causalidade fenomenal, que ilustra o papel da inteno do sujeito na formao de sua representao do objeto social. A causalidade fenomenal se
diferencia da causalidade eficiente, tpica da cincia, desde que no leva em conta a conexo entre uma causa estabelecida e seu efeito: "se dois eventos so percebidos em conjunto, considera-se que um deles, por motivos diversos - vizinhana, inteno do sujeito, agrupamento na mesma categoria - a causa e o outro o efeito" (MOSCOVICI, 1978:261). Podemos perceber como funciona a causalidade fenomenal, atravs desse exemplo de Moscovici, tirado das suas prprias entrevistas: "A Psicanlise seria um dos fatores religiosos mais importantes de reerguimento moral. Deve-se assinalar que foi depois do aparecimento da Psicanlise que se desenvolveram os movimentos catlicos, como o dos padres-operrios" (MOSCOVICI, 1978:261). Moscovici mostrar que no existe relao de causa e efeito entre a Psicanlise e o desenvolvimento dos movimentos catlicos, menos ainda com o aparecimento dos padres operrios. A relao causa-efeito entre a Psicanlise e o movimento catlico mediada pelo papel da inteno e dos interesses do entrevistado na estruturao do seu universo representativo. Ora, o entrevistado um cristo favorvel Psicanlise, que tenta articular, intencionalmente, esta ltima com alguma coisa relativa ao movimento catlico, de tal modo que a Psicanlise pudesse ser melhor apreendida sem causar conflitos com o campo de interesses de seu grupo social. Um objeto social, portanto, " sempre apreendido como algo associado a um grupo e finalidade desse grupo" (MOSCOVICI, 1978:261). Na causalidade fenomenal, o sentido da relao causal determinado pela adeso de um sujeito a um determinado grupo social, no importando, aqui, se existe ou no uma conexo entre a causa e o efeito. A procura de uma conexo que esclarea o sentido de uma relao causal seria tarefa da cincia. Mas, ser que o pensamento cientfico s "leva exclusivamente em conta a conexo entre uma causa estabelecida e seu efeito" (MOSCOVICI, 1978:260. Grifo nosso)? A descoberta de uma conexo entre uma causa e um efeito um exerccio de inferncia, produto tambm de uma inteno do cientista. A inteno se inscreve na prpria inferncia da conexo, isto , esta no surge da pura manipulao de fatos e, sim, de uma dialtica entre o cientista, sua teoria, predisposies, preferncias, valores e fatos. No raro na
cincia, portanto, arbitrrias.
encontrar
inferncias
de
conexes
causais
Examinemos, por exemplo, a seguinte afirmao: "Poderamos perguntar se o tamanho pequeno do crebro da mulher depende exclusivamente do tamanho pequeno do seu corpo. Tiedemann props essa explicao. Mas no devemos esquecer que as mulheres so, em mdia, um pouco menos inteligentes que os homens, diferena que no deveramos exagerar, mas que, nem por isso, deixa de ser real. portanto lcito supor que o tamanho relativamente menor do crebro das mulheres depende, em parte, da sua inferioridade fsica e, em parte, da sua inferioridade intelectual" (BROCA, apud GOULD, 1989:137). O autor, acima, toma como causa o tamanho dos crebros femininos e como efeito a inferioridade intelectual das mulheres em relao aos homens. Poder-se-ia dizer que o tamanho do crebro no tem nenhuma relao com a inteligncia e que o autor inscreveu as suas intenes e preconceitos no sentido da relao causal. A inferncia da conexo entre o tamanho do crebro e a inteligncia feminina est interligada com os preconceitos que o autor partilha com o seu grupo social e a sua poca. Ora, o problema desse exemplo que ele foi produzido por Paul Broca, eminente professor de Clnica Cirrgica na Faculdade de Medicina, em Paris. Cientista famoso no sc.XIX e adepto convicto da antropometria e da craniometria, extremamente populares nas cincias humanas daqueles tempos, Paul Broca era um cientista meticuloso, fazendo as medies do tamanho dos crebros com o mais escrupuloso cuidado e exatido. E, sem dvida, o tamanho do crebro feminino menor que o masculino, como tambm evidente que " Broca percebeu que parte dessa diferena podia ser atribuda estatura mais elevada dos homens. No entanto, no fez qualquer tentativa para medir o efeito do tamanho por si s, e chegou a afirmar que isso no poderia ser levado em conta para a diferena total" (GOULD, 1989:137), porque se sabia, a priori, que as mulheres possuam uma inferioridade intelectual. Na poca de Broca, j existiam indicativos cientficos suficientes para descartar um relao causal entre o tamanho do crebro e a inteligncia, mas ele no levou "exclusivamente em conta a conexo entre uma causa estabelecida e seu efeito". O exemplo de Broca no nico e no raro na cincia moderna
acontecer tal coisa; a causalidade fenomenal, portanto, pode existir na cincia, embora geralmente tenha um papel secundrio. De qualquer forma, a causalidade fenomenal no ocorreu com muita freqncia no discurso dos nossos entrevistados, tanto entre os "psiquiatras-professores" como entre os "psiquiatras". Contudo, analisemos um exemplo em que o entrevistado discute o motivo da existncia do preconceito social contra o paciente psiquitrico: "Sim, porque vem carregada de todas essas coisas pelas quais se reconhece a loucura, n?! Quer dizer, loucura coloca em ameaa a ordem, o estabelecido. E, ento, tanto o heri, o reformador e, tambm, o louco - o doente mental, no caso - coloca em ameaa a estabilidade do sistema (...) ento, a loucura, como uma coisa ameaadora, tem que ser rejeitada. Ela ameaa, ela ameaa (...) e, ento, atribumos a eles (os pacientes psiquitricos), como se ns colocssemos para fora, atribussemos a algum, aquilo que insuportvel, aquilo que ameaa a nossa existncia". ("psiquiatra-professor") O entrevistado tinha criticado, anteriormente, o uso da Medicina como um instrumento de controle social do comportamento desviante, assumindo uma posio semelhante quela que foi chamada de "antipsiquiatria". Desse modo, o entrevistado percebe a relao desse tipo de Medicina com o comportamento desviante na forma de um controle poltico-ideolgico, bem como projeta uma inteno poltica no sentido causal do preconceito social contra o paciente psiquitrico. Assim, este se identifica com o louco que, por sua vez, identificado como um subversivo (um heri, um reformador) do sistema social. Em suma, o preconceito seria um efeito do carter subversivo da loucura. Pensamos que, nesse exemplo, no s aparece a causalidade fenomenal, isto , A conectado a B, via inteno do sujeito, como tambm existe um mecanismo de analogia, que produz semelhanas entre o paciente psiquitrico, o heri e o reformador, determinado pelo campo de interesses do entrevistado. Vejamos outro exemplo, preconceito social contra entrevistado, tal preconceito nesta interessante explicao o doente mental. Segundo do um
"Existe. Pelo medo das pessoas de adoecer, por t to prximo. Aquela coisa que, enquanto no se v, como se no existisse. Mas, a partir do momento que t vendo, seja com o vizinho, com um familiar ou com quem quer que seja, t prximo. T prximo e a qualquer momento pode acometer ele tambm, n. Se ele no se identifica com a pessoa, se algum desconhecido que ele nunca viu... Mas, depois que ele v que algum da famlia, da casa, do meio social, ele se identifica e pode perceber que a doena pode acometer qualquer pessoa". ("psiquiatra") O preconceito o efeito do medo das pessoas de adoecer e, pelo que entendemos, o medo o efeito da proximidade ("to prxima") da doena mental das pessoas; proximidade, sentida como contigidade ou como possibilidade de adoecer e que ocorre quando a doena mental percebida ou "vista". Mas a sua percepo implica, antes disso, num processo de identificao com a pessoa doente, que, geralmente, um familiar ou algum conhecido, isto , do grupo social em que se constri a identidade do indivduo. O encadeamento para se chegar ao preconceito seria doenteidentificao-(percepo)-proximidade-medo-preconceito ou, em outras palavras: se, no meio onde vivo e como tal me socializo, algum adoece, percebo nele uma alteridade que tambm pode me acometer. Logo, tenho medo e, depois, preconceito. O medo da doena o medo desta em mim. Mas, por que o preconceito? Talvez porque o medo da doena seja o medo da alteridade, que, em ltima instncia, no pertence ao grupo de identificao do sujeito. No sabemos, contudo, se a nossa interpretao vlida ou no; na verdade, nossa nfase, aqui, na demonstrao de que o sentido da relao causal proposta necessita de outros elos causais intermedirios para ser entendido. De fato, as relaes causais encontradas nas entrevistas, geralmente, eram "interrompidas" ou "incompletas", como no exemplo, abaixo: "Olhe, esse preconceito, eu acredito que tem origem muito remota, n. Quer dizer, o doido, o louco, ele marginalizado pela sociedade, voc v o indivduo que sofre de doena mental de uma maneira diferente. Eu acredito que uma coisa cultural essa marginalizao do doente mental e a gente percebe essa marginalizao em todas as esferas, em todos os extratos sociais, da classe mais baixa classe mais alta; indistinto..." ("psiquiatra") O preconceito o efeito da marginalizao do doente mental, mas, por que o marginalizam? No se sabe. Talvez porque seja visto de "uma maneira diferente". Marginaliza-se, ento, porque
diferente? Mas por que o "louco" visto de forma diferente? Por que ele marginalizado? O argumento, assim, torna-se circular, porque faltam elos causais intermedirios para se entender o sentido da relao causal proposta. Deste modo, existe um limite no sentido da relao causal relacionado ao estabelecimento do campo de julgamento do entrevistado. O medo e a marginalizao do doente mental, por exemplo, so as causas do preconceito, e, nada mais se acrescentando, o resto poderia ser inferido de uma maneira ou de outra. A conexo causal concluda antes da demonstrao dos elos causais pertinentes, isto , o entrevistado conclui antes mesmo de argumentar. A argumentao, portanto, pressionada pelo primado da concluso - ltima caracterstica do estilo do pensamento representativo. Assim, "a concluso, dada desde o princpio, define a zona de seleo das outras partes do raciocnio, destaca-as do todo. Essa ao reguladora confere a este estdio do processo lgico, que deveria ser final, uma posio dominante e faz dele um smbolo, um indicador do conjunto. Podemos atribuir esse privilgio, por um lado, presena da norma ou das preferncias sociais, individuais na concluso e, por outro lado, a uma tendncia mais geral de busca de significaes. As premissas s tm sentido, alcance ou valor em relao ao termo do julgamento" (MOSCOVICI, 1978:263). As respostas da maioria dos entrevistados so descritivas, com ilustraes de exemplos, ou, simplesmente, colocando-se uma definio, que repetida depois durante toda a argumentao. Contudo, o componente descritivo, na maioria das vezes, transforma-se automaticamente em explicao, isto , o entrevistado descreve pensando que est explicando. Nesse sentido, existe uma confuso entre a descrio e a explicao que, no fundo, reflexo da passagem, sempre alcanada mas nunca terminada, do pensamento informativo para o representativo (Cf. MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:557). Enfim, chegamos ao trmino dessa anlise "formalista" do discurso dos entrevistados. Nossas concluses, evidentemente, so menos definitivas que indicativas, comeando pela resposta ambgua que daremos pergunta: o discurso dos psiquiatras entrevistados traduz, do ponto de vista formal, um pensamento representativo? Diremos que sim e, com certeza, tambm que no.
Tal postura se justifica porque, aparentemente, encontramos um amlgama entre um pensamento representativo e um informativo no discurso dos psiquiatras entrevistados. Na verdade, no exatamente um amlgama, mas sim, uma tenso inscrita no discurso, isto , uma ambigidade de um discurso que se nutre de um modelo biomdico de doena e, ao mesmo tempo, de uma experincia profissional com a significao social da doena mental. Assim, encontramos uma dicotomia formal no discurso dos psiquiatras entrevistados, em que: a) conceitos e signos convivem com imagens e smbolos; b) proposies empricas misturam-se com afirmaes vlidas consensualmente; c) respostas dominadas pelo "como" encontram-se com outras dominadas pelo "por qu"; d) intercmbios de tipos fixos de inferncia, baseados no raciocnio clnico, mesclam-se com outros tipos de racionalidade; e) e, por fim, encontramos uma flexibilidade de atos mentais e um uso, no discurso, de diversas formas sintticas. Pode-se dizer que a passagem do pensamento informativo para o representativo acompanhou mais o "psiquiatra" do que o "psiquiatra-professor". Contudo, isso no autoriza dizer que o discurso dos "psiquiatras" entrevistados seja "senso comum", embora descarte a possibilidade, pelo menos formal, de ser um discurso cientfico. Por outro lado, o discurso dos "professorespsiquiatras" no pode ser considerado exatamente um discurso cientfico, embora seja alicerado numa reflexo, no todo, mais aprofundada. Na verdade, entre a cincia e o "senso comum" - se colocamos, o que discutvel, os dois como extremos de uma linha vertical ou horizontal - existe um limbo onde navegam diversos tipos de saberes, entre os quais o saber (mdico) profissional. O "professor-psiquiatra" estaria imediatamente mais prximo da cincia e com uma capacidade mais rpida de atualizao dos seus conhecimentos, enquanto o "psiquiatra" comum estaria num movimento pendular que o aproximaria do "senso comum", sendo basicamente um "tcnico" que aplica seus conhecimentos, principalmente de taxonomia nosolgica, na prtica cotidiana. A diferena entre o "professor-psiquiatra" e o "psiquiatra" comum estaria em que o primeiro superpe, sua prtica profissional, uma outra de natureza mais reflexiva, enquanto que o segundo apenas atualizaria, basicamente, as tcnicas teraputicas da Medicina.
Captulo V - CONSTRUO DA REPRESENTAO SOCIAL: OBJETIVAO E ANCORAGEM.
Segundo Moscovici, na sociedade moderna, existe uma categoria de indivduos que tem como mtier a produo de representaes sociais e, como encargo, a difuso de conhecimentos cientficos e artsticos: mdicos, terapeutas, animadores culturais, especialistas da mass-mdia, etc. Eles seriam, para o mundo contemporneo, o que os fazedores de mitos teriam sido para as civilizaes arcaicas (MOSCOVICI, 1969-A:83). O mdico , no mundo moderno, o principal agente de difuso do conhecimento sobre a doena e, ao mesmo tempo, aquele que limita a sua reproduo. A legitimidade do discurso sobre a doena um monoplio da Medicina, inibindo o surgimento de outras concepes de doena suficientemente competitivas e legtimas. Em conseqncia, a representao social da doena entre indivduos no-mdicos se revela, to somente, a partir da sua relao com o conhecimento oficial e oficioso da Medicina, seja no contato direto com o mdico - nico portador legtimo de um saber sobre a doena - seja no contato com a vulgarizao cientfica e com os meios de comunicao. O mdico divulga menos uma representao cientfica da doena do que a hegemoniza na sociedade. Por um lado, a coero do seu mandato social de tratamento das doenas isola e neutraliza outros tratamentos alternativos; por outro, a legitimidade social do seu saber produz um consenso em torno da sua representao de doena. Um saber-poder mdico que minimiza a viso de doena vivida pelo doente e identifica a doena vista pela cultura, que engloba tanto o doente como o mdico, consigo mesmo. Em conseqncia, encontramos, principalmente no meio urbano, menos uma representao autctone de doena do que uma hegemonizada pela Medicina. A doena mental, por exemplo, sempre refratria a padronizaes de sentido e recoberta com uma carga desviante, tambm foi aos poucos recodificada pelo "senso comum", segundo os ditames do modelo mdico. Existe, por outro lado, um conhecimento de "primeira mo" da doena (Cf. MOSCOVICI & HEWSTONE, 1986:544), relacionado a uma tradio e a um consenso cultural em torno desse determinado objeto social. Porm, existe, tambm no "senso comum", um conhecimento de "segunda mo" da doena, proveniente das
instncias institucionalizantes legitimado socialmente, como a transformado pela vida cotidiana.
e produtoras Medicina, que
de um saber consumido e
Dessa forma, ocorre uma desarticulao e uma rearticulao permanentes do modelo mdico de doena, em que se decompem os seus elementos principais - agora, elementos articulados e fundidos numa "nova" viso, digamos assim, "mimtica" de doena (Cf. BOLTANSKY, 1989:22). Esse processo contraditrio, constitudo pela assimilao do discurso mdico da doena e pela sua transformao em uma viso de doena particular, pode ser creditado ao que chamamos de "senso comum". No entanto, esse processo de assimilao no passivo e no deixa de ser problemtico. O modelo mdico de doena, ao ser interiorizado pelo "senso comum", passa por um processo complexo de decodificao, seleo e descontextualizao determinado pelas experincias do cotidiano. As representaes surgidas desse processo possuem uma "objetividade" e uma insero material imediatamente determinada pelas experincias concretas do "modo de vida" das pessoas. Por isso, aps a assimilao do modelo mdico de doena, a identificao com este fica mais difusa e distante, perfazendo uma constante tenso entre uma representao "cientfica" da doena e sua representao social. A representao de doena, no universo do "senso comum", no se constitui, pois, independentemente do conhecimento mdico (Cf. HERZLICH, 1975). Porm, se no existe uma independncia, at que ponto pode-se dizer que essa representao de doena um conhecimento enquanto tal? Isto , poder-se-ia polarizar um conhecimento da doena pelo ""senso comum"" com aquele encontrado na Medicina? Ora, existe h bastante tempo uma polarizao entre uma Medicina dita "cientfica" e uma paralela chamada de "popular", embora a segunda nunca tenha deixado de se enraizar na primeira e, "longe de constituir um corpo de conhecimentos perfeitamente autnomos, resultava, pelo menos parcialmente, da difuso da Medicina cientfica de pocas anteriores" (BOLTANSKY, 1989:26). Assim, segundo Boltansky, "a medicina cientfica, nos sculos XVIII e XIX, entrou em contato com a medicina popular e como, ao se vulgarizar, e em se deformando, ela pouco a pouco impregnou o conhecimento popular a ponto de se confundir com ele. `Por uma srie de transies insensveis - escreve M. Bouteiller - os velhos dados cientficos entraram no domnio dos curandeiros de aldeia'. inicialmente atravs da literatura divulgada pelos
vendedores ambulantes, que se difunde a medicina cientfica. Como mostrou Robert Mandrou, esses livros de mascates, em geral annimos, so `redigidos por grficos, tipgrafos ou outros, que se tornam escritores', que vo buscar essas informaes `no fundo da tipografia onde trabalham, ou seja, na massa de publicaes do sculo XVI que ainda existem em maior ou menor quantidade nos arquivos de suas oficinas. `Eles basearam-se - escreve Mandrou num repertrio constitudo em grande parte pela cultura cientfica da aristocracia medieval' e, principalmente, em antigos tratados de medicina. (...) Igualmente intermedirios entre a medicina cientfica e a medicina popular eram os `amadores esclarecidos e caridosos' ou o `vigrio', que prodigavam seus cuidados aos doentes. (...) Os autores dessas obras de divulgao `valem-se dos mais ilustres mestres da medicina, Hipcrates, Galeno, Dioscrides Avicenna, Alberto o Grande, Paracelso (...), assinalando ao mesmo tempo a simplicidade e a modicidade das preparaes que eles preconizam" (BOLTANSKY, 1989:27-28). A Medicina popular, pois, partia do conhecimento mdico antigo e estabelecido, existindo entre ambos uma srie de elos intermedirios que processavam transformaes e reinterpretaes no sentido e na funo da representao mdica de doena. A descontextualizao era to grande que os diversos elementos, emprestados do modelo mdico e digeridos pela cultura popular, tornaram-se estranhos e distantes de seu modelo de origem (Cf. BOLTANSKY, 1989:31). O indivduo no recebia o conhecimento mdico de forma direta e, sim, atravs de um grande nmero de intermedirios que j haviam reinterpretado e descontextualizado, parcialmente, o material assimilado. O esquecimento da origem cientfica da representao da doena era facilitado, tambm, pela pouca legitimidade que a Medicina e a cincia, de um modo geral, possuam na cultura popular ou, em outras palavras, no "senso comum". O mdico, por exemplo, tinha um respeito social equivalente ou, at mesmo inferior, a um curandeiro de aldeia. Atualmente, a relao de um indivduo com o conhecimento mdico , praticamente, direta, sendo o intermedirio desse conhecimento, na maioria das vezes, o prprio mdico. A legitimidade da Medicina, em compensao, praticamente consensual na sociedade moderna, isto , qualquer conhecimento alternativo ao mdico considerado ilegtimo. Tal situao, certamente, dificulta ou mesmo impede a formao de um conhecimento autnomo da doena em outra dimenso que no seja a da prpria Medicina. O indivduo sabe o que doena, porm o seu
saber no tem legitimidade alguma e sua experincia com o fenmeno mrbido somente produz uma significao quando inserida na relao mdico-paciente. Pode-se supor que, no mundo moderno, existe um impedimento relativo na produo de conhecimentos fora do aparato institucional do saber cientfico. Os conhecimentos alternativos precisam, dessa forma, institucionalizar-se para obterem uma consenso social. A legitimidade social do conhecimento cientfico esvazia a do "senso comum", produzindo uma situao um tanto paradoxal, em que a difuso de um conhecimento se socializa mais facilmente na proporo inversa do seu reconhecimento cientfico. Assim, "os diversos tipos de conhecimentos parecem difundirse hoje tanto mais facilmente quanto menos nitidamente for reconhecido seu carter cientfico, ou se preferimos, quanto menos evidente for seu carter tcnico e mais se aproximarem eles dos conhecimentos familiares utilizados na administrao da vida cotidiana; pois seu poder de evocao ser menor, imporo menos respeito e podero mais facilmente ser descontextualizados" (BOLTANSKY, 1989:32). A Medicina, madrasta do conhecimento da doena, impe, paradoxalmente, uma embrutecedora "ignorncia" no "senso comum". A legitimidade social do conhecimento mdico impede o "senso comum" de adquirir uma autonomia na produo de suas representaes sociais da doena. Tais representaes permanecem, na maioria dos casos, "em estado latente, de uma certa maneira escondidas no discurso, e s se traem pelo emprego de certas palavras ou de certas imagens particulares" (BOLTANSKY, 1989:70). Enfim, tudo ocorre como se a ilegitimidade das representaes sociais do "senso comum" dificultasse a sua explicitao. Se as representaes sociais da doena aparecem de forma fragmentria e latente, o papel do pesquisador seria, ento, de reconstru-las, procurando substituir a fragmentao existente por representaes coerentes e organizadas. O grande perigo, aqui, identificar as representaes construdas pelo pesquisador com as produzidas pelo sujeito pesquisado, isto , produzir um objeto "que no a representao tal como representada pelo agente, mas a representao que seria a desse agente se ele mesmo fosse o terico de suas representaes ou, na pior das hipteses, o `arqutipo' imutvel e misterioso que modelasse sua prpria revelia as sua representaes" (BOLTANSKY, 1989:71).
Assim, o "senso comum" teria dificuldade em produzir representaes coletivas da doena, uma vez que lhe falta uma autoridade que lhe "conferisse uma espcie de direito de cidadania e permitisse sua difuso dentro de todo um grupo social" (BOLTANSKY, 1989:71). O estudo da objetivao de uma representao social da doena, desse modo, passaria pela apreenso das regras que possibilitam a construo no "senso comum", isto , seria o estudo da inscrio do modelo mdico na sociedade. A interveno social da Medicina deixa um excesso de significaes que precisam ser absorvidas de algum modo. A objetivao faria esse trabalho, absorvendo tal excesso e, principalmente, materializando o contedo absorvido num ncleo figurativo. Por outro lado, a objetivao de uma representao social, enquanto tal, no se diferencia substancialmente daquela que ocorre na vulgarizao cientfica (JODELET, 1986:483) e, nem mesmo, de toda representao em geral. Toda objetivao, na verdade, uma objetivao de algo que vem de fora, isto , de algo que novo e que precisa de um reconhecimento. O novo que vem de fora perde, ao ser objetivado e reconhecido, a conexo com a sua origem. Em conseqncia, torna-se problemtico, por exemplo, analisar uma objetivao de uma representao no seu meio social de origem. Ora, os mdicos e, em particular, os psiquiatras constituem o grupo social responsvel pela determinao da representao de doena mental na sociedade moderna. A relao entre a Medicina e o "senso comum", no que se refere doena mental, sempre foi problemtica, desde que o enquadramento desta num modelo nosolgico nunca teve uma legitimidade comparvel de outras doenas, permitindo, com isso, uma maior liberdade na criao de representaes da doena mental, com certo grau de autonomia, no "senso comum". Porm, acreditamos que, no mundo moderno, a Psiquiatria conseguiu ou, pelo menos, vem conseguindo uma legitimidade desestruturadora das representaes de doena mental originrias do "senso comum". Sendo assim, de que modo poderamos conceber o processo de objetivao da representao de doena mental entre psiquiatras? Afinal, objetiva-se o qu? O "senso comum", de um modo geral, tem duas maneiras de se relacionar com um objeto social: a primeira seria direta e estaria associada a uma experincia primria, alicerada na tradio e na cultura, com o objeto; a segunda, indireta, estaria
relacionada objetivao de um conhecimento cientfico em uma representao social, isto , a relao com o objeto social seria mediada pela representao, surgida da objetivao do conhecimento cientfico. O modelo mdico de doena emerge, historicamente, de uma experincia social com a doena e, a partir de sua institucionalizao, cristaliza-se como um saber autnomo e independente do "senso comum". Atualmente, com o peso de sua legitimidade social, o modelo mdico seria a matriz principal das representaes da doena existentes no "senso comum", o qual teria apenas uma influncia fugaz naquele. Contudo, o conhecimento mdico no se formou isoladamente nos laboratrios mdicos ou nas experincias clnicas dos mdicos. Devemos admitir que " sempre houve um momento em que, no final das contas, a ateno do clnico foi chamada para certos sintomas, mesmo que unicamente objetivos, por homens que se queixavam de sofrer ou de no serem normais, isto , idnticos a seu passado. Se hoje o conhecimento da doena pelo mdico pode prevenir a experincia da doena pelo doente porque, outrora, esta experincia suscitou, chamou o conhecimento. , portanto, de direito, se no de fato, porque h homens que se sentem doentes, que existe uma Medicina e no porque existem mdicos que os homens tomam, atravs deles, conhecimento de suas doenas" (CLAVREUL, 1983:131). A Medicina teria, assim, uma dvida para com o doente e, indiretamente, com o "senso comum", embora isso no tenha impedido, do ponto de vista da relao mdico-paciente, "a ausncia de qualquer discurso da parte do doente" (CLAVREUL, 1983:131). Desse modo, se possvel inferir uma objetivao do conhecimento mdico pelo "senso comum", a recproca, contudo, no verdadeira. Pode-se, todavia, aplicar o processo de objetivao ao conhecimento mdico, contanto que se tome como premissa a existncia de uma especificidade do saber mdico em produzir as suas prprias representaes, trazendo, como conseqncia, mudanas no modelo usual da objetivao. De fato, algumas fases do processo de objetivao ocorrem de modo diferente se aplicadas representao mdica de doena. A seleo e a descontextualizao, assim, no atuam em relao a uma teoria ou a uma representao que vm de fora e, sim, ao prprio objeto do modelo mdico, a saber, a doena.
O modelo mdico, por exemplo, seleciona da doena apenas o seu significado bio-normativo, desprezando a sua significao social, bem como descontextualiza noes como a de loucura, para identific-la com a prpria doena. O paradigma mdico, dessa forma, dita o que vai ser percebido da doena. A naturalizao ou a ontologizao, como vimos, ocorre tanto na materializao de esquemas conceituais como, principalmente, a servio de um paradigma que naturaliza o doente e ontologiza a doena. Enfim, chegamos a um dos pontos centrais do processo de objetivao que a esquematizao estruturante de uma representao. No caso da representao da doena mental entre os psiquiatras, encontramos como ncleo figurativo a dupla oposio de dois pares bipolares, sade/doena x normal/desvio. Os dois pares perfazem um continuum em que o primeiro seria o ponto referencial fundamental e o ponto irradiador da representao, enquanto que o segundo seria o ponto secundrio, um tanto oculto na representao, mas que exerceria uma atrao considervel, principalmente quando a representao da doena mental se aproximasse do comportamento desviante. O continuum seria representado dessa forma: sade doena _ _ _ _ _ _ _ normal desvio
No meio do continuum, representado acima, existiria um pontilhado configurando a passagem de um par para o outro. Naquela regio, conformar-se-ia uma espcie de ectone em que se misturariam elementos subjacentes aos dois pares oponentes. A representao da doena mental, alicerada no primeiro par, jamais passaria, como um todo, para o segundo par. Suas incurses no par normal/desvio no ultrapassariam a regio mista, embaralhando unidades temticas da sua representao com elementos do segundo par. O par bipolar sade/doena seria o dominante do continuum e determinaria, pelo menos entre os psiquiatras entrevistados, a representao de doena mental, que seria a expresso do modelo biomdico de doena, enquanto que normal/desvio estaria relacionado a modelos scio-situacionais, como a Antipsiquiatria, e a modelos psicodinmicos, como a Psicanlise. O primeiro par, sade/doena, que nos perto, teria as seguintes caractersticas: interessa mais de
- etiologizao e ontologizao da doena mental; - etiologia da doena mental endgena (orgnica, gentica ou funcional) e relacionada singularidade do indivduo; - doena mental como sofrimento psquico; - isomorfismo entre doena mental e doena orgnica (monismo mdico); - medicalizao da doena mental; - classificao nosogrfica e sintomatolgica da doena mental; - despreconceitualizao da doena mental; - reduo dos sintomas como objetivo da terapia; - controle social do comportamento desviante. No entanto, essa representao no partilhada de forma homognea por todos os psiquiatras entrevistados, desde que diversos itens no aparecem em todas as entrevistas. A ontologizao da doena, por exemplo, aparece fundamentalmente entre os "psiquiatras" , enquanto que, nos "professorespsiquiatras", ela surge misturada com a noo de desvio. O item etiologia da doena mental bem mais diverso, aparecendo aqui e ali outras determinaes etiolgicas que no a endgena. Contudo, as mudanas individuais de cada entrevistado significam menos uma outra representao do que, propriamente, variaes e flexibilidade de uma mesma representao. Por outro lado, a representao no estvel, parecendo uma imagem que sofre interferncias, isto , ela no consegue dar conta de diversos problemas relativos especificidade da doena mental. A instabilidade da representao se acentua quando os temas esto relacionados significao social da doena mental ou quando determinadas facetas desta no se enquadram ao ncleo figurativo da representao. De fato, podemos notar tal instabilidade acompanhando o caso particular, porm paradigmtico, de um entrevistado. No incio, o entrevistado definiu a doena como a ausncia de sade (ontologizao); depois, afirmou que a determinao etiolgica da doena mental era biolgica (etiologia endgena) e, enfim, sustentou a necessidade da medicalizao no tratamento. Contudo, definiu desse modo a doena mental: "Doena mental ... a ausncia de sade em termos mais especficos... a incapacidade da pessoa julgar". ("psiquiatra")
Nesse sentido, a "ausncia de sade em termos mais especficos" seria "a incapacidade da pessoa julgar". Pode-se sustentar, entretanto, que a resposta no saiu da representao bio-mdica de doena, inferindo que a incapacidade de julgamento fosse derivada de uma leso cerebral. Porm, "julgar", nesse caso, provavelmente tem relao com o discernimento de valores sociais, isto , com a capacidade do indivduo de discernir o certo do errado, o justo do injusto, o bom do mau, etc. Em suma, um indivduo com tal incapacidade possui, certamente, um comportamento desviante. Mas, vejamos outra resposta do mesmo entrevistado, quando perguntado sobre a diferena entre o anormal e o patolgico: "Eu acho que a (no patolgico) existe o sofrimento, j sofre, j faz sofrer, j ameaa as pessoas ou ela". ("psiquiatra") O sofrimento, o desconforto e a dor fazem parte da representao biomdica da doena mental; porm o patolgico, como "ameaa" s pessoas, seria sinnimo de comportamento desviante, isto , de infrao s normas sociais de conduta adequada. Pode-se dizer, por outro lado, que uma doena infecciosa ameaa o paciente e as pessoas, embora, provavelmente, o significado de "ameaa" esteja relacionado com uma suposta periculosidade do doente. Podemos perceber isso na resposta do sobre a existncia de pacientes perigosos: mesmo entrevistado
"Existe! Existe! E se tiver delirante... eu j vi delirante matando o filho. Mas, s alguns casos. Tem gente por a muito mais perigoso e no doente mental". ("psiquiatra") Assim, acreditamos que o significado de "ameaa" esteja embutido na presuno, por parte do entrevistado, da periculosidade do doente mental. interessante verificar que, anteriormente, o entrevistado tinha defendido vigorosamente a despreconceitualizao e a descriminalizao do doente mental e, agora, passa a sustentar uma periculosidade exemplificada, inclusive, com uma imagem de assassinato. A representao biomdica de doena mental vai, desse modo, sofrendo interferncias de elementos relacionados ao desvio normativo-social. Assim, a doena como ontologia d passagem ao doente; a etiologia biolgica da doena mental substituda pelo
comportamento desviante e, enfim, o desvio social praticamente no se distingue do "desvio patolgico". As interferncias do par normal/desvio podem surgir em diversos temas, inclusive na questo do tratamento da doena mental. Um entrevistado, por exemplo, defendeu uma determinao etiolgica para a doena mental, bem como um tratamento "fundamentalmente bioqumico" e "essencialmente medicamentoso". Poder-se-ia pensar, pois, que o tratamento da doena mental fosse monoplio do mdico-psiquiatra, visto ser ele o nico autorizado legalmente a manusear medicao quimioterpica. Contudo, quando perguntado sobre a necessidade do monoplio do tratamento pela Medicina, um entrevistado respondeu que "No, em hiptese alguma. A Psiquiatria uma rea mdica, uma especialidade mdica que tem o seu prprio parmetro, diferente das outras especialidades. A gente tem que trabalhar em equipe. evidente que a parte mais importante tem que ser do psiquiatra, mas ns no podemos de maneira alguma esquecer os paramdicos. fundamental a atuao do psiclogo, do terapeuta ocupacional, da enfermagem e da assistente social". ("psiquiatria") Assim, apesar da determinao etiolgica orgnica e do tratamento "essencialmente medicamentoso", seria "fundamental" a atuao dos "paramdicos" (psiclogos, enfermeiros, etc.), uma vez que a Psiquiatria " diferente das outras especialidades" mdicas. Mas, indagao de "qual seria a especificidade da Psiquiatria?", o entrevistado no consegue responder com preciso. Talvez a grande dificuldade da Psiquiatria seja o seu prprio objeto, isto , a doena mental. As definies de doena mental dos entrevistados, geralmente, extrapolam o modelo biomdico de doena e, quando isso no ocorre no momento da definio, as ambigidades aparecem logo depois em outras unidades temticas. Assim, o tema "doena mental" causaria interferncias na representao por trazer embutidos elementos do par normal/desvio. A representao biomdica de doena mantm a sua estabilidade quando o tema no oferece perigo, como acontece, por exemplo, no tema da doena neurolgica. Nesse caso, todas as respostas dos entrevistados foram coerentes com a sua representao de doena, isto , todos definiram a doena neurolgica pela sua etiologia. Foram, assim, unnimes em
relacionar a doena neurolgica a um substrato orgnico evidente. Alguns entrevistados, inclusive, compararam a doena mental com a doena neurolgica, mostrando que a primeira no possua um substrato orgnico como a segunda, embora defendesse a identidade conceitual de todas as doenas. Por outro lado, um exemplo precioso de uma tenso na representao da doena mental se encontra no tema da normalidade. Os psiquiatras entrevistados definiram a normalidade em termos de mdia comportamental, com exceo de dois "psiquiatras-professores"; um deles psicanalista e outro mais prximo de uma posio "antipsiquiatra". O primeiro respondeu do ponto de vista do relativismo cultural e o segundo afirmou a normalidade como capacidade de criao e de adaptao. Vejamos essa resposta paradigmtica de um entrevistado: "Normal seria o que no extrapola a mdia, a mdia de uma determinada populao - a mdia comportamental no caso da Psiquiatria". ("psiquiatra") Na verdade, a definio de normal como mdia proveniente da Fisiologia que "encontra, no conceito de mdia, um equivalente objetivo e cientificamente vlido do conceito de normal ou de norma" (CANGUILHEM, 1982:198; DURKHEIM, 1960). A doena seria uma variao, seja como excesso ou como falta, em torno de um parmetro considerado como normal. Assim, o normal como mdia no fugiria do paradigma mdico, visto que a Fisiologia no deixa de ser um dos alicerces da Medicina. Porm, se discutvel o emprego da noo de mdia para conceituar normalidade na Medicina em geral, o problema se agrava mais ainda quando do seu emprego na Psiquiatria, principalmente utilizando a noo de mdia comportamental. O mdico, diante de uma patologia orgnica, consegue isolar uma totalidade fisiolgica do indivduo; porm, na frente de uma psicopatologia, o psiquiatra necessita situ-la na dinmica das relaes interpessoais e sociais em que est inscrita. A personalidade torna-se, conseqentemente, um conceito mediador para entender a patologia mental. Assim, como no possvel entender a doena mental como um desvio fisiolgico, necessrio entend-la atravs do conceito de personalidade mrbida, como um desvio comportamental. O normal, como mdia comportamental, significa que seria possvel apreender um padro de condutas individuais aceitas pela sociedade. O desvio desse padro de condutas seria catalogado
como anormal ou patolgico, construndo-se, portanto, num tipo mdio de comportamento ideal aceito socialmente. Entretanto, extremamente difcil demonstrar uma "impropriedade situacional" de um psictico. O psiquiatra, desse modo, passa rapidamente do desvio social ao sintoma mental e "tende a apresentar a mesma dificuldade que o leigo para avaliar a impropriedade de um dado ato - o que defensvel no caso de atos extremamente desviantes, mas no quando se trata de muitas outras impropriedades mais suaves" (GOFFMAN, 1978:10). Os psiquiatras e, em particular, os entrevistados podem provar que um determinado comportamento desviante, mas no conseguem traduzi-lo como patolgico. Sua tarefa se torna quase impossvel, pois eles no tm "um mapeamento tcnico dos vrios padres de comportamento aprovados em nossa sociedade", bem como ainda "no conseguiram nos fornecer uma estrutura bsica sistemtica que permitisse a identificao e a descrio do tipo de delito representado pelo comportamento psictico" (GOFFMAN, 1978:10). Na verdade, a normalidade entendida como mdia impede, do ponto de vista comportamental, diferenciar o anormal do patolgico, ou, melhor dizendo, no cmputo geral, praticamente identifica os dois termos. A identificao do anormal com o patolgico significa menos um desejo do psiquiatra do que uma limitao no seu conceito de normalidade; esse impasse, porm, pode representar, na prtica, a psiquiatrizao do comportamento desviante ou, em outros termos, o controle do desvio social. Ademais, pode-se afirmar que uma representao de doena mental, baseada numa Medicina ontolgica, renega a noo de normalidade. A doena, vista ontologicamente, seria uma essncia oposta sade e, nunca, um desvio desta ltima. Por isso, a Medicina ontolgica refere-se muito mais ao termo "sade" do que ao de "normalidade". Uma contradio bsica da Psiquiatria, conseqentemente, seria a mistura explosiva de uma viso ontolgica da doena com a utilizao da noo de normalidade. A contradio se torna, assim, bem mais marcante entre os entrevistados que no so professores, pois, como vimos, eles sustentam uma viso ontolgica da doena com muita maior nfase do que os professores. Contudo, a definio de normalidade enquanto mdia pode ser apropriada por uma Medicina ontolgica, desde que a normalidade seja identificada positivamente com um ideal de perfeio. A normalidade fisiolgica ocorreria, por exemplo, quando os rgos
funcionam com toda regularidade e uniformidade de que so capazes. Mas, para a clnica psiquitrica, a identificao da mdia comportamental com um ideal de perfeio a confundiria, perigosamente, com um empreendimento moral. De qualquer forma, todos os psiquiatras entrevistados fizeram ressalvas quanto definio de normal como mdia comportamental, embora a ressalva no tenha significado, necessariamente, uma negativa na definio. Vejamos um exemplo de um entrevistado: "Olha, seguindo o conceito moderno, normal seria aquilo que existe com maior freqncia em termos de comportamento. Ento, normal seria isso. Mas pode mudar de regio para regio, de sociedade para sociedade. Quer dizer, o que normal na nossa sociedade pode ser anormal na sociedade norte-americana, na sociedade japonesa, na sociedade europia". ("psiquiatra") A contraposio entre a mdia comportamental e um relativismo cultural foi realizada por todos os entrevistados. Porm, tal contraposio parece ser contraditria, uma vez que a mdia como sinnimo de normalidade, pelo menos para a Fisiologia, corresponderia a um fato detectvel objetivamente, enquanto que o relativismo cultural seria um conjunto de normas sociais determinado historicamente. O relativismo cultural, na verdade, minimiza o conceito de mdia comportamental ao impor um conceito qualitativo e no quantitativo de normalidade. Sendo assim, os psiquiatras possuiriam uma viso ontolgica da doena mental (embora no to predominante entre os "psiquiatras-professores"), sobressaindo-se o eixo sade/doena. O recurso ao relativismo cultural, nesse sentido, funcionaria como uma minimizao do termo normalidade em relao ao de sade, isto , afirmar-se-ia uma definio de normalidade como mdia comportamental para, depois, esvazi-la conceitualmente. Desse modo, a utilizao do relativismo cultural no significou uma sada da representao biomdica de doena e, sim, uma volta representao atravs de um impasse conceitual realizado pela contraposio de duas definies diferentes. As dificuldades dos psiquiatras entrevistados em assumir, sem contradies, a sua representao de doena mental, devem-se defesa de uma unidade inconteste entre a patologia orgnica e a mental. O psiquiatra "olha" clinicamente a doena mental - ou, pelo menos, tenta -, porm no consegue relacionar, de forma
precisa, um sintoma visvel com uma causa orgnica ou funcional invisvel, como de praxe na clnica mdica. O sintoma que o psiquiatra "v" o comportamento desviante do paciente, que no pode ser enquadrado pacificamente numa conexo causal com disfunes ou leses orgnicas. O enquadramento sintomatolgico do comportamento desviante extravia o caminho do psiquiatra do par ontolgico sade/doena para o par normal/desvio. No possvel evitar tal interferncia, pois a doena mental seria a nica patologia - pelo menos at os dias de hoje - que no pode ser apropriada clinicamente apenas pela sua significao biolgica. Pode-se dizer que foi um avano para a Medicina o fim do dualismo entre o soma e o esprito, isto , o fim de uma dicotomia entre patologias orgnicas e mentais, passando a existir simplesmente patologias. E, provavelmente, causa euforia a postulao de uma patologia concreta que englobe no mesmo domnio o orgnico e o mental. Como afirmou um entrevistado, "Eu estou cansado de trabalhar com doenas psicossomticas e j me acostumei a no parar pra perguntar se ela fsica ou mental. Ela to-somente uma doena". ("psiquiatra-professor") Assim, uma marca importante da representao de doena mental encontrada nos entrevistados a identidade entre os dois tipos de patologia. Contudo, se a realidade demonstra a unidade entre o corpo e a mente, isso no quer dizer que possamos utilizar os mesmos mtodos e os mesmos conceitos para analisar o domnio psicolgico e o fisiolgico. A Anatomia e a Fisiologia ofereceram, sem dvida, Medicina um mtodo que sustenta uma ordenao de fenmenos numa coerncia global e no exclui a abstrao de uma singularidade mrbida e nem sua causalidade, isto , a patologia orgnica utiliza o conceito de totalidade sem deixar de abstrair a singularidade. Seria possvel, por exemplo, perceber um conjunto determinado de reaes hormonais, no qual um elemento essencial seria um distrbio na supra-renal. A abstrao de uma singularidade, como o distrbio, no impede a visualizao da totalidade que representa o conjunto de reaes hormonais. Ora, isso no acontece na psicopatologia, desde que contraproducente delimitar um distrbio qualquer e deste inferir um encadeamento funcional susceptvel de afetar o conjunto da personalidade.
Com efeito, "a coerncia de uma vida psicolgica parece assegurada de maneira diversa que no a coeso do organismo; a integrao dos segmentos tende, neste caso, a uma unidade que torna cada um deles possvel, mas resume-se e recolhe-se em cada um: o que os psiclogos chamam, no seu vocabulrio tomado fenomenologia, a unidade significativa das condutas que encerra em cada elemento - sonho, crime, gesto gratuito, associao livre - o comportamento geral, o estilo, toda a anterioridade histrica e as implicaes eventuais de uma existncia. A abstrao no pode, ento, fazer-se do mesmo modo em psicologia e em fisiologia; e a delimitao de um distrbio patolgico exige na patologia orgnica mtodos diversos dos da patologia mental" (FOUCAULT, 1984:17-18). A identidade entre a doena orgnica e a mental revela, na verdade, um reducionismo em que a especificidade do psquico opacificada. Os psiquiatras entrevistados, no desejo obsessivo de se identificarem com o modelo biomdico de doena, procuram na realidade fsica do crebro (desequilbrio nos neurotransmissores, leses orgnicas, etiologia heredo-gentica, etc) a comprovao da sua cientificidade mdica, em detrimento do aparelho psquico. Assim, sustentam, explcita ou implicitamente, um monismo, ou melhor, um "neomonismo" (como paradigmtico em dois "psiquiatras-professores"), nem psquico e nem biolgico, em que a atividade psquica estaria em co-referncia e identidade com a realidade cerebral. Tal posio no deixa de ser interessante e aceitvel, desde que "se reconhea a) que a identidade comum qual se referem esprito e crebro ainda no foi identificada; b) que a identidade do crebro e do esprito comporta uma contradio visto tratar-se, evidentemente, da identidade do no-idntico!" (MORIN, 1986:72). Assim, como afirma Andr Bourguignon, "a soluo do problema corpo-esprito no pode ento deixar de ser contraditria: o corpo (atividade nervosa enceflica) e o esprito (atividade psquica) so ao mesmo tempo idnticos, equivalentes, e diferentes, distintos. Tal soluo impe que nunca se privilegie um dos termos da contradio a favor do outro, sobretudo quando se trata de investigao cientfica" (BOURGUIGNON, apud MORIN, 1986:73). Preferimos, aqui, sustentar menos um "neomonismo" do que uma unidualidade complexa que reconhea:
"* A ineliminabilidade e a irredutibilidade de cada um desses termos; * A sua unidade inseparvel; * A sua insuperabilidade recproca, a sua necessidade mtua e a sua relao circular; * A insuperabilidade da contradio estabelecida pela sua unidade" (MORIN, 1986:73). O problema de se identificar doena orgnica com a doena mental no seria apenas produzir um reducionismo, mas tambm, deixar de reconhecer uma hierarquia de integraes, em que a integrao psquica emerge e se baseia na integrao bio-cerebral num nvel superior. O aparelho psquico teria, assim, novas propriedades irredutveis ao nvel inferior da integrao biocerebral, ou seja, uma disfuno ou uma patologia de um nvel hierrquico superior no pode ser idntica a uma patologia de um nvel inferior. F. Jacob define, de uma maneira generalizada, que "a hierarquia na complexidade dos objetos tem, por conseqncia, duas caractersticas: por um lado, os objetos existentes em determinado nvel constituem sempre uma amostra limitada em relao a todas as possibilidades oferecidas pelo conjunto de combinaes do nvel mais simples; por outro lado, podem surgir em cada nvel novas propriedades que determinam novas constries nos sistemas. O que no passa, afinal, de mais um acrscimo de constries. As que existem em determinado nvel aplicam-se tambm aos nveis mais complexos. Contudo, quase sempre as proposies que tm maior importncia a determinado nvel deixam de a ter nos nveis mais complexos" (JACOB, 1989:64-65). Em suma, a instabilidade da representao biomdica de doena mental dos entrevistados tem como uma das suas causas fundamentais o no reconhecimento epistemolgico da especificidade da doena mental. Tal desconsiderao permite a interferncia do par normal/desvio, desestabilizando a representao. O flanco da representao biomdica de doena mental estaria aberto entrada de todos aqueles elementos relacionados com a significao social da doena mental e com a especificidade epistemolgica desta em relao doena orgnica. A singularidade da doena mental se funda, assim, no par bipolar normal/desvio, e no apenas no sade/doena. A representao biomdica da doena mental silenciosa em relao determinao social da patologia mental. O psiquiatra, dessa forma, quando interpelado sobre a etiologia da doena mental, utiliza recursos argumentativos conhecidos e familiares,
que esto inscritos na sua representao de doena. Mas, quando interpelado sobre os condicionamentos sociais da enfermidade mental, o psiquiatra preenche as lacunas do seu discurso com elementos estranhos ao seu modelo de doena. Enfim, como escreve Foucault, "no se pode, ento, admitir prontamente nem um paralelismo abstrato, nem uma unidade macia entre os fenmenos da patologia mental e os da orgnica; impossvel transpor de uma para outra os esquemas de abstraes, os critrios de normalidade ou a definio do indivduo doente" (FOUCAULT, 1984:20). Sem dvida, durante toda esta discusso, o processo de objetivao da representao foi acompanhado implicitamente pelo processo de ancoragem, pois existe uma relao entre a cristalizao de uma representao de doena mental, por uma parte, e um sistema de interpretao do objeto-doena e de orientao de comportamento, por outra. Na verdade, o processo de ancoragem se confunde com o prprio modus vivendi do mdico-psiquiatra, realizando-se o enraizamento social da sua representao de doena. A ancoragem confere significado e uma utilizao representao, integrandoa cognitivamente ao paradigma em que se move o mdico-psiquiatra. Mais ainda, tal processo no apenas se confunde mas, tambm, se identifica com a construo profissional da doena mental. A ancoragem define menos as regras de produo de sentido da representao do que, propriamente, a realizao delas como interpretao da realidade social e orientao das condutas e das relaes sociais. Na verdade, a ancoragem estaria relacionada esfera do fazer e da ao, mediados pelos significados do comportamento do sujeito. Os psiquiatras so um grupo social especfico que realiza uma apropriao de um objeto social de maneira especfica e distinta do resto da sociedade. Sua misso, definida socialmente, tratar os doentes e, portanto, intervir ativamente na direo daquele que sofre de alguma enfermidade. O psiquiatra orientado para a descoberta de doenas mentais e cria, apesar de inconscientemente, significaes sociais do fenmeno mrbido, mesmo que o pense apenas do ponto de vista da sua significao biolgica. A construo profissional da doena o leva a criar novas regras para definir o desvio psicopatolgico, projetando para o social o seu paradigma.
Na construo profissional da doena mental, se inscreve o processo de identificao profissional. interessante, nesse sentido, verificar a preocupao dos entrevistados em resguardar um papel para a Medicina. Eles enfatizaram, sobremaneira, a necessidade de um lugar privilegiado para o tratamento na Medicina, o qual possui uma relao especial com a identidade profissional dos mdicos, porque o guardio do seu monoplio. O consenso em torno do saber mdico deve-se, fundamentalmente, ao monoplio do tratamento, visto que, do ponto de vista de uma doena que precisa ser erradicada, no seria concebvel um saber que evitasse a sua realizao teraputica. A luta profissional da Medicina foi menos pelo consenso em torno de sua concepo de doena do que pelo monoplio do tratamento. Podemos dizer que o tratamento a representao da doena em ao. Existe, assim, uma relao estreita entre uma representao da doena e o seu tratamento. Foi a partir do monoplio teraputico que a Medicina pde, aos poucos, projetar socialmente a sua representao biomdica de doena. No caso dos entrevistados, ocorreu uma diviso entre os "psiquiatras-professores" e os "psiquiatras"; os primeiros sustentaram uma viso mais psicossomtica de doena mental do que ontolgica e, em conseqncia, postularam um tratamento baseado na complementaridade entre a psicoterapia e a farmacoterapia; os segundos mostraram uma viso ontolgica e predominantemente somtica de doena mental e um tratamento essencialmente medicamentoso. Vejamos, agora, um exemplo paradigmtico da representao/tratamento na afirmao de um entrevistado: relao
"Olha, na minha concepo, eu sou da linha organicista. Eu acredito que toda doena mental tem uma base orgnica. Evidentemente, no tenho capacidade, nem meio para provar, mas acredito que no futuro ser descoberto todas as origens das doenas mentais. Provavelmente, a gentica far isso. Eu acredito que a doena mental de origem gentica". ("psiquiatra") O argumento, acima, estaria baseado num postulado de f na organicidade da doena mental. Em nossa opinio, a inscrio social de uma representao e a orientao de comportamento produzida implicam, comumente, numa acriticidade em relao s premissas da postura tomada. A semelhana com a inscrio social de um paradigma num meio cientfico evidente.
O mesmo entrevistado reafirma, ento, a sua representao de doena na terapia: "Fundamentalmente o tratamento bioqumico. A psicoterapia entra com uns 30% a 20%. Eu acho que a medicao essencial. Eu no fujo disso no; isso a minha concepo; isso a minha forma de agir, meu modo de pensar, meu modo de atuar profissionalmente. Essencialmente medicamentoso". ("psiquiatra") A relao entre o tratamento e a representao de doena confirmada pelas associaes reveladas pelo entrevistado entre a sua forma de agir, o seu modo de pensar e sua atuao profissional. A concepo de doena do entrevistado colocada como um vaticnio ou uma espcie de destino para o qual estava condenado irreversivelmente ("eu no fujo disso no"). A ancoragem da representao de doena mental produz uma ligao direta com uma ao teraputica respectiva. Uma tomada de posio teraputica pode, tambm, orientar uma opinio e um comportamento sobre a sua institucionalizao. Pode-se especular qual seria a relao entre uma viso de tratamento, por exemplo, e a defesa de uma organizao teraputica, como, no nosso caso, o hospital psiquitrico. Nesse sentido, todos os "psiquiatras-professores" foram contra o hospital psiquitrico e propuseram outras alternativas institucionais, principalmente o hospital geral. O hospital psiquitrico, de fato, com o seu sistema de recluso asilar, impede, necessariamente, um tratamento que combine psicoterapia e medicamentos. A crtica foi contundente, afirmando-se que o asilo psiquitrico patogeniza e estigmatiza o doente. Os "psiquiatras-professores" revelaram, tambm, uma preocupao mais ntida com o doente interno, fato que ocorreu, raramente, entre os "psiquiatras". Tal preocupao pode ser creditada a uma representao menos ontolgica de doena mental em que o doente aparece com mais nitidez do que, propriamente, a doena. De todo modo, a opinio contrria ao hospital psiquitrico est, tambm, inscrita na defesa, por parte dos "psiquiatrasprofessores", de uma unidade patolgica na Medicina. Assim, o hospital psiquitrico foi representado como um desvio do caminho natural da Medicina, produzido por uma viso de doena mental distante do paradigma mdico. Nas palavras de um entrevistado:
"Eu vejo o meu doente como um todo e sou absolutamente contrrio separao da Psiquiatria da Medicina. Acho que foi um desvio horrendo; ns perdemos foi o caminho nessa histria toda. E s vejo um caminho de volta: a reintegrao. E a reintegrao da Psiquiatria com a Medicina passa no s pelo posicionamento terico, pelo ensino novo na universidade, mas sobretudo pela extino do asilo". ("psiquiatra-professor") O entrevistado responsabiliza o hospital psiquitrico por ter separado a Psiquiatria da Medicina e sustenta que o fim de tal desvio passa por sua extino. Contudo, nada indica historicamente que a Psiquiatria tenha sido isolada da Medicina; na verdade, foi a Medicina que, ao se apropriar da doena mental como seu objeto, produziu o hospital psiquitrico. A Medicina tambm contribuiu para o isolamento de determinadas morbidades estigmatizantes, como foi o caso da lepra, da tuberculose, do cncer e, atualmente, da AIDS. Por outro lado, os "psiquiatras" entrevistados, com uma exceo apenas, foram cticos quanto substituio do hospital psiquitrico. Pode-se especular que, do ponto de vista de um tratamento "essencialmente medicamentoso", o asilo psiquitrico no produza qualquer obstculo. Mas se pode pensar, tambm, que uma viso ontolgica de doena, combinada com um organicismo, privilegie menos o doente do que a doena, que priorizada em detrimento daquele. Uma representao organicista da doena mental produz uma naturalizao do seu objeto e, de um certo modo, objetiva o paciente, eliminando o contexto scio-psicolgico em torno do qual se formou o estado mrbido. A conduta do psiquiatra seria a de encontrar em toda doena mental uma etiologia orgnica, com exceo das neuroses, que, segundo os "psiquiatras", possui uma determinao "psicolgica". No surpresa, pois, verificar-se uma diviso de trabalho com a Psicologia, a qual estaria qualificada para ajudar no tratamento das neuroses, embora seja desprezada na terapia das grandes psicoses. As neuroses seriam um tanto minimizadas em relao s psicoses, visto no possurem uma etiologia orgnica, isto , seriam doenas mentais que no teriam tanta importncia na nosologia psiquitrica. Em geral, as definies de doena mental dos psiquiatras se relacionavam predominantemente com o modelo das psicoses.
Desse modo, a conduta "inadequada" do doente estaria relacionada a uma hipottica disfuno orgnica. O psiquiatra, ao assumir o modelo biomdico de doena, tenta amoldar-se a sua eterna madrasta: a Neurologia. Por isso, a justificao de sua viso organicista faz com que os "psiquiatras" - e, tambm, muitos "psiquiatras-professores" que defenderam, por exemplo, uma "neuropsiquiatria" - utilizem recursos explicativos advindos da Neurologia e, em conseqncia, ocasionando uma lacuna quanto aos componentes scio-psicolgicos da doena mental. A ontologizao da doena mental, combinada a um organicismo, determina, na relao psiquiatra/paciente, uma excluso de ambas as posies subjetivas. Da parte do paciente, ocorre a sua objetivao pelo discurso clnico e a sua naturalizao pela doena orgnica. O psiquiatra, por sua vez, s intervm para extrair da fala do paciente dados objetivos sintomatolgicos. Ele s existe como referncia constante ao seu saber e ao corpo psiquitrico, anulando-se enquanto sujeito perante a exigncia de objetividade cientfica do modelo clnicoorganicista. A dessubjetivao do psiquiatra apresenta-se, alm do seu prprio efeito alienador bvio, como um motivo de proteo e de alvio para o psiquiatra. "Olhar" um paciente psiquitrico como uma objetividade natural - uma doena orgnica - evita o contato comunicativo com este doente; evita tomar conscincia de que, apesar da doena, ele um sujeito comunicativo. Na verdade, a "neutralidade" do psiquiatra evita o seu envolvimento com o intenso sofrimento psquico do paciente. O hospital psiquitrico, segundo os "psiquiatras", no estigmatiza o doente, desde que a estigmatizao deste que estigmatiza o hospital. Segundo um entrevistado, "O estigma que se tem contra o hospital psiquitrico o estigma que se tem contra a doena mental. (...) No meu entender no o hospital psiquitrico que estimula esse estigma. O hospital psiquitrico mais estigmatizado pela prpria populao, pelo prprio pblico. uma situao que estimula, d fama, mas mais a fama pelo prprio estigma que a sociedade coloca no doente mental". ("psiquiatra") Os "psiquiatras", pelo que pudemos averiguar, no encaram o hospital psiquitrico como um desvio da Medicina e, sim, um local profissional adequado. Eles defendem uma unidade patolgica entre
a doena mental e a orgnica, mas no inferem, como conseqncia, a extino do hospital psiquitrico. Como disse um entrevistado, o hospital psiquitrico "sempre existir. O que se pode fazer restringir os critrios de internamento, mas sempre existiro pacientes que necessitaro de internamento. Talvez, por pouco tempo de internao. Mas continuar a existir o internamento e o hospital, no importa o tipo de trabalho que seja feito, nem as mudanas que ocorrero". ("psiquiatra") Os "psiquiatras" sustentaram que o conhecimento mdico seria superior ao conhecimento leigo da doena mental e que essa superioridade teria uma relao unvoca com a capacidade de tratamento da Medicina. Desse modo, eles se posicionaram contrariamente posio defendida pelos "psiquiatrasprofessores", que sustentaram uma igualdade entre o conhecimento leigo da doena e o mdico, afirmando que a Medicina teria apenas uma maior sofisticao e uma tendncia de se apropriar do desvio como uma doena. A ancoragem da representao de doena mental repercutiu na questo da identidade profissional de maneira diferente para os "psiquiatras" e os "psiquiatras-professores". Os primeiros se preocuparam em enfatizar a diferena existente entre o conhecimento mdico e o leigo, afirmando uma legitimidade social da sua profisso na sociedade; os segundos tiveram a necessidade de defender a volta da Psiquiatria ao seio da Medicina, preocupando-se com a legitimidade dessa disciplina no interior da sua prpria profisso. So, portanto, orientaes de conduta diferentes, determinadas por uma inscrio no homognea da representao. Por outro lado, os psiquiatras entrevistados tiveram a preocupao em despreconceitualizar a doena mental. O fato, contudo, de designar um comportamento desviante como uma doena mental envolve um processo de rotulao do indivduo (Cf. SCHEFF, 1978), sendo, portanto, impossvel no existir, mesmo que inconscientemente, um processo de condenao moral. O psiquiatra pensa que condena apenas a "doena" e no o doente, no percebendo que, ao fazer isso, separa o ato de despreconceitualizao do de rotulao. Por mais liberalidade com que o psiquiatra trate o seu doente, isso no evita as conseqncias sociais de seu paciente ter sido por ele designado como doente.
Ora, os psiquiatras esto mais interessados nas conseqncias fsicas e, no mximo, psicolgicas do diagnstico e do tratamento do que nas suas conseqncias sociais e morais. A Psiquiatria, assim, tenta minimizar o preconceito social contra a doena mental, mas produz, ao mesmo tempo, a rotulao do comportamento desviante. A ancoragem de uma representao biomdica de doena envolve uma conduta que separa a doena do doente, separando, por conseguinte, a despreconceitualizao da rotulao. Na verdade, os psiquiatras aumentam o nmero de desvios do comportamento entendidos como doenas mentais, pois a sua misso justamente descobrir "desvios patolgicos" (CF. FREIDSON, 1984). Como disse um entrevistado sobre conhecimento leigo de doena e o mdico: a diferena entre o
"(...) Ento, os leigos so capazes de detectar o desvio daquele padro de normalidade. Mas somente o mdico repara que aquilo doena..." ("psiquiatra-professor") O saber psiquitrico seria projetivo, no sentido de inscrever nos desvios do comportamento a marca da morbidade. A ancoragem transformaria a representao biomdica de doena mental em um instrumento de interpretao do comportamento desviante, enquanto "desvio patolgico". Um instrumento, pois, ancorado na conduta do psiquiatra diante dos desvios sociais. Um sintoma dessa projeo do sentido mrbido no desvio comportamental pode ser visualizado, de certo modo, na forma como os psiquiatras entrevistados identificaram a loucura com a doena mental. Seria isso, portanto, um exemplo da captura psiquitrica, em termos nosolgicos, do comportamento desviante? Na verdade, parece refletir mais uma interpretao da realidade do desvio comportamental, realizada pela ancoragem de sua representao de doena mental, do que qualquer outra coisa. A ancoragem socializa uma representao de doena mental entre os psiquiatras e projeta para o mundo, via poder e hegemonia dos mdicos, a condio de se viver constantemente sob o signo da identidade entre loucura e doena mental.
CONSIDERAES FINAIS
Seria ingenuidade pretender que este desfecho fosse entendido como uma concluso, pois uma Dissertao um longo e tortuoso aprendizado e o seu final representa, geralmente, o fim de um comeo. Talvez uma espcie de clareira no meio de uma floresta em que se visualizam, ao longe, vrios caminhos. Iniciamos o processo de investigao com uma inquietao e terminamos com uma problemtica. Podemos dizer que respondemos, de alguma forma, s nossas perguntas, embora as respostas tenham produzido outras inquietaes e, em conseqncia, novas perguntas. Geralmente, no processo de conhecimento, surgem, ao mesmo tempo, o problema e a soluo, ainda que esta ltima transborde os seus limites e se metamorfoseie em novos problemas. Por outro lado, existe no comeo da investigao uma espcie de latncia na reflexo e o desejo de considerar as coisas menos como contingentes do que necessrias. O pesquisador se sente numa espcie de labirinto de mltiplas vias em que precisa seguir, mesmo que arbitrariamente, uma direo determinada. Por isso, para encontrar um caminho mais preciso, procuramos rastrear as origens do conceito de representao e, se foi necessrio comear pelo comeo, nada como busc-lo onde tudo quase sempre se inicia: na Grcia. Assim, samos da Grcia e fomos parar no Recife. Uma viagem longa, com vrias conexes e escalas, toda realizada e comandada pelo conceito de
representao, que, apesar de ter sofrido diversas modificaes, permaneceu ntegro em todo o percurso. A representao embarcou numa viagem conceitual como uma categoria epistemolgica e chegou a seu destino menos polissmica e mais aplicvel metodologicamente. Talvez, a grande virtude da Psicologia encontrar uma localizao epistemolgica representao, ainda que isso no signifique sua utilizao na Filosofia, na Antropologia e Social tenha sido adequada para a uma censura para a na Sociologia.
O conceito de representao social permitiu Psicologia Social no se restringir a parmetros normativos puramente psicolgicos, nem descrio pura e simples de fenmenos individuais; na verdade, a Psicologia Social compreendeu que faz parte das cincias sociais, ultrapassando uma mera teoria do comportamento. Assim, a representao social induziu nela, alm de um desejo de totalizao subjetiva, um desejo de totalizao estrutural, isto , um desejo de Sociologia. Se uma das grandes dicotomias existentes nas cincias socais a distncia entre o individual e o coletivo, a estrutura e a subjetividade, podemos supor que o conceito de representao social tenha diminudo tal distncia, operando como uma ponte entre o psicolgico e o sociolgico. A representao social permite cincia social no ficar espremida entre uma viso "holista" de sociedade e uma "atomista" de indivduo, demonstrando que o "aspecto de estrutura" e o "aspecto de ao" devem-se complementar. No entanto, devido especificidade do nosso objeto de estudo, foi preciso uma modificao no conceito de representao social, alm do que, para a sua maior elucidao, outros conceitos foram discutidos, tais como saber, ideologia, cotidiano, paradigma e profisso. Ora, utilizamos o conceito de representao social para apreender a representao de doena mental entre os psiquiatras. O saber psiquitrico sobre a doena mental no pode ser reduzido ao "senso comum" e nem ideologia, isto , ele um saber profissional. Outrossim, ele no um conhecimento cientfico, embora seja baseado em um discurso lgico-formal. A posio especfica do saber profissional determinou, desse modo, um dilogo conceitual com os vrios conceitos citados, acima. A modificao engendrada no conceito de representao social foi a sua transformao em um conceito fundamental do cotidiano e
no, propriamente, do "senso comum" ou, melhor, a estaria relacionada com as formas de conhecimento Esta mudana nos permitiu "alargar" o conceito discurso dos psiquiatras entrevistados do ngulo do profissional.
representao do cotidiano. e perceber o seu cotidiano
Igualmente, ao deslocarmos o conceito de ideologia para o campo institucional, pudemos perceber uma complementaridade entre a ideologia e a representao social. A ideologia, entendida como fetichismo institucional ou como uma ideologia reconstrutora, teria uma relao dialtica com a representao, entendida como uma conscincia fragmentada da realidade ou como uma conscincia pluralista desfetichizadora. Sustentamos, tambm, que a tendncia estrutural da sociedade moderna se inscreve no plo fetichismo institucional/conscincia fragmentada e que o saber mdico podese tornar um subsistema institucional, apartado da vida social, esvaziando os contedos representativos da doena no "senso comum". Tivemos, ainda, a necessidade de discutir a relao entre a cincia e as formas de conhecimento do cotidiano, concluindo, na anlise, que o saber mdico dominado por um paradigma naturalista proveniente das cincias naturais, que transforma a representao da doena numa representao biomdica. Mostramos, em seguida, que a Psiquiatria tem uma dificuldade em se enquadrar no modelo mdico de doena por causa da especificidade epistemolgica da doena mental, bem como que a clnica psiquitrica estaria sustentada pela identificao doena/sintoma, caracterizando uma Medicina de sintomas e classificatria, isto , uma clnica baseada na representao. O profissional mdico um tcnico e, enquanto tal, no tem necessidade de refletir sobre o seu objeto/doena, embora isso no prejudique a clnica, o atendimento e o tratamento dos doentes. Sua representao de doena dominada pelo modelo biomdico de doena, que impede o mdico de perceber o significado social da mesma, uma vez que a profisso mdica que atribui socialmente um significado biolgico enfermidade. A atribuio social de um significado biolgico doena seria o fator fundamental para os mdicos no apreenderem a significao social da mesma. A hegemonia de um modelo biomdico de doena traz graves problemas para a Psiquiatria, na medida em que o sintoma psiquitrico se identifica com o comportamento desviante, que no pode ser reduzido a uma mera expresso de uma patologia orgnica.
Tal situao causa uma instabilidade crnica na representao psiquitrica da doena mental, que fica num movimento pendular entre o par bipolar sade/doena, do qual emerge o modelo mdico, e o normal/desvio, representado por modelos scio-relacionais e psicodinmicos de doena. Na verdade, a viso dos psiquiatras entrevistados sobre a doena mental estaria a meio caminho entre uma concepo fetichizada e outra fragmentada: fetichizada, porque a concepo biolgica substitui e opacifica a significao social da doena mental; e fragmentada, porque invariavelmente a representao biomdica sofre interferncias desestruturadoras provenientes da especificidade nosolgica. Alm disso, uma viso fragmentada, no s em conseqncia de interferncias, como as citadas acima, mas tambm porque o psiquiatra um mdico e, como tal, um tcnico desacostumado a realizar reflexes sobre o seu objeto clnico. Em suma, sustentamos que o discurso dos psiquiatras entrevistados um discurso ambguo, no qual percebemos elementos lgico-formais, originrios de uma formao tericouniversitria, e elementos anlogos queles encontrados no chamado "pensamento natural". Uma Dissertao menos um ponto de chegada do que de partida, tanto sob o aspecto pessoal como, principalmente, terico-metodolgico, assentado nas suas falhas e nas suas virtudes, propiciando uma problemtica nova ou, pelo menos, uma reviso de uma j existente. Nesse sentido, necessrio assinalar diversos "pontos futuros" em nosso trabalho que precisariam de uma complementao em investigaes posteriores: 1) No investigamos, aqui, a representao do doente mental entre os psiquiatras e, em conseqncia, deixamos de explorar todo um conjunto de problemas estimulantes para a nossa problemtica. Seria, assim, pertinente investigar as articulaes entre esta representao e a de doena mental no meio psiquitrico. Uma articulao que, provavelmente, revelaria uma concepo antropolgica do homem, que, de forma embrionria, pudemos perceber, subsidiando as respostas dos entrevistados nas questes relativas periculosidade do paciente psiquitrico. Por outro lado, sugerimos para o estudo desta questo a seguinte hiptese: quanto mais biomdica a representao de doena mental e de doente mental menos ela necessita de um
subsdio antropolgico. Com efeito, existe, de forma latente, nos conhecimentos fisiolgicos e patolgicos, uma concepo do Homem vivo, porm esta antropologia no figura, atualmente, entre as preocupaes fundamentais dos mdicos e da sua representao biomdica da doena. 2) No realizamos um estudo comparativo de representaes de doena mental, seja entre mdicos e psiquiatras seja entre mdicos e no-mdicos. Um estudo comparativo poderia esclarecer, talvez, de forma contundente, a objetivao e a ancoragem da representao social de doena mental no meio mdico e psiquitrico, como tambm as relaes entre o "senso comum" e o saber profissional mdico. 3) Uma questo sugerida, embora apenas teoricamente esboada, foi a relao entre a construo profissional da doena e seu papel na formao da identidade profissional do mdico. A construo profissional da doena e a articulao em torno de si das questes relativas identidade, competncia e ao saber mdico, podem constituir uma problemtica estimulante para futuras investigaes. Em conseqncia, necessita-se de uma investigao das representaes profissionais do mdico e sua articulao com a construo profissional da doena. Por fim, as relaes entre o saber profissional e a cincia merecem uma investigao terica mais aprofundada, tanto quanto uma elucidao do conceito de profisso mdica e sua articulao com a institucionalizao das esferas de saber da sociedade
B I B L I O G R A F I A
ABBAGNANO, Nicola (1984) - Histria da Filosofia - Vol.XIV, 3 ed., Lisboa, Presena.
AEBISCHER, Verena (1991) - "Vers une anthropologie des mdecines naturelles", In AEBISCHER, Verena et alli (1991). AEBISCHER, Verena et alli (1991) - Idologies et reprsentations sociales - Suisse, Delval. ALTHUSSER, Louis (1983) - Aparelhos ideolgicos de estado - Rio de Janeiro, Graal. AMERIO, Piero (1991) - "Ides, sujets et conditions d'existence", In AEBISCHER et alli (1991). sociales
APEL, Karl-Otto (1989) - "Teoria dos tipos de racionalidade", In Novos Estudos (23:67-87). So Paulo, Cebrap. BACHELAR, Gaston (1978) - "A Filosofia do No", In Os PensadoresBachelar - S.Paulo, Abril Cultural. BAKHTIN (VOLOCHINOV) Mikhail (1986) - Marxismo e filosofia da linguagem - So Paulo, Hucitec, 3 ed.. BARDIN, L. (1978) - L'analyse de contenu - Paris, PUF. BASAGLIA, Franco (1985) - A instituio negada - Rio de Janeiro, Graal. BERLINGUER, Giovanni (1976) - Psiquiatria e Poder - Minas Gerais, Interlivros. BERLINGUER, Giovanni Cultural. (1985) A Doena So Paulo, Abril
BERNARD, Claude (1966) - Introduction l'tude de la mdecine exprimentale - Paris, Garnier-Flammarion. BOLTANSKY, Luc (1989) - As classes sociais e o corpo - Rio de Janeiro, Graal, 3 ed.. BOUDON, Raymond (1990) - Lart de se persuader - Paris, Fayard. BRAGA, Maria Lcia Santaella (1980) - Produo de Linguagem e Ideologia - So Paulo, Cortez. CALASSO, Roberto (1990) - As npcias de Cadmo e Harmonia - So Paulo, Companhia das Letras.
CANGUILHEM, G. (1982) - O normal e o patolgico - Rio de Janeiro, Forense-Universitria, 2 ed.. CASSIRER, Ernst (1961) Amrica. - O mito do estado - Lisboa, Europa-
CLAVREUL, Jean (1983) - A Ordem Mdica: poder e impotncia do discurso mdico - So Paulo, Brasiliense. COELHO, Eduardo Prado (1982) - Os Universos da Crtica - Lisboa, Edies 70. COSTA, Jurandir Freire (1976) - Histria da Psiquiatria no Brasil - Rio de Janeiro, Documentrio. COSTA, Jurandir Freire (1979) - Ordem mdica e Norma familiar Rio de Janeiro, Graal. CUNHA, Maria Clementina Pereira (1986) - O espelho do mundo - So Paulo, Paz e Terra. CUVILIER, Armand (1975) - Sociologia da Cultura - Porto Alegre, Globo. DARNTON, Robert (1986) - O grande massacre dos gatos; e outros episdios da histria cultural francesa - Rio de Janeiro, Graal, 2 ed.. DASCAL, Marcelo (1989) - "Tolerncia e interpretao", In DASCAL, Marcelo (Ed.), 1989. DASCAL, Marcelo (Ed.) (1989) ideologia - So Paulo, Perspectiva. Conhecimento, linguagem e
DURKHEIM, E. (1960) - As regras do mtodo Paulo, Companhia Editora Nacional, 2 ed.. DURKHEIM, Forense. E. (1970) Sociologia e
sociolgico - So
Filosofia
So
Paulo,
DURKHEIM, E. religieuse
(1994) - Les formes lmentaires - Paris, PUF/Quadrige, 3 d..
de
la
vie
EPSTEIN, Isaac (1990) - "Thomas S. Kuhn: a cientificidade entendida como vigncia de um paradigma" - In OLIVA, Alberto (Org.), (1990).
FIGUEIRA, Srvulo A. (Org.) (1978) - Sociedade e Doena Mental Rio de Janeiro, Editora Campus. FORACCHI, Marialice Mencarini & MARTINS, Jos de Souza (1977) Sociologia e sociedade (leituras de introduo sociologia) - Rio de Janeiro, Livros Tcnicos e Cientficos Editora S.A. FOUCAULT, Michel (1967) - As Portuglia. FOUCAULT, Michel (1972) Vozes. FOUCAULT, Michel (1978) Perspectiva. Palavras e as Coisas - Lisboa,
Arqueologia do Saber - Petrpolis,
Histria
da
Loucura
So
Paulo,
FOUCAULT, Michel (1979) - Microfsica do Poder - Rio de Janeiro, Graal. FOUCAULT, Michel (1984) - Doena Mental e Psicologia - Rio de Janeiro, Graal. FOUCAULT, Michel (1987) - O Nascimento da Janeiro, Forense Universitria, 3 ed.. Clnica Rio de
FREIDSON, Eliot (1984) - La profession mdicale - Paris, Payot. GADAMER, lignes Hans-Georg (1976) - Vrit et mthode: les grandes dune hermneutique philosofique - Paris, Seuil.
GHIGLIONE, Rodolphe et alli (1980) - Manuel d'analyse de contenu Paris, Armand Colin. GIDDENS, Anthony (1978) - Novas Regras do Mtodo Sociolgico Rio de Janeiro, Zahar. GIDDENS, Anthony (1987) - La constitution de la socit - Paris, PUF. GINZBURG, Carlo (1987) Companhia das Letras. O queijo e os vermes - So Paulo,
GOFFMAN, Ervin (1978) - "Sintomas mentais e ordem pblica", In FIGUEIRA, Srvulo (Org.) (1978). GOFFMAN, Erving (1984) - Manicmio, Prises e Conventos - So Paulo, Perspectiva.
GOULD, Stephen Jay (1989) - O polegar do panda: reflexes sobre histria natural - So Paulo, Martins Fontes. GOULD, Stephen Jay (1990)- Vida maravilhosa: o acaso na evoluo e a natureza da histria - So Paulo, Companhia das Letras. GRAMSCI, Antonio (1966) - Concepo dialtica da Histria - Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira. GRAMSCI, moderno Antonio (1984) - Maquiavel, a poltica e o estado - Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 5 ed..
GRECO, Pierre (1967) - "Epistmologie de la Psychologie", In PIAGET, Jean (Org.) (1967). GRMEK, Mirko D. (1990) Paris, Payot. - La premire rvolution biologique -
HABERMAS, Jrgen (1983) - Para a reconstruo do materialismo histrico - So Paulo, Brasiliense. HABERMAS, Jrgen (1985) - El discurso filosfico de la modernidad - Madrid, Taurus. HABERMAS, Jrgen (1987) - Teoria de la accin comunicativa; racionalidad de la accin y racionalizacin social - Tomos I e II. Madrid, Taurus. HABERMAS, Jrgen (1989) - Conscincia moral e agir comunicativo Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro. HELLER, Agnes (1983) Brasiliense. A filosofia radical So Paulo,
HELLER, Agnes (1985) - O cotidiano e a histria - Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2 ed.. HELLER, Agnes (1991) - "Sociologia e desfetichizao" - In Novos Estudos (30: 204-216) - So Paulo, Cebrap, (1991). HELLER, Agnes & FEHER, Ferenc (1985) - Anatomia de la izquierda occidental - Barcelona, Ediciones Peninsula. HERZLICH, C. (1975) Sant et maladie: analyse reprsentation sociale - Paris, Nouton, 2 d.. d'une
JACOB, Franois (1989) - O jogo dos impossveis: ensaio sobre a diversidade do mundo vivo - Lisboa, Gradiva, 2 ed..
JODELET, Denise (1986) - "La representacin social: fenmenos, concepto y teora" - In MOSCOVICI, Serge (Org.) (1986). JODELET, Denise (1989-A) - "Reprsentations sociales: un domaine en expansion" - In JODELET, Denise et alli (1989). JODELET, Denise (1989-B) - Folies et reprsentation sociales Paris, PUF. JODELET, Denise (1991) "L'idologie dans l'tude des reprsentations sociales" - In AEBISCHER, Verena et alli (1991). JODELET, Denise et alli (1989) - Les reprsentations sociales Paris, PUF. JUNKER, Buford H. (1971) - A importncia do trabalho de campo (uma introduo s cincias sociais) - Rio de Janeiro, Lidador. KOSIK, Karel (1976) - Dialtica do concreto Paz e Terra, 2 ed.. Rio de janeiro,
KUHN, Thomas S. (1975) - A estrutura das revolues cientficas So Paulo, Perspectiva. LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B. (1980) Psicanlise - So Paulo, Martins Fontes. Vocabulrio da
LAPLANTINE, Franois (1989) - "Antrhopologie des sistmes de reprsentations de la maladie: de quelques recherches menes dans la France contemporaine rexamines la lumire d'une exprience brsilienne" - In JODELET, Denise et alli (1989). LAPLANTINE, Franois Paris, Payot. (1992) Anthropologie de la maladie -
LEVINE, Andrew, SOBER, Elliott & WRIGHT, Erik O. (1989)"Marxismo e Individualismo metodolgico" - In Revista Brasileira de Cincias Sociais (II/4, 10) - So Paulo, ANPOCS, 1989. LIPIANSKY, E. Marc (1991) - "Reprsentations sociales et idologies: analyse conceptuelle" - In AEBISCHER, Verena et alli (1991). LOPARIC, Zeljko (1990) - Heidegger ru: um ensaio periculosidade da filosofia - Campinas, Papirus. sobre a
LUZ, Madel T. (1986) - As instituies mdicas no Brasil - Rio de Janeiro, Graal, 3 ed.. LUZ, Madel T. (1988) Janeiro, Campus. MACHADO, Roberto (1982) Graal. Natural, Racional, Social Rio de
- Cincia
Saber -
Rio
de
Janeiro,
MAINGUENEAU, Dominique (1989) - Novas tendncias em Anlise do Discurso - So Paulo, Ed. Pontes. MARX, Karl (1975) - O Capital: Crtica da economia poltica livro 1, vol 1, Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 3 ed.. MARX, Karl (1978) - "Para a crtica da Economia Poltica" - In Os Pensadores - Marx - So Paulo, Abril Cultural. MICHELAT, Guy (1980) - "Sobre a utilizao da entrevista nodiretiva em Sociologia" - In THIOLLENT, Michel (1980). MILES, Agnes (1982) - O doente mental na sociedade contempornea Rio de Janeiro, Zahar. MOLES, A. (1971) - A criao cientfica - So Paulo, Perspectiva. MORIN, Edgar (1986) - O mtodo trs: o conhecimento conhecimento - Lisboa, Publicaes Europa-Amrica. do
MOSCOVICI, Serge (1978)- A Representao Social da Psicanlise Rio de Janeiro, Zahar. MOSCOVICI, Serge (Org.) (1986) - Psychologie Sociale, Paris, PUF - (V. tambm: (1986) - Psicologia Social - Buenos Aires, Paids. Trad. esp.). MOSCOVICI, Serge (1989-A) - "Des reprsentations collectives aux reprsentations sociales" - In JODELET, Denise et alli (1989). MOSCOVICI, Serge (1989-B) - "Prface" - In JODELET, Denise (1989B). MOSCOVICI, Serge (1991) - "La fin des reprsentations sociales?" In AEBISCHER, Verena et alli 1991.
MOSCOVICI, Serge & HEWSTONE, Miles (1986) - "De la science au sens commun" - In MOSCOVICI, Serge (Org.) (1986). NASSIF, Alberto Aziz (1982) - "El Analisis del Discurso: ofcio de Artesanatos" - In , Cadernos TICON/UNAM ( n@ 16), Mxico, 1982. NETTO, Jos Paulo & FALCO, Maria do Carmo (1987) - Cotidiano: conhecimento e crtica - So Paulo, Cortez. OFFE, Claus (1989) Brasiliense. Capitalismo desorganizado So Paulo,
OLIVA, Alberto (org.) (1990) - Epistemologia: a cientificidade em questo - Campinas, Papirus. ORLANDI, Eni P. (1988) - Discurso e leitura - So Paulo, Cortez. ORTIZ, Renato (1989) - "Durkheim: arquiteto e heri fundador" In Revista Brasileira de Cincias Sociais (n@ 11) - So Paulo, ANPOCS, 1989. OSTROWETSKY, Sylvia (s/d) texto mimeo.. - La reprsentation et ses doubles -
PELBART, Peter Pl (1989) - Da clausura do fora ao fora clausura: loucura e desrazo - So Paulo, Brasiliense.
da
PIAGET, Jean (Org.) (1967) - Logique et connaissance scientifique - France, Gallimard. PICCINI, Mabel (1983) - "Sobre la Produccion Discursiva - La comunicacion y las Ideologias" - In Cadernos TICON/UNAM (n 22), Mxico, 1983. RANGE, Bernard P. (1991) - "Relaes funcionais entre obsesses e compulses: uma caracterizao conceitual" - In Jornal Brasileiro de Psiquiatria (40 (8):405), 1991. REBOUL, Olivier (1980) - Language et Idelogie - Paris, PUF. RORTY, Richard (1990) - Science et solidarit: la vrit sans le pouvoir - France, ditions de lclat. ROSA, Annamaria Silvana (1991) - "Idologie mdicale et nonmdicale et son rapport avec les reprsentations sociales de la maladie mentale" - In AEBISCHER, Verena et alli (1991).
ROSEN, George (1979) - Da polcia mdica Medicina Social - Rio de Janeiro, Graal. ROUANET, Srgio P. (1987) Brasiliense, 2 ed.. A razo cativa So Paulo,
ROUANET, Srgio P. (1989) - As razes do iluminismo - So Paulo, Companhia das Letras, 2 ed.. SANTOS, Joo Agostinho (1980) - "Gramsci: ideologia, intelectuais orgnicos e hegemonia" - In Temas, vol. IX (vrios), So Paulo, Livraria Editora Cincias Humanas, 1980. SAUSSURE, Ferdinand de (1974) - Curso de lingustica geral - So Paulo, Cultrix. SCHEFF, Thomas (1978) - "Doena mental: o ponto de vista da teoria da rotulao" - In FIGUEIRA, Srvulo A. (Org) (1978). SCHUTZ, Alfred (1994) - Le chercheur et le quotidien - 2 tirage, Paris, Meridiens Klincksieck. SIEBENEICHIER, Flvio Beno (1989) - Jrgen comunicativa e emancipao - Rio de Brasileiro. Habermas: Janeiro, razo Tempo
SILVA, Maria Nunes de Moura (1978) - Fbricas da Esperana: Ideologia e representaes sociais no Nordeste - Recife, UFPE-PIMES. SPERBER, Dan (1989) "L'tude anthropologique reprsentations" - In JODELET, Denise et alli (1989). SMITH, Andrew Croyden (1985) Alegre, Artes Mdicas. des
- Esquizofrenia e Loucura - Porto
SONENREICH, Carol & KERR-CORREA, Florence (1990) - "Para uma Psiquiatria dos anos noventa" - IN: Revista ABP-APAL, 12 (1,2,3,4), 1990. STEINER, George - Heidegger (1990) - Lisboa, Dom Quixote. STEINER, George (1991) - Relles prsences: les arts du sens Paris, Gallimard. SZASZ, Thomas S. (1979) Janeiro, Zahar. - O mito da doena mental - Rio de
TEIXEIRA, Sonia Fleury (Org) (1989) - Reforma Sanitria - So Paulo, Cortez. THIOLLENT, Michel (1980) - Crtica metodolgica, social e enquete operria - So Paulo, Polis. THOMPSON, E.P. Zahar. investigao
(1981) - Misria da Teoria - Rio de Janeiro,
TOURAINE, Alain (1984) - Le retour de l'acteur - Paris, Fayard. TRAGTENBERG, Maurcio Paulo, tica. (1974) Burocracia e ideologia So
VRIOS (1987) - Cidadania e loucura (polticas de sade mental no Brasil) - Petrpolis, Vozes. VERON, Eliseo (1978) - "Smiosis de l'idologique et du pouvoir" In Communications, n@ 28 (7-20). Paris, Ed. Du Seuil, 1978. VERON, Eliseo (1981) - Produo do Sentido - So Paulo, Cultrix. VERON, Eliseo (s/d) production de sens Remarques Mimeo. sur L'idologique commme
WEBER, Max (1969) - Economia y Sociedade - Tomo I. Mxico, Fondo de Cultura Economica. WEBER, Max (1970) - Cincia Paulo, Cultrix. WILLIAMS, Raymond Janeiro, Zahar. (1979) e Poltica: duas vocaes - So
Marxismo
Literatura
Rio
de
WITTGENSTEIN, Ludwig (1979) - "Investigaes filosficas" - IN Os Pensadores - Wittgenstein. So Paulo, Abril Cultural.
Potrebbero piacerti anche
- Epistemologia em PsicanáliseDocumento15 pagineEpistemologia em PsicanálisemaelisonNessuna valutazione finora
- 2 Introducao Aos Fundamentos Epistemologicos Da Psicologia Socioistorica Ligia Marcia Martins-With-Cover-Page-V2Documento26 pagine2 Introducao Aos Fundamentos Epistemologicos Da Psicologia Socioistorica Ligia Marcia Martins-With-Cover-Page-V2Kaline CunhaNessuna valutazione finora
- Sobre Representar-RevSPPADocumento18 pagineSobre Representar-RevSPPALuiz PellandaNessuna valutazione finora
- Os processos de subjetivação como objeto de estudo da Psicologia: a dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológicaDa EverandOs processos de subjetivação como objeto de estudo da Psicologia: a dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológicaNessuna valutazione finora
- O Eneagrama - Helen PalmerDocumento13 pagineO Eneagrama - Helen PalmerCamila NunesNessuna valutazione finora
- Texto - Experiência Emocional - Matriz Da Prática e Das Teorias PsicanalíticasDocumento10 pagineTexto - Experiência Emocional - Matriz Da Prática e Das Teorias Psicanalíticasjeane reis alvesNessuna valutazione finora
- Epistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaDocumento9 pagineEpistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaPe AmeixaNessuna valutazione finora
- Arqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoDa EverandArqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoNessuna valutazione finora
- Bion: Transferência, transformações, encontro estéticoDa EverandBion: Transferência, transformações, encontro estéticoNessuna valutazione finora
- 6 - Existencialismo EuropeuDocumento3 pagine6 - Existencialismo EuropeuGuilherme YudiNessuna valutazione finora
- Epistemologia SlideDocumento19 pagineEpistemologia SlideBrenda OliveiraNessuna valutazione finora
- Unidade 1Documento23 pagineUnidade 1Lucas Sousa Neves AndradeNessuna valutazione finora
- Ciência e ficção em Freud: Qual epistemologia para a psicanálise?Da EverandCiência e ficção em Freud: Qual epistemologia para a psicanálise?Nessuna valutazione finora
- Artigo O Que Oculta o Silêncio Epistemológico Da PsicologiaDocumento15 pagineArtigo O Que Oculta o Silêncio Epistemológico Da PsicologiaAndrea PsicólogaNessuna valutazione finora
- Psicologia, Diferença e Epistemologia Percorrendo Os (Des) Caminhos de Uma Constituição ParadoxalDocumento18 paginePsicologia, Diferença e Epistemologia Percorrendo Os (Des) Caminhos de Uma Constituição ParadoxalJulia VeigaNessuna valutazione finora
- CANGUILHEM, Georges. Que É A Psicologia (Impulso)Documento18 pagineCANGUILHEM, Georges. Que É A Psicologia (Impulso)Flavia BessaNessuna valutazione finora
- O Corpo Do Analista Clínica, Investigação, ImaginaçãoDocumento21 pagineO Corpo Do Analista Clínica, Investigação, ImaginaçãoLuiza RodriguesNessuna valutazione finora
- Luis Cláudio FigueiredoDocumento12 pagineLuis Cláudio FigueiredojacarinNessuna valutazione finora
- Psicanálise e Psicologia Os Lastros Da Inconcebível Unicidade Na DiferençaDocumento10 paginePsicanálise e Psicologia Os Lastros Da Inconcebível Unicidade Na DiferençaEduardo ZanNessuna valutazione finora
- Power Point Psicanálise e Sua EpistemologiaDocumento13 paginePower Point Psicanálise e Sua EpistemologiaLara CardosoNessuna valutazione finora
- Origens e História Da Psicologia Contemporânea - FREITAS, M.H.Documento15 pagineOrigens e História Da Psicologia Contemporânea - FREITAS, M.H.Gisele CôrtesNessuna valutazione finora
- Andrea BotelhoDocumento18 pagineAndrea BotelhoCícero FonsêcaNessuna valutazione finora
- Canguilhem - 2009 - Que e A PsicologiaDocumento16 pagineCanguilhem - 2009 - Que e A PsicologiaBruno PontualNessuna valutazione finora
- O Multiplo Surgimento Da PsicologiaDocumento6 pagineO Multiplo Surgimento Da PsicologiaSandro AntunesNessuna valutazione finora
- Critica - Literaria - Aula - 10 Psicanalise PDFDocumento9 pagineCritica - Literaria - Aula - 10 Psicanalise PDFElizabeth SilvaNessuna valutazione finora
- Anotações/resumo Do Livro Psicologia e Ideologia Cap 1Documento3 pagineAnotações/resumo Do Livro Psicologia e Ideologia Cap 1Isabelly GodoiNessuna valutazione finora
- Semana 1 - Conceitos Básicos Da FilosofiaDocumento4 pagineSemana 1 - Conceitos Básicos Da FilosofiaBrunoNessuna valutazione finora
- As Modernidades CindidasDocumento16 pagineAs Modernidades CindidasiaranancypsiNessuna valutazione finora
- Georges Canguilhem - O Que É A Psicologia?Documento13 pagineGeorges Canguilhem - O Que É A Psicologia?Guaracy AraújoNessuna valutazione finora
- O Papel Do Psicólogo ClínicoDocumento7 pagineO Papel Do Psicólogo ClínicoHélida VillasNessuna valutazione finora
- Cartas para Vigotski 1Documento23 pagineCartas para Vigotski 1Érica Gonçalves SantosNessuna valutazione finora
- 2.psicologia Estudo e Outras Correntes EbookDocumento11 pagine2.psicologia Estudo e Outras Correntes Ebookleandro evangelista EvangelistaNessuna valutazione finora
- Objetivismo: Introdução à epistemologia e teoria dos conceitosDa EverandObjetivismo: Introdução à epistemologia e teoria dos conceitosNessuna valutazione finora
- Etica e ACP - Vieira e PinheiroDocumento29 pagineEtica e ACP - Vieira e PinheiroPatricia DaibesNessuna valutazione finora
- Curso Integral - O Estatuto Da PsicologiDocumento74 pagineCurso Integral - O Estatuto Da PsicologiMax Roberto CândidoNessuna valutazione finora
- Psicopatologia Crítica Vírginia MoreiraDocumento9 paginePsicopatologia Crítica Vírginia MoreiraJuscis MoraisNessuna valutazione finora
- Semanapsicfederaljulho2002 PDFDocumento9 pagineSemanapsicfederaljulho2002 PDFafasdfasNessuna valutazione finora
- Para Uma Psicologia Clínico-Institucional A Partir Da Desnaturalização Do SujeitoDocumento10 paginePara Uma Psicologia Clínico-Institucional A Partir Da Desnaturalização Do SujeitopoetafingidorNessuna valutazione finora
- Critica Aos Fundamentos Da PsicologiaDocumento19 pagineCritica Aos Fundamentos Da PsicologiaAthanasios MarvakisNessuna valutazione finora
- O Inconsciente, As Representações No Aparelho Psíquico e o Trabalho de InterpretaçãoDocumento15 pagineO Inconsciente, As Representações No Aparelho Psíquico e o Trabalho de InterpretaçãoFrederico CelentanoNessuna valutazione finora
- Teorias Da PersonalidadeDocumento16 pagineTeorias Da PersonalidadeAna AntunesNessuna valutazione finora
- LIBERDADEEDETERMINISM1Documento13 pagineLIBERDADEEDETERMINISM1Thaissa Lira de OliveiraNessuna valutazione finora
- Aguiar, F. - Questões Epistemolóicas e Metodolóicas em PsicanáliseDocumento27 pagineAguiar, F. - Questões Epistemolóicas e Metodolóicas em PsicanáliseLeandro Nogueira Dos ReisNessuna valutazione finora
- A Dispersão Do Pensamento Psicológico1Documento17 pagineA Dispersão Do Pensamento Psicológico1douglas araujo dos santosNessuna valutazione finora
- Para Que Serve A MetapsicologiaDocumento6 paginePara Que Serve A MetapsicologiaLucival PaixaoNessuna valutazione finora
- Para Uma Arqueologia Da PsicologiaDocumento4 paginePara Uma Arqueologia Da PsicologiaVagner PANessuna valutazione finora
- EtnopsicanáliseDocumento10 pagineEtnopsicanáliseNathanNessuna valutazione finora
- O Que É A Psicologia?Documento16 pagineO Que É A Psicologia?jcesar coimbraNessuna valutazione finora
- PsicomotricidadeDocumento6 paginePsicomotricidaderoselita321Nessuna valutazione finora
- 5 Ferreira Et Al 2015Documento16 pagine5 Ferreira Et Al 2015Ju OliveiraNessuna valutazione finora
- Trajetória Do Corpo em PsicanaliseDocumento11 pagineTrajetória Do Corpo em PsicanaliseEduardo Nogueira100% (1)
- Modulo 1 - Leitura OpcionalDocumento196 pagineModulo 1 - Leitura Opcionalanon_90827288Nessuna valutazione finora
- Alexitimia Uma Revisão Do Conceito PDFDocumento6 pagineAlexitimia Uma Revisão Do Conceito PDFvaleskaNessuna valutazione finora
- A Era Das Representações SociaisDocumento23 pagineA Era Das Representações SociaisYan Caique BarrosNessuna valutazione finora
- Moita, 1983 PDFDocumento7 pagineMoita, 1983 PDFPetraAlexandraNessuna valutazione finora
- A Nova Escrita Jornalística Como Leitura Do Cotidiano PDFDocumento6 pagineA Nova Escrita Jornalística Como Leitura Do Cotidiano PDFWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Trabalho de Redação Transtorno AlimentarDocumento9 pagineTrabalho de Redação Transtorno AlimentarWellington PereiraNessuna valutazione finora
- A Internet A Geracao de Um Novo Espaco AntropologicoDocumento21 pagineA Internet A Geracao de Um Novo Espaco Antropologicoapi-3777994100% (2)
- A Internet A Geracao de Um Novo Espaco AntropologicoDocumento21 pagineA Internet A Geracao de Um Novo Espaco Antropologicoapi-3777994100% (2)
- A Nova Escrita Jornalística Como Leitura Do Cotidiano PDFDocumento6 pagineA Nova Escrita Jornalística Como Leitura Do Cotidiano PDFWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Filosofia ModernaDocumento21 pagineFilosofia ModernaWellington PereiraNessuna valutazione finora
- BLECAUTE Uma Revista de Literatura e Artes N16 COMPLETA1Documento74 pagineBLECAUTE Uma Revista de Literatura e Artes N16 COMPLETA1Wellington PereiraNessuna valutazione finora
- A Asa Do Vaso (Georg Simmel) PDFDocumento8 pagineA Asa Do Vaso (Georg Simmel) PDFWellington Pereira100% (1)
- A Nova Escrita Jornalística Como Leitura Do Cotidiano PDFDocumento6 pagineA Nova Escrita Jornalística Como Leitura Do Cotidiano PDFWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Seminário Jornalimso e Cultura Popular UEPBDocumento3 pagineSeminário Jornalimso e Cultura Popular UEPBWellington PereiraNessuna valutazione finora
- A CENTRALIDADE DA CULTURA HallDocumento24 pagineA CENTRALIDADE DA CULTURA HallmoraisufNessuna valutazione finora
- Principios Basicos Da Biogeografia Defendidos Po Alfred Russel WallaceDocumento2 paginePrincipios Basicos Da Biogeografia Defendidos Po Alfred Russel WallaceWellington Pereira100% (1)
- José Estáquio RomãoDocumento17 pagineJosé Estáquio Romãoivani_rosa_6Nessuna valutazione finora
- A Crônica Na Mídia ImpressaDocumento120 pagineA Crônica Na Mídia ImpressaWellington PereiraNessuna valutazione finora
- (Português) Paul Teyssier - História Da Língua PortuguesaDocumento95 pagine(Português) Paul Teyssier - História Da Língua PortuguesaTiago GuimarãesNessuna valutazione finora
- Tradução: MAFFESOLI, Michel. A Barbárie Na Visão Humana (Corrêa, M. D. C e Corrêa, C. M. C.)Documento11 pagineTradução: MAFFESOLI, Michel. A Barbárie Na Visão Humana (Corrêa, M. D. C e Corrêa, C. M. C.)murilodccorreaNessuna valutazione finora
- COMTE-SPONVILLE, A. Apresentação Da FilosofiaDocumento161 pagineCOMTE-SPONVILLE, A. Apresentação Da FilosofiaWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Nietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosDocumento16 pagineNietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Nietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosDocumento16 pagineNietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Nietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosDocumento16 pagineNietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Logos 13Documento77 pagineLogos 13NícolasNessuna valutazione finora
- Filosofia ModernaDocumento10 pagineFilosofia ModernaWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Michel de Certeau - Fundamentos de Uma Sociologia Do CotidianoDocumento7 pagineMichel de Certeau - Fundamentos de Uma Sociologia Do CotidianoBeatrix Algrave100% (2)
- Cartão Postal Digital 1Documento1 paginaCartão Postal Digital 1Wellington PereiraNessuna valutazione finora
- Nietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosDocumento16 pagineNietzsche, Espinosa o Acaso e Os AfetosWellington PereiraNessuna valutazione finora
- Logos 13Documento77 pagineLogos 13NícolasNessuna valutazione finora
- A Inscrição Do Cotidiano No Jornalismo ImpressoDocumento12 pagineA Inscrição Do Cotidiano No Jornalismo Impressowel2861Nessuna valutazione finora
- A Morte Do Jornalismo Informativo e o Nascimento Dso Realjornalismo.Documento3 pagineA Morte Do Jornalismo Informativo e o Nascimento Dso Realjornalismo.Wellington PereiraNessuna valutazione finora
- A Ética Dos Processos ComunicativosDocumento12 pagineA Ética Dos Processos ComunicativosWellington PereiraNessuna valutazione finora